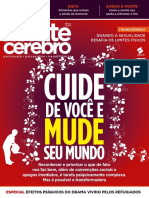Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Mattuella, Psicanalise
Mattuella, Psicanalise
Enviado por
Jônatas CostaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Você também pode gostar
- Psicanálise e Contexto Cultural (Costa, Jurandir Freire) (Z-Library)Documento184 páginasPsicanálise e Contexto Cultural (Costa, Jurandir Freire) (Z-Library)Marcos Da Silveira SilveiraAinda não há avaliações
- Esta Arte Da Psicanálise - Sonhando Sonhos Não Sonhados e Gritos Interrompidos (Thomas Ogden)Documento87 páginasEsta Arte Da Psicanálise - Sonhando Sonhos Não Sonhados e Gritos Interrompidos (Thomas Ogden)Adenauer Silva100% (1)
- Dalmolin, Bernardette - Esperança EquilibristaDocumento113 páginasDalmolin, Bernardette - Esperança EquilibristaFernando Martín Lozano100% (1)
- Tricologia e Terapia Capilar 9788584825806 BVDocumento84 páginasTricologia e Terapia Capilar 9788584825806 BVÉrica Martinez100% (6)
- Junguiana - Revista de Psicologia AnalíticaDocumento278 páginasJunguiana - Revista de Psicologia AnalíticaAdonai MeloAinda não há avaliações
- JUNGUIANA - Revista Latino-Americana Da SBPA - Vol 35 - n02Documento82 páginasJUNGUIANA - Revista Latino-Americana Da SBPA - Vol 35 - n02Lucia Barbosa100% (2)
- Revista Appoa 50 - Corpo Ficção Saber Verdade Vol 2Documento200 páginasRevista Appoa 50 - Corpo Ficção Saber Verdade Vol 2Arryson Andrade Zenith JuniorAinda não há avaliações
- (2021-04-12) Kessler (2008) - O Objeto A É (Radical) e Não É ( (B) Analisável)Documento14 páginas(2021-04-12) Kessler (2008) - O Objeto A É (Radical) e Não É ( (B) Analisável)luishenriquefontanaAinda não há avaliações
- Rvista Correio APPOA, N. 38. Estrturas ClínicasDocumento171 páginasRvista Correio APPOA, N. 38. Estrturas ClínicasWal DirAinda não há avaliações
- Maria Julia Kovacs Org Morte e Desenvolvimento Humano Casa Do Psicologo 1992-2-1Documento132 páginasMaria Julia Kovacs Org Morte e Desenvolvimento Humano Casa Do Psicologo 1992-2-1Amanda FreitasAinda não há avaliações
- Revista41 Intervenção e Invenção Psicanálise PDFDocumento272 páginasRevista41 Intervenção e Invenção Psicanálise PDFBárbara CristinaAinda não há avaliações
- CorrupcaoDocumento17 páginasCorrupcaoKerepiyua KerepiyuaAinda não há avaliações
- Revista - 26 - 1 - Toxios ManiasDocumento55 páginasRevista - 26 - 1 - Toxios ManiasThiago CordeiroAinda não há avaliações
- Revista 36-01 - 2019Documento66 páginasRevista 36-01 - 2019Carolina ZimmerAinda não há avaliações
- A Direção Da CuraDocumento55 páginasA Direção Da Curaestigmadrogas100% (1)
- Clínica Da Angústia 1Documento57 páginasClínica Da Angústia 1drica torresAinda não há avaliações
- Mente & Cérebro Dezembro - 2015 Jaqueline Gomes de JesusDocumento68 páginasMente & Cérebro Dezembro - 2015 Jaqueline Gomes de JesusJaqueline Gomes de Jesus100% (1)
- Jung v036n02 PDFDocumento106 páginasJung v036n02 PDFMarcus Vinicius Neves Gomes100% (1)
- Instituto Fratelli - Morte e Desenvolvimento Humano - A Criança e o Adolescente Diante Da MorteDocumento9 páginasInstituto Fratelli - Morte e Desenvolvimento Humano - A Criança e o Adolescente Diante Da MorteAna Beatriz De Sousa Rodrigues SilvaAinda não há avaliações
- Revista Junguiana 37 2Documento78 páginasRevista Junguiana 37 2JéssicaAinda não há avaliações
- Morte e Desenvolvimento Humano - Maria Júlia KóvacsDocumento132 páginasMorte e Desenvolvimento Humano - Maria Júlia KóvacsYasmine SantosAinda não há avaliações
- APC em Revista 36Documento258 páginasAPC em Revista 36ClaytonAinda não há avaliações
- 3sobre Comportamento e Cognição (Vol. 3) PDFDocumento294 páginas3sobre Comportamento e Cognição (Vol. 3) PDFThaís Gutstein100% (1)
- UntitledDocumento208 páginasUntitledNeiva Cristina DornelesAinda não há avaliações
- O Infantil Na Psicanálise PDFDocumento72 páginasO Infantil Na Psicanálise PDFNertanSilvaAinda não há avaliações
- Apresentando DarwinDocumento32 páginasApresentando DarwinAna ClaraAinda não há avaliações
- A Voz Na Experiencia Psicanalitica-DigitalDocumento160 páginasA Voz Na Experiencia Psicanalitica-DigitalHelenLinhares100% (1)
- APC em Revista - 37 PDFDocumento190 páginasAPC em Revista - 37 PDFClaytonAinda não há avaliações
- Livro Zero: Fórum Do Campo Lacaniano - SPDocumento200 páginasLivro Zero: Fórum Do Campo Lacaniano - SPRenan ZucatoAinda não há avaliações
- Carlos Antonio Ferreira PDFDocumento90 páginasCarlos Antonio Ferreira PDFGerlane ZemkeAinda não há avaliações
- O Fio Das Palavras - GrifadoDocumento62 páginasO Fio Das Palavras - GrifadoJonatas LimaAinda não há avaliações
- Revista Cores Da Vida Vol. 4Documento53 páginasRevista Cores Da Vida Vol. 4Lilian Cordeiro100% (1)
- Sig. Revista de PsicanáliseDocumento130 páginasSig. Revista de PsicanáliseAnna VazAinda não há avaliações
- Texto de Raul Pacheco Filho - PG 107 PDFDocumento198 páginasTexto de Raul Pacheco Filho - PG 107 PDFEdmundo PontesAinda não há avaliações
- Revista DesassossegosDocumento100 páginasRevista DesassossegosScheherazade PaesAinda não há avaliações
- Aula01 - Revista Psicologia Politica v1n1Documento192 páginasAula01 - Revista Psicologia Politica v1n1Gabriel Braga KalegariAinda não há avaliações
- Bissexualidade, Édipo e As Vicissitudes Da PDFDocumento106 páginasBissexualidade, Édipo e As Vicissitudes Da PDFLilian DacorsoAinda não há avaliações
- TRIEB Silêncio Volume20 n.1 2021Documento256 páginasTRIEB Silêncio Volume20 n.1 2021Robson AlvesAinda não há avaliações
- Revista Cores Da Vida Vol. 2Documento65 páginasRevista Cores Da Vida Vol. 2Lilian CordeiroAinda não há avaliações
- 1ff4c 68Documento20 páginas1ff4c 68Bruno MotaAinda não há avaliações
- CHECCHIA. SOUZA JR. LIMA. (Orgs.) Por Uma Psicanálise Revolucionária. Otto GrossDocumento271 páginasCHECCHIA. SOUZA JR. LIMA. (Orgs.) Por Uma Psicanálise Revolucionária. Otto GrossFelipe Araujo67% (3)
- Revista Appoa 35 - Da Infância À Adolescência Tempos Do SujeitoDocumento200 páginasRevista Appoa 35 - Da Infância À Adolescência Tempos Do SujeitoRafael GomesAinda não há avaliações
- O Trabalho Do Luto e Os Ritos Coletivos1Documento112 páginasO Trabalho Do Luto e Os Ritos Coletivos1Lídia SilvaAinda não há avaliações
- (Agente) N. 15 - EBP-BADocumento172 páginas(Agente) N. 15 - EBP-BAAndré Luiz Pacheco da SilvaAinda não há avaliações
- Abrecampos-N - 2 - IRS - PDF Filename UTF-8''Abrecampos-nº2 - IRS PDFDocumento97 páginasAbrecampos-N - 2 - IRS - PDF Filename UTF-8''Abrecampos-nº2 - IRS PDFJunior ZenithAinda não há avaliações
- Revista Jung Corpo 10 EdiçãoDocumento83 páginasRevista Jung Corpo 10 EdiçãojoanaAinda não há avaliações
- (2017) de Hamlet A Édipo A Encenação Da Neurose InfantilDocumento63 páginas(2017) de Hamlet A Édipo A Encenação Da Neurose InfantilFábio MouratoAinda não há avaliações
- Transtorno Bipolar II - Revista - Debates - 6 PDFDocumento52 páginasTranstorno Bipolar II - Revista - Debates - 6 PDFCamila ChristiellyAinda não há avaliações
- Revista Debates 6Documento45 páginasRevista Debates 6André MartinsAinda não há avaliações
- Revista IPABCDocumento126 páginasRevista IPABCTamiris Lopes FerreiraAinda não há avaliações
- A Paranoia Do Negro No Brasil A Partir Da Análise de Arthur Ramos: Uma Interlocução Com A PsicanáliseDocumento132 páginasA Paranoia Do Negro No Brasil A Partir Da Análise de Arthur Ramos: Uma Interlocução Com A PsicanáliseTarsila AmaralAinda não há avaliações
- Stylus Livro Andrea BrunettoDocumento202 páginasStylus Livro Andrea BrunettoNASF BATISTÃO CAinda não há avaliações
- Arteira 9Documento144 páginasArteira 9Ssica_AvelinoAinda não há avaliações
- Revista ATravessar de Acompanhamento Terapêutico 05-2015Documento108 páginasRevista ATravessar de Acompanhamento Terapêutico 05-2015I.R.T.O.100% (1)
- Revista Rabisco Volume 3 Numero 1Documento168 páginasRevista Rabisco Volume 3 Numero 1leonardo gonçalvesAinda não há avaliações
- Paulina Cymrot - Ninguém Escapa de Si Mesmo - PSICANALISE COM HUMORDocumento114 páginasPaulina Cymrot - Ninguém Escapa de Si Mesmo - PSICANALISE COM HUMORjeane reis alvesAinda não há avaliações
- Revista Da APPOA 22-1 Psicopatologia Do Espaço e Outras Fronteiras PDFDocumento75 páginasRevista Da APPOA 22-1 Psicopatologia Do Espaço e Outras Fronteiras PDFGustavo ManoAinda não há avaliações
- Corporeidade - o objeto originário concreto: uma hipótese psicanalítica em expansãoNo EverandCorporeidade - o objeto originário concreto: uma hipótese psicanalítica em expansãoAinda não há avaliações
- Glauco Mattoso - Cara e CoroaDocumento56 páginasGlauco Mattoso - Cara e Coroamaximus93Ainda não há avaliações
- ManteigaDocumento6 páginasManteigaCristiane SantosAinda não há avaliações
- Ecologia - Desequilíbrios Ambientais - Efeitos Térmicos - (Fácil) - (129 Questões)Documento86 páginasEcologia - Desequilíbrios Ambientais - Efeitos Térmicos - (Fácil) - (129 Questões)JOAQUIM NETOAinda não há avaliações
- RDC 234Documento7 páginasRDC 234Herbert TheuryAinda não há avaliações
- Slide TCCDocumento19 páginasSlide TCCGeisaAinda não há avaliações
- Exercícios 3Documento3 páginasExercícios 3Ambiente UniversitárioAinda não há avaliações
- Questionário Ecossistemas Aquáticos Unidade IIIDocumento5 páginasQuestionário Ecossistemas Aquáticos Unidade IIINayara GrossAinda não há avaliações
- Sistemas de Refrigeraçã1Documento3 páginasSistemas de Refrigeraçã1Juselito FerreiraAinda não há avaliações
- @biomedicina - BR - Mapa Mental - ImunizaçõesDocumento1 página@biomedicina - BR - Mapa Mental - Imunizaçõesmarina kanamoriAinda não há avaliações
- Orientacoespara Uma Escola InclusivaDocumento32 páginasOrientacoespara Uma Escola InclusivaPatrícia MendesAinda não há avaliações
- 07 Policontrol Analisadores in Line para Distribuicao Da Agua Turbidez e Cor e Esgoto Dqo Via Analise de OrganicosDocumento31 páginas07 Policontrol Analisadores in Line para Distribuicao Da Agua Turbidez e Cor e Esgoto Dqo Via Analise de OrganicosCarlos AlvarezAinda não há avaliações
- Reparação de FeridasDocumento34 páginasReparação de FeridasANA LUISA ALVES RAMBOAinda não há avaliações
- Anatomia - Seminário 2Documento55 páginasAnatomia - Seminário 2LUMENAAinda não há avaliações
- Fluxograma Da Tosse (Pediatrica)Documento31 páginasFluxograma Da Tosse (Pediatrica)hangitaAinda não há avaliações
- Aula InicialDocumento56 páginasAula InicialAnna RakelAinda não há avaliações
- Exercícios de Regra de Três Simples e CompostaDocumento3 páginasExercícios de Regra de Três Simples e CompostacelsovillelaAinda não há avaliações
- Doq Cgcre 20 - 03Documento8 páginasDoq Cgcre 20 - 03Marcus HugenneyerAinda não há avaliações
- Devolutiva de Atendimento Aluno TaniaDocumento3 páginasDevolutiva de Atendimento Aluno Taniaanercilyahoo.com.brAinda não há avaliações
- Parte2 A Saude Brota Da Natureza 5Documento298 páginasParte2 A Saude Brota Da Natureza 5JAILTON SCAinda não há avaliações
- RDC67 2007 ConsolidadaDocumento64 páginasRDC67 2007 ConsolidadaCaio Belhiomini FerreiraAinda não há avaliações
- Ficha Formativa 4Documento10 páginasFicha Formativa 4Elitepoodle 143100% (2)
- A Catequese e A Prática Da CaridadeDocumento9 páginasA Catequese e A Prática Da CaridadeJoão MeloAinda não há avaliações
- Aula 11 - Processos de Condicionamento de ArDocumento41 páginasAula 11 - Processos de Condicionamento de ArAna Paula100% (2)
- Catalogo-Normas-Tecnicas-Petrobras 202012 DEZEMBRODocumento19 páginasCatalogo-Normas-Tecnicas-Petrobras 202012 DEZEMBROmarceloAinda não há avaliações
- Divisão de Grupos de Orientação de Estágio - NoturnoDocumento13 páginasDivisão de Grupos de Orientação de Estágio - Noturnosillmara.sillvaoliveiraAinda não há avaliações
- SensoresEEC IVDocumento9 páginasSensoresEEC IVricardoll283% (6)
- Conteúdo 8 Questoes 1 2 3 4 5 6Documento2 páginasConteúdo 8 Questoes 1 2 3 4 5 6Gis MacedoAinda não há avaliações
- Embacaps GeralDocumento9 páginasEmbacaps GeralMaria JoséAinda não há avaliações
Mattuella, Psicanalise
Mattuella, Psicanalise
Enviado por
Jônatas CostaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Mattuella, Psicanalise
Mattuella, Psicanalise
Enviado por
Jônatas CostaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ISSN 1516-9162
REVISTA DA ASSOCIAÇÃO PSICANALÍTICA DE PORTO ALEGRE
n. 48, jan./jun. 2015
TRAUMA
CORPO
DISCURSO
ASSOCIAÇÃO PSICANALÍTICA DE PORTO ALEGRE
Porto Alegre
Revista 48.indd 1 29/07/2016 16:12:20
ISSN 1516-9162
REVISTA DA ASSOCIAÇÃO PSICANALÍTICA DE PORTO ALEGRE
EXPEDIENTE
Publicação Interna
n. 48, jan./jun. 2015
Título deste número:
TRAUMA CORPO DISCURSO
Editores:
Deborah Nagel Pinho e Marisa Terezinha Garcia de Oliveira
Comissão Editorial:
Clarice Sampaio Roberto, Cristian Giles, Deborah Nagel Pinho, Glaucia Escalier Braga, Joana
Horst, Maria Ângela Bulhões, Marisa Terezinha Garcia de Oliveira
e Otávio Augusto Winck Nunes
Colaboradores deste número:
Comissão de Aperiódicos, Marta Pedó, Maria Lucia M. Stein e Luiza Bulhões Olmedo
Editoração:
Jaqueline M. Nascente
Consultoria linguística:
Dino del Pino
Capa:
Clóvis Borba
Linha Editorial:
A Revista da Associação Psicanalítica de Porto Alegre é uma publicação semestral da APPOA que tem
por objetivo a inserção, circulação e debate de produções na área da psicanálise. Contém estudos
teóricos, contribuições clínicas, revisões críticas, crônicas e entrevistas reunidas em edições temáticas
e agrupadas em quatro seções distintas: textos, história, entrevista e variações. Além da venda avulsa,
a Revista é distribuída a assinantes e membros da APPOA e em permuta e/ou doação a instituições
científicas de áreas afins, assim como bibliotecas universitárias do País.
Associação Psicanalítica de Porto Alegre
Rua Faria Santos, 258 Bairro: Petrópolis 90670-150 – Porto Alegre / RS
Fone: (51) 3333.2140 – Fax: (51) 3333.7922
E-mail: appoa@appoa.com.br - Home-page: www.appoa.com.br
R454
Revista da Associação Psicanalítica de Porto Alegre / Associação
Psicanalítica de Porto Alegre. - Vol. 1, n. 1 (1990). - Porto Alegre: APPOA, 1990, -
Absorveu: Boletim da Associação Psicanalítica de Porto Alegre.
Semestral
ISSN 1516-9162
1. Psicanálise - Periódicos. I. Associação Psicanalítica de Porto Alegre
CDU 159.964.2(05)
CDD 616.891.7
Bibliotecária Responsável Luciane Alves Santini CRB 10/1837
Indexada na base de dados Index PSI – Indexador dos Periódicos Brasileiros na área de Psicologia (http://
www.bvs-psi.org.br/)
Versão eletrônica disponível no site www.appoa.com.br
Impressa em outubro 2015. Tiragem 500 exemplares.
Revista 48.indd 2 29/07/2016 16:12:20
TRAUMA
CORPO
DISCURSO
Revista 48.indd 3 29/07/2016 16:12:20
Revista 48.indd 4 29/07/2016 16:12:20
SUMÁRIO
EDITORIAL .................................... 07 O gozo do perverso
The pervert’s jouissance
TEXTOS Norton Cezar Dal Follo da Rosa Junior...86
De um discurso que não fosse semblante
On a discourse that would not be of semblance Alíngua e voz: algumas considera-
Otávio Augusto Winck Nunes .............. 09 ções sobre modos de falar e de ouvir
Lalanguage and voice some thoughts on ways
Trauma: ficção, história, verdade of speaking and listening
Trauma: fiction, history, truth
Liz Nunes Ramos ................................. 17 Eduardo A. Furtado Leite ............ 103
Traumas Pulsão de vida, pulsão de morte e o
Trauma gozo a-sexuado
Elaine Starosta Foguel ......................... 27 Life drive, dead drive and jouissance a-sexual
Isidoro Vegh ................................ 112
Trauma: acontecimento e experiência na
clínica psicanalítica ENTREVISTA
Trauma: occurrence and experience in the O leque dos gozos
psychoanalytical clinic The range of jouissance
Volnei Antonio Dassoler ....................... 38 Isidoro Vegh ................................ 133
Corpo estranho: do que da experiência RECORDAR, REPETIR,
traumática não cessa de não se escrever ELABORAR
Strange body: what from the traumatic experience
doesn’t cease not to write
Masoquismo “feminino” e a sua
Beatriz da Fontoura Guimarães ........... 48 relação com a frigidez
Feminine masochism and its
Um corpo: entre a cena e o mundo relacion to frigidity
A body: between the world and the scene Helene Deutsch ........................... 140
Leonardo Beni Tkacz ........................... 56
VARIAÇÕES
A vergonha e o objeto olhar Todas as mulheres são Helena de
Shame and the object gaze Troia
Luciano Mattuella ................................. 63 All the women are Helen of Troy
Cláudio Moreno ........................... 153
Corpo (en)cena: o risco de cada um
The staged body stages: each and every one’s risk
Liberta, que serás também
Ângela Lângaro Becker ....................... 69 Free, that you will be too
Imagem e espelhos na mostração do Luciana Brandão Carreira ........... 170
corpo a partir de “um método perigoso”
Image and mirrors in the display of the body from “a
dangerous method“
Robson de Freitas Pereira ................... 75
Revista 48.indd 5 29/07/2016 16:12:20
Revista 48.indd 6 29/07/2016 16:12:20
EDITORIAL
F reud produz uma ruptura no pensamento de sua época ao estabelecer
uma relação entre trauma e sexualidade. A psicanálise, que vinha ganhan-
do consistência, difundiu-se na cultura a partir da ideia de que a causa da
neurose teria relação com um trauma de caráter sexual, e que somente a
posteriori ele seria ressignificado pelo sujeito. Mais adiante, Freud revê essa
primeira teoria, incluindo a fantasia inconsciente como provável desencade-
ante das neuroses, e sublinha a importância da realidade psíquica a partir da
qual considera não haver distinção entre verdade e ficção.
O conceito do trauma é retomado por Freud diante do sofrimento dos
combatentes na Primeira Guerra Mundial, com quadros clínicos de intensas
dores psíquicas. Nessas circunstâncias, observou que a vivência traumática
fixava o doente em sonhos que repetiam as terríveis cenas vividas, consta-
tando que essa repetição abalava sua ideia sobre a função de realização do
desejo no sonho. Confrontado com esse cenário, Freud se impõe a neces-
sidade de uma revisão teórica, o que é proposto em Mais além do princípio
do prazer [1920]. Nesse texto ele desloca o princípio do prazer como o mais
elementar do funcionamento pulsional e mostra que algo escapa, dando lugar
à compulsão à repetição, com o reconhecimento da pulsão de morte.
Lacan, a partir da releitura que produziu da obra de Freud, propõe novos
desdobramentos conceituais. Reafirma a importância da realidade psíquica
e do a posteriori no trauma, e enfatiza como central aquilo que permanece
fora da inscrição no inconsciente, o real. Ainda nos fala de troumatisme ao
considerar a dimensão traumática na própria fundação do sujeito, quando do
encontro/desencontro do corpo com a linguagem – demarcando a perda do
Revista 48.indd 7 29/07/2016 16:12:20
Editorial
instintual – e a entrada do pulsional em sua articulação com o discurso, evo-
cando a experiência do desamparo originário do humano.
Diante da cena contemporânea, propícia a catástrofes e violências que
afetam e impactam a vida psíquica das pessoas, qual seria a direção do
tratamento? Para Lacan, o encontro com o real, encontro inassimilável, na
forma de trauma, indica a falta de representação e pode nos ajudar a pensar
o que se coloca em jogo nesse tipo de experiências. É a partir do dizer na
transferência, da fala, do reencontro da palavra, que a ficção inventa e tenta
escrever uma borda ao real, um anteparo, um efeito de verdade à função
significante. A fantasia, como bem observou Freud, pode cumprir um papel
bastante protetor nessa situação, e a realidade psíquica ganha o estatuto de
verdade.
Freud já havia considerado que a interpretação do conteúdo in-
consciente não era suficiente para dar conta do que se problematizava
no humano, referindo de maneira muito clara que o tratamento dos sofri-
mentos teria de passar necessariamente pela talking cure. É a partir des-
se exercício de fala que a psicanálise põe em ação o que lhe é próprio,
criar condições de enunciação para o que “sobra” e que afeta o sujeito.
Revista 48.indd 8 29/07/2016 16:12:20
Rev. Assoc. Psicanal. Porto Alegre, n. 48, p.09-16, jan. 2015/jun. 2015
TEXTOS DE UM DISCURSO QUE
NÃO FOSSE SEMBLANTE1
Otávio Augusto Winck Nunes2
Resumo: O presente texto propõe que os seminários de Lacan sejam lidos como
significantes. Trabalha, também, as formulações lacanianas a respeito dos qua-
tro discursos, a distribuição dos lugares discursivos e as rotações que sofrem os
elementos que compõem cada um deles, quais sejam: discurso da histérica, do
mestre, universitário e do psicanalista.
Palavras-chave: discursos, agente, verdade, produção, outro.
ON A DISCOURSE THAT WOULD NOT BE OF SEMBLANCE
Abstract: The present text proposes that the seminars of Lacan should be read
as significants. It also approaches the formulations of Lacan regarding the four
discourses, the distribution of the discourse places and the rotations that the ele-
ments present in each one of them are subject to, that is: the discourse of the
hysterical, of the master, of the university and of the psychoanalyst.
Keywords: discourses, agent, truth, production, other.
1
Trabalho apresentado nas Jornadas Clínicas da APPOA: Corpo e discurso em psicanálise,
novembro de 2014, em Porto Alegre.
2
Psicanalista; Membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre (APPOA) e do Instituto
APPOA; Mestre em Psicologia do Desenvolvimento/UFRGS; Mestre em Psicanálise e Psicopa-
tologia/ Universidade de Paris 7. E-mail: otavioaugustowincknunes@gmail.com
Revista 48.indd 9 29/07/2016 16:12:20
Otávio Augusto Winck Nunes
O
“ homem e a mulher, como tais, são fatos de discurso”. Lacan, ([1971]2009,
p.136).
“O dizer é justamente o que fica esquecido por trás do que é dito no que
se ouve”. Lacan, ([1971-1972]2010, p.69)
Essas duas frases, tomadas do ensino de Lacan, situam a especifici-
dade do discurso psicanalítico e nos oferecem um norte por onde podemos
seguir trabalhando. Nessa direção, pensei em tomar seus seminários como
significantes, ou seja, como sinalizadores de tempos de sua obra e que são
sempre, por definição, solidários. Momentos de produção em que há um an-
tes e um depois, que podemos ler a posteriori. Lacan insistia em dizer que
falava como analisante, dirigindo-se a sua plateia, que faria as vezes, então,
de analista, mesmo sem o saber. Ele procurava com isso acentuar que seu
discurso buscava um ponto de enunciação, procurava antes de tudo, a posi-
ção de sujeito do inconsciente.
Nesse sentido, podemos dizer que Lacan não se distanciava de Freud,
pelo contrário, chamava para si a responsabilidade pela sua proposta de re-
leitura da obra freudiana. No seminário De um discurso que não fosse sem-
blante, especificamente, vários são os momentos em que Lacan se volta aos
textos fundamentais de Freud para retomar e enfatizar pontos importantes do
seu ensino e da sua transmissão, além de retomar momentos da sua própria
produção, principalmente os que fazem parte dos Escritos ([1966]1998).
Então, um dos pontos que gostaria de propor para discussão é consi-
derar que o Discurso que não fosse semblante ([1971]2009) é um momento
de desdobramento conceitual de Lacan, que, junto com os seminários que o
precederam, como os que o sucederam, compõem movimentos necessários
para destacar as diferenças existentes entre os registros do real, do simbólico
e do imaginário, além de seus pontos de enlace.
Se é verdade que podemos ler o momento inicial da obra de Lacan
como aquele em há uma preocupação em re-estabelecer a primazia do sim-
bólico sobre o imaginário e as diferenças existentes entre esses registros,
havia um motivo muito claro para isso. As produções psicanalíticas posterio-
res a Freud, e contemporâneas a Lacan, privilegiavam efetivamente a ima-
ginarização da análise, em detrimento do registro simbólico, como lugar de
transmissão da cultura.
Se a partir do seminário De um Outro ao outro ([1968-1969]2004) encon-
tramos uma dedicação maior a incluir o registro do real nas suas formulações,
Lacan não dispensa em nenhum momento os registros do simbólico e do ima-
ginário. Pelo contrário, considera que, para poder abordar o real, é necessário
trabalhar a partir dos registros do simbólico e do imaginário. Movimento e mo-
mento necessários frente à incompletude de uma obra como a da psicanálise.
10
Revista 48.indd 10 29/07/2016 16:12:21
De um discurso que não fosse semblante
Outro aspecto que gostaria de enfatizar é de que Freud trabalhou mui-
tos anos com a primeira tópica: inconsciente, pré-consciente, consciente, até
que, em virtude dos avatares clínicos, precisou lançar mão de outros recur-
sos conceituais, como o eu, o supereu e o isso, para dar uma torção a mais
na construção da psicanálise. Se, na primeira tópica, poderíamos dizer que
a resistência, como elemento imaginário, era um dos aspectos relevantes
e destacados por ele, já na segunda tópica, pode-se dizer que o relevo é
dado precisamente à repetição. Mesmo que o diga de forma “tímida”, como
Lacan (p.19) indica no seminário De um discurso que não fosse semblante
([1971]2009), pois Freud não os apresentava na perspectiva do real. Frente
à timidez de Freud, Lacan é bem mais enfático e desembaraçado no que diz
respeito ao real.
Como quem conta um conto aumenta um ponto, Lacan re-leu Freud e
serviu-se dos significantes lançados por ele, sofreu seus efeitos, foi elabo-
rando e re-elaborando a sua obra sem dispensar nem excluir seus diferentes
momentos de produção. Arriscaria dizer que ele, além de re-ler Freud, se re-
-leu, para chegar até a formalização dos quatro discursos.
Um exemplo: no seminário As psicoses, Lacan ([1955-1956]1985) ao
trabalhar o caso Schreber diz:
Vocês se lembram que podemos, no interior mesmo do fenômeno
da fala, integrar os três planos, o do simbólico, representado pelo
significante, o do imaginário, representado pela significação, e o do
real, que é o discurso de fato efetuado realmente em sua dimensão
diacrônica (p.78).
Ou ainda: “Deus (para Schreber) é inteiramente discurso” (p.151). É
uma outra forma de dizer que o campo do discurso, o que faz laço social, é
um campo de significação que serve para organizar um significante.
Mesmo antes, no seminário Os escritos técnicos de Freud ([1953-
1954]1983), Lacan afirma:
Há partes do discurso desinvestidas de significações que uma outra
significação, a significação inconsciente vem pegar de trás [...]. O
trocadilho, o quê que é? – senão a irrupção calculada do não-senso
num discurso que parece ter um sentido (p.319).
Esse é o terreno do inconsciente ao surgir como emergência. Ou seja,
nos seus primeiros seminários já encontramos elementos conceituais que
foram sendo desdobrados ao longo de sua produção, tornando-os mais com-
11
Revista 48.indd 11 29/07/2016 16:12:21
Otávio Augusto Winck Nunes
plexos, mas, ao mesmo tempo, permitindo uma abertura e um diálogo maior
com outros campos de saber.
Antes de deter-me mais estritamente nas questões dos quatro discur-
sos, aponto ainda um outro aspecto. A diferenciação necessária entre os
três registros na obra de Lacan promoveu, inicialmente, uma forte tendência
a considerar o registro do imaginário como uma espécie de vilão, o inimigo
a ser atacado pela análise, na medida em que revelava os pontos resisten-
ciais que impediam os avanços esperados de uma direção de tratamento.
Mas Lacan mesmo ajuda a desfazer esse equívoco, situando a resistência
como elemento produzido pela transferência. Com o acento na chamada
clínica do real, parece-me que se faz um movimento similar. E o que, na
verdade, Lacan ([1971]2009) indica é que o real é por ser construído (p.43)
e circunscrito pela transferência. É pela transferência que pode emergir a
verdade do sujeito.
O que parece mais importante destacar, de fato, é que os três registros
são necessários, não dispensamos nenhum deles, o que nos dá bastante
trabalho, mas esta é uma das dores e delícias do nosso ofício.
Apesar de certa estranheza provocada pelas letras contidas nos quatro
discursos, acostumados que somos com textos, passar por elas é necessário
para podermos avançar na discussão da psicanálise. Podemos depreender
da leitura do seminário De um discurso que não fosse do semblante que há
uma lógica que rege cada um dos quatro discursos que indicam a posição do
sujeito no seu laço social.
As letras que encontramos nas fórmulas e matemas por si só não são
autoexplicativas, mas servem como suportes da fala, fala que é neces-
sária para dar-lhes corpo, da qual depreendemos a conexão discursiva.
As letras indicam os lugares, podendo alternar seu posicionamento na
ordem discursiva, que, por sua vez, caracteriza uma lógica intrínseca à
linguagem.
De fato, o momento em que Lacan apresenta mais detidamente os qua-
tro discursos é no texto Radiofonia ([1970]2003) e no seminário O avesso da
psicanálise ([1969-1970]1992), que servem como pressuposto ao seminário
De um discurso que não fosse semblante ([1971]2009). Semblante, palavra,
mesmo que pouco afeita aos nossos ouvidos, Lacan situa como equivalente
ao “status do significante”(p.15). O semblante é decorrente da produção dis-
cursiva e nunca o contrário.
A fala estabelece quatro lugares fixos que são assim designados por
Lacan: o agente, a verdade, do lado do sujeito; o outro e a produção, do lado
do Outro.
12
Revista 48.indd 12 29/07/2016 16:12:21
De um discurso que não fosse semblante
Lado do sujeito agente outro Lado do Outro
verdade produção
Um discurso se organiza em torno de uma verdade, que é seu motor, o
que põe um agente a funcionar, que, ao se dirigir ao outro, obtém dele uma
produção. Então, um discurso é uma forma particular de o sujeito veicular
sua verdade, que através de um agente, endereça-se ao Outro, para, então
encontrar uma produção.
Com esses quatro lugares é que se produzem discursos que determi-
nam o sujeito. Além dos lugares, há os elementos, os termos que constituem
a estrutura de todo discurso, que são:
S1 o significante-mestre
S2 o saber (a cadeia significante, abreviada como S2)
$ o sujeito barrado
a o mais-de-gozar
A cada torção discursiva, os elementos presentes no discurso se alte-
ram frente aos lugares fixos; torções que são produzidas pelo amor, que “é o
signo de que se muda de discurso” (Lacan, [1972-1973, 2010, p.70).
Amor, em psicanálise, tem um estatuto muito particular, o amor de
transferência, que promove mudanças, elemento fundamental para abor-
darmos o real. Assim, Lacan fornece as condições para lermos os discursos
pelos quais passamos em diferentes momentos, sem que haja a exclusão
de um ou de outro. Podemos dizer que, por vezes, formam-se polos que
indicam posições discursivas diferentes, em que prevalece um em relação
aos outros. Os quatro discursos são momentos distintos da posição do su-
jeito do inconsciente, que funcionam como possibilidades discursivas. Dis-
curso que cria e organiza os fatos, ou seja, a realidade existindo como fato
discursivo.
Dentre esses quatro lugares, o semblante localiza-se no lugar do
agente, como o que surge como função primária e primeira da verdade, o
que da verdade ultrapassa a barra do recalque que separa os dois lugares,
o numerador e o denominador, verdade que é antes um lugar no discurso
que uma revelação.
Os quatro discursos propostos por Lacan são: discurso do mestre, dis-
curso psicanalista, discurso universitário e discurso da histérica.
Então, como podemos ler cada um deles?
13
Revista 48.indd 13 29/07/2016 16:12:21
Otávio Augusto Winck Nunes
Comecemos pelo discurso do mestre. O discurso do mestre, quando
olhamos os elementos que o compõem em suas respectivas posições, pare-
ce ser aquele em que está tudo organizado, tudo em seu lugar. Da verdade
do sujeito, o que ultrapassa a barra que existe entre a verdade e o agente,
aparece o significante-mestre, o significante primordial do sujeito, que o acio-
na no campo simbólico, “que determina a castração” (Lacan, [1969-1970]
1992). O S2 é o saber do Outro, o tesouro do significante, o que fala por
conta própria. E, no lugar da produção, o objeto a, mais de gozar. Objeto que,
impossível de ser assimilado, aparece como resto da operação.
O discurso do mestre é esclarecido pelo discurso da histérica. No discur-
so da histérica ocorre uma torção (1/4 de volta) no sentido horário, levando o
sujeito ao lugar do agente, acionado pelo objeto a, que aparece no lugar da
verdade. O sujeito barrado endereça-se ao outro, que é, então, o significante-
-mestre, obtendo desse endereçamento a produção do saber sobre o objeto
a. É essa a lógica exemplar do analisante. Lacan diz que essa é a tarefa do
analista, colocar em marcha a histerização do discurso, a livre associação,
como nos ensinou Freud.
O discurso universitário é o saber que se encontra no lugar do agente,
acionado pela verdade do significante-mestre, que está no lugar da verdade,
“e que opera para portar a ordem do mestre” (Lacan, [1971]2009, p.97). O
discurso universitário é aquele que ancora o discurso da ciência. Lacan o
situa como saber desnaturado, por dispensar o sujeito. O saber se endereça
então ao objeto a, situando como o lugar do “a estudante”, propondo, na ver-
dade, um novo termo, o “astudado” (p.98) que deve produzir alguma coisa, e
produz um resto, um sujeito barrado.
Já no discurso do psicanalista ocorre um movimento anti-horário em
relação ao discurso do universitário. Nele temos que o saber, que é o in-
consciente e está no lugar da verdade, atravessa a barra do recalque, a qual
separa e une o agente e a verdade, como objeto a, objeto causa de desejo.
O psicanalista aparece como os elementos do campo do Outro (a e S2), do
lado do sujeito, mas não enquanto sujeito. É nesse sentido que o analista faz
14
Revista 48.indd 14 29/07/2016 16:12:21
De um discurso que não fosse semblante
o semblante de a, objeto causa de desejo. A sua lógica discursiva tem no
horizonte que o resto, a partir do endereçamento do objeto a ao sujeito
barrado, seja o significante-mestre, o que cai. E, com isso, o sujeito possa
dispensar esse significante produtor de gozo, para, quem sabe, produ-
zir um outro significante menos tolo, dirá Lacan ([1971]2009). O discurso
do analista é o avesso do discurso do mestre, não exatamente por ser
contrário, mas por mostrar ter ocorrido uma torção nos lugares de seus
elementos.
Gostaria de ilustrar a articulação feita por Lacan, a partir da teoria
dos quatro discursos, retomada rapidamente aqui, no que diz respeito à
posição do sujeito no laço discursivo, no que faz laço social, com uma das
questões que encontramos no seminário De um discurso que não fosse
do semblante ([1971]2009), e nos posteriores, que se referem à diferença
sexual.
As posições discursivas servem ao que Lacan irá, seguindo Freud, pou-
co a pouco, desdobrar nas fórmulas quânticas da sexuação, quanto às po-
sições masculina e feminina do ser falante, para dizer de uma fundamental
desvinculação da diferença sexual sustentada na anatomia corporal.
Como diz Lacan (1971[2009], p.33):
A identificação sexual não consiste em alguém se acreditar homem
ou mulher, mas em levar em conta que existem mulheres, para o
menino, e existem homens para a menina. E o importante é que,
para os homens, a menina é o falo, e é isso que os castra. Para as
mulheres, o menino é a mesma coisa, o falo, e ele é também o que
os castra, porque elas só adquirem um pênis, e isso é falho.
Assim, o semblante não é capaz de recobrir o que diz respeito ao sexual
que escapa e que continua como impossível.
Uma tirinha que faz parte da série Striptiras, do cartunista Laerte, ilustra,
me parece essa questão. Laerte apresenta-se atualmente como mulher, não
se utiliza mais da designação de bissexual, e mesmo a versão inglesa de
cross-dressing, ou travesti, em bom português, é por ele questionada. Enfim,
isso não importa muito, mesmo que faça parte da questão. Mas, o que acho
interessante nos questionamentos que ele propõe, a partir do seu trabalho, é
o que diz respeito à lógica discursiva utilizada para construirmos uma distin-
ção entre os sexos, como na tirinha abaixo. Ele mostra que na anatomia há
uma limitação e, portanto, para nos ocuparmos da questão do sexual, preci-
samos, como diz Lacan nas frases que destaquei na epígrafe, nos valermos
da lógica da linguagem para dela, como analistas, nos ocuparmos.
15
Revista 48.indd 15 29/07/2016 16:12:21
Otávio Augusto Winck Nunes
REFERÊNCIAS
LACAN, Jacques. O seminário, livro 1: os escritos técnicos de Freud [1952-1953]. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 1983.
_____. O seminário, livro 3: as psicoses [1955-1956]. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.
1985.
_____. Escritos [1966]. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.
_____. De um Outro ao outro. Seminário [1968-1969]. Recife: Centro de Estudos
Freudianos. 2004.Publicação não comercial.
_____. O seminário, livro 17: o avesso da psicanálise [1969-1970]. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Ed. 1992.
_____. Radiofonia [1970]. In: ______. Outros escritos. Rio de Janeiro; Zorge Zahar
Ed. 2003. p.400-447.
_____. O seminário, livro 18: de um discurso que não fosse do semblante [1971]. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 2009.
_____. O seminário, livro 20: mais, ainda [1972-1973]. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Ed. 2010.
Recebido em 20/10/2015
Aceito em 18/03/2016
Revisado por Clarice Sampaio Roberto
16
Revista 48.indd 16 29/07/2016 16:12:21
Rev. Assoc. Psicanal. Porto Alegre, n. 48, p.17-26, jan. 2015/jun. 2015
TEXTOS
TRAUMA:
ficção, história, verdade1
Liz Nunes Ramos2
Resumo: O presente texto trabalha o trauma, a partir das obras de Freud e La-
can, abordando os movimentos necessários para a inscrição do real, como con-
dições de elaboração. Para relançar a interrogação sobre o lugar desde onde o
analista pode operar frente ao trauma, foi utilizada uma obra de Mia Couto.
Palavras-chave: trauma, morte, real, simbólico, imaginário.
TRAUMA: fiction, history, truth
Abstract: This text deals with the trauma, from the works of Freud and Lacan,
adressing the movements necessary for the inscription of the real, as conditions
for working through. To revive the question upon the place from where the psycho-
analyst is able to deal with the trauma, a work of Mia Couto was used.
Keywords: trauma, death, real, simbolic, imaginary.
1
Trabalho apresentado na Jornada de Abertura da APPOA: Trauma, abril de 2015, em Porto
Alegre.
2
Psicanalista; Membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre (APPOA) e do Instituto APPOA.
E-mail: liz-ramos@uol.com.br
17
Revista 48.indd 17 29/07/2016 16:12:21
Liz Nunes Ramos
O conceito de trauma perpassou praticamente toda a obra de Freud e La-
can, direta ou indiretamente.
Desde suas primeiras hipóteses Freud concebeu o inconsciente como
um sistema de inscrições. E a escrita, justamente, faz parte da prática psica-
nalítica desde sempre. Freud avançou escrevendo a clínica, as cartas, muitos
de seus textos são diálogos hipotéticos nos quais prezou o endereçamento
ao interlocutor, mesmo que imaginário; movimento significativo já que o ima-
ginário é suporte do simbólico, na relação ao Outro.
Também o retorno de Lacan a Freud pressupõe que os psicanalistas
teriam de se deixar perpassar pelo que de Freud se inscreveu na cultura. O
conceito de letra, que, por ser simbólica, contorna o furo do real, testemunha
do quanto ele deixou-se atravessar pelo que da experiência freudiana não
poderia ser ignorado ou apagado.
Para trabalharmos o trauma, falaremos disso: do que se inscreve ou não,
do que deixa marcas, do que precisa ser abordado, ou bordeado, do enigma,
dos rasgões na rede de significantes por onde o sujeito se esvai e o desejo se
apaga. Para relançar a interrogação sobre o lugar desde onde o analista pode
operar frente ao trauma encontrei auxílio num livro de Mia Couto (2007), que
me pareceu oferecer elementos para pensarmos o lugar do Outro, do seme-
lhante nas relações discursivas, dos movimentos necessários para inscrição do
real nas situações traumáticas, como condições de elaboração.
Destaco o endereçamento ao semelhante e à alteridade porque dele de-
pende o sujeito para ter acesso à Outra cena, ao inconsciente, que se organi-
za no endereçamento da palavra a quem é suposto saber ler a verdade que
veicula. Não há ponto de corte frente ao que se apresenta como excesso de
gozo, impossível de representar, sem o acesso ao código do Outro, de onde
retorna nossa mensagem invertida e no qual o gozo encontra limite.
O romance se passa em Moçambique, terra a quem foi negado o direito
ao sono, diz o escritor. Terra sonâmbula (Couto, 2007) é considerado, com
justiça, um dos melhores livros africanos do século XX, dada a meticulosa
lapidação do material linguístico, das mitologias tribais e da cultura oral afri-
cana, além do impressionante estilo poético no trato com a palavra.
Sonâmbulo é o estado entre o sono e a vigília, no qual o sujeito age, mas
destituído da significação de seu ato. Segundo uma antiga crença africana,
enquanto os homens dormiam, a terra se movia, espaço e tempo afora. Ao
despertar, os habitantes olhavam o novo rosto da paisagem e sabiam que
tinham sido visitados pela “fantasia do sonho”. Já no título, o escritor diz do
que se torna irreconhecível da noite para o dia e deixa a interrogação: o que
produz ruptura na possibilidade de reconhecer a paisagem é sua mudança
(tal como ocorre nas guerras, por exemplo) ou é o fato de que no inconscien-
18
Revista 48.indd 18 29/07/2016 16:12:21
Trauma: ficção, história, verdade
te pode não haver correspondência entre a percepção e a representação do
visto? Esta é a tese freudiana. E, de certa forma, sempre experimentamos
algum trânsito entre o representado e o que se situa fora, seja das pulsões,
seja das percepções.
Os que passaram por experiências traumáticas não raro falam de um
estado insone ou do desejo de dormir e não acordar mais. Nesta narrativa,
os sonhos, pesadelos, alucinações e delírios se repetirão, indicando tanto as
tentativas de elaboração quanto o retorno do impossível de simbolizar, quan-
do a terra de origem perde sua significação como lugar habitável pelo sujeito.
Há sempre alguém “sonhambulante”, dessubjetivado pelo horror da mortan-
dade, da fome, da embriaguês, da velhice ou do enlouquecimento, e vemos o
apelo ao animismo e ao pensamento mágico como formas de representação
e enlace ao coletivo nas culturas tribais.
O primeiro capítulo, A estrada morta, começa assim:
– Naquele lugar, a guerra tinha morto a estrada. Pelos caminhos
só as hienas se arrastavam, focinhando entre cinzas e poeiras. A
paisagem se mestiçara de tristezas nunca vistas, em cores que se
pegavam à boca. Eram cores sujas, tão sujas que tinham perdido
toda a leveza, esquecidas da ousadia de levantar asas pelo azul.
Aqui o céu se tornara impossível. E os viventes se acostumaram
ao chão, em resignada aprendizagem da morte (Couto, 2007, p.9).
Dois parágrafos adiante:
– Um velho e um miúdo vão seguindo pela estrada. Andam bambo-
lentos como se caminhar fosse seu único serviço [...] Vão para lá,
de nenhuma parte, dando o vindo por não ido, à espera do adian-
te. Fogem da guerra que contaminara toda a sua terra. Vão na
ilusão de, mais além, haver refúgio tranquilo. Avançam descalços,
suas vestes têm a mesma cor do caminho [...] os dois caminheiros
condiziam com a estrada, murchos e desesperançados. Não po-
demos ouvir o silêncio de vidas sem palavras? (Couto, 2007, p.9).
O velho se chama Tuahir, “tão magro que perdera toda substância”. O
menino é Muidinga, salvo pelo velho de ser enterrado vivo, num campo de re-
fugiados. Ali se enterravam meninos moribundos, em viagem sem regresso.
Ao ser arrastado para a cova, seus dedos se cravavam à terra lutando contra
o abismo. O velho se recusou a enterrá-lo, pois viu que respirava. Mentiu ser
seu sobrinho e empenhou a palavra de que cuidaria dele. O menino “já esta-
19
Revista 48.indd 19 29/07/2016 16:12:21
Liz Nunes Ramos
va sem estado, os ranhos lhe saíam de toda a cabeça”. O velho lhe dedicou
“paternais maternidades”, e “sem desperdício de palavra” deu-lhe o nome de
um filho, já morto. Ensinou-lhe “todos os inícios”: andar, falar, pensar. Mui-
dinga se “meninou” outra vez, mas, na solidão, o canto migrara de si. O que
fazer com a solidão? Se recuperou a vida, como recuperar a fala onde a vida
se realiza?
A mentira de Tuahir sobre o parentesco, o empenho da palavra, veicula
algo do desejo frente à pulsão de morte. Ao empenhar a palavra e nomear,
o velho enlutado se fez pai; este é um ato simbólico, ainda que a fantasia de
reencontrar o filho morto seja o motor do ato. Aqui a palavra e o nome traçam
os limites entre a vida e a morte, e limitam a voracidade da pulsão assassina.
Logo fogem deste campo. Respeitadas as diferenças: será que a emergência
do real, em transferência, confrontando o analista quanto à posição ética de
seu desejo de analista, não exige sempre um ato, assim como Tuahir viu-se
convocado ao ato?
Esta segunda infância foi apressada pelos ditados da sobrevivência. A
primeira está perdida. O miúdo perdeu a si mesmo, não sabe quem é, quem
são seus pais, de que aldeia vem. Interroga repetidamente o silencioso Tu-
ahir sobre seu passado. O velho, sábio de longa existência, mas em situação
na qual o saber ancestral não dá conta, diz que estão “sozinhos, mortos e
vivos, agora já não há país”. Só mais adiante conseguirá contar do que se
passou no campo de deslocados.
Segundo ponto a destacar: este retorno incessante de questões relati-
vas à perda da filiação, de referentes simbólicos, é tão impactante quanto o
elemento exterior. Este pequeno busca no parentesco uma suplência da re-
ferência simbólica perdida, chama Tuahir de tio que, apesar da “paternidade”,
o adverte: “o moço não abuse familiaridades”. Muidinga interpreta que tal tra-
tamento é só “a maneira da tradição”. E o que é melhor do que estar inserido
numa tradição? Muidinga é sobrevivente, investido pelo desejo do Outro, mas
ainda assim identificado a um morto e em meio a uma guerra. Nenhum deles
está livre do destino funesto. Qual seja: “morrer sem validade”. Isto é, sem
que o significante marque a passagem pelo mundo, do sujeito enquanto valor
fálico para o Outro. Morrer sem deixar rastro, inscrição.
É nisto que este romance é espetacular. Marcos do Rio Teixeira, no texto
Um novo realismo, publicado na Revista da APPOA, escreve:
A literatura não nasceu no dia em que um menino, gritando ‘Olha o
lobo, olha o lobo’ saiu correndo do vale de Neanderthal com um lobo
cinzento e grande em seus calcanhares. A literatura nasceu no dia
em que um menino veio gritando : “Olha o lobo, olha o lobo” e não ha-
20
Revista 48.indd 20 29/07/2016 16:12:21
Trauma: ficção, história, verdade
via nenhum lobo atrás dele (que o pobre menino tenha sido devorado
por uma fera de verdade, por ter mentido tantas vezes é apenas um
incidente). Mas aqui está o que é importante. Entre o lobo do vale e
o lobo da história existe algo flamejando. Este algo, este prisma, é a
arte da literatura, como diz Nabokov (Teixeira, 2006, p.96).
Há algo de flamejante em Terra sonâmbula. Que descrição do desamparo
e que metáforas! Quanta antecipação dos descaminhos que a humanidade
tomaria em tão poucos anos após este livro. A estrada morta, as vestes da
mesma cor do caminho dizendo da mortificação derivada da violência e da
ruptura identificatória, do vazio no qual as palavras e a voz lhes faltam, redu-
zindo o corpo a um resto destituído de toda humanidade. De que filiação eles
poderiam se reclamar? Um sem memória, sem passado, em luto de si mesmo;
outro, sem país, sem tempo, sem a tradição que o constituiu. Onde se situa a
vida, neste intervalo entre a infância e a velhice, deslocadas de sua ordem?
Mais do que moradias, escolas, hospitais, estradas, sistemas de comu-
nicação, etc., a reconstrução da nação implica o sujeito em seus laços sociais
e institucionais, e implica atravessar a violência do indizível.
A estrada, tomada por guerrilheiros, não leva a lugar algum. O tempo
parou congelado, entre o passado esquecido e o futuro abortado. Não há
defesa, já que os véus esgarçados os confrontam ao real dos tiros e das pul-
sões, que, não representadas, situam a todos como animais. E no enredo há
muitos humanos transmutando-se em animais. A busca para escaparem ao
destino prescrito impõe transitarem no intervalo entre vida e morte. Muidinga
teme distanciar-se de sua aldeia e nunca mais encontrar seus pais. Tuahir lhe
pergunta: “– O que faz andar a estrada? É o sonho. Enquanto a gente sonhar
a estrada permanecerá viva. É para isto que servem as estradas, para nos
fazerem parentes do futuro” (Couto, 2007, p.65).
Falar da infância perdida, do reaprender todos os inícios, das “brin-
criações”, e da velhice enlutada que ainda sonha para viver, talvez des-
creva o trabalho de recriar, frente ao trauma, a trajetória de toda criança
em sua constituição. Em situações que fazem furo na rede simbólica de
sustentação subjetiva (Lacan fala de troumatisme-trou é furo em francês,
para dizer que nem tudo cai sob o significante, há sempre algo que escapa),
naquelas situações que remetem o sujeito ao seu traumatismo originário,
quando algo do próprio corpo é perdido; ouvimos pessoas em sofrimento
extremo dizerem que gostariam de apagar tudo e nascerem de novo. Triste
e paradoxal destino do falante: o que se inscreve não pode ser apagado,
mas nem tudo se inscreve. E ambas as situações podem ser fonte de
sofrimento.
21
Revista 48.indd 21 29/07/2016 16:12:21
Liz Nunes Ramos
Este velho que puxa a caminhada encarna o desejo do Outro, antecipa
um futuro, sem o que é impossível seguir adiante na humanização. Sutil-
mente, Mia Couto traz este elemento que Lacan menciona ser fundamental
para a constituição da unidade corporal no estádio do espelho. Para construir
um lugar, nos ancoramos no olhar do Outro que “vê” um sujeito onde ainda
não há. O olhar de Tuahir, que vê a respiração, as unhas cravadas à terra
e os interpreta como desejo de viver, faz diferença frente ao desamparo do
infans (da criança destituída da palavra). Para além dos ranhos e vômitos,
o velho vê um futuro filho, o que altera o estatuto do corpo mortificado. Diz
ao menino, envenenado por mandioca azeda, que ele perdeu sua sombra,
quer dizer, perdeu a imagem projetada na qual poderia reconhecer-se como
eu. Reintroduz uma significação. Deixa escapar uma lágrima que lembra à
criança: “– nunca ninguém verteu lágrima por mim”. Quando o menino já não
pronunciava palavra, o velho segreda em seus ouvidos: “– Para encontrar o
caminho do céu escolha apenas os trilhozinhos entre as nuvens, feitos por
poucos pés” (Couto, 2007, p.130). Perder a criança que lhe cura saudades
de pai seria experimentar todas as dores, ainda assim o velho esperou. O
menino já não morria sem validade. Contrário ao destino mortífero, na manhã
seguinte a criança nascia. O corpo encontrara ancoragem no Outro.
Embora em dificuldades com seu luto, Tuahir suporta este encontro com
a falta, com a angústia de castração. Ele espera nem que seja para enterrar a
criança com as devidas cerimônias, propiciatórias do luto. Uma vez inscrita a
perda, o encontro com o real, numa torção, torna-se encontro com o desejo.
Tuahir espera, Tuahir deseja. Dedicar paciências e “paternais maternidades”
inscrevem seu desejo no corpo de Muidinga. É o que permite à criança agarrar-
-se à vida, tal desejo sustentando o alargamento do tempo que se precipitava,
voraz. Outras passagens no livro dirão das fraturas, da necessária reconstitui-
ção da matriz identificatória e das torções possíveis frente ao sofrimento.
Freud elucidou a função elaborativa do sonho. A saída que Tuahir vis-
lumbra e transmite ao menino passa por colocar em causa o saber incons-
ciente, “enquanto a gente sonhar”, quer dizer, sustentar o véu da fantasia,
poderemos viver. “Parentes do futuro”, expressão linda para transmitir que o
parentesco presente na origem já não garante nada, é preciso deixar caírem
os restos, perdidos para sempre, que impedem a tarefa de construir um des-
tino. Destaco esta fala como determinante, na difícil busca de se reorientarem
quanto ao desejo em alguma significação, neste caso, pai e filho.
O autor não recua frente ao desafio de vislumbrar algo do desejo para
além da extrema necessidade, o que é valioso em qualquer situação traumá-
tica. E é precioso ele demonstrar que a saída não se faz sem o encontro com
o real, imprescindível para refazer-se a amarração real, simbólico, imaginário.
22
Revista 48.indd 22 29/07/2016 16:12:21
Trauma: ficção, história, verdade
Na sequência do enredo outro encontro na estrada, com um ônibus in-
cendiado, repleto de cadáveres, que o menino insiste em enterrar. Está can-
sado de viver entre mortos e espíritos. Próximo à estrada jazia um cadáver,
de um rapaz, ao lado uma mala com roupas, comida e 11 cadernos. O menino
os recolhe e à noite acende uma fogueira. Sob a luz, começa a decifrar as
letras dos escritos, espantando o medo do escuro, morada dos fantasmas.
Ler era coisa que não recordava saber. A noite vai se enluarando e a estrada
escuta a história que desponta dos cadernos. São diários que contam a histó-
ria de Kindzu, o morto junto à mala, assaltado quando retornava a sua aldeia.
A partir daqui o escritor introduz um artifício genial. O romance intercala-
rá um capítulo narrando o que se passa com Muidinga, com outro do caderno
contando a história de Kindzu. As histórias se enlaçam, mas se marcam inter-
valos. Entre o vivo e o morto.
Fundamentalmente, é por identificação com Kindzu que Muidinga se re-
orienta na relação com o Outro e, por vezes, não sabemos quem é quem.
Mas a alternância marca separações. A partir de então, não serão mais dois.
Kindzu, morto, encarna um terceiro, um lugar vazio que serve de referência
aos dois. A leitura em voz alta sustenta o laço com Tuahir e recupera algo da
tradição oral de contar histórias. Já não caminharão a esmo, param neste
ônibus, protegidos pelo fato de que “o que já ardeu não volta a queimar”, ou
seja, a morte consumada e enterrada impõe lidar com os restos.
O diário inicia com a seguinte frase: “– Quero pôr os tempos em sua
mansa ordem [...] acendo a história, me apago a mim”.
Kindzu leva este nome como homenagem de seu pai à palmeira de onde
extraía a sura, um vinho, sua única preferência. Este nome o atrela ao gozo
de seu pai, alcoolista, louco, cujo corpo era dorminhoso. Taímo “sofria de
sonhos” (delírios), aos filhos reunidos contava supostas verdades que os so-
nhos revelavam. Como orientar-se por delírios e desvencilhar-se do gozo que
encarnou, pela nomeação, loucura e impotência do pai?
Num desses o pai anuncia a morte do filho menor e, para salvá-lo de ser
levado pelos bandos, o condena a viver no galinheiro, como galinha. Proibido do
contato com os irmãos Junhito desaprendeu palavras humanas. Num dia desa-
pareceu, sem deixar rastro, tresloucando a casa. A guerra os destruiu, o pai mor-
reu e a mãe ensinava os filhos a serem sombra, sem nenhuma esperança senão
seguirem do corpo para a terra. Kindzu se tornou “irmão das coisas sem nome”
e escreve para introduzir o simbólico entre o corpo e a terra. Acender a história e
apagar-se é subsistir na cadeia significante, para além da morte do corpo.
O corpo do pai de Kindzu foi lançado ao mar e desde então seu fan-
tasma retornava em eterna perseguição ao filho. Provar sua ausência era
essencial, escrever dava tréguas ao gozo.
23
Revista 48.indd 23 29/07/2016 16:12:21
Liz Nunes Ramos
Cada capítulo do diário conta o incessante retorno alucinatório, tanto
do fantasma do pai como do irmão desaparecido, sua vida organizada pelos
delírios, a viagem por mar em infinita busca de um lugar. Em todos há pelo
menos uma morte, dizendo do incessante retorno da pulsão de morte em sua
potência destrutiva.
Num desses capítulos o fantasma do pai de Kindzu lhe pergunta: “– Es-
creves o quê?” “– Nem sei, pai. Escrevo o que vou sonhando”. “– E alguém
vai ler?”. “–Talvez” “– É bom assim, ensinar alguém a sonhar”. Noutra pas-
sagem ele escuta de longe as histórias que uma velha portuguesa conta à
criançada, misturando o português de origem e o makwa nativo. O que ouvia
era de “reaver o mundo no qual não cabia mais. Na berma da estrada eu me
sento e escrevo, com receio de que seu desenho me fugisse”. Fazer margens
na estrada morta não era escrever para limitar o gozo do pai? Não era um
encontro com sua verdade? Os escritos de Kindzu testemunham a relevância
da dimensão onírica da existência, constituem ato de um sujeito que tomou a
palavra, contou a própria história para desenlaçar-se da posição sintomática
em que vive. O que, para a errância de Muidinga e Tuahir, abre um tempo de
elaboração, além do tempo roubado pela guerra.
Os escritos, da ordem da letra, inscrevem limite à angústia. Em 1974,
na Terceira, Lacan diz que “a angústia é algo que se situa alhures em nosso
corpo, é o sentimento que surge da suspeita que nos vem de nos reduzirmos
ao nosso corpo” (Lacan, [1974]2002, p.65). Pois bem, o fundamental desse
ponto da narrativa, do encontro com o ônibus assaltado, é que não foi só en-
contro com os cadáveres, com o que não cessa de não se inscrever (tanto do
lado da estrutura quanto do trauma). É também o encontro com os escritos,
com o que cessa de não se inscrever, convocando nossos leitores a decifra-
rem a história do morto, para não mais se confundirem com fantasmas. Os
escritos permitem dar sentido ao real do cadáver. É verdade que o sentido é
sempre imaginário, mas sem ele não opera a função simbólica ordenadora da
linguagem, motor da apropriação do corpo próprio. Se Muidinga se apropria
do seu é pelos atos de Tuahir, pelas brincriações e pelos escritos de Kindzu,
que supõem um leitor.
Muidinga: ora pensa ser Junhito, o irmão desaparecido de Kindzu, ora
pensa ser Gaspar. De “sonhambulante”, sonâmbulo, passa a sonhador, a
ficção permitindo-lhe transitar pelo enigma de sua existência, pelos impasses
traumáticos da filiação, do real da morte, do sexo, do desejo.
No fim da vida a voz de Tuahir se esfuma. Moribundo, ele pede: “– Me
deite na canoa, filho”. Ele é lançado ao mar, conforme seu desejo, numa
canoa que, por acaso, leva o nome do pai de Kindzu (Taímo). No acaso,
segundo Lacan, reconhecemos a repetição. O sem número de repetições
24
Revista 48.indd 24 29/07/2016 16:12:21
Trauma: ficção, história, verdade
inscreveu significantes, de forma que o simbólico agora orienta Kindzu ao
escrever, Muidinga ao ler, Tuahir ao escutar e fazer-se escutar em seu pedido
de assistência frente à morte.
Interessa-nos aqui a realidade da pulsão, em alguma medida agora en-
laçada ao discurso. Tuahir mira apenas o céu, a canoa levada pelas ondas,
enquanto Muidinga lê em voz alta o último caderno de Kindzu, reservado
para o momento final. Agora é Muidinga quem oferta palavras, preside um
ato cerimonial, ajudando seu pai a desprender-se da terra, antes morta. Esta
cerimônia fúnebre, à diferença de Kindzu e seu pai, põe em jogo a pulsão in-
vocante contra a pulsão de morte. A voz, as palavras, podem ser um dom se
dizem da existência de um sujeito cujo desejo inscreveu-se para um outro, se
são palavras que registram a existência de um sujeito para além da morte do
corpo, no campo dos significantes e dos laços sociais. Enfim, o céu tornou-se
possível, o pai pode partir e não retornará como fantasma.
No último caderno, Kindzu narra um sonho de angústia, o da própria mor-
te: um ônibus incendiado, um tiro na cabeça, a mala dos cadernos no chão, um
menino que vai pela estrada levando papéis nas mãos. Com as últimas forças,
Kindzu chama: “– Gaspar!” O menino estremece, desperta como se nascesse
mais uma vez, e deixa cair os cadernos. As letras vão se convertendo em grãos
de areia e, aos poucos, os escritos se transformam em páginas da terra. Letras
que revitalizam a terra morta por onde Muidinga transitaria?
Não esperaríamos melhor descrição da letra que cai, quando o sujeito
se desembaraça de seu fantasma (ser sombra). O endereçamento parece ter
recortado o lugar de escritor, que representará Kindzu para além da morte,
o lugar do leitor e do falante, o lugar de quem escuta. A morte poderá advir,
mas talvez não os encontre como dejetos, condenados a desaparecerem
sem deixar rastros. Não saberemos se Muidinga, de fato, era Gaspar, mas
os escritos poderão auxiliá-lo a escolher caminhos singulares na terra, ainda
que seu país não lhe garanta meios de proteção e os riscos persistam. Talvez
esta seja uma leitura equivocada do que o desdobramento da narrativa per-
mitiria antecipar, talvez seja uma expectativa romântica. Contudo, de alguma
forma é preciso expressar o desejo de que as hordas de refugiados que se
deslocam sem destino, na atualidade, encontrem algum lugar entre nós.
Produzir discurso é tentar produzir algum índice de verdade, apesar dos
fatos históricos (que, aliás, não são dispensáveis). Falar é ato de escritura, é
tentar reduzir a lacuna entre a percepção e o saber, é transitar neste intervalo
entre saber e verdade, apesar de todos os enigmas que cercam as interroga-
ções sobre quem somos.
Sabemos da exclusão histórica de negros no Brasil, da morte de reti-
rantes nordestinos, narrada em Vidas secas, por Graciliano Ramos (2002),
25
Revista 48.indd 25 29/07/2016 16:12:21
Liz Nunes Ramos
do extermínio de opositores à ditadura, de crimes motivados por racismo e
homofobia, da execução de policiais perseguidos pelo tráfico, de mulheres
mortas em abortos clandestinos, de idosos e doentes mentais condenados à
dor e desaparição pela negligência ou falta de serviços de saúde, do assas-
sinato de crianças por unidades pacificadoras, de milhares de refugiados de
guerras cruéis, e por aí vai... Mas, para além do que sabemos, o que estes
acontecimentos dizem de nossa verdade inconsciente, o que resta não repre-
sentado de nossas pulsões destrutivas, sustentando a repetição infinita dos
fatos ao longo da história da civilização?
Não são horrendos os fantasmas violentos, retornando nos fundamen-
talismos religiosos, nos apelos à volta do militarismo, no ódio que fratura os
laços sociais? Podemos ser levados por tempos sem conta, por estradas
sem beira, por rupturas cada vez mais aniquiladoras do pacto civilizatório;
pacto que exige renúncia à satisfação da pulsão de morte. Ou podemos nos
perguntar que lugar nos cabe frente a estes acontecimentos assombrosos?
Para os psicanalistas, a pergunta não é uma questão de escolha, é um dever.
Nosso ofício implica interrogarmos, incessantemente, o que sustenta a con-
dição humana e o que a ameaça.
REFERÊNCIAS
COUTO, Mia. Terra sonâmbula. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
LACAN, Jacques. Conferência: A terceira [1974]. Cadernos Lacan. Publicação não
comercial, Porto Alegre: APPOA, vol.2, p.65, 2002.
RAMOS, Graciliano. Vidas secas. Rio de Janeiro: Editora José Olympio, 2002.
TEIXEIRA, Marcos do Rio. Um novo realismo. Revista da Associação Psicanalítica de
Porto Alegre, Porto Alegre, n. 30, p.91-98, jun. 2006.
Recebido em 29/04/2015
Aceito em 22/06/2015
Revisado por Gláucia Escalier Braga
26
Revista 48.indd 26 29/07/2016 16:12:21
Rev. Assoc. Psicanal. Porto Alegre, n. 48, p.27-37, jan. 2015/jun. 2015
TEXTOS
TRAUMAS1
Elaine Starosta Foguel2
Resumo: Este artigo discorre sobre quatro acepções de trauma encontradas
nas obras de Freud, Lacan e Herman. Busca apresentar as diferentes estruturas
metapsicológicas que condicionam cada uma, ao mesmo tempo em que propõe
que as neuroses traumáticas geradas por atrocidades perpetradas entre seres
humanos, por romperem com a ordem fálica e gerarem horror, desorganizam a
estrutura real, simbólica e imaginária da linguagem em cada sujeito. Este escrito
visa colaborar com a escuta analítica nesses casos, desenvolvendo a especifici-
dade da neurose traumática.
Palavras-chave: neurose traumática, troumatisme, atrocidades.
TRAUMA
Abstract: This paper discusses four conceptions of trauma in Freud, Lacan and
Herman. It aims to present the distinct metapsychologic structures that determine
each one of these conceptions, and at the same time claims that the traumatic
neurosis caused by atrocities among people disrupt the phallic organization and
generates terror. Consequently they disorganize the real, symbolic and imaginary
language structure in each subject. Specifying the nature of traumatic neuroses,
this work wants to contribute with the psychoanalytical treatment of these cases.
Keywords: traumatic neurosis, troumatisme, atrocities.
1
Trabalho apresentado na Jornada de Abertura da APPOA: Trauma, abril de 2015, em Porto
Alegre.
2
Psicanalista, Membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre (APPOA); Membro do Cam-
po Psicanalítico de Salvador. Pós-graduação em Clínica da Dor, UNIFACS, Salvador, 2000.
Mestre em História, Ensino e Filosofia da Ciência, 2007, UFBA. E-mail: elainefoguel@gmail.com
27
Revista 48.indd 27 29/07/2016 16:12:21
Elaine Foguel
Mais especificamente, o trauma é
caracterizado por ser uma memória de
um passado que não passa.
Márcio Seligman-Silva
Introdução
T rauma, do grego troma, ferida, alteração, incisão, remete na psicanálise
a estruturas conceituais um tanto diversas, que possuem, no entanto, em
comum, um encontro com o real, a tikê lacaniana. A presente proposta con-
siste então em apontar diferentes metapsicologias, sendo duas acepções de
Freud, uma de Lacan – essas três familiares ao meio analítico, e mais uma,
de Judith Herman, no seu registro já clássico no estudo psicodinâmico norte-
-americano da questão, Trauma and recovery – the aftermath of violence from
domestic abuse to political terror, de 1992, no qual estuda o quadro de desor-
dem de estresse pós-traumático.
Como é de se esperar, as molduras teóricas acima citadas implicam so-
breposições consideráveis na escuta das narrativas nas suas singularidades.
Também convergem no que é o mais importante: o tratamento destes
sofrimentos passa necessariamente pela talking cure, pela fala, pela cons-
trução, rememoração, ressignificação e invenção, na transferência: “Uma
narrativa que não inclua as imagens e as sensações corporais é estéril e
incompleta. Mas o objetivo final, no entanto, é colocar a história, incluindo
as imagens, em palavras” (Herman, 1992, p.177). Esse movimento de con-
vergência, e também de divergência das economias metapsicológicas não
é uma dificuldade pequena, como indica a descrição de Dostoiévski em Os
irmãos Karamázov, na qual se mesclam semblantes de surtos histéricos com
sintomas resultantes da miséria e violência sociopolítica:
Não sei como é hoje, mas quando eu era menino tive a oportunida-
de de ouvir e ver frequentemente essas klikuchas pelas aldeias e
mosteiros. Levavam-nas à missa, elas ganiam ou latiam feito cães,
o que ecoava em toda a igreja, mas quando traziam o Santíssi-
mo e lhes permitiam achegar-se a ele, a “possessão” cessava e
as doentes sempre se acalmavam por algum tempo. Menino, eu
sempre ficava muito admirado e estupefato com aquilo. Mas naquela
mesma época, em resposta às minhas indagações, ouvi de alguns
senhores de terra – e particularmente de meus professores da cidade
– que aquilo tudo era simulação para não trabalhar, que sempre se
podia erradicá-la com a devida severidade, e ainda respaldavam
28
Revista 48.indd 28 29/07/2016 16:12:21
Traumas
essas afirmações com anedotas várias. Mais tarde, porém, ouvi de
médicos especialistas que naquilo não havia simulação nenhuma,
que era uma terrível doença que afetava as mulheres e, parece,
predominantemente aqui na Rússia, um testemunho do pesado
destino da nossa mulher do campo, uma doença que provinha do
trabalho extenuante executado logo após partos difíceis, malfeitos
e sem qualquer socorro médico; além disso, ela provinha da mágoa
inconsolável, das surras e outros maus-tratos que, a despeito
do modelo geral, algumas naturezas femininas não conseguem
suportar. [...] É por essa razão que sempre se processava (e devia
mesmo se processar) forçosamente naquela doente dos nervos e
é claro, também no cérebro, uma espécie de comoção de todo o
organismo no momento da adoração do Santíssimo, comoção essa
suscitada pela expectativa do milagre infalível da cura e pela própria
fé absoluta em que ele aconteceria. E acontecia, ainda que fosse
apenas por um minuto (Dostoiévski, 2012, p.75-76).
I.
Em 1895, ao discutir o trauma sexual da adolescente Emma, Freud
([1895]1974, p.468) postula que o tempo do trauma se dá com atraso em
relação ao evento potencialmente traumatizante e se desencadeia a poste-
riori, com a ressignificação sexual dos eventos da infância, à luz da excitação
sexual da puberdade.
Também nestas formulações, Freud descreve a diferença entre uma
cena potencialmente traumática – que na neurose se encontra recalcada – e
o fator desencadeante do sintoma, separando a acepção da psicanálise da-
quela do senso comum. Por exemplo, em “não passei no vestibular e não con-
sigo mais sair da minha casa”, o fator desencadeante é “não passei no vesti-
bular”, o que permaneceu fixado como traumático só será acessado através
do trabalho da construção analítica. É nesse intervalo entre surgimento do
sintoma e o complexo traumático a ser construído no tratamento que Freud
funda o edifício psicanalítico com seus aparelhos do recalque. Não é exces-
sivo lembrar que o analista está desde o início advertido a não se encantar
pelo fator desencadeante como causa.
Os tempos do desencadeamento da neurose, tanto o atraso quanto o a
posteriori não foram ultrapassados ou descartados por Freud.
E nem por Lacan que, ao contrário, criou ainda mais complexidades no
exame do tempo lógico, em contraponto ao cronológico; mas o que, sim, foi
rebatido pelo próprio Freud, na sua correspondência com Fliess, foi a reconsi-
29
Revista 48.indd 29 29/07/2016 16:12:21
Elaine Foguel
deração da fixação potencialmente traumática em um evento que tenha ocorrido
na realidade, desembocando depois no tópos da realidade psíquica, como está
consagrado nos textos metapsicológicos (Freud, [1915] 1974, p.214).
As cartas a Fliess, de 1897, revelam as idas e vindas de Freud sobre a
teoria da sedução, até que, na Carta 69 ([1897] 1974), ele anuncia que não
mais podia sustentar sua teoria das neuroses com base em abusos sexuais
das crianças. Esclarece a Fliess que sua teoria da sedução sexual da criança
por um adulto, quando aplicada, fazia as pacientes partirem em debandada,
não havia êxitos. Comenta também: “Ora, todos os pais, não excluindo o
meu, teriam de ser apontados como pervertidos [...] (p.351)”. E para culminar,
explicita o principal: “[...] a descoberta comprovada de que, no inconsciente,
não há indicações da realidade, de modo que não se consegue distinguir entre a
verdade e a ficção que é investida com o afeto (p.351)”.
Numa só cartada (sic) Freud refuta sua primeira teoria e inclui a fanta-
sia inconsciente como provável causa das neuroses, adicionando o essen-
cial, que no inconsciente não há distinção entre verdade e ficção. Ora – se
pode adiantar –, uma vez tendo a ficção papel central no desencadeamento
de uma neurose, deverá ter da mesma forma importância sine qua non na
possibilidade de reconstrução e ressignifição em análise. Foi a partir dessa
constatação que Freud pôde construir seu aparelho de sonhar, e todo o resto
do edifício metapsicológico.
II.
A partir da Primeira Grande Guerra Mundial, Freud usará os termos
neurose traumática e neurose de guerra para aludir especificamente ao ado-
ecimento mental dos combatentes e propor o uso da técnica analítica nos
tratamentos dos mesmos. Em Introdução à psicanálise e a neurose de guerra
([1919] 1974) levanta a hipótese de que as neuroses de guerra se distinguem
das neuroses comuns, são conflitos dentro do eu.
As neuroses de guerra se distinguem das neuroses comuns por ca-
racterísticas particulares, devem ser consideradas como neuroses
traumáticas, cuja ocorrência se tornou possível ou foi provocada por
um conflito no eu (p.261).
Observa-se então que o trauma, na neurose de guerra, possui uma
temporalidade imediata, causas e efeitos atuais, indicando que o apareci-
mento dos sintomas é imediato à ocorrência do sofrimento vivido, afetando a
cada um de forma singular, mas constante nos efeitos deletérios imediatos, e
30
Revista 48.indd 30 29/07/2016 16:12:21
Traumas
esse é um dos pontos fundamentais que se quer sublinhar no atual estudo, o
aparecimento imediato da angústia e dos complexos sintomáticos.
Em 1933, na Nova conferência introdutória XXIX, Revisão à teoria dos
sonhos, ele retoma o debate nos traumas da neurose de guerra à luz do Mais
além do princípio do prazer, isto é, à luz da pulsão de morte e da função do
supereu, apontando ao que chama uma dificuldade, ao verificar que os so-
breviventes sofriam nos sonhos de uma persistente compulsão à repetição
das cenas vividas na guerra. Teria o sonho perdido sua função de realizar um
desejo?
Em determinadas circunstâncias, um sonho só é capaz de levar a efeito
a sua intenção de modo muito incompleto, ou, então, tem de abandoná-la
por inteiro. A fixação inconsciente a um trauma parece estar, acima de tudo,
entre esses obstáculos à função de sonhar [...]. Nas neuroses traumáticas as
coisas são diferentes. No caso destas, os sonhos regularmente terminam em
geração de ansiedade. Não teríamos receio de admitir, penso eu, que aqui a
função do sonho falhou (Freud [1933]1974, p.42).
III.
No Seminário 4: a relação de objeto ([1956-57]1995), Lacan desenhou
o quadro das três operações de falta na constituição do sujeito: privação real,
frustração imaginária, castração simbólica, que constituem, articuladas, o
complexo de castração, e se dão sob a égide do pai simbólico (p.220).
As operações são tridimensionais e articuladas, e devem resultar ide-
almente no corte de três objetos de gozo, preço a pagar para a entrada da
criatura na ordem fálica. O sujeito paga com seu lugar de falo simbólico da
mamãe, através da privação real imposta pelo pai simbólico – à mãe – ao
gozo do corpo da criança; ao tempo em que o gozo irrestrito do seio da mãe
fica limitado para o bebê, gerando o corte da ligação com o objeto de desejo;
também se vai o lugar de falo imaginário no triângulo parental, através da
castração simbólica agenciada pelo pai real. As três faltas fazem buraco em
cada registro RSI e constituem o âmago do inconsciente estruturado como
linguagem.
Neste seminário, Lacan se apoia no caso Hans, exemplo da ausência
da eficácia paterna diante do gozo da mãe. Contudo, não só para Hans, o
pai é insuficiente – a função paterna nunca recobre o campo todo do gozo -,
mas, mesmo assim, na neurose, deixa sua marca na constituição do sujeito,
quando as faltas Φ, a e φ levam o humano ao não há: S(A), não há Outro do
Outro e não há relação sexual. Cada um acede como pode à função fálica,
entre o desejo, o gozo e a solidão.
31
Revista 48.indd 31 29/07/2016 16:12:21
Elaine Foguel
Já na lição de 19 de fevereiro de 1974, no seminário Les non dupes
errent, Lacan ([1973-74]2010) retoma a questão central do Não há através do
neologismo troumatisme. Obviamente foi necessário seu percurso de ensino
para chegar a este novo significante intraduzível – o trauma do furo, trauma
do buraco -, e que o traumático, nessa acepção, é a própria constituição do
sujeito. Não o conteúdo do saber inconsciente recalcado, mas os cortes do
gozo, a entrada forçada do sujeito na ordem fálica, seu estabelecimento na
lei dos homens, esta é a dor do humano, sua solidão, seu desencontro, sua
angústia diante da sua incompletude e da incompletude do Outro, também
barrado, e que não responde no lugar da verdade.
Diante do troumatisme, qual a direção da cura? Lacan é categórico, não
há nada a desvendar no inconsciente, não há nada a descobrir. A partir do
dizer na transferência, a ficção inventa e tenta escrever uma borda no real,
um anteparo, um efeito de verdade inerente à função do significante. Lacan
([19-02-1974] 2010) apresenta uma direção radical da clínica: Mais nous sa-
vons tous, parce que nous inventos un truz pour combler le trou dans le Réel!
Là où il n’y a pas de rapport sexuel, ça fait troumatisme: on invente! On invent
ce qu’on peut, bien sûr (p.128)3.
Os desdobramentos deste capítulo não param aí, pois, para que o di-
zer constitua uma invenção com valor de verdade, é necessário retomar as
modalidades lógicas que ele formalizara para a função fálica. Do impossível
para o possível, do que não cessa de não se escrever para o que não cessa
de se escrever.
Ao tratamento, sempre talking cure, caberia desinflacionar o Gozo do
Outro e revertê-lo em parte ao gozo fálico, inventar uma versão possível. O
que você pensa? O que você imagina, qual sua hipótese? Invente! Isso que
não cessa de não se escrever poderá não cessar de se escrever? Inventa-se
o inconsciente através dos efeitos de uma análise, parece ser esta a aposta
radical.
Duas décadas mais tarde, o quadro das operações de falta encontra
outra configuração, com a topologia do nó borromeano planificado, onde é
possível localizar o buraco real no lugar nominado de objeto a (Seminário
RSI, aula de 14 de janeiro de 1975).
3
“Todos sabemos, por que inventamos um truque para preencher o furo (trou) do real. Lá onde
não há relação sexual, isso produz troumatisme. A gente inventa. Inventa-se o que se pode.”
Tradução livre da autora.
32
Revista 48.indd 32 29/07/2016 16:12:21
Traumas
Só há buraco real por haver enodamento com os outros dois registros
da linguagem, pois o que faz furo real? Sem as dimensões real, simbólico e
imaginário nada se poderia operacionalizar no tratamento. Com a amarração
borromeana dos três dos registros da linguagem pode-se mostrar o topos
tridimensional do furo, constituído pelo enlaçamento borromeu das três di-
mensões, faltando, a cada uma, o que caiu nas operações de falta acima re-
feridas. A questão que então se coloca, e que é uma das vertentes do estudo
de Herman, é o que pode ocorrer com a estrutura do sujeito neurótico trou-
matizado diante das atrocidades perpetradas pelo homem contra o homem.
IV.
Nas longuíssimas noites polonesas, o ar da enfermaria, denso de
tabaco e odores humanos, saturava-se de sonhos insensatos. Este é o fruto
mais imediato do exílio, do desenraizamento: a prevalência do irreal sobre o
real. Todos sonhavam sonhos passados e futuros, de escravidão e reden-
ção, paraísos inverossímeis, e outros tantos míticos e inverossímeis inimigos:
inimigos cósmicos, perversos e ardilosos, que penetram por tudo, como o ar
(Levi, 2010, p.102).
Segundo Judith Herman, o estudo do trauma é quase um anátema: sur-
ge de tempos em tempos, mas tanto a sociedade e a medicina, quanto as
vítimas, buscam soterrá-lo, e o assunto acaba no esquecimento, porém não
seus efeitos; óbvio, esses são terríveis, insidiosos, e podem se perpetuar
nas gerações seguintes. A autora não deixa claro como, mas provavelmente
como traço de identificação e mesmo como identificação ao sintoma na
constelação familiar.
A obra é uma tese sobre as consequências da extrema violência perpe-
trada entre seres humanos, do ponto de vista da psiquiatria psicoterapêutica,
na qual a autora elenca sintomas e síndromes que ocorrem às vítimas, que
ela denomina sobreviventes. Se o trauma for causado por uma força da na-
tureza, como tsunami, terremoto, enchente, denomina-se desastre. Quando
provocado por seres humanos, é atrocidade. A humanidade tende a simpa-
tizar e acolher melhor as vítimas dos desastres do que as das atrocidades,
que trazem no seu âmago o mal-estar crônico e insolúvel da violência que
pertence à civilização e ameaça a todos. Além disso, as pessoas que foram
marcadas por estes eventos tendem a ser discriminadas, e também a se
autodiscriminarem.
Herman trata dos horrores nos combates, nas prisões políticas e nos
campos de extermínio. E também na vida cotidiana, estupro por pessoa
conhecida ou desconhecida, dentro ou fora da casa, situações de violência
33
Revista 48.indd 33 29/07/2016 16:12:22
Elaine Foguel
doméstica, abuso sexual e psicológico de menores, espancamentos domésti-
cos, prisão domiciliar com paredes e prisão sem grades, mantidas por controle
de força, abuso de poder e hiperautoritarismo, além dos raptos físicos e psico-
lógicos perpetrados por grupos religiosos. Aponta que muitos desses eventos
são endêmicos na sociedade americana, e se deve adicionar aqui que, passa-
das mais de duas décadas da publicação do livro, as atrocidades só aumentam
e ganham novas formas na contemporaneidade, tornando-se endêmicas na
civilização, ou naquilo que retorna do que foi o processo civilizatório.
A obra é calcada na experiência clínica da autora e de outros terapeutas,
e se ilustra com inúmeras citações das falas dos pacientes. Além de
discorrer sobre a sintomatologia, a autora faz importantes considerações
sobre as dificuldades dos tratamentos, não só para os pacientes, quanto
para os terapeutas, alertando para sérias questões na transferência e na
contratransferência.
A autora defende que, independente do tipo de trauma, a reação
sintomática básica tende a ser a mesma, e que esta reação se aproxima
daquela que Freud identificou e descreveu nas suas pacientes histéricas:
dissociação da personalidade, dupla consciência, pesadelos, desrealização,
fala e pensamentos fragmentados, angústia, sintomas de adormecimentos
de partes do corpo, paralisias, anestesia; além da capacidade de se colocar
em auto-hipnose, num transe psíquico.
Entretanto, com o desenvolvimento de cada parte do livro, aparecem
outros sintomas a partir de fragmentos dos tratamentos bem mais específicos
e individualizados, e que não são descritos por Freud nos casos de histeria:
imagens intrusivas e descompletadas de espancamento e estupro; visões
de cenas de mortes bizarras, alucinações visuais de companheiros mortos
que o sobrevivente não conseguiu salvar, sentimento de culpa por estar vivo,
desespero pela impotência em salvar o outro, depressão profunda, incapa-
cidade de levantar do leito, incapacidade de estudar; e, nas crianças que
sofrem atrocidades, desenvolvem-se somatizações graves, dificuldades es-
colares extremas, levando a diagnósticos de dislexia, para dar um exemplo,
e grandes dificuldades no laço social. Em palavras simples, na medida em
que o estudo da autora se estende, mais se alarga a distância entre o que ela
descreve e o que Freud relatou quando estudou a histeria.
Herman descreve que, no momento da catástrofe, a pessoa fica sub-
metida sem socorro a uma força esmagadora que lhe ameaça a vida e a
integridade corporal, sobrevém o encontro com a violência e com a morte,
o desamparo extremo físico e mental, a vivência de terror e de aniquilação
que desorganizam as funções da memória e do saber. As funções psíquicas
sofrem efeitos deletérios nas capacidades de julgar, discriminar, e há danos
34
Revista 48.indd 34 29/07/2016 16:12:22
Traumas
reais aos órgãos dos sentidos e desorganização dos impulsos agressivos:
“Os eventos traumáticos são extraordinários não porque eles ocorram rara-
mente, mas muito mais porque eles ultrapassam as adaptações usuais do
humano à vida” (Herman, 1992, p.33).
A autora agrupa os sintomas em três principais categorias: hipervigilânc-
ia, que é a espera permanente de um grande perigo; intrusão, como consequ-
ência da inscrição indelével do momento traumático, o trauma fica codificado
numa forma anormal de memória, entra espontaneamente no pensamento,
tanto como flashbacks repetitivos na vigília, quanto como pesadelos no sono;
e a constrição, que é a resposta de rendição, anestesiada e desprovida de
emoção. Como se pode observar, o dispêndio e o sofrimento mentais, e a
ocupação no sujeito com suas reações, tomam seus dias e noites de tal modo
que dificilmente conseguem, sem tratamento, reconstruir a vida. O tempo fica
estático naqueles eventos e a vida cotidiana evoca constantemente a violên-
cia vivida, os mais ínfimos detalhes, é um luto sem perspectiva de elaboração.
A estrutura dos sonhos, se modificada, tal como Freud já advertira, se
torna ideias fixas que retornam, sempre ao mesmo lugar, não possuem uma
narrativa verbal, são sensações vívidas, imagens congeladas, impressões
mortas, sem contexto, sobrevindo o medo de dormir.
Além de reviverem seus horrores através de pensamentos intrusivos e
de pesadelos, as pessoas, principalmente as crianças, os repetem em suas
ações, nas suas brincadeiras, sempre proibidas, obsessivas e repetitivas, re-
veladoras do abuso ocorrido.
A tentativa de evitar os sintomas intrusivos por parte do sobrevivente
agrava seu estado mental, levando a um estreitamento da consciência e à
ruptura com o laço social. Em todos os casos, é imperativo o processo de re-
construção analítica. Esta reconstrução é feita com muita dor, pois os sobre-
viventes lutam entre duas tendências: a vontade de esquecer e o imperativo
de lembrar, para tentar reintegrar a história no discurso. Ela adverte que um
indivíduo que viveu este tipo de experiência nunca se recobrará totalmente.
Por mais exitosa que seja sua trajetória terapêutica e por mais que tenha
reconstruído uma vida para si, haverá momentos de encontro com o real que
o arrastarão aos antigos sintomas e a uma nova luta pela sobrevivência psí-
quica. Há também os que desistem de viver quando estão no cativeiro ou no
front, e há os que sobrevivem e também desistem de viver.
V.
As descrições de Herman levam a propor que as catástrofes colocam o
sujeito frente a um Gozo(Ⱥ) tão extraordinariamente absoluto e fora da ordem
35
Revista 48.indd 35 29/07/2016 16:12:22
Elaine Foguel
fálica, que essas tragédias suplantam, e ignoram de tal modo as leis da pólis
e do sujeito, que acabam por aniquilar as balizas simbólicas e imaginárias até
então em vigência. Consequentemente, tornam as operações de castração
do sujeito inócuas, anulando de forma grave as capacidades linguageiras de
interpretação, de imaginarização, enfim de metaforização. Invadem de forma
provisória ou definitiva até mesmo a estrutura do troumatisme. O real invade
como tsunami, recobrindo inclusive o espaço do objeto a, afetando o âmago
do desejo do sujeito, que permanece alijado do presente e massacrado pelas
feridas psíquicas.
Então, novamente é importante evitar a comparação equivocada que
a autora faz entre os sobreviventes e as histéricas de Freud: tal paralelismo
poderia levar a pensar – e não é isso que a própria Herman parece defender
–, que o recalque do desejo é o que estaria vigorando em ambas as estru-
turas. Entretanto, a leitura da obra de Herman mostra exatamente o oposto,
isso é, que nas vítimas das atrocidades o recalque fracassa de forma con-
tundente: as memórias das memórias retornam incessantemente do e no
real de várias formas: não só nos sonhos e não apenas como formações
do inconsciente, mas no pensamento cotidiano, através de lembranças,
imagens intrusivas, alucinações, flashes, divisão da atenção, dificuldade de
viver no presente, obsessão, foraclusão da realidade cotidiana, falsificação
das memórias. Oscilação entre querer esquecer e desejar nunca esquecer.
Entre querer estar com as pessoas e não suportar as pessoas. Entre pedir
ajuda e maltratar: não ocorre a bela indiferença. O que não cessa de não se
escrever são versões do testemunho, repetição e tentativa de completar, de
se livrar, de não deixar ocorrer, de ter estado prevenido. De ter estado em
outro lugar: não há trégua.
O tratamento psicanalítico, assim como o testemunho, seja ele literá-
rio ou ato político, busca restaurar não apenas a história que aguarda em
sofrimento, mas também reconstruir um novo laço social. Mas não o mundo
perdido, esse ficou esfacelado para sempre, como lembra Valéria de Marco:
[...] a matéria do testemunho trata exatamente das impossibilidades
de reconstrução da harmonia perdida, da destruição dos parâme-
tros de estruturação social, da perda de referência de identidade, da
perda da confiança no mundo (2004, p.52).
REFERÊNCIAS
DE MARCO, Valéria. A literatura de testemunho e a violência de estado. Disponível
em: <www.scielo.br/pdf> Acesso em 10 de novembro de 2015.
36
Revista 48.indd 36 29/07/2016 16:12:22
Traumas
DOSTOIÉVSKI, Fiódor. Os irmãos Karamázov. São Paulo: Editora 34, 2012.
FREUD, Sigmund. Extratos dos documentos dirigidos a Fliess ([1892-1899]1950). In:
______. Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund
Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1974, v. I.
______. Projeto para uma psicologia científica [1895]. In: ______. Edição standard
brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Ima-
go, 1974, v. I.
______. O inconsciente [1915]. In: ______. Edição standard brasileira das obras psi-
cológicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1974, v. XIV.
______. Introdução à psicanálise e a neurose de guerra [1919]. In: ______. Edição
standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de Ja-
neiro: Imago, 1974, v. XVII .
______. Novas conferências introdutórias sobre psicanálise [1933]. Conferência
XXIX: revisão à teoria dos sonhos, In: ______. Edição standard brasileira das obras
psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1974, v. XXII.
HERMAN, Judith. Trauma and recovery – the aftermath of violence from domestic
abuse to political terror. New York: Basic Books, 1992.
LACAN, J. O seminário, livro 4: a relação de objeto [1956-1957]. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Editor, 1995.
______. Les non-dupes errent, Séminaire [1973-1974]. Publication hors commerce.
Association lacannienne internationale. France, 2010.
______. O seminário, livro 22: RSI [1975]. Inédito.
LEVI, Primo. A trégua. Tradução Marcus Luchesi. São Paulo: Companhia das Letras,
2010.
SELIGMAN-SILVA, Márcio. Narrar o trauma – a questão dos testemunhos de catás-
trofes históricas. Disponível em: <www.scielo.br/pdf> Acesso em 20 de novembro de
2015.
Recebido em 14/12/2015
Aceito em 16/01/2016
Revisado por Clarice Sampaio Roberto
37
Revista 48.indd 37 29/07/2016 16:12:22
Rev. Assoc. Psicanal. Porto Alegre, n. 48, p.38-47, jan. 2015/jun. 2015
TRAUMA:
TEXTOS acontecimento e experiência
na clínica psicanalítica1
Volnei Antonio Dassoler2
Resumo: Partindo da noção freudiana de trauma, busca-se investigar a poten-
cialidade traumática dos acontecimentos contemporâneos, como o incêndio na
Boate Kiss, marcados pela violência, pelo excesso, pelo inesperado e pela preca-
rização dos mecanismos de simbolização. Inserida nesse contexto, a psicanálise
é desafiada a se posicionar como alternativa clínica diante desse cenário, de
maneira a preservar o traço singular dessas experiências a partir da lógica do
inconsciente.
Palavras-chave: trauma, clínica psicanalítica, incêndio na Boate Kiss.
TRAUMA: occurrence and experience in the psychoanalytical clinic
Abstract: Based on the Freudian notion of trauma, the aim of this study is to in-
vestigate the traumatic potentiality of contemporary events, such as the fire at Kiss
Nightclub, characterized by violence, by the excess, by the unexpected and by
the precariousness of the mechanisms of symbolization. Inserted in such context,
psychoanalysis is challenged to take a position as a clinical alternative in face of
such scenery, so as to preserve the singular trait of such experiences, based on
the logic of the unconscious.
Keywords: trauma, psychoanalytical clinic, fire at Kiss Nightclub.
1
Artigo reescrito a partir dos trabalhos apresentados na Jornada de Abertura da APPOA: Trau-
ma, abril de 2015, Porto Alegre, e na Jornada Preparatória ao Congresso Internacional da AP-
POA realizado em Santa Maria, agosto de 2015.
2
Psicanalista; Membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre (APPOA) e Coordenador do
Acolhe Saúde/SM. E-mail: dassoler@terra.com.br
38
Revista 48.indd 38 29/07/2016 16:12:22
Trauma: acontecimento e experiência...
A abordagem proposta neste artigo parte de uma dupla articulação para a
leitura metapsicológica acerca da noção de trauma. Uma que reconhe-
ce a dimensão estruturante do mesmo no processo de subjetivação que, na
argumentação freudiana se dirá como “desamparo” (Hiflosigkeit), e nas pala-
vras de Lacan será prematuração. A outra perspectiva indica a reatualização
desse estado como efeito do “encontro” do sujeito com determinado aconte-
cimento que, surpreendido pelo caráter disruptivo de sua apresentação, não
encontra condições estruturais imediatas de inscrição. Tendo em conta essa
dupla face, buscamos compreender o estatuto do trauma e a implicação pos-
sível do sujeito, quando envolvido num acontecimento marcado pela irrupção
de algo que invade e desorganiza o aparelho psíquico. Como situar o singular
em casos dessa natureza?
Retomamos a discussão sobre o trauma, naquilo que ele descortina so-
bre a cena contemporânea, fértil em desastres e em experiências extremas
de violência que aportam consequências para a vida psíquica das pessoas.
Na literatura nacional, o livro Caos e representação, organizado por Nestro-
vsky e Seligmann (2000) é uma das referências importantes. Poucos devem
discordar da leitura que fazem do cotidiano onde “cada um de nós sobrevive
como pode a uma dose diária de exposição traumática” (p.11).
Guardando alguma prudência, é possível afirmar que nosso tempo está
marcado por grandes acontecimentos que levam o traço indiscutível da vio-
lência, retirando o traumático da esfera individual, situando-o numa perspec-
tiva que inclui sua extensão ao social. Sobre isso, existe uma recente e vasta
produção teórica surgida a partir das duas grandes guerras mundiais, em
especial com os testemunhos do holocausto, dos prisioneiros de regimes di-
tatoriais, das ações terroristas e das catástrofes naturais.
Para Fuks (2006), a exposição cotidiana a essas situações ultrapassa
aquilo que poderia ser reconhecido a partir da referência ao mal-estar freudia-
no, condição suposta pelo recalque inerente à natureza civilizatória. Segundo
ela, não se trata da mesma coisa. O fato é que, na contemporaneidade, “o
homem vive submerso em experiências de excesso, feitas de choques que
provocam sustos e esgarçam a ordem simbólica” (p.34), criando condições
favoráveis para o trauma.
Até a noite de 27 de janeiro de 20133, tanto pais, quanto jovens se ima-
ginavam seguros para buscar diversão. Este é, afinal, o acordo que a civili-
3
Nessa data ocorreu o incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria (RS), que resultou em 242 mor-
tos. As referências clínicas deste artigo são extraídas do trabalho realizado no Acolhe Saúde,
serviço SUS de atenção psicossocial criado especialmente para o acompanhamento às pessoas
afetadas pelo evento.
39
Revista 48.indd 39 29/07/2016 16:12:22
Volnei Antonio Dassoler
zação propõe para a relação que se estabelece entre o sujeito e o mundo
(Outro). Assim, mesmo sabendo que o viver implica algum risco, as pessoas
lançam-se à vida, com um pouco mais ou um pouco menos de precaução.
Para isso, contam com a garantia não só implícita, mas explícita, da existên-
cia do Outro, nas diferentes representações que ele pode assumir no laço
social, como a família, o poder público, o trabalho, etc.
Esse amparo é uma das tarefas necessárias e esperadas do esteio ci-
vilizatório, que permite ao sujeito desfrutar da existência, sem pensar, obses-
sivamente, na transitoriedade da vida ou no risco iminente da morte. Basta
recordar o argumento freudiano ([1915]1995) quanto à inexistência de repre-
sentação inconsciente da morte e o quanto a ocorrência de um fato que traz
risco efetivo de vida abala o eu nas suas ilusões e o expõe à experiência da
angústia.
Inspirada em Lacan, Soler (2004), propõe a noção de discurso tela como
referência para compreender o funcionamento do tecido simbólico. Para a
autora, tal como um envelope protetor, o discurso interpõe seus semblantes e
sua ordem entre os sujeitos e o real, naquilo que responde aos valores, gos-
tos e às satisfações próprias de uma cultura. Assim, quando a cultura dispõe
de base de significação estável, compartilhada, os sujeitos se veem menos
expostos ao real, neutralizando as irrupções mais brutais com o envelope
de sentido que forja o discurso. A eficácia do discurso seria dupla: proteger
o sujeito do real traumático e fornecer vias para a satisfação. Para a autora,
contudo, o sujeito contemporâneo se vê cada vez mais desmunido diante das
surpresas do real, estando mais traumatizável do que nunca, situação decor-
rente da inconsistência do Outro.
Entretanto, a atribuição de qualificação traumática advém, apenas, a
posteriori sendo reconhecida por incidir, de maneira radical, na relação que o
sujeito estabelece com o Outro, fazendo vacilar a solidez da fantasia que se
constitui como defesa, roupagem para o enigma do Outro e que outorga, a
cada sujeito, um lugar singular no laço social.
Com isso em mente, retornemos às primeiras pesquisas de Freud, que
remontam à temporada que passou com Charcot em Paris. Nesse período,
trauma e histeria eram interpretados como fenômenos associados cujo de-
sencadeamento estaria condicionado à ocorrência de um fato acompanha-
do de grandes emoções. De volta a Viena e inspirado por essa experiência,
Freud institui o recurso catártico como método terapêutico, tratamento que
consiste em induzir o paciente, sob efeito hipnótico, a expressar pensamen-
tos pouco acessíveis à memória.
Partindo desse raciocínio, Freud e seu colega Breuer desenvolvem a
hipótese da existência de um segundo grupo psíquico dissociado da memó-
40
Revista 48.indd 40 29/07/2016 16:12:22
Trauma: acontecimento e experiência...
ria, que seria responsável pela produção dos sintomas histéricos. Em acordo
quanto ao aspecto dissociativo da histeria e, portanto, do trauma, Freud e
Breuer discordavam do motivo pelo qual isso ocorreria. Para Breuer, tratava-
-se de uma predisposição constitucional, enquanto para Freud isso se dava
porque o conteúdo excluído provocaria angústia no sujeito por sua natureza
conflitiva.
Seria preciso, então, extrair um elemento a mais para produzir a mu-
dança definitiva e necessária, que levaria ao surgimento da psicanálise como
a conhecemos. Esse ponto se coloca quando Freud questiona a pertinência
da teoria da sedução sexual como produtora da neurose. A consequência de
colocar em dúvida a real ocorrência de tantas investidas sexuais dos adultos
em relação às crianças o leva a considerar o lugar da fantasia nos relatos
de traumas sexuais, culminando com o abandono da lógica da sedução em
1897. Com isso, entram em cena as fantasias inconscientes infantis, constitu-
ídas do material ouvido e visto pela criança no contexto da intimidade familiar.
Apesar disso, a sexualidade permanece central na neurose e a presen-
ça de fatos reais na sua etiologia estará subordinada a um esquema particu-
lar de funcionamento psíquico que inclui a noção de inconsciente como eixo
que demarca a especificidade epistêmica que define a psicanálise.
Como resultado dessa modificação teórica, trauma e neurose se sepa-
ram, e a noção de trauma adquire certo ostracismo, voltando à cena a partir
de 1915 com um novo fato clínico: os quadros traumáticos identificados nos
combatentes da primeira guerra mundial. Por ocasião do V Congresso da
IPA, em Budapeste, 1918, Freud é convidado a se pronunciar sobre os méto-
dos de tratamento utilizados para as neuroses de guerra e sobre a possibili-
dade da aplicação do método psicanalítico a esses quadros.
Num esforço para preservar a coerência da sua teoria, Freud esboça
uma explicação juntando, novamente, trauma e neurose, tendo o eu como o
elemento comum. Assim, nas neuroses traumáticas, o conflito do eu se daria
com um perigo externo, e na neurose espontânea esse conflito estaria rela-
cionado com a libido.
Contudo, alguns impasses restavam sem esclarecimentos, visto que os
sintomas apresentados na neurose de guerra não tinham substrato sexual
nem tampouco relação com o infantil. O principal problema que precisava
ser elucidado dizia respeito às experiências de inegável desprazer impos-
tas ao sujeito, circunstância que contradizia um dos pilares teóricos da obra
freudiana até aquele momento: o princípio do prazer como eixo regulador do
psiquismo. A discrepância mais evidente era o sonho repetitivo, no qual o
paciente revivia o acontecimento de maneira angustiada e literal, e não era
possível encontrar algum tipo de material que pudesse relacionar desejo e
41
Revista 48.indd 41 29/07/2016 16:12:22
Volnei Antonio Dassoler
significante. Estamos num terreno em que a verdade que se revela na produ-
ção onírica não responde a soluções de estrutura fantasmática, mas indica
as consequências psíquicas da exposição do sujeito a um fato de violência.
Confrontado com esse quadro, uma revisão teórica torna-se necessá-
ria e é isso que Freud ([1920]1995) propõe em Além do princípio do prazer,
texto capital, no qual o trauma é um dos temas expoentes. A principal tese
formulada é de que algo no sujeito remeteria a um além do princípio do pra-
zer, e que esse para “além” trataria de um funcionamento que se dá fora das
representações e do eu.
Já nas primeiras páginas do livro, Freud assinala que não é mais apro-
priado falar em dominância do princípio do prazer como hegemônico das
operações mentais, visto que a experiência geral contradiz essa conclusão
(p.19). Mais do que evitar desprazer e buscar prazer, ele percebe que há
uma tarefa anterior que diz respeito a vincular psiquicamente as excitações
externas e internas. A bem dizer, Freud afirma que é atribuição do aparelho
psíquico “dominar as quantidades de estímulo que irromperam e de vinculá-
-las, no sentido psíquico, a fim de que delas se possa desvencilhar” (p.45).
Sobre isso, Freud nos traz uma constatação de valor clínico indiscutível, ao
afirmar a “imperfeição do aparelho mental” (p.163), esclarecendo que todo o
indivíduo tem um limite além do qual seu aparelho falha na função de dominar
as quantidades excessivas. Todavia, esta limitação não deixa o sujeito fora
da circulação discursiva do laço social. Esse limite, de caráter estrutural, ins-
titui as condições para surgir o que designamos como singular, como sendo
aquilo que cada um consegue elaborar enquanto resposta ao que, freudiana-
mente, chamamos de castração.
Com base nessa consideração, Kehl, no livro O tempo e o cão (2009),
observa que a função de aparar os choques externos sobre o psiquismo é
uma atribuição corriqueira da consciência. Entretanto, a invasão brusca e
repentina de uma grande quantidade de estímulo impediria o trabalho do
sistema pc-cs que, não podendo acolher toda essa quantidade, permanece
como energia livre, acarretando a desorganização do psiquismo e impondo
dificuldades ao sujeito para manter o funcionamento significante.
Por fim, Freud, no texto Inibição, sintoma e angústia, ([1926]1995), o
trauma reaparece através da ótica da angústia, conceito que é revisto nesse
ensaio. Até esse período, angústia e sexualidade se entrelaçavam, e Freud
sustentava que a angústia decorria da transformação (e descarga) da libido
acumulada pela ação do recalque. A consequência seria o desprazer. Com
a reformulação, a angústia passa a ser localizada no eu e considerada não
mais como libido modificada, mas como resposta do eu diante situações de
ameaça à vida, desvinculando a angústia da sexualidade.
42
Revista 48.indd 42 29/07/2016 16:12:22
Trauma: acontecimento e experiência...
Para entender melhor essa nova rede teórica, recuamos a um período
da estruturação psíquica anterior à trama edípica. O recuo alcança o momen-
to no qual o sujeito faz sua entrada no mundo, evocando a experiência do
desamparo originário do humano como uma espécie de trauma estruturante.
Esta experiência, inscrita no psiquismo de cada um, é vivida com a tonalidade
da angústia. Sobre esse momento, Freud é claro, dizendo se tratar de uma
experiência real, ocasionada pela inexistência do aparelho psíquico, estando
inclinado “a ver no estado de angústia uma reprodução do trauma do nasci-
mento” (p.126).
A angústia adquire tons sombrios e passa a ser vista como um estado
afetivo independente e de expectativa frente a algum perigo. Seguindo esse
raciocínio, Freud irá dividi-la em dois tipos: angústia automática e angústia si-
nal. No primeiro caso, a angústia é descrita pela invasão do aparelho psíquico
por um quantum de excitação para a qual não foi possível se antecipar. Esse
acúmulo coloca o sujeito numa condição de desamparo, resultando num es-
tado de desorganização psíquica, em que o corpo fica despido da linguagem.
A outra forma, nomeada como angústia sinal, tem a finalidade de alertar
o eu quanto à iminência de algum perigo cuja finalidade seria impedir a emer-
gência da angústia automática. Na eventualidade do seu fracasso, emerge
a angústia relativa ao desamparo original, com todo o caráter dramático que
carrega.
Retomando o contexto citado acima, frequentemente, nos atendimentos
realizados durante os primeiros dias após o incêndio da boate, os sobreviven-
tes e outras pessoas envolvidas descreviam um estado de estranhamento,
como se tivessem dúvidas se haviam, de fato, vivido aquele acontecimento.
Momentaneamente, viam-se incapacitados de dar alcance ao que lhes havia
acontecido e suas falas pareciam não participar do campo da linguagem. Algo
no próprio sujeito fazia vacilar a sensação de realidade e o acontecimento se
mostrava vivo na agitação do corpo, na sensação de invasão do pensamento
por imagens e sons, elementos que, sem serem alucinatórios, guardavam,
pela intensidade sensorial da experiência, semelhança com a alucinação.
Endo no texto Violência, elaborações oníricas e horizonte testemunhal
(2009), apresenta alguns elementos que nos auxiliam na formulação acerca
dessa experiência de desorganização psíquica. Segundo o autor, o instante
traumático superpõe percepção e motilidade, decretando o colapso do traba-
lho inconsciente, na medida em que o imprevisto e o contingente são fatores
essenciais que participam desse momento. Consequentemente, os efeitos
desse curto-circuito psíquico começam a ser percebidos imediatamente após
a exposição, conforme foi possível observar durante os acolhimentos realiza-
dos com as pessoas que foram expostas ao incêndio.
43
Revista 48.indd 43 29/07/2016 16:12:22
Volnei Antonio Dassoler
Em geral, as situações que a seguir descreveremos foram referidas pela
grande maioria das pessoas que buscou atendimento e dizem respeito ao
momento do susto, do choque, do esbarrão com o real, conforme definição
proposta por Rudge (2009): dificuldade para dormir, sensação de pessoas
agarrando, empurrando, permanência de gritos, cheiros. Expostos a esse
evento, um longo caminho foi necessário para que alguns pudessem voltar a
dormir sozinhos e mesmo retomar a rotina das suas vidas.
A impossibilidade de tramitar psiquicamente a excitação manifesta-se
na reprodução da experiência que, sem o tratamento necessário, não se ins-
creve, de imediato, como memória, permanecendo sob a forma de compul-
são. O principal indício dessa compulsão mostra-se no sonho traumático.
Desde o Além do princípio do prazer (Freud ([1920]1995), o sonho adquire
mais uma atribuição que não apenas a realização do desejo. Essa particulari-
dade revela o esforço de domínio e de captura da energia livre pelo aparelho
psíquico em seu esforço para promover a elaboração do traumático. A função
mais importante do sonho, acaba por concluir Freud, é elaborar o trauma.
As dificuldades relacionadas a dormir se constituíram, inicialmente,
como as principais queixas. Contudo, esses fenômenos e outros tantos di-
minuíram progressivamente, resultando na interrupção dos atendimentos clí-
nicos. Assim, a maioria dos “tratamentos” durou curtos períodos. Para com-
preender o que acontecia, um ano e meio depois, a equipe multidisciplinar,
responsável pelo acompanhamento psicossocial, realizou contato telefônico
com cerca de 400 usuários. Desses, foi possível conversar com, aproxima-
damente, metade deles. A grande maioria relatou que se sentia bem e não
via a necessidade de retomar tratamento, embora, muitos deles admitissem
a permanência de alguns sintomas, mesmo que com menor frequência e
intensidade. De maneira geral, ressurgiam a partir da associação de fatos
da rotina com algo relacionado ao incêndio, como, por exemplo, sirene de
ambulância, cheiro de queimado, fumaça, datas especiais.
No esforço de elaboração, poderíamos pensar que o caráter transitório
com que estes fenômenos se manifestaram teria proximidade com aquilo que
Freud designa como a “psicopatologia” da vida cotidiana, que, embora seja
semelhante ao sintoma neurótico, não é uma formação psicopatológica. No
entendimento freudiano, as leis em ação na vida cotidiana e na psicopato-
logia neurótica são as mesmas. Expandindo esse raciocínio para o estudo
do trauma, poderíamos dizer que a presença de fenômenos transitórios se-
melhantes à neurose traumática, surgidos em consequência da exposição a
uma situação de violência psíquica, revelaria a atuação do trabalho de elabo-
ração nos dois casos, sob a mesma lógica. Entretanto, em alguns casos, não
houve essa evolução e o que se observou foi a permanência e o surgimento
44
Revista 48.indd 44 29/07/2016 16:12:22
Trauma: acontecimento e experiência...
de manifestações sintomáticas que resultaram num desarranjo duradouro na
estabilidade do sujeito.
Para Rudge (2009), o trauma designa aqueles acontecimentos que se
especificam por romper, de maneira radical (o que não estaria presente nas
situações transitórias), com um estado de coisas do psiquismo, a ponto de
provocar um desarranjo nas formas habituais de funcionar e compreender as
coisas. Desse encontro com o real, em seu aspecto contingente, resulta a
desestabilização dos significantes mestres, obrigando o sujeito à construção
de uma tessitura simbólica e imaginária. O traumático, então, é esse encontro
em que o sujeito se vê desprovido das vias do discurso para tratar a quanti-
dade de excitação que o envolveu.
Diante da ausência de respostas no plano do simbólico, produz-se a
precarização do eixo imaginário e da função estabilizadora da imagem. Al-
cançado pelo desastre, o eu foi atingido e o sujeito mostra-se deprimido,
apático, inseguro, acuado, ansioso, insone. O próprio eu não se reconhe-
ce nas referências prévias, apontando para um abalo profundo que absorve
boa parte da libido. Essa descrição encontra eco numa declaração de Freud
([1920]1995) em Além do princípio do prazer, quando nos diz que, embora
a neurose traumática se assemelhe à histeria, ela estaria mais próxima da
hipocondria e da melancolia.
Essa afinidade se daria pela evidência de sinais fortemente acentuados
de indisposição subjetiva como prova da debilidade e da perturbação geral
das capacidades mentais. De forma geral, diferentemente da histeria, a neu-
rose traumática é acompanhada de depressão e abatimento. Algo se coloca
ao sujeito, a ponto de ele afirmar que já não é mais o mesmo, estado que an-
seia recuperar, como única forma possível de sair do atordoamento em que
se encontra. Entretanto, mesmo reivindicando o retorno à situação anterior,
essa alternativa não está disponível a ele.
No final da sua obra, no texto Análise terminável e interminável, Freud
([1937]1995) apresenta uma perspectiva terapêutica mais favorável à neu-
rose traumática. Na sua alegação, os casos traumáticos apresentam maior
predomínio do componente econômico e menor comprometimento do eu. As-
sim, se o principal obstáculo para o êxito terapêutico fosse o estrago causado
ao eu decorrente do embate com as forças pulsionais desde a tenra infância,
isso não seria decisivo na neurose traumática, desencadeada por uma situ-
ação atual.
Para tentar compreender o que está em jogo na neurose traumática,
retomo Soler (2004), que propõe a presença de dois componentes e dois
tempos na experiência do trauma: o primeiro, diz ela, é relativo ao aconteci-
mento, ao golpe do real, e o segundo, o só depois, as sequelas. O primeiro
45
Revista 48.indd 45 29/07/2016 16:12:22
Volnei Antonio Dassoler
tempo, relativo ao impacto, mostra-se como um encontro que surge fora das
coordenadas de toda e qualquer antecipação, não encontrando qualquer cor-
respondência com o simbólico. Momento do susto, do choque, da invasão,
do predomínio do registro econômico. Já as sequelas, diriam respeito àquilo
que repercute no sujeito e seriam de outra ordem, mostram-se determinadas
pelas maneiras como o real se explica para cada sujeito.
De acordo com a autora, o toque do inconsciente não poderia estar au-
sente, justamente porque não seria possível ao sujeito falante não crer, supor
ou pensar em algo que o envolve em qualquer trama. Para ela, isso já faria
diferença, pois, denotaria que entre o acontecimento e suas repercussões,
nos é possível encontrar o inconsciente.
Dito de outra forma, o humano é um ser de linguagem. Nesse sentido,
nos é permitido deduzir como orientação clínica que o trabalho de elabora-
ção, de facilitação à narrativa em pacientes afetados por experiências trau-
máticas, deve ter sempre em conta que o falar comporta uma dupla face
entre o dizer e o impossível de dizer, entre a produção de sentido e o limite
ao recobrimento do furo do real.
Ao ser convocado à fala, o sujeito está sempre envolvido na dialética
entre o possível e o impossível de dizer. Essa distinção implica e convoca o
analista a promover deslocamentos em sua função a partir do jogo transfe-
rencial visando acolher aquilo que diz respeito à dimensão fantasmática e
aquilo que se põe como traumático. Se o falar, tomado na sua dimensão de
discurso, não recobre a falta, nem tampona o furo, pela resistência estrutural
ao sentido que a linguagem evidencia, por outro lado, a fala permite produzir
borda ao real de maneira que favoreça a redução de gozo.
No caso do trauma, mesmo na sua insuficiência, o simbólico permanece
como a via de tratamento. Dessa maneira, o retorno de algo no qual o sujeito
não se reconhece pode requerer a presença de alguém, não apenas na po-
sição de testemunho, mas, muitas vezes, no lugar de semelhante. Acolher o
trauma na sua potencialidade de elaboração reconhece que essa operação
não busca perpetuá-lo, nem presume o seu apagamento, visto que não há
palavra que o signifique. A tarefa de tocar as bordas do real pela linguagem
é uma possibilidade de produzir algo de novo quando não havia nada, jus-
tamente, porque na clínica psicanalítica é a relação de cada sujeito com a
linguagem que orienta a prática de cada analista.
46
Revista 48.indd 46 29/07/2016 16:12:22
Trauma: acontecimento e experiência...
REFERÊNCIAS
ENDO, P. Violências, elaboração onírica e horizonte testemunhal. Temas em psicolo-
gia (on-line). 2009, v. 17, n. 2, (p.343-349).
FREUD, S. Projeto para uma psicologia científica [1905]. In: ______. Obras comple-
tas. Rio de Janeiro: Imago, 1995. vol. I.
______. Sobre a transitoriedade [1915]. In: ______. Obras completas. Rio de Janeiro:
Imago, 1995. vol. XIV.
______. Além do princípio do prazer [1920]. In: ______. Obras completas. Rio de
Janeiro: Imago, 1995. vol. XVIII.
______. Inibição, sintoma e angústia [926]. In: ______. Obras completas. Rio de Ja-
neiro: Imago, 1995. vol. XX.
______. Análise terminável e interminável [1937]. In: ______. Obras completas. Rio
de Janeiro: Imago, 1995. vol. XXIII.
FUKS, B. A cor da carne. In: RUDGE, Ana Maria (org.). Traumas. São Paulo: Escuta,
2006.
KEHL, M. R. O tempo e o cão: a atualidade das depressões. São Paulo: Boitempo,
2009.
NESTROVSKY, N.; SELIGMAN-SILVA, M. Catástrofe e representação. São Paulo:
Escuta, 2000.
RUDGE, A. M. Trauma. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009.
SOLER, C. Os discursos tela. In: ALBERTI, S.; RIBEIRO. M.C. (org.). Retorno do exí-
lio: o corpo entre a psicanalise e a ciência. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2004.
Recebido em 09/10/2015
Aceito em 25/11/2015
Revisado por Otávio Augusto Winck Nunes
47
Revista 48.indd 47 29/07/2016 16:12:22
Rev. Assoc. Psicanal. Porto Alegre, n. 48, p.48-55, jan. 2015/jun. 2015
CORPO ESTRANHO:
TEXTOS do que da experiência traumática
não cessa de não se escrever1
Beatriz da Fontoura Guimarães2
Resumo: O trabalho busca dialogar com a poesia de Paul Celan em pontos nos
quais sua escrita toca a dimensão do real do corpo, colocando em cena nova-
mente algo que ficou desarticulado pela incidência do trauma. A questão inicial-
mente formulada aqui parte do fato de que a escrita celaniana busca atravessar
– por meio da linguagem e na própria linguagem – o horror da catástrofe vivida
no território europeu nos anos de 1933 a 1945, sendo esta uma forma de o poeta
tentar orientar-se e orientar os seus frente à violência daqueles tempos sombrios,
buscando desenhar/escrever a realidade.
Palavras-chave: corpo, letra, trauma, poesia, Paul Celan.
STRANGE BODY: what from the traumatic
experience doesn’t cease not to write
Abstract: The text is a dialogue with the Paul Celan’s poetry at certain points
where it touches the real dimension of body, bringing back something that was
broken up by the impact of trauma. The central question raised in this paper con-
cerns to the fact that Celan’s writing tries to cross the horror of the disaster lived on
European territory in the years 1933-1945. The poet seeks to orient himself and
guide his people across the violence of those dark times, trying to draw and write
the reality by poetic writing.
Keywords: body, letter, trauma, poetry, Paul Celan.
1
Trabalho apresentado no Congresso da APPOA – Corpo: ficção, saber, verdade, em novembro
2015, em Porto Alegre. Elaborado a partir da tese de doutorado Trauma e real: do que não cessa
de não se escrever na poesia de Paul Celan, defendida em dezembro/2013, no Programa de
Pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina.
2
Psicanalista; Membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre; Doutora em Psicologia pelo
Programa de Pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina.
E-mail: bfguimaraes@hotmail.com
48
Revista 48.indd 48 29/07/2016 16:12:22
Corpo estranho: do que da experiência traumática...
D esde sua fundação, a psicanálise se configura no campo da linguagem
e da escrita, encontrando no texto literário possibilidades de construção
de seu próprio corpo conceitual. Em referência aos escritores, Freud é muito
claro sobre a forma como concebia a relação da psicanálise com a escrita
literária, a exemplo dessa passagem a respeito da Gradiva de Jensen:
Os poetas e os romancistas são valiosos aliados, cujo testemunho
deve ser estimado em alto grau, pois conhecem, entre o céu e a
terra, coisas que nem sequer suspeita nossa filosofia. Eles são, no
conhecimento da alma, mestres para nós, homens vulgares, pois
bebem em fontes que ainda não tornamos acessíveis à ciência
(Freud, [1907]1981, p.1286).
Acompanhando essa preciosa indicação freudiana, a escolha da poéti-
ca de Paul Celan sustenta-se no fato de que, seguindo a tradição da crítica
literária de escritores como Baudelaire, Mallarmé, Valéry, entre outros mo-
dernos, Celan, em seu projeto poético, demonstra que “o poema afirma-se
à beira de si mesmo” (Celan, [1960]2002, p.75), demarcando um litoral, uma
experiência construída no limiar do poema, levando a linguagem às últimas
consequências.
Paul Celan, nome literário e anagrama de Paul Antschel, filho de judeus
de língua alemã, nasceu em 23 de novembro de 1920, em Czernowitz (Bucovi-
na), importante centro cultural judaico. Essa região foi território romeno e depois
soviético, e, atualmente, faz parte da Ucrânia. Em 1940, foi ocupada por tropas
russas e, em 1941, alemãs. Durante a ocupação nazista, os pais de Celan foram
presos e mortos em campos de concentração na Ucrânia ocupada. Ele também
foi aprisionado em campos de trabalhos forçados entre 1942 e 1944.
Em torno dos 15 ou 16 anos de idade, começou a escrever poemas. Seu
primeiro poema conhecido aparece registrado pelo poeta, aos 17 anos, com
a seguinte inscrição: Dia das mães, 1938. Alguns dos seus primeiros escritos
correspondem ao período em que era prisioneiro nos campos. As informa-
ções sobre esse tempo são imprecisas, não se sabe ao certo quando e onde
terminou esse período, nem exatamente quando retornou à cidade natal. No
entanto, sabe-se que, em busca de um lugar mais livre, rumou de Czernowitz
para Bucareste. Dirigiu-se depois para Viena; e finalmente para Paris em
1948. Celan viveu e escreveu em Paris até a noite de 20 de abril de 1970.
Sua escrita foi marcada pela experiência da Shoah, episódio histórico de
perseguição, aprisionamento, trabalhos forçados, expulsão e extermínio de
judeus no território europeu. Tendo sido também um sobrevivente, uma das
primeiras reações à desumanização imposta pelo nazismo foi feita por Celan
49
Revista 48.indd 49 29/07/2016 16:12:22
Beatriz da Fontoura Guimarães
com a escrita do poema Todesfuge, publicado pela primeira vez em 1948.
Sua obra foi escrita na língua alemã, língua materna, a mesma língua dos as-
sassinos de sua mãe. Essa escolha, precisamente, busca tensionar a língua
e constituir na própria língua as bordas dessa ausência, dessa experiência
inominável (real). Essa escrita poética, cuja característica é de enfrentamento
do traumático, do indizível, busca dizer – de forma enigmática – no silêncio,
na ruptura, nas sem-respostas da própria linguagem. Uma escrita que se dá
em torno do trauma da experiência da catástrofe.
Em Freud, a noção de trauma, que ele já havia postulado a partir da es-
cuta das pacientes histéricas, é retomada, em 1917, em seu estudo sobre os
soldados que, tendo lutado na Primeira Guerra, se encontravam impossibili-
tados de dizer o que tinham testemunhado nos campos de batalha. No capí-
tulo 18 das Conferências introdutórias, Freud ([1917]1981, p.2294) emprega
o termo “traumático” para designar “aqueles acontecimentos que trazem à
vida psíquica, num período curto de tempo, um aumento de energia, cuja
supressão ou assimilação se torna impossível de ser realizada pelos meios
normais e provocam, desse modo, duradouras perturbações”, agindo no psi-
quismo como um “corpo estranho”.
Por meio do encontro com a realidade traumática da morte, alguns da-
queles soldados desenvolviam uma “neurose de guerra”, denominada tam-
bém como “neurose traumática”. Lidando com um impossível de representar,
eles repetiam a experiência do trauma em seus sonhos, o que levou Freud
([1920]1981) a formular, em 1920, em Além do princípio de prazer, a pulsão
de morte.
Mais adiante, aflito com os fatos que resultariam na Segunda Guerra,
Freud escreveu, entre 1934 e 1938, Moisés e o monoteísmo ([1939]1981),
apresentando ali um novo aspecto a respeito do trauma: a incompletude, o
adiamento do que se sabe. O acidente traumático – o confronto com a morte
– ocorre cedo demais para ser compreendido pela consciência, havendo um
hiato entre a percepção e a representação.
É precisamente nesse hiato que se produz a poesia como possibilidade
de circunscrição do traumático. O que caracteriza a poesia celaniana? O que
a singulariza? Celan mantém sua escrita num tensionamento constante, leva
o escrito ao mais particular “estreitamento” (Engführung), para fazer emer-
gir o que ele designa como uma “contrapalavra” (Gegenwort), aquela que,
ao irromper, produz um corte. Palavra que interdita o discurso corrente. Na
conferência A terceira (La Troisième), Lacan ([1974]1980) diria: discurrent,
jogando com a homofonia dos termos em francês: discurso corrente, disco
corrente, indicando a dimensão do “discurso mortífero” que, em seu caráter
excessivo, se contrapõe ao silêncio portador de um dizer. Em sua concisão, a
50
Revista 48.indd 50 29/07/2016 16:12:22
Corpo estranho: do que da experiência traumática...
palavra poética determina um corte que incide sobre o excessivo traumático,
excessivo também do discurso.
Ao longo da obra de Celan, os poemas dirigem-se cada vez mais ao
emudecimento. Os poemas publicados em 1967 no livro Atemwende (tra-
duzido por: Virada de fôlego, Mudança de respiração, Sopro, viragem, entre
outros), nos aproximam da sua poesia tardia. Já no discurso O meridiano
(Der Meridian), de 1960, proferido para o recebimento do Prêmio Literário
George Büchner, Celan emprega a palavra Atemwende, ao discorrer sobre a
função da poesia: “Poesia: é qualquer coisa que pode significar uma mudan-
ça na respiração” (Celan, 2002, p.73). Atemwende designa, precisamente,
a mudança que se segue a uma pausa, um silêncio produzido a partir da
incidência de uma contrapalavra (Gegenwort), palavra “corte”. A mudança na
respiração é um efeito da palavra sobre o corpo.
Celan indicou que esse livro se tratava de um ponto de virada empre-
endido em seu campo poético. Nesse volume, coloca-se com intensidade o
silêncio críptico e a tendência ao mutismo, em consonância com o caráter
dialógico de sua poesia. O poema Não mais arte de areia (Keine Sandkunst
Mehr, ([1967]2003)), não apenas finaliza com o endereçamento do poeta
rumo à neve, mas a própria linguagem se desfaz.
NÃO MAIS ARTE DE AREIA, livro de areia, mestres3.
Nada lançado. Quantos
mudos?
Dez e sete.
Tua pergunta – tua resposta.
Teu canto, o que sabe?
Fundonaneve,
Uonaeve,
O – e – e.
KEINE SANDKUNST MEHR, kein Sandbuch,
keine Meister.
Nichts erwürfelt. Wieviel
Stumme?
Siebenzehn.
Deine Frage – deine Antwort.
Dein G esang, was weiß er?
3
Tradução livre da autora.
51
Revista 48.indd 51 29/07/2016 16:12:22
Beatriz da Fontoura Guimarães
Tiefimschnee,
Iefimnee,
I – i – e.
Nesse poema, Celan já não admite a arte, nem o livro de areia, nem os
mestres. Nada de um golpe de sorte, nada de um lance de dados. A arte, não
sendo mais de areia, torna-se uma arte de neve, reduzida ao mais particular
estreitamento. Essa redução encontra o silêncio. Em alemão, as letras em-
pregadas são: “I – i – e”4, indicando o movimento próprio da respiração: “I – i”
implica a inspiração; e “e” a expiração. Temos, ao final, um sopro. Letra que
se transforma em respiração: Atem. Presença do corpo, da pulsão – da vida
e da morte.
Repetição que finaliza em letra, em som, num movimento pulsional que
implica o corpo (a voz), tocando a dimensão do real. O poeta produz em ato
um esvaziamento, escavado na língua, e deixa cair a letra, como índice do
real.
Para acompanhar esse desdobramento da escrita celaniana, fazem-se
presentes as formulações lacanianas sobre a letra e o real, postuladas a
partir de 1971. Naquele ano, Lacan inicia seu seminário falando sobre um
discurso que não seria do semblante, no qual terá destaque não a literatura
propriamente dita, mas a litura, ou seja, a parte ilegível de um escrito. O que
dará lugar a uma aproximação à literatura de vanguarda, que não se sustenta
no semblante, mas que busca cavar a língua, esburacá-la, produzindo, como
efeito dessa operação, um resto e um “furo no saber” (Lacan, [1971]2009).
No seminário De um discurso que não seria do semblante, na lição inti-
tulada Lituraterra, Lacan ([1971]2009) debruça-se sobre a letra, partindo do
que lhe suscitou o encontro com a cultura e a escrita japonesas. É no retorno
de sua viagem ao Japão, naquilo que ele pôde avistar, por entre as nuvens,
no sobrevoo das terras siberianas, que ele (re)situa a função da letra.
Será que é possível, do litoral constituir um tal discurso que se ca-
racterize [...] por não ser emitido pelo semblante? Essa é, eviden-
temente, a pergunta que só se propõe pela chamada literatura de
vanguarda, a qual, por sua vez, é fato de litoral e, portanto, não se
sustenta no semblante, [e mostra] a quebra que somente um discur-
so pode produzir. Digo produzir, expor como efeito de produção [...]
(Lacan, [1971]2009, p.116).
4
No original em alemão, no último verso, o poema finaliza desta maneira: “Tiefimschnee,/
Iefimnee,/I – i – e”.
52
Revista 48.indd 52 29/07/2016 16:12:22
Corpo estranho: do que da experiência traumática...
É possível situar precisamente aí a lírica de Paul Celan, escrita de van-
guarda, litoral. Um discurso cuja característica seria a de não ser emitido pelo
semblante, mas que, justamente por isso, produz uma queda. Lacan estabe-
lece um jogo entre littera (letra), presente em literatura, e litura (parte ilegível
de um escrito, por efeito de rasura), produzindo lituraterra. Essa brincadeira
com a linguagem, presente também nos chistes, destaca a função da letra.
Mas o que foi possível ler, ao sobrevoar a planície siberiana?
O que se revela por minha visão do escoamento, no que nele a
rasura predomina, é que, ao se produzir por entre as nuvens, ela
se conjuga com sua fonte, pois que é justamente nas nuvens que
Aristófanes5 me conclama a descobrir o que acontece com o sig-
nificante: ou seja, o semblante por excelência, se é de sua ruptura
que chove esse efeito em que se precipita o que era matéria em
suspensão (Lacan, [1971]2009, p.113-114).
Ao referir a comédia de Aristófanes, As nuvens, Lacan ([1971]2009)
mostra que o artifício cômico da peça, em sua relação com a linguagem, vem
dissolver a ilusão do semblante, e o que se perde, consequentemente, é a
sua consistência. Podemos estender essa noção à invenção poética, cujo
artifício linguageiro produz semelhante queda do semblante e esvaziamento
do sentido.
Um discurso que “não seria do semblante” toca o real, numa operação
que vai da letra (letter) ao lixo (litter). Assim, o que resta da operação feita
com a letra, que comporta o litoral, inscreve um gozo imundo, ou seja, um
gozo no mundo. A letra – nessa literatura que se ocupa e se produz como ra-
sura – deixa cair um resto, por isso letra desliza para lixo. Não seria aí que se
poderia situar a Gegenwort, a contrapalavra, enfatizada por Celan? O exem-
plo que ele dá dessa contrapalavra, o extrai da obra de George Büchner, A
morte de Danton, quando a personagem Lucile, em meio à multidão reunida
para celebrar a queda da monarquia, grita: “Viva o Rei!”. Essa palavra deixa
cair algo, tanto que, após ter sido dita, abre-se um silêncio. Há um enlace
evidente entre a letra e o gozo que se produz nesse enunciado.
5
Referência à comédia de Aristófanes, As nuvens, encenada no ano de 423 a.C. (Aristófanes,
1995).
53
Revista 48.indd 53 29/07/2016 16:12:22
Beatriz da Fontoura Guimarães
O ato poético celaniano “nega o que é, pelo corte, pela quebra, pela
aniquilação da aparência” (Lins, 2005, p.30). Articula-se sob a forma de um
discurso que não se sustenta no semblante. Numa espécie de ruptura instau-
rada no espaço do poema, como no momento em que se precipita no texto
uma contrapalavra, nesse instante, podemos identificar o momento em que
a poesia acontece: “instante da catástrofe ou da revolta, quando das ruínas
emerge um dizer inesperado” (Lins, 2005, p.32). A obra de Celan articula-se
na “quebra de um mundo” (p.33) e, como ato, deixa cair a letra.
Essa letra (lettre), Lacan ([1971]2009) trata de distinguir do significante-
-mestre, dizendo que ela o carrega em seu envelope, já que se trata de uma
letra-carta, no sentido da palavra epístola. A carta (lettre) porta uma mensa-
gem elidida, essa mensagem que a letra-carta carrega para sempre chegar
a seu destino. Nesse seminário, ao aproximar-se da literatura de vanguarda,
Lacan invoca onde a psicanálise produz furo. “Será que a letra não é o literal
a ser fundado no litoral? [...] Não é a letra propriamente o litoral? A borda do
furo no saber que a psicanálise designa, justamente ao abordá-lo, não é isso
que a letra desenha?” (Lacan, [1971]2009, p.109).
O “furo no saber” é precisamente o lugar do trauma, ou seja, ali onde
se abre uma lacuna, um intervalo entre percepção e representação. Isso que
fica suspenso e irrepresentável retorna constantemente, como verificamos
no cotidiano da clínica psicanalítica. A letra, tanto na operação clínica quanto
nessa literatura que não se emite do semblante, constitui a borda desse furo,
desenhando um litoral. A maneira como Celan propõe sua escrita poética
destaca sua função de desenhar a realidade. A letra traça uma borda no
impossível de representar: o trauma. Como Lacan indica, o trauma é a forma
como o real se apresenta para o sujeito.
A poesia de Celan “faz um percurso em que a linguagem é levada a
seus abismos, desarticulada e rarefeita” (Lins, 2005, p.23). As letras caem
numa experiência vertiginosa que faz lembrar o ravinamento, os sulcos na
terra avistados por Lacan ([1971] 2009) em seu sobrevoo da planície siberia-
na. A escrita de Celan porta também aquilo que se apagou, sendo o poema
permanência dos rastros, da ruína da palavra. Trata-se de rasura, por onde
se consegue avistar os rastros, os sulcos, indicando “o que era matéria em
suspensão” (Lacan, [1971]2009, p.114) e que se precipitou pela ruptura do
significante. Discurso que esvazia a ilusão, e nos coloca face ao real. Ao se
dirigir ao emudecimento, o poema radicaliza o enfrentamento desse impossí-
vel e não cessa de não se escrever.
54
Revista 48.indd 54 29/07/2016 16:12:22
Corpo estranho: do que da experiência traumática...
REFERÊNCIAS
ARISTÓFANES. As nuvens. Tradução de Mário da Gama Cury. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1995.
BÜCHNER, George. A morte de Danton. São Paulo: Brasiliense, 1965.
CELAN, Paul. Le méridien [1960]. In: ______. Le méridien & autres proses. Édition
bilingue. Traduit de l’allemand et annoté par Jean Launay. Paris: Seuil, 2002.
______. Reverse du souffle [Atemwende] [1967]. Traduit de l’allemand et annoté par
Jean-Pierre Lefebvre. Éditée par Bertrand Badiou. Édition bilingue. Paris: Seuil, 2003.
______. Cristal. Seleção e tradução Claudia Cavalcanti. Edição bilíngue. 1a Reim-
pressão. São Paulo: Iluminuras, 2009.
FREUD, Sigmund. El delirio y los sueños en La Gradiva de W. Jensen [1907]. In:
______. Obras completas. 4. ed., v. III. Madrid: Biblioteca Nueva, 1981.
______. Lecciones introdutorias al psicoanalisis – Leccion XVIII – La fijacion al trauma
– Lo inconsciente [1917]. In: ______. Obras completas. 4. ed., v. II. Madrid: Biblioteca
Nueva, 1981.
______. Mas alla del principio del placer [1920]. In: ______. Obras completas.4. ed.,
v. III. Madrid: Biblioteca Nueva, 1981.
______. Moises y la religion monoteista – tres ensayos [1939]. In: ______. Obras
completas. 4. ed., v. III. Madrid: Biblioteca Nueva, 1981.
GUIMARÃES, Beatriz da Fontoura. Trauma e real – do que não cessa de não se es-
crever na poesia de Paul Celan. Orientador: Prof. Dr. Fernando Aguiar Brito de Sousa;
coorientador: Prof. Dr. Edson Luis André de Sousa. Tese (Doutorado em Psicologia).
Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, 2013.
LACAN, Jacques. O seminário. Livro 18. De um discurso que não fosse semblante
[1971]. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009.
______. La tercera [1974]. In: Actas de la Escuela Freudiana de Paris. Barcelona:
Ediciones Petrel, 1980, 159-186.
LINS, Vera. Paul Celan, na quebra do som e da palavra – poesia como lugar de pen-
samento. In: ______. Poesia e crítica – uns e outros. Rio de Janeiro: 7Letras, 2005,
23-34.
Recebido em 06/12/2015
Aceito em 07/01/2016
Revisado por Otávio Augusto Winck Nunes
55
Revista 48.indd 55 29/07/2016 16:12:22
Rev. Assoc. Psicanal. Porto Alegre, n. 48, p.56-62, jan. 2015/jun. 2015
TEXTOS UM CORPO:
entre a cena e o mundo1
Leonardo Beni Tkacz2
Resumo: A partir da enunciação de uma analisante – “Quando estou no metrô,
penso em ultrapassar a linha amarela e me jogar nos trilhos” – o presente artigo
discute seus desdobramentos discursivos, os quais situavam o sujeito entre per-
manecer numa cena pela via do acting out e despencar da cena para o mundo
dos objetos pela via da passagem ao ato. O percurso dessa análise pôde (re)
constituir algumas bordas significantes que permitissem a um corpo encontrar
outra via que não a do gozo do Outro?
Palavras-chave: corpo, passagem ao ato, enunciação, transferência.
A BODY: Between the world and the scene
Abstract: On the stating of a patient, “When I am the subway station, I think
about crossing the yellow line and jump in front of the train”, this article argues it
discursive developments, in which the subject either remains in a scene by acting
out or plummets from the scene into the world of objects by taking action. Was the
course of this analysis able to (re) institute some significant borders that allowed a
body to find another path other than the enjoyment of the Other?
Keywords: body, acting out, taking action, transference.
1
Trabalho apresentado no Congresso Internacional da APPOA: Corpo: Ficção, Saber, Verdade,
novembro de 2015, em Porto Alegre.
2
Psicanalista; Membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre (APPOA); Mestre pelo Ins-
tituto de Psicologia da Universidade de São Paulo; Professor convidado do CEP (Centro de
Estudos Psicanalíticos); Co-autor do livro Temas da Clínica Psicanalítica (Ed. Exprimento, 1998);
Autor de artigos em revistas psicanalíticas; Co-Curadoria no SESC-SP: Figuras da Alteridade:
Cinema Israelense e Cinema Árabe (novembro de 2015). E-mail: lb.tkacz@terra.com.br
56
Revista 48.indd 56 29/07/2016 16:12:22
Um corpo: entre a cena e o mundo
I ntroduzo este trabalho com uma experiência que me ocorreu, em ocasião
do Congresso Internacional Angústia (2009), evento no qual me aproximei
pela primeira vez da APPOA. Cheguei a Porto Alegre em cima do horário, a
conferência de abertura já havia começado. Entrei atrasado e, por alguns ins-
tantes fugidios, fui tomado por um turvamento do espaço e do tempo, como
se estivesse noutro lugar, diria um lugar familiar, algo havia retornado a minha
memória. Naquele instante um jovem fazia uma pergunta ao conferencista,
e fui capturado pelo símbolo de sua camiseta, esse representando um movi-
mento juvenil sionista, o que me remeteu à época em que eu militava noutro
movimento sionista socialista. Nesse deslocamento, mesclavam-se cenas
das assembleias gerais, e das discussões sobre os rumos que o movimento
poderia assumir no final da ditadura militar – além, é claro, dos restos de me-
mória dos amores não correspondidos e daqueles imaginariamente vividos,
dos desejos pelas meninas considerados impossíveis; enfim, fui tomado por
uma forte emoção.
De maneira obviamente inconclusiva, poderia dizer que, no instante fu-
gidio, um sujeito dividido seria remetido a significantes que encontrariam um
enlace entre identidade de percepção e identidade do pensamento, o que
possibilitaria não apenas a rememoração, mas algo do irrepresentável, do
irredutível mundo dos objetos, sem o que não poderiam ser contornados por
alguma montagem pulsional. Portanto, essa experiência subjetiva ilustraria
uma das formações do inconsciente, ou seja, por meio desse ato falhado,
um sujeito dividido permanece em alguma cena no campo do Outro, o que,
se escutada numa análise, poderia seguir alguma trajetória. O que se coloca
em questão, neste trabalho que lhes apresento, é o alcance possível de uma
análise, quando um sujeito que habita um corpo situa-se entre permanecer
na Outra cena, mesmo de modo a repetir o encontro faltoso, como no acting
out, e a iminência de evadir-se para o mundo, identificando-se ao objeto a,
na passagem ao ato. Nesse sentido, o que na transferência permitiria ou não
a um sujeito reencontrar alguma rede significante que o reposicionasse em
seu fantasma?
Os termos “cena” e “mundo” são tratados por Lacan no seminário da An-
gústia ([1962-63]2005), sobretudo para diferenciar o acting out da passagem
ao ato. Assim, “cena” e “mundo” são termos que se situam como sendo dois
registros; na cena, o sujeito tem de se constituir numa ficção, “como portador
da fala” (Lacan, 2005, p.130); no mundo, o lugar onde o real se comprime,
onde originalmente os objetos estão perdidos. De modo que a metáfora do
espelho, a moldura da fantasia seriam, então, as bordas que permitiriam a um
sujeito barrado reencontrar o objeto enquanto causa do desejo, reencontrar
objetos cedíveis regulados pelo princípio do prazer. O que a clínica apresenta
57
Revista 48.indd 57 29/07/2016 16:12:22
Leonardo Beni Tkacz
na particularidade da escuta são dizeres que muitas vezes situam o sujeito no
extremo do embaraço da angústia, no quase apagamento da barra, o que o
faz agir fora da cena, na passagem ao ato, despenca no mundo dos objetos,
como se reencontrasse o sujeito mítico.
Há, noutros dizeres, algum atalho pulsional no qual o sujeito ainda en-
contra significantes que lhe permitem margear a cena, mesmo que esses o
levem a um agir repetitivo em direção ao horizonte do gozo, numa incansável
cena de servidão frente ao Outro, aqui o acting out como um sintoma.
O título deste trabalho, Um corpo: entre a cena e o mundo, parte de um
enunciado de uma analisante que diz: “Quando estou no metrô, penso em
ultrapassar a linha amarela e me jogar nos trilhos”. Durante a condução do
tratamento, questionava se sua análise poderia ordenar alguns significantes
na “linha amarela”, que pudessem ser inscritos, ou melhor, reinscritos em
alguma rede significante, a fim de que permanecesse em alguma cena e não
despencasse para o mundo, já que em sua ficção ocorreram transbordamen-
tos nas bordas do corpo.
Noutra passagem do seminário da Angústia, Lacan lança uma afirma-
ção interessante, pois avança no que designa “cena” e “mundo”; colocando-
-os numa ordenação, distinguindo-os de forma radical, ele diz: “Ora, a dimen-
são da cena, em sua separação do local – mundano ou não, cósmico ou não
– em que está o espectador, está aí para ilustrar a nossos olhos a distinção
radical entre o mundo e esse lugar onde as coisas, mesmo que sejam as
coisas do mundo, vêm a se dizer. Todas as coisas do mundo vêm colocar em
cena, segundo as leis do significante, leis que de modo algum podemos to-
mar de imediato como homogêneas às do mundo” (Lacan, 2005, p.42). Mais
adiante, ele afirma: “Portanto, primeiro tempo, o mundo. Segundo tempo, o
palco (cena) em que fazemos a montagem desse mundo. O palco (cena) é a
dimensão da história” (Lacan, 2005, p.43). Vamos a esta.
No mundo dos restos familiares, a analisante narra o que poderia ser
considerada uma história mítica relacionada ao seu nascimento. Durante a
gravidez, sua mãe desejava um menino, porém nasce a analisante, o que
fez eclodir uma “depressão pós-parto”, a mãe precisou ser internada. Antes
disso, escolhera o nome da filha, Joelma. Um nome que homenagearia o ho-
mem pelo qual havia sido apaixonada. O marido, por sua vez, sabendo dessa
história, comete um ato de vingança, registra a menina com outro nome, Jo-
silda. Este ato permaneceu escondido durante os primeiros sete anos de vida
da criança, período em que ela viveu com os avós paternos.
Nessa história mítica, vai se constituindo uma enunciação na qual o Ou-
tro demandava o nascimento de um menino, porém nasce uma menina, mes-
mo assim um significante de seu desejo foi inscrito. Durante os primeiros sete
58
Revista 48.indd 58 29/07/2016 16:12:23
Um corpo: entre a cena e o mundo
anos de sua vida, a analisante se reconhecia e era reconhecida por Joelma,
nome que não fora abandonado por alguns familiares, quando souberam do
nome registrado no cartório. O que permanecia não dito era a razão pela qual
sua mãe escolhera o nome Joelma. Nesse momento da análise questiono:
“Como gostaria de ser chamada?” Ela disse que preferia ser chamada por
Josilda, embora reverberasse a maneira carinhosa pela qual seus avós pa-
ternos a chamavam de Joelma. Intervim: “Então, por que não ser chamada
de Joelma”? A analisante completou: “Tudo que vem dela (mãe), eu quero
que desapareça”.
Seria possível apagar os vestígios das nomeações, sendo estas inscri-
tas às escondidas? Quais os desdobramentos disso? Algumas chaves dis-
cursivas foram engendradas. Destaco duas, para encaminharem as questões
deste artigo: a primeira, a chave discursiva das nomeações e acting out; a
segunda, a chave discursiva de uma cena traumática. Vamos à primeira.
Depois de viver com os avós paternos, Josilda vai morar na casa dos
pais, e lá se hospedava um primo de sua mãe, considerado um homem do
“universo das letras”, segundo a analisante. O que não sabiam é que ele abu-
sava sexualmente da menina.
A criança não podia contar, pois ninguém acreditaria. Para que algo não
ficasse escondido, sem palavras, encontrou uma estratégia: desenhava fi-
lhotes machucados pelos animais genitores e os espalhava (espelhava) pela
casa, a fim de que sua mãe pudesse lê-los, mas isso nunca aconteceu. Os
desenhos permaneceram como hieróglifos que não puderam ser decodifica-
dos pelo Outro. Na alfabetização, a analisante não diferenciava a sonoridade
de algumas letras, dificultando a escrita e a leitura, mais tarde constatou-se
dislexia. Ainda assim, permanecia no limite da cena, embora muito próxima
de evadir-se para o mundo dos objetos.
Na análise, ela contou algo que nomeou como um agir compulsivo:
furtava livros nas livrarias. O acting out se encenava a partir de um roteiro:
observava o movimento dos funcionários das livrarias, retirava o código de
barras do livro e passava pelo detector localizado nas portas, sem que o alar-
me tocasse; ela disse, “Eu não vou ser pega”, afirmando num tom desafiante.
Intervim: “Não vai ser pega? Por quem?”.
Freud, no texto A negação ([1925]2014), diz que “a negação é o modo
de tomar conhecimento do recalcado; na verdade já é um Aufhebung do re-
calque, mas não a aceitação do recalcado” (Freud, [1925]2014, p.20-21). A
propósito do termo Aufhebung, Jean Hyppolite em Comentário falado sobre a
Verneinung de Freud ([1954]1998), diz: “É a palavra dialética de Hegel, que
ao mesmo tempo quer dizer negar, suprimir e conservar, e, no fundo, suspen-
der”. Ele completa: “A denegação é uma Aufhebung do recalque, mas nem
59
Revista 48.indd 59 29/07/2016 16:12:23
Leonardo Beni Tkacz
por isso é uma aceitação do recalacado”. Desse modo, a enunciação “Eu não
vou ser pega”, dita em análise repetidamente, afirmava-se o inverso, deman-
daria ser pega. No desafio à lei, invocaria um pai? Da mesma forma que o
invocaria na enunciação, “Quando estou no metrô, penso em ultrapassar a
linha amarela e me jogar nos trilhos”, dita no início de sua análise? Um pai
que pudesse inseri-la em outra cena, por exemplo, em algum lugar discursivo
no “universo das letras”, como se um código de barras apagado se transfor-
masse em significantes e fizesse borda ao gozo do Outro.
Josilda quase não lia os livros furtados, permaneciam como hieróglifos
sem serem decifrados. Em vários momentos, dizia: “Minha mãe era uma lei-
tora voraz, isso é confuso para mim, eu não posso gostar das coisas que ela
gostava”. Intervim: “Por que não?” O que se mostrou no decorrer do tempo
foi que a analisante havia decidido doar alguns livros. O lugar escolhido foi a
biblioteca da cidade de origem dos avós paternos, não por acaso, pois foi sua
avó quem a introduziu no universo da literatura infantil.
Havia outra chave discursiva contígua a essa, que se refere à cena trau-
mática, cujo irrepresentável insistia em levar o corpo a um além do princípio
do prazer, na passagem ao ato.
Ela se prostituiu numa casa sadomasoquista, escolheu um nome para
sua personagem, utilizava uma máscara, consumia cocaína, alternava entre
a posição de dominação e a de dominada no jogo sexual. Na de dominação,
ultrapassava frequentemente o limite dos corpos dominados, sangrava-os,
tendo de ser contida pela gerente. Ela disse: “Via no rosto daqueles homens o
rosto do meu primo” A intervenção da funcionária impedia a passagem ao ato,
como se no olhar do Outro algum significante paterno interditasse o gozo. Um
ato que recobriria o objeto a, descolando a superposição das imagens, o que
faria relançá-la a alguma cena.
Se aqui a interdição da gerente teria como efeito impedir a passagem
ao ato, descolando a superposição de imagens, à noite, antes de dormir,
realizava um ritual protetor, segundo ela, para que o primo já falecido não
entrasse no quarto. A analisante afirmou: “Como posso ter medo, se ele está
morto?” O ritual se dava da seguinte maneira: ela espalhava despertadores
pelo quarto, a fim de que cada um tocasse a cada duas horas; garrafas va-
zias eram enfileiradas na porta; o abajur permanecia aceso. Um ritual que se
estabelecia numa tentativa de evitar o retorno do objeto a no real, no extremo
da angústia. Quando o real se comprimia e a angústia se tornava insuportável
ela saía de casa e caminhava até um viaduto distante de sua rua, permanecia
algum tempo parada, pensando em se jogar. Segundo a analisante, havia um
pensamento que às vezes retornava à memória, este relacionado com a avó
paterna, que dizia: “Se fizer algo errado, não conseguirá se olhar no espelho”.
60
Revista 48.indd 60 29/07/2016 16:12:23
Um corpo: entre a cena e o mundo
Por mais paradoxal que o enunciado seja, esse a acalmava, como se alguma
moldura do espelho pudesse reencontrar uma rede significante.
Tempos depois, a analisante queixava-se de dores intensas pelo corpo,
passou a frequentar menos a casa de prostituição. Um fato novo foi dito,
durante alguns anos escreveu histórias e, apesar da dislexia, as vendia a au-
tores de livros que precisavam de ideias novas. Entretanto, ela interrompeu
essa atividade, sem deixar de escrever seus textos, os quais ficavam escon-
didos numa gaveta. Combinamos que poderia trazê-los para serem lidos na
sessão. Assim foi feito algumas vezes. Num determinado momento, a anali-
sante disse: “Os livros são partes do meu corpo”.
Pouco antes de deixar a análise, narrou uma cena que nunca havia dito,
pois queria apagar da memória: duas tias conversavam e, lá pelas tantas,
uma delas relembrou a história de quando, ainda menina, a mãe da anali-
sante sofrera abuso sexual, a criança tentou contar, mas ninguém acreditou.
Passaram-se alguns anos comprovou-se o ato, algo pôde ser lido.
Para concluir, retomo o seminário da Angústia, num ponto em que Lacan
reafirma o que ele chamou da dimensão temporal da angústia e a dimensão
temporal da análise. Ele inicia dizendo que o desejo do Outro é o de ques-
tionar a raiz mesma do desejo, como a, como causa desse desejo, e não
como objeto. Ele diz: “Essa dimensão temporal é a da análise” (Lacan, 2005,
p.169). Em seguida, Lacan afirma: “É pelo fato de o desejo do analista sus-
citar em mim a dimensão da expectativa que sou apanhado na eficácia da
análise. Eu gostaria muito que ele me visse como isto ou aquilo, que fizesse
de mim um objeto” (Lacan, 2005, p.169).
Esse percurso analítico caminhou até onde pôde, numa tentativa de si-
tuar na “linha amarela” (cena do metrô) um lugar em que, na transferência,
a dimensão temporal da angústia não decidisse pela identificação do sujeito
ao objeto a, despencando para o mundo, mas permanecendo em alguma
cena na dimensão temporal do desejo, em busca do objeto enquanto causa.
Naquela linha tênue, um corpo entre a cena e o mundo, algumas redes sig-
nificantes puderam se situar, o que não quer dizer que cessaria a repetição
discursiva, porém houve uma experiência, na análise, a qual, ao menos por
uma vez, alguns traços apagados levaram um sujeito falante a reencontrar
algum ponto limite.
61
Revista 48.indd 61 29/07/2016 16:12:23
Leonardo Beni Tkacz
REFERÊNCIAS
FREUD, Sigmund. A negação [1925]. São Paulo: Cosac Naify, 2014.
LACAN J. Apêndice falado sobre a Verneinung de Freud, por Jean Hyppolite [1954].
In:______. Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998.
_______. O seminário, livro 10: a angústia [1962-63]. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editor, 2005.
Recebido em 21/01/2016
Aceito em 25/04/2016
Revisado por Deborah Nagel Pinho
62
Revista 48.indd 62 29/07/2016 16:12:23
Rev. Assoc. Psicanal. Porto Alegre, n. 48, p.63-68, jan. 2015/jun. 2015
A VERGONHA E
TEXTOS
O OBJETO OLHAR1
Luciano Mattuella2
Resumo: o presente trabalho aborda o sentimento de vergonha em relação ao
objeto olhar. Através de um recorte clínico, busca-se sustentar que a vergonha
nada mais é do que a posição de alguém tomado como objeto de olhar de um
outro. Por fim, sugere-se que esta posição é constitutiva do sujeito frente ao olhar
do Outro.
Palavras-chave: olhar, pulsão, vergonha.
SHAME AND THE OBJECT GAZE
Abstract: this essay deals with the feeling of shame in relation to the object “gaze”.
Through a clinical scene, we seek to sustain that shame is nothing more than
one’s position of object in front of the gaze of another. Finally, it is suggested that
this position in constitutive of the subject’s presence in front of the Other’s gaze.
Keywords: gaze, drive, shame.
1
Trabalho apresentado no Congresso Internacional da APPOA 2015, Corpo: Ficção, Saber, Ver-
dade, novembro de 2015, em Porto Alegre.
2
Psicanalista; Psicólogo (UFRGS); Especialista em Atendimento Clínico - Psicanálise (UFRGS);
Mestre em Filosofia (PUCRS); Doutor em Filosofia (PUCRS com estágio doutoral na Université
de Strasbourg); Membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre (APPOA).
E-mail: mattuella@gmail.com
63
Revista 48.indd 63 29/07/2016 16:12:23
Luciano Mattuella
E m seus Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud ([1905]1996)
define a vergonha como a “força que se opõe ao prazer de ver, mas [que]
pode eventualmente ser superada por ele” (p. 149). Nesta breve, porém po-
tente definição, encontro o tema que eu gostaria de trabalhar aqui hoje: a
relação entre a vergonha, o corpo e o olhar.
Para começar, eu gostaria de compartilhar um recorte clínico. Trata-se
de um homem perto dos trinta anos que busca atendimento porque está can-
sado de algo que se repete em sua vida: toda vez que vê na rua um homem
com traços masculinos marcantes – barba farta, músculos proeminentes,
queixo acentuado – diz sentir-se tomado por um sentimento agudo de vergo-
nha sem explicação. Seu olhar permanece fixado no objeto até que este saia
de cena – uma impossibilidade de desviar o olhar.
Sua primeira associação é uma lembrança de infância: quando con-
tava com seis ou sete anos, uma tia por quem nunca havia nutrido muita
afeição um dia o interpela na cozinha da casa dos pais, de forma um tanto
quanto jocosa, e lhe diz que tem certeza que ele já está virando homem,
que vai ter barba e que já deve ter até pentelhos. As outras tias, que estão
em volta, riem, o que passa para meu paciente a sensação de ele estar
sendo ridicularizado de alguma forma. O menino fica imobilizado, sem sa-
ber o que dizer. Sente a fala da tia como uma espécie de ultraje, como uma
invasão. Conta que, naquele momento também sentiu-se imobilizado pelo
sentimento de vergonha.
Tempos depois, aos dezesseis anos, lhe ocorre algo que até hoje resta
como um enigma: saindo do banho, olha-se ainda nu no espelho e, por alguns
segundos, fica perplexo vendo-se no espelho, completamente identificado ao
seu olhar; por fim, desfalece e vai ao chão, vindo a recobrar a consciência
apenas minutos depois. Esta é uma cena à qual volta e meia ele retorna em
seu discurso, como um escoadouro para onde insiste a sua fala.
Este paciente explica a sua sexualidade (“Desde pequeno eu olhava
para os meninos”) através de uma suposição: a mãe engravidou dele durante
um período em que padecia de uma importante depressão e, segundo lembra
de terem lhe falado, ela teria comentado desejar que o filho não tivesse filhos,
já que não valia a pena seguir nutrindo vida neste planeta. Sendo homosse-
xual, segundo meu paciente, ele está se impedindo de ter filhos – cumprindo
o mandato materno. O seu pai, por sua vez, sempre foi um homem submisso
– assim como todos os tios – às ordens e caprichos da avó, sendo narrado
como um homem fraco e sem voz.
Poderíamos nos demorar por um longo tempo nos detalhes deste caso,
mas eu gostaria de colocar o acento na dimensão da vergonha que, em meu
entender, perpassa a história deste homem. Vergonha que o toma de súbito
64
Revista 48.indd 64 29/07/2016 16:12:23
A vergonha e o objeto olhar
a cada vez que entra em seu campo visual algum traço positivado do falo: a
barba, os músculos, os contornos agudos do rosto. Elementos que parecem
estar presentes naquele ideal fálico suposto no olhar da tia. Este é um ponto
que eu gostaria de sublinhar: este paciente me ajuda a entender a vergonha
como algo relacionado ao campo do visual, do escópico – em outros termos:
ao objeto olhar (já como anunciava Freud na citação do começo da minha
fala). Sentir-se envergonhado implica supor-se visto: se o Outro não olhas-
se, eu não sentiria vergonha. Aqui me recordo de uma singela passagem do
livro Totalité et infini, do filósofo lituano Emmanuel Levinas: “A vergonha da
profanação faz baixarem os olhos que deveriam examinar minuciosamente a
descoberta” (Levinas, 1994, p.339). Levinas nos ajuda a distinguir dois olha-
res: aquele que profana e aquele que se abaixa, envergonhado. Logo, de um
lado temos a profanação; do outro, a vergonha.
Se nos ativermos a esta linha de pensamento – mais associativa do que
propriamente lógica, diga-se de passagem – podemos formular a seguinte
pergunta: ao desfalecer quando se olha no espelho, o que meu paciente evita
profanar? Ainda: o que meu paciente viu no espelho que fez seu corpo sair
da cena?
Em uma segunda vez que conta a cena do espelho, meu paciente lem-
bra que seu olhar dirigiu-se aos nascentes pelos no seu peito adolescente
– o que remete à fala da tia na cozinha da casa dos pais. Esta recordação
lhe surge a partir da associação com um sintoma que o vem incomodando
muito há algum tempo: uma compulsão irremediável de mexer nos cabelos
todas as vezes que se sente intimidado ou nervoso. É como se a tia lhe
tivesse apontado, à queima-roupa (já que estamos falando de nudez), a
emergência do sexual: entretanto, em vez de envaidecer-se de sua mas-
culinidade prometida, o menino se vê tomado por uma sensação de impos-
tura. Envergonha-se – baixa os olhos – como uma forma de manter algo
improfanado: para preservar a completude do Outro, talvez? Afinal, supor a
diferença sexual – e as suas manifestações no corpo – é também suportar
castrar o Outro. Quando a tia lhe aponta insígnias fálicas, acontece como
que um descompasso de imagens: aquela que a tia lhe devolve (como o
espelho do banheiro) e aquela em que ele se reconhece, que então se torna
um ponto esvaziado de significação no Outro. Neste sentido, o desfaleci-
mento, ao ver o corpo nu no espelho, acaba remetendo a este curto-circuito
representacional.
Deste modo, lanço a ideia de que a vergonha tem relação com uma
modalidade específica de relação com o objeto olhar. Uma forma de en-
laçar o objeto com o corpo todo, como tentarei mostrar mais adiante.
Também por esta via, acredito que podemos pensar na dimensão esté-
65
Revista 48.indd 65 29/07/2016 16:12:23
Luciano Mattuella
tica 3 do sentimento de vergonha: sinto-me envergonhado quando suponho
que me torno uma imagem excessivamente nítida para o olhar do Outro.
Sendo assim, acho que podemos pensar que a vergonha tem não só
relação com isso que eu vejo ativamente, mas também – e especialmente –
com o meu reflexo que vejo espelhado no olhar do Outro. A tia e o espelho
devolviam para o meu paciente a nudez do real do corpo, um precipitado sem
sentido, não revestido pela dimensão da fantasia. Um corpo em carne viva,
por assim dizer. Cada vez que encontra na rua um homem carregado dos
atributos fálicos evidentes, ou seja, que insistem em sua visibilidade, retorna
a meu paciente a sensação de impostura – talvez como eco do riso das tias?
Portanto, proponho que a vergonha se relaciona com a intromissão
abrupta do objeto olhar de forma positivada em uma cena. Positivação que
tensiona os contornos desta cena: envergonhar-se seria, de alguma forma,
resistir ao desmonte da cena, como uma solução de compromisso ao olhar
do Outro: quando me envergonho pago com meu corpo (enrubesço, me arre-
pio, fico tonto) por aquilo que o Outro vê em mim – sou interpelado pelo Outro
na dimensão escópica.
Alguém se envergonha, assim, pelo desvelamento de sua posição de
objeto. É uma face que enrubesce sem que eu o queira, um frio na espinha
que me perpassa sem o meu consentimento. A vergonha, neste sentido, mais
do que uma especificidade momentânea, parece adquirir aqui uma dimensão
fundamental da experiência do sujeito com o Outro: é justamente a sensação
no corpo da inelutável nudez frente ao olhar do Outro. Um olhar que, nos
primeiros anos da vida do meu paciente, vinha sustentado por uma mãe de-
sistida do mundo.
Assim, quando este meu paciente desfalece frente ao espelho, me pa-
rece que ali ele está tomado em todo o corpo: não se trata de um recorte de
alguma parte da anatomia, mas do corpo em sua totalidade – da imagem
sem contornos. Está em jogo a impossibilidade de tirar o corpo fora. “Tirar o
corpo fora” significa, como sabemos, supor que algo do que se passa não diz
respeito a alguém, é uma forma de falarmos da desresponsabilização. Lem-
brando a cena da lata de sardinha narrada por Lacan (1998) no seminário 11,
tirar o corpo fora seria supor que não estou implicado naquilo que vejo e que
3
Entendo como estética neste contexto aquela dimensão que está relacionada com a insistência
do objeto olhar no psiquismo, bem como com suas produções imagéticas. Para mais sobre este
assunto, cf. FREUD (1996a), artigo no qual Freud relaciona as produções inconscientes com a
súbita intromissão do objeto olhar na cena do mundo.
66
Revista 48.indd 66 29/07/2016 16:12:23
A vergonha e o objeto olhar
me olha (que nada me regarde, para usarmos a precisa expressão francesa,
lembrando que regarder significa tanto olhar como “dizer respeito”). O olhar
frente ao qual eu me sinto envergonhado é aquele que, de algum modo,
me diz respeito. Um olhar que inibe na mesma proporção em que me sinto
excessivamente nítido a ele – aqui há algumas ressonâncias entre dizer que
alguém é envergonhado e inibido: em ambos os casos podemos pensar em
um excesso imaginário.
Neste sentido, parece-me que a vergonha opera no corpo da mesma
forma que a sensação de déjà vu: tomando-o por inteiro. Vale lembrar que o
déjà vu é, para Freud, uma das formas de acesso ao inconsciente, como nos
indica a seguinte passagem em que ele relata sobre uma paciente sua que
estava visitando uma família na qual havia um irmão que estava
seriamente doente, prestes a morrer, enquanto o proprio irmão […]
estivera numa situação igualmente perigosa alguns meses antes.
Entretanto, achava-se associada ao primeiro desses dois aconteci-
mentos similares uma fantasia incapaz de penetrar na consciência
– a saber, um desejo de que o irmão morresse. Consequentemente,
a analogia entre os dois casos não podia tornar-se consciente e sua
percepção foi substituída pelo fenômeno de “ter passado por aquilo
tudo antes”, com a identidade sendo deslocada do elemento real-
mente comum para a localidade (Freud, [1914]1974, p.243).
Reparem: a sensação de “ter passado por aquilo tudo antes” – o déjà
vu – surge no lugar do reconhecimento da fantasia. Todos os que já passaram
por esta experiência são testemunhas de que esta é uma situação em que
se sente uma espécie de esvaziamento do corpo, do corpo todo: precipita-
-se da cena um corpo sem contornos. Em outros termos: no déjà vu temos a
experiência do corpo em sua literalidade, letras que supomos lidas pelo Outro
– um desnudamento. Tanto na experiência da vergonha quanto na do déjà
vu encontramos uma perda de consistência do corpo – um desvelamento do
imaginário, por assim dizer.
Suponho que o mesmo se passa no sentimento de vergonha: mais
do que uma reação contra algum julgamento moral, a vergonha é a certe-
za da posição de um corpo em sua literalidade mais fundamental, em sua
dimensão mesma de estar sustentado pelo olhar do Outro. Somos todos
constitutivamente envergonhados. Quando me envergonho, tenho acesso
ao irredutível lugar de objeto que ocupo frente ao Outro. É um movimento
duplo de reconhecimento e tentativa de recobrimento: entretanto, ao reco-
brir, exponho ainda mais. Persistência na pele do sem-sentido mais além
67
Revista 48.indd 67 29/07/2016 16:12:23
Luciano Mattuella
do revestimento da fantasia. Quando me envergonho, sinto-me interpretado
de alguma forma.
Assim, é interessante perceber que Freud parece colocar o sentimento
da vergonha no lado da neurose, pelo menos em contraste com o que ele
percebe nos estados melancólicos. Segundo Freud, o melancólico
[…] carece da vergonha [grifo meu] diante dos outros, [o] que seria
a principal característica desse estado, ou ao menos não a exibe de
forma notável. No melancólico talvez possamos destacar um traço
oposto, uma insistente comunicabilidade que acha satisfação no
desnudamento de si próprio ([1915] 2010, p.131).
Ou seja, a vergonha diz da minha posição de objeto frente ao Outro,
mas, sendo algo da via neurótica, supõe-se que eu só posso me envergonhar
ao reconhecer-me nesta posição. Alguém só fica envergonhado ao ver-se
sendo visto – enlaçamento do sujeito com o Outro, que, na ilusão de tirar o
corpo fora, acaba por desnudar mesmo a própria literalidade do corpo. Outra
forma de dizer o que já sabemos: que na neurose é impossível tirar o corpo
fora.
REFERÊNCIAS
FREUD, Sigmund. Fausse reconnaissance (‘Dejà raconté’) no tratamento psicanalíti-
co [1914]. In:______. Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de
Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1974, v.13.
FREUD, Sigmund. Luto e melancolia [1915]. In: ______. Introdução ao narcisismo:
ensaios de metapsicologia e outros textos (1914-1916). Tradução e notas de Paulo
César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
FREUD, Sigmund. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade [1905]. In: ______.
Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio
de Janeiro: Imago Editora, 1996a , v.7.
FREUD, Sigmund. O estranho [1919]. In: Edição standard brasileira das obras psi-
cológicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1996b, v.17.
LACAN, Jacques. O seminário, livro 11: Os quatro conceitos fundamentais da psica-
nálise [1964]. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998.
LEVINAS, Emmanuel. Totalité et infini: essai sur l’extériorité. Paris: Kluwer Academic,
1994.
Recebido em 08 /02/2016
Aceito em 04/03/2016
Revisado por Marisa Terezinha Garcia de Oliveira
68
Revista 48.indd 68 29/07/2016 16:12:23
Rev. Assoc. Psicanal. Porto Alegre, n. 48, p.69-74, jan. 2015/jun. 2015
TEXTOS
CORPO (EN)CENA:
o risco de cada um1
Ângela Lângaro Becker2
Resumo: Este artigo ilustra a relação dos sintomas do corpo adolescente
com o gozo contemporâneo, através de um caso clínico. A fobia e a sín-
drome de angústia seriam efeito do encobrimento sistemático da condição
mortal de nosso corpo por parte dos discursos midiáticos e científico. A arte,
pelo contrário, é reveladora do indizível do campo do inconsciente e lugar de
elaboração dos traços sintomáticos coletivos. O retorno das artes circenses
como caminho de elaboração da imagem do corpo na inclusão de sua con-
dição mortal.
Palavras-chave: corpo, adolescência, morte, sintoma, arte.
THE STAGED BODY STAGES: Each and every one’s risk
Abstract: This article illustrates the relationship between the symptoms of the
adolescent body and contemporary enjoyment through a clinical case study.
Phobia and the distress syndrome could be the result of the systematic conce-
alment of the mortal condition of our body by media and scientific discourse.
Art, on the other hand, reveals what cannot be uttered from the field of the
unconscious and the place where collective symptomatic traces appear. The
return of the circus arts is here discussed as a way of building the body’s ima-
ge including its mortal condition.
Keywords: body, adolescence, death, symptom, art.
1
Trabalho apresentado na Jornadas Clinicas da APPOA: Corpo e discurso em Psicanálise, rea-
lizada em Porto Alegre, novembro de 2014.
2
Psicanalista; Membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre (APPOA) e do Instituto AP-
POA; Mestre em Psicologia Social e Institucional pela UFRGS; Doutora em Psicanalise e Dança
pela Université-Paris XIII. E-mail:angelalbecker@gmail.com
69
Revista 48.indd 69 29/07/2016 16:12:23
Ângela Lângaro Becker
Q
“ ueria morrer! Mesmo assim não ia adiantar... Melhor seria não ter nas-
cido”.
Ouço as palavras de Pedro, adolescente cuja angústia exprime o quanto
lhe é insuportável a passagem para uma posição sexuada. Quando vem para
atendimento, apesar dos seus 17 anos, não consegue sair de casa, a não ser
acompanhado da mãe ou do irmão. Na rua sente-se um estranho, olhado pe-
los outros. Só anda de táxi, pois, no ônibus, todos olham para ele. Não quer
viver. Melhor seria ainda... não ter nascido...
O corpo, vivo ou morto, é prova de nossa existência no mundo. Mes-
mo morto não nos retira do campo simbólico, portanto, não nos poupa das
consequências deste encontro. O corpo no mundo nos diz, antes de mais
nada, desta nossa condição mortal, passageira, fugaz. Sua transformação,
imposta pela puberdade, nem sempre é comemorada com portas abertas ao
futuro, numa idealização da juventude. Por vezes, essa transformação é sen-
tida como um encontro angustiante com a pulsão de morte. As mudanças no
corpo aparecem como prova da sua transitoriedade, fazendo a morte muito
presente.
Diante desta angústia, rapidamente o que ganha interesse para Pedro e
para muitos outros adolescentes é um mundo que não é tão fugaz, nem tão
banal, nem tão ridículo como este no qual se é obrigado a viver. O mundo
virtual. Nos jogos on-line, aos quais dedica grande parte do seu dia e noite,
pode viver num mundo em que tempo, espaço e até identidade sexual podem
ser controlados por ele. Neste, pode escolher qual personagem deseja ser.
Desde um lindo herói que só faz o bem e que aos poucos se transforma numa
heroína, até o pior vilão, mais bizarro e temido de todos. Isso tudo num tempo
único, que faz desaparecer a realidade do dia, da noite e dos dias da sema-
na. Dormir durante o dia e ficar a noite toda acordado para jogar faz parte de
estar fora deste mundo organizado pelo discurso do Outro, do qual Pedro não
quer mais fazer parte.
Se a sexualidade se instaura no campo do sujeito pela via da falta, es-
pecialmente na adolescência há o adiamento desta instauração. Isto, porque
tornar-se sexuado é perder algo no real. A sexuação exige o encontro com a
castração. Ser um sujeito para o sexo é perder a imortalidade, é cair no golpe
da morte individual. É sempre no caminho do engano que se vai em busca de
uma realização sexual, pois a pulsão é fundamentalmente pulsão de morte.
Para se ter uma posição sexuada é preciso sustentar a falta, a perda de sen-
tido que o real do corpo torna presente.
Pedro descobre que “na vida não há liberdade”, mas que também não
poderá haver “liberdade sem a vida”. E não é uma questão exclusiva da ado-
lescência desejar não ter nascido, já que nem na morte se pode experimentar
70
Revista 48.indd 70 29/07/2016 16:12:23
Corpo (en)cena: o risco de cada um
a liberdade. Esta questão faz parte da angústia do sujeito, confrontado com
a própria estrutura. Mas é nesta passagem do corpo como objeto do gozo do
Outro para um corpo sexuado que o desejo de não desejar se torna alto risco.
No seminário dos Quatro conceitos fundamentais ([1964]1985), Lacan
refere o termo afânise como apagamento total do sujeito. Viria da palavra
grega phania (luz). Afânise seria apagar, tornar escuro, retirar do campo da
visão, algo como ser invisível. Como parece dizer nosso adolescente: “prefiro
desaparecer do que sentir a perda”. A luz que possibilita o olhar abre o campo
do visível, mas, ao mesmo tempo, anuncia o que não se vê. A angústia é do
encontro com o invisível. Há uma experiência de fronteira aí, uma experiência
de trânsito. É preciso transitar no invisível, no enigma de um corpo estranho,
no vazio de identidade, para poder chegar à outra margem, a margem de
se reconhecer numa posição sexuada. O corpo adolescente se apresenta
como estranho, um real sem representações, pois transita do corpo infantil
ao adulto, sem ser reconhecido por ele. Sua própria imagem, e do mundo que
o cerca, se modificam nas possibilidades do que fica visível ou invisível. E é
na angústia desse processo que a fuga é muitas vezes a invisibilidade total,
o apagamento.
Quando Freud escreveu sobre o transitório em 1915, a primeira guerra
mundial aniquilava os sonhos da humanidade. Diante da possível perda das
coisas que amava e admirava, concluiu que pode haver duas posições dife-
rentes frente ao luto: uma de um doloroso cansaço diante do mundo, como
uma verdadeira decepção; outra de revolta e inconformidade. Ele se pergun-
ta: de onde vem essa exigência de imortalidade? Porque o despreendimento
da libido em relação a seus objetos é sempre um processo tão doloroso?
O cansaço diante do mundo, diz ele, faz com que antecipemos a perda e
passemos a desvalorizar tudo o que podemos perder. Grande engano nosso,
pois é a brevidade da vida que a faz encantadora. A beleza e a perfeição não
podem ser depreciadas por sua limitação no tempo. A beleza e a perfeição de
algo é determinado por seu significado na nossa vida emocional e não pela
sua duração no tempo. A guerra destruiu não só a beleza das paisagens, mas
também o orgulho e o respeito humano. A vida libidinal, disse Freud, ficou à
mostra em toda sua nudez. Que nudez é essa? Libido nua, corpo nu? Parece
nos levar àquilo que deve ficar invisível, a nudez do real.
O sujeito está fora de si, o eu não é mais senhor em sua própria casa,
afirmava Freud, para dizer que o inconsciente desaloja o sujeito. O que é ín-
timo de cada um vem de fora, é o estranho familiar. Assim como um corpo nu
revela nossa condição de mortais, o corpo adolescente encontra sua nudez
quando sai de casa, no olhar dos outros. Ali vê sua morte, então deseja não
ter nascido.
71
Revista 48.indd 71 29/07/2016 16:12:23
Ângela Lângaro Becker
A guerra revelou ao ser humano que não há consistência nas suas re-
presentações simbólicas. Há, na sua estrutura, uma nudez de sentido, um real
que o habita e nenhum encobrimento pode fazê-lo desaparecer. Há algo de
comum nesse real que a guerra desnuda e o real do encontro com o sexo.
Por isso, o olhar, na adolescência, se torna tão fundamental, como pulsão
escópica. Há uma verdadeira apelação ao olhar do outro, numa tentativa de
retomada constitutiva. Busca-se o íntimo, através do olhar de fora, encontro
com o êxtimo. O próprio Freud já descrevia esta relação de sujeito e objeto
como um circuito, quando descreveu a pulsão escópica como exibicionismo e
voyeurismo. Ativo e passivo, como via de mão dupla entre o meu olho e o do
outro. Perceber-se percebendo, olhar-se olhando. Há no corpo adolescente
uma permeabilidade que o põe em risco, risco desta afânise, risco de transfor-
mar-se mimeticamente em corpo do mundo, como o corpo do gozo do mundo.
Desde que iniciou sua análise, Pedro modificou-se corporalmente. Ema-
greceu, começou a fazer a própria comida, passou a fumar e andar a pé.
Na rua encontra olhares e se ensaia como agente do olhar, experimentando
curiosidade pelos outros. É na construção de personagens para si que apa-
rece a possibilidade de integrar seu corpo no espaço através de um traço.
Traço unário, ficção singular. Ficção que não exclui o risco. Embora tenha
ensaiado criar personagens em cenários fora do mundo virtual, sempre há o
risco de perder-se como carne no mundo.
Se os adolescentes produzem sintomas que envolvem o corpo e sua
relação com o espaço-tempo também indicam onde se encontra o gozo con-
temporâneo. Até que ponto isto que aparece na forma sintomática das fobias
ou das síndromes de angústia está presente na forma de um gozo na nossa
cultura? O gozo de um encobrimento sistemático da condição mortal de nos-
so corpo?
Em 1930, Roger Caillois ([1930]1990) chamou a atenção sobre uma ex-
periência de vertigem arriscada e a chamou de magia mimética. Esta se dá
pelo fato de que todo corpo é imagem que não vê completamente a si própria,
então sua tendência é complementar-se numa mímesis com o ambiente. Cai-
llois referia-se à capacidade de alguns animais transmutarem-se conforme o
ambiente. Mas anunciava que não se tratava de uma proteção e, sim, de uma
“tentação do espaço” que apresentava o risco de uma captura da imagem,
uma assimilação imaginária. No mimetismo, as posições de sujeito e objeto
misturam-se no campo da visão. Perceber-se sendo olhado é estar lá nos
olhos do outro, e isso desloca o sujeito de lugar. É a vivência desta mudança
de agente da visão em objeto do olhar que se trata no mimetismo. É vivida
como estranha disseminação do corpo no campo da percepção. Mistura o
corpo próprio à cena do mundo para ressurgir como um olhar externo. “O que
72
Revista 48.indd 72 29/07/2016 16:12:23
Corpo (en)cena: o risco de cada um
determina fundamentalmente o visível é o olhar que está do lado de fora” diz
Lacan ([1964]1985, p.94).
Há algo disto na angústia de Pedro. Sua impossibilidade de saber quem
ele é faz intensificar a disseminação do seu corpo no espaço. Merleau-Ponty
(1990) chamava de carne no mundo a experiência do sujeito em relação ao
espaço. Não há espaço fixo para o sujeito, a vivência é de estar desalojado.
Isto, porque não há coincidência entre o eu e o corpo: tenho um corpo, mas
não sou um corpo. É preciso fazer dele uma ficção, inventá-lo, como Pedro
busca ensaiar no espaço virtual. Que movimento seria necessário para que
a imagem corporal possa produzir-se como ficção suficiente, sustentada pelo
traço unário? O que fazer para tornar o risco mais traço? Quanto mais o real
do corpo estiver tomado por uma ficção, a partir do traço de cada um, estaria
o sujeito em menor risco de apagamento, mesmo dentro das tentadoras ver-
tigens miméticas que nossa cultura produz? As artes do corpo parecem nos
falar sobre essas questões.
Lembremos que a arte modernista compartilha o seu início com a psi-
canálise no mesmo contexto histórico, o início do século XX. Há entre ambas
variadas intersecções. Se Freud dizia que o artista ensina o psicanalista é
porque a arte põe à mostra o que é invisível e indizível, mas que está presen-
te no campo do inconsciente. Faz parte também do campo da arte moderna
um sujeito problematizado nas suas fronteiras com o outro, no sentido do
tempo e do espaço, apresentando-se em novas concepções espaço-tempo-
rais. O sujeito da arte recusa-se a ser assimilado pelo olho ideal e se oferece
como questão ao olho do espectador. O autor é desbancado do seu lugar
idealizado de outrora. Agora quem olha a obra torna-se co-autor. Desta for-
ma, diz Tania Rivera (2013), a arte contemporânea preserva o sujeito no seu
melhor lugar: o de fora.
Neste sentido, ganham importância e valor as artes que se apresentam
ao vivo. O tempo e o espaço, na relação com o espectador, fazem acontecer
o sujeito através de um ato. Há algo de fundamental no resgate subjetivo do
contemporâneo, neste aqui e agora e nesta mistura de palco e plateia. O ges-
to é descrito por Lacan como movimento dado a ver, o movimento do corpo
oferece-se ao olhar do outro, portanto não é um movimento em si, mas para
ser suspenso e olhado. O gesto sai de um corpo, mas aponta para fora dele.
Parte do corpo como algo que não é visível, mas que é olhado pelo outro. Por
isso, Lacan diz que nossos movimentos são teleguiados. O gesto é teleguia-
do pelo desejo do outro ao qual ele se oferece.
Dentro das inúmeras artes do corpo que se multiplicaram na contem-
poraneidade destaco aqui uma daquelas cujo risco de morte é seu ponto
central: as artes circenses. O renascimento do circo ou o que alguns auto-
73
Revista 48.indd 73 29/07/2016 16:12:23
Ângela Lângaro Becker
res chamam de Novo Circo, certamente tem algo a dizer sobre nosso gozo
contemporâneo em relação ao corpo. O que parece estar presente aí do que
podemos refletir é a experiência do risco e da vertigem. As artes circenses
parecem brincar com a sensação de estar fora do corpo. Como descreve
Emmanuel Wallon, no livro organizado por ele, chamado O circo no risco da
arte (2009), no circo o corpo está em suspensão.
Numa cultura tão preocupada em não perder o controle dos próprios
pés, a estética do vazio exerce fascínio. Os corpos exprimem a impossibili-
dade de juntar o dizer e o fazer, de fundir o ser e o mundo, de habitar o solo,
mas viver sonhos. Os intérpretes convidam o medo para dentro do círculo da
lona. A vertigem está na plateia, na vivência da proximidade com a morte e
na possibilidade de dominar este risco. A vida é colocada em jogo na cena e
a morte é convocada. O artista circense inicia sua técnica explorando o de-
sequilíbrio, até aprender a controlá-lo. O surgimento do domínio e a virtuose
sobre o desequilíbrio são as etapas finais. Seu trabalho consiste em desviar
os limites do perigo, em aprender a administrar o medo, em positivá-lo. A
proeza do artista de circo está intimamente ligada à superação de si e esta
superação tem a ver com correr o risco. O corpo é ferramenta, objeto molda-
do para um ato de superação. O sujeito mira no horizonte da arte. Seu corpo
torna-se ato simbólico.
Ao contrário da liberdade encontrada por Pedro no seu mundo on-line,
onde a morte não atinge seu corpo, o personagem do trapézio disciplina o
corpo para experimentar o limite da sua imortalidade. Na arte do circo, a li-
berdade só é vivida se puder incluir a morte. Nela, o corpo encena a vivência
do risco para, superando-se, deixar seu traço.
REFERÊNCIAS
CAILLOIS, Roger. Os jogos e os homens. Lisboa: Ed. Cotovia, 1990.
FREUD, Sigmund. Lo perecedero (1915). In: ______. Obras completas. V. II.
4. ed. Madrid: Biblioteca Nueva, 1981.
MERLEAU-POINTY, Maurice. O visível e o invisivel. São Paulo: Ed. Perspec-
tiva, 2003.
LACAN, Jacques. O seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamentais da
psicanálise [1964]. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1985.
RIVERA, Tania. O avesso do imaginário: arte contemporânea e psicanálise.
São Paulo: Ed. Cosac Naify, 2013.
WALLON, Emmanuel (org.). O circo no risco da arte. Belo Horizonte: Ed.
Autêntica, 2009.
Recebido em 20/10/2015
Aceito em 16/01/2016
Revisado por Cristian Giles
74
Revista 48.indd 74 29/07/2016 16:12:23
Você também pode gostar
- Psicanálise e Contexto Cultural (Costa, Jurandir Freire) (Z-Library)Documento184 páginasPsicanálise e Contexto Cultural (Costa, Jurandir Freire) (Z-Library)Marcos Da Silveira SilveiraAinda não há avaliações
- Esta Arte Da Psicanálise - Sonhando Sonhos Não Sonhados e Gritos Interrompidos (Thomas Ogden)Documento87 páginasEsta Arte Da Psicanálise - Sonhando Sonhos Não Sonhados e Gritos Interrompidos (Thomas Ogden)Adenauer Silva100% (1)
- Dalmolin, Bernardette - Esperança EquilibristaDocumento113 páginasDalmolin, Bernardette - Esperança EquilibristaFernando Martín Lozano100% (1)
- Tricologia e Terapia Capilar 9788584825806 BVDocumento84 páginasTricologia e Terapia Capilar 9788584825806 BVÉrica Martinez100% (6)
- Junguiana - Revista de Psicologia AnalíticaDocumento278 páginasJunguiana - Revista de Psicologia AnalíticaAdonai MeloAinda não há avaliações
- JUNGUIANA - Revista Latino-Americana Da SBPA - Vol 35 - n02Documento82 páginasJUNGUIANA - Revista Latino-Americana Da SBPA - Vol 35 - n02Lucia Barbosa100% (2)
- Revista Appoa 50 - Corpo Ficção Saber Verdade Vol 2Documento200 páginasRevista Appoa 50 - Corpo Ficção Saber Verdade Vol 2Arryson Andrade Zenith JuniorAinda não há avaliações
- (2021-04-12) Kessler (2008) - O Objeto A É (Radical) e Não É ( (B) Analisável)Documento14 páginas(2021-04-12) Kessler (2008) - O Objeto A É (Radical) e Não É ( (B) Analisável)luishenriquefontanaAinda não há avaliações
- Rvista Correio APPOA, N. 38. Estrturas ClínicasDocumento171 páginasRvista Correio APPOA, N. 38. Estrturas ClínicasWal DirAinda não há avaliações
- Maria Julia Kovacs Org Morte e Desenvolvimento Humano Casa Do Psicologo 1992-2-1Documento132 páginasMaria Julia Kovacs Org Morte e Desenvolvimento Humano Casa Do Psicologo 1992-2-1Amanda FreitasAinda não há avaliações
- Revista41 Intervenção e Invenção Psicanálise PDFDocumento272 páginasRevista41 Intervenção e Invenção Psicanálise PDFBárbara CristinaAinda não há avaliações
- CorrupcaoDocumento17 páginasCorrupcaoKerepiyua KerepiyuaAinda não há avaliações
- Revista - 26 - 1 - Toxios ManiasDocumento55 páginasRevista - 26 - 1 - Toxios ManiasThiago CordeiroAinda não há avaliações
- Revista 36-01 - 2019Documento66 páginasRevista 36-01 - 2019Carolina ZimmerAinda não há avaliações
- A Direção Da CuraDocumento55 páginasA Direção Da Curaestigmadrogas100% (1)
- Clínica Da Angústia 1Documento57 páginasClínica Da Angústia 1drica torresAinda não há avaliações
- Mente & Cérebro Dezembro - 2015 Jaqueline Gomes de JesusDocumento68 páginasMente & Cérebro Dezembro - 2015 Jaqueline Gomes de JesusJaqueline Gomes de Jesus100% (1)
- Jung v036n02 PDFDocumento106 páginasJung v036n02 PDFMarcus Vinicius Neves Gomes100% (1)
- Instituto Fratelli - Morte e Desenvolvimento Humano - A Criança e o Adolescente Diante Da MorteDocumento9 páginasInstituto Fratelli - Morte e Desenvolvimento Humano - A Criança e o Adolescente Diante Da MorteAna Beatriz De Sousa Rodrigues SilvaAinda não há avaliações
- Revista Junguiana 37 2Documento78 páginasRevista Junguiana 37 2JéssicaAinda não há avaliações
- Morte e Desenvolvimento Humano - Maria Júlia KóvacsDocumento132 páginasMorte e Desenvolvimento Humano - Maria Júlia KóvacsYasmine SantosAinda não há avaliações
- APC em Revista 36Documento258 páginasAPC em Revista 36ClaytonAinda não há avaliações
- 3sobre Comportamento e Cognição (Vol. 3) PDFDocumento294 páginas3sobre Comportamento e Cognição (Vol. 3) PDFThaís Gutstein100% (1)
- UntitledDocumento208 páginasUntitledNeiva Cristina DornelesAinda não há avaliações
- O Infantil Na Psicanálise PDFDocumento72 páginasO Infantil Na Psicanálise PDFNertanSilvaAinda não há avaliações
- Apresentando DarwinDocumento32 páginasApresentando DarwinAna ClaraAinda não há avaliações
- A Voz Na Experiencia Psicanalitica-DigitalDocumento160 páginasA Voz Na Experiencia Psicanalitica-DigitalHelenLinhares100% (1)
- APC em Revista - 37 PDFDocumento190 páginasAPC em Revista - 37 PDFClaytonAinda não há avaliações
- Livro Zero: Fórum Do Campo Lacaniano - SPDocumento200 páginasLivro Zero: Fórum Do Campo Lacaniano - SPRenan ZucatoAinda não há avaliações
- Carlos Antonio Ferreira PDFDocumento90 páginasCarlos Antonio Ferreira PDFGerlane ZemkeAinda não há avaliações
- O Fio Das Palavras - GrifadoDocumento62 páginasO Fio Das Palavras - GrifadoJonatas LimaAinda não há avaliações
- Revista Cores Da Vida Vol. 4Documento53 páginasRevista Cores Da Vida Vol. 4Lilian Cordeiro100% (1)
- Sig. Revista de PsicanáliseDocumento130 páginasSig. Revista de PsicanáliseAnna VazAinda não há avaliações
- Texto de Raul Pacheco Filho - PG 107 PDFDocumento198 páginasTexto de Raul Pacheco Filho - PG 107 PDFEdmundo PontesAinda não há avaliações
- Revista DesassossegosDocumento100 páginasRevista DesassossegosScheherazade PaesAinda não há avaliações
- Aula01 - Revista Psicologia Politica v1n1Documento192 páginasAula01 - Revista Psicologia Politica v1n1Gabriel Braga KalegariAinda não há avaliações
- Bissexualidade, Édipo e As Vicissitudes Da PDFDocumento106 páginasBissexualidade, Édipo e As Vicissitudes Da PDFLilian DacorsoAinda não há avaliações
- TRIEB Silêncio Volume20 n.1 2021Documento256 páginasTRIEB Silêncio Volume20 n.1 2021Robson AlvesAinda não há avaliações
- Revista Cores Da Vida Vol. 2Documento65 páginasRevista Cores Da Vida Vol. 2Lilian CordeiroAinda não há avaliações
- 1ff4c 68Documento20 páginas1ff4c 68Bruno MotaAinda não há avaliações
- CHECCHIA. SOUZA JR. LIMA. (Orgs.) Por Uma Psicanálise Revolucionária. Otto GrossDocumento271 páginasCHECCHIA. SOUZA JR. LIMA. (Orgs.) Por Uma Psicanálise Revolucionária. Otto GrossFelipe Araujo67% (3)
- Revista Appoa 35 - Da Infância À Adolescência Tempos Do SujeitoDocumento200 páginasRevista Appoa 35 - Da Infância À Adolescência Tempos Do SujeitoRafael GomesAinda não há avaliações
- O Trabalho Do Luto e Os Ritos Coletivos1Documento112 páginasO Trabalho Do Luto e Os Ritos Coletivos1Lídia SilvaAinda não há avaliações
- (Agente) N. 15 - EBP-BADocumento172 páginas(Agente) N. 15 - EBP-BAAndré Luiz Pacheco da SilvaAinda não há avaliações
- Abrecampos-N - 2 - IRS - PDF Filename UTF-8''Abrecampos-nº2 - IRS PDFDocumento97 páginasAbrecampos-N - 2 - IRS - PDF Filename UTF-8''Abrecampos-nº2 - IRS PDFJunior ZenithAinda não há avaliações
- Revista Jung Corpo 10 EdiçãoDocumento83 páginasRevista Jung Corpo 10 EdiçãojoanaAinda não há avaliações
- (2017) de Hamlet A Édipo A Encenação Da Neurose InfantilDocumento63 páginas(2017) de Hamlet A Édipo A Encenação Da Neurose InfantilFábio MouratoAinda não há avaliações
- Transtorno Bipolar II - Revista - Debates - 6 PDFDocumento52 páginasTranstorno Bipolar II - Revista - Debates - 6 PDFCamila ChristiellyAinda não há avaliações
- Revista Debates 6Documento45 páginasRevista Debates 6André MartinsAinda não há avaliações
- Revista IPABCDocumento126 páginasRevista IPABCTamiris Lopes FerreiraAinda não há avaliações
- A Paranoia Do Negro No Brasil A Partir Da Análise de Arthur Ramos: Uma Interlocução Com A PsicanáliseDocumento132 páginasA Paranoia Do Negro No Brasil A Partir Da Análise de Arthur Ramos: Uma Interlocução Com A PsicanáliseTarsila AmaralAinda não há avaliações
- Stylus Livro Andrea BrunettoDocumento202 páginasStylus Livro Andrea BrunettoNASF BATISTÃO CAinda não há avaliações
- Arteira 9Documento144 páginasArteira 9Ssica_AvelinoAinda não há avaliações
- Revista ATravessar de Acompanhamento Terapêutico 05-2015Documento108 páginasRevista ATravessar de Acompanhamento Terapêutico 05-2015I.R.T.O.100% (1)
- Revista Rabisco Volume 3 Numero 1Documento168 páginasRevista Rabisco Volume 3 Numero 1leonardo gonçalvesAinda não há avaliações
- Paulina Cymrot - Ninguém Escapa de Si Mesmo - PSICANALISE COM HUMORDocumento114 páginasPaulina Cymrot - Ninguém Escapa de Si Mesmo - PSICANALISE COM HUMORjeane reis alvesAinda não há avaliações
- Revista Da APPOA 22-1 Psicopatologia Do Espaço e Outras Fronteiras PDFDocumento75 páginasRevista Da APPOA 22-1 Psicopatologia Do Espaço e Outras Fronteiras PDFGustavo ManoAinda não há avaliações
- Corporeidade - o objeto originário concreto: uma hipótese psicanalítica em expansãoNo EverandCorporeidade - o objeto originário concreto: uma hipótese psicanalítica em expansãoAinda não há avaliações
- Glauco Mattoso - Cara e CoroaDocumento56 páginasGlauco Mattoso - Cara e Coroamaximus93Ainda não há avaliações
- ManteigaDocumento6 páginasManteigaCristiane SantosAinda não há avaliações
- Ecologia - Desequilíbrios Ambientais - Efeitos Térmicos - (Fácil) - (129 Questões)Documento86 páginasEcologia - Desequilíbrios Ambientais - Efeitos Térmicos - (Fácil) - (129 Questões)JOAQUIM NETOAinda não há avaliações
- RDC 234Documento7 páginasRDC 234Herbert TheuryAinda não há avaliações
- Slide TCCDocumento19 páginasSlide TCCGeisaAinda não há avaliações
- Exercícios 3Documento3 páginasExercícios 3Ambiente UniversitárioAinda não há avaliações
- Questionário Ecossistemas Aquáticos Unidade IIIDocumento5 páginasQuestionário Ecossistemas Aquáticos Unidade IIINayara GrossAinda não há avaliações
- Sistemas de Refrigeraçã1Documento3 páginasSistemas de Refrigeraçã1Juselito FerreiraAinda não há avaliações
- @biomedicina - BR - Mapa Mental - ImunizaçõesDocumento1 página@biomedicina - BR - Mapa Mental - Imunizaçõesmarina kanamoriAinda não há avaliações
- Orientacoespara Uma Escola InclusivaDocumento32 páginasOrientacoespara Uma Escola InclusivaPatrícia MendesAinda não há avaliações
- 07 Policontrol Analisadores in Line para Distribuicao Da Agua Turbidez e Cor e Esgoto Dqo Via Analise de OrganicosDocumento31 páginas07 Policontrol Analisadores in Line para Distribuicao Da Agua Turbidez e Cor e Esgoto Dqo Via Analise de OrganicosCarlos AlvarezAinda não há avaliações
- Reparação de FeridasDocumento34 páginasReparação de FeridasANA LUISA ALVES RAMBOAinda não há avaliações
- Anatomia - Seminário 2Documento55 páginasAnatomia - Seminário 2LUMENAAinda não há avaliações
- Fluxograma Da Tosse (Pediatrica)Documento31 páginasFluxograma Da Tosse (Pediatrica)hangitaAinda não há avaliações
- Aula InicialDocumento56 páginasAula InicialAnna RakelAinda não há avaliações
- Exercícios de Regra de Três Simples e CompostaDocumento3 páginasExercícios de Regra de Três Simples e CompostacelsovillelaAinda não há avaliações
- Doq Cgcre 20 - 03Documento8 páginasDoq Cgcre 20 - 03Marcus HugenneyerAinda não há avaliações
- Devolutiva de Atendimento Aluno TaniaDocumento3 páginasDevolutiva de Atendimento Aluno Taniaanercilyahoo.com.brAinda não há avaliações
- Parte2 A Saude Brota Da Natureza 5Documento298 páginasParte2 A Saude Brota Da Natureza 5JAILTON SCAinda não há avaliações
- RDC67 2007 ConsolidadaDocumento64 páginasRDC67 2007 ConsolidadaCaio Belhiomini FerreiraAinda não há avaliações
- Ficha Formativa 4Documento10 páginasFicha Formativa 4Elitepoodle 143100% (2)
- A Catequese e A Prática Da CaridadeDocumento9 páginasA Catequese e A Prática Da CaridadeJoão MeloAinda não há avaliações
- Aula 11 - Processos de Condicionamento de ArDocumento41 páginasAula 11 - Processos de Condicionamento de ArAna Paula100% (2)
- Catalogo-Normas-Tecnicas-Petrobras 202012 DEZEMBRODocumento19 páginasCatalogo-Normas-Tecnicas-Petrobras 202012 DEZEMBROmarceloAinda não há avaliações
- Divisão de Grupos de Orientação de Estágio - NoturnoDocumento13 páginasDivisão de Grupos de Orientação de Estágio - Noturnosillmara.sillvaoliveiraAinda não há avaliações
- SensoresEEC IVDocumento9 páginasSensoresEEC IVricardoll283% (6)
- Conteúdo 8 Questoes 1 2 3 4 5 6Documento2 páginasConteúdo 8 Questoes 1 2 3 4 5 6Gis MacedoAinda não há avaliações
- Embacaps GeralDocumento9 páginasEmbacaps GeralMaria JoséAinda não há avaliações