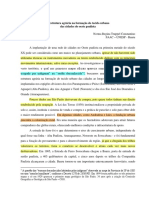0% acharam este documento útil (0 voto)
152 visualizações4 páginasNeurodiversidade e Deficiência: Uma Análise
O documento discute o surgimento do movimento de neurodiversidade e os estudos da deficiência. Aponta que o modelo social da deficiência surgiu como alternativa ao modelo médico e enfatiza que a deficiência é uma construção social, não biológica. Também discute como o movimento autista defende que o autismo é uma diferença, não uma doença, e como isso levanta debates sobre a procura por cura.
Enviado por
Wlisses MatosDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia on-line no Scribd
0% acharam este documento útil (0 voto)
152 visualizações4 páginasNeurodiversidade e Deficiência: Uma Análise
O documento discute o surgimento do movimento de neurodiversidade e os estudos da deficiência. Aponta que o modelo social da deficiência surgiu como alternativa ao modelo médico e enfatiza que a deficiência é uma construção social, não biológica. Também discute como o movimento autista defende que o autismo é uma diferença, não uma doença, e como isso levanta debates sobre a procura por cura.
Enviado por
Wlisses MatosDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia on-line no Scribd