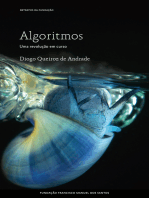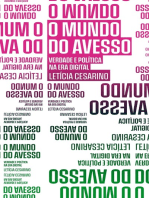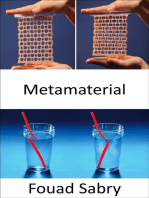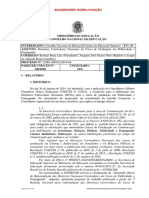Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
O Fim Da Teoria - o Dilúvio de Dados Torna o Método Científico Obsoleto
Enviado por
Claudio Abraão FilhoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O Fim Da Teoria - o Dilúvio de Dados Torna o Método Científico Obsoleto
Enviado por
Claudio Abraão FilhoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O fim da teoria: o dilúvio de dados torna o método
científico obsoleto
Chris Anderson
Traduzido e adaptado de:
https://www.wired.com/2008/06/pb-theory/?fbclid=IwAR1KFlh_5E1h9sRLAByqCmYjIWtuFHNkTP
BICBex0N1osfBA0ePI2gD-CYE
"Todos os modelos são incorretos, mas alguns são úteis."
Assim proclamou o estatístico George Box 30 anos atrás, e ele estava certo. Mas que
escolha teríamos? Apenas os modelos, de equações cosmológicas a teorias do comportamento
humano, pareciam ser capazes de explicar consistentemente, ainda que imperfeitamente, o
mundo ao nosso redor. Até agora. Hoje, empresas como o Google, que cresceram em uma era
de dados massivamente abundantes, não precisam se contentar com modelos incorretos. Na
verdade, eles não precisam se contentar com modelos.
Sessenta anos atrás, os computadores digitais tornaram a informação legível. Vinte
anos atrás, a Internet tornou a informação acessível. Dez anos atrás, os primeiros rastreadores
de mecanismos de busca o transformaram em um banco de dados. Agora, o Google e
empresas afins estão vasculhando e peneirando dados na era mais “metrificada” da história,
tratando esse enorme corpus como um laboratório da condição humana. Eles são os filhos da
Idade dos Petabytes.
A Idade do Petabyte é diferente porque “ter mais” dados faz diferença. Kilobytes
foram armazenados em disquetes. Megabytes foram armazenados em discos rígidos.
Terabytes foram armazenados em matrizes de disco. Petabytes são armazenados na nuvem. À
medida que avançamos nessa progressão, passamos da analogia da pasta para a analogia do
gabinete de arquivos, e então para a analogia da biblioteca -- em petabytes ficamos sem
analogias organizacionais.
Na escala de petabytes, a informação não é uma questão de taxonomias, mas de
estatísticas sem dimensões. Ela exige uma abordagem totalmente diferente, exige que
percamos a noção da rede de dados como algo que pode ser visualizado em sua totalidade.
Isso nos força a ver os dados primeiro matematicamente, e depois estabelecer um contexto
para eles. Por exemplo, o Google conquistou o mundo da publicidade com nada mais do que
matemática aplicada. Ele não fingia saber nada sobre a cultura e as convenções da
publicidade — apenas presumia que dados melhores, com ferramentas analíticas melhores,
venceriam. E o Google estava certo.
A filosofia fundadora do Google é que não sabemos por que esta página é melhor do
que aquela: se as estatísticas de links recebidos dizem que é, isso é bom o suficiente.
Nenhuma análise semântica ou causal é necessária. É por isso que o Google pode traduzir
idiomas sem realmente "conhecê-los" (com dados de corpus iguais, o Google pode traduzir
klingon para farsi com a mesma facilidade com que pode traduzir francês para alemão). E por
que ele pode combinar os anúncios com o conteúdo sem nenhum conhecimento ou suposição
sobre os anúncios ou o conteúdo.
Em fala na O'Reilly Emerging Technology Conference, Peter Norvig, diretor de
pesquisa do Google, atualizou a máxima de George Box: "Todos os modelos estão errados, e
cada vez mais você pode ter sucesso sem eles".
Este é um mundo onde grandes quantidades de dados e matemática aplicada
substituem todas as outras ferramentas que podem ser utilizadas. Esqueça as teorias do
comportamento humano, da linguística à sociologia. Esqueça a taxonomia, a ontologia e a
psicologia. Quem sabe por que as pessoas fazem o que fazem? O ponto é que eles fazem isso,
e podemos rastreá-lo e medi-lo com uma fidelidade sem precedentes. Com dados suficientes,
os números falam por si.
Petabytes nos permitem dizer: "basta a correlação". Podemos parar de procurar
modelos. Podemos analisar os dados sem hipóteses sobre o que eles podem mostrar. Podemos
jogar os números nos maiores clusters de computação que o mundo já viu e deixar que os
algoritmos estatísticos encontrem padrões onde a ciência não consegue.
O melhor exemplo prático disso é o sequenciamento de genes de J. Craig Venter.
Habilitado por sequenciadores e supercomputadores de alta velocidade que analisam
estatisticamente os dados que produzem, Venter passou do sequenciamento de organismos
individuais para o sequenciamento de ecossistemas inteiros. Em 2003, ele começou a
sequenciar grande parte do oceano. E em 2005 começou a sequenciar o ar. No processo,
descobriu milhares de espécies de bactérias e outras formas de vida até então desconhecidas.
Venter não pode dizer quase nada sobre as espécies que encontrou. Ele não sabe como
eles se parecem, como vivem, ou sobre sua morfologia. Ele nem sequer tem o genoma
completo. Tudo o que ele tem é um pontinho estatístico – uma sequência única que, sendo
diferente de qualquer outra sequência no banco de dados, deve representar uma nova espécie.
Essa sequência pode se correlacionar com outras sequências que se assemelham às de
espécies sobre as quais sabemos mais. Nesse caso, Venter pode fazer algumas suposições
sobre os animais – que eles convertem a luz do sol em energia de uma maneira particular, ou
que descendem de um ancestral comum. Mas, além disso, ele não tem um modelo melhor
dessa espécie do que o Meta tem de sua página no Instagram. São apenas dados. Porém, ao
analisá-lo com recursos de computação padrão Google, Venter faz avanços na biologia mais
do que qualquer outra pessoa de sua geração.
Esse tipo de pensamento está prestes a se tornar mainstream. Em fevereiro, a National
Science Foundation anunciou o Cluster Exploratory, um programa que financia pesquisas
projetadas para serem executadas em uma plataforma de computação distribuída em larga
escala desenvolvida pelo Google e pela IBM, em conjunto com seis universidades piloto. O
cluster consistirá de 1.600 processadores, vários terabytes de memória e centenas de terabytes
de armazenamento, juntamente com o software, incluindo o Tivoli da IBM e versões de
código aberto do Google File System e MapReduce. Os primeiros projetos do CluE incluirão
simulações do cérebro e o sistema nervoso e outras pesquisas biológicas que ficam em algum
lugar entre wetware e software.
Aprender a usar um "computador" dessa escala pode ser um desafio. Mas a
oportunidade é grande: a nova disponibilidade de enormes quantidades de dados, juntamente
com as ferramentas estatísticas para processar esses números, oferece uma maneira
totalmente nova de entender o mundo. A correlação substitui a causalidade, e a ciência pode
avançar mesmo sem modelos coerentes, teorias unificadas ou realmente qualquer explicação
mecanicista.
Não há razão para nos apegarmos aos nossos velhos hábitos. É hora de perguntar: o
que a ciência pode aprender com o Google?
———
Comentário do pesquisador Leonardo De Marchi, em post no Facebook:
Sempre achei esse texto um delírio menor de Anderson. No entanto, lendo a obra do
filósofo francês Bernard Stiegler, fiquei impressionado com o horror que Stiegler teve ao ler
o texto. Ele comenta essa breve coluna por parágrafos e parágrafos de alguns de seus livros.
Hoje, entendo que ele tem razão: a economia de dados das plataformas digitais está
intimamente ligada ao fenômeno do negacionismo contemporâneo. Se dialogamos com
algum negacionista, ele/ela dirá: "não preciso da ciência; tenho o Google" ou, ainda, "mas eu
vi isso no grupo do WhatsApp".
É a lógica de Anderson na vida real: para quê fazer ciência se o dilúvio de dados em
que estamos soterrados pode nos entregar a resposta que queremos?
O mesmo poderia ser dito, hoje, da cultura. Com a música produzida por IA em larga
escala, o que assusta é que não há uma estética nova - como ocorreu, por exemplo, com a
música eletrônica, a qual apresentava uma nova maneira de se conceber o que é música. Tudo
é igual ao que já ouvimos. E por quê? Porque é baseado em tudo o que já ouvimos antes, de
fato. O que os super-algoritmos nos oferecem é o fim da criatividade. Ou, para usar um termo
familiar a Stiegler, uma proletarização do pensamento criativo.
Você também pode gostar
- Virtude Cibernética: Desafios Éticos E Morais Na Inteligência ArtificialNo EverandVirtude Cibernética: Desafios Éticos E Morais Na Inteligência ArtificialAinda não há avaliações
- Computação Evolucionária: Aplique os algoritmos genéticos com Python e NumpyNo EverandComputação Evolucionária: Aplique os algoritmos genéticos com Python e NumpyAinda não há avaliações
- Sistemas de Informação e a Teoria do CaosNo EverandSistemas de Informação e a Teoria do CaosAinda não há avaliações
- Kaplan (1966)Documento26 páginasKaplan (1966)amandaAinda não há avaliações
- O mundo dado: Cinco breves lições de filosofia digitalNo EverandO mundo dado: Cinco breves lições de filosofia digitalAinda não há avaliações
- Sociedade e Tecnologia - Avaliação 1 - 0030481911042Documento2 páginasSociedade e Tecnologia - Avaliação 1 - 0030481911042Peter Oliver JohnAinda não há avaliações
- Estudante - Repertório - Os Impactos e Limites Da Inteligência Artificial Na Sociedade BrasileiraDocumento14 páginasEstudante - Repertório - Os Impactos e Limites Da Inteligência Artificial Na Sociedade BrasileiraMiguel SousaAinda não há avaliações
- Ah, se eu soubesse (Inteligência Artificial)...: Uma Viagem aos "Cérebros Eletrônicos"No EverandAh, se eu soubesse (Inteligência Artificial)...: Uma Viagem aos "Cérebros Eletrônicos"Ainda não há avaliações
- Inteligencia Artificial - ArtigosDocumento12 páginasInteligencia Artificial - ArtigosF3lper9000Ainda não há avaliações
- Inteligência Artificial e ChatGPT: Da revolução dos modelos de IA generativa à Engenharia de PromptNo EverandInteligência Artificial e ChatGPT: Da revolução dos modelos de IA generativa à Engenharia de PromptNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Rastreável: Redes, vírus, dados e tecnologias para proteger e vigiar a sociedadeNo EverandRastreável: Redes, vírus, dados e tecnologias para proteger e vigiar a sociedadeAinda não há avaliações
- 01 - Causa e EfeitoDocumento83 páginas01 - Causa e EfeitoIgor RodriguesAinda não há avaliações
- Amor, Sexo E Inteligência Artificial No Banquete De PlatãoNo EverandAmor, Sexo E Inteligência Artificial No Banquete De PlatãoAinda não há avaliações
- Computadores, Sociedade e ÉticaDocumento63 páginasComputadores, Sociedade e ÉticabismarckAinda não há avaliações
- Atv 7 AnoDocumento2 páginasAtv 7 AnoRenata VidalAinda não há avaliações
- Filosofia - Os Problemas Éticos Na Criação Da Inteligência ArtificialDocumento17 páginasFilosofia - Os Problemas Éticos Na Criação Da Inteligência Artificiallota100% (1)
- Máquinas CompanheirasDocumento11 páginasMáquinas CompanheirasTiago MotaAinda não há avaliações
- Noam Chomsky No NY TimesDocumento5 páginasNoam Chomsky No NY TimesAguigui Agogô100% (1)
- RACIONALIDADE NO DIREITO (IA): Inteligência Artificial e PrecedentesNo EverandRACIONALIDADE NO DIREITO (IA): Inteligência Artificial e PrecedentesAinda não há avaliações
- Propulsão De Plasma: A SpaceX pode usar a propulsão de plasma avançada para nave estelar?No EverandPropulsão De Plasma: A SpaceX pode usar a propulsão de plasma avançada para nave estelar?Ainda não há avaliações
- Inteligencia Artificial IntroducaoDocumento6 páginasInteligencia Artificial IntroducaoNani LopesAinda não há avaliações
- Arcologia: Como nossas cidades evoluirão para funcionar como sistemas vivos?No EverandArcologia: Como nossas cidades evoluirão para funcionar como sistemas vivos?Ainda não há avaliações
- TeoriaDoCaosAutopoiese e FractaisDocumento2 páginasTeoriaDoCaosAutopoiese e FractaisAndré Martins TaukAinda não há avaliações
- Deep Learning Book PDFDocumento132 páginasDeep Learning Book PDFJoab100% (1)
- Dominados pelos números: Do Facebook e Google às fake news - Os algoritmos que controlam nossa vidaNo EverandDominados pelos números: Do Facebook e Google às fake news - Os algoritmos que controlam nossa vidaAinda não há avaliações
- Desmistificando A Inteligência Artificial - Dora KaufmanDocumento311 páginasDesmistificando A Inteligência Artificial - Dora KaufmanErico MonteiroAinda não há avaliações
- Como Ler Um Livro Vs Inteligencia ArtificialDocumento5 páginasComo Ler Um Livro Vs Inteligencia ArtificialDaniel MattosAinda não há avaliações
- Hawkins (2004) Sobre A InteligênciaDocumento194 páginasHawkins (2004) Sobre A InteligênciaArs Notariae100% (1)
- $como Funciona A MenteDocumento9 páginas$como Funciona A MenteLeonardo AlvarengaAinda não há avaliações
- Motor De Detonação De Pulso: Como devemos viajar de Londres a Nova York em 45 minutos em vez de 8 horas?No EverandMotor De Detonação De Pulso: Como devemos viajar de Londres a Nova York em 45 minutos em vez de 8 horas?Ainda não há avaliações
- 30196-Texto Do Artigo-83472-2-10-20161225Documento8 páginas30196-Texto Do Artigo-83472-2-10-20161225ebifdfcpzd heyaeuloAinda não há avaliações
- Deep Learning DSADocumento221 páginasDeep Learning DSAErick Salvador100% (1)
- Deep Learning DSADocumento194 páginasDeep Learning DSAErick Salvador100% (2)
- ChatGPT para o dia a dia: Explore o poder da Inteligência Artificial agora mesmoNo EverandChatGPT para o dia a dia: Explore o poder da Inteligência Artificial agora mesmoAinda não há avaliações
- O Pensamento de Pierre Lévy: Comunicação e TecnologiaNo EverandO Pensamento de Pierre Lévy: Comunicação e TecnologiaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- ChatGPT - o Que É e Os Desafios para o Cristão - Ultimatoonline - Editora UltimatoDocumento2 páginasChatGPT - o Que É e Os Desafios para o Cristão - Ultimatoonline - Editora UltimatoSamuelLimaSamucaJorAinda não há avaliações
- Laboratório Em Um Chip: Dispositivos de ponto de atendimento de baixo custo para diagnóstico de doenças humanas, possivelmente tornando os laboratórios dispensáveisNo EverandLaboratório Em Um Chip: Dispositivos de ponto de atendimento de baixo custo para diagnóstico de doenças humanas, possivelmente tornando os laboratórios dispensáveisAinda não há avaliações
- Big Data: Técnicas e tecnologias para extração de valor dos dadosNo EverandBig Data: Técnicas e tecnologias para extração de valor dos dadosNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (5)
- O mundo do avesso: Verdade e política na era digitalNo EverandO mundo do avesso: Verdade e política na era digitalNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Silvio Meira - "Estamos Na Era Da Pedra Lascada Da IA, Mas o Futuro Chega em 800 Dias" - Brazil JournalDocumento8 páginasSilvio Meira - "Estamos Na Era Da Pedra Lascada Da IA, Mas o Futuro Chega em 800 Dias" - Brazil JournalSilva SilvaAinda não há avaliações
- Estrutura Multifuncional: Os futuros sistemas da Força Aérea serão integrados em estruturas de material multifuncional com sensor incorporado e componentes de redeNo EverandEstrutura Multifuncional: Os futuros sistemas da Força Aérea serão integrados em estruturas de material multifuncional com sensor incorporado e componentes de redeAinda não há avaliações
- Entre dados e robôs: Ética e privacidade na era da hiperconectividadeNo EverandEntre dados e robôs: Ética e privacidade na era da hiperconectividadeAinda não há avaliações
- Metamaterial: Liderando o caminho para a capa da invisibilidade de Harry Potter, ou tanque militar invisível, em nossa vidaNo EverandMetamaterial: Liderando o caminho para a capa da invisibilidade de Harry Potter, ou tanque militar invisível, em nossa vidaAinda não há avaliações
- Kaplan - 1966 - The New Great Debate Traditionalism vs. Science I PTDocumento28 páginasKaplan - 1966 - The New Great Debate Traditionalism vs. Science I PTBiel AugustoAinda não há avaliações
- Trabalho Final - IADocumento5 páginasTrabalho Final - IAFelipe FreitasAinda não há avaliações
- Inglês - Profº. Webston: Leia o Cartum A Seguir para Responder À Questão 02Documento8 páginasInglês - Profº. Webston: Leia o Cartum A Seguir para Responder À Questão 02WeslleyAinda não há avaliações
- Está Faltando EspantoDocumento10 páginasEstá Faltando EspantoÉrica Lima LemeAinda não há avaliações
- 6 Razões para Acreditar Que Estatística É A Profissão Do Futuro - SuperinteressanteDocumento3 páginas6 Razões para Acreditar Que Estatística É A Profissão Do Futuro - SuperinteressanteFernando Moreira Jr100% (1)
- 2 - Introdução Ao Aprendizado de MáquinaDocumento9 páginas2 - Introdução Ao Aprendizado de MáquinaMarcos BarbosaAinda não há avaliações
- O Complexo Governo-Academia e A Religião Do Big DataDocumento8 páginasO Complexo Governo-Academia e A Religião Do Big DataFrancisco AraújoAinda não há avaliações
- Fulereno: Construir máquinas de tamanho nanométrico que podem ser inseridas no corpo humano para detectar e reparar células doentes para câncer e AIDSNo EverandFulereno: Construir máquinas de tamanho nanométrico que podem ser inseridas no corpo humano para detectar e reparar células doentes para câncer e AIDSAinda não há avaliações
- O Filtro InvisívelDocumento41 páginasO Filtro InvisívelErick SilvaAinda não há avaliações
- Inteligência Artificial para Um Futuro Melhor: Bernd Carsten StahlDocumento128 páginasInteligência Artificial para Um Futuro Melhor: Bernd Carsten StahlDionatanAinda não há avaliações
- Data-Stories Ed18 EducacaoDocumento7 páginasData-Stories Ed18 EducacaoClaudio Abraão FilhoAinda não há avaliações
- DCN PPDocumento80 páginasDCN PPClaudio Abraão FilhoAinda não há avaliações
- 68 e Os AndarilhosDocumento24 páginas68 e Os AndarilhosClaudio Abraão FilhoAinda não há avaliações
- WP Cannes Insights 2019 FINALDocumento71 páginasWP Cannes Insights 2019 FINALClaudio Abraão FilhoAinda não há avaliações
- Article 276043 1 10 20211124Documento14 páginasArticle 276043 1 10 20211124Claudio Abraão FilhoAinda não há avaliações
- Guia para Normalizacao de Trabalhos Academicos 2021 FCLDocumento86 páginasGuia para Normalizacao de Trabalhos Academicos 2021 FCLClaudio Abraão FilhoAinda não há avaliações
- PAPER GoAd - Cannes Insights 2022Documento79 páginasPAPER GoAd - Cannes Insights 2022Claudio Abraão FilhoAinda não há avaliações
- AGAMBEN, G. Como A Obsessão Com Segurança Muda A DemocraciaDocumento9 páginasAGAMBEN, G. Como A Obsessão Com Segurança Muda A DemocraciaClaudio Abraão FilhoAinda não há avaliações
- Guia - Effie College 2021Documento1 páginaGuia - Effie College 2021Claudio Abraão FilhoAinda não há avaliações
- A Relacao Entre Titulo e Imagem Na Propaganda ImpressaDocumento4 páginasA Relacao Entre Titulo e Imagem Na Propaganda ImpressaClaudio Abraão Filho0% (1)
- PASSETTI, Edson. Anarquismos e Sociedade de Controle.Documento13 páginasPASSETTI, Edson. Anarquismos e Sociedade de Controle.Claudio Abraão FilhoAinda não há avaliações
- CIFRA - Pra Sempre ReinaraDocumento1 páginaCIFRA - Pra Sempre ReinaraSergio MarquesAinda não há avaliações
- Austin TillyDocumento34 páginasAustin TillyMarcos SerraAinda não há avaliações
- Educar É LibertarDocumento228 páginasEducar É LibertarDaniel KelcheskiAinda não há avaliações
- Corpo e Ancestralidade Fabio LimaDocumento14 páginasCorpo e Ancestralidade Fabio LimaDenise David CaxiasAinda não há avaliações
- A Fina Lâmina Da Palavra PDFDocumento30 páginasA Fina Lâmina Da Palavra PDFJoão NetoAinda não há avaliações
- Inside Fintech Brasil SetembroDocumento56 páginasInside Fintech Brasil SetembroMarcelo Araujo100% (1)
- A Crise de Integridade - Warren W. WiersbeDocumento58 páginasA Crise de Integridade - Warren W. WiersbeAllan Acioly100% (1)
- Modelo Ação RescisóriaDocumento5 páginasModelo Ação RescisóriaBianca Caroline da SilvaAinda não há avaliações
- Gaiolas e Asas - Rubem Alves 01 PDFDocumento2 páginasGaiolas e Asas - Rubem Alves 01 PDFJoãoSunahAinda não há avaliações
- Curso Técnico em Refrigeração e Climatização 1200h - Cetec AraguaínaDocumento79 páginasCurso Técnico em Refrigeração e Climatização 1200h - Cetec AraguaínaJorge ChavesAinda não há avaliações
- Resumo Beatriz SarloDocumento8 páginasResumo Beatriz SarloPatrícia Argôlo RosaAinda não há avaliações
- Campo Harmonico e Transposição - EmanuelDocumento7 páginasCampo Harmonico e Transposição - EmanuelDarci Pinheiro MdfAinda não há avaliações
- Fonte Chaveaada Projeto PDFDocumento33 páginasFonte Chaveaada Projeto PDFSOSIGENES TAVARESAinda não há avaliações
- Cinco Ritos TibetanosDocumento5 páginasCinco Ritos Tibetanoscarros-120Ainda não há avaliações
- A Influência Dos Youtubers Na Vida Dos AdolescentesDocumento1 páginaA Influência Dos Youtubers Na Vida Dos AdolescentesThuany GomesAinda não há avaliações
- Operador de Videomonitoramento PDFDocumento28 páginasOperador de Videomonitoramento PDFMarcelo Fonseca100% (2)
- Slides de Aula - Unidade IIDocumento64 páginasSlides de Aula - Unidade IIIgor PostigoAinda não há avaliações
- Passo A Passo IT Registro e Atendimento FalhaDocumento13 páginasPasso A Passo IT Registro e Atendimento Falhajefferson gomesAinda não há avaliações
- UA 04 - Introdução Às Capacidades (Skills)Documento11 páginasUA 04 - Introdução Às Capacidades (Skills)Susana CastroAinda não há avaliações
- Terra e MemóriasDocumento248 páginasTerra e MemóriasRicardo CallegariAinda não há avaliações
- Cartilha BandeiradeLutas 2019versaofinalDocumento18 páginasCartilha BandeiradeLutas 2019versaofinalbrenda cruzAinda não há avaliações
- 5º Anos MT - Apostila Aprendendo MelhorDocumento73 páginas5º Anos MT - Apostila Aprendendo MelhorFelipe RabeloAinda não há avaliações
- 7º Ano - Módulo 2 - GeografiaDocumento11 páginas7º Ano - Módulo 2 - GeografiaANDREA VINCHI LAPELLIGRINIAinda não há avaliações
- Redação 9º AnoDocumento6 páginasRedação 9º AnoCheysa AbdallaAinda não há avaliações
- Potenciação & Radiciação: Prof. Gilberto Santos JRDocumento12 páginasPotenciação & Radiciação: Prof. Gilberto Santos JRLeonardo FariaAinda não há avaliações
- Língua PortuguesaDocumento4 páginasLíngua PortuguesaJuliana NevesAinda não há avaliações
- Sortudo GalanteDocumento6 páginasSortudo GalanteMrJJAinda não há avaliações
- Curso 222309 Aula 05 5d72 CompletoDocumento33 páginasCurso 222309 Aula 05 5d72 CompletoCamila da SilveiraAinda não há avaliações
- Seis Pontos Emergenciais em Acupuntura by Lirane SulianoDocumento18 páginasSeis Pontos Emergenciais em Acupuntura by Lirane SulianoSandra Sena Cavalcante100% (1)
- Aprendendo Passo A Passo A Utilizar o Control-MDocumento90 páginasAprendendo Passo A Passo A Utilizar o Control-Mjalber_pessoaAinda não há avaliações