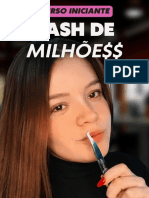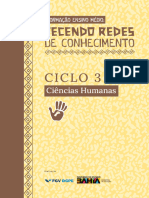Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Comunidades Virtuais de Música Como Subsídio para A Construção Da Identidade Afrodescendente
Comunidades Virtuais de Música Como Subsídio para A Construção Da Identidade Afrodescendente
Enviado por
Jobson MinduimDescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Comunidades Virtuais de Música Como Subsídio para A Construção Da Identidade Afrodescendente
Comunidades Virtuais de Música Como Subsídio para A Construção Da Identidade Afrodescendente
Enviado por
Jobson MinduimDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Comunidades virtuais de música como subsídio para a Mirian Albuquerque Aquino; Jobson Francisco da
construção da identidade afrodescendente Silva Júnior; Leyde Klébia Rodrigues da Silva;
Mirian de Albuquerque Aquino
Comunidades virtuais de música como
subsídio para a construção da
identidade afrodescendente
Jobson Francisco da Silva Júnior
Mestre em Ciência da Informação pela
Universidade Federal da Paraíba Graduado em
Biblioteconomia pela Universidade Federal da
Paraíba .Membro do Núcleo de Estudos e
Pesquisas em Informação, Educação e Relações
Étnico-raciais-NEPIERE
Leyde Klebia Rodrigues da Silva
Bacharel em Biblioteconomia. Mestra em Ciência
da Informação pela Universidade Federal da
Paraíba Membro do Núcleo de Estudos e
Pesquisas em Informação, Educação e Relações
Étnico-raciais (NEPIERE)
Mirian e Albuquerque Aquino
Doutora em Educação Professora Associada do
Departamento de Ciência da Informação da UFPB
Professora do Programa de Pós-graduação em
Educação e do Programa de Pós-graduação em
Ciência da Informação da UFPB.Coordenadora do
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Informação,
Educação e Relações Étnico-raciais (NEPIERE)
Recebido em 17.05.2013 aceito em 09.08.2013
Investiga a possibilidade da construção da identidade
afrodescendente através de comunidades virtuais de
música. Principia, contextualizando a importância da
informação musical nas comunidades virtuais, na
sociedade da informação. Tem como objetivo geral
compreender como as comunidades virtuais de música
podem subsidiar a construção da identidade
afrodescendente e operacionaliza, como objetivos
específicos: entender o papel desempenhado pela
informação musical nas comunidades virtuais, examinar o
acesso às comunidades virtuais de música e discutir o
processo de construção da identidade afrodescendente.
Segue sua base teórica, refletindo sobre as questões da
cibercultura e o processo de construção da identidade
afrodescendente. O estudo é de caráter qualitativo
exploratório, que apoia-se na pesquisa bibliográfica e
Perspectivas em Ciência da Informação, v.19, n.1, p.75-89, jan./mar. 2014 75
Comunidades virtuais de música como subsídio para a Mirian Albuquerque Aquino; Jobson Francisco da
construção da identidade afrodescendente Silva Júnior; Leyde Klébia Rodrigues da Silva;
Mirian de Albuquerque Aquino
documental, e analisa os dados coletados sob a ótica da
análise documental associada a uma abordagem crítica,
fundamentada no referencial teórico. Os dados foram
coletados no Facebook, por tratar-se de uma rede de
relacionamento virtual amplamente utilizada no Brasil.
Verificou-se que as comunidades virtuais de música
podem ser interpretadas como um dispositivo facilitador
da construção da identidade afrodescendente,
configurando-se como um mecanismo contra a
discriminação e o racismo.
Palavras-chave: Identidade afrodescendente;
Comunidades virtuais; Informação musical; Facebook.
Virtual communities of music as a
subsidy to the build an afrodescendant
identity
It investigates the possibility of afro-descendant identity
construction through virtual communities of music. It
begins contextualizing the musical information importance
in virtual communities in the information society. It has as
general aim to understand how virtual communities of
music can subsidize the construction of afro-descendant
identity, and it has as specific objectives: to understand
the role of musical information in virtual communities, to
examine the access to virtual music communities and to
discuss the process of afro-descendant identity building.
Its theoretical basis reflects on issues of cyber culture and
the process of afro-descendant identity building. The
study is a qualitative-exploratory one, which relies on
bibliographic and documentary research, and analyzes the
data collected from the perspective of document analysis
associated with a critical approach grounded in the
theoretical framework. Data were collected on Facebook,
considering the fact that it is the network of virtual
relationship most currently used in Brazil. It was found
that the virtual communities of music can be interpreted
as a enabling device to the afro-descendant identity
construction, working as a mechanism against
discrimination and racism.
Perspectivas em Ciência da Informação, v.19, n.1, p.75-89, jan./mar. 2014 76
Comunidades virtuais de música como subsídio para a Mirian Albuquerque Aquino; Jobson Francisco da
construção da identidade afrodescendente Silva Júnior; Leyde Klébia Rodrigues da Silva;
Mirian de Albuquerque Aquino
Keywords: Afro-descendant identity; Virtual
communities; Musical information; Facebook.
1Introdução
O presente estudo tem como objetivo compreender como as
comunidades virtuais de música podem subsidiar a construção da
identidade afrodescendente, buscando abertura de espaço para as
discussões acerca da temática étnico-racial, com maior ênfase na Ciência
da Informação, com vistas a contribuir para redução do racismo,
discriminação e preconceito. Observamos que, atualmente, a informação
sofre um processo de revaloração.
A Ciência da Informação passa a assumir novos papéis na sociedade
contemporânea, transformando-se em um bem, uma mercadoria. Nesse
contexto, podemos constatar que a tipologia da informação é bastante
vasta. Portanto, voltamos nossa atenção para um tipo específico - a
informação musical, entendida como
os aspectos relacionados à música, tanto em seu nicho mais
técnico, como tonalidades, compasso, métrica, modulações,
modos, ornamentação, andamento, [...] suas relações mais
subjetivas, como os discursos das letras, que podem dar
margens às mais diversas interpretações; e o contexto
histórico das composições, que fornecem subsídios para a
compressão da composição. Também entendemos como
informação musical elementos que identificam um indivíduo
como fã de um determinado gênero musical e/ou artista
(SILVA JÚNIOR, 2010, p. 30-31).
Consideramos que a informação musical está ligada a fatores
socioculturais e econômicos e pode configurar-se como uma variante de
grande peso no processo de construção identitária, especificamente no
caso da identidade afrodescendente, vista como a “forma de os indivíduos
se reconhecerem e de serem reconhecidos, a maneira como se veem e
são vistos” (CONCEIÇÃO; CONCEIÇÃO, 2010), com maior ênfase no
ciberespaço, concebido como um espaço não físico, caracterizado por uma
universalidade não totalizante, formado por uma rede virtualmente de
computadores através das quais todas as informações circulam
livremente, de forma a recusar hierarquias (LÉVY, 2000).
Ao falarmos em ciberespaço, adentramos a um terreno muito vasto.
Então, é necessário fazermos um recorte do nosso objeto de estudo.
Sendo assim, propomo-nos a trabalhar com a delimitação das
comunidades virtuais, as quais buscamos compreendê-las como um
espaço de sociabilidade culturalmente homogêneo, espacialmente
ilimitado, redes egocentradas (CASTELLS, 2003). Para ele, os indivíduos
tendem a reagrupar-se em torno de identidades primárias - religiosas,
étnicas, musicais, entre outras (CASTELLS, 1999). Complementando essa
ideia, Lima (2009, p. 10) afirma que a “identidade cultural se refere à
Perspectivas em Ciência da Informação, v.19, n.1, p.75-89, jan./mar. 2014 77
Comunidades virtuais de música como subsídio para a Mirian Albuquerque Aquino; Jobson Francisco da
construção da identidade afrodescendente Silva Júnior; Leyde Klébia Rodrigues da Silva;
Mirian de Albuquerque Aquino
conexão entre indivíduos e a estrutura social”. Dessa forma, a informação
musical é interpretada como um elo entre os indivíduos e a estrutura
social.
Com as tecnologias intelectuais cada vez mais presentes na nossa
vida, a comunicação das artes, com maior ênfase na música, vem se
reconfigurando e limitando o papel da indústria fonográfica e, por
consequência, aumentando o acesso a essas informações.
A transmissão de arquivos musicais na Internet muda as
relações entre produtores e usuários. Por um lado, os
produtores de música podem disseminar com facilidade a sua
obra, tornando-as virtualmente acessível a milhões de pessoas
sem grandes custos de disseminação. Por outro lado, os
usuários podem recuperar seus arquivos musicais sem
depender da mediação da indústria fonográfica. A possibilidade
de que a música circule sem um suporte físico faz com que
produtores e usuários dependam menos da intermediação da
indústria fonográfica. As máquinas e seus mecanismos de
busca ampliam as possibilidades de encontro entre o público,
obras e autores (LIMA; SANTINI, 2009, p. 54).
Ao abrirmos espaço para as discussões étnico-raciais, estamos
incluindo os sujeitos marginalizados ao acesso às informações, para tirá-
los do estigma de seres inferiores, porquanto são produtores de
conhecimento, mas ainda são vitimados por aqueles que contribuíram
para legitimar a história oficial e seus equívocos sobre os negros
2 Reflexões sobre a cibercultura
Para iniciarmos a discussão do que seria a cibercultura, acreditamos
que seja benéfico compreendermos o que seria a cultura, conceito que
nasce primeiro. Para embasar nossa discussão, recorremos à corrente
inglesa dos Estudos Culturais, que nasce na segunda metade do século XX
e tem como uma de suas principais características a sua “abertura e
versatilidade teórica, seu espírito reflexivo e, especialmente, a
importância da crítica” (JOHNSON, 1999, p. 10).
Uma das propostas centrais dos Estudos Culturais é a mudança do
conceito da própria cultura, no qual, em um primeiro momento, era
entendida como o mais belo produzido por alguém ou alguma sociedade e,
em uma visão moderna, é aceito o conceito de cultura como o produto de
diversas práticas sociais. Feitas essas considerações preliminares,
partimos para a discussão do conceito de cultura.
Essa discussão acerca da cultura é de grande valia para a
interpretação da realidade social, uma vez que contribui para repensarmos
as ideologias dominantes manifestadas em discursos preconceituosos,
discriminatórios e racistas. Dessa forma, concordamos com a visão de
Santos (2006), para quem a cultura é “tudo aquilo que caracteriza a
existência social de um povo ou nação, ou então, grupos no interior de
uma sociedade” (SANTOS, 2006, p. 24).
Perspectivas em Ciência da Informação, v.19, n.1, p.75-89, jan./mar. 2014 78
Comunidades virtuais de música como subsídio para a Mirian Albuquerque Aquino; Jobson Francisco da
construção da identidade afrodescendente Silva Júnior; Leyde Klébia Rodrigues da Silva;
Mirian de Albuquerque Aquino
Estamos fazendo parte de uma sociedade que liga a técnica ao
prazer estético, auditivo, sonoro, etc. A cultura contemporânea, em sua
relação com as tecnologias intelectuais (ciberespaço, simulação, tempo
real, processos de virtualização), cria um novo elo entre a técnica e a vida
social. Ela é reconhecida por Lemos (2002, p. 18) como “cibercultura” e,
para ele, é o resultado da convergência entre a socialidade
contemporânea e as tecnologias de base microeletrônica. Essas
tecnologias estão presentes em todas as atividades da vida humana e se
tornam [...] “vetores de experiências estéticas, tanto no sentido da arte,
do belo, como no sentido de comunhão, de emoções compartilhadas”
(LEMOS, 2002, p. 20).
Ainda segundo Lemos (2002), a cultura atual não objetiva mais a
dominação natureza e do social, mas busca, agora, uma forma de
expandir uma atitude social sobre a natureza já dominada, de forma a
transformar o existente em bits e bytes, em “espectros virtuais do
ciberespaço”. Nesse âmbito, a cultura passa por uma mudança
terminológica. Para diferenciar o meio físico do meio virtual, adotamos o
termo “cultura” para o meio físico e “cibercultura” para o digital e virtual.
Passamos a entender a cibercultura como “a forma contemporânea
da técnica que joga com os signos desta tecno-natureza construída pela
astúcia da tecnocracia” (LEMOS, 2002, p. 21). Dessa forma, as diversas
manifestações da cibercultura são vistas na "apropriação de imagens, de
obras através de colagens, de discursos não lineares, um verdadeiro
zappig e hacking, denominado por Guy Debord de “sociedade do
espetáculo” (LEMOS, 2002, p. 21).
Nesse novo universo que se apresenta - a cibercultura -,
constatamos a proliferação de gêneros, dentre eles, podemos destacar:
composições automáticas de partituras ou de textos, “músicas ‘tecno’
resultantes de um trabalho recursivo de amostragem e arranjo de músicas
já existentes [...] A música tecno colhe seu material na grande reserva de
amostras de sons” (LÉVY, 2000, p. 136). No caso da música popular, a
influência exercida pelas tecnologias digitais permitiu que se
caracterizasse como mundial, eclética e mutável, sem sistema unificador.
Encontra-se em permanente variação e integra as contribuições de
tradições locais originais e as expressões de novas correntes culturais e
sociais (LÉVY, 2000).
A criação de tais vínculos vive hoje uma revolução, pois os
contextos em que a música está inserida encontram-se em contínua
mutação, como consequência das inovações das tecnologias digitais.
Nesse sentido, os (ciber)sujeitos, vivem algo que começa a ser visto como
“cibercomunismo”, pelo qual todas as pessoas têm as mesmas condições
para criar e receber novos conteúdos e as hierarquias existentes no
mundo físico caem em desuso no ciberespaço. Como consequência, o
(ciber)sujeito deixa de ser apenas um receptor passivo e, cada vez mais,
passa a ter liberdade de escolha, para exercer seu senso crítico e,
principalmente, para criar novos conteúdos e disseminá-los.
Perspectivas em Ciência da Informação, v.19, n.1, p.75-89, jan./mar. 2014 79
Comunidades virtuais de música como subsídio para a Mirian Albuquerque Aquino; Jobson Francisco da
construção da identidade afrodescendente Silva Júnior; Leyde Klébia Rodrigues da Silva;
Mirian de Albuquerque Aquino
Dessa forma, o consumo da música na Web hoje é um processo de
experimentação. Para isso, o (ciber)sujeito conta com o apoio de várias
ferramentas, como, por exemplo, o Youtube1, o Myspace2 , o Last.fm3 e o
Soundcloud4, definidos como comunidades virtuais nas quais é possível
postar músicas, vídeos, fotos e interagir com outros (ciber)sujeitos, por
meio de fóruns e mensagens diretas. É válido ressaltar que a maior parte
desses dispositivos, com os quais os (ciber)sujeitos contam, são de acesso
livre, ou seja, não é preciso pagar para usar, pois, hoje, existem até
mesmo jogos que possibilitam a qualquer (ciber)sujeito, mesmo sem
conhecimento de teoria musical, compor uma música.
Ao poucos, estamos conquistando, cada vez mais, independência
nas relações de consumo da informação musical. Com o advento da
Internet, a mídia de massa que, até pouco tempo, era o mais importante
elo entre o artista, o público e o mercado, começa a perder um pouco de
espaço. Nesse novo momento da Sociedade da Informação, as práticas de
criação de conteúdo, seja ele musical ou não, vivenciam uma reinvenção,
pois, a cada dia, surge uma nova ferramenta que proporciona aos
(ciber)sujeitos inúmeras possiblidades e, dessa forma, observa-se que os
eles tendem a se agrupar em comunidades virtuais.
A música é conteúdo, é informação. No ciberespaço, ela deixa de ser
apenas o som, mas se torna, também, tendências comportamentais,
estéticas e sociais; é através dela que o (ciber)sujeito, enquanto
integrante de uma dada comunidade virtual, (re)construirá a forma de
perceber a si mesmo e o mundo que o cerca.
3 A necessidade de autoafirmar-se: construindo a
identidade afrodescendente
Iniciamos nossa reflexão sobre o processo de construção da
identidade afrodescendente, com um questionamento: o que é
identidade? Quem nos dá uma primeira resposta é Fragoso (2008), que
afirma que a identidade, seja ela individual ou coletiva, é sempre
relacionada com a forma como os indivíduos se relacionam com os valores
das sociedades e grupos do qual faz parte. Observamos que a discussão
sobre a identidade é uma problemática debatida desde a antiguidade,
mas, em virtude da complexidade desse fenômeno, sua formação é “uma
espécie de metadiscurso sobre experiências históricas de difícil apreensão
empírico-histórica” (DIEHL, 2002, p. 128).
Para Pinho (2004), a identidade é uma marca da
contemporaneidade, sendo um fenômeno que exerce uma função política
1
Site pelo qual os cibersujeitos podem assistir e/ou partilhar seus vídeos online. Disponível em:
<http://www.youtube.com/>. Acesso em: 20 nov. 2012.
2
Rede social online que integra serviço de fotos, blogs e perfil de usuários. Disponível em:
<http://br.myspace.com/>. Acesso em: 20 nov. 2012.
3
Rede social online voltada unicamente para música, que agrega rádio online e comunidades virtuais.
Disponível em: < http://www.lastfm.com.br/>. Acesso em: 20 nov. 2012.
4
Aplicativo para publicação de áudio. Disponível em: < http://soundcloud.com/>. Acesso em: 20 nov.
2012.
Perspectivas em Ciência da Informação, v.19, n.1, p.75-89, jan./mar. 2014 80
Comunidades virtuais de música como subsídio para a Mirian Albuquerque Aquino; Jobson Francisco da
construção da identidade afrodescendente Silva Júnior; Leyde Klébia Rodrigues da Silva;
Mirian de Albuquerque Aquino
no agrupamento e movimentação dos indivíduos pelo mundo. Acreditamos
que a construção da identidade se dá através de uma relação de troca, na
qual o indivíduo “partilha seus saberes e incorpora elementos de sua
comunidade” (LIMA, 2009, p. 38), logo, podemos afirmar que esse
processo tem raiz na memória social, ideia que é complementada por
Wanderley (2009), ao afirmar que a identidade é pertencimento.
Observa-se, na literatura sobre a temática, a existência de muitos
conceitos do termo identidade, mas, nos policiando para o uso
responsável do termo, recorremos ao ponto de vista que é tecido por
Munanga (1994):
A identidade é uma realidade sempre presente em todas as
sociedades humanas. Qualquer grupo humano, através do seu
sistema axiológico sempre selecionou alguns aspectos
pertinentes de sua cultura para definir-se em contraposição ao
alheio. A definição de si (autodefinição) e a definição dos
outros (identidade atribuída) têm funções conhecidas: a
defesa da unidade do grupo, a proteção do território contra
inimigos externos, as manipulações ideológicas por interesses
econômicos, políticos, psicológicos, etc. (MUNANGA, 1994,
177-178).
Constatamos que o fator biológico pode exercer influências na
construção da identidade, contudo, não é um determinante. Fragoso
assinala que “a identidade é definida historicamente, e não,
biologicamente, o que nos leva a concluir que o sujeito assume
identidades diferentes em diferentes momentos” (FRAGOSO, 2008, p. 38).
Por exemplo, um indivíduo de ascendência afrodescendente pode, em um
dado momento de sua vida, não se identificar como tal e essa não
identificação pode mudar posteriormente, de acordo com as suas
vivências e mudanças na sua concepção do mundo e de si mesmo. Assim,
o processo é permeado de subjetividade.
Nesse ponto da discussão, já podemos fazer algumas inferências. O
processo de construção identitária é dinâmico, as identidades estão em
constante estado de (re)construção e um mesmo indivíduo exerce
simultaneamente várias identidades, por exemplo, sexual, musical,
religiosa, política, entre tantas outras.
Observamos que o processo de se construir/consolidar uma
identidade é de extrema complexidade e, quando fazemos o recorte para
olharmos o caso específico da identidade afrodescendente, percebemos
que o processo é ainda mais difícil. Identificar-se como negro, no Brasil, é
se posicionar contra uma imagem negativa. Essa expressão, geralmente,
é empregada como sinônimo de pobre, criminoso, marginal, entre outros.
Esses rótulos reforçam a negação da real importância que os
africanos e os afrodescendentes tiveram/têm no desenvolvimento do
Brasil ou, no dizer de Freyre (2006, p. 202), “sua perspectiva inesperada,
a de ter sido o escravo negro colonizador do Brasil”. A literatura mostra
Perspectivas em Ciência da Informação, v.19, n.1, p.75-89, jan./mar. 2014 81
Comunidades virtuais de música como subsídio para a Mirian Albuquerque Aquino; Jobson Francisco da
construção da identidade afrodescendente Silva Júnior; Leyde Klébia Rodrigues da Silva;
Mirian de Albuquerque Aquino
que os afrodescendentes sempre foram uma das forças produtivas no
país, quiçá, a mais produtiva, mas, mesmo assim, sempre foi visto como
sub-humano.
Para Aquino (2010)5, “os gestos, as relações, a informação, o
conhecimento, a sabedoria e os valores culturais do homem africano
foram sistematizados no discurso eurocêntrico como nocivos à cultura
branca”. Assim, os afrodescendentes são completamente desvalorizados e
a cultura “branca” é considerada a mais importante, segundo os valores
eurocêntricos.
No Brasil, “os africanos foram dominados pela força da escravidão e
identificados como negros, crioulos ou pretos, sem qualquer respeito as
suas diferenças culturais” (CONCEIÇÃO; CONCEIÇÃO, 2010) e, dessa
forma, implica em uma luta contra uma ideologia dominante que perdura
desde o início da história brasileira. Como Pinho (2004) nos alerta, a
identidade afrodescendente deve ser compreendida em sua conexão com
processos sociais, econômicos e políticos, assim como os contextos de
lugar espaço e tempo em que está situada.
A construção da identidade afrodescendente representa uma
maneira encontrada pelos grupos dominados de manipularem as
representações de si, que são reproduzidas pelos discursos dominantes no
interior da sociedade em que vivem, seja para desafiarem e inverterem
seus significados ou mesmo para legitimar o que vem sendo reproduzido.
Outros fatores históricos podem ser identificados e que inibem a
consolidação da identidade afrodescendente, como, por exemplo, o mito
da democracia racial, que, durante muitos anos, passou uma imagem de
relações cordiais entre negros (as) e brancos (as) e impediu, por um lado,
o debate sobre as políticas de ação afirmativa no Brasil e, por outro, o
mito do sincretismo cultural ou da cultura mestiça, retardando o debate
sobre a implantação do multiculturalismo no sistema educacional
brasileiro (MUNANGA, 2003).
Podemos observar o emprego de termos como moreno-escuro,
pardo, café, escurinho, para se referir ao indivíduo negro; é como se fosse
ofensivo se referir ao outro como negro (CONCEIÇÃO; CONCEIÇÃO,
2010). No Brasil, assim como em outros países, é perceptível que a
marginalização de afrodescendentes também se manifesta por meio da
segregação espacial: “os lugares em que se encontra o maior número da
população negra são consequentemente os mais pobres” (CARVALHO,
2008, p. 5). Ainda, segundo Carvalho (2008), essas populações, em todos
os Estados brasileiros, aglomeram-se nos subúrbios e/ou favelas.
Os negros são numericamente minoria nas relativamente bem
desenvolvidas regiões do sul e sudeste do Brasil, onde vivem 57% dos
170 milhões de brasileiros, mas são maioria nas regiões menos
desenvolvidas. O censo de 2000 revela que, de forma geral, 73% dos
brancos, 54% dos pretos e apenas 37% dos pardos vivem nessas duas
regiões (TELLES, 2003, p. 164).
5
Documento eletrônico.
Perspectivas em Ciência da Informação, v.19, n.1, p.75-89, jan./mar. 2014 82
Comunidades virtuais de música como subsídio para a Mirian Albuquerque Aquino; Jobson Francisco da
construção da identidade afrodescendente Silva Júnior; Leyde Klébia Rodrigues da Silva;
Mirian de Albuquerque Aquino
Dessa forma, retomamos o pensamento de Wanderley (2009),
quando afirma que a identidade afrodescendente é formada através de
uma trajetória de luta, reparação pelos direitos negados, sendo assim,
também é uma identidade política.
4 Abordagem metodológica
Para compreender como a informação musical disseminada em
comunidades virtuais de música pode propiciar a construção de identidade
afrodescendente, faz-se necessário que sigamos um mapa metodológico,
a fim de validarmos os resultados da nossa pesquisa. Observamos várias
possibilidades de abordagens e métodos aplicáveis à área da Ciência da
Informação.
Optamos pela pesquisa de caráter qualitativo, vista por Denzin e
Lincoln (2006) como mais adequada a estudos até então pouco
explorados e, também, aqueles em que há a necessidade de compreensão
de uma cultura específica. Bauer, Gaskell e Allum (2008) postulam que
não há quantificação sem qualificação nem há análise estatística sem
interpretação. Articular a pesquisa qualitativa ao caráter exploratório
mostra-se mais adaptável às temáticas até então pouco estudadas, por
proporcionar a realização de estudos que visam à formulação de ideias e
teorias. Assim sendo, essa modalidade de pesquisa aponta caminhos,
levanta questionamentos, em vez de respondê-los.
Na primeira fase da pesquisa, a coleta de dados foi feita,
inicialmente, por meio da pesquisa bibliográfica, “considerada um
procedimento formal, com método de pensamento reflexivo que requer
um tratamento científico e constitui-se no caminho para se conhecer a
realidade ou para descobrir verdades parciais” (MARCONI; LAKATOS,
2007, p. 43). Aliada à pesquisa documental, reunimos documentos em
suportes tradicionais (livros, artigos, dissertações, etc.), digitais (arquivos
em MP3, sites de relacionamentos, entre outros) e gravações de som
(CDs, DVDs).
Concordamos com Santini e Lima (2010 p. 16), que referem que “a
cultura comunitária virtual acrescenta uma dimensão social ao
compartilhamento tecnológico, fazendo da Internet um meio de interação
social, coletiva e simbólica”. A partir dessa visão, optamos, também, por
abordar uma rede social de relacionamento virtual, na qual encontramos
alguns indicadores de formação de comunidades virtuais e,
consequentemente, de identidades coletivas. Assim sendo, com base na
usabilidade, o site escolhido para nossa coleta foi o Facebook. Nessa rede
social, pesquisamos comunidades virtuais de música (chamada no site de
grupos), nas quais pudéssemos detectar informações musicais que
pudessem ser usadas como subsídio para a construção e/ou consolidação
de identidade afrodescendente.
Ao escolhermos, também levamos em consideração o fato de ser o
Facebook a rede social mais utilizada no Brasil e capaz de fornecer um
panorama geral de informações. Essa escolha de comunidades virtuais
Perspectivas em Ciência da Informação, v.19, n.1, p.75-89, jan./mar. 2014 83
Comunidades virtuais de música como subsídio para a Mirian Albuquerque Aquino; Jobson Francisco da
construção da identidade afrodescendente Silva Júnior; Leyde Klébia Rodrigues da Silva;
Mirian de Albuquerque Aquino
serviu para ilustrar o processo de construção da identidade coletiva, já
que, atualmente, o site pode ser acessado por qualquer um que tenha um
computador conectado à Internet. Ao final dessa fase, concluímos a coleta
dos dados.
Entendemos a análise documental, alicerçando nosso conhecimento
acerca do próprio documento. O que pode ser um documento? Para
Fonseca (2005), o documento é tudo aquilo que represente ou expresse,
por meio de sinais gráficos (escrita, diagramas, mapas, algarismos,
símbolos), um objeto, uma ideia ou uma impressão. Respondida essa
questão, passemos agora para o modo como analisaremos um
documento. Scott (1990) propõe quatro critérios básicos para o
estabelecimento da análise documental, a saber: representatividade,
autenticidade, credibilidade e significado.
Estabelecer a autenticidade de um documento só é possível através
de evidências internas do próprio documento. Porém, é valido ressaltar
que, mesmo que o documento analisado não seja genuíno, ele poderá
fornecer informações de vital importância à pesquisa. É pertinente avaliar
a credibilidade dos documentos, a fim de não trabalharmos com dados
e/ou informações erradas, visto que isso pode comprometer os resultados
da pesquisa. A representatividade dos documentos diz respeito ao seu
conteúdo intelectual e se a temática abordada no documento é pertinente
à temática da pesquisa. O significado diz respeito à “clareza e à
compreensão de um documento para um analista” (MAY, 2004, p. 221).
A metodologia utilizada para analisar as comunidades virtuais
selecionadas foi feita com base em uma abordagem crítica-discursiva
fundamentada no referencial teórico, pelo qual o pesquisador tece seu
ponto de vista a partir das teorias discutidas ao longo do trabalho, posto
que exige a compreensão e a atribuição de sentidos e o discurso é o efeito
de sentidos entre os interlocutores (ORLANDI, 1987).
5 A informação musical como subsídio para a construção
de identidade afrodescendente
Antes de iniciarmos esta análise, é necessário fazermos um breve
histórico sobre o Facebook, rede social que hoje conta com mais de 1
bilhão de usuários e foi criada em 4 de fevereiro do ano de 2004, por
Mark Zuckerberg em parceria com Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz e
Chris Hughes. Quando nasceu, o site era limitado a usuários da
Universidade de Harvard e hoje atende a (ciber)sujeitos de todo o mundo.
O Facebook tem como missão “to give people the power to share
and make the world more open and connected”6 (FACEBOOK, 2012). Para
poder fazer uso do site, os (ciber)sujeitos devem primeiro se registrar
para, em seguida, criar um perfil. Nesse perfil, o (ciber)sujeito é
convidado a compartilhar uma série de informações pessoais, como
idiomas, religião e preferência política, mas não há o questionamento
sobre o pertencimento étnico-racial. Uma vez concluído o registro e criado
6
Dar às pessoas o poder de compartilhar e fazer o mundo mais aberto e conectado (tradução nossa).
Perspectivas em Ciência da Informação, v.19, n.1, p.75-89, jan./mar. 2014 84
Comunidades virtuais de música como subsídio para a Mirian Albuquerque Aquino; Jobson Francisco da
construção da identidade afrodescendente Silva Júnior; Leyde Klébia Rodrigues da Silva;
Mirian de Albuquerque Aquino
o perfil, o (ciber)sujeitos podem adicionar outros (ciber)sujeitos como
amigos, participar de grupos de interesses em comum, criar lista para a
classificação dos amigos e, também, podem criar páginas, entre outros
atividades.
Na exploração do Facebook, constatamos que os (ciber)sujeitos têm
liberdade para se expressar livremente e, dentro desse espaço, que já se
configura uma comunidade virtual, eles procuram por outros com
interesses em comum, com objetivo de trocar informações, por exemplo,
sobre determinados artista, bandas, shows, padrões estéticos, etc.
Realizamos uma busca por termos que representassem gêneros
musicais que tiveram origem com populações africanas e/ou
afrodescendentes. Dessa forma, foram utilizados os seguintes termos:
Blues, Jazz, R&B (Rhythm and blues), Soul, Funk, Reggae, Samba,
Pagode e Axé. Em todas as buscas, o resultado dos grupos encontrados é
superior a 100, dentre os quais identificamos comunidade voltada para o
download de músicas, para artista e/ou bandas específicas.
Nesse primeiro momento, foram identificados muitos grupos que
corroboram a nossa ideia, a exemplo do grupo Cultura Black Music Brasil.
Trata-se de um grupo fechado, que traz em sua descrição “cultura black
music brasil...músicas, cultura black, entre fotos do cantor, sem racismo
ou credo religioso...um grupo de respeito e conceitos black! Façam suas
postagens sem comentários e ofensas ao próximo...syl” (FACEBOOK,
2012).
A partir da descrição do grupo, inferimos que o mesmo cria um
espaço de sociabilidade, pelo qual os membros são convidados a expor
suas ideias, seus pontos de vista, sem temer qualquer discriminação. Essa
comunidade constitui um espaço de igualdade entre todos os membros.
Seguindo nossa análise, observamos que o grupo tem 2.083 membros.
Nas postagens feitas no grupo, observamos uma grande número de
vídeos referente à black music, principalmente vídeos de rappers, como a
própria capa do grupo (Figura 1), que traz uma imagem do rapper norte-
americano Nas (Nasir bin Olu Dara Jones). Inferimos que esta comunidade
desconstrói a imagem negativa a qual os negros são sujeitados.
Figura 1 – Grupo Black Music Brasil
Fonte: FACEBOOK (2012).
Perspectivas em Ciência da Informação, v.19, n.1, p.75-89, jan./mar. 2014 85
Comunidades virtuais de música como subsídio para a Mirian Albuquerque Aquino; Jobson Francisco da
construção da identidade afrodescendente Silva Júnior; Leyde Klébia Rodrigues da Silva;
Mirian de Albuquerque Aquino
Contudo, assim como encontramos resultados positivos, também
foram identificados resultados negativos. Em nossa busca, detectamos
grupos que fazem generalização negativa aos gêneros musicais de origens
africanas e/ou afrodescendentes. Uma vez detectado esse fenômeno,
realizamos uma busca do com o termo “odeio” e “funk”, quando
recuperamos um total de 25 grupos e mais de 100 páginas, cuja maior
delas (Figura 2) tem um total de 37.666 (ciber)sujeitos que a curtiram.
Figura 2 – Página eu odeio funk
Fonte: FACEBOOK (2012).
Entendemos que a grande questão aqui é que os críticos
desconhecem que a música negra, em específico o funk, pode ser
reconhecido como um espaço físico e/ou virtual, no qual os (ciber)sujeitos
afrodescendentes desenvolvem um estilo de vida, que é resultado de
produtos culturais, gostos, opções de entretenimento, dança e roupas,
que são os princípios estéticos que lhe são acessíveis (MOURA, 2010).
É um modo de “chantagear as estruturas de dominação, por isso,
elaboram valores, sentidos, identidade, afirmam localismos e ainda se
integram cada vez mais no mundo globalizado” (MOURA, 2010, p. 387). O
que eles querem é um lugar diferente das favelas e dos bairros pobres
onde habitam e se sentem fragilizados, e esse espaço é encontrado nas
comunidades virtuais. Dessa forma, entendemos que a disseminação da
informação musical pode ilustrar uma situação de exclusão,
marginalidade, diferenças, identidades fabricadas para aqueles que vivem
nos subúrbios ou em áreas isoladas do grande centro urbano, visando à
reversão de tal situação.
6 Considerações finais
O principal objetivo desse estudo foi compreender como as
comunidades virtuais de música podem subsidiar a construção da
identidade afrodescendente, almejando contribuir para o aumento da
visibilidade das populações afrodescendentes e abrir espaço para a
discussão das relações étnico-racial na Academia. Nesse sentido,
constatamos que a informação musical, disseminada nas comunidades
Perspectivas em Ciência da Informação, v.19, n.1, p.75-89, jan./mar. 2014 86
Comunidades virtuais de música como subsídio para a Mirian Albuquerque Aquino; Jobson Francisco da
construção da identidade afrodescendente Silva Júnior; Leyde Klébia Rodrigues da Silva;
Mirian de Albuquerque Aquino
virtuais, pode ter potencial para alicerçar a construção da identidade
afrodescendente, resgatar a autoestima desses (ciber)sujeitos e contribuir
na luta contra o racismo e a descriminação, disseminando uma ideal de
igualdade e responsabilidade social.
Podemos mostrar esse fenômeno através de algumas das
comunidades virtuais identificadas durante a pesquisa. Observamos,
também, que, nesse processo de construção identitária, são disseminadas
informações que facilitam esse processo, tanto em meio digital quanto em
meio real. Assim, o (ciber)sujeito pode migrar de um meio para outro e
fortalecer a sua identidade em ambos.
Vemos tais comunidades virtuais como uma forma do
afrodescendente aprender a “gostar de si, a se valorizar, a exigir respeito
por si e pelos seus direitos, a viver em harmonia e solidariedade com as
outras etnias [...]; estimular o povo negro a manter viva sua memória
histórica [...] e cultura [...]” (MOVIMENTO..., 2010).
Acreditamos que o presente artigo seja uma forma de incentivar
outras pesquisas a contribuir para populações vitimadas pela
discriminação, racismo e preconceito e, assim, que eles possam reclamar
os seus direitos, como cidadãos, e serem inclusos nas políticas de
informação.
Referências
AQUINO, M. de A. A Imagem Afrodescendente na Escola: silencia e
sentidos na versão que ficou. Disponível em:
<http://www.ldmi.ufpb.br/mirian/A%20IMAGEM%20DOS%20AFRODESCE
NDENTES%20NA%20ESCOLA%20%DALTIMA%20VERS%C3O.pdf>.
Acesso: 10 nov. 2010.
BAUER, M. W.; GASKELL, G.; ALLUM, N. C. Qualidade, Quantidade e
interesses do conhecimento: evitando confusões. In: BAUER, M. W.;
GASKELL, G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. Petrópolis:
Vozes, 2008. p. 17-36.
CARVALHO, M. D. de S. Reggae, Cultura e Identidades: movimentos e
diálogo – Jamaica-Maranhão-Goiás. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DO
CENTRO DE ESTUDOS DO CARIBE NO BRASIL, 5., Salvador, 2008.
Anais... Salvador, 2008.
CASTELLS, M. A galáxia da Internet: reflexões sobre a Internet, os
negócios e a sociedade. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.
CASTELLS, M. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
CONCEIÇÃO, H. da C.; CONCEIÇÃO, A. C. L. da. A Construção da
identidade afrodescendente. Revista África e Africanidades, v. 2, n. 8, fev.
2010. Disponível em:
<http://www.africaeafricanidades.com.br/documentos/Construcao_identid
ade_afrodescendente.pdf>. Acesso: 20 nov. 2012.
Perspectivas em Ciência da Informação, v.19, n.1, p.75-89, jan./mar. 2014 87
Comunidades virtuais de música como subsídio para a Mirian Albuquerque Aquino; Jobson Francisco da
construção da identidade afrodescendente Silva Júnior; Leyde Klébia Rodrigues da Silva;
Mirian de Albuquerque Aquino
DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. O planejamento da pesquisa qualitativa:
teorias e abordagens. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.
DIEHL, A. A. Cultura historiográfica: memória, identidade e
representação. Bauru: EDUSC, 2002.
FACEBOOK. Disponível em: <http://www.facebook.com/>. Acesso: 2 nov.
2012.
FONSECA, M. O. Arquivologia e ciência da informação. Rio de Janeiro:
FGV, 2005.
FRAGOSO, I. da S. Instituições-memória: modelos institucionais de
proteção ao patrimônio cultural e preservação da memória na cidade de
João Pessoa. 2008. 134 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da
Informação) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2008.
FREYRE, G. Casa-grande & senzala. 51. ed. São Paulo: Global, 2006.
JOHNSON, R. O que é, afinal, Estudos Culturais? In: SILVA, T. T. [Org.]. O
que é, afinal, estudos culturais. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. p. 7-131.
LEMOS, A. Cibercultura: tecnologia e vida social na cultura
contemporânea. Porto Alegre: Sulina, 2002.
LÉVY, P. Cibercultura. Rio de Janeiro: 34, 2000.
LIMA, C. de B. Identidades afrodescendentes: acesso e democratização da
informação na cibercultura. 2009. 115 f. Dissertação (Mestrado em
Ciência da Informação) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa,
2009.
LIMA, C. R. M. de; SANTINI, R. M. Música e cibercultura. Revista
FAMECOS, Porto Alegre, n. 40, p. 51-56, dez. 2009.
MARCONI; M. de A.; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico:
procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório,
publicações e trabalhos científicos. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
MAY, T. Pesquisa documental: escavações e evidências. In: MAY, T.
Pesquisa social: questões, métodos e processos. 3. ed. Porto Algere:
Artmed, 2004. cap. 8, p. 205-230.
MOURA, W. A. A. Sedução discursiva da música créu. Cadernos do CNLF,
v. 14, n. 2, t. 1. Disponível em:
<http://www.filologia.org.br/xiv_cnlf/tomo_1/380-398.pdf>. Acesso em:
29 nov. 2010.
MOVIMENTO NEGRO DA PARAÍBA. Disponível em:
<http://movimentonegropb.vilabol.uol.com.br/frame.htm>. Acesso: 20
nov. 2010.
MUNANGA, K. Identidade, cidadania e democracia: algumas reflexões
sobre os discursos anti-racistas no Brasil: In: SPINK, Mary Jane Paris
(Org.). A cidadania em construção: uma reflexão transdisciplinar. São
Paulo: Cortez, 1994. p. 177-187.
Perspectivas em Ciência da Informação, v.19, n.1, p.75-89, jan./mar. 2014 88
Comunidades virtuais de música como subsídio para a Mirian Albuquerque Aquino; Jobson Francisco da
construção da identidade afrodescendente Silva Júnior; Leyde Klébia Rodrigues da Silva;
Mirian de Albuquerque Aquino
MUNANGA, K. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo,
identidade e etnia. In: SEMINÁRIO NACIONAL RELAÇOES RACIAIS E
EDUCAÇÃO-PENESB. Rio de Janeiro, 2003. Anais... Rio de Janeiro, 2003.
Disponível em:
<http://www.acaoeducativa.org.br/downloads/09abordagem.pdf>. Acesso
em: 26 de Jan. de 2009.
ORLANDI, E. P. A linguagem e seu funcionamento: as formas do discurso.
Campinas: Pontes, 1987.
PINHO, P. de S. Reinvenções de África da Bahia. São Paulo: Anneblume,
2004.
SANTINI, R. M.; LIMA, C. R. M. de. Difusão de música na era da Internet.
Disponível em: <http://www.rp-
bahia.com.br/biblioteca/pdf/ClovisMontenegroDeLimaRoseSantini.pdf>.
Acesso em: 5 nov. 2010.
SANTOS, J. L. dos. O que é cultura? São Paulo: Brasiliense, 2006.
(Coleção Primeiros Passos).
SCOTT, J. A matter of record: documentary sources in social research.
Cambridge: Polity Press, 1990.
SILVA JÚNIOR, J. F. da. A Informação musical como possiblidade de
construção da identidade afrodescendente na cibercultura. 2010. 71 f.
Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Biblioteconomia) –
Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal da Paraíba,
João Pessoa, 2010.
TELLES, E. E. Racismo à brasileira: uma nova perspectiva sociológica. Rio
de Janeiro: Relume Dumará; Fundação FORD, 2003.
WANDERLEY, A. C. C. A Construção da identidade afrobrasileira nos
espaços das Irmandandes do Rosário do sertão paraibano. 2009. 258 f.
Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal da Paraíba, João
Pessoa, 2009.
Perspectivas em Ciência da Informação, v.19, n.1, p.75-89, jan./mar. 2014 89
Você também pode gostar
- MeuprimeiroappAndroid PDFDocumento52 páginasMeuprimeiroappAndroid PDFMarcel MachadoAinda não há avaliações
- Catálogo Infra-Estrutura Esgoto (TIGRE)Documento56 páginasCatálogo Infra-Estrutura Esgoto (TIGRE)Douglas TondelloAinda não há avaliações
- Questões BDQ - Cce0255 Mecânica Dos Solos Com GabaritoDocumento120 páginasQuestões BDQ - Cce0255 Mecânica Dos Solos Com GabaritoTassiane MoraesAinda não há avaliações
- InicianteDocumento23 páginasInicianteJulia Colt100% (2)
- GUIA DE APRENDIZAGEM Sociologia 1º Ano 2º BimestreDocumento3 páginasGUIA DE APRENDIZAGEM Sociologia 1º Ano 2º BimestreAnanda Cristina De Oliveira MirandaAinda não há avaliações
- Murray Stein Mapa Da AlmaDocumento105 páginasMurray Stein Mapa Da AlmaÁtila LutzAinda não há avaliações
- A Etnopesquisa Critica e Multir - Roberto Sidnei MacedoDocumento389 páginasA Etnopesquisa Critica e Multir - Roberto Sidnei MacedoSandro Ribeiro100% (3)
- Dinâmica Nos Movimentos Curvilíneos e Dinâmica DanielDocumento17 páginasDinâmica Nos Movimentos Curvilíneos e Dinâmica DanielvnevesAinda não há avaliações
- A cor da cultura e a cultura da cor: reflexões sobre as relações étnico-raciais no cotidiano escolarNo EverandA cor da cultura e a cultura da cor: reflexões sobre as relações étnico-raciais no cotidiano escolarAinda não há avaliações
- Curso de Reiki Nível I Shoden Humanos e PetsDocumento78 páginasCurso de Reiki Nível I Shoden Humanos e PetsMel SousaAinda não há avaliações
- Umbanda em Portugal - Clara Saraiva PDFDocumento22 páginasUmbanda em Portugal - Clara Saraiva PDFBárbara AltivoAinda não há avaliações
- Sandvik CS660 Feed HopperDocumento16 páginasSandvik CS660 Feed HopperJuvenal Correia0% (1)
- A INFORMAÇÃO NO FUNK - Construindo A Identidade AfrodescendenteDocumento13 páginasA INFORMAÇÃO NO FUNK - Construindo A Identidade AfrodescendenteLara MatosAinda não há avaliações
- TCC Cecília SilvaDocumento55 páginasTCC Cecília Silvapaco.garcesAinda não há avaliações
- Arquivo ArtigocolorismoDocumento24 páginasArquivo ArtigocolorismoGlauber GuimarãesAinda não há avaliações
- A Iconografia em Comunidades IndigenasDocumento21 páginasA Iconografia em Comunidades IndigenasFernanda PittaAinda não há avaliações
- Mediações Da Informação em Blogs de Funk Um Olhar A Partir Da Análise Crítica Do DiscursoDocumento16 páginasMediações Da Informação em Blogs de Funk Um Olhar A Partir Da Análise Crítica Do DiscursoJobson MinduimAinda não há avaliações
- 12290-Texto Do Artigo-41341-1-10-20220514Documento4 páginas12290-Texto Do Artigo-41341-1-10-20220514Reginaldo SoaresAinda não há avaliações
- Plano de Cidadania e InterculturalismoDocumento3 páginasPlano de Cidadania e InterculturalismoStanley BurburinhoAinda não há avaliações
- Candomblé Na Internet Uma Cultura de Arché Na VirtualidadeDocumento7 páginasCandomblé Na Internet Uma Cultura de Arché Na VirtualidadeGrupo TáEscritoAinda não há avaliações
- MATOS, S.S BRUCKHEIMER, L.C. O Net-Ativismo e A Formação de Laços Indígenas (2021)Documento13 páginasMATOS, S.S BRUCKHEIMER, L.C. O Net-Ativismo e A Formação de Laços Indígenas (2021)NadineAinda não há avaliações
- Comentários Texto - Operação Barbies MacumbeirasDocumento23 páginasComentários Texto - Operação Barbies MacumbeirasBárbara AltivoAinda não há avaliações
- Boa VenturaDocumento20 páginasBoa VenturaJohn Jefferson AlvesAinda não há avaliações
- Relatório Tecnologia EducacionalDocumento13 páginasRelatório Tecnologia Educacionaljulianasenna12345Ainda não há avaliações
- GELP 2 - ArtigoDocumento20 páginasGELP 2 - ArtigoSandra MaiaAinda não há avaliações
- Human I Dad Es Digit A Is NegrasDocumento116 páginasHuman I Dad Es Digit A Is Negrasithala.brandao8Ainda não há avaliações
- Informação Musical - Análise Semiótica Da Experiência de Não Especialistas em Música - Camila Monteiro de BarrosDocumento283 páginasInformação Musical - Análise Semiótica Da Experiência de Não Especialistas em Música - Camila Monteiro de BarrosLincoln Haas HeinAinda não há avaliações
- DODEBEI, Memória DigitalDocumento15 páginasDODEBEI, Memória DigitalThom ArgosAinda não há avaliações
- LÉSBICAS NO CINEMA NACIONAL - Influências Entre Identidade e LinguagemDocumento21 páginasLÉSBICAS NO CINEMA NACIONAL - Influências Entre Identidade e LinguagemNaiade BianchiAinda não há avaliações
- 51821-Texto Do Artigo-161607-1-10-20210427Documento25 páginas51821-Texto Do Artigo-161607-1-10-20210427Fabio MartinsAinda não há avaliações
- DownloadDocumento13 páginasDownloadRafael RyugaAinda não há avaliações
- (2021) - LESSA LINS - Pra Que Serve A Biblioteca PúblicaDocumento264 páginas(2021) - LESSA LINS - Pra Que Serve A Biblioteca PúblicaTiago Monteiro de SouzaAinda não há avaliações
- Negritude Potiguar II - Matriz AfricanaDocumento235 páginasNegritude Potiguar II - Matriz Africanacleyton lopesAinda não há avaliações
- (Tese) NARRATIVAS ENGAJADAS E O POTENCIAL TRANSMÍDIA - PRODUÇÃO DE CONTEÚDO NA CULTURA DIGITALDocumento193 páginas(Tese) NARRATIVAS ENGAJADAS E O POTENCIAL TRANSMÍDIA - PRODUÇÃO DE CONTEÚDO NA CULTURA DIGITALtacia.rocha.f3266Ainda não há avaliações
- FICHAMENTO - KOZINETS, Robert. NetnografiaDocumento3 páginasFICHAMENTO - KOZINETS, Robert. NetnografiaAline AmorimAinda não há avaliações
- 463-Texto Do Artigo-1737-1-10-20200317Documento9 páginas463-Texto Do Artigo-1737-1-10-20200317Arthur AlmeidaAinda não há avaliações
- A Biblioteca Pública Como Um Emporio de IdeiasDocumento13 páginasA Biblioteca Pública Como Um Emporio de IdeiasKleber LimaAinda não há avaliações
- O Conhecimento Da Educação Bíblica Aos Surdos Realizada Pela Comunidade Das TJs N Município de Jaguaruana-CEDocumento27 páginasO Conhecimento Da Educação Bíblica Aos Surdos Realizada Pela Comunidade Das TJs N Município de Jaguaruana-CEReginaldo SilvaAinda não há avaliações
- 2018 - Andrea Rocha Santos Filgueiras - O Papel Da História Oral Na Produção de Um Inventário ParticipativoDocumento11 páginas2018 - Andrea Rocha Santos Filgueiras - O Papel Da História Oral Na Produção de Um Inventário ParticipativoGabriel Barbosa Cavalcante CardozoAinda não há avaliações
- LÉSBICAS NO CINEMA NACIONAL - Influências Entre Identidade e LinguagemDocumento21 páginasLÉSBICAS NO CINEMA NACIONAL - Influências Entre Identidade e LinguagemNaiade BianchiAinda não há avaliações
- Artigo - Silva - Et Al - 2023 - Pessoas BibliografasDocumento13 páginasArtigo - Silva - Et Al - 2023 - Pessoas BibliografasFran GarcêsAinda não há avaliações
- Juventude Cultura NerdDocumento17 páginasJuventude Cultura NerdRosemere SantanaAinda não há avaliações
- Queer Made in Brazil - Visibilidade (Hiper) Midiática DaDocumento131 páginasQueer Made in Brazil - Visibilidade (Hiper) Midiática DaMirella AlmeidaAinda não há avaliações
- Ateísmo e Redes Sociais - Uma Nova Fronteira para o Debate HistoriográficoDocumento24 páginasAteísmo e Redes Sociais - Uma Nova Fronteira para o Debate HistoriográficobanksianismoAinda não há avaliações
- Mcrivellari, Gerente Da Revista, 16043-74858-1-PBDocumento20 páginasMcrivellari, Gerente Da Revista, 16043-74858-1-PBTatalina Cristina Silva de OliveiraAinda não há avaliações
- A Rádio Na Escola FemmicDocumento1 páginaA Rádio Na Escola FemmicLuizaAinda não há avaliações
- 2017 Anais Intercom - A Estereotipia Do Sagrado Na MediosferaDocumento15 páginas2017 Anais Intercom - A Estereotipia Do Sagrado Na MediosferajorgemiklosAinda não há avaliações
- Perfil Midia Social RevisadoDocumento16 páginasPerfil Midia Social RevisadoJackson SousaAinda não há avaliações
- Pre-Projeto de Monografia PedroOliveiradaSilva 2023Documento8 páginasPre-Projeto de Monografia PedroOliveiradaSilva 2023Pedro OliveiraAinda não há avaliações
- 5775 Ancestralidade Texto Do Artigo 11530 1-10-20200208Documento25 páginas5775 Ancestralidade Texto Do Artigo 11530 1-10-20200208Fabio Marques - Artista EducadorAinda não há avaliações
- Relações Étnico Raciais No BrasilDocumento5 páginasRelações Étnico Raciais No BrasilMarina TostesAinda não há avaliações
- I. Educação MusicalDocumento126 páginasI. Educação MusicalEliane MartinoffAinda não há avaliações
- Mediação IndigenaDocumento20 páginasMediação IndigenaJtech RodriguesAinda não há avaliações
- ANAIS Do XIII Seminário Do Núcleo de EnsinoDocumento189 páginasANAIS Do XIII Seminário Do Núcleo de EnsinoAna Paula BrolloAinda não há avaliações
- 3446-Texto Do Artigo-9705-1-10-20150306Documento8 páginas3446-Texto Do Artigo-9705-1-10-20150306Eu Meu MesmoAinda não há avaliações
- Coelho, Andre Luis Portes Ferreira - MDocumento105 páginasCoelho, Andre Luis Portes Ferreira - MMarco VasconcelosAinda não há avaliações
- Leitura No CiberespaçoDocumento75 páginasLeitura No CiberespaçoKitsune LuAinda não há avaliações
- Suprev,+t06 4649 13877 1 PBDocumento35 páginasSuprev,+t06 4649 13877 1 PBsamaelx9Ainda não há avaliações
- Cultura e Memória PDFDocumento3 páginasCultura e Memória PDFFernanda Cristina CMAinda não há avaliações
- Identidade Mocambicana DoisDocumento14 páginasIdentidade Mocambicana Doisluissambo juniorAinda não há avaliações
- Cultura Afro-Brasileira Como Trabalhar em Sala de AulaDocumento1 páginaCultura Afro-Brasileira Como Trabalhar em Sala de AulaJuliana BispoAinda não há avaliações
- 2717 14204 1 PBDocumento13 páginas2717 14204 1 PBConstanza Alejandra Gómez RubioAinda não há avaliações
- Ebook - Ciclo 3C - HumanasDocumento63 páginasEbook - Ciclo 3C - HumanasJANIELIAinda não há avaliações
- Patrimônio Cultural Imaterial Na Ciência Da InformaçãoDocumento25 páginasPatrimônio Cultural Imaterial Na Ciência Da InformaçãojubirubuuAinda não há avaliações
- Ateísmo Digital No BrasilDocumento94 páginasAteísmo Digital No BrasilbanksianismoAinda não há avaliações
- Pre-Projeto PedroOliveiradaSilvaDocumento8 páginasPre-Projeto PedroOliveiradaSilvaPedro OliveiraAinda não há avaliações
- 2021 - (Artigo) Pirataria de Audioviuais No BrasilDocumento49 páginas2021 - (Artigo) Pirataria de Audioviuais No BrasilLourenço Kawakami TristãoAinda não há avaliações
- Universidade Federa DO Eará Departamento de Ciências A Ormação Curso de Biblioteco oDocumento72 páginasUniversidade Federa DO Eará Departamento de Ciências A Ormação Curso de Biblioteco oAlice SiilveiraAinda não há avaliações
- Mari Any Toriyama Nakamura VCDocumento249 páginasMari Any Toriyama Nakamura VCjessica13figueiredoAinda não há avaliações
- Aula 11 Radiologia - Módulo Ii - Posicionamento Radiográfico I PDFDocumento19 páginasAula 11 Radiologia - Módulo Ii - Posicionamento Radiográfico I PDFCarlos Barbosa De Castro BarbosaAinda não há avaliações
- Liderança Cultura Comportamento Organizacional 2Documento26 páginasLiderança Cultura Comportamento Organizacional 2thais carolineAinda não há avaliações
- Variabilidade-Espaco-Temporal-Da-Vazao-Especifica-Media-No-Estado-De RONDÔNIA OkDocumento13 páginasVariabilidade-Espaco-Temporal-Da-Vazao-Especifica-Media-No-Estado-De RONDÔNIA OkFábio AMSaraivaAinda não há avaliações
- Análise Do Comportamento Mecânico de Argamassas Com Materiais PoliméricosDocumento36 páginasAnálise Do Comportamento Mecânico de Argamassas Com Materiais PoliméricosHenrique MendesAinda não há avaliações
- Pólis IdealDocumento18 páginasPólis IdealJoão Henrique Magalhães da SilvaAinda não há avaliações
- Aula 2 PósDocumento92 páginasAula 2 PósPaulo Augusto SantosAinda não há avaliações
- Ponte Do Saber - Ativ. 3 Geografia 2º Ano - Ensino Médio - EJADocumento2 páginasPonte Do Saber - Ativ. 3 Geografia 2º Ano - Ensino Médio - EJAkduuemsAinda não há avaliações
- RUGOSIDADEDocumento15 páginasRUGOSIDADEAdilson CunhaAinda não há avaliações
- Teste 1 - Texto Dramático e GramáticaDocumento7 páginasTeste 1 - Texto Dramático e GramáticaanamariasmAinda não há avaliações
- O Papel Do Coordenador Pedagógico Enquanto Agente Articulador Da Formação ContinuadaDocumento41 páginasO Papel Do Coordenador Pedagógico Enquanto Agente Articulador Da Formação Continuadainiciaçãoapesquisa emefmarialuizabellodasilvaAinda não há avaliações
- Atividade 10-6°ano-História - Professor Felpe SoaresDocumento2 páginasAtividade 10-6°ano-História - Professor Felpe SoaresFelipe SoaresAinda não há avaliações
- Questionário - Semanas 5 e 6 GESTAODocumento6 páginasQuestionário - Semanas 5 e 6 GESTAOFrancisca Giselle Alves da SilvaAinda não há avaliações
- Exercicios 1 VibDocumento2 páginasExercicios 1 VibRobson OliveiraAinda não há avaliações
- Cabos - Energyflex - AL - BR - 0 - 6 - 1kV - Rev03Documento4 páginasCabos - Energyflex - AL - BR - 0 - 6 - 1kV - Rev03GabrielAinda não há avaliações
- Iq-Ufba Departamento de Química Orgânica QUI-B37 - Química Orgânica Básica Experimental I-A 2016.2Documento2 páginasIq-Ufba Departamento de Química Orgânica QUI-B37 - Química Orgânica Básica Experimental I-A 2016.2Conta acessóriaAinda não há avaliações
- Planilha Soros Com GerenciamentoDocumento16 páginasPlanilha Soros Com GerenciamentoMilleneAinda não há avaliações
- Relatório MicrobiologiaDocumento29 páginasRelatório MicrobiologiaEmanuelly SulzbacherAinda não há avaliações
- Idade Dos MetaisDocumento3 páginasIdade Dos MetaisRosibell PereiraAinda não há avaliações
- DISSERTAÇÃO Estimativa Finura Cimento Processo MoagemDocumento78 páginasDISSERTAÇÃO Estimativa Finura Cimento Processo MoagemMarcelo GauAinda não há avaliações
- Atividade Nivelmaneto Charge e AnuncioDocumento13 páginasAtividade Nivelmaneto Charge e Anunciodaiane rezendeAinda não há avaliações
- I SecçãoDocumento18 páginasI SecçãoÂngela BenficaAinda não há avaliações