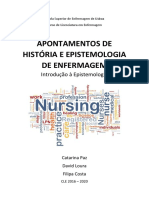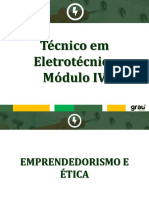Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Administracao de Suprimentos de Materiais Dos Servicos de Saude Hospitalar Um Caso Na Cidade de Paulo Afonso Ba
Administracao de Suprimentos de Materiais Dos Servicos de Saude Hospitalar Um Caso Na Cidade de Paulo Afonso Ba
Enviado por
Lilian AlvesTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Administracao de Suprimentos de Materiais Dos Servicos de Saude Hospitalar Um Caso Na Cidade de Paulo Afonso Ba
Administracao de Suprimentos de Materiais Dos Servicos de Saude Hospitalar Um Caso Na Cidade de Paulo Afonso Ba
Enviado por
Lilian AlvesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
FACULDADE SETE DE SETEMBRO FASETE CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAO COM HABILITAO EM MARKETING
Luciana Pereira de Souza
ADMINISTRAO DE SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DOS SERVIOS DE SADE HOSPITALAR: Um caso na cidade de Paulo Afonso-BA
Paulo Afonso BA Junho / 2009
Luciana Pereira de Souza
ADMINISTRAO DE SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DOS SERVIOS DE SADE HOSPITALAR: Um caso na cidade de Paulo Afonso-BA
Monografia apresentada ao curso de Graduao da Faculdade Sete de Setembro - FASETE, como requisito para obteno do ttulo de Bacharel em Administrao com Habilitao em Marketing, sob a orientao da professora Msc. Cynthia Marise dos Santos Mattosinho.
Paulo Afonso BA Junho / 2009
Dedico esta monografia ao meu av materno, Joo Pereira Sobrinho, j falecido, porm, jamais esquecido, pelo exemplo de homem ntegro e digno, onde me serviu de expirao para toda a elaborao desta.
AGRADECIMENTOS
Durante esses quatro anos de vida acadmica, muitas pessoas foram importantes e bastante especiais em minha vida, alm de vrios momentos que vivi que ficaro para sempre registrados em minha memria, esses bons e outros nem tanto. Agradeo primeiramente a Deus pela oportunidade dada em minha vida, pois sem Ele nada seria possvel. Ele me concedeu o privilgio de ter uma famlia maravilhosa, capaz de me apoiar nas mais difceis decises que a vida nos prope e me incentivar sempre para que meus sonhos se tornassem realidade. Painho, esse trabalho de concluso tambm dedicado a voc, sem falar dos agradecimentos que fao, pois com as bnos de Deus e com o trabalho concedido por Ele, voc me ajudou nessa formao, essa vitria NOSSA. Mainha, no tenho palavras para te agradecer, pois foram horas e horas escutando minhas reclamaes e pedidos de ajuda e opinies sobre diversos trabalhos, sem falar nas oraes que eu sei que voc sempre fez e faz todos os dias que eu saa de casa pra ir a Faculdade. Agradeo tambm ao meu irmo, Antnio Henrique, responsvel por uma das minhas maiores alegrias durante esses quatro anos de estudo juntamente com minha cunhada Luciana, a chegada do beb mais lindo do mundo, o meu querido e amado tesourinho Joo Victor, pessoinha que deixa a titia doida de amor e felicidade, capaz de modificar meus momentos de desnimo, e tambm agradeo por ele ter me socorrido altas horas da noite, quando um bendito pen drive no abria no meu computador e nele continha parte fundamental da minha monografia. Uma pessoa bastante importante e significativa em minha vida tambm merece ser citado, o meu noivo, Carlos Jatob. Ele sempre esteve presente em todos os dias do meu curso e sempre me apoiou nas horas que mais precisei, sem falar nas ajudas que me deu na elaborao de inmeros trabalhos. Ainda agradeo pela pacincia, que admito ter sido enorme, pois alm das minhas TPMs ainda agentou todo o meu estresse devido as minhas responsabilidades e compromissos com os trabalhos da faculdade. No decorrer dos anos tambm, vrios colegas me fizeram companhia durante todas as tardes, esses foram os meus colegas de classe, a eles agradeo os momentos que passamos juntos e desejo muito sucesso a todos, aos que iniciaram
o curso mais por motivos superiores no concluram e aos que ainda esto comigo concluindo essa batalha. Vale ressaltar e agradecer de corao a todos os meus professores e educadores, Marcelo, Esdriane, Gercinaldo, Marconi, Luz Jos, Ivanilza (j falecida), Juliana, Paulo, Lgia, Ednaldo, caro, Flvia, Wellington, Clverson, Valdlio, Francicleide, Luciano, Alessandro, Arthur, Renivaldo, Jardson, Renata, Jacques e Leobson, que passaram por minha vida nesse perodo, contribuindo com seus conhecimentos para agregar valor a minha formao profissional e pessoal e que jamais sero esquecidos. minha querida e ilustrssima professora e orientadora Msc. Cynthia Mattosinho agradeo em especial, pois desde os nossos primeiros encontros em sala de aula quando ainda ministrava a disciplina Teoria Geral da Administrao II, percebi o seu compromisso e profissionalismo, alm da determinao que sempre demonstrou ter, passando assim uma imagem positiva e de segurana no que desempenhava fazendo com que eu passasse a admira - l e me identificasse com ela. Agradeo tambm pela enorme pacincia, prontido e cordialidade com que sempre me atendeu, transmitindo orientaes valiosssimas para a elaborao e concretizao desta monografia. A todos que contriburam direta ou indiretamente para o cumprimento deste meu objetivo, muito obrigada!
A mo do sucesso profissional tem cinco dedos: carter, vocao, talento, esforo e disciplina. (Daher Elias Cutait)
RESUMO
O objetivo principal desta monografia estudar a gesto de suprimento de materiais dos servios de sade do Hospital Nair Alves de Souza, e descobrir quais os problemas existentes na gesto de suprimento de materiais do mesmo. Para a concretizao do estudo, foram utilizadas diversas fontes de pesquisa, dentre elas, pesquisas bibliogrficas, pesquisa exploratria e descritiva, bem como a pesquisa quantitativa e qualitativa, alm da utilizao da medio adaptada e estabelecida por Wilken e Bermudez e a escala tipo Likert de cinco pontos. As investigaes foram conduzidas, por meio de dois formulrios com 25 e 16 perguntas, em que todas foram elaboradas a fim de obter respostas para o problema de pesquisa e os objetivos propostos, estes foram respectivamente aplicados no hospital da cidade, e direcionados para a gerente administrativa e para os acompanhantes dos pacientes, com o equivalente a 1% do universo que freqentam o hospital, totalizando uma amostra de 100 entrevistados. Estes foram abordados no local durante o perodo de 01 de abril a 30 de abril de 2009. Assim este trabalho teve como principal contribuio demonstrar a percepo do acompanhante em relao gesto do suprimento de materiais do hospital. Constatou-se com as anlises que a ausncia de suprimento de materiais o fator predominante que impede a realizao eficiente do atendimento prestado sociedade. Palavras-chave: gesto de suprimento, materiais, hospital
ABSTRACT
The main objective of this monograph be to study the supplement management of materials of the services of health of the Nair Hospital Alves de Souza, and to discover which the existing problems in the supplement management of materials of the same. For the concretion of the study, diverse sources of research had been used, amongst them, bibliographical research, exploratory and descriptive research, as well as the quantitative and qualitative research, beyond the use of the measurement suitable and established by Wilken and Bermudez and the scale Likert type of five points. The inquiries had been lead, by means of two forms with 25 and 16 questions, where all had been elaborated in order to get answers for the considered problem of research and objectives, these respectively had been applied in the hospital of the city, and directed for the administrative manager and the companions of the patients, with the equivalent 1% of the universe that frequent the hospital, totalizing a sample of 100 interviewed. These had been boarded in the place during the period of 01 of April the 30 of April of 2009. Thus this work had as main contribution to demonstrate the perception of the companion in relation to the management of the supplement of materials of the hospital. It was evidenced with the analyses that the supplement absence of materials is the predominant factor that hinders the efficient accomplishment it attendance given to the society. Word-key: supplement management, materials, hospital
LISTA DE ABREVIATURA E SIGLAS
CHESF - Companhia Hidro Eltrica do So Francisco HNAS - Hospital Nair Alves de Souza IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica SUS - Sistema nico de Sade
LISTA DE QUADROS
Quadro 1 - Amplitude de uma amostra tirada de uma populao finita......... 57 Quadro 2 - Indicadores das atividades tpicas de suprimento....................... Quadro 3 Resultado da Pesquisa Utilizando Indicadores da 66
Administrao de Suprimento de Medicamentos e Correlatos no Setor de Seleo de Materiais..................................................................................... Quadro 4 Resultado da Pesquisa Utilizando Indicadores da 67
Administrao de Suprimento de Medicamentos e Correlatos no Setor de Gesto de estoques....................................................................................... 67 Quadro 5 Resultado da Pesquisa Utilizando Indicadores da
Administrao de Suprimento de Medicamentos e Correlatos no Setor de Compras ou Aquisies................................................................................. Quadro 6 Resultado da Pesquisa Utilizando Indicadores da 70
Administrao de Suprimento de Medicamentos e Correlatos no Setor de Armazenagem................................................................................................ 70
LISTA DE GRFICOS
Grfico 4.3 Localidade dos Pacientes........................................................
73
Grfico 4.4 Sexo dos Pacientes.................................................................. 74 Grfico 4.5 Faixa Etria dos Pacientes....................................................... 74 Grfico 4.6 Grau de Escolaridade............................................................... 75 Grfico 4.7 Renda Salarial (mdia) dos Pacientes..................................... 76
Grfico 4.8 Quantidade de vezes que o paciente j freqentou o Hospital 77 Grfico 4.9 Divises Hospitalar................................................................... 78 Grfico 4.10 Procura por algum outro hospital........................................... Grfico 4.11 Tempo de permanncia no Hospital...................................... Grfico 4.12 Necessidade de ser medicado no Hospital ou do uso de algum material............................................................................................... Grfico 4.13 Necessidade de ser medicado ou do uso de algum material e no houve o atendimento........................................................................... Grfico 4.14 Quem era o profissional durante o atendimento.................... Grfico 4.15 Quantidade de materiais e correlatos suficientes para o atendimento................................................................................................... Grfico 4.16 Nvel de satisfao quanto ao fornecimento de materiais e correlatos....................................................................................................... Grfico 4.17 Nvel de satisfao quanto ao atendimento dos colaboradores................................................................................................ Grfico 4.18 Nvel de agilidade quanto ao atendimento............................. 84 84 83 82 81 82 80 79 80
SUMRIO
CAPTULO 1 INTRODUO..................................................................... 1. Introduo........................................................................................... 1.1 Consideraes Iniciais.............................................................................
14 15 15
1.2 Definio do Problema............................................................................. 23 1.3 Objetivos.................................................................................................. 1.3.1 Objetivo Geral....................................................................................... 24 24
1.3.2 Objetivos Especficos............................................................................ 24 1.4 Justificativa.............................................................................................. 1.5 Estrutura do Trabalho.............................................................................. 25 26
CAPTULO 2 REFERENCIAL TERICO................................................... 28 2. Referencial Terico............................................................................. 2.1 Cadeia de Suprimento............................................................................. 29 29
2.1.1 Logstica................................................................................................ 32 2.1.1.1 Logstica Hospitalar........................................................................... 37
2.1.2 Administrao de Materiais................................................................... 40 2.1.2.1 Estoques............................................................................................ 41
2.2 Servios de Sade................................................................................... 43 2.3 Administrao de Materiais nos Servios de Sade................................ 46
CAPTULO 3 PROCEDIMENTOS METODOLGICOS............................ 3. Procedimentos Metodolgicos............................................................ 3.1 Mtodo Cientifico..................................................................................... 3.2 Delineamento da Pesquisa......................................................................
51 52 52 53
3.3 Seleo da Amostra................................................................................. 56 3.4 Instrumentos de Coleta de Dados........................................................... 3.5 Anlise dos Dados................................................................................... 59 62
CAPTULO 4 APRESENTAO E ANLISE DOS RESULTADOS......... 64 4. Apresentao e Anlise dos resultados.............................................. 4.1 Anlise da Empresa Pesquisada............................................................. 65 65
4.2 Anlise dos Resultados da Pesquisa de Campo em Relao s Atividades Tpicas de Suprimento do Hospital Nair Alves de Souza............. 65 4.2.1 Resultados............................................................................................ 4.3 Anlise dos Resultados da Pesquisa de Campo em Relao aos Acompanhantes dos Pacientes do Hospital Nair Alves de Souza................. 72 4.3.1 Resultados: Caracterizao dos Respondentes................................... 73 4.3.2 Resultados: Caracterizao do Atendimento e Servios...................... 77 4.4 Consideraes Finais das Anlises dos Resultados............................... 4.4.1 Resultados da Obteno dos Objetivos Especficos............................ 4.4.2 Sugestes de Melhorias....................................................................... 85 87 88 66
CAPTULO 5 CONCLUSO...................................................................... 5. Concluso........................................................................................... 5.1 Consideraes Finais..............................................................................
90 91 91
5.2 Limitaes do Estudo............................................................................... 92 5.3 Sugestes para Futuras Pesquisas......................................................... 92
REFERNCIAS.............................................................................................
93
APNDICE....................................................................................................
99
CAPTULO 1 INTRODUO
Introduo
15
1. Introduo
Neste captulo, sero apresentadas as consideraes iniciais deste estudo, bem como o problema de pesquisa seguido dos objetivos e a justificativa da escolha do tema.
1.1Consideraes Iniciais
Atualmente, as organizaes empresariais enfrentam cada vez mais desafios importantes, desde aspectos estratgicos at condies operacionais que mobilizam e afetam o ecossistema, produzindo conflitos na organizao, nos colaboradores e clientes, no mbito de mercado e seus concorrentes (BERTAGLIA, 2003). Vive-se a era de um mundo bastante globalizado, que exige para a sobrevivncia de qualquer negcio conquistar e, principalmente, manter clientes. Alves (2008), afirma que essa realidade provocou profundas mudanas nas gestes de negcios das empresas. As exigncias requeridas aliadas as novas necessidades dos clientes, somadas s dinmicas provocadas pela evoluo cientifica e tecnolgica, tem forado s empresas a assumirem novas posturas de competio. Nesse sentido, a qualidade e a busca pela melhoria contnua so fatores que deixaram de ser apenas uma diferena entre as companhias para se tornarem fator de sobrevivncia no mercado global. Esta nova abordagem obriga a uma mudana profunda nos processos de gesto operacionais recentemente praticados, conjugando sinergias, promovendo a eficincia e a eliminao dos desperdcios. Ainda de acordo com Alves (2008), as organizaes passam de uma condio mais reservada para um enfoque mais amplo e mais abrangente, exigindo novas formas de gerenciamento que sustentem estratgias de maneira contnua e rentvel e que permitam atender de modo mais criativo s necessidades dos clientes, uma vez que apenas a eficincia no capaz de traduzir os sentimentos dos mesmos em resultados satisfatrios para as empresas. Simes (2008) apresenta a diferena das gestes no campo da administrao pblica e privada, quando na primeira os requisitos de gesto esto associados eficincia e eficcia na aplicao dos recursos, com vistas transformao destes em servios para a sociedade, e na segunda, os indicadores que medem a boa
Introduo
16
gesto de uma empresa so notadamente financeiros, dados a necessidade de sobrevivncia no mercado de atuao, e remunerao dos investimentos dos acionistas. Para compreender os elementos-chave para uma adequada vantagem competitiva, as organizaes devem analisar as vrias atividades executadas na cadeia de suprimento1 e o modo como elas interagem na empresa. Ela se apresenta como um novo modelo competitivo e gerencial s empresas (PIRES, 2007). Pires (2007) advoga que cadeia de suprimento representa o conjunto de atividades desempenhadas por uma organizao desde as relaes com os fornecedores e ciclos de produo e de venda at a fase da distribuio final. O perfeito entendimento da cadeia de suprimento tem sido reconhecidamente um fator de vantagem competitiva para as organizaes que efetivamente entendem o seu papel estratgico. A administrao da cadeia de suprimento exige o entendimento dos impactos que sero causados nas organizaes, em seus processos e na sociedade. Entend-la no se limita, a saber, que a demanda afeta todo o processo e que, portanto estimativas e pedidos devem ser bem elaborados para satisfazer as necessidades de clientes e consumidores. Esse entendimento est relacionado aos requerimentos provenientes dos consumidores, clientes e fornecedores, s informaes sobre como movimentar, manusear e armazenar os produtos, como essas informaes so usadas e como fluem no processo (BERTAGLIA, 2003). A lgica da cadeia remete a uma seqncia linear de processos e/ou atividades executadas em uma ordem bem definida. Geralmente, o contato com o cliente final feito quase exclusivamente atravs do elo final da cadeia. Sendo assim, a logstica2 passa a ser um ponto bastante importante a ser analisado, pois considera os vrios elementos da cadeia de suprimento com o objetivo citado acima, tornar as organizaes mais eficientes e competitivas, com um carter de notoriedade no mercado, na medida em que se torna um elemento decisivo nas estratgias de competitividade (ALVES, 2008). Assim, nos servios de sade no diferente, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica - IBGE, houve um considervel aumento nos servios de
O termo cadeia de suprimento est relacionado expresso proveniente do ingls Supply Chain. A logstica a rea da gesto responsvel por prover recursos, equipamentos e informaes para a execuo de todas as atividades de uma empresa.
2
Introduo
17
sade no pas entre 2002 e 2005 (17,8%). O setor pblico obteve as maiores taxas anual de crescimento na regio Nordeste (7% ao ano) e Sudeste (5,8% ao ano), enquanto o setor privado cresceu mais no Centro-Oeste (15,2%) e no Sul (5% ao ano). Independentemente do segmento em que cada organizao deseja atuar, necessrio atentar para as exigncias e modificaes do mercado atual, visto que o acompanhamento destas ir determinar o sucesso ou fracasso de uma empresa. As pessoas esto cada vez mais preocupadas com a sade, tanto buscando a preveno de doenas, como procurando o tratamento para elas e isso tem sido evidenciado pela mudana de comportamento, pois as mesmas tm procurado com maior freqncia pelos servios de sade. Assim, possvel perceber hoje, um aumento significativo das organizaes de sade. Barbieri e Machline (2006) relatam que a logstica dos materiais assume importncia crescente nestas entidades. A superviso de materiais na rea de sade mais complexa do que a de outros segmentos da economia. No entanto, no contexto brasileiro, o servio de sade padece em analogia ao vocabulrio mdico, de uma "infeco generalizada", e, por isso mesmo, depende dos mais diversos esforos para promover sua recuperao. Boa parte dos municpios brasileiros sequer possui um nico hospital, motivo pelo qual no raro que pacientes se desloquem e at se instalem, por dias e meses a fio, submetendose a tratamento em municpios vizinhos ou mais distantes de suas origens, o que contribui para sufocar e estrangular, ainda mais, o sistema de atendimento. Isso denota falta de uma gesto adequada na distribuio de recursos humanos, de leitos e de medicamentos, de acordo com as carncias de cada municpio (SILVA, 2006). O sistema de sade surge com o intuito de atender as necessidades de todo e qualquer ser humano de diferentes partes do planeta, em relao a um estado de completo bem-estar fsico, mental e social, em vez da mera ausncia de doenas ou enfermidades, porm Silva (2006) ainda descreve que esse sistema no Brasil vem atravessando uma crise de largas propores. Os problemas mais comuns encontrados por essas instituies remetem-se a ausncia de uma boa administrao logstica, pois faz referncia a tornar o servio eficiente na rea da sade, aperfeioar o atendimento, minimizar o tempo de ligao entre o pedido, a produo e a demanda e controlar a aquisio de materiais de modo que o cliente receba seus servios no momento que precisar.
Introduo
18
Diante desse cenrio, preciso entender a abordagem logstica num processo como todo, desde a seleo at o consumo dos materiais. Para Pozo (2004), sua funo principalmente ser o elo em um processo que pode comear com um fornecedor e encerrar com um cliente em outra ponta da cadeia. Quando bem utilizada, proporciona a empresa vantagem competitiva e maior fatia do mercado. Alm de estar ligada agilidade com que ela ir manusear, armazenar, deslocar, adquirir, controlar seus produtos e reduzir seus custos. Pozo (2004) ainda menciona, que a logstica vital para o sucesso de uma organizao, pois uma nova viso empresarial que direciona o desempenho das empresas, tendo como meta a satisfao do cliente, de modo que ele receba seus bens ou servios no momento que desejar, com suas especificaes predefinidas, o local especificado e, principalmente, o preo desejado. Para melhor entender a logstica como um novo processo integrado de administrao dos recursos financeiros, materiais e de informao referente ao pleno atendimento do cliente, faz-se necessrio apresentar alguns conceitos sobre esse fato. Segundo Pozo (2004, p.14):
A logstica nas empresas estuda como a administrao pode prover melhor nvel de rentabilidade no processo de pleno atendimento do mercado e a satisfao completa ao cliente, com retorno garantido ao empreendedor, atravs de planejamento, organizao e controles efetivos para as atividades de armazenagem, programas de produo e entregas de produtos e servios com fluxos facilitadores do sistema organizacional e mercadolgico. A logstica uma atividade vital para a organizao, trata de todas as atividades de movimentao e armazenagem que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisio da matria-prima at o ponto de consumo final, assim como fluxos de informaes que colocam os produtos em movimento, com o propsito de providenciar nveis de servio adequados aos clientes a um custo razovel.
De acordo Bowersox3, (citado por ALVES, 2008, p. 14) a logstica nica, pois ocorre a todo instante no mundo. Poucas reas de operaes envolvem a complexidade, a abrangncia e o escopo geogrfico caracterstico da logstica.
BOWERSOX, Donald J. & CLOSS, David J. Logstica empresarial: o processo de integrao da cadeia de suprimento. Traduo Equipe do Centro de Estudos em Logstica, Adalberto Ferreira das Neves; coordenao da reviso tcnica Paulo Fernando Fleury, Cesar Lavalle. So Paulo: Atlas, 2001.
Introduo
19
Tornar disponveis produtos e servios no local e instante em que so necessrios o seu objetivo desde seus primrdios. Para Barbieri e Machline (2006, p.3), as atividades voltadas para administrar o fluxo de materiais e de informaes relacionadas com esse fluxo ao longo da cadeia de suprimentos constituem o que genericamente se denomina logstica. A logstica dos materiais assume importncia crescente nas entidades de sade. A necessidade de proporcionar um perfeito nvel de atendimento aos pacientes, sem ocorrncia de qualquer falta de insumos, requerem extrema proficincia por parte do gestor de materiais (BARBIERI E MACHLINE, 2006). Muitos so os termos empregados nesta monografia e para melhor entendimento da relao existente entre eles necessrio mencionar Pires (2007), quando este faz uma analogia com base na tradicional lgica da teoria dos conjuntos4, e afirma que, a gesto de estoques est contida na administrao de materiais, esta por sua vez, pertence logstica, que por sua vez, um subconjunto5 da cadeia de suprimento, onde um funciona como elo do outro. Assim, faz-se necessrio tambm esclarecer a utilizao da nomenclatura cadeia de suprimento, escolhida pela autora, quando for necessrio referir-se ao termo, pois as terminologias do mesmo divergem de autor para autor. De tal modo, torna-se
adequado a compreenso da amplitude que cerca os conceitos vistos nesta monografia. Tradicionalmente, o que se denomina administrao de materiais consiste nas atividades relacionadas com um dos segmentos desse fluxo, o segmento que abastece ou supre a organizao com os materiais, constituindo, desse modo, a ligao entre a empresa e os seus fornecedores de materiais. O objetivo fundamental da administrao de materiais determinar quando e quanto adquirir, para repor o estoque. A formao de estoque ponto crucial, induz imediatamente indagao por que sempre h falta de materiais?, queixas estas que enfrentam dilemas e frustraes de procurar, ao mesmo tempo, manter o nvel operacional da empresa, suprir os consumidores por meio de adequado atendimento e manter os investimentos em estoques em nveis ideais. Os problemas relacionados com gerenciamento de estoques esto principalmente ligados ao e
4 5
Teoria dos conjuntos a teoria matemtica que trata das propriedades dos conjuntos. Em teoria dos conjuntos, um conjunto A diz-se um subconjunto de um conjunto B se todos os elementos de A estiverem em B.
Introduo
20
no a chegar a uma resposta. O que deve ser feito para controlar o equilbrio e estabelecer aes apropriadas? A fim de obter resposta para essa questo,
necessria a formulao de outras indagaes: Por que devemos ter estoques? O que afeta o equilbrio dos estoques que mantemos? Atingir o equilbrio ideal entre estoque e consumo a meta primordial e, para tanto, a gesto se inter-relaciona com as outras atividades afins (VIANA, 2002). Ainda de acordo com o autor citado acima, a administrao de materiais coordena esse conglomerado de atividades, o que implica, necessariamente, o estabelecimento de normas, critrios e rotinas operacionais, de forma que todo o sistema possa ser mantido harmonicamente em funcionamento. Pozo (2004) diz que, notrio que todas as organizaes de servio devem preocupar-se com o controle de estoques, visto que desempenham e afetam de maneira bem definida o resultado da empresa. Ele ainda assegura a importncia da correta administrao de materiais, que pode ser mais facilmente percebida quando os bens necessrios no esto disponveis no momento exato e correto para atender s necessidades de mercado. No caso dos hospitais, Barbieri e Machline (2006) afirmam que, os materiais desempenham um papel importante, de modo que a sua administrao se tornou uma necessidade, independentemente do seu porte ou tipo. A administrao de materiais na rea de sade mais complexa do que a de outros segmentos da economia. A gesto eficiente de materiais exige por parte dos responsveis inmeros e constantes esforos. Segundo Lima e Rodrigues (2009) em um hospital, os gastos com materiais representam aproximadamente de 15% a 25% das despesas correntes. Assim, o termo controle de estoques em colocao da necessidade de estipular os diversos nveis de materiais e produtos que a organizao deve manter, dentro de parmetros econmicos. Em organizaes industriais, comerciais e de servios, importante distinguir o abastecimento da distribuio fsica, pois os usurios dos materiais so diferentes e possuem objetivos diferentes em relao a eles. Essa distino desnecessria nas organizaes hospitalares, pois praticamente s h cliente interno (os solicitantes ou usurios dos materiais). Para Barbieri e Machline (2006), as atividades tpicas de abastecimento so, entre outras, as seguintes: seleo de materiais, compras, recebimento de materiais, gesto de estoques, armazenagem,
Introduo
21
distribuio e atendimento aos usurios internos. Num hospital, as principais atividades so as mesmas, com as especificidades que as questes hospitalares requerem. Essas atividades podem ser agrupadas formando famlias de atividades com objetivos comuns e inter-relacionadas. So elas: seleo de materiais; gesto de estoques; compras ou aquisies e armazenagem. Os autores citados acima advogam que uma gesto eficiente dos recursos materiais pode dar uma contribuio importante para melhorar os servios hospitalares, na mesma medida em que reduz os custos desses recursos ao mesmo tempo em que promove uma melhoria dos servios prestados, ou seja, atender os clientes com qualidade e menor custo envolvido com os materiais. A maneira pela qual os materiais so administrados condiciona a capacidade das organizaes de atender aos seus objetivos. Quanto maior for capacidade de uma organizao em gerir os materiais de forma adequada, maior ser a sua capacidade de oferecer a sua clientela bens e servios de qualidade com baixos custos operacionais. Para o atendimento das atividades hospitalares, necessrio evitar o excesso e a falta de materiais, duas situaes prejudiciais ao bom desempenho da organizao. A falta de materiais pode provocar a paralisao dos servios, com todos os problemas decorrentes. O excesso de materiais no menos nocivo para as organizaes. De fato, materiais estocados em demasia consomem recursos que poderiam ser mais bem aplicados em outras atividades da organizao. A administrao de materiais deve, portanto, contribuir para ampliar as condies da organizao de atender as necessidades dos seus clientes em termos de prazos, custos, flexibilidade e qualidade, obtendo o mximo benefcio dos recursos aplicados em materiais. Alm disso, enfatiza a importncia dos resultados globais e no apenas otimizaes parciais dos diversos segmentos envolvidos nos fluxos de materiais. Vale dizer que ao cliente do hospital ou aos seus familiares importa o atendimento integral desde a sua entrada no hospital at antes mesmo quando da busca de informaes. Esse freqente contato com as pessoas e bens materiais do hospital cria inmeros momentos em que a falta do material apropriado na quantidade certa compromete os servios prestados pelos diferentes
profissionais envolvidos. Uma administrao de materiais conduzida de modo apropriado pode contribuir de modo decisivo para que os clientes do hospital no s recebam um bom servio, mas tambm tenham uma impresso muito favorvel da
Introduo
22
qualidade dos servios que ele presta, afirmam os autores Barbieri e Machline (2006). importante ressaltar que, as organizaes so constitudas de pessoas. A cooperao entre elas essencial para a existncia da organizao e o bom desempenho da mesma. O gerenciamento de produo freqentemente apresentado como um assunto cujo foco principal est em tecnologia, sistemas, procedimentos e instalaes, em outras palavras, nas partes no humanas da organizao, porm, isso no verdade. Ao contrrio, a forma como os recursos humanos so gerenciados tem impacto profundo sobre a eficcia de suas funes operacionais (SLACK; CHAMBERS E JOHNSTON, 2002). Segundo Durkheim6, (citado por TAMAYO, 1998, p. 01) pode se afirmar que a realidade organizacional constituda pelo pensamento coletivo, isto , pelo pensamento compartilhado pelos membros da organizao. Tamayo (1998) menciona que, o pensamento coletivo em uma organizao expressa a forma concreta como so representados a sua misso, as suas normas e os seus objetivos. O setor de sade, como segmento prestador de servios, cujas aes se refletem profundamente na sociedade, deve adotar um mtodo gerencial capaz de possibilitar melhor desempenho com maior produtividade e qualidade dos servios, pois os fatores envolvidos no processo produtivo so os seres humanos, indivduos de maior importncia, capazes de aumentar ou diminuir a produtividade, de melhorar ou piorar a qualidade de um servio e, ainda, de gerar maior ou menor lucro para as organizaes (LOPES E FILHO, 2003). Por outro lado, as organizaes constituem para as pessoas um meio pelo qual podem alcanar muitos e variados objetivos pessoais, os quais no poderiam ser alcanados apenas atravs do esforo individual (CHIAVENATO, 2003). cada vez mais perceptvel, no mbito das organizaes, a preocupao com o desenvolvimento de novas prticas administrativas capazes de resgatar os fatores de motivao e satisfao no trabalho, objetivando a melhoria da qualidade dos produtos e servios para que sejam competitivos em um mercado cada vez mais seletivo. A compreenso dos aspectos envolvidos com a motivao e a satisfao
DURKHEIM, M. La division sociale Du travail. Paris, Press. Universitaires de France, 1967.
Introduo
23
dos trabalhadores que atuam na prestao de servios de sade assume papel extremamente relevante, assim evidencia reconhecer a necessidade do capital humano dentro das organizaes (LOPES E FILHO, 2003). Nesse sentido, destacam-se os colaboradores das organizaes, pois deles dependem a realizao de um servio gil, de qualidade e que atenda s demandas populacionais, a partir de eficientes maneiras de gerenciamentos.
1.2 Definio do Problema
O cenrio atual, pontuado por mudanas na organizao produtiva tem colocado desafios s empresas que, como resposta, so compelidas a alterar processos, rotinas e filosofias. Para viabilizar tal intento, elas tm sido levadas a buscar a reconfigurao de suas capacidades de leitura e traduo da dinmica do mercado. Tais capacidades so, por sua vez, fundamentalmente dependentes das condies presentes no ambiente interno das organizaes, as quais estimularo ou inibiro, com maior ou menor intensidade, o empenho das pessoas em fazer uso de suas competncias individuais para animar novas conexes e, com isso, gerar inovaes e transformar dificuldades em oportunidades (SILVA E FLEURY, 2005). Empresas inseridas em uma mesma cadeia de suprimento desenvolvem e partilham competncias organizacionais para viabilizar suas opes estratgicas. Entender as necessidades do cliente o fator principal para o sucesso da organizao e das solues que ela apresenta em forma de servio ou produto. Para Bertaglia (2003), a cadeia de suprimento deve ser vista pelas organizaes como um processo integrado que permite obter vantagem competitiva no abastecimento de servios ou produtos para clientes e consumidores, independentemente do lugar onde eles estejam. Assim, as organizaes de ateno sade desempenham atividades complexas, assentadas sobre uma cadeia de suprimento que incorpora seqncias de aes definidas para a gerao de seus produtos. No s os produtos oferecidos em organizaes de sade so complexos e pressupem elevada qualificao profissional, mas os insumos utilizados em sua produo (INFANTE E SANTOS, 2007). Monteiro e outros (2003) afirmam que a disponibilidade de insumos em hospitais (materiais e medicamentos) um fator de grande importncia, pois a
Introduo
24
interrupo no fluxo pode refletir no s em perdas econmicas, mas tambm de vidas humanas. Sendo assim, materiais e logstica so, juntamente com recursos humanos, fatores crticos para o desenvolvimento de atividades de ateno sade e para a excelncia operacional da organizao hospitalar, afirmam Infante e Santos (2007). Irregularidade do abastecimento e a falta de materiais so problemas freqentes em servios de sade e que so expressos atravs de impactos negativos sobre o desempenho da organizao. Tambm so notrios por parte das mesmas, os desperdcios e a m utilizao de insumos e equipamentos, a escassa qualificao dos profissionais da rea de abastecimento e a pouca ateno ao planejamento, ainda de acordo com os autores citados acima. Diante do contexto abordado, surge a seguinte problemtica: Quais so os problemas existentes na gesto de suprimento de materiais dos servios de um hospital? A proposta desta monografia responder de forma clara e objetiva a este questionamento, atravs de um estudo de caso realizado em um hospital da cidade de Paulo Afonso-BA.
1.3 Objetivos
Para obter as repostas necessrias em relao ao problema de pesquisa, foram estabelecidos os objetivos, estes geral e especficos, que correspondem respectivamente definio mais ampla do que se deseja estudar e uma definio mais especifica do objeto em estudo, com o intuito de obter os resultados desejados.
1.3.1 Objetivo Geral
Realizar um estudo junto a um hospital da cidade de Paulo Afonso BA, a fim de analisar a gesto de suprimento de materiais do mesmo.
1.3.2 Objetivos Especficos Identificar quais so os gargalos envolvidos na administrao de materiais dos servios de sade hospitalares;
Introduo
25
Identificar as causas dos problemas na administrao de materiais dos servios de sade hospitalares; Analisar a atuao dos colaboradores na gesto de suprimento de materiais dos servios de sade hospitalares; Identificar a percepo dos acompanhantes dos pacientes em relao gesto de suprimento de materiais do hospital em estudo; Propor sugestes de melhoria, se necessrio, focadas na rea de administrao de materiais.
1.4 Justificativa
A rea temtica da monografia em estudo foi escolhida a partir da afinidade que a autora possui com os assuntos envolvidos sobre o tema, aliados a um fato verdico vivenciado pela mesma, por motivos de uma m administrao de suprimentos dos recursos materiais hospitalares, alm de se tratar de um assunto com grande importncia e desenvolvimento dentro do contexto da administrao. A escolha da empresa como objeto de estudo (estudo de caso), ser um hospital, deu-se em virtude de ser considerado um ponto de referncia na necessidade de possuir uma eficincia nos seus insumos. A disponibilidade de insumos em hospitais um fator de grande relevncia, pois a interrupo no fluxo destes pode acarretar em perdas de vidas humanas. As atividades voltadas para o fluxo de materiais nas organizaes de sade, mais do que nunca, precisam ser planejadas, controladas e organizadas de maneira para atender o cliente certo, com o material certo e nas quantidades e momentos certos e nas melhores condies para a organizao. A qualidade dos servios se relaciona de modo muito intenso com a qualidade dos materiais, pois para que um servio seja bem-feito necessrio que o material certo esteja disponvel no momento em que for necessrio (BARBIERI E MACHLINE, 2006). As atividades de ateno sade so atividades complexas e pressupem elevada qualificao profissional. Vecina e Reinhardt7, (citado por INFANTE E SANTOS, 2007, p. 946) estimam que:
7
VECINA, N. G. & REINHARDT, F. W. Gesto de recursos materiais e de medicamentos. Srie Sade e Cidadania, vol. 12. So Paulo: Faculdade de Sade Pblica da Universidade de So Paulo, 2002.
Introduo
26
O sistema de materiais de um hospital comporte entre 3.000 a 6.000 itens adquiridos, na dependncia do perfil das atividades desenvolvidas pela organizao, correspondendo s estimativas de 15% a 25% dos custos hospitalares nacionais.
Assim, de suma importncia reconhecer a necessidade do capital humano no gerenciamento das organizaes, processos produtivos e sistemas de apoio, pois uma das maiores dificuldades encontradas reside no distanciamento dos recursos humanos e outros sistemas atuantes nas unidades. Este estudo ter grande relevncia tanto para a comunidade (pacientes) quanto para os profissionais envolvidos da empresa, transformando-se num referencial de estudo sobre o tema abordado, podendo inclusive, servir como base para a implantao de novas tcnicas e gestes administrativas, bem como para o desenvolvimento de estratgias que venham fortalecer o trabalho desenvolvido no hospital da cidade.
1.5 Estrutura do Trabalho
A presente monografia inicia-se com um resumo de todo o trabalho, onde as propostas e as concluses do estudo so apresentadas de forma concisa. Em seguida, consta o captulo inicial, onde segue a introduo do tema, estruturando-se da seguinte maneira: consideraes iniciais; definio do problema de pesquisa, o qual nortear a pesquisa; os objetivos, geral e especficos a serem atingidos no decorrer do trabalho; a justificativa da escolha do tema a ser trabalhado, e por fim, a presente estrutura do trabalho. O segundo captulo constitudo pela reviso da literatura, que ir servir para a fundamentao terica. Neste captulo os assuntos mais relevantes sobre o tema proposto, sero estudados detalhadamente, levando o leitor a obter um conhecimento geral sobre o tema, bem como todos os assuntos relacionados a ele. O captulo 3 aborda todos os procedimentos metodolgicos que descreve os passos feitos pela autora para a efetivao da pesquisa e para o alcance dos resultados. O captulo 4 composto pelas anlises dos dados obtidos, por meio da coleta de dados, para assim chegar aos resultados da pesquisa.
Introduo
27
Por fim, o captulo 5, este apresenta a concluso do trabalho, refere-se s consideraes finais obtidas ao trmino do trabalho e pela pesquisa apresentada, as limitaes do estudo e sugestes para futuras pesquisas, tendo como complemento as referncias. Descrito a estrutura desta monografia, a seguir ser feita a reviso da literatura que servir como subsdio terico para o desenvolvimento desta pesquisa.
CAPTULO 2 REFERENCIAL TERICO
Referencial Terico
29
2. Referencial Terico
O presente captulo prope um estudo mais detalhado do tema proposto. Este tem como finalidade fornecer o embasamento terico necessrio a contribuir para uma anlise mais aprofundada sobre o assunto. No entanto no caberia no escopo deste recuperar a vasta e rica literatura a respeito do assunto abordado, mas trazer alguns pontos importantes para a construo do referencial conceitual que dar sustentao ao trabalho.
2.1 Cadeia de Suprimento
O conceito da cadeia de suprimento comeou a se desenvolver apenas no incio dos anos 90. Mesmo no mbito internacional, o conceito ainda pode ser considerado em construo, so poucas as empresas que j conseguiram implement-lo com sucesso. Existem inclusive alguns profissionais que consideram a cadeia de suprimento como apenas um novo nome, uma simples extenso do conceito de logstica, ou seja, uma ampliao da atividade logstica para alm das fronteiras organizacionais, na direo de cliente e fornecedores na cadeia de abastecimentos (FLEURY, 1999). O propsito do estudo consiste em mostrar que o conceito de gerenciamento de cadeia de suprimento, enquanto relativamente novo, em verdade no nada mais que uma extenso da logstica (CORONADO, 2007). Assim, a partir de meados da dcada de 1990 muito se tem falado e tem sido escrito sobre cadeia de suprimento. Seu surgimento tem sido muitas vezes confundido, como citado acima com a logstica, porm ela abrange um escopo maior de processos e funes, podendo ser considerada a logstica como um subconjunto da cadeia de suprimento (PIRES, 2007). Francischini e Gurgel (2004) descrevem logstica como uma ferramenta estratgica utilizada para aumentar a satisfao do cliente e elevar a competitividade da empresa, bem como a sua rentabilidade. Este conceito tambm faz referncia s consideraes de Pozo (2004). Deste modo, a expresso logstica, pode ser definida como o processo de planejamento, implementao e controle do fluxo eficiente e eficaz de matriasprimas, estoques de produtos semi-acabados, acabados e do fluxo de informaes a eles relativo, desde a origem at o consumo, com o propsito de atender aos
Referencial Terico
30
requisitos dos clientes. J a cadeia de suprimento refere-se integrao dos processos que formam um determinado negcio, desde os fornecedores originais at o usurio final, proporcionando produtos, servios e informaes que agregam valor para o cliente (FRANCISCHINI E GURGEL, 2004). Slack; Chambers e Johnston (2002, p.415) mencionam cadeia de suprimento como:
A gesto da interconexo das empresas que se relacionam por meio de ligaes montante e jusante entre os diferentes processos, que produzem valor na forma de produtos e servios para o consumidor final. A cadeia de valor centra-se em dois objetivos chaves, satisfazer efetivamente os consumidores e fazer isso de forma eficiente.
Christopher8, (citado por CORONADO, 2007, p. 84) define a cadeia de suprimento representa uma rede de organizaes, atravs de ligaes nos dois sentidos, dos diferentes processos e atividades que produzem valor na forma de produtos e servios que so colocados nas mos do consumidor final [...]. Atualmente, grandes e pequenas organizaes sejam governamentais ou privadas, com ou sem fins lucrativos, vem-se em um mercado competitivo onde seus resultados podem determinar o nvel de servio levado aos seus clientes e/ou usurios. Nesse contexto de qualidade de servio prestado, a cadeia de suprimento torna-se um diferencial competitivo (POZO, 2004). Na mesma passagem Pozo (2004) segue discorrendo sobre o histrico da cadeia de suprimentos, e reafirma a sua importncia como diferencial competitivo conforme se verifica na citao a seguir:
Com a evoluo gradativa da cadeia de suprimento, desde o sculo XX ao XXI, notam-se grandes diferenas em seu processo evolutivo, diante disto, as empresas tendem a se portar no mercado com desenvolvimento em evolues, vindo a construir o seu diferencial em relao s demais, minimizando assim o seu tempo de entrega e atendendo com melhor qualidade os desejos e as necessidades dos seus clientes.
CHRISTOPHER, Martin. Logstica e gerenciamento da cadeia de suprimentos: estratgias para reduo de custos e melhoria dos servios. So Paulo: Pioneira, 1997.
Referencial Terico
31
Porter9, (citado por PIRES, 2007, p. 54) advoga que para se compreender os elementos-chave para uma vantagem competitiva devem-se analisar as vrias atividades executadas na cadeia de suprimento de uma empresa e o modo como elas interagem. Essas atividades podem ser classificadas em atividades primrias e atividades de apoio. As atividades primrias so aquelas envolvidas na criao fsica do produto, na movimentao fsica, na venda, no servio de ps-venda etc. E as atividades de apoio so as que do suporte s primrias e tambm a elas prprias. O perfeito entendimento da cadeia de suprimento tem sido reconhecidamente um fator de vantagem competitiva para as organizaes que efetivamente entendem o seu papel estratgico. A administrao da cadeia de suprimento exige o entendimento dos impactos que sero causados nas organizaes, em seus processos e na sociedade. Entend-las no se limita, a saber, que a demanda afeta todo o processo e que, portanto, estimativas e pedidos devem ser bem elaborados para satisfazer as necessidades de clientes e consumidores. A cadeia de suprimento est vinculada a variveis internas e externas que afetam a organizao e aos diferentes modelos de negcio estabelecidos para os segmentos industriais ou para as empresas de servios (BERTAGLIA, 2003). Todavia, nem sempre a cadeia de suprimento foi assim, com foco no mercado, Pozo (2004, p.14) faz a delimitao no tempo citando que: No o era 50 anos atrs e, tambm, foi pouco utilizada at os anos 70. Bertaglia (2003, p.4) afirma que:
A cadeia de suprimento corresponde ao conjunto de processos requeridos para obter materiais, agregar-lhes valor de acordo com a concepo dos clientes e consumidores e disponibilizar os produtos para o lugar (onde) e para a data (quando) que os clientes e consumidores os desejarem.
O conceito de cadeia de suprimento refora o vnculo entre processos e desempenho, o que inclui os processos internos de uma empresa e tambm os de seus clientes e fornecedores externos. Uma necessidade registrada por um cliente interno ou externo d incio a uma cadeia de suprimento (KRAJEWSKI, 2009).
PORTER, M. Competitive Advantage: creating and sustaining superior performance. New York: Free Press, 1985. 557p.
Referencial Terico
32
O gerenciamento da cadeia de suprimento responsvel pelo planejamento e controle dos bens e servios de uma organizao, suas informaes permitem uma sincronia com a cadeia produtiva. Portanto recomenda-se que ao trabalhar com a cadeia de suprimento se tenha bastante ateno, pois uma falha pode ocasionar uma insatisfao para quem esteja adquirindo o produto ou servio oferecido pela organizao. Os objetivos da implantao de uma cadeia de suprimento podero assim ser resumidos, de acordo com Francischini e Gurgel (2004, p.262):
Parcerias - Compartilhar todas as iniciativas com os parceiros da cadeia. Riscos - Compartilhar os riscos de fazer negcios. Resultados - Compartilhar os resultados da racionalizao das atividades. Informaes - Compartilhar as informaes mediante meios adequados. Diferena - Evitar que algum elo da cadeia acumule perdas.
A cadeia de suprimento uma ferramenta que se bem utilizada proporcionar para as organizaes frutos bem proveitosos. Sendo o conceito da cadeia de suprimento muito amplo necessrio definir alguns processos que podem ser considerados crticos para que o abastecimento de uma cadeia seja eficaz. Esses processos podem ser desenvolvidos internamente pela empresa ou por processos logsticos que assumem parte deles ou sua totalidade (FRANCISCHINI E GURGEL, 2004).
2.1.1 Logstica
A logstica um campo fascinante. No o era 50 anos atrs. At os anos 50, os mercados, bastante restritos, e locais, estavam em estado de tranqilidade, e o nvel de servio, a plena satisfao ao cliente no existiam. Filosofia dominante para guiar as organizaes e traduzi-las em fator de vantagem competitiva, tambm no existia. As empresas fragmentavam a administrao de atividades-chaves do pleno nvel de servio. Isso resultava em enorme conflito de objetivos e de responsabilidades para as atividades logsticas, acarretando um fraco atendimento
Referencial Terico
33
ao cliente, sendo assim, fator negativo ao processo de entrega de valor ao cliente e de ganho de vantagem competitiva (POZO, 2004). Costa (2002) relata que desde a antigidade o homem em sua sabedoria intrnseca j exercia prticas logsticas, ele estocava produtos para sua sobrevivncia, e essa atividade j era considerada estratgica. No entanto, Pozo (2004) afirma em suas teorias que a logstica teve origem nas organizaes militares. As guerras eram longas e geralmente distantes, havendo a necessidade de grandes e constantes deslocamentos de recursos, tais como, as tropas, armamentos e carros de guerra pesados aos locais de combate, evidenciando a necessidade de planejamento, organizao e execuo para essas tarefas. Segundo Christopher10, (citado por CORONADO, 2007, p. 68):
o mundo presenciou um exemplo dramtico da importncia da logstica. Como precedente para a Guerra do Golfo, os Estados Unidos e seus aliados tiveram que deslocar grandes quantidades de materiais a grandes distncias, o que se pensava ser em um tempo impossivelmente curto. Meio milho de pessoas e mais de meio milho de unidades de materiais e suprimentos tiveram que ser transportados atravs de 12.000 quilmetros por via area, mais 2,3 milhes de toneladas de equipamentos transportados por mar tudo feito em questo de meses.
Ao longo da historia do homem, as guerras tm sido ganhas e perdidas pelo poder e pela capacidade da logstica, ou pela falta deles. Logstica, denominao dada pelos gregos arte de calcular, pela filosofia conjunto de sistemas de algoritmos aplicados lgica e pelos franceses parte da guerra que trata do planejamento da realizao de projeto e desenvolvimento, serviu de parmetro para os militares norte-americanos utilizarem como forma de designar a arte de transporte e distribuio e fornecimento das tropas em operaes. Seu desenvolvimento deveu-se ao intuito de abastecer, transportar e alojar tropas, propiciando que os recursos certos estivessem no local certo e na hora certa. Dessa forma, esta doutrina operacional permitia que as campanhas militares fossem realizadas e contribua, como diferencial de vantagem, para a vitria das tropas em combates. As foras armadas da Amrica foram os primeiros a utilizar esse conceito de logstica, na Segunda Guerra Mundial (POZO, 2004).
10
CHRISTOPHER, Martin. Op. cit.
Referencial Terico
34
Ballou (1993) apresenta a evoluo da logstica dividida em trs perodos. O primeiro trata do perodo antes do surgimento da Segunda Guerra Mundial; o segundo inicia-se aps a Segunda Guerra Mundial e se estende at 1970; j o terceiro tem incio em 1970 e se estende at os dias de hoje. Quando a logstica surgiu o seu enfoque era totalmente operacional (armazenagem e transportes). O conceito foi evoluindo e a logstica passou a ser tratada como distribuio fsica. Comeava-se a entender que armazenagem e transportes estavam relacionados e que a operao logstica envolvia as duas coisas (CERVI, 2002). Ainda de acordo com Cervi (2002), no Brasil, a incorporao da logstica no vocabulrio empresarial ainda um fenmeno recente. No entanto, tm-se observado um avano muito grande no uso da logstica nos ltimos anos. Anteriormente era restrita apenas s empresas que operavam no comrcio exterior, hoje, no mercado globalizado, onde a tecnologia da informao est disseminada em todo o planeta e a comunicao on-line permite a ligao simultnea em toda a cadeia do comrcio internacional, no se concebe mais nas empresas a ausncia da logstica em suas operaes. Pozo (2004, p.13), define que:
A logstica trata de todas as atividades de movimentao e armazenagem que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisio da matria-prima at o ponto de consumo final, assim como dos fluxos de informao que colocam os produtos em movimento, com o propsito de providenciar nveis de servio adequados aos clientes a um custo razovel.
A logstica estuda como prover melhor nvel de rentabilidade nos servios de distribuio aos clientes e consumidores, atravs de planejamento, organizao e controle efetivos para as atividades de movimentao e armazenagem que visam facilitar o fluxo de produtos. Ela um assunto fundamental, visa diminuir o hiato entre a produo e a demanda, de modo que os consumidores tenham bens e servios quando e onde quiserem, e na condio fsica que desejarem (BALLOU, 1993). A logstica torna possvel a disponibilizao de produtos e servios no local e instante em que so necessrios. Dentre os principais ganhos que as empresas
Referencial Terico
35
podem ter so: entregas mais rpida de acordo com a demanda; reduo dos custos operacionais; aumento da produtividade; aumento no giro de mercadorias e reduo de estoques; e reduo de perdas. A atividade logstica deve ser vista por meio de duas grandes aes que so denominadas de primrias e de apoio. A denominao de atividade primria identifica aquelas que so de importncia fundamental para a obteno dos objetivos logsticos de custo e nvel de servio que o mercado deseja, so essenciais para a coordenao e para o cumprimento da tarefa logstica. So as seguintes: Transportes; Manuteno de estoques; e Processamento de pedidos. Essas trs atividades so fundamentais para cumprir a misso da organizao, (BALLOU, 1993):
Transportes: o transporte a atividade logstica mais importante simplesmente porque ela absorve, em mdia, de um a dois teros dos custos logsticos. essencial, pois nenhuma firma moderna pode operar sem providenciar a movimentao de suas matrias-primas ou de seus produtos acabados de alguma forma. Manuteno de estoques: a atividade para atingir-se um grau razovel de disponibilidade do produto em face de sua demanda, e necessrio manter estoques, que agem como amortecedores entre a oferta e a demanda. O uso de estoques, como regulador de demanda, resulta no fato de que, em mdia, ele passa a ser responsvel por aproximadamente um a dois teros dos custos logsticos. Processamento de pedidos: uma atividade logstica primria. Sua importncia deriva do fato de ser um elemento critico em termos do tempo necessrio para levar bens e servios aos clientes, em relao, principalmente, perfeita administrao dos recursos logsticos disponveis. tambm a atividade primria que d partida ao processo de movimentao de materiais e produtos bem como a entrega desses servios.
Para Ballou (1993), as atividades consideradas de apoio so aquelas, adicionais, que do suporte ao desempenho das atividades primrias. Essas atividades de apoio so: Armazenagem; Manuseio de materiais; Embalagem; Suprimentos; Planejamento; e Sistema de informao:
Armazenagem: refere-se administrao do espao necessrio para manter estoques. Manuseio de materiais: esta associada com a armazenagem e tambm apia a manuteno de estoques. uma atividade que diz respeito movimentao do produto no local de estocagem.
Referencial Terico
36
Embalagem: um dos objetivos da logstica movimentar bens sem danific-los alm do economicamente razovel. Bom projeto de embalagem do produto auxilia a garantir movimentao sem quebras. Alm disso, dimenses adequadas de empacotamento encorajam manuseio e armazenagem eficientes. Suprimentos: a atividade que proporciona ao produto ficar disponvel, no momento exato, para ser utilizado pelo sistema logstico. o procedimento de avaliao e da seleo das fontes de fornecimento, da definio das quantidades a serem adquiridas, da programao das compras e da forma pela qual o produto comprado. uma rea importantssima de apoio logstico. Planejamento: refere-se primariamente s quantidades agregadas que devem ser produzidas bem como quando, onde e por quem devem ser fabricadas. a base que servir de informao programao detalhada da produo dentro da fbrica. o evento que permitir o cumprimento dos prazos exigidos pelo mercado. Sistema de informao: a funo que permitir o sucesso da ao logstica dentro de uma organizao para que ela possa operar eficientemente. So as informaes necessrias de custo, procedimentos e desempenho essenciais para correto planejamento e controle logstico. Portanto, uma base de dados bem estruturados, com informaes importantes sobre os clientes, sobre os volumes de vendas, sobre os padres de entregas e sobre os nveis dos estoques e das disponibilidades fsicas e financeiras que serviro como base de apoio a uma administrao eficiente e eficaz das atividades primrias e de apoio do sistema logstico.
A Logstica o processo de gerenciar estrategicamente a aquisio, a movimentao e a armazenagem de materiais, peas e produtos acabados e, tambm, seus fluxos de informaes atravs da organizao e seus canais, de modo a poder maximizar as lucratividades presente e futura mediante atendimento dos pedidos a baixo custo e a plena satisfao do cliente (POZO, 2004). Segundo Bertaglia (2003), o objetivo clssico da logstica possibilitar que os produtos certos, na quantidade certa, estejam nos pontos de venda no momento certo, considerando o menor custo possvel. O foco da organizao a gesto correta da cadeia de abastecimento, que pode trazer a vantagem competitiva. O processo de globalizao da economia e a criao de grandes blocos econmicos, nas ltimas dcadas, contriburam para o aperfeioamento das tcnicas de logsticas no mundo, tornando efetivas as utilizaes de tempo e de lugar como forma racional de criar valor agregado s transaes de mercado. Tem sido pelas inovaes nas prticas logsticas que as empresas de qualquer categoria esto obtendo e mantendo suas vantagens diferenciais competitivas no mercado. Isto se efetiva pelos efeitos positivos que as atividades de logsticas provocam nos
Referencial Terico
37
ndices de preos, custos financeiros, produtividade, custo de energia e, em particular, na satisfao dos clientes (PEREIRA, 2002). Sendo assim, e tomando como base os assuntos referentes ao tema desta monografia, faz necessrio adentrar em tpicos mais especficos destinados aos suprimentos de materiais dos servios do setor de sade, assim a logstica hospitalar faz referncia ao ponto e tem significativa importncia para o estudo.
2.1.1.1 Logstica Hospitalar
Por mais diferentes que sejam as organizaes, todas utilizam materiais em suas atividades, em maior ou menor grau. No caso dos hospitais, os materiais desempenham um papel importante, de modo que a sua administrao se tornou uma necessidade, independentemente do seu porte ou tipo. As atividades voltadas para administrar o fluxo de materiais e de informaes relacionadas com esse fluxo ao longo da cadeia de suprimento constituem o que genericamente se denomina logstica. Uma cadeia de suprimento um conjunto de unidades produtivas unidas por um fluxo de materiais e informaes com o objetivo de satisfazer s necessidades de usurios ou clientes especficos. A logstica atua em todo o fluxo, desde os fornecedores de materiais at a entrega de produtos aos clientes externos organizao, incluindo a prestao de servios ps-venda e ps-entrega, como a assistncia tcnica e a prestao de servios de garantia (BARBIERI E MACHLINE, 2006). Barbieri e Machline (2006) afirmam que a logstica dos materiais assume importncia crescente nas entidades de sade. O elevado custo da manuteno dos estoques, de um lado e, do outro, a necessidade de proporcionar um perfeito nvel de atendimento aos pacientes, sem ocorrncia de qualquer falta de insumos, requerem extrema proficincia por parte do gestor de materiais. Ribeiro (2005, p.01) afirma que:
um dos maiores desafios para o administrador hospitalar est em atender adequadamente s necessidades da instituio [...]. A atividade do prestador de servio em sade muito diferente na sua responsabilidade de uma atividade industrial ou comercial [...]. Podese em uma fbrica deixar de produzir algum item por falta de componente e recuperar-se o atraso da produo no dia seguinte [...] No o que ocorre com a atividade hospitalar. O nosso cliente est
Referencial Terico
38
necessitando do medicamento naquele horrio, ou para aquela cirurgia imediata, ou ainda vem para atendimento emergencial que no sabemos quanto ou o que poder ser.
Barbieri e Machline (2006) ainda reforam o pensamento de Ribeiro (2005) quando descrevem que em organizaes industriais, comerciais e de servios, importante distinguir o suprimento da distribuio fsica, pois os usurios dos materiais so diferentes e possuem objetivos diferentes em relao a eles. indispensvel para o sucesso da logstica hospitalar especialmente para os hospitais de mdio e grande porte, a existncia de um eficiente sistema organizacional em toda a cadeia de abastecimento hospitalar que composta por planejamento de materiais, almoxarifado, recebimento, compras, farmcia e suprimentos do centro cirrgico. Por sua vez, as prticas logsticas para que os objetivos da atividade mdico-hospitalar sejam alcanados devem estar apoiadas em estratgias que colaborem para que as metas dessas empresas de sade sejam alcanadas (PEREIRA, 2002). A qualidade dos servios de uma organizao se relaciona de modo muito intenso com a qualidade da administrao de materiais, pois para que um servio seja bem feito necessrio que o material certo esteja disponvel no momento em que for necessrio. O que todas as organizaes de servio oferecem aos seus clientes um conjunto de bens tangveis e intangveis em diferentes propores, formando um pacote que a moderna administrao denomina pacote produtoservio. Nos hospitais, esse pacote formado pelos servios mdicos e correlatos e pelos bens materiais, ou seja, pelos bens patrimoniais (instalaes, equipamentos e outros presentes no local e no prdio onde os servios so prestados) e os bens materiais que do suporte aos servios. A importncia dos materiais que compem um pacote produto-servio no se mede apenas pelo seu valor econmico, embora no caso dos hospitais esse valor seja significativo (BARBIERI E MACHLINE, 2006). Na realizao dos servios, de modo geral, h uma fase em que os prestadores do servio e os usurios do servio esto em estreito contato. Se o material necessrio para apoiar as atividades dos prestadores do servio no estiver presente ou no for suficiente ou adequado a essas atividades, o servio como um todo ficar comprometido.
Referencial Terico
39
Barbieri e Machline (2006, p.06) esclarecem que num hospital, as principais atividades tpicas de suprimento podem ser agrupadas formando famlias de atividades com objetivos comuns e inter-relacionadas. So elas: seleo de materiais; gesto de estoques; compras ou aquisies e armazenagem.
Seleo de materiais, envolvendo atividades de especificao de materiais, padronizao e definio de critrios para adotar novos materiais e substituir os que esto sendo usados. O objetivo dessas atividades responder seguinte pergunta: quais materiais devem ser utilizados pela organizao? Gesto de estoques, tendo entre as principais atividades a realizao de previses da demanda e a montagem e operao de sistemas de reposio de estoques. Aps ter definido os materiais que a organizao pretende utilizar, as atividades dessa famlia procuram responder s seguintes perguntas: quanto e quando comprar? Compras ou aquisies, nessa famlia, encontram-se as atividades voltadas para selecionar, avaliar e desenvolver fornecedores, negociar com eles, acompanhar as compras etc. Procuram responder s seguintes questes: como e de quem comprar? Armazenagem, cujas atividades bsicas so recebimento, guarda preservao, segurana e distribuio aos usurios internos. Essas atividades respondem s questes: onde localizar os materiais estocados, como estoc-los e como entreg-los aos solicitantes?
Os materiais encontram-se em todos os momentos das atividades hospitalares, desempenhando, portanto, funes essenciais independentemente dos seus valores monetrios. Desse modo, a importncia dos materiais nas atividades hospitalares e de sade no se mede apenas pelo seu valor econmico, mas pela sua essencialidade prestao dos servios a que do suporte. Uma gesto eficiente dos recursos materiais pode dar uma contribuio importante para melhorar os servios hospitalares, na mesma medida em que reduz os custos desses recursos ao mesmo tempo em que promove uma melhoria dos servios prestados, ou seja, atender os clientes com qualidade e menor custo envolvido com os materiais (BARBIERI E MACHLINE, 2006). A presente monografia estuda a administrao de suprimentos de materiais, estes aplicados aos servios de sade, como j citados. Vale ressaltar que a veemncia da mesma aborda o estudo dos materiais com maior intensificao.
Referencial Terico
40
2.1.2 Administrao de Materiais
Logstica uma operao integrada para cuidar de suprimentos e distribuio de produtos de forma racionalizada, o que significa planejar, coordenar e executar todo o processo, visando reduo de custos e ao aumento da competitividade da empresa. A logstica surge como ferramenta fundamental a ser utilizada para produzir vantagens competitivas e a administrao de materiais para atender ao moderno enfoque logstico. O sucesso do gerenciamento de materiais nas empresas depende da aplicabilidade dos conceitos logsticos. (VIANA, 2002). Para Viana (2002), o objetivo fundamental da administrao de materiais determinar quando e quanto adquirir, para repor o estoque, o que determina que a estratgia do abastecimento sempre seja acionada pelo usurio, medida que, como consumidor, ele detona o processo. Francischini e Gurgel (2004, p. 05) definem administrao de materiais como:
Atividade que planeja, executa e controla, nas condies mais eficientes e econmicas, o fluxo de material, partindo das especificaes dos artigos a comprar at a entrega do produto terminado ao cliente.
A motivao da administrao de materiais satisfazer s necessidades de sistemas de operao. A importncia da boa administrao de materiais pode ser mais bem apreciada quando os bens necessrios no esto disponveis no instante correto para atender s necessidades de produo ou operao. Boa administrao de materiais significa coordenar a movimentao de suprimentos com as exigncias de operao, ou seja, o objetivo da administrao de materiais deve ser prover o material certo, no local de operao certo, no instante correto e em condio utilizvel ao custo mnimo (BALLOU, 1993). A administrao de materiais abastece ou supre a organizao com os materiais, constituindo o elo entre a empresa e os seus fornecedores de materiais. Visa atender o cliente certo, com o material certo e nas quantidades e momentos certos e nas melhores condies para a organizao (BARBIERI E MACHLINE, 2006). De tal modo, uma das mais importantes funes da administrao de materiais est relacionada com o controle de nveis de estoques. Todas as
Referencial Terico
41
organizaes devem preocupar-se com o controle de estoques, visto que desempenham e afetam de maneira bem definida o resultado da empresa (POZO, 2004).
2.1.2.1 Estoques
Um dos grandes desafios enfrentados atualmente pelas organizaes se refere ao balanceamento dos estoques em termos de produo e logstica com a demanda do mercado e o servio ao cliente. A gesto de estoques elemento imprescindvel e deve ser administrada eficientemente, pois todas as organizaes mantm estoques (BERTAGLIA, 2003). O termo gesto de estoques, dentro da logstica, em funo da necessidade de estipular os diversos nveis de materiais e produtos que a organizao deve manter, dentro de parmetros econmicos. Esses materiais e produtos que compem os estoques so: matria-prima, material auxiliar, material de manuteno, material de escritrio, material e peas em processos e produtos acabados. A funo principal da administrao de estoques maximizar o uso dos recursos envolvidos na rea logstica da empresa, e com grande efeito dentro dos estoques (POZO, 2004). O controle de estoque, desde a antiguidade, j se tinha a necessidade de uma adequada forma de utilizao de sistemas e mtodos, para obter melhorias nas atividades desenvolvidas, pois ocorriam desperdcios e ausncia de mercadorias, ocasionando assim para a organizao prejuzos e para os clientes insatisfao devido o produto no est disponvel. Segundo Francischini e Gurgel (2004, p. 148):
Para o controle de estoque ser eficaz necessrio, portanto, que haja um fluxo de informaes adequado e um resultado esperado quando a seu comportamento. Espera-se de um Administrador de materiais que os usurios tenham fcil acesso aos itens estocados, quando eles forem necessrios para a elaborao de alguma atividade na empresa, mas, por outro lado, o volume do estoque no pode ser to alto que comprometa a rentabilidade da empresa.
Demo (2005) afirma que os estoques tm a funo de ponderar as entradas e sadas de uma empresa, as quais oscilam, ora sendo maiores as entradas, ora as
Referencial Terico
42
sadas. Quanto maior o nmero de entradas maior ser o estoque, quanto maior for as sadas, menor o estoque. O objetivo sempre ser o da igualdade, onde a velocidade de entrada igual velocidade de sada, sendo assim os estoques nulos. Objetivo este que depende da integrao dos setores dentro da empresa, principalmente o de compras (entradas) com o de vendas (sadas), os quais passam a ser funo do planejamento e controle de produo. Em si tratando de organizaes de sade, o sistema de materiais de um hospital bastante complexo e no est restrito quantidade de variveis ou ao seu custo, necessrio considerar tambm a complexidade do seu processo produtivo. O procedimento de produo do setor de sade uma das mais intrincadas unidades de trabalho, porquanto ele constitui um centro de interao de vrias disciplinas e profisses, incorporando tecnologias, gerando um modelo assistencial com uma variedade enorme de itens e graus de diversidade (SILVA, 2006). Para Pozo (2004, p.40), a funo de planejar e controlar estoques so fatores primordiais numa boa administrao do processo produtivo. Os objetivos do planejamento e controle de estoque so:
Assegurar o suprimento adequado de matria-prima, material auxiliar, peas e insumos ao processo de fabricao; Manter o estoque o mais baixo possvel para atendimento compatvel s necessidades vendidas; Identificar os itens obsoletos e defeituosos em estoque, para elimin-los; No permitir condies de falta ou excesso em relao demanda de vendas; Prevenir - se contra perdas, danos, extravios ou mau uso; Manter as quantidades em relao s necessidades e aos registros; Fornecer bases concretas para a elaborao de dados ao planejamento de curto, mdio e longo prazos, das necessidades de estoque; Manter os custos nos nveis mais baixos possveis, levando em conta os volumes de vendas, prazos, recursos e seu efeito sobre o custo de venda do produto.
Ainda conforme Pozo (2004) existem diversos tipos ou nomes de estoques, que podem ou no ser mantidos em um ou diversos almoxarifados. Usualmente, as empresas possuem em sua organizao cinco almoxarifados bsicos, que so:
Referencial Terico
43
Almoxarifado de matrias-primas; Almoxarifado de materiais auxiliares; Almoxarifado de manuteno; Almoxarifado intermedirio; Almoxarifado de acabados.
A razo de manter estoques est relacionada com a previso de seu uso em um futuro imediato. praticamente impossvel conhecer a demanda futura; torna-se necessrio manter determinado nvel de estoque, para assegurar disponibilidade de produtos s demandas, bem como minimizar os custos de produo, movimentao e estoques (POZO, 2004).
2.2 Servios de Sade
O padro de utilizao de servios de sade de um determinado grupo populacional principalmente explicado por seu perfil de necessidades em sade, Hulka e Wheat11, (citado por TRAVASSOS E OUTROS, 2000, p.134). Est condicionado tambm, por inmeros outros fatores internos e externos ao setor, relacionados tanto forma como est estruturada a oferta de servios Wennberg12, (citado por TRAVASSOS E OUTROS, 2000, p. 134) quanto s preferncias e escolhas do usurio. A disponibilidade, o tipo, a quantidade de servios e recursos (financeiros, humanos, tecnolgicos), a localizao geogrfica, a cultura mdica local, a ideologia do prestador, entre outros, so aspectos da oferta que influenciam o padro de consumo de servios de sade (TRAVASSOS E OUTROS, 2000). A populao brasileira de 172.385.826 habitantes, segundo dados do censo de 2001 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica - IBGE, e encontra-se irregularmente distribuda em um territrio de 8,5 milhes de Km2, com um quantitativo de municpios em cada estado e em cada regio muito varivel. A regio mais populosa o Sudeste, que concentra 71.662.769 habitantes (42,6% da populao total do pas). As menos populosas so o Centro-Oeste, com 11.675.381 habitantes e o Norte, com 12.666.944 habitantes, respectivamente 6,9% e 7,5% da
11
HULKA, B. & WHEAT, J. 1985. Patterns of utilization: a patient perspective. Medical Care 23(5):438-460. 12 WENNBERG JE 1985. On patient need, equity, supplier-induced demand and the need to assess the outcome of common medical practices. Medical Care 23(5): 512-520.
Referencial Terico
44
populao total do pas. O Nordeste, segunda regio mais populosa, tem 47.250352 habitantes ou 28,1% da populao nacional, e o Sul tem 25.033.302 habitantes, o que representa 14,9% da populao total do pas. Assim, o Brasil, pas considerado em desenvolvimento, embora apresente uma taxa de esperana de vida mdia de aproximadamente 67 anos e alguns ndices socioeconmicos de pases desenvolvidos, possui indicadores sciosanitrios bastante contrastantes. O pas ainda apresenta, em algumas regies, elevadas taxas de mortalidade infantil, e de coeficiente de mortalidade por doenas infecciosas e parasitrias. O setor de sade, como segmento prestador de servios e cujas aes se refletem profundamente na sociedade, deve adotar uma prtica gerencial apropriada capaz de alterar esse quadro mrbido e preocupante (LOPES E FILHO, 2003). No contexto brasileiro, os servios de sade padecem em analogia ao vocabulrio mdico, de uma "infeco generalizada", e, por isso mesmo, depende dos mais diversos esforos para promover sua recuperao. Boa parte dos municpios brasileiros sequer possui um nico hospital, motivo pelo qual no raro que pacientes se desloquem e at se instalem, por dias e meses a fio, submetendose a tratamento em municpios vizinhos ou mais distantes de suas origens, o que contribui para sufocar e estrangular, ainda mais, o sistema de atendimento. Isso denota falta de uma gesto adequada na distribuio de recursos humanos, de leitos e de medicamentos, de acordo com as carncias de cada municpio (SILVA, 2006). Silva (2006) afirma que contribuir para a prestao dos servios de sade, com vistas a torn-lo eficiente no uma tarefa fcil. A sade um direito de todos e um dever do Estado. O direito sade implica no apenas no oferecimento da medicina curativa, mas tambm na medicina preventiva, dependente, por sua vez, de uma poltica social e econmica adequadas. Assim, o direito sade compreende a sade fsica e mental, iniciando pela medicina preventiva, esclarecendo e educando a populao, higiene, saneamento bsico, condies dignas de moradia e de trabalho, lazer, alimentao saudvel na quantidade necessria, campanhas de vacinao, dentre outras. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica IBGE informam que de 2002 a 2005, houve um aumento em 17,8% do nmero de estabelecimentos de sade no pas. Em 2002, 146 cidades no tinham unidades de sade e, em 2005, apenas seis dos 5.564 municpios brasileiros no possuam este tipo de
Referencial Terico
45
estabelecimento. Nesse mesmo perodo, a terceirizao cresceu em todas as regies, principalmente no Nordeste. Para Travassos e outros (2000), o sistema de sade brasileiro constitudo por uma complexa rede de prestadores e compradores de servios,
simultaneamente inter-relacionados, complementares e competitivos, formando uma complicada multiplicidade entre o setor pblico e privado. Compe-se por trs principais subsetores: o pblico, com servios financiados e prestados pelo Estado, nos seus diversos nveis; o privado (lucrativo e no-lucrativo), financiado por sistemas de reembolso, que podem ser recursos pblicos ou privados; e o de seguros privados, financiados diretamente pelo consumidor ou pelas empresas empregadoras (em geral de forma parcial), com diferentes nveis de preos e subsdios. O setor pblico est mais presente no Norte e Nordeste, no entanto quase 70% das unidades privadas atendem ao Sistema nico de Sade - SUS. O hospital referente ao estudo de caso desta monografia caracterizado como hospital de mdia complexidade, detm grande servio de emergncia com perfil de urgncia em cirurgia geral, clnica mdica, ortopedia, pediatria e maternidade da microrregio de Paulo Afonso - BA, com mais de 10 mil atendimentos por ms, para uma populao de 22 municpios dos Estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e da Bahia, cadastrado no Ministrio da Sade como rede privada, porm 100% dos seus usurios so do Sistema nico de Sade - SUS. O consumo de servios de sade funo das necessidades e do comportamento dos indivduos em relao a seus problemas de sade, bem como das formas de financiamento e dos servios e recursos disponveis para a populao. A Constituio brasileira de 1988 estabelece o Sistema nico de Sade SUS com base na institucionalizao da universalidade da cobertura e do atendimento. O sistema foi implementado em 1990 e pode ser traduzido como igualdade de oportunidade de acesso aos servios de sade para necessidades iguais (LIMA, 2005). Para tanto, importante levar em considerao a complexidade dessa atividade. As atividades de ateno sade so atividades complexas, assentadas sobre uma cadeia produtiva que incorpora seqncias de aes definidas para a gerao de seus produtos, os chamados procedimentos. Cada procedimento demanda uma variedade especfica de insumos (bens) e processos de trabalho
Referencial Terico
46
(servios). No s os produtos oferecidos em organizaes de sade so complexos e pressupem elevada qualificao profissional, mas os insumos utilizados em sua produo so cada vez mais sofisticados e numerosos (INFANTE E SANTOS, 2007). As perversas desigualdades no acesso e utilizao dos servios, o mau atendimento, as filas, a superlotao das emergncias, a escassez de recursos nas unidades de sade, a falta de leitos hospitalares e a demora para a marcao de exames so algumas das evidncias da inadequao das atividades complexas e a realidade dos servios (LIMA, 2006). Ribeiro (2005) afirma que um dos maiores desafios para o administrador hospitalar est em atender adequadamente s necessidades da instituio. O administrador hospitalar tem como misso atender e superar continuamente as expectativas solicitadas. Os gestores de hospitais so compelidos a praticarem uma administrao profissional capaz de cumprir com eficincia, eficcia, efetividade e principalmente, com economia, a misso das entidades que gerenciam, dentro da legalidade. Para isso, necessrio estabelecer diretrizes e aes, a fim de realizar um trabalho por meio de pessoas para entregar o material certo ao usurio certo, no momento e nas quantidades certas, observando as melhores condies para a organizao, complementam Barbieri e Machline (2006).
2.3 Administrao de Materiais nos Servios de Sade
Materiais e logstica so, juntamente com recursos humanos, fatores crticos para o desenvolvimento de atividades de ateno sade e para a excelncia operacional da organizao hospitalar, afirmam Infante e Santos (2007). Por mais diferentes que sejam as organizaes, todas utilizam materiais em suas atividades, em maior ou menor grau. A disponibilidade de insumos em hospitais, materiais e medicamentos, um fator de grande importncia, pois a interrupo no fluxo pode refletir no s em perdas econmicas, mas tambm de vidas humanas. A obteno de insumos hospitalares a forma pela qual o sistema hospital adquire esses recursos com o objetivo de utiliz-los como entradas do sistema. Os principais elementos envolvidos nesta atividade so a funo compras do hospital, que aqui ser entendido como um elo entre a organizao e o seu mercado fornecedor. Tem por objetivo processar as aquisies de bens que a organizao necessita. Nas
Referencial Terico
47
organizaes pblicas, o processo de licitao o modo pelo qual adquirem bens e servios. Nas organizaes privadas, as questes relacionadas com as compras, so as cotaes. E a funo vendas do fabricante de insumos (MONTEIRO E OUTROS, 2003). Em si tratando de organizaes de sade, um hospital um sistema produtivo que, como qualquer outro, pode ser representado por trs elementos bsicos: entradas, processamento e sadas. As entradas so os recursos que sero processados ou utilizados no processamento para produzir os servios de sade, ou seja, os profissionais que trabalham no hospital, as instalaes e equipamentos mdicos, os insumos hospitalares, materiais e medicamentos, e os pacientes tratados e resultados de exames Slack13, (citado por MONTEIRO E OUTROS, 2003, p. 01). A administrao de materiais na rea de sade mais complexa do que a de outros segmentos da economia, pois os medicamentos e materiais de enfermagem amontoam a milhares; tm exguo prazo de validade; requer conservao a baixa temperatura; devem ser passveis de rastreabilidade; so facilmente furtados; apresentam-se sob as formas mais diversas, desde comprimidos at injetveis; as doses individuais devem ser diariamente prescritas, preparadas, baixadas dos estoques, ministrados ao paciente e faturados sem omisso nem erro; e finalmente, os resduos contaminados devem ser removidos e incinerados com extremo cuidado. Para escolher os materiais de acordo com as consideraes expostas, necessrio realizar em bases sistemticas as seguintes atividades: especificao, identificar materiais; simplificao, reduzir a variedade de materiais; padronizao, tornar obrigatrio o uso de materiais especificados; classificao, criar classes ou grupos de materiais para estabelecer instrumentos de gesto diferenciados, classificao ABC14 e classificao XYZ15; codificao e catalogao a atribuio de smbolos aos materiais especificados (BARBIERI E MACHLINE, 2006). Para Barbieri e Machline, (2006) A logstica dos materiais assume importncia crescente nessas entidades. A gesto eficiente de materiais exige por parte dos responsveis inmeros e constantes esforos, e afasta do hospital trs graves
13 14
SLACK, N. et al. (1997). Administrao da Produo. So Paulo: Atlas. A classificao ABC, um procedimento que visa identificar os produtos em funo dos valores que eles representam e, com isso, estabelecer formas de gesto apropriadas importncia de cada item em relao ao valor total considerado. 15 A classificao XYZ tem como critrio o grau de criticalidade ou imprescindibilidade do material para as atividades em que eles estaro sendo utilizados.
Referencial Terico
48
males: a compra cara; o estoque excessivo; e a falta de material. Esses flagelos so os dois primeiros, fatais para o hospital e, o terceiro, fatal para o paciente. Segundo os autores citados acima, em si tratando dos estoques, esses so constitudos de todo material mantido pela organizao para atender a uma demanda futura, est significa a quantidade de um bem ou servio que as pessoas estariam dispostas a adquirir sob determinadas condies. Estas podem ser tendncia que significa o padro de crescimento, declnio ou estacionalidade da demanda no curto prazo e sazonalidade que se refere s oscilaes peridicas e regulares ao longo da curva de tendncia produzidas por fatos ou situaes de carter repetitivo. Estoques so valores referentes a materiais existentes relacionados com as atividades-fins da organizao. Porm, materiais estocados em demasia consomem recursos que poderiam ser mais bem aplicados em outras atividades da organizao. J a falta do mesmo pode provocar a paralisao dos servios, com todos os problemas decorrentes, alm de obrigar a organizao a incorrer em gastos adicionais para realizar compras urgentes que, via de regra, mais dispendiosa que as compras normais, e prejudicar a imagem da empresa. Barbieri e Machline (2006, p. 08) relatam um esquema lgico de interao entre os diferentes grupos que constituem a administrao de materiais de um hospital, e que sero descritos por todo texto, primeiro, necessrio saber quais materiais sero utilizados pela organizao para depois decidir sobre quanto e quando compr-los, de quem compr-los e como armazen-los e distribu-los corretamente aos solicitantes. A qualidade dos servios se relaciona de modo muito intenso com a qualidade da administrao de materiais, pois para que um servio seja bem-feito necessrio que o material certo esteja disponvel no momento em que for necessrio, assim, ser medido o nvel de servio oferecido ao cliente pela organizao. A expresso nvel de servio pode ser entendida como a capacidade de uma organizao em oferecer produtos ou servios que satisfaam as necessidades ou exigncias dos seus clientes; a combinao dos objetivos da organizao com a satisfao dos seus clientes ou usurios. Para efeito da administrao de materiais hospitalares, as dimenses do nvel de servio so as seguintes: atendimento, pontualidade e rapidez nas entregas, flexibilidade no atendimento aos clientes ou solicitantes, prestao de informaes aos solicitantes e qualidade da entrega. (BARBIERI E MACHLINE, 2006).
Referencial Terico
49
O sistema de materiais de um hospital registra de 3.000 a 6.000 itens de consumo adquiridos com certa freqncia, representam um valor em torno de 15% a 25% dos oramentos dos hospitais. Esses nmeros mostram que a complexidade de um sistema no est restrita quantidade de variveis ou ao seu custo, necessrio considerar tambm a complexidade do seu processo produtivo. Existem 30 mil medicamentos registrados nas farmacopias, em nvel mundial. Considera-se que existem 500 princpios ativos Vecina e Reinhardt16, (citado por INFANTE E SANTOS, 2007, p. 946). A preocupao com a logstica hospitalar vem crescendo bastante, como j mencionado, pois dela depende a alimentao e o abastecimento de todos os pontos de distribuio de medicamentos e materiais mdicos - hospitalares dentro do hospital, as chamadas clnicas. A distribuio racional dos medicamentos consiste em assegurar os produtos na quantidade e especificaes solicitadas pelos usurios de uma forma segura e no prazo estabelecido (YUK; KNEIPP E OLIVEIRA, 2006). A administrao de materiais tem por objetivo disponibilizar o material certo, na quantidade certa e no tempo certo para o seu usurio. Em relao escolha do material certo, torna-se necessria a realizao de um conjunto de atividades, aqui denominadas genericamente de seleo e classificao de materiais. A seleo dos materiais deve ser efetuada mediante uma administrao que seja capaz de explicitar as divergncias e alcanar um razovel consenso entre os diferentes atores envolvidos: usurios, compradores, farmacuticos, almoxarife e diretor financeiro (BARBIERI E MACHLINE, 2006). Sob a denominao genrica de armazenagem entende-se as atividades administrativas e operacionais de recebimento, armazenamento, distribuio dos materiais e controle fsico dos materiais estocados. As empresas fabris podem atender praticamente a todas as suas atividades com dois tipos de armazenagem, entretanto, os hospitais tm necessidade de mais locais de armazenagem em decorrncia das caractersticas diferenciadas dos bens materiais que utiliza. A distribuio de medicamentos e de suprimentos farmacuticos efetuada mediante requisies emitidas pelos postos de enfermagem (BARBIERI E MACHLINE, 2006).
16
VECINA, N. G. & REINHARDT, F. W. Op. cit.
Referencial Terico
50
Assim, foram descritos todas as atividades tpicas de suprimento de materiais de uma organizao de sade hospitalar.
CAPTULO 3 PROCEDIMENTOS METODOLGICOS
Procedimentos Metodolgicos
52
3. Procedimentos Metodolgicos
O alcance de todo objetivo, por menor que seja, necessita de um planejamento para alcan-lo, ou seja, traar de forma coerente os caminhos que o levaro a sua conquista, e como faz-lo. A definio da metodologia fator primordial para a concretizao da pesquisa, e deve descrever passo a passo como sero levantados os dados que solucionaro a problemtica e o alcance dos objetivos traados, transmitindo cunho cientfico possvel de ser comprovado e compreendido pelos leitores, ressaltando que todas as investigaes utilizam algum tipo de metodologia (ROESCH, 2005). Andrade (1999) relata que em muitas organizaes so estabelecidas normas para direcionar as aes dos colaboradores de acordo com os objetivos e padres da empresa, a esta bssola planejada de acordo com cada anseio, denomina-se mtodo. Apesar de no haver uma frmula exata e especfica para se solucionar problemas, deve-se conhecer a realidade, produzir objeto e/ou desenvolver comportamentos, de acordo com Roesch (2005). A metodologia trata a respeito dos estudos dos mtodos, sendo considerada como uma forma de conduzir uma pesquisa enfatizando quais as etapas que devem ser seguidas num determinado processo.
3.1 Mtodo Cientfico
O mtodo assegura uma pesquisa, tornando-a cientifica. Andrade (1999) conceitua mtodo como o conjunto dos meios dispostos convenientemente para alcanar um fim. Malhotra (2001) define pesquisa como uma estrutura ou planta para a realizao do projeto de pesquisa. Ela detalha os procedimentos necessrios obteno das informaes para estruturar ou resolver problemas de pesquisa. E Gil (1999) afirma que mtodo cientfico o conjunto de procedimentos intelectuais e tcnicos adotados para se atingir o conhecimento. O estabelecimento de um mtodo uma estratgia para que a soluo tornese clara e acessvel a todos. Nessa perspectiva de um conhecimento ser previsto, explicado e os fenmenos para seu alcance controlados, torna-o transfervel e verificvel por outras pessoas, conferindo ao contedo caracterstica cientfica, da
Procedimentos Metodolgicos
53
falar-se em mtodo cientfico ou teoria da investigao, a qual afirmar, negar ou condicionar hipteses atravs da coleta de dados (ROESCH, 2005). Segundo Lakatos e Marconi (2001), a cincia no pode existir sem o emprego de algum mtodo cientfico.
3.2 Delineamento da Pesquisa
O delineamento da pesquisa consiste em tornar o problema pesquisvel, determinando quem vai ser pesquisado e quais questes sero levantadas (ROESCH, 2005). Para Gil (1999, p.42) a pesquisa pode ser definida como um processo formal e sistemtico no desenvolvimento do mtodo cientfico, que tem como objetivo descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos cientficos. Assim, a metodologia utilizada na elaborao desta monografia foi desenvolvida com base em pesquisas bibliogrficas, pesquisa exploratria, descritiva e na pesquisa quantitativo descritivos e qualitativa. Inicialmente foi realizado um levantamento dos dados secundrios, estes auxiliam os pesquisadores a entender melhor o problema a ser investigado, podem vir a apresentar um novo entendimento sobre o problema, sugerindo e muitas vezes at trs solues que no haviam sido consideradas previamente. Com a anlise desses dados juntamente com os dados primrios possvel encontrar tambm dados similares que vem a dar ainda maior credibilidade s informaes (ANDRADE, 1999). O levantamento de dados secundrios anteriormente descritos foram atravs de estudos j publicados sobre o tema, por meio de pesquisas bibliogrficas, artigos, monografias, dissertaes, revistas cientficas, anais de congressos da rea, bem como a internet. De acordo com Gil (1999, p.65) a pesquisa bibliogrfica desenvolvida a partir de material j elaborado. Propiciando assim o estudo [...] de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a concluses inovadoras (LAKATOS E MARCONI, 2001, p.183). Ela desenvolvida com base nos materiais que j esto disponveis, como livros e artigos cientficos possibilitando ao autor um maior conhecimento e uma melhor abordagem sobre o tema a ser pesquisado. A pesquisa
Procedimentos Metodolgicos
54
bibliogrfica serve inicialmente para definir a situao atual do problema e quais as contribuies e opinies j existentes sobre o assunto. (LAKATOS E MARCONI, 2001). Para o conhecimento mais aprofundado sobre o assunto na etapa inicial, foi utilizada a pesquisa exploratria, esta segundo Gil (1999, p. 43) tem como finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idias, tendo em vista, a formulao de problemas mais precisos ou hipteses pesquisveis para estudos posteriores. usada pelo pesquisador quando o mesmo no tem total domnio sobre o tema ou situao a ser pesquisada, tornando-se muito til nas etapas iniciais do projeto dispondo ao pesquisador uma maior familiaridade e interao com o problema em estudo. De acordo com Lakatos e Marconi (2001), a pesquisa exploratria trata de investigaes de pesquisa empricas que tenham o objetivo de formular questes ou um problema com a finalidade de desenvolver hipteses, elevar a familiaridade do pesquisador com o ambiente a ser estudado ou at mesmo modificar e esclarecer conceitos estudados. Na fase exploratria foram levantadas informaes preliminares dos dados da pesquisa, obtendo idias e esclarecimentos a fim de possibilitar o aperfeioamento e entendimento do objeto de estudo, j que a mesma pode ser utilizada para aumentar a familiaridade do autor para com o tema. Para tanto, utilizou-se a amostra noprobabilistica por convenincia, onde esta amostra selecionada de acordo com a convenincia do pesquisador. Este tipo de amostra consome menos tempo e menos dispendiosa (MALHOTRA, 2001). As pesquisas de campo utilizadas para responder as indagaes feitas durante a elaborao desta monografia foram pesquisa quantitativo descritivos e a pesquisa qualitativa. Lakatos e Marconi (2001, p. 186) definem pesquisa de campo como sendo aquela utilizada com o objetivo de conseguir informaes [...]. A pesquisa quantitativo descritivo tem a finalidade de fornecer dados para a verificao de hipteses caracterizando-se pela preciso e pelo controle estatstico (LAKATOS E MARCONI, 2001), fazendo assim referencia ao formulrio aplicado com os acompanhantes dos pacientes. E a pesquisa qualitativa tem o objetivo de obter resultados eficazes, alm de buscar aspectos qualitativos no nvel de servios prestados por um hospital na cidade de Paulo Afonso-BA, conforme atestado no formulrio aplicado que segue em anexo. Este destinado a gerente administrativa do hospital, responsvel tambm pela farmcia do local em estudo.
Procedimentos Metodolgicos
55
Nogueira17, (citado por LAKATOS E MARCONI, 2001, p.212) define formulrio como sendo:
uma lista formal, catlogo ou inventrio destinado coleta de dados resultantes quer da observao, quer de interrogatrio, cujo preenchimento feito pelo prprio investigador, medida que faz as observaes ou recebe as respostas, ou pelo pesquisado, sob sua orientao.
Para Lakatos e Marconi (2001, p. 212):
O formulrio um dos instrumentos essenciais para a investigao social, cujo sistema de coleta de dados consiste em obter informaes diretamente do entrevistado. O que caracteriza o formulrio o contato faca a face entre pesquisador e informante e ser o roteiro de perguntas preenchido pelo entrevistador, no momento da entrevista.
E por final a pesquisa do tipo descritiva que tem por objetivo descrever completamente determinado fenmeno, Lakatos e Marconi, (2001, p. 188). Pode-se notar que a esse tipo de pesquisa demanda maiores detalhes dos fatos e os dados colhidos atravs dela so mais minuciosos e precisos. Segundo Mattar (1999) a pesquisa descritiva caracterizada por possuir um objetivo definido, ser bem estruturadas e dirigidas para a soluo de problemas ou avaliao de alternativas de cursos e aes. Gil (1999) relata que ela tem como fator principal descrever as caractersticas de uma determinada populao ou fenmeno para assim poder estabelecer possveis relaes entre variveis. Ela tem como foco o levantamento de opinies sobre, atitudes e crenas de uma populao sobre uma determinada situao, fazendo-se assim necessria para a elaborao desta monografia. Malhotra (2001) acrescenta que a pesquisa descritiva serve para avaliar a porcentagem de unidades numa populao especfica que exige determinado comportamento, determinar as percepes de caractersticas de produtos, determinar o grau at o qual as variveis esto associadas e fazer previses especficas.
NOGUEIRA, Oracy. Pesquisa social: introduo s suas tcnicas. So Paulo: Nacional, EDUSP, 1968.
17
Procedimentos Metodolgicos
56
3.3 Seleo da Amostra
Um dos fatores determinante para a obteno dos dados a seleo e definio da amostra da pesquisa. A determinao do tamanho e universo da amostra compreende dados que englobam a quantidade de pessoas a serem entrevistadas, sexo, faixa etria, escolaridade, ou seja, o grupo de pessoas no qual ser imprescindveis para a obteno das informaes necessrias. Deste modo, a amostra estudada, corresponde a 1% do total da populao que acompanhou os clientes pacientes quando estes freqentaram o hospital da cidade de Paulo Afonso - BA no ms de abril, visto que no seria possvel realizar as entrevistas com os prprios pacientes, devido a muitos casos haver impossibilidade pelo estado de sade dos mesmos. Esta totaliza um nmero de 100 acompanhantes, indicador correspondente quantidade de pessoas que procuraram o hospital para serem atendidos por uma de suas especialidades (clinicas), visto que o mesmo possui uma mdia de 10 mil atendimentos por ms, resultantes do acolhimento de 22 municpios, alm da cidade local, esta amostra pode ser mais bem entendida atravs da visualizao do quadro 1. E para uma segunda amostra, outro formulrio foi destinado gerente administrativa do hospital, sendo esta tambm responsvel pela farmcia do hospital. Para que os dados obtidos num levantamento sejam significativos, necessrio que a amostra seja constituda por um nmero adequado de elementos. Existem estatsticas que possibilitam estimar esse nmero. Assim, uma razovel estimativa pode ser feita consultando-se o quadro 1. Esse quadro fornece o tamanho da amostra adequada para um nvel de confiana de 99% (que em termos estatsticos corresponde a dois desvios-padres). As vrias colunas, por sua vez, indicam o nmero de elementos a serem selecionados com as respectivas margens de erro. O quadro 1 visa determinar a amplitude de uma amostra tirada de uma populao finita com margens de erro de 1%, 2%, 3%, 4%, 5% e 10% na hiptese de p = 0,5. Coeficiente de confiana de 95,5%; p proporo dos elementos portadores do carter considerado. Sep <0,5, a amostra pedida menor. Neste caso determina-se o tamanho da amostra, multiplicando-se o dado que aparece no quadro por 4 [p(l -p)] (GIL, 1991).
Procedimentos Metodolgicos
57
Quadro 1 Amplitude de uma amostra tirada de uma populao finita Amplitude da Populao (Universo) 1% 2% 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000 8000 9000 10000 15000 20000 25000 50000 100000 0 5000 6000 6667 7143 8333 9091 10000
18
Amplitude da Amostra com as Margens de Erro Acima Indicadas
3% 1 250 1364 1458 1538 1607 1667 1765 1842 1905 1957 2000 2143 2222 2273 2381 2439 2500
4% 638 714 769 811 843 870 891 909 938 949 976 989 1000 1034 1053 1064 1087 1099 1111
5% 385 441 476 500 517 530 541 549 556 566 574 480 584 488 600 606 610 617 621 625 222 286 316 333 345 353 359 364 367 370 375 378 381 383 383 390 392 394 397 398 400
10% 83 91 94 95 96 97 97 98 98 98 98 99 99 99 99 99 100 100 100 100 100
Fonte: TAGLIACARNE, G. , (citado por GIL, 1991, p.62).
A amostra segundo Lakatos e Marconi (2001, p. 163), [...] uma poro ou parcela, convenientemente selecionada do universo (populao); um subconjunto do universo. O tamanho da amostra diz respeito quantidade de pessoas que ir
18
TAGLIACARNE, Guglielmo. Pesquisa de mercado. So Paulo: Atlas, 1976.
Procedimentos Metodolgicos
58
participar do estudo. Na ocasio o tipo de amostra que foi utilizada na pesquisa a amostra no-probabilstica, pois o pesquisador pode, arbitrria ou conscientemente, decidir os elementos a serem includos na amostra (MALHORA, 2001, p. 305). A amostragem tem como objetivo escolher uma parte (ou amostra), de tal forma que ela seja a mais representativa possvel do todo e, a partir dos resultados obtidos, relativos a essa parte, poder inferir, [...] nos resultados da populao total, se esta for verificada (LAKATOS E MARCONI 2001, p. 163). Muitas vezes a obteno de informaes com um grande nmero de pessoas quase impossvel, visto que este exige grandes somas de recursos e tempo. Por isso, a amostra caracteriza-se como no-probabilstica, pois o nmero da amostra foi cuidadosamente selecionado apenas para uma parte do universo proposto. Para fazer uma abordagem de uma amostra mais ampla, seria necessrio o uso de uma amostra probabilstica. Ou seja, a pesquisa no poderia ser feita com o universo (acompanhantes) que freqentam diariamente o hospital, nem tampouco todos os hospitais e clinicas da cidade de Paulo Afonso - BA devido aos empecilhos j citados acima, como a falta de recursos e principalmente a falta de tempo, e tambm no a todos os colaboradores que compem o quadro funcional do hospital envolvido no setor administrativo do mesmo. As argies ocorreram em horrios pr-determinados pelo pesquisador de acordo com sua convenincia, quando se tratou da amostra dos acompanhantes dos pacientes, e o nmero da populao-alvo da pesquisa foi definido de acordo com o nmero de pessoas que freqentaram o hospital, localizado na cidade de Paulo Afonso - BA, no perodo de 01 de abril a 30 de abril. Quando a amostra foi em relao gerente administrativa do hospital, o horrio foi determinado a partir da disponibilidade de tempo da mesma. E como j foi apresentado anteriormente o mtodo de amostragem utilizado foi o de convenincia, que segundo Malhotra (2001), o nmero de elementos deixado a cargo do pesquisador, fazendo-se assim ser conveniente utilizar uma amostra de 100 respondentes. O tamanho da populao tornou-se satisfatrio para a obteno dos dados necessrios para a concluso da pesquisa, visto que o pesquisador procurou realizar uma pesquisa focalizada nos acompanhantes dos pacientes que ali se encontravam no momento da pesquisa.
Procedimentos Metodolgicos
59
3.4 Instrumentos de Coleta de Dados
Na fase da coleta de dados so efetuados os contatos com os respondentes da pesquisa, [...] aplicando os instrumentos, registrando os dados, efetuada uma primeira verificao do preenchimento dos instrumentos e enviados os instrumentos preenchidos para a central de processamento dos dados (MATTAR 1998, p. 15). Como j foi dito anteriormente, a monografia teve como base os tipos de pesquisa exploratria e descritiva. Na fase exploratria onde se tem o primeiro contando com a situao que ser pesquisada para poder obter o conhecimento sobre o objeto de estudo em questo, esta fase busca levantar os dados preliminares da investigao, para assim obter idias para um melhor entendimento do tema, inclui a coleta, anlise e interpretao de dados que no podem ser quantificados. A fase descritiva caracteriza-se por oferecer definies sobre o tema a ser investigado, atendendo a diversos objetivos da pesquisa com a descrio de fenmenos ou caractersticas associadas com a populao-alvo estimativa das propores de uma populao que tenha certas caractersticas e descobertas de associaes entre variveis (MALHOTRA, 2001 E COOPER, SCHINDLER, 2003). De acordo com Malhotra (2001) pesquisa descritiva tem como objetivo a descrio de algo, normalmente caractersticas e funes do mercado. Os estudos descritivos geralmente so desenvolvidos com base em questionrio, entrevistas, formulrios ou at mesmo discusses em grupos. Mas para a obteno dos dados para essa pesquisa o mtodo utilizado para a coleta foi o formulrio, visto que este um dos instrumentos mais utilizados nas pesquisas exploratrias e descritivas. A partir das informaes encontradas na fase exploratria, e para ajudar na busca dos resultados para com os objetivos da pesquisa, o formulrio foi o instrumento encontrado para que esses objetivos fossem alcanados. Selltiz19, (citado por LAKATOS E MARCONI, 1991, p.212) define o formulrio como uma coleo de questes, ordenadas de perguntas que podem ser classificadas como abertas (livres ou no limitadas), fechadas ou dicotmicas (limitadas ou de alternativas fixas) e de mltipla escolha (perguntas fechadas com mais de duas alternativas fixas). O formulrio utilizado nesta pesquisa direcionado a gerente administrativa do hospital, foi composto com perguntas abertas,
19
SELLTIZ, C. et al. Mtodos de pesquisa nas relaes sociais. So Paulo: Herder, 1965.
Procedimentos Metodolgicos
60
fundamentadas em normas, critrios e rotinas operacionais Viana (2002) e pela medio adaptada e estabelecida por Wilken e Bermudez20, (citado por NORONHA E BORGES, 2002, p. 901), criada a partir das respostas obtidas durante a aplicao do mesmo, somadas a uma entrevista semi-estruturada, pois a pesquisa no ficou limitada apenas a ordem que estava escrito no papel. Para os acompanhantes dos pacientes, o formulrio continha perguntas abertas, fechadas, dicotmicas, mltipla escolha e escala tipo Likert de cinco pontos, estes, sero apresentados brevemente logo abaixo, de acordo com Lakatos e Marconi (1991):
Perguntas Abertas:
Tambm chamadas livres ou no limitadas, so as que permitem ao informante responder livremente, usando linguagem prpria, e emitir opinies. Possibilita investigaes mais profundas e precisas.
Escala Wilken e Bermudez:
A sistemtica utilizada para anlise e interpretao dos dados foi adaptada de Wilken e Bermudez21, (citado por NORONHA E BORGES, 2002, p. 901). Em primeiro lugar determinou-se a existncia total, a existncia parcial ou a inexistncia de construo e utilizao de cada um dos indicadores definidos como padro pela literatura cientfica e referenciados aos setores seleo de materiais, gesto de estoques, compras ou aquisies e armazenagem da instituio hospitalar pesquisada. A existncia total, parcial ou a inexistncia de construo e utilizao desses indicadores na gesto de medicamentos e correlatos na instituio hospitalar, define a qualidade de gesto dessa organizao. Adotando-se a mesma sistemtica de medio estabelecida por Wilken e Bermudez22, (citado por NORONHA E BORGES, 2002, p. 901) definiu-se a seguinte escala de pontuao: 0 = indicador no existente; 1 = indicador parcialmente existente; 2 = indicador
20
WILKEN, Paulo Roberto Coelho & BERMUDEZ, Jorge Antnio Zepeda. A farmcia no hospital: como avaliar? Braslia: gora da Ilha, 1999. 21 WILKEN, Paulo Roberto Coelho & BERMUDEZ, Jorge Antnio Zepeda. Op. cit. 22 WILKEN, Paulo Roberto Coelho & BERMUDEZ, Jorge Antnio Zepeda. Op. cit.
Procedimentos Metodolgicos
61
existente. Em segundo lugar, igualmente utilizando a escala definida por Wilken e Bermudez23, (citado por NORONHA E BORGES, 2002, p. 901) fez-se a totalizao da pontuao obtida por cada um dos setores da instituio pesquisada seleo de materiais, gesto de estoques, compras ou aquisies e armazenagem e calculou-se o percentual alcanado. A escala de resultados definida por Wilken e Bermudez24, (citado por NORONHA E BORGES, 2002, p. 901) e utilizada na pesquisa tem a seguinte configurao: 0-29% = insuficiente; 30-59% = regular; 6089% = bom; 90- 100% = excelente (NORONHA E BORGES, 2002).
Perguntas Fechadas:
Neste tipo de pergunta so fornecidas as possveis respostas ao entrevistado, sendo que apenas uma alternativa de resposta possvel. Esta foi utilizada na primeira etapa do formulrio, onde se tinha o objetivo de verificar os dados sciodemogrficos dos respondentes, quando este foi destinado aos acompanhantes dos pacientes.
Perguntas Dicotmicas:
Este tipo de pergunta caracteriza-se por oferecer ao respondente apenas duas possibilidades de resposta, sim e no. Esta foi utilizada a partir da segunda etapa do questionrio.
Perguntas de Mltipla Escolha:
As perguntas de mltiplas escolhas permitem ao respondente escolher mais de uma alternativa. Estas foram utilizadas tambm na segunda etapa do questionrio.
23 24
WILKEN, Paulo Roberto Coelho & BERMUDEZ, Jorge Antnio Zepeda. Op. cit. WILKEN, Paulo Roberto Coelho & BERMUDEZ, Jorge Antnio Zepeda. Op. cit.
Procedimentos Metodolgicos
62
Escala de Likert de Cinco Pontos:
Este tipo de medio por escala muito utilizado quando se busca identificar a atitude do indivduo sobre uma determinada situao Babbie25 (citado por COSTA, 2007, p. 75) e indica o grau de concordncia do respondente com a situao proposta pelo pesquisador. Pede-se a certo nmero de pessoas que manifestem sua concordncia ou discordncia, satisfao ou insatisfao em relao a cada um dos enunciados, segundo a graduao de 1 a 5 (GIL, 1999). O instrumento para a coleta de dados, disponvel no apndice A, foi composto por 4 (quatro) processos. Definiu-se um conjunto de indicadores por setores pesquisados seleo de materiais, gesto de estoques, compras ou aquisies; e armazenagem onde foram estabelecidas 25 questes por formulrio, cujos tipos j foram descritos acima. O instrumento disponvel no apndice B, foi dividido em 2 (duas) etapas, a primeira com perguntas sobre os dados demogrficos e a outra que visou mensurar dados sobre o atendimento e os servios prestados pelo hospital estudado, totalizando 16 questes. O tpico seguinte visa informar os procedimentos adotados para a anlise e tabulao dos dados obtidos na pesquisa.
3.5 Anlise dos Dados
A anlise dos dados a fase final, aquela que o pesquisador vai poder entender o significado do que foi colhido na fase da coleta dos dados. Nessa fase so utilizados procedimentos estatsticos que possibilitem criar grficos, quadros e tabelas que sintetizem as informaes obtidas. Tabelas ou quadros um mtodo estatstico sistemtico, de representar os dados em colunas verticais ou fileiras horizontais que obedece classificao dos objetos ou materiais da pesquisa (LAKATOS E MARCONI, 2001, p.169). Para muitos autores, tabelas e quadros so sinnimos; para outros, a diferena refere-se ao aspecto da tabela ser construda, utilizando-se dados obtidos pelo prprio pesquisador, enquanto que quadros so elaborados tendo por base dados secundrios, quando ento necessitam indicao da fonte. Os grficos so figuras que servem para representao dos dados. O
25
BABBIE, E. Mtodos de Pesquisa de Survey. Belo Horizonte: UFMG, 2001.
Procedimentos Metodolgicos
63
termo usado para grande variedade de ilustraes: grficos, esquemas, mapas, diagramas, desenhos etc. (LAKATOS E MARCONI, 2001). Uma vez que esses dados sejam manipulados e os resultados sejam obtidos, preciso seguir para o prximo passo, que o da anlise e interpretao dos mesmos. (LAKATOS E MARCONI, 2001). Com o trmino da etapa da coleta de dados atravs dos formulrios, as respostas contidas neles foram tabuladas e quantificadas a fim de obter um percentual estatstico. Estes dados foram tabulados com a ajuda do programa Excel 2003, da Microsoft. Aps a fase da quantificao dos dados e com a ajuda do programa foram desenvolvidos tabelas e grficos para facilitar na anlise e mensurao dos resultados. Para a anlise dos dados, o formulrio destinado a gerente administrativa foi dividido e identificado por quatro processos, atividades tpicas de suprimento. Em relao ao formulrio dos acompanhantes dos pacientes, este foi dividido em duas etapas, para assim facilitar a anlise do pesquisador e compreenso do leitor.
CAPTULO 4 APRESENTAO E ANLISE DOS RESULTADOS
Apresentao e Anlise dos Resultados
65
4. Apresentao e Anlise dos Resultados
Neste captulo sero apresentadas as informaes obtidas nas pesquisas feitas no Hospital Nair Alves de Souza na cidade de Paulo Afonso - BA, a fim de obter um parecer sobre os objetivos proposto.
4.1 Anlise da Empresa Pesquisada
O Hospital Nair Alves de Souza - HNAS o grande servio de emergncia da microrregio de Paulo Afonso - BA, com perfil de urgncia em cirurgia, trauma, clnica mdica, pediatria e maternidade. Mesmo sendo de propriedade da Companhia Hidro Eltrica do So Francisco - CHESF, cadastrado no Sistema nico de Sade - SUS como rede privada. Como unidade de urgncia, a prioridade no atendimento segue o critrio da gravidade. Sendo assim, primeiramente so atendidos os pacientes mais graves, com risco de morte iminente e, em seguida, aqueles que no estiverem nessa situao, por ordem de chegada. A histria do Hospital Nair Alves de Souza se confunde com a histria da CHESF e com o desenvolvimento da regio. Em 1948, foi criado o posto de Puericultura e iniciada a sua construo, oficialmente em operao desde 1949. Recebeu esse nome em homenagem esposa do ento presidente da Companhia, o engenheiro Alves Souza. Na poca, o HNAS tinha como principal objetivo dar suporte aos trabalhadores responsveis pela construo das usinas de Paulo Afonso. Quando foi construdo, contava com uma enfermaria com 24 leitos e uma equipe de 11 enfermeiros e trs mdicos. Hoje, a mdia diria de atendimento de mais de 300 pessoas, provenientes no apenas de Paulo Afonso, mas de 22 municpios circunvizinhos.
4.2 Anlise dos Resultados da Pesquisa de Campo em Relao s Atividades Tpicas de Suprimento do Hospital Nair Alves de Souza
A seguir apresentam-se os resultados referentes pesquisa de campo realizada no dia 19 de abril de 2009, com a gerente administrativa do hospital, esta
Apresentao e Anlise dos Resultados
66
tambm responsvel pela farmcia do mesmo, a fim de obter informaes acerca do tema proposto desta monografia.
4.2.1 Resultados
A anlise de resultados foi feita para cada um dos processos individualmente, ou seja, seleo de materiais, gesto de estoques, compras ou aquisies e armazenagem.
Quadro 2 Indicadores das atividades tpicas de suprimento Indicadores da Administrao de Suprimentos de Medicamentos e Correlatos Utilizados para a Coleta de Dados Processo de Seleo de Materiais Indicadores Anlise da seleo de materiais certos para o usurio e a organizao Definio de critrios para adotar novos materiais Investigao sobre as variaes de consumo Anlise de prescries no atendidas completamente por falta de medicamentos Processo de Gesto de Estoques Indicadores Previso da demanda Anlise do estoque Anlise dos fatores que geram rupturas de estoques Anlise dos medicamentos que mais sofrem rupturas de estoques Controle do fluxo Controle do abastecimento Investigao sobre a reposio de tempo de cada pedido (Fornecedores Externos) Utilizao de programas computadorizados (Software) Processo de Compras ou Aquisies Indicadores Solicitao de parecer tcnico sobre a compra de medicamentos Utilizao de mtodos de classificao para definio de prioridades de compra Investigao do modo pelo qual ir adquirir a compra Investigao de quem so os fornecedores Anlise de preo de produtos comprados Anlise do prazo de entrega
Apresentao e Anlise dos Resultados
67
Processo de Armazenagem Indicadores Disponibilidade para a aquisio de medicamentos e correlatos Anlise do espao fsico Superviso da conferncia de materiais Procedimento para localizao do material Anlise da distribuio Anlise das dificuldades encontradas no ciclo do processo
Fonte: Adaptao Wilken e Bermudez (1999).
26
Abaixo, seguem os resultados das pesquisas, com seus respectivos indicadores da administrao de suprimento de medicamentos e correlatos de cada setor.
Quadro 3 - Resultado da Pesquisa Utilizando Indicadores da Administrao de Suprimento de Medicamentos e Correlatos no Setor de Seleo de Materiais Indicadores Padro Hospital HNAS 2 2 Anlise da seleo de materiais certos para o usurio e a organizao 2 2 Definio de critrios para adotar novos materiais 2 2 Investigao sobre as variaes de consumo 2 0 Anlise de prescries no atendidas completamente por falta de medicamentos Total 8 6 Percentual 100 75 Resultado E B
Fonte: Dados coletados pela autora no dia 19 de abril de 2009. Resultados: 0-29% = insuficiente (I); 30-59% = regular (R); 60-89% = bom (B); 90-100% = excelente (E).
Quadro 4 - Resultado da Pesquisa Utilizando Indicadores da Administrao de Suprimento de Medicamentos e Correlatos no Setor de Gesto de Estoques Indicadores Padro Hospital HNAS 2 2 Previso da demanda 2 2 Anlise do estoque 2 2 Anlise dos fatores que geram rupturas de estoques 2 0 Anlise dos medicamentos que mais sofrem rupturas de estoques
26
WILKEN, Paulo Roberto Coelho & BERMUDEZ, Jorge Antnio Zepeda. Op. cit.
Apresentao e Anlise dos Resultados
68
Controle do fluxo Controle do abastecimento Investigao sobre a reposio de tempo de cada pedido (Fornecedores Externos) Utilizao de programas computadorizados
2 2 2
2 2 2
2 16 100 E
1 13 81,25 B
Total Percentual Resultado
Fonte: Dados coletados pela autora no dia 19 de abril de 2009. Resultados: 0-29% = insuficiente (I); 30-59% = regular (R); 60-89% = bom (B); 90-100% = excelente (E).
O Quadro 3 contm os indicadores definidos para determinar a administrao no processo de seleo de materiais do hospital. Pode-se observar que, dos quatro indicadores analisados, apenas um no foi pontuado. A gerente administrativa afirmou que no hospital em estudo no existe ndices de atendimentos no realizados por falta de medicamentos, pois tudo conduzido com muito cuidado e ateno para que no existam falhas, e que poderia ser um ponto descartado para ser analisado. A mesma avaliou todos os demais indicadores referentes administrao de suprimento de medicamentos e correlatos no setor de administrao de materiais e afirmou que a instituio apresentava todos os itens com qualidade, responsabilidade e eficincia no processo. A anlise da seleo de materiais certos para o usurio e a organizao feita no Hospital Nair Alves de Souza a partir da padronizao de materiais, capaz de tornar o uso obrigatrio de materiais especificados pelo servio mdico. A definio de critrios para adotar novos materiais surge a partir da necessidade do uso de algum material que no exista na padronizao dos mesmos, no entanto essa definio sanada a partir da substituio da compra de um medicamento existente na lista de padronizao por um que apresente a mesma frmula, por isso a gerente relata que no existem nmeros de prescries no atendidas completamente por falta de materiais, alm de o hospital possuir uma reserva nos seus oramentos para compras emergenciais. Em relao investigao sobre as variaes de consumo, estas so feitas de acordo com pocas sazonais, vero/inverno e de acordo com perodos de festejos na cidade e regies circunvizinhas. Como resultado geral foi possvel observar que o setor de seleo de materiais no hospital estudado obteve 75% do total de pontos levados em
Apresentao e Anlise dos Resultados
69
considerao pela pesquisadora, para que a administrao de suprimento de medicamentos e correlatos fosse considerada excelente (100%). Assim, em funo do resultado encontrado, a administrao de suprimento de medicamentos e correlatos do setor de seleo de materiais do Hospital Nair Alves de Souza foi avaliada como boa, de acordo com as respostas da gerente administrativa da instituio. Com relao ao setor de gesto de estoque do hospital pesquisado, os dados esto apresentados no Quadro 4. Pode-se observar que, dos oito indicadores analisados, apenas um no foi pontuado. No indicador previso da demanda, o estoque previsto a partir de pocas sazonais, vero/inverno, quando h uma maior incidncia respectivamente de pessoas expostas ao calor tambm propensas ao comprometimento da sade e quando h um aumento do perodo chuvoso acarretando algumas doenas relacionadas ao clima, alm dos perodos de festejos na cidade e regies circunvizinhas como j mencionados anteriormente. A anlise do estoque feita diariamente atravs de requisies por escrito encaminhadas pelos auxiliares de enfermagem ao departamento da farmcia, solicitadas por cada supervisor das clinicas. Em relao aos fatores que geram rupturas de estoque, a gerente relata que podem ser consideradas as quebras de medicamentos durante a retirada dos mesmos para direcion-los as clnicas ou mesmo durante a higiene do local, desvios, esquecimentos e/ou falta de ateno na apresentao da requisio, falha na alterao da baixa do estoque, situaes emergenciais fora do previsto e ainda a extenso de patologias por perodo superior ao calculado. Em si tratando dos medicamentos que mais sofrem essas rupturas, a gerente no relatou com especificidade, visto que alegou ser o conjunto de medicamentos e correlatos como todo, no sendo necessria a considerao destes, por isso foi o nico indicador no pontuado. O controle do fluxo de materiais do hospital executado, atravs do nmero de requisies somadas a cada departamento e o controle do abastecimento do estoque feito trimestralmente, levando em considerao o primeiro indicador j citado e o histrico de pedidos anteriores. A investigao sobre a reposio de tempo de cada pedido (fornecedores externos) efetuado a partir do contrato realizado de acordo com o fornecedor atravs de licitao, acordado durante um ano e com solicitao de materiais e correlatos a cada trs meses, realizando pedidos adicionais em caso de urgncia. E por ltimo a utilizao de
Apresentao e Anlise dos Resultados
70
programas computadorizados (software) que j existe no hospital, porm o mesmo no dispe de ferramentas atualizadas e eficientes para o andamento dos trabalhos realizados na instituio, tornando assim um indicador parcialmente existente. Como resultado geral do conjunto dos oito indicadores analisados, pode-se observar que o setor de gesto de estoque obteve 81,25% do total de pontos levados em considerao pela pesquisadora para que a administrao de suprimento de medicamentos e correlatos no setor de gesto de estoques fosse considerada excelente (100%). Assim, em funo dos resultados encontrados os setor de gesto de estoques do hospital pesquisado foi avaliado como bom.
Quadro 5 - Resultado da Pesquisa Utilizando Indicadores da Administrao de Suprimento de Medicamentos e Correlatos no Setor de Compras ou Aquisies Indicadores Padro Hospital HNAS 2 2 Solicitao de parecer tcnico sobre a compra de medicamentos 2 0 Utilizao de mtodos de classificao para definio de prioridades de compra 2 1 Investigao do modo pelo qual ir adquirir a compra 2 0 Investigao de quem so os fornecedores 2 2 Anlise de preo de produtos comprados 2 0 Anlise do prazo de entrega Total 12 5 Percentual 100 41,66 Resultado E R
Fonte: Dados coletados pela autora no dia 19 de abril de 2009. Resultados: 0-29% = insuficiente (I); 30-59% = regular (R); 60-89% = bom (B); 90-100% = excelente (E).
Quadro 6 - Resultado da Pesquisa Utilizando Indicadores da Administrao de Suprimento de Medicamentos e Correlatos no Setor de Armazenagem Indicadores Padro Hospital HNAS 2 0 Disponibilidade para a aquisio de medicamentos e correlatos 2 0 Anlise do espao fsico 2 2 Superviso da conferncia de materiais 2 1 Procedimento para localizao do material
Apresentao e Anlise dos Resultados
71
Anlise da distribuio Anlise das dificuldades encontradas no ciclo do processo
2 2 12 100 E
0 2 5 41,66 I
Total Percentual Resultado
Fonte: Dados coletados pela autora no dia 19 de abril de 2009. Resultados: 0-29% = insuficiente (I); 30-59% = regular (R); 60-89% = bom (B); 90-100% = excelente (E).
Os dados do setor de compras do hospital pesquisado so apresentados no Quadro 5. possvel observar que, dos seis indicadores analisados, trs receberam pontuao, estes so: solicitao de parecer tcnico sobre a compra de medicamentos; investigao do modo pelo qual ir adquirir a compra; e anlise de preo de produtos comprados. Observou-se que a solicitao de parecer tcnico um indicador que se destaca como existente, pois dele depende a autorizao da compra dos medicamentos e correlatos do hospital, a ser encaminhada ao setor responsvel pela compra. A investigao do modo pelo qual ir adquirir a compra um indicador que est passando por processo de modificao, apresentando assim no hospital diferentes modalidades de compra por materiais, o que pode acarretar em dificuldades financeiras e na administrao dos procedimentos. O hospital possui a modalidade de compra por prego e a por registro de preos, processos que surgem a partir da licitao. No que diz respeito anlise de preo de produtos comprados, o hospital realiza controles atravs de planilhas sobre os valores de compras anteriores, para manter uma mdia fixa no oramento, assim, um material que for solicitado pelo servio mdico e no constar na padronizao de medicamentos automaticamente substitudo por outro que esteja incluso na lista. Segundo a gerente administrativa isto acontece para que o acrscimo do material no exceda os custos em relao compra. Como resultado geral do conjunto dos seis indicadores analisados, pode-se observar que o setor de compras obteve 41,66% do total de pontos levados em considerao para ser avaliado como excelente (100%). Assim, em funo dos resultados encontrados no setor de compras do hospital pesquisado foram avaliados como regular. O nvel da administrao de suprimento de medicamentos e correlatos no setor de armazenagem pesquisado apresentado no Quadro 6. Observa-se que dos seis indicadores analisados trs receberam pontuao, a superviso da conferncia
Apresentao e Anlise dos Resultados
72
de materiais; o procedimento para localizao do material; e a anlise da distribuio. O primeiro indicador pontuado refere-se conferncia de todos os medicamentos e correlatos que chegam ao hospital. Estes so devidamente conferidos pelos almoxarifes que so supervisionados por um coordenador da farmcia hospitalar, juntamente com um farmacutico. Em si tratando do procedimento para localizao do material, a instituio possui um programa computadorizado, no entanto como j citado o mesmo apresenta falhas e no possui ferramentas atualizadas necessrias para o desenvolvimento do trabalho, o que reflete ser caracterizado como indicador parcialmente existente. Em si tratando da analise da distribuio de materiais, esta feita de acordo com as necessidades de cada clinica. Como resultado geral do conjunto dos seis indicadores analisados para o setor de armazenagem da instituio, pode-se observar que ele obteve 41,66% do total de pontos levados em importncia para que fosse considerada excelente (100%). Assim, em funo dos resultados encontrados, o setor de armazenagem do hospital pesquisado foi avaliado como regular. Contudo, necessrio relatar que durante a aplicao do formulrio, as informaes eram dadas pela gerente da instituio mesmo quando no solicitadas pela pesquisadora. Assim, foi possvel explanar todos os indicadores e agrupar informaes sobre todos eles, fazendo referncia literatura cientifica. A gerente administrativa do Hospital Nair Alves de Souza, discorreu em todos os momentos da entrevista e preenchimento do formulrio, que o hospital uma instituio de referncia em atendimento e servios prestados a comunidade, pois garante a excelncia nos atendimentos prestados.
4.3 Anlise dos Resultados da Pesquisa de Campo em Relao aos Acompanhantes dos Pacientes do Hospital Nair Alves de Souza
A seguir apresentam-se os resultados referentes pesquisa de campo realizada entre os dias 01 a 30 de abril de 2009, com os acompanhantes dos pacientes do hospital, estes responderam o formulrio com base nos pacientes que os mesmos acompanhavam, a fim de obter informaes acerca do tema proposto desta monografia. Para facilitar a compreenso do leitor, as questes foram
Apresentao e Anlise dos Resultados
73
divididas em duas etapas: dados demogrficos e atendimento e servios prestados, conforme segue abaixo.
4.3.1 Resultados: Caracterizao dos Respondentes
A seguinte pesquisa contou com uma amostra de 100 respondentes, a primeira etapa visa analisar localizao dos pacientes, sexo dos pacientes, faixa etria dos pacientes, grau de escolaridade dos pacientes e renda salarial (mdia) dos pacientes, a fim de delinear o perfil dos entrevistados. O grfico a seguir, detalha a porcentagem correspondente da localizao dos pacientes.
Grfico 4.3 Localidade dos pacientes
Fonte: Pesquisa realizada no perodo de 01 de abril a 30 de abril
Analisando o perfil dos pacientes, nota-se que h um percentual maior de pessoas que residem na cidade de Paulo Afonso-BA (74%), do que os que residem nas regies circunvizinhas (26%).
Apresentao e Anlise dos Resultados
74
Grfico 4.4 Sexo dos pacientes
Fonte: Pesquisa realizada no perodo de 01 de abril a 30 de abril
Considerando o perfil dos pacientes, nota-se que h um percentual maior de mulheres (88%) do que homens (12%). No entanto, mesmo com a predominncia do maior nmero de pacientes ser do sexo feminino, ambos contriburam igualmente para que a pesquisa obtivesse maior legitimidade.
Grfico 4.5 Faixa etria dos pacientes
Fonte: Pesquisa realizada no perodo de 01 de abril a 30 de abril
Observa-se que a idade dos pacientes variam entre 0 superior de 56 anos. 48% dos pacientes esto acima de 56 anos. 12% tm entre 46 a 55 anos. 7% tm
Apresentao e Anlise dos Resultados
75
entre 36 a 45 anos. 8% tm entre 26 a 35 anos. 15% tm entre 16 a 25 anos e 10% tm entre 0 a 15 anos.
Grfico 4.6 Grau de escolaridade dos pacientes
Fonte: Pesquisa realizada no perodo de 01 de abril a 30 de abril
Observando o grfico 4.6 possvel afirmar que a maioria dos pacientes no concluiu o segundo grau (56%) ou ainda esto cursando o mesmo (30%). 8 % do total possuem terceiro grau incompleto. 3% dos pacientes j concluram o terceiro grau e apenas 2% dos pacientes possuem algum curso de especializao (ttulos de graduao). Concluindo a anlise do perfil dos entrevistados, o grfico 4.7 detalha a renda salarial (mdia) daqueles que freqentaram o Hospital Nair Alves de Souza, no perodo em que a pesquisa foi realizada.
Apresentao e Anlise dos Resultados
76
Grfico 4.7 Renda salarial (mdia) dos pacientes
Fonte: Pesquisa realizada no perodo de 01 de abril a 30 de abril
De acordo com a amostra da pesquisa, a renda predominante referente maior parte dos pacientes est na faixa de 0 a 2 salrios mnimos com 47%, seguido de 3 a 5 salrios mnimos com 25%. 18% dos pacientes possuem renda entre 6 a 8 salrios mnimos. 7 % possuem entre 9 a 11salrios mnimos e somente 3% possuem renda acima de 12 salrios mnimos.
Apresentao e Anlise dos Resultados
77
4.3.2 Resultados: Caracterizao do Atendimento e Servios
A segunda etapa da pesquisa visa analisar segundo os acompanhantes dos pacientes, as condies do servio prestado pelo Hospital Nair Alves de Souza em relao ao atendimento e suprimento de suas atividades, a fim de obter informaes suficientes para o estudo desta monografia. O grfico a seguir, detalha a porcentagem correspondente ao nmero de vezes que o mesmo paciente esteve no hospital em estudo.
Grfico 4.8 Quantidade de vezes que o paciente j freqentou o hospital
Fonte: Pesquisa realizada no perodo de 01 de abril a 30 de abril
Observando o grfico 4.8 possvel conclui que a maioria dos pacientes j estiveram no hospital entre 3 a 5 vezes, correspondendo a um total de 48%. H tambm um grande nmero de pacientes que j estiveram na instituio entre 6 a 8 vezes, totalizando 20%, seguido de 18% que j estiveram entre 9 a 11 vezes. Foi possvel observar tambm, que os pacientes que j freqentaram o hospital acima de 12 vezes correspondem ao mnimo da amostra, com 4% e os que freqentaram apenas at duas vezes correspondem a 10% do total. A partir desta anlise nota-se que existe um fluxo bastante significativo de pacientes e que deve ser mencionado, em relao procura pelos servios mdico do Hospital Nair Alves de Souza. Assim, o grfico 4.9 logo abaixo, identifica com
Apresentao e Anlise dos Resultados
78
maior veracidade quais so as divises hospitalar onde existe maior rotatividade de pacientes.
Grfico 4.9 Divises hospitalar
Fonte: Pesquisa realizada no perodo de 01 de abril a 30 de abril
O Hospital Nair Alves de Souza apresenta algumas divises nos seus atendimentos mdico, tais como: clnica mdica, pediatria, maternidade, centro cirrgico e ortopedia. O grfico 4.9 delineia a rotatividade de pacientes em cada diviso. A clinica mdica representa 32% dos atendimentos realizados no hospital. O centro cirrgico apresenta 29%, seguido dos servios de ortopedia. 9% da amostra pesquisada referem-se pediatria e 4% a maternidade do hospital em estudo. De acordo com as anlises dos grficos 4.5, referente faixa etria e 4.8 referente quantidade de vezes em que o mesmo paciente j freqentou o Hospital Nair Alves de Souza, em relao ao grfico 4.9, possvel relatar que a amostra da diviso clnica mdica com 32% de freqncia, representa 48% dos pacientes inclusos na faixa etria acima de 56 anos e 48% do nmero de rotatividade dos mesmos no hospital. A razo relatada pelos acompanhantes dos pacientes por estarem no momento no hospital, vo de um simples mal estar at complicaes
comprometedoras do estado de sade, incluindo internamentos e cirurgias, evidenciando a necessidade de diversos medicamentos e materiais no hospital.
Apresentao e Anlise dos Resultados
79
Grfico 4.10 Procura por algum outro hospital
Fonte: Pesquisa realizada no perodo de 01 de abril a 30 de abril
O grfico 4.10 analisa o nmero de pacientes que antes de procurar o Hospital Nair Alves de Souza esteve em outra instituio de sade. 81% dos entrevistados responderam que somente procuraram o atendimento mdico do hospital em estudo, devido ausncia de recursos financeiros e condies de se deslocarem para outras localidades, enquanto que 19% da amostra relataram que j haviam buscado os servios de outras unidades de sade, desse total alguns procuraram por servios particulares e outros pelos servios pblicos de outro hospital localizado tambm na cidade de Paulo Afonso-BA, porm em outro bairro que difere do hospital estudado.
Apresentao e Anlise dos Resultados
80
Grfico 4.11 Tempo de permanncia no hospital
Fonte: Pesquisa realizada no perodo de 01 de abril a 30 de abril
O grfico 4.11 apresenta o perodo em dias, que o paciente j precisou permanecer no hospital. 32% dos pacientes j precisou permanecer de 2 a 5 dias. 28% j permaneceu apenas 1 dia. 17% ficou internado no hospital cerca de 6 a 9 dias, seguido de 13% dos pacientes de 10 a 13 dias e 10% da amostra permaneceu internado por acima de 14 dias no hospital.
Grfico 4.12 Necessidade de ser medicado no hospital ou do uso de algum material
Fonte: Pesquisa realizada no perodo de 01 de abril a 30 de abril
Apresentao e Anlise dos Resultados
81
Conforme o grfico 4.12 referente necessidade do paciente ser medicado (medicamento via oral e/ou via local) e necessidade do uso de algum material (gases, algodo), 99% da amostra responderam que j utilizaram esses servios, enquanto que apenas 1% disseram que no foi necessrio.
Grfico 4.13 Necessidade de ser medicado ou do uso de algum material e no houve o atendimento
Fonte: Pesquisa realizada no perodo de 01 de abril a 30 de abril
O grfico 4.13 apresenta o total da amostra de pacientes que precisou ser atendido em um determinado momento no Hospital Nair Alves de Souza. 78% da amostra, disseram que j precisou ser atendido e, no entanto no houve esse atendimento por falta do material na instituio. Dentre os casos, foram mencionada ausncia de materiais de primeiros socorros, medicamentos de via local (injees, soro), medicamentos via oral (comprimidos), quando esses j se encontravam internados no hospital e medicamentos cirrgicos, a ponto da cirurgia ser cancelada por conta da deficincia de material. Em alguns casos, o atendimento foi simplesmente suspenso, enquanto que em outros, o colaborador do hospital pediu ao acompanhante do paciente que se deslocassem a uma farmcia a fim de adquirir o medicamento. Contudo, 22% dos pacientes no passaram por tal situao.
Apresentao e Anlise dos Resultados
82
Grfico 4.14 Quem era o profissional durante o atendimento
Fonte: Pesquisa realizada no perodo de 01 de abril a 30 de abril
A partir da anlise feita do grfico 4.13, o grfico 4.14 apresenta os profissionais envolvidos no momento do atendimento da ausncia de materiais. 85% correspondem aos auxiliares de enfermagem. 10% da amostra correspondem aos enfermeiros e 5% aos mdicos do Hospital Nair Alves de Souza.
Grfico 4.15 Quantidade de materiais e correlatos suficientes para o atendimento
Fonte: Pesquisa realizada no perodo de 01 de abril a 30 de abril
O grfico 4.15 apresenta o resultado da questo referente disponibilidade da quantidade necessria de materiais e correlatos para o atendimento dos
Apresentao e Anlise dos Resultados
83
pacientes. 90% acham que o hospital no oferece a quantidade suficiente para que seus servios sejam desempenhados de maneira satisfatria e com qualidade, e somente 10% da amostra responderam que acham a quantidade suficiente.
Grfico 4.16 Nvel de satisfao quanto ao fornecimento de materiais e correlatos
Fonte: Pesquisa realizada no perodo de 01 de abril a 30 de abril
O grfico 4.16 apresenta o ndice de satisfao em relao ao fornecimento de materiais e correlatos no Hospital Nair Alves de Souza. 75% da amostra mostraram-se insatisfeitos com o hospital. 15% esto pouco satisfeitos e 10% do total da amostra esto satisfeitos.
Apresentao e Anlise dos Resultados
84
Grfico 4.17 Nvel de satisfao quanto ao atendimento dos colaboradores
Fonte: Pesquisa realizada no perodo de 01 de abril a 30 de abril
grfico
4.17
apresenta
os
nveis
de
satisfao
dos
pacientes/acompanhantes em relao ao atendimento dos colaboradores do hospital. 40% do valor da amostra apresentam insatisfao quanto ao atendimento dos profissionais do hospital. 32% apresentam-se pouco satisfeitos e 28% apresentam ndice de satisfao.
Grfico 4.18 Nvel de agilidade quanto ao atendimento
Fonte: Pesquisa realizada no perodo de 01 de abril a 30 de abril
Apresentao e Anlise dos Resultados
85
Assim, concluindo as anlises o grfico 4.18 apresenta o nvel de agilidade no atendimento do hospital segundo os entrevistados. 38% consideram o servio como pouco satisfeito, 29% consideram insatisfeito. 21% do total da amostra avaliam o servio como indeciso e 12% afirmam que o nvel de agilidade dos servios do Hospital Nair Alves de Souza so satisfatrios. Terminada as anlises das questes propostas nos formulrios aplicados, o prximo tpico ser composto das consideraes finais dos resultados obtidos nas anlises, a fim de mensurar dados para responder o problema de pesquisa e os objetivos propostos nesta monografia.
4.4 Consideraes Finais das Anlises dos Resultados
Aps analisados os resultados obtidos nas fases da coleta de dados, percebe-se que houve uma discrepncia entre as respostas da gerente administrativa do Hospital Nair Alves de Souza e a dos acompanhantes dos pacientes que se encontravam no momento da pesquisa. Em relao amostra dos pacientes, a maioria deles reside na cidade de Paulo Afonso BA, so do sexo feminino, possuem idade superior a 56 anos, no concluram o segundo grau e recebem cerca de 0 a 2 salrios mnimos por ms. Estes pacientes j estiveram em mdia de 3 a 5 vezes no hospital em estudo e freqentaram cerca de 32% dos atendimentos da clinica mdica. Os motivos relatados pelos acompanhantes dos pacientes de estarem no hospital variam de um simples mal estar at internaes e cirurgias de risco que comprometam o estado de sade do paciente, necessitando de estarem internados por cerca de 2 a 5 dias. A necessidade de ser atendido pelos servios mdicos da instituio notvel, quando cerca de 81% dos entrevistados procuraram apenas o hospital em estudo, evidenciando grade demanda dos servios . Dentre esta amostra, 99% dos pacientes j precisaram ser medicados ou atendidos a partir do uso de materiais da instituio, no entanto, 78% dos pacientes j precisaram dos servios e tiveram suas necessidades de atendimento no realizadas, pela ausncia de materiais no hospital ou precisaram deslocar seus acompanhantes para providenciar o medicamento, quando estes afirmaram muitas vezes no possurem recursos financeiros para a compra, o que implica na distoro das respostas dadas pela gerente do hospital.
Apresentao e Anlise dos Resultados
86
Durante a entrevista com a gerente, a mesma relatou que no existem ndices de atendimentos no realizados por falta de medicamentos e ainda afirmou que o hospital possui um caixa reserva para situaes de compras emergenciais, quando no existe o material em estoque, para evitar possveis imprevistos. Conforme a gerente, os auxiliares de enfermagem so responsveis pela conferncia do material existente em cada clinica e entrega de requisio no estoque da farmcia solicitando o abastecimento dos materiais. Entretanto, de acordo com os acompanhantes estes mesmos auxiliares de enfermagem so os profissionais que esto na maioria das vezes presentes nos atendimentos da ausncia de materiais, representando 85% dos colaboradores. Assim, 90% dos acompanhantes dos pacientes afirmaram que o Hospital Nair Alves de Souza, no oferece a quantidade de materiais suficientes para a demanda dos atendimentos, visto que representa um modelo de hospital de mdia complexidade com atendimento para a cidade local e mais 22 municpios e mostram-se insatisfeitos em relao a este indicador, com uma porcentagem de 75% da amostra entrevistada. Tambm se apresentam insatisfeitos quanto ao atendimento dos colaboradores com 40% do total da amostra e pouco satisfeitos com o nvel de agilidade nos servios por eles executados, representando 38% dos respondentes. A insuficincia de materiais nos servios de sade surge ainda a partir do inicio do ciclo dos processos, seleo de materiais, gesto de estoques, compras ou aquisies e armazenagem, pois todas estas atividades devem ser devidamente conduzidas de maneira minuciosa a fim de evitar erros e condies que comprometam os servios. Os profissionais envolvidos no desenvolvimento das atividades acima devem estar atentos a execuo do trabalho, alm do planejamento de todas as etapas do mesmo. Identificar os gargalos envolvidos na gesto de suprimento e as causas desses problemas evita situaes emergenciais. O Hospital Nair Alves de Souza apresentou insuficincias na gesto de suprimento de medicamentos e correlatos, no entanto durante a entrevista com a Sr gerente administrativa do hospital foi levantado todos os fatores que poderiam resultar em tal fator, transportes, manuteno de estoques, processamento de pedidos, armazenagem, manuseio de materiais, embalagem, suprimentos,
planejamento e sistema de informao. No entanto, a mesma contraps que no
Apresentao e Anlise dos Resultados
87
mereciam ser citados, pois eram ndices relevveis visto que no havia situaes registradas por ausncia de atendimento.
4.4.1 Resultados da Obteno dos Objetivos Especficos
Depois de estabelecidos os objetivos especficos, alguns passos foram adotados para que houvesse a identificao e a obteno dos mesmos na instituio de sade hospitalar Nair Alves de Souza, conforme citados anteriormente. No que diz respeito ao objetivo identificar quais so os gargalos envolvidos na administrao de materiais dos servios de sade hospitalares, a autora o alcanou quando ainda durante a idia inicial de desenvolvimento desta monografia atravs de um fato verdico presenciou no hospital a ausncia de um medicamento solicitado pelo mdico responsvel pelo atendimento, a uma auxiliar de enfermagem e a mesma relatou a ausncia da medicao, assim a pesquisadora decidiu aprofundar o caso e estudar o que resultaria essa ausncia. O segundo objetivo proposto foi identificar as causas dos problemas na administrao de materiais dos servios de sade hospitalares, este foi atingido a partir do estudo da logstica, assim aplicando o mesmo no hospital estudado e identificando que a instituio detm algumas falhas nos processos que dificulta a administrao, dentre elas a ausncia do planejamento dos materiais necessrios a serem utilizados pela organizao de maneira precisa, a ausncia do planejamento de quem comprar, incluindo a anlise da localizao do fornecedor e a distncia deste a cidade que se encontra o hospital, alm da anlise dos preos dos produtos e o prazo de entrega dos materiais. No que se refere ao objetivo analisar a atuao dos colaboradores na gesto de suprimento de materiais dos servios de sade hospitalares, este foi alcanado a partir do estudo do formulrio respondido pela gerente do hospital, quando a mesma relatou que os profissionais envolvidos na rea estudada s recebem treinamentos quando ingressam na organizao, independentemente do trabalho realizado e da maneira como realizado, sendo necessria a observao intensa desses profissionais que deles dependem todo o funcionamento da administrao e utilizao dos materiais e correlatos do hospital. O quarto objetivo proposto refere-se a identificar a percepo dos acompanhantes dos pacientes em relao gesto de suprimento de materiais do
Apresentao e Anlise dos Resultados
88
hospital em estudo, quando este foi atingido a partir da realizao da tabulao dos dados do formulrio aplicado com os mesmos, apresentando um ndice de insatisfao representado por 75% da amostra pesquisada. E por fim, o quinto objetivo propor sugestes de melhoria, se necessrio, focadas na rea de administrao de materiais, foi alcanado quando a autora sugeriu um maior planejamento das atividades tpicas de suprimento do hospital, alm de treinamentos especficos para os profissionais e colaboradores envolvidos no setor pesquisado.
4.4.2 Sugestes de Melhorias
Diante do estudo realizado no Hospital Nair Alves de Souza possvel propor algumas sugestes de melhorias, para a gesto de suprimento de materiais do hospital, a fim de obter maior eficincia no processo e qualidade nos atendimentos, evidenciando a percepo satisfatria da populao no que diz respeito aos servios prestados pela instituio. A anlise da seleo de materiais certos para o usurio e a organizao precisaria ser cuidadosamente avaliada, pois seria necessria a realizao de um levantamento das patologias existente na regio, bem como o fornecimento dos medicamentos e correlatos em quantidades suficientes para os atendimentos das especialidades descritas no perfil do hospital, levando em considerao a necessidade de tais materiais dispostos para realizao dos servios. A definio de critrios para adotar novos materiais passaria a existir a partir do planejamento visando situaes emergenciais, alm da investigao sobre as variaes de consumo por medicamentos e correlatos. Em relao anlise e acompanhamento dos estoques, seria necessria a implantao de um programa computadorizado atual e com ferramentas capazes de conectar-se com todos os computadores do hospital, estabelecendo assim um sistema de redes interligadas, capazes de fornecer informaes diretamente entre clinicas e os devidos setores, de acordo com os servios realizados. A utilizao de mtodos especficos que definem a prioridade de compras, tais como a classificao ABC e XYZ, facilitariam respectivamente um procedimento que visa identificar os produtos em funo dos valores que eles representam e, com isso, estabelecer formas de gesto apropriadas importncia de cada item em
Apresentao e Anlise dos Resultados
89
relao ao valor total considerado e o grau de criticalidade ou imprescindibilidade do material para as atividades em que eles estaro sendo utilizados. A partir da deciso de compra realizada, necessria a investigao de quem so os fornecedores, pois alguns fatores merecem ser considerados na hora da compra, como: distncia entre comprador e fornecedor, transportes, processamento de pedidos, embalagem, prazo de entrega e o preo, que seno analisados contribuem para prejuzos nas instituies, vale ressaltar que o Hospital Nair Alves de Souza no considera este indicador. necessria tambm uma avaliao parcial antes da reposio dos estoques quanto ao espao disponvel, pois a superlotao do local contribui para danos financeiros e de teorizao de medicamentos e correlatos, pois o espao que o hospital dispe menor do que a demanda dos medicamentos e correlatos. Por fim, a autora sugere treinamentos a cada trs meses, de acordo com o abastecimento e pedidos de medicamentos e correlatos, especficos para os colaboradores que trabalham no setor de suprimento de materiais do hospital, a fim de capacit-los para melhor rendimento e satisfao no desempenho de suas funes.
CAPTULO 5 CONCLUSO
Concluso
91
5. Concluso
Neste captulo so apresentadas as consideraes finais da pesquisa, as sugestes para futuras investigaes relacionadas ao tema bem como as principais limitaes desse estudo.
5.1 Consideraes Finais
A concluso desta monografia refere-se aos objetivos geral e especficos traados pela autora, os quais nortearam todo o estudo. A monografia apresentou os conceitos de logstica, mais especificamente sobre a gesto de suprimento de materiais. Gerenciar uma organizao muito mais do que executar atividades administrativas. A anlise interna do gestor da instituio, no garantia da obteno da eficcia e eficincia. Os colaboradores das organizaes precisam desenvolver suas atividades em contnua interao, para a garantia e o alcance do sucesso na instituio. A partir da logstica, a gesto de suprimento de medicamentos e correlatos realiza um trabalho por meio de pessoas para entregar o material certo ao usurio certo, no momento e nas quantidades certas, observando as melhores condies para a organizao. Neste contexto, este estudo buscou analisar a gesto de suprimento de materiais em um hospital da cidade de Paulo Afonso BA. Diante desses dados a pergunta de pesquisa Quais so os problemas existentes na gesto de suprimento de materiais dos servios de um hospital? Foi respondida. Contudo, verificou-se ainda, que os processos da gesto de suprimentos de materiais do hospital Nair Alves de Souza no satisfaz plenamente a real necessidade da populao de Paulo Afonso - BA, devido ao fato de ter sido comprovado a ausncia dos medicamentos em muitos casos de atendimento, o que origina a insatisfao dos pacientes em relao ao hospital. Segundo os entrevistados, 78% dos pacientes no receberam atendimentos mdico pela ausncia de materiais na instituio. Assim, tendo apresentado as consideraes finais deste estudo, a seguir sero comentadas as principais limitaes desta investigao.
Concluso
92
5.2 Limitaes do Estudo
de grande importncia ressaltar as limitaes acontecidas durante a realizao desta monografia. Um fator que tornou a pesquisa limitada foi o fato da no abertura em relao pesquisa com todos os funcionrios do setor de administrao de suprimento de materiais e correlatos do hospital e o acompanhamento do mesmo por um determinado perodo, a fim de analisar e vivenciar na prtica a efetivao das atividades de suprimento, alm de ausncia de dados especficos do Hospital Nair Alves de Souza. O fator tempo tambm contribuiu bastante com as limitaes desse estudo, pois a pesquisa precisou ser bastante detalhada e analisada com ateno. Em se tratado de um estudo criterioso, a autora sentiu algumas dificuldades em relao busca de literaturas confiveis, visto que em relao ao assunto abordado muitas das referncias tiveram que ser buscadas em pela Internet, devido carncia bibliogrfica sobre o tema em estudo. Tendo apresentado as limitaes deste estudo, o tpico seguinte descreve as sugestes para a realizao de futuras pesquisas.
5.3 Sugestes para Futuras Pesquisas
A autora prope um estudo que aborde todas as instituies de sade da cidade de Paulo Afonso - BA, com o intuito de reunir um maior nmero da amostra pesquisada. Fica tambm como sugesto a realizao de um estudo mais aprofundado que identifique todo o sistema e atividades de uma instituio de sade.
REFERNCIAS
Referncias
94
Referncias
ALVES, Alexandre da Silva. Ferramentas de Supply Chain Management para a Otimizao de Estoques. 2008. Disponvel em: < www.administradores.com.br/producao_academica/ferramentas_de_supply_chain_ management_para_a_otimizacao_de_estoques/994/>. Acesso em 08 de setembro de 2008.
ALVES, Osildo. UTI s em 2009. .Net, Paulo Afonso, junho 2008. Seo Notcias. Disponvel em: < http://www.pauloafonsonoticias.com.br/internas/read/?id=716>. Acesso em: 13 maio 2009.
ANDRADE, Maria Margarida de. Introduo Metodologia do Trabalho Cientfico. 4 Ed. So Paulo: Atlas, 1999.
BALLOU, Ronald H. Logstica Empresarial: Transportes; Administrao de materiais; e Distribuio fsica. So Paulo: Atlas, 1993.
BARBIERI, Jos Carlos & MACHLINE, Claude. Logstica Hospitalar: Teoria e prtica. So Paulo: Saraiva, 2006.
BERTAGLIA, Paulo Roberto. Logstica e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento. So Paulo: Saraiva, 2003.
BORGES, D. F. & NORONHA, Andr Gustavo Mavgnier de. Qualidade da Gesto de Medicamentos: Um estudo em hospitais pblicos de Natal/Rn . In: VIII Seminrio de Pesquisa do CCSA- Universidade, tica e Responsabilidade Social, 2002, Natal. VIII Seminrio de Pesquisa do CCSA- Universidade, tica e Responsabilidade Social Natal-RN, 2002.
CERVI, Roberto. Centralizao de compras como estratgia logstica: O caso das Farmcias Magistrais. 2002. 169 p. Dissertao (Mestrado em Engenharia da Produo) Florianpolis, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianpolis SC.
CHIAVENATO, Idalberto. Administrao de Recursos Humanos: Fundamentos Bsicos. So Paulo: Atlas, 2003.
COOPER, Donald R. & SCHINDLER, Pamela S. Mtodos de pesquisa em administrao. 7 Ed. So Paulo: Bookman, 2003.
Referncias
95
CORONADO, Osmar. Logstica Integrada: Modelo de Gesto. So Paulo: Atlas, 2007.
COSTA, Cristiane Salom Ribeiro. Risco Percebido e estado de fluxo em compras pela Internet. 2007. 149 p. (Mestrado em Administrao) Universidade Federal de Pernambuco. Recife.
COSTA, Lindomar Teixeira da. Gesto estratgica de estoques na distribuio de material eltrico. 2002. 117 p. Dissertao (Mestrado em Engenharia da Produo) Florianpolis, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianpolis SC.
DEMO, Guilherme. Gerenciamento e controle de estoque. 2005. Disponvel em: < www.administradores.com.br/producao_academica/gerenciamento_e_controle_de_e stoque/11/download/>. Acesso em 16 de setembro de 2008.
FLEURY, Paulo Fernando. Supply Chain Management: Conceitos, Oportunidades e Desafios da Implementao. 1999. Disponvel em:< http://www.ilos.com.br/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=10& dir=DESC&order=date&Itemid=44&limit=99&limitstart=99>. Acesso em 04 de maio de 2009.
FRANCISHINI, Paulino G. & GURGEL, Floriano do Amaral. Administrao de Materiais e Patrimnio. So Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.
GIL, Antnio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 3 Ed. So Paulo: Atlas, 1991.
GIL, Antnio Carlos. Mtodos e tcnicas de pesquisa social. 5 Ed. So Paulo: Atlas, 1999.
IBGE. Estatsticas da Sade Assistncia Mdico Sanitria 2005. Comunicao social 01 nov. 2006. Disponvel em:<http://www1.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_impressao.php?id_n oticia=722>. Acesso em: 12 fev. 2009.
INFANTE, Maria & SANTOS, Maria Anglica Borges dos. A organizao do abastecimento do hospital pblico a partir da cadeia produtiva: uma abordagem logstica para a rea de sade. Cinc. sade coletiva [online]. 2007, v. 12, n. 4, p. 945-954.
Referncias
96
KRAJEWSKI, Lee J. Operations management. 8 Ed. Pearson Prentice Hall, 2009.
LAKATOS, Eva Maria & MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia Cientfica. 4 Ed. So Paulo: Atlas, 2001.
LIMA, Franklin Rocha Oliveira & RODRIGUES, Raimundo Nonato Moura. Almoxarifado hospitalar. 2009. Disponvel em: < http://www.administradores.com.br/producao_academica/almoxarifado_hospitalar/16 79/ >. Acesso em 22 de abril de 2009.
LIMA, Juliano de Carvalho. Histria das lutas sociais por sade no Brasil. .Net, Niteri, abril 2006. Seo Trabalho necessrio. Disponvel em: <http://www.uff.br/trabalhonecessario/Juliano%20TN4.htm>. Acesso em: 13 maio 2009.
LIMA, Leonardo Tibo Barbosa. Um novo modelo para o servio pblico de sade brasileiro. .Net, Rio de Janeiro, setembro 2005. Seo Doutrina. Disponvel em: < http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7351>. Acesso em: 13 maio 2009.
LOPES, Mnica Cristina & FILHO, Gilse Ivan Regis. A Motivao humana no trabalho: o desafio da gesto em servios de sade pblica. Itaja, Universidade do Vale do Itaja, 2003. v. 1. 135 p.
MALHOTRA, N. K. Pesquisa de Marketing: uma orientao aplicada. 3 ed. Porto Alegre. Bookman. 2001.
MATTAR, Frauze N. Pesquisa de Marketing: execuo e a anlise. 2 ed. So Paulo, Atlas, 1998.
MATTAR, Frauze N. Pesquisa de Marketing: metodologia e planejamento. So Paulo: Atlas, 1999.
MONTEIRO, Andrea Regina e outros. O impacto do e-procurement na obteno de insumos hospitalares: o caso de um hospital da rede particular da cidade de Joo Pessoa. In: XXIII ENEGEP Ouro Preto, MG, Brasil, 21 a 24 de outubro de 2003. Anais... ENEGEP 2003.
PAULO AFONSO (Interior). Faculdade Sete de Setembro. Manual de Orientao para Normalizao de Trabalhos Cientficos. Paulo Afonso, 2006.44.
Referncias
97
PEREIRA, Jos Matias. A importncia da logstica no mbito hospitalar. .Net, Braslia, junho 2002. Seo Gesto. Disponvel em: <http://www.noticiashospitalares.com.br/junho2002/htms/gestao.htm>. Acesso em: 13 maio 2009.
PIRES, Slvio R.I. Gesto da Cadeia de Suprimentos (Supply Chain Management): Conceitos, estratgias, Prticas e Casos. So Paulo: Atlas, 2007.
POZO, Hamilton. Administrao de Recursos Materiais e Patrimoniais: Uma Abordagem Logstica. 3 Ed. So Paulo: Atlas, 2004.
RIBEIRO, Srgio. Logstica hospitalar: desafio constante. .Net, Braslia, maro 2005. Seo Apoio. Disponvel em: <http://www.noticiashospitalares.com.br/mar2005/htms/apoio.htm>. Acesso em: 13 maio 2009.
ROESCH, Sylvia Maria Azevedo. Projetos de Estgio e de Pesquisa em Administrao. 3 Ed. So Paulo: Atlas, 2005.
SILVA, Ccero Valwedes Gomes da. A Logstica na Gesto da Cadeia de Suprimentos da rea Hospitalar: Um estudo de caso do Hospital Nair Alves de Souza. 2006. 40 p. Monografia (Graduao em Bacharelado em Administrao), Faculdade Sete de Setembro FASETE, Paulo Afonso BA.
SILVA, S. M. & FLEURY, M. T. L. A gesto das competncias organizacionais na perspectiva da cadeia produtiva: um estudo na indstria de telecomunicaes. RAUSP. Revista de Administrao, So Paulo, v. 40, n. 3, p. 253-265, 2005.
SIMES, Simara Amaral. Gesto da Cadeia de Suprimento de Medicamentos da Fundao Nacional de Sade no Municpio de Paulo Afonso BA. 2008. 119 p. Monografia (Graduao em Bacharelado em Administrao), Faculdade Sete de Setembro FASETE, Paulo Afonso BA.
SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart & JOHNSTON, Robert. Administrao da Produo. 2 Ed. So Paulo: Atlas, 2002.
TAMAYO, A. Valores Organizacionais: sua relao com satisfao no trabalho, cidadania organizacional e comprometimento afetivo. Revista de Administrao, USP, v. 33, n. 3, p. 56-63, 1998.
Referncias
98
TRAVASSOS, Cludia e outros. Desigualdades geogrficas e sociais na utilizao de servios de sade no Brasil. Cincia & Sade Coletiva, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 133-149, 2000.
VIANA, Joo Jos. Administrao de Materiais: Um Enfoque Prtico. So Paulo: Atlas, 2002.
YUK, Caroline Silva; KNEIPP, J. M. & OLIVEIRA, G. A.. Sistema de incentivos em um supermercado de Pelotas: Um estudo de caso. In: XV Congresso de Iniciao Cientfica UFPel, 2006, Pelotas. XV Congresso de Iniciao Cientfica, 2006.
APNDICES
Apndices
100
ORGANIZAO SETE DE SETEMBRO DE CULTURA E ENSINO LTDA FACULDADE SETE DE SETEMBRO FASETE Credenciado pela Portaria MEC-206/2002-DOU. 29/01/2002 Avenida Vereador Jos Moreira, 1000 Centro 48601-180 Paulo Afonso Bahia
APNDICE A Senhor (a) gostaria de contar com a sua colaborao para preencher este formulrio de pesquisa, elaborado por mim, Luciana Pereira de Souza, aluna do VIII perodo de Administrao - FASETE, que tem como objetivo analisar a Administrao de suprimento (medicamentos e materiais) do Hospital Nair Alves de Souza, na cidade de Paulo Afonso BA, este se refere ao meu trabalho de concluso de curso, sob a orientao da mestra Cynthia Mattosinho, professora da instituio.
FORMULRIO
DE
IDENTIFICAO
DE
PROCESSOS
DESTINADO
AO
COLABORADOR E/OU GESTOR DA FARMCIA FORMULRIO: IDENTIFICAO DE PROCESSOS ATIVIDADES TPICAS DE SUPRIMENTO: SELEO DE MATERIAIS; GESTO DE ESTOQUES; COMPRAS OU AQUISIES; E ARMAZENAGEM.
Entrevistador:
Data:
Entrevistado:
Setor/Departamento:
Cargo:
Formao escolar:
Tempo que trabalha na empresa:
Tempo que trabalha na funo:
Processo:
O que feito?
Quem executa?
Apndices
101
Por que executado?
Onde executado?
Quando executado?
Qual o perodo a ser executado?
Como executado?
Existem mtodos para ser executado?
Fornecedores internos
Clientes internos
Dificuldades/gargalos
Sugesto de melhoria
Medidas/indicadores de desempenho
Treinamentos indicados
Tecnologia de informtica atual e desejvel
Registros envolvidos/ Documentao
Metas de desempenho atuais
Metas de desempenho desejveis
Apndices
102
ORGANIZAO SETE DE SETEMBRO DE CULTURA E ENSINO LTDA FACULDADE SETE DE SETEMBRO FASETE Credenciado pela Portaria MEC-206/2002-DOU. 29/01/2002 Avenida Vereador Jos Moreira, 1000 Centro 48601-180 Paulo Afonso Bahia
APNDICE - B Senhor (a) gostaria de contar com a sua colaborao para preencher este questionrio de pesquisa, elaborado por mim, Luciana Pereira de Souza, aluna do VIII perodo de Administrao - FASETE, que tem como objetivo analisar a Administrao de suprimento (medicamentos e materiais) e o atendimento dos colaboradores do Hospital Nair Alves de Souza, na cidade de Paulo Afonso BA, este se refere ao meu trabalho de concluso de curso, sob a orientao da mestra Cynthia Mattosinho, professora da instituio.
QUESTIONRIO DESTINADO AOS ACOMPANHANTES DOS PACIENTES - Dados demogrficos
1) Localizao dos pacientes: __________________________________________
2) Sexo dos pacientes:
Masculino ( )
Feminino ( )
3) Faixa etria dos pacientes: ( ) 0 15 anos ( )16 25 anos ( ) 26 35 anos ( ) 36 45 anos ( ) 46 a 55 anos ( ) acima de 56 anos
4) Grau de escolaridade dos pacientes: ( ) No concluiu o 2 grau ( ) 3 grau incompleto ( ) Cursos de especializao ( ) 2 grau completo ( ) 3 grau completo
5) Renda salarial (mdia) dos pacientes: ( ) 0 2 salrio mnimo ( ) 3 5 salrios mnimos
( ) 6 8 salrios mnimos ( ) 9 11 salrios mnimos ( ) acima de 12 salrios mnimos
Apndices
103
- Atendimento e servios prestados
6) Quantas vezes o paciente que voc acompanha esteve no hospital? ( ) 0 2 vez ( ) 3 5 vezes ( ) 6 8 vezes ( ) 9 11 vezes
( ) acima de 12 vezes
7) Em qual diviso do hospital ele costuma ser atendido? ( ) Pediatria ( ) Maternidade ( ) Centro cirrgico ( ) Clinica mdica ( ) Ortopedia
8) Procurou algum hospital, posto ou clinica antes de vir ao Nair Alves de Souza? ( ) Sim; Qual?; Por qu?_______________________________________________ ( ) No; Por qu? ____________________________________________________
9) Por quanto tempo precisou permanecer no Hospital Nair Alves de Souza? ( ( ) apenas 1 dia ) acima de 14 dias ( ) 2 a 5 dias ( ) 6 a 9 dias ( )10 a 13 dias
10) O paciente que voc acompanha j precisou ser medicado ( medicamento via oral e/ou via local) ou do uso de materiais ( gases, algodo) no Hospital Nair Alves de Souza? ( ) Sim ( ) No
11) Alguma vez, o paciente que voc acompanha necessitou de medicamento e no foi atendido? Em caso da resposta ter sido positiva, por qual razo? Qual foi a justificativa dada pelo colaborador do hospital? ( ) Sim ( )No
Por qual razo?_______________________________________________________ Justificativa?_________________________________________________________
Apndices
104
12) Quem era o profissional durante o atendimento? ( ) Mdico ( ) Enfermeiro ( ) Auxiliar de Enfermagem
13) Em sua opinio, o Hospital Nair Alves de Souza, dispe da quantidade necessria de materiais e correlatos para o atendimento dos pacientes? ( ) Sim ( ) No
14) Qual o nvel de satisfao quanto ao fornecimento de materiais e correlatos? ( ) Satisfeito plenamente ( ) Satisfeito ( ) Indeciso ( ) Pouco satisfeito
( ) Insatisfeito
15) Qual o nvel de satisfao quanto ao atendimento dos colaboradores? ( ) Satisfeito plenamente ( ) Insatisfeito ( )Satisfeito ( ) Indeciso ( )Pouco satisfeito
16) Como voc avalia a agilidade no atendimento do hospital? ( ) Satisfeito plenamente ( ) Satisfeito ( ) Indeciso ( ) Pouco satisfeito
( ) Insatisfeito
Muito Obrigada pela sua Participao!
Você também pode gostar
- Todos Os Xingamentos Do Mundo - Google SearchDocumento1 páginaTodos Os Xingamentos Do Mundo - Google SearchJulia RibeiroAinda não há avaliações
- Viver Limpo - A Jornada Continua (Narcóticos Anônimos)Documento208 páginasViver Limpo - A Jornada Continua (Narcóticos Anônimos)Evandro Godoi100% (1)
- Percepções Cuidado Da Equipe Multiproficional Aos Idosos em ILPIsDocumento79 páginasPercepções Cuidado Da Equipe Multiproficional Aos Idosos em ILPIsBlack Panther Bril100% (1)
- Fonoaudiologia Nos Distúrbios Do Espectro Autístico: Uma Experiência de Oficina de Formação de TerapeutasDocumento87 páginasFonoaudiologia Nos Distúrbios Do Espectro Autístico: Uma Experiência de Oficina de Formação de TerapeutasJonas Machado100% (2)
- OSCE - Conheça o Livro.v2Documento34 páginasOSCE - Conheça o Livro.v2alinesilvaaju79100% (1)
- Fono. Educacional RepositórioDocumento51 páginasFono. Educacional Repositórioceliane sousa100% (1)
- Gestão de FrotaDocumento187 páginasGestão de Frotajane_gustavoAinda não há avaliações
- Coletânea de Atividades Educação FísicaDocumento219 páginasColetânea de Atividades Educação FísicaRafael Ayres Baena100% (1)
- LivroDocumento177 páginasLivroTereza Cristina SilvaAinda não há avaliações
- Guia Treinamento para Corte de CabeloDocumento10 páginasGuia Treinamento para Corte de CabeloJCBertinAinda não há avaliações
- Material Apoio Atls Liga Do TraumaDocumento22 páginasMaterial Apoio Atls Liga Do TraumaKrewbrAinda não há avaliações
- Tema 2 - A Formação Do Reino de PortugalDocumento9 páginasTema 2 - A Formação Do Reino de PortugalAlexandra EnesAinda não há avaliações
- TCC - Implantação de Plano de Cargos e SaláriosDocumento116 páginasTCC - Implantação de Plano de Cargos e SaláriosMaria Antonia Ribeiro100% (1)
- Projeto Terapeutico SingularDocumento176 páginasProjeto Terapeutico SingularAna Claudia Carvalho100% (1)
- A Construção Da Pesquisa em Educação No BrasilDocumento49 páginasA Construção Da Pesquisa em Educação No BrasilDaiani Damm Tonetto Riedner86% (7)
- BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS AVALIAÇÃO PELO MEC - INEP - CrestanaDoutoradoDocumento194 páginasBIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS AVALIAÇÃO PELO MEC - INEP - CrestanaDoutoradoMarcelo Da Silva GomesAinda não há avaliações
- Metodologias AtivasDocumento42 páginasMetodologias AtivasbiomedlauraturaniAinda não há avaliações
- LauraMartinsValdevitePereiraCorrig PDFDocumento73 páginasLauraMartinsValdevitePereiraCorrig PDFSeu JalminhaAinda não há avaliações
- Sonia CiprianoDocumento331 páginasSonia Ciprianosuelen.farmaceuticaAinda não há avaliações
- Jose Olimpio Cardoso NetoDocumento123 páginasJose Olimpio Cardoso Netofrancisco_araujo_22Ainda não há avaliações
- Farmacia HospitalarDocumento217 páginasFarmacia HospitalarMárcia Loureiro100% (1)
- Relatório de Pesquisa - Dissertação Após Considerações Banca - Versão FinalDocumento102 páginasRelatório de Pesquisa - Dissertação Após Considerações Banca - Versão FinalsamugodAinda não há avaliações
- Indic AdoresDocumento58 páginasIndic Adoresscc.emfAinda não há avaliações
- RF05-Proposta de Um Sistema de indicadores-PAULA NUNESDocumento198 páginasRF05-Proposta de Um Sistema de indicadores-PAULA NUNESlkmbAinda não há avaliações
- Edileide Souza BausenDocumento141 páginasEdileide Souza BausenVivianeAinda não há avaliações
- Eline EmanoeliDocumento156 páginasEline EmanoeliNlandu JoãoAinda não há avaliações
- Escala de Estresse PercebidoDocumento64 páginasEscala de Estresse PercebidoMichele Amanda AlmeidaAinda não há avaliações
- Avaliação SUSDocumento58 páginasAvaliação SUSGiselle Lima verdeAinda não há avaliações
- Percepção Do Enfermeiro Acerca Da Liderança AdministrativaDocumento32 páginasPercepção Do Enfermeiro Acerca Da Liderança AdministrativaJanaina MaiaAinda não há avaliações
- Qualidade em Saúde - Carla PinhoDocumento670 páginasQualidade em Saúde - Carla PinhoCrisAinda não há avaliações
- Fidelização de Clientes A Partir Do Marketing de Relacionamento No Segmento de Farmacias e DrogariasDocumento123 páginasFidelização de Clientes A Partir Do Marketing de Relacionamento No Segmento de Farmacias e DrogariasJohn SmorfAinda não há avaliações
- Dissertação - Mary Anne de Souza Alves França - 2013 PDFDocumento393 páginasDissertação - Mary Anne de Souza Alves França - 2013 PDFmazamenosAinda não há avaliações
- Avaliação de Qualidade em Serviço OdontológicoDocumento59 páginasAvaliação de Qualidade em Serviço OdontológicoDaniele Castro AguiarAinda não há avaliações
- Andressa - Lamarao - ADAPTAÇAO REBADocumento85 páginasAndressa - Lamarao - ADAPTAÇAO REBAPatricia RodriguesAinda não há avaliações
- Modelo de PopDocumento12 páginasModelo de Popdasilvapereiramarcilene6Ainda não há avaliações
- Livre Docencia Fernanda FugulinDocumento170 páginasLivre Docencia Fernanda FugulinGabriel RamosAinda não há avaliações
- RELATÓRIO PRONTO - FaculdadeDocumento7 páginasRELATÓRIO PRONTO - FaculdadeCarlos HenriqueAinda não há avaliações
- Portifolio2 UanDocumento6 páginasPortifolio2 UanHans WandebergAinda não há avaliações
- PROJETODocumento28 páginasPROJETORafaela MarquesAinda não há avaliações
- Obesidade em Felinos - Revisão de Literatura (2021)Documento48 páginasObesidade em Felinos - Revisão de Literatura (2021)vetdomeupetAinda não há avaliações
- KlausDocumento122 páginasKlausGilvan OliveiraAinda não há avaliações
- MTR 1266 Aveiro 2004Documento134 páginasMTR 1266 Aveiro 2004karen2Ainda não há avaliações
- Hospital e PsicopedagogiaDocumento62 páginasHospital e PsicopedagogiaClínica PsicopedagogiaAinda não há avaliações
- Treinamento Auditivo e SoftwareDocumento139 páginasTreinamento Auditivo e SoftwareLetícia Maria Martins Vasconcelos ParreiraAinda não há avaliações
- Manual Aluno P1M1 2024Documento30 páginasManual Aluno P1M1 2024Ihury JhonsonAinda não há avaliações
- Vanderlei MigDocumento246 páginasVanderlei MigRaquel Batista da SilvaAinda não há avaliações
- PONTES, Marcela de Braços AbertosDocumento241 páginasPONTES, Marcela de Braços AbertosescritosAinda não há avaliações
- Linguagem Oral - InteressanteDocumento125 páginasLinguagem Oral - InteressanteLeisa GviasdeckiAinda não há avaliações
- Tese 257 Marilucia MarcondesDocumento133 páginasTese 257 Marilucia Marcondesmarcosxx2000Ainda não há avaliações
- Universidade Federal de Santa Catarina Centro de Ciências Da Saúde Curso de Graduação em EnfermagemDocumento61 páginasUniversidade Federal de Santa Catarina Centro de Ciências Da Saúde Curso de Graduação em EnfermagemJamille RamosAinda não há avaliações
- Inês Da Silva Loureiro: Coping e Sobrecarga em Cuidadores InformaisDocumento42 páginasInês Da Silva Loureiro: Coping e Sobrecarga em Cuidadores Informaissofia domingosAinda não há avaliações
- A Transdisciplinaridade No Trabalho em Equipes Do Programa Saúde Da Família: Um Estudo de CasoDocumento67 páginasA Transdisciplinaridade No Trabalho em Equipes Do Programa Saúde Da Família: Um Estudo de Casovicmorais1695100% (7)
- Aplicação de Ferramentas de Gestão Da Qualidade em Ambientes de Serviços HospitalaresDocumento161 páginasAplicação de Ferramentas de Gestão Da Qualidade em Ambientes de Serviços HospitalaresJoão Vitor Garcia RodriguesAinda não há avaliações
- Tese Alzira JorgeDocumento225 páginasTese Alzira JorgeSimone FerreiraAinda não há avaliações
- TCC - Uti - Fernanda MelâniaDocumento23 páginasTCC - Uti - Fernanda Melâniavictor.portoengenhariaAinda não há avaliações
- BSC - Proposta de Implantação em Uma UniversidadeDocumento170 páginasBSC - Proposta de Implantação em Uma UniversidadeAline DeiróAinda não há avaliações
- Instrumento de avaliação para um modelo de histórico de enfermagem para pacientes adultos hospitalizadosNo EverandInstrumento de avaliação para um modelo de histórico de enfermagem para pacientes adultos hospitalizadosAinda não há avaliações
- MORAES M.S. - Coaching OntológicoDocumento149 páginasMORAES M.S. - Coaching OntológicoAllanAinda não há avaliações
- Instrumento de Validação GirottoDocumento121 páginasInstrumento de Validação GirottoScheila MaiAinda não há avaliações
- Relatorio Curricular I 3,0Documento9 páginasRelatorio Curricular I 3,0luanhenriquemendesAinda não há avaliações
- RCA Urgencia Luis TorresDocumento17 páginasRCA Urgencia Luis Torresluis torres carreiraAinda não há avaliações
- Faculdade de Tecnologia E Ciências Sociais Aplicadas - Fatecs Curso: Administração Área: MarketingDocumento47 páginasFaculdade de Tecnologia E Ciências Sociais Aplicadas - Fatecs Curso: Administração Área: Marketinggarciajoaquim.2022 GarciaAinda não há avaliações
- Apontamentos HEE - EpistDocumento42 páginasApontamentos HEE - EpistBeatriz SantosAinda não há avaliações
- CADERNO SUPER CRIANÇA WORD - Revisado 2021.1197Documento90 páginasCADERNO SUPER CRIANÇA WORD - Revisado 2021.1197Erica do Rosario PereiraAinda não há avaliações
- Lemos Felipe 2018Documento81 páginasLemos Felipe 2018Anderson AlvarengaAinda não há avaliações
- A transição ensino médio-educação superior e o desempenho acadêmicoNo EverandA transição ensino médio-educação superior e o desempenho acadêmicoAinda não há avaliações
- 0030 - Deus Quer OperarDocumento1 página0030 - Deus Quer OperarPr. Ricardo RodolfoAinda não há avaliações
- Pão Na ChapaDocumento6 páginasPão Na ChapaJosetjAinda não há avaliações
- Aula 1 - Eletrotécnica - Módulo Iv - Empreendedorismo e ÉticaDocumento60 páginasAula 1 - Eletrotécnica - Módulo Iv - Empreendedorismo e ÉticaJunior NaturaAinda não há avaliações
- Caderno Programacao Silel 2013Documento121 páginasCaderno Programacao Silel 2013Fernanda CastroAinda não há avaliações
- Livro Artista CaminhanteDocumento16 páginasLivro Artista CaminhanteKelvin MarinhoAinda não há avaliações
- Caderno Projeto AplicativoDocumento56 páginasCaderno Projeto AplicativoMarcos Monteiro92% (13)
- 10 Questões Sobre Os Anjos Que Talvez Você Não SaibaDocumento3 páginas10 Questões Sobre Os Anjos Que Talvez Você Não SaibaValter Jaime SilveiraAinda não há avaliações
- Explorando Tendências para A Educação No Século XXI MBADocumento20 páginasExplorando Tendências para A Educação No Século XXI MBACamila MachadoAinda não há avaliações
- A Novela Social Sobre A Infância Desamparada PDFDocumento10 páginasA Novela Social Sobre A Infância Desamparada PDFLuis Carlos César BatistaAinda não há avaliações
- Cap 30 BDocumento9 páginasCap 30 BTaise LeãoAinda não há avaliações
- Anamnese JovemDocumento3 páginasAnamnese JovemJã-1 SantanaAinda não há avaliações
- Chapeuzinho VermelhoDocumento28 páginasChapeuzinho VermelhoGabriella AraújoAinda não há avaliações
- Anais 4° Encontro Científico Do Dia Internacional Do BrincarDocumento72 páginasAnais 4° Encontro Científico Do Dia Internacional Do BrincarAndreia Dias de LimaAinda não há avaliações
- Caderno de Direito PenalDocumento78 páginasCaderno de Direito PenalLia Raquel MascarenhasAinda não há avaliações
- Variação Dos Parâmetros de Resistência de Um Solo Residual de Gnaisse Obtido em Ensaio de Cisalhamento Direto Sob Condições Inundadas e Não InundadasDocumento8 páginasVariação Dos Parâmetros de Resistência de Um Solo Residual de Gnaisse Obtido em Ensaio de Cisalhamento Direto Sob Condições Inundadas e Não InundadasCesar GodoiAinda não há avaliações
- Questões NejaiiiDocumento2 páginasQuestões Nejaiiiroger brittoAinda não há avaliações
- Final Dinamica Advento DioceseDocumento10 páginasFinal Dinamica Advento DioceseCoro Juvenil Do CarmoAinda não há avaliações
- FarmacologiaDocumento34 páginasFarmacologiaScribdTranslationsAinda não há avaliações
- Ficha de TrabalhoDocumento8 páginasFicha de TrabalhoMAdAinda não há avaliações
- Raspberry PI Como Sistema de Videovigilância Low CostDocumento5 páginasRaspberry PI Como Sistema de Videovigilância Low CostGleison Aparecido OnofreAinda não há avaliações
- Coberturas Verdes - Analise Do Impacto de Sua Implantação Sobre A Redução Do Escoamento SuperficialDocumento73 páginasCoberturas Verdes - Analise Do Impacto de Sua Implantação Sobre A Redução Do Escoamento SuperficialDario PrataAinda não há avaliações
- CorpomidiaDocumento12 páginasCorpomidiaAndre OutroAinda não há avaliações