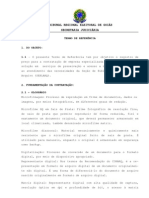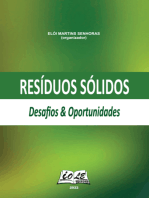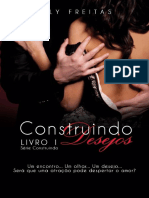Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
MSC Nfmoliveira
MSC Nfmoliveira
Enviado por
afonsobmTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
MSC Nfmoliveira
MSC Nfmoliveira
Enviado por
afonsobmDireitos autorais:
Formatos disponíveis
UNIVERSIDADE DE TRS-OS-MONTES E ALTO DOURO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS / ENGENHARIA CIVIL
DISSERTAO DE MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL
CONSERVAO E REABILITAO DE EDIFCIOS
TEORIA E PRTICA DE TCNICAS DE CONSTRUO
E CONSERVAO DE COBERTURAS DO SEC. XVIII:
EVOLUO HISTRICA, TRATADSTICA DO SEC. XVIII, DIAGNSTICO
DE ANOMALIAS E RESTAURO ESTRUTURAL
NUNO FILIPE MARQUES OLIVEIRA
Orientadora: Professora Doutora Arquitecta Maria Eunice da Costa Salavessa
Co-orientador: Professor Doutor Nuno Dourado
UTAD
Vila Real, 2009
AGRADECIMENTOS
III
AGRADECIMENTOS
Para a realizao deste trabalho contribuiriam os conhecimentos adquiridos ao
longo da formao acadmica que antecedem a realizao deste trabalho. Registo a
agradvel colaborao das seguintes pessoas e entidade, aos quais presto os meus
agradecimentos:
- Universidade de Trs-os-Montes e Alto Douro nas pessoas da Prof. Doutora
Arquitecta Eunice Salavessa, orientadora desta Tese, ao co-orientador Professor Doutor
Nuno Dourado, por toda a ajuda e tempo dedicado.
- cmara municipal de Meso Frio e aos seus funcionrios, pela
disponibilidade que teve para comigo.
- Aos meus Pais, irmo, familiares e amigos que sempre me apoiaram no s na
elaborao deste trabalho mas tambm para o alcance da possibilidade da sua
realizao.
- A todas as pessoas que me apoiaram e facilitaram o desenvolvimento deste
trabalho, o meu agradecimento pelas contribuies e disponibilidades que sempre
demonstraram.
Obrigado.
RESUMO DO TRABALHO
IV
RESUMO DO TRABALHO
Esta dissertao trata sobre a evoluo das coberturas at ao sc. XVIII, e sobre
as tcnicas e os materiais de construo que as integram, pretendeu-se dar valor
reabilitao e conservao do patrimnio em Portugal com particular ateno
cobertura do sc. XVIII.
Neste sentido, foi desenvolvida uma metodologia de trabalho, tendo por base um
caso de estudo edificado, o edifcio do Convento dos Franciscanos do Varatojo, no
concelho de Meso Frio. Para melhor enquadramento do Convento no espao e no
tempo, foi elaborada uma anlise histrica e arquitectnica do edifico, um levantamento
sobre o concelho onde se insere, a sua histria e o patrimnio nele existente. Durante
este trabalho efectou-se o registo das anomalias encontradas no edifcio, com o
objectivo de dar resposta conservao dos materiais. Assim, realizou-se um estudo da
cobertura do estilo pombalino, que envolveu o levantamento das anomalias, as
dimenses e da identificao dos materiais empregues, de forma a dar propostas de
conservao e reabilitao.
Apresentam-se os resultados de um estudo envolvendo uma anlise linear
elstica, pelo mtodo dos elementos finitos, de uma asna, com o intuito de identificar os
elementos mais solicitados.
Pretende-se com este trabalho, ter a percepo das construes das coberturas
de madeira do sc. XVIII, para no futuro se poder realizar a reabilitao das coberturas,
conservando os elementos construtivos existentes.
WORK SUMMARY
V
WORK SUMMARY
This thesis treats the evolution of coverage until the 18th
century as well as its
techniques and materials inside in the construction.
This work pretends to evaluate the rehabilitation and conservation of heritage in
Portugal with particular attention to the coverage of the 18th century.
During this Thesis it was developed a methodology considering a case study, the
building of Covento dos Franciscanos do Varatojo, municipality of Meso Frio. To
locate the convent in terms of space and time it was necessary to make an architectural
and historical analysis of the building. It was also made a survey about Meso Frio and
about its history and heritage. During this work it was made a registration about
anomalies found in the building, with the purpose of responding to the conservation of
materials. To develop the theme of this work it was made a study about a coverage in
pombalino style. So it was necessary drewing up a survey of anomalies, dimension and
identification of materials, in order to make proposals of conservation and
rehabilitation.
With the goal to analyze the most requested elements and the most critical parts
of the truss coverage it was necessary to put in practice a structural mechanical study,
performing a finite elements analysis, using the elastic properties of pine wood (pinus
pinaster Ait.) by means of the commercial code ABAQUS
.
The purpose of this work is to get a perception of the construction of wooden
coverages from the 18th century, so that later it can be possible to rehabilitate, and thus
preserving existing constructive elements.
NDICE
VI
NDICE
PP
AGRADECIMENTOS.. III
RESUMO DO TRABALHO. IV
WORK SUMMARY...... V
NDICE .. VI
NDICE DE FIGURAS E TABELAS.. XIII
1 INTRODUO 1
1.1 Consideraes gerais... 1
1.2 Objectivo. 3
1.3 Metodologia. 3
1.4 Introduo... 4
2 ENQUADRAMENTO HISTRICO. 6
2.1 - Evoluo histrica da cobertura 6
NDICE
VII
2.2 A tratadstica, a concepo geomtrica e
dimensionamento de coberturas no sc. XVIII. 12
2.3 - Referncias Bibliogrficas. 16
3 PREPARAO E COMPOSIO DE MATERIAIS 17
3.1 - Referncias Bibliogrficas. 22
4 EXECUO, CONSERVAO, RESTAURO E
REABILITAO DE COBERTURAS. 23
4.1 Montagem e execuo de coberturas 23
4.2 Proteco e durabilidade da cobertura 25
4.3 Os conceitos, os critrios actuais de interveno e os
conhecimentos tcnicos e metodolgicos tradicionais
aplicados na conservao de coberturas 26
4.4 - Referncias Bibliogrficas. 31
5 - CASOS DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO
FRANCISCANO DOS PAOS DO CONCELHO DE
MESO FRIO. 32
5.1 Caracterizao geral de Meso Frio. 32
NDICE
VIII
5.1.1 Situao geogrfica............................................................ 32
5.1.2 Evoluo Histrica. 33
5.1.3 Geologia. 38
5.1.4 Relevo. 40
5.1.5 Clima.. 40
5.1.6 Vias de Acesso... 41
5.2 O antigo Convento Franciscano dos Paos do
Concelho de Meso Frio. 42
5.2.1 - Caracterizao arquitectnica do Convento Franciscano... 43
5.2.2 Caracterizao construtiva do Convento Franciscano 43
5.2.3 Diagnostico das anomalias construtivas do Convento
Franciscano / Tcnicas de inspeco no - destrutivas de
estruturas tradicionais. 53
5.3 - Referncias Bibliogrficas. 68
6 CARACTERIZAO E DIAGNSTICO DE
ANOMALIAS CONSTRUTIVAS DE COBERTURAS. 71
NDICE
IX
6.1 Generalidades sobre as caractersticas e defeitos de
coberturas......................................................................... 71
6.2 Anatomia das coberturas, resistncia e estabilidade... 75
6.3 Registo dos defeitos. 77
6.4 Normas sobre coberturas: especificaes e
documentos de homologao do LNEC, Normas
Portuguesas, Normas Europeias, Normalizao em
Segurana, Normas de Segurana a Incndios,
RGEU 81
6.5 Impermeabilizao. 84
6.6 Cargas e movimentos...................................................... 85
6.7 Dispositivos de drenagem de guas pluviais. 85
6.8 Isolamento trmico e ventilao 86
6.9 Segurana contra incndios... 88
6.10 Controle da luminosidade 89
6.11 Isolamento acstico...
89
NDICE
X
6.12 Agentes de deteriorao da cobertura e plano de
manuteno 89
6.13 Inspeco e diagnstico de anomalias da estrutura,
vertentes, cumeeira, rinces, lars, rufos,
argamassas, telhas, ripado, clarabias, dispositivos
de recolha de guas pluviais. 90
6.14 Exigncias de desempenho e defeitos. 92
6.15 - Referncias Bibliogrficas 94
7 OBRAS DE CONSERVAO E REPARAO DA
COBERTURA. 95
7.1 Projecto de conservao e reabilitao da cobertura.. 95
7.2 Medies, obras de construo, demolio... 96
7.3 Especificaes relativas a materiais 98
7.4 Estudos preliminares. 100
7.5 Trabalhos de execuo................................................... 104
7.5.1 Trabalhos preliminares... 105
7.5.2 Limpeza de materiais.. 106
NDICE
XI
7.5.3 Consolidao dos materiais 107
7.5.4 Proteco de materiais........................................................ 108
7.5.5 Argamassas. 110
7.5.6 - Construo de coberturas 111
7.5.7 Demolies, substituies e ligaes. 116
7.5.8 Consolidao e conservao de estruturas e elementos de
madeira... 117
7.5.9 Consolidao e conservao de estruturas e elementos
metlicos. 118
7.5.10 Consolidao de abbadas em alvenaria.. 118
7.5.11 Impermeabilizao e isolamento trmico acstico 120
7.5.12 Obras de serralharia civil.. 122
7.5.13 Trabalhos de vidraceiro 122
7.5.14 Sistemas e instalaes tcnicas. 122
7.5.15 Colocao dos materiais em obra. 123
7.6 - Referncias Bibliogrficas. 124
NDICE
XII
8 ANLISE ESTRUTURAL SEGUNDO O MTODO DE
ELEMENTOS FINITOS 125
8.1 Introduo. 125
8.2 Anlise da estrutura. 127
8.3 Referncias Bibliogrficas 135
9 CONCLUSO . 136
10 BIBLIOGRAFIA... 138
NDICE DE FIGURAS E TABELAS
XIII
NDICE DE FIGURAS E TABELAS
DESENVOLVIMENTO DO TEMA PP
Figura 1 - Sheldonian Theatre; asna de suporte da cobertura do auditrio 11
Figura 2 - Diversos tipos de estruturas... 12
Figura 3 - Asna de cobertura de um edifcio pombalino 15
Figura 4 - Outros tipos de asnas de coberturas encontradas em edifcios
pombalinos 15
Figura 5 - Direco das foras.. 24
Figura 6 - Vista sobre o rio Douro.. 33
Figura 7 - Localizao Geogrfica do Concelho de Meso Frio. 33
Figura 8 - Casa da Vista Alegre...... 34
Figura 9 - Casa do Pao de Cidadelhe......... 35
Figura 10 - Quinta do Ctto........ 35
Figura 11 - Casa das Torres de Oliveira........ 35
Figura 12 - Casa de Sant`Anna..... 35
Figura 13 - Fachada do Convento dos Franciscanos do Varatojo..... 36
Figura 14 - Igreja de So Nicolau....... 36
Figura 15 - Arca Tumular........ 36
NDICE DE FIGURAS E TABELAS
XIV
Figura 16 - Capela de So Silvestre.... 37
Figura 17 - Miradouro de So Silvestre.. 37
Figura 18 - Capela de So Sebastio... 37
Figura 19 - Capela de So Caetano..... 37
Figura 20 - Carta Geolgica de Portugal..... 38
Figura 21 - Carta Geolgica da Regio.. 39
Figura 22 - Horas anuais de Insolao.... 40
Figura 23 - Humidade relativa do ar (%) 40
Figura 24 - Dias de geada / ano.. 40
Figura 25 - Rede viria do concelho de Meso Frio.. 41
Figura 26 - Convento dos Franciscanos do Varatojo..... 42
Figura 27 - Alado Norte....... 47
Figura 28 - Alado Nascente...... 47
Figura 29 - Alado Sul....... 47
Figura 30 - Alado Poente...... 47
Figura 31 - Planta do piso -1...... 48
Figura 32 - Planta do piso 0........ 48
Figura 33 - Planta do piso 1........ 48
Figura 34 - Jardim interior do convento..... 50
NDICE DE FIGURAS E TABELAS
XV
Figura 35 - Fachada do convento....... 50
Figura 36 - Jardim interior do convento..... 52
Figura 37 - Interior do convento..... 52
Figura 38 - Interior do convento..... 52
Figura 39 - Fachada do convento... 52
Figura 40 - Interior de uma das salas...... 52
Figura 41 - Fachada do convento....... 52
Figura 42 - Planta da cobertura...... 53
Figura 43 - Telhado do convento... 55
Figura 44 - Portas e Janelas........ 57
Figura 45 - Caleiros da cobertura....... 58
Figura 46 - Fissuras nas paredes......... 60
Figura 47 - Intervenes efectuadas....... 62
Figura 48 - Pisos de madeira...... 63
Figura 49 - Azulejos do convento...... 64
Figura 50 - Fachadas com humidades........ 66
Figura 51 - Eflorescncias e criptoflorescncias.... 67
Figura 52 - Exemplo de isolamento na cobertura....... 87
Figura 53- Vertente....... 90
Figura 54 - Cumeeiras........ 91
NDICE DE FIGURAS E TABELAS
XVI
Figura 55 - Rinces e lars..... 91
Figura 56 - Rufos........ 92
Figura 57 - Telhas....................... 92
Figura 58 - Cobertura do Convento Franciscano.... 96
Figura 59 - Interior da cobertura..... 97
Figura 60 - Desenho de uma asna... 97
Figura 61 - Estrutura de cobertura .. 97
Figura 62 - Identificao das madeiras da asna.. 100
Figura 63 - Identificao das madeiras na cobrtura.... 100
Figura 64 - Identificao da zona estudada.... 101
Figura 65 - Interior da cobertura..... 102
Figura 66 - Instalaes elctricas na cobertura... 105
Figura 67 - Instalaes elctricas na cobertura... 106
Figura 68 - Identificao das peas da asna......................... 111
Figura 69 - Corte da cobertura.... 115
Figura 70 - Alguns dos reforos e substituies em metal sugeridos..... 117
Figura 71 - Mau exemplo da rede elctrica na cobertura actual do Convento ...... 123
Figura 72 - rea de influncia sobre a asna... 126
Figura 73 - Direces de simetria material na madeira..
126
NDICE DE FIGURAS E TABELAS
XVII
Figura 74 - Malha de elementos finitos utilizada nas simulaes com
representao das condies de fronteira. 128
Figura 75 - Orientao do material. 129
Figura 76 - Configurao deformada, com representao do campo das tenses
normais (f
c,0,k
) na direco do fio da madeira (MPa) 130
Figura 77 - Configurao deformada, com representao do campo das tenses
normais (f
c,90
) perpendicular ao fio da madeira (MPa). 130
Figura 78 - Configurao deformada, com representao do campo das tenses
de corte () (MPa). 131
Figura 79 - Perfis de tenso normalizados pelo valor mnimo de f
c,0,k
ao longo do
dorso superior da escora .... 132
Figura 80 - Perfis de tenso normalizados pelo valor mnimo de f
c,0,k
ao longo do
dorso inferior da escora 132
Figura 81 - Perfis de tenso normalizados pelo valor mnimo de f
c,0,k
ao longo do
dorso superior da perna 133
Figura 82 - Perfis de tenso normalizados pelo valor mnimo de f
c,0,k
ao longo do
dorso inferior da perna. 134
Tabela 1 - Durabilidade e impregnabilidade da madeira 99
Tabela 2 - Propriedades elsticas do pinho (Pinus pinaster) e massa
especfica 128
Tabela 3 - Resistncia traco da madeira de pinho (Pinus pinaster Ait) nas
direces Longitudinal (L), Radial (R) e Tangencial (T).. 131
INTRODUO
1
1 INTRODUO
1.1 Consideraes gerais
O patrimnio cultural edificado faz parte das nossas origens, do nosso passado,
testemunho da nossa identidade cultural que, como todos os valores, necessrio
preservar, conservar e legar s geraes futuras; as universidades so instituies que,
pelas suas responsabilidades a nvel regional, esto vocacionadas para a investigao
relacionada com a histria da construo e as novas tecnologias de preservao e
restauro do patrimnio construdo, a difundir pela sociedade civil.
O meio mais eficaz para contribuir para o progresso da arte de bem construir e
conservar o patrimnio edificado de valor histrico e artstico, considerar o seu
objectivo principal, aperfeio-lo ou mant-lo, com os meios e recursos ao nosso
alcance. A perfeio da arte de construir e conservar depende da conjugao de duas
partes, a terica e a prtica. A prtica, que a mais antiga, a arte de extrair os
materiais, de os transportar, de os fabricar e os colocar na obra, para a execuo de
qualquer obra. A teoria a cincia que dirige as operaes da prtica. o resultado da
experincia e do raciocnio, baseado nos princpios da matemtica e fsica aplicada nas
diferentes operaes da construo. Atravs dela, e consoante a natureza dos materiais,
o construtor pode definir as formas e dimenses adequadas para cada elemento
construtivo determinado pelos esforos a que submetido, para que resulte perfeito,
slido e econmico.
Os edifcios do sec. XVIII, predominantes na Regio Demarcada do Douro,
constituem referncias simblicas para as suas comunidades e contribuem para
INTRODUO
2
enriquecer o seu patrimnio cultural e urbano. As coberturas so uma parte relevante do
patrimnio urbano, e a salvaguarda da imagem da cidade, vila ou aldeia histrica, passa
forosamente pela conservao das coberturas histricas ou tradicionais. A cobertura de
um edifcio, muito importante na sua preservao geral e conforto interior. Vrias
condicionantes actuam sobre esta parte construtiva: o clima, o material disponvel na
regio, a configurao do edifcio e o sistema de economia local. Nas construes
antigas, os elementos estruturais de madeira desempenham, em conjunto com as
alvenarias, uma funo importante, vencendo vos entre paredes e suportando as
coberturas.
Desta forma, e de acordo com os princpios de cartas internacionais do restauro e
da conservao do patrimnio construdo, este trabalho prope a salvaguarda destes
valores histrico-tecnolgicos, utilizando prioritariamente, tcnicas e materiais
tradicionais, consideradas repositrio da arte de bem construir; s quando estas se
revelam ineficazes, prope-se a utilizao de tcnicas e materiais contemporneos.
Neste estudo, renem-se os diferentes conhecimentos sobre: critrios gerais de
anlise e restauro estrutural de coberturas histricas; coberturas de edifcios do sec.
XVIII, descritos em tratados de construo da poca; levantamento de estruturas de
madeira de coberturas do sec. XVIII, existentes na Regio Demarcada do Douro e que
se conservaram at aos nossos dias; comportamento estrutural, caracterstica dos
materiais e processos de degradao; diagnstico, avaliao da segurana e aces de
interveno, em coberturas casos de estudo.
INTRODUO
3
1.2 Objectivos
O Estudo tem como objectivos:
- Conhecer e restaurar a informao acessvel relativa aos princpios tcnicos da
arte de construir coberturas do sec. XVIII, fazendo a interface com as tcnicas
construtivas actuais;
- Definir instrumentos e prticas capazes de assegurar a aplicao da Conservao
Sustentvel, que defende a continuidade da existncia das artes e ofcios da poca em
que os edifcios foram construdos, e da Conservao Preventiva, que defende a
aplicao peridica de aces de manuteno na luta contra a degradao dos edifcios
histricos ou tradicionais e no aumento da sua durabilidade; determina-se, deste modo,
o contributo do estudo das tcnicas tradicionais de construo de coberturas
setecentistas, na conservao dos edifcios desta poca;
- Pesquisar tcnicas e materiais contemporneos que possibilitem intervenes
pouco intrusivas, capazes de reabilitar ou restaurar coberturas histricas sem lhes
destruir a autenticidade e valor histrico e tecnolgico.
1.3 Metodologia
A metodologia utilizada nesta dissertao desenvolveu-se pela seguinte ordem:
- Levantamento da bibliografia, em especial aquela que se refere a Tratados de
Arquitectura e de Construo da poca e contemporneos, e ainda Histria da
Arquitectura e Histria das Tcnicas; determina-se, assim, a arte de conceber,
dimensionar, preparar, combinar e montar os materiais e os princpios que regem a boa
construo de coberturas;
- Estudo da carpintaria: levantamento geomtrico e dimensionamento de
coberturas do sec. XVIII; glossrio tcnico histrico, anlise comparativa das tipologias
(configurao, funo, poca construtiva); elaborao de cartas temticas de samblagens
INTRODUO
4
(caractersticas geomtricas, espcies de madeira e suas caractersticas, defeitos
originais, anomalias); estudo da tecnologia da madeira, anlise estrutural, e princpios
da mecnica esttica; tecnologia dos ns e samblagens; transporte e colocao na obra;
obras em madeira refeita; pesquisa de exemplos de estudos de diagnstico; estudo de
legislao internacional e nacional aplicvel ao restauro e reabilitao de estruturas de
interesse histrico e arquitectnico;
- Estudo de outros elementos da cobertura: revestimentos, impermeabilizao,
forros, cornijas, platibandas, sistemas de drenagem;
- Casos de estudo: estudo de diagnstico de coberturas, no concelho de Meso
Frio observao directa, anlise histrica, registo de patologias, meios
complementares de inspeco e diagnstico; reparao das cabeas de vigas embebidas
em alvenarias perimetrais; reforo das ligaes das estruturas de madeira s alvenarias;
reforo local de elementos estruturais de madeira, por reposio das assemblagens entre
elementos de madeira, ou por compsitos; ensaio laboratorial.
1.4 Introduo
O presente trabalho, realizado no mbito da disciplina de Dissertao, pertencente
ao 2 ano da Mestrado em engenharia Civil, tem como principal objectivo a
caracterizao e o diagnstico de anomalias construtivas de coberturas tradicionais e a
melhoria do seu desempenho. O desenvolvimento do estudo implicou o estudo e as
sugestes de interveno a efectuar, bem como as tcnicas de reabilitao a aplicar face
ao actual estado de degradao do Convento dos Franciscanos do Varatojo, propriedade
da Cmara Municipal sita na freguesia de Santa Cristina, concelho de Meso Frio,
distrito de Vila Real.
Importa referir que o caso de estudo desenvolveu-se em trs etapas distintas. A
primeira referir-se- s principais cartas e convenes que constituem recomendaes
fundamentais para a anlise da conservao e restauro estrutural do patrimnio
arquitectnico, metodologia a utilizar, caracterizao geral do concelho de Meso Frio e
caracterizao do Convento dos Franciscanos do Varatojo e do seu historial.
INTRODUO
5
Para o efeito, foi desenvolvido um diagnstico completo, que iniciou com vrias
inspeces in situ do edifcio; recolha de informao relativa histria do edifcio;
levantamento arquitectnico rigoroso; levantamento construtivo; registo fotogrfico
completo do edifcio; anlise pormenorizada da utilizao actual, organizao espacial e
funcional do edifcio.
A segunda etapa relativa ao relatrio de patologias, incluindo uma anlise ao
estado de conservao do edifcio e um estudo conclusivo do seu estado. Nesta segunda
fase, ser efectuada uma inspeco visual da edificao, identificando as anomalias
estruturais e no estruturais e organizando-as em fichas de diagnstico especficas.
Determinar-se-o as causas para o aparecimento das anomalias em Fichas de
Diagnstico. O estudo conclusivo do estado de conservao do edifcio, incluiu
indicao j consolidada de todas as anomalias estruturais e no estruturais, a suas
relaes causa/efeito e interaco de todos os fenmenos patolgicos e avaliao da
segurana.
A terceira e ltima etapa consistiu na apresentao das sugestes de resoluo de
anomalias previamente identificadas, sero baseadas na compreenso da interaco
entre as diversas componentes construtivas e na determinao do alcance de cada
patologia no estado global do edifcio. As intervenes a adoptar resultaro da sntese e
cruzamento das diversas informaes recolhidas.
Deste modo, prope-se as bases para o projecto de conservao/restauro do
Convento dos Franciscanos do Varatojo.
Com a realizao deste trabalho pretende-se, de forma geral, atingir os seguintes
objectivos necessrios concretizao dos aspectos referidos:
- Utilizar um imvel de interesse pblico como recurso cientfico;
- Conhecer a situao, geologia, morfologia do terreno, clima, evoluo
histrica, demografia, patrimnio edificado do concelho;
- Descrever, resumidamente, o contexto histrico do Convento dos Franciscanos
do Varatojo;
- Elaborao da pormenorizao e tcnicas construtivas.
ENQUADRAMENTO HISTRICO
6
2 ENQUADRAMENTO HISTRICO
2.1 Evoluo histrica da cobertura
Desde tempos antigos, o ser humano tem sentido a necessidade de melhorar as
condies de vida, de modo a alcanar a continuidade de seu desenvolvimento. Entre as
preocupaes que tm tomado as atenes do pesquisador que habita cada ser humano
se destaca a de arranjar para si mesmo, para sua famlia e para a comunidade em que
vive, ambientes em que, alm de resguardado dos agentes da natureza, protegido das
intempries, possa exercer actividades com segurana. O desenvolvimento das
edificaes ao longo do tempo se constitui nos retratos deste empenho do ser humano.
Gradativamente, novas maneiras de utilizar os materiais conhecidos e as
novidades sempre introduzidas contriburam para o melhoramento das condies das
habitaes e dos demais edifcios.
Tcnicas adequadas permitiram que se melhorassem as condies de estabilidade
e de durabilidade das edificaes. Da combinao entre engenharia e arquitectura
resultou uma melhoria no aproveitamento dos espaos, com definio de formas,
criando-se os estilos, padres e as diferentes funes das partes que integram o todo e
cuja importncia neste todo requer cuidados cada vez mais detalhados no que se refere
ao projecto bem como prpria construo.
Com certeza, a madeira foi um dos primeiros materiais utilizados pelo homem na
construo das edificaes. Contudo, a previso de seu comportamento era apenas
ENQUADRAMENTO HISTRICO
7
possvel com a observao quotidiana e intuitiva das propriedades oriundas da sua
experincia de vida.
Ao longo do tempo, a histria assinala diversos perodos arquitectnicos, cada um
deles definido por intermdio de aspectos especficos, inerentes ao perodo em si ou
decorrentes da evoluo que se experimentava, com maior ou com menor velocidade.
As primeiras evidncias a respeito do emprego de estruturas de madeira so
encontradas entre os egpcios, antes do ano 3000 a.C. Desenvolvida ao longo do Rio
Nilo, a civilizao egpcia foi marcada por edificaes cujas paredes de vedao eram
de argila e cujas coberturas tinham seus elementos, muitas vezes de madeira (troncos de
palmeira formando esteios para cobertura), dispostos de modo a se ter as primeiras
composies que viriam originar as trelias tal qual se conhece nos dias de hoje.
Na Mesopotmia, mais de quinze sculos depois, a madeira comea a ser
empregada na cobertura de edificaes. Na Babilnia, h registos de troncos de madeira
estendidos de modo inclinado, apoiados sobre outros troncos horizontais sustentados
por pilares, tambm de troncos. Nos palcios e outras construes de maior
relevncia, vigas de cedro substituam os troncos de palmeira, conferindo
especificidades arquitectnicas e estruturais. Na Prsia, a partir do sculo VII a.C, a
madeira tambm passou a ganhar espao na cobertura das edificaes. Porm, a
evoluo se processava muito lentamente, em particular pela grande dificuldade de
serem encontradas solues para as ligaes entre os elementos estruturais envolvidos.
Tal dificuldade se deve no disponibilidade de ferramentas adequadas para
possibilitar um trabalho mais especfico na madeira em bruto.
Na arquitectura chinesa, a madeira sempre ocupou um lugar expressivo.
Construdas com espcies semelhantes aos pinheiros (conferas) as estruturas de
cobertura em madeira eram comuns. Os componentes da estrutura se distribuam
formando rectngulos. Outro aspecto tpico das coberturas chinesas a concavidade dos
telhados, com largos beirais protegendo as paredes da incidncia direta da gua das
chuvas. H referncia a tais tipos de coberturas por volta do sc. V a.C. Com o
desenvolvimento das primeiras (e ainda precrias) ferramentas, a evoluo das
coberturas se processou na direco de ampliar as dimenses dos elementos,
aumentando a complexidade do conjunto estrutural, viabilizando a cobertura de vos
maiores.
ENQUADRAMENTO HISTRICO
8
Na arquitectura japonesa, as coberturas podiam ser de um tipo mais simples
(sem tecto interno) ou mais complexo, com o gradual predomnio das vigas horizontais,
assim como na arquitectura chinesa. Uma forma tpica de cobertura japonesa emprega a
madeira, simultaneamente, em funo da estrutura e como elemento de vedao
propriamente dito, protegido com materiais e produtos que possibilitavam o aumento da
durabilidade natural. No so raros os exemplos de templos e outras edificaes
japonesas, em madeira, com vida til superior a um milnio.
A arquitectura clssica grega se baseou em tcnicas que completavam,
aperfeioavam e inovavam em relao ao que lhe antecedeu. Com novas ferramentas
para trabalhar os materiais, em especial a madeira, as condies para o projecto e a
construo melhoraram, permitindo, por exemplo, o emprego de peas compostas,
unidas transversalmente por meio de elementos, que se constituram nos precursores das
cavilhas. Nas coberturas, de madeira eram os esteios e as vigas, que recebiam os
elementos de vedao (telhas). Vigas longitudinais corriam de parede a parede e os
elementos transversais se compunham de uma viga horizontal inferior e duas peas
inclinadas, cuja ligao se apoiava num esteio central, posicionado no ponto mdio da
viga horizontal. As ligaes eram por encaixes ou, simplesmente, por justaposio das
peas, que trabalhavam apenas flexo simples e/ou compresso paralela s fibras. O
facto de a viga horizontal trabalhar apenas flexo limitava as dimenses dos vos
livres. Era preciso inventar uma nova disposio das peas para ampliar as reas
cobertas.
Esta mudana estrutural foi introduzida pelos romanos. Com o desenvolvimento
das ferramentas para trabalhar a madeira, foi possvel montar as primeiras estruturas de
cobertura compondo as peas de um modo semelhante ao que se chama hoje de tesoura.
Foi, ento, possvel aumentar os vos livres a serem vencidos, evitando-se o uso de
apoios intermedirios, caracterstica de parcela significativa das coberturas gregas. Com
a expanso do Imprio Romano, o tipo de cobertura referido foi bastante difundido nas
regies sob o seu domnio, generalizando-se seu emprego.
Com os bizantinos, a partir do sculo IV d.C., as tesouras de madeira foram
tomando configuraes cada vez mais semelhantes ao que ainda hoje se conhece e
aplica em obras civis. O contnuo aperfeioamento das ferramentas disseminou o
emprego da madeira e as coberturas com este material se tornaram muito frequentes.
ENQUADRAMENTO HISTRICO
9
Surgem as primeiras medidas de proteco contra incndios, com a utilizao de folhas
metlicas convenientemente posicionadas em relao ao conjunto de peas de madeira.
Na arquitectura muulmana, a partir dos fins do primeiro milnio d.C, em razo
das condies climticas, a cobertura das edificaes apresentava estruturas contendo
vigas de madeira montadas com pranchas sobrepostas, que recebiam uma camada de
material com caractersticas de desempenho isolante e impermeabilizante, e
revestimento final de peas cermicas, muito semelhantes s telhas hoje disponveis.
A arquitectura romnica, marcada por forte influncia da Igreja, conservou
diversos elementos da arquitectura bizantina, em particular para a construo de
templos. Foi muito difundido na poca, o telhado com uma gua, para a cobertura das
naves laterais das igrejas. Ao mesmo tempo, foram utilizadas para a cobertura de
pequenas construes e apresentavam as seguintes particularidades: fcil montagem,
melhoria do escoamento das guas pluviais (nmero reduzido de interseces entre os
planos do telhado, ou encontro dos banzos superiores). Aparecem os primeiros
elementos com funo de contraventamento nas estruturas de cobertura, bem como se
observa a preocupao de se evitarem as flechas excessivas. Estes aspectos se
constituram em significativa contribuio para o melhoramento esttico dos conjuntos
estruturais.
Na arquitectura gtica novamente so encontradas as tesouras de madeira,
desempenhando tambm um papel marcante na caracterizao do estilo propriamente
dito e na definio das tendncias formais do perodo. A madeira foi muito empregada
na construo dos telhados das edificaes gticas, especialmente nas abbadas de
catedrais. A pronunciada inclinao das superfcies (ou panos) das coberturas gticas
exigiu precaues redobradas na construo das bases dos banzos superiores das
tesouras, para serem minorados os deslocamentos e empuxos nos elementos de
sustentao. Mantinham-se, ainda, as dificuldades na execuo das ligaes, mesmo
com a utilizao dos encaixes e das cavilhas, de comportamento mais conhecido na
altura. Chapas metlicas foram introduzidas posteriormente (incio do sculo XVII) [1].
A divulgao dos desenhos das coberturas clssicas, como a estrutura triangular
romana das baslicas- paleo - crists, em publicaes do Renascimento, especialmente
de Andrea Palladio (1518 1580) nos seus I Quatro Libri dellArchitettura, obra
ENQUADRAMENTO HISTRICO
10
publicada em 1570, teve influncia na continuidade de mitos dos sistemas de estruturas
de madeira identificados a sul dos Alpes.
As estruturas triangulares primitivas das grandes coberturas imperiais com
membros a trabalhar traco, suportando a viga tirante ou linha, perduraram at
poca moderna, principalmente devido sua eficincia tecnolgica. S a partir do sc.
XVIII que as coberturas comearam a reflectir a mudana das ligaes de madeira
para as conexes metlicas, utilizando cavilhas e parafusos metlicos e tirantes de ferro.
No entanto, at aos nossos dias, as formas tradicionais continuaram a ser utilizadas.
Alberti, relativamente ao problema de vencer grandes vos, escreveu, em 1450,
que se as arvores eram muito pequenas para executar uma viga completa a partir de um
s tronco, juntasse-se vrios numa viga compsita, com as faces abertas ligadas,
tambm Brunelleschi, levou cerca de dois anos para desmontar andaimes, guindastes e
reforos de madeira, da grande cpula da Catedral de Florena, devido dificuldade em
libertar grandes e eficientes vigas de madeira de castanho.
Philibert de lOrm (1510-1570), tratadiste e arquitecto do rei Henrique II de
Frana, escreveu em 1561 a sua obra, intitulada Noveller Inventions pour bien bastir,
dedicada ao tema da carpintaria, que influenciou a construo de coberturas de estrutura
de madeira at ao sc. XVIII e princpios do sc. XIX, Philibert prope o abandono da
tradicional estrutura triangular de vigas de madeira a favor de pequenos segmentos de
arcos de madeira unidos por cavilhas. Inventou arcos de cerca de 60m de vo em
madeira que provocavam apreciveis tenses laterais nas paredes de suporte, o que
tornou o sistema de Philibert pouco prtico para edifcios mais altos.
Cristopher Wren, ainda no perodo renascentista, projecta o Sheldonian Theater
em Oxford, baseando-se no teatro romano de Marcellus, apesar de adapt-lo ao clima
ingls e no sentido de poder ser utilizado pela imprensa da Universidade de Oxford,
cujos livros eram guardados nas guas furtadas por cima do auditrio, dotando o teatro
de uma cobertura permanente.
Wren adoptou a tradicional construo gtica de Oxford, aplicando-a numa
cobertura invulgarmente grande Sobre o auditrio e sem colunas de suporte. Utilizou
um arco tirante, onde os elementos da corda superior actuam mais ou menos em
compresso, enquanto que a corda inferior actua principalmente como ma viga em
ENQUADRAMENTO HISTRICO
11
tenso, aliviando as paredes de tenses para o exterior. A corda inferior era composta de
ligaes metlicas e sambladuras de elementos de madeira [2].
A partir da metade do sc. XIX, as primeiras pesquisas sistemticas a respeito da
caracterizao das madeiras bem como o desenvolvimento dos primeiros processos para
o clculo de solicitaes em elementos estruturais, criaram novos contributos para
melhorar as condies do emprego da madeira em estruturas de cobertura.
At aos dias actuais continuam as estruturas de madeira a ser muito empregadas
para a cobertura de edificaes dos mais diversos tipos: residncias, estabelecimentos
comerciais e industriais, instalaes sociais e desportivas, igrejas, hospitais, etc. Vrias
medidas se tornaram possveis para prolongar a vida em servio das estruturas de
madeira, destacando-se:
- Avano nas tcnicas de preservao da madeira, com sua impregnao com
produtos qumicos inibidores da aco de fungos apodrecedores e de insectos xilfagos;
- Desenvolvimento de sistemtica identificao e de caracterizao das numerosas
espcies de madeira, de florestas nativas ou de regies de florescimento artificial,
apropriando-as para usos adequados em funo das suas efectivas propriedades fsicas,
de resistncia e de elasticidade;
- Melhoria nos dispositivos de ligao, com o emprego criterioso de pregos,
cavilhas, tarugos, parafusos de diferentes tipos, anis metlicos, anis de PVC e
adesivos;
- Desenvolvimento de processos construtivos como a pr-fabricao de elementos
de cobertura, para reduzir o tempo gasto em obras, bem como desperdcio de madeira
.
Fonte: SANZ, Don Joseph Francisco Ortiz - los quatto libros, de arquitectura de
Andres Paladio, Vicentino; Impressor de Cmara de S.M., 1797.
Figura 1: - Sheldonian Theatre; asna de suporte da cobertura do auditrio
ENQUADRAMENTO HISTRICO
12
Fonte: SANZ, Don Joseph Francisco Ortiz - los quatto libros, de arquitectura de
Andres Paladio, Vicentino; Impressor de Cmara de S.M., 1797.
Figura 2: - Diversos tipos de estruturas
2.2 A tratadstica, a concepo geomtrica e dimensionamento de
coberturas no sec. XVIII
A madeira sempre foi um material bastante utilizado na construo, devido sua
abundncia. Cada regio tentou utilizar e rentabilizar os materiais criados pela natureza,
retirando o melhor partido da resistncia das madeiras existentes na zona de forma a
minimizar os trabalhos de transporte.
As madeiras eram cortadas nos primeiros dias de Outono, pois nesta altura as
arvores retomam a sua solidez e descarregam todos os lquidos que tornam a madeira
mais forte.
Em Portugal as rvores mais utilizadas eram o Castanheiro, Pinheiro Bravo e o
Eucalipto, pois so as arvores mais abundantes, sendo o Castanheiro o mais usado em
monumentos por causa da sua durabilidade e o Eucalipto pelos seus custos baixos [3].
Tendo como princpios, a arquitectura Romana, as estruturas de cobertura
portuguesas comuns de madeiras do Sc. XVIII e XIX tm uma extenso mdia de 6m,
com configurao triangular.
As asnas de Palladio, constitudas por linha, pernas e pendural e, adicionalmente,
por duas escoras apoiadas na base do pendural, tinha a perna dividida em duas partes.
ENQUADRAMENTO HISTRICO
13
As escoras, trabalhando compresso, contribuam para melhorar o comportamento
flexo da estrutura, permitindo ao mesmo tempo, solicitaes de valor superior. O
ngulo formado entre a linha e a perna ronda os 30, enquanto que entre a escora e o
pendural prximo de 60. O vo estava normalmente limitado a 8 m. Geralmente os
elementos eram unidos por samblagens. No entanto, com a descoberta do ao, estas
unies passaram a estar complementadas com braadeiras ou cavilhas na ligao linha-
perna, Ts na ligao perna-escora e ainda ps de galinha na ligao perna-pendural e
linha-pendural-escoras. A juno entre os elementos era feita por entalhes onde as
foras so transferidas directamente pela compresso e frico. Para melhoramento das
junes eram utilizados elementos de metal.
A colocao destes elementos tinha por objectivo, no s reforar a ligao mas,
principalmente, prever a eventual inverso de esforos devido a aces dinmicas
(vento e sismo). de referir, ainda, que a colocao destes elementos permitiu ainda
minimizar eventuais defeitos na execuo das samblagens.
As superfcies dos telhados podiam ser planas, quando cobriam edifcios de planta
quadrangular, circular ou poligonal; ou curvas, quando protegiam abbadas ou cpulas.
Denomina-se ponto do telhado a relao entre sua altura e largura ou vo. Quando
a altura da cumeeira (ponto mais alto do telhado) estava entre 1/3 e 1/4 do vo, dizia-se
que o telhado era normal ou comum, ultrapassada esta relao dizia-se que o telhado ra
agudo.
Os planos inclinados que constituem os telhados recebem o nome de guas ou
vertentes e o ngulo que estas formam com a linha horizontal do topo das paredes
define a inclinao do telhado.
A inclinao depende das condies climticas e do tipo de telha utilizado e, nos
locais onde o clima mais rigoroso, com a ocorrncia de neve, os telhados apresentam
maiores inclinaes (portanto so agudos) o que possibilita o rpido escoamento da
neve, cujo acmulo acarretaria grandes sobrecargas estrutura [4].
A partir de 1638 pode-se dividir a cincia de construo em dois perodos. No
primeiro, anterior a Glileo Glilei e demonstrao matemtica das novas cincias
relativas mecnica e aos movimentos locais, faltando ainda o conceito de tenso e
deformao, a firmitas da estrutura atribuda disposio das suas partes para evitar
ENQUADRAMENTO HISTRICO
14
os movimentos - linsorgere di cinematismi e forma de um arco ou dois silhares
de uma parede, constitua a varivel sobre a qual se operava para obter um sistema de
foras de equilbrio. No segundo perodo, pelo contrrio, definida a forma estrutural,
questionava-se as propriedades de resistncia dos materiais e se determinavam as
dimenses das diferentes partes estruturais para mant-las no limite mximo das
solicitaes.
O grande avano seguinte consiste na incorporao, no reportrio cientfico, do
conceito de elasticidade, devido a Hooke (1635-1703). Com a inteno de resolver o
problema de construir um cronmetro exacto, descreveu a fase elstica de deformao
das plataformas em que esta proporcional fora que provoca, apesar de no ter
explicado as variaes devidas ao comprimento da pea e seco na determinao dos
valores numricos dessa deformao.
Bernoulli (1654-1705) quem encontra a soluo e enuncia um dos princpios
bsicos da cincia da construo: a deformada directamente proporcional carga e
longitude e inversa seco, e est ligada em cada material a um coeficiente
especfico, chamado hoje mdulo de Hooke, o mdulo elasticidade de um material.
Aplicando esta teoria a uma viga em carga, as deformaes que se produzirem na
parte superior devidas compresso deviam-se equilibrar com as de distenso da parte
inferior. Em 1684 Mariotte introduz a noo do eixo neutro e Parents (1666-1716) a fixa
definitivamente na zona de equilbrio dos esforos sobre a seco transversal das vigas.
Em 1760 Euler publica a sua teoria que define um centro da massa ou centro de
inrcia em cada slido relacionado com a forma e no com as foras a que est
submetido e ainda com o momento de inrcia. No mesmo perodo, em 1785, Coulomb
publica os seus estudos sobre toro, os impulsos das terras, as abobadas, o atrito, etc.
Gaspar Monge publica a sua obra sobre geometria descritiva em 1799. O sistema
mtrico decimal implanta-se no conhecimento cientfico estabelecendo-se as unidades
que expressam as causas e os efeitos das cargas a partir de 1803 em Itlia.
Foi no sc. XVIII, que foi publicada em Frana, a obra de Diderot e dAlembert,
Lecyclopdie ou Ditionnaire raisonm des sciences, ds arts et des mtiers, (1766),
divulgando pormenores das estruturas de madeira para paredes maneira antiga e
maneira moderna, os frontais e divisrias em tabique que devem ter influenciado a
ENQUADRAMENTO HISTRICO
15
construo pombalina de Lisboa, aps o terramoto de 1755. Tambm encontram-se
nessa Enciclopdia o desenho de estruturas de coberturas, tradicionais e amansardadas,
semelhantes s dos edifcios pombalinos.
A madeira utilizada nas construes da Baixa pombalina era de origem nacional
ou importada de Flandres (o pinho de Flandres). As coberturas dos edifcios
pombalinos, edifcios esses que foram desenhados por Eugnio dos Santos, tinham as
asnas com um guarda p ou forro, sobre o qual assentavam o ripado e as telhas de
canudo [5].
Fonte: COIAS, Vitor Reabilitao estrutural de edifcios antigos:
Alvenaria/madeira: tcnicas pouco intrusivas; Argumentun/ GECORPA, Lisboa, 2007
Figura 3: - Asna de cobertura de um edifcio pombalino
Fonte: COIAS, Vitor Reabilitao estrutural de edifcios antigos:
Alvenaria/madeira: tcnicas pouco intrusivas; Argumentun/ GECORPA, Lisboa, 2007
Figura 4: - Outros tipos de asnas de coberturas encontradas em edifcios pombalinos
ENQUADRAMENTO HISTRICO
16
2.3 Referncias bibliogrficas
[1] BLECHA, Karen Anris, Ensino de estruturas de madeira para engenheiros civis:
as imagens de coberturas ao longo da histria como contribuio para compreender a
realidade dos processos construtivos actuais, 2008.
[2] COURTNAY, L.T. Timber Roofs and Spires, in Architectural technology up to
the scientific revolution : the art and structure of large scale Buildings; the MIT
Press, Cambridge, Massacusetts, London, 1994; pp 223 a 227.
[3] J. RONDELET, Tome quatrime, Trait, Theorique et pratique de lrt de batir.
[4] BRANCO, Jorge; SANTOS, Ana; CRUZ, Paulo, Asnas tradicionais de madeira,
evoluo, comportamento e reforo com materiais compsitos, PP204 A 215.
[5] - VILLALBA, Antnio Cestro, . Historia de la construcion arquitectnica, Edicions
de la universitat politcnica de Catalunya, SC, Barcelona, 1995, pp. 274 a 276.
PREPARAO E COMPOSIO DE MATERIAIS
17
3 PREPARAO E COMPOSIO DE MATERIAIS
Existem dois grandes grupos de madeiras usadas na construo, que so as
madeiras macias e as madeiras industriais.
Dentro das madeiras macias existe a madeira rolia, a falquejada e a serrada. A
madeira rolia usada nas construes rurais, em estacas, nos escoramentos, nos postes,
etc. Este tipo de madeiras deve ser usado sob condies ambientais meio secas, cujo
teor de humidade ronda os 30%, ou seca ao ar em que existe o ponto de equilbrio entre
a humidade no interior das clulas e a humidade atmosfrica.
A madeira falquejada (obtida da rvore com o uso de um machado) usada em
estacas, cortinas cravadas, pontes, etc. Devido ao reduzido perodo de secagem destas
madeiras, ocorrem retraces transversais provocando fendas nas extremidades. Este
efeito facilmente evitado com a aplicao de alcatro ou outro impermeabilizante nas
extremidades [1].
A madeira tem a designao de serrada quando cortada segundo dimenses
standardizadas e submetida a um perodo de secagem.
As madeiras lameladas coladas so constitudas por lminas cujas fibras tm
direco paralela e so coladas sob presso, formando grandes vigas de seco
rectangular. A tcnica da colagem e a cola so fundamentais para garantir a durabilidade
da madeira.
As madeiras compensadas so obtidas pelo desenrolamento de pequenas rvores
em folhas; estas placas so secas, escolhidas, pulverizadas com um adesivo hidrfugo,
PREPARAO E COMPOSIO DE MATERIAIS
18
dispostas em sobreposio contnua. So assim designadas, pelo facto da colagem das
lminas ser feita em nmero mpar, sendo a direco das fibras disposta alternadamente
e perpendicularmente entre si. Esta madeira permite a construo de peas de maiores
dimenses, reduz a retraco e a dilatao devido perpendicularidade das fibras,
mais resistente na direco perpendicular s fibras e nas camadas mais externas. A
desvantagem tambm o seu elevado custo.
Muitas vezes as patologias biolgicas tm origem no corte da rvore, por essa
razo deve-se ter em conta alguns procedimentos prvios durante e aps o corte, que
sero descritos no pargrafo seguinte.
A rvore deve ser cortada quando atinge a maturidade, isto o cerne ocupa a
maior parte do dimetro do tronco, que varia entre 50 a 100 anos, consoante a espcie,
obtendo-se desse modo uma madeira com elevada durabilidade natural. A melhor poca
do corte para esse abate no Inverno dado que o tronco nessa altura tem menor teor em
amidos e acares, sendo menos susceptvel ao ataque de xilfagos [2].
Aps o corte as rvores devem ser removidas da mata, sendo-lhes queimada a
casca e destrudos os ninhos que se situam na camada superficial do lenho, a fim de
interromper o ciclo de vida dos insectos subcorticais (S. Noctilio). A madeira nessa
altura s poder estar infestada pelos insectos Cerambicideo E. Faber ou sircideo S.
Noctilio, cujas larvas situadas no interior da madeira, tornam a sua deteco impossvel
e cuja destruio s se efectuar durante a secagem, ou durante as operaes de
fumigao em cmara (aps a secagem natural, e/ou durante a impregnao). Fora da
mata devero ser aplicados por pulverizao, insecticidas orgnicos sob a forma de
emulso leo-gua, aplicados na poca de emergncia e postura dos adultos.
Aps o abate, a madeira deve ser serrada para que sejam evitados os defeitos no
processo de secagem. O mtodo mais eficaz de armazenamento do material a
empilhagem das peas com separador permitindo maior circulao do ar, protegendo-as
da chuva e colocando-as em zonas ventiladas.
O tempo de secagem aproximadamente 1 a 2 anos para madeiras macias e 2 a 3
anos para madeiras duras. Pelo facto da secagem natural ser muito demorada, so
usados processos artificiais, fazendo passar as peas empilhadas por zonas de circulao
de ar quente com temperatura e humidade controladas. O tempo de secagem varia entre
10 a 30 dias por polegada de espessura da pea. Estes processos de secagem rpida
PREPARAO E COMPOSIO DE MATERIAIS
19
devem ser fiscalizados para que no ocorram fendas na madeira, propcias ao ataque dos
agentes biolgicos e fsico-qumicos.[3]
Aps a obteno do material - madeira - tambm se devem ter algumas
precaues na sua aplicao inserida na execuo dos edifcios, ao nvel estrutural e de
pormenores construtivos. Essa salvaguarda pode evitar degradaes estruturais e/ou
degradaes biolgicas.
Em relao s deficincias construtivas destacam-se as mais frequentes:
- Os pilares no devem estar apoiados directamente sobre o solo, de modo a evitar
degradaes biolgicas;
- As deformaes relacionadas com a colocao de madeira verde em obra, ou
com a existncia de fenmenos cclicos de humidade e secagem, ou simplesmente por
inrcia insuficiente;
- Encurvadura dos elementos comprimidos devido ao excesso de esbelteza das
peas de madeira, ou devido solicitao excessivas de cargas no previstas;
- Empenamento devido a assimetria de cargas, aos efeitos induzidos das vigas e
dos elementos de apoio;
- As infiltraes ao nvel da cobertura, quando no existe manuteno da mesma
ou quando as impermeabilizaes so mal realizadas, a ruptura ou deslocao das telhas
pela aco do vento, a obstruo das canalizaes, a falta de ventilao das coberturas
poder originar degradaes por podrido, consequncia das condensaes;
- Os defeitos na execuo das janelas e portas podem provocar entradas de gua
no interior dos pavimentos e nas entregas das vigas da estrutura de madeira dos
pavimentos;
- Existncia de fungos de podrido nas zonas hmidas, isto , casas de banho e
cozinhas, devido s condensaes;
- A entrega das vigas em muros ou sobre vigas mestras deve ser no mnimo 15cm
+ da espessura da pea;
- Deve existir ventilao dos pavimentos de madeira, de modo a serem evitadas
degradaes biolgicas;
PREPARAO E COMPOSIO DE MATERIAIS
20
- As paredes onde vo assentar as entregas das vigas muitas vezes no se
encontram niveladas [4];
De modo a evitar ou minimizar as deficincias construtivas indicadas
anteriormente deve ser realizado o seguinte:
- Eliminao dos focos de humidade atravs da reparao de infra-estruturas e de
coberturas defeituosas, execuo de barreiras de impermeabilizao nas fachadas, e
realizao de drenagens do terreno. Essas drenagens podem ser efectuadas pela
colocao de uma camada de brita a envolver um tubo corrugado no interior de uma
vala, ou pela execuo de poos drenantes dispostos em funo do nvel fretico em que
a gua bombada e conduzida para a rede pblica. Tambm se colocam telas plsticas,
ou betuminosas, ou pela aplicao de placas metlicas na seco transversal da parede
(desde que possua espessura superior a 40cm), ou atravs da injeco de lquidos
capazes de impedirem a entrada de humidades pelo solo. Este ltimo processo
efectuado com a aplicao de produtos minerais, ou atravs da hidrofugao das paredes
com produtos repelentes gua.
- Deve existir uma boa ventilao ao nvel das paredes exteriores na caixa-de-ar
conjugadas com aberturas nas paredes interiores de fundao, e ao nvel dos apoios das
vigas e dos soalhos, para que no ocorram condensaes que provoquem a existncia de
fungos de podrido. Quando tal no for possvel, deve-se submeter a madeira a um
tratamento protector por impregnao qumica mediante injeces a presso em
orifcios realizados previamente. Outra possibilidade, ao nvel dos apoios das vigas,
seria a sua impermeabilizao plstica transpirvel que evita a entrada de humidade do
exterior e que permite a passagem do vapor de gua do interior para o exterior.
- A proteco das zonas de apoio da estrutura da cobertura tambm pode ser
realizada pela execuo de beirais;
- Quando se utilizam chapas de zinco ou cobre em rufagens ou como proteco da
madeira, deve ser colocado um material neutro (tipo plstico) de modo a serem evitadas
possveis reaces entre esses materiais e a resina da madeira.
- A madeira exposta intemprie, deve ser bem dimensionada e protegida com
pinturas ou vernizes que impeam a entrada de humidade evitando degradaes fsico-
qumicas e biolgicas;
PREPARAO E COMPOSIO DE MATERIAIS
21
-As peas de madeira devem ser isoladas do terreno, os pilares devem ser
apoiados sobre bases de pedra, cimento ou ao. Para alm disso as vigas de madeira
tambm devem estar isoladas das paredes;
- Deve ser executado, sempre que possvel, uma caixa-de-ar entre as paredes e os
guarnecimentos de portas e rodaps, usando pequenos tacos de madeira, aumentando
desse modo a vida til dos materiais [5].
PREPARAO E COMPOSIO DE MATERIAIS
22
3.1 Referncias bibliogrficas
[1] - ARRIAGA, F.; Peraza, F.; Esteban, M.; Bobadilla, I.; e Garca, F. - Intervencion
en estruturas de madera - AITIM, de 22 de Fevereiro de 2002
[2] - FRANCO, E. S. - Conservao de Madeiras em Edifcios A defesa das madeiras
serradas contra ataques de insectos xilfagos - LNEC Documento
[3] Estruturas de madeira, reabilitao e inovao, Gecorpa, 2000
[4] - Departamento de Construo da Universidade Politcnica de Madrid (DCTA-
UPM) - Patologa y Tcnicas de Intervencin. Elementos Estructurales - Munilla-lera,,
Agosto de 1998
[5] - SUMMAVIELLE, E. e Passos, J. M. S. - Carta de Cracvia 2000 Princpios
para a Conservao e Restauro do Patrimnio Construdo - Divulgao da Direco
Geral dos Edifcios e Monumentos Nacionais, Outubro de 2003
EXECUO, CONSERVAO, RESTAURO E REABILITAO DE
COBERTURAS
23
4 EXECUO, CONSERVAO, RESTAURO E
REABILITAO DE COBERTURAS
4.1 Montagem e execuo de coberturas
As coberturas de madeira, quer sejam de uma, de duas ou mais guas, possuem na
sua estrutura principal asna. As asnas de madeira podem ser de inmeras configuraes
geomtricas. A escolha da sua tipologia recai sobre vrios factores entre os quais se
destacam o vo a cobrir, a natureza das aces a considerar, a inclinao da cobertura, a
arquitectura e as operaes de montagem e execuo. Sobre as asnas repousam as
madres, a fileira e a substrutura de suporte cobertura (varas e ripas).
As asnas so normalmente constitudas por um elemento horizontal (a linha), por
duas pernas inclinadas para a formao da vertente do telhado, por um elemento vertical
apertado no vrtice do telhado pelas pernas (o pendural) e por duas escoras inclinadas
que ligam as pernas ao pendural. Contudo, o grau de complexidade da sua geometria
aumenta com o vo a cobrir. O espaamento normal entre as asnas, de eixo a eixo, da
ordem de 3 a 4 m.
As asnas simples, nascidas, provavelmente, no Renascimento, apresentam, como
o nome indica, uma geometria elementar, constituda por linha e pernas, e em alguns
casos por um pendural. Sofreu ao longo dos sculos vrias transformaes, passando
progressivamente da soluo mais simples e elementar, a triangulao, para sistemas
EXECUO, CONSERVAO, RESTAURO E REABILITAO DE
COBERTURAS
24
cada vez mais complexos, quer no nmero de elementos constituintes quer nos sistemas
de ligao entre eles, A componente vertical compensada pela reaco vertical no
apoio. O elemento vertical (pendural), se presente e se no estiver apoiado sobre a linha,
serve apenas para facilitar a unio entre as pernas. Este esquema esttico vem alterado
no caso do pendural estar directamente apoiado sobre a linha, ou ligado linha por meio
de elementos metlicos. A linha passa a estar carregada a meio - vo estando sujeita
para alm da traco, flexo e ao esforo de corte nesta zona, agravando
substancialmente a sua deformada. As ligaes esto reforadas por elementos
metlicos, que lhes conferem rigidez e, consequentemente, uma melhor distribuio dos
esforos por todos os elementos da asna.
Figura 5: Direco das foras
A necessidade de construir coberturas com vo superiores a 8 m forou a evoluo
das asnas at tipologia mais complexa de asna composta. Para permitir maiores
comprimentos para as pernas, so necessrias mais escoras. Ao existirem mais
elementos comprimidos (escoras) necessrio a introduo de elementos (tirantes) para
resistirem componente de traco que surge na ligao escora-linha. A materializao
de linhas com comprimento maior realiza-se, por vezes, atravs da unio de dois
elementos a meio vo da asna. As dimenses destas asnas exigem que as madeiras
estejam bem secas e desempenadas, completa resistncia, para alm de ser
indispensvel a perfeio das samblagens e ferragens.
A construo de uma cobertura, por mais simples que seja, implica, desde logo, a
necessidade de interligar os vrios elementos que a constituem. A forma mais antiga de
o fazer atravs das chamadas ligaes tradicionais ou samblagens, onde a transmisso
EXECUO, CONSERVAO, RESTAURO E REABILITAO DE
COBERTURAS
25
de esforos feita por atrito e compresso na interface entre os elementos a unir. Este
contacto entre os elementos a unir normalmente realizado por dentes, e em certos
casos, estes so complementados com a execuo de respiga e mecha. As ligaes por
respiga e mecha asseguram uma perfeita conexo entre as peas e previnem ao mesmo
tempo deslizamentos laterais das mesmas, por intermdio de penetrao. Tm como
inconvenientes a mo-de-obra que exigem e a reduo de seces que representam.
Com a descoberta do ao (sculo XIX) e simultaneamente com a necessidade de
se construir em larga escala, as ligaes por meio de samblagens passaram a ser
substitudas por ligaes usando elementos metlicos tais como: pregos, parafusos,
cavilhas, bandas metlicas, ps de galinha e Ts. Estes elementos auxiliares tm a
finalidade de estabilizar a ligao, de impedir o deslizamento lateral da pea e de prever
possveis inverses de esforos. Os elementos metlicos mais comuns em asnas de
madeira so: p de galinha para a ligao das pernas ao pendural; T para a ligao das
pernas s escoras; p de galinha dobrado para a ligao do pendural linha; e a
braadeira que aperta as pernas linha, muito comum no sculo XIX [1].
4.2 Proteco e durabilidade da cobertura
No caso particular da reabilitao e/ou reforo de coberturas de madeira, a
dificuldade em prever o real comportamento das ligaes tradicionais geralmente
conduz a intervenes exageradas quanto ao aspecto da segurana. Alm do mais, a
incompreenso do comportamento global da cobertura poder resultar em tenses
inaceitveis nos restantes elementos em consequncia de um inadequado reforo da
ligao (em termos de rigidez).
Dependendo do problema especfico a resolver, o mtodo de reforo pode
envolver a colocao de uma armadura distribuda atravessando a seco do elemento
de madeira para absoro de esforos de corte, ou para impedir a propagao de fendas
longitudinais, ou ento o reforo das zonas de traco e de compresso. Refira-se que,
contrariamente s intervenes em estruturas de beto armado, corrente, nos
elementos de madeira, o reforo simultneo nas zonas superior e inferior das vigas, se
EXECUO, CONSERVAO, RESTAURO E REABILITAO DE
COBERTURAS
26
houver condies de acesso, j que a resistncia traco da madeira da mesma ordem
de grandeza que a sua resistncia compresso.
As necessidades de durabilidade em obras de reabilitao e conservao so muito
mais severas do que em construes correntes por serem substancialmente maiores os
tempos de vida que se desejam para os edifcios antigos. Aplicar materiais com tempos
de vida de 10 ou 20 anos num imvel com trs sculos transportar problemas para o
futuro a curto prazo.
As diversas caractersticas fsicas, qumicas e mecnicas dos materiais a usar na
conservao devem ser devidamente ponderadas em termos de compatibilidade com os
materiais existentes na construo a conservar ou reabilitar.
Caractersticas como porosidade, permeabilidade ao vapor de gua, caractersticas
mecnicas, estabilidade fsico-qumica, variaes dimensionais de origem higromtrica
e afinidade qumica, entre outras, devero ser sempre devidamente ponderadas na fase
de seleco de qualquer material. O uso de novas tcnicas e materiais de construo
necessrio, mesmo imprescindvel em determinadas aces de conservao; no entanto
tm de ser garantidas as condies de compatibilidade e durabilidade, assim como deve
ser garantida a sua reversibilidade.
Ao longo do trabalho ser descrito mais pormenorizadamente o que dever ser
executado para uma melhor proteco e durabilidade das coberturas assim como uma
boa manuteno destas [2].
4.3 Os conceitos, os critrios actuais de interveno e os
conhecimentos tcnicos e metodolgicos tradicionais aplicados
na conservao de coberturas histricas
O termo conservao engloba todo o conjunto de aces destinadas a prolongar
o tempo de vida de uma dada edificao. Implica desencadear um conjunto de medidas
destinadas a salvaguardar e prevenir a degradao, que incluem a realizao de
operaes de manuteno necessrias ao correcto funcionamento de todas as partes e
elementos de um edifcio. A conservao do patrimnio arquitectnico exige um grande
EXECUO, CONSERVAO, RESTAURO E REABILITAO DE
COBERTURAS
27
rigor cientfico e envolve uma grande diversidade e complexidade de temas na sua
abordagem. Necessita de apoio laboratorial para o desenvolvimento de anlises
especializadas e para o estabelecimento de diagnsticos patolgicos, exige ainda o
domnio de velhas e novas tecnologias, assim como o conhecimento dos materiais e
processos construtivos, constituindo um campo de experimentao e aplicao de
diferentes disciplinas do saber.
O lanamento de uma operao de conservao do patrimnio pode exigir a
prtica do restauro, ou seja, o lanamento de um conjunto de aces altamente
especializadas, desenvolvidas de modo a recuperar a imagem, a concepo original ou o
momento ureo na histria de um edifcio, no qual a sua arquitectura possuiu coerente
totalidade.
O termo reabilitao designa toda uma srie de aces empreendidas tendo em
vista a recuperao e a beneficiao de um edifcio, tornando-o apto para o seu uso
actual.
O seu objectivo fundamental consiste em resolver as deficincias fsicas e as
anomalias construtivas, ambientais e funcionais, acumuladas ao longo dos anos,
procurando ao mesmo tempo uma modernizao e uma beneficiao geral do imvel
sobre o qual incide, actualizando as suas instalaes, equipamentos e a organizao dos
espaos existentes, melhorando o seu desempenho funcional e tornando esses edifcios
aptos para o seu completo e actualizado uso.
Em Portugal existem trs categorias de patrimnio arquitectnico: os
monumentos nacionais (Edifcios Histricos); os imveis de interesse pblico
(teatros, auditrios, museus, estdios, torres, estaes de transporte, etc.) e os valores
concelhios (edifcios privados que so imagem de marca de empresas ou particulares).
Existe tambm o patrimnio construdo que tem valor arquitectnico e/ou arqueolgico
com condies para ser classificado [3].
A recuperao de coberturas de madeira frequente na reabilitao do nosso
patrimnio arquitectnico. O tipo de interveno extremamente importante uma vez
que a natureza e concepo original da construo devero ser respeitados. Esta aco
passa pela substituio total ou parcial dos elementos degradados, com eventual reforo
estrutural. Os mtodos de reforo estrutural podem ser divididos em trs grupos:
EXECUO, CONSERVAO, RESTAURO E REABILITAO DE
COBERTURAS
28
- O mtodo tradicional, que consiste na substituio das zonas degradadas por
peas inteiramente novas, de dimenses e propriedades semelhantes s originais;
- O mtodo mecnico, que se traduz pela adio de elementos metlicos (cavilhas,
parafusos de porca, chapas denteadas, braadeiras e esquadros) ou de materiais
compsitos;
- O mtodo adesivo, que consiste na substituio da parte deteriorada por
argamassa de resina epoxdica ligada madeira s atravs de vares metlicos ou
compsitos.
A opo por uma tcnica de reforo s dever ser efectuada aps um correcto
diagnstico das anomalias existentes. A escolha da soluo final dever ser tomada a
partir de um estudo exaustivo e criterioso de todas as solues propostas.
Alguns aspectos fulcrais tero de ser tidos em conta para a concepo de um
reforo eficaz:
- No caso de se tratar de troos de madeira nova, esta dever ser da mesma espcie
que a existente;
- Quando se trata do reforo local de uma zona degradada, h que ter o cuidado
em preservar a sua rigidez inicial, a fim de no provocar alteraes significativas na
distribuio de tenses entre elementos e ligaes e, consequentemente, no
comprometer o comportamento global da estrutura, quer sob aces estticas quer
cclicas;
- Evitar concepes que possibilitem concentraes de humidade na zona
reforada e que comprometam o comportamento da estrutura sob condies acidentais
(fogo).
Infelizmente, assiste-se a inmeros casos prticos cuja concepo de reforo
errnea. evidente, o insuficiente conhecimento sobre a utilizao da madeira enquanto
material estrutural: as suas propriedades fsicas e mecnicas caram no esquecimento e
existe uma grande dificuldade em analisar e entender as suas anomalias. Se o
mecanismo da ligao impede o livre movimento da madeira, a rotura de uma estrutura
poder ocorrer pelos seus membros, o que deve ser de todo o custo evitado perante a
possibilidade de rotura frgil, especialmente nos elementos traccionados. Outros
EXECUO, CONSERVAO, RESTAURO E REABILITAO DE
COBERTURAS
29
aspectos a apontar passam pela possibilidade de ocorrncia de um deslocamento relativo
entre os dois elementos concorrentes, alm de que a placa de ao impede futuras
inspeces na zona reforada e provoca concentraes de humidade nesta zona
possibilitando o ataque biolgico. Finalmente de salientar o perigo que esta concepo
de reforo representa em caso de incndio.
Os sistemas compsitos foram desenvolvidos no decurso do sculo XX com o
objectivo de criar materiais capazes de ultrapassar certas limitaes dos materiais
tradicionais. Hoje em dia, assiste-se a uma grande aposta na aplicao deste tipo de
materiais como soluo de reforo de elementos estruturais de beto, de ao ou de
madeira. Trata-se de uma tcnica fcil e de simples execuo mas ao mesmo tempo
capaz de melhorar as propriedades mecnicas. So os chamados compsitos
estruturais, ou polmeros reforados com fibras (FRP), que resultam da combinao de
fibras e de uma matriz. As fibras so responsveis pela resistncia do compsito e a
matriz o elemento que as une, sendo responsvel pela transmisso dos esforos. As
matrizes podem ser constitudas por resinas termoplsticas (polietileno, polipropileno,
polister, policarbonatos) ou termoendurecveis (de epxido, fenlicas, de polister, de
poliuretano ou de poliamida). Das inmeras fibras existentes no mercado, as que vm
demonstrando melhor eficincia no reforo e recuperao de estruturas de madeira so
as fibras de vidro e de carbono.
As formas comerciais de sistemas de FRP mais frequentemente usadas no reforo
de elementos de madeira podem dividir-se em trs grupos principais: os sistemas
moldados, ou curados in situ, caracterizados pela juno da matriz e das fibras no local
a reforar (mantas unidireccionais ou pluridireccionais); os sistemas pr-fabricados,
caracterizados por perfis pr-fabricados que j integram a matriz (laminados); e os
vares.
Os polmeros reforados com fibras (FRP) de carbono so os que apresentam
caractersticas mecnicas mais elevadas: resistncia traco entre 4000-5000 MPa em
formato manta, 2000-3000 MPa em formato laminado; mdulo de elasticidade entre
200 e 400 GPa em formato manta e 100-200 GPa quando laminado ou em varo. Os
compsitos com fibras de vidro so mais utilizados por terem um custo bastante inferior
e por possurem valores de propriedades mecnicas mais semelhantes aos da madeira:
EXECUO, CONSERVAO, RESTAURO E REABILITAO DE
COBERTURAS
30
mdulo de elasticidade aproximadamente de 70 GPa, no formato manta, e 40 GPa, em
formato varo, e resistncia traco de aproximadamente 2500 MPa.
Actualmente, os benefcios associados aplicao destes materiais resumem-se a:
- Possibilidade de aplicao em ambientes agressivos dada a sua resistncia fsica
e qumica (no caso das fibras de carbono no necessrio sequer a sua proteco);
- Facilidade de manuseamento associado ao baixo peso prprio;
- Vasta gama de materiais compsitos com caractersticas mecnicas diferentes:
de facto possvel escolher produtos com mdulo de elasticidade superior ao do ao,
com deformaes maiores, ou ainda resistncia traco superior.
O uso de materiais compsitos em estruturas de madeira, quer macias quer
lameladas coladas, tem dois fins principais: a unio entre elementos atravs de vares e
o reforo de ligaes. No primeiro caso, a realizao da unio entre elementos atravs
de vares compsitos muito semelhante utilizao de vares metlicos.
O reforo de ligaes exige especial ateno, uma vez que o objectivo no passa
pelo aumento da rigidez da ligao mas pelo aumento da sua capacidade de carga e da
sua capacidade dissipativa. Visando o aumento da capacidade de carga da ligao, o
reforo passa pelo controlo das traces da madeira perpendiculares s fibras,
especialmente relevante no caso de ligaes com reduzido nmero de conectores de
grande dimetro (apresentam rotura frgil). Visando o aumento da capacidade
dissipativa, caso das ligaes viga - pilar, aconselhvel a interposio de vrias
camadas de laminado FRP. Por ltimo, salienta-se, ainda, que as fibras de vidro so as
mais usadas quando pretendido o aumento da ductilidade das ligaes e as fibras de
carbono quando os objectivos so o incremento da rigidez e da resistncia. Cabe ao
projectista analisar as necessidades de reforo e escolher o material mais adequado
atendendo relao custo - benefcio, ou seja, optar entre o reforo tradicional com
elementos metlicos e o reforo inovador com materiais compsitos de fibra de vidro ou
de carbono [5].
EXECUO, CONSERVAO, RESTAURO E REABILITAO DE
COBERTURAS
31
4.4 Referncias bibliogrficas.
[1] PEREIRA, Vasco; MARTINS, Joo, Materiais e tcnicas de construo, 2005
[2] BRANCO, Jorge M. Cruz, Asnas de madeira, a importncia da rigidez das
ligaes, Engenharia de estruturas, 2006
[3] LOPES, Flvio; CORREIA, Miguel Brito, Patrimnio arquitectnico e
arqueolgico, 2004
[4] BONELLI, Rmulo; DELPINO, Rossana, Manual pratico conservao de
telhados, IPHAN/ Monumenta
[5] MIOTTO, Jos; DIAS, Antnio, Reforo e recuperao de estruturas de madeira,
2006
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
32
5 - CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO
DOS PAOS DO CONCELHO DE MESO FRIO
5.1 Caracterizao geral de Meso Frio
5.1.1 Situao geogrfica
Procuraremos de forma sucinta dar a conhecer o concelho de Meso Frio, que
encontra nas suas origens e identidade a sua grande riqueza e diversidade, reflectida no
extenso patrimnio material e imaterial e que se apresenta como principal oferta cultural
e turstica.
Meso Frio, um dos mais antigos concelhos da regio duriense. De acordo com
Bernardino Oliveira, recebeu o () Foral em Fevereiro de 1152 por ordem de D.
Afonso Henriques.. Localizado no extremo sul - sudoeste do Distrito de Vila Real, na
provncia de Trs-os-Montes e Alto Douro, situando-se o centro da vila num pequeno
planalto a 380 metros de altitude, sobranceiro aos rios Douro e Teixeira. Deste
Concelho rural, fazem parte integrante sete freguesias, so elas, Barqueiros, Cidadelhe,
Oliveira, Vila Jus, Vila Marim, Sta Cristina e S. Nicolau [1].
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
33
Figura 6 - Vista sobre o rio Douro
Geograficamente, Meso Frio marca o incio da Regio Demarcada do Douro
Vinhateiro, considerado pela UNESCO (Organizao das Naes Unidas para a
Educao, Cincia e Cultura), como patrimnio da humanidade em 14 de Dezembro de
2001.
Fonte: http://www.bar-do-binho.com/
Figura 7 - Localizao Geogrfica do Concelho de Meso Frio
5.1.2 Evoluo Histrica
O desenrolar do tempo definiu os contornos do primitivo concelho de Meso Frio,
cuja vivncia se situa, muitos sculos antes da outorga do primeiro foral em Fevereiro
de 1152 por D. Afonso Henriques e que viria a ser confirmado por D. Afonso II, em
Trancoso (a 15 de Outubro de 1217). Trs dias antes do dia de Santo Andr do ano de
1513, o rei D. Manuel I concedeu-lhe "foral novo". A Histria deste concelho confunde-
se, pois com a prpria Histria de Portugal, existindo registos da sua existncia, anos
antes de D. Afonso Henriques haver sido reconhecido como rei pelo Papa Alexandre
III [2].
O concelho alcanou o seu perodo de maior prosperidade aps a demarcao, no
sculo XVIII, por decreto do Marqus de Pombal. O comrcio dos vinhos generosos
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
34
prosperou rapidamente, originando um crescimento na produo vincola, o que
beneficiou as condies socioeconmicas locais e ainda hoje, uma das principais
indstrias do concelho, constituindo a sua Adega Cooperativa a sua maior expresso.
Sendo esta, a primeira Cooperativa Vincola em toda a regio duriense, com o correr
dos tempos, tornou-se numa das mais prestigiadas Adegas Cooperativas do Pas.
O Concelho de Meso Frio fica localizado numa pequena rea de 2685 hectares,
distribudos por uma populao de 4926 habitantes, cuja densidade se aproxima dos 225
habitantes por Km
2
, que lhe d a segunda mais alta percentagem demogrfica do distrito
de Vila Real. [3].
Freguesia de Barqueiros Com foral concedido a 13 de Setembro de 1223 (por
D. Sancho II), a freguesia tem como principais festividades: So Bartolomeu a 24 de
Agosto e Nossa Senhora da Conceio a 8 de Dezembro. Nesta freguesia predominou
durante muitos anos a construo de barcos rabelos, da o facto de ainda hoje ser
conhecida como a Terra dos Marinheiros do Douro. De salientar a sua riqueza em
Patrimnio Histrico e Arquitectnico, da qual so exemplos, a Igreja de So
Bartolomeu, de meados do sculo XIX, a Capela de Nossa Senhora da Conceio, que
poder datar do sculo XVIII, apresenta caractersticas barrocas, onde se poder
encontrar a imagem da Senhora dos Navegantes, que evidencia a f que ajudava o povo
de Barqueiros a vencer as correntes tormentosas do Rio Douro. No que respeita ao
associativismo, esta freguesia conta com o Rancho Folclrico de Barqueiros do Douro,
Rancho Folclrico da Casa do Povo de Barqueiros, Associao de Apoio s Crianas,
Jovens e Idosos de Barqueiros e Unio Futebol Clube de Barqueiros. Os bordados,
rendas, alfaiataria, cestaria, castanholas e miniaturas de barcos Rabelos, so alguns dos
exemplos de artesanato local.
Figura 8 - Casa da Vista Alegre
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
35
Freguesia de Cidadelhe Existem vestgios de Civilizao nesta freguesia desde
o ano de 134 a.C.. As suas principais festividades so: So Vicente a 22 de Janeiro e
So Gonalo na 2 feira da 7 semana aps a Pscoa. De realar a sua riqueza em
Patrimonial, da qual so exemplos da qual so exemplos, a Igreja Matriz de S. Vicente
de Cidadelhe, templo de estilo barroco, a Igreja Matriz, as Casas do Pao, do Terreiro,
do Outeiro e da Quita do Ctto, o Castro Cltico de Cidadelhe, a Ponte e Calada
Romanas. No que respeita ao associativismo, esta freguesia conta com o Grupo
Recreativo e Desportivo de Cidadelhe.
Figura 9 - Casa do Pao de Cidadelhe Figura 10 -Quinta do Ctto
Freguesia de Oliveira Com carta de Couto da villa de Oliveira a 2 de Abril de
1170. A sua principal festividade em honra sua Padroeira a 15 de Agosto.
Relativamente ao Patrimnio Histrico e Arquitectnico, so exemplos, a Igreja de
Santa Maria de Oliveira, as Capelas de Nossa Senhora da Piedade e Santa Barbara, a
Casa das Torres, a Casa de Sant'Anna, a Casa da Quinta Nova, a Casa D'Alm, o
Pelourinho e o miradouro da Capela de Nossa Senhora da Piedade. No que respeita ao
associativismo, esta freguesia conta com um Grupo de Escuteiros. A cestaria e a
tanoaria so alguns dos exemplos de artesanato local.
Figura 11 - Casa das Torres de Oliveira Figura 12 - Casa de Sant`Anna
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
36
Freguesia de Santa Cristina Esta freguesia foi alvo das invases Napolenicas
a 11 de Maio de 1809. As suas principais festividades so: Santa Rita a 22 de Maio, So
Lzaro em vsperas da Pscoa e Santa Cristina a 24 de Julho. De referir que est ser
porventura a freguesia com maior riqueza em Patrimnio Histrico e Arquitectnico, da
qual so exemplos, a Torre da antiga Igreja de Santa Cristina, Runas da Capela de S.
Lzaro (Gafaria), a Casa da Rede, a Casa de Lalim, a Casa da Picota, a Casa dos
Fragosos, a Casa do Cabo de Vila, a Casa do Vale do Couto, a Casa dos Albergarias,
fontanrio oitocentista do Cruzeiro, o Pelourinho e o Auditrio Municipal. No que
respeita ao associativismo, esta freguesia conta com a Associao Cultural e Desportiva
Os Aliovrio. A latoaria, a alfaiataria e a sapataria, so alguns dos exemplos de
artesanato local.
Figura 13 - Fachada do Convento dos Franciscanos do Varatojo
Freguesia de So Nicolau Esta freguesia est intimamente ligada ao
nascimento do Municpio, datada de 1152. Tem como padroeiro So Nicolau e a sua
principal festividade a celebrao do dia Corpo de Deus. No entanto, destacamos a sua
enorme riqueza em Patrimnio Histrico e Arquitectnico, da qual so exemplos, Igreja
de Santa Cristina, Igreja de So Nicolau, Convento dos Franciscanos do Varatojo, Casa
da Ordem Terceira, Casa do Asilo, Hospital da Misericrdia, edifcio do lar dos
estudantes, Arcas Tumulares e Casa dos Guedes. No que respeita ao associativismo,
esta freguesia conta com o Clube de Caa e Pesca e a Fanfarra dos Bombeiros
Voluntrios. Alfaiataria, sapataria, latoaria e escultura em pedra, so alguns dos
exemplos de artesanato local.
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
37
Figura 14 - Igreja de So Nicolau Figura 15 - Arca Tumular
Freguesia de Vila Jus A sua principal festividade a Romaria a So Silvestre
no 1 Domingo de Setembro. A Capela de So Silvestre, encontra-se no cume deste
monte, com romarias desde os tempos imemoriais, evoca o primeiro papa do mesmo
nome, natural de Roma, que faleceu a 31 de Dezembro do ano de 335. De destacar a sua
riqueza em Patrimnio Histrico e Arquitectnico, da qual so exemplos, a Igreja
Matriz de So Martinho, a Capela de So Silvestre, a Casa dos Cabrais, a Casa do
Registro e o fontanrio oitocentista em Fundo de Vila. No poderamos deixar de
mencionar como ponto obrigatrio de visitas tursticas, o miradouro do Monte de So
Silvestre, de onde se poder observar a soberba paisagem sobre toda a regio.
Figura 16 - Capela de So Silvestre Figura 17 - Miradouro de So Silvestre
Freguesia de Vila Marim As principais festividades so: S. Sebastio a 20 de
Janeiro no lugar do Mrtir, Senhora do Rosrio a 30 de Maio, So Caetano a 8 de
Agosto, So Mamede a 17 de Agosto, Santa Luzia a 13 de Dezembro e Romaria do
Lameirinho no 2 Domingo de Julho. De destacar a sua riqueza em Patrimnio cultural,
da qual so exemplos, a Igreja de So Mamede, a Capela de So Caetano, a Casa de
Valdourigo, a Casa de Santiago, a Casa do Salgueiral, a Casa do Pao, a Casa do
Miradouro, a Casa do Povo, a Casa do Granjo, a Casa da Azenha, a Ponte Cavalar e o
miradouro de Donsumil, de onde se poder observar a magnifica vista sobre as vinhas
em socalcos at ao rio Douro. No que respeita ao associativismo, esta freguesia conta
com o Grupo Desportivo e Cultural e o Grupo de Escuteiros de Vila Marim. Cestaria,
alfaiataria e fabrico de violinos, so alguns dos exemplos de artesanato local.
.
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
38
Figura 18 - Capela de So Sebastio Figura 19 - Capela de So Caetano
5.1.3 Geologia
Mesao Frio tem representao na carta geolgica de Portugal. Fica na
proximidade de trs falhas, sendo a mais importante, e de grande profundidade a de
Rgua Verin, que origina um eixo de guas minerais e termalismo no interior norte do
pas. Fica localizada numa rea com predominncia de xistos e pequenos files
granticos. A construo antiga era realizada com esses materiais como principais
aproximadamente na mesma proporo da sua existncia na regio.
Fonte: http://web.letras.up.pt/mapoteca
Figura 20 - Carta Geolgica de Portugal
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
39
Fonte: http://web.letras.up.pt/mapoteca
Figura 21 Carta Geolgica da Regio
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
40
5.1.4 Relevo
A vila de Meso Frio situa-se nas faldas da serra do Maro e defronte da serra das
Meadas, cujo relevo orogrfico forma uma espcie de planalto ou meso que estar,
provavelmente, na origem etimolgica do seu nome. Enquadrada por vinhas, a vila
estende-se pelos socalcos da Serra do Maro at s margens do Rio Douro, numa
paisagem salpicada de solares e igrejas que reflectem amplamente a poca mais
prspera do Douro o sc. XVIII.
5.1.5 Clima
De seguida apresentam-se cartas com os dados meteorolgicos da regio:
Fonte:
www.meteo.pt
Figura 22 - Horas anuais de Insolao
Fonte:
www.meteo.pt
Figura 23 - Humidade relativa do ar (%) Figura 24 - Dias de geada / ano
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
41
5.1.6 Vias de Acesso
A rede viria de Meso Frio constituda por duas Vias Nacionais e todo o resto
da malha viria constitudo por Vias Municipais. As Vias encontram-se em relativo
bom estado embora tenham elevados declives e curvas consecutivamente opostas.
Por via rodoviria, Meso Frio encontra-se a 27km de Amarante, 18 de Baio, 39
de Vila Real e a 12 do Peso da Rgua. limitado a norte e a nascente por este ltimo
concelho, a sul pelos de Resende e Lamego (confinados pelo rio Douro), e a poente pelo
concelho de Baio, j no distrito do Porto. Deste concelho rural de segunda ordem,
fazem parte integrante, as freguesias de Barqueiros, Cidadelhe, Oliveira, Vila Jus, Vila
Marim, Santa Cristina e S. Nicolau, pertencendo ao agrupamento dos concelhos do Vale
do Douro Norte, de que tambm fazem parte Alij, Mura, Peso da Rgua, Sabrosa,
Santa Marta de Penaguio e Vila Real.
Fonte: Adaptao, WebCarta.net
Figura 25 Rede viria do concelho de Meso Frio
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
42
5.2 O antigo Convento Franciscano dos Paos do Concelho de Meso
Frio
5.2.1 - Caracterizao arquitectnica do Convento Franciscano
O Convento dos Franciscanos do Varatojo, dotado de uma riqueza
arquitectnica tpica da poca, com paredes espessas de granito, ptio e jardim interiores
que em tempos serviam para os Frades passarem os seus momentos de lazer.
Figura 26 - Convento dos Franciscanos do Varatojo
A comunicao entre os trs pisos, efectuada por largas escadas de granito
trabalhado, assim como os vos, cornijas e a torre demonstram que o material de
construo predominante da poca era o granito e a madeira.
A fundao do Convento dos Franciscanos, em Meso Frio, no tem uma data
precisa. Fortunato de Almeida, (Histria da Igreja em Portugal; II Vol., p. 146), diz que
o Mosteiro de So Francisco de Meso Frio foi fundado em 1724, para frades e, Frei
Henrique Rema, d o ano de 1744 como data provvel da sua fundao (Transmontanos
e Durienses; Arquivo Distrital de Vila Real; 1977; p.307).
O Convento dos Franciscanos de Meso Frio encontrava-se integrado na Ordem
dos Frades Menores da Provncia de Trs-os-Montes apenas geograficamente, e possua
estatutos e caractersticas prprias que o tornavam independente da tutela de qualquer
Provncia Franciscana.
Desde a sua fundao, at 1790, pertenceu Provncia de Portugal ano em que
se adaptou a Seminrio Apostlico, e se denominava Convento de Nossa Senhora da
Piedade. Ao lado da igreja do Convento, funcionou a Ordem Terceira de So Francisco,
confraria fundada no ano de 1734 por Cipriano Ribeiro, seu instituidor.
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
43
5.2.2 Caracterizao construtiva do Convento Franciscano
TBUA CRONOLGICA DO CONVENTO FRANCISCANO DO VARATOJO
E DA IGREJA ANEXA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE
DATA PROPRIETRIOS OCUPANTES
1600 Existncia de livro de eleies da Ordem Terceira de So Francisco, em
Meso Frio, segundo o livro de inventrio de 1917 da Santa Casa da
Misericrdia de Meso Frio [4].
1724 A fundao do Convento dos Franciscanos, em Meso Frio, no tem data
precisa. Fortunato de Almeida diz que O Mosteiro de So Francisco de
Meso Frio foi fundado em 1724, para frades [5]. muito possvel que
o edifcio para alojar os frades franciscanos tivesse comeado a ser
edificado em data anterior.
1737 Normalmente indicada a data de 1737 para a fundao da Irmandade,
em Meso Frio, sendo seu fundador Cipriano Ribeiro. Foi neste ano que
a Igreja de Nossa Senhora da Piedade foi reconstruda. Cipriano Ribeiro
instituiu, na altura, trs missas dirias com $150 reais cada [6].
1744 Data de 1744 o primitivo estatuto da Irmandade, segundo Frei Henrique
Rema o antigo Convento dos Franciscanos do Varatojo pertenceu,
eclesisticamente, Provncia de Portugal [7], independentemente da
tutela de qualquer outra Provncia Franciscana.
1780 A Irmandade cedeu, em 1780, os
baixos da Casa do Despacho para
a Aula de Gramtica, de ler e
escrever, regida pelos frades [8].
Aula de Gramtica, regida pelos
frades da Ordem, no andar trreo da
Casa do Despacho.
1790 Em 1790, o Convento adaptado para a instalao do Seminrio
Apostlico da Nossa Senhora da Piedade, dos frades franciscanos do
Varatojo [9].
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
44
DATA PROPRIETRIOS OCUPANTES
1809
1826
A 11 de Maio de 1809, a Igreja
Paroquial de Santa Cristina,
construda no lugar do Outeiro, foi
derrubada pelas tropas pelas tropas
do general Loison, durante a 2
invaso francesa, comandada por
Soult e pelo imperador Napoleo
Bonaparte. Na Igreja de Nossa
Senhora da Piedade h um sino
com a imagem de Santa Cristina e
a data de 1826, o que indica a
apropriao desta Igreja
franciscana pelos paroquianos de
Santa Cristina, antes da expulso
dos frades do Convento [10].
Os ofcios litrgicos da Igreja de
Santa Cristina eram realizados na
Capela do antigo Solar da Picota,
entre 1809 e 1834 [11].
1809/1834 Em 1834, so extintas as Ordens
Religiosas. A 28 de Maio de 1834,
aps a expulso dos frades do
Convento do Varatojo, os
paroquianos da Igreja de Santa
Cristina apropriaram-se da Igreja
de Nossa Senhora da Piedade,
convertendo-a em Igreja Matriz,
passando esta a designar-se Igreja
de Santa Cristina.
1834
Em 1834, o Convento, dirigido por
Frei Miguel da Soledade, tinha 19
religiosos, entre os quais, 10
sacerdotes, 6 irmos leigos e 3
cantores coristas [12].
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
45
DATA PROPRIETRIOS OCUPANTES
1834 O ltimo religioso da Ordem
Terceira a abandonar o Convento,
depois do seu encerramento, foi
Frei Joaquim da Purificao, em
1845 [13].
Sculo XIX No sculo XIX, a C.M. requisita o piso superior do Convento, para a
estabelecer a Misericrdia e o Hospital, e o andar trreo para a instalao
dos quartis militares [14].
1840 A 31 de Agosto de 1840, o Convento adaptado instalao da Casa da
Cmara e a Cerca transformada em cemitrio [15].
Meados do
sculo XIX
Em meados do sculo XIX, a antiga Casa do Despacho foi transformada
em hospedaria, sendo sua proprietria a viva Maria Pita, designando-se
a hospedaria de Casa da Pinta. Maria Pita era na altura, tambm,
hospitaleira da Misericrdia.
1861 Em 1861, construdo em frente ao Convento um fontanrio [16].
1871 A 22 de Agosto de 1871, a Assembleia Geral da Ordem Terceira de So
Francisco vota os estatutos da Ordem.
1872 A 23 de Abril de 1872, Antnio Tibrcio Pinto Carneiro, governador
civil de Vila Real, aprova os estatutos que se encontram no livro do
Arquivo Histrico da Santa Casa da Misericrdia, onde constam duas
folhas: petio do Ministro e Definidores da Ordem ao Nncio
Apostlico, para que fosse elevado o preo das missas, devido
dificuldade de obteno de sacerdotes para rezarem as missas pelo preo
de 240 reis; o nmero de missas de legados era de 701; a outra folha
serviu para remeter a petio ao prelado da Diocese.
1874 J em 29 de Setembro de 1874, havia sido atendida idntica pretenso
pela Nunciatura Apostlica, no sentido de satisfazer 2128 missas
atrasadas pelo preo de 240 reis.
1881 Os estatutos da Venervel Ordem Terceira de So Francisco da vila de
Meso Frio so impressos em 1881, na Tipografia do 10 de Maro, na
rua D. Fernando do Porto [17]. Nesse ano realizam-se obras de reparao
no Convento [18].
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
46
DATA PROPRIETRIOS OCUPANTES
1915 A 2 de Setembro de 1915, a Ordem Terceira prepara a sua incorporao
na Santa Casa da Misericrdia, forada por elevadas dvidas que tinha
com esta ltima.
1916 Em 8 de Janeiro de 1916, concretiza-se a fuso das duas Irmandades, que
consta em alvar assinado por Dr. Nuno Simes, governador civil de
Vila Real. Para a Santa Casa da Misericrdia, passaram as alfaias,
quadros, paramento e mobilirio do antigo Convento. A Casa do
Despacho, depois de servir de salo paroquial, foi alugada pela
Misericrdia ao Banco Totta & Aores [19].
1992 Desde 21 de Novembro de 1992 at 10 de Janeiro de 1993, seis cadeiras
de couro com o escudo da Ordem Franciscana fazem parte da exposio
Identidade Cultural Transmontana Os Franciscanos, realizada no
Arquivo Distrital de Vila Real [20].
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
47
Figura 27 Alado Norte
Figura 28 Alado Nascente
Figura 29 Alado Sul
Figura 30 Alado Poente
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
48
Figura 31 Planta do piso -1
Figura 32 Planta do piso 0
Figura 33 Planta do piso 1
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
49
O edifcio, seiscentista e reformado nos sculos XVIII, XIX e XX, ergue-se no
lado Sul da Avenida Conselheiro Alpoim, na freguesia de S. Nicolau, do concelho de
Meso Frio. constitudo por trs unidades distintas, dispostas segundo uma planta
irregular:
1) ao centro, a Igreja de Santa Cristina, cuja nica nave longitudinal,
perpendicular Avenida, apresenta tecto abobadado de madeira, capela-mor mais
estreita e baixa, sacristia posterior, camarim estreito adossado ao lado esquerdo,
rematado pela torre sineira, entre a sacristia e o camarim, coro alto sobre a entrada e, a
preceder a capela-mor, um plpito de cada lado;
2) A Poente, o Mosteiro Franciscano maneirista, onde, actualmente, se encontra a
sede da Cmara Municipal, o Registo Predial e o Posto de Turismo, que, em conjunto
com a Igreja, forma um claustro de dois pisos, central e quadrangular; a fachada
meridional do Mosteiro, de trs pisos, tem planta em U, projectando dois corpos
avanados sobre o rio Douro, de fachadas a formar alambor, semelhana das
fortalezas do sec. XVII;
3) A Nascente, a Casa do Despacho, do sec. XVIII; de linguagem rococ e
neoclssica, de dois pisos, dispe-se segundo uma planta rectangular a confrontar a rua
pblica a Norte, e integra ptio quadrado; neste corpo, funciona, actualmente, o Banco
Totta & Aores.
A cobertura de todos estes volumes, que constituem o edifcio, articula-se em
diferentes telhados, de duas guas na Igreja e sacristia, trs na Casa do Despacho, e de
quatro no Convento e torre sineira. O ptio quadrangular central rodeado de prtico,
cuja arcada suporta galeria alpendrada, do andar superior, apoiando-se o alpendre de
uma gua em colunas de granito. O paramento branco das fachadas de alvenaria
grantica, rebocadas e caiadas, contrasta com o granito de cantaria, de reforo do
embasamento, pilastras, cornija, faixa ao nvel do primeiro andar e molduras dos vos,
ornamentadas na Igreja, rectas ou em arco de volta inteira no Mosteiro e em arco
abatido na Casa do Despacho. Uma escada grantica, de trs degraus paralelos fachada
principal, permite o acesso aos portais da Igreja e do Convento.
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
50
Figura 34 Jardim interior do convento Figura 35 Fachada do convento
A fachada principal do Convento, voltada a Norte, tem o paramento caiado de
branco, de dois andares separados por faixa horizontal, reforado por elementos de
cantaria de granito, no embasamento, no cunhal apilastrado toscano do ngulo direito,
na faixa ao nvel do sobrado, no friso e na cornija, na cimalha da fachada e na moldura
dos vos.
Ao nvel do andar trreo, tem, da esquerda para a direita, um portal emoldurado de
arco de volta perfeita sobre ombreiras apilastradas; cinco janelas de moldura rectangular
e caixilharia envidraada de guilhotina, estando uma delas desalinhada; uma porta de
moldura rectangular, com dois batentes e bandeira envidraada; uma janela idntica s
outras, de guilhotina. No andar superior, o andar nobre, a fenestrao regular ritmada
por trs mdulos de dupla janela de moldura rectangular de sacada corrida com
gradeamento em ferro forjado, um mdulo em cada extremo da fachada e outro central,
intercalados por um par de janelas, igualmente de moldura rectangular e caixilharia de
guilhotina, idnticas s do andar trreo. A fachada ocidental mais comprida e
implanta-se sobre o terreno declivoso, que desce de Norte para Sul, apresentando dois
andares, mais prximo do enclave de articulao setentrional, e trs andares, na
proximidade do extremo oposto. Apresenta, igualmente, o paramento rebocado e caiado,
com faixa horizontal a separar os dois andares correspondentes aos ps direitos dos
andares trreo e superior, da fachada principal, mas o embasamento de cantaria de
granito vai aumentando a altura com o pendor do terreno, adquirindo, no topo Sul, mais
um p direito. Na zona meridional desta fachada, salienta-se um corpo que avana,
sensivelmente em relao ao pano da fachada, todo em cantaria e escalonado nas faces
laterais. Nesta fachada, rasgam-se, no embasamento, um vo de porta com moldura
rectangular, entre duas janelas, tambm de moldura rectangular; os andares superiores
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
51
tm janelas de guilhotina idnticas, sendo as que correspondem ao andar trreo, no
sentido do topo Norte, protegidas por gradeamento em papo de rola; sobre o nico
portal desta fachada, ergue-se uma janela de sacada face; as restantes janelas, do andar
superior, tm o peitoril assente sobre msulas; junto ao cunhal Norte desta fachada,
existe um nicho encimado por cornija e com pedra de peito de avental, que abriga a
imagem da Virgem. As outras fachadas do Mosteiro tm alambor, e o paramento
apresenta os blocos de granito, de aparelho almofadado ou, nas faces internas do U, em
opus vittatum; as janelas so tambm de guilhotina, mas umas so maiores que outras, e
algumas interligam-se cornija superior.
As escadarias de granito, de ligao entre os dois pisos, inseridas em celas
quadrangulares, algumas de caracol, e as diferentes salas e cmaras que abriam umas
sobre as outras, actualmente modificadas, para adaptao a funes diversas das
originais, desenvolviam-se em trs alas que rodeavam o ptio quadrangular central. Os
paramentos exteriores das fachadas voltadas para este ptio tm lambril revestido a
azulejo de padro azul e branco. O claustro, de dois andares, tem, no nvel trreo, o
pavimento lajeado a granito e arcada composta por quatro lados, tendo cada lado sete
arcos de volta inteira de aduelas de granito assentes em pilares de seco rectangular; no
andar superior, colunas toscanas de fuste circular assentam sobre muro ritmado por
plintos, estando as colunas, os plintos e os pilares do andar trreo, na mesma prumada; o
alpendre da galeria, que se desenvolve neste segundo andar do claustro, apoia-se, por
um lado, nas fachadas voltadas para o ptio, e, por outro, na colunata toscana. O ptio
quadrado ajardinado com canteiros de buxo e tem uma fonte central barroca com
tanque quadrilobulado, coluna galbada, e taa elevada com quatro carrancas. Um dos
vos de ligao Igreja apresenta moldura recortada de belo efeito, com brincos
compridos, e ladeada por pequeno nicho de arco de volta inteira com porta e esculpida
com gomil.
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
52
Figura 36 Jardim interior do convento Figura 37 Interior do convento
Figura 38 Interior do convento Figura 39 Fachada do convento
Figura 40 Interior de uma das salas Figura 41 Fachada do convento
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
53
5.2.3 Diagnostico das anomalias construtivas do Convento Franciscano /
Tcnicas de inspeco no - destrutivas de estruturas tradicionais
FICHA 1- Coberturas
LOCALIZAO DA PATOLOGIA E SUA IDENTIFICAO
COBERTURAS
REVESTIMENTO DE TELHA
Eflorescncias (NE)
Vegetao parasitria (NE)
Fissurao ou fractura de telhas (NE)
Delaminao e deteriorao da telha
Acumulao de lixos no desvo da cobertura (NE)
Figura 42 Planta da cobertura
DESCRIO DA PATOLOGIA
Ao longo de todo o revestimento de telha possvel verificar eflorescncias,
vegetao parasitria, algumas fissuraes ou fracturas de telhas, delaminaao e
deteriorao das telhas.
CAUSA APARENTE
Humidade, telhas partidas arcaicamente reparadas e falta de manuteno no telhado.
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
54
EXAME
Nas zonas de remate telha/alvenaria, onde a alvenaria sobe acima da cota da telha,
existem zonas com telhas com assentamento deficiente, assentes do avesso, ao
mesmo tempo cravadas, recorrendo a argamassa, empena, em vez de recorrer ao
rufo, falta de manuteno e limpeza do rufo existente junto empena da torre,
havendo a presena de objectos que obstruem a passagem da gua e limpeza de
materiais de menor dimenso.
Em zona corrente do telhado observam-se diversas telhas partidas que foram sendo
reparadas de uma forma deficiente e provisria que mais tarde ou mais cedo daro
origem recorrncia da infiltrao de gua de precipitao. Isto tambm um
indcio da m qualidade da telha onde se manifestam eflorescncias e vegetao
parasitria.
SUGESTES DE REPARAO
Prope-se as seguintes intervenes:
Remoo de todas as telhas e colocao de telha nacional antiga;
Incluso de algumas telhas de ventilao;
Aplicao de chapas onduline sub-telha para impedir a infiltrao de guas
da chuva no caso de alguma telha se partir;
Nos paramentos verticais das platibandas aplicar rufo de zinco ligando
face inferior da telha;
(a) (b)
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
55
Figura 43 Telhado do convento; (a): Telha; (b): Caleiras; (c): Telhado;
(d): Rufos
FICHA 2 - Portas, janelas
LOCALIZAO DA PATOLOGIA E SUA IDENTIFICAO
PORTAS, JANELAS
ELEMENTOS EM MADEIRA E METAL
Apodrecimentos
Empenos e deficincias de funcionamento
Deteriorao de pinturas
ELEMENTOS DE FERRO FORJADO OU PINTADO
Corroso
Empenos e deficincias de funcionamento
Deteriorao de pinturas
Humidade de infiltrao
Deteriorao de vedaes de vidro
Fissurao e fractura de vidros
DESCRIO DA PATOLOGIA
As portas esto afectadas por apodrecimentos, sobretudo provocados pela humidade
dos salpicos, que afecta as portas nas zonas junto ao solo, nota-se que h falta de
manuteno e mais uma vez uma interveno contra as regras da boa construo.
As portas sofrem ainda de empenos e deficincias e funcionamento fruto da sua
longevidade e falta de manuteno. Verifica-se nalgumas zonas, ainda que
pequenas, nas portas em melhor estado de conservao que sofrem de ataques da
(c) (d)
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
56
trmita e caruncho.
As janelas de vidro e caixilharia de ferro sofrem de corroso, secagem e rachadelas
no betume.
CAUSA APARENTE
A exposio chuva e ventos de sul so sem dvida os factores que mais
influenciam a conservao destes elementos da construo, so as fachadas
expostas a sul so as mais afectadas por maior influncia de ventos, chuva e raios
solares.
Quanto aos vidros partidos podem ser causas fortuitas como pedradas atiradas por
midos ou outra causa qualquer.
EXAME
Pela anlise das fotografias observa-se a existncia de vidros partidos, a secagem
das argamassas de vidraceiro provocou fissuras e falta de vedao. As partes
metlicas apresentam-se oxidadas e coma respectivas pinturas deterioradas.
As portas denotam muito uso e por isso o seu funcionamento deficiente.
SUGESTES DE REPARAO
Ser necessrio o tratamento de todos os envidraados removendo os vidros e
betume tratando o suporte metlico, depois aplicam-se vidros novos, pois este
material deforma-se com o tempo devido s suas propriedades viscosas, aplicando
novo betume.
As portas, sero tratadas e pintadas e afinadas de forma a corrigir os problemas de
funcionamento, utilizando a mesma madeira.
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
57
Figura 44 Portas e Janelas; (a): Porta interior; (b): Envidraado em madeira; (c): Porta
de varanda; (d): Corrimo metlico; (e): Porta em madeira; (f): Envidraado;
(a) (b)
(c) (d)
(e) (f)
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
58
FICHA 3 - Caleiros
LOCALIZAO DA PATOLOGIA E SUA IDENTIFICAO
CALEIROS
SISTEMAS DE DRENAGEM DE GUAS PLUVIAIS
Apodrecimentos
Empenos e deficincias de funcionamento
Deteriorao
DESCRIO DA PATOLOGIA
Os caleiros encontram-se afectados pelo tempo e j apresentam algumas
deficincias quanto ao seu estado, no conseguindo j efectuar as suas funes por
completo.
CAUSA APARENTE
A exposio chuva, aos ventos, os raios solares e a idade so os factores que mais
influenciam a conservao destes elementos.
EXAME
Pela anlise das fotografias observa-se o estado dos caleiros em estado de
degradao bastante avanado.
SUGESTES DE REPARAO
Ser necessria a remoo destes, substituio por caleiros novos.
Figura 45 Caleiros do lado do jardim
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
59
FICHA 4 - Acabamentos exteriores das paredes interiores
LOCALIZAO DA PATOLOGIA E SUA IDENTIFICAO
Acabamentos exteriores das paredes interiores
Fendilhao e fissurao;
Em diversos elementos estruturais, como nas paredes das divises.
DESCRIO DA PATOLOGIA
As paredes interiores apresentam fendas com cerca de 5mm e o recobrimento das
esquinas apresentam fissuras que foram preenchidas recentemente com argamassa.
CAUSA APARENTE
As fendas, algumas a 45 e outras verticais, tm origem nos assentamentos
diferenciais devido essencialmente degradao do material que serve de fundao.
Pode, no entanto, haver outras causas para esta manifestao, como por exemplo:
fundaes assentes em terrenos que ao longo do tempo e devido presena de gua
vo perdendo os finos, criando espaos vazios e consequentemente assentamentos; na
construo da alvenaria em que os dois panos que constituem a sua espessura esto
deficientemente ligadas; a inexistncia de ligao entre duas paredes ortogonais, pode
ocasionar a abertura de fendas de dessolidarizao entre essas paredes, favorecida
pela rotao de uma das paredes para a sua associada degradao das fundaes e aos
impulsos horizontais induzidos por disfuncionamento estrutural da cobertura.
EXAME
Uma inspeo visual permite detectar a olho n as fenda mais abertas, pode-se
recorrer a uma lupa ou fotografia digital que por meio de anlise em computador se
poder ampliar a mesma.
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
60
SUGESTES DE REPARAO
Prope-se as seguintes intervenes
Para evitar que estas fendas se estendam e aumentem, temos que colmatar o problema
a montante, ou seja, evitar que ocorram assentamentos diferenciais nas fundaes;
reforar a estrutura da cobertura e o contraventamento estrutural do edifcio.
Uma soluo para evitar, embora no eliminando, a curto prazo estas fendas o
preenchimento das mesmas com colas e pastas. Estas pastas so preparadas com p
slica, adicionando-se com pigmento para obter a cor da pedra. imprescindvel
limpar antes de fazer o preenchimento das fendas.
Figura 46 Fissuras nas paredes
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
61
FICHA 5- Acabamentos exteriores de paredes
LOCALIZAO DA PATOLOGIA E SUA IDENTIFICAO
Acabamentos exteriores de paredes
Em diversas paredes exterores, pode ver-se alguma interveno de reabilitao ou
devido instalao de rede elctrica.
DESCRIO DA PATOLOGIA
As paredes apresentam algumas intervenes mal efectuadas e tambm degradao
devido interveno humana.
CAUSA APARENTE
As manchas que se podem ver em algumas paredes devem-se interveno para a
reparao de algumas fendas ou para arranjos de alguns danos devido s obras que
se tm efectuado no edifcio.
EXAME
Pode-se ver perfeitamente as manchas provocadas por essas intervenes e os
estragos causados pela instalao da rede elctrica.
SUGESTES DE REPARAO
Interveno:
Deve-se tentar repor os parmetros no seu estado original, suprimindo os estragos
efectuados por essas intervenes e de seguida pintar cor do resto da parede.
(a) (b)
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
62
Figura 47 Intervenes efectuadas; (a): Parede areada; (b): Parede danificada;
(c): Parede com interveno para parte elctrica; (d): Porta tapada com alvenaria
FICHA 6- Madeiras dos pisos
LOCALIZAO DA PATOLOGIA E SUA IDENTIFICAO
Madeiras dos pisos
Nas oficinas possvel reparar que algumas vigas e soalho apresentam alguma
degradao.
DESCRIO DA PATOLOGIA
As vigas e o soalho esto um pouco degradados, apresentando interveno humana
e algum apodrecimento.
CAUSA APARENTE
O local que pode ser visto nas fotos um local bastante frequentado para arrumo de
materiais, bastante hmido, pode tambm ver-se que j foi objecto de
intervenes para a colocao de sistemas de drenagem de guas residuais.
(c) (d)
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
63
Figura 48 Pisos de madeira; (a): vigas de madeira; (b): pavimento de piso; (c): Vigas;
(d): Pavimento do piso
FICHA 7- Azulejos
LOCALIZAO DA PATOLOGIA E SUA IDENTIFICAO
Azulejos
Os azulejos so uma constante ao longo do primeiro piso do edifcio, caracterstico
da poca.
DESCRIO DA PATOLOGIA
possvel reparar-se que existem zonas em que o azulejo est degradado, caiu ou
foi removido.
(a) (b)
(c) (d)
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
64
CAUSA APARENTE
A idade destes azulejos e local onde esto colocados causa mais aparente para o
estado em que se encontram, mas talvez alguns deles tenham sido removidos
devido a alguma interveno nesse local.
SUGESTES DE REPARAO
Interveno:
Deve mandar-se reparar esses azulejos de forma a garantir uma boa qualidade do
revestimento interior e tambm mandar fazer novos azulejos para completar as
zonas onde este falha.
Figura 49 Azulejos do convento
FICHA 8- Humidade de precipitao
LOCALIZAO DA PATOLOGIA E SUA IDENTIFICAO
Paramento exterior das paredes das fachadas
Humidade de precipitao
A gua da chuva provoca a formao de uma crosta de sulfato de clcio superfcie
das pedras expostas atmosfera, facilitando a ligao das sujidades ao material. Os
salpicos das guas da chuva que atinge as misulas e as lages, que assentam sobre as
referidas misulas, molham e lavam as superfcies caiadas vizinhas; as zonas
molhadas facilitam a aderncia de poeiras e poluio atmosfrica, para alm do
aparecimento de musgos.
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
65
CAUSA APARENTE
Alvenarias rebocadas sem qualquer tipo de tratamento, e devido combinao das
guas da chuva com a atmosfera poluda e os salpicos de gua da chuva que atinge
as superfcies horizontais cantaria ou madeira, molham e lavam as superfcies
caiadas das alvenarias, formando zonas de acumulao de guas associadas ao
aparecimento de colonizao biolgica.
As reas abrigadas da chuva, compe-se principalmente de gesso e so
consequncia dos poluentes cidos existentes no ar, devido aos gases exalados pelos
motores dos veculos que estacionam na proximidade do edifcio.
EXAME
Verifica-se a existncia de grandes quantidades de manchas escuras nas paredes o
que lhes d um aspecto sujo e desagradvel.
SUGESTES DE REPARAO
Prope-se as seguintes intervenes:
Aplicao de um hidrfobo no paramento exterior para melhorar a
impermeabilizao, durabilidade das paredes e esttica.
Picagem do reboco nas zonas afectadas do parmetro exterior.
Aplicao de novo reboco base de cal e areia.
Picagem do estuque do parmetro interior afectado
Aplicao de nova camada de reboco
(a) (b) (C)
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
66
Figura 50 Fachadas com humidades; (a): Parede das escadas exteriores; (b): Parede
de guarda corpos da varanda interior; (c): Parede interior; (d): envidraado exterior;
(f): fachada posterior.
FICHA 9 - Eflorescncias e criptoflorescncias
LOCALIZAO DA PATOLOGIA E SUA IDENTIFICAO
Paramentos das alvenarias
Eflorescncias e criptoflorescncias
Formao de crostas e seu destacamento e arenizao e pulverizao da pedra.
CAUSA APARENTE
Formao de depsitos salinos que se formam nas alvenarias pela aco da gua
como agente mobilizador dos sais solveis. So resultado da exposio gua de
infiltraes e intempries.
A causa para o aparecimento desta anomalia a migrao de sais tanto das guas
ascendentes do solo como da prpria pedra.
EXAME
As eflorescncias e criptoeflorescncias trazem em si problemas de ordem no
estrutural mas que levam a um processo de desagregao continuado. So visveis
manchas e arenizao nas alvenarias.
(d) (e) (f)
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
67
SUGESTES DE REPARAO
Prope-se as seguintes intervenes:
Remoo e limpeza de todas as eflorescncias e criptoeflorescncias;
Utilizao de um reboco macroporoso de alvenarias que deixe o substrato respirar e
seja compatvel com as matrias constituintes da alvenaria existente;
Para minorar as eflorescncias de sais solveis importante evitar a asceno da
gua por capilaridade, sendo necessrio efectuar uma drenagem eficaz e
indispensvel.
Figura 41 Eflorescncias e criptoflorescncias; (a): Chafariz do jardim interior; (b):
Fachada principal; (c): Fachada lateral; (d): Fachada interior; (e): Fachada interior;
(f): Fachada posterior
(a)
(e) (d)
(c) (b)
(f)
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
68
5.3 - Referncias Bibliogrficas
[1] OLIVEIRA, Bernardino, Vieira, Breve Monografia do concelho de Meso Frio,
Edio Cmara Municipal de Meso Frio, (2002)
[2] DIAS, Antnio Gonalves, Fastos de Meso Frio, Edio Santa Casa da
Mesiricrdia de Meso Frio, (1999)
[3] In http://www.ine.pt
[4] - DIAS, Antnio Gonalves, Fastos de Meso Frio Crnicas escritas guisa de
Monografia, umas publicadas outras inditas, redigidas entre 1994 e 1997 Histria
local das Origens Actualidade, ed. Santa Casa da Misericrdia, Governo Civil de Vila
Real, BTA e CGD, Meso Frio, 1998, pp. 159.
[5] - ALMEIDA, Fortunato de, Histria da Igreja em Portugal, Imprensa da
Universidade, Coimbra, 1922-1929; Vol. II, pp. 146.
[6] - DIAS, Antnio Gonalves, Opus cit. n 1, pp. 159; TEIXEIRA, Ricardo, Antigo
Convento de So Francisco Igreja de Santa Cristina, pp. 6, www.monumentos.pt,
2001.
[7] - REMA, Henrique, A Ordem Franciscana em Trs-os-Montes, in Estudos
Transmontanos e Durienses, Vol. 7, Vila Real, 1985, pp. 299 a 331.
[8] - VIEIRA DE OLIVEIRA, Bernardino, Breve Monografia do Concelho de Meso
Frio (1152-2002), ed. C.M. Meso Frio, 2002, pp. 342.
[9] -TEIXEIRA, Ricardo, Antigo Convento de So Francisco Igreja de Santa
Cristina, pp. 7, www.monumentos.pt, D.G.E.M.N., 2001.
[10] - VIEIRA DE OLIVEIRA, Bernardino, Opus cit. n 5, pp. 342.
[11] - DIAS, Antnio Gonalves, Opus cit. n 1, pp. 159; TEIXEIRA, Ricardo, Opus cit.
n 6, pp. 7.
[12] - TEIXEIRA, Ricardo, Opus cit. n 6, pp. 7.
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
69
[13] - TEIXEIRA, Ricardo, Opus cit. n 6, pp. 7.
[14] TEIXEIRA, Ricardo, Opus cit. n 6, pp. 7.
[15] - VIEIRA DE OLIVEIRA, Bernardino, Opus cit. n 5, pp. 342.
[16] - TEIXEIRA, Ricardo, Opus cit. n 6, pp. 7.
[17] - TEIXEIRA, Ricardo, Opus cit. n 6, pp. 7.
[18] - TEIXEIRA, Ricardo, Opus cit. n 6, pp. 8.
[19] - DIAS, Antnio Gonalves, Opus cit. n 1, pp. 29.
[20] - TEIXEIRA, Ricardo, Opus cit. n 6, pp. 8.
CASO DE ESTUDO: O ANTIGO CONVENTO FRANCISCANO DOS PAOS
DO CONCELHO DE MESO FRIO
70
CARACTERIZAO E DIAGNSTICO DE ANOMALIAS
CONSTRUTIVAS DE COBERTURAS
71
6 CARACTERIZAO E DIAGNSTICO DE ANOMALIAS
CONSTRUTIVAS DE COBERTURAS
6.1 Generalidades sobre as caractersticas e defeitos de coberturas
As coberturas so estruturas bastante importantes num edifcio, a parte que est
mais exposta s adversidades do tempo e do ambiente, devido a todas as intempries a
que esto sujeitas devem ser alvo de inspeces peridicas, de forma a identificar
eventuais problemas de degradao dos materiais e procurar estabelecer aces de
manuteno que no permitam avanar a degradao em curso, de forma a manter ou
melhorar o seu desempenho.
A descrio da funo bsica da cobertura a de proteger as actividades humanas
e o contedo das edificaes contra a chuva, vento, calor, frio, poeiras e gases do meio
ambiente.
Definies demonstram que a funo da cobertura, de proteco do espao criado
para desenvolvimento de actividades humanas contra agentes agressivos do meio
ambiente, no varia relativamente ao tempo, mas nas formas de atender s exigncias
utilitrias.
A cobertura, o telhado e a telha so termos com origens e uso milenares, sendo os
termos cobertura e telhado empregados simultaneamente, de forma at redundante, tanto
na linguagem de leigos quanto na literatura tcnica, deixando claro a existncia dos
CARACTERIZAO E DIAGNSTICO DE ANOMALIAS
CONSTRUTIVAS DE COBERTURAS
72
vrios significados que podem assumir ou como forma de definir uma tipologia ou
tcnica construtiva.
A falta de uma coerncia tcnica que seja comum em todas literaturas sobre
coberturas, acabou por dar liberdade para cada autor utilizar definies de acordo com o
significado que procura enfocar, seja ele simblico (cultural), geomtrico (forma),
funcional (utilizao), tcnico (como se faz) ou tributrio (impostos sobre produo,
comercializao e servios).
As coberturas inclinadas, geralmente identificadas como coberturas em telhado,
devem esta designao ao facto de a telha, de diferentes materiais e com diversas
configuraes, ser o material dominante da sua construo, embora tambm se registe o
uso de escamas ou soletos cermicos, de ardsia, de xisto e at de madeira, bem como
de chapas lisas e onduladas de zinco, de chapa de chumbo e de cobre, mas com
expresso muito moderada, com excepo dos soletos que em algumas zonas do pas
tm representao muito significativa, sobretudo em arquitectura popular.
As coberturas em telhado distinguem-se tambm pela sua geometria, pela
configurao das guas que as definem, pela forma como so rematadas, pelas
diferenas nos sistemas de drenagem de guas pluviais, pela forma de assentamento das
telhas, alm das estruturas que so a sua base, e ainda as camadas complementares,
incluindo guarda-ps, ripados, etc.
A telha tradicional portuguesa a de canudo, que se usa como capa e canal, ou
conjugada com o telho de canal romano origina uma forma que mais tarde deu origem
a telha de aba e canudo, posterior as primeiras telhas de encaixe, as francesas ou de
Marselha que adquiriram a designao correspondente a sua origem mais conhecida e
que se usam em Portugal desde o sculo XIX [1].
Naturalmente que o tipo de telha muito importante, porque a imagem da
cobertura lhe est intimamente associada, sendo identificada por simples observao; a
telha de canudo, na verso de telhado portuguesa, com beirado simples ou duplo, ou
sem beirado, recolhida atrs de platibandas, aplicada por simples sobreposio
(telhado de valadio) ou com fixao com argamassa de cal, sendo ou no grampeada,
consoante as necessidades que decorrem, por exemplo, da inclinao do telhado do risco
de escorregamento.
CARACTERIZAO E DIAGNSTICO DE ANOMALIAS
CONSTRUTIVAS DE COBERTURAS
73
Nas telhas simples como estas, sem encaixe, a inclinao deve ser to grande
quanto possvel, tanto mais quanto mais chuvosa e batida a vento for a zona de
aplicao mas, medida que aumenta a pendente aumenta tambm o risco de
escorregamento, j que o atrito entre telhas deixa de ser suficiente, pelo que as
inclinaes mximas correspondem a ngulos de 22 a 27 graus. Da o recurso a
grampeamentos, a argamassagem de juntas e at ao efeito do mouriscado, ou do meio-
mouriscado, em que parte ou a totalidade dos canais preenchido com cacos de telha e
argamassa, aumentando o peso e evitando o escorregamento e o arrancamento das telhas
com o vento, permitindo inclinaes at 34 graus.
Estas diversas solues no evitam que estas coberturas sejam sempre
problemticas, nomeadamente nos casos em que a telha assenta sobre estruturas de
madeira; so bem conhecidos os fenmenos de patologia progressiva que obrigam a
uma ateno permanente e a intervenes relevantes, at a remodelao completa.
Pode considerar-se que a soluo simples e clssica de cobertura em telhado
raramente desempenharam bem a sua funo com durabilidade razovel sendo por isso
raras as coberturas em telhado de edifcios com mais de 100 anos que se mantm
originais e, por isso, no surpreendente que em operaes mdias de reabilitao a
reforma dos telhados seja uma constante, que plenamente se justifica porque, como em
nenhum outro elemento, se sente nele o condicionamento da sade geral do edifcio [2].
Nas intervenes profundas em telhados, e aps a anlise das condies de
desempenho das estruturas, sobretudo em estruturas de madeira, deve ponderar-se a
escolha do material de revestimento associada a soluo global definida para a
cobertura, sendo interessante continuar a apostar no telhado portuguesa, pelo que ele
representa na imagem dos edifcios em Portugal, embora isto no se aplique a edifcios
que foram originalmente revestidos com telhas de encaixe, sobretudo de telha de
Marselha, cujo desenho se enquadra muito bem com certas tipologias arquitectnicas.
Na recuperao de coberturas em telhado deve ter-se em conta a dificuldade
prtica na reutilizao das prprias telhas porque se verifica, em grande nmero de
casos, quando as telhas so desmontadas e limpas, que elas esto muito frgeis e
quebradias, obrigando a substituio de tal quantidade de telhas que se perde a leitura
da telha antiga, mesmo que se recorra, como moda, a telhas artificialmente
CARACTERIZAO E DIAGNSTICO DE ANOMALIAS
CONSTRUTIVAS DE COBERTURAS
74
envelhecidas. Ou seja, deve ter-se em conta que muitas vezes uma iluso do
projectista a possibilidade de reposio das telhas existentes, porque a realidade se
encarrega de a pr em causa.
Mas, possvel, sem descaracterizar o telhado, melhorar substancialmente o
desempenho da cobertura, atravs da adopo de forros que substituam os guarda-ps
de que alguns telhados so dotados, de camadas isolantes trmicas sob ou sobre estes
forros e de camadas impermeabilizantes que "aliviem" a funo essencial que as telhas
tm que desempenhar, de estanquidade gua da chuva.
O recurso a sub-telhas custa de chapas onduladas de carto asfltico ou de
fibrocimento tem sido banalizado nos ltimos anos, devendo chamar-se a ateno para
algumas questes essenciais: a sub-telha deve garantir a ventilao do espao do desvo
do telhado, pelas caractersticas do material em si mesmo, ou pela existncia de
sistemas de ventilao prpria; a sub-telha no deve constituir um problema no que se
refere a segurana ao fogo, quando seja colocada sobre estruturas de madeira; a sub-
telha deve ser cuidadosamente aplicada, sobretudo nas zonas de remate, em cumeeira,
lars e rinces, em beirados e quando existam contra-feitos no telhado; deve sempre
garantir-se que a gua da chuva que possa passar pela telha seja escoada pelo sistema da
sub-teIha.
Uma soluo alternativa muito interessante consiste em executar um forro, por
exemplo com contraplacado ou material similar, e sobre ele aplicar uma tela
impermevel gua mas permevel ao vapor de gua, de modo a garantir a "respirao"
da cobertura; tal pode ser feito com telas microperfuradas que podem assegurar essa
dupla funo.
Sempre que possvel devem manter-se, recuperar-se ou colocar-se telhas de
ventilao e passadeiras, de modo a assegurar, por um lado, a ventilao do desvo do
telhado e, por outro, a facilidade de circulao e acesso a zonas que possam carecer de
operaes de manuteno, como o caso de algerozes e remates de chamins, de
clarabias, etc.
Um aspecto muito importante, no que se refere s coberturas em telhado, diz
respeito existncia de trapeiras e guas-furtadas; trata-se de zonas singulares e muito
delicadas, com estruturas de madeira fortemente expostas, principalmente as empenas
CARACTERIZAO E DIAGNSTICO DE ANOMALIAS
CONSTRUTIVAS DE COBERTURAS
75
laterais das mesmas, habitualmente formadas por tabiques de tbua ao alto. Por isso,
estes elementos se apresentam, em regra, profundamente degradados, por deteriorao
dos elementos estruturais, registando abatimentos e no garantindo a estanquidade
gua da chuva, sobretudo nas zonas de encontro com as guas do telhado.
As intervenes passam por reparar ou substituir as estruturas destes elementos,
refazendo-as de forma similar ao original, mas tendo o cuidado de fazer o envolvimento
de todo o elemento com chapa de zinco, incluindo a zona do telhado da trapeira ou
mansarda, que ser depois revestida a telha; o sucesso destas intervenes reside nesta
parte do trabalho, pelo que no pode facilitar-se na qualidade do trabalho de zinco,
nomeadamente na forma como se assegura a ligao entre chapas.
6.2 Anatomia das coberturas, resistncia e estabilidade
As coberturas executam-se em estruturas de madeira, ou directamente sobre as
abobadas. A estrutura de madeira mais utilizada na engenharia civil, arma-se com uma
triangulao muito simples, sem inteno de decompor as cargas segundo direces no
sentido que entendermos melhor, conhecendo as condies de indeformabilidade do
tringulo.
Quanto aos acabamentos, estes realizam-se com placas de cermica perfeitamente
talhadas, as telhas e as lousas de pedra de pequena espessura assentes sobre argamassas
cujas propriedades hidrulicas se reforam com pozolanas.
A existncia de coberturas inclinadas, tendo por base estrutural as abbadas de
alvenaria uma situao observvel em numerosos exemplares da arquitectura
religiosa, nos quais se conjugam os efeitos pretendidos de dispor tectos interiores
abobadados e coberturas exteriores em telhados.
Este elemento de sustentao, que suporta carregamentos permanentes e
sobrecargas das coberturas, pode ser contnuo (plano e no plano), ou descontnuo.
Como exemplos do primeiro caso, pode ser constitudo de lajes de beto moldadas in
situ, lajes mistas de beto e blocos cermicos ou de poliestireno, painis de beto,
pavimentos de madeira, abbadas de alvenaria ou beto e cascas de ao. No segundo
CARACTERIZAO E DIAGNSTICO DE ANOMALIAS
CONSTRUTIVAS DE COBERTURAS
76
caso, as estruturas so formadas por elementos de ao ou ligas metlicas, de madeira ou
de beto. Considerando as coberturas descontnuas (telhados), utilizam-se usualmente
superfcies descontnuas de elementos principais ou lajes inclinadas.
A estrutura de apoio, cuja funo principal transmitir os esforos solicitantes
para os elementos estruturais da edificao, pode ser composta por: tesouras, pilaretes e
pontaletes.
A reticula apoiada sobre pontaletes, devendo ser contraventados com mos
francesas e/ou diagonais; o apoio das teras no pontalete deve ser feito por encaixe
(talas laterais de madeira ou chapas de ao), sendo que o apoio no deve fazer-se
directamente sobre a laje de forro, mas sobre placas de apoio.
A viga em trelia plana vertical formada de barras que compem uma rede de
tringulos, tornando a estrutural indeslocvel, transferindo o carregamento do telhado
aos pilares ou paredes da edificao.
Usam-se ligaes com entalhes (ensambladuras), entre os componentes da
tesoura, com a utilizao de estribos, braadeiras ou cobre-juntas em juntas extremas
(ligao da perna com linha) e nas juntas centrais (ligao das pernas com pendural).
Nos telhados por fixao a trama se reduz existncia das teras, sendo que o
material empregado e a geometria da mesma iro variar de acordo com a telha e a
estrutura de sustentao.
Percebe-se que as caractersticas estruturais e geomtricas das telhas por fixao
permitem um menor comprimento dos apoios, a diminuio do comprimento das juntas
entre as telhas alm do nmero menor de componentes para manusear. Os materiais
mais empregados na composio da rede so, por ordem de utilizao, a madeira, o ao
e o beto.
As teras, peas de madeiras horizontais apoiadas na estrutura, so os primeiros
componentes da trama a serem executados, e geralmente se apoiam sobre as seguintes
estruturas: pontaletes; tesouras ou trelias; ou pares intermedirias; pilaretes.
As teras possuem nomes particulares caso estejam na parte mais alta da
cobertura, denominada tera de cumeeira, e quando esto apoiadas sobre as paredes
laterais, denominada frechais.
CARACTERIZAO E DIAGNSTICO DE ANOMALIAS
CONSTRUTIVAS DE COBERTURAS
77
Os caibros so colocados em direco perpendicular as teras, portanto paralelos
ao elemento de sustentao, ficando inclinados, sendo que o declive responsvel pelo
caimento do telhado.
O caimento representado em forma de rampa para que os carpinteiros tenham
mais facilidade durante a execuo, e a bitola dos caibros depende do espaamento das
teras, e caso a distncia horizontal entre teras for at 2,00m, usam-se caibros de bitola
5x6 (cm).
Quando a distncia entre os eixos das teras for superior a este valor e no exceder
a 2,50m, os caibros tero bitola de 5x7 (cm), e o espaamento mximo entre os caibros
deve ser de 50cm, de eixo a eixo, para que as ripas comuns, de bitola 1x5 (cm), possam
ser utilizadas.
As ripas so os ltimos componentes da trama a serem executados, pregadas
transversalmente aos caibros, paralela s teras. O espaamento entre ripas depende da
telha a ser utilizada.
A distncia entre dois caibros e entre duas ripas depende do tipo de telha (peso) e
das dimenses da sua seco e do tipo de madeira com que so fabricados, ou do ao e
de sua seco, caso a estrutura seja deste material. As ripas executadas juntamente com
o aspecto final da reticula aps sua execuo, sendo que neste caso especificamente a
estrutura de sustentao formada por tesouras [3].
6.3 Registo dos defeitos
As coberturas dos edifcios antigos so talvez o elemento de construo que de
forma sistemtica, apresentam um quadro mais generalizado de anomalias. Deve, desde
j, assinalar-se que muitos dos problemas que se iro focar tm a sua origem remota, a
sua causa real, em deficincias de projecto e execuo, nomeadamente construindo-se
estruturas de cobertura com elementos de madeira com seces claramente
insuficientes; o desconhecimento das caractersticas reais de resistncia e
deformabilidade deste material, ajudar a explicar esta causa.
A razo para tal facto simples de entender, bastando pensar que a cobertura um
elemento da envolvente do edifcio exposto de forma continua.
CARACTERIZAO E DIAGNSTICO DE ANOMALIAS
CONSTRUTIVAS DE COBERTURAS
78
As mais frequentes anomalias verificadas nas coberturas podem dividir-se em dois
tipos: anomalias devido aco da humidade e desconjuntamentos face a determinadas
exigncias.
Por ser a cobertura a parte do edifcio mais exposta s humidades de precipitao,
est obviamente mais sujeita ao aparecimento de anomalias da resultantes. Assim, se
for posta em causa a estanquidade da cobertura, e no houver um sistema tradicional de
drenagem de guas pluviais, toda a estrutura do edifcio pode vir a sofrer as indesejveis
consequncias da humidade. Os principais aspectos a ter em conta, representativos deste
problema prendem-se com, o excesso de peso nas coberturas, remendos mal efectuados,
sobreposio de telhas, aplicao de massas, etc. Deficincias no sistema de drenagem
de pluviais; sujidade e desprendimento de telhas.
Problemas mais Frequentes em coberturas:
Problemas mais
Frequentes
Possvel Causa de Origem
Descasque ou Fissura por
Aco do Gelo-Degelo
Insuficiente inclinao e/ou ventilao das
telhas/cobertura;
Utilizao inadequada de argamassa (aplicao
excessiva de argamassas e/ou utilizao de argamassas
fortes) particularmente nas zonas de remate (cumes,
remates de empena, por exemplo);
Utilizao de qumicos de impermeabilizao;
Produtos Fissurados ou
Partidos na Cobertura
Pouco cuidado na circulao de pessoas e/ou
inexistncia de caminhos de servio;
Solicitao mecnica extraordinria: quedas de
granizo ou objectos pesados, ferramentas, movimentao
de cargas.
Deslocamento das Telhas
Fixao insuficiente para os ventos dominantes na
regio;
Pouco cuidado na circulao de pessoas e/ou no
existncia de caminhos de servio.
CARACTERIZAO E DIAGNSTICO DE ANOMALIAS
CONSTRUTIVAS DE COBERTURAS
79
Problemas mais
Frequentes
Possvel Causa de Origem.
Infiltraes de gua ou
Permeabilidade na Zona
do Beirado
Insuficiente ou deficiente inclinao do beirado ou
beiral;
Fixao e encaminhamento de humidade pelas
argamassas;
Caleiras mal dimensionadas ou mal aplicadas;
Deficiente ou insuficiente manuteno (acumulao
de musgos e detritos).
Infiltraes de gua ou
Permeabilidade na Zona
da Cumeeira
Fixao e encaminhamento de humidade pelas
argamassas;
Fissuras nos produtos ou na argamassa causada pela
utilizao inadequada de argamassa;
(aplicao excessiva de argamassas e/ou utilizao de
argamassas fortes que provoca rigidez nas ligaes);
Deficiente ou insuficiente manuteno (acumulao
de musgos e detritos).
Infiltraes de gua ou
Permeabilidade noutras
zonas do telhado
Aquando das primeiras chuvas, as telhas tm
tendncia a saturar e a apresentar alguma humidade na
face inferior. Esta situao altera-se completamente aps
a rede calipar (poros) ser descontinuada, e desaparece
por completo em poucos dias;
Insuficiente inclinao da cobertura;
Condensaes por insuficiente ou deficiente
ventilao da cobertura;
Fixao e encaminhamento de humidade pelas
argamassas de remate;
Deficiente encaixe das telhas (sobreposio
insuficiente induzida por deficiente espaamento do
ripado, muitas vezes executado sem o estudo prvio das
telhas a aplicar);
Deficiente remate de paredes (emergentes ou no),
chamins, lanternins, clarabias, entre outros;
Lars (zonas de convergncia de guas) mal
dimensionados ou rufos inadequados;
Deficiente ou insuficiente manuteno (acumulao
de musgos e detritos.)
CARACTERIZAO E DIAGNSTICO DE ANOMALIAS
CONSTRUTIVAS DE COBERTURAS
80
Problemas mais
Frequentes
Possvel Causa de Origem
Desenvolvimento
prematuro ou com
extenso anormal de
microorganismos, fungos,
musgos e verdete
Insuficiente ou deficiente ventilao da cobertura;
Insuficiente inclinao da cobertura;
Deficiente ou insuficiente manuteno do telhado.
Dificuldades de Aplicao
Deficiente execuo do ripado (espaamento ou
esquadria), eventualmente realizado sem o estudo prvio
das telhas a aplicar.
Aparecimento de
Pequenos ndulos Brancos
(calcrio)
Fenmeno de hidratao do xido de clcio,
associado presena de carbonato de clcio nas
matrias-primas e resultado da absoro de humidade
atmosfrica, que acompanhada de um aumento de
volume. Esta hidratao ocorre nas 3 a 6 semanas
seguintes a sada dos produtos do forno, aps o que
estabiliza. A ecloso do calcrio no constitui um defeito
do produto, no se agrava com o tempo e no afecta as
caractersticas funcionais dos produtos, nomeadamente
em termos de impermeabilidade e durabilidade.
Aparecimento de Manchas
Brancas
Fenmeno de eflorescncias fugazes associadas
presena de sais solveis, que desaparecem
progressivamente dos produtos com a lavagem pelas
chuvas ou que podem ser removidas por lavagem ou
escovamento localizado, e que no afectam as
caractersticas funcionais das telhas;
Excesso de argamassas (o cimento e/ou inertes
podero ser fontes de sais solveis, ou podem fixar
humidade de atmosferas ricas em sais solveis - zonas
martimas). Quando em quantidades expressivas, estas
eflorescncias podem danificar os produtos.
CARACTERIZAO E DIAGNSTICO DE ANOMALIAS
CONSTRUTIVAS DE COBERTURAS
81
6.4 Normas sobre coberturas: especificaes e documentos de homologao do
LNEC, Normas Portuguesas, Normas Europeias, Normalizao em
Segurana, Normas de Segurana a Incndios, RGEU
Em Portugal, as normas e regulamentos para o dimensionamento de estruturas e
caracterizao dos materiais de construo so o Regulamento de Betes e Ligantes
Hidrulicos, o Regulamento de Estruturas de Beto Armado e Pr-Esforado, o
Regulamento de Estruturas de Ao para Edifcios, o Regulamento de Segurana e
Aces para Estruturas de Edifcios e Pontes.
O REBAPE (Regulamento de Estruturas de Beto Armado e Pr-Esforado) foi
elaborado tendo em conta a existncia do RSA (Regulamento de Segurana e Aces
para Estruturas de Edifcios e Pontes) e do Regulamento de Betes e Ligantes
Hidrulicos com os quais se articula. Neste regulamento so tratados os problemas do
beto armado e do beto pr-esforado.
O REAE (Regulamento de Estruturas de Ao para Edifcios) foi elaborado tendo
em conta a existncia do RSA (Regulamento de Segurana e Aces para Estruturas de
Edifcios e Pontes) com o qual se articula. Neste regulamento so tratados os problemas
das estruturas metlicas.
Com o intuito de substituir os cdigos existentes nos diversos pases da Europa,
foram criados os Eurocdigos, normas europeias do dimensionamento de estruturas:
-Eurocdigo 0 (EC0) (norma EN 1990) Bases de dimensionamento
-Eurocdigo 1 (EC1) (norma EN 1991) Aces em estruturas
-Eurocdigo 2 (EC2) (norma EN 1992) Dimensionamento de estruturas de beto
-Eurocdigo 3 (EC3) (EN 1993) Dimensionamento de estruturas de ao
-Eurocdigo 4 (EC4) (norma EN 1994) Dimensionamento de estruturas mistas
ao-beto
-Eurocdigo 5 (EC5) (norma EN 1995) Dimensionamento de estruturas de
madeira
CARACTERIZAO E DIAGNSTICO DE ANOMALIAS
CONSTRUTIVAS DE COBERTURAS
82
-Eurocdigo 6 (EC6) (norma EN 1996) Dimensionamento de estruturas de
alvenaria
-Eurocdigo 7 (EC7) (norma EN 1997) Dimensionamento geotcnico
-Eurocdigo 8 (EC8) (norma EN 1998) Dimensionamento de estruturas para
resistncia ssmica
-Eurocdigo 9 (EC9) (norma EN 1999) Dimensionamento de estruturas de
alumnio;
Actualmente, existe apenas uma Norma Europeia Preliminar (prEN13474 Glass
in building (Design of glass panes) para dimensionamento em vidro estrutural. Como
pr norma que , este documento est ainda em fase de desenvolvimento e reviso.
As Normas de Segurana de Incndios so:
EDIFCIOS DE HABITAO
DECRETO-LEI N 64/90, de 21FEV Aprova o Regulamento de Segurana
contra Incndio em Edifcios de Habitao (DR N 44, I, 21FEV90)
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
DECRETO-LEI N 368/99, de 18SET Aprova o regime de proteco contra
risco de incndio em estabelecimentos comerciais (DR N 219/99, I-A, 18SET99)
PORTARIA N 1299/2001, de 21NOV - Aprova as medidas de segurana contra
risco de incndio a observar nos estabelecimentos comerciais e de prestao de servios
com rea inferior a 300 m2 (DR N 270, I-B, 21NOV2001)
EDIFCIOS DE SERVIOS PBLICOS
RESOLUO DO CONSELHO DE MINISTROS N 31/89, de 15SET Aprova
um conjunto de medidas de segurana contra incndio (DR N 213, I, 15SET89)
CENTROS URBANOS ANTIGOS
DECRETO-LEI N 426/89, de 06DEZ Aprova as Medidas Cautelares de
Segurana contra Risco de Incndio em Centros Urbanos Antigos (DR N 280, I,
06DEZ89)
CARACTERIZAO E DIAGNSTICO DE ANOMALIAS
CONSTRUTIVAS DE COBERTURAS
83
PARQUES DE ESTACIONAMENTO COBERTOS
DECRETO-LEI N 66/95, de 08ABR Aprova o Regulamento de Segurana
contra Incndio em Parques de Estacionamento Cobertos (DR N 84, I-A, 08ABR95)
EMPREENDIMENTOS TURSTICOS E ESTABELECIMENTOS DE
RESTAURAO E DE BEBIDAS
PORTARIA N 1063/97, de 21OUT Aprova as medidas de segurana contra
risco de incndio aplicveis na construo, instalao e funcionamento dos
empreendimentos tursticos e dos estabelecimentos de restaurao e de bebidas (DR N
244, I-B, 21OUT97)
EDIFCIOS DE TIPO HOSPITALAR
DECRETO-LEI N 409/98, de 23DEZ Aprova o Regulamento de Segurana
contra Incndio em Edifcios de Tipo Hospitalar (DR N 295, I-A, 23DEZ98)
PORTARIA N 1275/2002, de 19SET Aprova as normas de segurana contra
incndio a observar na explorao de estabelecimentos de tipo hospitalar (DR N 217, I-
B, 19SET2002)
EDIFCIOS DE TIPO ADMINISTRATIVO
DECRETO-LEI N 410/98, de 23DEZ Aprova o Regulamento de Segurana
contra Incndio em Edifcios de Tipo Administrativo (DR N 295, I-A, 23DEZ98)
PORTARIA N 1276/2002, de 19SET Aprova as normas de segurana contra
incndio a observar na explorao de estabelecimentos de tipo administrativo (DR N
217, I-B, 19SET2002)
EDIFCIOS ESCOLARES
DECRETO-LEI N 414/98, de 31DEZ - Aprova o Regulamento de Segurana
contra Incndio em Edifcios Escolares (DR N 301, I-A, 31DEZ98)
PORTARIA N 1444/2002, de 07NOV Aprova as normas de segurana contra
incndio a observar na explorao de estabelecimentos escolares (DR N 257, I-B,
07NOV2002)
CARACTERIZAO E DIAGNSTICO DE ANOMALIAS
CONSTRUTIVAS DE COBERTURAS
84
POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTVEIS
PORTARIA N 362/2005, de 04ABR Altera o Regulamento de Construo e
Explorao de Postos de Abastecimento de Combustveis, anexo Portaria n 131/2002,
de 09FEV (DR N 65, I-B, 04ABR2005)
PORTARIA N 131/2002, de 09FEV Aprova o Regulamento de Construo e
Explorao de Postos de Abastecimento de Combustveis (DR N 34, I-B, 09FEV2002)
DECRETO-LEI N 302/2001, de 23NOV - Estabelece o novo quadro legal para a
aplicao do Regulamento de Construo e Explorao de Postos de Abastecimento de
Combustveis (DR N 272, I-A, 23NOV2001) [4]
novo RGEU para l de considerar o alargamento do mbito de aplicao
quanto aos tipos de edifcios e definio das intervenes, revela-se como um
regulamento estruturante e ajustado realidade actual, nomeadamente em aspectos que
tocam a segurana, o ambiente, a energia, a sustentabilidade, vida til, manuteno e
durabilidade dos edifcios, a defesa do consumidor e a gesto da qualidade.As grandes
inovaes do RGEU so essencialmente determinadas por elevados padres de
qualidade, relativos ao aumento das reas mnimas dos edifcios, exigncia de projecto
de execuo, reviso de projectos, criao de nveis de interveno, e outros
relacionados, por exemplo, com as barreiras fsicas mobilidade. [5].
6.5 Impermeabilizao
A aco da gua da chuva particularmente gravosa nas coberturas, sobretudo em
dois tipos distintos de situaes: infiltraes nas zonas correntes da cobertura, por esta
no desempenhar cabalmente a sua funo, ou infiltraes associadas a
disfuncionamentos da rede de drenagem de guas pluviais.
Assim, se for posta em causa a estanquidade da cobertura, e se no houver um
sistema tradicional de drenagem de guas pluviais, toda a estrutura do edifcio pode vir
a sofrer as indesejveis consequncias da humidade.
Garantida pela justaposio das telhas (encaixe, comprimento, sobreposio, etc.)
e inclinao (esta fundamental, garantindo velocidade de escoamento das guas,
CARACTERIZAO E DIAGNSTICO DE ANOMALIAS
CONSTRUTIVAS DE COBERTURAS
85
evitando penetrao pelas juntas, pelo efeito do vento; pelas prprias peas, quando o
material no suficientemente impermevel).
Os principais aspectos a ter em conta, representativos deste problema prendem-se
com a disfuno da estrutura de madeira, remendos mal efectuados, sobreposio de
telhas, deficiente aplicao de massas no remate com platibandas ou outros elementos
verticais que intersectam a cobertura, deficincias no sistema de impermeabilizao e da
drenagem de guas pluviais, entre outros.
6.6 Cargas e movimentos
A cobertura protege das intempries o interior do edifcio, distinguindo-se nelas,
duas componentes: a estrutura de suporte e os materiais de revestimento. Tem de
suportar o peso prprio e apresentar boa resistncia mecnica aos esforos induzidos
pelos agentes atmosfricos, como sejam a neve, o vento e a chuva, e os inerentes aos
trabalhos de manuteno; alm disso, todas as cargas e solicitaes suportadas devem
ser transmitidas, ao resto do edifcio, com segurana e sem causar flexo ou deformao
de qualquer dos seus componentes, assentamentos ou prejudicar a estabilidade do
conjunto.
6.7 Dispositivos de drenagem de guas pluviais
As coberturas devem ser estanques gua, impedindo a penetrao da chuva, e os
seus materiais devem ser: impermeveis; no gelificar; ser estanques ao vento e neve;
garantir um certo nvel de conforto ambiental interior; assegurar isolamento trmico e
sonoro; evitar condensaes de humidade; ser resistente ao fogo; e satisfazer outras
necessidades de bom desempenho do edifcio.
Execuo de sistema de drenagem das guas pluviais provenientes da cobertura
atravs da colocao de caleiras, devidamente ligadas a tubos de queda que
descarreguem ao nvel do piso trreo.
CARACTERIZAO E DIAGNSTICO DE ANOMALIAS
CONSTRUTIVAS DE COBERTURAS
86
6.8 Isolamento trmico e ventilao
O isolamento trmico das paredes e coberturas imprescindvel para se obter uma
construo eficiente em termos energticos. O material de isolamento trmico para
edifcios deve ser impermevel gua mas permevel ao vapor de gua de forma a
proteger o edifcio e garantir as condies de salubridade.
As coberturas esto sujeitas a grandes amplitudes trmicas, por isso, muito
importante considerar uma interveno de isolamento trmico nestes elementos
construtivos.
Nas coberturas inclinadas ao aplicar-se isolamento trmico pelo exterior sobre o
suporte estrutural da cobertura, aproveitada ao mximo a capacidade calorfica dos
materiais do suporte que, assim, contribuem com toda a eficcia possvel para a inrcia
trmica do edifcio. Consequentemente, melhora-se a estabilidade da temperatura
interior frente s alteraes da temperatura exterior, evitando o risco de condensaes
devido a eventuais descontinuidades no isolamento trmico da cobertura (pontes
trmicas). Estas descontinuidades devem, no entanto, ser evitadas.
O isolamento trmico de uma cobertura inclinada deve ser executado da melhor
maneira (ou seja com valores de condutibilidade muito baixos) de forma a garantir um
excelente conforto habitacional para compensar a baixa inrcia trmica da cobertura,
que na generalidade constitudo por estruturas leves.
importante que exista uma ventilao adequada sob as telhas. Esta ventilao
tem essencialmente trs objectivos:
Diminuir a diferena de temperatura entre as duas faces da camada de isolamento
trmico (em situaes de isolamento aplicado sobre o elemento estrutural da cobertura).
Ao estar ventilado, o espao sob as telhas apresentar temperaturas um pouco inferiores,
melhorando a eficcia trmica do sistema. A menor diferena de temperatura
interior/exterior, ao contribuir para estabilizar termicamente a construo, um factor
que se reveste de maior importncia em coberturas com estrutura de fraca inrcia
trmica.
CARACTERIZAO E DIAGNSTICO DE ANOMALIAS
CONSTRUTIVAS DE COBERTURAS
87
Permitir uma circulao de ar suficiente que evite o levantamento de telhas em
situaes de vento forte.
Contribuir para uma secagem mais rpida da humidade das telhas, beneficiando a
sua durabilidade e o seu desempenho.
A necessidade de isolar termicamente a cobertura dum edifcio torna-se
particularmente evidente ao verificarmos que a cobertura, de todos os elementos da
envolvente, aquele que se encontra mais exposto, tanto no Inverno (estao de
aquecimento), como especialmente no Vero (estao de arrefecimento). De facto, o
efeito da radiao solar provoca um aumento da temperatura superficial dos elementos
de revestimento (telhas) face temperatura do ar, podendo a diferena entre estes dois
valores de temperatura atingir 15C (p.ex.: estando a temperatura do ar a 35C, a
temperatura superficial das telhas poder atingir os 50C). Assim, o diferencial de
temperatura que deve estar na base do clculo trmico da envolvente maior, sendo
certo que, quanto maior for a diferena de temperatura entre exterior (neste caso a
temperatura superficial do revestimento) e interior, maior ser o fluxo de calor que
tende a atravessar a cobertura (no sentido exterior interior, uma vez que se analisa a
situao de Vero), e maiores sero os ganhos de calor, precisamente na estao em que
se pretende evit-los. Um isolamento trmico adequado e correctamente aplicado,
diminui drasticamente o fluxo de calor, o que implica uma enorme diminuio dos
ganhos de calor.
Numa cobertura inclinada, a posio da camada de isolamento trmico tem
importantes consequncias no seu desempenho.
Figura 52 Exemplo de isolamento na cobertura
CARACTERIZAO E DIAGNSTICO DE ANOMALIAS
CONSTRUTIVAS DE COBERTURAS
88
6.9 Segurana contra incndios
A segurana contra incndios representa geralmente um ponto fraco dos edifcios
antigos. A localizao e constituio dos materiais constituintes dos edifcios antigos
so um factor que prejudica muito o ataque aos incndios.
Quanto s medidas a tomar para diminuir o risco de incndio, passa por
modernizar o edifcio quanto s instalaes elctricas e de gs, de forma a aumentar as
proteces contra sobrecargas e fugas. Para tal, deve-se fazer uma completa renovao
das redes.
No que diz respeito aos materiais, deve limitar-se ou anular o armazenamento de
matrias inflamveis e combustveis, a no ser em edifcios e compartimentos
adequados para esse fim, cumprindo a legislao e a regulamentao em vigor.
Em relao evacuao dos edifcios em caso de incndio, nem sempre fcil de
aplicar, s em caso de mdias e profundas intervenes, pois necessrio alterar por
vezes algumas estruturas.
Na segurana contra incndios em edifcios antigos sempre mais fcil de
proteger o edifcio quando se tem uma rede de incndios pblica perto, pois a grande
maioria dos edifcios encontra-se em locais de difcil acesso.
Uma das formas de evitar ou reduzir os incndios nestes edifcios passa pela
simples medida de manuteno, limpeza das coberturas e stos, das vias e logradouros.
Um dos pontos mais crticos, so os pavimentos e coberturas, constitudos
geralmente por madeira, soalho e estruturas, sem forro de tecto, a soluo a colocar
nestes, passa pela aplicao de tecto pregado s vigas, preenchendo o espao vazio entre
os revestimentos de piso e tecto, com um material resistente ao fogo, por vezes no de
fcil aplicao esta soluo, principalmente em tectos ornamentados. Em alguns casos
pode recorrer-se a materiais intumescentes, materiais que perante um aumento
acentuado da temperatura associado ao desenvolvimento do incndio expandem-se,
ficando com um aspecto de uma espuma.
CARACTERIZAO E DIAGNSTICO DE ANOMALIAS
CONSTRUTIVAS DE COBERTURAS
89
6.10 Controle da luminosidade
A utilizao de luz natural tem a vantagem econmica e trmica, pois permite
usufruir da luminosidade exterior.
O uso de clarabias e janelas, tem por objectivo ajudar no controlo de luz das
salas locais de passagem, como escadas e por sua vez poder usufruir da luz natural.
O controlo desta luz nas janelas efectuado por portadas, estores, cortinas,
laminas, etc.
A escolha das caixilharias e do vidro essencial, a nvel trmico como acstico.
6.11 Isolamento acstico
A cobertura de um edifcio tem uma contribuio decisiva para o conforto e o
abrigo que o espao interior deve proporcionar.
O rudo indesejado encontra-se no topo da lista de preocupaes de milhes de
pessoas. Em casa, local onde as pessoas pretendem libertar-se do mundo exterior, o
rudo dos vizinhos pode tornar-se num verdadeiro problema.
O silncio um bem precioso que convm manter no interior das nossas
habitaes.
A cobertura de um edifcio tem uma contribuio decisiva para o conforto e o
abrigo que o espao interior deve proporcionar.
6.12 Agentes de deteriorao da cobertura e plano de manuteno
Os principais agentes de deteriorao da cobertura so fsicos, qumicos,
mecnicos ou biolgicos. Os agentes atmosfricos, provocam alteraes qumicas da
parte exposta acelerando a deteriorao dos materiais e a perda da resistncia, sendo
CARACTERIZAO E DIAGNSTICO DE ANOMALIAS
CONSTRUTIVAS DE COBERTURAS
90
necessrio o tratamento preservador, a longa exposio a estes agentes torna-se
susceptvel o ataque de fungos ou trmitas. Os agentes biolgicos so as causas mais
frequentes da deteriorao das estruturas de madeira, necessria a identificao dos
agentes, que dependem das espcies florestais utilizadas, de forma a tomar precaues e
conseguir estabelecer uma boa manuteno da estrutura. Os esforos mecnicos so
outros dos agentes que necessrio ter ateno, pois podem alterar o modelo inicial,
deformando a estrutura.
6.13 Inspeco e diagnstico de anomalias da estrutura, vertentes, cumeeira,
rinces, lars, rufos, telhas.
Vertentes - As vertentes do telhado da imagem que se segue apresentam algumas
anomalias, como por exemplo, empenamentos ao longo da estrutura como se pode
verificar pela imagem, seria necessrio reforar a estrutura de madeira ou proceder sua
substituio.
Figura 53 Vertente
CARACTERIZAO E DIAGNSTICO DE ANOMALIAS
CONSTRUTIVAS DE COBERTURAS
91
Cumeeira a nvel da cumeeira do telhado do edifcio pode-se ver que alguma
parte j foi mudada, na que ainda resta da telha antiga no se pode apontar grandes
disfunes.
Figura 54 Cumeeiras
Rinces e lars os rinces e os lars so deficientes, principalmente devido
telha bastante velha e partida que faz as juntas e devido s chapas de zinco que se
encontram degradadas, seria necessrio substituir a telha como vamos ver mais frente
e tambm as chapas de junta das vertentes.
Figura 55 Rinces e lars; (a): Rinco; (b): Rinco; (c): Lar
(b) (c) (a)
CARACTERIZAO E DIAGNSTICO DE ANOMALIAS
CONSTRUTIVAS DE COBERTURAS
92
Rufos os rufos, tal como nos rinces esto em mau estado de conservao,
evidenciando degradao das telhas e da chapas de remate, sendo necessrio a sua
substituio.
Figura 56 Rufos
Telha as telhas encontram-se nitidamente fragilizadas e deterioradas, estando
muitas delas partidas ou deslocadas, possibilitando a infiltrao de guas na cobertura e
provocando humidificaes da estrutura subjacente. Seria necessria a substituio das
telhas por umas novas do mesmo gnero.
Figura 57 Telhas; (a): Telhas danificadas; (b): Telhas levantadas
6.15 Exigncias de desempenho
Qualquer elemento construtivo constituinte, antes de ser belo ou feio tem que
desempenhar em pleno a sua funo e para tal necessrio conhecer as exigncias a que
tem de responder. No que diz respeito s coberturas, as exigncias de desempenho
corrente referem-se ao conforto trmico e estanqueidade. Portanto, necessrio que
qualquer soluo a adoptar garanta no s a satisfao destas exigncias, mas tambm
(a) (b)
CARACTERIZAO E DIAGNSTICO DE ANOMALIAS
CONSTRUTIVAS DE COBERTURAS
93
possibilite a preservao a longo prazo, pois tem que ser eficiente perante as aces
mecnicas a que est constantemente sujeita causadas pela variao de temperatura,
radiao solar, gua e vento.
A inclinao das coberturas feita em funo dos materiais que a revestem e do
clima do local onde se insere o edifcio. Relativamente aco da gua nas coberturas
inclinadas, a estanqueidade garantida pelo revestimento e pela inclinao da cobertura,
ou seja, pelas caractersticas do material de revestimento porosidade,
impermeabilidade, dimenses, nmero de juntas e capacidade de dilatao; e pelo clima
onde se insere o edifcio. Assim, pode afirmar-se que a necessidade de desenhar a
pendente da forma mais natural possvel implica que em muitas ocasies formaliza-se
como um edifcio autnomo sobre outro.
CARACTERIZAO E DIAGNSTICO DE ANOMALIAS
CONSTRUTIVAS DE COBERTURAS
94
6.15 - Referncias Bibliogrficas
[1] ROMANA, Rodrigues, Construes antigas de madeira: Experiencia e obra e
reforo estrutural, 2004, pp. 100 a 110
[2] LOBO, Susana, Sistemas de drenagem de guas pluviais de coberturas inclinadas,
2002
[3] PEREIRA, Vasco; MARTINS, Joo; Materiais e tcnicas de construo, 2005, pp.
6 a 15
[4] www.lnec.pt
[5] - Http://engenhariacivil.wordpress.com
OBRAS DE CONSERVAO E REPARAO DA COBERTURA
95
7 OBRAS DE CONSERVAO E REPARAO DA
COBERTURA
7.1 Projecto de conservao e reabilitao da cobertura
A prtica, muito popular entre ns, de substituir as antigas estruturas de madeira
por construes em beto e/ou ao representa muitas vezes uma perda irreversvel do
valor patrimonial e arquitectnico de uma cidade. Hoje em dia, cada vez mais se opta
pelas solues que demonstrem respeito pelos materiais e concepo estrutural da
construo. As desgastadas estruturas de madeira so actualmente substitudas ou
reforadas por inovadoras solues construtivas. Desde o reforo com materiais
compsitos ou com elementos metlicos, transformao dos pavimentos em lajes
mistas madeira-beto, passando pelo recurso a lamelados colados, h uma grande
variedade de solues que viabilizam o uso da madeira como material estrutural, quer
nas intervenes em construes antigas quer na construo de novos edifcios. No h
por isso razes para violarmos os mais bsicos princpios de interveno em
construes antigas, desrespeitando os materiais e a concepo estrutural originais, ao
retirar simplesmente os elementos de madeira da estrutura.
Quanto cobertura caso de estudo, a estrutura da cobertura toda ela em
madeira; pelas imagens apresentadas poder-se- ver que j houve alguma interveno, a
nvel da laje de cobertura, mas em relao estrutura de madeira ainda no houve
grandes mudanas, sendo em alguns locais necessrio a conservao ou reparao de
OBRAS DE CONSERVAO E REPARAO DA COBERTURA
96
algumas partes da estrutura, principalmente nas zonas de ligao das madeiras. Em
relao s telhas, j foi mencionado anteriormente, neste ponto, vai ser tratada s a
conservao e reparao da estrutura da cobertura. Ser efectuada a descrio da
estrutura, desde as medies, a composio dos materiais utilizados na sua construo,
as obras necessrias, o que poder ser conservado ou ter que ser demolido, os estudos
efectuados, os trabalhos de execuo que tero de ser efectuados para tirar o melhor
partido da estrutura, como a limpeza que ser efectuada, a consolidao, a proteco dos
materiais, a impermeabilizao e isolamento acstico e o controle de sistemas e
instalaes tcnicas.
Figura 58 Cobertura do Convento Franciscano
7.2 Medies, obras de construo, demolio
Na cobertura, foram efectuadas medies da estrutura de madeira e feito um
reconhecimento do verdadeiro estado de conservao das madeiras. Foi possvel
identificar as madeiras utilizadas na sua construo, identificadas as anomalias
existentes, as obras efectuadas na cobertura, as mudanas que a cobertura sofreu com as
obras que ao longo dos anos tm sido efectuadas e partes que j foram demolidas.
OBRAS DE CONSERVAO E REPARAO DA COBERTURA
97
Figura 59 Interior da cobertura
Figura 60 Desenho de uma asna
Figura 61 Estrutura de cobertura
OBRAS DE CONSERVAO E REPARAO DA COBERTURA
98
7.3 Especificaes relativas a materiais
Para a identificao das madeiras utilizadas na estrutura, foram recolhidos alguns
provetes de todas as madeiras utilizadas na construo da cobertura, que foram
submetidas ao Departamento de florestal da UTAD, para identificar o tipo de madeira.
Conclui-se que as madeiras utilizadas na estrutura eram:
Pinus Pinaster;
Pinheiro Bravo;
Castanea Savita;
Castanheiro;
Eucalyptus globus;
Eucalipto
Densidade Moderadamente pesada
Retraco Volumtrica Total Retrctil
Utilizaes Boa qualidade para carpintarias interiores e caixilharias.
Boa aptido para mobilirio macio e de elementos reconstitudos
(lamelados); engradados e carpintaria fina.
Alta qualidade para desenrolamento e folheamento.
Magnfica vocao para laminados - colados, estruturais e planos, micro
laminados moldados e LVL.
Qualificada para a indstria fosforeira.
Alta vocao para embalagens. Paletes.
Cercas de vedao (fencing).
Torneados e brinquedos. Persianas e estores.
Aglomerados (fibras e partculas).
Densidade Leve.
Retraco
Volumtrica
Total
Retrctil.
Utilizaes
Madeiras de grandes dimenses:
Estruturas e carpintarias exteriores (caixilharias e portas).
Desenrolamento (contraplacados) e corte plano (folheados).
Revestimento de piso e parquete.
Mobilirio (elementos estruturais macios). Torneados.
Tanoaria de envelhecimento.
Construo naval.
Madeiras de pequenas e mdias dimenses:
Tanoaria de transporte. Cestaria. Cabos de ferramentas.
Laminados - colados - moldados.
Densidade Pesada.
Retraco Volumtrica Total - Muito retrctil (+).
Utilizaes Estrutura macias.
Carpintaria interiores. Revestimentos de pisos e parquetes.
Mobilirio (madeiras de escolha, bem seca e se possvel recondicionada).
Folheados e contraplacados.
Carroaria de carga.
Formas para calado.
Esteios e tutores.
Travessas.
Celulose.
OBRAS DE CONSERVAO E REPARAO DA COBERTURA
99
DURABILIDADE DA
MADEIRA
IMPREGNABILIDADE DA
MADEIRA
ESPCIE
DA
MADEIRA
Muito
Durveis
Durveis
Pouco
Durveis
Permeveis
Resistentes
Impregnao
Muito
Resistentes
Impregnao
Eucalipto-
borne -
Eucalyptus
globulus
X X
Eucalipto-
cerne -
Eucalyptus
globulus
X X
Castanho -
Castanea
sativa
X X
Pinho
bravo-
cerne -
Pinus
pinaster
X X
Tabela 1 Durabilidade e impregnabilidade da madeira
OBRAS DE CONSERVAO E REPARAO DA COBERTURA
100
Figura 62 Identificao das madeiras da asna
Figura 63 Identificao das madeiras na cobertura
7.4 Estudos preliminares
Embora o ataque biolgico esteja na origem da maioria das situaes de
deteriorao e frequente rotura dos elementos de madeira aplicados em edifcios,
ocorrem muitas vezes deficincias estruturais relacionadas apenas com os esforos a
que esto sujeitos, que requerem igualmente medidas correctivas adequadas.
OBRAS DE CONSERVAO E REPARAO DA COBERTURA
101
So relativamente frequentes: a rotura de elementos ou de ligaes, por carga
excessiva (modificao do uso dado ao edifcio) ou por alterao do funcionamento da
estrutura (por reforo local de ligaes ou alterao dos apoios, por exemplo),
deformaes excessivas (podendo corresponder a fluncia do material ou resultar
apenas do empeno da madeira colocada verde em obra e seca em servio), rotao nos
apoios, ou escorregamento nas ligaes. Anomalias deste tipo tero que ser resolvidas
de forma adequada.
Aspectos particulares, como sejam o eventual interesse histrico do edifcio ou
parte dele podero impor restries ao trabalho de prospeco e subsequente
interveno a realizar, devendo naturalmente ser consideradas caso a caso. Refira-se a
este propsito que so mais frequentes do que se possa pensar os erros bsicos de
concepo estrutural e o mau dimensionamento das estruturas originais, julgando-se
imprescindvel nestes casos corrigir as deficincias, mesmo em intervenes que se
pretendem pouco intrusivas e fiis ao original.
Atravs da visita cobertura, conseguiu-se apurar as anomalias existentes na
estrutura da cobertura, especialmente nas madeiras existentes na sua constituio.
Constata-se que a nvel das seces dos elementos de madeira existem algumas
insuficincias, sendo visvel alguma deformabilidade.
Figura 64 Identificao da zona estudada
OBRAS DE CONSERVAO E REPARAO DA COBERTURA
102
Outro dos factores que j se pode verificar na madeira o ataque de fungos,
insectos e poeiras, que levam ao apodrecimento destes elementos. Nota-se um deficiente
desempenho da cobertura, existem algumas infiltraes, por esta no desempenhar na
totalidade a sua funo. Esta deficincia tambm esta relacionada com a deformao das
madeiras que altera a configurao geomtrica da estrutura da cobertura e
acompanhada pelos movimentos de adaptao do prprio revestimento, dando-se a
abertura de juntas entre telhas, reduzindo o efeito de sobreposio entre telhas
consecutivas e facilitando a entrada de humidades na estrutura, reduzindo assim a sua
estanquidade, dando origem deteorizao das caractersticas da madeira, perdas da
seco, degradao da resistncia e capacidade de deformao. Pontualmente, existem
situaes em que os elementos de madeira apresentam outras patologias / defeitos
localizados (ns, seces ocas e seces fendilhadas), que afectam significativamente a
sua capacidade resistente.
Figura 65 Interior da cobertura; (a): Ligao de metlica do pendural com linha;
(b): Ligao entre madres; (c): Ligao entre perna e linha; (d): Fissuras na perna.
(a) (b)
(d) (c)
OBRAS DE CONSERVAO E REPARAO DA COBERTURA
103
(a)
(h) (g)
(f) (e)
(d) (c)
(b)
OBRAS DE CONSERVAO E REPARAO DA COBERTURA
104
Figura 65 Interior da cobertura; (a): Poeiras; (b): Apodrecimento; (c): deformao;
(d): Ligaes; (e): Fissuras; (f): Deslocamentos; (g): Cobertura; (h): Parte elctrica;
(i): Vara com podrido; (j): Argamassas nas madeiras
7.5 Trabalhos de execuo
Face ao ataque da madeira por agentes biolgicos, necessrio suster a progresso
da degradao (aco curativa) e impedir a recorrncia dos problemas (aco
preventiva).
Em termos gerais, devem ser implementadas as seguintes aces:
Todas as madeiras existentes sero integralmente revistas e substitudas todas as
peas que apresentem apodrecimento, utilizando madeira de caractersticas idnticas s
preexistentes.
Em todas as zonas de madeiras atacadas por fungos deve ser aplicado um
fungicida.
Nas madeiras em bom estado e que no sejam para substituir, por motivos de
projecto deve ser aplicado um protector.
As intervenes em construes envolvem, frequentemente, reforo e/ou
consolidao de estruturas de madeira.
(j) (i)
OBRAS DE CONSERVAO E REPARAO DA COBERTURA
105
A aplicao de mtodos pouco intrusivos possibilita a reabilitao ou a
reconstituio de elementos estruturais de madeira, em vez de se proceder sua
substituio integral, inclusive por outra estrutura ou material estrutural.
Face s patologias referenciadas e em funo dos condicionamentos, como, por
exemplo, a acessibilidade, o impacto visual, etc., possvel definir configuraes de
elevada eficincia, com o mnimo de substituio dos materiais e estrutura originais.
7.5.1 Trabalhos preliminares
Para proceder manuteno da cobertura, necessrio proceder limpeza dos
desvos de forma a ter melhores condies de trabalho.
Na limpeza dos desvos, necessrio ter em ateno todos os tipos de detritos
existentes na cobertura, desde as poeiras, remoo de acumulaes de entulhos, dejectos
e de sujidade para exposio da estrutura a tratar, ao levantamento da telha de forma a
substituir as mais degradadas, os detritos deixados por obras anteriores, com particular
ateno nas argamassas, madeiras abandonadas e materiais deixados por obras de
electricista e de manuteno do edifcio.
Desta forma facilitar-se-o os trabalhos de manuteno, pois os operrios podero
ter melhores condies de acesso zona da cobertura e de liberdade de trabalho, pois a
cobertura apesar de ser bastante grande, tem poucas zonas e de difcil acesso.
Nesta fase tambm importante referir que ser mais fcil colocar os materiais na
cobertura para a reabilitao e manuteno da estrutura de cobertura.
Figura 66 Instalaes elctricas na cobertura; (a): Cabos elctricos; (b): Instalao
elctrica.
(a) (b)
OBRAS DE CONSERVAO E REPARAO DA COBERTURA
106
Figura 67 Instalaes elctricas na cobertura; (a): Instalao elctrica; (b): material da
interveno, no utilizado.
7.5.2 Limpeza de materiais
A limpeza dos materiais da cobertura deve ser efectuada, passando pela limpeza
de todos os materiais que iro ser reutilizados na cobertura. Deve-se ter especial ateno
s madeiras atacadas por fungos, aplicando-se um fungicida (por pincelagem abundante
ou por injeco de produtos preservadores fungicidas adequados) e executando uma
limpeza superficial, dos materiais metlicos, para remover toda a ferrugem, ou ento
decidir as suas substituies ou reforo desses locais.
evidente que, futuramente, fazer uma limpeza peridica das telhas
fundamental no s para manter a sua boa aparncia, mas tambm por ser esta uma
oportunidade para se fazer uma vistoria completa em todo o material e executar, se
necessrio, pequenos reparos no acabamento, se este foi danificado por qualquer razo.
Nas fachadas a limpeza importante por seu carcter esttico e embora uma cobertura
muitas vezes no tenha o mesmo apelo visual, a sua limpeza no deve ser esquecida,
pois a superfcie mais sujeita acumulao de sujidades e corpos estranhos.
(b) (a)
OBRAS DE CONSERVAO E REPARAO DA COBERTURA
107
7.5.3 Consolidao dos materiais
Aps a anlise das deficincias estruturais da madeira, deve-se proceder
substituio de peas de madeira cujo estado seja irrecupervel, ou consolidao como
objectivo da recuperao da capacidade resistente inicial, ou finalmente, proceder-se ao
reforo cuja funo a de aumentar a capacidade de carga ou a limitao da deformao
da estrutura. Existem diferentes tcnicas de consolidao ou reforo de estruturas de
madeira que dependem do material que se aplica e da degradao em causa. Essas
tcnicas so as seguintes:
- Substituio, reforo, consolidao e proteco qumica;
- Consolidao com beto, quando se perde a capacidade resistente da madeira e
de certo modo a madeira se comporta como uma espcie de cofragem perdida;
- Consolidao mista beto - madeira, quando a madeira ainda possui uma certa
capacidade resistente;
- Consolidao com elementos de madeira, atravs das prteses de madeira da
mesma espcie coladas, e protegidas com produtos qumicos em profundidade;
- Consolidao baseada em argamassas epxicas, atravs do saneamento da
madeira danificada e sua substituio por argamassas epxicas com ou sem elementos
rgidos ou por aplicao de resinas epxicas;
- Elementos de reforo metlicos que o caso das placas e vares em ao
inoxidvel; e os compsitos (formados por uma base de resina sinttica e um reforo de
fibras vidro ou carbono).
A ausncia de ligaes convenientes entre elementos de madeira, a necessidade de
eliminao completa de toda a actividade biolgica e o perigo de incndio, so um
problema para a estrutura.
Desta forma seria necessrio, como referido anteriormente, proceder a uma
limpeza das madeiras, de forma a limpar poeiras, fungos e fluorescncias. De seguida
era necessrio proceder a uma substituio dos elementos que apresentem sinais de
podrido e que apresentem risco para a estrutura, de forma a consolidar o mais possvel
a cobertura.
OBRAS DE CONSERVAO E REPARAO DA COBERTURA
108
Nesta fase, necessrio ter ateno tambm s ligaes existentes entre os
elementos de madeira, pois nota-se em muitos casos j a deformao da estrutura devido
a algumas ligaes comearem a ficar deficientes, neste caso podero reforar-se as
ligaes atravs de elementos metlicos de forma a corrigir e a consolidar; esta situao
verifica-se devido ao estado muito avanado de degradao dos elementos existentes
nas ligaes, que so feitos em pregos, j com elevado grau de ferrugem devido s
humidades existentes na cobertura.
Temos tambm a situao dos elementos metlicos que j existem, que tambm
apresentam alguma ferrugem, que, para segurana, seria necessrio proceder sua
substituio.
7.5.4 Proteco de materiais
- As tcnicas de conservao ou proteco devem estar estritamente vinculadas
investigao pluridisciplinar cientfica sobre materiais e tecnologias usadas para a
construo, reparao e/ou restauro do patrimnio edificado. (...). Qualquer material e
tecnologia novos devem ser rigorosamente testados, comparadas e adequadas
necessidade real da conservao. Quando a aplicao in situ de novas tecnologias possa
ser relevante para a manuteno do fabrico original, estas devem ser continuamente
controladas tendo em conta os resultados obtidos, o seu comportamento posterior e a
possibilidade de uma eventual reversibilidade. Os materiais e tecnologias tradicionais
devero ser estruturados pois constituem por si s patrimnio cultural [1]
Para diminuir o risco de degradao da madeira, deve-se ter em conta a escolha do
material adequado ao fim em causa, a proteco qumica da madeira, a execuo do
projecto e sua construo.
Na seleco da madeira importante o conhecimento da espcie em termos da sua
durabilidade (depende de certas substncias existentes no tecido celular da madeira,
com caractersticas anti-spticas e que pertencem ao grupo dos fenis, alcalides,
quininos, flavenonas, terpenos, e troponois), e impregnabilidade.
Inicialmente, avaliado o grau de afectao e o tipo de agentes de degradao da
madeira.
OBRAS DE CONSERVAO E REPARAO DA COBERTURA
109
Em seguida, retirada a zona afectada da madeira, e aplicado o produto qumico
protector adequado por impregnao. Por ltimo devem ser aplicados os mesmos
produtos protectores em madeiras perto da anteriormente danificada, de modo a evitar
degradaes futuras.
O tratamento efectuado consoante o tipo de deteriorao da madeira.
De modo a evitar ou minimizar as deficincias construtivas indicadas
anteriormente devem ser realizadas as seguintes operaes:
- Eliminao dos focos de humidade atravs da reparao de infra-estruturas e de
coberturas defeituosas, execuo de barreiras de impermeabilizao nas fachadas;
- Promover uma boa ventilao ao nvel dos apoios das vigas e dos soalhos, para
que no ocorram condensaes que provoquem a existncia de fungos de podrido,
quando tal no for possvel, deve-se submeter a madeira a um tratamento protector por
impregnao qumica mediante injeces a presso em orifcios realizados previamente;
outra possibilidade, ao nvel dos apoios das vigas, seria a sua impermeabilizao
plstica transpirvel que evita a entrada de humidade do exterior e que permite a
passagem do vapor de gua do interior para o exterior;
- A proteco das zonas de apoio da estrutura da cobertura tambm pode ser
realizada pela execuo de beirais;
- A madeira exposta intemprie, deve ser bem dimensionada e protegida com
pinturas ou vernizes que impeam a entrada de humidade evitando degradaes fsico-
qumicas e biolgicas.
Uma outra situao corrente na prtica o reforo de elementos em servio, por
meio de perfis colados face ou embebidos no interior dos elementos de madeira. Estas
intervenes podem recorrer a elementos de reforo em ao macio (chapas aparafusadas
ou coladas, ou vares de construo colados) ou, muito frequentemente, a materiais
compsitos colados.
OBRAS DE CONSERVAO E REPARAO DA COBERTURA
110
7.5.5 Argamassas
Nos locais onde no seja necessrio a mudana de telhas, ou mesmo a manuteno
da cobertura, necessrio ter ateno s argamassas utilizadas na impermeabilizao da
cobertura, pois podem ter algumas anomalias, neste caso necessrio proceder-se
manuteno destas ou mesmo sua remoo substituindo-as por novas argamassas.
Desta forma poder garantir-se com melhor qualidade a estanquidade da cobertura.
As zonas onde necessria particular ateno so, na cumeeira, nas ligaes de
remates de telhas, em clarabias e em todos os locais susceptveis de entradas de
humidades, pois assim poderemos garantir um melhor desempenho da cobertura e
mesmo do conforto trmico do edifcio, pois a cobertura o local mais afectado pelo
clima.
Os problemas de construo (quer dos produtos quer das coberturas) que
decorrem (frequentemente) da utilizao indevida de argamassas justificam que lhes
seja dedicado uma particular ateno. De facto, as argamassas possuem um
comportamento higroscpico (absorvem gua facilmente) distinto dos materiais
cermicos (no higroscpico, ou seja, mantm o equilbrio de humidade). Assim, em
contacto com os produtos cermicos as argamassas fixam humidade junto s peas
dificultando a sua secagem. Em consequncia, criam condies favorveis para o
desenvolvimento de microorganismos e musgos ou, com maior gravidade, podem
provocar fissuras, fendas ou fracturas (tanto na argamassa como na pea cermica,
sendo este aspecto mais crtico com utilizao de argamassas simples de cimento por se
tornarem demasiado rgidas), criando pontos de infiltrao indesejveis, ou ainda danos
nos produtos quando solicitados a ciclos de gelo-degelo. O seu uso excessivo pode
ainda dificultar ou obstruir a ventilao, sendo um dos aspectos mais penalizadores
(particularmente em zonas agressivas aco do gelo) e que afecta (indirectamente) a
durabilidade dos materiais na cobertura.
OBRAS DE CONSERVAO E REPARAO DA COBERTURA
111
7.5.6 - Construo de coberturas
Uma alternativa construtiva ao usual processo construtivo com a utilizao de
madeira na estrutura so as estruturas metlicas ou de beto. Isso ocorre devido
escassez de material, o aumento do preo da madeira e a essencial necessidade de
preservao ambiental, alm do aumento da produtividade e da qualidade na construo
de coberturas com telhado, devido ao maior grau de industrializao atravs da
utilizao de peas pr-fabricadas.
A tpica cobertura de madeira Portuguesa apresenta asnas como principal
elemento estrutural, com uma pendente varivel entre os 20 e os 30, sendo
materializada por telhas cermicas apoiadas sobre as varas espaadas de 40-50 cm, que
repousam por sua vez sobre a cumeeira, as madres e o frechal. Normalmente, as
coberturas de madeira so constitudas por asnas simples (ou de Palldio) de vos
mdios entre 6 e 7 metros. Esta geometria de asnas de madeira, caracteriza-se por
apresentar um elemento horizontal, a linha, duas pernas inclinadas de modo a formar as
pendentes do telhado e ligadas na sua base linha, um elemento vertical ao centro na
ligao entre as duas pernas, o pendural, e duas escoras inclinadas, suportando as pernas
no pendural [2].
Figura 68 Identificao das peas da asna
OBRAS DE CONSERVAO E REPARAO DA COBERTURA
112
As ligaes das asnas so normalmente materializadas por entalhes de dente
simples ou duplo e prevendo ou no respiga e mecha. Nestas ligaes, ditas tradicionais,
os esforos so transmitidos por compresso e/ou atrito. De forma a melhorar o contacto
entre os elementos ligados, so normalmente adicionados elementos metlicos. O uso
destes elementos metlicos, para alm de prevenir as deformaes no plano ortogonal
estrutura, tem o objectivo de garantir a estabilidade da ligao frente a foras cclicas
(inverso de esforos). Braadeiras, esquadros e vares metlicos representam as
solues de reforo mais vulgares em ligaes tradicionais de madeira.
As espcies de madeira mais usadas nas coberturas de madeira Portuguesas so o
Pinho bravo (Pinus pinaster, Ait.), o Castanho (Castanea sativa, Mill) e o Eucalipto
(Eucaliptus globules, Labill.). Enquanto o Castanho caracterstico de construes
eclesisticas, a utilizao do Pinho bravo e do Eucalipto comum em construes
industriais, em particular, daquelas com data de construo prxima das guerras
mundiais.
No dimensionamento de construes novas como em aces de reabilitao e/ou
reforo de estruturas antigas de madeira, usual assumir que as ligaes das asnas de
madeira so articuladas. Contudo, estas apresentam rigidez no desprezvel. Esta
capacidade de transmisso de momentos torna-se determinante sob o efeito de aces
assimtricas como so a neve, o vento e o sismo. Esta necessidade de uma correcta
definio do modelo estrutural e, em particular, da adopo de um valor adequado para
a rigidez das ligaes, ganha especial importncia em estruturas antigas, onde os
elementos estruturais apresentam grande variabilidade de inrcias, e/ou nem sempre as
regras prticas de boa execuo das suas ligaes so seguidas [3].
O reforo de ligaes de madeira pode ser executado de diversas formas: desde a
simples substituio ou adio de ligadores, ao uso de elementos metlicos, ou materiais
compsitos, completa injeco de adesivos. Cada soluo de reforo tem
consequncias nicas na resistncia, na rigidez e na ductilidade finais da ligao. Apesar
de frequentes, no existem estudos suficientes sobre o comportamento das ligaes
tradicionais de madeira e possveis tcnicas de reforo.
Aps a execuo do ripado, pode-se dar incio ao assentamento das telhas de
encaixe, fiada a fiada, no sentido da direita para a esquerda e de baixo para cima,
devendo estas ser mantidas em posio pelos pernes e pelo seu peso prprio.
OBRAS DE CONSERVAO E REPARAO DA COBERTURA
113
Sempre que necessrio, seja pela exposio ou pela inclinao, as telhas devem
ser fixadas s ripas e repartidas regularmente por toda a cobertura.
No caso de telha aba canudo, para assegurar o alinhamento das fiadas (colunas)
devem ser traadas, de 4 em 4 fiadas, linhas de guia ascendentes, perpendiculares ao
beirado e paralelas entre si. As telhas devem ficar alinhadas pelo cano e no pelo bordo.
As telhas planas de encaixe podem ser aplicadas em linha ou cruzadas, uma vez
que dispem de pernes e encaixes de perne que apresentam simetria. O processo de
aplicao semelhante ao das telhas de aba canudo.
As telhas canudo podem ser assentes sobre suportes contnuos ou descontnuos,
concebidos em funo da geometria da telha, ou ainda sobre subtelha. O assentamento
inicia-se pelas telhas inferiores sobre as ripas, formando um canal para a evacuao das
guas, respeitando uma sobreposio de 150 mm da telha da fiada superior sobre a da
fiada inferior (bordo anterior e posterior). Colocadas as telhas inferiores, as superiores
(de capeamento) so ento assentes e alinhadas. Para evitar o seu deslizamento, as
telhas devem ser espaadamente fixadas estrutura com pregos, mstique ou
argamassas (aconselhvel apenas em zonas em que ocorram simultaneamente valores
baixos de precipitao e pequena amplitude trmica), devendo ainda ser fixadas entre
elas recorrendo a grampos de fixao metlicos [4].
Caso o telhado seja de vrias guas, devem repetir-se os passos descritos.
Recomenda-se que o assentamento seja feito em toda a periferia, isto , subindo com
todas as guas e fazendo todos os cortes de cada fiada.
Durante o processo de assentamento, sempre que no existam acessrios
disponveis e adequados, deve-se ir fazendo todos os cortes necessrios para contornar
chamins, lanternins, clarabias ou outros elementos.
A execuo da cumeeira deve ser realizada utilizando sempre acessrios
adequados: cumes ou telhes. As juntas entre as peas das cumeeiras so asseguradas
por encaixe mas, no caso da telha canudo, onde a cumeeira pode ser realizada com a
prpria telha, deve ser respeitado um recobrimento mnimo de 10 cm. O assentamento
dos cumes deve ser efectuado com argamassas bastardas ou cimentos hidrofugados,
tendo o cuidado de assegurar a ventilao natural da cobertura (exausto de ar quente).
OBRAS DE CONSERVAO E REPARAO DA COBERTURA
114
As juntas entre as cumeeiras e as telhas devem impedir a passagem de gua mas
permitir a ventilao (ver seco ventilao).
A utilizao de remates de cumeeira nos topos e a inverso com recurso a cumes
duplos so solues que permitem minimizar o recurso a argamassas e melhorar
significativamente o desempenho funcional da cobertura (ao permitir uma melhor
ventilao e evitar pontos susceptveis de infiltrao de gua), ao mesmo tempo que
proporcionam um acabamento perfeito.
Se necessrio deve recorrer-se a fixaes mecnicas, evitando sempre o recurso
aplicao excessiva de argamassa (ver seco de argamassas).
Em zonas propcias ocorrncia de ventos particularmente fortes recomendvel
que a montagem dos cumes e o seu recobrimento seja efectuada no sentido contrrio aos
ventos predominantes.
Deve ser sempre garantido o recobrimento total do espao na interseco das duas
guas pelo cume, de forma a evitar a entrada de gua. Entre telhas de duas guas deve
ser criado um intervalo mnimo de 2 cm para facilitar a evacuao do ar quente por
conveco natural.
Se o corte das telhas eliminar as nervuras de vedao, deve-se aplicar um filete de
silicone ou mstique de poliuretano em substituio.
Os requisitos para a execuo da linha de rinco so idnticos aos indicados para a
cumeeira, residindo a principal diferena no facto da linha de interseco no ser
horizontal. O corte enviesado das telhas deve ser mecnico para assegurar a sua correcta
sobreposio.
Nos topos superiores e inferior devem usar-se exclusivamente peas acessrias,
nomeadamente cumes de trs e quatro hastes (cruzetas), que podem ser rematados com
pirmide de bola ou bico, e conchas, convenientemente fixadas.
Caso se opte pela aplicao do beiral, as primeiras telhas a assentar na estrutura
so as do beiral (ver seco assentamento). A ripa de apoio das telhas na linha de
beiral (filete da beira) deve ter uma altura acrescida (no inferior a 1 cm) relativamente
altura adoptada para as outras ripas, de forma a manter a inclinao da pendente.
OBRAS DE CONSERVAO E REPARAO DA COBERTURA
115
Na opo pela construo de um beirado (capa e bica/caleiro) deve respeitar-se o
espaamento lateral da telha, isto , o alinhamento da capa de beirado deve ser
efectuado pelo eixo do cano das telhas.
De modo a evitar o seu desalinhamento, deve ser ensaiado em obra a sua
aplicao antes da fixao definitiva, que deve preceder o assentamento da telha. A
execuo do beiral ou beirado deve ter em conta a eventual utilizao de cantos de telha,
dependendo da geometria da cobertura.
No caso de telhas planas de encaixe, deve ser utilizado a capa de beirado com
encaixes adaptados aos pernes, permitindo uma articulao e isolamento perfeito entre
as telhas e o beirado. No caso das telhas de canudo, so normalmente utilizadas as
prprias telhas para execuo do beirado.
A rea do beirado que deve ficar sobreposta cornija / cimalha no deve ser
inferior a 1/3 do comprimento do beirado. A inclinao mnima do beirado depende da
inclinao da cobertura, mas no deve ser inferior a 8% (no caso de zonas sujeitas a
precipitao intensa recomenda-se, no mnimo, 10%) sob pena de condicionar o
escoamento de guas, com todas as implicaes da decorrentes.
De notar ainda que a beira deve incorporar pequenas aberturas de arejamento, nos
canos das telhas ou nos desvos formados pelos caleiros (ver seco sobre ventilao.
Da mesma forma que na cumeeira, recomenda-se a reduo ao mnimo das argamassas
e o recurso a argamassas fracas e hidrofugadas.
No caso de se prever a utilizao de caleiras de escoamento na linha de beiral,
deve-se assegurar uma sobreposio da telha caleira de 7 a 8 cm. Neste caso ser
proposto caleiras dentro do beiral [5].
Figura 69 Corte da cobertura
OBRAS DE CONSERVAO E REPARAO DA COBERTURA
116
7.5.7 Demolies, substituies e ligaes
As demolies no edifcio caso de estudo, esto fora de questo, pois no
necessrio demolir nesta cobertura, nenhum sector importante. referir as substituies
que so necessrias fazer na cobertura, principalmente em relao s madeiras e telhas,
o que pode obrigar a demolir algo e construir novo. Tambm relevante dar a devida
importncia s ligaes na estrutura, pois como j foi referido anteriormente, h zonas
em que mesmo urgente colocar ligaes resistentes ou substituir algumas j colocadas,
pois j se apresentam em adiantado estado de degradao.
As substituies necessrias e principais, so no telhado, pois as telhas
apresentam evidente degradao, detectam-se telhas partidas, deslocadas, com
fluorescncias, com rachas e aberturas das juntas que futuramente causaro humidades
no interior da cobertura e apodrecimento das madeiras.
Tambm necessrio, aps a remoo da antiga telha frgil e quebradia e antes
de colocar a nova telha ter em ateno as madeiras que apresentam anomalias graves,
substituindo todas as madeiras podres que j no apresentem segurana estrutura e
reforar a prpria estrutura com escoras ou outros elementos de reforo, de forma a
melhorar a eficincia da estrutura e eliminar as deformaes existentes, facilitando a
colocao da telha e a garantia de estanqueidade desta. necessrio substituir tambm
algumas ligaes j existentes caso apresentem ferrugens e podrido devido tambm
humidade existente na cobertura e consequente oxidao.
Em relao s ligaes e pelas imagens j apresentadas, pode-se ver que
necessrio reforar as ligaes pois verifica-se a deformao e perda de funo dessas
ligaes.
OBRAS DE CONSERVAO E REPARAO DA COBERTURA
117
Figura 70 Alguns dos reforos e substituies em metal sugeridos
O uso de elementos metlicos tem por objectivo prevenir os deslocamentos para
fora do plano da ligao. Hoje em dia, o reforo contempla tambm o comportamento
da ligao no seu prprio plano e o de garantir o contacto entre as peas ligadas. Nas
zonas ssmicas, em particular, o reforo pode prevenir a degradao da resistncia da
ligao e evitar a perda de contacto entre os elementos ligados, resultado da diminuio
das foras de compresso. Sob efeito de aces cclicas, o reforo afigura-se como a
nica soluo para a garantia de estabilidade da ligao.
7.5.8 Consolidao e conservao de estruturas e elementos de madeira
Na conservao da madeira, pode-se utilizar vrios produtos diferentes,
dependendo do resultado, benefcio, e custo desejado.
Os preservantes podem resistir ao ataque de insectos e fungos, no devendo ser
txico ao homem e animais. Deve-se observar se o produto a ser utilizado possibilita
maior possibilidade de combusto, ou seja, se facilita a possibilidade de pegar fogo.
A madeira tratada pode durar dcadas, dependendo da sua manuteno e cuidados
ao longo do tempo.
O produto escolhido, deve preencher alguns requisitos bsicos: Impedir a
deteriorao da madeira; facilidade de penetrao na madeira; no ser txico; no
danificar a madeira; ser durvel; ser vivel a verificao da quantidade e periodicidade
necessria para tratamento.
OBRAS DE CONSERVAO E REPARAO DA COBERTURA
118
As madeiras tambm podem ser reforadas por fibras, podendo obter uma melhor
resposta das propriedades mecnicas destas. O uso das fibras proporciona um
incremento nas propriedades mecnicas de resistncia e rigidez da madeira. O emprego
das respectivas fibras deve ser feito em conjunto com algum tipo de adesivo, formando,
a partir da combinao de dois materiais, um compsito com propriedades superiores s
destes materiais. As fibras so responsveis pela resistncia do compsito, e o adesivo
une-as, sendo responsvel pela transmisso dos esforos entre as fibras e o material
reforado. O aumento da rigidez a flexo proporcional ao aumento do nmero de
camadas de fibras. O uso de trs camadas do tecido de fibra de vidro equivale ao uso de
uma camada do tecido de fibra de carbono. O emprego do reforo de fibra propicia que
a ruptura ocorra na presena de grandes deslocamentos verticais.
A grande vantagem do tecido de fibra de vidro em relao ao tecido de fibra de
carbono exactamente o seu baixo custo.
7.5.9 Consolidao e conservao de estruturas e elementos metlicos
A consolidao e conservao dos elementos metlicos, como j referido
anteriormente, so bastante importantes, principalmente nas zonas de ligaes da
estrutura; estes podem ser reforados ou consolidados atravs de limpezas das
oxidaes e com tintas anti-oxidao de forma a melhorar as caractersticas destes
elementos, mas pelo que se pode verificar na estrutura, a melhor opo seria a remoo
dos elementos metlicos e trocar por novos elementos, com tratamentos especficos para
tirar o melhor partido das estruturas metlicas.
7.5.10 Consolidao de abbadas em alvenaria
A existncia de coberturas inclinadas, tendo por base estrutural as abbadas de
alvenaria uma situao observvel em numerosos exemplares da arquitectura
OBRAS DE CONSERVAO E REPARAO DA COBERTURA
119
religiosa, nos quais se conjugam os efeitos pretendidos de dispor de tectos interiores
abobadados e coberturas exteriores em telhados.
Devido aos impulsos horizontais no equilibrados a que as paredes resistentes
esto sujeitas, usual o aparecimento de fissuras longitudinais no fecho da abbada.
Inicialmente, deve-se proceder remoo da laje aligeirada de cobertura, sobre a
qual assentam as telhas, e do todo o tipo de argamassas existentes no plano das guas de
cobertura.
Em seguida, e j com o extradorso da abbada exposto, procede-se ao
preenchimento das eventuais fissuras existentes na abbada e eventuais lacunas com
argamassa de cal hidrulica e areia; para que a gua de amassadura no penetre na
abbada, coloca-se uma tela impermeabilizante adjacente ao extradorso da abbada.
De modo a garantir que a malha-sol a aplicar no extradorso da abbada fique
correctamente colocada, sero inseridas sobre as paredes resistentes e junto ao
extradorso, vigas metlicas nas quais se ir amarrar a rede de ao distendido; colocam-
se calos para evitar que a rede de ao fique colada abbada; colocam-se grampos de
quinncio de 6 mm espaados em 50 cm, garantido assim a correcta fixao da rede de
ao abbada.
A rede de ao distendido dever ter no mnimo 8 mm de dimetro, de forma a
garantir a estabilidade da fissura da abbada; quando a rede de ao estiver
correctamente amarrada nas extremidades e devidamente fixada ao extradorso da
abbada procede-se introduo de uma lmina de argamassa com uma espessura igual
ou superior a 6 cm.
Aps estar concludo, o processo de endurecimento da argamassa, procede-se
recolocao das lajes aligeiradas de cobertura e posterior colocao das telhas
cermicas.
OBRAS DE CONSERVAO E REPARAO DA COBERTURA
120
7.5.11 Impermeabilizao e isolamento trmico acstico
Ao nvel das exigncias de conforto trmico, nas construes de reabilitao, as
ditas exigncias no podero ser dissociadas da sustentabilidade da construo e da
necessidade de poupana energtica.
As solues arquitectnicas devero privilegiar sistemas passivos de conforto
trmico, incentivando a reduo das cargas trmicas de aquecimento atravs de bons
nveis de isolamento e procurando maximizar os ganhos por recurso a orientaes
adequadas e dimenso dos vos. J no que respeita a conforto de Vero devero ser
privilegiadas solues arquitectnicas que permitam assegurar as temperaturas de
conforto minimizando a necessidade de sistemas activos. Estas preocupaes sero
compatibilizadas com solues construtivas que permitam a sua efectivao sem
anomalias.
No entanto estas construes caracterizam-se em geral pela sua elevada massa ao
nvel da envolvente que garante inrcias trmicas elevadas, o que apesar dos menores
nveis de isolamento assegura boas condies em termos de conforto de Vero. Neste
cenrio devero ser estudadas medidas que reforcem o isolamento a custos aceitveis.
Recomenda-se fundamentalmente o reforo do isolamento nas coberturas, por
onde ocorrem perdas significativas. Em alguns casos poder fazer sentido reforar o
isolamento da envolvente vertical pelo exterior renovando as caixilharias sempre que
estas se encontrem degradadas e constituam importantes pontes trmicas.
Estas medidas, complementadas pela instalao de sistemas de aquecimento,
permitiro assegurar nveis de desempenho trmico claramente superiores aos
apresentados na actualidade por estas fraces.
O conforto trmico passar pelo reforo dos isolamentos, se possvel custa de
solues leves em coberturas, envolventes verticais e confrontao com locais no
aquecidos. A substituio de caixilharias antigas de vidros simples por caixilharias mais
estanques de vidros duplos, a melhoria dos sistemas de ocultao nocturna e a atenuao
das pontes trmicas sero de privilegiar.
OBRAS DE CONSERVAO E REPARAO DA COBERTURA
121
Nestas preocupaes necessrio no descurar a importncia da ventilao como
forma de diminuir a humidade relativa interior. Os locais interiores e onde h maior
produo de vapor devero ser ventilados.
Esta necessidade torna-se mais importante medida que as caixilharias so mais
estanques.
Ao nvel do conforto acstico adoptar-se- uma abordagem semelhante referida
em termos de conforto trmico.
A satisfao das exigncias mnimas est muito condicionada pela qualidade
construtiva que deve ser adequadamente controlada.
Na reabilitao defender-se-o intervenes muito mais selectivas, procurando,
com custos moderados, melhorias significativas de desempenho. Realam-se o
isolamento entre pisos e entre fraces passvel de alcanar por recurso a sistemas leves,
bem como, ao nvel da envolvente o reforo do isolamento das caixilharias sempre que
estas constituam fragilidades
O conforto acstico ser melhorado reforando o isolamento entre pisos por
actuao nos tectos ou pavimentos, entre fraces e entre compartimentos com
ocupaes diferenciadas.
Na envolvente a melhoria das caixilharias poder ser decisiva para uma
diferenciao positiva dos nveis de conforto.
Sem descaracterizar o telhado, pode-se melhorar significativamente o desempenho
da cobertura mediante a introduo de forros, camadas isolantes sob ou sobre estes
forros e camadas impermeabilizantes, que complementam a funo das telhas.
O controlo de humidades feito pelos isolamentos, impermeabilizao, pela
ventilao e renovao do ar da cobertura e pelo correcto desempenho da cobertura.
Contudo necessrio e ser sempre benfico impermeabilizar as madeiras e os metais
com materiais prprios para tirar melhor partido deles e maior durabilidade. O recurso a
sub - telha de chapa ondulada de fibrocimento ou carto asfltico, deve garantir a
ventilao do desvo do telhado pelas caractersticas inerentes ao material ou atravs de
um sistema de ventilao; uma adequada aplicao nas zonas de remate, em cumeeira,
lars, rinces, e beirados; que a gua das chuvas que escorre pelo telhado seja escoada
pela telha. Outra soluo, consiste num forro com contraplacado sobre o qual se aplica
OBRAS DE CONSERVAO E REPARAO DA COBERTURA
122
uma tela microperfurada, impermevel gua da chuva mas permevel ao vapor da
gua. Devem ser colocadas telhas de ventilao e passadeiras que permitam
simultaneamente a ventilao do desvo da cobertura e a circulao e acesso a zonas de
cobertura que necessitem de reparao de algorozes, remates de chamins e clarabias.
7.5.12 Obras de serralharia civil
As obras de serralharia civil, tero maior ateno ao reforo das estruturas de
madeira com o reforo das ligaes e tambm na construo e colocao de caleiras e
tubos de queda, para melhoramento da estanqueidade da cobertura, tambm tero
particular ateno nas juntas dos vos. Estes tambm tero que ter particular ateno ao
restante edifcio, onde necessrio substituir algumas ferragens e melhorar a qualidade
e proteger alguns metais que j se encontram degradados.
7.5.13 Trabalhos de vidraceiro
Os trabalhos de vidraceiro sero dedicados essencialmente, clarabia, existente
na zona de escadas de acesso ao primeiro piso; ai tambm necessrio trabalho de
serralharia civil. No caso dos trabalhos de vidraceiro, sero mais incisivos no resto do
edifcio, em janelas e portas envidraadas, no seu isolamento e substituio de vidros
partidos.
7.5.14 Sistemas e instalaes tcnicas
As instalaes encontradas no vo do edifcio caso de estudo, tambm
merecem particular ateno, e antes de se comear por um melhoramento e substituio
dos materiais, necessrio proceder s instalaes de todo o equipamento encontrado na
cobertura. Com este melhoramento, facilitar os trabalhos da reabilitao da cobertura,
como futuramente tambm ajudar na limpeza dos vos.
OBRAS DE CONSERVAO E REPARAO DA COBERTURA
123
Figura 71 Mau exemplo da rede elctrica na cobertura actual do Convento
7.5.15 Colocao dos materiais em obra
A colocao dos materiais em obra ser num estaleiro construdo para o efeito,
que dever cumprir todas as normas regulamentadas, de forma a conseguir-se a melhor
qualidade da obra e segurana.
OBRAS DE CONSERVAO E REPARAO DA COBERTURA
124
7.6 - Referncias Bibliogrficas
[1] - Ramalhete, F. e Silva, F. - O que fazer para preservar a arquitectura tradicional;
Casas de Portugal n. 36, Outubro-Novembro de 2002, pp.28
[2] - Parisi M.A.; Piazza M. Mechanics of plain and retrofitted traditional timber
connections. J Struct Engrg.. ASCE, 2000, 126 (12): pp. 1395 1403.
[3] Costa F.P. - Enciclopdia Prtica da Construo Civil. Edio do Autor.
Depositria Portuglia Editora. 1955, Lisboa.
[4] Branco, J. et al. - Portuguese traditional timber trusses: static and dynamic
behaviour.Report E-19/05. DECivil, University of Minho, 2005, pp. 50.
[5] LOBO, Susana, Sistemas de drenagem pluviais de coberturas inclinadas, 2002
ANLISE DA ESTRUTURA PELO MTODO DOS ELEMENTOS FINITOS
125
8 ANLISE DA ESTRUTURA PELO MTODO DOS
ELEMENTOS FINITOS
8.1 - Introduo
Neste Captulo, apresenta-se uma anlise por elementos finitos de uma das asnas
da cobertura do Convento Franciscano, dos Paos do Concelho de Meso Frio. Do
trabalho de levantamento da cobertura, resultaram as dimenses que constam da Figura
60. Desse trabalho, foram identificadas as madeiras de que constituda a na asna
(Figura 62). Dada a impossibilidade de obter as propriedades elsticas de todos as
espcies de madeira identificadas na cobertura o que obrigaria a encetar uma operao
de caracterizao mecnica de provetes retirados da estrutura -, optou-se por efectuar a
anlise de elementos finitos, recorrendo a um nico tipo de madeira. Assim, escolheu-se
a madeira de pinho (Pinus pinaster Ait.), cujas propriedades elsticas se conhecem
(Tabela 2).
A estimativa do peso da cobertura foi realizada com base na rea de influncia
das aces aplicadas na asna (Figura 72). Assim, resultou um peso P mdio de 8575N,
para o que contribuiu o peso da telha, do ripado e das varas, para uma rea de 12,25m
2
.
O objectivo desta anlise identificar os elementos mais desfavorveis da asna,
identificando nestes, as zonas mais crticas. Assim, nos elementos mais crticos da
estrutura, apresentar-se-o, atravs de uma anlise por elementos finitos (Seco 8.2), as
ANLISE DA ESTRUTURA PELO MTODO DOS ELEMENTOS FINITOS
126
tenses normais instaladas na direco do fio da madeira (i.e. direco longitudinal na
Figura 73), f
c,0,k
, na direco perpendicular, f
c,90,k
, bem como as tenses de corte, .
Figura 72 rea de influncia sobre a asna.
Figura 73 Direces de simetria material na madeira.
Direco longitudinal (L), radial (R) e tangencial (T)
Adaptado de Dourado N (2008) [2].
ANLISE DA ESTRUTURA PELO MTODO DOS ELEMENTOS FINITOS
127
8.2 Anlise da estrutura
Nesta Seco descrevem-se os passos da anlise por elementos finitos de uma asna
da cobertura, recorrendo ao cdigo ABAQUS
.
Atendendo simetria da estrutura (Figura 60), modelou-se apenas a metade
esquerda representada na Figura 74. Assim, comeou-se por discretizar a estrutura em
715 elementos finitos isoparamtricos de 8 ns, e em 315 elementos finitos
isoparamtricos de 6-ns, contidos na livraria do ABAQUS
, com as propriedades
elsticas que se resumem na Tabela 1. Atendendo ortotropia do material (Figura 73),
impuseram-se sistemas de eixos locais, de forma a ter em linha de conta com as diversas
orientaes dos elementos da estrutura (Figuras 74 e 75). No que respeita s condies
de fronteira do modelo, restringiram-se os deslocamentos verticais da famlia de ns D
(Figura 73) junto do apoio -, e impuseram-se restrio no deslocamento horizontal da
famlia de ns E (Figura 73), para cumprirem com as condies de simetria do modelo.
Em todas as interfaces dos elementos estruturais (superfcies de contacto nas ligaes
entre elementos), restringiram-se os deslocamentos relativos de um nmero de ns
correspondente rea de contacto, com o objectivo de simular a ligao por cavilha (2
cavilhas por interface). Atendendo espessura dos elementos da estrutura (cerca de 400
mm), decidiu-se realizar a modelao em estado plano de deformao. O carregamento
da estrutura foi realizado em duas fases consecutivas. Assim, numa primeira fase,
submeteu-se a estrutura, de uma forma gradual, aco do peso prprio, considerando a
massa especfica de referncia do pinho indicada na Tabela 1 (Pinus pinaster Ait.).
Numa segunda fase, aplicaram-se, de forma gradual, deslocamentos verticais s famlias
de ns A, B e C (Figura 74), com uma intensidade correspondente ao peso total do
telhado P (Figura 72), distribudo por trs apoios. Com efeito, o procedimento de
obteno do deslocamento a impor a cada famlia de ns (A, B e C), foi apurado numa
base de tentativa - erro, at que a resultante da fora obtida em cada famlia de ns,
resultasse igual a P/3. Assim, resultaram os deslocamentos verticais 0,005, 0,085 e
0,005 (mm), na famlia de ns A, B e C, respectivamente.
ANLISE DA ESTRUTURA PELO MTODO DOS ELEMENTOS FINITOS
128
Tabela 2 - Propriedades elsticas do pinho (Pinus pinaster) e massa especfica.
In: Xavier J et al. 2004 [1]. E
L
: Mdulo de elasticidade longitudinal; E
T
:
Mdulo de elasticidade tangencial (Figura 73);
LT
: Coeficiente de Poisson; G
LT
: Mdulo de corte; : Massa especfica.
E
L
(MPa)
E
T
(MPa)
LT
G
LT
(MPa)
(kg/mm
3
)
15133 631 0,51 1042 419,565E-09
y
x
z
Figura 74 Malha de elementos finitos utilizada nas simulaes com representao das
condies de fronteira.
ANLISE DA ESTRUTURA PELO MTODO DOS ELEMENTOS FINITOS
129
Figura 75 Orientao do material (1 Longitudinal; 2 Tangencial (Figura 73)).
Do ps-processamento resultaram as configuraes deformadas ilustradas nas
Figuras 76, 77 e 78, referentes distribuio das tenses normais na direco do fio da
madeira, f
c,0,k
, na direco perpendicular ao fio, f
c,90,k
, e de corte, respectivamente.
Assim, considerando o perfil de tenses normais ilustrado na Figura 76, foi possvel
identificar a perna e a escora como os elementos da asna mais solicitados - escolha
sustentada na observao dos campos de tenso mxima, abrangendo uma rea maior.
Deve referir-se a este propsito, que a gama de tenses estimada na anlise, como
resultado das solicitaes impostas ao modelo de elementos finitos (Figuras 76, 77 e
78), no de modo a provocar a rotura, ou mesmo o dano, de qualquer elemento
estrutural. Na verdade, a intensidade das aces responsvel pela instalao de campos
de tenso com intensidade muito inferior resistncia traco em qualquer direco de
simetria material (Tabela 3). No obstante a instalao de campos de tenso
compressiva em algumas regies do modelo para as quais no se estabeleceu uma
comparao directa com a respectiva resistncia ( compresso) -, constata-se que estas
so de intensidade igualmente baixa. Assim, resolveu-se realizar uma anlise qualitativa
do estado de tenso, normalizando o perfil de tenses (f
c,0,k
, f
c,90,k
, ) instaladas ao longo
dos dorsos superior e inferior da escora e da perna (Figuras 79 a 82).
ANLISE DA ESTRUTURA PELO MTODO DOS ELEMENTOS FINITOS
130
y
x
z
Figura 76 Configurao deformada, com representao do campo das tenses
normais (f
c,0,k
) na direco do fio da madeira (MPa).
y
x
z
Figura 77 Configurao deformada, com representao do campo das tenses
normais (f
c,90
) perpendicular ao fio da madeira (MPa).
ANLISE DA ESTRUTURA PELO MTODO DOS ELEMENTOS FINITOS
131
y
x
z
Figura 78 Configurao deformada, com representao do campo das tenses de
corte () (MPa).
Tabela 3 - Resistncia traco da madeira de pinho (Pinus pinaster Ait) nas
direces Longitudinal (L), Radial (R) e Tangencial (T) [ (7) : Luis J (2004)].
u
L
(MPa) 97,5
u
R
(MPa) 7,9
u
T
(MPa) 4,2
ANLISE DA ESTRUTURA PELO MTODO DOS ELEMENTOS FINITOS
132
Figura 79 Perfis de tenso normalizados pelo valor mnimo de f
c,0,k
ao longo do dorso
superior da escora.
Figura 80 Perfis de tenso normalizados pelo valor mnimo de f
c,0,k
ao longo do dorso
inferior da escora.
Da anlise do perfil de tenses normais na direco do fio da madeira f
c,0,k
, tanto
no dorso superior da escora (Figura 79), como no dorso inferior desta (Figuras 80),
observa-se a continuidade do estado de tenso compressivo ao longo da perna,
f
c,0,k
f
c,90,k
f
c,0,k
f
c,90,k
ANLISE DA ESTRUTURA PELO MTODO DOS ELEMENTOS FINITOS
133
perturbada apenas na vizinhana das ligaes com a perna e com o pendural. A
amplitude da tenso normal f
c,0,k
, no dorso inferior mais reduzida, em virtude de se
localizar abaixo do plano neutro de carregamento. No que se refere ao perfil das tenses
tangencial e de corte (f
c,90,k
e ) observa-se que assumem valores desprezveis, tanto no
nos dorsos superior, como no inferior, sendo perturbadas apenas na vizinhana das
ligaes.
No que respeita ao perfil de tenses normais na direco do fio da madeira f
c,0,k
,
constata-se uma alternncia entre o estado de traco e de compresso, motivado pela
aco da escora. Na verdade, a tenso normal seria predominantemente compressiva no
dorso superior, caso no existisse esse apoio. A aco da escora, para alm de alterar a
configurao do perfil de tenses normais f
c,0,k
, tambm perturba, em grande medida, a
distribuio de tenses tangencial f
c,90,k
, e de corte .
Figura 81 Perfis de tenso normalizados pelo valor mnimo de f
c,0,k
ao longo do dorso
superior da perna.
f
c,90,k
f
c,0,k
ANLISE DA ESTRUTURA PELO MTODO DOS ELEMENTOS FINITOS
134
Figura 82 Perfis de tenso normalizados pelo valor mnimo de f
c,0,k
ao longo do dorso
inferior da perna.
Tendo por base a anlise dos perfis de tenso normalizada ilustrados nas Figuras
79 a 82, ainda que tenham resultado de aces (deslocamentos) conservativas, constata-
se que a tenso normal na direco do fio da madeira (de f
c,0,k
), designadamente o seu
valor mximo, corresponde grandeza mais relevante a ter em conta no diagnstico do
estado da estrutura. Com efeito, da comparao do perfil f
c,0,k
com os restantes (i.e.
f
c,90,k
, e ), conclui-se, para a maioria dos casos, que a intensidade mxima para f
c,0,k
.
Assim, conclui-se que o elemento que merece maior ateno a perna (Figura 76), por
ser o mais solicitado.
f
c,0,k
f
c,90,k
ANLISE DA ESTRUTURA PELO MTODO DOS ELEMENTOS FINITOS
135
8.3 Referncias Bibliogrficas
[1] - Xavier J, Garrido N, Oliveira M, Morais J, Camanho P , Pierron F (2004). A
comparison of shear characterization of pinus pinaster Ait. with the Iosipescu and off-
axis shear test methods. Compos. Part A; 35:7-8, pp. 827-840.
[2] Dourado N (2008), R-Curve behaviour and size effect of a quasibrittle material:
Wood. PhD Thesis. Co-tutorship Univ. Bordeaux 1 and UTAD.
CONCLUSO
136
9 - CONCLUSO
Este trabalho, desenvolveu uma metodologia para a interveno de conservao
e reabilitao que pode ser efectuada num edifico de patrimnio histrico,
particularmente nas coberturas de estrutura de madeira. Estudaram-se as caractersticas
das coberturas do sc. XVIII que asseguraram um bom desempenho e os defeitos mais
comuns e de diferente gravidade.
No decorrer dos vrios captulos do trabalho, o respeito pelo existente foi um
princpio a ter em conta. Comeou pela evoluo histrica das coberturas. De seguida,
com a carectizao do patrimnio existente no concelho onde se insere o edifcio em
estudo. No Convento dos Franciscanos do Varatojo foi efectuado a avaliao e
diagnstico das anomalias e patologias existentes, continuados na recolha fotogrfica e
de elementos de madeira in situ, de modo a ser analisados e estudados em laboratrio
com o intuito de identificar as espcies existentes na constituio da cobertura, sem
destruir ou perturbar a estabilidade da mesma e, terminou com a proposta de
interveno, nos espaos que deveriam ser reabilitados e conservados, de forma mais
adequada e compatvel com o patrimnio edificado, para que este possa ser frequentado
nas melhores condies de utilizao e segurana.
Na cobertura, a inspeco efectuada e com as anlises laboratoriais, foi possvel
verificar que as madeiras utilizadas na estrutura da cobertura eram Pinheiro Bravo,
Castanheiro e o Eucalipto, pude aperceber-me de vrias anomalias na estrutura, na
CONCLUSO
137
madeira e no revestimento, algumas delas provocadas por intervenes j efectuadas ao
longo dos anos. Foram elaboradas propostas de consolidao e conservao da
cobertura de maneira a melhorar o conforto e a estabilidade desta, propondo
simplesmente, reforar os elementos e as suas limpezas, tanto dos materiais como dos
espaos.
A realizao de uma anlise linear elstica por elementos finitos da estrutura,
visou identificar os elementos mais desfavorveis da asna, identificando nestes, as zonas
mais crticas. A utilizao de propriedades elsticas da madeira de pinho (Pinus pinaster
Ait.) para simular o comportamento mecnico de toda a estrutura, prendeu-se com a
inexistncia de um estudo complementar que visasse a caracterizao mecnica de todos
os elementos da asna (aplicado s diferentes espcies de madeira desta estrutura). Por
outro lado, no se contemplou nesta anlise, a resposta no linear caracterstica deste
material, em particular, resultante da iniciao e propagao do dano, bem como de
efeitos viscoelsticos, sempre presentes na madeira.
Assim, da anlise por elementos finitos dos elementos mais crticos da asna,
designadamente pela observao dos perfis das tenses instaladas ao longo dos dorsos
superior e inferior daqueles elementos, constatou-se que a tenso normal na direco do
fio da madeira a grandeza mais relevante a ter em conta no diagnstico da estrutura.
Deste modo, concluiu-se que o elemento que merece maior ateno a perna, por se o
mais solicitado.
Com as solues encontradas e sugeridas, tentou-se preservar e conservar ao a
identidade da construo, salvaguardando o seu valor histrico e arquitectnico,
adoptando solues pouco intrusivas na conservao e reforo das estruturas de
madeira, como de todo o edifcio em geral, sempre com a particular ateno de provocar
o menor impacte, na autenticidade e valor histrico do edifcio original.
BIBLIOGRAFIA
138
10 BIBLIOGRAFIA
- BLECHA, Karen Anris, Ensino de estruturas de madeira para engenheiros civis: as
imagens de coberturas ao longo da histria como contribuio para compreender a
realidade dos processos construtivos actuais, 2008.
- COURTNAY, L.T. Timber Roofs and Spires, in Architectural technology up to the
scientific revolution : the art and structure of large scale Buildings; the MIT Press,
Cambridge, Massacusetts, London, 1994;
- J. RONDELET, Tome quatrime, Trait, Theorique et pratique de lrt de batir.
- BRANCO, Jorge; SANTOS, Ana; CRUZ, Paulo, Asnas tradicionais de madeira,
evoluo, comportamento e reforo com materiais compsitos.
- VILLALBA, Antnio Cestro, Historia de la construcion arquitectnica, Edicions de
la universitat politcnica de Catalunya, SC, Barcelona, 1995.
- ARRIAGA, F.; Peraza, F.; Esteban, M.; Bobadilla, I.; e Garca, F. - Intervencion en
estruturas de madera - AITIM, de 22 de Fevereiro de 2002
- FRANCO, E. S. - Conservao de Madeiras em Edifcios A defesa das madeiras
serradas contra ataques de insectos xilfagos - LNEC Documento
- Estruturas de madeira, reabilitao e inovao, Gecorpa, 2000
BIBLIOGRAFIA
139
- Departamento de Construo da Universidade Politcnica de Madrid (DCTA-UPM) -
Patologa y Tcnicas de Intervencin. Elementos Estructurales - Munilla-lera,, Agosto
de 1998
- SUMMAVIELLE, E. e Passos, J. M. S. - Carta de Cracvia 2000 Princpios para a
Conservao e Restauro do Patrimnio Construdo - Divulgao da Direco Geral dos
Edifcios e Monumentos Nacionais, Outubro de 2003
- PEREIRA, Vasco; MARTINS, Joo, Materiais e tcnicas de construo, 2005
- BRANCO, Jorge M. Cruz, Asnas de madeira, a importncia da rigidez das ligaes,
Engenharia de estruturas, 2006
- LOPES, Flvio; CORREIA, Miguel Brito, Patrimnio arquitectnico e arqueolgico,
2004
- BONELLI, Rmulo; DELPINO, Rossana, Manual pratico conservao de telhados,
IPHAN/ Monumenta
- MIOTTO, Jos; DIAS, Antnio, Reforo e recuperao de estruturas de madeira, 2006
- OLIVEIRA, Bernardino, Vieira, Breve Monografia do concelho de Meso Frio,
Edio Cmara Municipal de Meso Frio, (2002)
- DIAS, Antnio Gonalves, Fastos de Meso Frio, Edio Santa Casa da Mesiricrdia
de Meso Frio, (1999)
- In http://www.ine.pt
- DIAS, Antnio Gonalves, Fastos de Meso Frio Crnicas escritas guisa de
Monografia, umas publicadas outras inditas, redigidas entre 1994 e 1997 Histria
local das Origens Actualidade, ed. Santa Casa da Misericrdia, Governo Civil de Vila
Real, BTA e CGD, Meso Frio, 1998.
- ALMEIDA, Fortunato de, Histria da Igreja em Portugal, Imprensa da Universidade,
Coimbra, 1922-1929; Vol. II.
BIBLIOGRAFIA
140
- DIAS, Antnio Gonalves, Opus cit. n 1, pp. 159; TEIXEIRA, Ricardo, Antigo
Convento de So Francisco Igreja de Santa Cristina, pp. 6, www.monumentos.pt,
2001.
- REMA, Henrique, A Ordem Franciscana em Trs-os-Montes, in Estudos
Transmontanos e Durienses, Vol. 7, Vila Real, 1985.
- VIEIRA DE OLIVEIRA, Bernardino, Breve Monografia do Concelho de Meso Frio
(1152-2002), ed. C.M. Meso Frio, 2002.
- TEIXEIRA, Ricardo, Antigo Convento de So Francisco Igreja de Santa Cristina,
pp. 7, www.monumentos.pt, D.G.E.M.N., 2001.
- VIEIRA DE OLIVEIRA, Bernardino, Opus cit. n 5.
- TEIXEIRA, Ricardo, Opus cit. n 6.
- DIAS, Antnio Gonalves, Opus cit. n 1.
- ROMANA, Rodrigues, Construes antigas de madeira: Experiencia e obra e reforo
estrutural, 2004.
- LOBO, Susana, Sistemas de drenagem de guas pluviais de coberturas inclinadas,
2002
- PEREIRA, Vasco; MARTINS, Joo; Materiais e tcnicas de construo, 2005.
- www.lnec.pt
- Http://engenhariacivil.wordpress.com
- Ramalhete, F. e Silva, F. - O que fazer para preservar a arquitectura tradicional;
Casas de Portugal n. 36, Outubro-Novembro de 2002.
- Parisi M.A.; Piazza M. Mechanics of plain and retrofitted traditional timber
connections. J Struct Engrg.. ASCE, 2000.
- Costa F.P. - Enciclopdia Prtica da Construo Civil. Edio do Autor. Depositria
Portuglia Editora. 1955, Lisboa.
BIBLIOGRAFIA
141
- Branco, J. et al. - Portuguese traditional timber trusses: static and dynamic
behaviour.Report E-19/05. DECivil, University of Minho, 2005.
- Xavier J, Garrido N, Oliveira M, Morais J, Camanho P , Pierron F (2004). A
comparison of shear characterization of pinus pinaster Ait. with the Iosipescu and off-
axis shear test methods. Compos. Part A; 35:7-8, pp. 827-840.
- Dourado N (2008), R-Curve behaviour and size effect of a quasibrittle material: Wood.
PhD Thesis. Co-tutorship Univ. Bordeaux 1 and UTAD.
Você também pode gostar
- Apostila Secagem CompletaDocumento119 páginasApostila Secagem CompletaArthur NogueiraAinda não há avaliações
- TCC - Wood FrameDocumento84 páginasTCC - Wood FrameJhonatta Willian100% (1)
- Projeto Básico Digitalização 4.7 SJD e STIDocumento32 páginasProjeto Básico Digitalização 4.7 SJD e STIMario SantanaAinda não há avaliações
- Questionário 01e 02 Conforto AmbientalDocumento3 páginasQuestionário 01e 02 Conforto AmbientalWuesley VanniAinda não há avaliações
- Plano Museologico MNBADocumento58 páginasPlano Museologico MNBAFernanda Pitta100% (1)
- Apostila Tecnologia Da MadeiraDocumento23 páginasApostila Tecnologia Da MadeiraGisele PaimAinda não há avaliações
- Arquivo 02 - Anatômia e Qualidade e Da Madeira-Agosto2007Documento272 páginasArquivo 02 - Anatômia e Qualidade e Da Madeira-Agosto2007Karla Daniele Souza100% (1)
- JARDIM VERTICAL DE PALLET - Decoratividade PDFDocumento3 páginasJARDIM VERTICAL DE PALLET - Decoratividade PDFMJoanaDuarteAinda não há avaliações
- Sistematização Do Processo de Desenvolvimento Integrado de Moldes de Injeção PDFDocumento305 páginasSistematização Do Processo de Desenvolvimento Integrado de Moldes de Injeção PDFErick100% (1)
- Estilos de Mobiliário 2Documento4 páginasEstilos de Mobiliário 2carlos_ribeiro_68Ainda não há avaliações
- Madeiras e DerivadosDocumento9 páginasMadeiras e DerivadosPedro MalheiroAinda não há avaliações
- Equipe 15 - Planador Pássaro AmazônicoDocumento26 páginasEquipe 15 - Planador Pássaro Amazôniconatanm39Ainda não há avaliações
- Manual Da MadeiraDocumento57 páginasManual Da MadeiraLeonardo PicinattoAinda não há avaliações
- Gropius e A Bauhaus / Escola de UlmDocumento18 páginasGropius e A Bauhaus / Escola de Ulmwagnerboamorte6160100% (1)
- Preservação de Patrimônio - Primeiros ConceitosDocumento34 páginasPreservação de Patrimônio - Primeiros ConceitosAline TerraAinda não há avaliações
- Preservação de MadeirasDocumento31 páginasPreservação de MadeirasJane AneAinda não há avaliações
- Sistema Stella UfscDocumento87 páginasSistema Stella UfscVitoria Maria100% (1)
- Projeto e Execução de Um Móvel de Múltiplo Uso Confeccionado em Madeira de ReflorestamentoDocumento64 páginasProjeto e Execução de Um Móvel de Múltiplo Uso Confeccionado em Madeira de ReflorestamentoMaria JúliaAinda não há avaliações
- Azul Na Ceramica PortuguesaDocumento28 páginasAzul Na Ceramica PortuguesaTania SaraivaAinda não há avaliações
- Afonso, Octávio - Arquivo Fotográfico Da CP. Descrição e Preservação de FotografiasDocumento123 páginasAfonso, Octávio - Arquivo Fotográfico Da CP. Descrição e Preservação de FotografiasAna paivaAinda não há avaliações
- Painéis de Partículas de Madeira e de Materiais LignocelulósicosDocumento328 páginasPainéis de Partículas de Madeira e de Materiais LignocelulósicosBeatriz SilvaAinda não há avaliações
- Projeto Arquitetônico I - ConceitosDocumento5 páginasProjeto Arquitetônico I - ConceitosCatarina VieiraAinda não há avaliações
- Teoria Rest.Documento33 páginasTeoria Rest.Janaina Oliveira67% (3)
- Anatomia Da Madeira-MonografiaDocumento45 páginasAnatomia Da Madeira-Monografiamperesc13Ainda não há avaliações
- FCRB MI Mapa de Danos de Edificios Historicos de Tijolos A VistaDocumento83 páginasFCRB MI Mapa de Danos de Edificios Historicos de Tijolos A VistaSilvana BorgesAinda não há avaliações
- Comparativo de Sistemas Construtivos, Convencional e Wood Frame em Residências UnifamiliaresDocumento17 páginasComparativo de Sistemas Construtivos, Convencional e Wood Frame em Residências UnifamiliaresGuilherme VieiraAinda não há avaliações
- Trabalho Técnico GessoDocumento25 páginasTrabalho Técnico GessoFúlvio Ferreira BorgesAinda não há avaliações
- Materiais SustentáveisDocumento21 páginasMateriais SustentáveisTelma Moura100% (1)
- JoanFontBalleste REVDocumento218 páginasJoanFontBalleste REVleonelAinda não há avaliações
- Apostila MadeiraDocumento67 páginasApostila MadeiraCristina Resende100% (1)
- Aula 04 Vegetação No Projeto Mais 2017Documento149 páginasAula 04 Vegetação No Projeto Mais 2017Rafael Jimenez Arquitetura E DesignAinda não há avaliações
- Pedra e Cal - 29 PDFDocumento56 páginasPedra e Cal - 29 PDFJosé Fonseca100% (1)
- Cesare Brandi X Salvador MunozDocumento18 páginasCesare Brandi X Salvador MunozJuliana HelenaAinda não há avaliações
- Análise de Inchamento, Contração e Retratibilidade Linear de Duas Espécies FlorestaisDocumento9 páginasAnálise de Inchamento, Contração e Retratibilidade Linear de Duas Espécies FlorestaisJefeCkkAinda não há avaliações
- Como Montar Uma Oficina de MoldurasDocumento29 páginasComo Montar Uma Oficina de MoldurasLeandro SilvaAinda não há avaliações
- Adição de Poliuretano Expandido para A Confecção de Blocos de Concreto LeveDocumento2 páginasAdição de Poliuretano Expandido para A Confecção de Blocos de Concreto LevepriscillabaAinda não há avaliações
- Estuque OrnamentalDocumento31 páginasEstuque OrnamentalUlisses ColiAinda não há avaliações
- Como Construir Um TelhadoDocumento5 páginasComo Construir Um TelhadoDavi SilvaAinda não há avaliações
- Tópicos em Conservação Preventiva - Caderno 6Documento43 páginasTópicos em Conservação Preventiva - Caderno 6Ana RamosAinda não há avaliações
- Tintas Vernizes BetumesDocumento4 páginasTintas Vernizes BetumesPedro MalheiroAinda não há avaliações
- Livro Sobre Ceramica Portuguesa Oleiro OlariaDocumento190 páginasLivro Sobre Ceramica Portuguesa Oleiro OlariaAndreEcojama100% (1)
- 5 - Projeto de Vigas em FlexaoDocumento10 páginas5 - Projeto de Vigas em Flexaoheitor29Ainda não há avaliações
- Reconhecimento de Riscos de ArvoresDocumento2 páginasReconhecimento de Riscos de Arvoreswzuckerj491Ainda não há avaliações
- Arquitetura em MadeiraDocumento6 páginasArquitetura em MadeiraLuiz Cláudio SantanaAinda não há avaliações
- Manual Peq Reparos LivrosDocumento50 páginasManual Peq Reparos LivrosPriscila Fernandes100% (1)
- Concreto Translúcido: Como ver através de paredes? Usando nano óptica e misturando concreto fino e fibras ópticas para iluminação durante o dia e a noiteNo EverandConcreto Translúcido: Como ver através de paredes? Usando nano óptica e misturando concreto fino e fibras ópticas para iluminação durante o dia e a noiteAinda não há avaliações
- Inicios da Renascença em Portugal: Quinta e Palacio da Bacalhôa em Azeitão: Monographia historico-artisticaNo EverandInicios da Renascença em Portugal: Quinta e Palacio da Bacalhôa em Azeitão: Monographia historico-artisticaAinda não há avaliações
- Resíduos Sólidos: Desafios & OportunidadesNo EverandResíduos Sólidos: Desafios & OportunidadesAinda não há avaliações
- Christina Tereza Portelada Bandeira - Tese de Mestrado - 172 834Documento163 páginasChristina Tereza Portelada Bandeira - Tese de Mestrado - 172 834João BoscoAinda não há avaliações
- Trabalho de ConservaçaoDocumento24 páginasTrabalho de ConservaçaoPaulo JorgeAinda não há avaliações
- TCC05 Petronila, Cláudia (2015) - Reutilização Dos Contentores Marítimos Na ArquiteturaDocumento197 páginasTCC05 Petronila, Cláudia (2015) - Reutilização Dos Contentores Marítimos Na ArquiteturaIsaías NPAinda não há avaliações
- Á Procura Do Inquérito - Construções Sobre PalafitasDocumento121 páginasÁ Procura Do Inquérito - Construções Sobre PalafitaspatriciattakAinda não há avaliações
- Tese Coberturas FEUPDocumento203 páginasTese Coberturas FEUPMiguelSantosAinda não há avaliações
- Conservação e Restauro de Madeira PolicromadaDocumento142 páginasConservação e Restauro de Madeira PolicromadaJessica Ohara100% (1)
- 2.0 Caderno Tecnico - II - v02 - RuínaDocumento40 páginas2.0 Caderno Tecnico - II - v02 - RuínaIGOR ANDRADE AZEVEDOAinda não há avaliações
- Modelação de Paredes de Edifícios PombalinosDocumento97 páginasModelação de Paredes de Edifícios PombalinosJoão PrimaveraAinda não há avaliações
- Análise Do Comportamento Sismico Do Convento de Santa Maria de Aguiar Atraves Do Metodo Dos Elementos FinitosDocumento80 páginasAnálise Do Comportamento Sismico Do Convento de Santa Maria de Aguiar Atraves Do Metodo Dos Elementos Finitosmiguel8319Ainda não há avaliações
- Pereira UnlDocumento155 páginasPereira UnlCipriano Irasmo da SilvaAinda não há avaliações
- Trilhos No Oblívio 0.1Documento13 páginasTrilhos No Oblívio 0.1Hugo BarbosaAinda não há avaliações
- As Nove Contemplacoes de Atisha Roshi Joan HalifaxDocumento11 páginasAs Nove Contemplacoes de Atisha Roshi Joan HalifaxMaria Cláudia S. LopesAinda não há avaliações
- Alexandre Dal Farra - o Filho - FinalDocumento52 páginasAlexandre Dal Farra - o Filho - FinalMário CôrtesAinda não há avaliações
- Não Tenho TempoDocumento2 páginasNão Tenho TempoAnnYves100% (1)
- Como Salvar Uma Vida - Sara Zarr PDFDocumento204 páginasComo Salvar Uma Vida - Sara Zarr PDFAnne Kellen Queiroz IIAinda não há avaliações
- g36 g38Documento80 páginasg36 g38Victor ClaudioAinda não há avaliações
- Variacoes - Linguisticas Sem RespostasDocumento12 páginasVariacoes - Linguisticas Sem Respostasjulia pfAinda não há avaliações
- Avaliação Atenção e Funções ExecutivasDocumento49 páginasAvaliação Atenção e Funções Executivasandreia neuroped80% (5)
- A Lei Da GratidãoDocumento120 páginasA Lei Da GratidãoFrancisco Jurandir JurandirAinda não há avaliações
- A Arte de MorrerDocumento8 páginasA Arte de MorrerElgo SchwinnAinda não há avaliações
- A Linguagem CenograficaDocumento122 páginasA Linguagem CenograficaDeborah BeckmanAinda não há avaliações
- Análise Estatística Completa Com o SpssDocumento32 páginasAnálise Estatística Completa Com o Spsscarolive50% (2)
- A Gestao Compartilhada Na Escola PublicaDocumento51 páginasA Gestao Compartilhada Na Escola Publicaalissompa100% (4)
- Relatório Físexp - Clarissa CardosoDocumento7 páginasRelatório Físexp - Clarissa CardosoClarissa CardosoAinda não há avaliações
- Sinopse Do Filme O Fabuloso Destino de Amélie PoulainDocumento4 páginasSinopse Do Filme O Fabuloso Destino de Amélie PoulainGraziela Pondé CicogniniAinda não há avaliações
- O Tesouro de Vix 1Documento6 páginasO Tesouro de Vix 1BellouesusAinda não há avaliações
- Ultra AprendizadoDocumento263 páginasUltra AprendizadoTIAGO LUIS NASCIMENTO MARQUESAinda não há avaliações
- Juventude e Adolescência - Conceitos Preliminares PDFDocumento8 páginasJuventude e Adolescência - Conceitos Preliminares PDFAriane SerpeloniAinda não há avaliações
- A Filosofia de Paul Ricoeur Temas e PercursosDocumento35 páginasA Filosofia de Paul Ricoeur Temas e PercursosPEDRO HENRIQUE CRISTALDO SILVAAinda não há avaliações
- Recomendacao003 Memorial Descritivo Projeto Estrutural Online PDFDocumento25 páginasRecomendacao003 Memorial Descritivo Projeto Estrutural Online PDFDiego AraújoAinda não há avaliações
- 01 - Construindo DesejosDocumento480 páginas01 - Construindo DesejosLuana Nunes Chaves50% (2)
- Funçoes Do Ensino de MusicaDocumento121 páginasFunçoes Do Ensino de MusicaHermetak Sabiá da Laranjeira100% (1)
- Lista5 - CInematicaDocumento6 páginasLista5 - CInematicaMichel VarjãoAinda não há avaliações
- O Imitador de Homens - Walter TevisDocumento281 páginasO Imitador de Homens - Walter Tevisgabriel gonçalves100% (1)
- Afirmações e Pensamentos Poderosos - Tradução Da Louise L. HayDocumento12 páginasAfirmações e Pensamentos Poderosos - Tradução Da Louise L. HayPaula Sofia Sousa100% (2)
- Atividade Sobre Pronomes 3º AnoDocumento4 páginasAtividade Sobre Pronomes 3º AnoArthurzin md10xboxAinda não há avaliações
- Atuação de Engenheiros de Controle e Automação No Setor de Petróleo e GásDocumento6 páginasAtuação de Engenheiros de Controle e Automação No Setor de Petróleo e GásAndersands FlauzinoAinda não há avaliações
- Tratado Do Purgatorio Sta Catarina de Genova PDFDocumento25 páginasTratado Do Purgatorio Sta Catarina de Genova PDFClaudiany100% (1)
- Violino SuzukiDocumento57 páginasViolino SuzukiMichelle Ortega80% (5)
- FURTADO FILHO Manuais de Iniciação Aos Estudos HistóricosDocumento12 páginasFURTADO FILHO Manuais de Iniciação Aos Estudos HistóricosJulia CharlesAinda não há avaliações