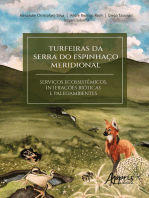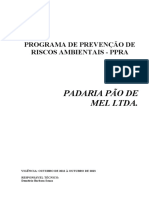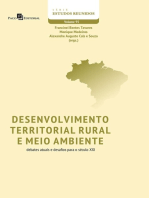Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Comercialização Agrícola
Comercialização Agrícola
Enviado por
Alzirene Vasconcelos MilhomemTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Comercialização Agrícola
Comercialização Agrícola
Enviado por
Alzirene Vasconcelos MilhomemDireitos autorais:
Formatos disponíveis
COMERCIALIZAO AGRCOLA 1
UNIVERSIDADE TECNOLGICA FEDERAL DO PARAN
PR
Ministrio da Educao
Universidade Tecnolgica Federal do Paran
Campus Pato Branco
Curso de Agronomia
COMERCIALIZAO AGRCOLA
JUDAS TADEU GRASSI MENDES
i
- Professor titular da UFPR
- Phd em Economia Rural pela Ohio State University
Autorizao de uso:
Prof. MIGUEL ANGELO PERONDI
Disciplina de Economia e Desenvolvimento
Agrcola
3 ano da Agronomia
Pato Branco - PR
2007
i
O autor contou com a inestimvel contribuio da professora VANIA DI ADDRIO GUIMARES, pela
sua participao tcnica e na editorao.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 2
SUMRIO
1 - INTRODUO............................................................................................ 04
1.1 - Justificativa do estudo da comercializao................................................. 04
1.2 - Evoluo do sistema de comercializao.................................................... 05
1.3 - Conceitos bsicos........................................................................................ 06
1.4 - O agribusiness brasileiro............................................................................. 07
1.5 - A comercializao e o desenvolvimento.................................................... 13
1.6 - O papel da comercializao........................................................................ 15
1.7 - Dualismo tecnolgico na comercializao................................................. 15
1.8 - A comercializao nos pases em desenvolvimento................................... 16
1.9 - Caractersticas da produo e do mercado agrcola.................................... 17
2 - MTODOS DE ANLISE DA COMERCIALIZAO......................... 17
2.1 - Anlise funcional........................................................................................ 17
2.1.1 - Funes de troca.......................................................................... 17
2.1.2 - Funes fsicas............................................................................. 18
2.1.3 - Funes auxiliares....................................................................... 30
2.2 - Anlise institucional................................................................................... 38
2.2.1 - O ramo de distribuio de alimentos no Brasil........................... 39
2.2.2 - Integrao horizontal e vertical................................................... 41
2.3 - Anlise estrutural....................................................................................... 42
2.3.1 - Estrutura de mercado................................................................... 42
2.3.2 - Conduta de mercado.................................................................... 52
2.3.3 - Eficincia do mercado................................................................. 53
2.3.4 - Processo de comercializao....................................................... 53
2.3.5 - Canal de comercializao............................................................ 54
3 - CUSTOS, MARGENS E MARKUPS DE COMERCIALIZAO... 57
3.1 - Custos de comercializao......................................................................... 57
3.2 - Margens de comercializao...................................................................... 57
3.2.1 - Margem bruta de comercializao............................................... 57
3.2.2 - Margem lquita de comercializao............................................. 57
3.3 - Markup de comercializao........................................................................ 60
3.4 - Fatores que afetam a margem de comercializao..................................... 61
3.5 - Anlise grfica das margens....................................................................... 62
3.6 - A conta(despesas) da comercializao no tempo................................... 66
4 - ANLISE DE PREOS AGRCOLAS.................................................... 67
4.1 - Caracterstica bsica dos preos agrcolas................................................. 67
4.2 - Funes dos preos agrcolas..................................................................... 67
4.3 - Anlise temporal dos preos agrcolas....................................................... 68
4.3.1 - Anlise de tendncia.................................................................... 68
4.3.2 - Anlise de sazonalidade dos preos............................................ 71
4.3.3 - Anlise dos ciclos........................................................................ 80
4.3.4 - Anlise de aleatoriedade.............................................................. 80
5 - ALTERNATIVAS OU ESTRATGIAS DE COMERCIALIZAO.. 81
6 MERCADO A TERMO.............................................................................. 86
7 POLTICAS DE MERCADO AGRCOLA............................................... 94
COMERCIALIZAO AGRCOLA 3
PREFACIO 1
a
EDIO
A presente apostila tem como objetivo fornecer um material didtico, ainda
que parcial, para consulta e estudo dos estudantes e profissionais em cincias
agrrias, em especial da UFPr.
O autor pretende, em futuro breve, detalhar e expandir esse material
tranformando-o em um livro-texto que melhor atenda as reais necessidades dos
interessados em aperfeioar seus conhecimentos neste importante campo.
A abordagem da comercializao agrcola est subdividida, neste trabalho,
em sete partes. A primeira, considerada como uma introduo, analisa aspectos
como justificativa do estudo da comercializao, evoluo do sistema de
comercializao, conceitos bsicos, importncia do agribusiness, a comercializao
e o desenvolvimento econmico, papel da comercializao, dualismo tecnolgico na
comercializao, a comercializao nos pases em desenvolvimento e
caractersticas da produo agrcola e do mercado agrcola. A segunda parte aborda
os mtodos de anlise da comercializao, tais como funcional, institucional e
estrutural. A terceira analisa os custos e margens de comercializao. A quarta faz
uma anlise de comportamento de preos. A quinta parte enfoca as alternativas ou
estratgias de comercializao. A sexta se preocupa com o mercado a termo:
Hedging; e a stima analisa as polticas de mercado.
Curitiba, 1996.
O AUTOR
COMERCIALIZAO AGRCOLA 4
1 - INTRODUO
1.1 - JUSTIFICATIVA DO ESTUDO DA COMERCIALIZAO
Entre as vrias situaes que levam gerao e implementao de um
programa de desenvolvimento agrcola esto o desajuste entre o crescimento da
demanda e o da produo e o desequilbrio entre a produo para o mercado
interno e a do externo. Esta falta de resposta da produo ante uma demanda
crescente pode ser devido a: falta de incentivos econmicos (relao preo-custo),
escassez de recursos, caractersticas estruturais (desajuste na estrutura de
propriedade da terra), estabilidade monetria, e sistema de comercializao
ineficientes.
O sistema de comercializao inclui desde a existncia de uma rodovia ou
ferrovia, ao estabelecimento e funcionamento de um poder comprador, ou a
instalao de uma planta agroindustrial ou de um centro de armazenamento.
Este aspecto de extraordinria importncia e muitas vezes constitui um dos
principais pontos para a expanso da produo nos pases subdesenvolvidos. Com
efeito, pode existir demanda efetiva e condies de disponibilidade de recursos,
tcnica e capacidade empresarial para fazer crescer a oferta com relao a essa
demanda. Mas, geograficamente, o crescimento da demanda pode estar
concentrado em um ponto (zonas urbanas) e o crescimento da oferta em outro
(zonas rurais), freqentemente muito distanciadas dos centros de consumo, e sem
as conexes fsicas e comerciais adequadas entre elas. E, nesta situao, a oferta
no crescer, ainda que haja uma adequada relao preos-custos e no existam
obstculos do tipo institucional para impossibilidade de comunicao.
Este fato que vale, em geral, para todo tipo de produo, adquire uma
extraordinria importncia na produo agrcola. Nesta, por exemplo, a demanda de
certos produtos pode crescer menos que sua oferta e, alm disso, ainda que
demanda e produo cresam igualmente nos mesmos perodos, a grande
perecibilidade dos produtos agropecurios faz com que no possam ser enviados
dos centros de produo aos centros de consumo se no h meios de transporte
adequados e rpidos, ou se no os submete a certos processos de transformao
que aumentam sua durabilidade.
Isto explica o extraordinrio efeito dinmico e mutiplicativo do processo de
desenvolvimento que tem, para certas regies agrcolas, a construo de um
rodovia ou ferrovia, a instalao de um frigorfico ou de uma indstria de
processamento de frutas ou a industrializao do leite.
Em todos estes casos existiam condies de demanda efetiva e oferta
latente, mas faltava o meio adequado de comunicao entre elas. E apenas este
meio se instala e comea a funcionar, a oferta se desenvolve quase que
automaticamente.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 5
Neste assunto vale a pena mencionar que no s a falta de meios fsicos
de comunicao, industrializao ou razes de armazenamento que pode constituir
um obstculo ao maior desenvolvimento da produo agropecuria. O
funcionamento ineficiente do sistema de comercializao, ainda que existam os
meios fsicos, pode atuar no mesmo sentido. Falta, por exemplo, de recursos
econmicos suficientes, prprios ou obtidos em forma de crdito, do poder
comprador, pode inibir o crescimento da produo, ainda que todas as demais
condies favorveis sejam dadas. Da mesma forma, pode atuar um poder
comprador do tipo monopsnico para o mercado interno ou a exportao que
pretenda deprimir os preos que obtm os produtos em seu prprio benefcio, ou um
poder comprador que no consiga regular os preos de modo a evitar as excessivas
flutuaes destes, dando assim, insegurana aos produtores.
1.2 - EVOLUO DO SISTEMA DA COMERCIALIZAO
A anlise histrica do desenvolvimento das atividades de comercializao
auxilia explicar alguns conceitos e instituies contemporneas, principalmente no
caso especfico do Brasil, onde segmentos ainda muito primitivos, se mantm ao
lado de setores ultramodernos.
Historicamente, a comercializao apresentou seis estgios:
a) Auto-suficincia (econmica dentro do grupo).
b) Produo de excedente para o mercado local (era medieval).
c) Produo de excedente para o mercado externo (era mercantilista).
d) Melhoria na produo da utilidade de forma (revoluo industrial).
e) Empresariado voltado para o setor de consumo.
f) Empresariado voltado para o "marketing".
BREIMEYER classifica a evoluo do processo de comercializao em
quatro estgios:
a) Auto-suficincia
b) Organizao agrria
c) Organizao Agrcola
d) Organizao Industrial
No primeiro estgio, mesmo os mais elementares tipos de mercado eram
inexistentes. A auto-suficincia era obtida dentro do grupo social.
A caracterstica dos trs primeiros estgios que os recursos produtivos e a
demanda eram variveis puramente exgenas, onde o mercado no funcionava
como coordenador das atividades de produo.
Conforme COELHO, a natureza exgena da produo e da demanda
juntamente com a doutrina de uma economia auto-regulada veio a perder
substncia no ltimo estgio de evoluo do sistema de comercializao. Neste
estgio, o advento de unidades econmicas integradas e o uso intensivo de capital
COMERCIALIZAO AGRCOLA 6
vieram reduzir, substancialmente, no somente o papel do mercado como regulador
da economia mas tambm a "separao" anteriormente existente entre produo e
demanda. Particularmente, as empresas passaram a ter maior poder de deciso e o
sistema econmico como um todo passou a depender mais do esquema de
comercializao. A utilizao de meios para influenciar o comportamento do
mercado gradativamente transformou a comercializao de um papel meramente
passivo, de subordinao completa s foras de oferta e demanda, em uma fora
operacional e dinmica com muito mais instrumentos e reas de ao, traduzidos
em maior poder.
A utilizao de recursos, tecnologia, planejamento e o papel crescente do
setor pblico so as caractersticas bsicas da organizao industrial.
Neste ltimo estgio duas atividades tem sido largamente desenvolvidas. A
primeira o uso intensivo de capital e tecnologia visando a transformao dos
recursos disponveis e faze-los capazes de usos altamente variados. A segunda
envolve o uso de tcnicas de persuaso para criar e/ou modificar a escala de
preferncias dos consumidores, a fim de induzi-los a desejar o que seja mais factvel
de ser produzido.
Uma outra caracterstica deste estgio a tendncia das empresas tornarem-
se de maior tamanho e mais integradas, ou seja, na direo da integrao horizontal
e vertical. Est-se passando, portanto, de um sistema composto por firmas
independentes orientadas para o mercado para um sistema de firmas integradas
orientadas tambm para o mercado.
Em concluso, constata-se que o incio da comercializao comeou com a
gerao de excedente de produo, fruto em parte da especializao e em parte da
tecnologia. Um outro aspecto da especializao o conseqente crescimento das
reas urbanas, que por seu turno iro aumentar a demanda por alimentos. Da, a
tendncia de se ter uma maior separao geogrfica entre a produo e o consumo,
o que implica no aumento da importncia e o desenvolvimento da comercializao.
1.3 - CONCEITOS BSICOS
Comercializao
Segundo BRANDT "entende-se por comercializao o desempenho de todas
as atividades necessrias ao atendimento das necessidades e desejos dos
mercados, planejando a disponibilidade da produo, efetuando transferncia de
propriedade de produtos, provendo meios para a sua distribuio fsica e facilitando
a operao de todo o processo de mercado".
Em outras palavras, o desempenho de todas as funes ou atividades
envolvidas na transferncia de bens e servios do produtor ao consumidor final.
Para que os bens e servios reflitam a preferncia do consumidor, a
comercializao comea antes da produo. Dessa maneira, o termo "transferncia"
no significa apenas transporte, mas todas as demais operaes fsicas e envolve
as aes desde a aquisio dos insumos para a produo.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 7
Mercado
Refere-se a uma rea, na qual compradores e vendedores tem as facilidades
para negociar um com o outro e onde as foras de oferta e demanda atuam de
modo a determinar os preos. O tamanho desta rea limitado pelo sistema de
comunicao, transporte e caractersticas do produto. Por exemplo, produtos com
grandes volumes ou perecveis apresentam um mercado com rea mais restrita.
dentro desta viso ampla do que se chama de setor de comercializao,
desde os insumos para a agricultura at o produto para consumo final, que se
desenvolveu o conceito de Agribusiness, termo cunhado por dois economistas
norte-americanos (Ray Goldberg e John H. Davis) num congresso sobre distribuio
de alimentos, marcando definitivamente a forma moderna de pensar a agricultura.
Agribusiness seria a soma do setor de comercializao (insumos e produtos) e da
prpria agricultura (produo).
1.4 - O AGRIBUSINESS BRASILEIRO
Por agribusiness deve-se entender a soma total das operaes de produo
e distribuio de suprimentos agrcolas, das operaes de produo nas unidades
agrcolas, do armazenamento, do processamento e distribuio dos produtos
agrcolas e itens produzidos a partir deles. Esto, consequentemente, neste conjunto
todos os servios financeiros, de transporte, classificao, marketing, seguros, bolsas
de mercadorias, entre outras. Todas essas operaes so elos de cadeias que se
tornaram cada vez mais complexas medida que a agricultura se modernizou e a
realizao de seu produto no mercado passou a depender mais e mais de servios
que esto fora da fazenda.
Dessa forma, o conceito engloba os fornecedores de bens e servios para a
agricultura, os produtores rurais, os processadores, os transformadores e
distribuidores e todos os envolvidos na gerao e fluxo dos produtos de origem
agrcola at o consumidor final. Participam tambm desse complexo, os agentes que
afetam e coordenam o fluxo dos produtos, tais como o governo, os mercados, as
entidades comerciais, financeiras e de servios.
Essa forma moderna de pensar a agricultura a viso sistmica, onde o todo
maior do que a soma de suas partes. Essa viso contrape tradicional, que se
concentra nos elementos do sistema, como segmentos independentes de um todo,
desconsiderando o que h de mais importante num sistema: o mecanismo de
interao entre os vrios elementos que o compem e, mais do que isso, os efeitos
que as mudanas de um elemento podem trazer ao sistema com um todo.
Para os empresrios, o estudo do agribusiness no um mero exerccio
acadmico, mas um instrumental de grande importncia para o planejamento
estratgico de suas empresas.
A partir da matriz de insumo-produto de cada setor que levantada pelo
censo econmico, possvel, por exemplo, inferir o efeito multiplicador na cadeia, de
cada alterao da demanda. possvel, para um determinado cenrio sobre o
COMERCIALIZAO AGRCOLA 8
comportamento da renda nacional, projetar, por exemplo, como se comportaria o
consumo de frangos a um estmulo de renda e, a partir da, estimar, segundo a
anlise de insumo-produto, quanto ser necessrio aumentar a oferta de raes e, em
consequncia, de milho e soja, ou quanto se utilizar a mais de insumos nessas
lavouras. Informaes como esta ou sobre as tendncias de consumo so um
importante sinalizador para investimentos das empresas.
O termo agroindstria no deve ser confundido com agribusiness, pois o
primeiro faz parte do segundo. No agribusiness, a agroindstria a unidade
produtora integrante dos segmentos localizados nos nveis de suprimento produo,
transformao e acondicionamento, e que processa o produto agrcola, em primeira
ou segunda transformao, para sua utilizao intermediria ou final.
O agribusiness envolve os agentes que produzem, processam e distribuem
produtos alimentares, as fibras e os produtos energticos provenientes da biomassa,
num sistema de funes interdependentes. Nele atuam os fornecedores de insumos
e fatores de produo, os produtores, os processadores e os distribuidores.
As instituies e organizaes do agribusiness podem ser enquadradas em
trs categorias majoritrias. Na primeira, esto as operacionais, tais como os
produtores, processadores, distribuidores, que manipulam e impulsionam o produto
fisicamente, atravs do sistema. Na segunda, figuram as que geram e transmitem
energia no estgio inicial do sistema. Aqui aparecem as empresas de suprimentos de
insumos e fatores de produo, os agentes financeiros, os centros de pesquisa e
experimentao, entidades de fomento e assitncia tcnica e outras. Por ltimo,
situam-se os mecanismos coordenadores, como o governo, contratos comerciais,
mercados futuros, sindicatos, associaes e outros, que regulamentam a interao e
a integrao dos diferentes segmentos do sistema.
As funes do agribusiness podem ser descritas em sete nveis, a saber:
- Suprimentos produo;
- Produo;
- Transformao;
- Acondicionamento;
- Armazenamento;
- Distribuio e,
- Consumo.
Em sntese, pode-se ter uma melhor viso do agribusiness de acordo
com o quadro abaixo:
COMERCIALIZAO AGRCOLA 9
QUADRO 1.1 - A COMPLEXIDADE DO A G R I B U S I N E S S
FORNECEDORES DE PRODUO PROCESSAMENTO DISTRIBUIO SERVIOS
INSUMOS E BENS AGRO- E E DE
DE PRODUO PECURIA TRASNFORMAO CONSUMO APOIO
Sementes Prod.animal Alimentos Restaurantes Veterinrio
Calcrio Lav.permanentes Txteis Hotis Agronmo
Fertilizantes Lav.temporrias Vesturio Bares P&D
Raes Horticultura Calado Padarias Bancrio
Defensiv.agricolas Silvicultura Madeira Feiras Marketing
Prods.veterinrios Extrao vegetal Bebidas Supermercado
s
Vendas
Combustveis Indst.rurais lcool Comrcio Transporte
Tratores Papel/papelo Exportao Armazenagem
Colheitadeiras Fumo Porturios
Implementos leos essenciais Assist. tcnica
Mquinas Inform.
mercado
Motores Bolsas
Mercad.
Seguros
FONTE: ABAG - Associao Brasileira de Agribusiness.
Importncia Econmica do Agribusiness Brasileiro
O agribusiness brasileiro, compreendendo o segmento de alimentos, fibras e
energia renovvel (lcool de cana-de-acar), o maior negcio do pas, uma vez que
representa:
- quase um tero do seu produto interno bruto (PIB);
- cerca de 40 % das receitas de exportaes do Brasil;
- quase 40 % do total de emprego gerado no pas; e
- a utilizao de mais da metade da frota nacional de caminhes;
Estima-se que o valor agregado do agribusiness brasileiro esteja ao redor de
US$ 140 bilhes por ano, o que representa cerca de 31,1 % do produto interno bruto
(PIB) do pas (tabela 1.1). Os negcios do agribusiness brasileiro (de US$ 140
bilhes) absorvem 45,1 % do consumo total das famlias do pas. Nos Estados
Unidos, o agribusiness representa cerca de 22 % do PIB, o que significa mais de um
trilho de dlares anualmente, e o maior empregador de mo-de-obra naquele pas.
No caso brasileiro, o agribusiness merece destaque pela sua importncia na
gerao de empregos, uma vez que emprega em torno de 14 milhes de pessoas, ou
seja, um quarto da populao economicamente ativa do pas. Cabe registrar, contudo,
que no conceito mais abrangente de pessoal ocupado, a agropecuria emprega mais
de 21 milhes de pessoas, numa demonstrao de que o setor rural do Brasil ainda
extremamente intensivo no uso da mo-de-obra, em geral de precria capacitao.
Ao longo das ltimas quatro dcadas, as grandes transformaes porque
passou a economia e a sociedade brasileira, fizeram com que, de um lado, a
agricultura em si tivesse a sua participao reduzida metade, em termos relativos
(pois de quase 23 % do PIB do pas em 1950, atualmente de cerca de 11 %),
enquanto, do outro lado, crescia em importncia a rede de servios que permitia fazer
chegar a produo do campo mesa do consumidor. Com isso, a importncia do
agribusiness cresceu, em termos relativos e absolutos, em contrapartida perda de
expresso das atividades eminentemente agrcolas na riqueza nacional.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 10
Entre as principais transformaes da economia e da sociedade brasileira
esto o rpido processo de urbanizao e o crescimento (apesar da famosa "dcada
perdida") da renda per capita nacional.
Poucos pases no mundo viram, nos ltimos anos, suas cidades crescerem
to rapidamente como o Brasil. Atualmente, trs em cada quatro brasileiros vivem em
cidades, enquanto h quatro dcadas era exatamente o oposto. Em 1940, existiam
no pas apenas 23 cidades com populao superior a 50 mil habitantes, sendo que
apenas duas superavam um milho. Em 1980, esse total elevava-se a 234 cidades,
das quais nove ultrapassam o milho. Atualmente, as nove maiores regies
metropolitanas brasileiras concentram quase metade de toda a populao nacional.
At o final do sculo, mais de 90 % dos habitantes dos estados do Rio de Janeiro e de
So Paulo estaro vivendo em cidades, e 80 % nos demais estados.
Na questo da renda per capita, apesar do grande problema da concentrao
da mesma (ou seja, da pssima distribuio pessoal e regional), no se pode negar
seu crescimento elevado, principalmente nas dcadas de 60 e 70. Basta dizer que,
em 1961, a renda per capita brasileira era levemente superior a duzentos dlares por
habitante, enquanto atualmente est prxima a trs mil dlares per capita.
Esses dois fatores (urbanizao e renda), em conjunto, foram fundamentais
para que o agribusiness brasileiro assumisse a importncia que tem agora, devido s
mudanas radicais na cadeia de alimentos e fibras, tanto antes da porteira da fazenda
(pesquisa e experimentao, sementes melhoradas, corretivos e fertilizantes,
defensivos agrcolas, tratores, mquinas, combustveis, vacinas e medicamentos
veterinrios), como principalmente depois da porteira da fazenda (armazenamento,
transporte, processamento e distribuio de produtos agrcolas ou deles derivados).
Com base nos dados dos Censos Agrcolas e Industriais, pode-se decompor
estimativamente os valores dos grandes elos da cadeia do agribusiness brasileiro, da
seguinte maneira:
- O valor dos insumos e dos bens de produo para a agricultura alcana US$ 11
bilhes, sendo que em 1980 era de US$ 8,5 bilhes (a decomposio mostrada
no captulo II).
- O valor da produo da agropecuria est ao redor de US$ 35 bilhes (ou seja,
este setor adiciona US$ 24 bilhes), assim distribuido: US$ 21,3 bilhes gerado
pela produo vegetal e US$ 13,7 bilhes pela produo animal.
- O valor da produo j processada (alimentos, bebidas, fumo, fibras txteis
naturais, vesturio, calados, madeira, papel e papelo, entre os principais)
estimado em US$ 102,8 bilhes (ou seja, o valor adicionado pela rea de
processamento de US$ 67,8 bilhes, o que significa uma participao de 48,4
% do valor global da agribusiness brasileiro.
- O valor da produo do sub-setor de distribuio de US$ 140 bilhes, cujo valor
adicionado de US$ 37,2 bilhes.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 11
TABELA 1.1 - ESTIMATIVA DO VALOR DO AGRIBUSINESS BRASILEIRO,
1980 E 1993.
PARTICIPAO
SETORES VALOR (em bilhes de dlares) (%) NO VALOR
DA PRODUO ADICIONADO ADICIONADO
1980 1993 1980 1993 1980 1993
Insumos 8,5 11,0 8,5 11,0 11,4 7,8
Agropecuria 29,3 35,0 20,8 24,0 27,8 17,2
Processamento 52,1 102,8 22,8 67,8 30,5 48,4
Distribuio 74,7 140,0 22,6 37,2 30,3 26,6
T O T A L - - 74,7 140,0 100 100
FONTE: AGROCERES para o ano 1980; Estimativa do autor para 1993.
Convm destacar que do valor global do processamento
agroindustrial (estimado em US$ 102,8 bilhes), o grupo alimentos tem a maior
importncia, uma vez que o faturamento da indstria agroalimentar avaliado em
US$ 45 bilhes para o ano de 1993, contra US$ 24,0 bilhes em 1980. Estima-se
que o valor do processamento agroindustrial tem a seguinte composio:
TABELA 1.2 - COMPOSIO DO VALOR DO PROCESSAMENTO AGRO-
INDUSTRIAL NO BRASIL, 1980 E 1993.
1980 1993
GRUPOS US$ bilhes % US$ bilhes %
Alimentos 24,0 46,1 45,0 43,8
Madeira/papel e papelo 8,2 15,7 13,5 13,1
Txteis 6,5 12,5 12,0 11,7
Vesturio e calados 5,8 11,1 11,0 10,7
Bebidas 1,8 3,5 6,5 6,3
Fumo 0,9 1,7 5,8 5,7
lcool 1,2 2,3 3,5 3,4
Consumo rural 2,7 5,2 3,5 3,4
leos, essncias 1,0 1,9 2,0 1,9
T O T A L 52,1 100 102,8 100
FONTE: FIBGE, FGV E AGROCERES para 1980 e Estimativa do autor para 1993.
O Agribusines Brasileiro no Comrcio Internacional
Quanto s exportaes, o agribusiness brasileiro contribui com cerca de 40 %
das vendas do pas no exterior, o que corresponde a quase 15 bilhes de dlares em
1993. Em 1989, sua participao foi de US$ 13 bilhes para a receita cambial do
Brasil.
Historicamente, os produtos agropecurios "in natura" e os processados
responderam por substancial parcela das exportaes do pas, com uma parcela que
variou em torno de 70 % no perodo de 1940-70. Com a diversificao da pauta de
exportaes e com a queda no preo das commodities agrcolas na primeira metada
da dcada de 80, a participao relativa do agribusiness no comrcio exterior
brasileiro passou a ser menor. Em valor absoluto, contudo, aumentou.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 12
Considerando-se apenas os principais produtos exportados do agribusiness
brasileiro, em 1993, tem-se que os calados e o farelo de soja foram os dois principais
com US$ 1.945 milhes e US$ 1.815 milhes, respectivamente, que juntos
contribuiram com quase 10 % do valor global das exportaes brasileiras. Os nove
principais produtos, em conjunto, totalizaram US$ 8,6 bilhes em 1993, ou seja, foram
responsveis por mais de um quinto da receita cambial brasileira.
Com relao s vendas externas apenas dos produtos alimentares
industrializados, na mdia dos anos 80, o valor foi de cerca de US$ 5,6 bilhes
anuais. Nos dois ltimos anos (1992-93), a exportao total de alimentos
industrializados gerou um valor mdio em torno de US$ 6 bilhes/ano. O aumento
das exportaes para o Mercosul, ou seja, para a Argentina, influiu fortemente para
esse bom desempenho.
TABELA 1.3 - VALOR EXPORTADO COM OS NOVE PRINCIPAIS PRODUTOS
DO AGRIBUSINESS BRASILEIRO, EM 1993.
PRODUTOS US$ milhes Participao Variao
(1993) em % (*) sobre 1992
Calados 1.945,1 5,0 32,0
Farelo de soja 1.815,0 4,7 13,7
Caf cru, em gro 1.064,9 2,7 9,7
Soja em gro 945,5 2,4 16,9
Suco de laranja 826,2 2,1 - 21,5
Fumo em folhas 697,0 1,8 - 13,2
Carne de frango 568,5 1,5 28,5
Couros e peles 403,0 1,0 3,4
Acar cristal 346,8 0,9 114,6
Sub-total dos 9 8.612,0 22,2 -
TOTAL DO AGRIBUSINESS 15.000,0 100 10,0
FONTE: MICT/DECEX
(*) Em relao ao valor das exportaes totais do Brasil.
O agribusiness indiscutivelmente o setor-lder na insero do Brasil
no comrcio internacional. Entre todos os setores da economia nacional, a
agropecuria o mais aberto e competitivo no cenrio internacional. A parcela de
mercado detida pelo Brasil no mercado mundial de alimentos e fibras permanece
artificialmente baixa e s no maior por dois conjuntos de restries, um de ordem
externa (os elevados subsdios concedidos pelos pases desenvolvidos aos seus
agricultores, ou seja, o protecionismo mundial), e outro de ordem interna (baixa
produtividade e infra-estrutura inadequada).
Muito embora, o potencial de comrcio do agribusiness brasileiro seja
muito grande e j poderia ser muito maior do que atualmente, mesmo assim, o
Brasil ocupa posio de destaque entre os demais pases que produzem e exportam
mercadorias elaboradas pelo agribusiness, conforme pode ser visto quadro a seguir:
COMERCIALIZAO AGRCOLA 13
QUADRO 1.2 - POSIO DO BRASIL NO RANKING MUNDIAL NA PRODUO E
EXPORTAO DE PRODUTOS DO AGRIBUSINESS, 1988.
POSIO NO RANKING PRODUO EXPORTAO
Caf
Suco de laranja Caf
1 Cana-de-acar Suco de laranja
Accar e lcool leo e farelo de soja
Mandioca Pimenta
Banana
Soja (gro/leo/farelo) Soja em gro
2 Cacau Tabaco
Castanha de caju Cacau
Pimenta
Carne bovina
Carne de frango Carne de frango
3 Milho leo de amendoim
Mamona
Couro
4 Fumo Acar
Carne suna
5 Juta Carne bovina
Algodo
6 Ovos Algodo
Mel
Cigarros
7 Txteis
leo de amendoim
8 Arroz
Leite
9 Amendoim Papel
Papel
FONTE: ABAG, in Segurana Alimentar, 1993.
1.5 - A COMERCIALIZAO E O DESENVOLVIMENTO
Em geral, so objetivos do desenvolvimento:
Aumento na taxa de crescimento do produto interno per capita.
Pleno emprego da fora de trabalho ou pelo menos uma taxa de desemprego
aceitvel.
Maior igualdade na distribuio da renda.
O processo de desenvolvimento implica na transformao das
economias rurais baseadas na indstria. Conforme COELHO, o desenvolvimento
do sistema de comercializao de produtos agrcolas est estreitamente relacionado
com o desenvolvimento global da economia. Na medida em que o processo de
desenvolvimento se amplia, a crescente concentrao populacional em reas
urbanas, aliada aos aumentos reais na renda "per capita" geram dois fatores
fundamentais. O primeiro, naturalmente, diz respeito dependncia cada vez mais
COMERCIALIZAO AGRCOLA 14
acentuada da sociedade como um todo no esquema da comercializao. O segundo
refere-se a mudana na composio e organizao das atividades comerciais
agrcolas, usualmente traduzidas na forma de um maior grau de especializao e
eficincia".
Portanto, h evidncias de que com o desenvolvimento econmico aumenta:
a especializao da mo-de-obra;
a adoo de novas tecnologias;
a separao geogrfica entre produo e consumo;
a renda per capita.
Isto, em conseqncia, provoca uma maior demanda dos servios da
comercializao, tornando-os mais complexos.
A comercializao pode desempenhar papel ativo no desenvolvimento
atravs de:
preos baixos de alimentos
possibilidades de baixos salrios nominais no setor no agrcola (mas altos
salrios reais).
promoo da expanso da demanda de produtos agrcolas (Exemplo: soja).
estimulo criao de empregos.
Promoo da produo e a distribuio de alimentos que melhor reflitam a
preferncia do consumidor.
Incremento do nvel de renda agrcola.
Para ROSTOW para haver desenvolvimento econmico so necessrias
duas condies bsicas:
crescimento equilbrio entre os setores urbano e rural
Integrao do mercado nacional, cujo papel o aumento da produtividade agrcola
e melhoria na comercializao agrcola atravs de maior eficincia e inovao
tecnolgica.
Por outro lado, ABBOTT enfatiza trs condies importantes para assegurar
uma demanda de mercado que oferea os incentivos necessrios produo:
Preos razoavelmente estveis para os produtos agrcolas, a um nvel
compensador.
Facilidades adequadas no mercado.
Sistema satisfatrio de posse da terra.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 15
1.6 - PAPEL DA COMERCIALIZAO
A comercializao deve facilitar a responder os problemas econmicos "o
que" e "quanto" produzir, "quando", "como" e "onde" distribuir os produtos, e sob
que "forma". Em outras palavras, isto significa:
ORIENTAR A PRODUO, ou seja, transmitir aos produtores sobre uma demanda
existente.
ORIENTAR O CONSUMO, atravs da promoo, visando aumentar a demanda
(exemplo: soja na alimentao humana).
PRODUO DA UTILIDADE:
de posse, atravs da troca.
de lugar, atravs do transporte, colocar as mercadorias no local adequado para
os consumidores.
de tempo, atravs do armazenamento, dispor da produo no momento certo.
de forma, atravs de processamento, beneficiamento e embalagem, os produtos
podem sofrer alteraes visando atender s necessidades humanas.
Conquanto existiam muitos objetivos sociais e econmicos para os quais o
sistema de comercializao possa contribuir, as metas fundamentais e diretas do
sistema parecem ser duas:
adotar os servios de transferncia de mercadorias do produtor ao consumidor,
de qualidades eficientes e econmicas;
prover de um mecanismo eficiente a determinao de preos.
1.7 - DUALISMO TECNOLGICO NA COMERCIALIZAO
Alguns produtos no Brasil, apresentam uma acentuada diferenciao em
termos tecnolgicos, a nvel de produo, quando comparados com o processo de
outras culturas. Esta diferenciao, na produo se segmenta a nvel de
comercializao. A soja e o feijo so bons exemplos. A soja, um produto mais
voltado para o mercado externo, relativamente ao feijo, apresenta as seguintes
caractersticas:
- Utilizao mais intensiva de insumos modernos
- Maior grau de mecanizao
- Maior facilidade acesso ao crdito
- Maior volume de produo por propriedade
- Maior organizao dos produtores.
- Demanda relativamente mais elstica a preos
Estes fatores, em conjunto, possibilitam que, a nvel de comercializao, as
vendas da soja ocorram em grandes lotes, com menor nmero de intermedirios
que se utilizam de economias de escala, permitindo em conseqncia mais
eficincia e menor margem de comercializao.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 16
J o feijo, (cultura produzida por pequenos produtores com baixa tecnologia,
e com elevada parcela da produo destinada ao autoconsumo) comercializado
em pequenos lotes por um grande nmero de intermedirios, mais ineficientes e
com maior margem de comercializao.
Estas caractersticas devem ser levadas em considerao, tendo em vista
que elas esto relacionadas com a estrutura do mercado.
1.8 - A COMERCIALIZAO NOS PASES EM DESENVOLVIMENTO
H uma crena nos pases em desenvolvimento de que os seus sistemas de
comercializao so explorativos, economicamente ineficientes e operam com
elevadas margens de lucro. s vezes, o sistema comercializao, em pases de
baixa renda, no so competitivos, fazendo com que as disparidades de preos
regional e temporal sejam resultados de elementos monopolsticos e especulativos.
Contudo, normalmente o nmero de intermedirios muito grande para permitir o
monopsnio, e ento as diferenas acentuadas de preos so devidas: a) falta de
transporte adequado, b) interveno governamental na movimentao do produto
(exemplo: ICMS).
Os lucros exagerados, nestes pases, so devidos aos seguintes fatores:
baixos volumes de operao (no utilizao das vantagens de economia de escala),
especulao, e habilidade para julgar a tendncia de mercado, estoques e
estimativa do volume da nova colheita. Em vista disso, levantam-se hipteses tais
como:
As imperfeies na comercializao, nos pases de baixa renda resultam da falta
de conhecimento e condies inadequadas de transporte e armazenagem.
Os problemas de transporte fazem com que os produtos perecveis sejam
produzidos prximos ao centro consumidor.
As perdas de estocagem, nos climas tropicais, so grandes.
Dessa forma, melhorias nas condies da comercializao contribuem para:
Um melhor uso da produo.
Aumentar a produo, pela reduo do custo de comercializao, o que
possibilitaria melhor preo para o produtor.
Aumentar o valor econmico do produto devido ao melhor desempenho na
criao de utilidades.
Expandir a rea de mercado (exemplo: a utilizao de caminhes frigorficos).
Para ROSTOW, um setor rural moderno, adicionado de um sistema de
comercializao eficiente, constitui a base essencial da industrializao e
diversificao de uma economia.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 17
1.9 - CARACTERSTICAS DA PRODUO E DO MERCADO AGRCOLA
Tanto a nvel de produo como de mercado, os produtos agrcolas possuem
caractersticas prprias que os diferenciam dos produtos industriais. Tais
caractersticas so:
1. Dificuldade de controlar a produo devido ao grande nmero de produtores;
2. Dificuldade de prever o volume de produo por causa dos fatores incontrolveis
(clima, pragas, doenas);
3. Produo sazonal, cujos reflexos so negativos sobre o transporte,
armazenamento e processamento;
4. Produtos volumosos e perecveis (maior custo de estocagem e transporte);
5. Inelasticidade-preo da demanda, resultando em maiores variaes nos preos
do produto;
6. Inelasticidade-renda dos produtos agrcolas. Com relao a esta caracterstica
afirma FELDENS "nos pases de renda mais alta a elasticidade-renda
relativamente baixa, entre 0,01 e 0,02. Isto significa que o crescimento da
demanda de produtos agrcolas depende mais do crescimento da populao do
que do aumento da renda da mesma. Em pases de renda mais baixa, a situao
um pouco diferente. A elasticidade-renda para produtos agrcolas
relativamente mais alta, variando entre 0,30 e 0,50. Mesmo assim, havendo um
aumento na renda da populao em 10 porcento, o aumento no consumo de
alimentos seria em torno de 3,0 a 5 porcento. No caso de ocorrer um aumento na
renda, conjugado com um aumento da populao, sem um aumento substancial
na oferta interna de produtos agrcolas, ocorrer um aumento nos preos ou o
racionamento de produtos agrcolas.
2 - MTODOS DE ANLISE DA COMERCIALIZAO
Nesta seo so abordadas trs alternativas de anlise do sistema de
comercializao ou seja, anlise funcional, anlise institucional e anlise estrutural.
2.1 - ANLISE FUNCIONAL
Uma alternativa de classificar as atividades que ocorrem no processo de
comercializao dividir esses processos em FUNES. Uma funo de
comercializao definida como uma atividade especializada, desempenhada
durante as diversas fases da comercializao. Portanto, a anlise funcional o
estudo das diversas funes ou servios que so executadas durante o processo de
comercializao.
As funes de comercializao so atividades que, como tem que ser
realizadas, devem ser simplificadas mas jamais eliminadas. A anlise das funes
til para:
a) avaliar os custos de comercializao dos intermedirios
b) comparar os custos dentro de uma mesma categoria de intermedirios.
c) Entender a diferena nos custos de comercializao entre os produtos.
2.1.1 - FUNES DE TROCA
- Compra
- Venda
- Formao de preos
Estas funes envolvem a transferncia de propriedade dos bens, criando a
utilidade de posse.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 18
2.1.2 - FUNES FSICAS
- Transporte
- Armazenamento
- Processamento, beneficiamento e Embalagem
So as atividades relacionadas com o manuseio e a movimentao das
mercadorias. Estas funes tentam resolver os problemas de "quando" e "onde"
comercializar, e "sob que forma" ("in natura", industrializado).
A funo de transporte a de possibilitar que as mercadorias estejam
disponveis no lugar desejado pelos consumidores. Esta alternativa envolve a
escolha das diferentes rotas e tipos de transporte (rodovirio, ferrovirio, fluvial,
martimo e areo) que permitem reduo de custos. Sua funo a utilidade de
lugar. importante ressaltar que tendo em vista a crescente separao geogrfica
entre produo e consumo, o transporte tem assumido cada vez maior importncia.
2.1.2.1 - ANLISE ECONMICA DO TRANSPORTE
A malha rodoviria brasileira (incluindo as estradas federais, estaduais e
municipais) est em torno de 1.583.172 quilmetros, dos quais apenas 8,5 % (136
mil km) esto pavimentadas (nos EUA de 6,2 milhes de km). Estima-se que a
frota brasileira de caminhes esteja ao redor de 1 milho de veculos.
Quanto s ferrovias, dos 36 mil quilmetros existentes no Brasil, 30 mil foram
construdas antes de 1930 e somente 29.800 so efetivamente utilizadas, que
transportam anualmente em torno de 40 bilhes de toneladas por quilmetro til
(TKU). Para fins de comparao, os EUA tem 309 mil quilmetros de ferrovias, que
transportam 1,5 trilho de TKU.
No Brasil, estima-se que aproximadamente 70 % do transporte de cargas
realizado por caminhes, embora os dados da tabela abaixo (que so questionados)
mostre um percentual menor. Na URSS, Japo, EUA e em outros pases
desenvolvidos, esse percentual gira entre 20 e 30 %.
TABELA 2.1 - VOLUME DE CARGAS TRANSPORTADAS NO BRASIL, EM
MILHES DE TONELADAS/QUILMETRO, E RESPECTIVA
PARTICIPAO POR TIPO DE TRANSPORTE, 1978 E 1988.
MODALIDADE 1978 1988
VOLUME % VOLUME %
RODOVIRIO 275.440 70,3 76.480 57,6
FERROVIRIO 63.989 16,3 105.600 22,0
HIDROVIRIO (a) 39.508 10,1 76.800 16,0
DUTOVIRIO (b) 11.095 2,8 19.200 4,0
AREO 1.792 0,5 1.920 0,4
TOTAL 391.824 100,0 480.000 100,0
FONTE: ANURIO ESTATSTICO DOS TRANSPORTES
(a) inclui cabotagem
(b) inclui gasodutos.
OBS: 1 TKU = 1 tonelada transportada em 1 km. Dos 40 bilhes de TKU, os principais produtos
transportados so: minrio de ferro (15 bi), derivados de petrleo (5 bi), produtos agrcolas (5
bi), cimento (3 bi), calcrio (2,5 bi), carvo mineral (1,5 bi) e outros (5 bi).
COMERCIALIZAO AGRCOLA 19
Este fenmeno decorrncia primeiramente do custo total para o usurio das
diferentes modalidades de transporte. A Figura 2.1 mostra a relao entre o custo
total e a distncia em quilmetros nas modalidades rodoviria, ferroviria e de
navegao martima. Os dados revelam que o transporte rodovirio
economicamente indicado para distncias at 300 km em relao ao ferrovirio, e
at 500 km em relao ao de cabotagem. Estes valores, evidentemente, variam de
acordo com a classe de produtos e com os custos dos fatores necessrios aos
transportes, bastando citar a influncia causada por alteraes nos preos dos
combustveis.
Afora o aspecto das taxas (apresenta tarifas mais baixas que as cobradas
pelas ferrovias para cargas pequenas e/ou curtas distncias), o transporte rodovirio
preferido ao trem porque: a) permite "entrega na porta"; b) tem maior rapidez na
entrega; c) possibilita maior flexibilidade de rotas; d) submete as mercadorias a
menos choques e a menor manuseio, permitindo o uso de embalagens mais
simples, mais leves e mais baratas, e constituindo-se no meio de transporte
indicado para as mercadorias mais susceptveis de avarias.
Custo ou frete
Rodovirio
Ferrovirio
Cabotagem
0
300 500 Km
FIGURA 2.1 - RELAO ENTRE DISTNCIA (Km) E CUSTO TOTAL PARA O
USURIO DO TRANSPORTE NAS MODALIDADES RODOVIRIAS,
FERROVIRIA E NAVEGAO MARTIMA.
Prev-se para os prximos anos um crescimento substancial da
tonelagem/quilmetro, para abastecer tanto o mercado externo como o interno. E
mesmo que haja uma ampliao substancial dos transportes ferrovirio e hidrovirio,
a participao percentual do transporte rodovirio no transporte total poder cair
somente at certo ponto. Alm disso, como a maior parte dos transportes ferrovirio
e hidrovirio se constitui basicamente de minrios, cimentos, produtos siderrgicos,
cargas pesadas e determinados gros e cereais, tudo indica que a maior parte da
produo agrcola continuar sendo transportada por rodovias.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 20
Os problemas de movimentao de safras tendem a crescer ano aps ano,
exigindo planejamento e investimentos de infra-estrutura.
A falta de transportes responsvel por altos custos de comercializao e
pela predominncia de uma agricultura de subsistncia.
Finalmente, constata-se acentuada deficincia de veculos refrigerados para
transporte de produtos perecveis. Este fato, entre outras razes, decorre do custo
destas unidades, de dificuldades na distribuio e da necessidade de boas ligaes
rodovirias e ferrovirias.
Vamos agora mostrar o aspecto econmico do comrcio entre duas regies
(figura 2.2). Primeiro, para que haja comrcio entre duas regies h necessidade de:
a) diferenciao nos custos de produo, de modo que uma regio tenha vantagem
comparativa em relao outra.
b) As diferenas de preos entre ambas as regies pelo menos cobrirem os custos
de transporte.
P
E
o preo que vigoraria na regio exportadora se toda a sua produo
fosse consumida localmente. Qualquer preo acima de P
E
gera um excesso de
oferta (E
S
). P
I
o preo que vigoraria na regio importadora se o seu consumo
fosse atendido apenas pela produo local. Qualquer preo abaixo de P
I
gera um
excedente de demanda (E
D
)
Se o custo de transporte fosse zero, o preo em ambas as regies deveria
ser igual (Po). Neste caso, a regio importadora compraria da regio exportadora
a quantidade Qo, que igual ao segmento ab. Assim, o preo na regio produtora
seria maior do que sem o comrcio, o que estimularia a produo local nesta regio.
Na regio importadora o preo seria menor do que sem o comrcio, o que significa
um desestmulo produo local e um aumento no consumo, cujo dficit de oferta
seria complementado pela importao.
Considerando-se que o custo de transporte maior que zero (segmento tt),
observa-se que haver uma diminuio no volume comercializado entre as regies
(cd < ab), uma reduo no preo na regio exportadora e um aumento hipottico
de custo de transporte zero. Isto significa que quanto maior o custo de transporte,
menor o estmulo ao comrcio entre regies.
Estudo efetuado pela OCEPAR mostra que os custos totais de transporte
com um caminho pesado (carreta com 27 t de carga) so de US$ 0,58 quilmetro,
sendo que os custos variveis so de US$ 0,39/km (dois teros) e os custos fixos
somam US$ 0,19/km. Para um caminho mdio (trucado, com 14 t de carga) esses
custos so US$ 0,33, US$ 0,20 e US$ 0,13 por km, respectivamente.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 21
TABELA 2.2 - CUSTOS FIXOS E VARIVEIS DE TRANSPORTE RODOVIRIO
DE CARGAS, 1991
ITENS DE CUSTO CAMINHO PESADO (27 t) CAMINHO MDIO (14 t)
Cr$/Km (*) US$/Km Cr$/Km (*) US$/Km
I. Variveis
1.1. Comb, lubrif, filtr 48,21 0,19 23,74 0,09
1.2. Pneus, cmaras 16,66 0,07 7,53 0,03
1.3. Conservao 1.51 0,01 0,76 0,01
1.4. Reparos 9,96 0,04 4,80 0,02
1.5. Mo-de-Obra 7,60 0,03 5,68 0,02
1.6. ICMS 14,56 0,06 7,80 0,03
SUBTOTAL 98,50 0,39 50,31 0,20
II. FIXOS
2.1. Depreciao 15,91 0,06 10,54 0,04
2.2. Remunerao 7,28 0,03 4,82 0,02
2.3. Seguros 10,35 0,04 6,21 0,02
2.4. Licenciamento 1,33 0,01 0,61 0,01
2.5. Mo-de-Obra 5,59 0,02 4,78 0,02
2.6. Administrao 7,59 0,03 4,06 0,02
SUBTOTAL 48,05 0,19 31,03 0,13
CUSTO TOTAL 146,55 0,58 81,34 0,33
FONTE: Dados Brutos OCEPAR
(*) Preos de abril de 1991.
Considerou-se que os caminhes rodam em mdia 120.000 km/ano, (10
anos).
Os dados da tabela abaixo, coletados pelo autor em vrios estudos, mostram
a relao entre o custo total de transporte rodovirio e o ferrovirio, onde para
distncias pequenas (at +/- 200 km) o custo rodovirio menor e representa
menos da metade do rodovirio.
TABELA 2.3 - CUSTOS TOTAIS E PREOS DE FRETE NO TRANSPORTE
FERROVIRIO E RODOVIRIO, NO BRASIL.
DISTNCIA CUSTO (US$/t) PREO DO FRETE (US$/t)
(quilmetros) FERROVIRIO RODOVIRIO FERROVIRIO RODOVIRIO
60 1,86 1,29 5,00 10,51
100 2,86 2,15 6,71 14,92
250 6,36 5,37 12,00 24,50
1.100 10,37 23,63 18,13 31,08
1.350 13,61 29,00 21,70 34,75
FONTE: Cia Vale do Rio Doce
COMERCIALIZAO AGRCOLA 22
Influncia do custo de transporte na viabilidade econmica das exploraes
agropecurias.
Com base no valor do lucro por unidade de uma cultura ou criao e nos
custos de transporte da produo, pode-se fazer algumas consideraes a respeito
das distncias do mercado nas quais compensadora a explorao da referida
atividade. Para tanto, os dados apresentados na tabela abaixo listam quatro
diferentes linhas de explorao ou atividades, em termos de lucros e respectivos
custos de transportes.
Atividade
Lucro por ha, sem
considerar os custos de
transporte
Custo de transporte por Km
da quantidade produzida por
ha
A 700 1,75
B 500 0,71
C 330 0,33
D 195 0,15
Antes de serem considerados os custos de transporte a atividade A aparece
como a mais rentvel. Por outro lado, ela , tambm, a que apresenta os maiores
custos de transporte. O valor do lucro lquido por hectare (L) para as atividade A e B,
por exemplo, dado por:
La = 700 - 1,75 d ; Lb = 500 - 0,71 d
onde "d" a distncia ao mercado, em quilmetros. Assim, para uma distncia de
400 km, a atividade A resultar em lucro zero, e a partir da, esta atividade passa a
ter prejuzo.
A figura abaixo ilustra as distncias em que uma atividade mais econmica
que a outra, ao igualar-se as equaes para cada duas atividade (A e B, por ex.).
Assim, at 192,3 km, a atividade A resulta num lucro maior que a atividade B.
Lucro
por A
hectare
e
363,47
B
f
C g
D
192,3 Km
FIGURA 2.3 - VARIAO DO LUCRO DA ATIVIDADE EM FUNO DA
DISTNCIA AO MERCADO
COMERCIALIZAO AGRCOLA 23
Se estivermos analisando a situao de uma empresa localizada, por
exemplo, a 500 km do mercado, devemos determinar para essa distncia a
viabilidade e a ordem de lucratividade das atividades, conforme tabela abaixo.
ORDEM DE
LUCRATIVIDADE
ATIVIDADE LUCRO LQUIDO POR ha
1 C 165
2 B 145
3 D 120
4 A -175
2.1.2.2 - ANLISE ECONMICA DO ARMAZENAMENTO
Devido ao fato de a produo agrcola ser altamente estacional, enquanto o
consumo relativamente constante ao longo do ano, a funo do armazenamento
produzir a utilidade de tempo, permitindo a disponibilidade das mercadorias no
momento desejado pelos consumidores. Atravs do armazenamento, que permite
uma melhor distribuio da produo ao nvel das taxas de consumo, consegue-se
uma acentuada reduo na variabilidade dos preos dos produtos armazenados,
trazendo, em conseqncia, efeitos positivos sobre a renda do produtor e
estimulando a produo dos anos seguintes.
TABELA 2.4 - CAPACIDADE DAS UNIDADES ARMAZENADAS SEGUNDO O
TIPO DE PROPRIEDADE, BRASIL, 1987
PROPRIEDADE
ARMAZ.
CONVENC. E
INFLVEIS
(1000m3)
ARMAZ. GRANE.
E GRANELIZ.
(1000t)
SILOS
(1000t)
GOVERNO 14.114 1.663 987
PRIVADO 67.423 12.103 6.997
COOPERATIVA 15.841 8.816 3.878
ECON. MISTA 7.314 1.176 857
TOTAL 104.693 23.759 12.721
TABELA 2.5 - UNIDADES ARMAZENADORAS, SEGUNDO GRUPOS DE
CAPACIDADE TIL, 1987.
CAPACIDADE ARMAZ. CONVENC. E
INFLVEIS
ARMAZ. E SILOS
GRANEL
(1.000 m
3
) % (1.000 t) %
< 1.000 1.475 1,4 239 0,7
1.000 a 5.000 13.271 12,7 2.669 7,3
5.000 a 10.000 13.540 13,0 2.861 7,8
10.000 a 50.000 42.333 40,4 17.370 47,6
50.000 a 100.000 15.543 14,8 7.039 19,3
100.000 a 200.000 9.904 9,5 4.763 13,1
> 200.000 8.624 8,2 1.537 4,2
TOTAL 104.693 100,0 36.480 100,0
COMERCIALIZAO AGRCOLA 24
TABELA 2.6 - CAPACIDADE DAS UNIDADES ARMAZENADORAS, SEGUNDO AS
GRANDES REGIES, 1987.
REGIES ARMAZ. CONVENC. E
INFLVEIS
ARMAZ. E SILOS
GRANEL
(1.000 m
3
) % (1.000 t) %
NORTE 1.932 1,8 39 0,1
NORDESTE 12.458 11,9 751 2,0
SUDESTE 40.842 39,0 4.760 13,1
SUL 35.220 33,7 21.812 59,8
CENTRO-OESTE 13.238 13,6 9.116 25,0
BRASIL 104.693 100,0 36.480 100,0
Com relao aos aspectos econmicos da armazenagem (figura 2.4)
observa-se que se toda a oferta SS fosse consumida no perodo da safra (demanda
D1 perodo da safra e demanda D2 perodo da entressafra) o preo seria Po.
Qualquer preo acima de Po gera um excesso de oferta que ser consumido na
entressafra (D2). Se o custo de armazenagem fosse zero, na safra (primeiros seis
meses da colheita) a quantidade consumida seria 0a, e assim seria reservado para
a entressafra (do 7 ao 12 ms aps a colheita) a quantidade Ob, que igual
quantidade aS, cujo preo em ambos os perodos seria P
E
.
Com o custo de armazenagem mn haver um consumo maior no perodo da
safra (quantidade 0c) que ser consumida ao preo P1, enquanto na entressafra a
quantidade consumida ser 0d ao preo P2. Portanto, quanto maior for o custo do
armazenamento, maior a diferena de preos entre o perodo de safra e de
entressafra.
S
m
P
2
E
S
P
E
0b = aS
P
1
0d = cS
n
P
0
D
2
D
1
b d 0 a c S
mn = (P
2
- P
1
) = Custo de armazenamento
FIGURA 2.4 - ECONOMIA DO ARMAZENAMENTO
COMERCIALIZAO AGRCOLA 25
2.1.2.3 - PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, EMBALAGEM
O setor produtor de alimentos representa uma parcela expressiva da
atividade industrial brasileira. Dados oficiais do ltimo levantamento censitrio, relativo
a 1985, mostram que 20,8 % do total dos estabelecimentos industriais no Brasil
produzem alimentos, empregando cerca de 13,3 % do total do pessoal ocupado. o
maior gnero da indstria de transformao em termos de nmeros de
estabelecimentos e pessoal ocupado. Em nmeros absolutos, isto significa mais de
43 mil estabelecimentos, com cerca de 39 mil empresas.
Resulta deste esforo uma participao direta de 11 % no produto industrial
nacional, o equivalente a 4 % de todo o produto interno bruto (PIB) brasileiro
(praticamente o dobro , por exemplo, da indstria automobilstica). Em termos de
valor bruto da produo, o Censo em referncia destacou a indstria de produtos
alimentares como o segundo maior gnero dentre toda a indstria brasileira, inferior
apenas ao complexo industrial petroqumico.
O volume de produo de toda a indstria agroalimentar estimado em mais
de setenta e trs milhes de toneladas mtricas, das quais aproximadamente mais de
58 milhes se destinam ao mercado interno e 15 milhes de toneladas para
exportao.
Duas das principais caractersticas deste grande segmento da economia so:
a primeira a elevada participao da empresa nacional em relao s empresas
estrangeiras (64 % as empresas so privadas nacionais e 36 % so estrangeiras),
constatando-se neste segmento a ausncia de empresas estatais.
A segunda, no tocante ao nmero de empresas, constata-se o grande
nmero de micro (ou seja, com at 19 empregados) e pequenas (de 20 a 99
empregados) empresas que participam da indstria de alimentos:
- 90,4 % das 39 mil empresas so micro empresas.
- 7,1 % so pequenas empresas
- 2,2 % so mdias empresas (de 100 a 499 empregados)
- 0,3 % so constitudas por grandes empresas (mais de 500).
Apesar da expressiva concentrao em micro e pequenas empresas (97,5
%), a participao das empresas por tamanho no valor da produo das indstrias de
alimentos mostra uma melhor distribuio, uma vez que a maior parcela (44 %) do
valor da produo da indstria alimentar constituda por empresas de tamanho
mdio, seguida pelas empresas pequenas (21 %), as grandes (19 %), enquanto a
micro so responsveis por apenas 16 %. Verifica-se que as grandes e mdias
empresas participam com 63 % do valor adicionado da indstria de alimentos e
observa-se que so as empresas de porte mdio e no as grandes empresas que
detm as maiores participaes no valor adicionado pelas indstrias de alimentos.
Apesar da enorme diversificao crescente de gneros de atividade e de
elaborao de produtos, oito grandes grupos representam 95 % do valor da produo,
com destaque para trs importantes gneros, que juntos respondem por mais da
metade:
COMERCIALIZAO AGRCOLA 26
GNEROS %
beneficiamento de caf e cereais 17,7
derivados de carne 17,5
leos e gorduras 17,2
laticnios 10,2
fabricao/refino de acar 9,5
derivados de trigo 8,9
derivados de frutas/legumes 8,9
chocolate/cacau/balas 4,6
Outros 5,5
Importncia Econmica da Indstria Agroalimentar
Conforme analisado no primeiro captulo anterior, o valor global da produo
processada (ou seja, a indstria) do agribusiness brasileiro (que inclui alm dos
alimentos, os seguintes grupos: madeira/papel e papelo, txteis, vesturio e
calados, bebidas, fumo, lcool, consumo rural e leos e essncias) est avaliado em
US$ 102,8 bilhes, sendo que o valor adicionado de US$ 67,8 bilhes, uma vez que
o valor da produo agropecuria de US$ 35 bilhes/ano.
Do valor global de US$ 102,8 bilhes, os produtos alimentares (ou
alimentcios) tem a maior importncia, uma vez que contribuem com US$ 45 bilhes
atualmente, enquanto em 1980 era de vinte e quatro bilhes de dlares.
Fazendo parte da chamada indstria agroalimentar (ou da alimentao), alm
dos produtos alimentcios, esto tambm as bebidas, cujo valor global estimado em
US$ 6,5 bilhes em 1993.
Assim, adicionando-se os valores da produo dos produtos alimentares com
os de bebidas, chega-se ao valor global da produo da indstria de alimentao, que
de US$ 51,5 bilhes por ano. Isto significa dizer que o valor do processamento da
indstria de alimentao (produtos alimentcios + bebidas) representa exatamente
metade do valor econmico na fase de processamento (industrial) do segmento
agribusiness brasileiro, que de US$ 102,8 bilhes (tabela 2.7).
COMERCIALIZAO AGRCOLA 27
TABELA 2.7 - PARTICIPAO DA INDSTRIA AGROALIMENTAR BRASILEIRA
NO PIB E NA INDUSTRIA EM GERAL, 1993.
PARTICIPAO
DISCRIMINAO VALOR (US$ bilhes) DA DA INDUSTRIA
PRODUO EXPORTAO AGROALIMENTAR
(%) (*)
Produto Interno Bruto 450,0 38,7 11,4
Indstria em geral(**) 300,0 29,0 17,2
Indstria de transformao 288,0 25,0 17,9
Agribusiness (***) 140,0 15,0 36,8
Indstria do agribusiness 102,8 11,5 50,0
Indstria da alimentao(a) 51,5 6,1 100
-Produtos alimentares(b) 45,0 6,0 87,4
-Bebidas(c) 6,5 0,1 12,6
FONTE: IBGE. Clculos do autor.
(*) Percentual do valor da produo em relao cada tem discriminado na tabela
(**) Inclui, alm da indstria de transformao, a indstria extrativa mineral.
(***) Alm da indstria de alimentao, inclui: madeira, papel e papelo, txteis, vesturio e calados,
fumo, lcool, consumo rural, leos e essncias.
(a) = (b) + (c).
A indstria agroalimentar est subdividida em empreendimentos que atuam
na transformao bsica dos produtos da agropecuria, caracterizando uma
transformao primria (produtos intermedirios) e as empresas que atuam nas
transformaes secundrias (produtos finais). O mercado do setor de transformao
primria constitudo pela exportao e por outras indstrias. Como algumas
tambm atuam na transformao secundria, verifica-se o seu relacionamento com o
consumidor final o que, no entanto, no uma caracterstica especfica do setor. De
um modo geral, denomina-se a transformao primria como agroindstria.
Uma das principais caractersticas da expanso da indstria de alimentos tem
sido a crescente diferenciao de produtos que est sendo feita, principalmente
atravs de inovaes na composio e embalagens.
A estratgia de marketing o principal fator que permite a introduo de
novos produtos. Com esta viso, a obteno de novas possibilidades de
aproveitamento dos produtos agropecurios permitiu que as exportaes tivessem
participao mais expressiva de produtos com valor agregado mais elevado. A
transformao do farelo de soja em protena animal, atravs da produo de frangos e
sunos e seus derivados para exportao, exemplo dessas alternativas. A tendncia
e a elevao do nvel de processamento dos produtos com a obteno de margens de
lucro maiores, seja para atender o mercado interno, seja para exportar.
A necessidade de diversificao permanente de linha de produo confere
tecnologia de produto/processo uma importncia fundamental nas estratgias de
concorrncia das empresas. Os produtos industrializados esto penetrando em todas
as classes de renda, inclusive alterando a cesta bsica de consumo das classes mais
desfavorecidas.
Mercado Externo da Indstria Agroalimentar Brasileira
COMERCIALIZAO AGRCOLA 28
Quanto s exportaes, as vendas externas dos produtos alimentares
industrializados esto ao redor de seis bilhes de dlares por ano. Entre os principais
alimentos industrializados no Brasil que se destinam aos mercados externos, na
mdia de 1992-93, esto: o suco de laranja com US$ 940 milhes (em 1990, chegou
a 1,5 bilho de dlares), seguido pela carne de frango congelado com US$ 511
milhes, carne bovina industrializada com US$ 300 milhes, e acar cristal com
US$ 280 milhes entre outros (tabela 2.8).
Considerando a exportao da indstria agroalimentar de produtos semi-
industrializados tem-se o farelo de soja como tradicionalmente o principal produto com
US$ 1,7 bilho; seguido por acar (cristal + demerara) com US$ 452 milhes; leo
de soja com US$ 270 milhes; e pela carne bovina congelada/resfriada com US$ 250
milhes, entre outros outros.
As dificuldades para um maior incremento das exportaes (excludas as
"commodities", cujos preos so formados no mercado internacional) residem ainda
na defasagem tecnolgica que caracteriza a nossa indstria. Sondagem realizada
junto aos prprios empresrios do setor mostrou que este revela um ndice de
atualizao tecnolgica da ordem de 60 % (considerando 100 % como padro para os
pases desenvolvidos). Dentro do setor, os ndices variam entre 14 % (no ramo de
preparao de leite e fabricao de laticnios) e 78 % (no ramo de acar), situando-
se os ramos de abate de animais e de conservas de carnes em 52 %.
Muito embora no sejam expressivas, as importaes brasileiras de produtos
da indstria agroalimentar assumem importncia, principalmente em dois grupos de
produtos, que so os de cereais (em especial, o trigo, onde a dependncia brasileira
de produto estrangeiro muito grande) e os de moagem, malte, amido e glten.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 29
TABELA 2.8 - PRINCIPAIS PRODUTOS DA INDSTRIA AGROALIMENTAR
EXPORTADOS PELO BRASIL, (Mdia 1992-93).
PRODUTOS VALOR
(US$ milhes)
SEMI-INDUSTRIALIZADOS
- Farelo de soja 1.700
- leo de soja 270
- Acar cristal 252
- Carne bovina congelada/resfriada 250
- Acar demerara 200
- Manteiga, gorduras e leos de cacau 120
- Farelo de polpa ctrica 100
- Carne suna congelada/resfriada 60
- Pasta de cacau refinada ("Licor") 35
INDUSTRIALIZADOS
- Suco de laranja concentrado e congelado 940
- Carne de frango congelado 511
- Carne bovina industrializada 300
- Acar cristal 280
- Caf solvel 180
- Lagosta congelada 65
- Extrato de carne 60
- Produtos de confeitaria s/ cacau 55
- Camaro congelado 54
- Chocolate e produtos de cacau 40
- Peixe congelado 35
- Palmitos em conserva 32
- Cerveja de malte 30
- leo de algodo refinado 27
- leo de soja refinado 27
- Extrato/ essncia de caf 20
- Refrigerantes e outras bebidas 15
FONTE: DECEX/CTIC.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 30
2.1.3 - FUNES AUXILIARES
- Padronizao e classificao
- Financiamento (crdito)
- Risco
- Informao de mercado
- Pesquisa de mercado
Estas so as funes que facilitam e permitem o funcionamento das funes
de troca e fsicas.
a) Padronizao e Classificao
A padronizao e a classificao estabelece um sistema para medir e
descrever a qualidade de um produto, permitindo a fcil identificao das mesmas.
Esta funo:
Simplifica a compra e a venda, pelo simples exame de uma amostra ou descrio
da mercadoria;
Simplifica e permite a reunio de lotes de mercadorias semelhantes nos silos,
transporte e mesmo processamento;
Possibilita a reduo dos custos de comercializao;
Incentiva o aumento e melhoria da produo atravs da diferenciao de preo de
qualidade;
Facilita o financiamento (mais fcil avaliao).
A padronizao consiste no estabelecimento de padres, atravs da portaria
do MARA, segundo os atributos qualitativos e quantitativos das mercadorias. Os
atributos qualitativos so a forma, colorao, grau de maturao, sinais de danos
mecnicos, de doenas, de pragas e presena de resduos. Os atributos
quantitativos so o preo e o tamanho.
A classificao, realizada por classificadores, consiste na comparao de
uma amostra representativa da mercadoria com os padres estabelecidos,
enquadrando-a em grupo, classe e tipo. Assim, os produtos agrcolas so
classificados em grupo, classe e tipo. As variveis que definem um "grupo" diferem
entre produtos, por exemplo:
- Milho em funo da resistncia;
- Feijo em funo do gnero (ano, corda)
- Arroz em funo da apresentao (casca, beneficiado)
- Soja em funo do dimetro (grada, etc)
A "classe" definida em funo da colorao, exceo do arroz que pelo
comprimento. O "tipo" definido conforme a qualidade do produto.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 31
b) Financiamento (crdito)
H um perodo de tempo entre a colheita do produto at a venda ao
intermedirio, em que o produtor tem que manter a mercadoria. Para tanto, h a
necessidade de fundos para financiar a manuteno de estoques, porque:
Na poca da colheita os preos dos produtos so normalmente cotados a nveis
baixos;
Os vencimentos das dvidas de custeio geralmente coincidem com o perodo ps-
colheita;
A presena de poucos intermedirios permite uma poltica de grupo, com um preo
nico baixo.
A poltica de garantia de preos mnimos (PGPM) tem por objetivos proteger a
renda do setor agrcola, estimular ao aumento da produo e reduzir o risco de preo
enfrentado pelos produtores.
Num sistema de livre mercado, onde os preos so o resultado das foras de
oferta e procura. O preo mnimo somente seria efetivo, caso fosse fixado acima do
preo de equilbrio do mercado. Como resultado, gera-se um excedente de oferta, que
ou exportado ou dever ser adquirido pelo governo ou o governo adota polticas de
controle de produo ao nvel da demanda existente.
O preo mnimo ideal, dentro de uma perspectiva de longo prazo e
considerando o custo financeiro da poltica para os cofres do governo aquele que
evita um excesso ou uma escassez estrutural de oferta, sendo fixado em torno do
nvel de preo de mercado. E seria eficiente quanto ao objetivo de proteger a renda
dos produtores, cso cubra o custo operacional de produo.
Com a recente maior abertura da economia brasileira, as situaes no
previstas de excedentes de oferta podem ser tratadas mediante o estmulo s
exportaes, que geram aumento das reservas cambiais. Nos casos de escassez
conjuntural, as importaes podem suprir a diferena entre a demanda e a oferta,
provocando a reduo das reservas cambiais. Este enfoque pode resultar em menor
nus ao governo do que a manuteno de exagerados estoques de produtos, que
perdem qualidade e competio ao retornarem para o mercado nos anos
subsequentes.
A PGPM foi criada atravs do Decreto Lei n 79 de 19-12-66, que atribui
Unio a responsabilidade de normatizar, fixar os preos mnimos e executar as
operaes de financiamento (EGF) e aquisio dos produtos amparados (AGF). O
rgo executor, at 1992, foi a Companhia de Financiamento da Produo (CFP) e
posteriormente a CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento, atravs dos
agentes financeiros credenciados pelo Sistema Nacional de Crdito Rural.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 32
b.1) Preo Mnimo e Valor de Financiamento
Preo Mnimo o valor definido pelo governo, atravs de decreto ou voto do
Conselho Monetrio Nacional (CMN), para cada produto e safra, que atua como
seguro de preo visando garantir uma renda mnima aos produtores e serve de base
para aquisio (AGF) ou financiamento, ou seja, Emprstimo do Governo Federal
Com Opo de Venda (EGF/COV). calculado com base no custo de produo e na
poltica governamental de estmulo ou controle de produo.
Valor de Financiamento o valor, por unidade de peso, que beneficirio recebe na
contratao do Emprstimo do Governo Federal Sem Opo de Venda (EGF/SOV).
b.2) Instrumentos:
AGF - Aquisio do Governo Federal
a venda direta do produto ao governo pelo preo mnimo. O produtor s
deveria efetuar caso o preo de mercado no tenha perspectiva de subir e esteja
abaixo do preo mnimo.
EGF - Emprstimo do Governo Federal
um financiamento de comercializao, cuja garantia (penhor) o prprio
produto depositado no armazm credenciado. Possibilita o produtor vender o produto
na entressafra quando os preos de mercado tendem a ser maiores. H duas
modalidades de financiamento: com opo de venda (COV) e sem opo de venda
(SOV).
b.3) Funo dos Instrumentos:
Com a aquisio e/ou financiamento da produo na poca da safra e seu
carregamento no tempo, visando a recolocao no mercado na entressafra, evita-se
oscilaes bruscas de preos e regula-se o abastecimento (Grfico).
Preo
com PGMP
sem PGMP
tempo
COMERCIALIZAO AGRCOLA 33
b.4) Produtos Amparados:
Preo Mnimo Valor de Financiamento
algodo (em caroo e pluma) alho, amendoim, canola,
mandioca (farinha e fcula) batata semente, cevada,
feijo, milho, soja, uva, mamona, sementes, sorgo e
trigo, triticale, cera da castanha de caju.
carnaba, juta, malva e sisal.
b.5) Beneficirios
- Produtores
- Cooperativas de Produtores
- Beneficiadores / Indstrias
Os intermedirios (armazenadores, caminhoneiros, comerciantes, etc) no
participam da poltica.
b.6) Agentes Financeiros:
AGF - Banco do Brasil.
EGF - Bancos vinculados ao Sistema Nacional de Crdito Rural, que assumem o
risco da operao.
b.7) Entraves:
Na falta de sacaria, armazns, classificadores, normativos, remoo de
produtos, etc, comunicar a SUREG/PR
Fone: (041) 352-1515 - Rua Mau 1116 - Alto da Glria - Curitiba CEP: 80.030.200.
b.8) Operacionalizao do EGF/COV
Levar o produto a um armazm credenciado e que firmou contrato de prestao de
servios com a CONAB.
Passar por processo de limpeza e secagem, se necessrio.
Ser classificado pela CLASPAR (no Paran).
Dirigir-se ao banco com o recibo de depsito e certificado de classificao. Neste
banco, em que o produtor dever ter cadastro, preencher a proposta de
financiamento e assinar as declaraes anexas mesma.
O produtor recebe 100 % do preo mnimo, de acordo com o tipo e a quantidade
entregue (at o limite da produo prpria ou da dvida de custeio), e dispe de um
prazo para decidir sobre a venda da produo ou para o mercado ou para entregar
para o governo.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 34
- Vende para o mercado, se a receita da venda paga o custo do EGF/COV (preo
mnimo mais encargos financeiros, taxa de classificao, despesas de
armazenagem e sobretaxa). A diferena lucro do produtor.
- Se o produtor no liquida a operao at o dia do vencimento do contrato, porque o
preo de mercado ficou abaixo do custo do EGF, o produto vinculado ao EGF/COV
vencido transferido a CONAB, que assume todo o custo da operao. Tambm,
o produto pode ser negociado em leilo nas Bolsas de Mercadorias, quando a
receita apurada ser usada na liquidao do saldo devedor, com o governo
assumindo a eventual diferena na forma de subsdio.
- Se o produtor efetuou o custeio com equivalncia-produto, o banco faz a
transformao automtica da produo equivalente entregue no armazm
credenciado em EGF/COV. Neste caso, somente no pagar a TR caso a
produo seja transferida CONAB.
Vantagens e Desvantagens do EGF/COV
Dependendo do nvel de preo de mercado na poca da colheita (to) e do
comportamento deste preo nos meses seguintes (t1), h casos em que a operao
do EGF com opo de venda no traz benefcios para o produtor.
Se, na poca da colheita, o preo do produto no mercado est abaixo do
preo mnimo, pode-se constatar que ser sempre vantajoso para o produtor a
execuo do EGF, porque: a) se o preo permanecer constante ou cair o agricultor
j assegurou o melhor preo que o preo mnimo; b) se o preo subir, ele poder
at lucrar se o diferencial de preos (Pt1 - PM) for maior que o custo do EGF (Figura
2.5.a).
Contudo, a situao mais comum a de que, na poca da colheita, o preo
do produto no mercado esteja acima do preo mnimo, e neste caso o EGF s
beneficiar o produtor se (Pt1 - Pto)for maior que o custo do EGF (Figura 2.5.b).
b.9) Operacionalizao do EGF/SOV
Levar o produto a um armazm credenciado e que firmou o contrato de prestao
de servio com a CONAB.
A classificao pode ser dispensada. Basta que o beneficirio assine uma
declarao formal de que o produto se enquadra dentro dos padres de
classificao.
Dirigir-se ao banco, com o recibo de depsito. Neste banco, em que o produtor
dever ter cadastro, preencher a proposta de financiamento e assinar a declarao
formal de que o produto se enquadra nos padres de classificao.
O produtor recebe 100 % do valor de financiamento, de acordo com o tipo indicado
e a quantidade entregue (at o total da produo prpria).
COMERCIALIZAO AGRCOLA 35
At o dia do vencimento do contrato, o produtor deve liquidar a operao pelo custo
do EGF. O produtor assume, portanto, os encargos financeiros, as despesas de
armazenagem e sobretaxa.
Preos Preos
P
t
P
t
P
M
P
M
t
1
t
0
t
1
FIGURA 2.5.a - P
t0
< P
M
FIGURA 2.5.b - P
t0
> P
M
b.10) Operacionalizao do AGF:
Levar o produto a um armazm credenciado e que firmou contrato de prestao de
servios com a CONAB.
Passar por processo de limpeza e secagem, se necessrio.
Ser classificado pela CLASPAR (no Paran)
Dirigir-se ao banco da localidade onde o produto foi depositado, com o recibo de
depsito e o certificado de classificao.
O produtor recebe 100 % do preo mnimo, de acordo com o tipo e a quantidade
entregue (at o limite da produo prpria ou aquela determinada pelo governo),
acrescido do valor da embalagem. O ICMS e INSS so assumidos pela CONAB,
como contribuinte substituto.
b.11) Contrato de Depsito (com quebra zero)
Foi criado pela CONAB para eliminar as perdas em armazenagem. O
armazenador se obriga, mediante o recebimento da sobretaxa, que foi criada com
esta finalidade, a promover a pronta entrega de 100 % dos estoques recebidos,
COMERCIALIZAO AGRCOLA 36
quando solicitado pela CONAB. Tambm se obriga a indenizar CONAB as perdas
de quaisquer natureza que venham a ocorrer durante o perodo de armazenagem,
como quebra tcnica, reduo do teor de umidade, depreciao da qualidade e
avarias.
b.12) Fiscalizao dos Estoques Pblicos
A partir de junho de 1994, a responsabilidade pela fiscalizao dos estoques
pblicos passou a ser da CONAB. Anteriormente, era de responsabilidade do Banco
do Brasil.
c) Risco
A funo do risco consiste na aceitao da possibilidade de perdas do
produto na "comercializao", a qual apresenta dois tipos de riscos. O primeiro,
chamado de risco FSICO, devido destruio ou deteriorao do produto (fogo,
acidente, tempestades, frio, calor). O segundo, o risco de MERCADO, causado
por movimentos desfavorveis nos preos do produto, com conseqente
desvalorizao dos estoques. Os riscos fsicos podem ser contornados pelo uso de
seguro, enquanto os de mercado podem ser reduzidos atravs de operaes de
"hedging" (que ser discutido no captulo 6).
d) Informao de Mercado
A funo de informao de mercado diz respeito coleta, interpretao e
disseminao de dados com a finalidade de facilitar a "comercializao". Uma
caracterstica importante da informao a de que ela deve ser atual e confivel.
Existem trs tipos de informaes: a) a puramente informativa ou noticiosa; b)
anlise (perspectivas) de mercado; c) propaganda.
O tipo "informativo" contm apenas dados sobre preos, condies da oferta,
volumes de estoques, clima, etc, sem qualquer anlise ou comentrios sobre a
situao de mercado.
O tipo "analtico" vai alm da notcia porque apresenta explicaes (razes)
sobre a atual tendncia e faz previses desta tendncia. Neste caso, alm dos
dados das variveis relevantes h necessidade de se proceder a uma anlise
destes dados usando-se modelos estatsticos e econmicos. Neste caso h
necessidade de conhecimentos de fatores ligados demanda e oferta agrcolas).
Entre as variveis relevantes do lado da demanda tem-se os seguintes indicadores:
populao domstica, nvel de renda disponvel, nvel de emprego, consumo per
capita, mudanas nos gostos e preferncias, preos de bens substitutos, demanda
externa e programas governamentais especiais. Do lado da oferta tem-se: intenes
de plantio, expectativa de preos, preos de produtos competitivos, produtividade
esperada, rea disponvel para plantio e adoes de pacotes tecnolgicos.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 37
Um outro tipo de informao de mercado pode ser obtido atravs da
propaganda, a qual assume duas formas. A primeira dita "genrica", e pode ser
conduzida pelo governo ou por um grupo de firmas com o objetivo de aumentar o
consumo de um produto, sem marca especificada. O segundo tipo de programa,
comumente usado, o da promoo de produtos de uma firma especfica com o
objetivo de no s aumentar a sua demanda, mas tambm torn-la mais inelstica
(Figura 2.6). Como se observa, a propaganda tem um cunho informativo-persuasivo.
P
D
D
Q
FIGURA 2.6 - EFEITO DESEJADO PELAS FIRMAS, DA PROPAGANDA SOBRE A
DEMANDA
e) Pesquisa de Mercado
No contexto puramente empresarial, pesquisas relacionadas com mudanas
nas preferncias dos consumidores so importantes para determinar a poltica da
firma. Assim, pesquisas de embalagem quanto forma, tamanho, colorao;
comportamento do consumidor; previses de venda em certa regio; pesquisa
visando reduo de custos da "comercializao"; melhores meios de comunicao
para realizar a propaganda, entre outros, so teis informaes para o sucesso da
empresa no longo prazo.
Sob o aspecto mais de economia rural so importantes as pesquisas em
comercializao nas reas seguintes:
a) Estudos de procura e de dispndio
b) Estudos de oferta
c) Anlise de custos de comercializao
d) Anlise de margens de comercializao
e) Anlise de preos agrcolas
f) Estudos sobre a estrutura de mercado.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 38
2.2. ANLISE INSTITUCIONAL
O mtodo institucional considera tanto a natureza e o carter dos diversos
intermedirios e agncias, que executam os servios de comercializao de um
produto, quanto o arranjo e a organizao do mecanismo de mercado. Neste
mtodo o elemento humano recebe nfase especial.
Os intermedirios so indivduos ou organismos comerciais que se
especializam na execuo das diversas funes de comercializao, relacionadas
com as atividades de compra e venda, na medida que as mercadorias se deslocam
dos produtores at os consumidores.
Os intermedirios de interesse direto comercializao de gneros
alimentcios, podem ser classificados do seguinte modo:
a) intermedirios comerciantes: atacadistas, retalhistas ou varejistas, e
especuladores;
b) intermedirios agentes: corretores e comissrios;
c) organizaes auxiliares ou instrumentais;
d) indstria de transformao.
Os intermedirios comerciantes possuem o ttulo da mercadoria e, por
conseguinte, so proprietrios dos produtos que manipulam. Fazem comrcio para
seu prprio lucro, garantindo sua renda da margem entre os preos de compra e de
venda dos bens que comercializam.
Os atacadistas vendem para varejistas e para outros atacadistas e
industriais, mas no comercializam quantidades significativas ao ltimo consumidor.
Eles constituem um grupo altamente heterogneo; o mais numeroso composto por
compradores locais ou municipais, que adquirem os bens na rea de produo,
diretamente dos produtores. Outro grupo de atacadistas localiza-se nos centros
urbanos maiores. Podem ser atacadistas "gerais", que manipulam muitos e
diferentes produtos, ou "especializados" no comrcio de um nmero limitado de
mercadorias.
Os varejistas compram os produtos dos atacadistas para revender ao ltimo
consumidor. Eles constituem o grupo mais numeroso dentre as agncias de
comercializao.
Os intermedirios agentes, tal como so designados, agem somente como
representantes de seus clientes. Eles no tm o ttulo e, portanto, no so donos
das mercadorias que vendem. Sua renda representada pelas taxas e comisses
sobre o volume de venda que realizam.
Os comissrios tm geralmente grande autoridade sobre a mercadoria,
sendo responsvel por sua movimentao e arranjo dos termos de venda e deduo
das taxas.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 39
Os corretores no dispem com regularidade do controle fsico dos produtos
que manipulam, seguindo de perto as ordens de seu cliente. Seus poderes nas
negociaes so menores do que a dos comissrios.
Os intermedirios especuladores constituem um grupo que se apropria dos
produtos, com o objetivo de obter lucro a partir das flutuaes de preo, no curto
prazo. A atividade de compra e venda feita freqentemente ao nvel do canal de
mercado. Na competio com outros intermedirios, esses agentes contribuem para
a manuteno de uma adequada estrutura de preos.
As organizaes instrumentais auxiliam os diversos intermedirios na
execuo de sua tarefas. Regra geral, tais organizaes no participam dos
processos de comercializao, nem como comerciante, nem como agentes. No
tomam parte direta na compra e venda dos produtos, mas prestam servios
informativos, reguladores, de fiscalizao e outros, podendo exercer uma influncia
de longo alcance sobre a natureza da comercializao. Neste grupo esto as Bolsas
de mercadorias, as Associaes Comerciais, as transportadoras, as classificadores,
os bancos, as companhias de seguros, as armazenadoras, as empacotadoras, e os
rgos responsveis pelos servios de informao e de pesquisa de mercado.
As indstrias de transformao, ainda que no includas na lista dos
intermedirios de comercializao, no podem ficar fora das consideraes do
estudo. Algumas delas, tais como os frigorficos, os moinhos e outras indstrias
alimentcias, freqentemente, agem como prprios agentes de compra nas reas de
produo. comum assumirem tambm a funo de atacadistas, distribuindo suas
mercadorias aos retalhistas, formando importantes instituies no processo de
comercializao.
2.2.1 - O RAMO DE DISTRIBUIO DE ALIMENTOS NO BRASIL
A partir da dcada de 70, ocorreram profundas transformaes nos canais de
comercializao de alimentos no Brasil, uma vez que at ento os canais tradicionais
(feiras, mercearias, mercados) eram responsveis por mais de 70 % do volume de
vendas dos gneros alimentcios. J no incio dos anos oitenta, a proporo das lojas
de auto-servios (supermercados e hipermercados, estes com rea de vendas
superior a 2.500 m2) j tinham passado a responder por cerca de trs quartos do
volume (contra 25 % dos canais tradicionais), apesar de representarem menos de 15
% do total de pontos de venda.
Com base em estratgias mercadolgicas bem planejadas, as lojas de auto-
servio, conquistaram a preferncia dos consumidores em todo o pas, por oferecer
facilidades de acesso a uma grande variedade de produtos, alm dos alimentos.
A grande concorrncia que existe entre os supermercados uma das
caractersticas dos anos recentes, marcados pela recesso e pela queda do poder de
compra da populao. Entre o perodo de 1987 a 91, aconteceram quatro marcantes
mudanas na rea dos supermercados, a saber:
COMERCIALIZAO AGRCOLA 40
a) queda nas vendas em cerca de 15 %;
b) reduo de 28 % no nmero de lojas dos 300 maiores supermercados (de 4.949
para 3.548);
c) diminuio de 15 % no nmero de empregados (de 324 mil para 274 mil
pessoas);
d) aumento no tamanho mdio das lojas (de 833 m2 para 1.114 m2).
Devido reduo das margens de lucro, a busca de maior produtividade para
assegurar a capacidade de competio passou a ser a preocupao fundamental das
empresas do setor, que vm procurando tornar-se mais geis, com estrutura mais
enxuta. A distribuio um dos mais dinmicos e competitivos sistemas existentes no
pas.
De acordo com censo realizado pela Nielsen Servios de Marketing, o varejo
alimentar brasileiro (auto-servio e loja tradicionais) tem atualmente 223,3 mil lojas,
assim distribudas, por nmero de lojas e por volume de vendas (em percentagem):
Nmero Volume
de lojas de vendas
- tradicionais 85,3 16,3
- auto-servio com at 4 check-outs 12,5 27,4
- auto-servio de 5 a 9 check-outs 1,5 18,9
- auto-servio de 10 ou mais check-outs 0,7 37,4
Com somente 0,7 % do nmero de lojas, as maiores empresas de
supermercados no s lideram as vendas de varejo, como vem aumentando sua
participao. O fenmeno decorre principalmente na expanso da rede de
hipermercados, cujo nmero, que era de 60 no final da dcada de 70, j chega a 200,
em todo o Brasil.
Com relao estrutura desse mercado, a formao de um mercado com
caractersticas de oligoplio na indstria de produtos alimentares tem sido
acompanhada por processo paralelo em sua comercializao. Aproximadamente 75
% do faturamento desse mercado encontra-se em poder de apenas dez grandes
redes.
O Governo brasileiro participa da rede de comercializao, atravs das
centrais de abastecimentos (CEASA, COBAL), em geral atendendo o segmento de
hortifrutigranjeiros. O objetivo dessa atuao a limitao de preos e uma melhor
regularizao da oferta desses produtos.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 41
2.2.2 - INTEGRAO HORIZONTAL E VERTICAL
Um dos mais importantes aspectos da organizao de mercado o "grau de
integrao". Esse tipo de organizao se verifica quando um firma executa diversas
atividades no processo de comercializao, eliminando a atuao de custos
intermedirios.
Existem dois tipos bsicos de integrao, quais sejam: integrao horizontal.
A "Integrao Vertical" ocorre quando uma firma combina atividades no
semelhantes s que regularmente realiza. Tal integrao pode ser ilustrada pelo
frigorfico que decide alcanar o produtor e o consumidor, buscando a matria prima
no local de produo e entregando o produto diretamente ao retalhista ou ao
consumidor. A "Integrao Horizontal" se verifica quando uma firma absorve outras
firmas que executavam atividades similares s suas. O desenvolvimento de "linhas"
de armazns e silos, operados por uma s administrao, constitui um exemplo
desse tipo de integrao. J, uma cadeia de lojas de produtos alimentcios pertence
a ambos os tipos de integrao.
Quanto integrao vertical diz COELHO, ela envolve a ligao atravs de
contrato ou compra dos diferentes nveis do processo de comercializao.
Conceitualmente ela pode ser "para frente" ou "para trs", embora na agricultura
ocorra quase que exclusivamente do tipo "para trs". Integrao vertical geralmente
usada para corrigir certas ineficincias existentes no processo de comercializao
de algum produto. Neste contexto ela substitui o sistema de preos como o
mecanismo coordenador interfirmas. Ao contrrio da "integrao horizontal", que
geralmente ocorre na luta pelo poder de mercado, a integrao vertical (a menos
que ela envolva domnio exclusivo pela firma de alguns estgios) busca
basicamente reduzir os riscos, assegurar uma determinada quantidade e qualidade
do produto e reduzir os custos por meio de uso de economias de escala nos
diversos estgios.
Na medida em que o processo de modernizao evolui, a experincia em
outros pases tem demonstrado que a tendncia reforar o esquema de compras
por meio de integrao vertical via estabelecimento de contratos de produo de
longo prazo. No Brasil, a aplicao em grande escala de integrao vertical ainda
limitada a um nmero muito reduzido de produtos em algumas regies. Os setores
onde ela comumente observada so o setor de aves e o setor de frutas e vegetais.
Integrao vertical ocorre para substituir o sistema de preos de mercado
como mecanismo de coordenao entre produo e consumo. No presente caso, se
a firma integra verticalmente "para trs" comprando grandes fontes de matrias-
primas, isto pode ter como resultado um aumento nas barreiras para entrada de
novas firmas por meio de modificaes na estrutura (absoluta) de custos.
Adicionalmente, se a firma integra verticalmente "para frente" pode ter como
resultado tambm uma reduo nas opes de escoamento do produto para outras
empresas.
Para a indstria, as vantagens da integrao vertical (ou contratos) so:
maior controle na oferta de matria prima na poca adequada, controle de qualidade
COMERCIALIZAO AGRCOLA 42
da mateira prima, melhor uso dos equipamentos devido oferta mais estvel de
matria prima com conseqente incentivos econmicos.
Para os produtores, as vantagens dos contratos so: reduo de risco de
preo e de produo, obteno de capital e insumos modernos, segurana de
mercado e adoo de melhores mtodos de produo.
Entre os problemas resultantes da integrao vertical, para os produtores,
citam-se: a tendncia da reduo de preos oriunda do aumento no uso de
equipamento com conseqente liberao de mo-de-obra, menor nmero de
produtores, reduo da competio.
As cooperativas so um tipo de integrao vertical que os produtores
encontram para estimular a competio e reduzir sua dependncia da indstria
devido a tendncia da integrao vertical e s mudanas na estrutura de mercado.
2.3 - ANLISE ESTRUTURAL
O mtodo estrutural tem seus fundamentos no trabalho de BAIN onde a
estrutura de mercado inclui as caractersticas de organizao de mercado
relacionadas conduta de firmas e eficincia industrial. Os elementos-chaves so
os de estrutura, conduta e eficincia de mercado, supondo-se que a direo de
causa seja estrutura conduta eficincia.
2.3.1 - ESTRUTURA DE MERCADO
Engloba as caractersticas que influem no tipo de concorrncia nos mercados
e na formao de preos. Estas caractersticas so:
a) Grau de concentrao de vendedores e tambm de compradores, isto , nmero
e tamanho deles. Acredita-se que uma indstria altamente concentrada (por
exemplo, apenas 4 firmas detendo 75 % da produo) tende a ter um grau de
eficincia aqum do desejado, porque as empresas procuram alocar os recursos
ineficientemente atravs da interferncia direta no funcionamento do sistema de
preos.
b) Grau de diferenciao do produto, cujo objetivo tornar a curva de demanda
mais inelstica pode ser obtida atravs:
- servios especiais aos compradores (levar o produto em casa, por exemplo).
- ingredientes de qualidade superior
- prmios.
- embalagens especiais
COMERCIALIZAO AGRCOLA 43
c) Grau de dificuldade barreiras para entrada de novas firmas.
Este aspecto importante fator na determinao do grau de concentrao de
uma indstria e por extenso da estrutura do mercado. Estes fatores podem ser:
- Economias de escala
- Vantagens de custos (na compra de fatores, experincia e na tecnologia.
- Patente de inveno;
- Controle de um fator estratgico (capital ou um insumo importante).
Grau de concentrao
O grau de concentrao uma importante medida da estrutura de mercado,
que, por sua vez, engloba as caractersticas que influenciam no tipo de concorrncia
e na formao de preos. Quanto mais concentrado for um mercado, mais ele se
aproxima da situao de oligoplio, ou seja, poucas empresas dominando o
mercado. Na agroindstria brasileira, muitos casos se aproximam do "status"
oligopolstico. Isto acontece tanto pelo lado do produto agrcola processado como
tambm pelo lado dos fatores de produo vendidos agricultura.
Concentrao nos mercados de produtos processados
Os dados disponveis indicam a existncia de elevado grau de concentrao
industrial em alguns ramos da atividade, com poucas empresas de grande porte
concentrando parcela extremamente elevada da receita total da indstria de
alimentos.
Os ramos com maior grau de concentrao industrial so:
- Caf solvel;
- Refinao e preparao de leos-gorduras vegetais;
- Leite em p, e Iogurte;
- Conservas em carne;
- Amido de milho;
- Usinas integradas de lcool e acar;
- Suco concentrado de laranja.
J as micro e pequenas empresas encontram-se, especialmente, nos
seguintes ramos de atividades:
- Beneficiamento de caf;
- Cereais e produtos afins;
- Torrefao e moagem de caf;
- Farinhas diversas sobressaindo a mandioca;
- Produtos de milho, exclusive amidos e leos;
- Conservas e doces;
- Confeitarias e pastelarias;
- Fbrica de balas e caramelos;
- Massas alimentcias e biscoitos.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 44
Pelo lado dos produtos agrcolas processados, pode-se afirmar, por
exemplo, que o mercado de "caf solvel" tpico de oligoplio, pois este produto
produzido e comercializado por apenas nove empresas, sendo que apenas as
quatro maiores respondem por 82 (oitenta e dois) por cento do caf solvel no
Brasil. No sub-setor "conservas", dois teros so comercializados por apenas quatro
empresas, sendo que a maior (CICA) detm mais de quarenta por cento do
mercado nacional. H, tambm, situaes de oligoplio nos sub-setores frigorficos,
laticnios, massas, moinhos, leos vegetais e sucos concentrados, como se pode
constatar nas tabelas seguintes.
TABELA 2.9 - PARTICIPAO PERCENTUAL DAS PRINCIPAIS EMPRESAS NO
MERCADO DE CAF SOLVEL, NO BRASIL, 1989.
EMPRESA ESTADO % NO MERCADO
CACIQUE PR 27,0
NESTL SP 24,0
IGUAU PR 20,0
BRASLIA MG 11,0
COCAM SP 4,7
MACSOL SP 4,3
REAL CAF ES 3,8
VIGOR RJ 3,4
CAIBB SP 0,9
ALPHA RJ 0,9
TOTAL DAS 10 EMPRESAS NO SUB-SETOR 100,0
TABELA 2.10 - PARTICIPAO PERCENTUAL DAS PRINCIPAIS EMPRESAS NO
MERCADO DE CONSERVAS, NO BRASIL, 1989.
EMPRESA ESTADO % NO MERCADO
CICA SP 42,0
ETTI SP 11,0
FBRICAS PEIXE PE 8,0
BEIRA ALTA RJ 6,0
METAL FORTY RJ 4,0
HERO SP 3,0
FIAMMA RJ 3,0
AGAP RS 3,0
COLOMBO RJ 2,0
CICANORTE PE 10
TOTAL DAS 10 EMPRESAS NO SUB-SETOR 83,0
COMERCIALIZAO AGRCOLA 45
TABELA 2.11 - PARTICIPAO PERCENTUAL DAS PRINCIPAIS EMPRESAS NO
MERCADO DE FRIGORFICOS, NO BRASIL, 1989.
EMPRESA ESTADO % NO MERCADO
PERDIGO SC 16,1
FRIGOBRS OR 12,9
BORDON SP 6,7
AURORA SC 4,9
AVIPAL RS 4,4
FRIGORFICO KAIOWA SP 4,2
SWUIFT AMOUR SP 3,7
CHAPEC AVCOLA SC 3,5
FRANGO SUL RS 3,3
CHAPEC SC 3,0
TOTAL DAS 10 EMPRESAS NO SUB-SETOR 62,7
TABELA 2.12 - PARTICIPAO PERCENTUAL DAS PRINCIPAIS EMPRESAS NO
MERCADO DE LATICNIOS, NO BRASIL, 1989.
EMPRESA ESTADO % NO MERCADO
SADIA CONCRDIA SP 27,9
GESSY LEVER SP 16,1
LEITE PAULISTA SP 9,8
SPAM RJ 7,0
LPC SP 6,5
VIGOR SP 3,2
LECO SP 3,2
YACULT SP 2,7
LACESA RS 2,5
MOCOCA SP 2,5
TOTAL DAS 10 EMPRESAS NO SUB-SETOR 81,4
TABELA 2.13 - PARTICIPAO PERCENTUAL DAS PRINCIPAIS EMPRESAS NO
MERCADO DE MASSAS, NO BRASIL, 1989.
EMPRESA ESTADO % NO MERCADO
PETYBON GO 16,3
PIRAQU RJ 13,9
M. DIAS BRANCO CE 9,5
PILAR PE 8,1
MARILAN SP 6,0
PULLMAN SP 5,5
ISABELA RS 4,6
TODESCHINI PR 4,6
SELMI SP 4,3
SANTA AMLIA MG 3,3
TOTAL DAS 10 EMPRESAS NO SUB-SETOR 76,1
COMERCIALIZAO AGRCOLA 46
TABELA 2.14 - PARTICIPAO PERCENTUAL DAS PRINCIPAIS EMPRESAS NO
MERCADO DE MOINHOS, NO BRASIL, 1989.
EMPRESA ESTADO % NO MERCADO
MOINHO BRASIL SP 28,3
MOINHO DA LAPA SP 10,6
MOINHO FLUMINENSE RJ 6,0
MOINHOS ANACONDA SP 3,8
INDSTRIAS REUNIDAS SO JORGE SP 3,4
FORTALEZA CE 3,2
MOINHO RECIFE PE 3,0
MOINHO SALVADOR BA 2,8
MOINHO FAMA SP 2,8
ATLNTICO RJ 2,6
TOTAL DAS 10 EMPRESAS NO SUB-SETOR 66,5
TABELA 2.15 - PARTICIPAO PERCENTUAL DAS PRINCIPAIS EMPRESAS NO
MERCADO DE LEOS VEGETAIS, NO BRASIL, 1989.
EMPRESA ESTADO % NO MERCADO
CEVAL SC 18,5
SAMBRA SP 14,4
BRASWEY SP 6,4
OLVEBRA RS 5,3
SAMRIG RS 4,4
INCOBRASA RS 3,6
REFINAES DE LEO BRASIL SP 3,6
COMOVE SP 3,3
GRANOL SP 3,0
J. B. DUARTE SP 3,0
TOTAL DAS 10 EMPRESAS NO SUB-SETOR 65,5
TABELA 2.16 - PARTICIPAO PERCENTUAL DAS PRINCIPAIS EMPRESAS NO
MERCADO DE PRODUTOS DE CHOCOLATE, NO BRASIL, 1989.
EMPRESA ESTADO % NO MERCADO
NESTL SP 40,0
GAROTO ES 17,0
LACTA SP 14,0
CHOVISA (VITRIA) ES 6,0
JOANES BA 4,0
CHANDLER BA 3,7
REMATEL SP 2,5
NEUGEBAUER RS 2,4
DIZIOLI CHOCOLATES SP 2,3
PAN SP 1,2
TOTAL DAS 10 EMPRESAS NO SUB-SETOR 93,1
COMERCIALIZAO AGRCOLA 47
Concentrao nos mercados de insumos agropecurios
Pelo lado dos insumos (fatores de produo), os agricultores enfrentam o que
se chama de oligoplio, ou seja, poucas e grandes empresas vendendo os
principais recursos de produo, os quais so produzidos pelo setor industrial. Nos
trs principais segmentos dos insumos - fertilizantes, raes e mquinas agrcolas -
constata-se tambm uma forte concentrao industrial, notadamente no subsetor de
raes e de tratores e implementos agrcolas, onde as quatro maiores empresas de
cada um desses subsetores so responsveis por 65 % e 62,7 %, respectivamente,
conforme se pode observar nas tabelas seguintes.
As empresas que compem o setor fornecedor de insumos e outros bens de
produo para a agropecuria so as grandes responsveis pela modernizao da
agropecuria, notadamente na dcada de 70, tendo introduzido nova base
tecnolgica de produo, que possibilitou inclusive a mecanizao da agricultura.
O agregado do agribusiness brasileiro voltado para a produo de insumos e
outros bens de produo agrcola tem uma grande importncia econmica, em
especial os ligados indstria de sementes, fertilizantes, defensivos agrcolas,
mquinas agrcolas, defensivos animais e raes.
A indstria de fertilizantes no Brasil est segmentada de acordo com os
estgios do processo produtivo, o qual incorpora as seguintes etapas:
- matrias-primas bsicas (amnia, enxofre, rocha fosftica e sais potssicos);
- produtos intermedirios (cidos: ntrico, sulfrico e fosfrico);
- fertilizantes simples (uria, nitratos de amnio, sulfato de MAP e DAP, TSP, SSP,
sulfatos de potssio e cloreto de potssio);
- fertilizantes mistos (formulaes ou mistura de NPK).
A participao em todas as fases do processo de produo baixa em
funo dos seguintes requisitos: a) controle e acesso s matrias-primas (petrleo,
gs natural, nafta, enxofre, pirita, rocha fosfatada; b) domnio dos processos
tecnolgicos; e c) capacidade financeira para realizar investimentos de capital e
manter elevados estoques. Este segmento da indstria pouco dinmico no que se
refere introduo de inovaes tecnolgicas, em funo, provavelmente, do seu alto
grau de concentrao nos estgios que requerem maior conhecimento tcnico.
TABELA 2.17 - PARTICIPAO PERCENTUAL DAS PRINCIPAIS EMPRESAS NO
MERCADO DE FERTILIZANTES, NO BRASIL, 1989.
EMPRESA ESTADO % NO MERCADO
ULTRAFTIL (*) SP 9,6
NITROFRTIL (*) BA 8,1
TREVO RS 8,1
IPIRANGA SERRANA SP 7,7
FOSFRTIL (*) MG 7,6
COPAS SP 4,4
MANAH SP 4,0
TAKENAKA SP 4,0
QUIMBRASIL SP 3,7
ARAFERTIL MG 3,3
TOTAL DAS 10 EMPRESAS NO SUB-SETOR 60,5
(*) Faziam parte da subsidiria Petrofrtil, mas j foram privatizadas.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 48
A indstria de defensivos agrcolas no Brasil constituda quase que
exclusivamente por multinacionais, especialmente grandes empresas da indstria
qumica, uma vez que a fabricao de defensivos decorre do aproveitamento de
subprodutos da indstria qumica. As empresas que se instalaram no Brasil no
trouxeram seus laboratrios de P&D, reduzindo, portanto, a possibilidadade de difuso
do conhecimento tecnolgico.
Esta indstria tem como principal caracterstica a rpida absolescncia
tecnolgica, pois os produtos perdem eficincia com o uso regular, j que os
microorganismos que se deseja combater criam resistncia aos produtos. Assim, a
concorrncia est baseada na diferenciao de produtos e no constante lanamento
de novos produtos.
Alm desse grande poder de mercado, nas duas ltimas dcadas, tem havido
um intensificao de fuses entre empresas do setor de defensivos. Na dcada de
70, a Ciba uniu-se Geigy. Em meados de 80, a Union Carbide foi incorporada
Rhodia. No final da dcada, uniram-se a Stanler e a ICI e depois a Dow e a Elanco.
No ano passado, o mercado voltou a ser sacudido com a compra da Shell Agrcola
pela Cyanamid. Estas fuses so aceleradas pela necessidade de se somar esforos
na rea de pesquisa, margens mais apertadas e maior rigidez nas normas de controle
do impacto ao meio ambiente.
TABELA 2.18 - PARTICIPAO PERCENTUAL DAS PRINCIPAIS EMPRESAS NO
MERCADO DE DEFENSIVOS AGRCOLAS, NO BRASIL, 1993.
EMPRESA % NO MERCADO
CIBA-GEIGY 11,5
DU PONT 8,5
CYANAMID 8,0
ICI 8,0
DOW ELANCO 7,6
MONSANTO 7,3
BAYER 5,6
HOECHST 5,1
RHODIA 5,0
BASF 4,5
TOTAL DAS 10 EMPRESAS NO SUB-SETOR 71,1
FONTE: ANDEF
Estima-se que o faturamento global do ramo de defensivos no Brasil esteja
prximo a um bilho de dlares/ano, sendo que as dez maiores empresas (tabela
2.18), juntas, so responsveis por mais de 70 % desse total.
A rea de mquinas agrcolas explorada por nmero reduzido de
empresas, com produo sofisticada e escala de produo significativa. Empresas
multinacionais e nacionais privadas (algumas com participao estrangeira no capital)
participam do mercado. No ramo de tratores, as trs maiores empresas concentram
cerca de 85 % das vendas, enquanto no de colheitadeiras as trs representam 80 %
do mercado. Acham-se associadas ao Sinfavea e Anfavea quatorze empresas: nove
delas fabricam tratores de roda, trs produzem tratores de esteiras, apenas duas o
cultivador motorizado e trs fabricam colheitadeiras.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 49
A principal forma de concorrncia neste ramo a diferenciao de produto. A
busca contnua por inovaes torna a atividade de pesquisa e desenvolvimento
tecnolgico o aspecto preponderante na capacidade de competio das empresas.
As empresas tm acesso direto ou indireto tecnologia externa; todas dispem de
departamento de P&D, onde so feitas adaptaes nos projetos adquiridos.
TABELA 2.19 - PARTICIPAO PERCENTUAL DAS PRINCIPAIS EMPRESAS NO
MERCADO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRCOLAS, NO
BRASIL, 1989.
EMPRESA ESTADO % NO MERCADO
MAXION SP 37,6
VALMET SP 14,9
AGRALE RS 5,4
CBT SP 4,6
TATU SP 4,6
YANMAR SP 4,3
SLC RS 3,2
JACTO SP 3,1
MULLER RJ 2,7
BALDAN SP 2,5
TOTAL DAS 10 EMPRESAS NO SUB-SETOR 82,9
O faturamento global desse gnero no Brasil, est ao redor de dois bilhes de
dlares/ano.
Outro aspecto importante a organizao do sistema de comercializao das
empresas. Uma rede de revenda bem montada e servios de assistncia tcnica
(existem atualmente cerca de 700 fornecedores e 1.100 concessionrias) so
aspectos indispensveis para a competitividade e a participao no mercado.
No que se refere aos implementos agrcolas, a caracterstica a existncia de
um grande nmero de empresas, dominadas por uma reduzida quantidade de firmas
maiores. Apesar do pequeno porte da maioria delas, apenas uma dezena responde
por cerca de 80 % da oferta nacional.
Tendo em vista que o Brasil tem um dos maiores plantis, o mercado
veterinrio brasileiro teve um faturamento, em 1993, em torno de 650 milhes de
dlares (que corresponde a 20 % a mais do desempenho registrado no ano anterir,
que foi de US$ 515 milhes), constituindo-se, assim, no quinto maior do mundo,
perdendo apenas para os Estados Unidos (US$ 3,2 bilhes) Japo (US$ 882
milhes), Frana (US$ 782 milhes) e China (US$ 633 milhes). Do faturamento
total, no Brasil, a participao relativa (%) a seguinte:
- os parasiticidas 49
- os antimicrobianos 22
- os biolgicos 13
- os farmacuticos 9
- os aditivos 7
COMERCIALIZAO AGRCOLA 50
Entre as principais empresas de defensivos no Brasil, com suas respectivas
participaes no mercado (%), esto: Tortuga (18 %), Merk Sharp (10), Rhodia (8,5),
Pfizer (7,2), Coopers (6,2), Bayer (5,5), Fatec (4,5), Salsbury (3,7), Vale (3,4) e
Roche (3,0), sendo que os restantes contribuem com cerca de 30 %.
Uma das caractersticas do setor nacional de defensivos animais a sua
estrutura atomizada, com cerca de 150 empresas, sendo que apenas metade desse
total pode ser considerada participante ativa do mercado, uma vez que as demais
possuem apenas ao regional. Esto filiados ao Sindicato Nacional da Indstria de
Defensivos Animais (SINDAN), 89 laboratrios, dos quais 64 so nacionais e 25 de
capital estrangeiro. O conjunto desses 89 laboratrios detm 90 % do mercado
nacional de produtos veterinrios.
O mercado de raes sofreu profundas transformaes, notadamente a partir
do incio da dcada de 80, onde as empresas especializadas e produtoras de raes
comerciais foram paulatinamente cedendo espao, tanto para as empresas que
verticalizaram suas produes de aves e sunos (via o sistema de integrao), como
para os criadores independentes que passaram a produzir suas prprias raes,
comprando os suplementos.
At a metade da dcada de 70, o mercado de raes era classificado como
sendo um "oligoplio concorrencial", isto , um mercado onde um pequeno nmero de
grandes empresas concorrem entre si, detendo cada uma delas uma parcela
significativa do mercado. Nos anos seguintes, houve uma relativa perda desse poder
oligoplico, devido entrada das empresas integradas e dos criadores independentes,
os quais passaram a ter fcil acesso aos suplementos, at ento sob controle das
grandes empresas especializadas e do segmento qumico-farmacutico.
Trs empresas so responsveis por cerca de 22 %, 20 % e 15 %,
respectivamente, da produo total do grupo de empresas especializadas. Assim,
estas trs empresas, em conjunto, contribuem com mais da metade da produo das
especializadas, e com quase 15 % da produo de raes no Brasil. As oito maiores
empresas especializadas, juntas, produzem 3,7 milhes de toneladas/ano, o que
corresponde a mais de 80 % do total de raes comerciais.
Entre as empresas integradas (em que as agroindstrias fornecem aos
criadores para engorda os pintos, no caso da avicultura de corte, ou os leites ou
matrizes, na suinocultura, a rao, alm de assistncia tcnica veterinria, mediante o
compromisso de entrega dos lotes prontos para o abate, a um preo previamente
combinado) esto a Sadia, a Perdigo, a Chapec e a Seara, alm das cooperativas.
Cabe ressaltar, contudo, que em volume produzido, a Sadia se constitui na maior
empresa do ramo, e sozinha responsvel por cerca de 10 % da produo total de
raes no pas, ou um quinto da quantidade produzida pelas empresas integradas.
O crescimento dos integradores e dos criadores independentes foi favorecido
pela facilidade de acesso ao ncleo e premix (vitaminas e sais minerais) no mercado
de suplementos. No incio, estes eram ofertados pela indstria qumico-farmacutica,
mas depois as prprias empresas de arraoamento animal passaram a fabric-los e
inclui-los na linha de produtos.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 51
TABELA 2.20 - PARTICIPAO PERCENTUAL DAS PRINCIPAIS EMPRESAS
ESPECIALIZADAS NO MERCADO DE RAES, NO BRASIL,
1993 (*).
EMPRESA ESTADO % NO MERCADO
PURINA SP 22,0
MOGIANA SP 20,0
SOCIL SP 15,0
PRIMOR SP 7,0
PURINA ALIMENTOS SP 7,0
ALISUL RS 6,3
PURINA DO NORDESTE PE 5,1
SUL MINEIRA MG 5,1
FRI RIBE SP 5,0
AGROCERES MG 2,3
TOTAL DAS 10 EMPRESAS NO SUB SETOR 94,8
(*) Excluindo-se as empresas integradas.
Concentrao regional
Alm da concentrao empresarial, a qual determina o poder oligoplico ou
oligopsnico no mercado, a localizao da produo tambm importante, uma vez
que muitas empresas tem um forte poder num determinado mercado apenas a nvel
local ou regional.
As indstrias processadoras de alimentos esto distribuidas por todo o
territrio nacional, sendo um dos ramos industriais mais desconcentrados em termos
de nmero de estabelecimentos. Os dados mostram uma maior concentrao das
empresas junto aos grandes centros consumidores do Sudeste (metade do nmero
de estabelecimentos) e Sul (27,1 %) do pas (tabela 2.21).
TABELA 2.21 - CONCENTRAO REGIONAL DA INDUSTRIAL AGROALIMEN-
TAR POR NMERO DE ESTABELECIMENTOS.
(Em %)
R E G I E S
ANOS NORTE NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE SUL
1980 4,0 24,8 8,8 43,4 19,0
1993 3,6 14,8 4,0 50,4 27,1
FONTE: Censo Industrial 1980 e Cadrastro CNI 1993.
Por sua vez, considerando a presena das indstrias agroalimentares por
estado da Federao, tem-se o Estado de So Paulo como o mais importante, com
30,8 % do valor da produo desse segmento. Em seguida, com uma expresso
econmica menor, esto os seguintes estados: Rio Grande do Sul, Minas Gerais,
Paran, Rio de Janeiro e Santa Catarina, que juntos localizam mais de 70 % das
empresas.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 52
2.3.2 - CONDUTA DE MERCADO
definida como as polticas da firma em relao s demais concorrentes no
mercado. O comportamento da firma pode ser subdividido em 3 reas:
- comportamento com respeito poltica de preos
- comportamento com respeito ao produto
- comportamento coercivo
a) Poltica de preo
Nos casos de oligoplios, as firmas tentam evitar a competio de preos, a
fim de manter as condies mais estveis para a indstria. H mtua
interdependncia entre as firmas. Estes objetivos podem ser conseguidos atravs
de:
Acordo entre firmas
- de preos
- territrios (reas de mercado)
Liderana preo
Tipo de coordenao de preos sem qualquer organizao formal. A firma
lder anuncia os preos e as demais a seguem.
Conluio
H uma mtua interdependncia de comportamento mas os preos so
diferenciados porque os produtos so diferentes. As firmas anunciam os preos na
mesma poca e num percentual mais ou menos igual. Exemplo: indstria
automobilstica.
b) Polticas de produto
- Diferenciao de produto
- Gastos com propaganda
- Servios adicionados ao produto
As polticas de preo e de produto so resultado das caractersticas
estruturais do mercado.
c) Conduta coerciva
Tenta mudar a estrutura atravs do enfraquecimento ou eliminao das
concorrentes, obtido, entre outras formas, atravs de dumping de preos ou
integrao vertical, a qual aumenta as barreiras entrada de novas firmas.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 53
2.3.3 - EFICINCIA DO MERCADO
Eficincia uma relao produto/insumo, sendo que as principais
medidas de eficincia em comercializao so:
- margens como reflexo de custos
- progresso
- eficincia de preo
- perdas e quebras na comercializao
- preos em relao ao custo mdio de produo
2.3.4 - PROCESSO DE COMERCIALIZAO
A comercializao cria um fluxo organizado de bens e servios, cuja
origem so distintos e dispersos locais de produo e cujo fim so tambm
diferentes pontos de consumo. Entre a produo e o consumo h uma srie de
funes desempenhadas pelos diversos agentes envolvidos na comercializao. H
trs fases distintas no processo de comercializao: concentrao, equilbrio e
disperso.
Processo de concentrao - Inclui a procura e a reunio de produto produzido por
milhares de agricultores.
Processo de equilbrio - formado pelas atividades que regulam o fluxo de produo
(sazonal) em funo da taxa de consumo (mais ou menos constante ao longo do
ano).
Processo de disperso - consiste na subdiviso dos grandes lotes reunidos na
concentrao e encaminh-los ao consumo no lugar, no tempo, na forma e na
quantidade desejados pelos consumidores.
Cooperativas ATACADISTAS Atacadistas
Transportadores CORRETORES Beneficiadores C
P BOLSAS V O
R INDSTRIAS A N
O R S
D E U
U MERCADO MERCADO MERCADO J M
T PRIMRIO TERMINAL SECUNDRIO I I
O S D
R EQUILBRIO T O
E A R
S CONCENTRAO DISPERSO S E
S
FIGURA 2.7 - FLUXO DE BENS E SERVIOS NO SISTEMA DE
COMERCIALIZAO
COMERCIALIZAO AGRCOLA 54
2.3.5 - CANAL DE COMERCIALIZAO
Canal de comercializao o caminho percorrido pela mercadoria desde o
produtor at o consumidor final. a seqncia de mercados pelos quais passa o
produto, sob a ao de diversos intermedirios, at atingir a regio de consumo. O
canal de comercializao mostra como os intermedirios se organizam e se
agrupam para o exerccio da transferncia da produo ao consumo.
A classificao dos canais de comercializao se baseia no seu comprimento
e complexidade. Os tipos mais comuns so:
a) O produtor vende diretamente ao consumidor
Um exemplo o que acontece com os feirantes que so produtores que
vendem sua produo diretamente ao consumidor.
PRODUTOR CONSUMIDORES
(Transporte)
b) As operaes so executadas pelos intermedirios
Neste caso, o canal de comercializao pode ter uma complexidade variada,
dependendo do nmero de operaes e , portanto, do nmero de pessoas
envolvidas. medida em que h desenvolvimento da economia e que se intensifica
a especializao da atividade, o canal tende a se tornar mais complexo.
PRODUTOR PRODUTOR PRODUTOR
INTERMEDIRIO
Transporte Transporte AGENTE
Transporte
INTERMEDIRIO ATACADISTA ATACADISTA
Transporte Transporte
VAREJISTA VAREJISTA
CONSUMIDOR CONSUMIDOR CONSUMIDOR
FIGURA 2.8 - TIPOS DE CANAIS DE COMERCIALIZAO
COMERCIALIZAO AGRCOLA 55
PRODUTOR
77 % 2 %
ATACADISTAS 17 % CAMINHONEIROS
INTERIOR
77 % 2 %
ATACADISTAS 52 % ATACADISTAS 4% OUTROS
CAPITAL ATACADISTAS
CAPITAL
20 % 33 % 33 % 9 % 5 %
FEIRAS EMPRIOS SUPERMERCADOS MERCADOS OUTROS
DISTRITAIS
FIGURA 2.9 - CANAIS DE COMERCIALIZAO DO FEIJO, ESTADO DE SO
PAULO, JULHO DE 1971.
FONTE: JUNQUEIRA et allii (1971)
COMERCIALIZAO AGRCOLA 56
Fatores que afetam a escolha do canal de comercializao
a) Natureza do produto
A maior perecibilidade determina canais de comercializao mais curtos, ou
seja, que os locais de produo no distem dos centros de consumo, para evitar
perdas.
Em geral, quanto maior o valor unitrio do produto, tanto maior a
possibilidade de sucesso na comercializao direta, pois o lucro obtido da venda
de pequenas quantidades de tais produtos.
b) Natureza do mercado
Mercadorias de consumo restrito admitem um canal de comercializao curto,
ao passo que para artigos de grande consumo, que exigem maior trabalho de
distribuio, necessrio adotar um canal de comercializao mais longo.
Quanto maior o volume mdio de vendas por consumidor, tanto menor a
possibilidade de realizar a comercializao direta. O carter estacional das vendas
favorece o prolongamento do canal de comercializao.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 57
3 - CUSTOS, MARGENS E "MARKUPS" DE COMERCIALIZAO
3.1 - CUSTOS DE COMERCIALIZAO
A demanda por produtos agropecurios se refere no apenas matria-
prima (o bem) em si, mas tambm aos servios adicionados a esta matria-prima,
tais como: transporte, armazenamento, processamento, classificao, embalagem,
promoo, etc. Exemplo: os consumidores demandam arroz beneficiado, num
determinado lugar, num tempo certo. Para a realizao destes servios, os agentes
do processo de comercializao incorrem em custos que podem ser classificados
em variveis (embalagem, fretes e manipulaes, contribuies como o
FUNRURAL, impactos como o ICMS, taxas de seguro e financiamento,
armazenamento, beneficiamento, perdas, processamento, classificao, etc.), e
fixos, (juro e depreciao sobre benfeitorias, mquinas e equipamentos).
3.2 - MARGEM DE COMERCIALIZAO
A margem (M) de comercializao refere-se diferena entre preos a
diferentes nveis do sistema de comercializao. A margem total (M
t
) a diferena
entre o preo pago pelo consumidor e o preo recebido pelo produtor.
A margem deve refletir os custos de comercializao e a poro relativa ao
lucro.
3.2.1 - MARGEM BRUTA DE COMERCIALIZAO
MARGEM VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO
Total (M
t
) P
v
- P
p
[(P
v
- P
p
) / P
v
] 100
Atacado (M
a
) P
a
- P
p
[(P
a
- P
p
) / P
v
] 100
Varejo (M
v
) P
v
- P
a
[(P
v
- P
a
) / P
v
] 100
Sendo que:
P
v
= preo a nvel de varejo, ou seja, preo pago pelo consumidor;
P
a
= preo a nvel de atacadista, ou seja, preo de venda do atacadista;
P
p
= preo recebido pelo produtor.
importante ressaltar que a margem relativa se refere relao percentual
entre a diferena de preos e o preo a nvel de varejo.
A seguinte seqncia facilita a compreenso:
P
p
P
a
P
v
Produtor Atacadista Varejista Consumidor
COMERCIALIZAO AGRCOLA 58
Exemplo:
PREOS MARGEM (%) PART (%)
PRODUTO PRODUTOR ATACADO CONSUM. ATACADO VAREJO TOTAL DO PRODUTOR
FEIJO (Kg) 70 100 140 21,5 28,5 50,0 50,0
OVOS (Dz) 20 25 35 14,3 28,5 42,8 57,2
Interpretao:
a) O atacadista de feijo fica com 21,5 por cento do preo pago pelo consumidor,
enquanto o de ovos apenas 14,3 por cento;
b) Tanto para feijo como para ovos, o varejista retm o mesmo percentual (28,5)
relativamente ao preo a nvel de consumidor, enquanto a comercializao, como
um todo, foi responsvel por 50% e 42,8% respectivamente.
3.2.2 - Margem Lquida de Comercializao
Para um produto que processado, o clculo da margem deve ser feito com
base num preo, a nvel de consumidor final, que leve em considerao os preos
dos derivados, ponderados pelos seus respectivos coeficientes tcnicos de
transformao. Por exemplo, para um produto como a soja, com os derivados farelo
e leo, pode-se calcular a margem lquida da seguinte maneira, admitindo-se os
seguintes preos:
P
p
0
= Preo da soja em gros (saca de 60 Kg) = R$ 10,40
P
v
1
= Preo do farelo de soja (t) = R$ 191,30
P
v
2
= Preo do leo de soja ( 900 ml ) = R$ 0,84
A fim de facilitar o clculo , deve-se converter todos os itens a uma mesma
base (100 Kg, por exemplo). Desta maneira, os preos do itens acima, para cada
100 Kg de peso, ficariam: R$ 17,33; R$ 19,13 e R$ 93,33, respectivamente.
Os rendimentos (R) industriais (para cada 100 Kg de soja em gro) so:
R
1
= 78,00 Kg de farelo e
R
2
= 18,00 Kg de leo refinado.
O preo ponderado a nvel de derivados (P
v
) pode ser calculado pela
seguinte frmula.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 59
m
P
v
0
= R
j
P
vj
J =1
No caso da soja, "m" varia de 1 a 2 (que so os dois subprodutos).
P
v
0
= (19,13 x 0,78) + (93,33 x 0,18) = R$ 31,72/ 100 Kg
Se, alm do processamento, forem tambm considerar as perdas, h trs maneiras
para se calcular a margem de comercializao (M), conforme as diferenas no
cmputo das "perdas", na frmula. Os coeficientes de "perdas e quebras" (K) so:
K
0
= 0,040 (gro);
K
1
= 0,015 (farelo) e
K
2
= 0,008 (leo).
a) Primeiro Mtodo (sem considerar as "perdas e quebras")
M = [(P
v
0
- P
p
0
) / P
v
0
] x 100) = [(31,72 - 17,33) / 31,72] 100 = 45,4 %
b) Segundo Mtodo (considerando as "perdas e quebras" em todos o nveis).
P
p
*
= P
p
0
( 1 - K
0
) = 17,33 ( 1 - 0,040 ) = Cr$ 16,64
P
p
*
= Preo pago ao produtor menos as perdas iniciais.
2
P
v
*
= P
p
0
(1 - K
j
) = 31,72 (1 - 0,063) = R$ 29,72
J =1
P
v
*
= Preos pagos pelo consumidor menos as "perdas e quebras totais.
M
t
*
= [(P
v
*
- P
p
*
) / P
v
*
] 100 = [(29,72 - 16,64) / 29,72] 100 = 44,0 %
c) Terceiro Mtodo (considerando as "perdas e quebras" apenas no
processamento).
2
P
v
**
= P
v
0
(1 - Kj) = 31,72 (1 - 0,023) = R$ 30,99
J =1
P
v
**
= preos pagos pelo consumidor menos as "perdas e quebras no
processamento.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 60
Estudo efetuado por Mendes e Guimares para a cidade de Curitiba em dois
perodos distintos (1975-82 e 1989-90 ) sobre a evoluo das margens e dos
markups mensais, os autores obtiveram os valores que esto na tabela 3.1.
TABELA 3.1 - MARGENS E MARKUPS MDIOS DE COMERCIALIZAO PARA
ALGUNS PRODUTOS AGROPECURIOS, CURITIBA, PARAN,
1975-82 E 1980-90.
(Em %)
Produto Margem mdia Participao dos produtores Markup mdio Poltica de
75-82 80-90 75-82 80-90 75-82 80-90 markup
Acar 70,2 73,1 29,8 26,9 242 289 Flexvel
Arroz 61,3 64,2 38,7 35,8 167 169 Flexvel
Carne bovina 44,0 31,3 56,0 68,7 80 48 Rgido
Carne suna 59,2 50,8 40,8 49,2 147 111 - Rgido
Feijo de cor 39,3 38,9 60,7 61,1 41 67 + Rgido
Feijo preto 29,1 37,2 70,9 62,8 43 61 - Rgido
Frango 45,3 46,6 54,7 53,4 84 89 + Rgido
Leite 25,0 36,2 75,0 63,8 35 61 + Rgido
Milho 65,4 70,2 34,6 29,8 198 246 Flexvel
Ovos 35,0 42,2 64,0 57,8 58 78 - Rgido
Soja 32,3 36,6 67,7 63,4 50 59 + Rgido
FONTE: MENDES E GUIMARES, 1985 e 1991.
Estes resultados evidenciam que acar, arroz, carne suna e milho tem uma
margem superior a 50 %, o que significa que menos da metade dos gastos dos
consumidores com cada um desses produtos vai para os produtores.
3.3. "MARKUP" DE COMERCIALIZAO
O "markup" (Mk) a diferena entre o preo de venda e o preo de compra
(ou de custo). Em termos absolutos, "markup igual margem.
MARKUP VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO
TOTAL (Mk
t
) P
v
- P
p
[(P
v
- P
p
) / P
p
] 100
ATACADISTA (Mk
a
) P
a
- P
p
[(P
a
- P
p
) / P
p
] 100
VAREJISTA (Mk
v
) P
v
- P
a
[(P
v
- P
a
) / P
a
] 100
Em termos relativos, o "markup" mostra o percentual de aumento entre os
preos de venda e de compra relativamente ao preo de compra, ou, entre o preo
de venda e o custo de produo relativamente ao custo de produo.
PRODUTO PREOS MARKUP %
PRODUTOR ATACADO CONSUMIDOR ATACADO VAREJO TOTAL
FEIJO (Kg) 70 100 140 42,8 40,0 100
OVOS (Dz) 20 25 35 25,0 40,0 75,0
Interpretao:
para o feijo, por exemplo, o atacadista acrescentou 42,8 por cento sobre o preo
que ele pagou ao produtor;
COMERCIALIZAO AGRCOLA 61
para ambos o produtos, o varejista adicionou 40% sobre o preo pago ao
atacadista, enquanto o consumidor pagou um preo de 100% e 75%,
respectivamente, sobre o preo recebido pelo produtor.
Parece haver, de um modo geral, uma poltica de markup mais ou menos
rgida, ou seja, o percentual de acrscimos de preo sobre os preos a nvel de
produtor relativamente fixo, exceo do acar, arroz e milho.
3.4 - FATORES QUE AFETAM AS MARGENS
Os principais fatores que determinam a magnitude da margem de
comercializao so:
a) Quanto maior a perecibilidade, perdas ou quebras durante a comercializao,
maior dever ser a margem, tendo em vista que produtos como carne, leite, etc.,
exigem refrigerao tanto na estocagem quanto no transporte, resultando
consequentemente em custos maiores;
Por exemplo, estima-se que o valor global das perdas chegue a mais de dois
bilhes de dlares/ano, fortemente concentrados nos legumes/hortalias com US$
520 milhes/ano; frutas com US$ 500 milhes; milho com US$ 470 milhes; soja e
arroz (tabela 3.2).
TABELA 3.2 - ESTIMATIVAS DE PERDAS ANUAIS NA CADEIA DO SISTEMA
AGROALIMENTAR BRASILEIRO.
PRODUTO QUANTIDADES PERDIDAS VALOR DAS
PERDAS
% mil t. (US$ milhes)
Legumes/hortalias 35,0 2.000 520
Frutas 30,0 1.500 500
Milho 17,1 5.000 470
Soja 10,3 2.290 380
Arroz 22,0 2.250 370
Feijo 9,2 250 95
Trigo 10,0 230 32
T O T A L - 13.520 2.367
FONTE: CONAB-FGV-CEASA/RJ.
b) Quanto maior o grau de processamento, embalagem e classificao maior a
margem, devido aos maiores custos para executar estes servios;
c) Quanto maior a relao volume/peso ou volume/valor maior a margem, porque
h necessidade de maior espao para transporte e armazenamento, o que
resulta em custos adicionais;
COMERCIALIZAO AGRCOLA 62
d) Consumidor, maior a margem, devido aos custos mais elevados para realizar o
transporte;
e) Quanto maior a relao entre volume de venda e capacidade de estoques, os
custos de financiamento, estocagem e risco podem ser distribudos entre um
maior nmero de unidades do produto, resultando em reduo dos custos
unitrios;
f) Quanto maior a rapidez de amadurecimento do produto ou sazonalidade da
produo, maior a margem, devido aos custos fixos maiores para o
processamento, j que a firma deve ter um maior dimensionamento para
atender a transformao da produo num curto espao de tempo, ficando as
mquinas e equipamentos parados por longos perodos;
g) Quanto maior a instabilidade de preos do produto, maior a margem, porque os
intermedirios procuram elevar relativamente mais os preos hoje, devido
incerteza de preos no futuro;
h) Quanto maior o aumento no custo unitrio dos fatores, maior a margem, devido
elevao nos custos. Exemplo: Aumentos sucessivos nos preos do petrleo
tm elevado os custos de transporte e consequentemente a margem;
i) Quanto maior a quantidade de servios adicionais matria-prima, maior a
margem, devido aos maiores custos para executar os servios relativamente
mais elstica do que a demanda por matria-prima, devido ao efeito renda.
3.5 - ANLISE GRFICA DAS MARGENS
Considere um produto que requeira servios, tais como: transporte,
processamento, embalagem, armazenagem, etc.
Assuma que Ps = preo (custo) unitrio dos servios
Ps
Ss Onde Ss a curva de oferta
de servios e representa as
margens ( m0 e m1) de
comercializao.
m0 m1
0 Q
FIGURA 3.1 - CURVA DE OFERTA DE SERVIOS DO SETOR DE
COMERCIALIZAO
COMERCIALIZAO AGRCOLA 63
Demanda derivada a nvel de produtor (Dp)
A curva de demanda a nvel de consumidor (Dv) reflete no apenas a
demanda por matria-prima, mas tambm por servios adicionados matria-prima.
Considerando-se que Ss representa o custo dos servios, ento subtraindo-se Ss de
Dv tem-se a curva de demanda derivada (DP) a nvel de produtor.
P
Exemplo:
Dv = demanda por bife
DP = demanda equivalente
por bife contido no
animal, ao nvel de
produtor
Dv
DP = Dv - Ss
DP
0 Q
FIGURA 3.2 - DEMANDA DERIVADA A NVEL DE PRODUTOR
Oferta derivada a nvel de consumidor (Sv)
H uma curva de oferta a nvel de produo (Sp) que reflete a quantidade de
matria-prima que seria produzida a diferentes nveis de preos. Para colocar uma
matria-prima na forma, no local e no tempo desejados pelos consumidores
necessria a realizao dos servios, cujos custos so representados por Ss.
Sv
P
m1
Sp
m0
Sv = Sp + Ss
0 Q
FIGURA 3.3 - OFERTA PRIMRIA E OFERTA DERIVADA
Equilbrio nos dois mercados
COMERCIALIZAO AGRCOLA 64
H, portanto, dois mercados: um a nvel de produtor e outro a nvel de
consumidor.
Sv
P A
Pv
Sp
B Dv
Pp
Dp
0 Q Q
Pv - Pp = margem unitria de comercializao
FIGURA 3.4 - EQUILBRIO NOS DOIS MERCADOS
Concluses:
a) A rea PpPvAB representa os gastos com comercializao
b) A rea 0PpBQ representa a receita do produtor
c) A rea 0PvAQ representa os gastos dos consumidores com o produto.
Consideraes:
A magnitude da variao no preo ao produtor e ao consumidor depende da
elasticidade da curva de demanda a nvel de consumidor (Dv) e da elasticidade da
curva de oferta a nvel de produtor (Sp). Se a Dv for relativamente inelstica, um
dado aumento na margem de comercializao resultar num maior aumento do
preo a nvel de consumidor e uma menor reduo no preo a nvel de produtor, do
que se a Dv fosse mais elstica. Se a Sp for relativamente mais elstica, ento um
dado aumento na margem de comercializao resultar no mesmo efeito acima do
que uma Sp mais inelstica.
Sugesto para exerccio:
Os aumentos sucessivos nos preos dos derivados de petrleo tem
aumentado os custos de comercializao e consequentemente, as margens de
comercializao. Mostre graficamente os efeitos de um aumento nas margens de
comercializao sobre:
a) os preos para o consumidor e para o produtor;
b) o volume comercializado;
c) as despesas de comercializao
COMERCIALIZAO AGRCOLA 65
d) a receita do produtor
e) os gastos do consumidor
Elasticidade-preo da demanda
As elasticidades-preo da demanda, para qualquer nvel de quantidade
comercializada, so sempre menores a nvel de produtor (Ep) do que a nvel de
varejo (Ev). Com base na frmula bsica da elasticidade, tem-se:
Ev = dQ Pv = dQ 1 Pv
dPv Q dPv Q 1
Ep = dQ Pp = dQ 1 Pp
dPp Q dPp Q 1
Se ambas as curvas tiverem a mesma declividade, as expresses entre
parnteses so iguais. Assim:
Ev = Pv Ep
Pp
Desse modo: Ev > Ep
P
Ev
Pv
Pp Ep Dv
Dp
0 Q0 Q
Desta maneira, quanto maior a margem de comercializao, maior a
diferena entre os preos e, portanto, maior a diferena entre as duas elasticidades.
Conseqncia: pequena variao na produo pode causar uma variao
relativamente maior no preo para o produtor do que para o consumidor. Isto explica
porque em anos de supersafra os preos caem relativamente mais para o produtor
do que para o consumidor.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 66
3.6 - A CONTA (DESPESAS) DA COMERCIALIZAO NO TEMPO
A conta da comercializao agrcola uma estimativa do custo total de
comercializao de um produto ou de um conjunto de produtos, oriundos das
fazendas e consumidos dentro do pas. Esta conta mostra a diferena entre os
gastos totais com alimentao por todos os habitantes do Brasil e o valor dos
alimentos ao nvel das propriedades agrcolas.
Nos Estados Unidos, estima-se que dois teros dos gastos dos consumidores
com alimentao so destinados para a conta de comercializao e somente um
tero se transforma em receita do produtor. No Brasil, estima-se que esta repartio
dos gastos dos consumidores se situa em torno de cinqenta porcento.
A conta da comercializao tem aumentado mais rapidamente do que o valor
da receita da propriedade rural.
Causas:
a) maior volume de produtos movimentados atravs do sistema de comercializao;
b) preos mais elevados pelos insumos usados na comercializao, os quais no
so contrabalanados por ganhos em produtividade;
c) maior quantidade de servios por unidade de produto
%
100 Pv
Margem da Comercializao
Pp
Margem do produtor
tempo
FIGURA 3.5 - EVOLUO DA MARGEM DE COMERCIALIZAO NO TEMPO.
medida em que a renda aumenta, a demanda por servios aumenta mais
que por matria-prima. A participao do produtor no gasto do consumidor continua
a decrescer, no porque ele recebe menos em valor absoluto, mas porque a sua
contribuio ao produto final tem sido proporcionalmente menor.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 67
4 - ANLISE DE PREOS AGRCOLAS
4.1- Caracterstica Bsica dos Preos Agrcolas
A caracterstica fundamental dos preos dos produtos agrcolas a sua
instabilidade, ou seja, eles apresentam um elevado grau de variabilidade ao longo
do tempo. Este fenmeno ocorre como conseqncia de fatores, tais como,
dificuldade de previso e controle da oferta, produo sazonal e inelasticidade-preo
da demanda. Dado uma variao na produo ( oferta ) , quanto mais inelstica a
curva de demanda, maior a variabilidade nos preos do produto (o aluno deve estar
apto a mostrar isso graficamente).
4.2 - Funes dos preos agrcolas
Os preos agrcolas desempenham trs funes bsicas; ou seja, na
alocao de recursos, na distribuio de renda e na formao de capital.
Alocao de Recursos
O nvel de preos determina tanto o nvel de consumo como o de produo.
Quanto mais elevado o preo de um produto, relativamente aos demais, maior a
possibilidade de uma rentabilidade aos demais, maior a possibilidade de uma
rentabilidade maior e consequentemente maior o volume de recursos que sero
alocados na produo deste produto.
Distribuio de Renda
a) Variao nos preos dos produtos agrcolas em relao aos no-agrcolas afetam
a distribuio inter-setorial da renda;
b) Variaes nos preos dos produtos agrcolas afetam distribuio da renda entre
grupos de renda do meio urbano. Por exemplo, aumento nos preos agrcolas
afetam mais os consumidores urbanos de baixa renda (porque eles gastam
relativamente maior parcela de sua renda com alimentao) do que os de alta
renda;
c) Variaes nos preos agrcolas afetam a distribuio de renda entre os grupos de
produtores de baixa e de alta renda. Por exemplo, se os preos dos produtos
agrcolas se elevam, os pequenos produtores (que detm menor volume de
excedente) so menos beneficiados que os grandes produtores.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 68
Formao de Capital
Aumentos nos preos agrcolas permitem maiores retornos aos recursos
setoriais, e portanto maiores nveis de renda e de poupana setorial, cuja
conseqncia o estmulo ao investimento (formao de capital).
4.3 - Anlise Temporal dos Preos agrcolas
Numa srie temporal, pode-se observar quatro movimentos de preos, que
so:
- 1 evolutivo - tendncia
- 3 oscilatrios - sazonalidade
- ciclo
- aleatoriedade
P Tendncia P
Sazonal
Ciclo
Aleatrio
Tempo (anos) Tempo (meses)
FIGURA 4.1 - PRINCIPAIS MOVIMENTOS DE PREOS
4.3.1 - Anlise de Tendncia
A tendncia um movimento de preos de longa durao, ou seja, ao longo
dos anos. Entre os fatores que podem caracterizar uma tendncia de preos esto,
do lado da oferta, as novas tecnologias; e do lado da demanda, a populao, a
renda, a educao do consumidor, etc.
Para se fazer uma estimativa da tendncia, h vrios modelos matemticos,
entre os quais esto:
COMERCIALIZAO AGRCOLA 69
a) P
t
= a + bt
b) P
t
= ae
bt
ou P
t
= log a + bt
c) P
t
= a ( 1 + b)
t
ou log P
t
= log a + t log (1 + b)
Onde:
P
t
= preo de um produto no tempo t (anos)
a = intercepto
b = coeficiente angular
Exerccio: Suponha que os preos (valores em dlar) do milho nos ltimos 8 anos,
cujos dados se encontram na tabela 4.1. Deseja-se estimar a equao que mostra a
tendncia da evoluo destes preos e a sua respectiva taxa de crescimento.
Sabendo-se que:
(P
t .
t) - (P
t
) x (t)
b = n
(t
2
) - (t)
2
n
_ _
a = P
t
- bt
Onde:
n = nmero de anos
Usando-se o modelo P
t
= a + bt,
tem-se
P
t
t (P
t
x t) t
2
1986 5,9 0 0 0
1987 4,4 1 4,4 1
1988 6,1 2 12,2 4
1989 6,7 3 20,1 9
1990 7,4 4 29,6 16
1991 6,4 5 32,0 25
1992 5,7 6 34,2 36
1993 6,2 7 43,4 49
48,8 28 175,9 140
b = 175,9 - 48,8 x 28
8 = 0,1214
140 - 784
8
a = 6,1 - 0,1214(3,5) = 5,67
P
t
= 5,67 + 0,1214 t
COMERCIALIZAO AGRCOLA 70
Uma vez estimada a expresso (1), pode-se projetar os valores para os anos
seguintes e/ou calcular a taxa mdia de crescimento (r) do preo.
r = b . 100 = 0,1214 . 100 = 2,14 % a.a.
a 5,67
Portanto, os preos deste produto apresentaram uma tendncia de
crescimento, cuja taxa mdia foi de 2,14 % por cento ao ano.
TABELA 4.1 - PREOS MDIOS RECEBIDOS PELOS PRODUTORES RURAIS,
MDIA PARA O BRASIL, 1984-93
(Em US$/Unidade(*))
ANO BOI
GORDO
PORCO FRANGO ALGODO ARROZ CAF FEIJO MILHO SOJA
1984 18,2 0,77 0,61 6,9 10,4 0,98 20,8 5,8 13,0
1985 14,9 0,69 0,53 4,6 11,0 1,57 19,5 5,3 9,9
1986 20,8 0,86 0,64 5,5 11,3 3,06 20,7 5,9 9,5
1987 20,6 0,55 0,55 6,0 7,3 0,96 15,9 4,4 10,1
1988 17,9 0,66 0,59 5,7 9,8 0,91 25,6 6,1 14,5
1989 25,9 1,26 0,86 6,2 9,9 1,06 36,4 6,7 12,4
1990 26,9 0,88 0,82 6,3 10,9 1,04 29,7 7,4 10,2
1991 20,9 0,74 0,63 5,4 13,2 0,78 22,2 6,4 10,2
1992 19,7 0,60 0,54 4,5 9,2 0,67 20,3 5,7 10,6
1993 22,9 0,71 0,59 5,5 9,7 0,90 21,9 6,2 11,1
MDIA 20,0 16,6 0,69 6,8 11,8 91,4 37,6 6,8 11,3
(*) A unidade para Boi, porco e Algodo arroba; frango quilo; e para os demais produtos saca
de 60 quilos.
Como calcular valores (preos) reais ou deflacionados
Devido inflao , indispensvel que os preos em valores nominais (isto
, correntes) sejam deflacionados, ou seja, convertidos em valores reais, isentos,
portanto, dos efeitos negativos da variao inflacionaria.
No Brasil, para se deflacionar preos ou qualquer outro valor monetrio,
podem ser utilizados, entre outros deflatores, os ndices Gerais de Preos (IGP),
publicados na Revista Conjuntura Econmica da Fundao Getlio Vargas (FGV),
ndices estes tambm conhecidos como "coluna 2" da FGV, (disponibilidade
interna). O IGP uma medida ponderada entre o ndice de Preos por Atacado
(IPA, cujo peso 6), o ndice de Custo de Vida (ICV) no Rio de Janeiro (peso 3) e o
ndice Nacional de Custo da Construo Civil - ICC, cujo peso 1.
O processo de converso de valores nominais ou correntes - Vc - (que
embutem a inflao) em valores reais (deflacionados ou constantes) - Vr - (j
depuradas as variaes havidas no valor da moeda) feito da seguinte maneira:
Vr
tb
= Vc
t
. IGP
b
IGP
t
COMERCIALIZAO AGRCOLA 71
onde:
Vr
t
= valor (preo) do tempo t deflacionado para o tempo base escolhido
Vc
t
= valor nominal do tempo t
IGP
t
= valor do ndice do IGP no tempo t
IGP
b
= valor do ndice do IGP no tempo base (b)
Exemplo:
Considerando-se os preos mdios mensais correntes do arroz de sequeiro
para o produtor, no perodo de janeiro de 1993 a junho de 1994, constantes da
tabela 4.2 (coluna um), pode-se calcular esses mesmos preos em valores reais,
utilizando o IGP (ndice Geral de Preos), calculado pela Fundao Getlio Vargas
como mensurador da inflao da economia brasileira. O primeiro passo escolher
a data base, ou seja, para qual momento do tempo todos os preos da srie sero
referenciados. Em geral escolhe-se a data mais prxima do momento em que se faz
o clculo.
O exemplo em questo foi elaborado em junho de 1994, ento optou-se por
expressar os preos da srie histrica a valores de junho de 1994, a data mais
prxima do momento em que se faz o clculo e cujo poder de compra da moeda
mais facilmente avaliado pelo analista, num pas de inflao to alta como o Brasil,
fazendo com que o poder de compra da moeda mude diariamente.
P
jan/93 a jun/94
= Vn jan/93 x IGP jun/94
IGP jan/93
P
jan/93 a jun/94
= ( 152.126,40 x 27.348.384,61) /1.000 = 28.287,44
147.076,27
4.3.2 - Anlise da Sazonalidade de Preos
A sazonalidade dos preos decorre do fato da produo agrcola ser sazonal,
ou seja, de a colheita no ocorrer ao longo de todo o ano, mas se concentrada em
apenas alguns meses (poca da safra). Devido a uma maior oferta neste perodo,
de um modo geral, os preos apresentam nveis relativamente mais baixos que na
poca da entressafra.
A determinao dos ndices sazonais um importante indicador na
orientao sobre o perodo de estocagem do produto e sobre a poca de venda.
Esta determinao dos ndices pode ser feita atravs de dois processos:
a) Processo das somas
b) Processo das mdias (a aritmtica e a geomtrica)
COMERCIALIZAO AGRCOLA 72
TABELA 4.2 - EXEMPLO DE CLCULO (CONVERSO) DE VALOR NOMINAL
PARA REAL (DE JUNHO DE 1994) DOS PREOS DE ARROZ
DE SEQUEIRO RECEBIDOS PELOS PRODUTORES, 1993-1994.
ANOS PREOS CORRENTES (*) IGP PREOS REAIS
(CR$/60 Kg)
Janeiro/93 152.126,40 147.076,27 28.287,44
fevereiro/93 172.133,00 186.066,19 25.300,46
Maro/93 191.101,80 237.811,19 21.976,79
abril/93 237.511,80 304.897,73 21.304,07
maio/93 340.199,50 403.288,23 23.070,12
junho/93 417.393,00 527.178,37 21.653,06
julho/93 541.592,40 695.664,58 21.291,41
agosto/93 751,80 928.920,91 22.133,76
setembro/93 1.058,40 1.256.644,20 23.033,99
outubro/93 1.495,80 1.698.228,98 24.088,46
novembro/93 2.492,00 2.325.894,41 29.301,49
dezembro/93 3.302,00 3.168.333,36 28.502,17
Janeiro/94 4.840,20 4.505.053,20 29.382,93
fevereiro/94 5.887,80 6.4156.46,27 25.098,30
Maro/94 7.490,40 9.291.780,49 22.046,40
abril/94 10.680,60 13.237.070,49 22.066,60
maio/94 15.416,55 18.657.650,85 22.597,57
junho/94 23.369,00 27.348.384,61 23.369,00
(*) Cruzeiros at julho de 1993 e cruzeiros reais de julho/93 a junho de 1994, por
saca de 60 Kg.
Por ser mais comumente utilizado, sero feitas algumas consideraes sobre
o mtodo das mdias, atravs do seguinte procedimento:
a) Primeiramente h a necessidade de se possuir uma srie mensal de preos para
alguns anos (de preferncia, no menos que 5).
b) Calcula-se a mdia mvel centralizada.
c) Calcula-se o ndice estacional para cada ms, o qual resulta da relao entre o
preo do ms e a mdia mvel centralizada do respectivo ms, multiplicado por
100.
d) Em seguida, calcula-se a mdia dos ndices estacionais para cada ms.
e) Calcula-se o ndice sazonal, obtido atravs do ajustamento da mdia dos meses,
centrado em 100.
f) Alm de se calcular o ndice sazonal, interessante estimar tambm o grau de
disperso (variabilidade) do ndice para cada ms, ou seja, o ndice de
irregularidade.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 73
Exemplo:
Suponha que algum esteja interessado em estimar a sazonalidade de
preos do feijo preto no Estado do Paran para o perodo 1983/94, conforme os
dados da Tabela 4.3.
TABELA 4.3 - PREOS MDIOS MENSAIS DE FEIJO PRETO AO PRODUTOR
PARANAENSES, JUNHO DE 1983 A JUNHO DE 1984, A PREOS
DE JUNHO DE 1994.
MESES 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
JAN 90.787,26 104.685,65 120.235,04 78.482,20 73.748,92 88.766,87 70.542,60 55.503,70 52.895,86 51.031,06 57.695,00
FEV 84.414,20 99.032,71 98.307,28 67.834,81 71.296,64 87.826,76 48.597,11 56.646,80 51.667,38 41.319,76 61.879,98
MAR 101.166,2
1
88.667,89 91.770,07 72.553,62 79.294,71 87.532,59 51.723,20 56.379,85 50.881,10 49.512,78 70.638,91
ABR 106.463,4
7
88.487,67 93.709,33 65.042,45 77.771,16 95.937,51 55.929,84 69.107,80 51.571,02 59.110,73 62.144,16
MAI 102.580,3
3
110.625,52 94.108,37 62.652,52 79.265,54 110.023,29 65.798,75 78.049,25 51.669,22 55.791,89 67.110,45
JUN 77.596,63 99.880,12 112.188,70 91.880,12 62.245,22 88.824,57 206.091,09 85.845,24 75.726,80 52.721,46 52.589,85 62.585,00
JUL 84.299,03 92.511,90 113.553,73 95.793,03 58.004,83 86.397,40 143.942,74 88.208,80 64.641,21 52.855,71 47.798,90
AGO 95.642,75 89.531,50 102.696,26 96.243,98 63.064,59 91.124,09 106.302,18 78.171,61 53.590,31 59.305,50 51.527,68
SET 88.282,97 115.270,1
5
96.946,22 98.239,42 61.406,18 133.715,0
6
97.494,23 70.368,99 49.086,27 61.372,88 52.936,39
OUT 80.163,85 128.317,1
3
96.025,43 100.894,64 64.649,37 111.854,6
8
80.870,44 65.343,52 52.479,29 62.946,52 65.327,74
NOV 83.037,44 101.793,1
8
99.357,18 101.404,54 67.884,99 104.596,9
3
84.039,05 61.956,12 46.939,29 62.345,05 62.683,09
DEZ 84.286,92 110.587,1
9
104.226,88 91.252,65 76.151,01 112.257,2
3
83.385,22 53.488,91 44.613,70 57.478,32 64.204,97
Seguindo o processo da mdia aritmtica, e de posse dos preos desta
tabela 4.3, pode-se calcular a mdia aritmtica mvel centralizada (MAM), para o
ms de dezembro de 1983, por exemplo, da seguinte maneira.
1983 1983 1983 1983 1984
MAMDez = Pjun + Pjul + Pago + ... + Pjun
13
1983
MAMDez = 77.596,63 + 84.299,03 + 95.642,75 + ... + 99.880,12 = 90.661,63
13
Convm observar que os preos (P) foram deflacionados. Isto no era
necessrio, considerando-se que o processo de clculo no ndice, com a
determinao da mdia mvel, eliminaria as variaes devidas inflao. No
entanto, com a acelerao da inflao e troca de moeda, a melhor alternativa
utilizar valores deflacionados para o clculo da mdia mvel. Os resultados esto na
tabela 4.4.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 74
TABELA 4.4 - MDIA ARITMTICA MVEL CENTRALIZADA PARA OS
PREOS DE FEIJO PRETO AO PRODUTOR DO PARAN, 1983
A 1994.
MESES 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
JAN 91808,96 104250,22 99892,99 80818,76 72904,61 112312,79 81744,57 67199,49 51970,14 54881,46
FEV 92211,46 105033,64 98561,48 78301,19 75452,24 113843,92 76685,25 64536,53 51559,70 54779,30
MAR 93721,26 105604,00 98218,64 75621,36 80886,90 114333,94 73921,16 62299,19 52158,36 54289,37
ABR 96800,81 104123,64 98522,37 73037,51 84767,55 110268,96 71448,03 60923,06 53224,53 54593,59
MAI 98464,60 101895,95 98936,15 70498,31 87840,44 108129,30 69993,08 59507,35 53983,44 54573,33
JUN 100583,81 102083,16 98312,72 68555,73 91253,69 106497,63 67643,07 58173,32 54794,13 54716,40
JUL 102152,95 102825,30 96332,36 67209,28 92224,14 103288,81 65498,34 58127,70 55287,78 54733,06
AGO 102787,21 102334,65 92301,57 66656,55 93307,05 100198,83 64429,43 57832,60 54397,31 55567,60
SET 103114,42 101775,99 90320,52 67538,08 94555,97 97421,64 65028,10 57389,08 54231,57 57822,92
OUT 102139,15 102163,79 88264,55 67939,43 95836,18 94990,65 66365,38 57019,17 54864,62 58794,56
NOV 102459,30 102596,15 85875,57 69033,51 98317,12 92672,29 68066,87 55677,75 55189,30 59409,92
DEZ 90661,63 103198,41 101154,20 83424,56 71046,75 108072,93 90812,44 68830,57 53729,45 55260,12 59932,47
A frmula genrica para se calcular a mdia mvel centralizada para qualquer
ms "i" ( "i" variando do 6 primeiro ms ao 6 ltimo ms) para um ano "Tj" e "j
varia de 0 (ano base) at o ano "n", ou seja:
Tj 6-i+6 Tj
j+1
MAM
i
=
i
P
i
13
Para a obteno dos ndices estacionais, os preos deflacionados de cada
ms (i) foram divididos pelas suas respectivas mdias mveis centralizadas,
multiplicando-se o quociente por 100. Por exemplo, o ndice estacional de dezembro
para o ano de 1983 (92,97), foi obtido dividindo-se 84.286,92 por 90.661,63 vezes
100. Os resultados esto na tabela 4.5.
Para o clculo da mdia aritmtica dos ndices estacionais para um
determinado ms, dezembro, por exemplo, soma-se todos os ndices estacionais
para o ms de dezembro e divide-se pelo nmero deles (normalmente o nmero de
anos). Os resultados esto na tabela 4.6.
Se a mdia geral dos ndices estacionais mensais no der 100, cada ndice
mensal deve ser ajustado, multiplicando-se por um fator conveniente (que igual a
100 divido pela mdia geral dos ndices estacionais), obtendo-se, assim, os valores
dos ndices sazonais para cada ms. Portanto, a diferena entre o ndice estacional
e o sazonal que o segundo tem, por conceito, como mdia dos doze meses igual a
100. Estes resultados esto na tabela 4.6.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 75
TABELA 4.5 - NDICES ESTACIONAIS DOS PREOS DE FEIJO PRETO NO
PARAN, 1983 A 1993.
MESE
S
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
JAN 98,89 100,42 120,36 97,11 101,16 79,04 86,30 82,60 101,78 92,98
FEV 91,54 94,29 99,74 86,63 94,49 77,15 63,37 87,77 100,21 75,43
MAR 107,94 83,96 93,43 95,94 98,03 76,56 69,97 90,50 97,55 91,20
ABR 109,98 84,98 95,11 89,05 91,75 87,00 78,28 113,43 96,89 108,27
MAI 104,18 108,57 95,12 88,87 90,24 101,75 94,01 131,16 95,71 102,23
JUN 99,30 109,90 93,46 90,80 97,34 193,52 126,91 130,17 96,22 96,11
JUL 90,56 110,43 99,44 86,30 93,68 139,36 134,67 111,21 95,60 87,33
AGO 87,10 100,35 104,27 94,61 97,66 106,09 121,33 92,66 109,02 92,73
SET 111,79 95,25 108,77 90,92 141,41 100,07 108,21 85,53 113,17 91,55
OUT 125,63 93,99 114,31 95,16 116,71 85,14 98,46 92,04 114,73 111,11
NOV 99,35 96,84 118,08 98,34 106,39 90,68 91,02 84,31 112,97 105,51
DEZ 92,97 107,16 103,04 109,38 107,18 103,87 91,82 77,71 83,03 104,01 107,13
TABELA 4.6 - MDIA DOS NDICES ESTACIONAIS E NDICES SAZONAIS DO
PREO DE FEIJO PRETO AO PRODUTOR PARANAENSE, 1983
A 1993.
MESES MDIA DOS NDICES ESTACIONAIS NDICES SAZONAIS
JAN 100,89 100,29
FEV 99,55 98,96
MAR 99,38 98,79
ABR 99,62 99,03
MAI 100,55 99,96
JUN 102,72 102,12
JUL 103,05 102,44
AGO 102,63 102,02
SET 101,77 101,17
OUT 100,14 99,55
NOV 98,69 98,11
DEZ 98,14 97,56
MDIA 100,60 100,00
Os ndices sazonais calculados para o feijo esto na figura 4.2. Alm
do feijo, so apresentados os padres sazonais de preos para outros produtos
agropecurios (figuras 4.3 a 4.9).
COMERCIALIZAO AGRCOLA 76
97
98
99
100
101
102
103
N
D
I
C
E
J F M A M J J A S O N D
MS
SAZONALIDADE DO PREO DO FEIJO PRETO
FIGURA 4.2 - PADRO SAZONAL DOS PREOS DE FEIJO PRETO
80
88
96
104
112
120
N
D
I
C
E
J F M A M J J A S O N D
MS
SAZONALIDADE DO PREO DO ARROZ DE SEQUEIRO
FIGURA 4.3 - PADRO SAZONAL DOS PREOS DE ARROZ DE SEQUEIRO
COMERCIALIZAO AGRCOLA 77
90
95
100
105
110
115
N
D
I
C
E
J F M A M J J A S O N D
MS
SAZONALIDADE DO PREO DO MILHO
FIGURA 4.4 - PADRO SAZONAL DOS PREOS DE MILHO
94
96
98
100
102
104
106
108
N
D
I
C
E
J F M A M J J A S O N D
MS
SAZONALIDADE DO PREO DO ALGODO
FIGURA 4.5 - PADRO SAZONAL DOS PREOS DE ALGODO
COMERCIALIZAO AGRCOLA 78
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
N
D
I
C
E
J F M A M J J A S O N D
MS
SAZONALIDADE DO PREO DO SOJA
FIGURA 4.6 - PADRO SAZONAL DOS PREOS DE SOJA
80
85
90
95
100
105
110
115
120
N
D
I
C
E
J F M A M J J A S O N D
MS
SAZONALIDADE DO PREO DO BOI GORDO
FIGURA 4.7 - PADRO SAZONAL DOS PREOS DE BOI GORDO
COMERCIALIZAO AGRCOLA 79
92
94
96
98
100
102
104
106
N
D
I
C
E
J F M A M J J A S O N D
MS
SAZONALIDADE DO PREO DO SUNO
FIGURA 4.8 - PADRO SAZONAL DOS PREOS DE SUNO
90
95
100
105
110
N
D
I
C
E
J F M A M J J A S O N D
MS
SAZONALIDADE DO PREO DO FRANGO
FIGURA 4.9 - PADRO SAZONAL DOS PREOS DE FRANGO
COMERCIALIZAO AGRCOLA 80
4.3.3 - Anlise dos Ciclos
Os ciclos de preos so um movimento oscilatrio de longa durao, oriundos
de variaes cclicas na oferta. De um modo geral, ocorrem com culturas perenes e
animais de longo ciclo, tais como, caf, cacau, bovinos, entre outros. Um exemplo
clssico, o que se verifica com os preos da carne bovina, cujo ciclo tem uma
durao mdia em torno de 7 anos. A explicao a seguinte: quando os preos da
carne comeam a baixar, isto gera uma expectativa de que os preos futuros da
carne sero ainda menores. Devido a esta expectativa pessimista, os pecuaristas
decidem abater tambm algumas de suas novilhas e matrizes mais velhas, forando
ainda mais a baixa nos preos devido ao aumento da oferta. Este fenmeno no
instantneo, mas ocorre ao longo de um perodo de mais ou menos trs anos. Aps
a reduo do plantel, h uma diminuio no abate e consequentemente aumento
nos preos, revertendo assim a expectativa. Este fato estimula a reteno de
novilhas para serem matrizes, cujos bezerros estaro disponveis para o mercado
daqui a trs a quatro anos, quanto ento haver novamente aumento de oferta e um
novo ciclo se inicia.
Preo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Anos
FIGURA 4.10 - CICLO DO BOI GORDO
4.3.4 - Anlise de Aleatoriedade
Este um tipo de movimento oscilatrio, cujas variaes so imprevisveis,
devido ao fato de que eles decorrem de fenmenos incontrolveis, tais como: seca
prolongada, chuva excessiva, geada intensa, guerra, entre outros. Em
circunstncias assim, os preos podem apresentar variaes substncias num curto
perodo de tempo (dias, semana ou ms).
COMERCIALIZAO AGRCOLA 81
5 . ALTERNATIVAS OU ESTRATGIAS DE COMERCIALIZAO
Define-se "alternativa" como um procedimento, mecanismo, mtodo ou opo
atravs da qual um produtor pode vender ou influenciar os termos de venda de seu
produto. As principais alternativas disponveis a um produtor so:
- Venda a Vista na poca da Colheita
- Contrato de Venda Antes da Colheita
- Estocagem para Especulao
- Preo Autorizado
- Preo a Fixar
- Preo Mdio ou Vendas em Comum
- "Hedging"
As caractersticas de cada uma destas alternativas sero a seguir analisadas.
5.1 - VENDA A VISTA NA POCA DA COLHEITA
Esta no uma boa opo para o produtor, tendo em vista que, na poca da
safra, os preos dos produtos agrcolas, de um modo geral, esto em nveis baixos
relativamente mdia anual. Os principais fatores que foram o produtor a utilizar
esta alternativa so:
a) Falta de capacidade de estocagem de seu produto, a nvel de propriedade.
b) Vencimento de compromissos financeiros na poca da colheita.
c) Falta de recursos para financiamento da comercializao (EGF).
Devido melhoria nas condies de estocagem, este mtodo vem
apresentando, ao longo dos anos, uma importncia cada vez menor.
%
100
1970 1993 anos
FIGURA 5.1 - TENDNCIA DE REDUO DE VENDA VISTA
A figura acima mostra a decrescente proporo da produo que
comercializada na poca da colheita.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 82
5.2 - CONTRATO DE VENDA ANTES DA COLHEITA
Este contrato para entrega numa data futura um compromisso (acordo) por
escrito entre produtor e comprador em que se especifica que um determinado
produto ser entregue numa data pr-fixada. Este contrato feito normalmente
antes da colheita, e s vezes, antes do plantio.
As principais razes para que um produtor procure fazer este tipo de contrato
so:
a) O produtor quer garantir um determinado preo, mesmo antes da colheita.
b) O produtor, que utiliza o crdito informal, muitas vezes precisa oferecer, ao
emprestador, parte de sua produo como garantia.
Recomenda-se, contudo, que o produtor no contrate parcela substancial de
sua produo na poca do plantio, porque as possveis frustraes de safra podem
for-lo a ter que comprar no mercado, a fim de saldar o compromisso. No se deve
contratar antecipadamente mais de 70 % da produo esperada.
5.3 - ESTOCAGEM PARA ESPECULAO
Este mtodo permite ao produtor estocar (armazenar) a sua produo na
poca da colheita e efetuar venda no perodo da entressafra. O pressuposto que
ele tenha condies prprias de estocar, ou seja, que disponha de silos e/ou
armazns. Ele procura armazenar quando espera que os aumentos nos preos
sero pelo menos suficientes para cobrir os custos diretos de estocagem,
adicionados dos juros implcitos sobre o capital, e seguro.
P
t1
P
P
t
o
to t1 t (meses)
FIGURA 5.2 - PERSPECTIVA DE PREO NA DECISO DE ESTOCAR
O produtor decide estocar se a sua expectativa com relao aos preos for:
(Pt1 - Pto ) > (custo da estocagem + juros + seguro)
COMERCIALIZAO AGRCOLA 83
As trs seguintes alternativas so casos particulares desta opo.
5.4 - PREO AUTORIZADO
Esta uma alternativa disponvel ao produtor atravs de sua cooperativa,
onde ele entrega a sua produo na poca da colheita, e ao mesmo tempo estipula
um preo, ao qual a cooperativa est autorizada a efetuar a venda da produo
Caso os preos de mercado no atinjam o nvel estipulado pelo produtor,
ento ele dever renovar a sua autorizao a um nvel de preo mais baixo.
5.5 - PREO A FIXAR
Esta alternativa apresenta duas modalidades, caso a operao seja efetuada
com particulares (atacadistas, indstrias, etc), ou atravs de cooperativa.
5.5.1 - Com Particular
Neste caso, o produtor entrega e transfere o ttulo do produto ao comprador,
geralmente na poca da colheita, mas o produtor tm o privilgio de fixar o preo
mais tarde (normalmente dentro de seis meses), e com um custo mensal de
armazenamento j pr-fixado. Alguns compradores evitam cobrar os custos de
armazenamento como meio para atrair o produtor. Se por um lado o produtor tem o
privilgio de fixar o preo; por outro lado, o comprador tem o privilgio de ter a posse
efetiva da mercadoria; podendo, portanto, vend-la ou industrializ-la, sem a
necessidade de consultar o produtor. A grande vantagem para o produtor que ele
pode especular sem possuir armazns ou silos.
5.5.2 - Atravs da Cooperativa
Quando a operao efetuada atravs da cooperativa, a mercadoria ainda
pertence ao produtor e a cooperativa no pode efetuar a venda antes que o
associado decida fixar o preo.
Esta alternativa, ao contrrio da primeira (venda vista na poca da colheita)
est se tornando cada vez mais importante para o produtor, principalmente para o
sojicultor, cujas cooperativas so fortes e detm uma grande capacidade de
estocagem.
%
100
1970 1993 anos
COMERCIALIZAO AGRCOLA 84
FIGURA 5.3 - EVOLUO DA VENDA ANTECIPADA DE SOJA
A figura acima mostra a crescente proporo da produo de soja que
comercializada atravs da modalidade preoa fixar.
Como se observa, a responsabilidade da deciso de venda (preo e poca)
do produto recai sobre o associado, razo pela qual tem havido uma certa
orientao das diretorias das cooperativas no sentido de efetuar a comercializao
atravs desta alternativa, apesar de que, para as cooperativas, este mtodo resulta
em menor flexibilidade em termos de movimentao da mercadoria.
5.6 - VENDAS EM COMUM
Esta uma outra alternativa disponvel ao produtor atravs de sua
cooperativa, a qual aps receber a produo de seus associados, passa a efetuar
vendas em diferentes pocas (meses) a fim de obter um preo mdio, que permita
reduzir os riscos de mercado. Este sistema tambm chamado de "pool de
vendas. Geralmente no ato da entrega da produo sua cooperativa, o associado
recebe uma parcela do valor de sua mercadoria, ou seja, um "adiantamento".
Efetuadas as vendas, a cooperativa deduz as suas despesas com gerncia,
administrao, depreciao, material de consumo, armazenagem, etc, cujo
resultado o chamado "Valor Lquido Apurado", que deduzido o adiantamento
resulta nas "Sobras Lquidas". Sobre a "Sobra Lquida", h os "descontos como o
"Fundo de Reserva" (10%) e o FATES - Fundo de Assistncia Tcnica Educacional
e Social (5%); cujo valor resultante deve ser rateado proporcionalmente ao volume
de entrega de cada associado.
Ao contrrio da alternativa "Preo a Fixar", este mtodo repassa toda a
responsabilidade da deciso de venda para a diretoria da cooperativa, razo pela
qual no h orientao para que os associados optem por esta alternativa.
EXEMPLO DE "VENDAS EM COMUM"
1. ENTREGA Adiantamento
Associado A 2.000 sacas R$ 17.000,00
Associado B 3.000 " R$ 25.500,00
Associado C 4.000 " R$ 34.000,00
Associado D 1.000 " R$ 8.500,00
TOTAL 10.000 sacas R$ 85.000,00
Adiantamento: R$ 8,50/Saca
COMERCIALIZAO AGRCOLA 85
2. VENDA
1.900 Sacas X 10,95 = R$ 20.800,00
2.850 Sacas X 11,37 = R$ 32.400,00
4.150 Sacas X 10,80 = R$ 44.800,00
1.100 Sacas X 11,18 = R$ 12.300,00
--------------------------
TOTAL (A)................................ = R$ 110.300,00
3. DESPESAS na comercializao
(gerncia, adm., depreciao) R$ 2.000,00
4. VALOR LQUIDO APURADO (A - 3) R$ 108.300,00
5. SOBRA LQUIDA ( 4 - Adiantamento) R$ 23.300,00
6. Descontos: -Fundo de Reserva(10%) R$ 2.330,00
-FATES (5%) R$ 1.165,00
7. VALOR A SER RATEADO (5-6) R$ 19.805,00
8. RATEIO POR SACA Cr$ 19.805,00/10.000 sc = R$ 1,9805/sc
9. RATEIO POR ASSOCIADO
Associado A 2.000 sc X 1,9805 = R$ 3.961,00
Associado B 3.000 sc X 1,9805 = R$ 5.941,50
Associado C 4.000 sc X 1,9805 = R$ 7.922,00
Associado D 1.000 sc X 1,9805 = R$ 1.980,50
TOTAL R$ 19.805,00
10. PREO EFETIVAMENTE RECEBIDO: R$ 8,50 + 1.98 = R$ 10,48/sc
5.7 - "HEDGING"
Esta alternativa, embora de difcil acesso para a maioria dos produtores, no
deixa de ser uma opo disponvel atravs das cooperativas. "Hedging" uma
operao no mercado a termo pela qual o produtor procura reduzir o risco de
mercado. No captulo seguinte esta opo ser analisada em detalhes.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 86
6. MERCADO A TERMO
6.1. Tipos de mercados
FSICO OU DISPONVEL A TERMO OU FUTURO
- Troca efetiva de mercadorias - Mercado de preos
- Entrega imediata ou futura - Entrega futura
- Mercado aberto - Mercado central
- Transao privada - Transao Pblica
- Termos no padronizados - Termos padronizados
- Afetado pela "D" e "S" atuais - "D" e "S" futuras
MERCADO FUTURO - um mercado organizado, onde as mercadorias so
negociadas em quantidades-padro para entrega numa data futura. um mtodo
de contrato para entrega no futuro.
6.2. CONTRATOS A TERMO
6.2.1. Conceito
6.2.2. Caractersticas
a) PADRONIZAO
- qualidade
- quantidade
- local entrega
- meses de entrega
b) PERMUTABILIDADE
- liquidao por diferena
c) PODER DE ALAVANCAGEM
- a possibilidade de controlar grandes quantidades (ou valores) com um
investimento relativamente pequeno.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 87
FUNCIONAMENTO DA PERMUTABILIDADE
ABERTURA DE POSIO
BOLSA
ORDEM ORDEM
DE DE
COMPRA VENDA
A B
COMPROMISSO COMPROMISSO
1 CONTRATO 1 CONTRATO
COMPRADO PERANTE VENDIDO
A CAIXA PERANTE A CAIXA
CAIXA DE LIQUIDAO
POSIO DA CAIXA
1 CONTRATO COMPRA 1 CONTRATO DE VENDA
A B
SALDO = 0 (NULO)
FIGURA 6.1 - ABERTURA DE POSIO NA BOLSA DE FUTUROS E
CONTROLES DO SISTEMA
COMERCIALIZAO AGRCOLA 88
LIQUIDAO DE POSIO
BOLSA
ORDEM ORDEM
DE DE
COMPRA VENDA
B C
COMPROMISSO COMPROMISSO
1 CONTRATO 1 CONTRATO 1 CONTRATO
VENDIDO COMPRADO VENDIDO
PERANTE A CAIXA
SALDO = 0
CAIXA DE LIQUIDAO
POSIO DA CAIXA
1 CONTRATO COMPRA 1 CONTRATO DE VENDA
A C
SALDO = 0 (NULO)
FIGURA 6.2 - LIQUIDAO DE POSIO NA BOLSA DE FUTUROS E
CONTROLES DO SISTEMA
TRANSFERNCIAS (PERMUTABILIADE)
COMERCIALIZAO AGRCOLA 89
B C D E
Liquida Liquida
A CAIXA DE LIQUIDAO F
Recebendo Entregando
Mercadoria Mercadoria
FIGURA 6.3 - TRANSFERNCIAS DE POSIO NA BOLSA DE FUTUROS E
CONTROLES DO SISTEMA
6.3. OBJETIVOS PARA NEGOCIAR NO MF
a) Hedging contra o risco de preos
b) Especulao, cujo objetivo lucrar com a antecipao de mudana de preos.
Da, os 2 tipos de operadores no MF:
- HEDGER - negocia em ambos os mercados
- ESPECULADOR - negocia apenas no mercado futuro
aceita o risco de variao de preos.
3 funes econmicas do especulador
a) aceita os riscos de preos
b) fornece liquidez ao mercado
c) descobre preos competitivos.
6.4. A BASE
6.4.1 Conceito
B = P
f
- P
d
onde:
B = base
P
f
= preo no mercado futuro
P
d
= preo no mercado disponvel
COMERCIALIZAO AGRCOLA 90
Esta diferena deve-se a muitos fatores:
a) Condies de "D" e "S" para o produto em ambos mercados
b) Condies de "D" e "S" para produtos substitutos
c) Diferenas entre a qualidade da mercadoria e a especificada no contrato.
d) Disponibilidade de armazenamento no local.
e) Transporte e problemas correlatos
f) Preos dos transportes.
BASE FORTE - (pequena diferena) indica escassez
BASE FRACA - (ampla diferena), indica abundncia, ou seja, deve-se estocar.
Pf Chicago
ARMAZENAGEM
SEGURO Custo do carrying
JUROS
BASE Pd Chicago
TRANSPORTE
Pd Cascavel
6.4.2 - Caractersticas da base
a) menor variabilidade devido ao paralelismo de movimento de preos
b) convergncia para zero na poca de entrega (vencimento do contrato)
Preos
Pf Chicago
BASE
Pd
to t1 meses
FIGURA 6.4 - MOVIMENTOS DOS PREOS NOS MERCADOS FSICO E
FUTURO NO TEMPO.
Este tipo de relao devido a:
a) produo sazonal
b) o custo do carrying no mercado fsico
c) O custo de manter um contrato futuro pequeno.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 91
Preos
Pf novembro
transporte
Pd
tempo
Maio Julho setembro novembro
FIGURA 6.5 - EVOLUO DO DIFERENCIAL ENTRE OS PREOS NOS
MERCADOS FSICO E FUTURO NO TEMPO.
Preos
Pf
BASE
Pd
to t1 meses
FIGURA 6.6 - EVOLUO DA BASE NO TEMPO.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 92
6.5 - Hedging
6.5.1 - Conceito
Assumir posio no mercado a termo, em volume igual mas de sentido
oposto posio no fsico.
uma venda a termo para proteger de declnio no Pd
uma compra a termo para proteger de aumento no Pd
Dois tipos de hedging
a) hedge de venda (selling hedge)
b) hedge de compra (buying hedge)
6.5.2 - Hedge de venda
praticado por qualquer indivduo que possua um produto com possibilidade
de declnio no preo. Em geral pode ser feito pelos produtores, atacadistas ou
processadores.
Exemplo 1 - Declnio de preos
Mercado disponvel Mercado futuro
maro possui R$ 12,00 vende R$ 11,50
maio vende R$ 11,00 compra R$ 11,00
saldo + 0,50
Resultado: vendeu por R$ 11,00 + 0,50 = 11,50
Exemplo 2 - Aumento de preos
Mercado disponvel Mercado futuro
maro possui R$ 12,00 vende R$ 11,50
maio vende R$ 12,50 compra R$ 12,50
saldo - 1,00
Resultado: vendeu por R$ 12,50 -1,00 = 11,50
COMERCIALIZAO AGRCOLA 93
6.5.3 - Hedge de compra
usado para proteo contra possveis aumentos de preos de uma
mercadoria que ser comprada numa data futura no mercado disponvel. Por
exemplo, um exportador que fecha um contrato de exportao, com preo fixado,
para embarque no futuro.
Exemplo 1 - Aumento de preos
Mercado disponvel Mercado futuro
maro vende R$ 12,00 compra R$ 11,50
maio compra R$ 12,50 vende R$ 12,50
saldo + 1,00
Resultado: comprou por R$ 12,50 - 1,00 = 11,50
Exemplo 2 - Declnio de preos
Mercado disponvel Mercado futuro
maro vende R$ 12,00 compra R$ 11,50
maio compra R$ 11,00 vende R$ 11,00
saldo - 0,50
Resultado: comprou por R$ 11,00 + 0,50 = 11,50
COMERCIALIZAO AGRCOLA 94
7 - POLTICAS DE MERCADO AGRCOLA
7.1 - POLTICAS DE MERCADO EXTERNO
Os objetivos para a interferncia do governo nas operaes com o mercado
externo so:
a) garantia de suprimento (reserva) para o mercado interno;
b) equilbrio no balano de pagamentos
c) gerao de recursos para serem aplicados em (transferidos para) outros setores
d) proteo de um setor (indstria) nacional.
7.1.1 - Imposio de quota de exportao
Devido a muitos fatores (exemplo: um aumento na demanda de um pas
importador), os preos do mercado externo podem estar acima dos preos vigentes
no mercado interno, o que estimular os produtores a colocarem seus produtos no
mercado externo, podendo gerar, em conseqncia, uma escassez no mercado
interno. Uma quota de exportao visa garantir suprimento de produto no mercado
interno (exemplo: o governo quer que seja assegurada a quantidade Qi
internamente).
P
S
P
exp
P
i
D
T
(D
i
+ Exp)
D
i
(interna)
0 Q
i
Q
T
Q
FIGURA 7.1 - EFEITO DA IMPOSIO DE QUOTA DE EXPORTAO
onde: D
T
= demanda do mercado interno + exportao
P
exp
= preo de exportao
Q
i
= quantidade destinada ao mercado interno
P
i
= preo no mercado interno, aps a adoo da quantidade Q
i
COMERCIALIZAO AGRCOLA 95
Resultados:
a) maior quantidade consumida no mercado interno e a um menor preo, do que
sem a imposio da quota;
b) menor receita cambial
7.1.2 Imposio de quota de importao
Ao contrrio da poltica anterior, por alguma razo (por exemplo, problema
cambial) o governo pode limitar o volume total importado de um determinado
produto.
P S
i
S
T
P
0
P
C
P
1
D
i
0 Q
1
Q
i
Q
0
Q
C
Q
T
Q
FIGURA 7.2 - EFEITO DA IMPOSIO DA QUOTA DE IMPORTAO
Se a demanda D
i
(mercado interno) fosse antendida apenas pela oferta
interna (S
i
) o preo e a quantidade seriam P
0
e Q
0
, respectivamente. Se houvesse
liberao das importaes a oferta interna seria S
T
[produo interna (Q
1
) +
importao (Q
T
- Q
1
)].
Com a imposio da quota de importao em Q
C
- Q
i
, o consumo ser Q
C
, a
produo interna Q
i
, ao preo P
C
.
Resultado: maior preo no mercado (P
C
), quando comparado com P
1
(sem
imposio)
COMERCIALIZAO AGRCOLA 96
7.1.3 - Tarifa na importao
Atravs desta poltica, reduz-se o volume de produtos importados, com o
objetivo de equilibrar o balano de pagamentos e/ou proteger determinada indstria
nacional.
P S
i
S
t
(S
i
+ Imp com imposto)
S
T
(S
i
+ Importao livre)
P
t
P
1
D
i
0 Q
1
Q
i
Q
t
Q
T
Q
FIGURA 7.3 - EFEITO DA IMPOSIO DE TARIFA DE IMPORTAO
Com a importao liberada (sem imposto), o consumo seria Q
T
e a produo
interna Q
1
e o volume impostado seia Q
T
- Q
1
. Com o imposto sobre a importao a
oferta se desloca de S
T
para S
t
, o volume importado ser Q
T
- Q
i
, a produo
interna aumenta de Q
1
para Q
i
e o preo se eleva de P
1
para P
t
.
7.1.4 - Tarifa na exportao
Esta poltica desestimula a exportao e gera recursos financeiros que
podem ser transferidos para outros setores.
P
S
P
1
P
t
D
T
D
i
D
t
0 Q
1
Q
i
Q
t
Q
T
Q
FIGURA 7.4 - EFEITO DA IMPOSIO DE TARIFA DE EXPORTAO
D
T
= demanda interna (D
i
) + exportao sem imposto
D
t
= demanda interna (D
i
) + exportao com imposto
COMERCIALIZAO AGRCOLA 97
Resultados:
a) menor preo para os consumidores
b) menor volume exportado
7.1.5 - Subsdios exportao
Esta poltica visa estimular a exportao a fim de equilibrar ou mesmo gerar
saldos positivos na balana de pagamentos.
Resultados:
a) maior preo para os consumidores do pas exportador
b) maior volume transacionado de produto
P
S
P
1
P
s
D
s
D
i
D
T
0 Q
1
Q
i
Q
t
Q
T
Q
FIGURA 7.5 - EFEITO DE SUBSDIO EXPORTAO
D
s
= demanda interna (D
i
) + exportao com subsdio
D
T
= demanda interna (D
i
) + exportao sem subsdio
7.2 - POLTICAS DE MERCADO INTERNO
Os objetivos da interferncia do governo no mercado interno so:
a) garantia de renda mnima aos produtores
b) garantia de suprimento adequado aos consumidores
c) estabilizao de preos dos produtos
d) estabilizao de renda para os produtores
e) conteno dos preos pagos pelos consumidores.
COMERCIALIZAO AGRCOLA 98
7.2.1 - Poltica de subsdio de preos
O governo garante aos produtores o preo Ps enquanto os consumidores
pagam o preo Pc. Portanto o valor do subsdio por unidade de produto (Ps - Pc), e
o gasto total do governo (Ps - Pc) Qc. Esta poltica foi utilizada para o trigo, e no
trouxe os resultados esperados.
P S
Ps
Pc
D
Qc Q
FIGURA 7.5 - EFEITO DE SUBSDIO AO PREO
7.2.2 - Poltica de manuteno de preo por meio de quota de produo
Pelo controle da produo (Qc) possvel manter-se o preo de mercado ou,
pelo menos, reduzir a variabilidade de preos. Esta poltica tem sido utilizada para a
cana-de-acar. O problema o desajuste criado entre o custo privado e o custo
social.
S S
P
Pc
D
Qc Q
FIGURA 7.6 - EFEITO DA IMPOSIO DE COTA DE PRODUO
COMERCIALIZAO AGRCOLA 99
7.2.3 - Tributao da produo
O imposto sobre circulao de mercadorias e servios (ICMS) um tipo de
tributao da produo. Seu principal resultado um desestmulo produo e um
preo maior para o consumidor, com conseqente menor nvel de consumo. A
arrecadao governamental representada pela rea P0P1AB.
P1 = P0 (1 + t), onde t o valor da alquota.
S1
S0
P
B
P1
PE
P0 A
D
Q1 QE Q
FIGURA 7.7 - EFEITO DA TRIBUTAO SOBRE A PRODUO
7.2.4 - Poltica de conteno de preos
Esta poltica visa favorecer os trabalhadores urbanos e consequentemente a
indstria j que, devido a esta poltica, h uma menor presso por salrios mais
elevados.
S
P
P1
P0
D
Qs Qd Q
FIGURA 7.8 - EFEITO DA CONTENO DE PREOS
COMERCIALIZAO AGRCOLA 100
Esta uma poltica desastrosa no mdio e longo prazos, pois provoca um
desequilbrio entre oferta e demanda.
7.2.5 - Poltica dos estoques reguladores
A instabilidade da produo agrcola, devido a fatores fsicos e biolgicos,
associada a uma curva de demanda relativamente inelstica a preos, geram
grandes flutuaes de preos dos produtos agrcolas. Esta instabilidade de preos
prejudica tanto os produtores quanto os consumidores. A poltica dos estoques
reguladores objetiva reduzir parcialmente as flutuaes de preos atravs de uma
oferta mais regular.
S ruim
S normal
P
S bom
Pr
K I D
Pe C
G A H L
Pb B
E
M D
Qr Qe Qb Q
FIGURA 7.3 - POLTICA DE ESTOQUES REGULADORES
Resultados:
Situaes Produtor Consumidor Governo Resultado
Ano bom ganha Pb PeCB perde Pb PeDB Custa Qe DCQb - HM
ou + AGHL ou + AGH ou - HLM + I + A + E
Ano ruim perde K ganha KI Recebe AE
Você também pode gostar
- (Planejamento e Controle Da Produ - o - Tubino) Lista de Exerc - Cios ResolvidosDocumento43 páginas(Planejamento e Controle Da Produ - o - Tubino) Lista de Exerc - Cios Resolvidosantoniopullig100% (4)
- Plano de Negocio HortaDocumento18 páginasPlano de Negocio HortaNecio Francisco CaminhoAinda não há avaliações
- Etapas e Sequência de Uma Obra, Passo A PassoDocumento5 páginasEtapas e Sequência de Uma Obra, Passo A PassoPisoSeguroAinda não há avaliações
- Turfeiras da Serra do Espinhaço Meridional: Serviços Ecossistêmicos Interações Bióticas e PaleoambientesNo EverandTurfeiras da Serra do Espinhaço Meridional: Serviços Ecossistêmicos Interações Bióticas e PaleoambientesAinda não há avaliações
- Comercializacao Agricola - Khulima Pungue KPAS PDFDocumento18 páginasComercializacao Agricola - Khulima Pungue KPAS PDFLuis BotaAinda não há avaliações
- Turismo Ecologico y Ecoturismo PDFDocumento15 páginasTurismo Ecologico y Ecoturismo PDFRIOFAAinda não há avaliações
- Extensão RuralDocumento46 páginasExtensão RuralcristoAinda não há avaliações
- Definição de Complexo AgroindustrialDocumento6 páginasDefinição de Complexo AgroindustrialFelipe Camargo100% (1)
- Contrato de Prestaçao de Serviços Do SerralheiroDocumento6 páginasContrato de Prestaçao de Serviços Do SerralheiroAdriany Domingues100% (1)
- Lista de Exercicios para VarianDocumento97 páginasLista de Exercicios para VarianGabriel De Sampaio MoraisAinda não há avaliações
- 0487 TrabalhoDocumento6 páginas0487 TrabalhoBra Jorge0% (1)
- Resenha Geografia e Filosofia - Eliseu Savério SpositoDocumento21 páginasResenha Geografia e Filosofia - Eliseu Savério SpositoTarcio Trajano20% (5)
- Custo de Implantação e Produção de Tilapia No ParanaDocumento6 páginasCusto de Implantação e Produção de Tilapia No ParanaAndré LuizAinda não há avaliações
- ANPEC - Externalidades e Bens PúblicosDocumento3 páginasANPEC - Externalidades e Bens PúblicosGabriel De Sampaio Morais0% (1)
- Atividade 3 - Ead - Gestão em SaúdeDocumento18 páginasAtividade 3 - Ead - Gestão em SaúdeBruna Oliveira100% (1)
- Ppra Pão de Mel 2012Documento32 páginasPpra Pão de Mel 2012Demetrio Barbosa SouzaAinda não há avaliações
- Relatorio DedeDocumento27 páginasRelatorio DedeBarteloide Ricardo Ernesto0% (1)
- Apostila Sebrae Cultivo de Soja PDFDocumento66 páginasApostila Sebrae Cultivo de Soja PDFGilnei LoschAinda não há avaliações
- Espaços Urbanos Na Aldeia Global - Reflexões Sobre A Condição Urbana No Capitalismo Do Final Do Século XXDocumento16 páginasEspaços Urbanos Na Aldeia Global - Reflexões Sobre A Condição Urbana No Capitalismo Do Final Do Século XXKaiodê Biague0% (1)
- Geografia 90sanos Umepedroii 19maioa02junho 2021 PDFDocumento2 páginasGeografia 90sanos Umepedroii 19maioa02junho 2021 PDFJOHnnY dAiNAinda não há avaliações
- Mercado e Comercialização de Produtos Agrícolas PDFDocumento74 páginasMercado e Comercialização de Produtos Agrícolas PDFSilvana CristinoAinda não há avaliações
- Economia Comercializacao AgricolaDocumento221 páginasEconomia Comercializacao AgricolajrturraAinda não há avaliações
- Da Extenso Rural Convencional Extenso Rural paraDocumento23 páginasDa Extenso Rural Convencional Extenso Rural paraWeverton João VictorAinda não há avaliações
- Lista de Exercícios 2017Documento11 páginasLista de Exercícios 2017Luiz EduardoAinda não há avaliações
- Matéria-Prima - MandiocaDocumento15 páginasMatéria-Prima - MandiocaDANIELLE RAQUEL NASCIMENTO DA SILVAAinda não há avaliações
- Mocambique WebDocumento12 páginasMocambique WebjesusedsonAinda não há avaliações
- Pedsa 2010Documento76 páginasPedsa 2010sac_cbAinda não há avaliações
- Apontamentos Da Educação para Saúde ISGOF 2011.gaci (Reparado)Documento144 páginasApontamentos Da Educação para Saúde ISGOF 2011.gaci (Reparado)Pedro VictorAinda não há avaliações
- Avaliacao Do Desempenho de Marketing de Produtos Agrários em MocambiqueDocumento10 páginasAvaliacao Do Desempenho de Marketing de Produtos Agrários em MocambiqueBarteloide Ricardo ErnestoAinda não há avaliações
- Poster Desperdício AlimentarDocumento1 páginaPoster Desperdício AlimentarVitor Neves de SousaAinda não há avaliações
- Estagio Da AquaculturaDocumento11 páginasEstagio Da AquaculturaOiramretlaw50% (2)
- Melhoramento Genético Do Arroz Visando o Incremento de Aroma e NutrientesDocumento13 páginasMelhoramento Genético Do Arroz Visando o Incremento de Aroma e NutrientesAbacar Acácio MartinhoAinda não há avaliações
- Rtiq MortadelaDocumento4 páginasRtiq MortadelaMarcus SantosAinda não há avaliações
- TRABALHO ComercializaçãoDocumento22 páginasTRABALHO ComercializaçãoTamires PenidoAinda não há avaliações
- Criação de Frangos Caipira1Documento14 páginasCriação de Frangos Caipira1Iomar PereiraAinda não há avaliações
- PEDD Do Distrito de Mocuba Versão Final 2013 - 2020Documento119 páginasPEDD Do Distrito de Mocuba Versão Final 2013 - 2020messias sorteAinda não há avaliações
- Projeto de Criação de OvinosDocumento16 páginasProjeto de Criação de OvinosDomingos Rolim100% (1)
- Apontamentos Disseminar TecnologiasDocumento13 páginasApontamentos Disseminar TecnologiasAugustoAinda não há avaliações
- Repolho Projecto QuantitativoDocumento8 páginasRepolho Projecto QuantitativoCENTRAL CCMSAinda não há avaliações
- TCC. Final - Santos Peleque PDFDocumento91 páginasTCC. Final - Santos Peleque PDFSantos Joao PelequeAinda não há avaliações
- Estrutura para o Plano de Produção de Horticolas - Agricultura - e - Extensao - Iam - 2023Documento28 páginasEstrutura para o Plano de Produção de Horticolas - Agricultura - e - Extensao - Iam - 2023Leo JoãoAinda não há avaliações
- Boas Práticas de Producao de Frangos PDFDocumento28 páginasBoas Práticas de Producao de Frangos PDFMichael Steinhorst AlcantaraAinda não há avaliações
- Vantagens e Desvantagens Ecológicas DaDocumento31 páginasVantagens e Desvantagens Ecológicas DaRonilson AbreuAinda não há avaliações
- Blocos MultinutricionaisDocumento2 páginasBlocos MultinutricionaisgeovaneAinda não há avaliações
- O Trabalho Como Uma Questão AntropológicaDocumento39 páginasO Trabalho Como Uma Questão Antropológicawarwickleite75% (4)
- Adubos e AdubaçaoDocumento48 páginasAdubos e AdubaçaoPPGI CPGAinda não há avaliações
- Agricultura OrganicaDocumento28 páginasAgricultura OrganicaJúlio Pinto100% (1)
- Relatorio Panorama I - MocambiqueDocumento58 páginasRelatorio Panorama I - MocambiqueDiego OmeroAinda não há avaliações
- Projecto Feijao VulgarDocumento12 páginasProjecto Feijao VulgarJúnior SilvérioAinda não há avaliações
- Fabrico de Farinha de TrigoDocumento8 páginasFabrico de Farinha de TrigoNelson Aminosse ZavaleAinda não há avaliações
- Or 100 Caracterização Do Sector Pesqueiro em MoçambiqueDocumento42 páginasOr 100 Caracterização Do Sector Pesqueiro em MoçambiqueVirginia Langa100% (1)
- EDIÇÃO 19 - Hortaliças em Revista - Irrigação de Tomateiro Orgânico PDFDocumento20 páginasEDIÇÃO 19 - Hortaliças em Revista - Irrigação de Tomateiro Orgânico PDFLydio Ribeiro DantasAinda não há avaliações
- Plano de Producao de Girassol100%Documento19 páginasPlano de Producao de Girassol100%humbertoAinda não há avaliações
- Projeto de Drenagem Superficial PDFDocumento28 páginasProjeto de Drenagem Superficial PDFJorge Gonzalo Rentería RegaladoAinda não há avaliações
- Estudo de Viabilidade - Avicola - Santa Isabel - ParáDocumento3 páginasEstudo de Viabilidade - Avicola - Santa Isabel - ParáHélio De Aguiar100% (1)
- 2015 - Bungueia, Pio JoãoDocumento55 páginas2015 - Bungueia, Pio Joãolito fastudoAinda não há avaliações
- PVS Matarage PDFDocumento57 páginasPVS Matarage PDFAdèrito Estêvao100% (1)
- Agricultura Geral - Apostila PDFDocumento83 páginasAgricultura Geral - Apostila PDFAdemiro VelosoAinda não há avaliações
- Sp-Slides de Plano de Producao de GirassolDocumento21 páginasSp-Slides de Plano de Producao de Girassolemici_566028212Ainda não há avaliações
- MANGUEIRADocumento36 páginasMANGUEIRAJose Ribamar Souza JuniorAinda não há avaliações
- AgrossilviculturaDocumento10 páginasAgrossilviculturaAilon AmbasseAinda não há avaliações
- Rizomas Nativas Da Maganja Da Costa Zambezia MocambiqueDocumento11 páginasRizomas Nativas Da Maganja Da Costa Zambezia Mocambiqueelidio MilitaoAinda não há avaliações
- Estrategia Da Integra CaoDocumento39 páginasEstrategia Da Integra CaoTomas HaleAinda não há avaliações
- Aula 1 - Agricultura GeralDocumento33 páginasAula 1 - Agricultura GeralpatyepifanioAinda não há avaliações
- TCC-Elzira ARMANDO FInalDocumento40 páginasTCC-Elzira ARMANDO FInalbernardinoAinda não há avaliações
- Estratégias Adoptar para Reduzir o Corte de Mangais, No Bairro Da MunhavaDocumento12 páginasEstratégias Adoptar para Reduzir o Corte de Mangais, No Bairro Da Munhava4Live 4reverAinda não há avaliações
- Direito Humano À Alimentação Adequada - Ricardo PDFDocumento80 páginasDireito Humano À Alimentação Adequada - Ricardo PDFRicardo AntunesAinda não há avaliações
- Desenvolvimento territorial rural e meio ambiente: Debates atuais e desafios para o século XXINo EverandDesenvolvimento territorial rural e meio ambiente: Debates atuais e desafios para o século XXIAinda não há avaliações
- Vegetação de Angola: Caracterização Fenológica da VegetaçãoNo EverandVegetação de Angola: Caracterização Fenológica da VegetaçãoAinda não há avaliações
- Modelo de Gansos VoadoresDocumento55 páginasModelo de Gansos VoadoresGabriel De Sampaio MoraisAinda não há avaliações
- Atividade Classe Economia AgrícolaDocumento2 páginasAtividade Classe Economia AgrícolaGabriel De Sampaio MoraisAinda não há avaliações
- Derivadas ParciaisDocumento24 páginasDerivadas ParciaisClasmeson VieiraAinda não há avaliações
- Prova de Microeconomia - MAER - 2014Documento4 páginasProva de Microeconomia - MAER - 2014Gabriel De Sampaio MoraisAinda não há avaliações
- Pobreza Multidimensional No Nordeste Do BrasilDocumento19 páginasPobreza Multidimensional No Nordeste Do BrasilGabriel De Sampaio MoraisAinda não há avaliações
- Teoria Da LocalizaçãoDocumento7 páginasTeoria Da LocalizaçãoGabriel De Sampaio MoraisAinda não há avaliações
- Análise Dos Fatores Críticos de Sucesso Do Agronegócio BrasileiroDocumento20 páginasAnálise Dos Fatores Críticos de Sucesso Do Agronegócio BrasileiroGabriel De Sampaio Morais100% (1)
- Teoria Da Localizacao e Crescimento Economico RegionalDocumento23 páginasTeoria Da Localizacao e Crescimento Economico RegionalCarlos LandivarAinda não há avaliações
- Agricultura SustentávelDocumento157 páginasAgricultura SustentávelGabriel De Sampaio MoraisAinda não há avaliações
- Exercicios de Estatistica para Av2 2012.2Documento4 páginasExercicios de Estatistica para Av2 2012.2Gabriel De Sampaio MoraisAinda não há avaliações
- Auditoria em OdontoDocumento23 páginasAuditoria em Odonto210859Ainda não há avaliações
- Plano de NegócioDocumento14 páginasPlano de NegócioKecia FariasAinda não há avaliações
- Enfermeiro de Atendimento Pre HospitalarDocumento10 páginasEnfermeiro de Atendimento Pre HospitalarRuana CarolinaAinda não há avaliações
- QuestDocumento13 páginasQuestSamuel Viana Cunha0% (1)
- MA de Geografia P2 2º B OKDocumento4 páginasMA de Geografia P2 2º B OKMiriã Sara Pacheco Silva100% (1)
- Curso 218763 Aula 00 0303 Completo ECONOMIADocumento136 páginasCurso 218763 Aula 00 0303 Completo ECONOMIAAline de Araujo SantanaAinda não há avaliações
- Tako InvestimentosDocumento1 páginaTako Investimentosgeral.takoAinda não há avaliações
- Port 1428 93 Ms Fiscalizacao SanitariaDocumento14 páginasPort 1428 93 Ms Fiscalizacao SanitariaNetoAinda não há avaliações
- (CAMPOS Et Al., 2021) Policentrismo-Rede-UrbanaDocumento329 páginas(CAMPOS Et Al., 2021) Policentrismo-Rede-UrbanaLuana DetoniAinda não há avaliações
- Sistemas de Saúde Na América Latina No Século XXIDocumento22 páginasSistemas de Saúde Na América Latina No Século XXIGeandro Ferreira PinheiroAinda não há avaliações
- Cartilha de Emendas Parlamentares 2023 - Ministerio Da Justiça e Segurança PúblicaDocumento68 páginasCartilha de Emendas Parlamentares 2023 - Ministerio Da Justiça e Segurança PúblicaLuck SlayersAinda não há avaliações
- Kely Cristina Mendes DasilvaDocumento65 páginasKely Cristina Mendes DasilvaBetoAinda não há avaliações
- 2017 - Memoria Da Conab - 1990 A 2016 PDFDocumento156 páginas2017 - Memoria Da Conab - 1990 A 2016 PDFLKKAinda não há avaliações
- Orientações Caixa EscolarDocumento6 páginasOrientações Caixa EscolarRafael RochaAinda não há avaliações
- Cópia de AVALIAÇÂO 3 AnoDocumento6 páginasCópia de AVALIAÇÂO 3 AnoCaçador GauchoAinda não há avaliações
- Saude em AngolaDocumento17 páginasSaude em AngolaMarinaMudiz50% (2)
- Gestão de Pessoas Responsabilidade e Ética Nas Políticas Sociais Avaliação ObjetivaDocumento8 páginasGestão de Pessoas Responsabilidade e Ética Nas Políticas Sociais Avaliação ObjetivaAndre Quiquio CatarinaAinda não há avaliações
- E-Book Livro de Projetos PDFDocumento326 páginasE-Book Livro de Projetos PDFalexgamaqsAinda não há avaliações
- 1º Ano 05 - 971799Documento16 páginas1º Ano 05 - 971799Marlan Alves Santana BatistaAinda não há avaliações
- Documento Referencial Do Polo Norte de MinasDocumento55 páginasDocumento Referencial Do Polo Norte de MinasFrancisco Mavignier Cavalcante FrançaAinda não há avaliações
- Ato Convocatório 04 Anexo Ii Roteiro Modelo de Proposta Comercial de Prestação de ServiçosDocumento4 páginasAto Convocatório 04 Anexo Ii Roteiro Modelo de Proposta Comercial de Prestação de ServiçosNúrio LuvuluzuAinda não há avaliações