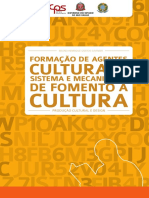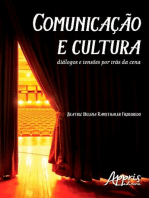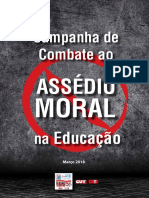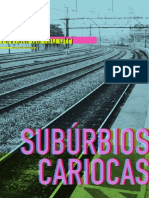Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Producao de Cultura No Brasil PDF
Producao de Cultura No Brasil PDF
Enviado por
keylar0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
5 visualizações152 páginasTítulo original
182226511 Producao de Cultura No Brasil PDF
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
5 visualizações152 páginasProducao de Cultura No Brasil PDF
Producao de Cultura No Brasil PDF
Enviado por
keylarDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 152
Produo de cultura no Brasil:
da Tropiclia aos Pontos de Cultura
2 edio
Aline Carvalho
Rio de Janeiro, 2009
luminria
academia
um selo da editora multifoco
luminria
academia
Editora Multifoco
Simmer & Amorim Edio e Comunicao Ltda.
Av. Mem de S, 126 Lapa
Rio de Janeiro RJ
CEP 22.230-152
Reviso
Kemla Baptista
Capa
Luiza Romar
Composio
Renato Tomaz
Produo de cultura no Brasil: da Tropiclia aos Pontos de Cultura 2 Edio
Junho de 2009
CARVALHO, Aline
ISBN: 978-85-60620-61-6
Esta obra est sob a Licena Creative Commons Atribuio-Uso no comercial 3.0
Brasil. Voc pode copiar, distribuir, retransmitir e criar obras derivadas, creditando
a obra original ao autor e no podendo us-la para fns comerciais. Para qualquer
reutilizao ou distribuio, voc deve deixar claro a terceiros os termos da licena a
que se encontra submetida esta obra. Mais informaes sobre esta licena pode ser
encontrada em http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/br/.
Sem tenses, livre e com sabedoria, comando a sementeira
de minha realizao
18 de dezembro de 2008
7
SEJA MARGINAL, SEJA MIDITICO
Esta pgina de agradecimentos provavelmente sair maior
do que deveria e, ao mesmo tempo, menor do que merecia. Mui-
tas pessoas deixaram um pouquinho de si impresso neste traba-
lho, embora talvez nem faam idia.
Em primeiro lugar no posso deixar de agradecer a toda a
minha famlia, que, se h quatro anos atrs torceram o nariz (o
que Estudos de Mdia?), hoje, ainda que no tenham a respos-
ta, certamente esto muito orgulhosos. Principalmente a minha
me Sheyla e minha irm Daniele, pela pacincia infnita.
Agradeo tambm a Marildo Jos Nercolini que alm de
um excelente orientador foi amigo e grande incentivador das mi-
nhas idias desvendando ps e cabeas quando elas muitas ve-
zes no tinham. A Miguel Freire, grande cinemanovista que tive
o prazer de ter como professor, amigo e orientador para vida,
agradeo pelos sbios conselhos, caronas e lanches vegetarianos.
A Ana Enne, sobre quem poderia escrever uma monografa in-
teira, apenas o maior e mais sincero muito obrigada por tudo (s
porque tenho por ela um apreo imenso). Alm disso, agradeo
a Afonso de Albuquerque e o dia em que teve a brilhante idia de
criar este curso, e todos os professores e professoras que compra-
ram a idia com tanto carinho e disposio. Parabns tambm
turma de Comunicao Institucional, que realizou a formatura
mais miditica que o IACS poderia ter; e, claro, aos inesque-
cveis companheiros da primeira turma de Estudos de Mdia da
Amrica Latina.
Deixo aqui tambm uma enorme lembrana de agradeci-
mento para Bianca Rihan, pela bela sugesto de mandar o texto
para a Multifoco; Clarissa Nanchery e Gabi Raposo, prova maior
de que as fraudes funcionam; Carol Spork, Daiane Ramos, Renato
Reder e Tiago Rubini pela assessoria; Jolio Batista, grande fot-
8
grafo; Luiza Romar pelo carinho e pela bela capa; Nicolas Rodri-
gues, por termos juntos descoberto a paixo pela Tropiclia; Lia
Bahia, pelas portas abertas e o sorriso de olhos fechados; Rafael
Soriano e os dias de sol e produo; Fellipe Red e as conversas
sobre o movimento estudantil, cultura e CPC; Chico Sarubi por
toda a confana depositada e toda a famlia muito doida que
mora no meu corao; para a equipe da Coordenao de Diversi-
dade Cultural da SEC por fazerem os dias no servio pblico vale-
rem a pena; para as pessoas envolvidas na construo do Enecom
Rio, que foi determinante para os rumos do ano de 2008 e deste
trabalho; Nara Gil pela fora; Kemla Baptista, revisora, produ-
tora e amiga graas a seu olhar de virginiana; Rose, com quem os
papos renderam grandes frutos; e para todas as pessoas incrveis
que passaram pela minha vida ao longo destes anos, cujos nomes
no preciso nem citar pois sabem que fazem hoje parte de mim.
Alm disso no posso deixar de agradecer ao Google, essa
incrvel nova tecnologia da comunicao sem o qual este traba-
lho e, na verdade, todo o percurso acadmico no teriam sido
os mesmos.
Obrigada, Deus por ter chegado at aqui e ver que ainda
tem muito mais pela frente.
11
SUMRIO
Nota da autora 13
Prefcio 17
Introduo 23
Captulo 1 O mundo na dcada de 60. 29
1.1 O contexto mundial. 29
1.1.1 O maio de 68 francs. 31
1.1.2 Os EUA e a Guerra do Vietn. 33
1.1.3 A New Lef inglesa. 35
1.1.4 A contracultura 36
1.1.5 A mulher na sociedade. 40
1.1.6 A contestao e a arte. 40
1.2 Brasil. 41
1.2.1 A esperana da revoluo cultural brasileira. 41
1.2.2 Cultura no Brasil ps 64. 45
Captulo 2 O CPC e a Tropiclia. 57
2.1 O Centro Popular de cultura da UNE. 57
2.2 Tropiclia bananas ao vento. 65
2.2.1 Nas artes plsticas. 71
2.2.2 Na msica 76
2.2.3 Estticas convergentes 84
Captulo 3 Cultura hoje 89
3.1 A cultura extraviada em suas defnies 89
3.2 A centralidade da cultura 91
3.3 Arte pra qu? 94
3.4 Comparando os momentos: a cultura ontem e hoje 102
Captulo 4 Polticas culturais em novos contextos 115
4.1 A cultura como arena e a comunicao como ferramenta 115
4.2 O Programa Cultura Viva e os Pontos de Cultura 119
4.3 Uma gesto tropicalista 134
Concluso 143
Referncias Bibliogrfcas 147
13
NOTA DA AUTOR
A primeira vez que tive contato com a Tropiclia foi
quando dancei Alegria, alegria na escola. Alguns anos depois,
j na faculdade, em uma matria chamada Msica Popular
Brasileira ministrada pelo mesmo professor que veio a ser
meu orientador na monografa onde estudamos a trajetria
da MPB, do samba-cano msica contempornea. Este
contato acadmico e, por sua vez, analtico, me proporcionou
uma grande identifcao com aquela msica carregada de uma
flosofa contestatria e de alguma forma eu sabia que um mundo
de possibilidades comeava a surgir minha frente.
Em 2007 o Museu de Arte Moderna do RJ realizava
uma mostra sobre a Tropiclia comemorando os 40 anos da
exposio Nova Objetividade Brasileira, realizada pelo artista
plstico Hlio Oiticica no mesmo MAM em 1967. Na mostra
pude ter acesso pela primeira vez s obras do prprio Oiticica,
Lygia Clark, Lygia Pape, Lina BoB ardi, Rogrio Duarte, alm
de fotos, udios e vdeos das apresentaes de Gil, Caetano, Gal
e cia nos festivais e tambm cartazes de flmes emblemticos
do perodo o que me deixou com a certeza de que aquele
universo merecia um estudo mais aprofundado da minha parte.
Quando, em 2008, eu tive que escolher o que abordar em meu
trabalho de concluso de curso, comemoravam-se os 40 anos do
emblemtico ano de 68. O tema, que j era de meu interesse,
foi escolhido como objeto de pesquisa e, em algumas semanas,
me vi submersa em livros, matrias, palestras e flmes sobre o
ano que no terminou. Entretanto muito me incomodava a
abordagem feita na maioria das referncias quele ano, de forma
a reverenciar ou repudiar aqueles acontecimentos, isolando-os
de seus contextos mais gerais em termos de tempo e espao.
Assim, entendendo os acontecimentos de 68 como o estopim
14
de uma srie de questionamentos que vinham desde a dcada
anterior, queria buscar tambm na realidade atual motivaes
revolucionrias - ou ao menos a razo para a sua inexistncia,
como parecem fazer questo de afrmar. Esta convico de que
seria possvel realizar feitos tropicalistas ainda hoje se confrmou
com a realizao do Encontro Nacional de Estudantes de
Comunicao, cuja organizao se tornou um projeto to
importante quanto a pesquisa e complementar a ela naquele
momento. Com a proposta de unir poltica e cultura, o evento
levou como subttulo duas importantes referncias: De que
lado voc samba? (de Chico Science, onde questionvamos
o posicionamento do estudante frente a mdia comercial e
monopolizada ou a mdia alternativa e comunitria) e Eu
organizo o movimento, eu oriento o carnaval (de Caetano Veloso, e
se a pergunta anterior transmite a idia de um certo maniquesmo,
aqui afrma-se que fazemos poltica e tambm cultura, pois em
nossa concepo uma estaria diretamente ligada outra), o que
sintetizava para mim a motivao de todo aquele trabalho. Alm
disso, tratando-se de um encontro com estudantes de todo o pas
realizado no Rio de Janeiro, o imaginrio a respeito do samba e
do Carnaval encontravam aqui uma relao flosfca com a
proposta do evento.
Assim, o que comeou como um trabalho de monografa
acabou se tornando um projeto de vida, impulsionado com a
entrada para a Secretaria de Cultura e o contato direto com a
ao dos Pontos de Cultura culmina agora na grande realizao
que a publicao deste livro.
Aproveito ento esta segunda edio para rever e atualizar
alguns pontos no texto que poca no seriam possveis: a
citao, por exemplo, dos novos Pontos de Cultura do Estado
do Rio cujo edital no perodo da primeira edio ainda estava
em processo de seleo. Alm disso, no posso deixar de fazer
referncia ao falecimento do teatrlogo Augusto Boal, cuja
15
obra infuenciou enormemente a cultura brasileira e, modstia
parte, o meu olhar sobre ela. Entretanto, lembremos que este
trabalho fruto de uma pesquisa acadmica datada e, portanto,
cujas informaes esto sujeitas a alteraes ao longo do tempo.
Concluo assim esta etapa com a satisfao de ver difundido
um trabalho feito com muito carinho e a certeza que a cultura
brasileira continua sendo terreno frtil para as mais diversas
manifestaes criativas.
17
PREFCIO
Marildo Jos Nercolini.
Pensar a cultura pensar em um campo de luta, social e
histrico, em que sentidos e signifcados, tambm sociais e hist-
ricos, so disputados. Cultura uma arena onde sujeitos e grupos
entram em disputa, negociam, interpelam-se, confrontam-se no
processo de construo dos sentidos de agir e de estar no mun-
do. Sempre bom lembrar as refexes trazidas por Raymond
Williams e pelos Estudos Culturais que apontam para o papel
fundamental da cultura na construo social da realidade, no
como simples refexo das relaes econmicas, mas sim como
elemento fundamental, articulado com a economia e a poltica,
tendo, portanto, papel ativo, no simplesmente reproduzindo,
mas produzindo a sociedade em que vivemos.
Inicio com essa refexo porque o texto feito por Aline Car-
valho se insere dentro desses parmetros e busca, no decorrer de
seus argumentos, enfatizar esse papel importante que a cultura
adquire no contexto contemporneo, afrmando, como o faz Stu-
art Hall, a centralidade da cultura. Claro que no podemos cair
no extremismo de pensar que tudo seja cultura, mas sim que, se
a cultura o espao de atribuio e construo de sentido e valor,
as demais instncias (econmica e poltica) esto com ela direta-
mente interconectadas, no mais em uma relao hierarquizante,
mas de complementaridade, negociao e embates constantes.
A proposta do livro, nas palavras da prpria autora, fazer
uma anlise comparativa entre a efervescncia artstica no Brasil
em termos de polticas e motivaes refetidas na produo
cultural na dcada de 60 e hoje em dia, em novos contextos.
Objetivo instigante e complexo, que a autora d conta e muito
bem, a meu ver.
18
Dizer que os anos 60 no acabaram, continuam vivos e
todas as afrmaes que seguem essa linha, no so verdades em
si, mas nem tampouco simplesmente so construes retricas,
destitudas de sentido. Muitas anlise foram e continuam sendo
feitas sobre esse perodo. Algumas delas bastante pertinentes,
outras nem tanto, ora por endeusarem ora por demonizarem em
excesso certos feitos ou pessoas, sem perceber que entre o preto
e o branco h uma interminvel possibilidade de outros matizes,
como tenta apontar Aline, no decorrer de seu livro.
Cabe ainda destacar que os anos 60 e, sobretudo, o j mti-
co 68, assim como qualquer outro perodo ou fato que fssemos
estudar, no acontece de forma isolada, como se milagrosamen-
te os deuses todos tivessem conspirado a favor e as pessoas de
repente tivessem se tornado profundamente inteligentes, criativas
e contestadoras. O que quero dizer com isso que nada acontece
de repente. No podemos esquecer todo o processo histrico an-
terior, os muitos confitos, dilogos, negociaes, embates aconte-
cidos e que possibilitaram que nos anos 60 muitas experincias es-
tticas criativas e inovadoras tomassem forma, ou melhor, fossem
possveis e tivessem a fora que tiveram.
Um ator social adquire forma e vai ser fundamental quan-
do se fala na dcada de 60 como um todo: a juventude. Ela pas-
sou a exigir e lutar por um espao na sociedade, que at ento lhe
fora negado ou restringido. Para essa juventude/60, a contesta-
o foi a pedra de toque; os jovens buscavam criar seus prprios
espaos de criao e manifestao, contrapondo-se aos padres
sociais vigentes. Havia uma confuncia das vrias artes e seus
criadores e uma busca dos jovens por interferir nos rumos das
sociedades onde viviam e criavam. Arte, cultura e poltica articu-
lados em busca da revoluo, a palavra que deu o tom dos anos
60. Tomada em diferentes acepes de acordo com a tendncia
poltica a que o artista estava ligado, a revoluo deu a linha para
a criao de muitos e importantes artistas plsticos, cantores,
19
compositores, poetas, escritores ou cineastas, quanto de drama-
turgos, atores e intelectuais acadmicos. Esses criadores acredi-
tavam ser uma vanguarda revolucionria e buscavam agir como
tal. Imbudos da misso de construir o novo, a nova sociedade,
a arte, a msica, o teatro, o cinema novo, renegavam o status quo
estabelecido e sentiam-se capazes de fomentar transformaes
macrossociais e ditar rumos considerados mais justos para as so-
ciedades onde viviam. Acreditava-se na efccia poltica da arte
revolucionria.
Enfm, a criao artstico-cultural do perodo em questo
estava fortemente marcada pela experimentao, pela contesta-
o dos valores estabelecidos, pela busca de novas linguagens e
novas formas de manifestao, seja nas artes plsticas, literatura,
cinema, teatro, seja na msica. O que importa salientar, por fm,
que certamente muitos caminhos estticos hoje j sedimentados
tiveram seus primeiros passos dados, e a duras penas, na dcada
de 60, tendo em 68 seu momento se no o mais frtil, pelo me-
nos o mais festejado. Essa articulao artstico-cultural buscava
transformar a sociedade em que estava inserida, buscando rom-
per com as amarras existentes, usando as armas, as estratgias
possveis naquele momento histrico, afnal a cultura, a arte so
sociais, frutos e sujeitos de um contexto e que se transformam
constantemente. Muitos de seus traos permanecem ainda hoje
como fontes com as quais se podem dialogar, em um processo
no de cpia, mas de ressemantizao, reciclagem e traduo
cultural, afnal os tempos so outros.
Hoje, vivemos em outro contexto. A realidade se trans-
formou, os desafos e as necessidades so outros e, portanto, as
possveis respostas a serem construdas tambm precisam ser
outras. No posso cobrar do passado aes e idias que somen-
te seriam possveis hoje, e assim desmerecer e crucifcar o que
se fez ou se deixou de fazer; mas tambm no posso cobrar do
momento presente um tipo de atitude e pensamento prprios
20
de um tempo passado, e assim julgar o hoje somente com os ins-
trumentos de avaliao do ontem e cair no erro grosseiro de ver
no momento contemporneo simplesmente o mais do mesmo,
o retrocesso poltico, a alienao e o comodismo.
Comparar tempo e contextos distintos possvel? Sim,
possvel e, mais que isso, necessrio. Permite-nos deixar mais
claro a noo de processo; permite-nos perceber a histria, a
cultura como processos ininterruptos e em constante mudana.
Ao se comparar no se v somente as semelhanas, mas tambm
as diferenas. E so estas que, normalmente, permitem-nos ir
adiante. no confronto, j dizia o velho Marx, que a histria se
constri e pode ser transformada. Ao comparar distintos proces-
sos histricos fundamental nunca perder de vista as diferen-
as contextuais de cada um desses momentos. A antropologia
nos ensinou a relativizar os processos, as crenas, as aes. Esse
aprendizado precisa ser constantemente recordado e acionado,
afnal no somos os donos da verdade, at porque A verdade
no existe.
O livro, que ora apresento, fruto de um esforo acadmi-
co e, sobretudo, de uma vontade geracional de sua autora de en-
tender um passado muitas vezes mitifcado e que deixou marcas
profundas (como diria Williams, elementos culturais como re-
siduais ativos, ainda fortemente presentes); e, mais do que isso,
buscar entender o momento presente, tarefa nada fcil tendo em
vista que a autora fruto e ao mesmo tempo sujeito do contexto
que analisa.
Pela escrita mesmo aquela acadmica que se quer mais
objetiva ao falarmos do outro e do mundo que nos cerca, nos
falamos, falamos de ns, de nossas angstias, de nossos desejos
e aspiraes. A autora deixa isso muito claro em seu texto; e o
faz de maneira envolvente, participante, mas sem perder de vista
o rigor do pensamento acadmico, caminho no qual est dan-
do os passos iniciais e de forma destemida, resgatando aes e
21
refexes feitas por outros, articulando-as entre si e, alm disso,
articulando-as com suas prprias aes e refexes.
Se a construo do conhecimento no fnal do milnio
passado, conforme nos lembra Helosa Buarque, seria feito pre-
ferencialmente atravs da competncia e da criatividade na ar-
ticulao das informaes disponveis e no mais na descoberta
ou mesmo na interpretao de informaes e evidncias empri-
cas, hoje, quando as redes informacionais se potencializam, isso
se torna ainda mais evidente. Parece-me, porm, que permanece
necessria a interpretao das informaes e no somente a sua
articulao. Creio que o intelectual-pesquisador precisa assumir
os riscos de uma leitura pessoal e tomar posio diante dos fatos
estudados. Se a ele no cabe mais o papel de profeta, aquele
que detm o saber e as respostas, a voz totalizante, tampouco
sufciente transformar-se em carteiro, aquele que escuta a mul-
tiplicidade de vozes da sociedade e procura interconectar esses
discursos. O pesquisador-intelectual hoje supe essa escuta da
multiplicidade e essa interconexo, mas precisa ir alm, assumir
riscos e tomar posio a partir de seu conhecimento e de seu
saber acumulado. Cabe-lhe pensar a realidade, um pensamento
contextualizado; problematizando, mais do que apontando res-
postas prontas; fazendo perguntas, colocando em xeque as pre-
tensas verdades estabelecidas, construindo conhecimento nas
fssuras, nas dobras. O texto que segue, creio eu, um esforo de
colocar isso em prtica. Boa leitura.
23
INTRODUO
O objetivo deste trabalho fazer uma anlise comparativa
entre a efervescncia artstica no Brasil em termos de polticas e
motivaes refetidas na produo cultural na dcada de 60 e hoje
em dia, em novos contextos. A proposta observar como os movi-
mentos artsticos daquela poca, em especial a Tropiclia, infuen-
ciaram o fazer cultural no pas e encontram refexos 40 anos depois.
Entretanto, buscarei fugir de uma simples perspectiva comparativa,
reverenciando o passado de forma isolada de seu contexto espacial e
temporal. Neste sentido, analisarei as motivaes para realizao de
uma cultura participativa e popular, e observando aonde podemos
encontrar caractersticas semelhantes em experincias culturais
hoje em dia. Assim, muitas das motivaes daquela poca espe-
cialmente a democratizao da comunicao e da cultura ainda es-
to presentes hoje em dia, em projetos como os Pontos de Cultura,
devidamente adaptadas ao novo contexto que ora vivemos.
Meu interesse pelo assunto se d bastante em funo da
minha formao no curso Estudos de Mdia, na Universidade
Federeal Fluminense e tambm ao projeto de iniciao cientfca
Das Casas de Cultura s ONGs na Baixada Fluminense: refexes
sobre mdia, cultura, poltica, prticas de comunicao e juventude,
no qual fui bolsista pela FAPERJ, sob a orientao da Prof. Dr.
Ana Enne. A partir da perspectiva dos estudos culturais, que
muito me interessaram no percurso acadmico, analisei diferen-
tes formas de mdia como a proposta do curso -, identifcan-
do-me com uma mais especifcamente: a audiovisual.
1
Entretan-
1 Dos meios de comunicao, considero a expresso audiovisual a mais complexa no
sentido de sua produo, uma vez que demanda: equipamentos (cmera, iluminao,
captao de som), recursos (rolos de filme de pelcula ou fitas de captao digital, edio
de som e imagem), conhecimento tcnico (operao de cmera, fotografia, montagem)
e suportes de exibio especficos. Estes elementos em conjunto, ao meu ver, fazem a co-
municao audiovisual menos acessvel no sentido da produo - do que outras mdias
24
to, minha anlise neste trabalho ir enfocar mltiplas expresses
artsticas no sentido da democratizao cultural.
Tambm devo meu acmulo sobre o tema minha atu-
ao na Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicao
ENECOS
2
e, mais especifcamente, no Grupo de Estudo e
Trabalho de Comunicao e Cultura Popular
3
. Neste espao,
buscamos discutir as defnies de cultura e popular, reven-
do certos sensos comuns a respeito e formulando polticas de
atuao do movimento estudantil nesta rea.
Neste sentido, a principal motivao para a escolha des-
te tema a necessidade de viabilizao de, no apenas o acesso
cultura e s informaes, mas tambm produo de cultura,
mensagens e, conseqentemente, identidades. Especialmente
hoje, com as novas tecnologias de informao e comunicao,
de extrema importncia que os estudiosos e profssionais da rea
tenham esta preocupao, ou ao menos identifquem este para-
digma. Entretanto, a preocupao com o mercado e a competi-
o por ser um vencedor nos parmetros da sociedade capita-
lista atual que, vale lembrar, uma construo cultural -, mui-
tas vezes faz com que estudantes simpatizantes da idia acabem
se voltando para a perspectiva mercadolgica de construo do
conhecimento. O argumento geralmente a sobrevivncia no
mundo capitalista do qual, ao menos em termos estruturais, no
podemos fugir. Entretanto, em um mundo com cada vez mais
possibilidades de escolhas de modos de vida como o prprio
mercado parece indicar -, cabe ao sujeito defnir seus parmetros
de qualidade e saber que as escolhas que fazemos diariamente
tm conseqncias no s para a nossa vida, mas para a socie-
dade como um todo. Esta discusso sobre sociedade, consumo
e comportamento ser retomada ao lembrarmos a dcada de
60 e toda a atmosfera da contracultura contestadora de valores,
2 www.enecos.org.br
3 www.culturanaroda.ning.com
25
quando foi historicamente evidente o carter constitutivo das
relaes sociais e do conceito de arte, mais especifcamente.
Em primeiro lugar, irei mapear o contexto poltico e social
no Brasil e no mundo - que impulsionou tais experincias e
que culminaram nos acontecimentos do ano de 1968. No pri-
meiro captulo, farei um panorama em nvel mundial, situando,
dentro do contexto da Guerra Fria, os questionamentos daquela
juventude, a relao com a classe trabalhadora, a Guerra do Vie-
tn e sua repercusso nos EUA e no mundo, o movimento negro
e feminista, o rocknroll que abalou aquela gerao, o movi-
mento hippie e a contracultura. No Brasil, no podemos deixar
de falar da tomada do poder pelos militares, da participao do
movimento estudantil na poltica e na cultura, a consolidao de
uma indstria cultural e de meios de comunicao de massa no
pas e como tais fatores infuenciaram a produo cultural da-
quela poca.
Feita esta localizao contextual, entramos no segundo
captulo analisando dois objetos centrais deste estudo, os Cen-
tros Populares de Cultura da UNE e a Tropiclia. Farei ento um
mapeamento de sua atuao, situando-os em seu contexto hist-
rico e explicitando suas expresses nas artes plsticas, na msica,
na literatura, no teatro e no cinema.
Aps identifcar as motivaes e questionamentos artsti-
cos de tais experincias, o captulo trs trar uma refexo mais
aprofundada sobre a cultura em si - suas defnies, sua centrali-
dade na poltica e na sociedade e seus novos usos na era global.
Sempre a partir de uma perspectiva histrica e processual, este
captulo buscar problematizar o objeto geral deste trabalho, que
a cultura, para retomar a discusso sobre sua produo hoje no
captulo seguinte.
Para fnalizar, o quarto captulo inicia com algumas refe-
xes sobre a consolidao da sociedade civil enquanto agente
produtor de cultura principalmente atravs das ONGs que sur-
26
giram na ltima dcada -, para ento entrar no mrito especfco
do objeto de anlise contemporneo: o programa Cultura Viva
e os Pontos de Cultura. A partir de um panorama sobre as dire-
trizes do projeto, ilustrado com diversos exemplos de pontos de
cultura no pas, encerro este trabalho com algumas concluses
sobre a tendncia de polticas para a cultura na globalizao.
Para a localizao contextual da dcada de 60, fz uso de
textos escritos na poca e muitos revistos por seus autores hoje
em dia, alm de material mais contemporneo sobre o assunto.
Neste ano de 2008, em especial, houve uma srie de publica-
es a respeito do ano de 68, em comemorao aos seus 40
anos, o que no s ajudou bastante a realizao desta pesqui-
sa, como foi uma das principais motivaes de estudo sobre o
tema. Muitos dos protagonistas dos acontecimentos da poca
ainda esto vivos, e este ano foi uma excelente oportunidade
de reverem e comentarem o que se passou, agora sob uma nova
perspectiva. Alm disso, uma srie de vdeos me ajudou a loca-
lizar e entender um pouco melhor do que se passava na poca.
No mapeamento das iniciativas contemporneas, farei uso de
textos tericos sobre cultura brasileira e, principalmente, do
acervo disponvel na internet com informaes empricas so-
bre os projetos os quais pretendo analisar. De uma forma geral,
foram de fundamental importncia tericos como Helosa Bu-
arque de Hollanda, Nestor Garca Canclini, Stuart Hall, Jesus
Martn-Barbero, Pierre Bourdieu, Aracy Amaral, George Ydi-
ce, entre outros, que muito me ajudaram a enxergar a cultura
sob vrias perspectivas.
com muito orgulho que concluo ento esta etapa do
meu percurso acadmico com este trabalho de concluso de
curso. Nele esto refexes surgidas ao longo destes quatro anos,
marcadas pelo meu modo de pensar e escrever e, conseqente-
mente, daqueles que estiveram presentes de diversas maneiras
durante a minha graduao. Neste sentido, no posso deixar
27
de citar o blog
4
criado durante a elaborao da monografa, um
TCC interativo, onde postei trechos dos captulos, algumas re-
fexes, links e a bibliografa utilizada, a fm de compartilhar a
produo de conhecimento na qual tanto estive imersa nestes
ltimos meses. Aproveito aqui para agradecer ento aos comen-
trios e sugestes que foram, na verdade, mais presenciais do
que no blog exatamente que me motivaram a continuar e con-
cluir este trabalho at o to esperado dia 18 de dezembro
5
.
4 http://www.tropicaline.wordpress.com
5 poca da reviso do texto publicao deste livro, em julho de 2009, fo-
ram inseridas observaes e dados novos para o conjunto das refexes.
29
CAPTULO 1 O mundo na dcada de 60.
proibido proibir
Inscries nos muros de Paris em maio de 1968
Este captulo buscar fazer um panorama da conjuntura
scio-poltico-cultural dos anos 60 no Brasil e no mundo, visan-
do esclarecer algumas das razes que levaram aos acontecimen-
tos do emblemtico ano de 68. Entende-se assim, que este ano foi
fruto de questionamentos e experimentaes que vinham desde
o incio da dcada e que acabaram por convergir nas diversas
manifestaes daquele ano. Dessa forma, no podemos desloc-
lo de seu contexto, nem tampouco simplesmente reverenci-lo
ou critic-lo dcada aps dcada, 40 anos depois. Por isso, este
trabalho como um todo visa fazer uma anlise comparativa en-
tre as motivaes e projetos daquela gerao e a de hoje em um
recorte especfco: a cultura. Alm disso, a anlise feita deste pe-
rodo servir para contextualizar a proposta poltica e esttica da
chamada Tropiclia, que ir infuenciar, segundo este estudo, a
produo cultural no pas at os dias de hoje.
1.1 - O contexto mundial.
Com o fim da 2 Guerra Mundial em 1945, foi instau-
rado no plano mundial um momento de tenso entre os dois
maiores blocos polticos daquela poca, a Unio Sovitica
(URSS) e os Estados Unidos, que haviam unido foras para
derrotar a Alemanha nazista. Se no leste europeu tornava-se
cada vez mais forte a proposta socialista da URSS, sob o re-
gime totalitrio de Joseph Stalin, do lado ocidental os EUA
viviam um momento de grande crescimento econmico, e o
capitalismo se consolidava como ordem social, econmica e
poltica para os pases a ele aliados. Este momento ficou co-
30
nhecido como Guerra Fria pois a enorme tenso s no era
maior do que o medo mundial de uma nova guerra que, com
os avanos tecnolgicos da indstria blica dos ltimos anos,
terminaria em uma catstrofe nuclear. Assim, o conflito ficou
durante muito tempo no plano ideolgico, o que se por um
lado acirrava a disputa pela hegemonia poltica a nvel global,
por outro acabou levando a intensos embates e reformula-
es a nvel local, dentro da dinmica dos prprios pases.
Assim, EUA e URSS iam conquistando aliados na construo
de uma nova ordem mundial.
A grande quantidade de pases sob ditaduras a partir da
dcada de 60 se nos reportarmos, por exemplo, a Amrica
Latina, refetia na populao um sentimento de contestao
daquela ordem, e mesmo nos pases onde o regime no era di-
tatorial, a atmosfera repressiva parecia inquietar a populao
- principalmente jovens universitrios, que viriam a ser os prin-
cipais atores das transformaes que estavam por vir. E, embo-
ra houvesse divergncias a respeito do modelo poltico ideal
e como este seria implementado, de um modo geral aquele
momento demandava das pessoas uma tomada de posiciona-
mento, que acabava por se infltrar em diversas esferas da vida:
do trabalho ao sexo, tudo era poltico. O jornalista Alpio Frei-
re afrma que havia uma ditadura que, da mesma forma como
perseguia o cabeludo, perseguia a moa liberada sexualmente e o
militante de esquerda. Foi ela que politizou todo o movimento e
colocou todos juntos nas passeatas pela democracia
6
.
Com a radiodifuso pela televiso, que se consolidava
naquela poca, a Guerra do Vietn causou comoo mundial
a partir do efeito miditico provocado pela veiculao das
imagens do confronto, fazendo com que a opinio pblica
norte-americana retirasse seu apoio ao armada. Em di-
versos pases, as manifestaes contra tal interveno provo-
6 In: Caderno MAIS!, Folha de So Paulo, 04 de maio de 2008.
31
cavam choques entre a polcia e a populao em sua maio-
ria jovens universitrios que tambm protestava contra os
regimes totalitrios em seus pases. Alguns acontecimentos,
como a Revoluo Cubana tornaram-se referncias comuns
na poca e geraram em parcelas de jovens de diversos pases
- especialmente nos pases da Amrica Latina - um mesmo
sentimento a necessidade da revoluo fosse ela poltica,
social, cultural, esttica. Nas mais diversas bandeiras a mo-
tivao era a crena orgnica no poder de transformao, a
fim de revolucionar os modos de viver e pensar da socieda-
de. Entretanto, as significativas diferenas na realidade social,
econmica e poltica dos pases fez com que aquela atmosfera
em comum tivesse apropriaes e desdobramentos bem dife-
rentes em todo o mundo.
1.1.1 - O maio de 68 francs.
A Frana, por exemplo, vivia um momento de contnua
expanso econmica, traduzida no aumento constante do po-
der de compra e do consumo exacerbado, impulsionado pelo
rdio e pela televiso. Patrick Rotman, cineasta e historiador,
afrma que:
(...) a renovao geracional e a modernizao eco-
nmica, porm, iriam se chocar com uma sociedade
ainda dominada pelos valores tradicionais e por uma
rgida moral. Esse verdadeiro abismo entre o velho e o
novo iria desembocar uma exploso repentina, quando
milhes de estudantes e trabalhadores paralisaram a
Frana em maio de 1968
7
.
7 In: 68 O ano zero de uma nova era. Revista Histria Viva, n.. 54. So Pau-
lo: Dueto Editorial, 2008, p. 35.
32
Estas manifestaes partiam de um grupo social aut-
nomo: jovens estudantes que trabalhavam e, por isso, tinham
acesso ao consumo, ainda que de forma crtica. Suas grandes
bandeiras naquele momento eram a liberalizao dos costumes
e reformas no modelo universitrio. Era um momento de ques-
tionamento, sobretudo existencial no qual Sartre e Beauvoir
foram importantes referncias tericas -, e a reivindicao por
mais liberdade, emancipao e autonomia eram a pauta do dia.
Em uma perspectiva cultural, a causa trabalhista tambm foi um
grande foco da ateno dos estudantes naquele momento, que
acreditavam que no se deveria viver para trabalhar, mas traba-
lhar para viver, e a aliana estudantil com o operariado se mos-
trou fundamental para as manifestaes daquele perodo. Lemas
como Trabalhadores do mundo, divirtam-se e O patro precisa
de voc, voc no precisa dele, visto nas ruas de Paris daquele ano,
refetiam o clima de contestao da ordem burguesa de trabalho
e do acmulo de capital.
Dada a situao poltica na Frana que, diferentemente de
outros pases, no vivia um regime totalitrio, apoiavam-se em
causas externas para refetir sobre as contradies do prprio
pas, as quais iriam questionar nas manifestaes. Estas trans-
formaes culturais na Frana de 68 podem ser buscadas, por
exemplo, no movimento surrealista de 36, onde se questionava
a concepo nica de arte - se naquele momento buscava-se de-
mocratizar o acesso cultura, o objetivo agora era transformar a
cultura. Alm disso, a Revoluo Cultural chinesa e o lder Mao-
Tse-Tung infuenciavam milhares de jovens franceses com o Li-
vro Vermelho.
Alm da questo comportamental, a grande reivindi-
cao da juventude francesa era por um novo modelo educa-
cional, de autonomia universitria e de reviso da pedagogia
ultrapassada que no mais se adaptava realidade daquela ju-
ventude. Denunciavam-se as relaes de poder, questionava-se
33
a funo social do conhecimento (que, ao que tudo indicava,
estava em funo do capital) e reivindicava-se uma autonomia
pedaggica multidisciplinar, que permitisse a participao dos
estudantes na construo do conhecimento. No Brasil, a luta
pela reforma universitria tambm teve presente nas mani-
festaes, mas acabou fcando em segundo plano em funo
de uma luta maior: contra a ditadura militar, como veremos
adiante. Alm disso, este confito de geraes dentro da uni-
versidade tambm gerou a contestao do autoritarismo e
conservadorismo que separava homens e mulheres dentro dos
campi. Assim, a universidade seria palco das manifestaes do
simblico ms de maio de 68, quando, liderados pelo alemo
Daniel Cohn-Bendit, estudantes ocuparam a renomada Sor-
bonne, aps a universidade de Nanterre, no subrbio de Paris,
tambm j ter sido ocupada.
8
O maio de 68 na Frana tem prestgio e tornou-se emble-
mtico para aquela poca, talvez muito em funo da tradio re-
volucionria de Paris. Entretanto, a luta pela reforma universitria
e pela revoluo cultural de 68 no devem ser pensadas de forma
isolada no tempo e no espao: tiveram desdobramentos interna-
cionais recriados em novos contextos, at os dias de hoje.
1.1.2 - Os EUA e a Guerra do Vietn.
No centro dos protestos, estava um Estados Unidos reple-
to de contradies. Apesar do vertiginoso crescimento econ-
mico, a parania anticomunista da Guerra Fria, as desigualdades
sociais e o moralismo norte-americano dividiam a populao.
Assim como em outros lugares do mundo guardadas as devi-
8 Entre as reivindicaes protestavam contra a guerra do Vietn, onde a bru-
talidade da interveno servia de justifcativa para o uso da violncia nos atos
de oposio guerra. As barricadas tornam-se ento smbolo da resistncia
estudantil, evidenciando em lemas como barricadas fecham ruas mas abrem
caminhos o carter transformador que aquele movimento buscava ter.
34
das propores surgiam movimentos civis de crticas s idias
elitistas, hipocrisia e alienao da sociedade norte-americana,
reivindicando maior liberdade na vida cotidiana, alm de fazer
oposio, claro, Guerra do Vietn.
Alm das manifestaes contra sua poltica mili-
tar externa, uma parcela significativa da sociedade norte-
americana comea a contestar nessa dcada seus prprios
valores e preconceitos. Valendo-se da imagem democrtica
que o pas buscava projetar por causa da Guerra Fria, o mo-
vimento negro ganhava fora denunciando a contraditria
realidade das relaes raciais, a pobreza e a discriminao
aos quais eram submetidos os negros dos EUA. Tiveram as-
sim um importante papel na expanso do Estado do Bem
Estar Social no pas por outro lado, uma das principais
ferramentas do American Way of Life que se tentava im-
primir no mundo capitalista. Em busca de reconhecimen-
to e igualdade de direitos e oportunidades, buscaram alte-
rar as relaes polticas, raciais e sociais no pas. O uso de
canes e comcios aproximou brancos da luta dos negros,
muito em parte devido ao carismtico lder Martin Luther
King, pastor da Georgia que propunha a luta por direitos ci-
vis de forma no-violenta tambm em resposta opositiva
Guerra do Vietn. Os Panteras Negras, com participao
importante na luta militante contra o racismo, buscavam ga-
rantir servios sociais para a comunidade negra a partir de
um nacionalismo cultural. E ativistas e militantes, como
o lder mulumano Malcom X, proporcionaram visibilida-
de ao black Power, valorizando tradies afro-americanas
e dando apoio a movimentos revolucionrios no Terceiro
Mundo. As estratgias, ideais e coragem do movimento ne-
gro americano inspiraram sindicalistas, feministas, lsbicas
e gays, povos indgenas e imigrantes no s nos Estados
Unidos mas tambm no mundo.
35
1.1.3 A New Lef inglesa.
A chamada New Lef foi um movimento de intelectu-
ais que constituiu a base scio-histrica dos Estudos Culturais
surgidos na Inglaterra entre o fnal da dcada de 50 e a dcada
de 60. A partir de uma viso scio-histrica, buscavam revisar as
prticas e a poltica marxista, pensando as questes econmicas
e estruturais de cada sociedade a partir de sua insero em seus
contextos histricos e culturais especfcos.
O movimento comeou com os Lef Books, grupos de dis-
cusso de esquerda que combinavam atividades culturais com os
estudos polticos. Era um movimento que propunha um marxis-
mo cultural, enxergando na educao a luta pelo acesso da classe
trabalhadora aos instrumentos que levariam mudana social
(como veremos adiante, os questionamentos levantados pela
New Lef tiveram expresso na movimentao poltica-social no
Brasil pr 64, como no caso do CPC). Sua proposta era entender
as estruturas sociais marginais no sentido do que deixado
de lado pela classe dominante, o popular, no caso brasileiro
para ento exercer uma mudana efetiva na sociedade.
O fnal da dcada de 50 marcado por uma relativa des-
crena, por parte de diversos movimentos polticos no mundo,
nos moldes de ao poltica propostos tanto pela URSS, quanto
pelos Estados Unidos, exigindo uma reviso dos processos po-
lticos. Era um momento onde a cultura passava a ocupar lugar
central nas discusses sociais e era preciso repensar o marxismo
e sua teoria totalizante da organizao social em termos do novo
momento histrico
9
.
Em vistas de uma poltica cultural radicalmente anti-tra-
dicional, o movimento propunha romper com a viso de que o
cultural e a vida familiar so apenas assuntos sem importncia,
uma expresso meramente secundria da criatividade e das rea-
9 Cevasco, 2003, p. 80.
36
lizaes humanas
10
, o que lembra bastante a relao tropicalista
com a poltica e o cotidiano.
A New Lef foi uma corrente de pensamento no homo-
gnea que abrigou diferentes geraes, alertando para a cultura
como uma arena de disputa poltica como ser melhor discuti-
do no captulo trs. Esta perspectiva culturalista se consolida e
at hoje encontrada na academia, na mdia, nas artes dramticas
e na contracultura metropolitana.
1.1.4. A contracultura
A contracultura se constroe como resistncia aos modelos
impostos pelo capitalismo embora tambm no fzesse a defe-
sa do modelo socialista e, variando entre o desbunde e formas
mais especifcamente politizadas, criticavam de uma maneira ge-
ral o autoritarismo e os valores burgueses. Entre ditaduras mili-
tares, o crescimento da sociedade materialista e consumista e o
engajamento poltico com a classe operria, jovens embarcavam
em diferentes graus de psicodelia acreditando que era possvel
mudar o mundo e contestar a ordem moral e social at ento
vigente na sociedade ocidental.
Para os especialistas, a obra inaugural da contracultura
o poema Uivo de Alain Ginsberg
11
, publicado em 56, um lon-
go poema descrevendo a falncia moral dos EUA e o fracasso de
sua gerao em realizar transformaes em suas prprias vidas. A
criao do termo, entretanto, atribuda ao professor americano
Teodore Roszac, autor em 1969 do livro O fazer de uma contra-
cultura Refexes em uma sociedade tecnocrata e a jovem oposi-
10 Editorial da University and Lef Review, n.4, publicao lanada por jo-
vens estudantes de Oxford .
11 Ginsberg fazia parte da chamada Beat generation, um grupo de jovens
intelectuais (chamados de beatniks) que contestavam o consumismo e o
otimismo do ps-guerra americano, o anticonsumismo generalizado e a falta
de pensamento crtico.
37
o, que buscava fazer um elo entre os protestos estudantis, o mo-
vimento hippie e a recusa sociedade industrial. No Brasil - muito
em funo da censura imposta pela ditadura militar - a produo
e o circuito cultural se viam restritos a uma certa marginalidade e
nomes como Torquato Neto, Waly Salomo, Luiz Carlos Maciel,
Rogrio Sganzerla, alm dos artistas tropicalistas, foram nomes
importantes para a contracultura brasileira.
O termo contracultura se refere tanto ao conjunto de mo-
vimentos de rebelio da juventude que marcaram os anos 60 -
como o movimento hippie, a msica rock, a movimentao nas
universidades, as viagens de mochila e o uso deliberado de dro-
gas - como tambm a um certo esprito de contestao e enfren-
tamento da ordem vigente, de carter profundamente radical e
divergente s foras mais tradicionais de oposio a esta mesma
ordem dominante. Para Carlos Alberto Messeder Pereira, trata-
se de um tipo de crtica anrquica que, de certa maneira, rompe
com as regras do jogo em termos de modo de se fazer oposio
a uma determinada situao, tendo assim um papel fortemente
revigorador na crtica social. Para o crtico literrio Carlos Nel-
son Coutinho
12
, a contracultura no Brasil se confgurava mais
como um movimento extracultural, se colocando mais como
uma crise do que uma tentativa de resolv-la - por no solucio-
nar certos impasses da produo cultural em si. Entretanto, em
um momento onde as concepes estruturais dos problemas po-
lticos limitavam de certa forma seu contedo, o abstracionismo
estrutural da contracultura evidenciou algumas contradies e
trouxe para o plano cotidiano o debate poltico.
Em resposta violenta interveno norte-americana no
Vietn, muitos preferiram reagir de forma pacifsta, criticando
autoridades e os valores da classe mdia adotando estilos alter-
nativos de vida. Surgia naquela poca o movimento hippie com
suas diversas comunidades alternativas em sua maioria longe
12 Apud Hollanda e Pereira, 1980.
38
dos centros urbanos -, onde buscava-se uma vida mais simples
e livre, e onde os instintos no fossem reprimidos pela moral e
pelo padro de vida ocidental consumista. O movimento hippie
propunha novas posturas e prticas sociais: os cabelos cresce-
ram, defendia-se o uso de drogas principalmente a maconha
e o LSD para a alterao do estado de conscincia e o amor
livre era bandeira da experimentao contra a represso moral.
O lema faa amor, no faa a guerra revelava o esprito libert-
rio dos movimentos pacifstas daquela gerao, que crescia em
todo o mundo. Sua maior manifestao foi o festival Woodstock
em outubro de 1969, em uma fazenda em Nova Iorque, onde se
apresentaram diversos artistas que de alguma forma se relacio-
navam com as propostas do movimento hippie: o folk, com seu
pacifsmo e sua contundente crtica social; o rock, com sua con-
testao ao conservadorismo dos valores tradicionais; o blues,
com sua melancolia que h dcadas j mostrava as contradies
da sociedade norte-americana; e a ctara de Ravi Shankar, re-
presentando a presena marcante da infuncia oriental na con-
tracultura, entre outros. Entre drogas lisrgicas, amplifcadores
e muita lama, 400 mil pessoas reivindicavam outro modelo de
sociedade, praticavam o amor livre e se opunham pacifcamente
Guerra do Vietn.
Alm disso, a disputa ideolgica da Guerra Fria buscava ig-
norar a diversidade cultural vinda do outro lado do planeta. Assim,
a crescente oposio ao American Way of Life, combinada com o
desenvolvimento tecnolgico que permitia o maior contato com
outras realidades, fez com que muitos jovens se aproximassem da
cultura oriental na busca por novos estilos de vida.
Tambm dessa poca o incio de estudos sobre a ecolo-
gia, que, para alm da preocupao ambiental, busca o equilbrio
dos sistemas princpios estes que foram aplicados inclusive na
sociologia -, dando incio aos primeiros movimentos ambienta-
listas que ganharam fora na dcada seguinte.
39
Para o brasilianista Christopher Dunn, esse legado da
contracultura fez com que se abrisse mais a noo do que era o
campo da poltica, at ento restrito aos partidos
13
.
importante assinalar o papel dos meios de comunicao
de massa para a confgurao da contracultura da dcada de 60,
quando a atmosfera de contestao e busca comeam a encontrar
ressonncia nos meios de comunicao que se consolidavam.
Aquela gerao comeava ento a desenvolver uma cultu-
ra prpria na msica, na moda, na linguagem e os avanos tec-
nolgicos da poca os conectavam com a juventude do resto do
mundo a partir de uma linguagem universal: o rock. A msica foi
o principal canal de expresso daqueles ideais, e artistas como
Jimi Hendrix, Te Doors, Bob Dylan, Janis Joplin, Led Zepelin,
Te Beatles, Mick Jagger e a Tropiclia no caso brasileiro - fa-
ziam a trilha sonora de uma gerao que buscava novas maneiras
de viver e amar. O rocknroll fuso explosiva do blues, jazz,
folk e country deixa de ser apenas um subproduto da indstria
cultural que se consolidava naquela dcada e construa um dis-
curso crtico social e comportamental na mdia, incorporando
principalmente elementos da cultura negra que ganhava fora
nos EUA. A experimentao e a quebra do padro em relao
aos formatos da msica industrial vigente eram refetidos no
som dos britnicos Te Beatles, em seu emblemtico lbum
Sargent Peppers Lonely Hearts Club Band, que, por sua vez,
infuenciaram diversos movimentos musicais no mundo como
a prpria Tropiclia, como veremos adiante. Alm disso, contes-
tavam o papel do msico na sociedade de consumo atravs de in-
tervenes artsticas politizadas como a apaixonada e violenta
verso do hino nacional executada por Jimi Hendrix no festival
de Woodstock, dando expresso revolta e confuso que mar-
cavam a vida dos jovens da poca.
13 In: 68 O ano da revoluo pela arte, Segundo Caderno, O Globo, 18
de maio de 2008.
40
1.1.5 A mulher na sociedade.
Na onda de movimentos contestatrios daquela dcada,
se fortifcava o movimento feminista que, a partir de um conjun-
to de idias polticas, flosfcas e sociais, procurava promover os
direitos e interesses das mulheres na sociedade civil, em busca
da igualdade entre os sexos. A principal referncia do existen-
cialismo, tese segundo a qual cada pessoa responsvel por si
prpria, era o casal Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre, que
mantinham um relacionamento aberto a verso politizada do
amor livre, por assim dizer. Em 1949, Simone escreve o livro O
Segundo Sexo, defendendo que a hierarquia entre os sexos no
uma fatalidade biolgica e sim uma construo social, e que
serviu de embasamento terico e poltico para as reivindicaes
feministas daquela dcada. No Brasil, Nara Leo, Elis Regina,
Gal Costa, Rita Lee, Lygia Clark, entre outras, ocuparam na d-
cada de 60 importantes e diferentes papis na insero da mu-
lher nos debates da sociedade atravs das artes, sem esquecer de
outras importantes feministas brasileiras como a escritora Rose
Marie Muraro e a atriz Leila Diniz
14
.
1.1.6. A contestao e a arte.
Nas artes tambm era possvel observar a reformulao de
valores e, principalmente do conceito de arte. A pop art norte-
americana infuenciada pelas obras de Marcel Duchamp nos
anos 30 e simbolizada principalmente nas obras do artista Andy
Wahrol sobretudo na dcada de 50 se apropriava de temticas
do cotidiano para criticar o American Way of Life. A simbolo-
gia de produtos do mercado publicitrio americano era utilizada
como tema da obra, reafrmando que a arte deixava de lado a abs-
trao para assumir um carter mais fgurativo, a fm de provocar
14 Sobre feminismo, ver Alves Moreira e Pitanguy, 1991e Jardim Pinto, 2003. e Pitanguy, 1991e Jardim Pinto, 2003. Jardim Pinto, 2003. Jardim Pinto, 2003.
41
uma sociedade cada vez mais guiada pelos padres de consumo
capitalistas. Embora no se caracterizasse como um movimento
contracultural, a pop art trouxe questionamentos e experimen-
taes estticas absorvidas, por exemplo, pelo movimento Nova
Objetividade Brasileira, que teve em Hlio Oiticica um de seus
precursores, contribuindo para a vanguarda das artes plsticas e
da contracultura brasileira na poca.
No Brasil, o teatro tambm assumiu um importante papel
na manifestao artstica contracultural que se manteve conecta-
do s tendncias internacionais. O experimentalismo do Living
Teatre e o teatro anrquico e poltico do Grupo Ofcina de Jos
Celso Martinez Correa que mantinham permanete intercmbio
- foram revolucionrios no sentido de alterar a relao entre o pal-
co e a platia, entre os textos e os atores e a direo do espetculo.
A msica e o cinema tambm tiveram importante participa-
o no protesto e experimentalismo da dcada no Brasil, como ve-
remos adiante. Separados por signifcativas diferenas no contexto
poltico e cultural dos dois pases, estes movimentos tiveram papel
fundamental no questionamento do estatuto de arte, do papel do
artista e da relao entre a obra e o pblico. A arte e a cultura sero
no Brasil um dos pricipais canais de discusso e articulao - po-
ltica daquela poca, como veremos a seguir.
1.2 Brasil.
1.2.1 - A esperana da revoluo cultural brasileira.
Depois de uma fase de grande desenvolvimento com o gover-
no de Juscelino Kubitschek nos anos 50, o pas parecia caminhar rumo
a uma nova sociedade, uma nova poltica, uma nova cultura, onde a
modernidade e a modernizao se instalavam com fora. Acreditava-
se que nunca se havia produzido tanto no pas, em termos industriais,
econmicos e culturais que o que nos interessa aqui.
42
Em Pernambuco, por exemplo, o governo de esquerda de
Miguel Arraes que apoiava a criao de sindicatos, associaes
comunitrias e a liga camponesa, cria o Movimento de Cultura
Popular em 1960, que teve como objetivo bsico difundir as ma-
nifestaes da arte popular regional e desenvolver um trabalho de
alfabetizao de crianas e adultos. Com apoios como o da Unio
Nacional dos Estudantes e o Partido Comunista, o MCP ganhou
dimenso nacional e serviu de modelo para movimentos seme-
lhantes criados em outros Estados brasileiros. Dado o seu carter
esquerdista e libertador, embasado no pensamento nacional-po-
pular, hegemnico no pensamento da esquerda brasileira naquele
momento, foras de direita tentaram sufocar o movimento e hou-
ve uma mobilizao nacional em sua defesa, evidenciando o forte
sentimento nacionalista e populista da esquerda na poca.
Ainda em terras pernambucanas, Paulo Freire e sua peda-
gogia do oprimido propunha a quebra de paradigmas atravs de
uma educao popular que teve posteriormente grande visibili-
dade internacional com o chamado Mtodo Paulo Freire de
alfabetizao de adultos.
Em So Paulo o Teatro de Arena revelava, em nomes como
Augusto Boal, Oduvaldo Vianna Filho e Gianfrancesco Guarnie-
ri, a preocupao de expandir a arte teatral para as ruas, fugindo
do sistema burgus de espetculos fechados. No Rio de Janeiro, a
movimentao em torno da MPB e da Bossa Nova e experimen-
taes cinematogrfcas de jovens universitrios indicavam novos
caminhos de uma arte preocupada com a questo do povo. Nes-
se contexto, e claramente infuenciado pelo MCP, criado no Rio
de Janeiro o Centro Popular de Cultura da UNE em 1961, com
o objetivo de construo de uma cultura nacional, popular e de-
mocrtica. Por meio da conscientizao das classes populares a
partir de inseres culturais na favela, no campo e na classe ope-
rria, a arte engajada realizada pelo CPC buscava levar o dilogo
poltico para o povo, a partir de uma concepo da cultura como
43
instrumento de tomada de poder. Assim, observava-se o esforo
de adestrar os poderes formais da criao artstica a ponto de ex-
primir correntemente na sintaxe das massas os contedos polti-
cos originais
15
, fcando ento a concepo esttica a servio do
contedo poltico, objetivando uma comunicao mais imediata
com seu pblico: o povo. importante acentuar a preocupao
cepecista da opo de pblico em termos de povo, que, coloca-
do desta forma, homegeiniza conceituamente a multiplicidade de
contradies e interesses da populao.
16
A cultura encontrava solo frtil e era o mais importante ca-
nal de dilogo escolhido pela esquerda na relao com as massas.
Acreditavam desta maneira preparar a base para uma revoluo
socialista no pas - motivada pela recente Revoluo Cubana.
Tanto nas produes em traos populistas quanto nas vanguar-
das, temas do debate poltico como a modernizao, a demo-
cratizao, o nacionalismo, e a f no povo estavam no centro
das discusses, informando e delineando a necessidade de uma
arte participante, forjando o mito do alcance revolucionrio da
cultura. Segundo Helosa Buarque de Hollanda, a efervescncia
poltica e o intenso clima de mobilizao que experimentvamos no
dia-a-dia favoreciam a adeso dos artistas e intelectuais ao projeto
revolucionrio
17
- projeto que, atentado para as contradies le-
vantadas pelo processo de modernizao industrial, busca uma
arte de vanguarda ou de dilogo populista trazendo para o centro
das preocupaes o empenho da participao social que marcou
aquela dcada. A tenso entre a arte popular revolucionria e o
experimentalismo formal permitiu que a produo cultural bra-
15 Anteprojeto do Manifesto do Centro Popular de Cultura, redigido em
maro de 1962, por Carlos Estevam Martins, ento presidente do CPC. Ver
texto completo em Hollanda, 1980, p. 135-168.
16 As motivaes e realizaes do CPC sero vistas mais aprofundamente As motivaes e realizaes do CPC sero vistas mais aprofundamente
adiante, no captulo 2.
17 Hollanda ,1980, p. 15.
44
sileira no apenas crescesse vertiginosamente no perodo mas
aprofundasse suas questes estticas e funcionais.
As aes do governo e das organizaes polticas popula-
res passam a orientar-se cada vez mais pela crena em um Estado
superior e soberano, e pelo lugar central ocupado pelas massas
em termos de base de articulao e apoio. Se isto signifca que
possuem ento algum nvel de participao e poder de barganha
com o Estado, coloca, por outro lado, empecilhos para o desen-
volvimento de uma ao poltica autnoma, desempenhando
assim um papel de massa de manobra. O Partido Comunista,
por sua vez, atuava na aliana com a burguesia nacional e na con-
ciliao de classes, facilmente combinvel com o populismo na-
cionalista ento dominante.
A intensifcao do processo de industrializao comea a
se fazer atravs da crescente penetrao em nossa economia de
capitais externos pela via da associao com empresas nacionais.
Dessa forma, o pas, estruturado em uma economia agrrio-ex-
portadora, sofria as presses de uma nova modernidade impos-
ta pelo capitalismo monopolista internacional, enquanto o debate
poltico nacional via nascer um novo tabu: a Reforma Agrria.
Embora tivesse aproximao com a base popular atravs
de reformas sociais, o governo de Joo Goulart encontrava resis-
tncia dentro do Congresso, simbolizando para as classes mais
conservadoras um perigo comunista no pas, e, temendo a luta
de classes, recuou diante de uma possvel guerra civil. Assim,
fnanciado pelo governo capitalista norte-americano, apoiado
pela direita e por setores da Igreja Catlica e da classe mdia,
militares tomam o poder, no dia 31 de maro de 1964. Instala-
se ento ofcialmente uma moral conservadora sustentada pelo
zelo cvico-religioso, a vigilncia moral e o ufanismo patritico,
que, atravs da censura declaradamente exercida pelo regime
militar sobre a produo cultural nacional, iro estabelecer no-
vos paradigmas para a criao artstica no pas. O chamado golpe
45
militar foi ento um verdadeiro balde de gua fria para artistas,
intelectuais, militantes, estudantes e, de uma forma geral, para
a esquerda, que acreditava na possibilidade de criao de uma
nao socialista de base popular:
O golpe de 64 traz consigo a reordenao e o estrei-
tamento dos laos de dependncia, a intensifcao do
processo de modernizao, a racionalizao institucio-
nal e a regulao autoritria das relaes entre as clas-
ses e os grupos, colocando em vantagem os setores asso-
ciados ao capital monopolista ou a eles vinculados.
18
No dia 1 de maro, a sede da UNE invadida, incendia-
da e a entidade posta na ilegalidade acabando assim como os
CPCs espalhados pelo pas; Miguel Arraes deposto em Pernam-
buco, acabando com as iniciativas do MCP; o Partido Comunis-
ta Brasileiro torna-se ilegal desencadeando todo um processo de
rupturas e dissidncias no campo das esquerdas - que se divide
entre a crena na revoluo por via da conscientizao poltica da
base popular e na guerrilha armada conectada com as tendncias
latino-americanas ou no simples desbunde como resistncia ao
processo poltico. Desestruturados com a surpresa do golpe e o
fracasso da revoluo socialista, antigos militantes do espao para
os novos em sua maioria estudantes que iro tocar a cena po-
ltica de resistncia. Inicia-se um novo momento para o Brasil em
termos polticos, sociais e culturais, que levaro o pas ao perodo
que foi, provavelmente, um dos mais turbulentos de sua histria.
1.2.2 Cultura no Brasil ps 64.
No s no Brasil, mas no mundo inteiro, repensa-se vrios
problemas do nosso tempo, buscando superar certas categorias
18 Idem, p. 20.
46
e certas maneiras de abordagem que prevaleceram em perodos
anteriores. Apontando para uma crise da esquerda e do marxis-
mo enquanto mtodo de investigao social, h uma tentativa
de repensar as questes de uma maneira nova, e tambm de
repensar certa concepo da poltica no Brasil...de como fazer
poltica.
19
Neste sentido, no plano da cultura tambm se obser-
vava uma certa crtica ao autoritarismo e a idia de que poucas
pessoas iluminadas eram capazes de resolver as questes do
povo brasileiro como se a esquerda fosse a detentora do mono-
plio da verdade, observando a necessidade de uma cultura mais
pluralista que desse conta das contradies de uma sociedade
brasileira diversa e heterognea.
O principal efeito do golpe militar sobre o processo cultu-
ral no foi, a princpio, no impedimento da circulao das pro-
dues tericas e culturais de esquerda, mas no bloqueio desta
produo em seu acesso s classes populares, cortando assim
as pontes entre o movimento cultural e as massas. Mesmo com
restries, o iderio das manifestaes culturais da esquerda se
desenvolve vertiginosamente entre um pblico que iria assumir,
ento, a frente das movimentaes: os estudantes, organizados
em semiclandestinidade:
Fracassada em suas pretenses revolucionrias e im-
pedidas de chegar s classes populares, a produo
cultural engajada passa a realizar-se num circuito ni-
tidamente integrado ao sistema teatro, cinema, disco
- e a ser consumida por um pblico j convertido de
intelectuais e estudantes da classe mdia
20
.
Neste sentido, o experimentalismo formal das vanguardas
e as propostas de arte popular revolucionria (que remontam ao
19 Hollanda e Pereira, 1980, p. 45
20 Hollanda, 1980, p. 30.
47
engajamento cepecista) criam uma forte tenso que alimenta e
percorre a produo cultural do perodo.
A perda de contato com o povo e a necessidade de impe-
dir a desagregao canalizaram a ao cultural da esquerda para
um circuito de espetculo. Firmava-se ento a convico de que
vivo e potico era o combate ao capital e ao imperialismo e da a
importncia dos gneros pblicos como teatro, msica popular
e cinema enquanto a literatura saa do primeiro plano para ter
seus artistas incorporado a estas outras artes.
Para o engajamento artstico cepecista (pr-golpe), para
captar a sintaxe das massas necessrio fazer uso de seu instru-
mento de trabalho a palavra potica em favor de um dilogo
poltico mais imediato. O resultado dessa submisso da forma
ao contedo era uma poesia metaforicamente pobre, codifca-
da e esquemtica. Helosa Buarque
21
recorre a Walter Benjamin,
para demonstrar que ciso entre o engajamento e a qualidade
literria no d conta das interconexes existentes entre os dois
plos, se tratando de uma percepo antidialtica do problema,
pois exatamente a opo literria explcita ou implicitamente
contida na opo poltica que constitui a qualidade da obra. Ou
seja: em que medida ela est reabastecendo o aparelho produti-
vo do sistema ou atuando para modifc-lo. Essa crtica pro-
duo literria pode ser deslocada para outras formas de criao
artsticas do perodo, que tambm possuam diferentes graus de
engajamento e preocupao esttica:
A funo poltica da obra sua efccia revolucionria
no deve, ento, ser procurada nas imprecaues que
dirige ao sistema ou em sua autoproclamao como obra
de transformao social, mas, antes, na tcnica que a pro-
duz na conformao ou no dessa tcnica s relaes de
produo estabelecidas. neste sentido, ento que a arte
21 Idem, p.31.
48
populista no desempenhava, apesar de seu propsito ex-
plicitamente engajado, funo revolucionria.
22
Neste sentido, o movimento do Cinema Novo, que vi-
nha desde o incio da dcada, parecia propor um duplo enga-
jamento, buscando a revoluo da arte com contedo poltico
tambm pela reformulao esttica. Para eles, os dois problemas
se colocam juntos, um decorrendo do outro: por um lado a pre-
ocupao com uma arte que transforme, e por outro a garantia
de liberdade entre as alternativas que esta arte possa ter como
expresso e comunicao.
Entretanto, eram criticados pelas alas mais rgidas do
CPC, que viam no cinema de autor a possibilidade de um im-
pedimento comunicao com o povo, que no acompanha-
ria a linguagem de vanguarda. Em resposta, Glauber Rocha, um
dos mais importantes cineastas da histria do cinema nacional
e precursor do Cinema Novo, diz: estamos preocupados em
transformar conscincias, no lev-las a uma forma de entorpe-
cimento; lev-las a novas formas de raciocnio condizentes com
sua situao de classe novas.
No Cinema Novo, em contraposio a um cinema nacio-
nal nos moldes da indstria cinematogrfca norte-americana
e europia buscava-se a realizao de flmes descolonizados,
expressando criticamente a temtica do subdesenvolvimento,
traduzindo a vivncia histrica de um pas do Terceiro Mundo.
Na busca por uma identidade nacional, queriam fazer flmes an-
tiindustriais, de autor, flmes de combate na hora do combate e
flmes para construir no Brasil um patrimnio cultural
23
. Acre-
ditavam que a revoluo no cinema deveria dar-se tambm no
plano esttico, em uma tentativa de romper com a lgica de pro-
duo do cinema imperialista norte-americano e seu esquema
22 Idem.
23 Idem
49
clssico-narrativo. A linguagem era vista como lugar de exerc-
cio do poder: a superao da alienao e da dependncia haveria
de passar pela desconstruo das formas culturais dominantes
e do raciocnio ideolgico por elas proposto. Alm de esttica,
a inveno e a experimentao no campo da linguagem cine-
matogrfca eram uma problemtica econmica e poltica pois
resultava da opo de uma produo no industrial, pela desmis-
tifcao da imagem dominante da sociedade brasileira e, princi-
palmente, pela desmontagem dos padres estticos-ideolgicos
do flme estrangeiro.
O engajamento do intelectual no era apenas a motivao
ideolgica do Cinema Novo, como tambm, muitas vezes, o seu
argumento. Em 66, Paulo Csar Saraceni flma O Desafo, um fl-
me sobre os impasses que rondavam a esquerda depois de 64
que se traduz em uma tentativa de fagrar um momento da cons-
cincia do intelectual, demarcando as contradies e os limites
de sua origem de classe e de seu universo tico e poltico. Em 67
lanado Terra em Transe, de Glauber Rocha, o mais emblemti-
co flme do perodo, que motivou vanguardas experimentalistas
como a msica tropicalista de Caetano Veloso ao questionar
as contradies da intelligentzia brasileira.
No campo do teatro, com o fechamento do CPC, seus
membros tiveram que se voltar para o teatro comercial para dar
continuidade sua experincia, e como no poderiam empla-
car com um novo espetculo o nome de seus antigos diretores,
articularam-se ao Teatro de Arena, do qual pegaram o nome
emprestado
24
. Em dezembro estria ento o musical Opinio,
dando incio bem sucedida temporada que tornou-se um mar-
co para a cultura ps-64. No palco, o compositor rural Joo do
24 Segundo Ferreira Gullar em entrevista Helosa B. de Hollanda no livro
Patrulhas Ideolgicas o show Opinio foi lanado como produo do Teatro
de Arena, mas no era do Teatro de Arena; e ns pagamos ao [Augusto] Boal
para fazer isso e ainda pagamos ao Teatro de Arena para nos emprestar o nome.
50
Vale, o msico da periferia urbana carioca Z Keti e a flha da
classe mdia de Copacabana Nara Leo representavam as con-
tradies de uma populao que acreditava que preciso cantar
/ Mais do que nunca, preciso cantar / preciso cantar e alegrar
a cidade / A tristeza que a gente tem qualquer dia vai se acabar
25
.
Em uma aluso esperana e resistncia, o musical marcou o
incio de uma tendncia ou melhor, necessidade de se pas-
sar a mensagem poltica atravs de parbolas, driblando a cen-
sura. Para este grupo que acreditava dar uma resposta ao golpe,
a arte tanto mais expressiva quanto mais tenha uma opinio, a
partir da denncia atravs de contedos polticos, evidencian-
do um nacionalismo explcito e a continuidade da idealizao
da aliana artista-povo em uma cultura de protesto
26
. Entre-
tanto, ao invs de operrios e camponeses, o pblico do espet-
culo, apresentado em uma avenida a beira-mar de Copacabana,
eram estudantes e intelectuais da classe mdia de esquerda, que
compartilhavam do mesmo sentimento de esperana. O dilogo
pblico-platia se tornava mais horizontal no sentido de que no
lugar da profundidade de belos textos, eram apresentados argu-
mentos e comportamentos diretamente relacionados com suas
realidades, para imitao, crtica ou rejeio. Nesta cumplicida-
de, o show Opinio produzira a unanimidade da platia atravs
da aliana simblica representada entre msica e as massas po-
pulares contra o regime.
Ainda no plano teatral, Jos Celso Martinez Corra dirigia
o Teatro Ofcina no plo experimentalista da criao artstica da
poca, opondo-se esttica e, principalmente, motivao do
Teatro de Arena. Se o Arena herdara da fase Goulart o impulso
formal, o interesse pela luta de classes, pela revoluo, e uma cer-
25 Trecho da Marcha da Quarta-feira de Cinzas cantada por Nara Leo no es-
petculo, investindo na cano o sentido poltico de se expressar contra o auto-
ritarismo que subia ao poder e a determinao denncia e ao enfrentamento.
26 Hollanda, 1982, p. 23.
51
ta limitao populista, O Ofcina ergueu-se a partir da experincia
interior da desagregao burguesa em 64
27
. Na relao palco-p-
blico observava-se uma cumplicidade diferente, no mais ligados
pela simpatia e didatismo, como no Arena, mas pela brutalizao e
choque. Era uma resposta mais radical derrota de 64, e seu pbli-
co era aquele a quem o resduo populista do Arena incomodava.
Para eles artistas e pblico do Ofcina - depois da aliana da bur-
guesia com o imperalismo que resultou na ditadura militar, todo
consentimento entre palco e platia um erro ideolgico e est-
tico, e a cumplicidade esperanosa da classe mdia estudantil no
Opinio se confgurava como alienao e conformismo.
28
No campo da cano, a infuncia das idias de esquerda
nos meios artsticos levar a uma verdadeira revoluo esttica
na msica popular. Alienao e engajamento na cultura estudan-
til sero neste momento a principal discusso, e esta torna-se
mais evidente no cenrio musical, cuja produo cresce vertigi-
nosamente neste perodo. Para Francisco Texeira da Silva:
As canes possuem um poder especial, um certo en-
cantamento prprio, compondo parte fundamental
da memria dos indivduos. As canes eram, naquele
momento, ouvidas e aprendidas, para serem repetidas
na mesa do bar, nos corredores das escolas e universi-
dades, em pequenas reunies. Eram tempos em que a
cano tambm era uma arma, reforando a solidarie-
dade mtua e a identidade coletiva
29
.
Nessa perspectiva, a MPB se destaca no s como o centro
de um amplo debate esttico-ideolgico ocorrido nos anos 60,
mas, acima de tudo, como uma instituio sociocultural forjada a
27 Schwarz, 1978, p. 44.
28 Veremos mais sobre o Teatro Ofcina no captulo 2.
29 Teixeira da Silva, apud Cambraia Naves & Duarte, 2003, p.140.
52
partir deste debate. Se no incio da dcada a produo estava vol-
tada, por um lado para as conquistas musicais da Bossa Nova,
e, por outro, pela disseminao de uma mensagem socialmente
engajada e nacionalista, a partir de 64 a funo social da msica
rediscutida, acompanhada da discusso mais especfca em tor-
no do posicionamento contra o regime militar. Nas canes ut-
picas de reforma social deste perodo no h, de uma maneira
geral, uma forma nica de organizao poltica e social, diferente
das experincias do realismo socialista pr-golpe e suas certezas
polticas. Apesar do fracasso das esquerdas em 64, permanece
uma certa f - ao mesmo tempo ingnua e segura - na capacidade
do povo em construir formas mais igualitrias, pluralistas e jus-
tas de convivncia social, remanescendo assim o artista-povo
como alegoria de vanguarda.
Alm disso, a consolidao de uma indstria cultural traz
ampliao do pblico consumidor e, com isso, novos espaos no
cenrio musical. De acordo com Nercolini (2005), neste sentido,
a Era dos Festivais promovida pelas incipientes redes de TV na
poca (a exemplo da Excelsior, da Record e da Tupi, e, mais tarde,
da Globo) exerceram um importante papel na divulgao do tra-
balho de novos artistas, que encontravam neste cenrio um dilo-
go com seu pblico, em sua maioria uma classe mdia que por ve-
zes no era atingida pelos outros circuitos culturais. Tais festivais
revelaram ou consolidaram - importantes artistas como Chico
Buarque, Milton Nacimento, Geraldo Vandr, Paulinho da Viola,
Edu Lobo,Gilberto Gil, Caetano Veloso, Elis Regina, Nara Leo,
entre muitos outros. Se por um lado os meios de comunicao de
massa favoreciam o dilogo dos msicos engajados com a classe
mdia estudantil seu principal pblico -, por outro permitiam
o aparecimento de novos artistas produtos da indstria cultural.
Com contedo considerado alienado, artistas como Roberto e
Erasmo Carlos representavam a Jovem Guarda, que, muito bem
acessorados pelas suas gravadoras e pelos meios de comunica-
53
o de massa, faziam uma msica mais comercial, baseada no
rocknroll que se consolidava internacionalmente. No Brasil, a
verso i i i alcanava sucesso de vendas e conquistava grande
parte do pblico de classe mdia, gerando uma verdadeira ciso
entre os ento chamados de engajados e alienados.
A relao com a indstria cultural e o crescente merca-
do por ela proporcionado dividiu muitos artistas e gerou uma
srie de debates sobre os rumos da produo cultural brasileira.
Para Roberto Schwarz:
Os intelectuais so de esquerda, e as matrias que pre-
param, de um lado para as comisses do governo ou
do grande capital, e do outro para as rdios, televises
e os jornais do pas no so. de esquerda somente a
matria que o grupo numeroso a ponto de formar um
bom mercado produz para consumo prprio.
30
Em sntese, se os anos 40 e 50 podem ser considerados
como momentos de incipincia de uma sociedade de consumo, as
dcadas de 60 e 70 se defnem pela consolidao de um mercado
de bens culturais, associado s transformaes estruturais pelas
quais passa a sociedade. A reorganizao tardia da economia bra-
sileira no processo de internacionalizao do capital faz com que
o Estado autoritrio fortalecesse o parque industrial, inclusive da
produo de cultura e do mercado de bens culturais
31
.
Reconhece-se ento o poder que pode ter a cultura, e a im-
portncia da atuao do regime junto s esferas culturais. Se por
um lado defnida uma represso ideolgica e poltica, por outro,
30 Schwarz, 1978, p. 8.
31 Diferentemente de bens materiais, entende-se por bens culturais a
dimenso simblica que aponta para problemas ideolgicos, que expressam
elementos polticos embutidos embora nem sempre evidentes no prprio
produto veiculado.
54
um momento de grande produo e difuso de bens culturais,
muito em funo do papel de produtor e incentivador da cultura
assumido pelo prprio Estado, que sentia a necessidade de tratar
de forma diferenciada esta rea, onde seus produtos poderiam
expressar valores e disposies contrrias vontade poltica dos
que esto no poder. Por isso, a censura no se defne pelo veto a
qualquer produto cultural, mas sim por estabelecer uma repres-
so seletiva que separava o material considerado subversivo da-
quele que serviria aos interesses ufanistas do regime militar. Ou
seja, uma viso autoritria que se desdobra no plano da cultura
pela censura e pelo incentivo de determinadas aes culturais.
dessa poca a criao de entidades como o Conselho
Federal de Cultura, o Instituto Nacional do Cinema, a Embra-
flme, a Funarte, entre outros
32
, evidenciando a preocupao do
regime em polticas pblicas nesta rea. Com isso, a produo
cinematogrfca conhece, sem dvida, um momento de expan-
so, com polticas do Estado voltadas para medidas de proteo
de mercado - frente indstria hollywoodiana - e de incentivo
qualidade de produo.
Como assinala Ortiz:
O que caracteriza a situao cultural nos anos 60 e 70
o volume e a dimenso do mercado de bens culturais.
Se at a dcada de 50 as produes eram restritas, e
atingiam um nmero reduzido de pessoas, em 60 elas
tendem a ser cada vez mais diferenciadas e cobrem
uma massa consumidora de produtos produzidos espe-
cialmente para elas
33
.
32 Esta iniciativa remonta atuao poltica na esfera da cultura no perodo
da ditadura Varguista, onde foram criadas diversas instituies na esfera cul-
tural e educacional como o Instituto Nacional do Livro, o Instituto Nacional
do Cinema Educativo, alm de museus, e bibliotecas pblicas.
33 Ortiz, 2001, p.121.
55
O crescimento desse pblico consumidor de cultura se d
tambm em funo das inmeras facilidades que o comrcio pas-
sou a apresentar. Assim, ocorre uma expanso em nvel de produ-
o, distribuio e consumo de cultura tanto das empresas alia-
das ao regime que produzem mais para suprir a falta (econmica)
dos que foram censurados, quanto da contracultura, que tenta dis-
tribuir sua produo no limite de sua proposta subversiva.
A implantao de uma indstria cultural modifca o pa-
dro de relacionamento com a cultura, uma vez que defnitiva-
mente ela passa a ser concebida como um investimento comer-
cial, o que no se trata apenas de uma manifestao do regime
militar, mas a expresso do desenvolvimento capitalista no pas
atravs de uma via autoritria. Assim, pode-se entender a gama
de interesses comuns no projeto de integrao nacional entre o
Estado autoritrio que buscava a ampliao da base de apoio
ao regime - e o setor empresarial da indstria cultural que se
consolidava no pas sublinhando a integrao com o mercado.
Neste sentido, a despolitizao do contedo por parte da inds-
tria cultural e dos meios de comunicao massivos servia perfei-
tamente para ambas as pretenses. O que se via era uma poltica
de po e circo. Atravs do aparente desenvolvimento econmico
conectado com o capitalismo internacional e da proliferao de
bens culturais pasteurizados, iludia-se a populao para desviar
a ateno dos reais problemas sociais como a represso e a desi-
gualdade social. Desta forma, o pacto ditadura - meios de comu-
nicao representava um duplo obstculo para os movimentos
contraculturais de resistncia ao regime e alienao, que agora
se viam frente a dois inimigos: a censura poltica do contedo
e a imposio econmica da indstria cultural.
Neste cenrio, os meios de comunicao de massa comea-
vam a se consolidar no pas, sendo reconhecida a sua capacidade
de difundir idias, de se comunicar diretamente com as massas e,
sobretudo, a possibilidade que tm em criar estados emocionais
56
coletivos. Tendo o nacionalismo como sua principal bandeira, a
busca por uma identidade nacional ser a grande motivao para
tal papel estatal de integrar, a partir de um centro, a diversidade
social. A idia da integrao nacional central para a realizao
desta ideologia, que impulsiona os militares a promover toda uma
transformao na esfera da cultura investindo pesadamente em
suportes tecnolgicos para as telecomunicaes.
Assim, o que melhor caracteriza o advento e a consolidao
da indstria cultural no Brasil o desenvolvimento da televiso
como meio de massa, e, para isso, o Estado investiu no incremento
da produo de aparelhos, na sua distribuio, e na melhoria das
condies tcnicas, fazendo com que o hbito de assistir televi-
so se consolidasse defnitivamente e se disseminasse por todas
as classes sociais. Com a crescente profssionalizao da produo
cultural, intensifca-se o processo de diviso de tarefas e surgem
ou so consolidadas profsses especializadas fundamentais para
o funcionamento desta indstria, como fotgrafos, cengrafos, re-
datores, pesquisadores, roteiristas, etc. nessa poca que surgem
os grandes conglomerados que passariam a controlar cada vez
mais os meios de comunicao e a cultura de massa, representan-
do a fora econmica e poltica aliadas.
A dcada de 60, com a reviso poltica e o questionamen-
to comportamental, as experimentaes estticas e utopias re-
volucionrias, ao lado do crescimento de uma indstria cultural
e da consolidao do capitalismo como ordem hegemnica, foi
um perodo de grandes transformaes sociais, polticas e, so-
bretudo, culturais, cujos desdobramentos ainda podem ser sen-
tidos na produo cultural dos dias de hoje, como veremos nos
prximos captulos.
57
CAPTULO 2 O CPC E A TROPICLIA.
Se a gente no se prope a mudar o mundo, como viso, no
adianta nada. Hoje em dia eu acho que qualquer coisa que se
faa deve estar to ligada a um ato poltico que no deve haver
mais diferena entre a poltica em si e a arte de outro lado... um
gesto, uma fala, uma atitude, devem ser coisas politizadas.
Lygia Clark
2.1 O Centro Popular de cultura da UNE.
Como vimos no captulo anterior, a dcada de 60 foi mar-
cada no Brasil por um forte sentimento nacionalista e desenvol-
vimentista. A intensa produo cultural no pas refetia esta at-
mosfera, aglutinando artistas e intelectuais em questionamentos
em torno do popular, em termos de conscientizao e partici-
pao das massas no processo social e poltico do pas. A arqui-
tetura de Oscar Niemeyer fez de Braslia o centro das apostas em
termos de desenvolvimento nacional, e a Fundao Cultural de
Braslia, dirigida por Ferreira Gullar, ampliou os horizontes do
poeta para estas questes:
(...) a entrei numa nova dimenso da realidade. A ten-
tei fazer arte popular e arte de vanguarda, porque acre-
ditava que Braslia era a sntese desses dois plos da vida
cultural brasileira. (...) O artesanato arcaico nordestino
com a imaginao do urbanismo e a arquitetura auda-
ciosa, o Brasil mais moderno e o mais antigo juntos.
34
Gullar, maranhense que vinha das experincias neocon-
cretas no Rio de Janeiro, pretendia criar um Museu de Arte Po-
34 In: Amaral, 2003, p. 315.
58
pular, com atelis coletivos para os trabalhadores nordestinos
residentes no Distrito Federal terem um espao de lazer e cultu-
ra, desenvolvendo sua tradio artesanal a partir de um mercado
de arte popular para turistas, gerando assim tambm uma movi-
mentao econmica importante para o circuito. Mas o projeto
no foi adiante, e Gullar percebeu que os prprios trabalhadores,
que por conta de suas ocupaes no se dedicavam produo
artesanal tradicional, tambm no se mostravam muito interes-
sados ou engajados na discusso sobre cultura popular.
No mesmo perodo, em So Paulo, o Teatro Brasileiro de
Comdia (TBC) passava por um perodo de reestruturao e al-
guns de seus artistas buscavam expandir suas atuaes para alm
do teatro convencional. Era criado ento o Teatro de Arena, que,
liderado por Oduvaldo Vianna Filho, o Vianninha, e Gianfran-
cesco Guarnieri (que vinham do Teatro Paulista dos Estudan-
tes), fazia apresentaes com recursos mnimos, onde as funes
eram coletivas, e com uma temtica brasileira cotidiana, ligada
vida de todo dia
35
. Apesar do esforo, ainda eram um teatro de
minoria e perceberam que continuavam com o mesmo pblico
burgus do TBC:
O Arena era porta-voz das massas populares em um te-
atro de 150 lugares. No atingia o pblico popular, e, o
que talvez mais importante, no podia mobilizar um
grande nmero de ativistas para o seu trabalho. A urgn-
cia de conscientizao, a possibilidade de arregimenta-
o da intelectualidade, dos estudantes, do prprio povo,
a quantidade de pblico existente estavam em forte des-
compasso com o Arena enquanto empresa
36
.
35 O Arena revolucionou a tradicional diviso de trabalho do teatro convencio-
nal. Ali todos faziam tudo: escreviam, representavam, dirigiam e faziam o traba-
lho logstico. O Arena era, de fato, uma equipe. In: Buonicori, 2005, p.100
36 Apud Buonicori, 2005, p. 100.
59
Como conta Gullar:
Surgiram aqueles que achavam que era necessrio le-
var a experincia alm daqueles limites que no eram
simplesmente culturais, estticos, eram de outra natu-
reza: diziam respeito prpria insero do teatro na
sociedade brasileira do teatro como uma forma de
produo comercial.
37
Desejando compreender melhor os mecanismos de explora-
o do trabalho sob o capitalismo, Vianinha e Chico de Assis escre-
vem em 1960 a pea A mais valia vai acabar, Seu Edgard, com a ajuda
do jovem socilogo do ISEB Carlos Estevam Martins, sucesso de
pblico durante os 8 meses em que fcou em cartaz na Faculdade de
Arquitetura da UFRJ. Visando a continuidade do trabalho, realizam
na sede da UNE um curso sobre Histria da Filosofa, que contou
com a presena do educador Paulo Freire, relatando as experincias
do Movimento de Cultura Popular (MCP) em Pernambuco. No
mesmo ano havia sido realizado um Congresso da UNE, em Recife,
onde o prprio MCP preparou uma exposio sobre suas atividades,
sugerindo aos estudantes presentes a criao de iniciativas anlogas.
Surge ento a idia do Centro Popular de Cultura em parceria com
a UNE que, embora idealizado a partir das atividades universitrias
com o teatro, englobava tambm outros campos da produo cul-
tural: Vianninha seria o responsvel pelas atividades teatrais, Leon
Hirzman pelo cinema, Carlos Lira pela msica e Ferreira Gullar pela
literatura, e tendo como presidente Carlos Estevam Martins, tambm
autor do Anteprojeto do Manifesto do CPC emblemtico texto
sobre a proposta do projeto que se iniciava. Em 8 de maro de 1962
ofcializado o CPC da UNE, que embora ocupasse uma pequena sala
na sede da entidade, no recebia nenhuma forma de fnanciamento
fxo, nem da UNE nem do governo Joo Goulart, recebendo verbas
37 Apud Hollanda, 1988, p. 63.
60
pblicas apenas para alguns projetos especfcos. A opo pela recusa
do fnanciamento pblico era justamente manter a autonomia de suas
aes perante o governo populista de Goulart, se assumindo como um
rgo da sociedade civil, criado e sustentado por ela o tempo todo.
Segundo Martins, o nosso pblico, que iria usufruir de nossa criao
cultural, que deveria pagar por ela, pois s assim tiraramos, como de
fato tiramos, o Estado da jogada e no fcaramos, como os sindicatos,
atrelados ao Estado pelo umbigo da dependncia econmica
38
.
Com a entidade estudantil o CPC realizou o projeto UNE
Volante, uma caravana cultural itinerante que levava as produes
cepecistas a diversos pontos do pas, promovendo as discusses e
incentivando a criao de outros Centros Populares de Cultura. As
apresentaes nas portas das fbricas, sindicatos, em favelas e comu-
nidades rurais realizadas pelos universitrios traziam temticas pr-
prias de cada contexto, incentivando o debate crtico da realidade
social brasileira. Algumas das realizaes marcantes do CPC em sua
curtssima durao de dois anos foram: as peas teatrais A mais va-
lia vai acabar, Seu Edgard, Brasil Verso brasileira, Eles no usam
black-tie, e peas de agitao como o Auto dos cassetetes; o Auto
dos 99%, entre outros; a produo do flme Cinco Vezes Favela
39
e
Cabra marcado para morrer
40
; shows musicais com artistas popu-
lares, o disco O povo canta e o espetculo, A noite da Msica Po-
pular Brasileira, no Teatro Municipal; a publicao dos Cadernos
do Povo Brasileiro e a montagem de uma distribuidora de livros e
discos do CPC. Segundo Roberto Schwarz:
38 Apud Buonicori, 2005, p.108.
39 Uma produo coletiva que reunia cinco curtas com a viso do povo da
favela pelos olhos dos jovens cineastas do CPC. Participaram do projeto Mi-
guel Borges (Z da Cachorra), Cac Diegues (Escola de Samba Alegria de
Viver), Marcos Farias (Um Favelado), Leon Hirszman (Pedreira de So
Diego) e Joaquim Pedro de Andrade (Couro de Gato).
40 O flme dirigido por Eduardo Coutinho teve de ser interrompido nos
meio das flmagens em 64 no interior pernambucano por conta do golpe mi-
litar, sendo concludo apenas nos anos 80.
61
No Rio de Janeiro os CPC improvisavam teatro polti-
co em portas de fbrica, sindicatos, grmios estudantis
e na favela, comeavam a fazer cinema e lanar dis-
cos. O vento pr-revolucionrio descompartimentava
a conscincia nacional e enchia os jornais de reforma
agrria, agitao camponesa, movimento operrio, na-
cionalizao de empresas americanas, etc
41
.
Como se pode observar, a temtica povo era a principal
linha de atuao do coletivo que, baseado em uma ideologia do
nacional popular, tentava desvendar o Brasil sob a perspectiva da
luta de classes e, assim, incentivar a participao dessa populao
na construo do Brasil que se desenvolvia. Para eles, a participao
do intelectual e do artista na problemtica social de seu tempo era
uma necessidade impretervel. Carlos Estevam Martins, no ante-
projeto do Manifesto do CPC, situa os artistas em trs alternativas
em relao luta do povo: o conformismo (o artista perdido em
seu transviamento ideolgico no enxerga a arte como um dos
elementos constitutivos da superestrutura social), o inconformis-
mo (intelectuais movidos por um vago sentimento de repulsa pe-
los padres dominantes, que, no entanto, no compreendem que
no basta adotar a atitude simplesmente negativa de no adeso) e
o revolucionrio-conseqente (opo por ser povo, por ser parte
integrante do povo), como se julgavam os cepecistas. Martins ain-
da classifca os trs tipos de arte ditas popular. A arte do povo se-
ria fruto sobretudo do meio rural, na qual o artista no se distingue
da classe consumidora, e por isso considerada primarista no nvel
da elaborao artstica; j a arte popular estaria assinalada pela di-
viso do trabalho na produo artstica sem ainda atingir o nvel de
dignidade artstica legtima. Para ele, estes dois tipos de arte ex-
pressam o povo apenas em suas manifestaes fenomnicas e coe-
xistem com uma arte dos senhores que nega este circuito popular,
41 Schwarz, 1978, p. 20.
62
dividindo parte da sociedade e contribuindo para o conformismo
social. Assim, o artista do CPC se prope a uma arte popular revo-
lucionria, que visa dar cumprimento ao projeto da existncia do
povo tal como ele se apresenta na sociedade de classes, e onde o
povo nega sua negao, rejeitando o romantismo populista sobre a
cultura popular, o que levaria ao conformismo. Dessa forma, o CPC,
atravs do manifesto escrito por Martins, afrma que em nosso pas
e nossa poca, fora da arte poltica no h arte popular
42
.
Esta era, entretanto, a principal crtica feita ao CPC, pelo
fato desta representao do povo brasileiro ser feita pelos olhos
de uma classe determinada: a juventude universitria de esquer-
da
43
. A busca pela conscientizao das massas e sua conseqente
participao poltica era feita de forma contraditoriamente hie-
rrquica, uma vez que se levava o conhecimento adquirido pela
intelectualidade para as classes populares. A grande crtica ao
CPC dizia respeito sua atuao como se este povo fosse uma
massa alienada que precisasse de uma vanguarda para orient-lo
e conduzi-lo revoluo. A tentativa de se caracterizar o que se-
ria esta cultura popular no poderia ser sempre fel realidade,
uma vez que isto era feito por pessoas originariamente alheias
queles contextos
44
. A viso romantizada do bom povo, do tra-
balhador, do homem do campo e da favela, acabava por ignorar
as diferenas e contradies de toda uma classe.
42 Anteprojeto do Manifesto do Centro Popular de Cultura, redigido em
maro de 1962, por Carlos Estevam Martins, ento presidente do CPC. Ver
texto completo em Hollanda, 1980, p. 135-168.
43 Nenhum operrio foi consultado/ no h nenhum operrio no palco/ talvez
nem mesmo na platia/ mas Tom Z sabe o que bom para os operrios letra
da msica Classe Operria, de Tom Z
44 Isto era reconhecido por Martins, no manifesto: por sua origem social
como elemento pequeno-burgus, o artista est permanentemente exposto pres-
so dos condicionamentos materiais de hbitos arraigados, de concepes e sen-
timentos que o incompatibilizariam com as necessidades da classe que decidiu
representar.
63
Como relata Ferreira Gullar, a tentativa de contato da clas-
se mdia com a cultura popular que se buscava realizar no CPC
no era necessariamente correspondida pelas classes populares:
Levavam-se sede da UNE grupos folclricos, canto-
res populares e gente das escolas de samba; criou-se um
movimento muito amplo e muito importante, mas a
resposta procedia basicamente do setor universitrio.
Quando comeamos a ampliar o movimento em di-
reo aos sindicatos, s favelas e tal, a coisa comeou
a complicar. Os operrios no tinham experincia de
teatro e, quando amos aos sindicatos, em geral no ha-
via operrios para ver as peas.
45
O contedo excessivamente poltico das mensagens se so-
brepunha elaborao esttica da obra, em busca de uma comu-
nicao mais imediata com seu pblico
46
, o que se confgurou em
uma das maiores crticas feitas posteriormente ao CPC, inclusi-
ve pela Tropiclia, como veremos adiante. Tratava-se claramente
de uma concepo da cultura como instrumento de tomada do
poder, marcada pela opo pelo povo em termos de pblico e
pela produo coletiva. O artista teria assim, o laborioso esforo
de adestrar seus poderes formais a ponto de exprimir corrente-
mente na sintaxe das massas os contedos originais ou seja,
sua fora de trabalho, o fazer artstico, deveria ser utilizado na
superao das desigualdades sociais e construo da revoluo.
Vale ressaltar que o ano era 62 e esta percepo estva ligada a
uma esperana no futuro e na revoluo que est por vir. Havia
um certo sentimento de culpa por ser proveniente de uma clas-
45 In: Amaral, 2003, p. 315.
46 Na Argentina, as experincias cinematogrfcas de Solano e Getino cor-
respondiam a esta opo pela arte poltica, atravs de flmes extremamente
didticos chamando o povo para a luta popular.
64
se pequeno-burguesa, e por isso buscava-se a aceitao do povo
enquanto companheiro de lutas.
Grande parte desta crtica ao CPC se refere ideologia
nacional-popular, que foi mais tarde fortemente repudiada e
taxada como populista. Para o teatrlogo Z Celso Martinez,
a arte didtica realizada pelos cepecistas seria, na verdade, uma
estratgia de manuteno do status quo cultural: (...) na esquerda
h um processo de utilizao de pessoas ocupando postos de poder
que acabam dizendo no se mexam porque estamos aqui. Na ver-
dade isso uma defesa de posio de poder
47
.
Estas crticas se apoiavam basicamente em um dos poucos do-
cumentos escritos de registro do CPC, o anteprojeto escrito por Car-
los Estevam Martins poca da criao do CPC. Entretanto, como
o prprio documento carrega no nome, se tratava de um anteprojeto,
uma sntese das idias que motivaram a criao do CPC, mas que fo-
ram revistas ao logo de sua atuao. Ainda que seus integrantes fossem
ligados por objetivos e ideologias semelhantes, no se tratava de um
movimento homogneo e sem disputas, e os CPCs criados em outras
cidades com a UNE Volante tinham atuaes diferentes em seus con-
textos. O anteprojeto de Martins e as prprias aes do CPC foram di-
versas vezes questionados pelos seus integrantes, havendo at mesmo
divergncias internas, como no caso do cinema. A linha representada
pelo manifesto de Martins que optava por uma criao annima e co-
letiva, submetendo a forma artstica ao contedo poltico, era rejeitada,
por exemplo, pelos cinemanovistas Cac Diegues e Arnaldo Jabor, que
tinham na experimentao esttica e no cinema autoral (inspirados na
Nouvelle Vague francesa) sua principal atuao poltica.
Alm disso, vale lembrar que a experincia do CPC da-
tada de 62 a 64 - quando os militares tomaram o poder e incen-
diaram a sede da UNE, no dia 1 de maro daquele ano e a colo-
caram na clandestinidade. Assim, o CPC estava limitado a falhas
historicamente compreensveis, e que so at hoje revisadas cri-
47 Apud Hollanda, 1981, p. 63.
65
ticamente por seus atores. De uma maneira geral, pode-se dizer
que a principal contribuio do CPC foi a busca pela integrao
dos intelectuais e artistas da classe mdia urbana com artistas
populares e a insero desta temtica na pauta poltica, corres-
pondendo ao entusiasmo daqueles jovens que acreditavam que
a revoluo brasileira batia s portas. Lembra Vianinha que a
paixo pelo encontro do intelectual com o povo informou mui-
to mais a ns do que aos trabalhadores com quem entrvamos
em contato
48
. A revelao, a partir das aes do CPC de velhos
compositores do campo e da favela como Cartola, Z Keti,
Nelson do Cavaquinho e Joo do Vale, por exemplo revigorou a
msica brasileira, tornando-a mais aberta e democrtica
49
.
Enfim, cabe resgatar Helosa Buarque de Hollanda,
que afirma:
importante lembrar, contudo, que a funo desempenha-
da pela arte popular revolucionria correspondeu a uma
demanda colocada pela efervescncia poltico-cultural da
poca. Apesar do seu facasso enquanto palavra poltica e
potica, conseguiu, no contexto, um alto nvel de mobili-
zao das camadas mais jovens de artistas e intelectuais a
ponto de seus efeitos poderem ser sentidos at hoje
50
.
2.2 Tropiclia bananas ao vento.
Uma chuva de vero que foi eterna enquanto durou
51
. assim
que Tom Z defne a Tropiclia, movimento contracultural dos anos
60 do qual o msico baiano fez parte. Podemos situar historicamente
o incio da Tropiclia no ano de 1967 - com a exposio de obra ho-
48 Apud Buonicore, 2005, p. 108.
49 Apud Buonicore, 2005, p. 112.
50 Apud Hollanda, 1981, p. 28.
51 Gelia Geral. Segundo Caderno, O Globo, 6 de agosto de 2007.
66
mnima de Hlio Oiticica no MAM e com o Festival da Msica Po-
pular Brasileira de 67, organizado pela rede Record, quando Caetano
apresentou Alegria, alegria acompanhado do grupo de rock argenti-
no Beat Boys e Gilberto Gil, Domingo no parque, com os jovens m-
sicos que os acompanharima na empreitada tropicalista, Os Mutantes.
A Tropiclia sacudiu a cultura brasileira da poca e deixou vestgios na
produo artstica at os dias de hoje. Como viria Caetano a analisar
posteriormente, na verdade os remanescentes da Tropiclia nos or-
gulhamos mais de ter instaurado um olhar, um ponto de vista do qual
se pode incentivar o desenvolvimento de talentos to antagnicos
quanto o de Rita Lee e o de Zeca Pagodinho, o de Arnaldo Antunes e
o de Joo Bosco, do que nos orgulharamos se tivssemos inventado
uma fuso homognea e medianamente aceitvel
52
A Tropiclia (ou Tropicalismo) era, no entanto, mais
um momento do que um movimento organizado se
comparado a outros movimentos de resistncia da poca.
Um momento convergente de questionamentos e experi-
mentaes na produo artstica do pas, que propunham
novas formas de se relacionar com as artes, com o p-
blico, com a poltica - em busca uma identidade nacional
brasileira. Este pensamento convergente no deixava de ter
suas especificidades relativas s diferentes reas culturais
msica, artes plsticas, cinema, teatro mas refletiam uma
vontade construtivista geral de articular novas formas no
fazer artstico e dar um pouco mais de cor ao cenrio arts-
tico, cultural e poltico do pas na poca.
Com o Manifesto Antropfago de Oswald de Andrade
debaixo do brao, a Tropiclia resgatava 40 anos depois a neces-
sidade de se apropriar das infuncias estrangeiras reprocessan-
do tais referncias sob um contexto local, na tentativa de repen-
sar, em outros moldes, a construo de uma identidade nacional.
Este dilogo proposto pela antropofagia incentivou tambm um
52 Veloso, 1977 p. 286
67
maior intercmbio e dilogo entre os diferentes campos artsti-
cos que, conectados por uma motivao contracultural seme-
lhante, marcaram as produes culturais da poca.
Sobre isto, Helosa Buarque de Hollanda relata:
Esse contato, que muitos consideraram ser um mero
oportunismo de uma vanguarda sem sadas, mostrou-
se bem mais do que mera apropriao, um contato mu-
tuamente proveitoso, no sentido de troca de informaes
e de um apoio pedaggico por parte dos concretistas,
que assim forneceram elementos tericos, permitindo
aos compositores e poetas pensar sua produo e situ-
la fente a outras manifestaes e ao prprio processo
cultural brasileiro
53
.
Assim, a Tropiclia buscava estar conectada com as ten-
dncias internacionais, e seus criadores tiveram signifcativo di-
logo, por exemplo, com a pop art norte-americana, com a cultura
rock , a psicodelia e contracultura. Embora a produo cultural
da dcada em todo mundo estivesse passando por um riqussi-
mo momento de experimentaes, como pudemos observar,
por exemplo, na produo artstica cepecista,
(...) no Brasil, entretanto, o contexto era outro. Vivamos
sob regimes autoritrios desde o golpe militar de Estado,
em 1964, e os artistas viram-se pressionados a adotar
posies polticas contra a perseguio e a censura. En-
tretanto, as preocupaes polticas acabaram refetindo-
se na cultura de maneira reacionria sob o ponto de vista
esttico, gerando trabalhos mais envolvidos com o conte-
do da crise do que com as questes formais.
54
53 Apud Hollanda, 1981, p. 67-68.
54 Canongia, 2005, p. 49-50.
68
Neste sentido ou melhor, contra ele a Tropiclia ten-
tava resgatar a preocupao esttica sem que isso implicasse
necessariamente na alienao poltica. Para estes artistas, a re-
sistncia poltica passava tambm pelo plano da forma, e no
simplesmente do contedo, e atravs da transgresso, da ou-
sadia e, principalmente, da experimentao, buscavam trans-
formar, para alm da mensagem poltica direta, a relao com
a arte em si. Retomando a antropofagia, o dilogo da arte tro-
picalista era com a msica engajada e a Jovem Guarda; com
a imprensa alternativa e os meios de comunicao de massa;
com o folclore popular e a guitarra eltrica, com a bossa e
com a palhoa, a fm de atingir o pblico de outras formas, e
em outros nveis de percepo:
Recusando o discurso populista, desconfando dos projetos
de tomada do poder , valorizando a ocupao dos canais de
massa, a construo literria das letras, a tcnica, o fagmen-
trio, o alegrico, o moderno e a crtica de comportamento,
o Tropicalismo a expresso de uma crise. Navilouca evi-
dencia a atitude bsica ps-tropicalistade mexer, brincar
e introduzir elementos de resistncia e desorganizao nos
canais legitimados do sistema. Assim, o fator tcnica pre-
servado, mas, simultaneamente, subvertido.
55
Tendo em vista a necessidade de superar a censura, o con-
tedo poltico se dava em outro nvel: no comportamento. As
letras das msicas tropicalistas, por exemplo, traziam mensagens
polticas nem sempre to evidentes, atravs de combinaes po-
ticas e acordes dissonantes. As roupas, os elementos de cena, as
declaraes e posturas dentro e fora do palco caracterizaram o
movimento que buscava romper com o conservadorismo esttico,
poltico, social e moral. A partir da recusa de padres, a insero
55 Clark apud Hollanda, 1981, p. 73.
69
da poltica no cotidiano - e, mais, da temtica cotidiana na pauta
poltica - foi assim um grande legado deixado pela Tropiclia.
Uma das caractersticas fundamentais da produo tropica-
lista era a relao do pblico com a obra, seja no nvel da quebra da
distncia formal entre artista e espectador (como nas transgresses
cometidas pelos atores dirigidos por Z Celso Martinez Correa), ou
na sua participao propriamente dita, quando ento a obra passa a re-
almente existir (a exemplo dos Bichos de Lygia Clark
56
). Assim, espe-
rava-se alterar a relao do pblico com a arte e, mais profundamente,
sua relao com o mundo, em funo do bloqueio que a pessoa tem
para fazer amor, para viver
57
. A revoluo ento, se daria no nvel do
comportamento e das relaes interpessoais, a partir de uma arte que
buscava expressar a poltica de forma mais abrangente, em diferentes
contextos, mais subjetiva em relao ao trabalho de conscientizao
poltica realizado pela esquerda na poca. Mais do que a funo so-
cial da arte para o engajamento, a motivao tropicalista era a mu-
dana a partir do choque de valores, feita de forma radical (da raiz) na
sociedade, em dilogo com a realidade.
A partir das contradies do processo desenvolvimentista bra-
sileiro, a arte tropicalista denunciava as desigualdades sociais da recor-
rentes, que insistia em ser ignorada em nome de uma mitifcada arte
popular, se confgurando assim como uma evidente crtica intelli-
gentzia da esquerda. Depois da euforia desenvolvimentista (quando
todos os mitos do nacionalismo nos habitaram) e das esperanas re-
formistas (quando chegamos a acreditar que realizaramos a libertao
do Brasil na calma e na paz), vemo-nos acamados numa viela: fala por
ns, no mundo, um pas que escolheu ser dominado e, ao mesmo tem-
56 Na Itlia, em 64, fui a primeira pessoa naquela Bienal que, em vez de es-
crever na plaqueta no tocar, no mexer, escreveu em trs lnguas diferentes:
favor tocar, favor participar... Nesse momento, eu acho que o trabalho chegou a
uma fase de socializao. (...) a estrutura no era minha, a autoria no era minha,
s o conceito era meu; a participao, que era o ato da criatividade, foi dado ao
outro. In: Hollanda, 1980, p. 154.
57 Apud Hollanda, 1980, p. 154.
70
po, arauto-guardio-mor da dominao da Amrica Latina
58
, declara
Caetano a respeito do mito populista-nacionalista que de certa forma
imperava no processo cultural do pas, sugerindo na msica tropicalista
a temtica urbano-industrial da modernizao brasileira.
A modernidade gera uma crise de signifcados decorrentes da
perda da imagem do mundo enquanto totalidade, quando o tempo
torna-se descontnuo, o mundo se desfaz em pedaos refetindo-se
apenas como ausncia ou enquanto coleo de fragmentos heterog-
neos, onde o eu tambm se desagrega
59
. Neste sentido, o conceito de
alegoria de Walter Benjamin
60
denuncia uma atitude ambivalente
em face da realidade e a representao do outro, de vrios outros,
mas no do todo, o que faz o processo alegrico fundamentalmente
crtico e desconfado da realidade e da linguagem. Esta esttica aleg-
rica resgatada na arte tropicalista a partir das contradies da moder-
nizao de um pas dependente, onde o moderno e o arcaico se cho-
cam, fxando, para o Brasil, a imagem do absurdo. Em meio a tantas
contradies sociais, a recusa na esperana por um futuro promissor
e a exposio de um pas que se parecia querer negar (da desigualda-
de, da fome) em funo de uma modernidade forjada: J no somos
como na chegada, calados e magros esperando o jantar, na borda do prato
se limita a janta, as espinhas do peixe de volta pro mar
61
, mas as pessoas
da sala de jantar esto ocupadas em nascer e morrer
62
.
Robert Schwarz
63
, em ensaio sobre a cultura e a poltica na po-
ca, denuncia que esta combinao do moderno com o antigo, con-
fgurados em crise, acaba por ser meramente elitista, contemplativa
de uma realidade absurda, esttica e sem sada: A direo tropicalista
(...) registra, do ponto de vista da vanguarda e da moda internacionais,
58 Veloso, 1977, p. 2
59 Octavio Paz, apud Hollanda, 1981, p. 58
60 Walter Benjamin, Walter Benjamin, Walter Benjamin, Walter Benjamin, apud Hollanda, 1981, p. 59.
61 Excerto da letra de Miserere Nobis, Gilberto Gil, 1968.
62 Excerto da letra de Panis et Circenses, Gilberto Gil, 1968.
63 Schwarz, 1978, p. 32.
71
com seus pressupostos econmicos, como coisa aberrante, o atraso do pas.
No mesmo texto, insinua que a repercusso tropicalista se deu mais
no nvel da polmica e da recusa pelos setores conservadores (tanto
da direita moralista quanto da esquerda engajada que renegava a via
artstica comercial) que o lado poltico deliberado. Entretanto, como
a transformao proposta pela Tropiclia se dava em um plano mais
subjetivo, esta repercusso em si j demonstrava o choque causa-
do pelas suas aes e propostas. A esttica do absurdo utilizada pela
Tropiclia prope chamar a ateno do espectador, a partir do cho-
que, para aquilo que diz respeito a ele e sua participao poltica no
mundo, podendo levar assim a uma conscientizao poltica. Para os
tropicalistas, o prprio desbunde seria um ato poltico, e o importan-
te seria promover, em primeiro lugar, uma revoluo pessoal, interna,
subjetiva, vivendo o aqui e o agora: Vou sonhando at explodir colorido,
no sol nos cinco sentidos, nada no bolso ou nas mos
64
.
Assim, em dezembro de 68 o programa Divino, Maravi-
lhoso, apresentado pela trupe baiana, que no se baseava em um
roteiro previamente elaborado e no qual simplesmente improvisa-
vam no palco, tirado do ar pela TV Tupi em funo de seu carter
subversivo. Gil e Caetano so presos e, posteriormente, mandados
para o exlio sem motivos realmente concretos, o que prova a pene-
trabilidade de suas aes contraculturais na sociedade brasileira.
2.2.1 Nas artes plsticas.
Como vimos, a esttica tropicalista se deu em diversos n-
veis e segmentos diferentes. Assim, iremos analisar agora as ex-
perimentaes mais signifcativas no perodo quem foram seus
protagonistas nas diferentes manifestaes artsticas, atendo-nos
s artes plsticas e a msica.
Em 1967 lanada no MAM a mostra Nova Objetividade
Brasileira, do artista plstico Hlio Oiticica. Com a contribuio de
64 Excerto da letra de Superbacana, de Caetano Veloso, 1968.
72
outros artistas que propunham uma nova relao com a arte, vindos
das experincias concretistas e neoconcretistas (em So Paulo e Rio
de Janeiro, respectivamente), tais pressupostos tericos foram deter-
minantes para a produo cultural brasileira na dcada de 60. Para me-
lhor entender esta relao, convm fazer uma breve explanao do que
foram esses movimentos. O grupo concretista da dcada de 50 estava
fundamentado na ideologia desenvolvimentista do pas e, a partir da
abstrao geomtrica, procuravam solues que pudessem ter uma
funo social, integrando a arte na vida de forma funcional. Buscavam
assim uma efcincia comunicativa, com uso de poucas cores, e suas
criaes eram no nvel da experincia prtica social, abstendo-se as-
sim de qualquer posio poltica que pudesse interferir no processo
de criao artstica. Esta ingenuidade foi questionada mais adiante
pelos neoconcretistas, pois, segundo eles, no possvel desvencilhar
a cultura da poltica. Este movimento, por sua vez, caracterizado no
ano de 1959 no Rio de Janeiro, rompia com a experincia concreta
na busca pela volta da arte como expresso, naturalmente humana. O
questionamento das categorias artsticas e o retorno subjetividade
marcaram as produes dos artistas neoconcretos (a exemplo de Ly-
gia Clark, Almcar de Castro, Ferreira Gullar e o prprio Oiticica), que
buscaram a valorizao dos mltiplos sentidos a partir de aspectos
sensoriais e a extrapolao da moldura tradicional do quadro.
Alm disso, a arte plstica neoconcreta teve grande infuncia
da pop art norte-americana, que se apropriava da temtica cotidiana
para o questionamento do estatuto da arte e do artista. Considera-
da por alguns como a pop art brasileira, no se tratava, entretanto,
de uma mera assimilao de uma forma importada, uma vez que as
prprias condies de produo, radicalmente diferentes, iro mo-
difcar os temas tratados, embora fossem esteticamente prximos.
Enquanto nos EUA o publicitrio e cineasta Andy Warhol utilizava
a linguagem publicitria e o deboche para criticar o American Way
of Life, no Brasil os artistas estavam submetidos a tenses e exign-
cias mais profundas, visto que vivia-se em um pas subdesenvolvido
73
e repleto de contradies e, sobretudo, sob uma ditadura militar.
Caetano refete sobre como isso representativo mesmo emble-
mtico da coincidncia, no Brasil, da fase dura da ditadura militar
com o auge da mar da contracultura e admite que esse com efei-
to, o pano de fundo do tropicalismo: foi, em parte por antecipao,
o tema da nossa poesia
65
.
neste contexto que a mostra de 1967 no MAM se insere,
trazendo questionamentos sistematizados por Oiticica no Esque-
ma Geral da Nova Objetividade
66
, onde a formulao de um es-
tado da arte brasileira de vanguarda resumida em seis tpicos: A
vontade construtiva geral; a tendncia para o objeto ao ser negado e
superado o quadro; a participao do espectador; a tomada de po-
sio em relao a problemas polticos, sociais e ticos; a tendncia
para proposies coletivas e a abolio dos ismos; e, por fm, o res-
surgimento e as novas formulaes do conceito de antiarte.
Em primeiro lugar, a cultura antropofgica retomada no senti-
do da reduo imediata de todas as infuncias externas a modelos na-
cionais, pois aqui, subdesenvolvimento social signifca culturalmente
a procura de uma caracterizao nacional, e a antropofagia seria a de-
fesa que possumos contra tal domnio exterior
67
. Em segundo lugar,
problemas de ordem tico-social e pictrico-estrutural, indicam uma
nova abordagem do problema do objeto: o antiquadro. A ruptura ar-
tstica com a moldura e a participao do espectador na obra, signif-
cavam tambm a ruptura com a ordem social com a qual no esto de
acordo, chamando a ateno para a causa poltica atravs da transgres-
so, e rompendo assim com a contemplao trascendental caracte-
rstica das artes plsticas. Esta proposio dialtico-pictrica envolvia
diversos processos simultneos, buscando o dilogo atravs da arte em
65 Veloso, 1977 p. 356
66 In:. Esquema Geral da Nova Objetividade, escrito por Hlio Oiticica e
publicado originalmente no catlogo da mostra Nova Objetividade Brasileira
(Rio de Janeiro, MAM, 1967).
67 Idem.
74
outros nveis de percepo (o que vinha a ser bastante conveniente, uma
vez que se vivia sob a censura do regime militar). Assim, a partir desta
participao dialtica - das obras de diferentes artistas entre si e do es-
pectador na obra, seja de forma sensorial-corporal ou semntica- o
lado potico encerra sempre uma mensagem social, e a desintegrao
do objeto fsico tambm desintegrao semntica, para a construo
de um novo signifcado
68
. A participao do artista (e do intelectual, de
uma forma geral) nos problemas sociais diz respeito a uma abordagem
do mundo de forma criativa e transformadora, e a uma no restrio a
problemas meramente estticos - o que infuenciou signifcativamen-
te o processo artstico brasileiro, como no apenas a Tropiclia mas
tambm o Teatro de Arena e o Cinema Novo. Abandonando a velha
posio esteticista, a grande motivao neoconcreta do fazer artstico
deveria ser, assim, estas transformaes profundas na conscincia do
homem, a fm de romper com a posio de espectador passivo dos
acontecimentos, passando a agir sobre eles, usando os meios que lhe
coubessem. Para Oiticica, ou se processa essa tomada de conscincia
ou se est fadado a permanecer numa espcie de colonialismo cultural
ou na mera especulao de possibilidades que no fundo se resumem
em pequenas variaes de grandes idias j mortas
69
.
Inspirados em manifestaes populares caractersticas da ri-
queza cultural brasileira, observa-se certa tendncia a uma arte co-
letiva, ao serem realizadas obras abertas participao do pblico.
Adaptando estas descobertas paisagem urbana na qual esto inse-
ridos, identifcam o processo criador no mais como algo fechado e
so propostas atividades criativas ao espectador, que estar sempre
extraindo novos signifcados. Este o caso da obra Tropiclia, de Oi-
ticica, cujo nome foi sugerido pelo cineasta Lus Carlos Barreto, para
a cano de Caetano Veloso, que parecia traduzir no plano musical a
motivao de Oiticica no plano das artes plsticas (O monumento
de papel crepom e prata / os olhos verdes da mulata / a cabeleira esconde
68 Idem.
69 Idem.
75
/ atrs da verde mata / o luar do serto / o monumento no tem porta / a
entrada uma rua antiga / estreita e torta).
70
Alm da Tropiclia, do Parangol, e dos blidos de Oiticica,
podemos citar outras obras que representam esta superao da mol-
dura a partir de uma construo coletiva com o espectador, como
Caminhando e Os Bichos, ambos de Lygia Clark e os poemas-objetos
(a exemplo do poema enterrado de Gulllar onde era necessrio ca-
var um buraco na terra para se ter acesso a obra). Esta proposta de
relao do pblico com a arte inova no sentido de se incorporar va-
lores que no fazem parte da norma culta das artes plsticas do Brasil
at ento, a no ser sob a forma de representao de contedos.
71
Para alm da criao simplesmente, o artista possui uma neces-
sidade maior, a de se comunicar e, assim, se posicionar em relao ao
seu tempo. E o caminho por eles encontrado esta tentativa de uma
antiarte, superando antigos conceitos e criando novas condies ex-
perimentais, a partir da proposio de obras no acabadas, abertas,
alterando a relao do artista e do pblico com a arte e, assim, entre si.
70 A Tropiclia de Oiticica tratava-se de uma instalao feita com madeira,
areia, palha e tecidos coloridos, inspirados nas vielas da favela da Mangueira,
da qual o artista era muito prximo. O clima comunitrio, as cores e sons, a
confgurao das casas na favela exerciam em Oiticica certo fascnio, a ponto
de motiv-lo a transportar para as obras sua experincia cotidiana na Man-
gueira: Descendente de anarquistas, intelectuais e cientistas sofsticados, ele vai
aderir literalmente, do ponto de vista existencial, s camadas populares criativas.
(...) como passista e sambista da Mangueira, ele vai incorporar a questo da dan-
a, da coreografa do sambista nisso que ele vai chamar de parangol, o parangol
no apenas a capa que vai ser vestida (...) uma pea de uma coreografa, ele tem
de ser danado para existir (apud Cambraia Naves e Duarte, 2003, p. 235).
71 fundamental Nova Objetividade a discusso, o protesto, o estabelecimento de
conotaes dessa ordem no seu contexto, para que seja caracterizada como um estado
tpico brasileiro (...). O fenmeno da vanguarda no Brasil no mais hoje questo de um
grupo provindo de uma elite isolada, mas uma questo cultural ampla, de grande ala-
da, tendendo s solues coletivas. Por outro lado, como, em um pas subdesenvolvido,
explicar o aparecimento de uma vanguarda e justifc-la, no como uma alienao sinto-
mtica, mas como um fator decisivo no seu processo coletivo? (In: Oiticica,1967).
76
2.2.2 Na msica
Esta explicao da Nova Objetividade Brasileira se fez neces-
sria para melhor entendermos as motivaes que iro permear as ex-
perincias consideradas tropicalistas em outros campos artsticos.
Se as experimentaes neoconcretas contriburam para a formulao
de uma teoria artstica, foi graas msica e indstria fonogrfca
que o Tropicalismo ganhou visibilidade. Em referncia obra hom-
nima de Oiticica, lanado em 1968 o lbum Tropiclia ou Panis
et Circenses, trazendo logo no ttulo uma crtica sociedade brasilei-
ra que, a despeito da era desenvolvimentista, vivia sob uma poltica
do Po e Circo
72
. Neste lbum as composies de Caetano Veloso,
Gilberto Gil, Tom Z, Capinam e Torquato Neto, acompanhados
pelas belas vozes de Gal Costa e Nara Leo e da guitarra eltrica dos
Mutantes, sob a orquestrao de Rogrio Duprat
73
marcam a MPB
signifcativamente e propem uma ruptura com a j consolidada m-
sica engajada. Sintetizando as experimentaes musicais que vinham
realizando de formas independentes, este lbum marcou a gerao e
foi um divisor de guas na discusso sobre msica e engajamento.
Neste sentido, os Festivais da Cano tiveram um impor-
tante papel para estes msicos em incio de carreira. Foi em 1967
que Gilberto Gil apresentou a cano Domingo no Parque,
acompanhado do rocknroll de Os Mutantes, e Caetano Velo-
so a cano Alegria, alegria, acompanhado do grupo de rock
argentino Beat Boys, lanando, no campo da msica, a proposta
tropicalista. No ano seguinte, a Tropiclia j havia se consolida-
do enquanto movimento muito em funo da apropriao
72 A poltica do po e circo dizia respeito a uma tendncia nacional-popular
em contemplar as massas com entretenimento e polticas populistas, fazen-
do-a deixar em segundo plano os problemas polticos
73 Duprat fazia parte do Movimento da Msica Nova, que propunha a que-
bra do transcendentalismo na msica a partir de novas experimentaes est-
ticas e a integrao do msico, enquanto profssional, no mercado fonogrf-
co, motivaes estas que muito se aproximavam da proposta tropicalista.
77
feita pela mdia .No Festival de 1968, ao apresentar a msica
proibido proibir, Caetano Veloso foi amplamente vaiado pelo
pblico, formado em sua maior parte por jovens universitrios
de esquerda que no viram com bons olhos as distores de gui-
tarra eltrica no palco. Em resposta, Caetano pra de cantar e
profere o discurso
74
que emblematizou, assim, a ruptura da m-
sica tropicalista com a tradio da esquerda engajada, gerando
ampla discusso posterior.
74 Mas isso que a juventude que diz que quer tomar o poder? Vocs tm coragem de
aplaudir, este ano, uma msica, um tipo de msica que vocs no teriam coragem de aplaudir
no ano passado! So a mesma juventude que vo sempre, sempre, matar amanh o velhote
inimigo que morreu ontem! Vocs no esto entendendo nada, nada, nada, absolutamente
nada. Hoje no tem Fernando Pessoa. Eu hoje vim dizer aqui, que quem teve coragem de
assumir a estrutura de festival, no com o medo que o senhor Chico de Assis pediu, mas com
a coragem, quem teve essa coragem de assumir essa estrutura e faz-la explodir foi Gilberto
Gil e fui eu. No foi ningum, foi Gilberto Gil e fui eu! Vocs esto por fora! Vocs no do pra
entender. Mas que juventude essa? Que juventude essa? Vocs jamais contero ningum.
Vocs so iguais sabem a quem? So iguais sabem a quem? Tem som no microfone? Vocs
so iguais sabem a quem? queles que foram na Roda Viva e espancaram os atores! Vocs
no diferem em nada deles, vocs no diferem em nada. E por falar nisso, viva Cacilda Be-
cker! Viva Cacilda Becker! Eu tinha me comprometido a dar esse viva aqui, no tem nada a
ver com vocs. O problema o seguinte: vocs esto querendo policiar a msica brasileira. O
Maranho apresentou, este ano, uma msica com arranjo de Charleston. Sabem o que foi?
Foi a Gabriela do ano passado, que ele no teve coragem de, no ano passado, apresentar por
ser americana. Mas eu e Gil j abrimos o caminho. O que que vocs querem? Eu vim aqui
para acabar com isso! Eu quero dizer ao jri: me desclassifque. Eu no tenho nada a ver
com isso. Nada a ver com isso. Gilberto Gil. Gilberto Gil est comigo, para ns acabarmos
com o festival e com toda a imbecilidade que reina no Brasil. Acabar com tudo isso de uma
vez. Ns s entramos no festival pra isso. No Gil? No fngimos. No fngimos aqui que
desconhecemos o que seja festival, no. Ningum nunca me ouviu falar assim. Entendeu? Eu
s queria dizer isso, baby. Sabe como ? Ns, eu e ele, tivemos coragem de entrar em todas as
estruturas e sair de todas. E vocs? Se vocs forem... se vocs, em poltica, forem como so em
esttica, estamos feitos! Me desclassifquem junto com o Gil! junto com ele, t entendendo? E
quanto a vocs... O jri muito simptico, mas incompetente. Deus est solto! Fora do tom,
sem melodia. Como jri? No acertaram? Qualifcaram a melodia de Gilberto Gil? Fica-
ram por fora. Gil fundiu a cuca de vocs, hein? assim que eu quero ver. Chega! (Fonte:
htp://tropicalia.uol.com.br/site/internas/proibido_discurso.php )
78
Em 1967, Caetano Veloso j havia feito uma declarao que
causou grande polmica no cenrio da MPB: s a retomada da linha
evolutiva pode nos dar uma organicidade para selecionar e ter um
julgamento de seleo
75
. Por conta disto, Caetano foi por vezes mal
compreendido e taxado de elitista. Entretanto, o que seus crticos
no compreenderam foi que ele se referia evoluo no sentido de
dar continuidade s experimentaes estticas que levaram bossa
nova na dcada de 50: A informao da modernidade musical uti-
lizada na recriao, na renovao, do dar-um-passo--frente, da m-
sica popular brasileira
76
. Para ele e os artistas tropicalistas, de uma
forma geral - este processo criativo no poderia fcar estagnado na
MPB na forma como se estava consolidado, onde a arte de protesto
despreocupada de uma maior refnao esttica tanto rompia com
a alienao da Bossa Nova, quanto no buscava desenvolver novas
experimentaes no nvel da forma. Antonio Ccero explica que a
evoluo, neste caso, se dava no sentido da complexifcao tcnica,
onde cada perodo subseqente mantm em relao ao anterior ao
menos uma continuidade terica. Neste sentido, a linha evolutiva
77
se estenderia do samba bossa nova, e desta ao tropicalismo.
Assim, a msica tropicalista no se caracterizava apenas pela
ruptura com a MPB. Pelo contrrio, Caetano Veloso, no escondia
sua admirao a Joo Gilberto e no economizava elogios quando se
referia ao msico bossanovista: um poeta, pelas rimas de ritmo e de
frase musical que ele entretecia com os sons e os sentidos das palavras
cantadas (...) atuando para uma larga audincia, e infuenciando ime-
diatamente a arte e a vida diria dos brasileiros
78
. Sua crtica se dava
no nvel da expresso constituda msica popular brasileira, uma vez
que era mais expressiva no restrito circuito intelectual. Para torn-la
popular realmente, deveria se apropriar da linguagem do povo, da te-
75 Veloso, 1977, p.156.
76 Idem.
77 Ver sobre essa temtica Nercolini, 2005.
78 Idem.
79
mtica do povo, da experincia do povo e, conseqentemente, dos ca-
nais do povo, para, ento ter acesso e poder dialogar com eles, inserin-
do a questo poltica neste contexto (a exemplo de Domingou, de
Gil: Hoje dia de feira, domingo, quanto custa hoje em dia o feijo?)
Dessa forma, a natureza dialtica da Tropiclia permitia o con-
tato e a troca de experincias com a msica engajada tanto no nvel
da temtica quanto de seus atores, como na msica Lunik 9, de Gil-
berto Gil, gravada por Elis Regina, cone da MPB, ou Lindonia, de
Caetano Veloso, gravada pela musa do show Opinio, Nara Leo.
Helosa Buarque de Hollanda, grande pesquisadora da te-
mtica, afrma:
Nesse clima de fagmentao, desagregao e contradies,
a interveno cultural do ps-tropicalismo se faz mltipla e
polivalente: os produtores atacam em vrias fentes, diver-
sifcam-se profssionalmente. (...) ele [Caetano Veloso] quer
ocupar e intervir naquilo que chama de cultura popular de
massa. A TV, a novela, as revistas kitch etc, so vistas como
cultura, situaes no sistema que devem ser mexidas
79
.
Reconhecendo a importncia da TV naquele momento
para a construo da identidade brasileira, os tropicalistas par-
ticiparam diversas vezes do programa do Chacrinha, por exem-
plo. Dialogando com os meios de comunicao de massa e com
outras tendncias musicais como o to criticado I i i da
Jovem Guarda
80
a msica tropicalista buscava ampliar o escopo
da MPB, rompendo com os rgidos padres fxados at ento,
propondo maior fexibilidade e experimentaes.
79 Hollanda, 1981, p. 71.
80 Mas isso tambm no signifcava uma falta de viso crtica sobre a aliena-
o de boa parte da juventude de classe mdia, como na msica Hey Boy,
dos Mutantes: Hey boy, mas teu cabelo t bonito, hey boy, tua caranga at assus-
ta, hey boy, mas voc nunca fez nada.
80
Experimentao parecia ser, a propsito, a palavra de ordem
desta vanguarda musical. A preocupao dos tropicalistas em tratar a
poesia de suas canes como elemento plstico, criando jogos ling-
sticos e brincadeiras com as palavras um refexo desta infuncia da
arte concretista. A msica Bat Macumba, de Gilberto Gil, por exem-
plo, era mais uma composio esttica grfca (na forma da letra da
cano) do que uma msica tradicional, com incio, meio e fm:
Bat Macumba , Bat Macumba ob
Bat Macumba , Bat Macumba oh
Bat Macumba , Bat Macumba
Bat Macumba , Bat Macum
Bat Macumba , Batman
Bat Macumba , Bat
Bat Macumba , Ba
Bat Macumba
Bat Macumba
Bat Macumba
Bat Macum
Batman
Bat
Ba
Bat
Bat Ma
Bat Macum
Bat Macumba
Bat Macumba
Bat Macumba
Bat Macumba , Ba
Bat Macumba , Bat
Bat Macumba , Batman
Bat Macumba , Bat Macum
Bat Macumba , Bat Macumba
Bat Macumba , Bat Macumba oh
Bat Macumba , Bat Macumba oba
81
O uso de metforas no era simplesmente uma forma
de driblar a censura, mas uma opo estilstica pela criativida-
de, imaginao e ludicidade: Enquanto o seu lobo no vem, por
exemplo, se referia represso dos militares nas ruas, embora
isso no fosse dito claramente.
As canes tropicalistas tambm so bastante marcadas
pelo deboche ao projeto desenvolvimentista que estava im-
pregnado no imaginrio da classe mdia: Retocai o cu de anil,
bandeirolas no cordo, grande festa em toda a nao / Desper-
tai com oraes o avano industrial vem trazer nossa redeno
81
.
A msica Tropiclia, de Caetano, a mais emblemtica no
sentido de evidenciar as contradies deste projeto de Brasil
desenvolvido, culto e engajado, e, neste caso, vale a pena fazer
uma anlise mais detalhada:
Sobre a cabea os avies, sob meus ps os caminhes,
[a contradio da modernizao, com novas tecnologias ao
lado das antigas, e a integrao nacional atravs das estradas]
aponta contra os chapades meu nariz...
Eu organizo o movimento, eu oriento o Carnaval
[movimento ldico-poltico]
eu inauguro um monumento no Planalto Central do pas
[Braslia, o smbolo da tentativa de modernizao desenvolvi-
mentista brasileira]
(...) Domingo o Fino da Bossa
[programa apresentado semanalmente pela cantora Elis Regi-
na, na TV Tupi]
Segunda-feira est na fossa,
Tera-feira vai roa
[referncia ao cotidiano popular do serto]
Porm o monumento bem moderno
[mais uma vez, a modernizao do pas atravs da arquitetura]
81 Excerto da letra de Parque Industrial, de Tom Z
82
No disse nada do modelo do meu terno
[crtica feita vestimenta alegrica incorporada pelos
tropicalistas]
que tudo mais v para o inferno, meu bem
[referncia cano de Roberto Carlos]
82
.
Em um momento onde a direita e a esquerda do pas com-
partilhavam de um sentimento nacionalista exacerbado, o Tro-
picalismo optou por uma soluo alegrica e antropofgica para
pensar a construo da identidade brasileira, como se percebe
em Gelia Geral, de Gil e Torquato: a mesma dana na sala,
no Caneco, na TV, e quem no dana no fala, assiste a tudo e se
cala, no v no meio da sala, as relquias do Brasil
83
. Nem o nacio-
nalismo exacerbado e desenvolvimentista proposto pela direita,
que escondia as desigualdades sociais do pas, nem a total ne-
gao da cultura norte americana, considerada imperialista pela
esquerda engajada (recebendo por isso muitas crticas, como
visto anteriormente no ensaio de Roberto Schwarz). Criticando
o rigor da esquerda que cobrava um posicionamento poltico ri-
goroso e a negao da cultura estrangeira, Caetano respondia em
Baby: Voc precisa tomar um sorvete na lanchonete, andar com a
gente, me ver de perto, ouvir, aquela cano do Roberto / Baby, baby
h quanto tempo / Voc precisa aprender ingls, precisa aprender o
que eu sei, e o que eu no sei mais e o que eu no sei mais / No sei,
comigo vai tudo azul, contigo vai tudo em paz, vivemos na melhor
cidade da Amrica do Sul...
84
.
Estavam sintonizados com a tendncia internacional
contracultural, a explorao dos temas como o uso de drogas,
a liberdade sexual e a crtica ao sistema poltico. Dialogavam
com a cultura rock, englobando o pacifsmo, o hedonismo, o
82 Excerto da letra de Tropiclia, de Caetano Veloso
83 Excerto da letra de Gelia Geral, de Gilberto Gil e Torquato Neto
84 Excerto da letra de Baby, de Caetano Veloso , de Caetano Veloso
83
zen-budismo, o naturismo, o feminismo e mesmo o marxismo
85
.
As letras refetiam uma atitude positiva, alto-astral e at mesmo
ldica, em relao aos problemas sociais e polticos. Em Divino
Maravilhoso, uma das msicas emblemticas da Tropiclia, a jo-
vem voz de Gal Costa j alertava: Ateno, tudo perigoso, tudo
divino, maravilhoso. Ateno para o refo: preciso estar atento e
forte, no temos tempo de temer a morte
86
.
Segundo Paulo Henrique Brito, faz muito mais sentido
ver essas canes como crticas caretice a partir de um ponto
de vista contracultural do que como ataques ao sistema de poder
segundo uma tica marxista
87
: Estou aqui de passagem, sei que
um dia vou morrer de susto de bala ou vcio / num precipcio de lu-
zes, entre saudades, soluos / eu vou morrer de bruos nos braos, nos
olhos nos braos de uma mulher
88
. No caso desta msica, ainda, a
temtica a Amrica Latina e ao sentimento de solidariedade
aos hermanos continentais com os regimes ditatoriais, a morte
de Che Guevara e os sonhos da revoluo popular: El nombre
del hombre muerto j no se puede decir-lo (...) el nombre del hombre
es pueblo.
Mostrando-se conectados com a atmosfera revolucionria
da juventude no mundo, a letra de proibido proibir (em refe-
rncia s inscries nos muros das universidades de Paris), denun-
cia a represso que se dava tanto no plano concreto (da censura
militar) quanto subjetivo (do comportamento): A me da virgem
diz que no / e o anncio da televiso / e estava escrito no porto / E o
maestro ergueu o dedo / e alm da porta h o porteiro, sim...
89
. A gran-
de contribuio tropicalista foi, afnal, a insero destes temas na
poltica, de forma criativa e transgressora. Segundo depoimento
85 Paulo Henriques Brito, apud Cambraia Naves e Duarte, 2003, p. 192.
86 Excerto da letra de Divino Maravilhoso, de Caetano Veloso , de Caetano Veloso
87 Paulo Henriques Brito, apud Cambraia Naves e Duarte, 2003, p. 192.
88 Excerto da letra de Soy loco por ti America, de Gilberto Gil e Capinam , de Gilberto Gil e Capinam
89 Excerto da letra de proibido proibir, de Caetano Veloso , de Caetano Veloso
84
de Caetano Veloso sobre seu engajamento poltico na faculdade:
(...) eu me sentia um pouco solitrio, estranho, porque no conseguia
entrar em nenhum partido, nem naquelas coisas de chapa de diret-
rio de faculdade. E sempre tive um pouco de grilo com o desprezo que
se votava as coisas como sexo, religio, raa, relao homem-mulher.
(...) Mas no eram s menores no, elas eram inexistentes e s vezes
at nocivas. Tudo era considerado alienado, pequeno-burgus, embo-
ra todo mundo na universidade fosse na verdade pequeno-burgus
90
.
Assim, para os tropicalistas, a revoluo se daria no plano da sub-
jetividade e das relaes interpessoais, combatendo o conserva-
dorismo ainda presente na esquerda engajada com a psicodelia e
muita alegria, alegria: Por entre fotos e nomes, os olhos cheios de co-
res, o peito cheio de amores vos, eu vou, por que no, por que no...
91
Como explica Helosa Buarque de Hollanda, (...) nessa linha
que aparece uma noo fundamental no existe a possibilidade
de uma revoluo ou transformao social sem que haja uma revo-
luo ou transformao individuais
92
.
2.2.3 Estticas convergentes
Embora a Tropiclia seja at hoje mais lembrada pela atu-
ao dos baianos na msica brasileira, a esttica tropicalista tam-
bm pode ser encontrada em outros segmentos artsticos.
No teatro brasileiro, no podemos deixar de citar, ainda
que brevemente, a infuncia de Jos Celso Martinez, que traba-
lha o experimentalismo radical da linguagem teatral com o Gru-
po Ofcina. O grupo optava pela marginalidade em relao ao
sistema cultural e era caracterizado por performances desestabi-
lizadoras que representavam, simbolicamente, a contestao que
se agitava nas entranhas do pas. Assim, sua luta parecia ser mui-
90 Hollanda, 1980, p. 108.
91 Excerto da letra de Alegria, alegria, de Caetano Veloso
92 Hollanda, 1981, p. 66.
85
to mais contra a esquerda e sua poltica tradicional do que contra
a burguesia, com a qual buscava inclusive estabelecer uma esp-
cie de pacto
93
. Era uma tomada de posio poltica e, ao mesmo
tempo, uma busca pela renovao cultural do teatro brasileiro, o
qual deveria ter, enquanto arte, uma linguagem universalizada -
sem no entanto diluir as diferenas e torn-las assimilveis aos
veculos de massa.
Claramente infuenciado pela antropofagia, visavam re-
pensar o teatro no pas a partir de relaes que se constituram
com diferentes foras que representam o outro diante de tradies
culturais que caracterizam o que se pode considerar como Brasil.
Em 1967 montado o emblemtico espetculo O Rei da Vela,
de Oswald de Andrade, a partir das discusses e polmicas sobre
a realidade brasileira, que marca a recusa da herana do teatro
tradicional. Numa perspectiva antropofgica, a Amrica Latina,
marcada pelo subdesenvolvimento econmico, teria um impor-
tante papel em termos de vanguarda, sendo caracterizada por
movimentos de desvio da norma, transfgurando os elementos
feitos imutveis pelos europeus. Assim, era necessrio assina-
lar sua diferena, pois a passividade reduziria seu papel efetivo
ao desaparecimento por analogia
94
.
Em 1968 Z Celso monta o espetculo Roda Viva, es-
crito por Chico Buarque, que pensava a relao do teatro e dos
bens culturais, de uma maneira geral com a massifcao, e sua
utilizao como resistncia ao conformismo da classe mdia
95
.
93 O espetculo O Rei da vela, que havia sido barrado pela censura, foi libe-
rado mediante um acordo com a censura, pelo qual foram feitos cortes e mudan-
as no texto (In: Victor Hugo Pereira apud Cambraia Naves e Paulo Srgio
Duarte, 2003, p. 218).
94 Santiago, 1978.
95 Esta problematizao da indstria cultural se aproxima das experincias de
Guy Dbord e sua concepo de sociedade do espetculo, assim como o tipo de
provocao feita ao pblico pelo grupo de agitao poltico-cultural atuante espe-
cialmente na Frana. Sobre sociedade do espetculo, ver Dbord, 1967.
86
Tendo o corpo como principal instrumento para esta tomada de
atitude, problematizava-se a passividade do espectador, e conse-
qentemente, sua passividade enquanto cidado no mundo. Este
espetculo - assim como toda a obra de Z Celso - aderia a uma
esttica da agresso, caracterstica das tendncias de vanguarda,
e fcou apenas alguns dias em cartaz, quando a polcia militar
invadiu o teatro, destruiu os cenrios e espancou os atores e atri-
zes, devido ao carter subversivo da obra. Segundo ele, era uma
violncia revolucionria, a violncia que legtima porque se
ope contra a violncia do dia-a-dia. (...)[era uma pea] que fa-
zia toda uma revoluo, que negava o pensamento acadmico, o
pensamento idealista em relao ao teatro
96
.
Fica evidente em suas obras sua preocupao com o pro-
cesso teatral como um todo, desde o trabalho de concepo com
o grupo at o problema da recepo seja na relao dos ato-
res com o pblico ou na diluio do espetculo em mercadoria.
Mesmo com atitudes caractersticas do desbunde da poca, o
teatro de Z Celso no se afnava com o misticismo e o irracio-
nalismo, pelo contrrio: Ns queremos acordar as foras das
pessoas para elas voltarem a querer. Sabemos, no entanto, que
uma parcela inevitvel do pblico vai apenas nos consumir. Mas
o sistema consome a parte superfcial
97
.
Segundo ele, Nunca houve um movimento tropicalista.
Isso foi um jeito que encontraram para batizar a revoluo cultural
que se impunha. Rompendo com a proposta de movimento orga-
nizado, o que seria um enquadramento dentro da lgica do siste-
ma, continua: A coragem de O Rei da Vela, a da guitarra eltrica, a
da cmera de um jeito que ningum tinha feito antes. A gente, essa
turma foi se conhecendo s com os trabalhos que ia fazendo. (...)
a gente sacou que tinha uma identidade muito grande entre ns,
mas no era uma infuncia de um para o outro, nem um movi-
96 Staal,1998, p. 309.
97 Idem.
87
mento programado. Era uma confuncia de ansiedades , fruto das
recusas e dos movimentos sociais que se ensaiavam
98
.
No cinema, com o slogan uma idia na cabea e uma c-
mera na mo, surge na dcada de 60 o Cinema Novo brasileiro,
sob a inspirao da Esttica da Fome, na acepo de Glauber
Rocha. Jovens universitrios, infuenciados pelo cinema fran-
cs (O cine verit de Jean Rouch e a Nouvelle Vague de Jean-Luc
Godard) e pelo neorealismo italiano (Rosselini, Visconti, e De
Sica) buscam fazer um cinema de denncia social, mas tambm
com uma experimentao radical de linguagem. Como vimos no
captulo anterior, o Cinema Novo propunha o engajamento po-
ltico atravs da revoluo da esttica cinematogrfca.pois esta
experimentao seria uma importante reviso poltica da atual
conjuntura e, principalmente, dos costumes, onde estava base-
ada toda a sua lgica de interveno e questionamento. Explica
Arnaldo Jabor: A partir de 1964 tnhamos essa misso estti-
ca ou refexiva: Temos que analisar o Brasil de outra maneira.
(...)Na poca, era uma maneira de voc lutar contra o cinema
fragmentado de Hollywood (...), uma esttica que levava a uma
refexo burguesa, e era necessria uma linguagem no burguesa
para criticar a burguesia
99
. O flme estabelecido como o mar-
co entre cinema novo e tropiclia foi Terra em Transe (1967),
de Glauber Rocha, pela sua narrativa no-linear e no questiona-
mento ideolgico, comportamental e poltico da intelectualida-
de de esquerda da poca
100
.
98 Em 1968, Caetano, Gil, Z Celso, Torquato Neto e Capinam escrevem um
ato pblico censurado pela Globo-Rhodia, que comeava com a defnio do
produto: Tropicalismo, nome dado pelo colunismo social dominante a uma srie de
manifestaes espontneas, surgidas durante o ano de 1967, e, portanto, destinadas
deturpao e morte. (In: Pereira apud Naves e Duarte, 2003, p.226)
99 Jabor apud Naves e Duarte, 2003, p. 189/190
100 A emblemtica msica tropicalista Alegria, alegria de Caetano Veloso
comparada por muitos a este flme como uma msica cmera na mo, pela
sua narrativa fragmentada e recortes de mltiplas referncias
88
Mesmo depois do auge tropicalista, os questionamentos
estticos propostos por estes artistas continuaram por infuen-
ciar movimentos artsticos at hoje. O cinema marginal e o lema
quem no pode nada tem mais que se esculhambar propunha a
experimentao e o desprendimento aos padres comportamen-
tais, atravs de uma esttica de agresso (moral, visual, poltica)
ao espectador. No auge da cultura hippie e do amor livre na d-
cada de 70, Os Novos Baianos - cujo sugestivo nome e origem os
conferiu o ttulo de os novos tropicalistas misturavam o sam-
ba da Bahia com os solos de guitarra eltrica, em uma irreverente
experimentao potica e sonora. E o manguebeat (movimento
musical liderado pelo grupo pernambucano Nao Zumbi), por
exemplo, carregava com si a vontade antropofgica de misturar
referncias, fazendo uso em sua msica de elementos do mangue
(cultura local) e das novas tecnologias do rock internacional
101
.
Analisando a juventude da qual fez parte e suas motivaes
na dcada de 60 Caetano admite que No tnhamos atingido o
socialismo, no tnhamos sequer encontrado uma face humana no
socialismo existente; tampouco tnhamos entrado na era de Aqua-
rius ou no Reino do Esprito Santo; no tnhamos superado o Oci-
dente, no tnhamos extirpado o racismo e no tnhamos abolido a
hipocrisia sexual. Mas as coisas nunca voltariam a ser como antes
102
Assim, podemos dizer que a Tropiclia conseguiu o que se pro-
ps a fazer: questionar modelos, romper padres comportamentais
e estticos, e incentivar novas formas de produo artstica.
101 Sobre esta relao Tropiclia e Manguebeat, ver Nercolini, 2005.
102 Veloso, 1977
89
CAPTULO 3 - CULTUR HOJE
Toda vez que me sinto desanimado por causa da poltica,
penso na dcima primeira tese de Marx sobre Feuerbach os
flsofos apenas interpretam o mundo, a questo mud-lo
e ento acabo me convencendo de que podemos nos consolar
revertendo-a se no podemos efetivamente mudar o mundo,
o mnimo que devemos fazer entend-lo
Raphael Samuel
Se nos captulos anteriores foi possvel fazer um panora-
ma do contexto e da produo de cultura no Brasil e no mundo
na dcada de 60, neste pretende-se discutir o circuito de cultura
e fazer um paralelo entre aquela realidade e a de hoje, a partir de
suas signifcativas diferenas que iro alterar no s a produo
cultural, como a prpria relao das pessoas, do poder pblico e
da iniciativa privada com a cultura. Constata-se que o conceito
de cultura vem sendo expandido e de que forma a cultura passa
a ser apropriada no mais como um fm em si mesma, mas como
ferramenta poltica, social e econmica. A centralidade da cul-
tura na contemporaneidade e sua convenincia para o mercado,
o Estado e a sociedade civil iro alterar as formas de produo
artsticas em um mundo globalizado.
3.1 A cultura extraviada em suas defnies
Para iniciar, talvez seja interessante fazer uma refexo do
conceito de cultura, o que estar diretamente ligado sua apro-
priao em diferentes esferas. Como aponta Canclini (2005),
a prpria defnio de cultura objeto de disputa e h muito
extraviada em suas defnies, e para pensarmos a cultura hoje,
segundo esse autor, necessrio analisar os usos da cultura feitos
90
pelos governos, pelo mercado, pelos movimentos sociais, alm
daquelas refexes acadmicas das cincias humanas e sociais.
A cultura tambm pode ser caracterizada como aquilo cria-
do pelo homem e por todos os homens, do simplesmente dado,
do natural que existe no mundo. Observando-se a complexida-
de de lnguas, rituais, objetos e smbolos possuidores de diferentes
signifcaes e apropriaes de acordo com o meio no qual est
inserido, se admite que toda arte automaticamente social, posto
que emana do homem, e, assim, indiretamente, refete seu contexto
103
.
Assim, saindo do esquema marxista que apenas diferencia valor
de uso e valor de troca, Jean Baudrillard aponta ainda duas outras
formas de valor: valor signo o conjunto de conotaes e implica-
es simblicas, que esto associadas a este objeto e que agregam
outros valores que infuenciam diretamente no valor de troca - e o
valor smbolo onde o bem cultural, vinculado a rituais ou a atos
particulares que ocorrem dentro da sociedade, adquirem diferen-
tes signifcaes
104
. Sobre isto, Canclini comenta:
Esta classifcao de quatro tipos de valor (de uso, de
troca, valor signo e valor smbolo) permite diferenciar
o socioeconmico do cultural. Os dois primeiros tipos
de valor tm a ver principalmente, no unicamente,
com a materialidade do objeto, com a base material da
vida social. Os dois ltimos tipos de valor referem-se
cultura e aos processos de signifcao
105
.
Retomando Bourdieu, podemos afrmar ento que a so-
ciedade se estrutura, para alm das relaes de fora, nas rela-
es de signifcao e sentido, que constituem a cultura
106
.
103 Amaral, 2003.
104 Jean Baudrillard, Jean Baudrillard, apud Canclini, 2005, p. 40.
105 Canclini, 2005, p. 40.
106 Bourdieu, 2005.
91
Os estudos de recepo adquirem importncia na socie-
dade contempornea por revelarem a transformao dos bens
simblicos atravs de reapropriaes e a interculturalidade das
relaes, uma vez que a cultura apresenta-se como processos so-
ciais e parte da difculdade de falar dela deriva do fato de que
se produz, circula e se consome na histria social.
107
Esta con-
cepo processual e cambiante da cultura um dos elementos
importantes para a transformao do signifcado de bens cultu-
rais
108
quando passados de um sistema cultural ao outro, onde
so inseridas novas relaes de poder.
A cultura tambm uma instncia simblica da produo e
reproduo da sociedade, constitutivas das interaes cotidianas,
medida que na vida social se desenvolvem processos de signifca-
o. Neste sentido, pode ser uma instncia tanto de conformao
do consenso da hegemonia como de resistncia contra-hegemni-
ca. Estas diversas defnies nos remetem a pensar a cultura como
terreno em que se criam e se atribuem sentidos e signifcados so-
ciais, processo de disputa em constante transformao.
Esta compreenso do carter processual e dialtico da cultura
fundamental para nossa refexo, pois hoje, inseridos no processo de
globalizao, precisamos, de acordo com Canclini (2005), nas anli-
ses culturais, ampliar o escopo do termo cultura para alm dos limi-
tes nacionais ou tnicos, considerando as relaes interculturais.
3.2 A centralidade da cultura
A cultura torna-se elemento central para se entender a
sociedade moderna a partir da segunda metade do sculo XX,
estando hoje inserida em todos os aspectos da vida social.
107 Idem
108 Ainda que permaneam traos do sentido anterior a iconografa, por
exemplo -, seus fns predominantes participam agora de outro sistema socio-
cultural, com novas relaes sociais e simblicas.
92
A expresso centralidade da cultura se d pelo fato desta
ser ao mesmo tempo, refexo, mediao e produtora da vida so-
cial, e por esta razo no pode ser vista como uma varivel me-
nor ou dependente em relao lgica do mundo. Esta transfor-
mao cultural do cotidiano e da formao de identidades est
diretamente relacionada aos novos domnios e instituies li-
gadas transformao das esferas tradicionais da economia, da
poltica e da sociedade, enquanto parte de uma mudana hist-
rica global.
preciso falar da centralidade da cultura tambm na
constituio da subjetividade, da pessoa como um ator social.
Nossas identidades so, em resumo, formadas culturalmente.
por esta razo que devemos pensar as identidades sociais como
construdas no interior da representao, atravs da cultura, no
fora delas
109
.
Nesta linha de refexo proposta por Hall:
(...) a linguagem constitui os fatos, e no apenas os relata,
e os signifcados so defnidos parcialmente pela manei-
ra como se relacionam mutuamente mas, tambm, em
parte, pelo que omitem. (...) A cultura , portanto, parte
constitutiva do poltico e do econmico, da mesma
forma que o poltico e o econmico so, por sua vez,
parte constitutiva da cultura, e a ela impem limites
110
.
Na sociedade contempornea a cultura possui uma im-
portncia fundamental nos processos de desenvolvimento eco-
nmico e social, ligados expanso dos meios de produo,
circulao e troca cultural, atravs das novas tecnologias de co-
municao e informao. Estas novas tecnologias so ento os
sistemas nervosos que enredam numa teia sociedades com his-
109 Hall, 2005, p. 11.
110 Idem, p. 17.
93
trias distintas, diferentes modos de vida, em estgios diversos
de desenvolvimento e situadas em diferentes fusos horrios.
Importante tambm apontar que, com as Novas Tecnolo-
gias de Comunicao e Informao (NTCI), o contato com ima-
ginrios provenientes de outras culturas foi enormemente amplia-
do, no sentido de que se pode ter acesso a informaes, imagens,
produtos e mesmo contactar pessoas separadas por signifcativa
distncia fsica e cultural. Entretanto a produo destas mensa-
gens nem sempre feita pelas pessoas referenciadas, o que pode
vir a deturpar e reforar vises estigmatizadas de uma sociedade
ou fato, e, mais ainda, reforar a distncia entre estas realidades
111
.
Por exemplo, gigantes transnacionais principalmente na
rea das comunicaes imprimem um certo estilo de vida ho-
mogeneizado e ocidentalizado a partir de produtos culturais es-
tandartizados que se sobrepem s particularidades e diferenas
locais. Neste sentido importante observar que os protagonistas
da globalizao no so as NTCI em si, mas as grandes corpo-
raes que esto por trs delas realizando uma integrao eco-
nmica baseada na desregulao poltica a nveis globais. Assim,
a cultura norte-americana refetida na ideologia cultural do
consumismo
112
, presente de forma mais ou menos explcita em
grandes corporaes da mdia perifrica (como a Rede Globo
111 Pode-se citar como exemplo novelas com temticas de outras culturas, como
a atual Caminho das ndias, da Rede Globo. Embora tenha sido feita toda uma
pesquisa para a elaborao da novela, de uma maneira geral a cultura indiana apre-
sentada de forma estigmatizada, pasteurizada em sua enorme diversidade cultural
interna. E ainda, a fm de compor a trama amorosa principal, ressalta o conservado-
rismo e hierarquia resultados do sistema de castas, provocando em muitas pessoas
dado o alcance simblico de uma novela no horrio nobre uma certa resistncia
cultura indiana, sem que no entanto a conheam em sua plenitude. Alm disso, este
tipo de ao televisiva encontra refexos no mercado da moda, fazendo estourar no
mercado peas de roupa e acessrios que lembrem esta cultura, mas no necessaria-
mente a representem de forma fel, e que muito provavelmente sero esquecidos ou
considerados fora de moda alguns meses aps o fm da novela.
112 Sklair, apud Yudice, 2005.
94
brasileira e a Televisa mexicana, por exemplo). Ao invs de to-
marem formas fsicas e compulsivas como em outras experin-
cias autoritrias de imposio cultural, este tipo de subordinao
e manuteno da ordem hegemnica bem mais complexa, por
lidar com elementos do cotidiano, valores e comportamentos -
o que faz com que a luta pelo poder se d fortemente no plano
simblico e discursivo.
3.3 Arte pra qu?
Admiro muito aqueles que dedicam suas vidas arte,
mas admiro mais aqueles que dedicam suas artes vida
Augusto Boal
O sistema de produo de bens simblicos, valorizados
como mercadoria e carregado de signifcaes, paralelo a um
processo de diferenciao, cujo princpio reside na diversidade dos
pblicos aos quais as diferentes categorias de produtores destinam
seus produtos, e cujas condies de possibilidade residem na pr-
pria natureza dos bens simblicos
113
. Ou seja, a atribuio de certos
valores de uso a determinados produtos culturais determina posi-
es de classe, o que diz respeito no apenas a seu valor de aquisio
como tambm apropriao simblica destes bens, feitas de manei-
ras diferentes por classes ou culturas diferentes. Para Bourdieu,
o poder simblico surge como todo o poder que consegue impor
signifcaes e imp-las como legtimas. Os smbolos afrmam-se,
assim, como os instrumentos por excelncia de integrao social,
tornando-se possvel a reproduo da ordem estabelecida
114
.
Sob esta perspectiva, encontramos a separao do termo cul-
tura em trs esferas: erudita, massiva e popular. Por cultura eru-
dita, entende-se o restrito circuito de normas prprias de produo e
113 Bourdieu, 1974.
114 Idem.
95
reconhecimento cultural, associada ao acmulo de conhecimentos e
aptides intelectuais e estticas caractersticas da cultura dominante.
As obras do campo de produo erudita tendem a ser consideradas
puras e abstratas, acessveis a um pblico reduzido e instrudo
do manejo de tais cdigos. Mesmo em iniciativas como a do CPC,
que buscava levar a arte ao povo tornando acessvel este campo de
produo cultural, o conceito de arte outro, valorizando a produ-
o simblica das vanguardas em detrimento das classes populares,
consideradas superfciais e alienadas, e que por isso mereciam ter
acesso a esse outro tipo de produo.
O termo cultura de massa surge com um campo de produo
que enxerga na arte uma mercadoria, a ser produzida, comercializada
e consumida em esferas mesmo independentes. Classifcado como
uma indstria cultural
115
, esse sistema est submisso a uma demanda
externa o mercado e subordinado aos detentores dos instrumen-
tos de produo e difuso. Adaptando contedo para um consumo
mais imediato, a este campo de produo geralmente associado
alienao e baixa qualidade e est diretamente ligado consolida-
o dos meios de comunicao de massa nos anos 60 no contexto
da Guerra Fria e do estilo de vida consumista proposto pelo capitalis-
mo e s transformaes proporcionadas pelas NTCI, hoje.
Por sua vez, o termo cultura popular
116
tem sido questio-
nado e revisto ao longo dos estudos culturais. Em primeiro lugar,
pode-se referir representao, o que geralmente est ligado a
uma viso romantizada da cultura do povo; pode-se tambm
se referir ao que as classes populares de fato esto consumindo
em termos de cultura, que se aproxima muito da chamada cul-
tura de massa; e, por fm, pode estar se referindo ao que pro-
duzido pelo povo, em sua enorme diversidade, noo esta que
mais se aproxima do que se entende por cultura.
115 Sobre indstria cultural, ver Adorno e Horkheimer (1997) e Martin-
Barbero (1997).
116 Sobre cultura popular, ver Stuart Hall (2003).
96
importante assinalar que tais categorias no so estanques,
pois os bens simblicos associados a uma so freqentemente
prximos outra. Alm disso, enquanto defnies, possuem um
local de fala, reafrmando a cultura como arena de disputa social.
Entretanto, ainda que o campo de produo cultural seja muito
mais complexo do que estas defnies, esta diviso permite-nos
observar a arte no que diz respeito no somente a sua produo,
mas tambm a suas formas de uso. Assim, dentro do campo de pro-
dutores artsticos e intelectuais tanto da classe dominante quan-
to de tendncias resistentes observa-se um certo questionamen-
to da funcionalidade da arte e da participao pessoal do artista
em seu momento e espao. Segundo Dufrenne:
O artista tem conhecimento de que detm um certo esta-
tuto, que desempenha ou fazem-no desempenhar um
papel, que no pode acreditar na neutralidade da arte a
menos que ignore o destino das obras a partir do momento
em que entram no circuito comercial, e talvez mesmo a sua
gnese, quando ele pensa s estar seguindo sua fantasia ou
s obedecendo seu apelo. Ento ele se sente responsvel,
no apenas pela obra que cria, mas pelo uso que dela
feito, os efeitos por ela produzidos. Perdida a inocncia,
denunciando o libi: no fao poltica, necessrio que se
tome partido, e no apenas como cidado, mas como ar-
tista e, portanto, sem renunciar a s-lo
117
.
O processo de separao entre o material e o simblico no
campo cultural est ligado Revoluo Industrial e a reao romnti-
ca por parte do artista (rebelde, isolado) de liberar sua produo e
seus produtos de toda e qualquer dependncia social que at ento
estavam sob a tutela da aristocracia e da Igreja. Aracy de Amaral afrma
que no fundo, o divrcio decretado a partir do sculo XIX entre os
117 Apud Amaral, 2003, p. 14.
97
artistas e a sociedade, a partir da Revoluo Industrial que despojou
a arte de uma funo social. E enquanto a arte no reencontrar sua
funo social, prosseguir a servio das classes dominantes, ou seja,
daqueles que detm o poder econmico e, portanto, poltico
118
. At
ento, o fazer arte era visto enquanto ofcio, uma profssionalizao
para um fm defnido: retratista, ourives, escultor de peas, ilustrador,
decorador, etc, que trabalhavam para atender s demandas da burgue-
sia. Com essa separao, o artista - embora objetivando a venda de sua
produo para sua sobrevivncia - passa a produzir sem uma preocu-
pao imediata com o destino de sua obra, que passa a ser fenmeno
independente dele, posterior a seu trabalho, e seu pblico passa a ser
cada vez mais desconhecido por ele. Para estes artistas, converter a
arte em algo til era obrig-la a servir queles mesmos burgueses que
tanto desprezavam. Citando Lnin, Zdanov (da corrente realista so-
vitica) afrma entretanto que viver numa sociedade e no depender
dela impossvel. A liberdade do escritor burgus, do artista, da atriz,
s constitui uma dependncia encoberta: dependncia do dinheiro,
dependncia do corruptor, dependncia do solo
119
.
Ainda que busque se isolar da sociedade, o artista no se en-
contra desconectado das interferncias do mundo a sua volta e por
isso h aqueles que colocam o seu fazer a servio de uma sociedade
que gostariam de transformar com sua contribuio, ou buscam fa-
zer com que sua obra refita sua realidade confitante. Assim,
(...) a realidade no apenas uma temtica, mas uma
posio defnida por parte de muitos artistas. Em de-
corrncia das agitaes sociais do nosso tempo, o artis-
ta se sente impelido a participar, ele tambm, com sua
produo, de eventos que o chocam vivamente, como
guerras, revolues, perseguies, injustias sociais
120
.
118 Amaral, 2003, p. 3.
119 Apud Amaral, 2003, p. 9.
120 Amaral, 2003, p. 4.
98
E esta tomada de posio claramente identifcada na
produo artstica da dcada de 60, principalmente no Brasil re-
gido pela ditadura militar, como j discutimos nos captulos an-
teriores. O questionamento sobre a funcionalidade da cultura e
sua aplicao na vida social foi palco para inmeras divergncias
no prprio fazer artstico da esquerda.
A politizao do artista pode ser, neste caso, ambgua,
signifcando a submisso do fazer artstico a uma instncia po-
ltica, como foi acusada a atuao cultural do CPC, claramente
infuenciada pela ideologia nacional-popular do PCB e do ISEB.
Por outro lado, tambm pode signifcar a estetizao da pol-
tica, inserindo de forma criativa elementos culturais no deba-
te e na atuao transformadora da sociedade - como pode ser
encontrado na arte tropicalista, que embora tenha sido muitas
vezes criticada e rejeitada pela esquerda engajada, buscava no
apenas politizar o cotidiano, mas tambm cotidianizar a poltica,
inserindo no debate temas como a homosexualidade, a mulher
na sociedade, e a crtica ao comportamento conservador, sendo
assim considerados menores e at alienados.
Muitos trabalhos considerados revolucionrios no pos-
suam necessariamente o carter poltico que muitas vezes lhe
so atribudos, e estas interpretaes cambiantes se do justa-
mente pela complexidade de signos e valores simblicos e suas
reapropriaes em sociedades e tempos distintos. Alm disso, a
atuao poltica do artista no se limita a sua produo, mas tam-
bm diz respeito a sua insero em outros circuitos scio-cul-
turais, apropriao do mercado atravs de mltiplos trabalhos
coletivos, recusa de certos padres estticos, entre outros.
Por outro lado, mesmo que possua em sua inteno cria-
tiva uma crtica social, esta mensagem nem sempre absorvida
desse modo por aquele que consome (no necessariamente no
sentido mercadolgico) a produo artstica. Apesar dos intui-
tos que regeram sua concepo, a sociedade de consumo pode
99
vir a processar sua produo de forma superfcial, destinando
uma arte a princpio revolucionria para fns comerciais.
Para Aracy de Amaral, muitas vezes esta apropriao da
arte pelo sistema acontece com a conivncia dos artistas por seu
neutralismo, recusando-se a reconhecer ou aceitar seu papel
de produtores de bens de consumo. Ou seja, a despeito da in-
tencionalidade ou no, explcita pelo produtor, a obra de arte
freqentemente manipulada politicamente em seus estgios de
circulao (galerias, bienais, sales) e consumo
121
.
Na Amrica Latina, onde existiram e existem muitos par-
tidos comunistas e socialistas tendo entre seus militantes artistas
e intelectuais, este engajamento se d a partir da percepo da
distncia entre o fazer artstico e a realidade social, em um conti-
nente com tamanho desnvel social. Explica Aracy Amaral:
Enquanto grande parte da arte ocidental se preocupa com
a experincia individual ou relaes entre os sexos, a maior
parte das principais obras da literatura latino-americana
e mesmo algumas de suas pinturas so muito mais preocu-
padas com fenmenos sociais e idias sociais
122
.
A busca pelo alcance social imediato da arte buscava na
dcada de 60 incitar um grupo social resistncia, principal ar-
gumento da arte politizada produzida pelo CPC, e este aspecto
didtico da arte comprometida est conectado ao realismo so-
vitico: revela uma fora moral e ideolgica, um despertar de
conscincia coletiva que fazia do trabalhador um heri. O ide-
al pregado por Zdanov e claramente identifcado no projeto
121 Amaral, 2003, p. 14.
122 O muralismo mexicano, por exemplo, que atraiu a teno dos artistas
inquietos de todo o continente como Di Cavalcante e Portinari no caso do
Brasil, inovava ao fazer heri da arte monumental as massas, o homem do
campo, das fbricas, das cidades, e no mais os deuses, reis e chefes de Estado.
(In: Amaral, 2003)
100
cepecista - aceitava exclusivamente o realismo como tendncia
possvel nas artes e previa que esta deveria fazer evoluir os gos-
tos do povo, a erguer mais alto as suas exigncias, a enriquec-lo
com novas idias, a impulsionar o povo para frente
123
.
Como se pode ver, a referncia cultural no era uma cultu-
ra feita pelo povo, mas uma cultura erudita:
O artista se dirige ao povo como um pblico extra,
d, mas no recebe, quer ensinar, mas pensa que no
deve aprender. Afrma que se deve elevar o povo arte
e no nivelar por baixo, opinio sustentada inclusive
por parte da esquerda que acredita que o socialismo na
arte se alcana fazendo muitas e acessveis reprodues
de Picasso
124
.
A submisso da arte a ideais polticos pode ainda ter efeito
reverso, uma vez que o artista se torna porta-voz acrtico de um
dado regime, to opressor quanto o que ajudou a desconstruir,
submetido a uma disciplina ideolgica fechada. O artista mexi-
cano Diego Rivera, em manifesto por uma arte independente,
escreve que por liberdade de criao no tratamos, de modo al-
gum, de justifcar o indiferentismo poltico e que est muito dis-
tante de nossa mente querer ressuscitar uma suposta arte pura
que, ordinariamente, serve aos fns impuros da reao
125
.
Frente massividade no apenas da produo, mas tam-
bm dos produtores, alguns se auto-entitulam marginais neste
circuito cultural, inovando na linguagem artstica, por um lado,
e se direcionando a um restrito pblico, por outro. Assim, Aracy
de Amaral aponta trs direes para a problemtica do artista:
123 Apud Amaral, 2003, p. 9.
124 Leon Ferrari apud Amaral, 2003, p. 27.
125 Por uma arte revolucionria independente! Manifesto assinado no Mxi-
co por Diego Rivera e Andre Breton, 25 de julho de 1938. (In: Amaral, 2003)
101
1)como fazer que o produto de seu trabalho tenha
uma comunicao direta com um pblico mais amplo;
2) que sua obra possa refetir uma participao direta
em seu contexto social; e, eventualmente, 3) a partici-
pao dessa obra para uma eventual ou desejvel mu-
dana da sociedade
126
.
A arte tropicalista, por exemplo, contava com a participa-
o do pblico no sentido da recepo e construo do sentido,
uma vez que muitas dessas produes (no campo das artes pls-
ticas de Lygia Clark e Oiticica principalmente) s se comple-
tavam com a interveno do espectador na obra. Ao estimular
a ruptura dos padres de comportamento do espectador com
relao obra de arte impulsiona-se a imaginao e criatividade
popular, o que tambm uma atitude poltica de alterao da
ordem. Para o teatrlogo Augusto Boal, o espectador , na verda-
de, um espect-ator, um ator em potencial, pois a possibilidade
criativa artstica inerente a todo ser humano.
Uma possvel sada para o elitismo vicioso representado
pelos meios artsticos vinculados s classes dominantes parece
ser a socializao da arte, entendida como uma possibilidade
de estender a muitos a oportunidade de se iniciarem no fazer
artstico e, assim, estarem aptos a fruir do prazer esttico diante
da produo da arte.
127
Ferreira Gullar, ao defender a arte de massa no sentido
da produo realizada por aqueles que seriam, a princpio, con-
sumidores afrma que quem a condena ignora
(...) as potencialidades expressivas do homem contem-
porneo. Afrm-lo seria desconhecer a complexidade
do mundo atual nos seus desnveis de desenvolvimento,
126 Amaral, 2003, p. 25.
127 Idem.
102
nas peculiaridades de culturas nacionais e mesmo nos
complexssimos fatores de ordem existencial que com-
pem cada conscincia, cada vida humana, integrante
desse conjunto em transformao.
128
Neste sentido, alguns caminhos apontados por Canclini
para que a arte no seja somente assunto de artistas e grupos de
artistas, a transformao radical nas instituies de ensino; a
insero ativa e crtica de artistas, crticos e intelectuais no cir-
cuito de produo e circulao da arte; e a construo de canais
alternativos ligados a organizaes populares. Alm disso, no
podemos esquecer que esta transformao social pela arte de-
pende do conjunto da sociedade, da modifcao sistemtica de
todos os meios de sensibilizao visual e, assim, a formao de
um novo pblico:
Devemos reorganizar as instituies de difuso cultu-
ral e o ensino artstico, construir outra crtica e outra
histria social dos processos estticos para que os ob-
jetos e mtodos que encerramos nas vitrinas a arte se
recoloquem na vegetao de fatos e mensagens visuais
que hoje ensinam as massas a pensar e sentir
129
.
3.4 Comparando os momentos: a cultura ontem e hoje.
A primeira diferena signifcativa que se deve apontar en-
tre a realidade de 60 e hoje, a poltica mundial: se naquela po-
ca vivia-se uma guerra poltico-ideolgica que dividia o mundo
em capitalismo ou socialismo, hoje se vive em uma esfera multi-
polarizada, ou em uma aldeia global, como j previa McLuhan.
Ora, se no h mais tal disputa reduzida a duas grandes potn-
128 Ferreira Gullar, 1969, p. 122.
129 Canclini apud Amaral, 2003, p. 27.
103
cias pela hegemonia (poltica, econmica, cultural), diminui-se
assim a viso maniquesta do mundo, que de certa forma obriga-
va as pessoas a optar por esta ou aquela ideologia. As verdades
absolutas daquele tempo tm sido cada vez mais relativizadas e
o prprio processo histrico tem sido revisto criticamente, des-
construindo-se as ideologias que guiavam a ao poltica.
A imploso do bloco comunista chamou a ateno para a
necessidade de uma reestruturao global econmica e ideolgi-
ca, redesenhando assim as fronteiras geopolticas como resposta
ao processo chamado de globalizao. Esta reestruturao da
lgica global trouxe uma certa supremacia de polticas de direi-
ta e a conseqente desregulao econmica, uma nova diviso
global do trabalho, o recrudescimento de rixas raciais e tnicas,
e um impacto desnacionalizador das tecnologias sobre as teleco-
municaes e a mdia, entre outros fatores que iro redefnir o
papel da cultura neste novo contexto.
Diferentemente da poca anteriormente analisada, quan-
do havia para os movimentos de resistncia um inimigo defnido
o capitalismo sobretudo na sua face hegemnica norte-ame-
ricana -, as conseqncias desta revoluo cultural global no
so nem to uniformes nem to fceis de serem previstas. E isto
refetido na relativa descrena em sistemas e organizaes po-
lticas, o que tende a gerar uma menor participao social nos
processos polticos
130
. claro que ainda existem diversos movi-
mentos de resistncia na sociedade, mas, de uma forma geral, o
engajamento poltico e social da parcela da sociedade analisada
- juventude de classe mdia universitria - no to mobilizado
como em 60, em meio a governos repressivos e bandeiras ideol-
gicas bem defnidas (o que vem a provocar ondas nostlgicas que
acabam por engessar prticas polticas e afast-las ainda mais da
130 Principalmente considerando o fato de que quela poca o acesso s in-
formaes era mais restrito do que nos dias de hoje.
104
populao no engajada). A descrena em instituies represen-
tativas como o Estado, os sindicatos e o movimento estudantil
se comparado ao papel destes naquela poca faz com que as
pessoas se voltem ainda mais para um projeto individualista de
relao com a sociedade, amplamente difundido pela crescente
cultura de consumo. Se antes at o desbunde tinha uma funo
poltica de negao da ordem estabelecida, hoje a despolitizao
est cada vez mais atrelada idia de que a articulao poltica da
sociedade no surte mais efeitos e que o importante desfrutar
do aqui e agora. E esta efemeridade dos acontecimentos, dos ob-
jetos de consumo e das prprias relaes interpessoais uma das
principais caractersticas da chamada ps-modernidade.
A diminuio da sociedade de uma forma geral na participa-
o poltica e a desmaterializao (e transnacionalizao) econ-
mica, somados ao crescente comrcio de bens culturais, fzeram
com que o papel da cultura expandisse como nunca para as esfe-
ras poltica e econmica
131
. Conseqentemente, o poder pblico
vai se tornando omisso tambm no que diz respeito assistncia
social, frente ao crescente surgimento de instituies privadas de
sade, educao e prestao de servios. A empresa pblica tem
sido em geral associada ideologicamente a princpios burocrti-
cos, dispendiosos e inefcientes de organizao, o que serve de jus-
tifcativa para a substituio da regulao pblica e estatal para a
regulao privada e de mercado. As privatizaes de empresas
estatais foram um marco desta transio, iniciadas na dcada de
80, consolidadas na dcada de 90 e repensadas nos dias de hoje.
Em funo disso, desta poca tambm o surgimento de ONGs
Organizaes No-Governamentais -, iniciativas da sociedade
civil organizada que buscam suprir a falta do Estado em setores
como educao, sade, direitos humanos e meio ambiente, por
exemplo. Efeitos do processo de globalizao, a internacionali-
zao dos mercados culturais foram fracas economias ps-colo-
131 Ydice, 2005, p. 25.
105
niais a adotar solues privatistas e de mercado, o que enfraquece
a relativa autonomia dos estados nacionais na determinao das
polticas culturais. Quando submetidas ao mercado, as polticas
culturais no so necessariamente pluralistas, o que desfavorece a
atuao de agentes culturais no comerciais
A maior incidncia de prticas culturais nos anos 80 e
90 se d muito em funo de fenmenos transnacionais como
a liberalizao do comrcio, o maior alcance global das comu-
nicaes e da lgica consumista, os novos fuxos de trabalho e
migrao, entre outros. Segundo George Ydice:
O recurso do capital cultural parte da histria do reco-
nhecimento da insufcincia do investimento no capital f-
sico durante os anos 60, no capital humano dos anos 80, e
no capital social nos anos 90. Cada nova noo de capital
foi projetada como um meio de melhorar algumas falhas
de desenvolvimento na estrutura precedente .
132
Enquanto os retornos econmicos foram substanciais nos
anos 90, a desigualdade cresceu exponencialmente e a teoria
econmica neoliberal no foi sufciente para dar conta dessas di-
vergncias, recorrendo-se, assim, ao investimento na sociedade
civil. Percebeu-se, ento, que a cultura seria seu principal recur-
so, uma vez que viabiliza a consolidao da cidadania fundada
na participao ativa da populao dentro, claro,dos limites
estabelecidos pelo sistema.
Em uma conferncia de abertura que reuniu bancos de
desenvolvimento multilateral (BDMs) no encontro internacio-
nal As contas da cultura: fnanciamento, recursos e a economia
da cultura em desenvolvimento sustentvel, realizado em outu-
bro de 1999, o presidente do Banco Mundial, James D. Wolfen-
son afrmou que o patrimnio gera valor. Parte do nosso desafo
132 Ydice, 2005, p. 31.
106
mtuo analisar os retornos locais e nacionais dos investimentos que
restauram e extraem valor do patrimnio cultural no importando
se a expresso construda ou natural, tais como a msica indgena,
o teatro, as artes
133
Ydice explica que a cultura produz os padres da con-
fana, da cooperao e da interao social que resultam numa
economia mais vigorosa, mais democrtica e governo efetivo,
alm de menores problemas sociais, ento ser provvel que os
BDMs investiro em projetos de desenvolvimento cultural. A
atividade cultural permite a revitalizao da vida social de uma
cidade, a partir de atividades que do vida, atraem pblico e
investimentos para o local, melhorando a qualidade de vida a
partir de uma economia criativa
134
.
Entretanto, importante ressaltar que este fnanciamento
cultural tende a se limitar a segmentos especfcos, pois espera-se
sempre alguma forma de retorno a este fnanciamento, como incen-
tivos fscais (como por exemplo a Lei Rouanet), marketing cultural
e a prpria transformao da atividade cultural em comercial.
Atrelar o nome de sua empresa a atividades culturais para
a sociedade um resultado instrumental que agrega valor mar-
ca, e para medir os impactos e benefcios deste investimento
necessrio o estabelecimento de indicadores para a cultura, a
partir de critrios econmicos, profssionais, sociais. E o resul-
tado disto cada vez mais o utilitarismo da cultura, pois esta a
principal se no a nica legitimao para tal investimento.
Isto ir gerar ento discusses acerca do papel da socieda-
de civil na negociao com o poder pblico e outros setores da
nao, uma vez que a reduo dos servios prestados pelo Estado
vem provocando uma reviso da esquerda em termos de tomada
do poder. H muitas divergncias entre os possveis caminhos
para uma sociedade mais justa e igualitria. E a esquerda, tra-
133 Apud Ydice, 2005, p. 31.
134 Manuel Castells, apud Yudice, 2005, p. 39.
107
dicionalmente fragmentada, se comparada s alianas polticas
da direita, parece encontrar ainda mais difculdades de se unir
neste cenrio repleto de contradies. V-se ento o surgimento
de uma poltica civil destinada a defender os direitos humanos
e a qualidade de vida, e a cultura utilizada por ONGs e movi-
mentos sociais como forma de resistncia a este mesmo sistema
que, de certa forma, o gerou.
Ainda que se articulem com o poder pblico e a inicia-
tiva privada, estas organizaes buscam garantir a autonomia
de suas atividades como principal justifcativa para a ao f-
lantrpica. Mas como o sistema capitalista possui incrvel ca-
pacidade de assimilar elementos de resistncia, grupos com
interesses econmicos e polticos enxergaram nas ONGs uma
excelente ferramenta de controle social aparentemente sem
fns lucrativos e desligados da idia do poder estatal. Se h 40
anos atrs no Brasil - observava-se iniciativas da esquerda
em se aproximar do povo e suprir as necessidades dos me-
nos favorecidos por convico ideolgica, hoje muitas ONGs
assistencialistas cumprem o papel do Estado por questes de
interesse poltico e/ou econmico. Por outro lado, j senso
comum enxergar estas organizaes como apenas mais um bra-
o do sistema, generalizando assim esta apropriao negativa
da organizao civil e acabando por encobrir iniciativas com
funo social de fato. Esta incerteza em relao natureza das
atividades no s de ONGs, mas de praticamente qualquer
atividade poltica ou social refora o projeto individualista e
a descrena na transformao social, o que est intimamente
ligado aos refexos da globalizao.
Assim como outras esferas de polticas pblicas, as artes
precisam ser planejadas e fnanciadas, se no quiserem sucum-
bir ao carter instrumentalista da poltica cultural. Entretanto,
na tentativa de conciliar arte e vida, a vanguarda tende a institu-
cionalizar suas prticas estticas, e desta forma, a organizao da
108
sociedade em atividades culturais de resistncia pode vir a re-
troalimentar o sistema ao qual se opem. Alm disso, sendo o
capitalismo aparentemente o terreno mais frtil para a demo-
cracia, a atuao de ONGs e movimentos civis sociais afnal
um benefcio para a sociedade mercantilista porque ela corrige
os desmandos do mercado, estabilizando e legitimando, assim,
o sistema e relegando ao Estado ento a funo de gerenciar,
e no eliminar essas foras da sociedade civil, a fm de manter
controlada a ingovernabilidade
135
.
Neste processo v-se cada vez mais a organizao da
produo baseada em uma sociedade em rede, onde a des-
centralizao do trabalho em busca de formas de produes
mais baratas e rentveis vem recompondo o complexo indus-
trial do entretenimento, principalmente no caso da indstria
audiovisual. Na complexa rede de produo, esta descentrali-
zao tambm pode apontar para uma certa democratizao
do acesso produo, medida que as NTCI permitem locali-
zar servios e profssionais independentes em todo o mundo.
Embora este mecanismo ainda seja apropriado mais freqente-
mente pelas grandes produtoras que possuem recursos para
garantir as diversas etapas de produo em diferentes espaos
esta conexo tambm auxilia produtores independentes em
experincias em menores escalas, alm da troca de conheci-
mentos e da difuso do produto.
Neste sentido, chegamos a um ponto onde a lgica capi-
talista encontra a cultural: a propriedade intelectual e essa cul-
turalizao da economia foram cuidadosamente coordenadas
atravs de acordos comerciais e de leis que controlam o movi-
mento do trabalho mental e fsico. Esta transformao de ativi-
dades sociais em propriedade tem levantado questionamentos
sobre se os bens culturais devem ser regulados por leis de comr-
cio internacional, uma vez que so bens comercializados, mas
135 Ronfeldt, apud Yudice, 2005, p. 29.
109
que, por outro lado, fazem parte crucial da identidade cultural
de uma sociedade
136
.
Um importante detalhe nesta discusso de proprieda-
de intelectual a atribuio de direitos autorais. As leis do
copy right limitam a circulao e utilizao destes produtos
sem o devido pagamento ao detentor destes direitos, que
esto cada vez mais nas mos das distribuidoras. Ou seja, a
permisso de uso e comercializao, segundo as leis cultu-
rais vigentes, no so necessariamente do criador da obra,
o que o coloca s vezes em uma posio de simplesmente
provedor de contedo, e aumentam significativamente o
lucro das grandes distribuidoras.
Contra esse monoplio cultural, vem se fortalecendo ul-
timamente o movimento do copy lef, que permite a reproduo
do contedo sem fns lucrativos e desde que citada a fonte (neste
caso, o autor da obra). Neste contexto, importante citar o sof-
tware livre
137
, licena sob a qual programas de computador so
criados de forma aberta, ou seja, qualquer usurio - um pouco
entendido de programao, evidentemente pode ter acesso ao
cdigo fonte do programa e alter-lo, aperfeioando e adaptan-
do seus usos para diferentes fns. Podemos ainda citar a Licen-
a da Arte Livre (LAL) que autoriza a livre cpia, distribuio
e transformao de trabalhos criativos, sem que os direitos do
autor sejam infringidos. Vale ressaltar que estes so movimentos
da sociedade civil e de artistas contra a propriedade intelectual,
organizada em torno da chamada Cultura Livre, pela democra-
tizao do acesso, da produo e da distribuio da arte e das
136 Esta discusso, todavia, perpassa os interesses de produtores artsticos
em potencial: por um lado, os EUA, que querem exportar sua produo
hollywoodiana no mercado audiovisual internacional; do outro lado, a Fran-
a, que possui uma forte tradio artstica, no quer ver seu mercado cine-
matogrfco interno ameaado pelas produes norte-americanas e por isso
adota polticas culturais protecionistas.
137 Sobre sofware livre, ver htp://www.sofwarelivre.org/ e htp://br-linux.org/
110
produes intelectuais humanas de forma responsvel, e conec-
tada s tendncias das NTCI.
138
Reconhecendo o papel das novas tecnologias no cenrio
cultural atual e os paradigmas da recorrentes, o ministrio sob
o comando de Gilberto Gil foi grande defensor tambm do Cre-
ative Commons, promovendo este debate atravs de seminrios
sobre cidadania digital e aes em sofware livre. Para Gil:
Atuar na cultura digital a concretizao desta flosofa,
que abre espaos para redefnir a forma e o contedo das
polticas culturais, e transforma o Ministrio da Cultura
Cultura digital um novo conceito. Ele vem da idia de que
a revoluo da tecnologia digital cultural em sua essncia.
O que est em questo aqui que o uso da tecnologia digital
muda comportamentos. O uso comum da internet e do sof-
tware livre cria possibilidades fantsticas para democratizar
o acesso a informao e ao conhecimento, para maximizar
o potencial dos produtos e servios culturais, para ampliar os
valores que formam nossos textos comuns, e portanto, nossa
cultura, e tambm para potencializar a produo cultural,
gerando novas formas de arte.
139
138 Esta motivao pode ser melhor entendida a partir do texto da LAL 1.3: En-
quanto o acesso do pblico s criaes intelectuais feqentemente restringido pela lei
do copyright, com a Licena da Arte Livre o acesso incentivado. Esta licena se prope a
permitir a utilizao dos recursos que constituem uma obra; estabelecer novas condies
para a criao no sentido de amplifcar as possibilidades de e da criao. A LAL permite
o uso das obras e reconhece o direito do autor, os direitos dos receptores e suas responsabili-
dades. A inveno e desenvolvimento das tecnologias digitais, a Internet e o Sofware Livre
mudaram a forma de e da criao: criaes intelectuais podem obviamente ser comparti-
lhadas, trocadas e transformadas. As novas tecnologias digitais favorecem a produo de
obras que todos podem melhorar para o benefcio de todos. A principal justifcativa para a
LAL promover e proteger essas criaes intelectuais de acordo com os princpios do copy-
lef: liberdade para usar, copiar, compartilhar, transformar, e a proibio da apropriao
exclusiva. (Fonte htp://artlibre.org/licence/lal/pt/ )
139 Ver: htp://www.cultura.gov.br/site/2008/08/25/gilberto-gil-aquele-abraco/
111
Mais do que uma opo tecnolgica, o uso de software
livre uma opo poltica pelo livre conhecimento e contra
o monoplio das grandes empresas detentoras de direitos au-
torais sobre a produo criativa. Alm disso, as NTCI permi-
tem uma articulao, a nvel local e global, das classes perif-
ricas em polticas voltadas para a sociedade, fazendo assim da
cultura este novo campo de disputa. Diferentemente da ide-
ologia, a cultura no propriedade de um grupo, e enquanto
luta pelo significado trata-se de um processo estratificado de
embates. Essa conexo internacional de certos movimentos
sociais com objetivos supranacionais (como a igualdade en-
tre os sexos e causas ambientais, por exemplo) cria ento um
novo imaginrio de resistncia antiimperialista. Observando
a multiplicidade de sociedades existentes, a disputa de idias
at em funo do grau de liberdade de expresso, se com-
parado a outrora - se d no nvel das aes e provoca a sensa-
o de que vrus culturais ameaam a hegemonia capitalista
ocidental embora esta seja ainda suficientemente forte para
se manter consolidada.
A idia de que diferentes culturas do povo e as necessi-
dades da recorrentes deveriam ser reconhecidas um
poderoso argumento que encontrou receptividade em
vrios fruns internacionais. medida que a identi-
dade social desenvolvida em um contexto cultural
coletivo, discute-se que a incluso democrtica de co-
munidades da diferena deveria reconhecer aquele
contexto e respeitar as opes de responsabilidade e
direitos ali desenvolvidos
140
.
Assim, a disputa por signifcados realizada no campo da
cultura diz respeito a uma cidadania cultural:
140 Fierlbeck, apud Yudice, 2005, p. 40- 41.
112
(...) os direitos culturais incluem a liberdade de se enga-
jar na atividade cultural, falar a lngua de sua escolha,
ensinar sua lngua e cultura a seus flhos, identifcar-se
com as comunidades culturais de sua escolha, descobrir
toda uma variedade de culturas que compreendem o
patrimnio mundial, adquirir conhecimento dos di-
reitos humanos, ter uma educao, no deixar repre-
sentar-se sem consentimento ou ter seu espao cultural
utilizado para publicidade, e ganhar respaldo pblico
para salvaguardo esses direitos.
141
E isso diz respeito ao direito de participao poltica
das diversas culturas, e no apenas a da classe hegemnica
ou aquelas estigmatizadas enquanto cultura popular. Entre-
tanto, diferentemente dos direitos econmicos, assegurados
em leis internacionais, os direitos culturais no so universal-
mente garantidos.
Ainda assim, a cultura continua a ser o principal terreno
de reivindicaes de direitos sociais por parte de grupos margi-
nais do ponto de vista hegemnico. Entretanto, esta luta polti-
ca no pode ser submetida apenas reivindicao pelo fm das
desigualdades estruturais da sociedade, mas tambm pelo reco-
nhecimento e preservao destas identidades culturais.
Se em 60 no Brasil havia uma preocupao do regime
com a integrao nacional e observava-se um fuxo migratrio
em direo s cidades, hoje h uma reformulao do espao
urbano e os grandes centros econmicos, principalmen-
te - so transnacionais. Sendo a cultura a instncia onde cada
grupo organiza sua identidade, preciso observar como se re-
elaboram os sentidos de forma intercultural e transversal, dadas
as condies de produo, circulao e consumo desses bens
culturais em diferentes sociedades:
141 Apud Ydice, 2005, p. 41.
113
No s dentro de uma etnia nem sequer dentro de uma
nao, mas em circuitos globais, superando fonteiras,
tornando porosas as barreiras nacionais ou ticas e fa-
zendo com que cada grupo possa abastecer-se de reper-
trios culturais diferentes
142
.
Culturalmente falando, reelaborado o conceito de pro-
priedade e de pertencimento a uma nao, em funo de fuxos e
deslocamentos fsicos pessoas, objetos e simblicos tradi-
es, idiomas, bens culturais. Segundo Hobsbawn, a maior par-
te das identidades coletivas so mais camisas do que pele: so,
pelo menos em teoria, opcionais, no iniludveis
143
.
As NTCI aprofundam uma interconexo desterritoriali-
zada, reconfgurando a noo de fronteira e provocando uma
certa sensao de que os acontecimentos so cosmopolitas. Isto
no signifca que as pessoas no tenham mais uma vida local
que no mais estejam situadas contextualmente no tempo e es-
pao. Signifca apenas que (...) o local no tem mais uma identi-
dade objetiva fora de sua relao com o global
144
. Assim, pensar
a cultura dentro do quadro nacional popular torna mais difcil
discernir e manejar os fenmenos transnacionais que cada vez
mais defnem a cultura.
Hoje as organizaes culturais vm assumindo novas par-
cerias com bancos, empresas e ONGs. Como explica Ydice, a
arte se dobrou inteiramente a um conceito expandido de cultura
que pode resolver problemas, inclusive o da criao de empre-
gos. Seu objetivo auxiliar na reduo de despesas e, ao mesmo
tempo, ajudar a manter o nvel da interveno estatal para a es-
tabilidade do capitalismo. Uma vez que todos os atores da esfera
cultural se prenderam a essa estratgia, a cultura no mais expe-
142 Canclini, 2005, p. 43.
143 Hobsbawm apud Canclini, 2005, p. 44.
144 Du Gay Du Gay apud Hall, 2005, p. 3.
114
rimentada, valorizada ou compreendida como transcedente
145
,
como vimos tanto ser argumentado nos anos 60.
Com esta expanso cultural, criada uma enorme rede
de administradores da arte intermediando as fontes de fomento
(pblicas e privadas) e as comunidades, visando o desenvolvi-
mento humano atravs da arte. Rede esta, claro, composta
por mltiplos atores sociais, com diferentes objetivos e pres-
supostos, tornando este processo complexo e diferenciado de
acordo com o contexto.
O prprio papel do artista tambm se modifcou: de pro-
dutor de uma arte fetichista, mesmo quando conectada reali-
dade social, o artista vem sendo levado a, literalmente, gerenciar
o social como o caso do msico Gilberto Gil, nomeado mi-
nistro da cultura, que muito contribuiu a partir de sua experin-
cia e militncia artstica, como veremos no captulo seguinte.
O setor cultural prope solues para problemas como a
educao, racismo, deteriorao urbana e a criminalidade, o que
visto tambm, de certa forma, como a reduo das despesas
estatais nestes campos. Isto explica a incidncia cada vez maior
de projetos envolvendo novas tecnologias e jovens, que ocupam
um lugar de vulnerabilidade na sociedade
146
, visando a descen-
tralizao da produo e a construo de subjetividades por par-
te daqueles que seriam, a princpio, espectadores.
145 Ydice, 2005, p. 28.
146 Castro, Mary Garcia e Abramovay, Miriam. Juventudes no Brasil: vulne-
rabilidades negativas e positivas, desafando enfoques de polticas pblicas. . (In:
Juventude, Cultura e Polticas Pblicas -. Seminrio Terico Poltico co Centro
de Estudos da Memria da Juventude. SP, Ed. Anita Garibaldi, 2005).
115
CAPTULO 4 POLTICAS CULTURIS EM NOVOS
CONTEXTOS
O povo na arte arte do povo e no o povo na
arte de quem faz arte do povo
Chico Science
4.1 -A cultura como arena e a comunicao como ferramenta.
Como bem destaca Ana Enne
as novas temporalidades e espacialidades teriam cria-
do a possibilidade de entrelugares,
147
lugares situados
entre o tradicional e o mundo traduzido, permitindo
que os sujeitos sociais possam explicitar sua luta coti-
diana pelo direito de signifcar, de se fazer representar e
de representar o mundo a partir de suas vises. (...) Por
isso, pensar o universo das astcias e bricolagens s
possvel quando tratamos este jogo em uma perspectiva
dialtica, percebendo as identidades complementares
e contrastivas que se formam, mas principalmente em
uma perspectiva dialgica, considerando a rede de re-
laes que se confgura neste processo
148
Assim, tomemos Michel de Certeau, que prope uma dis-
tino entre estratgias e tticas
149
: Enquanto a estratgia seria a
atuao de quem tem poder, fora e recursos prprios para pla-
nejar suas aes, as tticas, por outro lado, seriam a articulao
de quem no possui tais recursos - o que pode ser aqui analisado
147 Conforme proposto por BHABHA, op. cit..
148 Enne, 2007, p. 23 Enne, 2007, p. 23
149 Certau, 1996 Certau, 1996 .
116
como o exerccio da sociedade civil organizada enquanto ttica
de representao. Tendo em vista este carter processual e dia-
ltico, esta refexo importante para percebemos como se d a
negociao entre as diferentes representaes da sociedade civil
por parte de agentes culturais, iniciativas da prpria sociedade
civil organizada e o Estado, instncia representativa do povo.
No Rio de Janeiro dos anos 80 e 90 (como vimos, momen-
to da reconfgurao dos regimes polticos no mundo), multipli-
ca-se a criao de Casas de Cultura, aes ligadas a movimentos
sociais (como os movimentos negro, feminista, operrio, parti-
drio), tradies regionais (como quilombos e comunidades in-
dgenas) e religiosos (como as Comunidades Eclesiais de Base),
que enxergam na cultura e na comunicao uma possibilidade
de interveno na sociedade a partir de sujeitos sociais em geral
desconsiderados pelas instncias ofciais e pela grande mdia.
Segundo Ana Enne, que vem desde 2006 realizando um
importante trabalho de mapeamento cultural na Baixada Flu-
minense - marcada pela precariedade da oferta de recursos o
trabalho desenvolvido por tais instituies muitas vezes cum-
pria parte do papel do Estado, enquanto em outras se aliava a
ele em sua atuao. A questo poltica era central no trabalho
desenvolvido por esses ncleos culturais, muitas vezes ainda
pautado por uma idia de resistncia, no s poltica, como so-
cial e cultural
150
. Com a consolidao de uma cultura neolibe-
ral ao longo da dcada de 80 e 90, observa-se um certo enfra-
quecimento das aes polticas de resistncia dos movimentos
sociais, levando diminuio da atuao de diversas casas de
cultura surgidas nas dcadas anteriores. Neste cenrio surgem
ento Organizaes No-Governamentais, como analisa Ana
Enne, j envoltas em outra lgica, a da efcincia e gesto, pensadas
no mais de acordo com paradigmas locais ou regionais, mas orien-
tadas por fundamentos globais: efcincia, capacidade de gesto e
150 Enne, 2007, p. 8. Enne, 2007, p. 8.
117
gerao de recursos, utilizao de linguagem publicitria, percepo
do lugar estratgico da mdia
151
. Assim, se inicialmente a cultura
era utilizada como ferramenta para atingir objetivos polticos e
identitrios, o que se percebe no decorrer da dcada de 90 e no
incio dos anos 2000 a percepo da cultura com um fm em si
mesma, como atividade geradora de renda e visibilidade.
preciso considerar que tais discusses se do em um ce-
nrio onde sujeitos concretos, localizados no tempo e no espao,
disputam signifcados atravs de processos dialticos. Neste sen-
tido, Ana Enne ressalta que
se pensarmos a relao entre cultura, poltica e mdia a
partir de uma rede de agentes e agncias sociais, com seus
fuxos e interaes, e no como uma realidade dada e natu-
ralizada, mas como um processo de permanente constru-
o e desconstruo, podemos perceber o quanto a posio
dos agentes dentro dessa rede, ou seja, a construo de suas
memrias e o estabelecimento de projetos, claramente
constitutiva de identidades individuais e coletivas
152
.
Nestas iniciativas bastante expressivo o uso das chamadas
NTCI (Novas Tecnologias de Comunicao e Informao), e a prin-
cipal justifcativa para o uso da Internet na divulgao e registro de suas
atividades o custo para a manuteno dessas plataformas miditicas
- relativamente baixo -, o maior crculo de recepo proporcionado
a essas mensagens e o trabalho em redes, o que gera uma potencial
interatividade entre produtores e receptores. Os principais obstcu-
los apontados so o restrito acesso (a equipamentos e a provedores
de Internet) e a falta de domnio tcnico sobre tais ferramentas. Alm
disso, mquinas fotogrfcas, flmadoras, ilhas de edio e computa-
dores, que so muitas vezes conseguidas com recursos de editais (no
151 Enne, 2007, p. 8. Enne, 2007, p. 8.
152 Enne, 2007, p. 8. Enne, 2007, p. 8.
118
caso dos Pontos de Cultura, como veremos adiante, h uma reserva
de R$20 mil apenas para a aquisio de equipamentos digitais que
serviro como ferramentas de registro), so utilizadas para o registro e
divulgao das atividades em eventos e concursos, e geralmente tam-
bm disponibilizados para download nos sites dos projetos, buscando
assim ampliar seu pblico receptor. Diferente ento da produo cul-
tural dos anos 60, quando os meios de comunicao de massa estavam
se consolidando no Brasil e os veculos de difuso da produo eram
mais restritos, so, portanto, mltiplas formas de utilizao de tecno-
logias da comunicao e da informao que, combinadas, permitem
o exerccio de prticas de democratizao do discurso e do exerccio
ativo do direito de signifcar, produzir e divulgar opinies, intervir no
processo histrico do qual todos so sujeitos
153
, como conclui Enne.
Segundo Foucault
154
, quando se refere a memria e iden-
tidade, h sempre um saber em disputa que, revestido por um
status de verdade, tende a gerar confitos. O discurso, por ser
uma prtica de institucionalizao e objetivao da realidade,
demanda o reconhecimento de certa autoridade para quem fala,
o que o torna campo de disputa de identidades. E neste contexto,
as tecnologias de comunicao so utilizadas enquanto uma ferra-
menta de reconhecimento e identifcao desses organismos por
parte da sociedade bem como de legitimao do seu discurso.
Nos dias de hoje no se pode pensar as discusses sobre cul-
tura dissociada de questes referentes ao consumo e s tecnologias,
fundamentais para pensarmos o processo de globalizao. A mdia, ao
permitir mltiplas representaes do mundo, confgura-se para alm
de fundamental lugar de disputa de valores e identidades, sendo tam-
bm espao de embate econmico e poltico. Segundo Enne,
trata-se de um jogo de seduo e negao entre aque-
les que subjetivamente esto buscando construir suas
153 Enne, 2007, p. 8. Enne, 2007, p. 8.
154 Foucault, 1986, p. 7. Foucault, 1986, p. 7.
119
representaes de si e do mundo e aqueles que, atravs
das mais diversas estratgias de poder, esto tentando
impor suas concepes como hegemnicas. No pode-
mos ento perder de vista o quanto a cultura miditica
confgura-se como lugar ambguo, que tanto permite
ampliar a margem de possibilidades para que os indi-
vduos construam suas subjetividades, quanto se presta
s estratgias de legitimao do poder hegemnico.
Assim, uma cmera na mo de um jovem da favela, por exem-
plo, pode representar a comunidade perifrica sob a perspectiva de
quem a conhece de dentro revelando uma atuao transformado-
ra, ou apenas reproduzi-la sob os padres da mdia hegemnica. E
isto ser determinado por diversos fatores, como a relao dos pro-
ponentes do projeto com a comunidade, sua insero na realidade
representada, a continuidade das aes do projeto, a expectativa
por parte dos agentes envolvidos e os objetivos pretendidos com a
produo destas peas. Sendo assim, de nada adianta a imerso tec-
nolgica dentro de uma comunidade at ento carente desta oferta
cultural se dissociada de uma discusso maior sobre a sua utilizao
como ferramenta transformadora da realidade social.
4.2 O Programa Cultura Viva e os Pontos de Cultura
Um lugar chamado qualquer lugar. Um ponto de encontro.
Uma roda de choro. Um terreiro de umbanda ou uma festa de
santo. Uma ofcina de teatro. Um coral. Um grupo de amigos
flmando a prpria rotina. Um espelho em que cada comuni-
dade possa refetir-se, repensar-se, afrmar-se.
Karina Ninni para a Revista Programadora Brasil
Depois de passarmos pelos anos 60 analisando toda a
efervescncia poltico-cultural daquela poca - tendo como foco
120
o projeto nacional-popular proposto pelo CPC e o papel con-
tracultural exercido pela Tropiclia - e mapearmos as discusses
em torno da cultura, chegada a hora de passarmos para o nosso
objeto de anlise atual: o Programa Cultura Viva, do Ministrio
da Cultura e o projeto dos Pontos de Cultura.
O Programa Cultura Viva foi lanado em 2004 pelo Mi-
nistrio da Cultura (MinC), nesta poca sob o comando do
msico Gilberto Gil - que, vale lembrar, foi, ao lado de Caetano
Veloso, um dos protagonistas da Tropiclia. A fm de preser-
var e promover a diversidade cultural brasileira, a Secretaria de
Programas e Projetos Culturais (SPPC), hoje chamada SCC
(Secretaria de Cidadania Cultural), implementa ento os Pon-
tos de Cultura, cuja misso desesconder o Brasil, reconhecer
e reverenciar a cultura viva de seu povo
155
. Neste sentido, o
esforo de permitir que o prprio povo noo to em dis-
puta nas iniciativas aqui analisadas se represente, a partir de
aes que j desenvolvam em suas comunidades, com contex-
tos especfcos. A cultura viva seria, assim, as manifestaes
culturais que vo desde a contao de histrias em literatura de
cordel disponveis na internet
156
a ofcinas de vdeo experimen-
tal com equipamentos digitais em comunidades tradicionais
157
,
de rodas de jongo de uma comunidade quilombola rural regis-
tradas com equipamentos digitais
158
por estudantes universit-
155 Descrio do Programa Cultura Viva no site no MinC: www.cultura.gov.br
156 A exemplo do Cordel sobre a Teia 2008 feito pela Regional gua, que
agrega 8 Pontos de Cultura do Cear, Amazonas, Maranho, Par, Piau e Ro-
raima, disponvel em htp://blogs.cultura.gov.br/teia2008/fles/2008/11/
cordelteia2008_grio.pdf
157 Como o projeto Navegar Amaznia do cineasta Jorge Bodansky, um bar-
co equipado de um estdio intinerante que oferece ofcinas de vdeo e outras
atividades para a comunidade ribeirinha do rio Amazonas.
158 Como os Pontos de Cultura Quilombo So Jos em Valena, no interior
do estado do Rio de Janeiro, que se apresentou na Bienal de Arte em Novas
Tecnologias da Unio Estadual dos Estudantes.
121
rios a exibies de flmes nacionais em espaos pblicos no-
comuns
159
. Segundo Juca Ferreira, ministro da Cultura:
O Ponto de Cultura vai mais adiante porque a gente pas-
sou a reconhecer que o povo faz cultura, apesar do Estado.
No Brasil, so mais de 200 mil grupos culturais existentes
nas comunidades - ora organizados por ONGs, ora por
pastorais, ora por terreiros de candombl, por centros es-
pritas. Ou a prpria comunidade organizou, ou algum
artista orgnico, no importa a origem. So 200 mil com
motivaes as mais diferentes. Grupos organizados em
torno da capoeira, do teatro... Ento, ns reconhecemos
esse fazer cultural da populao como uma base impor-
tante. E cabia apoiar, fomentar, ampliar, e no cooptar.
O programa contempla iniciativas de instituies da socieda-
de civil sem fns lucrativos, legalmente constitudas, que h pelo me-
nos dois anos envolvem a comunidade em atividades de arte, cul-
tura, cidadania e economia solidria. A partir de edital pblico so
selecionados projetos que passaro a receber recursos do Governo
Federal para potencializarem e darem continuidade a seus trabalhos
culturais
160
. Segundo as diretrizes do edital, a iniciativa deve:
(...)potencializar as energias sociais e culturais, dando
vazo dinmica prpria das comunidades, estimu-
lando a explorao, o uso e a apropriao dos cdigos,
linguagens artsticas e espaos pblicos e privados que
possam ser disponibilizados para a ao cultural,
159 A exemplo do projeto Acenda uma Vela, do Ponto de Cultura Ide-
rio, em Macei, que realiza cineclubes em velas de barcos no litoral alagoano
(www.ideario.org.br)
160 O programa contempla integra tambm outras quatro aes: Cultura
Digital, Agente Cultura Viva, Gri e Escola Viva. Mais informaes podem
ser obtidas no site do MinC: www.cultura.gov.br
122
alm de valorizar a experincia local e as aes j de-
senvolvidas pelas comunidades, ampliar o repertrio
cultural das mesmas e incentivar o fazer e a criativi-
dade local.
O objetivo deste projeto :
(...)articular a produo cultural local promovendo
o intercmbio entre linguagens artsticas e expresses
simblicas, alm de gerar renda e difundir a cultura di-
gital, apoiar o desenvolvimento de uma rede horizontal
de articulao, recepo e disseminao de iniciativas e
vontades criadoras.
161
Segundo o edital do programa, o principal pblico alvo
so estudantes da rede pblica de ensino; populaes de baixa
renda em reas com precria oferta de servios pblicos e de cul-
tura seja nos centros urbanos ou nos pequenos municpios;
habitantes de regies com grande relevncia patrimonial hist-
rica, cultural e ambiental; comunidades indgenas, quilombolas
e rurais; sindicatos; portadores de defcincia e gays, lsbicas,
transgneros e bissexuais (GLTB). Trata-se, ento, de um proje-
to dedicado sociedade civil, em que se busca desenvolver novas
formas de organizao do trabalho e da economia, o equilbrio
entre o homem e a natureza e tudo que estiver ligado auto-
sustentabilidade e reapropriao dos meios.
O Ponto de Cultura no tem um modelo nico e fxo, seu
nico e principal aspecto em comum a transversalidade da cul-
tura e a gesto compartilhada entre poder pblico e a comunida-
de. Fundamentado nesta lgica da parceria (do poder pblico,
da comunidade e de instituies afns), fruto de um processo
pedaggico e participativo, a SPPC procura apresentar esses
161 Descrio do Programa Cultura Viva no site no MinC: www.cultura.gov.br
123
conceitos aos Pontos de Cultura respeitando suas particularida-
des e diversidade. Sob esta perspectiva foram realizadas desde
2006 ofcinas de Gesto Compartilhada durante os Encontros
de Conhecimentos Livres, promovidos em parceria com o Ins-
tituto Paulo Freire (IPF), que tem desenvolvido um importante
trabalho de apoio gesto desta Secretaria. As principais contra-
partidas com as quais os projetos selecionados devem se com-
prometer so: a contribuio para o acesso produo de bens
culturais promovendo o sentimento de cidadania; a dinamiza-
o dos espaos dos municpios; a gerao de oportunidades de
emprego e renda; o desenvolvimento de processos criativos con-
tinuados e aes de formao cultural; o registro das atividades e
aes em sofware livre; e a integrao da cultura com outras re-
as de conhecimento (como o meio ambiente, o turismo, a sade,
as novas tecnologias, entre outros); alm da divulgao da iden-
tidade visual do Ministrio da Cultura, da Secretaria de Estado
de Cultura (no caso do novo edital, como veremos adiante) e do
Programa Mais Cultura nas aes relacionadas ao Ponto de Cul-
tura - o que tambm confere aos projetos uma importante legi-
timidade pelo poder pblico. Para o teatrlogo Augusto Boal
162
,
os Pontos de Cultura so o comeo da realizao de um desejo
manifestado pela classe artstica, que indicam a fora do povo
brasileiro na criao de uma nova cultura planetria.
Na direo da preservao do patrimnio artstico e social,
o projeto busca priorizar tambm aes de registro das atividades
e tradies culturais, como afrma Clio Turino, Secretrio de
Programas e Projetos Culturais do MinC:
Reforar a identidade cultural tambm signifca revelar
contradies e romper com uma identidade cultural apa-
rentemente homognea, construda com base em deter-
162 Discurso do criador do Teatro do Oprimido sobre o Programa Cultura
Viva, durante a celebrao do Mrito Cultural 2005.
124
minados marcos representativos da cultura dominante.
(...) O registro literrio, sonoro e visual da produo ar-
tstica de nossa poca uma meta a no se descuidar
163
.
Assim, parte do incentivo recebido na primeira parcela, no
valor mnimo de R$20 mil, deve ser utilizado para aquisio do
chamado Kit Digital, equipamentos multimdia em sofware livre
para fns de registro, divulgao e comunicao em rede entre os
Pontos, alm da complementao de atividades culturais/digitais
relacionadas ao trabalho desenvolvido. Reconhecendo o papel das
novas tecnologias no cenrio cultural atual e os paradigmas da re-
correntes, o ministrio sob o comando de Gil foi grande defensor
tambm do Creative Commons, promovendo atravs seminrios
sobre cidadania digital e aes em sofware livre. Para Gil:
Atuar na cultura digital a concretizao desta floso-
fa, que abre espaos para redefnir a forma e o conte-
do das polticas culturais, e transforma o Ministrio
da Cultura Cultura digital um novo conceito. Ele
vem da idia de que a revoluo da tecnologia digital
cultural em sua essncia. O que est em questo aqui
que o uso da tecnologia digital muda comportamentos.
O uso comum da internet e do sofware livre cria possi-
bilidades fantsticas para democratizar o acesso a in-
formao e ao conhecimento, para maximizar o poten-
cial dos produtos e servios culturais, para ampliar os
valores que formam nossos textos comuns, e portanto,
nossa cultura, e tambm para potencializar a produ-
o cultural, gerando novas formas de arte.
164
163 Uma gesto cultural transformadora: Proposta para uma Poltica P-
blica de Cultura texto de Clio Turino para o site do MinC (www.cultura.
gov.br em 06/06/05)
164 Ver: htp://www.cultura.gov.br/site/2008/08/25/gilberto-gil-aquele-abraco/
125
O papel do Ministrio da Cultura agregar recursos e no-
vas capacidades a projetos e instalaes j existentes. Alm dis-
so, o MinC tambm oferece equipamentos que amplifquem as
possibilidades do fazer artstico e recursos para uma ao cont-
nua junto s comunidades: as Redes de Pontos de Cultura e os
Pontes de Cultura. Ao frmarem o convnio com o programa,
os projetos passam a integrar a Rede de Pontos de Cultura, em
nvel local e nacional, que busca promover a troca de experin-
cias em atividades culturais, encontros e eventos. Anualmente
realizada a chamada Teia, um encontro nacional de Pontos
de Cultura a fm de integrar tais iniciativas e realizar um balano
do trabalho feito alm de ser um efervescente espao de mul-
tiplicidade cultural. Assim, o programa refora o seu objetivo
de continuidade e sustentabilidade dos projetos, uma vez que
conectados com outras iniciativas culturais torna-se mais aces-
svel o intercmbio cultural e o acompanhamento das atividades
por parte do Minc/SPPC. Os chamados Pontes de Cultura
so responsveis pelo fomento e integrao das atividades des-
tes Pontos a nvel local, a partir de imerses, parcerias, eventos e
discusses. Enquanto os Pontos de Cultura se confguram como
um espao de desenvolvimento da sociedade civil atravs da
cultura local, os Pontes fcam responsveis pelo suporte e ar-
ticulao entre esses espaos. Em diferentes localidades e reas
culturais, temos diversos exemplo de Pontes atuando em todo
o estado do Rio: o Ponto de Jongo da UFF, em Niteri, busca
articular as comunidades jongueiras do estado do Rio em ter-
mos de registro e pesquisa acadmica; o Ponto da Escola de
Comunicao (ECO) da UFRJ, na Urca, busca oferecer suporte
tcnico em aes em sofware livre, alm de promover cursos de
extenso e participar de debates, encontros, intervenes e ativi-
dades ligadas cultura digital; o ComCultura, em parceria com a
UERJ e a Fundao Casa de Rui Barbosa, o MinC e a SEC, atua
na formao em gesto cultural, mantendo o Seminrio Perma-
126
nente de Polticas Pblicas para a Cultura, com a participao de
agentes culturais do estado.
No ano de 2008, quando grande parte dos convnios reali-
zados nas primeiras edies do programa est por chegar ao fm, o
MinC lana a quinta chamada pblica para a seleo de projetos.
Entretanto, em funo do crescimento e notabilidade do progra-
ma
165
, percebeu-se que centralizar a administrao desta rede de
forma nacional j no seria a melhor opo, frmada ento uma
parceria entre o Governo Federal e as Secretarias e Fundaes de
Cultura dos Estados. Desta forma, regionalizou-se a gesto e o re-
passe de recursos oramentrios, o que no apenas facilita o acom-
panhamento das atividades por parte do poder pblico local, como
permite um mapeamento cultural mais prximo e coerente. Assim,
foi lanado em 28 de outubro de 2008, pela Secretaria de Estado de
Cultura do Rio de Janeiro (SEC) em parceria com o MinC, o Edital
dos Pontos de Cultura do Estado do Rio de Janeiro
166
, que em 2009
selecionou150 novos Pontos, com R$180 mil (em trs parcelas anu-
ais de R$60 mil) ao longo de trs anos. Buscando a descentraliza-
o dos recursos culturais, este edital buscou contemplar iniciativas
em todo o estado de forma proporcional populao e ao nme-
ro de municpios, ampliando assim as oportunidades para os pro-
jetos situados fora das metrpoles: foram 71 municpios (77% do
Estado) contemplados, entre as mais diversas expresses culturais.
Encontramos por exemplo trabalhos como o projeto Saci Terer
do Instituto de Assistncia, Tratamento, Capacitao e Pesquisa em
Sade, Educao e Cultura, realizado com flhos de alcolatras que,
a partir de ofcinas de contao de histrias, os relatos so publica-
dos em coletneas e transformados em apresentaes teatrais, tudo
produzido e executado pelos jovens participantes do projeto; e o
projeto Reciclagem, Misancn e Msica, que realiza em Realen-
165 H hoje mais de 650 Pontos de Cultura em todo Brasil, sendo 72 apenas
no Estado do Rio de Janeiro e agora, mais 150..
166 Maiores informaes sobre este edital em www.pontodecultura.rj.gov.br
127
go ofcinas de msica com instrumentos feitos a partir de material
reciclvel, propondo um novo olhar sobre a arte musical e o (que
seria considerado) lixo. Na primeira edio estadual do programa,
o estado do Rio de Janeiro bateu recorde de recebimento de pro-
jetos, tendo inscritos ao total 715 propostas. Outra impressionante
meta atingida foi a ampla participao de agentes culturais de todo
Estado: dos 92 municpios do Rio de Janeiro, 84 enviaram projetos,
ou seja, 91% dos quais mais da metade (55%) tero atuao fora
da metrpole. No estado do Rio de Janeiro, onde os recursos esto
historicamente concentrados na capital, a primeira vez que se v
uma ao cultural com tal penetrao no interior. )E, devido a este
resultado, o Ministrio e a Secretaria estudam agora a possibilidade
de aprovar mais 80 projetos, aumentando para 230 a quantidade
de Pontos de Cultura em todo o Estado. Reforando o objetivo de
contemplar uma maior quantidade de projetos culturais populares,
a Coordenao de Diversidade Cultural da Secretaria de Estado de
Cultura do Rio de Janeiro
167
, em parceria com o SEBRE-RJ, lana
tambm em 2008 o Escritrio de Apoio Produo Cultural, a fm
de oferecer consultoria gratuita a agentes culturais que queiram ins-
crever projetos em editais e leis de incentivo. O objetivo , assim, a
democratizao da cultura no apenas no sentido do acesso a bens
culturais, mas tambm produo. Os programas de fomento (se-
jam da iniciativa pblica ou privada) so hoje os maiores respons-
veis pelo fnanciamento cultural no pas, e, se estamos falando de
acesso popular cultura, no podemos limitar tais ferramentas s
grandes produtoras j experientes e conhecedoras da tcnica. O
Escritrio recebe semanalmente agentes culturais que contam com
consultores do SEBRE para a elaborao tcnica de plano de tra-
balho, oramento e portiflio dos projetos junto aos grupos, a partir
das experincias e demandas relatadas.
167 Em outubro deste ano passei a integrar a equipe da Coordenao de Di-
versidade Cultural da SEC, ao que devo bastante a minha proximidade com
o objeto analisado.
128
Como se trata de um programa relativamente recente, a an-
lise da efccia de seus mtodos e do alcance de seus objetivos ainda
so difceis de se defnir, mas irei aqui observar iniciativas que vm
gerando bons resultados nas comunidades em que so realizados.
Localizado no centro de Cuiab, em Mato Grosso, o ponto
de cultura Ciranda Digital, por exemplo, visa conciliar msica e
tecnologia em um estdio de gravao comunitrio de alto padro
e mantm tambm uma rdio na internet com o contedo produ-
zido. Na pgina inicial do seu site expressam a guinada dada em
seu projeto desde o incio de sua atuao como ponto de cultura:
A instituio avanou muito com esta parceria: a bi-
blioteca foi grandemente ampliada, novos computado-
res foram adquiridos, livros, DVDs e CDs e, fnalmente,
conseguimos realizar o sonho de construir um estdio
profssional de livre acesso comunidade. Com toda
esta estrutura, conseguimos oferecer um programa de
capacitao para tcnicos de udio e outras profsses
que fazem parte da economia da cultura.
168
Msica e tecnologia se encontram freqentemente em di-
versos Pontos de Cultura pelo pas, e desta diversidade cultural
nasceu o Msica de Ponto, uma coletnea de msicas produzi-
das em sofware livre durante ofcinas realizadas pela Cultura Di-
gital entre 2005 e 2006, fortalecendo assim uma rede autnoma
entre os diversos pontos do Brasil
169
.
Esta articulao em rede no apenas um dos principais
objetivos do programa como uma de suas principais realizaes,
muito em funo da opo pela continuidade de uma ao j de-
senvolvida em um segmento cultural especfco e sua conseqen-
168 Ver htp://www.projetociranda.org.br/ciranda_digital.asp
169 O cd pode ser baixado gratuitamente em htp://estudiolivre.org/el-
gallery_view.php?arquivoId=2981
129
te necessidade de complementao. Assim, a partir da rede de
intercmbio estabelecida pode-se sugerir por exemplo um flme
produzido por jovens participantes de uma ofcina de vdeo do
Centro de Integrao Social Amigos de Nova Era (CISANE)
170
,
em Nova Iguau, com atores das ofcinas de teatro do grupo Ns
do Morro
171
, no morro do Vidigal, na Zona Sul do Rio, com trilha
sonora dos jovens msicos das ofcinas do Projeto de Integrao
pela Msica (PIM), em Vassouras, editado nos estdios do Circo
Digital
172
, no Circo Voador, na Lapa, e exibido no CineolhO, ci-
neclube do projeto Me V na TV
173
, com moradores do Morro do
Estado, em Niteri vale lembrar, todos Pontos de Cultura.
Esta integrao facilitada com a atuao dos j citados Pon-
tes, que buscam articular iniciativas e potencializar atividades entre
os Pontos. Alm de oferecer ofcinas de udio e vdeo gratuitamente
para a comunidade
174
, o Ponto de Cultura Digital do Circo Voador o
Circo Digital -, por exemplo, realiza imerses a fm de debater e instru-
mentalizar centros digitais em outros pontos de cultura e comunidades
carentes desta oferta tecnolgica. Um dos seus desdobramentos o
Ponto Ambiental, responsvel por aes ecolgicas como bicicleta-
das, criao e manuteno de uma horta medicinal na Lapa, trabalhos
com plantas medicinais e feira de trocas integradas s atividades do
Circo Voador.
175
Em setembro de 2008, por exemplo, inauguraram um
telecentro no banco de sementes da Escola da Mata Atlntica,
176
em
170 Ver www.cisane.org.br
171 Ver www.nosdomorro.com.br
172 Ver www.circodigital.org.br
173 Ver htp://www.campusavancado.org.br/
174 Em 2007 fz parte da turma da ofcina de vdeo, o que me proporcionou
uma maior aproximao das atividades do espao.
175 poca da realizao da pesquisa o projeto estava em plena atividade e
hoje estuda-se a possibilidade de sua continuidade. Ainda assim, para manter
a coerncia do raciocnio optei por manter o texto em sua forma original
176 Ver htp://escoladamataatlantica.org
Aldeia Velha, no municpio de Silva Jardim. O banco de sementes foi
ento equipado com computadores em sofware livre e o responsvel
pelo centro durante os trs primeiros meses de funcionamento foi um
morador da comunidade local interessado em informtica, que, por
falta de oportunidade, se dedicava atividade de pedreiro (atuando
inclusive na construo do espao, no terreno da escola da prefeitura).
A prpria Escola da Mata Atlntica teve seu projeto contemplado no
edital de novos Pontos de Cultura do Estado, buscando a continuidade
de suas atividades de sustentabilidade ecolgica e preservao do saber
tradicional local. Vemos, assim, uma ao transdisciplinar afnada com
os objetivos do programa, de integrar a cultura local, o uso de novas
tecnologias e a comunidade, gerando autonomia e sustentabilidade.
Outro exemplo de articulao social atravs do programa o
Ponto do Centro do Teatro do Oprimido (CTO-Rio)
177
, o nico dos
mais de 200 ncleos de atuao do Teatro do Oprimido no mundo
que at este ano contava com a direo artstica de Augusto Boal, fa-
lecido em maio. No projeto Teatro do Oprimido de Ponto a Pon-
to, - realizado no Rio de Janeiro, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas
Gerais, Distrito Federal, Moambique e Guin-Bissau -, Pontos de
Cultura, grupos culturais e movimentos sociais indicam representan-
tes para o curso de formao de multiplicadores oferecido gratuita-
mente. So trabalhados jogos, tcnicas e cenas, estando estes agentes
ento habilitados e comprometidos com a multiplicao da esttica do
oprimido, a partir de ofcinas e apresentaes de Teatro-Frum nos
Pontos de Cultura e em suas comunidades locais
178
. Seu objetivo a
democratizao do acesso ao mtodo, fortalecendo, dinamizando e
ampliando o raio de ao de Pontos de Cultura e movimentos sociais
a partir de um teatro poltico e transformador. O Teatro do Oprimido
177 Ver www.ctorio.org.br
178 Devo minha aproximao ao trabalho de Boal ao projeto Teatro do
Oprimido de Ponto a Ponto, do qual fz parte em 2008 e atravs do qual mi-
nistrei, junto com os companheiros Millena Reis e Pedro Freitas, ofcinas no
Teatro do DCE da UFF e em atividades culturais.
131
uma tcnica sistematizada por Augusto Boal
179
j anteriormente
citado nas experincias do Teatro de Arena na dcada de 60 a par-
tir de experincias no teatro brasileiro e durante seu exlio, buscando
realizar um teatro ao mesmo tempo poltico e esttico, humanstico
e transformador
180
. Segundo Gilberto Gil, O trabalho do Teatro do
Oprimido, iniciativa cultural j consagrada pela nossa histria brasi-
leira e mundial, ganhou hoje um flego novo com o programa Pontos
de Cultura e realizou com ele uma criao poltica e pblica que um
marco na atual gesto do MinC
181
.
Outro exemplo que no podemos deixar de citar o Circuito
Universitrio de Cultura e Arte (CUCA) da mesma Unio Nacional
dos Estudantes que, em 1961 lanou os CPCs, analisados no captulo
2. Este Ponto nacional, que articula os Centros Universitrios de Cul-
tura e Arte - Pontos de Cultura Regionais - realiza atividades culturais,
debates, mostras, ofcinas e apresentaes integrando as produes es-
tudantis. Em 2007 realizaram, no Rio de Janeiro, a V Bienal de Cincia,
Arte e Cultura da UNE, com apresentao de trabalhos, mini-cursos,
palestras e shows com grandes nomes e agentes culturais do pas. A
UNE, entretanto, que assim como outras entidades polticas passou
por mudanas em comparao ao perodo analisado, vem recebendo
diversas crticas hoje em funo de sua atuao no cenrio poltico e
estudantil. A principal crtica feita em relao a sua articulao com
o Governo Federal - uma vez que seu quadro majoritrio composto
por militantes do PCdoB e do PT - o que viria a proporcionar uma atu-
ao acrtica frente s polticas neoliberais do governo e uma atuao
populista em relao aos estudantes. Alm disso, foi amplamente cri-
ticada pela sua parceria com a Rede Globo na realizao da Bienal no
179 Em maro de 2009 Augusto Boal foi nomeado Embaixador Internacio-
nal do Teatro,
180 Para saber mais sobre o Teatro do Oprimido, recomenda-se Boal, 2000.
181 Discurso de Gilberto Gil na inaugurao do Ponto Centro do Teatro
do Oprimido, na Lapa, no Rio de Janeiro. (In: Metaxis Teatro do Oprimido
de Ponto a Ponto, n4. Dezembro de 2008)
132
Rio e no projeto Memria do Movimento Estudantil uma vez que
a entidade exerceu um importante papel contra a ditadura militar em
60, quando a emissora era grande aliada do regime. Entretanto, apesar
das contradies, importante reconhecer o papel da entidade histo-
ricamente na memria poltica do pas e seu ainda existente papel de
articulador das produes estudantis atravs da cultura. O CUCA do
Rio de Janeiro, por exemplo, localizado na sede da UNE na praia do
Flamengo - que foi retomada durante o ato da Bienal de 2007 - realiza
encontros de poesia, samba e um cine-jornal. Alm disso, realizou em
novembro deste ano a I Bienal de Arte, Cincia e Cultura da Unio Es-
tadual dos Estudantes do Rio de Janeiro (UEE-RJ), que integrou Pon-
tos de Cultura, intelectuais, agentes culturais e estudantes em debates,
ofcinas e festas em quatro dias de encontro na Lapa
182
.
Como podemos ver, os resultados destas experincias so
especfcos em relao a seus objetivos e sua insero na comuni-
dade. De uma maneira geral, a linguagem audiovisual a mais ex-
plorada pelos projetos (cerca de 66%, segundo pesquisa do Labo-
ratrio de Polticas Pblicas da UFRJ
183
) e o principal pblico alvo
atingido so estudantes de escolas pblicas (79% em todo o Brasil,
sendo 51% pertencentes a populaes de baixa renda que vivem
em reas precrias localizadas em grandes centros urbanos
184
). No
Rio de Janeiro, as atividades mais recorrentes entre os 71 pontos
hoje existentes so ofcinas de vdeo, teatro, dana, circo, capoeira
e cineclubismo. Mas as atividades dos Pontos so bastante varia-
das de acordo, como dito, com a cultura viva local: Em Olinda,
Pernambuco, por exemplo, o Ponto de Cultura Estrela de Ouro
185
oferece ofcinas de animao, trabalhando a xilogravura lingua-
gem da literatura de cordel, tpica do Nordeste - objetivando a
182 Mais sobre os CUCA e as Bienais em: htp://www.cucadaune.blogspot.
com/ e htp://www.cucario.blogspot.com/
183 Fonte: Revista Programadora Brasil, fevereiro de 2007.
184 Idem
185 Ver www.estreladeouro.org
133
educao patrimonial atravs do acesso a tecnologias digitais. J
o Ponto de Cultura da Comunidade Quilombola Campinho da
Independncia,
186
em Paraty, busca reforar seu histrico de luta
e organizao comunitria a partir da valorizao de comidas t-
picas e da produo artesanal em cip, bambu, sementes e outras
matrias-primas, o turismo tnico e trilhas ecolgicas visando a
sustentabilidade comunitria, atividades envolvendo os gris
(mestres da tradio oral da comunidade) e apresentaes de jon-
go e capoeira angola na comunidade local da Costa Verde.
Por se tratar de um programa fundamentado na autonomia
organizacional dos grupos, no se pode fazer um balano homog-
neo dos objetivos e metas atingidas. De uma forma geral, a forma-
o de jovens habilitados para atuar profssionalmente no segmen-
to cultural e o reforo da identidade cultural so os resultados mais
freqentemente alcanados pelos Pontos. O entrave mais recorrente
encontrado pelos projetos em relao ao programa o possvel atra-
so nas parcelas por parte do Governo Federal e a distncia comunica-
tiva com a entidade concedente, at ento em Braslia. Por esta razo
a parceria entre o Ministrio e as Secretarias estaduais de Cultura po-
der facilitar este contato e acompanhamento dos projetos como
j vem acontecendo no caso do Rio de Janeiro, com o Escritrio de
Apoio Produo Cultural-, visando assim a meta da gesto compar-
tilhada. Alm disso, as difculdades encontradas encontradas pelos
grupos da execuo dos projetos ou possveis falhas nos editais an-
teriores, vm sido corrigidas nas edies seguintes. Por outro lado,
o edital lanado este ano traz algumas exigncias que vm limitando
a atuao e suscitando algumas crticas por parte dos grupos j con-
templados como Ponto de Cultura, por exemplo, no podero ser
renovados os convnios dos projetos cuja prestao de contas com
o MinC ainda no foi fnalizada. Alm disso, a legislao que rege o
convnio (tipo de contrato frmado entre o rgo concedente neste
caso, a SEC/MinC - e o projeto cultural) no permite a incluso no
186Ver www.quilombocampinho.org
134
oramento de gastos tais como aluguel de espao, reforma, contas de
gua, telefone e luz, alm da remunerao ao coordenador tcnico
do projeto, considerados despesas administrativas, que deveriam
ser a contrapartida por parte do projeto contemplado.
4.3 Uma gesto tropicalista
Em 2003, contrariando qualquer previso poltica que pudes-
se ser feita h quarenta anos atrs, Lula toma posse como presidente
do Brasil e nomeia Gilberto Gil como Ministro da Cultura, surpre-
endendo igualmente artistas, acadmicos e gestores da cultura
187
.
Era grande a expectativa diante do fato de se ter no comando do mi-
nistrio algum do meio artstico diferente do ministro antecessor
na gesto FHC, o cientista poltico Francisco Wefort-, e com uma
trajetria um tanto polmica como Gil. As mudanas e discusses
provocadas por Gil encontrariam resistncia dentro e fora do MinC,
ao serem diretamente questionados modelos e interesses polticos.
Logo no incio, ele foi duramente criticado pela classe ar-
tstica, principalmente por artistas de teatro, como Paulo Autran
e Marco Nanini, que enfatizavam a continuidade da sua carreira
artstica em detrimento de polticas para o teatro. O ento minis-
tro, que em momento algum se esquivou do debate por mais
polmico que fosse -, defende que o teatro consagrado tem ou-
tros meios de conseguir patrocnio, diferente das montagens de
periferia: Ns no estamos ausentes em relao ao teatro. Tem
o teatro do Paulo Autran, tem o teatro do [Marco] Nanini, tem o
teatro dos meninos de rua, tem todas essas dimenses, e o minis-
trio procura ver todas elas, e de uma certa forma se dedicar aos
menos amparados
188
. A atuao de Gil no ministrio foi bastan-
187 A vida poltica, entretanto, no seria novidade para Gil, que j havia sido
eleito como vereador em Salvador em 1989.
188 Entrevista para a Folha em 02/12/2005 - htp://www1.folha.uol.com.
br/folha/ilustrada/ult90u55703.shtml
135
te no sentido de descentralizar recursos e fomentar atividades
culturais com menor visibilidade no cenrio artstico, contra-
riando a poltica que vinha sendo feita at ento, onde as grandes
montagens teatrais, basicamente no eixo Rio-So Paulo, eram as
principais fomentadas inverso essa que evidentemente gerou
crticas por parte do meio artstico consagrado.
Buscando ampliar o dilogo com a sociedade, foram reali-
zados diversos Fruns e Seminrios chamados de Cultura Para
Todos, para a elaborao de diretrizes e a reviso das polticas
culturais existentes. Um exemplo a Lei Rouanet, a principal po-
ltica de fomento cultura existente hoje no pas, que Gil buscou
questionar nesses espaos e cujo projeto de reforma, que vem
sido discutido h seis anos, esteve durante meses disponvel no
site do MinC, aberto a contribuies
189
. A Lei Rouanet funciona
hoje basicamente atravs do incentivo fscal para o apoio pro-
jetos culturais, tendo na iseno de impostos a principal fonte de
verbas para as atividades artsticas: para ter um projeto aprova-
do pela Lei, preciso enviar a proposta dentro dos moldes dos
formulrios disponveis no site do ministrio, que ser tecnica-
mente avaliada e, caso seja aceita, receber um certifcado da Lei
de Incentivo Cultura; a partir da o proponente dever ento
captar recursos em empresas que tenham interesse em fnanciar
seu projeto, que recebero iseno fscal relativas ao valor patro-
cinado. Como pode-se ver, apenas projetos com alguma visibi-
lidade de mercado conseguem receber este tipo de patrocnio
que, embora envolva o dinheiro pblico, acaba sendo regulado
pelo setor privado. Entre as propostas da nova Lei, est a criao
um Conselho formado pelo poder pblico, empresas e represen-
tantes da sociedade civil, que iro gerir os recursos a partir de
Fundos Setoriais, a fm de diminuir o monoplio do mercado
na escolha de iniciativas a serem fnanciadas. Alm disso, a atual
Lei muito focada em projetos de produo, deixando de lado o
189 htp://blogs.cultura.gov.br/blogdarouanet/
136
incentivo ao acesso e difuso de bens culturais. Neste sentido,
outra proposta da nova Lei, hoje defendida pelo atual Ministro
da Cultura Juca Ferreira, que vem dando continuidade s aes
de Gil no Ministrio, a criao, por exemplo de uma Loteria
da Cultura, onde o cidado receberia, assim como recebe ticket
alimentao, um vale cultura, a fm de prover acesso compra
de cds, livros, ingressos, entre outros, inserindo milhes de bra-
sileiros no mercado cultural. Nas palavras de Juca, em vez de
alimentar o estmago, pra alimentar a alma
190
.
Sobre as acusaes de ser ele mesmo tambm um artista
privilegiado, Gil tem a propriedade de quem vem do meio ar-
tstico para propor esta descentralizao, no concordando que
apenas quem tem visibilidade de mercado deva ser apoiado. En-
quanto ministro, Gil viajou por diversas realidades no pas, fa-
lando sobre as polticas culturais do ministrio e, principalmente
ouvindo contribuies, e agradece Lula pela oportunidade de
conhecer o Brasil. Como artista e gestor, ele teve contato com
a desigualdade que se confgura no cenrio de fomento e acesso
cultura no pas, e a partir de um olhar extremamente sensvel,
participou de todas as discusses possveis, buscando manter ca-
nais de dilogo com a sociedade e reformas institucionais dentro
do prprio ministrio. Foi a partir deste contato com a diversida-
de cultural brasileira que nasceu a idia de uma poltica cultural
mais descentralizada e que conferisse certa autonomia aos agen-
tes culturais espalhados pelo pas, como os Pontos de Cultura.
Para alm do Programa Mais Cultura, Gil buscou repensar
o conceito de cultura e o lugar do poder pblico neste campo. A
partir da ampliao desta percepo, foi possvel criar polticas
intersetoriais e aes transversais, relacionando a cultura com o
turismo, o meio ambiente, a sade, a cincia e tecnologia, os direi-
tos humanos. Gil buscou tambm integrar aes da Unio, do Es-
tado e dos Municpios, enxergando a importncia da articulao
190 htp://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=460ASP008
137
de aes pblicas a partir de um pacto federativo, evitando a des-
continuidade e a superposio de aes e fortalecendo parcerias
locais. Outra instncia que Gil busca questionar so os Conselhos
de Cultura, que embora tenham representantes da sociedade civil,
no se confguram em uma participao direta da sociedade, uma
vez que os membros do conselho - ainda que altamente qualif-
cados e reconhecidos por suas notveis trajetrias culturais - so
indicados pelo governo, e no pela sociedade. Neste sentido, Gil
buscou incentivar a realizao de Conferncias Nacionais, Esta-
duais e Municipais, para que a sociedade participe no apenas co-
locando demandas, mas tambm formulando diretrizes, a fm de
estabelecer polticas e planos (nacionais, estaduais e municipais)
de cultura que garantam a legitimidade e a continuidade das aes
para alm do governante em exerccio. Assim, a primeira Confe-
rncia Nacional de Cultura, realizada em 2005, estabeleceu trs
diretrizes principais: O PEC150 (que prev respectivamente 2%,
1,5% e 1% dos oramentos federal, estaduais e municipais para a
Cultura
191
), a implementao do Sistema Nacional de Cultura (a
fm de integrar as trs esferas do poder pblico) e a Democratiza-
o da Comunicao (apoiando aes como a criao da TV Bra-
sil, a primeira TV pblica do pas, e as aes da Cultura Digital em
sofware livre). Desde o ano passado os municpios e estados se
preparam para as etapas regionais da prxima Conferncia Nacio-
nal de Cultura, marcada para maro de 2010. Alm disso, este ano
o presidente Lula assinou o decreto convocando a 1 Conferncia
Nacional de Comunicao, antiga reivindicao dos movimentos
sociais da comunicao, a ser realizada ainda este ano.
Para Ana Lcia Pardo, ouvidora da representao regional
do MinC no Rio de Janeiro, alm de rever as polticas culturais
191 A Unio aplicar, anualmente, nunca menos do que 2% da receita tribut-
ria na preservao do patrimnio cultural brasileiro e na produo e difuso da
cultura nacional.: Fonte: htp://www.cultura.gov.br/noticias/noticias_do_
minc/index.php?p=12781&more=1&c=1&pb=1
138
em dilogo com diferentes segmentos da sociedade, Gil buscou
repensar o prprio Ministrio da Cultura, a partir da concepo
de cultura para alm do campo das artes, em uma viso antro-
polgica que abarque os diferentes modos de expresso, uma di-
menso cidad das indstrias criativas. Em 2003 Gil inicia uma
srie de reformas estruturais
192
no ministrio, destinada a agilizar
e aperfeioar o seu funcionamento, bem como de suas entidades
integradas. Foi na gesto de Gil, por exemplo, que foi criada a Se-
cretaria de Identidade e Diversidade, que busca promover aes
voltadas para a cultura indgena, quilombola, GLBT, entre outras.
Estes segmentos, embora abarquem diversas expresses arts-
ticas, possuem demandas prprias e at ento no encontravam
espao especfco nas polticas culturais. Ana Lcia lembra ainda
que o MinC(*) uma entidade relativamente jovem, com pouco
mais de 20 anos, e que abarca grandes instituies tais como a Bi-
blioteca Nacional, o Instituto do Patrimnio Histrico Nacional
(IPHAN), a Fundao Nacional de Artes (Funarte), e assim esta
constante reviso do papel do Estado importante para garantir
aes concretas e continuadas, principalmente no campo da cul-
tura, marcada pela informalidade e eventualidade das aes.
Segundo pesquisa realizada pela Fecomercio, cerca de
87% dos brasileiros nunca foram ao cinema, 73% dos livros es-
to concentrados em 16% da populao, 90% dos municpios
no tm equipamentos culturais, e 92% da populao nunca fo-
ram a museus
193
. A partir deste quadro, as aes do MinC foram
divididas em quatro diretrizes: A garantia do acesso aos bens
culturais e meios necessrios para expresso simblica e arts-
tica; a promoo da diversidade cultural e social; a qualifcao
do ambiente social das cidades disponibilizando equipamentos
1 9 2 h t t p : / / w w w. g i l b e r t o g i l . c o m. b r / s e c _ b i o g r a f i a .
php?page=2&ordem=DESC
193 Estudo O hbito de lazer cultural do brasileiro: htp://www.fecomer-
cio-rj.org.br/publique/media/Pesquisa%20Cultura.pdf
139
culturais, incentivando o consumo de bens culturais pela popu-
lao e facilitando o acesso produo cultural; e a gerao de
oportunidades de emprego e renda. Essas metas foram sistema-
tizadas no Programa Mais Cultura, que hoje historicamente a
maior ao do governo brasileiro de promoo do acesso cul-
tura para as classes populares.
Entre assuntos polmicos, Gil foi protagonista na discus-
so sobre sofware livre e direitos autorais, contrariando nova-
mente os interesses de diversos artistas, e da indstria cultural,
de uma forma geral. Alm de criar a ao Cultura Digital
194
no
Programa Mais Cultura, Gil levantou esta bandeira em diversos
debates, fruns e eventos relacionados ao tema. Afnando sua
vida na poltica e na msica, levou esta discusso inclusive para
seus shows: em junho de 2004 apresenta ../liberdade/digital
no Frum Internacional de Sofware Livre, em Porto Alegre e
em setembro do mesmo ano realiza o Show Creative Commons
em defesa do sofware livre junto com David Byrne em Nova
Iorque. No Frum Social Mundial em 2005, Gil participa ao
lado do socilogo catalo Manuel Castells do debate Revoluo
Digital: sofware livre, liberdade do conhecimento e liberdade de ex-
presso na sociedade da informao e declara:
No se trata de um movimento anti, mas de um mo-
vimento pro, ou seja, a favor da valorizao e da disse-
minao de uma nova cidadania global, da capacidade
de autodeterminao das pessoas, de novas formas de
interao e articulao, da liberdade real de produo
e difuso da subjetividade, da busca do saber, da informa-
o, do exerccio da sensibilidade e da coletividade. E como
estou valorizando o lado pro do Frum, quero propor
a vocs a constituio imediata, a partir deste encontro,
de uma convocao global pela liberdade digital da huma-
194 htp://www.cultura.gov.br/site/categoria/politicas/cultura-digital-3/
140
nidade, complementar convocao global pela erradica-
o da pobreza lanada por diversas ONGs neste Frum e
abraada pelo presidente Lula. Sejamos corajosos e subs-
tantivos em relao a isso.
Gil tambm teve importante papel em sua poltica no ex-
terior, onde j era reconhecido enquanto artista desde a poca
de seu exlio na Europa, quando livre da infuncia da represso,
pde desenvolver importantes experimentos artsticos para seu
trabalho, confgurando grande contribuio msica brasileira.
Como ministro da Cultura vindo do meio artstico, Gil ampliou
o debate com ministrios e aes culturais de diversos pases,
resultando em frutos como por exemplo o debate A Cultura na
Estratgia da Integrao Latino-Americana, em 2005 em So
Paulo com os secretrios nacionais de cultura da Venezuela, de
Cuba e da Argentina, e o Ano do Brasil na Frana, em 2005, re-
tribudo com o Ano da Frana no Brasil, agora em 2009.
Em meados de 2008, diagnosticado com problemas de sa-
de nas cordas vocais, Gilberto Gil pede afastamento do cargo de
Ministro da Cultura. Assim como na sua fase tropicalista, recebeu
diversas crticas ao sair do MinC. Os que avaliaram sua atuao
como negativa ou nula, alegam que ele no ampliou o dilogo com
a classe artstica e fez de sua passagem enquanto ministro apenas
uma estratgia de auto-promoo. Entretanto, levando em consi-
derao um Ministrio historicamente afastado das manifestaes
populares e altamente centralizado em polticas culturais no eixo
Rio-So Paulo, a atuao de Gil no sentido da descentralizao
dos recursos foi fundamental para a valorizao de manifestaes
populares. Com o afastamento de Gil, Juca Ferreira, que at ento
era secretrio-executivo e atuava como ministro interino, assume
ofcialmente cargo e vem dando importante continuidade s po-
lticas implementadas por Gil. Sobre o Programa Mais Cultura,
Juca garante a continuidade de aes, e declara:
141
O Mais Cultura` uma conseqncia natural de
tudo que temos feito desde que o ministro (Gilberto)
Gil foi convidado pelo presidente Lula. Ns temos tra-
balhado a cultura em trs dimenses: cultura como
fato simblico, cultura como direito de cidadania e cul-
tura como economia. Ampliamos o conceito de cultura.
Cultura no s arte. Comeamos a botar o ministrio
pra se relacionar com toda a produo simblica do
povo brasileiro, sem discriminao de nenhum territ-
rio. Ns adotamos o conceito de poltica pblica, que
foi uma mudana importantssima.
Dando continuidade ao seu trabalho na msica, Gil pros-
seguiu com a turn do album Banda Larga Cordel, lanado em
2007. Este trabalho marca o ativismo de Gil na cultura digital,
tanto como ministro quanto como msico. Nos shows realiza-
dos durante a turn do lbum, incentivado o uso de cmeras
fotogrfcas, de vdeo e at celulares para registro do show pelos
fs ao contrrio da tradicional proibio de registro multim-
dia em casas de show , a edio do material a seu modo e a
postagem no Youtube. Seu portal na internet, o htp://www.ban-
dalargacordel.com.br, manteve um concurso cultural dos vdeos e
fotos produzidas pelo pblico, alm de disponibilizar as faixas e
as letras. O que, para uma viso limitada dos crticos, no passa
de uma estratgia de marketing muito bem sucedida, vale dizer
tambm sinal da trajetria tropicalista de Gil: a participao
do pblico na obra e a juno do que h de mais moderno na
tecnologia digital (celulares com cmeras e sites de hospedagem
de contedo) a Banda Larga - com a tradio nordestina das
razes do baiano o Cordel. Assim, sua passagem pelo Minist-
rio da Cultura e, mais especifcamente, o projeto dos Pontos de
Cultura, retomam, ressignifcam e atualizam o esprito tropica-
lista presente ainda hoje em termos de produo cultural.
143
CONCLUSO
Depois de uma srie de anlises sobre a produo de cultura e
suas imbricaes polticas e sociais, encerro este trabalho reforando a
argumentao feita ao longo dos captulos com observaes sobre os
temas estudados, relacionando-os entre si, tendo em vista a perspecti-
va histrica que nos levaram aos acontecimentos relacionados.
Como vimos, a dcada de 60 foi marcada por intensa produo
cultural e uma certa valorizao da cultura popular, como o enfoque
dado ao povo a partir dos pressupostos do projeto nacional-popu-
lar. Se naquele tempo o esprito desenvolvimentista dos anos 50 e o
descobrimento do territrio nacional a partir de novas tecnologias
de transporte e comunicao geraram uma necessidade de busca por
uma identidade nacional, hoje o esforo no sentido da preservao
da cultura local, ainda que hbrida e conectada com a cultura global,
garantindo assim a multiplicidade cultural em um pas de tantas ori-
gens. No sentido da valorizao da cultura popular, a principal dife-
rena do CPC da dcada de 60 e do Programa Cultura Viva hoje o
reconhecimento da necessidade de registro das tradies populares
por parte da prpria comunidade e a potencializao das atividades
que j so de alguma forma desenvolvidas, revendo assim um certo
autoritarismo tpico da poca, que defnia com clareza excessiva o que
era bom para sociedade e o que no era.
Neste sentido, a Tropiclia exerceu, como vimos, um im-
portante papel no questionamento dos padres e valorizao da
diversidade atravs de experimentaes - o que tambm pode ser
encontrado em aes de diversos Pontos de Cultura do pas, que
experimentam novas tecnologias com saberes tradicionais, sob a
perspectiva do conhecimento livre. Assim, retoma a antropofagia
de Oswald de Andrade, bebendo em diferentes fontes em busca de
uma identidade cultural local articulada com as transformaes glo-
bais, mais amplas. A grande diferena que hoje, com a globalizao,
144
a prpria noo de fronteira e comunidades no esto mais restritas
ao territrio e trabalha-se assim, em cima de outras referncias.
As identidades no esto ligadas a caractersticas indi-
cadas a priori ou fxas, mas devem ser pensadas a partir
de fonteiras mveis, em que as posies dos atores podem
mudar de acordo com demandas e interaes que se apre-
sentem, no apenas fundadas na memria das interaes,
mas tambm em projetos.
195
Neste sentido, as identidades e estratgias de ao que so
construdas nos contextos mapeados tambm so fuidas e mlti-
plas, revelando intensos jogos e negociaes entre os campos da
poltica e da cultura.
A vontade de comunicar e misturar culturas, chave para o
Tropicalismo, retomada nas aes do MinC, tendo Gil como
ministro, cujo principal esforo foi expandir o conceito de cul-
tura e torn-la mais acessvel, reconhecendo-a como uma ferra-
menta estratgica para o desenvolvimento. A cultura, enquanto
direito inalienvel do ser humano, tambm um dever de Es-
tado, que deve garantir o acesso e a produo de cultura como
parte das aes para a cidadania. Segundo Gil:
preciso recentralizar o que est centralizado nas mos
de poucos. As matrizes da indstria cultural no deixa-
ram nada para as periferias. Por isso, hoje, o papel do
Estado brasileiro na formulao de polticas pblicas
empoderar as micro manifestaes, para que eles se apro-
priem cada vez mais dos espaos pblicos e que sejam
protagonistas na proteo e promoo da diversidade.
196
195 Enne, 2007, p.17
196 Fonte: htp://pollyrosa.multiply.com/journal/item/40/40 (acessado em
07/12/2008).
145
Vimos ao longo do trabalho o papel exercido pela cultura,
de uma forma geral, na constituio de memrias e identidades,
que esto atreladas a posies de classe. Atravs de discursos,
instrumentos de saber e poder, vises de mundo podem ser
cristalizadas, assim como podem ser reforados preconceitos e
estigmas, concepes hegemnicas, interesses de mercado, mo-
tivaes polticas, dentre outros - especialmente quando conju-
gadas aos interesses dos grandes conglomerados liberais e a von-
tades polticas totalitrias, ou ainda subordinadas aos interesses
das elites polticas e fnanceiras. No entanto, para alm da viso
crtica e maniquesta para com os aparatos comunicativos, im-
portante complexifcar este debate, levando em considerao as
contradies presentes no mundo atual. Pois, se hoje j no se
vive mais em tal mundo repartido ideologicamente, tampouco
devem estar assim situadas nossas anlises.
preciso levar em conta que no basta compreender-
mos os processos culturais como lugar de alienao e
manipulao, pois com isso perdemos de vista a rique-
za do processo social, em que sujeitos concretos, hist-
ricos, esto vivendo e construindo suas realidades, num
jogo de estratgias e tticas, que no cabe em esquemas
reducionistas do tipo maniquesta e polarizado.
197
Assim, a partir de uma perspectiva histrica, busquei
aqui analisar as tendncias para as polticas culturais na globa-
lizao. Neste trajeto, observamos uma alterao de aes que,
se em 60 eram predominantemente polticas e de interveno
social direta, hoje esto mais ligadas produo de subjetivida-
des, em que a transformao se d no plano individual e cole-
tivo, atravs da prpria ao cultural como j havia sugerido
a Tropiclia. Ou seja, se em 60 a cultura comeava a ser reco-
197 Enne, 2007, p.21
146
nhecida como lugar de afrmao de uma identidade nacional
e a consolidao dos meios de comunicao de massa no pas
atraram polticas pblicas para o setor; em 80 e 90, com as
manifestaes pela abertura do regime, os movimentos sociais
se fortaleceram e enxergaram a cultura como uma importante
arena de disputa social, a partir da criao de diversas Casas
de Cultura, que contavam com apoios pontuais por parte do
poder pblico; em 90 e incio dos anos 2000, vemos crescer
vertiginosamente aes culturais da sociedade civil atravs de
Organizaes No Governamentais, que buscam suprir a au-
sncia do Estado em termos de servios para a sociedade liga-
da iniciativa privada, prezando pela autonomia frente ao po-
der pblico; e, hoje, uma das tendncias que se pode observar
em termos de polticas culturais so os Pontos de Cultura, um
projeto do Governo Federal em parceria com a sociedade civil
e a iniciativa privada, que busca garantir a preservao e valo-
rizao das tradies populares, conectada com as tendncias
globais e visando a insero dos agentes no mercado cultural.
147
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ADORNO & HORKHEIMER. Dialtica do Esclarecimen-
to: Fragmentos flosfcos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997.
AMARL, Aracy. Arte pra qu?. So Paulo: Studio Nobel,
2003.
AZEVEDO, Fbio Palcio de, (org.) Juventude, Cultura
e Polticas Pblicas. Intervenes apresentadas no Seminrio
terico-poltico do Centro de Estudos e Memria da Juventude.
So Paulo: Anita Garibaldi, 2005.
BOAL, Augusto. Jogos para atores e no-atores. Rio de Ja-
neiro, Civilizao Brasileira, 2000.
BOURDIEU, Pierre. O mercado de bens simblicos
In: A economia das trocas simblicas (org. Srgio Miceli). So
Paulo: Perspectiva, 2005.
BUONICORI, Augusto Csar. Centro Popular de Cul-
tura da UNE: Uma crtica a uma crtica. In: Juventude, Cultura e
Polticas Pblicas - Seminrio Terico Poltico co Centro de Es-
tudos da Memria da Juventude. SP, Ed. Anita Garibaldi, 2005.
CAMBRIA NAVES, Santuza e DUARTE, Paulo Srgio
(org.). Do samba-cano Tropiclia. Rio de Janeiro: Relume
Dumar / FAPERJ, 2003
CANONGIA, Ligia. O legado dos anos 60. RJ: Jorge Zahar,
2005.
CASTRO, Mary Garcia e ABRMOVAY, Miriam. Juven-
tudes no Brasil: vulnerabilidades negativas e positivas, desafando
enfoques de polticas pblicas. In: Juventude, Cultura e Polticas
Pblicas -. Seminrio Terico Poltico co Centro de Estudos da
Memria da Juventude. SP, Ed. Anita Garibaldi, 2005.
CERTEAU, Michel de. A Inveno do Cotidiano. Petrpo-
lis: Vozes, 1998.
CEVASCO, Maria Elisa. Dez lies sobre estudos culturais.
148
So Paulo: Boitempo, 2003.
ENNE, Ana. Das Casas de Cultura s ONGs na Baixada
Fluminense: refexes sobre mdia, cultura, poltica, prticas de co-
municao e juventude. Niteri: UFF, 2007 .
FOUCAULT, Michel. Microfsica do Poder. Rio de Janei-
ro: Graal, 1986.
GARCA CANCLINI, Nestor. A cultura extraviada nas
suas defnies. In: __________ Diferentes, Desiguais e desco-
nectados. Rio de Janeiro: UFRJ, 2005.
GARCA CANCLINI, Nestor. Culturas hbridas: Estrat-
gias para entrar e sair da modernidade. So Paulo: USP, 1997.
FERREIR GULLAR, Jos Ribamar. Vanguarda e subde-
senvolvimento. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1969.
HALL, Stuart. Da dispora: Identidades e Mediaes Cultu-
rais (org. Liv Sovik). Belo Horizonte: Editora UFMG/ Braslia:
Unesco, 2003.
___________. A centralidade da cultura: notas sobre as
revolues do nosso tempo, Educao & Realidade, n. 22, p. 15-
46, jul-dez 1997.
___________. Identidades culturais na ps-modernidade.
Rio de Janeiro: DP&A, 2005.
HOLLANDA, Heloisa Buarque de & GONALVES,
Marcos Augusto. Cultura e participao nos anos 60. So Paulo:
Brasiliense, 1982.
HOLLANDA, Heloisa Buarque de. Impresses de viagem:
CPC, vanguarda e desbunde (1960/1970). So Paulo: Brasilien-
se, 1981.
HOLLANDA, Helosa Buarque de; PEREIR, Carlos A.
M. Patrulhas Ideolgicas. Rio de Janeiro: Brasiliense, 1980.
MCLUHAN, Marshall. O meio a mensagem. Rio de Ja-
neiro, Record, 1969.
MARTN-BARBERO, Jess. Dos meios s mediaes: co-
municao, cultura e hegemonia. Rio de Janeiro: Editora UFRJ,
149
1997.
NAPOLITANO, Marcos. O conceito de MPB nos anos
60. In: __________. Histria - questes & debates. Curitiba,
Editora da UFPR, 1999.
NERCOLINI, Marildo Jos. A construo cultural pelas
metforas: A MPB e o Rock Nacional Argentino repensam as fon-
teiras globalizadas. Rio de Janeiro: UFRJ, 2005. (Tese de douto-
rado.)
ORTIZ, Renato. O Mercado de Bens simblicos. In:
__________. A Moderna tradio brasileira. So Paulo: Bra-
siliense, 2001.
PEREIR, Carlos A. M. O que Contracultura. So Paulo:
Brasiliense, 1992.
SANTIAGO, Silviano. Uma literatura nos trpicos. So
Paulo: Editora Perspectiva, 1978.
SCHWARZ, Roberto. Cultura e poltica, 1964-1969. In:
____________.O pai de famlia e outros estudos. Rio de Janei-
ro: Paz e Terra, 1978.
STAAL, Ana Helena Camargo (org.). Z Celso Martinez
Correa. Primeiro ato: cadernos, depoimentos entrevistas (1958-
1974). So Paulo: Editora 34, 1998.
VELOSO, Caetano. Verdade Tropical. So Paulo: Compa-
nhia das Letras, 1977.
YDICE, George. A Convenincia da Cultura: os usos da
cultura na era global. Belo Horizonte: UFMG, 2004.
150
OUTRS FONTES
O hbito de lazer cultural do brasileiro - Pesquisa Cultu-
ra no Brasil: Fecomrcio e Ministrio da Cultura. RJ, 2007.
OITICICA, Hlio. Manifesto da Nova Objetividade
Brasileira, encarte de apresentao da exposio no MAM em
1967.
68 O ano da revoluo pela arte. Segundo Caderno, O
Globo, 18 de maio de 2008.
Gelia Geral. Segundo Caderno, O Globo, 6 de agosto
de 2007.
Caderno MAIS!, Folha de So Paulo, 04 de maio de 2008.
68 O ano zero de uma nova era. Revista Histria Viva, n..
54. So Paulo: Dueto Editorial, 2008, p. 35.
Revista Programadora Brasil, fevereiro de 2007.
Revista Metaxis Teatro do Oprimido de Ponto a Ponto,
n4. Dezembro de 2008
151
SITES ACESSADOS
www.cultura.gov.br
www.cultura.rj.gov.br
www.ideario.org.br
www.pontodecultura.rj.gov.br
www.projetociranda.org.br
www.estudiolivre.org
www.cisane.org.br
www.nosdomorro.com.br
www.circodigital.org.br
www.campusavancado.org.br
www.escoladamataatlantica.org
www.ctorio.org.br
www.cucadaune.blogspot.com
www.cucario.blogspot.com
www.estreladeouro.org
www.quilombocampinho.org
www.wikipedia.com.br
www.comcultura.com.br
Este livro foi composto em Arno Pro
pela Editora Multifoco e impresso em
papel Ofset 75g/m
Você também pode gostar
- Apostila Produção de Eventos SenacDocumento158 páginasApostila Produção de Eventos SenacHellen Vieira100% (4)
- Formação de Agentes CulturaisDocumento83 páginasFormação de Agentes CulturaisDenise de MeloAinda não há avaliações
- EBOOK - Como Começar A Elaboração e A Inscrição de Projetos em Leis e Editais CulturaisDocumento33 páginasEBOOK - Como Começar A Elaboração e A Inscrição de Projetos em Leis e Editais CulturaisLorenaMiguel100% (1)
- Projeto Cultural SesiDocumento120 páginasProjeto Cultural SesiHenrique Moura100% (1)
- Teoria e Prática Da Organização de Eventos FinalDocumento32 páginasTeoria e Prática Da Organização de Eventos FinalThais Tavares100% (2)
- Produção+cultural Vol1 PDFDocumento276 páginasProdução+cultural Vol1 PDFPriscila Oliveira100% (1)
- Comunicação e cultura: diálogos e tensões por trás da cenaNo EverandComunicação e cultura: diálogos e tensões por trás da cenaAinda não há avaliações
- Ementa Do Curso de Agentes de Produção CulturalDocumento64 páginasEmenta Do Curso de Agentes de Produção Culturalbimbas123Ainda não há avaliações
- Cartilha - Gestão CulturalDocumento32 páginasCartilha - Gestão CulturalCall Ferraz100% (4)
- Jingle é a alma do negócio: A história e as histórias das músicas de propaganda e de seus criadoresNo EverandJingle é a alma do negócio: A história e as histórias das músicas de propaganda e de seus criadoresAinda não há avaliações
- Guia Brasileiro de Produção Cultural 2013-2014Documento22 páginasGuia Brasileiro de Produção Cultural 2013-2014SabrinaMedeiros100% (1)
- Plano Nacional de Cultura PDFDocumento102 páginasPlano Nacional de Cultura PDFVera Vicc100% (1)
- Anais Seminário Internacional de Gestão CulturalDocumento79 páginasAnais Seminário Internacional de Gestão CulturalGabriel Chati100% (1)
- A História Do Rádio No BrasilDocumento137 páginasA História Do Rádio No BrasilSamuel Oliveira100% (1)
- Cartilha Assédio Moral WebDocumento28 páginasCartilha Assédio Moral WebSeven LavideAinda não há avaliações
- A destruição criadora da indústria fonográfica brasileira, 1999-2009: dos discos físicos ao comércio digital de músicaNo EverandA destruição criadora da indústria fonográfica brasileira, 1999-2009: dos discos físicos ao comércio digital de músicaAinda não há avaliações
- Manual de Produção CulturalDocumento33 páginasManual de Produção CulturalJean DeyvidAinda não há avaliações
- Cenografia e FigurinoDocumento39 páginasCenografia e FigurinoPollyana Jorge da SilvaAinda não há avaliações
- Os carnavais cariocas e sua trajetória de internacionalização (1946-1963)No EverandOs carnavais cariocas e sua trajetória de internacionalização (1946-1963)Ainda não há avaliações
- Projetos Culturais Técnicas de ModelagemDocumento285 páginasProjetos Culturais Técnicas de ModelagemMônica Behague100% (1)
- Escolas de SambaDocumento172 páginasEscolas de SambaRodrigo SavastanoAinda não há avaliações
- Orixás ProjetoDocumento9 páginasOrixás ProjetoAline TozettoAinda não há avaliações
- Folguedos e Danças de Nossa Gente. Alagoas Popular. IAM.Documento239 páginasFolguedos e Danças de Nossa Gente. Alagoas Popular. IAM.silentmoon23100% (1)
- Le Monde Diplomatique Brasil (Julho 2020)Documento40 páginasLe Monde Diplomatique Brasil (Julho 2020)lLuA Valois100% (3)
- Dossiê IPHAN 10 - Matrizes Do Samba No Rio de JaneiroDocumento206 páginasDossiê IPHAN 10 - Matrizes Do Samba No Rio de JaneiroAde EvaristoAinda não há avaliações
- Plano Nacional de CulturaDocumento212 páginasPlano Nacional de CulturaSabrinaMedeiros100% (1)
- Jornalismo Na Era VirtualDocumento72 páginasJornalismo Na Era VirtualTatiane Hilgemberg100% (1)
- Apostila Teórica CEF 2016 Pré-Edital Sirlo OliveiraDocumento153 páginasApostila Teórica CEF 2016 Pré-Edital Sirlo OliveiraJussimara Azevedo100% (1)
- Guia Brasileiro de Producao Cultural 2010 2011Documento23 páginasGuia Brasileiro de Producao Cultural 2010 2011Anderson SilvaAinda não há avaliações
- Catalogo 16ºVideoBrasilDocumento128 páginasCatalogo 16ºVideoBrasilRodrigo Zerbetto ChehdaAinda não há avaliações
- Oservatorio Itau PDFDocumento276 páginasOservatorio Itau PDFMónica Bernabé100% (1)
- Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco - 2018Documento228 páginasPatrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco - 2018amanda_teixeira_1100% (1)
- F2 Capacitacao de Agentes Culturais CompactadoDocumento16 páginasF2 Capacitacao de Agentes Culturais CompactadoIgor IgorAinda não há avaliações
- Políticas Culturais No Brasil (Coleção Cult) - Antonio Albino Canelas Rubim e Alexandre Barbalho (Org.)Documento182 páginasPolíticas Culturais No Brasil (Coleção Cult) - Antonio Albino Canelas Rubim e Alexandre Barbalho (Org.)Renato Barros100% (3)
- Gestao Cultural Um Estudo de CasoDocumento40 páginasGestao Cultural Um Estudo de CasoRoney Marques100% (2)
- 600 Questões Corretas de Concursos Produtor CulturalDocumento124 páginas600 Questões Corretas de Concursos Produtor Culturalinfo.georgeAinda não há avaliações
- ProdImageSom ZeroEMENDADODocumento14 páginasProdImageSom ZeroEMENDADOdelphintAinda não há avaliações
- PIO XII. Decreto Do Santo Ofício Contra o Comunismo (1949)Documento4 páginasPIO XII. Decreto Do Santo Ofício Contra o Comunismo (1949)Gabriel MatosAinda não há avaliações
- Contrato de Prestaçao de Serviços Do SerralheiroDocumento6 páginasContrato de Prestaçao de Serviços Do SerralheiroAdriany Domingues100% (1)
- Art Deco CariocaDocumento41 páginasArt Deco CariocaItala Alves100% (1)
- Agentes Culturais: Delimitações e Contextos DçãatuacaoDocumento64 páginasAgentes Culturais: Delimitações e Contextos DçãatuacaoNayanna Mattos100% (2)
- História Plugada e Antenada: Estudos Históricos Sobre Mídias Eletrônicas no BrasilNo EverandHistória Plugada e Antenada: Estudos Históricos Sobre Mídias Eletrônicas no BrasilAinda não há avaliações
- Revista Da Fau22010 - Subúrbios Cariocas PDFDocumento108 páginasRevista Da Fau22010 - Subúrbios Cariocas PDFrenanmus100% (1)
- Videoclipe o Elogio Da Desarmonia Thiago SoaresDocumento139 páginasVideoclipe o Elogio Da Desarmonia Thiago SoaresVitor Teixeira100% (1)
- A Casa Edson e Seu TempoDocumento310 páginasA Casa Edson e Seu TemposavonefAinda não há avaliações
- Resenha de A Casa Edison e Seu TempoDocumento9 páginasResenha de A Casa Edison e Seu TempoVitor Macedo100% (1)
- RUBIM, A. - Politicas Culturais No Brasil - Tristes TradiçõesDocumento14 páginasRUBIM, A. - Politicas Culturais No Brasil - Tristes TradiçõesJessica MarinhoAinda não há avaliações
- Documentario Rap AbcDocumento328 páginasDocumentario Rap AbcLucas PradoAinda não há avaliações
- Caracteristicas Do Telejornalismo Brasileiro Dos Anos 80 PDFDocumento14 páginasCaracteristicas Do Telejornalismo Brasileiro Dos Anos 80 PDFSamantha QuadratAinda não há avaliações
- RÁDIO EDUCATIVA E RÁDIO PÚBLICA: Semelhanças e Diferenças À Luz Da LegislaçãoDocumento15 páginasRÁDIO EDUCATIVA E RÁDIO PÚBLICA: Semelhanças e Diferenças À Luz Da LegislaçãoMárcio MonteiroAinda não há avaliações
- A História Do Hip HopDocumento18 páginasA História Do Hip HopKaren PedradaAinda não há avaliações
- Projeto CulturalDocumento1 páginaProjeto Culturalthais_tata11Ainda não há avaliações
- Featherstone, Mike, 1995 - A Globalização Da Complexidade, 19º Encontro Da ANPOCS, em Caxambu, em Outubro de 1995Documento19 páginasFeatherstone, Mike, 1995 - A Globalização Da Complexidade, 19º Encontro Da ANPOCS, em Caxambu, em Outubro de 1995Wenderson AlmeidaAinda não há avaliações
- Gestão Cultural - Profissão em FormaçãoDocumento4 páginasGestão Cultural - Profissão em FormaçãoJulianaAinda não há avaliações
- O Novo RadioDocumento2 páginasO Novo RadioPeterson DiasAinda não há avaliações
- A Fôrma e A FormaDocumento48 páginasA Fôrma e A FormaPatricia Astoni100% (2)
- Design, Residuo & DignidadeDocumento500 páginasDesign, Residuo & DignidadeSoniaSegerMercedesAinda não há avaliações
- 20FESTCURTAS CATALOGO WEBpdf PDFDocumento376 páginas20FESTCURTAS CATALOGO WEBpdf PDFKênia FreitasAinda não há avaliações
- Marketing CulturalDocumento9 páginasMarketing CulturalDeAssunção PedroAinda não há avaliações
- Tom Ze PDFDocumento23 páginasTom Ze PDFJoao Ferreira JuniorAinda não há avaliações
- Cartilha - Consumismo Infantil Na Contramão Da SustentabilidadeDocumento9 páginasCartilha - Consumismo Infantil Na Contramão Da SustentabilidadeINSTITUTO ALANAAinda não há avaliações
- Letra Musica CensuraDocumento2 páginasLetra Musica CensuraJoao Ferreira JuniorAinda não há avaliações
- Adi 4103 PDFDocumento1 páginaAdi 4103 PDFJoao Ferreira JuniorAinda não há avaliações
- Comercio Informal Espaço Urbano PDFDocumento13 páginasComercio Informal Espaço Urbano PDFJoao Ferreira JuniorAinda não há avaliações
- Medição de Vazão em Grandes RiosDocumento11 páginasMedição de Vazão em Grandes RiosJoao Ferreira JuniorAinda não há avaliações
- Convocação para As Inscrições Dos Candidatos ADocumento12 páginasConvocação para As Inscrições Dos Candidatos AVALERIATAMEAinda não há avaliações
- Stalingrado, A Vitória de Um PovoDocumento12 páginasStalingrado, A Vitória de Um PovoCharles EngelsAinda não há avaliações
- Resumo para Concursos - Direito Administrativo Com Macetes (48 Páginas)Documento5 páginasResumo para Concursos - Direito Administrativo Com Macetes (48 Páginas)anon_879290150Ainda não há avaliações
- 6 ANO - InddDocumento12 páginas6 ANO - InddkoemamAinda não há avaliações
- RJ O Diário de Teresópolis 310123Documento17 páginasRJ O Diário de Teresópolis 310123Felipe SilvaAinda não há avaliações
- Caderno 7 - UEDocumento60 páginasCaderno 7 - UEMafalda TeixeiraAinda não há avaliações
- Ativ Historia 3ano 19 04Documento3 páginasAtiv Historia 3ano 19 04Amanda MattosAinda não há avaliações
- Os Cardoso de Figueiredo 0 Introdução v3Documento6 páginasOs Cardoso de Figueiredo 0 Introdução v3Luis Cavaleiro MadeiraAinda não há avaliações
- Dissertação - Texto Completo Com Ficha - Carolina Grant - 02.03.2015Documento225 páginasDissertação - Texto Completo Com Ficha - Carolina Grant - 02.03.2015Poliana Gabriela SantimAinda não há avaliações
- Hino Da Independência Do BrasilDocumento1 páginaHino Da Independência Do BrasilDaniel PereiraAinda não há avaliações
- Daniel Sarmento - Protecao Judicial Dos Direitos SociaisDocumento38 páginasDaniel Sarmento - Protecao Judicial Dos Direitos SociaisordepjaburAinda não há avaliações
- Citacoes Do Presidente Mao ZedongDocumento228 páginasCitacoes Do Presidente Mao ZedongGabriel BTSAinda não há avaliações
- Proposta de Redação - CorrupçãoDocumento2 páginasProposta de Redação - CorrupçãoPaulo Lóssio CorrêaAinda não há avaliações
- Introdução À Administração AV1Documento3 páginasIntrodução À Administração AV1tostao01Ainda não há avaliações
- Resenha - A Totalidade Do Diabo - Gabriel CavalcantiDocumento2 páginasResenha - A Totalidade Do Diabo - Gabriel CavalcantiGabriel CavalcantiAinda não há avaliações
- CEPs ItápolisDocumento48 páginasCEPs ItápolisFábio HenriqueAinda não há avaliações
- O Pensamento de Mark LillaDocumento8 páginasO Pensamento de Mark Lillaoswaldomarangoni5295Ainda não há avaliações
- Substantivos e AdjetivosDocumento5 páginasSubstantivos e AdjetivosMozer Ribeiro0% (2)
- Weber em Tania Quintaneiro Um Toque de Cla SsicosDocumento41 páginasWeber em Tania Quintaneiro Um Toque de Cla SsicosinfiereAinda não há avaliações
- Caderno LFG - Direito Processual Civil v4Documento185 páginasCaderno LFG - Direito Processual Civil v4Andreia FernandesAinda não há avaliações
- AgroamigoDocumento3 páginasAgroamigoffelintoAinda não há avaliações
- Aula Resenha CriticaDocumento8 páginasAula Resenha CriticaCarla Rejane OliveiraAinda não há avaliações
- Natureza e Sociedade No Pensamento de ThoreauDocumento22 páginasNatureza e Sociedade No Pensamento de ThoreauRené Eberle RochaAinda não há avaliações
- A História Da Educação InclusivaDocumento8 páginasA História Da Educação InclusivaAngelaSantAnna100% (1)
- Aula 2 - Identidade e História: Essencialismo X Não EssencialismoDocumento8 páginasAula 2 - Identidade e História: Essencialismo X Não EssencialismoNi Ramalho50% (2)
- Resenha Do Filme - Páginas Da RevoluçãoDocumento2 páginasResenha Do Filme - Páginas Da RevoluçãoLaís FernandaAinda não há avaliações