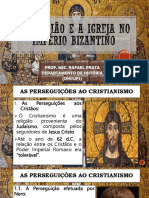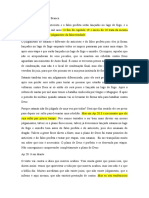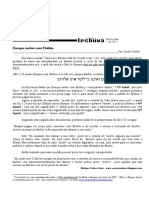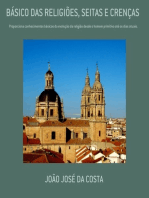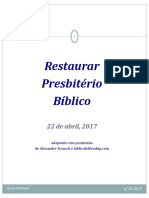Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Essência Do Evangelho de Paulo - Marcos Granconato
A Essência Do Evangelho de Paulo - Marcos Granconato
Enviado por
jrbbbarrosDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Essência Do Evangelho de Paulo - Marcos Granconato
A Essência Do Evangelho de Paulo - Marcos Granconato
Enviado por
jrbbbarrosDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A essncia do Evangelho
de Paulo
Marcos Granconato
A essncia do Evangelho
de Paulo
So Paulo / 2009
Dados Internacionais de Catalogao na Publicao
CIP-Brasil. Catalogao na fonte
G7624e Granconato, Marcos
A essncia do evangelho de Paulo/Marcos Granconato
So Paulo: Arte Editorial, 2008
160 p.: 14X21 cm
ISBN: 978-85-98172-38-5
1. Evangelho 2. Carta de Paulo I. Titulo
226 CDD
Copyright 2009 por Arte Editorial. Todos os direitos reservados.
Coordenao editorial e projeto grfico: Magno Paganelli
Reviso: Marcelo Smeets
1 Edio: janeiro / 2009
Publicado no Brasil por Arte Editorial
Todas as citaes bbl icas foram
extradas da Nova Verso Internacional
(NVI), 2001, publicada pela Editora
Vida, salvo indicao em contrrio.
Rua Parapu, 574 - Itaberaba
02831-000 - So Paulo - SP
editora@ar teeditorial.com.br
www.ar teeditorial.com.br
Prefcio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Aspectos Introdutrios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Autoria, data e destinatrios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Ocasio e propsito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Contribuio para a doutrina crist. . . . . . . . . . . . . . . . . .14
1 - O EVANGELHO VERDADEIRO
E SUA SINGULARIDADE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Saudaes iniciais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
A ameaa de um outro evangelho. . . . . . . . . . . 20
A origem divina do evangelho. . . . . . . . . . . . . . . 25
2 - O EVANGELHO VERDADEIRO E
SUA INDEPENDNCIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
A unidade apostlica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
A simulao de Pedro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
3 - O EVANGELHO VERDADEIRO E SEU PODER. . . . . . 49
A inutilidade do zelo legalista. . . . . . . . . . . . . . . . 49
A bno que vem da f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
A maldio da lei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
A harmonia entre a promessa e a lei. . . . . . . . . . 63
SUMRIO
6 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
4 - O EVANGELHO VERDADEIRO E A LIBERDADE. . . . . . . . 73
O fim da escravido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
O perigo de uma nova escravido. . . . . . . . . . . . . . . . 78
Apelos, lembranas e anseios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
O contraste entre Sara e Hagar. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5 - O EVANGELHO VERDADEIRO E AS
VIRTUDES ESPIRITUAIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Prejuzos do legalismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Uma corrida interrompida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
O amor o cumprimento da lei. . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
A vida sob o controle do Esprito. . . . . . . . . . . . . . . 115
6 - O EVANGELHO VERDADEIRO E OS
DEVERES CRISTOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Cuidando dos outros e de si mesmo. . . . . . . . . . . 129
A colheita futura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
O que realmente importa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
APNDICE - O CURSO POSTERIOR DO
LEGALISMO JUDAICO-CRISTO. . . . . . . . . . 143
NOTAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Senhor Deus nico, Deus Trindade, o que
disse nestes livros, de teu, reconheam-no
os teus; o que neles disse de meu, perdoa-
me Senhor, e perdoem-me os teus. Amm.
(Agostinho de Hipona. De Trinitate)
Quando comecei a estudar teologia, quatro dcadas atrs,
um livro foi muito importante para mim. Tratava-se do
comentrio de Merrill C. Tenney sobre a carta de Paulo aos
Glatas. Alm de trazer uma significativa contribuio defesa
da suficincia e exclusividade da graa, Tenney ensinava seus
leitores, mesmo os mais inexperientes e desavisados, como
eu, a ler a Bblia com mtodo e objetividade.
Quarenta anos depois, percebo que a Igreja no aproveitou
o suficiente daquela histrica publicao. Legalismos de
diversos matizes e matrizes ameaam roubar igreja brasileira
a singeleza de sua f, oferecendo outros (e falsos) evangelhos,
apelando mesma insensatez que atacou os glatas de outrora.
Tenho, em tal situao, a alegria e a honra de apresentar
Igreja brasileira um novo comentrio sobre a carta aos
Glatas. O que me influenciou, trazia a marca de algum que
fez da ctedra um plpito; o que apresento, A Essncia do
Evangelho de Paulo, traz a marca de algum que faz do plpito
uma ctedra que, como eu, ainda acredita que uma igreja
forte tem um plpito onde o ensino da Palavra filtra e corrige
as cosmovises oferecidas igreja pela mdia secular e,
infelizmente, por alguns que mercadejam a Palavra de Deus
por todos os meios que a (ps-) modernidade oferece.
prefcio
10 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
Marcos Granconato refuta tais idias de maneira persuasiva
e simples, sem deixar de lado a erudio. Professores e pastores
usaro com proveito este livro, tanto em seu preparo para a
aula quanto para o sermo. Opinies divergentes tero de lidar
com os argumentos apresentados neste livro, sob pena de
ignorarem evidncia relevante e parecerem, assim,
preconceituosos.
A Essncia do Evangelho de Paulo desafia o leitor a
desfrutar da aventura da graa aventura que, embora no
isenta de perigos, oferece eterna segurana com base exclusiva
e suficiente nos mritos de Jesus Cristo, nosso grande Deus e
Salvador, cuja vinda a bendita esperana da Igreja.
Carlos Osvaldo Cardoso Pinto
Professor, autor, e telogo
AUTORIA, DATA E DESTINATRIOS
A Epstola aos Glatas foi escrita pelo apstolo Paulo. Ainda
que um pequeno grupo de crticos tenha levantado objees
contra a origem paulina, as evidncias internas apontam
claramente para Paulo como o autor dessa carta (Cf. 1.1). Na
verdade, o calor e a autoridade com que a epstola trata do
problema dos falsos mestres, considerando-os uma terrvel
ameaa contra o evangelho e contra a prpria igreja, so
caractersticas prprias de um missionrio e lder zeloso, que
se v no dever de cuidar daqueles que so fruto de seu
trabalho, o que refora o argumento em prol de Paulo. Frise-
se ainda que uma poro proporcionalmente grande da carta
autobiogrfica (1.132.13), o que logicamente esvazia de
propsito a autoria de outra pessoa qualquer.
Paulo escreveu aos glatas no ano 48 d.C., um pouco antes
do Conclio de Jerusalm, ocorrido no mesmo ano (At 15). A
falta de meno das decises do conclio, as quais seriam to
teis aos propsitos da epstola, prova cabal em favor da
data mencionada, ainda que haja quem situe a composio
em 57 ou 58 d.C, entendendo que, em 2.1-10, Paulo faz aluso
s concluses conciliares de Atos 15.
1
Aspectos Introdutrios
12 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
A data mais antiga, se aceita, coloca a composio da carta,
num perodo aps o fim da primeira viagem missionria de
Paulo (At 13-14), depois dele e Barnab terem visitado pela
segunda vez o sul da Galcia (At 14.21-23).
2
O local em que
Paulo escreveu difcil, seno impossvel, de precisar.
Quanto aos destinatrios, muita tinta tem sido gasta na
defesa de duas opinies distintas. A primeira entende que
Paulo escreveu aos glatas tnicos que viviam no norte da
provncia. Porm, parece certo que o apstolo jamais visitou
essa regio. A segundo opinio, aparentemente melhor
fundamentada, entende que os destinatrios eram pessoas
de vrias raas que ocupavam a regio sul da Galcia, visitada
por Paulo em sua primeira viagem missionria (At 13-14).
3
Paulo, portanto, teria escrito sua carta aos crentes de
Antioquia da Pisdia (prxima fronteira da Galcia), Listra,
Icnio e Derbe. As igrejas dessas cidades, conforme veremos,
estavam sofrendo influncia de mestres judaizantes (6.12-
13) que, para obterem sucesso em seus objetivos, tentavam
desacreditar o apstolo Paulo (4.17). Conforme se depreende
da epstola, os glatas se tornaram vulnerveis a esses
ataques (3.1), revelando forte atrao por um sistema religioso
cuja essncia no ultrapassava o dever de cumprimento de
meras exigncias externas (4.10-11; 5.2).
OCASIO E PROPSITO
O que foi dito acima acerca dos destinatrios fornece os
elementos do cenrio que motivou Paulo a escrever sua
epstola. De fato, fica claro em toda a carta que os crentes da
Galcia estavam acolhendo os ensinos de mestres judaizantes
que afirmavam a necessidade dos cristos se submeterem
lei judaica. Mesmo sendo provavelmente em sua maioria
gentios (Cf. At 13.46-52), aqueles crentes viram certo atrativo
na mensagem dos mestres legalistas.
ASPECTOS INTRODUTRIOS 13
Quem eram, afinal, aqueles mestres? Tudo indica que eram
cristos judeus com uma compreenso defeituosa do evangelho,
confundindo-o com um judasmo alterado por certos
acrscimos. Pelo modo como Paulo se refere a eles, parece que
no pertenciam s igrejas destinatrias, sendo procedentes de
fora (veja 1.7, 9; 4.17; 5.10). Talvez viessem da Judia, onde
encontramos judeus cristos com uma compreenso do
evangelho que parece idntica dos falsos mestres sobre quem
Paulo escreve (At 11.1-3; 15.5). Em Atos 15.1 vemos que alguns
desses cristos judeus eram propagadores ativos do evangelho
legalista, visitando crentes gentios de outras cidades a fim de
convenc-los a se submeter Lei Mosaica (veja tb. At 15.23-
24). Parece certo, portanto, que Paulo se refere a essas pessoas
quando escreve aos glatas.
Os discursos dos mestres judaizantes, conforme se
depreende da epstola, abrangiam ataques contra a
autoridade apostlica de Paulo, levando-o a se defender
(1.1,11-12; 2.6-9,11). Esses ataques tambm eram dirigidos
contra a mensagem paulina, acusando-a de incentivadora de
uma vida desregrada. Alis, possvel que alguns crentes da
Galcia tenham de fato visto a mensagem do evangelho da
graa como uma licena para a libertinagem (5.13, 19-21; 6.8).
Ademais, os mestres judaizantes acusavam Paulo de
apresentar uma mensagem vacilante que pregava a
circunciso quando isso era conveniente (1.10; 5.11).
Tambm em seus discursos os mestres do evangelho
legalista insistiam na necessidade da circunciso (5.2-6; 6.12-
13), bem como na guarda da Lei Mosaica (4.10,21). Segundo
eles, a justificao no seria possvel caso, alm da f em
Cristo, os preceitos mosaicos no fossem rigidamente
observados (5.4). Para Paulo, tudo isso descaracterizava o
evangelho a tal ponto que seu produto no podia, de modo
algum, ser chamado de evangelho (1.6-7). Para ele, segundo
parece, os proponentes dessa soteriologia legalista, sequer
14 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
deveriam ser considerados crentes, posto que eram dignos de
ser amaldioados (1.8-9).
A partir da observao do contexto que subjaz e d motivo
composio da carta, fica fcil concluir que o propsito de
Paulo nessa epstola protestar contra a distoro do
evangelho em seu ponto essencial, a saber, a justificao
unicamente pela f, defendendo assim a mensagem e a
liberdade crists diante dos ataques do legalismo.
No se pode, porm, dizer que esse propsito era a meta
final e nica que o apstolo tinha em mente ao escrever sua
primeira epstola. Na verdade, a meta teolgica supra
mencionada era tambm um instrumento para a consecuo
de um alvo vivencial. De fato, Paulo afirma a liberdade do
crente em relao Lei no somente para realar a justificao
unicamente pela f, mas tambm, e talvez principalmente, para
ensinar que a maturidade crist autntica no pode ser
construda atravs da obedincia mecnica a um conjunto de
regras (Gl 3.3). Antes alcanada por meio da obra do Esprito
Santo na vida de quem foi redimido pela f. Sob a esfera,
influncia e controle do Esprito, o homem justificado
capacitado a viver aquela real santidade que o simples esforo
pessoal, ainda que sincero, jamais ser capaz de produzir (Gl
5.16-18, 22-26). Assim um segundo propsito igualmente
importante em Glatas desmascarar o falso conceito que
reduz a vida crist mera obedincia estril de normas
exteriores, demonstrando que o aperfeioamento do carter
do crente s ocorre por obra do Esprito Santo na vida daqueles
que, salvos pela f, submetem-se ao seu domnio.
CONTRIBUIO PARA A DOUTRINA CRIST
Glatas resume a essncia do evangelho pregado por Paulo
aos gentios, mostrando que o homem, por seu esforo pessoal,
no pode jamais resolver o problema da culpa que lhe foi
ASPECTOS INTRODUTRIOS 15
imposta e que o separa de Deus, restando-lhe apenas a f em
Cristo como meio de justificao (2.16).
Alm disso, Glatas mostra que essa f que justifica, no
apenas leva o crente a desfrutar de um novo status diante de
Deus, mas tambm o livra do viver vazio e corrupto prprio
dos homens deste mundo (1.4) e o capacita a andar sob a
influncia e controle do Senhor que agora habita nele (2.20).
Assim a tica crist tambm recebe forte contribuio da
Carta aos Glatas. Nela aprendemos que a liberdade do crente
no liberdade sem fronteiras, mas sim, uma liberdade
limitada pelo amor (5.13) e pela influncia do Esprito Santo
(5.16-26).
Finalmente, no se pode deixar passar em branco a
contribuio de 3.13 para a compreenso dos limites da morte
substitutiva de Cristo. Ele nos substituiu at o ponto de se
fazer maldio em nosso lugar, o que aponta para o estado
deplorvel em que nos encontrvamos antes de conhecer a
salvao, alm de mostrar a profundidade do abismo a que
Cristo desceu para nos buscar.
Aps se apresentar como apstolo de Cristo, Paulo repudia
vigorosamente qualquer evangelho que no se harmonize com
o que tem pregado, realando que o aprendera do prprio
Cristo, sem mediao de ningum, nem mesmo dos apstolos
de Jerusalm.
SAUDAES INICIAIS
GLATAS 1.1-5
1. Paulo, apstolo enviado, no da parte de homens nem
por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por
Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos,
2. e todos os irmos que esto comigo, s igrejas da Galcia:
3. A vocs, graa e paz da parte de Deus nosso Pai e do
Senhor Jesus Cristo,
4. que se entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de
nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade
de nosso Deus e Pai,
5. a quem seja a glria para todo o sempre. Amm.
O autor da carta, Paulo, apresenta-se logo no incio como
apstolo enviado, no da parte de homens nem por meio de
pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai... (1).
o evangelho verdadeiro e
sua singularidade
1.
18 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
Conforme visto no estudo sobre os aspectos introdutrios, Paulo
vinha sofrendo ataques de falsos mestres que, atuando entre
as igrejas da Galcia, diziam que ele no tinha a mesma posio
e autoridade dos apstolos de Jerusalm. Por isso, a fim de que
sua epstola no fosse recebida como uma carta qualquer, vazia
de credibilidade e poder e, assim, fosse de pronto desprezada,
Paulo, de antemo, enfatiza aos seus leitores que o que tm em
mos so ensinos procedentes de um apstolo verdadeiro;
algum que recebeu essa funo do Filho de Deus e do prprio
Pai. Nisto, entre outras coisas, ele se diferenciava daqueles que,
j em seu tempo, se autodenominavam apstolos, movidos
apenas pelo desejo de se destacar entre os crentes comuns e,
assim, engan-los (2Co 11.13; Ap 2.2).
No v. 1, Deus Pai mencionado como aquele que ressuscitou
Jesus dentre os mortos. A meno da ressurreio de Cristo
importante aqui porque foi o Cristo ressurreto quem
diretamente investiu Paulo no ofcio apostlico (Rm 1.5).
Ademais, a nfase na ressurreio era sempre conveniente
numa poca em que os homens estavam to familiarizados
com o pensamento grego que, em algumas de suas
manifestaes, considerava a matria m, a ponto de mais tarde,
dentro de uma roupagem crist, negar a encarnao do Filho
(1Jo 4.2; Hb 2.14) e a ressurreio fsica (1Co 15.12; 2Tm 2.18).
Ao escrever a Carta aos Glatas, Paulo estava na companhia
de um grupo de irmos. No sabemos onde o Apstolo estava
quando escreveu essa epstola e, portanto, nem de que cidade
eram os irmos que tinha em sua companhia. Seja como for,
Paulo faz aluso a eles como se fossem participantes da
composio da carta (2). Sem dvida o objetivo disso era
sensibilizar os destinatrios ao mostrar-lhes que os apelos
ali constantes no eram fruto das preocupaes de uma mente
isolada, mas que essas preocupaes eram compartilhadas
por irmos na f sinceros, que se uniam a Paulo em suas
exortaes, fazendo com ele um coro.
O EVANGELHO VERDADEIRO E SUA SINGULARIDADE 19
Eis aqui uma forma produtiva de como a igreja deve
demonstrar unidade: aliando-se aos ministros em seus apelos
e exortaes, dando assim maior fora s suas mensagens e
mostrando aos que esto no erro a reprovao unnime do
povo de Deus. De fato, nada encoraja mais os rebeldes do que
a conscincia de que h crentes que no concordam com as
reprovaes que lhes so dirigidas.
Como seu costume, Paulo deseja que seus destinatrios
desfrutem da graa e da paz que vem de Deus Pai e do Senhor
Jesus Cristo (3). A graa o favor de Deus ministrado aos
homens quando estes nada fizeram para merec-lo. A paz a
ausncia de intrigas nas relaes entre as pessoas e tambm
a serenidade interior experimentada por quem desfruta de
sade e do suprimento das necessidades em geral. A fonte de
tudo isso, para Paulo, Deus.
Se, por um lado, o Pai foi descrito como quem ressuscitou
Jesus dentre os mortos (1), no v. 4, ao mencionar novamente
as duas Pessoas, Paulo focaliza Cristo, apontando-o como
aquele que se entregou a si mesmo por nossos pecados. A
morte voluntria de Cristo afirmada aqui (Jo 10.17-18), bem
como o seu sentido teolgico, ou seja, o fato de sua morte ser a
satisfao pelos nossos pecados (1Jo 2.2; 4.10). Para os glatas,
fascinados com a idia de que a observncia da Lei Mosaica
poderia salv-los, era crucial que Paulo frisasse que somente a
morte de Cristo pde satisfazer as exigncias de Deus. Buscar
satisfazer a justia divina atravs de obras humanas seria o
mesmo que afirmar a insuficincia da cruz (Gl 2.21).
Ao sofrer a morte que era a punio pelos nossos pecados,
Cristo no somente teve como alvo nos substituir no castigo
a ns devido. Ao tirar-nos dentre os condenados morte, ele
conseqentemente nos resgatou desta presente era perversa
(4). O verbo traduzido como resgatar exairew e tambm
significa livrar ou libertar do poder de outra pessoa. H aqui
um breve lampejo do tema liberdade crist, presente em toda
20 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
a epstola. A presente era da qual Cristo nos resgatou o
atual sistema cultural com seus valores, crenas e apelos.
Trata-se de um sistema que rejeita Deus e, por isso, perverso
e merecedor de justo castigo.
Cristo sofreu a nossa condenao e, assim, nos libertou deste
mundo condenado. No somos mais participantes do seu
destino e tambm no devemos mais ser participantes de suas
prticas e modo de pensar. Fomos tirados de uma Sodoma que
em breve conhecer o fogo do juzo e, no sendo mais seus
cidados, no devermos adotar seu estilo de vida (Rm 12.1-2).
Paulo conclui dizendo que todo esse livramento aconteceu
pela vontade do Pai (Ef 1.5; Tg 1.18). A origem da salvao est
sempre em Deus. ele quem parte em busca do homem (Gn 3.9;
Os 11.1-2; Lc 19.10). O contrrio nunca acontece (Jo 5.40; Rm
3.11). Por isso natural que a seo termine com o apstolo
atribuindo e ele a glria para todo o sempre. Amm. (5).
A AMEAA DE UM OUTRO EVANGELHO
GLATAS 1.6-10
6. Admiro-me de que vocs estejam abandonando to
rapidamente aquele que os chamou pela graa de Cristo,
para seguirem outro evangelho
7. que, na realidade, no o evangelho. O que ocorre que
algumas pessoas os esto perturbando, querendo perverter
o evangelho de Cristo.
8. Mas ainda que ns ou um anjo dos cus pregue um
evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja
amaldioado!
9. Como j dissemos, agora repito: Se algum lhes anuncia
um evangelho diferente daquele que j receberam, que seja
amaldioado!
10. Acaso busco eu agora a aprovao dos homens ou a de
Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda
estivesse procurando agradar a homens, no seria servo
de Cristo.
O EVANGELHO VERDADEIRO E SUA SINGULARIDADE 21
Depois das palavras iniciais de saudao, Paulo entra
diretamente no assunto principal que o motivou a escrever a
epstola: o desvio dos crentes da Galcia para as sendas do
evangelho legalista, isto , a crena de que para ser salvo e
prosseguir na vida como um cristo modelo necessrio ser
um bom proslito do judasmo, guardando a Lei Mosaica em
todos os seus aspectos.
Paulo demonstra-se admirado com o desvio to rpido dos
glatas (6). De fato, como j vimos, a carta em anlise foi
escrita entre o fim da Primeira Viagem Missionria, quando
Paulo visitou a Galcia (At 1314) e o Conclio de Jerusalm
(At 15). Assim, os glatas comearam a abandonar o verdadeiro
evangelho to logo Paulo os deixou. Isso causava espanto no
apstolo. Lembremos que o problema na Galcia no dizia
respeito ao desvio relativamente comum de alguns novos
convertidos que com certa freqncia retornam para o mundo
(Mt 13.1-23). Paulo trata aqui da apostasia de, pelo menos,
quatro igrejas, ocorrido quando mal ele virara as costas.
No v. 6 o apstolo demonstra que abandonar o evangelho
equivale a abandonar o prprio Deus. Isso se torna ainda
mais grave quando lembramos que Deus aquele que os
chamou pela graa de Cristo. Mais uma vez a origem da
salvao colocada em Deus (Veja v. 4). Nota-se aqui que
ele quem chama (tb. v. 15), sendo essa uma convocao cujo
atendimento implica ser resgatado (Rm 8.30; 1Ts 2.12; 2Ts
2.13-14; 1Pe 2.9). Esse chamamento viabilizado pela graa
de Cristo (2Tm 1.9-10a). Deus chama o pecador porque, pela
graa de Cristo dada a ns desde os tempos eternos e revelada
em sua manifestao, possvel agora ter acesso ao Pai (2Co
5.18-19; Ef 2.17-18; 3.11-12; Hb 10.19-20). Os glatas, ao
abandonarem o evangelho, estavam dando as costas para o
Deus que havia realizado tudo isso em seu favor.
Esse abandono de Deus se expressava na disposio para
seguir outro evangelho que, na realidade, no o evangelho
22 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
(vv. 6-7). Na busca de agradar a Deus por meio da Lei, os
crentes da Galcia tinham, na verdade, abandonado o Senhor,
seguindo uma mensagem que no era dele, um evangelho
to desfigurado que no podia, de modo algum, ser chamado
de evangelho. Daqui se depreende duas preciosas lies.
Primeira: quem quer aproximar-se de Deus parte do nico
evangelho acaba por distanciar-se ainda mais dele. Segunda:
qualquer acrscimo mensagem de salvao que esvazia a
obra de Cristo de suficincia, perverte o evangelho verdadeiro
e deve ser de pronto rejeitado por ns como mpio e profano.
Paulo aponta para a causa daquele desvio to rpido. Diz
ele: O que ocorre que algumas pessoas os esto
perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. (7).
evidente que Paulo est se referindo aos mestres legalistas
que, possivelmente vindos de Jerusalm (Veja Aspectos
Introdutrios), anunciavam que para ser justificado diante
de Deus era necessrio que o cristo fosse circuncidado (5.2-
6; 6.12-13) e guardasse toda a Lei (2.16; 3.11; 4.10, 21). Tal
era, de fato, o contedo dominante do outro evangelho
combatido por Paulo na Carta aos Glatas.
Essa perverso do evangelho trazia perturbao s igrejas.
Perturbar aqui significa agitar, promover distrbios,
tumultuar ou criar confuso. Em Atos 15.24, onde o mesmo
verbo tarassw aparece, aprendemos que essa perturbao
consistia especificamente em transtornar ou confundir a mente
dos crentes com discursos herticos. Esse efeito da mentira
til aos falsos mestres porque a mente confusa vacilante e,
aos poucos, pela insistente proclamao do erro, termina por
ceder aos apelos da heresia. A mente dos novos crentes, onde
a S Doutrina, pelo pouco decurso do tempo, ainda no foi
digerida, assimilada e firmemente incorporada, alvo fcil
dessa estratgia. Os falsos mestres sabiam disso e usaram
com maestria o repugnante artifcio na Galcia, onde as igrejas
haviam acabado de nascer.
O EVANGELHO VERDADEIRO E SUA SINGULARIDADE 23
Por outro lado, que essa mesma mente vacilante seja
encontrada em crentes antigos inadmissvel, pois neles se
espera que a verdade esteja claramente delineada e solidamente
fixada, ao ponto de no poderem mais ficar confusos ou
perturbados, cheios de questes e dvidas, quando doutrinas
estranhas lhes so propostas (Cl 4.12; 2Pe 1.12).
O pronunciamento de Paulo em face da atuao dos mestres
judaizantes se constitui num dos mais impetuosos de todo o
Novo Testamento. Ele afirma com rigor: Mas ainda que ns
ou um anjo dos cus pregue um evangelho diferente daquele
que lhes pregamos, que seja amaldioado! (8). Com o
pronome ns, o apstolo se refere a si prprio. Dessa forma
ele pretende levar a hiptese ao absurdo a fim de mostrar
com que grau de firmeza o crente deve comprometer-se com o
evangelho genuno. Por outro lado, ainda que a hiptese do
prprio Paulo pregar um falso evangelho fosse praticamente
impossvel, havia a real possibilidade de algum ensinar
mentiras por meio de cartas e assin-las fraudulentamente
com o nome do apstolo. Parece que falsificaes desse tipo
aconteceram nessa poca no ministrio de Paulo (2Ts 2.1-2).
Tanto que, para frustr-las, ele assinava suas epstolas de
prprio punho (2Ts 3.17).
1
O que Paulo diz no v. 8, portanto,
serviria, inclusive, para prevenir os crentes contra heresias
ensinadas em seu nome.
Ainda no v. 8, o leitor se v diante de uma hiptese ainda
mais incrvel. Desta vez um anjo celeste que Paulo apresenta
como eventual proponente de um evangelho diferente daquele
que fora pregado aos glatas. A possibilidade de um ser
angelical maligno apresentar-se como um mensageiro de Deus
e, assim, enganar os homens vislumbrada em 2 Corntios
11.14, onde Paulo diz que o prprio Satans se disfara de
anjo de luz.
2
Dificilmente, contudo, Paulo estava receoso disso
realmente acontecer com os crentes da Galcia. Sua inteno
era apenas expressar quo fortemente os crentes devem se
24 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
opor a qualquer pessoa que se aproxima deles com uma
mensagem que tira da cruz de Cristo a sua suficincia.
Diante das duas hipteses levantadas por Paulo no v. 8, a
reao do crente deve ser uma s: considerar o tal mensageiro,
seja ele quem for, maldito. Na prtica isso no significa que o
crente tenha que pronunciar maldies contra o falso mestre.
O que Paulo ensina que o cristo deve considerar quem
anuncia um evangelho falso como estando debaixo da ira de
Deus (Cf. Rm 9.3 e 1Co 16.22, onde esse claramente o sentido
em que a palavra amaldioado deve ser entendida). Essa
orientao tem que sempre estar presente na mente dos crentes
de todas as pocas, uma vez que mensageiros mentirosos
existem desde os primrdios da igreja (Rm 16.17-18; 2Co 11.3-
4) e podem ser encontrados em qualquer lugar. Se essa postura
rgida fosse adotada pelos cristos modernos, h muito
veramos nossas igrejas livres do estranho evangelho que
pregado em nossos dias.
3
O v. 9 repete o que foi dito no 8, com ligeiras modificaes.
Aqui ele no fala de ns ou um anjo vindo dos cus. Antes
usa a palavra algum, um termo amplo que lgica e
propositalmente inclui os falsos mestres que perturbavam os
glatas. Alm disso, Paulo substitui a expresso evangelho...
que lhes pregamos por evangelho... que j receberam. Com
a primeira frmula Paulo evoca a fonte da mensagem pregada
inicialmente na Galcia, ou seja, um apstolo enviado pelo
prprio Deus (1.11-12). Com a segunda, Paulo traz lembrana
dos seus leitores o compromisso que assumiram com essa
mesma mensagem. Nos dois casos ele quer estimular as igrejas
da Galcia a reafirmar sua fidelidade ao evangelho puro.
A fora do texto em anlise, contudo, no est em suas
pequenas variaes. a repetio que naturalmente d nfase
ao que dito. Por meio da repetio, Paulo reala e assume
plenamente o que afirma, mostrando coragem, convico e
clareza, ao anular qualquer possibilidade de que s suas
O EVANGELHO VERDADEIRO E SUA SINGULARIDADE 25
palavras seja dada uma interpretao mais branda. De fato,
ele afirma e repete que o proponente de um outro evangelho
deve ser considerado maldito!
O v. 10 parece a princpio apresentar uma rpida digresso.
Nele Paulo rejeita terminantemente a idia de ser um ministro
que no exerccio de suas funes se preocupa em agradar a
homens. O que ocorre aqui, contudo, no propriamente um
desvio do assunto. Na verdade, o que o apstolo diz nos vv.
8-9 so uma prova clara de que no tem receio de desagradar
quem quer que seja. Ademais, possvel que na Galcia
fermentassem comentrios maldosos (estimulados pelos
mestres judaizantes) de que ele pregava a necessidade da
guarda da Lei, quando isso lhe era conveniente (Veja-se 5.11).
A sensibilidade de Paulo aos escrpulos dos judeus incrdulos,
demonstrada muitas vezes na sua prtica evangelstica, pode
ter servido de base para essas falsas acusaes (1Co 9.20-
21). Paulo agora destaca a falsidade delas. Segundo ele, seria
impossvel ser servo de Cristo e ao mesmo tempo buscar o
aplauso humano. Parece que para Paulo uma coisa exclui a
outra e esse fato deveria ser levado em conta por todos
quantos se dizem chamados para o ministrio. A tentativa de
esvaziar o trabalho de Cristo dessa dimenso incmoda tem
levado muitos pastores a abandonar o ensino escriturstico
para pregar e fazer o que agrada as mentes carnais.
A ORIGEM DIVINA DO EVANGELHO
GLATAS 1.11-24
11. Irmos, quero que saibam que o evangelho por mim
anunciado no de origem humana.
12. No o recebi de pessoa alguma nem me foi ele ensinado;
ao contrrio, eu o recebi de Jesus Cristo por revelao.
13. Vocs ouviram qual foi o meu procedimento no
judasmo, como perseguia com violncia a igreja de Deus,
procurando destru-la.
26 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
14. No judasmo, eu superava a maioria dos judeus da
minha idade, e era extremamente zeloso das tradies dos
meus antepassados.
15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me
chamou por sua graa. Quando lhe agradou
16. revelar o seu Filho em mim para que eu o anunciasse
entre os gentios, no consultei pessoa alguma.
17. Tampouco subi a Jerusalm para ver os que j eram
apstolos antes de mim, mas de imediato parti para a
Arbia, e voltei outra vez a Damasco.
18. Depois de trs anos, subi a Jerusalm para conhecer
Pedro pessoalmente, e estive com ele quinze dias.
19. No vi nenhum dos outros apstolos, a no ser Tiago,
irmo do Senhor.
20. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que
no minto.
21. A seguir, fui para as regies da Sria e da Cilcia.
22. Eu no era pessoalmente conhecido pelas igrejas da
Judia que esto em Cristo.
23. Apenas ouviam dizer: Aquele que antes nos perseguia,
agora est anunciando a f que outrora procurava destruir.
24. E glorificavam a Deus por minha causa.
O texto que passamos agora a analisar compe uma grande
seo autobiogrfica em que Paulo narra parte de sua
trajetria tanto dentro do judasmo quanto do cristianismo.
Seu propsito claramente oferecer elementos histricos que
comprovem a sua autoridade apostlica que, como se sabe,
estava sendo atacada pelos falsos mestres que atuavam dentro
das igrejas da Galcia.
Paulo inicia esclarecendo que o evangelho que pregava no
era de origem humana (11). evidente que sua inteno ao
alertar os glatas acerca disso era criar em suas mentes uma
idia de contraste entre o que lhes anunciara no princpio e o
que eles estavam agora ouvindo dos mestres judaizantes. H,
O EVANGELHO VERDADEIRO E SUA SINGULARIDADE 27
portanto, aqui a acusao implcita de que a mensagem dos
legalistas no passava de algo criado por eles mesmos.
Do que foi dito acima, facilmente se depreende uma
caracterstica tpica das falsas religies: suas crenas, ensinos,
rituais e prticas so apenas produto da frtil imaginao de
seus fundadores e lderes. Em contrapartida, o seguinte fato
sobre a verdadeira religio deve enraizar-se fortemente em
nosso corao: a religio genuna dada, no construda.
Deus quem a revela; no o homem que a inventa. Esse o
motivo pelo qual no podemos fazer alteraes no
cristianismo. No fomos ns que o criamos e, portanto, no
temos o direito de alter-lo. Se quisermos receb-lo, temos de
aceit-lo como ele .
4
No v. 12, Paulo desenvolve ainda mais o ensino de que o
evangelho que pregava no se originou em homens.
Primeiramente afirma que no o recebeu de ningum e que
nenhuma pessoa o ensinou. Nessas palavras pode-se
vislumbrar um dos traos do verdadeiro apostolado que Paulo
reivindicava de modo to veemente: o apstolo de Cristo no
aprendia a mensagem que pregava com outros homens. Essa
mensagem lhe era dada diretamente pelo Cristo ressurreto (1.1;
1Co 11.23ss). Esse um dos principais pontos de distino entre
os apstolos de Cristo e os crentes comuns, j que estes recebem
ou aprendem o evangelho de um outro cristo que se dispe a
pregar (1Co 15.1,3). Essa tambm uma das razes pelas quais
podemos afirmar que no existem mais apstolos hoje, uma
vez que ningum mais pode alegar com s conscincia que
aprendeu o evangelho sem a mediao humana.
Paulo completa o v. 12 com a declarao aberta de que recebeu
o evangelho do prprio Jesus Cristo por revelao. Enquanto
os glatas tinham recebido o evangelho pela pregao (3.1-2;
4.13), Paulo o recebera por meio de uma manifestao especial
de Deus, uma revelao (Ef 3.2-4). Assim foi com os demais
apstolos e profetas do perodo neotestamentrio (Ef 3.5) e
28 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
Paulo realava essa experincia a fim de defender a sua
autoridade apostlica (1.15-16; 1Co 2.9-13).
O apstolo passa agora a narrar a mudana dramtica que
se operou em sua vida aps ter conhecido a Cristo. Ele quer
demonstrar com a exposio desses fatos o grande impacto
que o evangelho que pregava causou em sua prpria histria.
evidente que uma transformao to profunda no podia
ser procedente de uma mensagem que o prprio apstolo
houvesse dolosamente inventado. Para Paulo, ele mesmo era
a prova viva da origem sobrenatural da mensagem que
anunciava. De fato, s uma mensagem oriunda de fontes
celestes poderia transformar o mais cruel dos inimigos da
igreja no apstolo dos gentios, talvez o maior cristo que j
pisou neste mundo.
No v. 13, Paulo afirma que os glatas ouviram acerca do
seu procedimento no judasmo, como perseguia com violncia
a igreja de Deus, procurando destru-la. Algumas informaes
sobre a ferocidade com que Saulo de Tarso investia contra os
crentes podem ser deduzidas de Atos 8.1-3; 9.1-2, 13-14; 22.4-
5; 26.9-11; 1 Corntios 15.9; e 1 Timteo 1.13-16.
Esses textos, associados ao versculo em anlise, mostram
que o objetivo maior dos inimigos da f, entre os quais Paulo
um dia foi contado, nitidamente destruir a igreja. Essa
verdade deve preocupar os crentes. No por nutrirem medo
de que a igreja um dia seja aniquilada. sabido, e a prpria
histria comprova, que isso impossvel (Mt 16.18; 1Pe 5.8-
11). Contudo, o anseio de destruir a igreja, tpico dos inimigos
de Cristo, deve preocupar o crente no sentido de evitar agir
tambm nessa direo. Na verdade, todas as aes dos cristos
devem ser avaliadas luz do tipo de impacto que elas
porventura causaro sobre a igreja de Deus. Qualquer ao
ou omisso que a enfraquea deve causar-nos pavor, uma
vez que nos torna cooperadores dos adversrios da famlia
de Deus.
O EVANGELHO VERDADEIRO E SUA SINGULARIDADE 29
Se de um lado Paulo era severo na perseguio do
cristianismo, de outro era tambm severo no cuidado pelo
judasmo (14). Na verdade, Saulo de Tarso, juntamente com
as autoridades judaicas e romanas, no via o cristianismo
como uma religio autnoma.
5
Para eles, o cristianismo era
apenas o judasmo corrompido pela idia de que Jesus era o
Messias prometido nas pginas do AT. A perseguio
promovida por Saulo, portanto, tinha como alvo purgar a
religio de seus antepassados dos desvios anunciados pelos
cristos. Assim, sua perseguio era fruto de zelo religioso
extremado (Fp 3.6). De fato, Saulo amava o judasmo e queria
livr-lo de supostas contaminaes (1Tm 1.13).
A meno desse zelo anterior de Paulo pelo judasmo
extremamente til para os seus propsitos na Carta aos
Glatas. Isso porque, como se sabe, os falsos mestres que
atuavam na Galcia se apresentavam como grandes
observadores da Lei Mosaica
6
, exigindo que os crentes se
submetessem ao jugo judaico e acusando Paulo de ter uma
mente apegada ao desregramento. A fim de expor a loucura
que tudo isso representava, o apstolo mostra que ele sim
havia sido um real observador da Lei, no do tipo que tentava
ser amigo dos cristos (como os falsos mestres), mas como
algum indisposto a tolerar qualquer sombra que nublasse o
centro de suas convices religiosas. Paulo afirma que foi um
observador da Lei sem igual entre os judeus de sua idade,
zelando extremamente pelas tradies de seus antepassados.
7
O apstolo quer com isso, indiretamente dizer: Eu j
percorri com todo o empenho o caminho no qual vocs e esses
tais mestres esto agora engatinhando e sei que um caminho
intil, incapaz de salvar. Toda a minha trajetria mostra o
quanto fui zeloso dessas coisas que hoje atraem tanto vocs.
Fui autoridade nisso tudo e agora, como apstolo, sou
autoridade no caminho novo do evangelho de Cristo. Por isso,
creiam-me: no h relao alguma entre o evangelho de Cristo
30 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
e o legalismo judaico. Conheo muito bem o primeiro e conheci
muito bem o ltimo. Sei que aquele poderoso para salvar e
que o ltimo s escraviza. Uma linha semelhante de
pensamento pode ser vislumbrada em Filipenses 3.4-9.
No v. 15, Paulo contrasta a vida que tinha no judasmo
com uma nova e gloriosa etapa; uma etapa de servio a Cristo,
servio esse marcado por prontido em obedec-lo (16) e
independncia dos lderes de Jerusalm (17). Ao iniciar esse
assunto, o apstolo cita apenas de passagem a causa primria
que o lanou nesse ministrio. Segundo ele, o prprio Deus o
separou desde o ventre materno e o chamou por sua graa.
A meno desses mistrios muito propcia neste ponto.
Evidentemente a meta de Paulo ao mencion-los demonstrar
a origem sobrenatural de seu chamado e assim neutralizar
os ataques que os falsos mestres faziam contra a
autenticidade de seu apostolado. De fato, ao dizer que Deus o
separou desde o ventre materno, alm de ensinar num breve
lampejo a predeterminao divina, tambm eleva seu
ministrio ao nvel dos mais eminentes servos de Deus do
Antigo Testamento (Is 49.1; Jr 1.4-5), o que deveria inspirar
temor e honra nos glatas que estavam vacilantes quanto
sua opinio acerca de seu pai espiritual (Ver tb. Rm 1.1).
Ademais, ao dizer que Deus o chamou por sua graa, golpeia
o ensino dos falsos mestres no prprio corao, pois est com
isso dizendo que seu zelo pela Lei e tradies judaicas, em
nada influiu na obteno do favor com que foi aquinhoado
pelo Senhor. Na verdade, foi unicamente pela graa de Deus
que alcanou o privilgio de ser contado entre os ministros
do evangelho. Resumindo, Deus chamou Paulo por sua graa,
no em virtude de seu zelo pregresso na prtica do judasmo.
Assim, com uma linha apenas, Paulo destri as duas
principais mentiras que emanavam da boca dos judaizantes:
a de que Paulo era um falso apstolo, e a de que a prtica da
Lei era fundamental para a obteno do favor divino.
O EVANGELHO VERDADEIRO E SUA SINGULARIDADE 31
O v. 16 termina o pensamento que a m diviso dos versculos
deixou incompleto no verso anterior. Houve um momento que o
Deus que separou Paulo antes dele nascer e o chamou por sua
graa, tambm lhe revelou seu Filho.
8
Tal revelao, conforme se
depreende do texto, foi especialmente feita com o propsito de
habilitar Paulo como pregador aos gentios.
pouco provvel, portanto, que o apstolo esteja se
referindo aqui sua experincia no caminho de Damasco.
Certamente alude a outra ocasio em que o Senhor revelou-
se a ele de forma visvel e gloriosa, provavelmente nas regies
da Arbia mencionada no v. 17, desvendando-lhe os mistrios
que deveria anunciar e escrever (Ver vv. 11-12; 2Co 12.1,7; Ef
3.2-3) e incumbindo-o da pregao aos povos de todo o mundo
(Rm 1.5, 14).
9
Aqui vemos, pois, um importante processo: O Deus que
separa e chama tambm o Deus que capacita para a obra.
Dele o plano ao escolher; dele a voz ao chamar, e dele so
os recursos ao tornar seu servo pronto para o servio. Alis,
essa verdade deve ser gravada de forma indelvel na mente
de todo o que trabalha em prol do Reino de Cristo, pois o
resultado de sua assimilao ser gratido por ser contado
entre aqueles que o Senhor preparou, prontido por saber
que o prprio Deus quem chama, e coragem advinda da
certeza de que o Chefe Onipotente quem nos capacita.
Tais foram as disposies presentes no apstolo. Tanto que,
ao ver-se encarregado dos grandes mistrios e deveres dados
por Deus, no consultou pessoa alguma.
Paulo prossegue afirmando, no v. 17, que ao tempo do seu
chamado no subiu a Jerusalm para ver os que j eram
apstolos antes dele. Sua inteno aqui reforar ainda mais
a alegao de que no aprendeu a mensagem que pregava
com homem algum (cf. vv. 11-12). Nem mesmo os apstolos
de Jerusalm lhe haviam transmitido essa mensagem. Nem
tampouco acrescentaram algo a ela ou tiveram que corrigi-la
32 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
em algum ponto. Paulo insiste em sua defesa contra os falsos
mestres alegando que um apstolo genuno, ou seja, algum
que recebeu sua mensagem diretamente do Cristo ressurreto,
sem qualquer mediao humana.
Diz ainda o apstolo que, quando da sua vocao, em
vez de consultar os lderes de Jerusalm, partiu para a Arbia
e depois voltou outra vez para Damasco. A Arbia era o reino
de Aretas (2Co 11.32) que abrangia as regies a leste de
Damasco, estendendo-se em direo ao sul sobre a
Transjordnia e abarcando toda a Pennsula do Sinai (4.25)
at Suez. Paulo foi para algum lugar dentro desses limites e
depois voltou para Damasco. Certamente isolou-se naquelas
regies a fim de refletir sobre tudo o que lhe acontecera e
tambm para receber capacitao de Deus para a pregao.
Essa ida de Paulo para as regies da Arbia no
mencionada no livro de Atos, mas provvel que se situe
entre os versculos 19 e 20 de Atos 9, o que, se for aceito,
coloca a ida Arbia antes do incio de seu ministrio como
pregador.
No v. 18 o apstolo diz que foi a Jerusalm somente trs
anos depois dos eventos narrados. Talvez ele tenha passado
todo esse tempo pregando em Damasco (Veja em At 9.23 a
expresso decorridos muitos dias). Ento, como no pudesse
mais permanecer ali sem correr grave perigo, fugiu (At 9.23-
25; 2Co 11.32-33) e aproveitou a oportunidade para seguir
at a Palestina, onde poderia finalmente conhecer Pedro.
Com a ajuda de Barnab (At 9.26-27), Paulo chegou a Pedro
e permaneceu com ele apenas quinze dias, o que seria
insuficiente se tivesse ido ali para receber qualquer
treinamento nas funes que desempenhava. Alm disso,
acrescenta sob juramento (20) que no viu nenhum dos outros
apstolos, exceto Tiago, irmo do Senhor.
10
Assim, mais uma
vez Paulo destaca que no era um apstolo de segunda
categoria como diziam seus oponentes. Antes, como ocorrera
O EVANGELHO VERDADEIRO E SUA SINGULARIDADE 33
com os seus colegas de Jerusalm, havia recebido o mnus
apostlico diretamente de Jesus Cristo ressurreto (1Co 9.1-2).
Depois de ter estado em Jerusalm, Paulo foi para a Sria e
Cilcia (21). A descrio desses fatos encaixa-se na narrativa
de Atos 9.29-30. Nesse texto aprendemos que em Jerusalm
Paulo corria perigo e, por isso, foi enviado para a Cilcia
(sudeste da atual Turquia), mais especificamente para Tarso,
sua cidade natal (At 21.39; 22.3). Foi nessa cidade que, mais
tarde, Barnab, saindo sua procura, o encontrou. Ele ento
levou-o at a recm formada igreja de Antioquia que,
finalmente, enviou ambos para a Primeira Viagem Missionria
(At 11.22-26; 13.1-2).
O que Paulo diz nos vv. 22-24 mostra que ele no visitou
as igrejas da Judia. Seu objetivo dar provas ainda mais
fortes de que seu contato com a rea de influncia dos
apstolos de Jerusalm foi praticamente inexistente, sendo
certo que sua formao apostlica no dependeu de Pedro
ou de qualquer outro lder influente de Jerusalm.
Ao afirmar isso, refere-se s igrejas da Judia como
estando em Cristo, o que significa estar sob a autoridade e
sob a esfera de influncia do Senhor ressurreto. Aqui
importante destacar que no so todas as igrejas da
atualidade que podem ser qualificadas desse modo. Qualquer
grupo que se apresente como igreja de Cristo, para que honre
esse ttulo deve curvar-se ao senhorio de Jesus, ser sensvel
sua mensagem proclamada na Escritura, e buscar a sua
presena atuante em seu meio. somente com esses traos
que uma igreja pode dizer que est em Cristo.
Paulo destaca que, mesmo no tendo visitado aquelas
igrejas, sua fama corria entre elas, de modo que, perplexas,
diziam: Aquele que antes nos perseguia, agora est
anunciando a f que outrora procurava destruir (23); e
louvavam a Deus por causa dele. Assim, o grande apstolo
mostra como ele, que inspirava terror, passou a inspirar
34 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
louvor; como ele, que arrancava gemidos de angstia, passou
a estimular oraes de gratido. Com isso Paulo quer mostrar
que mesmo igrejas que no o conheciam pessoalmente, ao
menos reconheciam sua converso e trabalho e com isso se
alegravam. Quanto mais no deveriam os glatas tambm
honr-lo, j que o conheciam de perto e eram fruto do seu
prprio empenho!
A mensagem pregada por Paulo, a qual no impunha a
circunciso aos crentes gentios, no estava em conflito com a
mensagem dos demais apstolos. Alis, Paulo repreendera
Pedro por haver tratado os crentes gentios com desprezo em
Antioquia a fim de agradar os defensores da circunciso vindos
da igreja de Jerusalm.
A UNIDADE APOSTLICA
GLATAS 2.1-10
1. Catorze anos depois, subi novamente a Jerusalm, dessa
vez com Barnab, levando tambm Tito comigo.
2. Fui para l por causa de uma revelao e expus diante
deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o,
porm, em particular aos que pareciam mais influentes,
para no correr ou ter corrido inutilmente.
3. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado
a circuncidar-se, apesar de ser grego.
4. Essa questo foi levantada porque alguns falsos irmos
infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que
temos em Cristo Jesus e nos reduzir escravido.
5. No nos submetemos a eles nem por um instante, para
que a verdade do evangelho permanecesse com vocs.
o evangelho verdadeiro e
sua independncia
2.
36 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
6. Quanto aos que pareciam influentes o que eram ento
no faz diferena para mim; Deus no julga pela aparncia
tais homens influentes no me acrescentaram nada.
7. Ao contrrio, reconheceram que a mim havia sido
confiada a pregao do evangelho aos incircuncisos, assim
como a Pedro, aos circuncisos.
8. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apstolo
aos circuncisos, tambm operou por meu intermdio para
com os gentios.
9. Reconhecendo a graa que me fora concedida, Tiago,
Pedro e Joo, tidos como colunas, estenderam a mo direita
a mim e a Barnab em sinal de comunho. Eles
concordaram em que devamos nos dirigir aos gentios, e
eles, aos circuncisos.
10. Somente pediram que nos lembrssemos dos pobres, o
que me esforcei por fazer.
No captulo 2, Paulo continua a narrativa, sempre com o
propsito de defender sua autoridade apostlica e a liberdade
crist. O captulo comea com a afirmao que, passados
quatorze anos, ele foi novamente a Jerusalm. difcil detectar
o ponto de partida para a contagem desses quatorze anos.
Pode-se cont-los tanto a partir de sua primeira visita quela
cidade (1.18-20), como a partir de sua converso, sendo esta
ltima hiptese a mais provvel.
No v. 1 Paulo diz que foi a Jerusalm acompanhado de
Barnab. Sabe-se que ambos por esse tempo eram lderes na
igreja de Antioquia (Atos 11.25-26; 13.1) e certamente partiram
dali para Jerusalm. Paulo diz que Tito, um gentio convertido
tambm os acompanhou. O apstolo prossegue dizendo que
a visita foi motivada por uma revelao e que, graas a ela,
teve a oportunidade de expor o evangelho que pregava aos
homens influentes da principal igreja da Judia (v. 2).
Esses detalhes se encaixam perfeitamente na narrativa de
Atos. A revelao de que Paulo fala descrita em Atos 11.27-
O EVANGELHO VERDADEIRO E SUA INDEPENDNCIA 37
30 e diz respeito a uma profecia de gabo que predisse uma
grande fome que assolaria o mundo romano.
1
Em virtude
dessa revelao, Paulo foi enviado com Barnab a Jerusalm
a fim de entregar uma oferta levantada em Antioquia para os
crentes da Judia (Veja tb. At 12.25). Como narrado em Glatas,
nessa ocasio Paulo no s realizou a entrega da oferta, mas
tambm aproveitou a oportunidade para expor aos lderes da
igreja em Jerusalm a mensagem que pregava aos gentios.
A fim de manter em mente o lugar que esses episdios
ocupam na cronologia de Atos, bom lembrar que tudo isso
aconteceu antes da Primeira Viagem Missionria a qual
redundou na implantao das igrejas da Galcia (At 13-14) e
antes do Conclio de Jerusalm (At 15.1-30), ocorrido em 48
d.C.
Paulo reala, ainda no v. 2, que fez a exposio de sua
mensagem aos que pareciam mais influentes. Alm disso,
deixa claro que agiu assim para no correr inutilmente. Isso
tudo significa que Paulo se preocupava em manter clara a
harmonia entre seus ensinos e os dos demais apstolos.
2
Isso
faria com que seus esforos no fossem inteis, ou seja,
evitaria as divises e at apostasias que as disputas entre
mestres invariavelmente trazem sobre a igreja do Senhor e
que tornam o trabalho de alguns uma corrida v.
O v. 2 mostra, portanto, quo importante que quem
trabalha na obra de Cristo nutra a unidade no s com os
crentes comuns, mas principalmente com aqueles que
desempenham na igreja uma funo de alta responsabilidade.
Ter a aprovao somente dos que no ocupam lugar de
destaque dado por Deus, com desprezo em relao ao parecer
dos lderes, dos mestres e dos que so realmente influentes
na igreja torna o trabalho uma corrida intil, destinada ao
fracasso, uma vez que s produzir divises e discrdias.
Trabalha, pois, em vo o obreiro que arranca os aplausos do
povo, mas est em desacordo com os homens que Deus
38 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
constituiu como colunas na sua igreja. Paulo sabia disso e,
ainda que no estivesse sob a autoridade dos apstolos de
Jerusalm, buscou cuidadosamente e para o bem da Causa
estar em harmonia com eles.
Nos vv. 3-5, Paulo mostra que os ataques que estava
enfrentando por parte dos falsos mestres da Galcia no lhe
eram novidade. Ele narra que em sua segunda visita a
Jerusalm, Tito
3
, apesar de ser grego, no foi obrigado a
circuncidar-se (3). Esse fato tinha especial importncia para
o enfraquecimento das acusaes dos mestres judaizantes,
pois dava provas de que os apstolos de Jerusalm, ao
contrrio do que aqueles falsos mestres diziam, no exigiam
a circunciso de convertidos gentios
4
. Paulo, assim, comprova
ainda mais a harmonia entre seu evangelho e o dos apstolos
da Judia. Isso corrobora a tese de que um verdadeiro
apstolo e destri a acusao de que pregava um cristianismo
modificado por seus caprichos.
A questo da necessidade da circunciso de Tito, conforme
Paulo narra, foi levantada na ocasio por falsos irmos (4).
Aqui Paulo diz abertamente que quem defende a justificao
pela prtica da Lei no crente. claro que isso atingia
diretamente os mestres judaizantes que estavam ensinando
nas igrejas da Galcia. O alvo claro de Paulo em toda essa
sesso desmascarar esses homens.
O v. 4 mostra uma das estratgias de Satans no uso de
seus ministros para destruir a obra de Cristo. Em primeiro lugar,
eles se infiltram em nosso meio. Assim, cada crente deve estar
alerta para o fato de que nem todos os que esto na igreja so
irmos de verdade. comum incrdulos fingirem-se de crentes
para cumprirem os desgnios de Satans no meio do povo de
Deus. Tais pessoas so, portanto, muito perigosas (2Co 11.26;
Fp 3.2-3) e o crente precisa de discernimento para detect-las.
Uma das formas pelas quais podemos detectar essas pessoas
encontra-se ainda no v. 4. Paulo deixa claro que os falsos irmos
O EVANGELHO VERDADEIRO E SUA INDEPENDNCIA 39
se introduziram na igreja para espionar a liberdade dos
crentes. Espionar atividade prpria de estrangeiros inimigos.
O verbo sugere a idia de espiar um territrio. Assim o espio
sempre um inimigo disfarado que procura os pontos fracos
do seu alvo a fim de cooperar com sua destruio. Em Jerusalm,
os espies procuravam encontrar dentro da igreja fraquezas
na compreenso da liberdade conquistada por Cristo para os
crentes. Fazendo presses sobre esses pontos de maior
fragilidade eles tinham como alvo destruir a liberdade crist e
tornar os crentes escravos da Lei.
5
Toda essa estratgia usada pelos maus nos ajuda a detectar
os inimigos de Cristo infiltrados entre os irmos. Sempre que
algum no meio da igreja milita contra algo que Cristo
conquistou para ns na cruz, certamente tal pessoa um servo
de Satans a servio de seu senhor no meio do povo de Deus.
Exemplos do que Cristo conquistou para ns no Calvrio, alm
da liberdade, so a alegria (Jo 7.38), a comunho pacfica (Ef
2.14-16), o acesso a Deus (Hb 10.19-20) e o poder para uma
vida de consagrao (Rm 6.10-11; 2Co 5.15). Sempre que
algum, dentro da igreja, luta contra essas coisas, tal pessoa
deve ser olhada com suspeita como um falso irmo infiltrado
em nosso meio para destruir a obra do Mestre e, assim,
cumprir os planos de Satans.
O v. 5 deixa implcito que os falsos irmos, alm de tentar
destruir o que Cristo conquistou para o seu povo tambm tentam
se impor sobre o rebanho. Paulo d a entender que os legalistas
de Jerusalm queriam que ele e todos os crentes se sujeitassem
s suas idias (o paralelo com os legalistas que estavam na
Galcia bvio, cf. 4.17; 6.12-13). , de fato, trao tpico dos
falsos irmos tentar ocupar posies de influncia, de onde seus
ataques podem ser feitos com maior eficcia (3Jo 9-10). O apstolo,
porm, em nenhum momento se sujeitou a eles. Com isso ele
buscava preservar a verdade do evangelho. A verdade que o
apstolo tem em mente aqui a consubstanciada em 3.11.
40 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
Demonstrar que sua mensagem no lhe fora entregue por
homem algum, mas sim pelo prprio Cristo, era fundamental
para Paulo na defesa de seu apostolado (1.11-12). Por isso
insiste em dizer que em sua segunda visita a Jerusalm, os
apstolos que ali estavam nada lhe acrescentaram (6). Com a
expresso quanto aos que pareciam influentes, Paulo d a
entender que tem em mente outros lderes, pouco conhecidos
por ele, alm dos apstolos. Ao mencionar tais homens e sua
aparente autoridade, Paulo observa que a grandeza deles
naquela igreja no o impressionava, pois, conforme lembra,
Deus no julga pela aparncia.
De fato, comum na igreja vermos pessoas se destacando,
tornando-se conhecidas e influentes, obtendo um lugar de
proeminncia no meio da irmandade, dando a todos a
impresso de que so grandes e cheios de autoridade entre
os crentes. Algum assim pode impressionar os homens, mas
no passar de uma figura desprezvel aos olhos de Deus,
algum que at mesmo muito o aborrece com seus ares de
orgulhoso, com sua preocupao em passar uma falsa imagem
de santidade e zelo (Mt 6.16; 2Tm 3.1-5), e com sua
incapacidade de aceitar qualquer autoridade sobre si. Paulo
sabia que muitas vezes as aparncias no correspondem aos
fatos. Por isso, no se deixava levar pelo aspecto externo das
coisas, sabendo que o justo Juiz julga de acordo com critrios
que vo alm das nossas possibilidades (1Sm 16.6-7; Is 11.1-
4), o que tambm deveria nos conduzir a um cuidado maior
com o que realmente somos e com o modo como tratamos as
pessoas (Jo 7.24; Tg 2.1-10).
Paulo prossegue dizendo que a liderana da igreja em
Jerusalm reconheceu seu apostolado como estando no mesmo
nvel do apostolado de Pedro, o apstolo de maior destaque
entre os Doze (7). A diferena entre ambos era apenas no
tocante ao alvo de cada ministrio. O principal alvo de Paulo
era os gentios; o principal alvo de Pedro era os judeus. Isso,
O EVANGELHO VERDADEIRO E SUA INDEPENDNCIA 41
evidentemente, no significava que Paulo no deveria pregar
aos judeus (At 9.15), ou que Pedro no deveria evangelizar
gentios. Na verdade, os judeus eram os primeiros que Paulo
tentava conduzir f nas cidades por onde passava (At 13.45-
48; 14.1; 18.5-6; 28.16-28), e Pedro foi personagem
fundamental no processo de incluso dos gentios na igreja
(At 10; 15.7). Aqui, no entanto, -nos ensinado acerca da
nfase do trabalho de cada um (Rm 11.13; 1Tm 2.7).
A despeito de atuarem em esferas diferentes, a igualdade
entre o apostolado de Paulo e o de Pedro estava no fato de
que Deus operara da mesma maneira por meio de ambos (8).
No havia, pois, razo alguma para que Paulo fosse
considerado um falso apstolo ou um apstolo de categoria
inferior como pretendiam os mestres legalistas. Paulo ensina
no v. 8 que nem mesmo o prprio Deus fazia essa distino.
A operao de Deus por meio de Pedro e Paulo como
apstolos, consistiu em manifestar seu Filho a eles depois de
ressurreto (Jo 20.19-20; 1Co 9.1), incumbi-los pessoalmente da
misso de proclamar o evangelho (Jo 20.21; At 26.15-18; 1Co
9.17), dar-lhes singular intrepidez e sabedoria ao pregar (Mt
10.17-20; At 4.13; 2Co 10.3-5; 11.23-29), abrir o corao de
incrdulos para a sua mensagem (At 2.37-41; 16.14) revelar-
lhes verdades doutrinrias at ento desconhecidas (2Co 12.1,7;
Ef 3.2-6; 2Pe 3.1-2), e realizar milagres jamais vistos como prova
de que sua mensagem vinha de Deus (2Co 12.12; Hb 2.3-4).
Paulo conclui o relato sobre sua segunda visita a Jerusalm
falando que os lderes da igreja ali reconheceram a
legitimidade de seu ministrio e estenderam a mo a ele e a
Barnab, um sinal de harmonia e amizade, estando em acordo
quanto s diferentes esferas de atuao missionria (9).
bom ressaltar que os lderes aqui, Tiago, Pedro e Joo, so
chamados de colunas, o que lembra o dever dos que esto
frente de sustentar a igreja com fora e firmeza inabalvel
(2Tm 1.7).
42 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
O v. 10 revela que os lderes de Jerusalm somente pediram
que Paulo e Barnab se lembrassem dos pobres. Isso fazia
sentido, considerando que a visita tinha sido motivada pela
profecia de Atos 11.27-30. Tal pedido, porm, no refletia
qualquer autoridade dos apstolos de Jerusalm sobre Paulo.
Mesmo assim, ele se esforou para atend-lo. De fato, o cuidado
com os carentes foi uma marca presente ao longo de todo o
ministrio de Paulo (Rm 15.25-26; 1Co 16.1-4).
A SIMULAO DE PEDRO
GLATAS 2.11-21
11. Quando, porm, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face
a face, por sua atitude condenvel.
12. Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele
comia com os gentios. Quando, porm, eles chegaram,
afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram
da circunciso.
13. Os demais judeus tambm se uniram a ele nessa
hipocrisia, de modo que at Barnab se deixou levar.
14. Quando vi que no estavam andando de acordo com a
verdade do evangelho, declarei a Pedro, diante de todos:
Voc judeu, mas vive como gentio e no como judeu.
Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como
judeus?
15. Ns, judeus de nascimento e no gentios pecadores,
16. sabemos que ningum justificado pela prtica da Lei,
mas mediante a f em Jesus Cristo. Assim, ns tambm
cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela f em
Cristo, e no pela prtica da Lei, porque pela prtica da Lei
ningum ser justificado.
17. Se, porm, procurando ser justificados em Cristo
descobrimos que ns mesmos somos pecadores, ser Cristo
ento ministro do pecado? De modo algum!
18. Se reconstruo o que destru, provo que sou transgressor.
19. Pois, por meio da Lei eu morri para a Lei, a fim de
viver para Deus.
O EVANGELHO VERDADEIRO E SUA INDEPENDNCIA 43
20. Fui crucificado com Cristo. Assim, j no sou eu quem
vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no
corpo, vivo-a pela f no filho de Deus, que me amou e se
entregou por mim.
21. No anulo a graa de Deus; pois, se a justia vem pela
Lei, Cristo morreu inutilmente!
A presente etapa da narrativa de Paulo refere-se a uma
severa repreenso que ele dirigiu a Pedro quando este visitou
Antioquia. Com a meno desse episdio, Paulo pretende
alcanar o propsito de mostrar que no era em nada inferior
aos apstolos de Jerusalm (j que repreendeu o maior dentre
eles), bem como defender a salvao unicamente pela f, ao
reproduzir as palavras que dirigiu a Pedro.
A seo se inicia com a meno de uma visita de Pedro a
Antioquia (11). O Livro de Atos no faz nenhuma referncia
a esse fato. Presume-se, a partir dos eventos narrados em
Atos12, que, depois de ter sido milagrosamente libertado da
priso em que Herodes o havia lanado, Pedro foi a Antioquia.
Em Atos dito apenas que ele se ausentou indo para outro
lugar (At 12.17). Depois disso, Pedro s aparece novamente
na narrativa em Atos 15, no Conclio de Jerusalm (At 15.7).
possvel, portanto, situar a visita de Pedro a Antioquia entre
sua extraordinria libertao e o Conclio de Jerusalm.
Paulo afirma que por aquele tempo teve de enfrent-lo face
a face, por sua atitude condenvel. Essa atitude descrita
no v. 12. Nele aprendemos que Pedro comia com os gentios
at a chegada de uma delegao de crentes judeus, vindos de
Jerusalm, enviados por Tiago. Porm, com a chegada dessa
delegao a Antioquia, ele ficou receoso de ser reprovado pelos
legalistas e, para passar-lhes uma boa impresso, afastou-se
dos irmos gentios.
De fato, antes do conclio mencionado em Atos 15, a igreja de
Jerusalm, predominantemente judaica, tinha em aberto a
44 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
questo de como receber os gentios em sua comunho. No
faltavam os que viam o cristianismo como um simples ramo do
judasmo e diziam que a f no era suficiente para que um gentio
fosse aceito como irmo, sendo necessria tambm a circunciso
e a guarda da Lei Mosaica (At 15.1, 5). Para esse grupo, era
inadmissvel que um judeu comesse com um gentio (At 11.1-3).
No estando esse problema ainda formalmente
solucionado, Pedro, diante dos irmos judeus, ficou com medo
de ser reprovado em sua associao com crentes incircuncisos
e, assim, rompeu a comunho com eles. Com isso ele
demonstrou hipocrisia, covardia e desobedincia, uma vez que
j havia aprendido do prprio Senhor a no desprezar os
crentes no judeus (At 10.27-28, 34-35; 11.1-17). Ele tambm
demonstrou desprezo pela s doutrina, preocupando-se mais
com a aprovao dos homens do que com a de Deus. Segundo
o v. 13, essa conduta vacilante e reprovvel influenciou outros
crentes judeus que a imitaram. Paulo admirou-se do fato de
que o prprio Barnab, exemplo mximo de piedade (At 4.36-
37; 11.22-24), tambm tivesse se deixado levar.
Evidentemente, tamanha falta no poderia passar em
branco e Paulo tomou em suas mos a tarefa de admoestar
Pedro, o principal responsvel por toda aquela farsa. Paulo
entendeu que Pedro e os demais judeus no estavam andando
de acordo com a verdade do evangelho (14). De fato, a
verdade do evangelho, alm de ensinar que a salvao pela
f somente (16; Rm 3.28), estabelece tambm que em Cristo,
no h distino entre judeus e gentios (At 15.8-9; Gl 3.26-
28); que em sua morte, o Filho de Deus rompeu a barreira de
separao que estava entre os dois e criou de ambos um novo
homem, fazendo a paz (Ef 2.11-19); e que os gentios so co-
participantes da graa de Deus dada em Cristo (Ef 3.5-6).
Quando Pedro e seus companheiros se afastaram dos irmos
gentios, era como se negassem todas essas verdades,
passando a andar em desarmonia com elas.
O EVANGELHO VERDADEIRO E SUA INDEPENDNCIA 45
A repreenso de Paulo destacou inicialmente a incoerncia
do procedimento de Pedro: Voc judeu, mas vive como gentio
e no como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a
viverem como judeus? (14). Com essas palavras, Paulo toca
na ferida do farisasmo. Nelas vemos implcitos os dois erros
principais cometidos por todos os que querem viver sob a Lei.
Primeiro, sua conduta exterior uma farsa. Os legalistas tm
uma vida dupla: diante dos homens apresentam-se como
zelosos da Lei, mas longe dos olhos alheios vivem conforme
outros padres (Mt 23.23-28). Em segundo lugar, os fariseus
legalistas tm o hbito de impor fardos sobre os outros, mas
eles prprios no se dispem a carregar esses mesmos fardos
(Mt 23.4). assustador que Pedro, que viu quo severamente
o Senhor, em seu ministrio terreno, reprovou a conduta
farisaica (Mt 23.1-3), tenha incorrido em to grave erro.
A reproduo da repreenso dirigida por Paulo a Pedro
prossegue nos vv. 15-16. Nesses versculos Paulo conta ter
trazido lembrana de Pedro que mesmo eles, sendo judeus
de nascimento, portadores de privilgios e conhecimentos
espirituais que os colocavam em vantagem em relao a
qualquer pago ignorante (Rm 9.1-5), j haviam descoberto
que ningum justificado pela prtica da Lei, mas mediante
a f em Jesus Cristo. Esse princpio to resistido pelos homens
em todas as eras j havia sido descoberto por judeus agora
convertidos, os quais outrora tinham tentado ser justificados
pela prtica da Lei e haviam falhado. Como ento Pedro,
algum que, como um desses judeus, j tinha experimentado
a impotncia da Lei, era agora capaz de sutil e
dissimuladamente impor sua observncia aos gentios? Se, com
todos os privilgios espirituais que tinham, os judeus haviam
falhado e recorrido f, reconhecendo ser esta a nica sada,
como poderiam agora impor o fardo da Lei a povos que jamais
tiveram privilgio algum? , pois, como se Paulo dissesse:
Ns judeus, com todo o favor que recebemos, descobrimos
ser impossvel algum salvar-se pela Lei. Como podemos
46 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
esperar agora que os pobres gentios consigam essa
faanha?.
Assim, Paulo conclui o v. 16 realando que, mesmo eles,
judeus com vantagens sobre todos os povos, tiveram que crer
em Cristo para ser justificados, j que pela observncia da Lei,
a qual exige uma obedincia perfeita, ningum, nem mesmo o
povo da Aliana com todo o seu conhecimento, direitos e
prerrogativas, pode ser considerado justo aos olhos de Deus.
No v. 17, Paulo sugere que se o homem justificado pela f
em Cristo, porventura ainda buscar a justificao pela Lei, isso
ser o mesmo que, estando em Cristo, considerar-se ainda preso
ao pecado. Seria como se dissesse: Mesmo tendo encontrado
a justificao pela f em Cristo, isso no me suficiente, pois
considero-me ainda um pecador no justificado. Ora, isso
significaria que crer em Cristo nos manteria ainda sob o pecado.
Nesse caso, o ministrio do Senhor, ou seja, seu ensino e obra,
no nos livraria, mas sim manteria nossas almas sob a culpa
do pecado que no pde remover. Cristo seria assim, um
ministro que ainda nos deixaria no pecado. Para Paulo, essa
hiptese absurda. , de fato, repugnante blasfmia atribuir
ainda que s uma parte da justificao observncia da Lei, j
que isso implica afirmar que Cristo no suficiente para salvar
e que a simples f nele ainda nos mantm enredados em culpa
e condenao (veja o v. 21).
O procedimento de Pedro em Antioquia trazia em si todas
essas horrveis implicaes. Sendo j justificado em Cristo,
ele se apresentara diante dos judeus de Jerusalm como
algum que buscava a justificao pela prtica da Lei e, agindo
assim, blasfemava, j que com essa prtica era como se
dissesse que o Senhor no o livrara da culpa, mas como
ministro do pecado, ainda o mantinha em triste escravido.
De fato, era como se dissesse que ainda estava em busca da
salvao, considerando Cristo como algum que o conservara
preso aos seus pecados.
O EVANGELHO VERDADEIRO E SUA INDEPENDNCIA 47
Dando seqncia sua argumentao, Paulo,
provavelmente ainda reproduzindo sua censura a Pedro, faz
uso de uma figura tirada do contexto da construo civil (18).
Ele afirma que se reconstruo o que destru, provo que sou
transgressor. O significado disso simples: Paulo, Pedro e os
demais crentes judeus, quando creram em Cristo, haviam como
que destrudo sua antiga confiana nas obras da Lei. Eles
tinham chegado concluso de que a Lei no era capaz de
fornecer abrigo contra a culpa do pecado e, por isso, tinham
posto ao cho todas as paredes de confiana que se aliceravam
sua observncia. Ento, passaram a viver em outra casa, a
casa da f em Cristo, nica edificao que oferece real segurana.
Agora, porm, Pedro e seus companheiros estavam agindo como
se voltassem a viver sob o teto da Lei. Era como se estivessem
edificando novamente as paredes de confiana nas obras que
eles prprios haviam destrudo quando creram no Senhor. Ora,
isso era o mesmo que reconhecer que erraram quando deixaram
de confiar na Lei. Era o mesmo que afirmar que cometeram
grave transgresso quando depositaram somente em Cristo a
esperana de justificao.
No v. 19, ressaltando o absurdo da hiptese prevista no v.
18, Paulo mostra quo impossvel era para ele qualquer
reconstruo da confiana na Lei. Ele havia morrido para ela,
ou seja, havia se libertado totalmente do seu domnio (Rm
7.4-6). Isso acontecera por meio da prpria Lei que lhe
mostrara, quando ainda o tinha sob seu domnio, quo
incapaz era de livrar do pecado, posto que to somente o
realava e, dada a nossa malcia, at o estimulava ainda mais
(Rm 7.7-14). Nesse sentido, foi a prpria Lei que encorajou
Paulo a abandonar a confiana nela. Morto para os preceitos
legais e, dessa forma, livre de seus fardos, Paulo passou a
viver para Deus.
O apstolo explica o significado da expresso viver para
Deus no v. 20. Num dos versculos mais tocantes de todo o
48 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
NT, Paulo diz que morreu para a Lei ao unir-se a Cristo em sua
crucificao. Essa uma forma viva de dizer que morreu para
a Lei ao apropriar-se dos benefcios da morte de Cristo. Assim,
estar crucificado com Cristo prender-se cruz pela f e, assim,
morrer para a velha vida com seus padres e crenas vs
(6.14). Lembremos que essas palavras provavelmente ainda
compem a admoestao dirigida a Pedro que, com seu
procedimento, revelara um modelo diferente de vida.
Paulo prossegue explicando, ainda no v. 20, o sentido da
expresso viver para Deus (v. 19). Ele diz que, alm de estar
morto para o antigo estilo de vida baseado na confiana na
Lei, tem agora seu eu totalmente dominado por Cristo. J
no sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aqui reside o
segredo de toda a piedade crist. Esta no consiste de
obedincia exterior a regras, como ensinavam os mestres
legalistas da Galcia, mas sim de um deixar-se dominar
totalmente por Cristo, de tal forma que o indivduo desaparea,
inundado por uma onda de carter transformado e santo (5.24).
Essa vida que implica morte para padres antigos e inteis;
essa vida que implica a renncia de si prprio; essa vida que
consiste na construo do viver de Cristo em ns, s possvel
pela f no Filho de Deus. No h espao nela para a confiana
nas obras pessoais. Alis, admitir, como Pedro dera a entender,
que a justia vem pela Lei, seria o mesmo que anular a graa
de Deus e afirmar a inutilidade do sacrifcio de Cristo (21).
mediante a f que o homem justificado, e por obra do
Esprito Santo que participa das bnos da vida crist, sendo
a Lei incapaz de realizar qualquer uma dessas coisas, conforme
se v no relato bblico acerca de Abrao. De fato, a Lei no foi
dada para salvar, mas para dar limites ao mal e conduzir o
pecador a Cristo, em quem desaparecem as barreiras entre os
homens.
A INUTILIDADE DO ZELO LEGALISTA
GLATAS 3.1-5
1. glatas insensatos! Quem os enfeitiou? No foi diante
dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado?
2. Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prtica da
Lei que vocs receberam o Esprito, ou pela f naquilo que
ouviram?
3. Ser que vocs so to insensatos que, tendo comeado
pelo Esprito, querem agora se aperfeioar pelo esforo
prprio?
4. Ser que foi intil sofrerem tantas coisas? Se que foi
intil!
5. Aquele que lhes d o seu Esprito e opera milagres entre
vocs realiza essas coisas pela prtica da Lei ou pela f
com a qual receberam a palavra?
o evangelho e seu poder
3.
50 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
No captulo 3 de Glatas, Paulo passa a tecer diversos
argumentos em defesa da f como instrumento de justificao
e ao especial de Deus em detrimento da observncia da Lei.
A seo se inicia com fortes palavras de censura que
expem a triste condio dos glatas. Com elas, Paulo quer
claramente despertar seus leitores de forma que tornem
sensatez. glatas insensatos! Quem os enfeitiou? (1),
escreve o apstolo. Da se depreende em primeiro lugar que
abandonar a confiana exclusiva em Cristo e se estribar numa
justia prpria imaginria, que busca a salvao por meio da
obedincia externa a regras, a mais absurda loucura.
Tambm um conceito mais amplo de sabedoria advm disso:
o homem sbio aquele que reconheceu a impotncia dos
seus esforos pessoais e lanou-se pela f, sem reservas, nos
braos do Salvador. H, assim, sabedoria na f. O homem sbio
, basicamente, o homem que cr. Sua sabedoria se expressa
na f em Cristo (2Tm 3.15).
A partir do v. 1 tambm se deduz que o legalismo exerce
um notvel fascnio sobre a natureza humana. como se
enfeitiasse o homem, nublando sua mente e impedindo-o
de andar luz das verdades mais elementares do evangelho.
O homem fica fascinado com a idia de ser capaz de produzir
sua prpria justificao; sente-se atrado pela aparncia de
piedade que acompanha o zelo pelas tradies e pelas regras
religiosas; busca cegamente a aprovao e admirao dos
homens que mostram-se sempre impressionados com a
religiosidade exterior; enfim, fica encantado com o que tem
ares de grandeza e seriedade, mas no tem poder para fazer
o indivduo andar um centmetro sequer no rumo da
santidade (Cl 2.23). Aqui, portanto, Paulo toca num dos
fatores que fazem do legalismo uma das mais perigosas
armadilhas: o fato dele fascinar as pessoas e, aps entorpecer
suas mentes, conduzi-las apostasia, ao abandono da f
na suficincia de Cristo (5.4).
O EVANGELHO E SEU PODER 51
A insensatez dos crentes da Galcia ganhava contornos
ainda mais fortes quando se considerava que o evangelho
fora exposto a eles com clareza indescritvel. Paulo lhes
apresentara o sacrifcio do Senhor e o significado de sua obra
com tamanha vivacidade que era como se eles tivessem sido
testemunhas oculares da crucificao (1Co 1.23; 2.2).
1
A
suficincia da obra de Cristo no Calvrio fora apresentada a
eles de forma to enftica que nenhum espao restara para a
confiana nas obras da Lei. A despeito disso, aqueles cristos
deixaram-se levar pelos encantos da doutrina da justificao
pelas obras, sendo seduzidos pelos contornos de um sistema
religioso centrado no esforo humano, com seu zelo
aparentemente piedoso e glrias transitrias. Isso refora o
fato de que o problema dos glatas no fora ingenuidade ou
ignorncia, mas verdadeira e surpreendente estupidez, o que
mostra quo poderosa pode se tornar a influncia de falsos
mestres no seio da igreja.
A fim de despertar os crentes da Galcia do sono da insensatez,
Paulo passa, a partir do v. 2, a dirigir-lhes perguntas cujas
respostas so fceis e bvias. Alis, to bvias so as
respostas que tais perguntas requerem que, por meio delas,
fica ainda mais patente a insensatez dos glatas.
Paulo dirige aos seus leitores, no v. 2, a seguinte pergunta:
foi pela prtica da Lei que vocs receberam o Esprito, ou
pela f naquilo que ouviram? Daqui se depreende tanto que
os glatas haviam recebido o Esprito Santo quanto que
tinham plena conscincia disso. Aqui preciso deixar claro
que essa conscincia no era decorrente de nenhuma evidncia
sobrenatural externa. De fato, os relatos da converso dos
crentes da Galcia constantes do Livro de Atos mostram que
tais converses no foram acompanhadas de nenhuma
manifestao externa de dons espirituais (At 13.43, 48; 14.1,
20-21). Portanto, a conscincia de que tinham o Esprito estava
presente nos glatas em virtude de uma obra interna do
52 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
prprio Esprito em seus coraes, a qual consistira a princpio
de ench-los com uma alegria especial num ambiente que lhes
era hostil (At 13.52) e agora se manifestava num testemunho
interior que lhes dava a certeza de que eram filhos de Deus
(Rm 8.15-16).
Ora, certos de que tinham o Esprito, aqueles crentes no
eram ignorantes ao ponto de crer que tal ddiva lhes fora
concedida por meio da observncia da Lei mosaica. Alm disso,
o propsito da prpria pergunta do v. 2 realar algo bvio,
ou seja, que o Esprito de Deus passara a habitar neles a
partir do momento em que creram na mensagem anunciada
por Paulo e no pelo fato de terem cumprido a Lei, j que,
como se sabe, ningum capaz de cumpri-la de fato.
O ensino da habitao do Esprito Santo no crente parte
integrante do Novo Testamento (Rm 5.5; 1Co 2.12; 3.16; 6.19;
2Co 1.21-22; 5.5), sendo certo que a ausncia do Esprito em
algum, prova de que tal pessoa no salva (Rm 8.9; 1Co
2.14; Jd 19). Que essa ddiva nos advm pela f em Cristo
fato que tambm compe o ensino bblico (Jo 7.37-39; Ef 1.13).
Paulo, assim, faz uso dessa verdade para, mais uma vez,
mostrar a superioridade da f em relao prtica do
legalismo. Ele mostra dessa forma que somente a f os
introduzira no rol dos homens habitados por Deus, sendo a
Lei incapaz de conceder-lhes tal privilgio.
A pergunta que Paulo faz no v. 2 reveste-se de uma
importncia singular nos dias modernos. Isso porque na
atualidade existem igrejas evanglicas que incentivam seus
membros a buscar o batismo do Esprito Santo por meio de
certas prticas cultuais ou de zelo religioso. Chegam mesmo
a dizer que s recebe o Esprito o crente que durante um
perodo indeterminado se dedica a jejuns e oraes,
submetendo-se ainda a outras regras impostas pela igreja.
Ora, isso equivale a dizer que o Esprito dado por meio das
obras e no pela f. justamente esse pensamento que o v. 2
O EVANGELHO E SEU PODER 53
rejeita. Paulo, desde o incio, havia ensinado aos glatas que
a justificao pela f, e no pela prtica da Lei (At 13.39).
Agora ele os faz lembrar que tambm a habitao de Deus no
homem advm somente da f em Cristo, nada restando Lei
que faa dela fonte de benefcios espirituais.
Paulo prossegue demonstrando a insensatez dos crentes
da Galcia. Agora, no v. 3, ele mostra quo absurda tolice
terem iniciado a carreira crist pela atuao do Esprito Santo
e, ento, depois de conhecerem a incomparvel fora
transformadora dele, se voltarem para si mesmos, crendo que
em si encontraro recursos para serem aperfeioados. Aqui
Paulo deixa claro primeiramente que pela atuao
sobrenatural do Esprito de Cristo que nos tornamos cristos.
nele que encontramos o incio de toda a nossa carreira
espiritual como filhos de Deus (Jo 16.8; Rm 2.29; 1Co 2.4-5;
6.11; Ef 1.13; 2Ts 2.13; 1Pe 1.2). O papel do Esprito, porm,
na transformao do homem no pra a. Sua obra no crente
continua (Rm 5.5; 8.13; 2Co 3.18; Ef 3.16; Fp 1.6) e, sem ela,
o cristo que confia meramente em seus esforos pessoais,
no progride um centmetro sequer.
Na Galcia, porm, os crentes no assimilaram essas
verdades indo ainda muito alm em seu erro. De fato, estavam
confiando no esforo pessoal legalista no somente para servir
a Deus, mas tambm para de alguma forma obter o que criam
ser a justificao completa. Eles acreditavam que pela atuao
do Esprito neles, a obra de justificao havia apenas se
iniciado e que agora dependia deles a concluso dessa obra.
Essa crena hertica porque, alm de reduzir a real amplitude
da obra de Deus na salvao humana, no fim das contas coloca
sobre os ombros do homem a responsabilidade por sua prpria
salvao, como se ele tivesse poderes para obt-la. Portanto,
diminuir a obra de Deus e exaltar a obra do homem o
resultado final desse desvio doutrinrio. Paulo rejeita tudo
isso. Em seu ensino, a consagrao a Deus depende da obra
54 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
do Esprito (Rm 7.6) e, alm disso, nenhuma confiana pode
ser depositada no esforo humano para a obteno da justia
de Deus (Fp 3.3; Tt 3.5).
No v. 4, Paulo faz os crentes da Galcia recordarem um
pouco de sua histria. Quando eles receberam o evangelho
da salvao pela f, rompendo muitos deles com o antigo
sistema judaico, essa deciso lhes trouxe inmeros
dissabores. Alis, foram precisamente os judeus, homens que
confiavam na justia de Lei que, vendo suas crenas serem
ameaadas, se insurgiram contra Paulo na Galcia (At 13.49-
51; 14.2,4-5,19-20). Evidentemente essa perseguio atingiu
tambm os que creram na pregao de Paulo (At 14.22). Dessa
maneira, foi por terem abraado uma mensagem que
desprezava o legalismo judaico que os crentes da Galcia
haviam sofrido tanto. Agora, porm, respondendo aos apelos
dos falsos mestres, eles estavam se voltando precisamente
para o legalismo judaico, cuja rejeio lhes havia custado preo
to alto. Teria sido desnecessrio todo aquele sofrimento?
pergunta Paulo. Que terrvel prejuzo ter sofrido por algo que,
como pareciam agora crer, no tinha valor algum! Antes
tivessem permanecido na Lei. Assim receberiam os aplausos
daqueles que os perseguiram e no teriam passado inutilmente
por tantas provas. Ao encerrar o v. 4 com a frase se que foi
intil, Paulo faz transparecer que duvida da hiptese que
levantou. como se dissesse: prefiro, contudo, ainda
acreditar que vocs no consideram intil tudo pelo que
passaram.
Com o v. 5, Paulo termina o pargrafo reforando o ensino
j exposto (v. 2) de que a ddiva do Esprito vem pela f e no
pela prtica da Lei. A isso ele acrescenta, valendo-se ainda de
perguntas inquietantes, que a operao de milagres entre os
glatas era resultado da f e no do zelo legalista. No se
sabe de que milagres ele fala aqui. Talvez tenha em mente os
que ele prprio realizou na Galcia (At 14.3, 8-10), mas
O EVANGELHO E SEU PODER 55
possvel que outras manifestaes especiais do Esprito fossem
testemunhadas por aqueles cristos, considerando que tais
operaes eram muito comuns nos dias apostlicos. Seja como
for, Paulo quer aqui to-somente frisar que a graa operante
de Deus resultado da f e no um pagamento pelas obras.
Se assim fosse, no poderia mais ser chamada de graa.
A BNO QUE VEM DA F
GLATAS 3.6-9
6. Considerem o exemplo de Abrao: Ele creu em Deus, e
isso lhe foi creditado como justia.
7. Estejam certos, portanto, de que os que so da f, estes
que so filhos de Abrao.
8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios
pela f, anunciou primeiro as boas novas a Abrao: Por
meio de voc todas as naes sero abenoadas.
9. Assim, os que so da f so abenoados junto com
Abrao, homem de f.
Nesse novo pargrafo, Paulo deixa de argumentar a partir
da lgica exposta em perguntas retricas e passa a fazer uso
de argumentos escritursticos. Inmeras citaes do Antigo
Testamento so feitas a partir do v. 6. Com elas, Paulo repisa
a tese de que a justificao pela f, independentemente das
obras da Lei Mosaica.
bom destacar que o largo uso de citaes bblicas feito
por Paulo demonstra como o apstolo tinha em alta conta a
Sagrada Escritura. De fato, quando deseja provar a veracidade
de seu ensino, recorre a ela muito mais do que ao raciocnio
lgico, mostrando que a tinha como palavra final nas questes
que estava discutindo. Essa viso da Bblia como fonte ltima
de autoridade tem sido abandonada pelos cristos modernos,
2
o que redunda em tristes prejuzos doutrinrios e morais.
Apelar para o que o texto sagrado diz na hora de dirimir
56 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
questes de f e conduta prtica que deve ser resgatada
pelos crentes de hoje.
No v. 6, portanto, Paulo, citando Gnesis 15.6, introduz o
exemplo de Abrao como prova bblica de que a justificao
pela f.
3
De fato, o texto de Gnesis ensina que foi a f que
Abrao teve e no a sujeio a regras
4
que o levou a ser
considerado justo diante de Deus. Alis, esse exemplo de Abrao
foi citado por Paulo com o mesmo objetivo cerca de nove anos
mais tarde, na Epstola aos Romanos. Ali, o apstolo expe de
modo ainda mais completo o fato do grande patriarca da nao
judaica ter sido justificado somente por ter crido em Deus e
ainda antes de ser circuncidado (Rm 4.1-3, 9-10, 13). Esse fato
tinha relevncia especial no combate aos ensinos dos falsos
mestres da Galcia que impunham aos crentes a necessidade
da circunciso caso quisessem ser salvos (5.2-6; 6.12-13).
Entretanto, esse uso reiterado que Paulo faz de Gnesis
15.6 pode levantar objees. Isso porque, aparentemente, o
objeto da f de Abrao no foi idntico ao objeto da f crist.
Abrao, mesmo sendo j velho e no tendo nenhum filho,
creu na promessa de que Deus faria uma grande nao a partir
de um descendente seu (Gn 15.4-6). A f crist, por sua vez,
tem um foco distinto. Por ela o crente cr que Jesus Cristo o
Filho de Deus que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados,
depositando nele sua confiana para a vida eterna. Parecem,
portanto, bem distintos os contornos que caracterizam a f
de Abrao e a f dos crentes em Cristo. Como, ento, Paulo
pde compar-las?
A resposta a essa questo pode ser obtida observando-se
Romanos 4.18-22. Nesse texto, especialmente nos vv. 20-21,
Paulo deixa claro de que modo a f de Abrao se identifica
com a dos cristos. luz desse texto, o patriarca creu no que
Deus prometeu (Hb 11.11) e os cristos fazem o mesmo ao
crerem nas promessas que Deus fez em seu Filho (2Tm 1.1;
Hb 9.15; 10.23; 2Pe 3.13; 1Jo 2.25). Alm disso, Abrao creu
O EVANGELHO E SEU PODER 57
que Deus era poderoso para cumprir sua promessa. Ora,
tambm os cristos, quando crem na promessa de que em
Cristo recebero o dom da vida eterna no duvidam que Deus
poderoso para cumprir sua Palavra (Fp 3.21). Nesse aspecto,
a f de Abrao e a dos cristos se harmonizam plenamente,
sendo sob esse ngulo que Paulo traa um paralelo entre elas.
O que no se pode perder de vista aqui o ponto central
que Paulo quer realar, ou seja, que a justia s creditada ao
homem que tem f. A resposta velha pergunta do corao
de J (J 9.1-2), foi dada pela Escritura na histria da Abrao
(Gn 15.6) e expandida no Novo Testamento pela pena do
apstolo Paulo.
No v. 7, Paulo leva o leitor implicao do que foi dito no
versculo anterior: se Abrao foi justificado pela f, os
verdadeiros filhos dele so aqueles que crem. O ensino de
que os crentes so descendentes de Abrao aparece algumas
vezes, direta ou indiretamente, no Novo Testamento (Rm 2.28-
29; 4.11-12; Gl 6.16; Fp 3.3). Esse ensino reala, basicamente,
que os crentes, independentemente de sua origem racial,
quando creram em Cristo passaram a desfrutar das bnos
espirituais prometidas a Israel (Rm 15.27; Hb 8.8-12 cp. 9.15).
Aqui necessrio fazer uma ressalva. O fato de Abrao
ter uma descendncia espiritual no implica a desconsiderao
de sua descendncia fsica. O Israel segundo a carne
obviamente ainda existe e ocupa um lugar no plano de Deus
(Rm 3.1-2; 9.1-5; 11.1-2, 11, 25-29). A igreja no surgiu para
substitu-lo, mas sim para entrar na sua herana (Rm 11.17-
18; Ef 2.12-13; 3.5-6). , portanto, errado dizer que a igreja
agora o novo Israel (1Co 10.32). claro que dentro da igreja,
judeus e gentios so um s, no havendo diferena entre
ambos (1Co 12.13; Gl 3.26-28; Ef 2.11-16; Cl 3.11). Mas no
aspecto externo, a igreja no se confunde com Israel, sendo
ambos distintos, ocupando espaos diversos na viso e nos
decretos de Deus.
58 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
Um dos benefcios oriundos dessa viso se relaciona com
o modo como o crente entende as promessas de bnos
materiais feitas a Israel no Antigo Testamento. O povo judeu
recebeu de Deus promessas de sade e prosperidade caso fosse
obediente. Tambm recebeu promessas de castigo, caso fosse
rebelde (Dt 28). Entendendo erradamente que a igreja o
novo Israel de Deus, muitos intrpretes da Bblia tentam
aplicar essas promessas aos crentes de hoje. Nessa tentativa,
alguns espiritualizam aquelas promessas, dizendo que elas
so simblicas e no devem ser entendidas literalmente.
5
Um
outro grupo, fugindo da alegorizao, cai na chamada
Teologia da Prosperidade, ensinando que os crentes, sendo o
novo Israel, podem desfrutar daquelas promessas de riqueza
e sade num sentido real e concreto, devendo tambm temer
maldies que afetem suas finanas e seu corpo. Essas duas
vertentes esto erradas e as concluses falhas de ambas, ainda
que distintas, apiam-se no mesmo falso pressuposto, a saber,
que a igreja o Israel moderno.
Para que evitemos, portanto, esses erros, mantenhamos
ntida em nossa mente a seguinte verdade: como crentes
procedentes dos gentios somos considerados descendncia de
Abrao porque, em Cristo, como herdeiros daquela patriarca,
participamos das promessas feitas a Israel. Isso, porm, no
nos torna substitutos de Israel, que continua ocupando um
lugar de importncia nos propsitos do Senhor. Decididamente,
o estranho que participa da herana por meio de um
testamento no anula com isso os direitos dos herdeiros
naturais. Tambm o cozinho maroto que bebe o leite da vaca,
no vira bezerro, nem toma o seu lugar.
Conforme se v, o ensino do v. 7 que os que crem em
Cristo adquirem o status de herdeiros de Abrao, mesmo no
descendendo fisicamente dele. Dessa forma, por meio da f,
pessoas de todo o mundo e das mais diversas famlias, podem
participar das promessas feitas ao velho patriarca e serem
O EVANGELHO E SEU PODER 59
abenoadas com ele. Crendo em Cristo, elas participam da
promessa da herana, feita a Abrao. De fato, claramente
isso o que o apstolo diz nos vv. 8 e 9. Neles as palavras de
Gnesis 12.3, a saber, por meio de voc todas as naes sero
abenoadas, significam que quem cr como Abrao,
independentemente de sua origem racial, desfruta junto com
ele da promessa que lhe foi feita de ser herdeiro do mundo
(Rm 4.13)
A descendncia espiritual de Abro, porm, no exclui do plano
de Deus sua descendncia fsica. A igreja no substitui Israel.
Ela desfruta das bnos prometidas nao judaica, mas no
ocupa seu lugar nem se confunde com ela (Rm 15.27; Ef 2.12-
13; 3.5-6). Na verdade, a igreja se sub-roga em alguns direitos
de Israel, mas no se torna Israel. A distino essencial entre os
dois povos permanece e Deus trata a ambos de modo distinto,
reservando um lugar diferente em seu plano para cada um deles.
A MALDIO DA LEI
GLATAS 3.10-14
10. J os que se apiam na prtica da Lei esto debaixo de
maldio, pois est escrito: Maldito todo aquele que no
persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da
Lei.
11. evidente que diante de Deus ningum justificado
pela Lei, pois o justo viver pela f.
12. A Lei no baseada na f; ao contrrio, quem praticar
estas coisas, por elas viver.
13. Cristo nos redimiu da maldio da Lei quando se tornou
maldio em nosso lugar, pois est escrito: Maldito todo
aquele que for pendurado num madeiro.
14. Isso para que em Cristo Jesus a bno de Abrao
chegasse tambm aos gentios, para que recebssemos a
promessa do Esprito mediante a f.
60 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
No v. 9, o apstolo dos gentios ensinou que os que so da
f so abenoados junto com Abrao, homem de f. Agora, no
v. 10, Paulo aponta para o contraste existente entre a condio
espiritual dos que so da f e a condio espiritual dos que
se apiam na prtica da Lei. Se por um lado, os que so da f
so abenoados (v. 9), os que buscam sua justificao atravs
da observncia dos preceitos da Lei Mosaica esto debaixo de
maldio. Paulo se refere a estes, literalmente, como os que
so das obras da Lei. Isso reala o contraste com os que so
da f e, considerando que o apstolo trata aqui do meio pelo
qual algum liberto da condenao eterna, a expresso aponta
para a atitude de quem pe a confiana em sua prpria justia
para a salvao da alma.
Para provar a existncia de maldio sobre os mestres
legalistas e sobre todos os que buscavam ser justificados pela
prtica da Lei, Paulo mais uma vez recorre Sagrada
Escritura, palavra final em qualquer discusso de ordem
doutrinria. Citando, a princpio, Deuteronmio 27.26,
demonstra que maldito todo aquele que no pratica a
totalidade dos preceitos legais. Paulo tem em mente aqui um
pressuposto claro: ningum jamais conseguiu guardar a Lei
(6.13; At 15.10). Logo, todos os que se colocam sob o seu
jugo fatalmente a transgridem e, assim, tornam-se objeto de
sua terrvel maldio.
Cabe a esta altura levantar a seguinte questo: em que
consiste, exatamente, a maldio da Lei? luz do texto citado
por Paulo (Dt 27.26), a maldio consiste em estar sob a
reprovao e ira de Deus, bem como sujeito ao seu terrvel e
certo castigo (Dt 28.15ss). No texto usado por Paulo, a
maldio decorrente da transgresso da Lei apresenta
conseqncias marcantemente materiais. Paulo, porm, no
fixa o olhar nesse aspecto do castigo. Antes, como se v,
estende o seu significado para abranger a punio de Deus
sobre os que no crem, especialmente aqueles que,
O EVANGELHO E SEU PODER 61
procurando estabelecer uma justia prpria, pem sua
confiana nas obras que realizam. Tais pessoas esto sob a
ira de Deus e sujeitas a um castigo futuro que, como se sabe,
ultrapassa os revezes da presente vida (2Ts 1.9).
Em resumo, estar sob a maldio da Lei estar em
inimizade com Deus, excludo da bno da justificao pela
f e aguardando o castigo iminente.
6
Sob essa maldio toda
a humanidade sem Deus se encontra, mas para os que so da
Lei ela pronunciada por Paulo de forma especial e aberta,
quando ele cita a prpria Lei e amplia o seu sentido.
Nos dias modernos, vrios grupos evanglicos tm pregado
a existncia dos mais diversos tipos de maldio que, segundo
eles, recaem indiscriminadamente sobre crentes e incrdulos.
Tais grupos realizam correntes de orao, cultos de libertao
e outras prticas supersticiosas para libertar os homens de
supostas maldies hereditrias ou coisas semelhantes. Nada
disso, porm, tem amparo bblico. A nica maldio que paira
sobre a humanidade perdida a maldio da Lei, ou seja, a
maldio de no ser justificado pela f e, assim, no ser
herdeiro de Deus. Tal maldio s recai sobre os incrdulos e
somente pela f em Cristo algum pode ser colocado fora do
seu alcance (vv. 13-14).
O uso do testemunho da Escritura como prova cabal da
veracidade de seus argumentos continua a ser feito por Paulo
no v. 11. Agora ele cita Habacuque 2.4. Esse texto traz a
resposta de Deus a uma questo levantada pelo profeta que
via a Babilnia levantar-se como instrumento do juzo de Deus
para destruir Jud: Como um Deus santo e justo pode usar
os mpios como seu instrumento de castigo sem agir para
refre-los? (Hc 1.12-13, cf. 1.5-6). A resposta de Deus que
essa situao no perdurar para sempre, pois um dia o mpio
ser castigado (Hc 2.16-17), e que, enquanto isso no acontece,
o justo ser preservado por sua f. Paulo detectou o princpio
presente nas palavras de Habacuque de que somente a f
62 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
pode livrar o homem do castigo, sendo ela o trao distintivo
do justo. Esse princpio o ncleo da doutrina da justificao
pela f, tanto que o apstolo o repete em Romanos 1.17,
quando novamente quer ensinar essas verdades.
Uma terceira citao do Antigo Testamento feita por Paulo
no v. 12. Trata-se de Levtico 18.5. Aqui o contraste entre a f
e as obras da Lei notvel. Se de um lado, conforme mostra o
profeta Habacuque, o justo viver pela f (v. 11), sob a Lei o
homem s viver se observ-la, sem que necessariamente
tenha f no corao. Paulo mostra assim a superioridade do
seu evangelho comparado com a mensagem dos falsos
mestres. Esta sequer exigia uma nova disposio interior para
com Deus, baseando-se apenas em expresses externas e na
mecnica observncia de regras. A falta de importncia dada
f no sistema legalista j seria, por si s, um motivo para
rejeit-lo. Ademais, e aqui reside a questo principal, se o
justo viver pela f e a Lei a dispensa, no a tomando por
base, logo os que so da Lei no vivero!
O que Paulo disse nos vv. 11-12 tem como objetivo reforar
o ensino de que os que se apiam na prtica da Lei esto sob
maldio (v. 10). Resumindo, como se dissesse: A Lei traz
maldio sobre quem a desobedece (v. 10). O nico modo de
se livrar do castigo pela f (v. 11). A Lei, porm, no se
baseia na f (v. 12). Logo, a maldio sobre os que so da Lei
permanece. Essa a situao dos que buscam ser justificados
pela prtica dos preceitos mosaicos: a maldio da Lei para
eles um problema perene cuja soluo nem mesmo a prpria
Lei oferece.
pela obra de Cristo na cruz que o homem redimido da
maldio da Lei (v. 13). Cristo nos substituiu, tomando o nosso
lugar como maldito criminoso e sofrendo as conseqncias
daquela maldio. Paulo enxerga esse sentido da morte de
Cristo na forma como ele foi executado. Olhando para
Deuteronmio 21.23, o apstolo se recorda da cruz do Calvrio
O EVANGELHO E SEU PODER 63
e v ali o Senhor sendo considerado transgressor em nosso
lugar, colocando-se assim sob a maldio da Lei.
7
O v. 14 explica que essa obra substitutiva de Cristo foi
realizada para que, mediante a f, homens de todas as famlias
da terra se livrassem da maldio da Lei e, em vez de sofrer
seus castigos, passassem a desfrutar da bno prometida a
Abrao (Gn 12.3; Rm 4.13-16). Assim, Cristo provou a
maldio de Moiss para que os crentes provassem a bno
de Abrao. E no somente isso. Por meio dessa f o homem
recebe o Esprito Santo, tornando-se habitao dele, uma
bno que a prtica da Lei jamais poderia obter (Gl 3.2).
8
A HARMONIA ENTRE A PROMESSA E A LEI
GLATAS 3.15-29
15. Irmos, humanamente falando, ningum pode anular
um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo.
16. Assim tambm as promessas foram feitas a Abrao e
ao seu descendente. A Escritura no diz: E aos seus
descendentes, como se falando de muitos, mas: Ao seu
descendente, dando a entender que se trata de um s, isto
, Cristo.
17. Quero dizer isto: A Lei, que veio quatrocentos e trinta
anos depois, no anula a aliana previamente estabelecida
por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa.
18. Pois, se a herana depende da Lei, j no depende de
promessa. Deus, porm, concedeu-a gratuitamente a Abrao
mediante promessa.
19. Qual era ento o propsito da Lei? Foi acrescentada por
causa das transgresses, at que viesse o Descendente a
quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de
anjos, pela mo de um mediador.
20. Contudo, o mediador representa mais de um; Deus,
porm, um.
21. Ento, a Lei ope-se s promessas de Deus? De maneira
nenhuma! Pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse
conceder vida, certamente a justia viria da lei.
64 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a
fim de que a promessa, que pela f em Jesus Cristo, fosse
dada aos que crem.
23. Antes que viesse essa f, estvamos sob a custdia da
Lei, nela encerrados, at que a f que haveria de vir fosse
revelada.
24. Assim, a Lei foi o nosso tutor at Cristo, para que
fssemos justificados pela f.
25. Agora, porm, tendo chegado a f, j no estamos mais
sob o controle do tutor.
26. Todos vocs so filhos de Deus mediante a f em Cristo
Jesus,
27. pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se
revestiram.
28. No h judeu nem grego, escravo nem livre, homem
nem mulher; pois todos so um em Cristo Jesus.
29. E, se vocs so de Cristo, so descendncia de Abrao
e herdeiros segundo a promessa.
No pargrafo anterior, Paulo ressaltou que, mediante a f
em Cristo, pessoas de todos os grupos tnicos (e no somente
os judeus) podem desfrutar da bno prometida a Abrao
(14). Tendo agora, portanto, introduzido o tema relativo
promessa feita a Abrao, Paulo prossegue enfatizando sua
natureza pactual, mostrando que tal promessa no pode
depender de exigncias (como as normas da Lei Mosaica)
impostas posteriormente.
Assim, no v. 15, o apstolo usa a ilustrao da aliana
para explicar em que consistiram as promessas feitas a
Abrao. Ele diz, apontando para a figura de um instrumento
jurdico comum tambm em nossos dias, que um contrato
9
,
depois de ratificado, ou seja, uma vez confirmado e concludo,
no pode ser alterado, muito menos podem ser acrescentadas
a ele exigncias inexistentes ao tempo de sua celebrao.
Ora, o que verdade no tocante a acordos feitos
formalmente entre os homens, aplica-se s promessas feitas
O EVANGELHO E SEU PODER 65
a Abrao e ao seu descendente (16), ou seja, Deus no poderia
se comprometer a abenoar Abrao e o seu descendente de
forma incondicional (cf. Rm 4.13) e, depois de algum tempo,
mudar as regras do jogo. fcil concluir onde Paulo quer
chegar: a Lei no se constitui numa exigncia necessria para
que algum se beneficie da promessa feita a Abrao. Se assim
fosse, Deus teria agido de modo injusto, incluindo exigncias
novas a um contrato j concludo.
10
O v. 16 apresenta uma breve nota hermenutica esclarecedora
de um ponto que essencial para o ensino de Paulo. O apstolo
se detm sobre um detalhe presente no texto de Gnesis em que
a referncia descendncia de Abrao feita por meio de uma
palavra no singular, a palavra semente (Gn 12.7; 13.15; 24.7).
A princpio, a presena desse termo no texto hebraico significa
apenas que a promessa de Deus no se limitaria ao tempo de
vida de Abrao, mas se estenderia ao longo das eras, alcanando
inmeras geraes procedentes do grande patriarca.
Paulo, contudo, v algo mais aqui. Ele observa que o uso do
singular em Gnesis no acidental e que o termo semente
tambm no deve ser entendido de modo coletivo. Para o
apstolo, o uso do singular conduz ao entendimento de que a
semente se refere a um descendente s, ou seja, Cristo. A
implicao disso que as promessas no seriam restritas aos
que descendem fisicamente de Abrao, mas a todos, tanto
judeus como gentios que, pela f, se encontram em Cristo, ou
seja, se revestiram dele e a ele pertencem (vv. 27-29). De fato,
estando em Cristo, homens do mundo inteiro tornam-se
beneficirios das promessas feitas a esse descendente de Abrao
e, portanto, juntamente com ele, ho de herdar o mundo,
conforme estabelece o pacto de Deus com Abrao (Rm 4.13).
Cabe ainda nesta altura ressaltar o modo como Paulo faz
uso do texto bblico. notvel a ateno que o apstolo d a
detalhes, fixando sua ateno em aspectos gramaticais e
mostrando sua relevncia para a construo da S Doutrina.
66 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
Essa busca de sentido baseada no na imaginao ou na
criatividade do intrprete, mas na gramtica e na anlise
objetiva, deve servir como padro para todos os intrpretes
da Bblia na modernidade.
11
A inteno de Paulo ao usar a ilustrao do testamento ou
do contrato (15) exposta claramente no v. 17. V-se ali que,
sendo a promessa feita mediante uma aliana j ratificada,
no haveria como a Lei, dada sculos depois, invalid-la. De
fato, Deus no poderia se comprometer a dar gratuitamente
uma herana e, depois de selado o compromisso, impor
requisitos para que o homem desfrutasse dessa mesma
herana. Isso faria com que a ddiva da herana passasse a
depender do preenchimento dos novos requisitos e no mais
da promessa gratuita de Deus (18). A verdade, porm, que a
herana foi concedida a Abrao e ao seu descendente (Cristo
e, conseqentemente, os que so dele, cf. vv. 26-29) mediante
uma promessa, independentemente de qualquer exigncia
prvia ou posterior como a Lei Mosaica.
Do que Paulo disse at aqui, surge naturalmente uma
questo: se a Lei no um requisito para o desfrute da
promessa, ento qual a sua razo de ser? Para que ela foi
dada? Com que objetivo foi imposta? No v. 19 o apstolo explica
que as normas estabelecidas no Sinai foram promulgadas por
causa das transgresses. O significado disso pode-se deduzir
a partir de Romanos 3.20; 4.15; 5.20; e 7.5,7. Nesses textos
aprendemos que a Lei de Moiss torna o homem consciente
do seu pecado
12
, uma vez que ressalta a sua desobedincia.
Ademais, por causa dela, todos so colocados sob a condio
de transgressores (vv. 22-23). Assim, a Lei foi dada para
realar o fato de que somos maus, demonstrar essa verdade
a ns mesmos e encerrar o homem sob a desobedincia.
isso o que Paulo quer dizer quando afirma que a Lei foi dada
por causa das transgresses. Ela veio para realar o pecado
e demonstrar que somos pecadores.
13
O EVANGELHO E SEU PODER 67
O propsito da Lei, como descrito acima, vigorou at que
viesse o Descendente a quem se referia a promessa (19), o
qual, segundo o v. 16, Cristo. Isso significa que ao longo de
sculos a Lei Mosaica demonstrou satisfatoriamente,
especialmente na histria de Israel, a pecaminosidade humana
(Rm 9.31). Tendo cumprido seu objetivo, a Lei deixou de
vigorar. Isso aconteceu to logo a soluo para a transgresso
do homem demonstrada na Lei, ou seja, Cristo, se manifestou
neste mundo. Ainda que o Senhor tenha nascido sob a Lei
(4.4), sua obra ps fim ao imprio da Lei (4.5; Ef 2.14-15).
Esta, tendo atingido seu propsito de realar a desobedincia,
deu lugar soluo para essa mesma desobedincia, a saber,
a Cruz (Jo 1.17; Rm 8.3-4; 2Co 3.7-10; Cl 2.16-17; Hb 7.12;
8.13; 9.10). Na verdade, como ser visto adiante, a Lei,
expondo a deplorvel condio do ser humano, serviu para
conduzi-lo a Cristo, em quem encontra a soluo para sua
to terrvel situao (v. 24. Vd tb. Rm 10.4).
Prosseguindo em sua apologia da gratuidade da promessa,
Paulo acrescenta que a Lei foi promulgada por meio de
anjos. A presena dos anjos na entrega da Lei vista tambm
em Deuteronmio 33.2; Atos 7.38,53 e Hebreus 2.2. Paulo
menciona esse detalhe para afastar qualquer acusao de
desprezo pela santidade da Lei, pois ao ensinar que a mesma
no tinha utilidade para justificar o pecador, mui facilmente
seus inimigos poderiam apegar-se a isso, distorcendo suas
palavras e acusando-o de tratar a Lei de Deus com desprezo
inaceitvel. Paulo, porm, longe de desprezar a Lei, to
somente mostra o objetivo distinto dela que, como vimos, no
justificar o homem, mas realar seu pecado e, por fim,
conduzi-lo busca de socorro em Cristo.
14
O v. 19 termina dizendo que a Antiga Aliana veio por meio
de um mediador, ou seja, Moiss. A seguir, no verso 20, h
um contraste entre aquela aliana e a feita anteriormente com
Abrao. O pacto da Lei teve um mediador que representava o
68 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
povo colocando-se sob as disposies legais impostas por
Deus. No Pacto Abramico nenhum mediador havia, pois nele
somente Deus se obrigou, nada impondo ao homem. Na
Aliana Mosaica havia duas partes entrando numa relao
em que ambas tinham deveres, sendo uma delas (a parte
humana) representada por Moiss, o mediador. Na Aliana
Abramica tambm havia duas partes, Deus e o homem, mas
s Deus se comprometeu, sem impor nada a Abrao que
servisse como condio para que ele cumprisse sua promessa
de abeno-lo juntamente com seu Descendente. O v. 20,
portanto, pode ser entendido da seguinte maneira: no caso
da Lei houve um mediador que representava a obrigao de
muitos; j no caso da promessa somente Deus figurou como
a parte comprometida. Paulo aponta esse contraste para
fortalecer sua tese acerca da gratuidade da promessa e
desmantelar o ensino dos falsos mestres que teimavam em
dizer que a herana de Deus poderia ser obtida pelo
cumprimento de preceitos legais.
Surge, ento, uma importante questo: h contradio em
Deus? Como ele pode fazer uma promessa e depois estabelecer
preceitos que em nada cooperam com o cumprimento dela?
Como ele pode prometer uma herana e, em seguida,
estabelecer regras que afastam ainda mais o homem do gozo
dessa herana? Como ele pode prometer que o homem ser
bendito e justo e ento criar um sistema de normas que o
tornam maldito e culpado? Acaso a Lei no se ope s
promessas de Deus? (21).
A resposta de Paulo a essa pergunta um enftico no.
O apstolo ensina que se Moiss tivesse trazido aos judeus
uma lei que pudesse levar vida eterna, ento a justificao
seria oriunda da Lei, e os judeus, ao observ-la, constituiriam-
se um povo livre da culpa do pecado e pronto a receber a
herana prometida. Dessa maneira, a promessa da herana e
a promulgao da Lei estariam em clara harmonia. Deus,
O EVANGELHO E SEU PODER 69
porm, decidiu harmoniz-las de forma diferente. Seu plano
consistiu em fazer da Lei um meio de colocar todos sob o
pecado
15
, a fim de conceder pela f a herana prometida (22).
Dessa forma, a Lei no vai contra a promessa de Deus. Antes,
pondo o homem debaixo do pecado, deixa unicamente a f em
Jesus Cristo como soluo para a sua culpa e, assim, o
estimula a crer. Crendo, ento, o homem torna-se participante
da promessa. Portanto, a Lei til para mostrar que a f em
Cristo o nico caminho para as bnos da promessa.
assim que ela no se ope s promessas de Deus.
importante que o certo grau de complexidade de raciocnio
presente no texto no venha nublar a principal e clarssima
lio que o apstolo quer incutir nos seus leitores, a saber, a
de que a promessa feita a Abrao dada somente aos que
crem em Jesus Cristo. Paulo estende os efeitos do Pacto
Abramico at os nossos dias, mostrando que a salvao
simplesmente a insero do homem nos benefcios desse pacto.
E para que essa insero ocorra preciso to somente que o
homem creia em Cristo, o Descendente de Abrao. O apstolo
quer deixar claro que abraar a Lei liga o homem a Moiss e
faz dele mais um transgressor. Enquanto abraar a f em Cristo
liga o homem a Abrao e faz dele mais um herdeiro.
Antes que o evangelho fosse revelado, mostrando que pela
f em Cristo que algum pode tornar-se herdeiro da promessa
abramica, o homem estava debaixo da Lei Mosaica (23). A
linguagem de Paulo traz a idia de estar sob a tutela de um guarda
que tem a funo de proteger. De fato, a Lei dada no Sinai se
constitui na perfeio da justia e o esforo do homem em
conformar a sua vida aos seus preceitos, ainda que seja incapaz
de produzir a justificao, torna a conduta humana virtuosa e
protege a sociedade da degradao total. Por outro lado, estar
sob semelhante tutela implica tambm reduo da liberdade, um
preo muito alto quando se considera que a obedincia da Lei
no nos faz merecedores da herana prometida.
70 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
Dentro do claustro da Lei, portanto, o homem teve sua
conduta controlada e, como j visto (v. 19), aprendeu da sua
pecaminosidade e misria. Dessa forma a Lei foi til,
especialmente porque, em vez de se opor s promessas de
Deus, mostrou que o nico caminho para receb-las a f
(vv. 21-22). O exerccio dessas funes atribudas ao cdigo
mosaico, contudo, deveria perdurar somente at o advento
do evangelho de Cristo, j prometido nos escritos profticos
(Rm 1.1-2). a esse evangelho que Paulo se refere com a
expresso a f que haveria de vir (23).
A concluso lgica a que se chega disso tudo que a Lei
realizou a tarefa de um tutor que nos levou at Cristo (24). A
palavra traduzida no portugus por tutor (NVI) ou aio
(ARA) , na lngua grega, o termo usado para designar a
pessoa que cuidava de uma criana (paidagwgoj. Lit.
pedagogo), realizando, entre outras coisas, a tarefa de
escolt-la na sua ida escola. Assim, a Lei tomou o homem
pela mo e, enquanto exercia sobre ele alguma influncia
moral, tambm mostrava que a perfeita obedincia era
impossvel e, desse modo, o conduzia f em Cristo, o nico
meio pelo qual o homem pode ser justificado diante de Deus.
Evidentemente, tendo realizado plenamente sua funo, o
tutor torna-se agora uma figura desnecessria (25).
Aproveitando a figura usada por Paulo, pode-se dizer que a
criana est agora com o Mestre. No mais preciso a custdia
do tutor.
Paulo reala que a f qual fomos conduzidos nos tornou
filhos de Deus (26). A idia de filiao, obviamente, essencial
quando se fala em direito de herana. No constante propsito
de desmontar a idia de que possvel entrar na posse da
herana prometida a Abrao por meio da guarda da Lei, o
apstolo demonstra que a f em Cristo que nos torna filhos
de Deus, de modo que s por meio dela pode-se chegar
herana (Rm 8.17).
O EVANGELHO E SEU PODER 71
No v. 27 nos dito, com mais detalhes, no que consiste o
processo pelo qual algum inserido na esfera de filiao
mencionada no versculo anterior. Segundo o texto, o homem
batizado em Cristo, reveste-se do Filho de Deus. Ser batizado
em Cristo significa simplesmente unir-se a ele pela f. Nos
tempos neotestamentrios havia forte conexo entre crer e
ser batizado, j que essas duas coisas aconteciam quase que
ao mesmo tempo na prtica da igreja primitiva (At 2.41; 8.37-
38; 16.33). Por isso, algumas vezes Paulo refere-se
experincia de converso usando a figura do batismo (Rm
6.3-4; Cl 2.12. Pedro faz o mesmo em 1Pe 3.21). tambm
fora de dvida que muitas vezes Paulo usa a palavra batismo
no para se referir ordenana observada com gua, mas
realidade espiritual da insero do crente no corpo de Cristo e
na sua esfera de atuao e influncia especiais (1Co 12.13).
o chamado batismo do Esprito Santo. Alis, bem provvel
que esse seja o sentido pretendido no texto em anlise. Que
Paulo no via o batismo com gua como necessrio salvao,
deduz-se facilmente de 1 Corntios 1.14-17.
Segundo os vv. 26-27, portanto, o homem passa a desfrutar
do status de filho de Deus quando se une ao Salvador pela f
(Jo 1.12). Dessa forma ele se reveste de Cristo, ou seja, sua
unio com o Senhor tamanha que Deus, ao olh-lo, v antes
Cristo nele do que ele prprio. como se Cristo fosse um manto
que cobrisse e envolvesse o crente de tal forma que ambos se
tornam como um s. Nessa unio, o Filho de Deus como que
contagia aquele que cr com sua filiao. Isso prova ser
correto dizer que o crente filho de Deus em Cristo Jesus.
Sob a vestimenta de Cristo, todas as distines entre as
pessoas tornam-se irrelevantes (28). A unio com o Senhor
faz de todos um s corpo (1Co 10.17; 12.12-13; Cl 3.15),
anulando as desigualdades e desencorajando qualquer forma
de inimizade e discriminao (Ef 2.14-16; Cl 3.11). Contudo, o
efeito principal da f que, recebendo a adoo decorrente da
72 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
unio com Jesus, o homem se torna um descendente de Abrao
tal como o seu Senhor e, conseqentemente, passa a ter direito
herana prometida ao grande patriarca (29).
Os crentes da Galcia, tendo sido libertos de todo tipo de jugo
legalista, tornaram-se filhos e herdeiros de Deus, no
devendo, portanto, acolher os falsos mestres e seu ensino
escravizante, mas sim rejeit-los, da mesma forma como Sara
rejeitou a escrava Hagar e o filho dela.
O FIM DA ESCRAVIDO
GLATAS 4.1-7
1. Digo porm que, enquanto o herdeiro menor de idade,
em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo.
2. No entanto, ele est sujeito a guardies e administradores
at o tempo determinado por seu pai.
3. Assim tambm ns, quando ramos menores, estvamos
escravizados aos princpios elementares do mundo.
4. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou
seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da Lei,
5. a fim de redimir os que estavam sob a Lei, para que
recebssemos a adoo de filhos.
6. E, porque vocs so filhos, Deus enviou o Esprito de
seu Filho ao corao de vocs, e ele clama: Aba, Pai.
7. Assim, voc j no mais escravo, mas filho; e, por ser
filho, Deus tambm o tornou herdeiro.
o evangelho verdadeiro e
a liberdade
4.
74 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
A meno da figura do herdeiro em 3.29 d ensejo a que
Paulo, no incio do captulo 4, transporte essa figura para a
experincia humana comum, a fim de acrescentar outras
verdades quelas que j enunciou ao longo da carta at este
ponto. O apstolo, no texto agora em anlise, fala da condio
prvia de todos os homens, tanto judeus quanto gentios, que
Deus haveria de salvar. Tais pessoas so comparadas a filhos
menores que aguardam, sob tutela, a maioridade para que,
ento, desfrutem plenamente do status de herdeiro. A figura
pretende ilustrar o fato de que aqueles que Deus haveria de
salvar estiveram sujeitos a sistemas morais e religiosos
diversos at o tempo em que Cristo se manifestou. Tendo
chegado esse tempo, no h mais porque submeter-se a tais
sistemas.
j nos vv. 1-2 que Paulo apresenta a figura do herdeiro
menor. No af de realar sua condio de sujeio, o apstolo
diz que, ao longo do perodo de menoridade, o herdeiro em
nada difere do escravo, estando sob o controle e as ordens de
tutores e curadores
1
, estendendo-se essa situao at o tempo
que ao pai aprouver.
2
Paulo quer mostrar, com a figura constante dos vv. 1-2,
que o ser humano teve, ao longo da sua histria, o seu tempo
de menoridade. Foi o tempo em que esteve sujeito de modo
servil aos rudimentos do mundo (3). Precisamente nesse
ponto, Paulo deixa de falar somente da Lei Mosaica como fator
opressor. O jugo dessa Lei era sentido apenas pelos judeus.
Paulo tem agora a humanidade inteira em mente (Veja-se v.
8). Segundo ele, no somente quem estava sob o sistema
judaico vivia curvado em sujeio, mas todos os seres
humanos, uma vez que se encontravam debaixo do jugo dos
rudimentos do mundo.
A expresso rudimentos do mundo (stoiceia tou kosmou)
aponta aqui para as regras e crenas elementares que esto
presentes nas diversas expresses da religiosidade humana.
O EVANGELHO VERDADEIRO E A LIBERDADE 75
Nos vv. 9-10 vemos exemplos desses rudimentos, os quais,
segundo o apstolo, escravizavam tanto quanto a Lei de
Moiss. Tambm na Epstola aos Colossenses, na qual Paulo
combate especialmente o protognosticismo asceta, pode-se ter
um vislumbre da natureza dessas regras impostas aos
homens, denominadas tambm ali como rudimentos do
mundo (Cl 2.8, 20-23).
O tempo de submisso a tais preceitos, contudo, perdeu sua
razo de ser com o advento de Cristo. Em sua soberania, Deus
determinou que chegasse ao fim a fase da histria em que as
pessoas deveriam ser regidas em sua religiosidade por normas
oriundas da Lei Mosaica (no caso dos judeus) ou da conscincia
humana (no caso dos gentios). Ento ele enviou seu Filho (4),
a fim de livrar da escravido os que estavam sob qualquer
fardo legal
3
e fazer deles membros de sua famlia (5).
Falando especificamente sobre o v. 4, deve-se notar que a
expresso plenitude do tempo corresponde ao tempo
determinado pelo pai mencionado na ilustrao constante
dos vv. 1-2. Plenitude do tempo , portanto, a fase da histria
em que Deus, em sua soberania, julgou por bem enviar seu
Filho ao mundo, pondo fim ao tempo de tutela das leis. No
nos revelado na Sagrada Escritura as razes pelas quais o
Senhor no enviou Cristo antes, mantendo os homens em
trevas durante milnios.
4
Somente nos dito que o evangelho
foi guardado como um mistrio, havendo a possibilidade de
certo grau de conhecimento dele por meio das escrituras
profticas (Rm 16.25-27). Os motivos especficos, porm, pelos
quais a Deus aprouve revel-lo ao tempo que o fez, esto
guardados em sua mente, sendo impossvel conhec-los.
5
O que vem a seguir no versculo 4 de extremo valor para
a cristologia. A frase Deus enviou seu Filho, implica a
divindade de Cristo, pois sendo Filho de Deus ele igual a
Deus (Jo 5.17-18). A frase tambm implica a pr-existncia de
Cristo. Deus antes o enviou para que ento nascesse de
76 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
mulher. Sua gerao no ventre de Maria, portanto, no deu
origem sua existncia. Ele j existia antes da encarnao
(Jo 1.1-3; 8.58; 12.41 [cf. Is 6.1]; 17.5; Cl 1.16-17).
notvel ainda que Paulo se refira a Cristo como nascido
de mulher. Isso, acrescido da verdade de que ele o Filho de
Deus, desemboca na doutrina das duas naturezas de Cristo.
Ele Deus-homem. o Filho de Deus e o Filho do Homem (Jo
5.26-27). Todo o Novo Testamento afirma a realidade tanto
da natureza humana quanto da natureza divina em Cristo,
ainda que no esclarea o modo como elas se relacionam (Jo
1.14; At 20.28; Rm 9.5; Hb 2.14). A unio das duas naturezas
na pessoa singular e nica de Cristo chamada tecnicamente
de Unio Hiposttica.
6
O v. 4 termina com a afirmao de que Cristo nasceu sob
a Lei, ou seja, Cristo colocou-se debaixo da Lei, sujeitando-
se a ela. Sua humilhao no se manifestou apenas no fato
de fazer-se carne, mas tambm no fato de fazer-se servo
obediente (Fp 2.5-8). Assim como assumiu nossa humanidade,
porm sem pecado (1Jo 3.5), tambm assumiu nossa
escravido, porm sem desobedincia (Mt 5.17; Rm 5.19).
Qual foi a inteno do apstolo ao mencionar esses
aspectos relativos ao advento de Cristo. Por que dizer que
Cristo nasceu de mulher e sob a Lei? O apstolo quer, sem
dvida, mostrar Cristo como o substituto perfeito do homem.
Paulo apresenta Jesus como um homem verdadeiro debaixo
de um jugo verdadeiro. Como tal, Cristo pde participar do
drama humano e substituir perfeitamente o homem ao morrer
sob a Lei, submetendo-se inclusive maldio que ela impe
aos que a desobedecem (3.13). Portanto, a plena substituio
o que Paulo tem em mente aqui. Foi essa perfeita substituio
que tornou possvel o resgate dos que estavam sob a lei (5).
A destruio da heresia glata dependia da demonstrao de
que o Filho de Deus, fazendo-se homem, colocou-se sob a Lei
de Moiss at o ponto de provar o castigo aplicvel aos
O EVANGELHO VERDADEIRO E A LIBERDADE 77
desobedientes. Essa sua obra, tendo um carter substitutivo
(3.13), libertou o homem do jugo legal, no havendo mais
qualquer razo para que as igrejas da Galcia novamente o
tomassem sobre os ombros.
O Filho de Deus fez-se homem e nasceu sob a Lei a fim de
resgatar os que estavam sob a lei (5). Nessa condio estavam
todos os homens, tanto judeus, debaixo da Lei Mosaica, quanto
os gentios, debaixo dos rudimentos do mundo (vv. 3, 8-9). Paulo
afirma que a encarnao e auto-sujeio de Cristo tiveram por
propsito resgatar o ser humano dessa situao. Resgatar
livrar mediante o pagamento de um determinado preo. Ora,
sabido que o preo pago para o livramento do homem foi o
sangue do prprio Filho de Deus (At 20.28; 1Pe 1.18-19; Ap
5.9). Assim, nos vv. 4-5, o apstolo faz aluso encarnao de
Cristo, ao seu ministrio terreno e sua morte e explica que o
alvo disso tudo foi libertar o homem da escravido. Que grande
absurdo seria agora os prprios crentes em Cristo se sujeitarem
aos ditames de leis estreis!
Segundo o v. 5, a obra de resgate no o estgio final na
salvao do ser humano. Ao contrrio, o resgate o caminho
para a realizao de um bem ainda maior: Deus livra o escravo
para adot-lo como filho! Ele no somente o desobriga dos
deveres da escravido, no somente tira-lhe dos ombros o
jugo da servido, mas vai alm e o recebe em sua casa,
incluindo-o em sua prpria famlia. Tira-lhe as correntes, mas
no o despede. Antes, abre-lhe as portas, cobre-o com finas
vestes, pe-lhe um anel no dedo e sandlias nos ps (Lc 15.22).
Por serem filhos de Deus, os crentes recebem o Esprito
Santo (6). Paulo mostra aqui que a adoo implica a habitao
(Rm 8.9). No v. 6 o Esprito Santo chamado Esprito do seu
Filho porque o Apstolo quer realar a intensidade da filiao
do crente. O cristo filho de Deus num sentido to amplo
que a ele dado o Esprito do verdadeiro Filho, o Esprito do
nico Filho que consubstancial ao Pai. O efeito disso que o
78 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
crente se sente filho. Ele no tem a sensao de ser um
estranho na casa do Pai; no se sente inadequado e sem
liberdade para se achegar a ele e desfrutar de sua intimidade.
Em vez disso, movido pelo Esprito do Filho que nele habita,
aproxima-se do Senhor e clama: Aba
7
, Pai!, expresso que
denota relacionamento ntimo e afinidade com Deus.
Esse mesmo ensino encontrado tambm em Romanos 8.14-
16. Nesse texto vemos que a habitao do Esprito, alm de
estimular a intimidade com o Senhor, faz com que o crente viva
sob a direo da Terceira Pessoa da Trindade, livre do domnio
da carne e do medo. Alm disso, por meio dessa habitao, o
crente recebe o testemunho interno do Esprito que lhe traz a
certeza de ser algum que pertence famlia de Deus.
8
O v. 7 encerra o desfecho do pensamento de Paulo nesse
pargrafo: o crente no mais escravo. Agora filho! Para os
glatas essa afirmao tinha o propsito assumido de varrer
de suas mentes qualquer forma de doutrina que refletisse ainda
que a menor sombra de escravido. Abraar uma doutrina assim
seria andar em desconformidade com a prpria posio a que,
pela obra do Filho de Deus, o crente foi alado.
Tendo ficado para trs o tempo de escravido, e
desfrutando agora, aquele que cr, da posio de filho de Deus,
os benefcios de que desfruta no se limitam presente era.
Sendo filho ele herdeiro (7). Pelo prprio Deus foi elevado a
essa condio. Como filho que , desfruta agora da liberdade
e amanh se regozijar na herana (Gl 3.29; Rm 8.17).
O PERIGO DE UMA NOVA ESCRAVIDO
GLATAS 4.8-11
8. Antes, quando vocs no conheciam a Deus, eram
escravos daqueles que, por natureza, no so deuses.
9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por
ele conhecidos, como que esto voltando queles mesmos
O EVANGELHO VERDADEIRO E A LIBERDADE 79
princpios elementares, fracos e sem poder? Querem ser
escravizados por eles outra vez?
10. Vocs esto observando dias especiais, meses, ocasies
especficas e anos!
11. Temo que os meus esforos por vocs tenham sido
inteis.
A meno do elevado status atual dos crentes da Galcia,
constante dos vv. 6-7, conduz o pensamento do apstolo ao
chocante contraste existente entre essa gloriosa situao e a
condio na qual os crentes da Galcia viviam anteriormente.
De acordo com Paulo, antes eles no conheciam a Deus (8).
O verbo usado aqui (oida) sugere mais do que o mero
conhecimento de dados sobre algum. Na verdade, a palavra
admite o sentido de estar ligado a uma pessoa, relacionando-
se com ela. Decorre disso a verdade de que parte do
evangelho, impossvel que o homem tenha acesso a Deus e
ande com ele, no importa quo religioso seja.
O modo como o desconhecimento de Deus se manifestara
na vida dos crentes da Galcia, ao tempo da sua incredulidade,
foi a idolatria. De fato, os glatas haviam sido escravos de
falsos deuses.
9
No v. 8 h uma forte nfase no fato de no
serem deuses aqueles que os pagos serviam. Paulo
desenvolve mais esse ensino em 1 Corntios 8.4-6, onde diz
que ainda que muitos tomem para si o nome de deuses, s
h um Deus, ou seja, o Pai, e um s Senhor, a saber, seu Filho,
Jesus Cristo. Por outro lado, ainda que os dolos no passem
de objetos inanimados (1Co 8.4; 12.2), Paulo adverte que o
culto a eles prestado dirigido a demnios (1Co 10.19-20)
10
,
de modo que o crente deve fugir de qualquer forma de idolatria
(1Co 10.14; 1Jo 5.21).
A escravido aos dolos, qual os glatas estiveram
sujeitos, havia acabado. Se o v. 8 descreve o que havia
acontecido outrora, o v. 9 fala do agora. Ao receber o
80 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
evangelho, os destinatrios de Paulo tornaram-se conhecedores
de Deus. Na verdade, a melhor maneira de descrever seu
privilgio era afirmando que eles eram conhecidos de Deus, ou
seja, seu relacionamento com o Senhor no foi o resultado de
empenho ou iniciativa prprios, j que eram escravos
absolutamente incapazes de dar um passo sequer na direo
da verdade (Rm 3.11). Foi o prprio Deus quem se antecipou
na busca de um relacionamento com aqueles irmos, quando
eles ainda se encontravam na mais msera condio. Esse fato
tornava os glatas ainda mais culpados. Depois de terem sido
objeto de to grande graa que os libertou, de quo grave erro
no seriam autores caso voltassem novamente a um viver
curvado sob o jugo da escravido?
So esses os pensamentos que Paulo quer despertar em
seus leitores ao perguntar como que esto voltando queles
mesmos princpios elementares, fracos e sem poder? Querem
ser escravizados por eles outra vez? (9). J foi visto o que
so os princpios elementares (veja o comentrio ao v. 3).
Deve-se, no entanto, realar aqui a conexo dos tais
princpios com a escravido da idolatria. De fato, depois de
afirmar que os seus leitores haviam se libertado da escravido
dos falsos deuses, Paulo diz que eles agora estavam voltando
novamente ao seu procedimento anterior. Isso significa que a
vida sob a escravido dos falsos deuses era caracterizada pela
observncia dos princpios elementares, ou seja, aqueles
conjuntos de regras predominantemente religiosas carentes
de qualquer fora contra o pecado (Cl 2.20-23).
As perguntas de Paulo no v. 9 evocam o absurdo de um
retorno do cristo escravido debaixo de qualquer sistema
legalista. No entanto, por mais incrvel que pudesse parecer,
era exatamente esse retorno que os crentes da Galcia haviam
empreendido. Vem-se assim, no v. 10, exemplos do modo de
agir daqueles cristos que revelavam sua retomada do fardo
tpico de quem adora deuses falsos. Voltando para o mesmo
O EVANGELHO VERDADEIRO E A LIBERDADE 81
estilo de vida que caracterizara seus tempos no paganismo,
eles estavam observando dias especiais, meses, ocasies
especficas e anos.
claro que todas essas observncias tinham conotaes
judaicas, fruto do trabalho dos mestres da Lei Mosaica
infiltrados nas igrejas da Galcia. No entanto, seu efeito
escravizador era o mesmo produzido pelo paganismo em que
antes haviam vivido. Assim, em ltima anlise, observar
preceitos judaicos resultava no mesmo cativeiro em que se
encontravam os adoradores de falsos deuses. O novo cuidado
da Lei judaica conduzia os homens de volta velha priso
pag.
11
Ora, sendo certo que Paulo, ao anunciar o evangelho
aos glatas, os conduzira pelo caminho da liberdade que h
em Cristo, era bvio que, vendo-os novamente agrilhoados a
normas inteis, suspeitasse que todo o seu trabalho entre eles
tivesse sido vo (11). De fato, intil o evangelho libertador
para aqueles que, deliberadamente, sobre si mesmos atam
fardos pesados, impossveis de carregar, assim como tambm
v a luz para aqueles que teimam em ficar de olhos fechados.
APELOS, LEMBRANAS E ANSEIOS
GLATAS 4.12-20
12. Eu lhes suplico, irmos, que se tornem como eu, pois
eu me tornei como vocs. Em nada vocs me ofenderam;
13. como sabem, foi por causa de uma doena que lhes
preguei o evangelho pela primeira vez.
14. Embora a minha doena lhes tenha sido uma provao,
vocs no me trataram com desprezo ou desdm; ao
contrrio, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus,
como o prprio Cristo Jesus.
15. Que aconteceu com a alegria de vocs? Tenho certeza
que, se fosse possvel, vocs teriam arrancado os prprios
olhos para d-los a mim.
16. Tornei-me inimigo de vocs por lhes dizer a verdade?
82 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
17. Os que fazem tanto esforo para agrad-los no agem
bem, mas querem isol-los a fim de que vocs tambm
mostrem zelo por eles.
18. bom sempre ser zeloso pelo bem, e no apenas quando
estou presente.
19. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto
por sua causa, at que Cristo seja formado em vocs.
20. Eu gostaria de estar com vocs agora e mudar o meu
tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocs.
Depois de expressar seu inconformismo com as prticas
legalistas a que os glatas estavam novamente se
submetendo, o apstolo passa agora a dirigir-lhes um apelo
emocionado, lembrando-lhes alguns momentos de amizade e
labor que haviam partilhado juntos e que revelavam o
profundo afeto que um dia os unira. Sua inteno claramente
despertar novamente aqueles afetos, uma vez que, luz do
texto, o trabalho dos falsos mestres infiltrados nas igrejas
estava logrando xito em afastar de Paulo o corao dos seus
queridos filhos na f (Ver vv. 15-17).
O apelo de Paulo se consubstancia inicialmente nas
palavras sede qual eu sou; pois tambm eu sou como vs
(ARA). Essas palavras significam o seguinte: os crentes da
Galcia nunca haviam ofendido Paulo (v. 12b) e ele se refere
a isso quando diz tambm eu sou como vs. Portanto, ele
se assemelhava aos glatas em seu modo de trat-los, jamais
os agredindo ou sendo grosseiro, apesar da dificuldade do
momento. Por outro lado, o apstolo sentia que os seus filhos
na f (v. 19) estavam se distanciando dele mais e mais (vv.
16-17), enquanto ele prprio procurava desesperadamente
uma reaproximao. nesse aspecto que Paulo suplica
humildemente que os crentes da Galcia sejam como ele. Assim
como o apstolo os imitava, no os ofendendo, os glatas,
por sua vez, tambm deviam imit-lo, empenhando-se em
reconstruir os laos de comunho afrouxados pela influncia
dos inimigos hipcritas (v. 17).
O EVANGELHO VERDADEIRO E A LIBERDADE 83
Paulo lembra, a partir do v. 13, que essa comunho ora
abalada tinha nascido num momento to sublime e atingido
tamanha intensidade que era inaceitvel que fosse agora
destruda pelo trabalho de pessoas mal intencionadas e por
expoentes de erros doutrinrios to grosseiros. Segundo ele,
a primeira vez que pregou o evangelho na Galcia foi por
causa de uma doena de que foi acometido. A narrativa de
Atos sobre a visita missionria de Paulo Galcia (At 13.14-
14.21) no faz meno dessa enfermidade
12
e no h como
saber qual foi exatamente o mal fsico de que sofreu o
apstolo.
13
Seja como for, no pairam dvidas sobre os propsitos de
Paulo ao relembrar o tempo que, fragilizado em sua sade,
esteve entre os irmos a quem escreve. O apstolo quer trazer-
lhes memria os tempos de unio e, assim, despertar o desejo
de reviv-los. De fato, um grande estmulo unidade dos
crentes no presente procedente das recordaes das batalhas
que juntos travaram no passado. Portanto, sempre que as
armadilhas do mundo e do diabo fizerem os crentes se
distanciar dos seus irmos, um bom impulso ao retorno a
memria dos momentos mais sublimes que marcaram a sua
jornada em comum (Hb 10.32-34). S os coraes
terrivelmente endurecidos pelo pecado so capazes de se
manter insensveis ao se lembrarem dos momentos mais
tocantes de sua prpria histria.
A enfermidade de Paulo, segundo seu parecer, se constituiu
numa prova para os glatas (14). Isso significa que receber o
missionrio doente gerou-lhes um grau considervel de
incmodo, o que seria motivo para que o apstolo fosse tratado
com manifestaes de impacincia e desprezo. Contudo, o que
aconteceu foi exatamente o contrrio. Nem desprezo nem
averso os glatas revelaram naquelas circunstncias.
14
Antes, Paulo foi recebido como um anjo de Deus e at mesmo
como o prprio Cristo Jesus.
84 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
Ao descrever nesses termos (e com aprovao) a atitude
que os crentes da Galcia tiveram outrora para com ele, Paulo
ensina indiretamente que como anjos e como o prprio Cristo
que os ministros do evangelho devem ser recebidos e tratados
pelos cristos em geral. De fato, a escritura chama os mestres
da verdade de anjos, uma vez que so mensageiros de Deus
(Ml 2.7; Ap 2.1, 8,12, 18; 3.1, 7, 14). Alm disso, os proclamadores
do evangelho so embaixadores de Cristo, atuando em seu
lugar como porta-vozes, de forma que desprez-los
corresponde a rejeitar aquele que eles representam (Mt 10.40;
Lc 10.16; 2Co 5.20). Por outro lado, h aqui tambm uma forte
indicao da responsabilidade que paira sobre os pastores.
Estes tm o dever de zelar pela mensagem de Deus como se
fossem anjos celestes ou mesmo genunos arautos de Cristo
a pregar (Tt 1.7-9). A conscincia disso faria com que os
plpitos de nossas igrejas deixassem de ser palco de
fanfarronadas e passassem a se constituir na maior fora
transformadora do tempo presente.
Aps lembrar com saudades do amor demonstrado pelos
glatas, Paulo pergunta com tristeza: Que aconteceu com a
alegria de vocs? (15. NVI). Mesmo estando Paulo enfermo,
os glatas haviam manifestado intensa alegria em receb-lo.
Alis, o prazer deles com a presena de Paulo era tanto que o
apstolo tinha plena conscincia de que outrora aqueles
irmos, se possvel fora, teriam arrancado os prprios olhos
para auxili-lo. Essa linguagem, evidentemente figurada.
bom tambm frisar que no h aqui nenhum sinal de que a
doena de Paulo fosse nos olhos, conforme sugerem alguns
intrpretes (vide nota 2). A frase indica to somente que, em
outros tempos, os glatas no mediriam esforos para
beneficiar aquele que tinha sido um hspede to querido.
A pergunta constante do v. 15 mostra claramente que
aquela alegria que os crentes da Galcia haviam demonstrado
por ter Paulo junto de si havia acabado. Agora eles no
O EVANGELHO VERDADEIRO E A LIBERDADE 85
sentiam satisfao alguma, nem mesmo com a possibilidade
de ter o apstolo por perto. Que grande mudana em seus
afetos! Era como se a pessoa mais amada daquelas igrejas,
num breve perodo de tempo, e sem nenhuma justificativa,
passasse a ser considerada seu mais detestvel inimigo!
Ainda que perplexo (v. 20), Paulo sabia a causa de mudana
to radical. Aqueles cristos estavam aceitando a mentira dos
falsos mestres e, por isso, a verdade dita pelo apstolo lhes
causava averso. Esse fato apontado por meio da pergunta
retrica do v. 16. Nesse versculo, v-se que ao anunciar o
evangelho genuno e denunciar o desvio dos mestres
enganadores, Paulo havia despertado real antipatia nas
jovens igrejas corrompidas doutrinariamente. Esse fato que
tomou lugar na experincia de igrejas neotestamentrias deve
despertar a ateno das igrejas atuais. Que seja lembrado
que abrir os braos para doutrinas novas e estranhas faz
com que igrejas inteiras desenvolvam rancores e at
construam barreiras contra os verdadeiros expoentes da
Palavra de Deus. Ministros fiis tambm devem ter isso em
mente. Muitas vezes a inimizade o preo pago pela
proclamao da verdade, mesmo quando isso feito de modo
brando e amoroso.
Com a pergunta do v. 16, Paulo revela seu desejo de trazer
os glatas de volta para junto de si. Ele quer incomodar suas
conscincias fazendo-os ver de quo grande impiedade eram
culpados ao abandonar a mais terna comunho, no porque
tivessem sido ofendidos, mas porque tinham sido instrudos
na Palavra da verdade. De fato, difcil imaginar maior
estupidez do que se tornar inimigo de um irmo precisamente
porque ele nos beneficiou.
A estratgia usada pelos falsos mestres para difundir sua
doutrina perversa dentro das igrejas da Galcia transparece
no v. 17. Tal estratgia consistia em demonstrar cuidado,
preocupao e interesse pelos crentes. Os legalistas se
86 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
apresentavam como pastores zelosos. Paulo, no entanto,
alerta seus leitores dizendo que aquele cuidado no era bom,
ou seja, tratava-se de um zelo indigno de aprovao, sem
sinceridade, pois tinha como objetivo isolar os crentes.
15
Segundo Paulo, os falsos mestres, com sua demonstrao
hipcrita de estima, queriam distanciar dele os seus leitores e
reuni-los em torno de si para, ento, obter daquelas igrejas o
mesmo cuidado e afeto que antes haviam dispensado ao
apstolo (vv. 14-15). Nota-se aqui que os ardis de outrora
so usados ainda hoje pelos falsos pastores. Estes sempre
trabalham em trs direes: conquista da simpatia da igreja;
afastamento dos irmos dos pregadores verdadeiros; e
obteno do servio e cuidado dos crentes em seu favor (2Pe
2.3; Jd 16).
No v. 18, Paulo se volta novamente para o cuidado que os
glatas haviam demonstrado por ele no passado. Aqui o
apstolo ensina que era lamentvel que aquele interesse to
tocante s existisse quando ele estava por perto. Para Paulo
era preocupante que aquelas igrejas se mantivessem fiis a
ele e, conseqentemente, aos seus ensinos to somente em
sua presena. Infelizmente, como se sabe, comum tambm
as igrejas de hoje se desviarem da verdade quando os
ministros de Deus, movidos por diversas necessidades, so
obrigados a se ausentar delas. O quadro moderno, porm,
pior, uma vez que na Galcia esse erro era cometido por igrejas
recm-formadas, enquanto hoje o desvio se d na vida de
crentes que conhecem o evangelho h dezenas de anos. Paulo
expressa, no v. 18, o singelo ideal da igreja de Deus ser
continuamente zelosa pelo bem, mesmo nos momentos que
se v, por uma razo ou outra, longe da benfica influncia
dos proponentes da s doutrina.
O corao de Paulo se enternece ao ver os crentes naquela
situao. Dirigindo-se aos seus leitores de forma carinhosa,
com a alma repleta de afeio, ele os chama de filhos (19)
16
O EVANGELHO VERDADEIRO E A LIBERDADE 87
e diz que, por causa deles, novamente sentia as dores de parto
at que Cristo fosse formado em suas vidas. A metfora pode
ser simplificada da seguinte maneira: Paulo se apresenta como
uma me que sofre dores de parto para dar luz filhos que
tivessem a aparncia de Cristo. O significado bvio que em
seu ministrio o apstolo trabalhava por gerar pequenos
cristos (Rm 8.29), isto , pessoas que tivessem em si os traos
do carter de Jesus, um carter marcado pelo zelo por aquilo
que bom, tanto na esfera doutrinria quanto moral. Na busca
desse ideal, Paulo sofria com freqncia e intensidade. Ele
um pai espiritual e aqui aprendemos que na esfera espiritual
tanto pais como mes sofrem dores para dar luz. Aqui
aprendemos tambm que o verdadeiro pai espiritual aquele
que trabalha e sofre na busca incessante de criar em algum
o carter de Cristo. Que marcante diferena havia entre esse
alvo de Paulo e as intenes dos mestres legalistas (v. 17). E
quo til ferramenta o crente tem nesse texto, que mostra
indiretamente como identificar o verdadeiro pastor. Este ser
simplesmente o homem que no mede esforos no sentido de
fazer com que as pessoas que o Senhor lhe confiou se tornem
mais parecidas com Jesus (Ef 4.11-13).
Sabendo que sua ausncia era, em parte, a causa do desvio
dos glatas, Paulo, no v. 20, manifesta o desejo que tinha de
estar com eles naquelas horas. O versculo d a entender que
essa possibilidade no existia naquele momento. Mesmo
assim, o apstolo diz que gostaria de estar entre eles para
poder falar com outro tom de voz. De fato, a Epstola aos
Glatas tem trechos severos (1.6-9; 3.1-5; 4.9-11, 15-16; 5.4,
7-9, 12, etc.). Paulo acreditava que, estando presente, no
precisaria usar daquela severidade, pois confiava que diante
dele os glatas se submeteriam. A razo que o impulsionava
a desejar um contato mais direto no era apenas o impacto
mais forte que uma visita pessoal teria. Ele tambm queria
v-los porque cria que isso lhe traria algum alvio, uma vez
88 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
que estava perplexo quanto aos crentes da Galcia. O termo
usado por Paulo (aporew) denota desespero e dvida. A idia
de estar desnorteado se encaixa bem aqui. Paulo indica que
aquela situao o deixara um tanto sem rumo, refletindo sobre
que medidas tomar para remediar o problema. Ele acreditava
que uma visita seria til para clarear suas idias e mostrar
como proceder de maneira eficaz.
O CONTRASTE ENTRE SARA E HAGAR
GLATAS 4.21-31
21. Digam-me vocs, os que querem estar debaixo da Lei:
Acaso vocs no ouvem a Lei?
22. Pois est escrito que Abrao teve dois filhos, um da
escrava e outro da livre.
23. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho
da livre nasceu mediante promessa.
24. Isto usado aqui como uma ilustrao; estas mulheres
representam duas alianas. Uma aliana procede do monte
Sinai e gera filhos para a escravido: esta Hagar.
25. Hagar representa o monte Sinai, na Arbia, e corresponde
atual cidade de Jerusalm, que est escravizada com os
seus filhos.
26. Mas a Jerusalm do alto livre, e a nossa me.
27. Pois est escrito:Regozije-se, estril,voc que nunca
teve um filho;grite de alegria,voc que nunca esteve em
trabalho de parto;porque mais so os filhos da mulher
abandonada do que os daquela que tem marido.
28. Vocs, irmos, so filhos da promessa, como Isaque.
29. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural
perseguiu o filho nascido segundo o Esprito. O mesmo
acontece agora.
30. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e
o seu filho, porque o filho da escrava jamais ser herdeiro
com o filho da livre.
31. Portanto, irmos, no somos filhos da escrava, mas da
livre.
O EVANGELHO VERDADEIRO E A LIBERDADE 89
O mtodo de interpretao da Bblia usado pelos evanglicos
atuais que seguem na esteira dos reformadores do sculo XVI
eventualmente denominado mtodo histrico-gramatical.
Uma das marcas desse modelo hermenutico sua forte
nfase no sentido literal do texto escriturstico. Para os
defensores desse mtodo de interpretao, as palavras da
Bblia tm apenas um significado, ou seja, aquele pretendido
pelo autor sagrado. At mesmo em face das figuras de
linguagem, quando logicamente as palavras adquirem duplo
sentido, os proponentes desse mtodo entendem que a
inteno autoral deve ser preservada como um fator que impe
limites ao intrprete, impedindo-o de atribuir ao texto
significados oriundos da sua imaginao ou que atendam aos
seus interesses e opinies pessoais.
Esse mtodo to defendido nos sculos IV e V pelos telogos
da Escola de Antioquia e distintivo dos protestantes ao longo
da histria est em franca oposio ao chamado mtodo
alegrico, popularizado j na igreja antiga especialmente por
Orgenes de Alexandria (185-253 d.C) e que consiste, grosso
modo, na busca de um significado oculto por trs da letra. O
mtodo alegrico, praticado largamente pelo catolicismo
romano, ainda que no despreze o sentido literal do texto
bblico, entende que h nele um sentido espiritual, mais
profundo do que aquele que se obtm a partir de uma leitura
natural. A tarefa do exegeta descobrir esse sentido que
transcende as palavras e at mesmo a inteno do autor
inspirado.
17
por adotarem esse mtodo hermenutico que
muitos expositores catlicos e tambm evanglicos sentem-
se vontade para fazer as interpretaes mais extravagantes
e absurdas da Bblia.
A seo da Carta aos Glatas colocada agora sob anlise
se constitui num grande desafio para os defensores do mtodo
histrico-gramatical. Isso porque o modo como Paulo
interpreta a histria de Sara e Hagar (Gn 16.15; 21.1-10)
90 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
parece ser marcantemente alegrico, j que se afasta
flagrantemente da inteno autoral e d ao texto de Gnesis
um sentido a que impossvel chegar pela via da leitura
natural. Seria esse modo como Paulo l a narrativa um sinal
verde para o mtodo alegrico? Pode o intrprete cristo
moderno, seguindo o exemplo do Apstolo, mergulhar no texto
bblico busca de sentidos ocultos, no af de descobrir
verdades jamais sonhadas sequer pelos seus autores?
Os defensores do mtodo histrico-gramatical tm explicado
o procedimento de Paulo na texto em questo de trs diferentes
maneiras. A primeira a afirmao de que ali o apstolo no
estava alegorizando, mas sim traando um paralelo entre o
que aconteceu na histria do povo de Israel e o que acontecia
agora na igreja de seus dias. o caso, portanto, de tipologia
e no de alegoria.
18
Segundo esse entender, a palavra alegoria
(allhgoumena) presente no v. 24, teria um sentido pouco
preciso, no podendo corroborar o mtodo alegrico de
interpretao. De fato, o argumento de Paulo no texto em
anlise marcantemente comparativo. Diferente dos
alegoristas, ele no trabalha com o texto isolado e, unicamente
a partir dele, cria um sentido que considera adequado. Antes,
apresenta duas realidades (o conflito entre Sara e Hagar, e o
conflito entre a velha e a nova aliana) e reala o que ambas
tm em comum. Mais do que inventar sentidos, Paulo compara
fatos e, dessa forma, v nas duas mulheres tipos ou figuras
das duas alianas agora em franca oposio. Ora, o uso de
tipos comum nas Escrituras (e.g., o sacerdote
Melquisedeque, o cordeiro pascal, o Tabernculo), sendo certo
que s podem ser reconhecidos quando a prpria Bblia os
aponta. esse o caso em Glatas 4.21-31.
A segunda maneira, tambm revestida de alto grau de
plausibilidade, pela qual se explica o mtodo hermenutico
de Paulo nesse texto em particular consiste na afirmao de
que o apstolo est fazendo uso momentneo de um mtodo
O EVANGELHO VERDADEIRO E A LIBERDADE 91
muito familiar para grande parte dos judeus que compunham
o nmero de seus leitores. Com isso ele quer apenas usar
mais um recurso para reforar sua mensagem e no
demonstrar como Gnesis deve ser lido. Esse entendimento,
mais recente que o primeiro, se constitui realmente numa
excelente hiptese.
19
Finalmente, h o entendimento de que Paulo, ao associar
Sara e Hagar aos conflitos teolgicos de seu tempo, agia com
uma capacitao especial dada pelo Esprito Santo. Como
apstolo, Paulo foi um instrumento de Deus para revelao
de seus mistrios (1Co 2.1,7; Ef 3.3-9; Cl 1.26-27), sendo certo
que, por meio do processo de inspirao das Escrituras, ele
os registrou em suas cartas que hoje compem o Novo
Testamento. Foi no exerccio desse dom apostlico que Paulo
pde vislumbrar o liame existente entre a histria das duas
mulheres e o conflito entre os filhos das duas alianas. O
fim do perodo apostlico, j no primeiro sculo da Era Crist,
implica o fato de que ningum mais tem autoridade para
interpretar textos bblicos da mesma forma que Paulo o fez
em Glatas 4.21-31.53.
20
Das trs linhas de argumentao acima expostas, todas
so aceitveis para o estudante honesto da Bblia. Este deve
to somente abster-se a todo custo do malfadado mtodo
alegrico, sob o risco de, ao adot-lo em suas leituras e
estudos, atribuir sentidos ao texto bblico jamais pretendidos
pelos escritores sagrados e, desse modo, passar a seguir e
defender idias que sejam meros frutos de sua criatividade.
Assim, aps lamentar o afeto que tinha perdido por parte
dos glatas e expressar seu desejo de estar perto deles a fim
de corrigi-los de maneira mais eficaz (vv. 12-20), Paulo retoma
a estratgia de ataque contra os mestres legalistas. a eles e
aos simpatizantes de seus ensinos que o apstolo se dirige
diretamente agora, referindo-se a essas pessoas como os que
querem estar debaixo da Lei (21[NVI]), ou seja, os que se
92 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
submetiam Lei Mosaica crendo que, com isso, poderiam obter
a justificao (5.4).
Num tom provocativo, Paulo lhes pergunta: Acaso vocs
no ouvem a Lei? H aqui a sugesto de que era de se esperar
que os mestres legalistas, com sua suposta autoridade
espiritual, tivessem uma percepo mais clara da mensagem
que a prpria Lei, to defendida por eles, transmitia. A
pergunta de Paulo deixa claro que especialmente aqueles
mestres, diferentemente dele, eram incapazes de captar as
verdades profundas da Palavra e no estavam qualificados
para apresentar mistrios antes desconhecidos, como os
apstolos de Cristo tinham autoridade para fazer (1Co 2.1,7;
Ef 3.3-9; Cl 1.26-27).
A partir do v. 22 Paulo expe o que tem em mente quando
fala sobre a capacidade de ouvir a Lei. Ele menciona pores
da histria de Abrao, recordando que o grande patriarca teve
dois filhos: Ismael, que nasceu de Hagar, a escrava (Gn 16.1-
16); e Isaque, que nasceu de Sara, uma mulher livre (Gn 21.1-
7).
21
O contraste na condio das duas mulheres (uma escrava
e outra livre) fundamental para o raciocnio que Paulo quer
construir. Percebe-se, desde o incio, que o apstolo pretende
ressaltar a superioridade daquela que gera filhos livres sobre
aquela que gera filhos escravos.
Prosseguindo, Paulo refora o contraste entre as duas
mulheres no v. 23, ao chamar a ateno para o fato de que o
filho da escrava nasceu de modo natural (literalmente,
segundo a carne), enquanto o filho de Sara nasceu de forma
extraordinria, em cumprimento promessa de Deus. Tm-
se, ento, afinal, duas realidades opostas, impossveis de se
harmonizar. De um lado, o nascimento de um escravo que
passa a existir a partir de processos humanos comuns; de
outro, o nascimento de um homem livre, s possvel graas
interveno poderosa de Deus que o traz ao mundo por causa
de uma promessa que fez.
O EVANGELHO VERDADEIRO E A LIBERDADE 93
V-se desde j onde Paulo pretende chegar. Desses
versculos se depreende de antemo que os mestres legalistas
e seus discpulos da Galcia eram escravos e existiam como
tais no como resultado da atuao milagrosa de Deus em
suas vidas, mas sim em virtude de esforos humanos carnais.
Por outro lado, os que buscavam a justificao pela f em
Cristo obtinham liberdade do jugo da Lei, eram livres e existiam
como resultado da obra poderosa de Deus que fez a promessa
de dar a bno de Abrao, ou seja, a justificao e a herana,
a todos os que tm a f de Abrao (Rm 4.11-16).
No v. 24, o apstolo esclarece finalmente que aqueles fatos
narrados em Gnesis tm um sentido figurado (Lit. essas
coisas so uma alegoria), sendo que Sara e Hagar
representam duas alianas. A escrava uma figura da Aliana
Mosaica, ou seja, a aliana da lei, estabelecida no Monte Sinai
(Ex 34.29-32; Lv 26.46; Ne 9.13-14). Essa aliana, to cara
aos mestres legalistas e aos cristos da Galcia, tinha como
marca distintiva a exigncia de sujeio a regras e normas de
diversas naturezas, impondo aos homens um peso que jamais
podiam carregar (At 15.10) e gerando, dessa forma, escravos.
Hagar o monte Sinai, na Arbia, diz Paulo (25),
querendo com isso demonstrar o paralelo entre a serva de
Abrao e o pacto da lei, firmado ao tempo do xodo de Israel.
Ademais, o apstolo esclarece que Hagar tambm uma figura
da Jerusalm dos seus dias, cujo povo permanecia debaixo do
jugo da Lei Mosaica. Paulo menciona especificamente a cidade
de Jerusalm porque nela se focalizava o culto israelita, sendo
tambm ali o centro do judasmo com sua nfase na guarda
da lei em seus mnimos detalhes.
De fato, Jerusalm era a grande fortaleza em que a lei de
Moiss era protegida com um zelo que chegava s raias do
fanatismo.
22
Alm disso, bem provvel que os mestres
judaizantes que estavam atuando de forma to perniciosa junto
aos cristos da Galcia fossem procedentes de Jerusalm (At 15.1,
94 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
23-24) e se gloriassem no radicalismo daquela maravilhosa
cidade. Talvez eles at se aproveitassem do fato de terem vindo
de Jerusalm para afirmar sua autoridade, considerando o
destaque que aquela cidade tinha como reconhecido ncleo
religioso. Sendo esse o caso, pode-se entender porque Paulo
mostra a real condio da metrpole de que tanto se jactavam.
Na verdade, seus filhos, ou seja, seus cidados e todos os que
adotavam seus princpios, homens to meticulosos no tocante
s determinaes da antiga aliana, estavam sob escravido,
oprimidos sob o fardo de uma religiosidade exterior incapaz de
tornar o homem livre e justo diante de Deus (Rm 3.20). Para
Paulo, portanto, o sistema mosaico, em vez de criar novos
israelitas, criava novos ismaelitas!
Em contraste com a Jerusalm terrena que, sendo serva
como Hagar, me de escravos, h a Jerusalm celestial que,
como Sara, livre (26). Essa Jerusalm tambm me. De
fato nossa me, ou seja, me dos crentes, aqueles que so
livres da Lei mediante a f em Cristo (v. 31; Rm 7.6). Paulo se
refere Nova Aliana (1Co 11.25; 2Co 3.6; Hb 9.15) como a
Jerusalm l de cima porque seus filhos so gerados pelo
poder do alto e, ainda que se encontrem por um tempo neste
mundo, no tm aqui nenhuma cidade sagrada em que se
concentrem (Hb 13.14). Antes so, na verdade, cidados
celestes (Fp 3.20), homens livres cuja liberdade lhes advm
do Pacto da Cruz, no qual Deus se compromete a dar a vida
eterna aos que to somente crem em seu Filho (Jo 6.40). A
ptria deles est, pois, nos cus (Hb 11.10, 16; 12.22; 1Pe
2.11; Ap 21.2), mas a liberdade que tm como cidados do
alto j desfrutada aqui (5.1).
Mantendo viva a comparao entre os filhos da Nova
Aliana e Isaque, o filho de Sara, Paulo recorda mais uma vez
que, alm de ambos serem gerados em liberdade, tambm
ambos nasceram por causa do milagre realizado por Deus.
Citando Isaas 54.1, o apstolo aponta para o fato de que o
O EVANGELHO VERDADEIRO E A LIBERDADE 95
profeta se refere Jerusalm restaurada como uma mulher
que tinha sido estril, mas que, por causa da promessa e do
poder de Deus ter numerosos filhos (27). A princpio, o texto
se refere restaurao da Jerusalm exilada em Babilnia.
23
Paulo, porm, movido pelo Esprito Santo, estende seu sentido
para ensinar que os filhos da Jerusalm celeste, ou seja, do
Novo Pacto, so obra sobrenatural do Senhor e tambm realar
o grande nmero de cidados dessa ptria gloriosa. De fato,
a graa de Deus, ainda que a cada gerao alcance um nmero
comparativamente reduzido de pessoas (Mt 7.14; 22.14), ao
final se mostrar como tendo sido eficaz na vida de uma
multido redimida ao longo dos sculos (Ap 5. 9-10; 7. 9).
O v. 28 inicia o desfecho de toda a analogia de Paulo entre as
duas mulheres de Abrao e as duas alianas. Ele conclui que os
crentes so como Isaque por serem tambm filhos da promessa.
De fato, neles cumprida a promessa de que Abrao teria uma
grande descendncia (Rm 4.16-17; 9.8). por isso que o apstolo
os descreve como filhos da promessa, como Isaque.
Ocorre, porm, que da mesma maneira que o filho da
escrava perseguia o filho da livre, assim tambm agora (29).
A histria de Gnesis mostra que o filho de Hagar, nascido
sem qualquer interveno especial de Deus, atormentava o
menino nascido de forma sobrenatural (Gn 21.8-9), e Paulo
v nisso um paralelo com o que acontecia na Galcia. Ali,
mestres que no haviam nascido de Deus, filhos naturais da
Aliana Mosaica e escravos da Lei, perseguiam os crentes,
filhos livres da Nova Aliana, nascidos graas atuao
milagrosa de Deus.
interessante notar que o assdio dos falsos mestres
igreja, tentando impor sobre ela o fardo das exigncias legais,
tido pelo apstolo como verdadeira perseguio. Assim, no
se deve conceber o ataque contra os santos apenas sob a
forma de oposio sangrenta, com prises, mortes, e torturas.
A perseguio contra o povo santo tambm acontece quando
96 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
pregadores da mentira tentam seduzi-lo, conduzindo-o pelos
caminhos tortuosos de um evangelho adulterado. Na Galcia
os perseguidores eram mestres judaizantes que, com
sorrisos e agrados, colocavam sobre os crentes a carga
insuportvel da guarda da Lei. Hoje esse tipo de perseguio
ainda existe. Alis, sempre que algum se aproxima de um
crente e o exorta ou ensina a se submeter a regras, dizendo
que assim que se vive o cristianismo autntico. Tal pessoa
atua como verdadeiro perseguidor, um escravo ismaelita
perturbando os filhos livres da Jerusalm celeste.
24
Como terminar a histria do embate entre os filhos da
escrava e os filhos da livre? Paulo recorre novamente histria
de Gnesis e sugere o modo como os crentes devem por um
fim oposio dos legalistas que pervertem o evangelho
genuno. Ali, Sara diz a Abrao: Mande embora a escrava e
o seu filho (30). Parece clara aqui a sugesto de Paulo de que
os glatas deveriam rejeitar no somente o ensino dos mestres
judaizantes, mas tambm eles prprios. A citao de Gnesis
21.10 parece indicar que os crentes da Galcia deveriam
mandar embora aqueles que lhes estavam ensinando a
justificao pela guarda da Lei. Como Sara, aqueles crentes
no podiam tolerar os ataques ousados e maldosos dos
escravos contra os filhos da promessa, devendo adotar uma
postura firme contra eles, eliminando qualquer grau de
influncia que tivessem e at afastando-os do seu convvio.
25
O versculo 30, por outro lado, tem um sentido que suplanta
a orientao dada aos crentes de rejeitar os legalistas. O
sentido dominante no texto aponta para a certeza de que,
num dia futuro, os que confiam na justia prpria mediante a
guarda de leis sero expulsos do convvio dos herdeiros de
Deus. Aqui Paulo confere s palavras da esposa de Abrao
um sentido proftico e para realar a autoridade de tais
palavras que o apstolo as atribui Escritura e no
diretamente a Sara.
O EVANGELHO VERDADEIRO E A LIBERDADE 97
De Gnesis 21.10, Paulo aduz, portanto, o destino
escatolgico dos filhos das diferentes alianas. Aqueles que
insistem na justificao pela guarda da Lei e oprimem os
crentes impondo fardos sobre eles sero um dia afastados
para sempre, e os salvos, de posse da herana, se vero livres
de sua presena e perseguio. Do texto citado depreende-se
tambm facilmente que os legalistas no recebero a herana
devida aos crentes que foram gerados livres pelo evangelho
da graa (Rm 4.14). De fato, o apstolo ensina claramente
aqui que os que confiam na guarda da Lei esto perdidos,
no tm parte na herana de Deus e sero finalmente banidos
da congregao dos santos. A fora desse texto esvazia de
qualquer esperana aqueles que buscam ser salvos pela
observncia dos mandamentos mosaicos.
O v. 31 to somente refora a identidade dos crentes como
filhos livres, como Paulo ressaltou em versculos anteriores
(vv. 26, 28).
A busca da justificao pelo cumprimento da Lei condenvel,
posto que implica afastamento de Cristo em quem a justia
obtida pela f. Contudo, estar livre da Lei no deve conduzir
vida desregrada, uma vez que a liberdade crist vivida dentro
dos limites do amor e sob a influncia do Esprito que produz
virtudes no crente.
PREJUZOS DO LEGALISMO
GLATAS 5.1-6
1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto,
permaneam firmes e no se deixem submeter novamente
a um jugo de escravido.
2. Ouam bem o que eu, Paulo, lhes digo: Caso se deixem
circuncidar, Cristo de nada lhes servir.
3. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar,
que est obrigado a cumprir toda a Lei.
4. Vocs, que procuram ser justificados pela Lei, separaram-
se de Cristo; caram da graa.
5. Pois mediante o Esprito que ns aguardamos pela f a
justia, que a nossa esperana.
6. Porque em Cristo Jesus nem circunciso nem
incircunciso tm efeito algum, mas sim a f que atua pelo
amor.
o evangelho verdadeiro e
as virtudes espirituais
5.
100 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
O captulo 5 de Glatas inicia-se com a afirmao de que
Cristo nos libertou para sermos, de fato, livres (1), ou seja, ao
redimir-nos Cristo almejou que realmente desfrutssemos da
liberdade e no a tivssemos apenas como um conceito
abstrato, sem qualquer reflexo no modo como vivemos. Antes,
sua obra libertadora deveria ser desfrutada pelos crentes.
Assim, Paulo prossegue ainda no v. 1 advertindo os glatas
a permanecerem firmes. Firmeza aqui implica fixar-se na
verdade pregada por Paulo e usufruir, sem vacilar, da liberdade
que Cristo conquistou. De fato, ao demonstrar simpatia pelos
ensinos legalistas, os crentes da Galcia revelavam uma f
vacilante e um modo de viver que, como uma estaca solta,
pendia para o lado da escravido sob a fora do vento de um
evangelho falso (1.6-7). O apstolo ordena, portanto que
aqueles crentes se apeguem com maior tenacidade ao
evangelho verdadeiro e, conseqentemente, ao desfrute da
liberdade obtida por Cristo.
Paulo prossegue deixando claro que deixar-se levar pela
mensagem dos judaizantes, como os glatas j estavam fazendo
(4.10-11), representava um retrocesso, ou seja, significava
submeter-se de novo, a jugo de escravido (ARA). O apstolo
usa a expresso de novo (palin), porque ainda que seus
leitores, sendo gentios, no tivessem vivido sob o jugo da Lei
Mosaica, tinham sido escravos de sistemas religiosos pagos
marcados por inmeras e severas exigncias (4.8-11).
Desse modo, para Paulo, a resposta positiva ao apelo dos
falsos mestres implicava, basicamente, um retorno ao modo
de vida que os glatas tinham experimentado no paganismo.
A partir da fcil concluir que judaizar a igreja , na
verdade, uma forma de paganiz-la. Em vista disso, os crentes
modernos devem estar atentos contra os ataques de alguns
pregadores atuais que ensinam a necessidade de retorno aos
deveres da religio mosaica at mesmo em seus aspectos
cerimoniais. Na prtica, quem hoje promove a observncia
O EVANGELHO VERDADEIRO E AS VIRTUDES ESPIRITUAIS 101
das normas do judasmo, conduz os homens ao estilo de vida
prprio do paganismo.
No v. 2, Paulo deixa transparecer o aspecto da Lei que os
mestres judaizantes tinham em mais alta conta e, certamente,
aquele que mais insistiam que os glatas observassem: a
circunciso. Para eles, se os gentios no recebessem essa
marca em sua carne, no poderiam ser salvos (At 15.1,5).
1
Assim, os falsos mestres da Galcia apontavam um caminho
para a justificao no qual a f em Cristo no era suficiente,
fazendo-se necessrias as obras da Lei. A circunciso seria
talvez a principal dessas obras. Por isso, Paulo v nessa prtica
uma declarao de falta de confiana na suficincia da Cruz;
uma afirmao de que ela no tem nenhum valor parte do
rito legal judaico.
Ademais, a circunciso era o sinal externo de adeso Lei.
Ora, Cristo se manifestou especialmente para livrar o homem
do jugo insustentvel da Lei Mosaica (Ef 2.14-15; Cl 2.14).
Logo, aderir Lei por meio daquele sinal no corpo seria o
mesmo que tornar sem proveito a obra libertadora que Cristo
completou no Calvrio (2.21). De fato, pela circunciso os
crentes da Galcia estariam assumindo o compromisso de se
colocarem sob a escravido das normas esculpidas na pedra,
tornando sem valor a liberdade obtida pelo Deus-Homem
fixado no madeiro.
Que Paulo entendia a circunciso como um sinal de adeso
completa Lei depreende-se facilmente do v. 3. O apstolo
mostra aqui que, sendo aquele rito judaico uma evidncia de
submisso plena s normas mosaicas, no seria coerente
circuncidar-se e, ento, dedicar-se ao cumprimento de apenas
algumas determinaes da Antiga Aliana, escolhidas ao bel
prazer. A circunciso implicava comprometimento integral do
homem com as normas do Sinai. No poderia algum
submeter-se a meia aliana, assim como no pode um homem
colocar-se debaixo das responsabilidades de meio casamento.
102 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
Eis o perigo a que se expunham os legalistas. Ao adotarem
um cristianismo judaizado, punham sobre os prprios
ombros e dos seus discpulos no s alguns pesos
selecionados pela vontade livre, mas um fardo completo que
homem nenhum na histria humana jamais pde suportar
(Jo 7.19; At 15.10). Acrescente-se a isso a verdade de que quem
quer viver debaixo da Lei deve antes entend-la como um bloco
monoltico que no pode ser partido num ponto sem que tudo
o mais se perca (Tg 2.10). A concluso a que se chega que o
ensino dos falsos mestres da Galcia implicava no s a
adoo completa da Lei, mas tambm o dever de uma
obedincia perfeita, daquele tipo que s o Filho de Deus foi
capaz de praticar (Jo 8.46; Hb 4.15; 1Jo 3.5).
O comprometimento com a Lei a que os crentes da Galcia
eram impelidos por fora da influncia dos falsos mestres era,
como se sabe, nada mais que um arranjo doutrinrio no qual
predominava a busca de justificao pelo esforo prprio. Eles
queriam somar as obras f e obter a justificao como
produto dessa operao. Paulo mostra, porm, que na busca
da salvao impossvel andar de mos dadas ao mesmo
tempo com a Lei e com Cristo. assim que, dirigindo-se
especificamente aos falsos mestres e aos seus mais leais
seguidores, ele afirma que, ao buscarem a justificao pela
Lei, no poderiam manter-se unidos a Cristo (4). De fato, ao
agirem daquela forma, eles haviam se desligado de Cristo.
O verbo usado por Paulo katargew e significa ser liberto de,
romper com algum.
O ensino de Paulo nessa passagem deixa claro que mesmo
o comprometimento com uma parte nfima da Lei implica
necessariamente a nulidade do compromisso com o Senhor.
Para o apstolo, ou o homem fica absolutamente livre da Lei
pela f em Cristo ou fica absolutamente livre de Cristo pela
adeso Lei. No h como manter liames com ambos. A mais
tnue ligao com um s, para fazer qualquer sentido, requer
o abandono total do outro.
O EVANGELHO VERDADEIRO E AS VIRTUDES ESPIRITUAIS 103
Os legalistas j tinham feito a sua opo! Aderindo Lei
na busca da justificao, tinham se separado de Cristo e,
assim, cado da graa, ou seja, tinham abandonado a
possibilidade de desfrutar do favor gratuito de Deus oferecido
em seu Filho.
comum no meio evanglico o entendimento de que as
expresses desligar-se de Cristo e cair da graa apontam
para a possibilidade da perda da salvao. Esse entendimento,
porm, est equivocado, mesmo porque o ensino de que a
salvao no se perde amplamente fundamentado nas
pginas do Novo Testamento (Jo 10.27-29; Rm 8.30-39; 1Ts
5.23-24; 1Pe 1.3-5, etc.). Assim, considerando o ensino bblico
em geral e os fatores distintivos que permeiam o texto em
anlise, conclui-se que desligar-se de Cristo buscar
inutilmente a salvao nele e em algo alm dele, desprezando
a sua suficincia. manter uma unio parcial com Cristo,
dividindo a confiana da salvao entre ele e algo mais. Para
Paulo, esse tipo de comprometimento com o Salvador nulo e
implica, na verdade, total separao dele.
Da mesma forma, cair da graa (Lit. cair para fora) significa
colocar-se fora da esfera dos benefcios da graa.
2
afastar-se
do domnio em que o perdo de Deus dado independentemente
de mritos. deixar para trs a possibilidade de ser salvo
gratuitamente. A busca da justificao pelo esforo prprio faz
com que o indivduo deposite a confiana na fora do seu brao
e, dessa forma, vire as costas para a salvao gratuita que
Deus oferece em seu Filho. Assim, tal pessoa no perde a graa
que obteve, mas perde a possibilidade de desfrutar a graa que
oferecida, uma vez que viaja rumo ao territrio da lei e das
obras, onde a referida graa no habita. Como se v, Paulo
dirige as palavras do v. 4 a um grupo de pessoas especfico que
havia nas igrejas da Galcia. Tratava-se de legalistas que nunca
tinham realmente se convertido. notvel que, em 2.4, Paulo
chama pessoas assim de falsos irmos.
104 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
Os vv. 1-4 apresentam um deslocamento no pblico alvo a
quem Paulo dirige suas palavras. Observe-se que nos vv. 1-2,
o apstolo fala aos crentes que, mesmo vacilantes, ainda no
tinham se submetido aos rigores do legalismo que os falsos
mestres estavam propondo. J nos vv. 3-4, Paulo se dirige a
todo homem que se deixa circuncidar, ou seja, queles que
procuram ser justificados pela Lei. Estes, conforme visto
acima, no eram crentes. Eram pessoas separadas de Cristo,
vivendo em meio fantasia de um relacionamento com ele
que, na verdade, era nulo, j que no o consideravam um
salvador suficiente. Alm do mais, tinham sido banidos do
territrio da graa, descambado para alm das suas
fronteiras, uma vez que buscavam a salvao no reino do
esforo prprio.
Aps dirigir suas palavras a alvos alternados, Paulo passa
agora a falar de um terceiro grupo no qual ele se inclui. Esse
grupo o que, firmemente e pela atuao do Esprito, aguarda
a justia pela f (5).
3
O apstolo inicia o v. 5 com uma conjuno
(gar que significa pois) que expressa aqui o intento de explicar
o que foi dito no v. 4. Assim, o v. 5 til para esclarecer que
os que buscavam a justificao mediante a Lei fracassaram
porque seu intento no tinha qualquer relao com a obra do
Esprito Santo. A segura esperana de ser justificado pela f
advm ao homem pela atuao do Esprito. A ausncia dessa
esperana em algum e a conseqente tentativa de ser
justificado pelas obras revelam que esse algum no foi objeto
do salutar ministrio do Consolador. Isso porque, onde o
Esprito atua, no resta espao para a confiana na carne.
Esta s persiste no corao ainda no tocado pela graa.
O contraste bsico que transparece no v. 5 que a confiana
na Lei mera intuio da mente carnal, enquanto a esperana
de justificao pela f obra sobrenatural de Deus no corao
do homem. Acrescente-se a isso o ensino de Paulo em 2
Corntios 3.6-9. Ali, realando ainda mais fortemente o
O EVANGELHO VERDADEIRO E AS VIRTUDES ESPIRITUAIS 105
contraste entre o ministrio da Lei e o ministrio do Esprito,
o apstolo ensina que aquele mata e traz condenao,
enquanto este vivifica e traz justificao. Ora, os legalistas
estavam sob o ministrio da letra. Sua conexo com o Esprito,
portanto, no existia. Logo, no havia como serem justificados.
por isso que as palavras terrveis do v. 4 se ajustavam to
perfeitamente a eles.
Resumindo: os homens que confiam no mrito pessoal para
serem salvos esto, na realidade, perdidos. Isso porque essa
confiana mera inclinao da mente degenerada e no obra
do Esprito Santo, j que este, na verdade, leva o homem a
desistir de si mesmo e o conduz justificao convencendo-o
a confiar unicamente em Cristo. Os legalistas da Galcia
demonstravam, portanto, que no tinham sido objeto dessa
obra do Esprito que opera a justificao pela f somente.
Faltava-lhes a ministrao do Consolador e, sem ela, viviam
na iluso de que, com sua suposta obedincia Lei, poderiam
forar as portas do cu.
Nunca demais ressaltar nos dias atuais, to marcados
pela viso otimista acerca do homem, que, luz do v. 5,
exclusivamente mediante a atuao do Esprito Santo que
algum pode nutrir a esperana de ser justificado somente
pela f. No se pode esperar que o homem, de si mesmo e por
si mesmo, desenvolva essa esperana. Ela obra de Deus,
realizada naqueles que, sem mrito algum, so contemplados
por sua graa (Rm 2.29; 1Co 12.3; 2Ts 2.13).
Concluindo o pargrafo, Paulo faz aluso ao fato de que o
homem que creu e foi justificado est em Cristo, ou seja, dentro
de sua esfera de influncia e benefcios. Considerando que tal
homem desfruta das bnos dessa posio, sendo a
justificao a principal delas, no h para esse indivduo
utilidade alguma na circunciso (6). Para o crente, ser
circuncidado ou no algo absolutamente sem importncia.
Submeter-se a esse rito no o far ganhar nada, e deixar de
106 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
submeter-se no o far perder nada (1Co 7.18-19). O que faz
o homem ganhar ou perder no mbito espiritual a f. Eis o
fator que faz toda a diferena. Note-se, porm, que a f de
que Paulo fala aqui, ou seja, a genuna f salvadora que
ddiva de Deus (Ef 2.8) e que tem Cristo como autor (Hb 12.2),
uma f que se evidencia no mundo dos fatos.
Paulo ensina que o modo como a f salvadora se movimenta,
tornando-se perceptvel, por meio de atos de amor (1Jo 3.10,
14; 4.7-8). A f tem no amor o seu rosto. A face da f o amor.
No h, portanto, espao no cristianismo para uma f
meramente conceitual e abstrata. A f salvadora viva e
atuante, sendo nos atos de amor que ela se corporifica e mostra
que real. Carente dessa dimenso palpvel a f morta (Tg
2.14-17), est longe de ser a que vem de Deus e, por isso, no
pode salvar ningum.
4
UMA CORRIDA INTERROMPIDA
GLATAS 5.7-12
7. Vocs corriam bem. Quem os impediu de continuar
obedecendo verdade?
8. Tal persuaso no provm daquele que os chama.
9. Um pouco de fermento leveda toda a massa.
10. Estou convencido no Senhor de que vocs no pensaro
de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem
for, sofrer a condenao.
11. Irmos, se ainda estou pregando a circunciso, por
que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escndalo
da cruz foi removido.
12. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se
castrassem!
Nos primeiros dias de sua jornada como cristos, os glatas
tinham demonstrado boa disposio e realizado notveis
avanos. Paulo os compara, no v. 7, a atletas que, durante
O EVANGELHO VERDADEIRO E AS VIRTUDES ESPIRITUAIS 107
uma corrida, apresentam um bom desempenho.
5
Algo, porm,
aconteceu. Adversrios os alcanaram e impediram que
avanassem.
6
Fica claro no texto o que Paulo tem em mente
com essa comparao: os crentes da Galcia, no incio, haviam
seguido a verdade do evangelho com fora e vontade. Eles
permaneceram firmes nessa f at que os falsos mestres, com
sua doutrina legalista, fizeram-nos parar e dar ouvidos a uma
mensagem que apresentava a justificao mediante a guarda
da Lei Mosaica.
Do v. 7 se depreende que correr bem a carreira crist no
s enfrentar as perseguies que geralmente advm aos santos,
mas tambm sustentar a f na verdade, sem deixar-se levar
pelos convites dos pregadores mentirosos que, especialmente
nos dias atuais, alastram-se como uma epidemia. De acordo
com a figura de Paulo, todo crente que abandona a S Doutrina
e d ouvidos a tais pregadores como um atleta que parou de
correr. Estendendo essa figura, pode-se perguntar: que
utilidade tm tais atletas? Que prmio recebero?.
A causa da interrupo da corrida na pista da verdade por
parte das igrejas da Galcia era uma persuaso (8). O termo
usado pelo apstolo (peismonh) sugere o uso de falcias
sedutoras empregadas com o objetivo de convencer os glatas
a abandonar o caminho que estavam seguindo. Que os
judaizantes faziam uso de atrativos para fascinar e induzir
os crentes desobedincia da verdade fica claro em 3.1 e 4.17.
Paulo afirma que a origem dessa persuaso no era o Senhor,
querendo dizer com isso que o trabalho e a mensagem dos
falsos mestres infiltrados nas igrejas no estavam em
harmonia com a vontade e os planos de Deus para o seu povo.
No v. 8, Paulo se refere a Deus como aquele que os chama
(NVI). Essa designao cheia de significado. De fato, para
Paulo o crente algum que foi chamado f em Cristo por
meio da pregao do evangelho (Gl 1.6; 2Ts 2.13-14) e
respondeu positivamente a essa santa vocao. Note-se,
108 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
porm, que o particpio grego usado no texto est no tempo
presente (kalountoj), apontando para uma ao atual de
Deus. provvel, portanto, que Paulo tenha em mente aqui
um convite de Deus dirigido continuamente aos que j
atenderam ao chamado para a f.
7
luz de outras passagens,
esse chamado contnuo consiste num apelo para que os
crentes sejam santos (Rm 1.7) e vivam em paz com Deus (2Co
5.20). Assim, ao falar de Deus como aquele que os chama,
o apstolo talvez pretenda despertar a conscincia dos seus
leitores para o fato de que o Senhor, vendo seus filhos se
distanciar mais e mais de si, em virtude da persuaso dos
falsos mestres (1.6), continuamente os convoca para que
retornem a ele, rejeitando definitivamente o falso evangelho.
Se de um lado os mestres da mentira convidavam os glatas
para que seguissem suas invenes, de outro o Senhor os
chamava docemente para que retornassem sobriedade e
f na verdade.
Por impedirem os glatas de obedecer a verdade, atendendo
assim ao chamado de Deus, os falsos mestres se constituam
numa influncia maligna que, aos poucos e num tempo breve,
poderia corromper completamente as igrejas da Galcia. Paulo
alerta os seus leitores para isso citando o conhecido brocardo:
Um pouco de fermento leveda toda a massa (9). O apstolo
usaria o mesmo adgio mais tarde, ao escrever aos corntios
(c. 55 d.C.), para ensinar a necessidade de expulsar um homem
imoral da igreja (1Co 5.6-8). Ali, assim como no texto em
anlise, o fermento smbolo da maldade e da perversidade
(1Co 5.8). A diferena que, em Corinto, a maldade e a
perversidade manifestaram-se, entre outras coisas, por meio
de um chocante desregramento sexual, enquanto na Galcia
revelaram-se por meio do rpido e aberto desvio doutrinrio.
8
Da considerao de ambos os casos, pode-se concluir que
tanto a conduta errada quanto o ensino errado, quando
admitidos na igreja, so capazes de, lentamente e de vrias
maneiras, afetar todos os seus membros.
O EVANGELHO VERDADEIRO E AS VIRTUDES ESPIRITUAIS 109
Para que continue, portanto, a existir como igreja verdadeira,
a comunidade que se coloca sob esse ttulo no pode tolerar o
erro nem de conduta nem de doutrina, impondo-se a
necessidade de corrigir e, se preciso for, at expulsar aqueles
que se sujeitam a quaisquer desses desvios (1Co 5.2,13). A
figura do fermento mostra que disso depende a pureza e a sade
de toda a igreja. Por isso, ainda que medidas severas sejam
muitas vezes necessrias para extirpar a influncia m e
crescente, deve-se lembrar que dessas medidas depende a
sobrevivncia do prprio grupo eclesistico. De fato, a
experincia mostra que a tolerncia adotada muitas vezes em
nome de uma noo errada de amor ou por causa do medo de
ser taxado de radical tem, no fim das contas, um preo alto.
Basta observar que igrejas que no passado deram pouca
importncia a pequenos desvios prticos e teolgicos,
considerando-os inofensivos, hoje se vem marcadas por um
quase irremedivel ambiente mundano e tambm por grosseiras
heresias instaladas nas mentes de seus membros. Eis o efeito
do fermento! Sua ao silenciosa e lenta faz com que os danos
que produz se alastrem por sobre tudo e sejam percebidos tarde
demais. Da a necessidade de lan-lo fora com urgncia (1Co
5.7), por mais que isso gere dissabores e desgaste emocional.
Paulo sabia que a doutrina dos falsos mestres judaizantes
tinha o potencial de corromper por completo as igrejas da
Galcia. Isso, porm, ainda no tinha acontecido (5.1-2), e o
apstolo estava confiante que seu ensino prevaleceria sobre
as falcias dos legalistas (10). Sabendo que escrevia a crentes
genunos, Paulo acreditava no arrependimento dos glatas e
no seu retorno S Doutrina. Essa sua confiana era
fundamentada no Senhor. Isso significa que Paulo cria que
o arrependimento dos seus leitores seria, em ltima anlise,
obra de Deus no corao deles. O apstolo tinha plena certeza
em seu ntimo que o Senhor no deixaria seus filhos vagando
pelas sendas da mentira.
110 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
Ainda no v. 10, Paulo afirma: Aquele que os perturba,
9
seja quem for, sofrer a condenao. O uso do singular no
significa que havia somente um falso mestre atuando entre
as igrejas. Em 1.7, 4.17, 5.12 e 6.12, Paulo deixa claro que
havia um grupo presente ali. Certamente, portanto, o singular
foi usado para referir-se ao lder desse grupo ou ao mais
influente entre os legalistas. Sem dvida, esse indivduo se
apresentava como detentor de grande autoridade doutrinria,
um rabino acima da mdia que, com seus ares de grande
intelectual, associados s suas tcnicas de bajulao, havia
conquistado uma posio de alto prestgio entre os irmos.
Paulo mostra, no entanto, que, independentemente da posio
que ocupava, aquele homem seria castigado. A expresso
seja ele quem for indica que sua suposta autoridade no
teria valor algum diante do Deus que o condenaria por desviar
as igrejas da verdade.
A palavra traduzida por condenao (krima) tem aqui o
sentido de punio. No versculo sob anlise, o termo aparece
associado a um verbo cujo significado carregar (bastazw,
tambm usado em 6.2,17).? possvel, portanto, que Paulo
esteja dizendo que Deus lanaria um grande fardo sobre a
vida daquele homem, desconsiderando totalmente a sua
posio de preeminncia. Isso porque, para Deus, o bom
ministro no necessariamente o que se destaca, mas sim o
que fiel (1Co 4.1-2). No se pode deixar impune o homem
que, aproveitando-se de sua posio privilegiada, conduziu o
povo santo para longe da verdade, causando prejuzos
incalculveis para a causa do Reino (1Co 3.17).
Concluindo o pargrafo em anlise, Paulo deixa
transparecer uma das acusaes que os falsos mestres
dirigiam contra ele, a saber, a de que ele pregava a circunciso
quando isso era conveniente. Ao que tudo indica, os
judaizantes diziam que a mensagem de Paulo era oscilante,
pendendo para este ou aquele lado, dependendo das
O EVANGELHO VERDADEIRO E AS VIRTUDES ESPIRITUAIS 111
circunstncias e sempre com o intuito de evitar oposio e
cair no agrado de todos. Paulo j se defendera dessa acusao
em 1.10. Agora ele o faz novamente, desta vez demonstrando
o quanto ela ia contra as mais claras evidncias. Assim, no v.
11 ele diz: Irmos, se ainda estou pregando a circunciso,
por que continuo sendo perseguido?.
bvio que Paulo tem em mente aqui, especificamente, a
perseguio dirigida contra ele pelos adeptos do judasmo.
Por que estes o perseguiam se sua mensagem se ajustava s
suas convices? Ora, a perseguio contra Paulo por parte
dos judeus era um fato inegvel. Alis, na prpria regio da
Galcia, quando as igrejas a quem escreve foram fundadas,
ao tempo da Primeira Viagem Missionria, o apstolo
encontrou terrveis obstculos entre os seus compatriotas
exatamente porque sua pregao contradizia a expectativa
reinante entre eles de que o homem pudesse ser justificado
pelas obras da Lei, e enfatizava unicamente a necessidade da
f em Cristo (At 13.49-50; 14.1-2). Logo, os prprios glatas
tinham sido testemunhas da perseguio que Paulo sofrera
quando anunciou pela primeira vez o evangelho entre eles
(At 14.19-20), e puderam perceber o quanto sua mensagem
incomodava os adeptos do judasmo. Como agora podiam crer
que ele era um pregador que mudava o contedo do seu
discurso a fim de evitar problemas com os supostos seguidores
de Moiss?
verdade que Paulo tinha grande disposio em evitar
ferir os escrpulos dos judeus e, assim, criar barreiras
desnecessrias ao anncio do evangelho (At 16.1-3). Contudo,
esse modo de agir estava muito longe de ser uma forma de
anunciar a necessidade da circunciso como os falsos mestres
diziam que Paulo estava fazendo. A perseguio que o
apstolo sofria era evidncia de que no era esse o caso, pois
se sua mensagem inclusse a salvao pela guarda da Lei, o
escndalo da cruz cessaria.
112 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
Escndalo (skandalon) significa, literalmente,
armadilha. uma palavra usada no NT para fazer referncia
ao incitamento ao pecado (Mt 16.23; 18.7; Rm 16.17). A partir
desse significado bsico, o sentido se estende a ponto de
abranger qualquer coisa que cause repulsa ou reprovao.
Esse o sentido adotado no v. 11. Escndalo da cruz ,
portanto, a indignao que a mensagem da cruz gera. De fato,
para o judeu, essa mensagem causava repugnncia como algo
que induzia os outros ao erro, a tal ponto que incitava sua
oposio (1Co 1.23). Se Paulo pregasse a circunciso, essa
repulsa deixaria de existir; o escndalo cessaria e com ele a
perseguio. Ora, a constante inimizade dos judeus contra
Paulo era a prova de que isso jamais tinha acontecido.
Naturalmente, acusaes to absurdas contra Paulo geravam
em seu ntimo a mais intensa indignao. Por isso, com mordaz
ironia, ele termina o pargrafo insurgindo-se abertamente
contra seus covardes caluniadores (12). O apstolo se refere a
eles como pessoas que provocam tumulto e agitao. Em 1.7 e
5.10, os mestres judaizantes j foram descritos como pessoas
que perturbam. Agora, um outro verbo usado (anastatow),
cujo sentido semelhante. De fato, Paulo sugere que os mestres
legalistas eram instigadores de tumulto. Sendo assim,
ironicamente faz votos de que aqueles homens que eram to
radicalmente afeioados circunciso, at o ponto de conduzir
a igreja rebeldia, tambm fossem radicais na realizao do
ritual, e se castrassem de uma vez por todas!
10
Diziam que ele
pregava a circunciso. Eis a, portanto, a circunciso que Paulo
prega! Que os mentirosos agora faam uso dela.
A reao de Paulo diante da mentira que tentava corromper
o evangelho e tambm sua prpria reputao pode parecer
demasiadamente severa. No entanto, aprendemos na Escritura
que na defesa da verdade, ainda que deva predominar a
mansido no corao dos seus expoentes (2Tm 2.24-25; 1Pe
3.15-16), h situaes que exigem a tomada de atitudes mais
O EVANGELHO VERDADEIRO E AS VIRTUDES ESPIRITUAIS 113
rgidas. Nos escritores do NT essa rigidez aflora sempre que a
paz, a pureza e a s doutrina so fortemente ameaadas,
colocando a igreja em constante e real risco de destruio (1Co
3.1-3; 5.13; Tt 1.10-13; Tg 4.4; 2Pe 2.1ss; 3Jo 9-10).
O AMOR O CUMPRIMENTO DA LEI
GLATAS 5.13-15
13. Irmos, vocs foram chamados para a liberdade. Mas
no usem a liberdade para dar ocasio vontade da carne;
ao contrrio, sirvam uns aos outros mediante o amor.
14. Toda a Lei se resume num s mandamento: Ame o seu
prximo como a si mesmo.
15. Mas se vocs se mordem e se devoram uns aos outros,
cuidado para no se destrurem mutuamente.
O convite para crer em Cristo uma vocao para ser livre
no s do mundo, do pecado e da perdio, mas tambm do
fardo que a Lei Mosaica impe aos que tentam viver sob suas
determinaes (5.1). Essa a lio que Paulo repisa em toda a
Carta aos Glatas. Contudo, certamente em virtude das
acusaes que lhe estavam sendo dirigidas de pregar uma
mensagem que induzia os crentes ao desregramento, o
apstolo v, nesta altura, a necessidade de apresentar um
contrapeso. Assim, passa a ensinar que a liberdade a que o
crente foi chamado no implica uma vida em que so dadas
asas s inclinaes naturais (1Pe 2.16). Antes, essa liberdade
deve conduzir a uma forma nova de escravido: a escravido
do amor. Paulo ensina, ento, que em vez de usar a liberdade
crist para servir suas prprias paixes, o crente deve us-la
para servir amorosamente aos seus irmos (13. Vd. tb. 1Co
8.9,13).
preciso, portanto, compreender que a pureza e o amor so as
cercas da liberdade do crente. somente dentro desses limites
que a liberdade se mantm saudvel e verdadeira, sendo certo
114 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
que ao ultrapassar tais fronteiras, ela se desfigura, transformando-
se em escravido ao pecado (Jo 8.34; 2Pe.2.17-19).
A nfase sobre o amor aos irmos notvel no pargrafo
em anlise. Paulo deixa transparecer com isso o fato de que os
crentes da Galcia no tinham apenas problemas doutrinrios.
Eles tambm tinham srios problemas de relacionamento,
havendo terrveis atritos entre os crentes. Fica evidente no texto
que na Galcia as igrejas acolhiam falsos mestres e feriam
verdadeiros irmos. Por isso, Paulo, alm de mostrar que a
liberdade que Cristo d deve conduzir ao amor que se dispe
ao servio dos santos, tambm demonstra que o dever de amar
consta da prpria Lei como uma ordem que resume todos os
demais mandamentos (14).
11
bvio que a meno da Lei aqui
no despropositada. Paulo est escrevendo a pessoas que
diziam ter os preceitos mosaicos em alta conta. Na verdade,
como se dissesse: Vocs realmente querem cumprir a Lei?
Muito bem. Ento amem-se uns outros, pois toda a Lei se
resume nesse mandamento e, curiosamente, ele no tem
recebido a ateno devida da parte de vocs, que se apresentam
como zelosos cumpridores das determinaes de Moiss!.
No v. 15, percebe-se o grau de atrito que havia entre os
crentes da Galcia. Ao usar os verbos morder (daknw) e
devorar (katesqiw), o apstolo sugere a figura de animais
selvagens brigando ferozmente entre si, cada qual tentando
brutalmente estraalhar e destruir o outro, em meio completa
balbrdia, gritos e confuso. claro que a figura sugerida
por Paulo tem um toque de exagero, com o intuito de dar maior
impacto admoestao. No entanto, considerando a lista das
obras da carne constante de 5.19-21, bem como a exortao
de 5.26, parece certo que nas igrejas da Galcia existiam
chocantes problemas de inimizade.
A partir disso tudo, fcil concluir que o ministrio dos
mestres legalistas, com sua nfase sobre uma religio
mecnica e cerimonialista, conduzia os homens ao apego a
O EVANGELHO VERDADEIRO E AS VIRTUDES ESPIRITUAIS 115
meras formalidades exteriores. Assim, os crentes no davam
ateno s virtudes espirituais e jamais as cultivavam. O
resultado era a diviso e a discrdia, pois os vcios da alma
de uma pessoa fatalmente so sentidos por aqueles que esto
ao seu redor. Esse fato pode ser verificado em qualquer grupo
social. Alis, curioso perceber na atualidade, que, tal como
na Galcia, igrejas apegadas a um sem nmero de regras so
verdadeiros palcos de intrigas, provocaes e calnias. A
religiosidade puramente externa consome totalmente o tempo
e a ateno, no deixando espao para o cuidado da
espiritualidade interna. Ora, quando se descuida do corao,
ele passa a produzir espinhos que cedo ferem os que se
aproximam. Paulo alerta que esse estado de coisas, com as
brigas que gera, fatalmente conduz destruio de todos, ou
seja, a feridas incurveis em indivduos e ao fim da igreja
como um ncleo cristo de comunho e testemunho (Jo 13.35).
A VIDA SOB O CONTROLE DO ESPRITO
GLATAS 5.16-26
16. Por isso digo: Vivam pelo Esprito, e de modo nenhum
satisfaro os desejos da carne.
17. Pois a carne deseja o que contrrio ao Esprito; e o
Esprito, o que contrrio carne. Eles esto em conflito
um com o outro, de modo que vocs no fazem o que desejam.
18. Mas, se vocs so guiados pelo Esprito, no esto
debaixo da Lei.
19. Ora, as obras da carne so manifestas: imoralidade
sexual, impureza e libertinagem;
20. idolatria e feitiaria; dio, discrdia, cimes, ira,
egosmo, dissenses, faces
21. e inveja; embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu
os advirto, como antes j os adverti: Aqueles que praticam
essas coisas no herdaro o Reino de Deus.
22. Mas o fruto do Esprito amor, alegria, paz, pacincia,
amabilidade, bondade, fidelidade,
116 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
23. mansido e domnio prprio. Contra essas coisas no
h lei.
24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne,
com as suas paixes e os seus desejos.
25. Se vivemos pelo Esprito, andemos tambm pelo
Esprito.
26. No sejamos presunosos, provocando uns aos outros
e tendo inveja uns dos outros.
O remdio para os graves conflitos interpessoais que
agitavam as igrejas da Galcia apresentado por Paulo no v.
16. As palavras por isso digo (legw de) indicam que o que
est para ser dito a soluo para o problema descrito no v.
15. Assim, segundo Paulo, o nica meio de superar aquela
forte inimizade que havia entre os crentes da Galcia era a
submisso influncia do Esprito Santo.
O apstolo descreve essa maneira de viver como andar
no Esprito (pneumati peripateite). O significado bsico
dessa expresso, como j sugerido, um caminhar em que o
indivduo permite que o Esprito de Deus controle suas reaes
e guie a sua vontade (Veja tb. v. 18).
12
O homem que se dispe
a isso diz no para suas inclinaes pessoais (Lc 9.23) e
sim para as orientaes do Esprito de Deus (Rm 8.5).
Frise-se que s os cristos podem dispor dessa maneira de
viver, uma vez que somente neles o Esprito Santo habita,
apontando-lhes o modo de proceder (Rm 8.9,14). Deve tambm
ficar claro que andar no Esprito no uma experincia mstica,
em que o crente tem sua personalidade anulada, vivendo como
que num xtase. Antes, trata-se de um estilo de vida a que o
cristo se submete voluntria e conscientemente, sabendo que
no existe outra maneira pela qual seja possvel viver o
cristianismo de modo real e satisfatrio (Rm 8.8).
O que vem em decorrncia do andar no Esprito uma
conduta em que a carne, ou seja, a inclinao pecaminosa do
O EVANGELHO VERDADEIRO E AS VIRTUDES ESPIRITUAIS 117
individuo, no satisfeita, ou seja, tal tendncia como que
mortificada (Rm 8.13). claro que o apstolo no est dizendo
aqui que o submeter-se ao controle de Deus levar o crente a
uma vida sem pecado. A prpria experincia de Paulo mostra
que esse ideal impossvel neste mundo (Rm 7.15-25). Porm,
fora de discusso que o crente que se sujeita s orientaes
e influncia do Esprito Santo no vive sob o domnio de suas
inclinaes naturais. Estas, claro, no desaparecem num
crente assim, mas tambm no so capazes de tomar as rdeas
de sua vida e ditar-lhe a conduta. No cristo que vive pelo
Esprito, o pecado mostra-se presente, perturbando-o,
entristecendo-o e contrariando sua vontade, mas isso nunca
at o ponto de estabelecer-se no centro de sua vida, reinando
soberano (Rm 6.12-14).
Dando seguimento ao seu ensino, Paulo destaca que h
no ntimo do cristo uma verdadeira batalha entre sua
natureza pecaminosa e as orientaes do Esprito Santo que
nele habita. De acordo com o ensino do apstolo, de um lado
h as inclinaes naturais tentando determinar a conduta do
homem j regenerado, enquanto de outro lado h a atuao
do Esprito que insiste em guiar a vida daqueles que pertencem
a Deus (17). Paulo diz que essa batalha, travada no mbito
da vontade, faz que as decises morais dos crentes nunca
sejam absolutamente livres. Antes, sempre resultam ou dos
impulsos carnais ou da obra do Esprito de Deus.
Deve ficar claro que, com a frase ... de modo que vocs
no fazem o que desejam (NVI), Paulo no est dizendo que
o crente no tem vontade prpria. Antes, a frase aponta para
o fato de que a vontade moral do cristo sempre sofre
influncias determinantes. Com isso o apstolo resvala num
tema da teologia crist que tem sido objeto de calorosos
debates: a vontade livre. Ainda que esse assunto tenha
inmeras ramificaes, luz do texto em anlise, parece certo
dizer que, no que diz respeito ao cristo, a vontade moral
118 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
sempre reage aos impulsos de uma entre duas foras, isto ,
ou o crente toma decises induzido por suas paixes carnais,
ou o faz sob a direo do Esprito. Em todo caso, sua vontade
prpria sempre se expressa no campo da tica respondendo a
fatores que a contrariam, mas que fatalmente a conduzem
nesta ou naquela direo (Rm 7.19; Fp 2.13). Assim, parece
que a liberdade plena da vontade, nos termos como
geralmente entendida, no encontra suporte para sustentao
no ensino paulino.
O fato que, no crente, a vontade um misto de bem e mal.
Por isso, no importa o rumo que tome, seu querer sempre ser
contrariado. Se optar pelo mal, sentir-se- frustrado, pois o bem
que ele aprova e no qual tem prazer no ser alcanado. Se, por
outro lado, optar pelo bem, ter de faz-lo dizendo no para si
mesmo, ou seja, para aquilo que seu corao naturalmente deseja
(Lc 9.23; 1Co 9.27). Assim, enquanto o pecado estiver em seus
membros (Rm 7.23), o cristo jamais poder dizer que desfruta
de plena liberdade em suas decises morais.
Paulo sabia que as discrdias existentes nas igrejas da
Galcia (vv. 13-15) eram o resultado indesejado daquela
batalha entre os impulsos da carne a que aqueles crentes
estavam dando vazo, e as orientaes do Esprito. Sobre eles
recaa, portanto, o dever de administrar corretamente essas
inclinaes, refreando a natureza pecaminosa e submetendo
seus desejos aos ensinos do Esprito.
Isso tudo conduz o apstolo a uma implicao bvia: se
era ao Esprito que os glatas deviam sujeio, isso significava
tambm que, como argumenta em toda a carta, seu senhor
no poderia ser a Lei (18). Nesse ponto, como se o apstolo
estivesse dizendo: Essas brigas que h entre vocs so
reflexos do domnio da carne em suas vidas e s podero
desaparecer se houver submisso s orientaes do Esprito
Santo. Esse Esprito, de fato, atua em vocs, opondo-se s
suas inclinaes carnais. Ora, se o Esprito de Deus quer
O EVANGELHO VERDADEIRO E AS VIRTUDES ESPIRITUAIS 119
controlar sua vida, bvio que sua obedincia deve ser a ele
e no s normas da Lei Mosaica, como os mestres judaicos
tm lhes ensinado.
De tudo isso se depreende o seguinte: h trs influncias
sob as quais possvel que um crente se coloque. Essas trs
influncias so: a Lei, a carne e o Esprito.
13
Sob as duas
primeiras, o cristo jamais conseguir agradar a Deus (Rm
7.9; 8.8) e, para desespero de Paulo, era exatamente a essas
duas que os glatas se sujeitavam. J a terceira influncia, a
do Esprito, permanece a nica sob a qual o crente pode
realmente fazer a vontade do Senhor (v. 16). Debaixo dela, a
fora da carne neutralizada e o cristo capacitado
sobrenaturalmente a cumprir as justas exigncias da Lei, da
forma como Deus requer (Rm 7.6; 8.4).
Nos vv. 19-21, o apstolo apresenta uma lista da qual
constam quinze obras da carne especficas. Paulo pretende
mostrar vividamente o modo como as inclinaes na natureza
pecaminosa se manifestam no dia-a-dia das pessoas que se
deixam dominar por ela. Fica claro aqui, antes de tudo, que a
carne induz realizao de certas obras e que essas obras
so facilmente identificveis. O termo traduzido na NVI por
manifestas (fanera) indica que tais obras so praticadas
sem qualquer discrio, sendo expostas diante de todos numa
chocante demonstrao de ausncia de escrpulos.
A lista de obras da carne pode ser dividida em quatro grupos
distintos de pecados. O primeiro deles abrange os pecados de
natureza sexual. Estes so: imoralidade sexual, impureza e
libertinagem (19). O termo traduzido por imoralidade sexual
(porneia) abrange todos os tipos de relao sexual ilcita, desde a
fornicao at a prostituio. J a impureza (akaqarsia) sugere
a idia de podrido no ntimo, ou seja, as ms intenes na rea
sexual ainda que tambm signifique imoralidade de um modo
geral. Quanto libertinagem (aselgeia) a palavra poderia ser
traduzida como lascvia (cf. ARA) ou sensualidade. Porm, o
120 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
termo pode denotar um comportamento realmente ousado, prprio
daquele que se entrega licenciosidade, assumindo um modo
devasso, impudico e dissoluto de viver.
O segundo grupo de obras da carne mencionado pelo
apstolo pode ser classificado como composto de pecados de
natureza religiosa. Paulo menciona, no v. 20, a idolatria
(eidwlolatria) e a feitiaria (farmakeia). A primeira a
adorao de dolos ou imagens de falsos deuses.
14
Quanto
feitiaria, a palavra sugere inicialmente a prtica da magia
que faz uso de drogas e poes (a partir do termo grego temos,
em portugus, a palavra farmcia). Porm, num sentido
amplo, feitiaria qualquer arte de bruxaria, magia ou
encantamentos. A prtica popular de simpatias insere-se
perfeitamente no conceito que Paulo repugna aqui. Assim
tambm o uso de drogas no preparo do indivduo para
exerccios mentais prprios das religies orientais.
curioso notar que a natureza pecaminosa tambm inclina
o homem para a religio falsa e para a superstio. Assim, os
atos cultuais realizados pelos adeptos de qualquer seita idlatra
e as crendices populares no so meros frutos da ignorncia,
do costume ou da tradio. Antes, refletem o carter reprovado
de quem se envolve com elas; um carter em que a natureza
pecaminosa reina governando a mente e as aes do indivduo.
Essa a psicologia da religio ensinada por Paulo.
Como sabido, a sociedade pag do primeiro sculo da Era
Crist era caracterizada tanto por um baixo nvel moral quanto
pelo desvio religioso e, sem dvida, os leitores da epstola
estavam familiarizados com as formas de comportamento
referidas pelo apstolo. Portanto, no h dvida de que, nesse
ponto, seu ensino assume um carter vvido, pois no contexto
em que viviam os glatas, no faltavam exemplos das coisas
at aqui mencionadas. Assim, ao definir toda essa conduta
como carnal, Paulo incita seus leitores a no adotarem o
comportamento prprio da sociedade que os cercava.
O EVANGELHO VERDADEIRO E AS VIRTUDES ESPIRITUAIS 121
Depois de listar os pecados na rea da religio, Paulo
prossegue enumerando os pecados de natureza relacional,
isto , aqueles que normalmente se insinuam no mbito do
convvio social, destruindo os relacionamentos interpessoais.
Esse grupo concentra o maior nmero de pecados (oito, ao
todo), certamente porque era exatamente na esfera da
convivncia que os glatas tinham mais problemas (vv. 14-
15, 26). So eles dio, discrdia, cimes, ira, egosmo,
dissenses, faces e inveja (20-21).
O dio (Lit. dios. Gr. ecqrai) no aqui um mero
sentimento. Trata-se da manuteno de inimizades. O homem
carnal considera-se inimigo de certas pessoas e age como tal,
alimentando suas hostilidades. Na igreja, o crente que
sempre est de mal com algum; constantemente
construindo barreiras entre si e os outros. Trata-se do homem
que tem uma forte inclinao para arrumar encrencas e
geralmente bem sucedido nesse propsito.
O vocbulo discrdia (erij) denota a rivalidade que
aflora em contendas. Discusses verbais (1Co 1.11; Tt 3.9) e
provocaes (Fp 1.15) so manifestaes desse tipo de pecado.
Quanto ao cime (zhloj. Da a palavra zelo, em portugus),
seu significado aqui o sentimento de inveja, o incmodo
que nasce no corao de algum quando v o sucesso, o
destaque ou o simples bem estar de outrem (At 5.17). O
invejoso no se conforma com as conquistas de outra pessoa
e, cedo ou tarde, esse seu inconformismo se expressa em
maledicncia e oposio. por isso que Tiago coloca a inveja
na raiz de todas as confuses e coisas ruins que surgem na
igreja e em qualquer outro grupo de pessoas (Tg 3.14-16).
A palavra que vem a seguir ira (Lit. iras. Gr. qumoi).
Significa, basicamente, raiva e furor (Lc 4.28-29). Paulo tem
em mente aqui as exploses de clera, sempre acompanhadas
de gritos, ameaas e ofensas. O homem carnal reage de modo
agressivo bem depressa e por muito pouco. Ele tambm se
122 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
orgulha por ser assim e at mesmo gaba-se dos ataques que,
cheio de ira, empreendeu contra seus semelhantes nesta ou
naquela ocasio.
O prximo item na lista de Paulo egosmo, que no texto
tambm aparece no plural (eriqeia). O vocbulo denota a
ambio egosta, tambm mencionada em Tiago 3.14-16 como
a causa de tudo o que ruim nas relaes entre os homens. O
indivduo que pratica esse pecado aquele que faz as coisas
visando a glria pessoal, em detrimento dos interesses e bem
estar dos outros, chegando mesmo a desrespeit-los (v. 26).
Para ele o cuidado e a promoo de si mesmo esto acima de
tudo e de todos (Fp 2.3-4).
Quanto s dissenses (dixostasiai), so as divises e
partidos que muitas vezes se insinuam at mesmo dentro das
igrejas (Rm 16.17). J as faces (aireseis), referem-se a
conflitos de opinio (1Co 11.19). Da palavra grega que aparece
aqui surgiu o termo heresia, usado para descrever conceitos
doutrinrios que causam cisma dentro da igreja.
A ltima palavra pertencente terceira classe de pecados
alistados por Paulo traduzida por inveja (fqonoi). Seu
significado , basicamente, o mesmo atribudo a zhloj (Veja
acima).
O quarto e ltimo grupo de obras da carne abrange os
pecados de desregramento que Paulo especifica mencionando
a embriaguez e as orgias (21).
A embriaguez (meqai) o uso abusivo da bebida alcolica.
O cristianismo no ensina a abstinncia total do lcool (Jo
2.3-10; 1Tm 5.23)
15
, mas reprova a bebedice (Pv 20.1; Is 5.11-
12,22; 1Tm 3.2-3,8; Tt 2.3). Diferentemente da concepo
moderna, a Bblia refere-se embriaguez como um pecado
que impe a quem o pratica a necessidade de arrependimento
(Rm 13.13-14) e no como uma doena pela qual o homem
no pode ser responsabilizado. Assim, Paulo alista a bebedice
entre as obras da carne, mais especificamente entre os pecados
O EVANGELHO VERDADEIRO E AS VIRTUDES ESPIRITUAIS 123
de desregramento, vendo-a como um reflexo da busca egosta
e irresponsvel pelo prazer que, inegavelmente, a bebida traz
tanto ao paladar quanto aos sentimentos (Sl 104.14-15; Pv
31.6-7). O beberro reprovado por Deus porque atende aos
impulsos de sua natureza pecaminosa que, na bebida, busca
a todo custo o prazer do corpo e o alvio da mente. Alm disso,
invariavelmente, o resultado dessa busca descontrolada a
escravido ao vcio, a misria (Pv 21.17) e a degradao do
indivduo (Is 28.7; Ef 5.18).
A mesma busca desenfreada pelo prazer dos sentidos que
move o escravo da bebida tambm est presente naqueles
que se entregam s orgias. A palavra usada por Paulo aqui
(kwmoi) denota um banquete festivo em que as pessoas se
entregam glutonaria e a todos os tipos de prazer corporal.
A orgia sexual compe o quadro que a palavra sugere. No
ambiente pago do sculo 1, essas festas devassas eram
comuns (1Pe 4.3), fazendo parte, inclusive, dos cultos devidos
aos deuses.
16
Com a expresso coisas semelhantes, Paulo indica que a
lista de obras da carne aqui apresentada no exaustiva. Ele
tambm lembra que j havia falado sobre essas coisas com os
glatas numa outra ocasio, provavelmente ao tempo de sua
visita quela regio (At 14.1-23). Naquela oportunidade, assim
como agora, o apstolo advertira a todos que aqueles que
praticam essas coisas no herdaro o Reino de Deus. Isso
significa que as pessoas que vivem sob o domnio das obras da
carne revelam sua verdadeira condio espiritual de incrdulos
perdidos. Ainda que muitos se apresentem como cristos, num
discurso que revela conhecimento das principais doutrinas
bblicas e at certo envolvimento com a igreja de Deus, o fato
que uma vida onde o pecado reina jamais experimentou
realmente a redeno que Cristo d. A verdade que quem
vive no pecado, mostra que nunca foi liberto do pecado e, ao
final, receber o galardo do pecado (Ap 22.14-15).
124 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
Em contraste com as obras da carne, Paulo apresenta o
fruto do Esprito (22). H quem diga que a palavra fruto
(kartoj) aparece no singular porque Paulo queria ensinar
que as virtudes que vm alistadas a seguir surgem todas
juntas, como uma coisa s, na vida do homem espiritual. Isso,
porm, dificilmente estava na mente do apstolo, mesmo
porque seria muito improvvel que uma lio to importante
e surpreendente fosse transmitida por ele de forma meramente
implcita. Ademais, a prpria experincia crist mostra que
as virtudes espirituais nem sempre se desenvolvem
simultaneamente na vida do indivduo.
Assim, Paulo no tinha nenhuma lio oculta no uso do
singular. Ele queria simplesmente afirmar que a obra do
Esprito no crente resulta num produto e que esse produto se
manifesta em virtudes variadas. A lio principal que Paulo
dirige aos glatas com a meno do fruto do Esprito que o
carter cristo nasce como resultado da obra sobrenatural de
Deus e no em decorrncia de uma rgida disciplina moral e
legalista (Rm 8.4).
A virtude que encabea a lista de Paulo o amor (agaph),
termo usado para descrever uma disposio favorvel em
relao ao outro, que chega ao ponto do sacrifcio, se preciso
for, para benefici-lo (2.20; 5.13).
17
O amor a forma como a
f verdadeira se expressa (5.6); e os glatas precisavam
crescer nessa virtude, j que o convvio entre eles era marcado
por terrveis discrdias (5.14-15, 26).
Paulo prossegue mencionando a alegria (xara) que ,
basicamente, a doce satisfao que existe em quem tem os
anseios realizados. Desse conceito se depreende que o
invejoso carente de alegria, posto que se sente frustrado
por no ter o que do outro. Esse era o caso dos glatas
(5.26).
Na Epstola aos Filipenses, Paulo menciona a alegria mais
do que em qualquer outro lugar. Curiosamente, ele escreveu
O EVANGELHO VERDADEIRO E AS VIRTUDES ESPIRITUAIS 125
essa carta quando estava em priso domiciliar em Roma, o
que demonstra que a alegria que advm da obra do Esprito
uma satisfao decorrente da conscincia de que Deus est
atuando e que, qualquer que seja o rumo das coisas, sua
bondade boa e santa sempre estar por trs de tudo (Fp 2.17).
A alegria crist tambm consiste em ter na pessoa e obra de
Deus a principal fonte de vibrao e entusiasmo (Fp 4.4).
A terceira virtude alistada como fruto do Esprito a paz
(), conceito que contrasta com oito obras da carne
mencionadas por Paulo nos vv. 20-21. Paz, considerada em seu
aspecto interior, serenidade mental (Fp 4.7). Exteriormente
se expressa em harmonia entre as pessoas (Rm 12.18) e
ausncia de desordem (1Co 14.33). Deus um Deus de paz (Fp
4.9) que nos chamou para vivermos em paz (1Co 7.15b).
Longanimidade (makroqumia) vem a seguir. Longnimo
aquele que permanece firme, perseverando mesmo em face
dos mais severos ataques da vida, e sendo paciente diante
das provocaes dos homens (2Tm 4.2).
O quinto trao do homem que vive no Esprito a
benignidade (xrhstothj), termo usado a princpio para
descrever a pessoa que faz o bem, sendo generosa em seus
atos de benevolncia. O termo que vem a seguir, bondade
(agaqwsunh) quase um sinnimo de benignidade. Contudo,
bem provvel que o apstolo concebesse alguma distino
entre as duas palavras. No af de manter mais ntida essa
distino, a NVI traduziu xrhstothj por amabilidade, ou
seja, a postura de quem trata os outros com docilidade, livre
de qualquer aspereza. De fato, h o consenso de que a primeira
palavra se refere mais atitude de algum, enquanto a
segunda denota uma carga maior de ao. Essas distines
so relevantes, pois pode-se encontrar algum amvel que
no faz o bem; ou ainda algum que faz o bem, mas no
amvel. Assim, as duas virtudes juntas descreveriam o homem
dcil que tambm prdigo em seus atos de bondade.
126 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
A lista de Paulo prossegue, e f (pistij) a palavra que
vem a seguir. Considerando, porm, que a f um elemento
bsico nas relaes do homem com Deus, constituindo-se no
fator que possibilita o incio da vida crist (Rm 5.1-2; Gl 3.2),
dificilmente Paulo, no presente contexto, incluiria a f em Deus
na lista em pauta. F em Deus raiz, no fruto. Por isso,
parece correto entender o termo usado por Paulo como
fidelidade, alis, uma traduo perfeitamente possvel. De
fato, a palavra pistij usada para descrever a pessoa
comprometida e leal (Rm 3.3; Tt 2.9-10). Assim, certamente
Paulo quer ensinar que o homem espiritual algum confivel,
incapaz de trair a verdade (especialmente a doutrinria) e fiel
nas suas relaes com as pessoas. Os crentes da Galcia no
tinham essa virtude (1.6; 4.14-16).
O vocbulo mansido (prauthj) inicia o v. 23. Manso o
homem brando, aquele que no dominado pela ira. No se
trata de algum que nunca se irrita, mas da pessoa que no
tem o rancor e a agressividade como marcas distintivas. Cristo,
o modelo maior, se apresenta como manso (Mt 11.29), ainda
que sejam notrias as suas eventuais manifestaes severas
de reprovao (Mt 21.12-13; 23.33). Andando em mansido,
o crente desestimula a discrdia, enfraquecendo o imprio das
obras da carne dentro da igreja.
Pondo fim sua bela lista, o apstolo menciona o domnio
prprio (egkrateia) que o controle das inclinaes naturais.
Literalmente a palavra aponta para o ato de agarrar ou
segurar o eu, o que requer do crente certo grau de empenho
(2Pe 1.5-6). O domnio prprio se constitui no avesso do modo
de vida dos incrdulos. Ensinar essa virtude produz grandes
incmodos nos homens que vivem dando plena expresso
aos seus instintos naturais (At 24.25).
Evocando o zelo das igrejas da Galcia pela Lei, Paulo, numa
branda ironia, recorda que ningum transgride os
mandamentos ao praticar as virtudes que ele alistou (23 in
fine). Assim, se quisessem viver sem quebrar a Lei, os glatas
O EVANGELHO VERDADEIRO E AS VIRTUDES ESPIRITUAIS 127
tinham que se colocar sob o domnio e influncia do Esprito
Santo, crescendo no fruto que esse mesmo Esprito produz. De
fato, em outro lugar, Paulo ensina que o crente que vive segundo
o Esprito tem um procedimento no qual se percebe o
cumprimento substancial das justas exigncias da Lei (Rm 8.4).
O apstolo insiste que no a prtica legalista que santifica
o homem. Ele reala que para se livrar do domnio das
inclinaes do pecado preciso, antes de tudo, pertencer a
Cristo (24).
18
Isso no significa que no crente o pecado est
morto, mas sim que, quando passa a pertencer a Cristo, o
homem experimenta a neutralizao do poder da carne que,
como um homem crucificado, se v despojada de sua fora.
19
claro que aquele que pertence a Cristo ainda comete pecados
(1Jo 1.8-10). Contudo, ao crente so dadas condies de viver
de tal modo que a iniqidade no ocupe mais o trono de sua
vida (Rm 6.12-14). Essas condies advm da habitao do
Esprito Santo nele.
Resta ao crente agora ser zeloso e submeter-se ao controle
do Esprito que nele est (v. 16). J vivemos no Esprito, ou
seja, quando passamos a pertencer a Cristo fomos inseridos
na esfera de atuao do Esprito de Deus.
20
Isso fato
consumado. Agora, porm, preciso andar no Esprito (24), o
que no nos advm como num passe de mgica, mas antes
implica o dever de acolher suas orientaes com perseverana
e responsabilidade.
Assim, o crente j est no Esprito, devendo agora andar
como ele determina. Em resumo, o cristo tem o dever de ajustar
sua vida nova realidade em que agora se encontra. Tal como
o homem que entrou para o casamento deve conformar sua
vida realidade de algum casado, assim tambm o homem
que, pela converso, entrou para a vida no Esprito deve andar
como algum controlado por esse mesmo Esprito.
Na Galcia, essa harmonizao entre viver no Esprito e
andar no Esprito ocorreria quando os crentes deixassem de
128 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
lado o orgulho, as provocaes mtuas e as invejas, o que
refora o ensino de que, para andar no Esprito, necessria
consciente e perseverante sujeio.
A verdadeira prtica da vida crist se manifesta na dcil
disposio de restaurar o irmo que caiu, no cuidado em face
da tentao, na anlise honesta de si mesmo, na submisso
ao controle do Esprito e na prtica do bem. O legalismo, ao
contrrio, busca apenas a aprovao do mundo, algo que o
crente despreza por ter na cruz de Cristo todo o seu prazer.
CUIDANDO DOS OUTROS E DE SI MESMO
GLATAS 6.1-5
1. Irmos, se algum for surpreendido em algum pecado,
vocs, que so espirituais, devero restaur-lo com
mansido. Cuide-se, porm, cada um para que tambm no
seja tentado.
2. Levem os fardos pesados uns dos outros e, assim,
cumpram a lei de Cristo.
3. Se algum se considera alguma coisa, no sendo nada,
engana-se a si mesmo.
4. Cada um examine os prprios atos, e ento poder
orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ningum,
5. pois cada um dever levar a prpria carga.
A partir da anlise do Fruto do Esprito, em contraste com
as obras da carne, descobre-se que a vida crist tem uma
o evangelho verdadeiro e
os deveres cristos
6.
130 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
dimenso marcantemente relacional. O homem espiritual
apresenta marcas de carter que se manifestam especialmente
no trato com as pessoas ao seu redor. Assim, nas orientaes
constantes do incio do captulo 6, Paulo ainda mantm o foco
nesse aspecto da vida de quem anda no Esprito, apontando
agora a forma correta de lidar com o irmo que cai no erro.
No versculo 1, Paulo se dirige aos irmos, ou seja,
queles que partilhavam com ele da genuna f crist. Como
se sabe, nem todos nas igrejas da Galcia podiam ser
classificados desse modo (5.4). Por isso, o apstolo aponta
com maior clareza a quem se dirigem as orientaes que est
prestes a transmitir.
O pargrafo comea com uma hiptese: se algum for
surpreendido em algum pecado (NVI). provvel que essas
palavras vislumbrem a possibilidade de, na dinmica dos
relacionamentos entre os crentes, acontecer de um irmo
flagrar outro praticando uma das obras da carne. De fato, o
verbo que Paulo usa aqui (prolambanw) traduzido nas bblias
em portugus por surpreender, aponta fortemente para o
sentido de pegar de surpresa. H tambm, contudo, a
possibilidade da hiptese referir-se a algum que foi pego de
surpresa pelo prprio pecado, caindo repentinamente.
1
Seja qual for o caso que Paulo tinha em mente, o fato que
a questo que levanta se refere a algum que cometeu uma
falta. A palavra que Paulo usa aqui para se referir ao pecado
(paraptwma) significa passo em falso. Denota a situao
de quem, numa caminhada, desliza e cai para o lado. Desse
modo, tudo indica que Paulo no est tratando aqui do pecador
contumaz ou do homem obstinado na prtica do mal. Antes,
tem os olhos voltados para o crente sincero que, ao longo da
jornada, tropea em virtude do cansao, da sua prpria
fraqueza ou do peso das circunstncias.
Diante de um irmo nessas condies, os que so
espirituais (pneumatikoi), ou seja, os que vivem no Esprito
O EVANGELHO VERDADEIRO E OS DEVERES CRISTOS 131
e andam no Esprito (5.25), mantendo-se debaixo de sua
influncia e controle
2
, tm o dever de corrigi-lo (katartizw),
isto , atuar como restauradores de sua vida prejudicada por
conta da m conduta. De fato, corrigir aqui tem o sentido de
reparar algo quebrado
3
, o que mostra que um dos deveres mais
nobres do crente maduro recuperar um irmo que, ao dar um
passo em falso, caiu e sofreu graves danos. Evocando ainda
as virtudes do Fruto do Esprito, Paulo ensina que esse trabalho
de recuperao deve ser feito com esprito de brandura, ou seja,
com a mansido (prauthj) que mencionou em 5.23.
Os crentes espirituais, ou seja, os responsveis pela
recuperao de um irmo que pecou, no so pessoas livres
do perigo da queda. Por isso, Paulo se dirige, anda no v. 1, a
esses irmos, orientando-os no sentido de evitar qualquer
tentao que os leve prtica do mal. Segundo Paulo, o crente
deve vigiar (skopew), ficar atento, observar cuidadosamente
as circunstncias ao seu redor e, dessa forma, detectar os
momentos, os lugares e as reas em que a tentao pode
surgir para, ento, evit-la. Alis, muitas vidas no teriam se
arruinado se tivessem sido mais cautelosas, detectando as
fontes de tentao e fugindo delas. Assim, os crentes, mesmo
os mais maduros (alis, lembremos que Paulo se dirige
exatamente a esses aqui), no devem se expor ao perigo. A
vigilncia o preo que se paga pela pureza.
No v. 2 Paulo ensina que na igreja as pessoas devem levar
as cargas umas das outras. Carga (baroj) sugere um peso
excessivo, difcil de carregar e capaz de prostrar quem est
sob ele. O contexto aqui aponta para os fardos que um irmo
carrega em decorrncia de sua fraqueza moral e do pecado
em que caiu. Os glatas, preocupados em observar aspectos
exteriores da Lei Mosaica, deixavam de lado o cuidado fraternal
(5.15,26). Paulo, ento, oferece a eles, que tanto valorizam a
Lei, uma outra lei: a Lei de Cristo. De fato, o Senhor enunciou
aos seus discpulos um novo mandamento. Ele disse: Um
132 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
novo mandamento lhes dou: Amem-se uns aos outros. Como
eu os amei, vocs devem amar-se uns aos outros. (Jo 13.34.
Veja-se tb. Jo 15.12,17). Para Paulo, o cumprimento dessa
ordem transcende o mero sentimento de simpatia e afeto.
Cumpri-la implica fazer algo. Por isso, o apstolo mostra aqui
que uma forma de obedecer ao novo mandamento de Cristo
tomar sobre si uma parte do peso do irmo que sofre em
virtude da falta que cometeu.
Levar essas cargas, porm, requer a atitude humilde de um
servo (5.13) e, infelizmente, muitos crentes pensam de si mais
do que convm, de modo que, movidos por essa iluso, negam-
se a se humilhar na prtica de servir um irmo fraco. Antes,
mostram-se orgulhosos, sentem-se superiores e se tornam
rgidos e cruis no trato com quem caiu. a esse grupo de
crentes que Paulo se refere no v. 3, dizendo que o indivduo
que tem uma viso muito elevada de si mesmo dentro da igreja,
est se enganando, uma vez que no nada, ou seja, no est
acima de ningum, posto que todos estamos sujeitos queda.
Os falsos mestres tinham a atitude soberba descrita acima,
tanto que instigavam os glatas a se circuncidarem justamente
para que fossem aplaudidos pelo mundo e se gloriassem no
seu sucesso em conquistar proslitos (6.12-13). Pessoas com
essa postura, jamais se colocam no mesmo nvel do irmo
que tropeou, achando-se maiores do que ele e pensando
pertencer a uma elite espiritual dentro da igreja. Tratam o
que caiu com desprezo e se gloriam por no terem sido fracos
como ele. Ademais, de sua parte no fazem nada para
recuper-lo, notando-o apenas com o propsito de se gloriar
por no ter agido de forma semelhante. Paulo diz a essas
pessoas no v. 4 que se algum quiser gloriar-se deve faz-lo
ao dar provas de seu prprio empenho na vida crist, o que,
alis, abrange socorrer os irmos feridos.
O v. 5 parece entrar em choque com o v. 2. Porm, a contradio
apenas aparente. No v. 2 Paulo fala sobre o dever de ajudar o
O EVANGELHO VERDADEIRO E OS DEVERES CRISTOS 133
irmo que est curvado sob o peso de dificuldades excessivas,
as quais lhe sobrevieram por causa de um desvio moral. J no v.
5 ele lembra aqueles que se apresentam como superiores e nada
fazem, que cada um tem seu fardo, ou seja, seu conjunto de
fraquezas pelas quais pessoalmente responsvel. Em vez de
observar as dos outros e se gloriar nelas, o crente deve cuidar
das suas, posto que por estas e no por aquelas que h de
responder um dia diante de Deus. Basicamente, portanto, as
cargas mencionadas no v. 2 so os problemas de um irmo
decorrentes do seu tropeo, enquanto que o fardo mencionado
no v. 5 so as fraquezas que cada um tem em sua vida e com as
quais tem o dever intransfervel de lutar.
A COLHEITA FUTURA
GLATAS 6.6-10
6. O que est sendo instrudo na palavra partilhe todas as
coisas boas com aquele que o instrui.
7. No se deixem enganar: de Deus no se zomba. Pois o
que o homem semear, isso tambm colher.
8. Quem semeia para a sua carne, da carne colher
destruio; mas quem semeia para o Esprito, do Esprito
colher a vida eterna.
9. E no nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo
prprio colheremos, se no desanimarmos.
10. Portanto, enquanto temos oportunidade, faamos o bem
a todos, especialmente aos da famlia da f.
A benignidade dos crentes no deve ser direcionada
unicamente queles que so vtimas quebrantadas do seu
prprio pecado. Paulo sabia que a religiosidade mecnica e
exterior do legalismo tinha esfriado no s o afeto dos crentes
nas suas relaes entre si, mas tambm o amor pelo prprio
apstolo, seu verdadeiro instrutor espiritual (4.12-16). Para
piorar a situao, os falsos mestres infiltrados naquelas igrejas
134 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
trabalhavam intensamente para colocar os glatas contra
Paulo (4.17). Incitado por esses fatos to preocupantes, no v.
6 o apstolo exorta os crentes acerca do dever da generosa
benevolncia em prol dos verdadeiros mestres da Palavra.
O texto ensina que os que so ensinados (kathxoumenoj)
na Palavra devem compartilhar todas as coisas boas com
aqueles que os instruem (kathxew). Aquilo que bom
(agaqoj), a que Paulo se refere aqui, tem um sentido tanto
moral quanto material. Ele quer, portanto, que os glatas
aprendam a oferecer aos mestres da Palavra sua amizade,
hospitalidade e simpatia, bem como recursos para o sustento
fsico que possibilitem um envolvimento maior com o ensino
da igreja (1Co 9.7-14; 1Tm 5.17-18).
4
Toda a exortao de Paulo referente ao dever de praticar o
bem, tanto em face dos irmos comuns quanto dos ministros
da Palavra, deve ser acolhida porque os atos dos homens se
assemelham a uma semeadura (7). A tendncia das pessoas
acreditar que suas aes so estreis, que o que fazem no
capaz de gerar nada mais tarde. Paulo sabia que o corao
humano facilmente se convence de que as coisas que o homem
realiza no tero implicaes futuras. Por isso diz: No se
deixem enganar!
De fato, at mesmo a experincia humana mostra em certa
medida que nossos atos so como sementes boas ou ms,
sendo tolice pensar que, ao lan-los ao solo, nada podero
produzir. Cair nesse engano zombar de Deus. Isso porque
foi o prprio Senhor quem estabeleceu uma lei moral no
universo, de acordo com a qual a conduta tica capaz de
gerar resultados bons ou maus para o prprio ser humano
que a adota. Essa lei mostra o quanto Deus justo e o
quanto se inclina a recompensar o bem e punir o erro.
5
Assim, quando algum despreza essa verdade, est com
isso dizendo que o modo como Deus diz que administra a
histria, na realidade no funciona, ou que essa
O EVANGELHO VERDADEIRO E OS DEVERES CRISTOS 135
administrao nem mesmo existe, sendo perfeitamente
possvel praticar o mal e viver para sempre desfrutando de
paz e segurana. essa atitude que Paulo descreve como
zombar de Deus, enfatizando em seguida que o homem colher
sim o que, ao longo de sua vida, plantou.
Paulo prossegue apontando o perigo que existe para quem
semeia para a sua carne (8). Evidentemente, semear para a
carne consiste em cultivar na vida os pecados prprios da
natureza pecaminosa, os quais foram alistados em 5.19-21.
Aqueles que, no dia-a-dia, plantam os atos que suas prprias
paixes estimulam, so os que semeiam para a carne. O
apstolo adverte no sentido de que a corrupo ser o fruto
colhido por essas pessoas. A palavra que usa aqui (fqora)
significa runa e destruio e usada no Novo Testamento tanto
para se referir vida de decadncia que caminha para a morte
em meio desolao temporal (Rm 8.20-21; 2Pe 2.12), quanto
para descrever a degradao moral (2Pe 1.4; 2.19). Paulo est
dizendo, portanto, que quem cultiva as obras da carne arruinar
sua vida e entrar em acelerado declnio moral.
Por outro lado, quem semeia para o Esprito, ou seja,
quem cultiva as virtudes mencionadas em 5.22-23, as quais
so reconhecidas como obras do Esprito Santo na vida dos
salvos, desse mesmo Esprito colher a vida eterna. Uma
interpretao apressada diria que, luz desse texto, a salvao
mediante o cultivo do fruto do Esprito e no unicamente
pela f. Esse entendimento, porm, iria de encontro ao ensino
principal de Paulo na prpria Epstola aos Glatas (3.22). Na
verdade, bem possvel que o apstolo esteja falando aqui
sobre o desfrute presente das alegrias da eternidade. Se for
esse o caso, o texto diz que quem plantar atos de retido e
bondade colher, desde j, as bnos da vida feliz que
aguarda o crente no cu. Que a vida eterna pode ser
experimentada em certa medida mesmo agora, depreende-se
tambm de Joo 4.14; 5.24; 17.3; e 1 Timteo 6.12.
136 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
Uma outra possibilidade considerar o texto em anlise
sob a luz de Romanos 6.22, que diz: Mas agora que vocs
foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus,
o fruto que colhem leva santidade, e o seu fim a vida
eterna. De acordo com esse texto, a vida santa chegar
eterna felicidade. Porm, a vida santa no a causa de se
chegar l. A causa a libertao do pecado que, como se sabe,
pela f (Rm 5.1). Essa libertao do pecado pela f, produzir
santidade e o fim de tudo ser o cu. Talvez Paulo tivesse isso
em mente ao escrever o v. 8. Seja como for, no resta dvida
de que o homem que se preocupa em produzir em seu dia-a-
dia os traos do genuno carter cristo experimentar desde
j um vislumbre da alegria celeste e, sendo esses traos uma
prova de que redimido pela f, entrar afinal para o descanso
eterno na cidade de Deus.
A certeza de que nossos atos produziro resultados bons
ou maus para ns mesmos deve estimular o crente a no se
cansar de fazer o bem (9). De fato, a prtica da virtude pode
produzir fadiga e desnimo, especialmente quando h
ingratido, falta de reconhecimento, oposio e poucos
resultados. Paulo, contudo, recorda seus leitores de que a
colheita inevitvel, ainda que no saibamos ao certo o seu
tempo. Ele afirma ainda, com o propsito de encorajar seus
leitores, que ceifaremos se no desfalecermos.
inegvel que a ceifa a que Paulo se refere aqui tem uma
conotao escatolgica. Os crentes fatalmente colhero os
resultados dos seus atos no dia futuro, quando estiverem
diante de Deus, e s recebero coisas boas se no desistirem.
Isso mostra que, ainda que a vida eterna seja dada pela f, o
desfrute dos galardes de Deus depende daquilo que o crente
faz por meio do seu corpo (2Co 5.10). por isso que h no v.
10 uma nota de urgncia: enquanto temos oportunidade.
Paulo sabia que o tempo de plantar hoje. Diante do tribunal
divino no teremos mais como semear. L somente ceifaremos,
desde que, neste mundo, perseveremos na prtica do bem.
O EVANGELHO VERDADEIRO E OS DEVERES CRISTOS 137
O v. 10 termina enfatizando que todos devem ser alvo dos
gestos de bondade dos crentes, mas de forma especial os
irmos na f. De fato, priorizar os irmos no socorro dos
necessitados e em outros gestos de amor mostra ao mundo a
nossa unidade e faz com que sejamos conhecidos como
discpulos de Jesus (Jo 13.35).
O QUE REALMENTE IMPORTA
GLATAS 6.11-18
11. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de
prprio punho!
12. Os que desejam causar boa impresso exteriormente,
tentando obrig-los a se circuncidarem, agem desse modo
apenas para no serem perseguidos por causa da cruz de
Cristo.
13. Nem mesmo os que so circuncidados cumprem a Lei;
querem, no entanto, que vocs sejam circuncidados a fim
de se gloriarem no corpo de vocs.
14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a no ser na
cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo
foi crucificado para mim, e eu para o mundo.
15. De nada vale ser circuncidado ou no. O que importa
ser uma nova criao.
16. Paz e misericrdia estejam sobre todos os que andam
conforme essa regra, e tambm sobre o Israel de Deus.
17. Sem mais, que ningum me perturbe, pois trago em
meu corpo as marcas de Jesus.
18. Irmos, que a graa de nosso Senhor Jesus Cristo seja
com o esprito de vocs. Amm.
A importncia de tudo o que Paulo diz s igrejas da Galcia
se reflete no tamanho das letras que escreve
6
e no fato de
compor a carta de prprio punho, isto , sem o auxlio de um
secretrio que poderia, conscientemente ou no, alterar em
um grau ou outro o que fosse ditado (11). Ele considera to
138 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
srio o problema dos glatas que no quer correr o risco de
transmitir com pouca preciso o que tem em mente. Por isso,
faz uso de uma caligrafia clara e evita intermedirios.
No , porm, somente na forma que Paulo compe sua
carta que ele demonstra quo preocupado est com os crentes
da Galcia. Ele tambm revela seu cuidado chamando a
ateno de seus leitores para o fato de que os falsos mestres
eram pessoas interesseiras, que procuravam obter a
aprovao dos outros por meio da ostentao de sinais
exteriores, mais especificamente a circunciso.
7
A real
inteno deles ao induzir os gentios da Galcia a se
circuncidarem era receber o aplauso dos judeus, evitando,
assim, a perseguio (12).
Sabe-se que ao tempo do surgimento do cristianismo, os
judeus foram seus primeiros perseguidores. Uma das razes
disso era a pregao liberal dos apstolos que insistiam em
afirmar que a justificao no depende da observncia dos
preceitos mosaicos, mas sim da f no Cristo crucificado (At
13.38-39). Ora, os mestres judaizantes que atuavam entre os
glatas no estavam dispostos a sofrer a oposio dos seus
compatriotas que se escandalizavam com a pregao da cruz
(1Co 1.23; Gl 5.11). Estavam, isto sim, interessados em agrad-
los. Segundo Paulo, esses eram os reais motivos pelos quais
defendiam tanto a circunciso. Na verdade eles no eram
zelosos da Lei, mas sim da sua prpria comodidade.
A maior prova disso era que eles prprios no guardavam
a Lei (13). Alis, nenhum legalista, nem mesmo o mais sincero,
jamais conseguiu guard-la (At 15.10). O discurso dos mestres
da Galcia era apenas uma tentativa de obter proslitos entre
os gentios, circuncidando-os e recebendo depois o louvor dos
israelitas, um louvor decorrente do fato de terem induzido
gentios a se submeterem a prticas judaicas.
Paulo, por sua vez, tinha essas intenes mui longe de
sua mente (14). Ele no buscava satisfao e alegria na
O EVANGELHO VERDADEIRO E OS DEVERES CRISTOS 139
aprovao dos homens (1.10). Era na cruz de Cristo que tinha
a base da sua exaltao e da sua exultao (Fp 3.3), pois na
cruz h proviso para que o homem seja justificado, j que
nela Cristo se fez maldio em nosso lugar (3.13). Alm disso,
graas aos benefcios oriundos da obra de Cristo na cruz, um
rompimento ocorreu. Paulo e o mundo estavam crucificados
um para o outro. De fato, a transformao que advm da f
em Cristo inclura mudanas no modo de Paulo considerar a
realidade ao seu redor e relacionar-se com ela (2.20-21; 5.24).
Agora o apstolo via o mundo como algo desprezvel e
repugnante. O mundo, por sua vez, via Paulo da mesma forma.
Sendo algum que pouco se importava com o aplauso do
mundo em geral e dos seus compatriotas em particular, Paulo
no impunha a necessidade da circunciso aos convertidos
do seu ministrio. Ademais, havia o fato de que a circunciso
no tem qualquer relevncia dentro da aliana do evangelho.
Na mensagem dada pelo Esprito, o que importa fazer parte
da nova criao de Deus (15).
As diferenas entre o Antigo e o Novo Pacto, bem como o
fato da nova criao em Cristo, so mais amplamente tratados
por Paulo em 2 Corntios 3 e 4, onde ele estabelece um forte
contraste entre o Evangelho, (tambm chamado de nova
aliana [2Co 3.6], ministrio do Esprito [2Co 3.8] e
ministrio da justia [2Co 3.9]) e a Lei Mosaica (tambm
chamada de letra [2Co 3.6], ministrio da morte [2Co 3.7],
ministrio da condenao [2Co 3.9] e antiga aliana [2Co
3.14]). Segundo Paulo, o pacto mosaico, outrora glorioso, j
no resplandece diante da glria do Novo Pacto (2Co 3.10).
Contudo, o brilho do evangelho no pode ser percebido por
todos porque um vu foi posto no corao dos judeus (2Co
3.14-16) e Satans cega os homens em geral (2Co 4.3-4). Para
que essa condio espiritual seja alterada preciso um ato
criador de Deus. Assim, em 2 Corntios 4.6, Paulo ensina que
da mesma forma como Deus, por sua palavra, fez brilhar a
luz ao tempo da criao do universo, assim tambm, ao criar
140 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
agora um novo homem, ele faz com que sua luz brilhe nas
trevas dos coraes humanos, capacitando as pessoas a ver
a glria de Deus que est em Cristo. De fato, tanto para criar
quanto para salvar, Deus diz haja luz! por causa desse
paralelo que o apstolo, em Glatas 6.15, chama o crente de
nova criao (Veja-se tb. 2Co 5.17).
Dentro da Nova aliana, portanto, a circunciso
absolutamente irrelevante (Rm 2.28-29; 1Co 7.19; Gl 5.6). S
o livramento das trevas, com o conseqente surgimento de
um novo homem que importa. Paulo, alis, expressa o desejo
de que a paz e a misericrdia de Deus estejam sobre todos os
que andarem conforme essa regra (16). A palavra usada
aqui (kanwn) tem o sentido de padro ou limite. Desse
modo, o apstolo deseja paz e misericrdia s pessoas que
adotam como princpio ou padro de conduta a verdade de
que tudo o que importa ser nova criao, gloriando-se nisso
e no em rituais exteriores. Refere-se, assim, queles que
encontram motivo de exaltao e base para o comportamento
dentro dos limites da verdade de que so nova criao, e no
buscam glrias alm dessa fronteira (Fp 3.3), como faziam os
falsos mestres da Galcia.
O desejo de Paulo de que Deus abenoe os homens com
paz e misericrdia no se estende apenas aos que conheceram
a realidade da nova criao. Ele pede as mesmas bnos para
todo o Israel de Deus (16 in fine). Se a igreja precisava de paz
e misericrdia, considerando suas perturbaes internas
(5.10,15) e os perigos externos (6.12), Israel tambm carecia
dessas bnos. Paulo via os judeus em geral como o povo de
Deus (Rm 9.3-5; 11.28), um povo para o qual Deus tem
reservado uma herana (Rm 11.25-27; Ef 3.6). Por isso, o fato
de rejeitar a circunciso como requisito para a justificao
no significava desprezo pela nao israelita. De fato, o
apstolo estava longe de menosprezar seu prprio povo.
Antes, sofria em face da sua incredulidade (Rm 9.1-3) e orava
O EVANGELHO VERDADEIRO E OS DEVERES CRISTOS 141
continuamente, desejando que ele conhecesse a paz e a
misericrdia de Deus que podem ser provadas pela f em Cristo,
o Messias j vindo.
Concluindo, Paulo expressa o desejo de que deixem de
perturb-lo (17). O apstolo estava sendo incomodado com
questionamentos referentes sua autoridade apostlica (1.1;
2.8-10), com acusaes de mudar sua mensagem de acordo
com as circunstncias (1.10; 5.11) e com denncias de
anunciar um evangelho liberal que encorajava a vida
desregrada (5.13,16) e tirava dos adoradores de Deus as
suas obrigaes ritualistas, em especial a circunciso (5.2).
Uma vez que os mestres legalistas da Galcia tanto prezavam
a marca corporal da circunciso e s deixavam em paz quem
a recebia, Paulo afirma ter marcas no corpo muito superiores,
de modo que deveriam parar de molest-lo. Ele tinha as
marcas de Cristo: cicatrizes adquiridas no trabalho
missionrio e que os glatas conheciam muito bem (At 14.19;
2Tm 3.11). Paulo as chamava de marcas de Jesus porque
entendia que o sofrimento dos servos do Senhor em prol do
seu trabalho uma espcie de complemento das torturas do
prprio Senhor, dada a unio que h entre Cristo e seu povo
(Rm 8.17; 2Co 1.5; Fp 3.10; Cl 1.24).
Ele encerra a epstola suplicando aos glatas que
experimentem a graa de Cristo em seu esprito (18). De fato,
era nessa esfera que a graa deveria atuar a fim de livrar os
crentes da mentira, das discrdias e das inclinaes carnais
que reinavam entre eles. O fato de cham-los de irmos reala
que se sente fraternalmente unido a eles e que tem conscincia
de que escreve a pessoas que pertencem famlia da f. Sem
dvida, com essas breves palavras de docilidade e simpatia,
espera criar nos crentes da Galcia uma disposio favorvel
ao acolhimento das verdades consubstanciadas nessa
magnfica carta.
O CURSO POSTERIOR DO LEGALISMO
JUDAICO-CRISTO
Se 48 A.D. for a data aceita para a composio da Carta aos
Glatas, ento, ao escrev-la, a luta de Paulo contra o legalismo
estava apenas comeando. De fato, o captulo 15 de Atos narra
como, naquele mesmo ano, reuniu-se um conclio em
Jerusalm para tratar exatamente da relao dos crentes
gentios com a Lei Mosaica, mais especificamente com a
circunciso. A causa direta da convocao do conclio foi a
visita desautorizada de alguns judeus convertidos de
Jerusalm igreja de Antioquia da Sria. Eles passaram a
ensinar ali que se os gentios que receberam o evangelho no
recebessem tambm a circunciso, no poderiam ser salvos
(At 15.1). Paulo e Barnab se opuseram a eles e, no sendo
possvel resolver a questo, foram at Jerusalm para discutir
o assunto com os apstolos e presbteros (At 15.2).
Em meio s manifestaes de um forte partido legalista
presente na prpria igreja de Jerusalm, a liderana se reuniu
para examinar a questo (At 15.4-6). Ao longo dos debates
foi decisiva a participao de Pedro que narrou sua experincia
apndice
144 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
como o apstolo que Deus usou para abrir a porta do
evangelho aos gentios, sem obrig-los a se submeter a
nenhum fardo legal (At 15.7-11).
Os relatos das maravilhas que Deus tinha feito entre os
gentios ao longo da Primeira Viagem Missionria foram
expostos por Paulo e Barnab igreja atenta (At 15.12).
Quando terminaram de falar, Tiago, irmo do Senhor,
destacado lder da igreja em Jerusalm, manifestou seu parecer
contrrio viso legalista. Ele sugeriu que uma carta fosse
escrita aos crentes gentios de Antioquia livrando-os de
qualquer obrigao com a Lei Mosaica e orientando-os a to-
somente evitar certas prticas que, mesmo sendo de segunda
importncia, poderiam ferir os escrpulos dos judeus no
crentes, impedindo-os de receber a genuna f (At 15.13-21).
O parecer de Tiago foi acolhido por todos (At 15.22). A carta
foi escrita e endereada aos irmos de Antioquia, Sria e Cilcia
(At 15.23-29). Uma delegao foi nomeada para faz-la chegar
s mos dos crentes gentios que, com alegria, a receberam
(At 15.30-31). O legalismo judaico-cristo recebera seu
primeiro golpe.
As decises do conclio, porm, no puseram fim definitivo
ao ensino de que a observncia da Lei Mosaica fator essencial
salvao. Quando escreveu 2 Corntios, em 57 AD, Paulo
ainda demonstrava sua preocupao em afirmar que os
crentes estavam livres da Antiga Aliana (2Co 3.6-11), apesar
do legalismo no figurar entre os terrveis problemas da igreja
corntia. Tambm em sua Carta aos Romanos, datada de 58
AD e, dentre todas, a de maior contedo teolgico, o apstolo
se viu obrigado a corrigir distores relativas a essa matria
que, poca, ainda eram correntes e afirmar a desnecessidade
da circunciso e da guarda da Lei para a justificao do homem
perdido (Rm 4.9-15; 7.1-6).
Ao tempo que esteve em priso domiciliar em Roma (At
28.16), Paulo escreveu, em cerca de 61 AD, as famosas
APNDICE 145
Epstolas da Priso (Efsios, Filipenses, Colossenses e
Filemom). Na carta igreja de feso, o apstolo toca apenas
superficialmente na questo do livramento da Lei (Ef 2.14-
15). J na Epstola aos Filipenses, Paulo dirige severos ataques
contra o ainda atuante grupo dos judaizantes, chamando seus
partidrios de ces, maus obreiros e falsa circunciso
(Fp 3.2-3) e passando, em seguida, a dizer que considerava
toda a sua trajetria dentro do judasmo como repugnante
refugo, j que a justia no procede da Lei (Fp 3.4-9).
Na Carta aos Colossenses, Paulo combate uma forma
embrionria de gnosticismo que reunia elementos da Lei
Mosaica (Cl 2.11,16; 3.11) e outros fatores oriundos da
filosofia grega e do paganismo asceta (Cl 2.8,18,20-23). A
resposta do apstolo inclui a afirmao de que Cristo cancelou
as ordenanas que nos eram prejudiciais ao morrer na cruz
do Calvrio (2.14).
O legalismo judaico-cristo ainda estava vivo na fase final
do ministrio de Paulo. Ele o combate nas Epistolas Pastorais,
escritas entre 63 e 66 AD. Ensinos distorcidos acerca da Lei e
prticas legalistas que proibiam o casamento e certos tipos de
alimento preocupavam Paulo quando escreveu sua primeira
carta a Timteo, cujo ministrio ento estava centralizado em
feso (1Tm 1.5-11; 4.1-5). Tito, por sua vez, ao longo de seu
trabalho em Creta foi relembrado por Paulo de que a salvao
independe do esforo humano (Tt 3.5) e recebeu instrues no
tocante ao modo como deveria agir em face de debates inteis
sobre a Lei (Tt 3.9). possvel que em sua ltima carta (2
Timteo), escrita em 66 AD, pouco antes do seu martrio, Paulo
se refira a questes acerca da Lei em 2.14, 23.
Nos ltimos anos da dcada de 60 foi escrita a Epstola
aos Hebreus, de autor desconhecido. Tendo que lidar com o
perigo da apostasia que cercava os crentes hebreus que se
viam diante das aparentes grandezas do judasmo, o escritor
realou a transitoriedade da Lei Mosaica (Hb 7.11-12,19,28;
146 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
8.6-7,13; 10.9, etc.), o que indica que a ameaa da sujeio
aos preceitos judaicos, mesmo em suas expresses cerimoniais,
ainda estava viva dentro da igreja pouco antes da destruio
do templo de Jerusalm, em 70 AD.
Parte da fora do legalismo era decorrente da instintiva
supremacia da igreja de Jerusalm sobre as demais. Mestres
judaizantes procedentes da Judia eram recebidos com respeito e
submisso pelos crentes gentios de todas as partes, uma vez que
pertenciam singular igreja dos apstolos. Isso facilitava a
disseminao de suas idias, pois era natural que se
apresentassem e fossem vistos como detentores de autoridade,
dado o status notvel da comunidade eclesistica a que pertenciam.
Porm, com o martrio de Tiago, em 62 AD, a igreja de
Jerusalm comeou a perder sua hegemonia. O grande lder
que era irmo de Jesus foi apedrejado, sendo seu cargo
ocupado por Simeo, um outro irmo do Senhor que logo
tambm sofreu o martrio. Os chefes da igreja decidiram ento
transport-la para Pela, uma cidade alm dos Jordo, onde a
segurana certamente seria maior. Outra causa da fuga foi a
ntida oposio dos romanos ao crescente sentimento
nacionalista judaico. De fato, os romanos perceberam os sinais
de uma revolta em Jerusalm e, evidentemente, o movimento
cristo, dirigido pelos parentes de um descendente de Davi
que se dizia rei, preocupava muito as autoridades e fazia da
igreja um alvo especial de opresso. Por isso, quando a rebelio
judaica estava prestes a eclodir, os cristos que, alis, j
tinham sido prevenidos pelo Senhor acerca desses fatos (Mt
23.37-39; Lc 21.20-24), saram de Jerusalm. Pouco tempo
depois, no ano 70 AD, tendo deflagrado a revolta, o general
Tito a sufocou, destruindo a cidade, ateando fogo ao Templo
e matando cerca de um milho de judeus. Graas fuga para
Pela, provavelmente nenhum cristo pereceu no massacre.
Esses fatos redundaram num notvel recrudescimento do
movimento judaizante cristo e do legalismo que o
APNDICE 147
caracterizava. A prpria destruio do Templo anunciava que
a Antiga Aliana perdera a possibilidade de ser vivida,
considerando que muitas prescries da Lei deviam ser
realizadas dentro do santurio erguido em Jerusalm. Com a
queda do judasmo, os escritos de Paulo que ensinavam a
independncia do cristo em relao aos preceitos mosaicos
ganharam fora e uma crescente paulinizao da igreja
comeou a ocorrer, enquanto as formas nitidamente judaicas
de cristianismo caiam no esquecimento. Ademais, a igreja
judaica refugiada em Pela jamais recuperou o prestgio dos
tempos de Pedro e Tiago. Antes, entrou na obscuridade, isolou-
se das demais igrejas e, em contato com diferentes seitas,
tambm de origem judaica, desenvolveu costumes e doutrinas
que nunca foram acolhidos pelo cristianismo oficial,
desaparecendo, finalmente, poucos sculos mais tarde.
Um dos grupos de judeus cristos que perseverou na
prtica dos costumes de seus ancestrais, mesmo depois da
queda de Jerusalm, ficou conhecido como nazarenos, talvez
porque esse fosse o nome dado pelos judeus a todos os
seguidores de Jesus de Nazar. Esse grupo adotava a
observncia da Lei Mosaica, mesmo em seu aspecto ritual, e
tambm cria em Jesus como o Messias divino. Eles usavam o
Evangelho de Mateus, escrito em hebraico, no eram crticos
do apstolo Paulo e no condenavam os crentes gentios por
no observarem a Lei. um exagero dizer que fossem hereges.
Na verdade, era um grupo de cristos separatistas de pequena
importncia.
Bem diferente dos nazarenos eram os ebionitas. Estes eram
muito mais numerosos e foram os verdadeiros sucessores dos
falsos mestres combatidos por Paulo na Epstola aos Glatas.
Seu nome vem da palavra hebraica ebion, que significa
pobre, talvez uma designao a princpio dada
maldosamente a todos os cristos que, como se sabe, eram
em sua maioria pessoas de baixa condio social. H indcios
148 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
de que os ebionitas surgiram entre os cristos que fugiram
para Pela ao tempo da invaso de Jerusalm. Suas marcas
caractersticas eram a reduo do cristianismo ao nvel do
judasmo, a defesa da validade perptua e universal da Lei
Mosaica, e a intensa antipatia nutrida contra o apstolo Paulo.
Ainda que o ebionismo apresentasse certas variaes, seu
ramo principal cria que Jesus era o Messias prometido, mas
rejeitava sua divindade e nascimento virginal. Para eles a
circunciso e a observncia da totalidade da Lei eram
indispensveis para a salvao de todos os homens. O
personagem que mais odiavam era Paulo que, segundo seu
entender, tinha nascido no paganismo, abraara o judasmo
por razes escusas e depois tornara-se apstata e herege,
devendo todas as suas epstolas ser rejeitadas.
Os ebionitas se espalharam pela Palestina e arredores.
Chegaram a Chipre, sia Menor e Roma. Em sua maioria,
obviamente, eram judeus, mas era possvel encontrar tambm
gentios entre eles. Essa seita perdurou at o sculo IV, no
havendo mais indcios dela no sculo seguinte.
O fim do ebionismo no fez com que o legalismo cristo
deixasse definitivamente de existir
1
. Sob diferentes formas, a
exaltao da Lei Mosaica sempre se insinuou dentro do
cristianismo ao longo da histria. Seja por meio de seitas como
o Adventismo do Stimo Dia ou de modelos teolgicos
protestantes que defendem a absoluta irrevogabilidade da Lei.
O esprito do legalismo combatido por Paulo permanece vivo.
O velho erro infelizmente permanece, impondo sobre os
homens fardos desnecessrios, impossveis de serem
carregados (At 15.10). Ele ainda grita suas ordens,
negligenciando o precioso ensino de que a salvao pela
graa somente (Gl 2.16) e de que a Lei se cumpre no naqueles
que vivem sob o seu jugo, mas sim naqueles que, tendo
recebido a Cristo, vivem agora debaixo da influncia
santificadora do Esprito Santo (Rm 7.6; 8.4; 2Co 3.3; Gl 5.16-
APNDICE 149
18). Por isso, cabe igreja ainda hoje defender a mensagem
crist contra os ataques de dentro e de fora que pem em
risco a compreenso da genuna dinmica da salvao. Cabe
a ela ensinar que essa salvao no somente vem pela f,
mas tambm por meio dela se desenvolve, no como o
resultado da sujeio a preceitos legais, mas como fruto do
Esprito que habita em todo o que cr.
notas
Aspectos Introdutrios
1
Os que situam a produo da carta em 48 d.C. vem 2.1-10 como uma
passagem que se refere visita de Paulo a Jerusalm, mencionada em Atos
11.27-30, e no ao Conclio de Jerusalm que, segundo essa corrente, estava
ainda prestes a acontecer quando a epstola foi escrita.
2
Na Epstola aos Glatas, Paulo faz aluso ao seu trabalho naquelas regies em
4.13-14.
3
Os destinatrios, segundo parece, conheciam Barnab, o companheiro de
Paulo em sua primeira viagem missionria (Cf. 2.1,9,13). Como j dito, essa
viagem abrangeu a regio sul da Galcia.
1. O Evangelho Verdadeiro e sua Singularidade
1
As duas cartas de Paulo aos tessalonicenses foram escritas por volta do ano
50 AD, ou seja, bem pouco tempo depois que ele escreveu aos crentes da
Galcia (48 AD).
2
2 Corntios 11.14 e Glatas 1.8 geralmente so textos usados contra o
mormonismo cujos adeptos afirmam que sua religio foi revelada a Joseph
Smith por um anjo chamado Moroni. Essas aplicaes so cabveis, ainda
que dificilmente Smith tenha realmente tido contato com algum esprito.
Pelas informaes que temos acerca de sua vida e carter, com certeza o
prprio Smith inventou aquela histria e a levou adiante a fim de atingir
propsitos egostas e escusos.
3
Nos dias modernos alguns exemplos de falsos evangelhos so: a Teologia da
Prosperidade, cuja salvao proposta consiste apenas no livramento de
doenas e de problemas financeiros; o Catolicismo Romano, que ensina a
salvao pelas obras; e o Adventismo que, exatamente como os falsos mestres
da Galcia, cr que o homem salvo pela prtica da Lei (Gl 2.16; 4.10-11).
152 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
Todos os mestres desses movimentos devem ser considerados malditos pelos
crentes genunos.
4
No Catolicismo Romano encontramos a mais rica fonte de invenes humanas
associadas ao termo cristianismo. Doutrinas como a da imaculada conceio
de Maria, da transubstanciao, da intercesso dos santos, da infalibilidade
papal, da adorao da virgem, da canonizao de pessoas mortas, entre
inmeras outras, no tm nenhum amparo na Sagrada Escritura. So antes
mitos inventados por mentes corrompidas. Coisas do gnero devem ser
rejeitadas com todo o vigor pelos cristos genunos.
5
Somente a partir da destruio de Jerusalm pelo General Tito, em 70 DC, o
cristianismo passou a revelar sua autonomia como modelo religioso
independente.
6
Essa imagem passada pelos mestres judaizantes era flagrantemente falsa, cf.
6.12-13.
7
Essas tradies eram comentrios e aplicaes da Lei de Moiss vida diria
que, a partir do Exlio Babilnico (605 aC 535 aC) eram transmitidos
oralmente pelos judeus s geraes que se sucediam. Jesus censurou
severamente a prtica de coloc-las acima da Palavra de Deus (Mt 15.1-6).
8
A expresso em mim transmite a idia de que a revelao foi dada a Paulo
de modo pessoal e ntimo. Calvino sugere que a traduo a mim possvel
(CALVINO, Joo. Glatas. So Paulo: Parcletos, 1998. p. 42).
9
Deve ser admitido, porm, que a incumbncia de pregar lhe fora dada j no
caminho de Damasco (At 26.15-18).
10
Tiago, o meio irmo do Senhor, no era um dos Doze. Aparentemente ele
includo aqui entre os apstolos em virtude de sua posio de preeminncia
na igreja de Jerusalm (At 12.17; 15.13ss; 21.17-18; Gl 2.9,12), bem como
por sua relao singular de parentesco com o prprio Senhor, alm do fato de
ter visto Cristo ressurreto (1Co 15.7). Ademais, possvel entender o termo
apstolo num sentido no tcnico, quando aplicado a Tiago, ou seja, apenas
como um mensageiro de Cristo (Esse uso aplicado a Barnab em At
14.14). Sabe-se que para ser apstolo no sentido que Paulo aplicava o termo
a si prprio era preciso no s ver Cristo ressurreto (1Co 9.1-2), mas tambm
receber diretamente dele a funo de mensageiro (Mt 28.16-20; Lc 6.13; Gl
1.1), as revelaes dos mistrios divinos a serem anunciados (2Co 12.7; Gl
1.11-12; Ef 3.2-6) e o poder de realizar milagres (2Co 12.12).
2. O Evangelho Verdadeiro e sua Independncia
1
A fome mencionada em Atos aconteceu, provavelmente, entre 46 e 48 d.C.,
mas no abrangeu o Imprio inteiro, sendo a Judia o seu cenrio. Contudo,
aqueles dias foram marcados por fomes freqentes que sobrevieram a
diferentes regies de todo o Imprio.
NOTAS 153
2
Isso era especialmente importante porque, como se sabe, os falsos mestres da
Galcia estavam dizendo que o ensino de Paulo era contrrio doutrina dos
apstolos de Jerusalm.
3
Tito foi, posteriormente, delegado de Paulo com a misso de administrar a
crise em Corinto (2Co2.12-13; 7.5-7). Ele tambm coordenou as igrejas de
Creta (Tt 1.5).
4
Como se sabe, os judaizantes entendiam que a circunciso era fundamental
para que o homem fosse justificado. Veja 5.2-4, 6; 6.12-13, 15.
5
A atividade e ensino dos judaizantes de Jerusalm num tempo posterior mas
muito prximo da composio da Epstola aos Glatas podem ser vistos em
Atos 15.1-2,5.
3. O Evangelho e seu Poder
1
A figura implcita aqui sugere a apresentao do evangelho por meio de
algum recurso visual como uma pintura em um quadro (CALVINO, Joo.
Glatas. So Paulo: Paracletos, 1998. p. 82) ou um cartaz de notcias colocado
num lugar pblico, o que era comum na antiguidade (GUTHRIE, Donald.
Glatas: introduo e comentrio. So Paulo: Vida Nova e Mundo Cristo,
1984. p. 114). Paulo no havia usado esses recursos, mas suas palavras
tinham fludo de tal forma que era como se tivessem desenhado na
conscincia dos glatas os pontos centrais da mensagem crist. de
pregadores assim que a igreja moderna precisa.
2
Para o ensino acerca da autoridade da Sagrada Escritura, veja-se Jo 10.35;
17.17; 1Co 2.13; 2Tm 3.16-17; 2Pe 1.20-21.
3
Tiago 2.20-24 usa o mesmo exemplo de Abrao para ensinar que a justificao
pelas obras. Contudo, Tiago pensa na justificao como comprovao visvel
da f. Da a importncia que confere s obras. Paulo, por sua vez, usa o termo
no sentido de livramento de culpa, o qual decorre da f somente.
4
Note-se que ao tempo de Abrao a Lei sequer havia sido dada (Rm 4.9-10; Gl
3.17).
5
Um dos problemas com esse mtodo de interpretao que ele no se
harmoniza com o modo como os profetas do AT entenderam as promessas de
bno e maldio feitas a Israel. Mesmo uma leitura superficial de seus
escritos revelar que os profetas entendiam literalmente tais promessas (2Rs
18.10-12; Is 24.5-6; Jr 11.6-8; 32.24; Lm 2.17; Dn 9.11-13; Zc 1.6, etc.).
Obviamente, se foi assim que os homens movidos por Deus interpretaram as
palavras da Escritura, tambm assim que devemos entend-las.
6
O v. 13, como se ver, tambm contribui para a formulao do conceito de
maldio que Paulo tem em mente. Daquele versculo se depreende que ser
maldito tambm ser merecedor da pena de morte.
7
A prtica prevista em Deuteronmio envolvia a morte do transgressor e a posterior
colocao do seu corpo num madeiro. Era permitido que o cadver ficasse
154 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
pendurado at o fim do dia como um sinal de que ali estava algum que havia
morrido sob a maldio de Deus, por transgredir a Lei (Dt 21.22-23).
8
A habitao do Esprito no crente uma bno singular porque lhe confere
segurana de um dia ser plenamente resgatado (Ef 1.13-14), tambm prova
e testifica que ele pertence a Deus (Rm 8.9, 15-16), capacita-o a viver em
santidade (Rm 8.13-14) e enche sua vida de satisfao (Jo 7.38-39).
9
A palavra usada por Paulo pode significar testamento, isto , a declarao
de ltima vontade. Tambm tem o sentido de contrato ou aliana. No versculo
em anlise trata-se de uma declarao da vontade feita por Deus na qual
somente ele se obrigou, sem nada impor ao homem.
10
Deve-se lembrar que, luz do v.17, a Lei s veio 430 anos depois de
estabelecida a aliana com Abrao.
11
Em Mateus 22.31-32, 41-45 v-se que nosso Senhor tambm dava especial
ateno a aspectos gramaticais do texto bblico.
12
A conscincia de pecado existe mesmo naqueles que jamais conheceram a
Lei de Moiss (Rm 2.14-15). Porm, ela muito limitada. Por exemplo: no
se sabe, por meio da mera lei interior, que a cobia pecado (Rm 7.7).
13
O ensino de que a Lei Mosaica foi dada com o propsito de refrear as
transgresses parece encontrar obstculos no que Paulo ensina em Romanos
7.7-14. Ali aprendemos que a Lei, apesar de santa, justa e boa, estimula o
pecado na humanidade carnal. verdade que, idealmente, o mandamento
seria dado para produzir vida (Rm 7.10). Seu objetivo real e prtico, contudo,
foi outro, a saber: dar maior fora ao pecado (Rm 7.12-13; 1Co 15.56).
14
Outros textos em que Paulo mostra apreo pela Lei so Romanos 3.31;
7.7,12,14; 8.4; 1Tm 1.8.
15
A frase a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado significa que o Antigo
Testamento declarou a transgresso de todos (Rm 3.9-19), demonstrando
que a Lei que foi dada a Moiss era incapaz de justificar e conceder vida.
4. O Evangelho Verdadeiro e a Liberdade
1
O tutor, na lei romana, figurava como responsvel pela criana at os 14 anos.
O curador respondia pelo jovem at que completasse 25. H ainda quem
entenda que o tutor cuidava da pessoa, enquanto o curador administrava
seus bens.
2
A maioridade, na lei romana, era atingida aos 25 anos de idade. No estava,
portanto, ao arbtrio do pai o tempo de sua durao. Assim, possvel que
Paulo tinha em mente aqui um outro sistema jurdico desconhecido de ns,
mas familiar aos seus leitores originais. tambm possvel (e mais provvel)
que o apstolo queria apenas realar o papel do pai como aquele que est no
controle da situao. Esse entendimento se harmoniza melhor com as
intenes do autor bblico ao usar a presente ilustrao.
NOTAS 155
3
A ausncia de artigo antes da palavra lei no v. 5, sugere que Paulo no
tinha em mente aqui somente e Lei Mosaica, mas qualquer conjunto de
normas imposto ao homem.
4
Todos esses milnios compem o perodo chamado de tempos da ignorncia
(At 17.30).
5
Earle E. Cairns, em O cristianismo atravs dos sculos (So Paulo: Vida Nova,
1984. p. 29-36) afirma que a plenitude dos tempos em Glatas 4.4 diz
respeito preparao do cenrio mundial de tal forma que contribusse para
que a mensagem de Cristo tivesse o maior impacto possvel. De acordo com
esse entendimento, Deus, ao longo dos sculos, foi preparando o ambiente
poltico, intelectual e religioso para que o advento do Messias ocorresse num
contexto que favorecesse a sua divulgao. O tempo em que tudo estava
pronto seria entendido como a plenitude dos tempos. No entanto, apesar
de no haver dvidas de que Deus usou o ambiente instalado no sculo 1
para favorecer a expanso da f, muito difcil que isso se relacione com o
sentido da expresso plenitude dos tempos pretendido por Paulo em Glatas
4.4. O entendimento mais natural e simples, luz inclusive do v. 2, que a
expresso diz respeito apenas ao tempo em que soberanamente Deus julgou
necessrio livrar o homem do jugo da lei, determinando que o perodo de
tutela no devia mais se prolongar.
6
Hipstase, em grego, significa, essncia ou natureza substancial. Na discusso
cristolgica, contudo, esse termo usado predominantemente com o sentido
de pessoa. Para conhecer melhor os contornos dessa matria, fundamental
que sejam estudados os quatro conclios ecumnicos da igreja antiga e,
especialmente, a Definio de Calcednia. Uma leitura esclarecedora
OLSON, Roger. Histria da Teologia Crist. So Paulo: Vida, 2001.
7
Aba o termo aramaico para Pai.
8
Outras verdades sobre a habitao do Esprito Santo so as seguintes: ela
dada aos que crem (Jo 7.38-39; Gl 3.2); todos os crentes desfrutam dela
(1Co 12.13); ela se constitui numa das bases para a pureza sexual do cristo
(1Co 6.18-19); e ela a garantia de que somos propriedade de Deus (Ef
1.13-14).
9
Em 1 Tessalonicenses 4.5, Paulo ensina que quem no conhece a Deus
tambm escravo de desejos lascivos.
10
Na Igreja Antiga era pacfico o entendimento de que foram os demnios
que, em tempos remotos, haviam se manifestado aos homens apresentando-
se como deuses e dando origem s mltiplas formas de adorao pag.
11
O proto-gnosticismo, filosofia pag que ameaou o cristianismo nascente,
acolhia com prontido diversos preceitos judaicos (Cl 2.8, 16). Portanto, o
retorno Lei tambm poderia ser facilmente interpretado como a adoo de
sistemas filosficos pagos.
12
possvel traduzir a palavra proteron (prteron: a primeira vez) como
156 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
anteriormente. Se aceitarmos essa traduo, pode-se entender que Paulo
est falando aqui do fim da primeira viagem missionria, quando voltou
para Listra, Icnio e Antioquia fortalecendo as igrejas (At 14.21). Se for este
o caso, talvez Paulo tenha empreendido o retorno de sua Primeira Viagem
movido pelas imposies de uma doena da qual se tem muito pouca
informao.
13
Alguns entendem, luz de 4.15, que se tratava de uma doena nos olhos.
Esse entendimento tambm tenta explicar as grandes letras a que Paulo
alude em 6.11. Segundo esse ponto de vista, o suposto problema de viso do
apstolo teve incio em sua experincia de converso, quando seus olhos
foram cobertos por algo semelhante a escamas (At 9.18). Essa opinio, porm,
no conclusiva. Calvino, por exemplo, entende que a palavra enfermidade
significa aqui simplesmente vilipndio, ou seja, ausncia de pompa ou
grandeza. Essa interpretao, por sua vez, mui dificilmente se ajusta com a
restante da passagem que indica claramente que Paulo est falando de uma
debilidade em sua sade.
14
Nesse ponto Paulo usa verbos enfticos para descrever a atitude dos seus
destinatrios. Literalmente, ele diz que os glatas no o trataram com desdm,
nem o cuspiram fora. Essa linguagem denota nojo, o que pode sugerir que
a doena de Paulo provocava certa repugnncia.
15
Veja o contraste entre esse zelo interesseiro e o zelo do apstolo mencionado
em 2 Corntios 11.2.
16
Essa expresso to comum nos escritos do carinhoso apstolo Joo (1Jo 2.1,
12, 14, 18, 28, etc.) usada somente aqui por Paulo.
17
Para um maior aprofundamento nesse tema, veja-se LOPES, Augustus
Nicodemus. A Bblia e seus intrpretes: uma breve histria da interpretao.
So Paulo: Cultura Crist, 2004.
18
Esse o argumento de Calvino constante de seu comentrio a Glatas 4.22.
19
Essa alternativa encontra-se em KAISER Jr., Walter C. e SILVA, Moiss.
Introduo hermenutica bblica: Como ouvir a Palavra de Deus apesar dos
rudos de nossa poca. So Paulo: Cultura Crist, 2002.
20
Veja esse argumento em LOPES. Op. Cit., p.120-121.
21
Ao longo da histria tem sido comum os telogos apresentarem a Lei de
Moiss sob duas grandes divises: a lei cerimonial (relativa especialmente
aos servios no templo) e a lei moral (apresentada especialmente nos Dez
Mandamentos). Ainda que seja til para fins didticos, essa diviso s vezes
conduz a concluses erradas como, por exemplo, a doutrina adventista de
que fomos libertos apenas da lei cerimonial, estando ainda sujeitos aos Dez
Mandamentos. Deve, porm, ficar claro que, para Paulo, a distino entre lei
cerimonial e moral inexiste. O prprio texto em questo mostra que, em seu
conceito de Lei, o apstolo inclui at mesmo o livro de Gnesis e no apenas
disposies cerimoniais constantes do Pentateuco. Ademais, em outras
NOTAS 157
ocasies, ao argumentar contra o legalismo, Paulo no cita leis cerimoniais,
mas alude s chamadas normas morais (Rm 7.6-7; Gl 3.10; Ef 2.15) e chega
at a ensinar com notvel clareza que o crente est livre do ministrio
gravado com letras em pedras, ou seja, o Declogo, dizendo que a glria
desse ministrio se desvaneceu (2Co 3.7-11. Veja tb. Cl 2.14). Daqui se conclui
que os cristos s devem obedecer aos Dez Mandamentos na medida em que
eles so reaproveitados no ensino do Novo Testamento, o que no acontece,
por exemplo, com a norma referente guarda do sbado ou de um outro dia
qualquer. Ademais, mesmo aquela obedincia deve ser resultado de uma
vida sob o controle do Esprito e no do apego carnal a regras (Rm 8.3-4).
22
Veja-se o legalismo de Jerusalm em face do ministrio de Jesus em Mateus
23.1-4; Marcos 7.1-8; Joo 5.18; 9.16, etc. Para a presena do legalismo na
igreja nascente daquela cidade, veja-se Atos 11.1-3; 15.4-5.
23
Isaas 54 tambm evoca as glrias de Jerusalm no Reino Milenar de Cristo
(Lc 1.32-33; Ap 20.4-6).
25
Essa perseguio branda e, s vezes, at simptica contra os cristos
empreendida hoje especialmente pelos adventistas do stimo dia que
procuram intensamente fazer proslitos entre os crentes. Porm, pode-se v-
la tambm na atuao de indivduos que, dentro das igrejas, exigem que os
crentes se submetam a regras oriundas de costumes antigos. Seja qual for o
caso, sempre que algum tenta vergar os ombros dos cristos com o peso de
normas, esse algum se torna um perseguidor da igreja e pode ser identificado
como real inimigo dos santos (Veja-se 2.4).
25
Veja-se a mesma orientao dada de forma expressa em Romanos 16.17-18
e 2 Joo 9-11.
5. O Evangelho Verdadeiro e as Virtudes Espirituais
1
A forma condicional como Paulo constri a frase d a entender que os glatas
ainda no estavam praticando o antigo rito.
2
O verbo traduzido aqui por cair (ekpiptw) usado nos escritos clssicos
para referir-se, inclusive, a pessoas que por razes polticas ou por outros
motivos, foram enviadas para o exlio, longe dos privilgios de seu pas.
3
A esperana de que fala o v. 5 (elpij) no mero desejo, mas sim uma forte
certeza. Note-se tambm que o versculo evoca uma expectativa futura, ou
seja, o dia em que, diante de Deus, o crente ser recebido como justo.
4
Veja-se exemplos da f falsa em Mateus 13.20-21; Joo 2.23-25; 12.42-43.
5
Paulo usa a metfora da corrida tambm em 2.2, aplicando-a a si mesmo.
Veja-se tambm Filipenses 2.16; 2Timteo 2.5; 4.7.
6
O verbo usado por Paulo, egkoptw, significa impedir, obstruir ou deter.
Trata-se de um termo militar que descreve um exrcito que impede o avano
158 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
do inimigo destruindo uma estrada e levantando obstculos. Usada na figura
de uma corrida, como o caso aqui, a palavra sugere a ao de um atleta que
tenta prejudicar o desempenho de outro, atrasando-o de alguma forma ou
at mesmo tirando-o da prova.
7
preciso, contudo, reconhecer que o uso do particpio, como consta no v. 8,
implica muitas vezes num sentido indefinido, sendo tambm possvel que
Paulo tenha em mente aqui o chamado de Deus ocorrido ao tempo da
converso (1Co 1.26; 7.18). Se for esse o caso, interessante notar que, em
Glatas, os crentes so apresentados como pessoas que, ao ouvirem o
evangelho, foram chamadas liberdade (5.13).
8
Tambm no ensino de Jesus a figura do fermento usada para se referir a
doutrinas e prticas reprovveis (Mt 16.6, 12; Mc 8.15; Lc 12.1). H uma
exceo em Mateus 13.33.
9
Veja o comentrio em 1.7 sobre o verbo perturbar, tambm usado aqui.
10
No paganismo dos dias de Paulo, existiam rituais grotescos cujo pice era
atingido quando os adoradores se emasculavam. Se o apstolo tinha esses
rituais em mente, pode-se concluir que para ele a circunciso no tinha mais
significado do que as repugnantes prticas religiosas dos gentios.
11
O mesmo ensino encontra-se em Romanos 13.9-10. Observe-se que h aqui
um eco do ensino de Jesus que disse que toda a Lei e os Profetas se sustentam
em apenas dois preceitos: amar a Deus e amar ao prximo (Mt 22.35-40).
12
Observe o mesmo ensino em Efsios 5.18, onde Paulo exorta os crentes a
que no se deixem dominar pelo vinho, mas sim pelo Esprito. Com essa rica
figura, o apstolo reala que, assim como o homem embriagado totalmente
dominado pela bebida em sua forma de falar, andar e reagir, da mesma
maneira, o crente cheio do Esprito, como brio de Deus, anda, fala e age da
forma como o Senhor determina.
13
Veja-se essas trs influncias mencionadas explicitamente em Romanos
7.4-6.
14
Veja-se o relato de Atos 14.11-13 para uma noo do grau de idolatria
reinante na Galcia.
15
Por outro lado, num pas como o nosso, em que muitos irmos na f se
escandalizam quando vem um crente bebendo qualquer bebida alcolica,
melhor que haja abstinncia total, de acordo com o que ensina Paulo em
Romanos 14.15-21.
16
Bebedices e orgias eram associadas ao culto de Dionsio, tambm conhecido
por Baco. Considerado o deus do vinho e da vida animal e vegetal, seus
adoradores se entregavam bebida e comiam carne com sangue para participar
da vida do deus. Nesses banquetes, os participantes, em meio a danas
sagradas, eram levados ao xtase e orgia sexual.
17
Paulo descreve detalhadamente o amor genuno em 1 Corntios 13.1-7.
18
Note-se aqui a converso descrita como pertencer a Cristo. O convertido
NOTAS 159
realmente como um escravo adquirido por Cristo. Tendo agora um novo senhor,
no precisa mais viver sob o jugo da Lei.
19
Paulo tinha experincia prpria desse fato (2.20). Note-se ainda que, em sua
vida, no somente o prprio eu carnal havia sido crucificado, mas tambm o
mundo com seus atrativos e apelos (6.14).
20
Veja-se em 3.2,5,14; 4.6; e 5.5 os fenmenos prprios dessa realidade.
6. O Evangelho Verdadeiro e os Deveres Cristos
1
Assim entende CALVINO, op. cit., 175.
2
O oposto dessa figura o crente carnal (1Co 3.1-3).
3
Esse verbo usado para se referir correo de ossos deslocados e ao conserto
de redes de pesca. Tem sempre o sentido de restabelecer algo danificado ao
seu estado anterior.
4
Uma igreja que mais tarde se destacou nesse aspecto foi a de Filipos, na
Macednia, para a qual Paulo escreveu uma carta cheia de gratido, em 61
A.D. (Fp 4.10-19).
5
O Livro de Provrbios ensina que o sbio aquele que reconhece que vivemos
num universo regido no somente por leis fsicas, mas tambm morais, as
quais, se violadas, nos traro prejuzos. Logo, o sbio aquele que tem temor
do Senhor (Pv 1.7), reconhecendo que ele prprio fixou na histria a norma
irrevogvel de que quem faz o mal, cedo ou tarde colhe o mal.
6
A sugesto de que Paulo escreveu com letras grandes porque, desde a sua
experincia na estrada de Damasco, passou a ter problemas de viso,
puramente especulativa. O entendimento mais natural que Paulo escreveu
com letras grandes para dar nfase ao que dizia.
7
Em Romanos 2.29 h mais uma indicao de que a circunciso promovia o
louvor decorrente dos homens, to caro aos falsos mestres.
Apndice
1
Que a ameaa do judasmo persistiu ainda no sculo II com fora suficiente
para preocupar os mestres cristos, pode-se ver em diversos escritos da
poca. As cartas de Incio de Antioquia, por exemplo, escritas por volta do
ano 107, refletem esse fato. Especialmente duas de suas epstolas, a dirigida
aos magnsios (Caps. 8-10) e a endereada igreja de Filadlfia (Cap. 6),
advertem os crentes a no se corromperem com prticas ou discursos
judaicos. Tambm a Epstola de Barnab, datada de cerca de 135, revela
claramente o propsito do autor em demonstrar as distines entre os
aspectos exteriores da religio do VT e a nova lei do cristianismo, o que
pode indicar que a ameaa do legalismo judaico ainda vigorava nos dias
em que essa carta foi composta. Preocupao semelhante se verifica na
Carta a Diogneto (c. 120), em que o autor, um dos primeiros apologistas
160 A ESSNCIA DO EVANGELHO DE PAULO
cristos (Quadrato?), se dedica a refutar o culto judaico e todas as suas
prticas rituais, inclusive a circunciso (Caps. 3-4).
Você também pode gostar
- Epistolas Gerais (Comentarios B - Joao CalvinoDocumento496 páginasEpistolas Gerais (Comentarios B - Joao CalvinoMateus Carlos100% (1)
- Caio Fábio - QuaseDocumento20 páginasCaio Fábio - QuaseMauro SilvaAinda não há avaliações
- A Obra Paulo e Estêvão Trata Dos Episódios Históricos... - E-BookDocumento52 páginasA Obra Paulo e Estêvão Trata Dos Episódios Históricos... - E-BookPaulo da Silva Neto Sobrinho100% (1)
- Enigma Da GraçaDocumento276 páginasEnigma Da GraçaMagno Paganelli100% (1)
- A Religião e A Igreja No Império BizantinoDocumento36 páginasA Religião e A Igreja No Império BizantinoRefletindo Devaneios100% (1)
- 06 - Cronologia Biblico HistoricaDocumento3 páginas06 - Cronologia Biblico Historicaerickfrauns100% (2)
- Atos 15.1-35 - O Concílio de Jerusalém - SLIDES PDFDocumento16 páginasAtos 15.1-35 - O Concílio de Jerusalém - SLIDES PDFAndré Matheus100% (1)
- Arrependimento para Vida - C.H.spurgeonDocumento30 páginasArrependimento para Vida - C.H.spurgeonSilvio DutraAinda não há avaliações
- Paulo e Suas CartasDocumento17 páginasPaulo e Suas CartasJonas SabinoAinda não há avaliações
- A Mente de Cristo - MacduffDocumento39 páginasA Mente de Cristo - Macduffsales144Ainda não há avaliações
- A Verdade Sobre o TalmudDocumento17 páginasA Verdade Sobre o TalmudalvesapssAinda não há avaliações
- Sete Coisas Que Voce Deve Saber Sobre Cura DivinaDocumento89 páginasSete Coisas Que Voce Deve Saber Sobre Cura DivinaJean Claude100% (1)
- IBADEP - Bibliologia PDFDocumento302 páginasIBADEP - Bibliologia PDFConvençãoCimadebaAinda não há avaliações
- Arqueologia BíblicaDocumento111 páginasArqueologia BíblicaMagno Paganelli100% (3)
- A Origem Da Religião - Pastor Cristiano BarbosaDocumento40 páginasA Origem Da Religião - Pastor Cristiano BarbosacristianoAinda não há avaliações
- A Ideia de DeusDocumento12 páginasA Ideia de Deusulyssespoa100% (1)
- EtimologiaDocumento42 páginasEtimologiaJose EmericianoAinda não há avaliações
- Resumo Paulo e EstevãoDocumento29 páginasResumo Paulo e EstevãoAlexandre100% (2)
- AmizadeDocumento23 páginasAmizadeNilton ErthalAinda não há avaliações
- Artesaos de Uma Nova Historia - 5a - Ed - FinalDocumento234 páginasArtesaos de Uma Nova Historia - 5a - Ed - FinalMagno PaganelliAinda não há avaliações
- Um Sonho Imperial. Constantino e A Invenção Do Cristianismo PDFDocumento4 páginasUm Sonho Imperial. Constantino e A Invenção Do Cristianismo PDFSaulo JosefAinda não há avaliações
- Walt WitmanDocumento480 páginasWalt Witmansergio_bruno_10100% (1)
- Para Ler A BíbliaDocumento118 páginasPara Ler A BíbliaFamília PolastriniAinda não há avaliações
- Eles Falaram Sobre o InfernoDocumento200 páginasEles Falaram Sobre o InfernoMagno Paganelli100% (1)
- Ninguem É Como CristoDocumento18 páginasNinguem É Como Cristosales144Ainda não há avaliações
- Cronologia Do Novo TestamentoDocumento1 páginaCronologia Do Novo TestamentoLuiz Ricardo Pauluk67% (3)
- Adoração Dos Reis MagosDocumento9 páginasAdoração Dos Reis MagosSabrina Fernandes MeloAinda não há avaliações
- Edificação e Guerra Irmão Gino Iafrancesco Português Versão Revisada e Autorizada Por Rebeca e Myriam IafrancescoDocumento81 páginasEdificação e Guerra Irmão Gino Iafrancesco Português Versão Revisada e Autorizada Por Rebeca e Myriam IafrancescoTony Gonzaga100% (1)
- 39 - 1 Coríntios PDFDocumento127 páginas39 - 1 Coríntios PDFTiago De Moraes KiefferAinda não há avaliações
- Missiologia - Gráfico História Do CristianismoDocumento18 páginasMissiologia - Gráfico História Do CristianismoIPI-PIRAJUIAinda não há avaliações
- SÉRIE - Graça de Contribuir 01Documento12 páginasSÉRIE - Graça de Contribuir 01jr françaAinda não há avaliações
- A História Mitica Enquanto LiteraturaDocumento10 páginasA História Mitica Enquanto LiteraturaGabriela BrumAinda não há avaliações
- William Branham - o Profeta Do Século XXDocumento37 páginasWilliam Branham - o Profeta Do Século XXRobert CaetanoAinda não há avaliações
- A Carta de Clemente de Alexandria A TeodoroDocumento2 páginasA Carta de Clemente de Alexandria A TeodoroPés Descalços EvangelismoAinda não há avaliações
- Quem Somos 27 12 20Documento40 páginasQuem Somos 27 12 20Álvaro SilvaAinda não há avaliações
- Persas, Hebreus e FeníciosDocumento17 páginasPersas, Hebreus e Feníciosmaia68Ainda não há avaliações
- A Vocação em Uma Perspectiva NeotestamentariaDocumento6 páginasA Vocação em Uma Perspectiva Neotestamentariapinus_elliotiAinda não há avaliações
- Notas Sobre o Livro Paulo o Apostolo Da GraçaDocumento3 páginasNotas Sobre o Livro Paulo o Apostolo Da GraçaJulio SiqueiraAinda não há avaliações
- Contra Heresias IrineuDocumento3 páginasContra Heresias IrineuRaphael RosaAinda não há avaliações
- O Tempo Na Cosmovisão JudaicaDocumento16 páginasO Tempo Na Cosmovisão JudaicaPaulo Cesar MenezesAinda não há avaliações
- A Transfiguração de Jesus CristoDocumento9 páginasA Transfiguração de Jesus Cristoalexborges50Ainda não há avaliações
- Klaus Hock - História Da ReligiãoDocumento39 páginasKlaus Hock - História Da ReligiãoDavidWSAinda não há avaliações
- A Vida Do Apostolo Paulo PDFDocumento11 páginasA Vida Do Apostolo Paulo PDFPedro Ngombo LunguiekiAinda não há avaliações
- Aulas 13 e 14 - MesopotAmiaDocumento18 páginasAulas 13 e 14 - MesopotAmiaNosCaminhosdaLeituraAinda não há avaliações
- Pentecostes PDFDocumento10 páginasPentecostes PDFBryan Little100% (1)
- Sociedade, Cultura e Religião SlideDocumento10 páginasSociedade, Cultura e Religião SlideMarcio WrésAinda não há avaliações
- Sinopse Do Novo Testamento - John Nelson DarbyDocumento10 páginasSinopse Do Novo Testamento - John Nelson DarbyRenato Alves100% (1)
- Testamento Dos Doze PatriarcasDocumento3 páginasTestamento Dos Doze PatriarcasPsycho_AntichristAinda não há avaliações
- A Biblia Do Cetico Absurdos Na BibliaDocumento30 páginasA Biblia Do Cetico Absurdos Na BibliaJose Antonio carro ANINHA FESTASAinda não há avaliações
- Merece Confianca o NTDocumento11 páginasMerece Confianca o NTSilvio Rogério Bini BiniAinda não há avaliações
- BabilôniaDocumento42 páginasBabilôniaVanilson MeirelesAinda não há avaliações
- 36 o Sermc3a3o Profc3a9tico Mateus 24 PDFDocumento41 páginas36 o Sermc3a3o Profc3a9tico Mateus 24 PDFmatheusmelquiadesAinda não há avaliações
- Comentário de Lutero Sobre o Estudo de Erasmo Acerca de Textos Que Negam o Livre ArbítrioDocumento6 páginasComentário de Lutero Sobre o Estudo de Erasmo Acerca de Textos Que Negam o Livre ArbítrioCarlos Cesar RosaAinda não há avaliações
- Escatologia BíblicaDocumento3 páginasEscatologia BíblicaEmerson R. ShinoharaAinda não há avaliações
- Primeiro Concílio Ecumênico de NicéiaDocumento3 páginasPrimeiro Concílio Ecumênico de NicéiaFabiano SilvaAinda não há avaliações
- História Das Assembléias de Deus No Brasil - Emílio CondeDocumento62 páginasHistória Das Assembléias de Deus No Brasil - Emílio CondeSamuel SioliAinda não há avaliações
- As 95 Teses - Martinho LuteroDocumento44 páginasAs 95 Teses - Martinho LuteroGeraldo Costa100% (1)
- Calendário Biblico MarçoDocumento2 páginasCalendário Biblico MarçoEverton AncelmoAinda não há avaliações
- A História Da Origem Do Calice Único Nas Igrejas EvangelicasDocumento2 páginasA História Da Origem Do Calice Único Nas Igrejas EvangelicasMarcos Peter Teixeira SoaresAinda não há avaliações
- A Arqueologia e o GênesisDocumento8 páginasA Arqueologia e o GênesisPaulo HonoratoAinda não há avaliações
- O Homem Imagem de DeusDocumento17 páginasO Homem Imagem de DeusVitor CoutinhoAinda não há avaliações
- A Reportagem Sobre A Bíblia Da Revista - I - Superinteressante - I - Passada A Limpo - Edição 278 - Revista UltimatoDocumento2 páginasA Reportagem Sobre A Bíblia Da Revista - I - Superinteressante - I - Passada A Limpo - Edição 278 - Revista UltimatoAlex LottiAinda não há avaliações
- Relato de Eusébio de Cesaréia Sobre o Apóstolo João em Uma Experiência de ResgateDocumento2 páginasRelato de Eusébio de Cesaréia Sobre o Apóstolo João em Uma Experiência de ResgateEdson Artêmio Dos SantosAinda não há avaliações
- Apocalipse 22 (Nossa Esperança)Documento11 páginasApocalipse 22 (Nossa Esperança)Rogério Vilaça da SilvaAinda não há avaliações
- A Evocação Do Deus Iau em SaguntoDocumento11 páginasA Evocação Do Deus Iau em SaguntoCarlos Eduardo CamposAinda não há avaliações
- É Você Um Pagão Que Adora o Jesus - Igreja - Caio FabioDocumento3 páginasÉ Você Um Pagão Que Adora o Jesus - Igreja - Caio FabioDjairSoaresAinda não há avaliações
- Rudolf Karl BultmannDocumento2 páginasRudolf Karl BultmannEdward D. JimmyAinda não há avaliações
- Mito Como Interpretação Do MundoDocumento10 páginasMito Como Interpretação Do MundoNely FeitozaAinda não há avaliações
- Pregação Sobre o Trono BrancoDocumento5 páginasPregação Sobre o Trono BrancoRondinelle MenezesAinda não há avaliações
- Enoque Andou Com ElohimDocumento1 páginaEnoque Andou Com ElohimMarceloAinda não há avaliações
- Miolo - Ética e A Lei de Deus - InddDocumento96 páginasMiolo - Ética e A Lei de Deus - InddMagno PaganelliAinda não há avaliações
- A Invasão Dos Judeus Parte 1 - Mario SaaDocumento170 páginasA Invasão Dos Judeus Parte 1 - Mario SaaMagno Paganelli100% (2)
- Monografia Do MestradoDocumento158 páginasMonografia Do MestradoMagno PaganelliAinda não há avaliações
- D Pedro II - Ser Ou Nao Ser - J Murilo CarvalhoDocumento38 páginasD Pedro II - Ser Ou Nao Ser - J Murilo CarvalhoMagno Paganelli100% (1)
- D Pedro II - Ser Ou Nao Ser - J Murilo CarvalhoDocumento19 páginasD Pedro II - Ser Ou Nao Ser - J Murilo CarvalhoMagno PaganelliAinda não há avaliações
- Caminhando Por Terras Biblicas ReligiaoDocumento417 páginasCaminhando Por Terras Biblicas ReligiaoMagno PaganelliAinda não há avaliações
- A Longa Duração e As Estruturas Temporais em Fernand BraudelDocumento115 páginasA Longa Duração e As Estruturas Temporais em Fernand BraudelMagno PaganelliAinda não há avaliações
- Tire Seus Sonhos OkDocumento95 páginasTire Seus Sonhos OkMagno PaganelliAinda não há avaliações
- Pré-Projeto GleydsDocumento13 páginasPré-Projeto GleydsPAULO FERREIRA LALESAinda não há avaliações
- 01 Defender Presbitério BiblicoDocumento57 páginas01 Defender Presbitério BiblicoDaniel LopoAinda não há avaliações
- Questionário Bíblico Com Respostas e ReferênciasDocumento5 páginasQuestionário Bíblico Com Respostas e ReferênciasScribdTranslationsAinda não há avaliações
- Panorama Bíblico - 2023Documento126 páginasPanorama Bíblico - 2023chris.ravagnaniAinda não há avaliações
- Introduzindo - o Livro de Tiago - Instituto Teológico Gamaliel PDFDocumento9 páginasIntroduzindo - o Livro de Tiago - Instituto Teológico Gamaliel PDFinstitutogamalielAinda não há avaliações
- Análise e Errata Da Interpretação Popular de Alguns Textos BíblicosDocumento16 páginasAnálise e Errata Da Interpretação Popular de Alguns Textos BíblicosOcenildo Lima Carioca CariocaAinda não há avaliações
- Jesus: Louco, Mentiroso Ou Filho de Deus?Documento14 páginasJesus: Louco, Mentiroso Ou Filho de Deus?José Ildo Swartele de Mello100% (2)
- Estudo Bíblico Sobre PAZDocumento4 páginasEstudo Bíblico Sobre PAZAlex SenaAinda não há avaliações
- Versiculos ArminianosDocumento28 páginasVersiculos ArminianosWendrick Henrill100% (1)
- Contexto Histórico Do Livro de JUDASDocumento3 páginasContexto Histórico Do Livro de JUDASSilvana Oliveira100% (1)
- A Confissão Auricular É Bíblica?Documento6 páginasA Confissão Auricular É Bíblica?luiz augusto de jesusAinda não há avaliações
- Sermão Gálatas 2.1-10Documento4 páginasSermão Gálatas 2.1-10Tony Ferreira CorreaAinda não há avaliações
- A Reencarnação No Cristianismo PrimitivoDocumento7 páginasA Reencarnação No Cristianismo PrimitivodacioleAinda não há avaliações
- A Mae Do Senhor - Jose PatschDocumento288 páginasA Mae Do Senhor - Jose PatschLuiza Colassanto ZamboliAinda não há avaliações
- 22 60 PBDocumento358 páginas22 60 PBLeandroGbiAinda não há avaliações
- E-Book - Curso GCDocumento16 páginasE-Book - Curso GCMisael Schrederhof JuniorAinda não há avaliações
- Cartas CatólicasDocumento12 páginasCartas CatólicasLeticia AndradeAinda não há avaliações
- Bíblia Amplificada - Gálatas CompletaDocumento18 páginasBíblia Amplificada - Gálatas CompletaValter LarrateAinda não há avaliações
- Sabedoria Tiago 3 13 18Documento14 páginasSabedoria Tiago 3 13 18Evandro VasconcelosAinda não há avaliações
- Volume 04 - GRAÇA - 7 Semanas de Dinamus, Explosão de Atos - Videira POADocumento27 páginasVolume 04 - GRAÇA - 7 Semanas de Dinamus, Explosão de Atos - Videira POAPastor Eliseu AlvesAinda não há avaliações