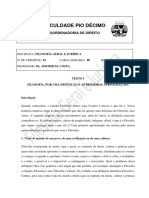Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Questoes de Filosofia Do Direito
Questoes de Filosofia Do Direito
Enviado por
Sos Perícia Financeira0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
21 visualizações14 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
21 visualizações14 páginasQuestoes de Filosofia Do Direito
Questoes de Filosofia Do Direito
Enviado por
Sos Perícia FinanceiraDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 14
QUESTES DE FILOSOFIA DO DIREITO
1. QUAL A IMPORTNCIA DA FILOSOFIA DO DIREITO?
A Filosofia uma cincia com a qual e sem a qual o mundo permanece tal e
qual. Ou seja, a Filosofia no serve para nada. Em nossa cultura e em nossa sociedade,
costumamos considerar que alguma coisa s tem o direito de existir se tiver alguma
finalidade prtica, muito visvel e de utilidade imediata. Por isso, ningum pergunta para
que as cincias, porque se v a utilidade das cincias nos produtos da tcnica, isto , na
aplicao cientfica realidade.
A Filosofia um modo de pensar e exprimir os pensamentos que surgiu
especificamente com os gregos e que, por razes histricas e polticas, tornou-se, depois,
o modo de pensar e de se exprimir predominante da chamada cultura europeia ocidental
da qual, em decorrncia da colonizao portuguesa do Brasil, ns tambm participamos.
Atravs da Filosofia, os gregos instituram para o Ocidente europeu as bases e os
princpios fundamentais do que chamamos razo, racionalidade, cincia, tica, poltica,
tcnica, arte. A Filosofia surge, portanto, quando alguns gregos, admirados e espantados
com a realidade, insatisfeitos com as explicaes que a tradio lhes dera, comearam a
fazer perguntas e buscar respostas para elas, demonstrando que o mundo e os seres
humanos, os acontecimentos e as coisas da Natureza, os acontecimentos e as aes
humanas podem ser conhecidos pela razo humana, e que a prpria razo capaz de
conhecer-se a si mesma. Em suma, a Filosofia surge quando se descobriu que a verdade
do mundo e dos humanos no era algo secreto e misterioso, que precisasse ser revelado
por divindades a alguns escolhidos, mas que, ao contrrio, podia ser conhecida por todos,
atravs da razo, que a mesma em todos; quando se descobriu que tal conhecimento
depende do uso correto da razo ou do pensamento e que, alm da verdade poder ser
conhecida por todos, podia, pelo mesmo motivo, ser ensinada ou transmitida a todos.
A atitude filosfica possui algumas caractersticas que so as mesmas,
independentemente do contedo investigado.
Essas caractersticas so:
- perguntar o que a coisa, ou o valor, ou a ideia, . A Filosofia pergunta qual a
realidade ou natureza e qual a significao de alguma coisa, no importa qual;
- perguntar como a coisa, a ideia ou o valor, . A Filosofia indaga qual a
estrutura e quais so as relaes que constituem uma coisa, uma ideia ou um valor;
- perguntar por que a coisa, a ideia ou o valor, existe e como . A Filosofia
pergunta pela origem ou pela causa de uma coisa, de uma ideia, de um valor.
A atitude filosfica inicia-se dirigindo essas indagaes ao mundo que nos rodeia
e s relaes que mantemos com ele. Pouco a pouco, porm, descobre que essas
questes se referem, afinal, nossa capacidade de conhecer, nossa capacidade de
pensar. Por isso, as perguntas da Filosofia se dirigem ao prprio pensamento: o que
pensar, como pensar, por que h o pensar? A Filosofia torna-se, ento, o pensamento
interrogando-se a si mesmo. Por ser uma volta que o pensamento realiza sobre si mesmo,
a Filosofia se realiza como reflexo.
Reflexo significa movimento de volta sobre si mesmo ou movimento de retorno
a si mesmo. A reflexo o movimento pelo qual o pensamento volta-se para si mesmo,
interrogando a si mesmo.
A reflexo filosfica radical porque um movimento de volta do pensamento
sobre si mesmo para conhecer-se a si mesmo, para indagar como possvel o prprio
pensamento. No somos, porm, somente seres pensantes. Somos tambm seres que
agem no mundo, que se relacionam com os outros seres humanos, com os animais, as
plantas, as coisas, os fatos e acontecimentos, e exprimimos essas relaes tanto por meio
da linguagem quanto por meio de gestos e aes. A reflexo filosfica tambm se volta
para essas relaes que mantemos com a realidade circundante, para o que dizemos e
para as aes que realizamos nessas relaes. A reflexo filosfica organiza-se em torno
de trs grandes conjuntos de perguntas ou questes:
1. Por que pensamos o que pensamos, dizemos o que dizemos e fazemos o que
fazemos? Isto , quais os motivos, as razes e as causas para pensarmos o que pensamos,
dizermos o que dizemos, fazermos o que fazemos?
2. O que queremos pensar quando pensamos, o que queremos dizer quando
falamos, o que queremos fazer quando agimos? Isto , qual o contedo ou o sentido do
que pensamos, dizemos ou fazemos?
3. Para que pensamos o que pensamos, dizemos o que dizemos, fazemos o que
fazemos? Isto , qual a inteno ou a finalidade do que pensamos, dizemos e fazemos?
A atitude crtica: A primeira caracterstica da atitude filosfica negativa, isto ,
um dizer no ao senso comum, aos pr-conceitos, aos pr-juzos, aos fatos e s ideias da
experincia cotidiana, ao que todo mundo diz e pensa, ao estabelecido. A segunda
caracterstica da atitude filosfica positiva, isto , uma interrogao sobre o que so as
coisas, as ideias, os fatos, as situaes, os comportamentos, os valores, ns mesmos.
tambm uma interrogao sobre o porqu disso tudo e de ns, e uma interrogao sobre
como tudo isso assim e no de outra maneira. O que ? Por que ? Como ? Essas so
as indagaes fundamentais da atitude filosfica. A face negativa e a face positiva da
atitude filosfica constituem o que chamamos de atitude crtica e pensamento crtico.
As indagaes filosficas se realizam de modo sistemtico. Quer dizer que a
Filosofia trabalha com enunciados precisos e rigorosos, busca encadeamentos lgicos
entre os enunciados, opera com conceitos ou ideias obtidos por procedimentos de
demonstrao e prova, exige a fundamentao racional do que enunciado e pensado.
Somente assim a reflexo filosfica pode fazer com que nossa experincia cotidiana,
nossas crenas e opinies alcancem uma viso crtica de si mesmas. No se trata de dizer
eu acho que, mas de poder afirmar eu penso que.
O conhecimento filosfico um trabalho intelectual. sistemtico porque no se
contenta em obter respostas para as questes colocadas, mas exige que as prprias
questes sejam vlidas e, em segundo lugar, que as respostas sejam verdadeiras, estejam
relacionadas entre si, esclaream umas s outras, formem conjuntos coerentes de ideias e
significaes, sejam provadas e demonstradas racionalmente.
Quanto FILOSOFIA DO DIREITO esclarece Miguel Reale em seu livro Filosofia do
Direito que O direito realidade universal, isto , onde quer que exista o homem, a
existe o direito como expresso de vida e de convivncia. Sendo assim, esta convivncia
no se d sem uma regulamentao, sendo de fundamental e absoluta a importncia do
direito, que, por seu carter universal, torna-se passvel de uma investigao filosfica em
busca da realidade jurdica.
exatamente por ser o direito fenmeno universal que ele suscetvel de
indagao filosfica. A filosofia no pode cuidar seno daquilo que tenha sentido de
universalidade. Esta a razo pela qual se faz filosofia da vida, filosofia do direito,
filosofia da histria ou filosofia da arte. Falar em vida humana falar tambm em direito,
da se evidenciando os ttulos existenciais de uma filosofia jurdica.
A filosofia do direito vai partir de dogmas pr-estabelecidos para
indagaes, transcendendo o conhecimento positivo atravs de uma anlise crtica, que
levar a um conhecimento mais completo tanto da interpretao como da aplicabilidade
das leis. Esta anlise se dar atravs do ato de pensar, que nada mais do que uma
forma de aprender, bsica para qualquer atividade futura que exija reflexo, concluso,
julgamento, avaliao.
A filosofia atua de forma que o jurista em formao no se afaste da reflexo sob
pena de (...) uma hipertrofia do conhecimento terico, em detrimento da prtica, que
impede ao aluno inferir, estabelecer relaes e concluir de sua aplicabilidade na vida. A
filosofia a princpio saber racional, sistemtico, metdico, causal e lgico. Para alguns
autores a filosofia do direito deve ocupar-se do JUSTO E DO INJUSTO, para outro essa
anlise caberia tica, e desse questionamento a cerca do objeto da filosofia do direito
que surgem as mais diversificadas propostas:
a) Disciplina que tende a estudar a justia;
b) Disciplina que tende a estudar o dever-ser, verificando a sua autonomia
existencial;
c) Disciplina que tende a estudar e criticar o mtodo jurdico de ensino;
d) Disciplina que tende a estudar e criticar as questes histricas do direito e
aperfeioar o direito positivo
e) Disciplina que tende a estudar os fatos jurdicos (sociologistas)
A filosofia um saber crtico a respeito das construes jurdicas oriundas da
prxis e da cincia do Direito; tarefa de buscar os fundamentos do direito com o intuito
de criticar sua natureza e repensar as estruturas sobre as quais o prdio do conhecimento
se ergue. A filosofia do direito possui, ento, um objeto to universal e um mtodo que
a investigao se prolonga tamanhamente que fica difcil traar limites, fazer isto seria o
mesmo que podar o alcance crtico da filosofia sobre determinado problema ou grupo de
problemas de interesse jus-filosfico.
Poder-se-ia ento, dizer aqui que a chamada Filosofia Jurdica ou jus-filosofia e
que alguns encaram como Filosofia Poltica e at uma parte da tica um ramo da
filosofia cujo enfoque est no pensamento e questionamento das aes de normas e do
direito tanto em uma sociedade quanto universalmente.
A filosofia, portanto, o exerccio do pensamento tendo como resultado a
interpretao desprovida de pretenses finalistas. Reconhecendo-se, portanto, a
importncia da filosofia do direito, deduz-se que deveria ser disciplina atuante em todos
os nveis do curso de cincias jurdicas e sociais. E tomando como adequado o ramo que
entende que a filosofia do direito teria como objeto o estudo do que e JUSTO chega-se a
concluso de que a noo de justia pode ser muito mais complexa do que a simples
priso e punio de criminosos. Sendo assim, cabe ao estudante de direito definir
adequadamente o que seria algo justo e equilibrado, ato por demais difcil, e motivo de
inmeras controvrsias, tanto no meio social comum, como no meio dos prprios
operadores do Direito.
Entretanto, tal disciplina no se encarrega da simples anlise material do
direito, tendo em vista que esse direito mutvel e varivel, assim como a sociedade.
Como bem escreve o jus-filsofo Paulo Dourado Gusmo em seu livro Filosofia do Direito,
a finalidade da filosofia aplicada ao Direito consiste em despertar a dvida sobre as
verdades jurdicas, geralmente ideolgicas, e, como tal, histricas; abrir a mente para
a realidade jurdica, imperfeita, e, quase sempre, injusta; incentivar reformas jurdicas,
criando a conscincia de a lei ser obra inacabada, em conflito permanente com o direito.
E, acima de tudo, dar ao jurista, enfadado com os modelos que a sociedade lhe impe,
momentos de satisfao espiritual, compensadores da perda da crena na capacidade
criadora do homem no terreno jurdico. Sendo assim, a jus-filosofia se encarrega de
levar a reflexo racional das noes do justo ou injusto ou do certo ou errado perante a
sociedade e gerar em consequncia a mudana social atravs de suas concluses, se
assemelhando em alguns aspectos filosofia tica e social.
Miguel Reale chega concluso que a misso da filosofia do direito de crtica
da experincia jurdica, no sentido de determinar as suas condies transcendentais.
Sendo assim de fundamental importncia no apenas para os juristas, mas para todas as
pessoas que procuram entender e criticar as experincias jurdicas da sociedade ao longo
do tempo. A filosofia do direito ento se torna importante medida que se analisa os
conceitos do ordenamento jurdico e social tentando se adequar a uma realidade e por
fim o esperado por todos.
A atitude filosfica no se resigna com as explicaes fornecidas pelo senso
comum, pelo conhecimento vulgar que qualquer um de ns temos da realidade que se
nos apresenta. Envolve, portanto, um determinado posicionamento diante do mundo em
torno. Uma atitude de espanto deve permear a atividade do filsofo, espanto enquanto
"choque com uma realidade que no domina".
O filme Alexandria (recomendao das aulas) que faz uma crtica cida
intolerncia religiosa tenta, de forma subjetiva e contundente, apresentar-nos a grande
questo: o que filosofia? E com a clebre frase de Hypatia finaliza a resposta: meu
dever questionar. Questionar, problematizar, criticar, rever, rediscutir, so verbos que
dominam a inquietao incessante do filsofo.
O filsofo precisa questionar, precisa de uma certa dose de curiosidade infantil,
como diria GARCA MORENTE. No est no centro das suas atenes fornecer respostas
para as perguntas que ele mesmo faz, mesmo que responda algumas vezes. A Filosofia
pretende apreender seus objetos de estudo de forma totalizante e o mais universal
possvel. Decorre da que, nada fica alheio s indagaes dos filsofos. Como sabemos,
nos primrdios, a filosofia reunia a totalidade dos conhecimentos humanos, abrangendo
desde o estudo das coisas da natureza at o ente divino.
Uma grande tarefa dos que estudam a Filosofia do Direito portanto,
demonstrar como o saber filosfico pode ser um poderoso instrumento a servio do
labor dos juristas, j que a rejeio pela filosofia grande entre aqueles que aspiram
entrar no mundo jurdico. Postula-se a existncia de "uma preguia mental" dos
estudantes, que os imobilizam em torno das disciplinas puramente dogmticas,
afastando-os de disciplinas mais reflexivas que visem a apreender o fenmeno jurdico
numa dimenso mais ampla.
Para PAULO DOURADO DE GUSMO compreender seria captar o que h por trs
das aparncias, recriar, reviver um ato criador. A Filosofia do Direito no se prope a
finalidades prticas, a abordagens reducionistas do direito. Antes, e mais importante,
engendra uma atitude de questionamento, de problematizao, rediscutindo premissas,
propondo novas abordagens do fenmeno jurdico.
Em BITTAR e ALMEIDA colhemos lio que pela transparncia que digna de
transcrio: "a filosofia do direito , em meio ao emaranhado de contribuies
cientficas do direito, a proposta de investigao que valoriza a abstrao conceitual,
servindo de reflexo crtica, engajada e dialtica sobre as construes jurdicas, sobre os
discursos jurdicos, sobre as prticas jurdicas, sobre os fatos e normas jurdicas".
por isso que a filosofia, quando bem estudada, uma das disciplinas mais
valiosas das humanidades, precisamente porque d aos seus estudantes uma
competncia crucial em qualquer atividade: ser capaz de tomar decises, pesar
alternativas, fazer escolhas, considerar argumentos, resolver problemas.
A filosofia permite o questionamento, abrindo espao para outros horizontes,
induzindo novas possibilidades, rediscutindo premissas e princpios, reavaliando o que
parece slido e consensual, abrindo abordagens diferenciadas para questes antigas.
Enfim, a filosofia , portanto, oxignio para o raciocnio prtico, e sua proposta
investigar no lugar de agir, especular no lugar de aceitar, e questionar, sempre questionar.
METAS DA FILOSOFIA DO DIREITO
1. Fazer crticas s prticas, atitudes e atividade dos operadores do direito
2. Avaliar, questionar a lei como oferecer subsidio reflexivo ao legislador
3. Investigar as estruturas do pensamento jurdico e question-las.
4. Investigar as causas de desestruturao do sistema jurdico;
5. Depurar a linguagem jurdica, os conceitos filosficos e cientficos do Direito,
bem como analisar a estrutura lgica das proposies jurdicas;
6. Investigar a eficcia dos institutos jurdicos, sua atuao social e seu
compromisso com as questes sociais, seja no que tange a indivduos, seja no
que tange a grupos, coletividades, e preocupaes humanas universais.
7. Esclarecer e definir os objetivos do direito, seus valores, sua relao com a
sociedade e os anseios culturais.
8. Resgatar as origens e valores fundantes dos processos e institutos jurdicos,
identificando a historicidade e a utilidade das definies, das prticas e das
decises jurdicas;
9. Por meio da crtica conceitual institucional, valorativa, poltica e procedimental,
auxiliar o juiz no processo decisrio;
10. Estudar, discutir, avaliar os direitos
11. Questionar entendimentos j concretizados, proceder a discusses e
desconstruir/ construir ideologias.
2. COMO APARECE NOS PR-SOCRTICOS A NOO DE JUSTIA?
O perodo Pr-socrtico pode ser caracterizado como um perodo de lendas,
mitos e cultos religiosos que recorre exatamente o metafsico para a definio do justo e
do injusto. Aqui impera a preocupao do filsofo pela cosmologia (cu, ter, astros
fenmenos astrolgicos), pela natureza, e pela religiosidade.
A justia, na Grcia pr-socrtica, era vista como ordem natural a que o homem
deveria submeter-se; a injustia seria a inverso da ordem pela subjetividade ou
particularidade do indivduo que se pretende (ordem do divino e das causas naturais). O
injusto seria essa quebra, seria a independncia dos fenmenos naturais e sobrenaturais;
esta quebra se d com os Sofistas. Um bom exemplo Protgoras, que afirmou que o
homem a medida de todas as coisas e capaz, portanto, de julgar essa ordem; na
medida em que a ordem natural passvel de julgamento, ela deixa de ser medida
transcendental do homem; sendo a justia a medida (limite) imposta ao homem, julg-
la ou dela discordar desmedida, orgulho que desencadeia contra os homens a ira dos
deuses. Da nasce a tragdia, o castigo o homem rompe com a ordem e, portanto, com
os deuses - a injustia que origina o trgico.
Para os pr-socrticos, a medida das coisas a ordem natural. Sendo assim, tem-
se dois exemplos que ilustram a noo de Justia para os Pr-socrticos:
a) Se, numa troca, uma das partes recebe da outra menos do que corresponde ao
que ela lhe entregou, dizemos que a troca no JUSTA;
b) Se se supe que pertencem a uma pessoa, ou a uma coisa, certas propriedades
que a ela se negam, ou dela se retiram, dizemos que tal negao, ou subtrao,
no JUSTA.
Isto , para os pr-socrticos - dos sculos VII e VI, a.c. - o que era justo estaria
ligado a ideia de compensao. Os pr-socrticos consideraram a JUSTIA uma lei
universal que restitui a cada pessoa, e a cada coisa, o que a elas se deve. Ou seja, tem-se
aqui uma noo de justia como sendo essencial regulao do intercmbio entre os
homens e a natureza.
Os historiadores apontam 4 (quatro) principais escolas pr-socrticas, que foram
assim divididas em razo da phsis da cada filsofo, ou seja "a fonte originria de todas as
coisas, a fora que as faz nascer, brotar, desenvolver-se, renovar-se incessantemente; a
realidade primeira e ltima, subjacente a todas as coisas de nossa experincia. o que
primrio, fundamental e permanente, em oposio ao que segundo, derivado e
transitrio. a manifestao visvel da arkh, o modo como esta se faz percebida e
pensada".
So elas:
1) Escola Jnica, cujos principais representantes so Tales de Mileto,
Anaximandro de Mileto, Anaxmenes de Mileto e Herclito de feso;
2) Escola Pitgorica ou Itlica, cujos representantes so Pitgoras de Samos,
Alcmeo de Crotona, Filolau de Crotona e rquitas de Tarento;
3) Escola Eleata, cujos representantes so Xenfanes de Coloto, Parmnides de
Elia, Zeno de Elia e Melisso de Samos;
4) Escola Atomista, cujos principais representantes so Leucipo de Abdera e
Demcrito de Abdera.
ESCOLA JNICA
A JUSTIA tem, pois, uma atuao muito abrangente no pensamento pr-
socrtico (perodo cosmolgico). Para pensadores como Herclito de feso, Tales de
Mileto, Anaxgoras de Clazmenas, Pitgoras de Samos e Empdocles de Agrigento, a
JUSTIA se encarregava ento de regular as relaes entre os homens, entre as classes e
entre as comunidades. Mas tambm de regular as relaes entre os homens e a natureza.
Por fim, a justia seria a forma de regular as relaes entre cada ser e o ser do universo.
Tudo o que fosse desmedido hybris deveria de ser castigado pela JUSTIA.
Os pr-socrticos consideraram a JUSTIA uma lei universal que restitui a cada
pessoa, e a cada coisa, o que a elas se deve.
p Direito condensao da ordem csmica
A palavra cosmologia composta de duas outras: cosmos, que significa mundo
ordenado e organizado, e logia, que vem da palavra logos, que significa pensamento
racional, discurso racional, conhecimento. Assim, a Filosofia nasce como conhecimento
racional da ordem do mundo ou da Natureza, donde, cosmologia.
Como os mitos sobre a origem do mundo so genealogias, diz-se que so
cosmogonias e teogonias. A palavra gonia vem de duas palavras gregas: do verbo gennao
(engendrar, gerar, fazer nascer e crescer) e do substantivo genos (nascimento, gnese,
descendncia, gnero, espcie). Gonia, portanto, quer dizer: gerao, nascimento a partir
da concepo sexual e do parto. Cosmos, como j vimos, quer dizer mundo ordenado e
organizado. Assim, a cosmogonia a narrativa sobre o nascimento e a organizao do
mundo, a partir de foras geradoras (pai e me) divinas.
Teogonia uma palavra composta de gonia e thes, que, em grego, significa: as
coisas divinas, os seres divinos, os deuses. A teogonia , portanto, a narrativa da origem
dos deuses, a partir de seus pais e antepassados.
As principais caractersticas da cosmologia so:
y uma explicao racional e sistemtica sobre a origem, ordem e transformao
da Natureza, da qual os seres humanos fazem parte, de modo que, ao explicar a
Natureza, a Filosofia tambm explica a origem e as mudanas dos seres
humanos.
y Afirma que no existe criao do mundo, isto , nega que o mundo tenha
surgido do nada (como o caso, por exemplo, na religio judaico-crist, na qual
Deus cria o mundo do nada). Por isso diz: Nada vem do nada e nada volta ao
nada. Isto significa:
o Que o mundo, ou a Natureza, eterno;
o Que no mundo, ou na Natureza, tudo se transforma em outra coisa sem
jamais desaparecer;
p Primeiros questionamentos:
Por que os seres nascem e morrem? Por que os semelhantes do origem aos
semelhantes, de uma rvore nasce outra rvore, de um co nasce outro co, de uma
mulher nasce uma criana? Por que os diferentes tambm parecem fazer surgir os
diferentes: o dia parece fazer nascer a noite, o inverno parece fazer surgir a primavera, um
objeto escuro clareia com o passar do tempo, um objeto claro escurece com o passar do
tempo?
Por que tudo muda? A criana se torna adulta, amadurece, envelhece e
desaparece. A paisagem, cheia de flores na primavera, vai perdendo o verde e as cores no
outono, at ressecar-se e retorcer-se no inverno. Por que um dia luminoso e ensolarado,
de cu azul e brisa suave, repentinamente, se torna sombrio, coberto de nuvens, varrido
por ventos furiosos, tomado pela tempestade, pelos raios e troves?
Sem dvida, a religio, as tradies e os mitos explicavam todas essas coisas, mas
suas explicaes j no satisfaziam aos que interrogavam sobre as causas da mudana, da
permanncia, da repetio, da desapario e do ressurgimento de todos os seres. Haviam
perdido fora explicativa, no convenciam nem satisfaziam a quem desejava conhecer a
verdade sobre o mundo.
Pensadores:
p Anaximandro = (aperon) TERRA Anaximandro defendia a ideia da existncia
do aperon, elemento infinito e indestrutvel que geraria todos os seres e
componentes finitos. Segundo seus estudos, os seres vivos teriam surgido a
partir do barro. creditado a Anaximandro a ideia de centralidade do planeta
Terra no Universo, e a medio dos solstcios e dos equincios nos trabalhos de
medio da distncia entre estrelas. Em sua poca, o filsofo introduziu a ideia
de lei aplicada natureza, no intuito de explicar o surgimento e o
desaparecimento das substncias.
Segundo Anaximandro, os elementos naturais pagavam pelas injustias ocorridas no
mundo. Nesta poca, os filsofos gregos pensavam o universo e a imagem do cosmo
scio-poltico, a igualdade entre os homens tambm era verificada entre os elementos
naturais.
p Tales De Mileto = GUA - Dedicou-se inteiramente s especulaes filosficas, s
observaes astronmicas e s matemticas. Fundou a mais antiga escola
filosfica que se conhece - a Escola Jnica. O primeiro terico a formular um
pensamento mais sistemtico fundado em bases racionais foi o grego Tales
(cerca de 625 a.C. 558 a.C.). Sendo o fundador dessa nova forma de pensar, ele
considerado o primeiro filsofo de que se tem notcia, inaugurando a
linhagem filosfica dos pr-socrticos (filsofos que vieram antes de Scrates).
Tales inaugurou na filosofia a corrente dos pensadores fsicos: filsofos que
buscavam entender e explicar a origem daphysis palavra grega traduzida como
natureza, mas cujo significado engloba tambm a ideia de origem, movimento e
transformao de todas as coisas. Segundo Tales, a origem de todas as coisas estava no
elemento gua: quando densa, transformar-se-ia em terra; quando aquecida, viraria
vapor que, ao se resfriar, retornaria ao estado lquido, garantindo assim a continuidade do
ciclo. Neste eterno movimento, aos poucos novas formas de vida e evoluo iriam se
desenvolvendo, originando todas as coisas existentes.
p Anaximenes = AR - Segundo Anaxmenes, o ar (pneuma) a substncia
fundamental da Natureza (arqu), uma vez que incorpreo e se encontra em
toda parte. Contrariando seus antecessores, considerava que medida que a
densidade do ar mudava, compunha todas as coisas. Ou seja, quando rarefeito, o
ar se tornava fogo; quanto mais denso se tornava, o ar se transformava em vento
e em gua, terra e pedra, sucessivamente. Resumidamente, as diferentes formas
da matria que encontramos nossa volta surgem do ar atravs de processos de
condensao e rarefao.
p Herclito De feso = FOGO - Herclito recebeu o nome de filsofo do fogo, por
que defendia a ideia de que o agente transformador o fogo: ele purifica e faz
parte do esprito dos homens. Ele queria transmitir a ideia de que tudo que
existe uma manifestao da unidade da qual o homem faz parte. As
transformaes, segundo o filsofo, so consequncias da tenso entre os
opostos, da ao e reao. Segundo ele, o sol novo a cada dia e o universo
muda e se transforma infinitamente a cada instante.
ESCOLA ELETICA
p Direito = fato de imutabilidade do ser, pois tudo, no universo se acha
subordinado justia, e esta no permite que algo nasa, ou seja, distribudo.
p Xenofanes monotesta
p Parmnides de Elia ontologia
p Zeno de Elia- Dialtica Lgica
3. IDENTIFICAR O ETHOS (COMPORTAMENTO, VALORES) DA FORMAO JURDICA
OCIDENTAL EM SCRATES, PLATO E ARISTTELES.
NOO DE JUSTIA NOS SOCRTICOS
SCRATES
Scrates julgando o nomos da cidade, rompeu a ordem da polis, dando lugar a
uma nova ordem que seria proposta por Plato. O pensamento platnico introduziu a
ideia de justia como igualdade, levando uma dupla concepo: a justia como ideia
(metafsica) e a justia como virtude (tica) a ser praticada individualmente.
Viver com justia, desde Scrates, j no viver de acordo com as leis da polis,
buscar o justo alm da lei e do costume, como mostrou Plato no Crton -
no Grgias, justia no agir de acordo com a legislao a justia a base da legislao.
Na Repblica, o Estado ideal o Estado de justia e nele no existem diferenas entre lei
e justia. As leis so justas porque foram estabelecidas por pessoas (os filsofos) que
praticam a virtude da justia e, por isso, contemplam a prpria ideia de justia - a,
podemos observar a convergncia entre os dois conceitos platnicos dejustia: como
ideia e como virtude.
Com Scrates (perodo antropolgico) a filosofia desceu do Cu para a Terra. O
que era o fio condutor da reflexo filosfica o que era a preocupao cosmolgica
cede lugar, agora, a outro eixo, a outro fio condutor, quais sejam, as questes
antropolgicas.
Surge, a, pela primeira vez, o vnculo entre conhecimento e moral. Scrates vai
entender que a JUSTIA condio indispensvel da felicidade. Scrates, pensador do
conhece-te a ti mesmo entende que para bem agir preciso bem conhecer, sendo o
conhecimento da JUSTIA que leva o homem esta condio de felicidade. Um homem
injusto jamais poderia ser feliz. Sabemos salutar o registro que tudo que temos hoje
sobre Scrates chegou pela via de Plato, uma vez que Scrates no deixou escrito algum.
Hoje, os historiadores da filosofia tm dificuldades para separar o que coube a Scrates e
o que coube, efetivamente, ao seu discpulo, Plato.
O pensamento socrtico profundamente tico, pois reveste-se de
preocupaes tico-sociais, envolvendo-se em seu mtodo maiutico todo tipo de
especulao temtica impassvel de soluo (o que a justia?; o que o bem?; o que a
coragem?).
A filosofia socrtica possui um mtodo que faz o filsofo e por sua vez faz o
homem em meio a plis. do convvio, da moralidade, dos hbitos e prticas coletivas,
das atitudes do legislador que surge a filosofia socrtica. O modo de vida socrtico e a
filosofia socrtica no se separam, a filosofia reafirma-se pelo exemplo de vida de
Scrates; na mesma medida, a doutrina tica e o ensino de Scrates retiram-se de seu
testemunho de vida, corporificado no que est em seus atos e palavras. Scrates pode ser
dito como o iniciador da filosofia moral e o inspirador da corrente do pensamento. Sua
contribuio surge como uma forma de antagonismo aos sofistas (que cobravam o
pagamento pelos ensinos) e a cosmologia filosfica dos pr-socrticos que especulavam a
respeito da natureza e da origem do universo. Scrates referencia na filosofia grega,
exatamente pela ruptura que provocou com a tradio precedente e com os ensinos
predominantes do seu tempo.
Para Scrates a morte uma passagem para outro estgio que h de ensinar
valores mais acertados ao homem. A certeza socrtica quanto ao porvir a mesma que o
movimentava para agir de acordo com a lei (nmos). Scrates entende que a lei fruto do
artifcio humano e no da natureza e ensina a obedincia irrestrita lei, porque
vislumbrava um conjunto de leis com preceitos de obedincia incontornvel, por mais que
essas fossem injustas. O direito aparece aqui como um instrumento humano de coeso
social buscando um BEM COMUM consistente no desenvolvimento das virtudes humanas.
Scrates se empenhou em restabelecer para a cidade o imprio do ideal cvico.
Scrates no revidou o injusto corporificado em sua sentena de morte, porque para ele o
descumprimento da sentena representava a derrogao do governo das leis; mas
consagrou valores que posteriormente foram absorvidos por Plato e Aristteles: o
homem enquanto integrado ao modo poltico de vida deve zelar pelo respeito absoluto,
mesmo em detrimento da prpria vida, s leis comuns a todos, s normas polticas.
A filosofia socrtica traduz uma tica teleolgica e sua contribuio consistente
em vislumbrar na felicidade o fim da ao. Essa tica tem por fito a preparao do homem
para conhecer-se, uma vez que o conhecimento a base do conhecimento tico.
Erradicar a ignorncia tarefa do filsofo e na certeza desses princpios abdica at mesmo
de sua vida para reafirmar esse princpio. A mesma ideia trazida atravs do filme
Alexandria, quando Hypatia renuncia a prpria vida pra defender o seu ponto de vista, pra
defender o seu capacidade e possibilidade de questionamento e a filosofia.
PLATO:
A principal parte do conjunto de premissas socrtica vem desembocar no
pensamento platnico. Todo o sistema filosfico platnico decorrente de pressupostos
transcendentes, quais a alma, a preexistncia da alma, a reminiscncia das ideias, a
subsistncia da alma. Plato distancia-se da poltica e do seio das atividades prtico-
polticas;
A diferena entre Plato e Scrates:
PLATO SCRATES
Ensina num lugar apartado decepcionado
com a poltica
Ensinava nas ruas da cidade;
A prudncia socrtica converte-se em vida
terica modelo de felicidade humana.
Via na prudncia a virtude de carter
fundamental para o alcance da harmonia
social.
- Tripartio da alma:
* Cabea: alma logstica; figura do filsofo
* Peito: alma irascvel; coragem e virtude cavalheiresca
* Baixo Ventre: alma apetitiva
- As potncias da alma:
* A parte logstica: passa a representar o que diferencia o ser humano de outros seres;
passa a ser a imortalidade do ser; hegemnica diante de outras partes da alma humana;
capaz de reflexo, de opinio e de imaginao, da razo;
Cada parte da alma humana exerce uma funo que delimitadas e sincronizadas
so as causas da ordem e da coordenao das atividades humanas. A virtude uma
excelncia, um aperfeioamento de uma capacidade ou faculdade humana suscetvel de
ser desenvolvida e aprimorada.
O VIRTUOSISMO tem a ver com o domnio das aes do corpo. A harmonia o
domnio dos instintos ferozes como o descontrole sexual e a fria dos sentimentos. O
vcio, ao contrrio da virtude reina onde est o caos entre as partes da alma. Buscar a
virtude identificar-se com o que h de melhor e mais excelente, buscando inspirao
nas faculdades que caracterizam os deuses, os mais excelentes. A alma valoriza a
mundanidade, o homem deve se afastar da mundanidade.
O PLATONISMO preza pelo idealismo e no pelo realismo, e o ncleo da teoria
platnica repousa na ideia que penetra no entendimento do que seja o bem supremo
para o homem.
Utilizando o mito da caverna (mundo sensvel e mundo das ideias) e o da
reminiscncia (imortalidade da alma e sua pr-existncia no mundo dos inteligveis, onde
a alma contempla as essncias), Plato afirmou que s conhece a justia aquele que
justo. De acordo com Hartmann, agir com justia, significou, para Plato, descartar o
egosmo e agir reconhecendo a igualdade do direito do outro. Por considerar o outro,
a justia vista como a maior das virtudes, uma vez que objetiva e a nica que se liga ao
Estado (ao contrrio das outras virtudes, sabedoria, temperana, e coragem, que so
subjetivas).
Para Plato mesmo estando a ideia de Justia distante dos olhos do comum dos
homens sua presena se faz sentir desde o momento presente na vida de cada indivduo.
A Justia no pode ser tratada unicamente do ponto de vista humano, terreno e
transitrio; aqui a questo metafsica e possui razes para alm da vida (a doutrina da
paga pena pelo mal feito), e vige como forma de Justia Universal.
A cosmoviso platnica permite a abertura da questo da justia a caminhos
largos que aqueles tradicionalmente trilhados no sentido de determinar o seu conceito.
Para Plato a conduta tica no pode estar baseada no sucesso terreno; e o insucesso
no pode representar critrios de mensuralibilidade de carter de um homem. No
mundo terreno o que parece justo em verdade no o e o que parece ser injusto em
verdade no o .
A ordem do mundo dada pela JUSTIA RETRIBUTIVA e aquele que dever algo
ainda que se esconda sob a justia encaminhada pela providncia divina haver de
sucumbir. A retribuio aqui o modo de justia metafsica que ocorre aqui e no Alm. A
justia agrada a Deus e a injustia desagrada, a justia causa de bem para aquele que a
pratica e causa de mal para aquele que a transgride.
No se pode ser justo ou injusto somente para esta vida, pois se a alma preexiste
ao corpo porque tambm subsiste vida carnal de modo que ao justo caber o melhor e
ao injusto o pior (a ideia de carma).
A ordem platnica estrutura-se como uma necessidade para a realizao da
JUSTIA, um imperativo para o convvio social, onde governados obedecem e
governantes ordenam. E nesta ordem deve haver uma cooperao entre as partes para
que se realize a justia. A diviso do trabalho a regra da justia no Estado Ideal.
Existem trs atividades que devem existir independentes: a poltica, a defesa e a
economia, se uma interfere na outra, isso representa injustia. Nesse sentido, a JUSTIA
na cidade a ordem, e a desordem a INJUSTIA. A JUSTIA a sade do corpo social,
pois onde cada um cumpre o que lhe dado fazer, o todo beneficia-se dessa
complementaridade.
Na Repblica, o Estado ideal o Estado de justia e nele no existem diferenas
entre lei e justia. As leis so justas porque foram estabelecidas por pessoas (os filsofos)
que praticam a virtude da justia e, por isso, contemplama prpria idia de justia - a,
podemos observar a convergncia entre os dois conceitos platnicos de justia: como
idia e como virtude.
PLATO ENSINOU QUE SE DEVE DAR A CADA UM O QUE LHE CONVM, no
somente nas relaes entre particulares (justia comutativa), mas sim no plano do Estado.
Esse DAR A CADA UM O QUE SEU, no Estado platnico, seria fazer corresponder a
funo que cada um possa exercer no Estado, com suas aptides particulares, com as
virtudes caractersticas que definem os trs tipos cidados: sabedoria (filsofos),
temperana (comerciantes e artesos) e coragem(militares). O mal do estado, a injustia,
se concretiza na ambio que faz com que um indivduo procure alar-se acima das
aptides de sua classe. A justia consiste na harmonia entre as trs virtudes da alma, ou
seja, no que diz respeito ao Estado, na harmonia das classes que o estruturam. A msica
ilustra a justia, porque ela se produz pela combinao harmnica dos sons.
Poder e filosofia platnica se aliam. A justia, a tica e a poltica se movimentam
no sistema platnico num s ritmo, cujas notas so as ideias metafsicas que derivam da
ideia primordial do BEM.
A justia, na concepo platnica, tem um carter universal, porque harmonia,
ordem. Ela muito mais dar do que receber, enquanto o cidado se d, com suas
aptides, ao Estado, ao servio da sociedade, recebendo dela uma funo a
desempenhar. Essa ideia de justia revela o Estado real grego do tempo de Plato, no
plano filosfico ou conceitual, uma vez que, como disse Hegel, a filosofia no lida com
quimeras, isto , fantasias, mas est inteiramente voltada para e comprometida com a
realidade.
ARISTTELES
O desenvolvimento da justia em Aristteles tem sede no campo tico, no campo
de um saber que vem definido em sua teoria como saber prtico. A tica aqui a ao
prtica do homem em sociedade, a deliberao, a deciso o agir voluntrio, a educao.
Falar de justia em Aristteles comprometer-se com questes afins como questes
sociais, polticas e retricas. Ele retratou o estudo da tica em tica a Nicmaco onde
trata sobre o ideal de virt. Aristteles tratou a justia como virtude, assemelhada a todas
as demais (coragem, temperana, benevolncia...). A justia assim definida como virtude,
torna-se o foco das atenes de um ramo do conhecimento humano, que se dedica ao
estudo do prprio comportamento humano, a tica. A esta cincia prtica, cumpre
investigar e definir o que justo e o injusto, o que ser temerrio e corajoso.
Fazendo uma aluso ao pensamento Aristotlico, a funo da Filosofia do direito
nesse contexto anlise do JUSTO, portanto analgico a funo da tica em Aristteles.
Para ele o conhecimento tico, o conhecimento do justo e do injusto, do bom e
do mau, uma premissa para que a ao converta-se em uma ao justa ou conforme
justia, ou em uma ao boa ou conforme o que melhor. Mas no somente o
conhecimento do justo e injusto faz do individuo um ser mais ou menos virtuoso. tarefa
de tica traar as normas suficientes e adequadas para orientar as atividades da polis e
dos sujeitos que a compem para a realizao palpvel do Bem Comum.
A justia para Aristteles , portanto, uma virtude, e sendo virtude um justo
meio (mestes) entre dois extremos. A justia uma virtude, diferentes das outras, aqui
no se ope dois vcios distintos, mas somente um vcio, que seria a injustia (em uma
ponta o injusto por carncia e na outra o injusto por excesso); o que injusto ocupa dois
plos diversos. O justo meio entre os dois plos, ocupado pela justia, a equilibrada
situao dos envolvidos numa posio mediana. Para Aristteles sofrer a injustia no
uma situao viciosa.
A justia aqui entendida como sendo uma virtude e sendo assim trata-se de
uma aptido tica humana que apela para a razo prtica, ou seja, para a capacidade
humana de eleger comportamentos para a realizao de fins. O entendimento da
temtica da justia em Aristteles fica definitivamente grafado como sendo um debate
tico; a cincia prtica que discerne o bom e o mau, o justo e o injusto, chama-se tica.
Assim, aqui fica claro que a justia ocorre atravs de uma prtica humana e social bem
delimitada; a justia uma virtude.
Se a justia trata de uma virtude, que se exerce em funo da racionalidade
(razo prtica), ento o homem capaz de deliberar e de escolher o melhor, para si e
para o outro. Ento, h que se dizer, a justia participa da razo prtica, e seu estudo
pertence ao campo das cincias prticas, o que guarda relao com a ao, e no com a
teoria, como querem alguns. Trata-se, pois, mais de algo que se pratica e do qual se extrai
um resultado ativo; trata-se menos de algo que se pensa.
Justia e injustia so questes atinentes ao campo da razo prtica. a justia
qualidade, afeco, bondade, auto-realizao, ou o qu? ela, aristotelicamente, virtude
tica, e nada mais. Seu campo o da ponderao entre dois extremos, o da injustia por
carncia e o da injustia por excesso. Com este apelo ao virtuosismo, reclama-se maior
espao para a atuao da prudncia, e dos demais atributos da racionalidade humana, o
que, em todos os sentidos, tem sido subestimado pelo homem moderno. Talvez seja esta
uma forma de se retomar a valorizao do problema da justia como um problema
genuinamente humano, ou mais, puramente humano.
Deve-se dizer ainda que a justica tambem no nica; Aristteles distingue suas
espcies para melhor compreender o fenmeno em sua integralidade, e de modo a
recobrir todas as aparies conceituais possveis da justia. ela exercida de vrias
formas, em modalidades e circunstncias desconsertantemente diversas (na distribuio
de bens, na aplicao de penas, na troca, na compra e venda...), porm sempre com vista
em determinado meio. Onde est guardado o meio-termo, proporcional (por exemplo,
no se pode querer tributar a renda da mesma forma para aquele que pouco ganha com
relaao aquele que muito ganha, e tudo na medida do ganho de cada qual) ou aritmtico
(por exemplo, auele ue lesou alguem em x, fica obrigado a restituir-lhe, in totum, x, ex
correspondera a todas as perdas e danos sofridos por auele lesado), a h a justia.
Mais que isso, a justia no se realiza sem a plena aderncia da vontade do
praticante do ato justo a sua conduta. Aquele que pratica atos justos no
necessariamente um "homem justo"; pode ser um "bom cidado", porm no ser
jamais um "homem justo" ou um "homem bom" de per si. O "bom cidado", desaparecida
a sociedade, nada carregaria consigo se no a conscincia livre de ter cumprido seu dever
social. O "homem bom" e, ao contrrio, por si mesmo, independentemente da sociedade,
completo em sua interioridade; a justia Ihe uma virtude vivida, reiterada e repisada por
meio da acao voluntaria.
ARISTTELES E A EQUIDADE
Ainda alm da justia h algo que com ela guarda profunda relao, que no
pode ser chamado justia, e este algo a equidade. Tem-se, pois, que a justia requer
uma pluralidade de classificaes atinentes a suas diversas concepes, de acordo com
cada situao (de distribuio, de compra e venda...), um algo para alm de seu juzo de
mediedade e/ou proporcionalidade, ou seja, a equidade.
Assim, o tema da justia vem inteiramente recoberto por uma anlise
percuciente de seus umbrais; os quadrantes do problema vem notoriamente bem
delimitados na teoria aristotlica. A justia total destaca-se como sendo a virtude (total)
de observncia da lei. A justia total vem complementada pela noo de justica particular,
corretiva, presidida pela noo de igualdade aritmtica (comutativa, nas relaes
voluntrias; reparativa, nas relaes involuntrias) ou distributiva, presidida pela noo
de igualdade geomtrica. A justia tambm ser exercida nas relaes domsticas (justo
para com a mulher; justo para com os filhos; justo para com os escravos) ou polticas
(lega e natural). Cumpre ao juiz debrucar-se na equanimizao de diferenas surgidas da
desigualdade; e ele quem representa a justia personificada. Para alm da lei, porm, da
justia e de tudo o que se disse, est a noo de amizade, como a indicar que onde h a
amizade, definida em sua pureza conceitual, nao necessria a justia.
Aristteles descreveu dois tipos de justia: a universal, que a observncia da
lei (virtude universal) e a particular, que o hbito de realizar a igualdade (virtude
particular).
A justia uma virtude que s pode ser praticada em relao ao outro,
conscientemente, para chegar igualdade, ou observncia das leis, tendo como fim
ltimo o bem comum, ou seja a felicidade da polis.
O conceito aristotlico de justia se compe de cinco elementos estruturais: o
outro, a conscincia do ato, a conformidade com a lei, o bem comum e a igualdade:
1. O Outro - j acentuamos que a justia a nica virtude que s praticada
em relao ao outro. Essa a alteridade (refere-se a outros seres distintos
do sujeito agente) da justia, que a faz ser a maior das virtudes, a virtude
perfeita, pois, como disse Aristteles, o que a possui pode execut-la em
relao com o outro e no s consigo mesmo (tica a Nicmaco). A
alteridade diz respeito tanto justia universal (respeito s leis e aos
outros), quanto particular (prtica da igualdade).
2. Conscincia do Ato - enquanto o justo e o injusto se definem pela lei, o ato
justo s se realiza voluntariamente, isto , algum que prejudique o outro,
involuntariamente, no comete injustia - poder causar uma injustia, mas
somente por acidente.
3. Conformidade com a Lei - na polis, o justo quase se identificava com as leis
positivas (costumeiras ou legais), ou com os comportamentos costumeiros. A
lei natural a lei que revela a natureza da comunidade poltica, uma vez que
o Estado , ele mesmo, uma realidade natural. O justo natural mais
perfeito que o justo legal e superior a toda forma de justia; pode-se,
ento, dizer que a conformidade com a lei natural seria, para Aristteles, o
elemento essencial ao conceito de justia. Razo, lei e igualdade tm uma
relao muito ntima: a razo aquilo que todos os homens possuem, o
igual, a caracterstica distintiva da espcie humana; a lei razo enquanto
impede as desigualdades - impessoal e objetiva e conduz igualdade
jurdica formal, que encontraremos mais tarde no Estado romano. Para o
Aristteles, justo o que observa a lei e a igualdade, isto , o que
conforme a lei e a equidade; aqui justia e equidade no se distinguem e
parece que ele no distingue o equitativo da lei natural, uma vez que
ditado pela razo a razo, para Aristteles, a prpria forma da natureza
humana. Justo o que conforme a lei e a equidade - a lei e a equidade
procuram realizar a essncia da justia - a igualdade.
4. O Bem Comum - o bem comum alcanado na poltica; o bem supremo, a
felicidade na comunidade, se d com a realizao do bem poltico, que a
justia aos iguais deve corresponder sempre algo igual (Poltica). Assim se
expressou Aristteles: ... justo o que beneficia a comunidade (tica a
Nicmaco).
5. A Igualdade Justia , para Aristteles, a virtude que considera o outro
como igual e, assim, pauta suas aes por essa igualdade. Tal igualdade
fundamental, que faz parte da essncia do homem, no exclui alguma
desigualdade nas qualidades que o homem possui desigualmente. Na justia,
como virtude universal, o conceito de igualdade tem papel preponderante -
DAR A CADA UM O QUE SEU E NO EXIGIR O BEM EM EXCESSO, NEM
SUPORTAR POUCO O MAL, PREJUDICANDO OS OUTROS . Mas na definio
da justia como virtude particular que o conceito de igualdade se faz mais
importante - ...se ... o injusto o desigual, o justo ser o igual, o que, ainda
que sem prova, evidente para todos.
4. EXISTE UMA JUSTIA CRIST? COMO ELA INFLUENCIA O DIREITO POSITIVO
MODERNO?
CRISTIANISMO: O CONTEXTO EM QUE SURGIU, OS FUNDAMENTOS E COMO
ESSE PENSAMENTO SE CONTRAPE COM O PENSAMENTO GRECO-ROMANO A PARTIR
DO FILME ALEXANDRIA.
Historicamente, os fatos que fundamentaram o cristianismo ocorreram durante o
Imprio romano, nos ltimos sculos da Idade Antiga, que se estendeu de
aproximadamente 3.500 a.C. at 476 d.C. O cristianismo surgiu a partir da doutrina dos
homens que seguiram Jesus Cristo. O que o Filme Alexandria vem retratar a utilizao
do cristianismo como instrumento de manobra da massa e da luta por poder e domnio.
Os descendentes dos apstolos, que comearam a espalhar o cristianismo no
filme Alexandria eram chamados de Parabolanos. Perseguidos pelos romanos durante
sculos, os cristos sofreram uma srie de torturas, mas o filme j retrata um segundo
momento, em que os cristos, aps sarem do perodo de intolerncia reliogiosos tornam-
se os intolerantes, frente s religies pags. As comunidades constitudas pelos apstolos
foram se perpetuando mesmo aps a morte deles, atravs dos novos cristos, fazendo o
cristianismo se fortalecer como igreja.
O filme Alexandria alm de retratar esse perodo em que o Cristianismo se instala
como religio mundial ele tambm vem mostrar que nunca paramos para pensar no que
acreditamos, e como isso pode levar o homem a uma total cegueira e cometer os mais
absurdos equvocos. Hypatia diz isso a um de seus discpulos que se tornou cristo, que
passa a questionar tudo, mas nunca questiona o que acredita. Hypatia afirma que no
pode se converter ao cristianismo, porque ela prefere a neutralidade e o amor filosofia,
que mais uma vez demosntra postura crtica e reflexiva a respeito do que posto. A viso
de mundo dela puramente filosfica e no haveria espao para religio.
Entretanto a poltica e a religio estavam acopladas nesta poca, tornando a
situao delicada at para o prefeito Orestes. A tenso entre cristos e judeus cresce
demais. Os cristos passam a dominar o territrio, os pagos ou foram mortos ou
obrigatoriamente se converteram ao cristianismo, e at mesmo o prprio prefeito,
Orestes, que era pago, tornou-se cristo. Quem no fosse cristo seria morto, o que
caracteriza um novo perodo de intolerncia religiosa que se estenderia por muitos
sculos. Hypatia foi taxada de bruxa e ateia e por isso foi morta.
Quando se discute direito e justia, imprescindvel analisar a influncia que as
Sagradas Escrituras produziram sobre a cultura ocidental, isto , no tomar uma postura
de rejeio e questionar, analisar e refletir o perodo. De fato, as tradies, os hbitos, os
costumes, as crenas populares, a mora, as instituies, a tica, as leis esto
profundamente marcadas pelas lies crists que influenciaram de forma indireta o
direito positvo moderno, seja atravs de ideologias crists seja atravs da disseminao
da crena crist atravs do direito posto.
A doutrina crist teve desvios e interpretaes circunstanciais, mas o que
importa dizer que foi capaz de produzir suficiente abalo no esprito humano. E desse
patrimnio religioso inestimvel de influncias, informaes e valores que se devem
retirar alguns preceitos bsicos sobre a justia; e isso, a medida que se recusa discutir o
tema, por qualquer motivo ideolgico ou pretensamente cientfico, s satisfaz ainda mais
ao no-conhecimento de determinado espao de cultura, qual o que se vive
hodiernamente. Direito e justia, como temas de pesquisa, no podem dispensar um
tratamento mnimo a questo religiosa, mas isso nao quer dizer que especificamente o
cristianismo fosse uma doutrina politica ou jurdica.
SOBRE A JUSTIA CRIST
Sim, existe uma justia crist, na verdade uma faceta/ nova dimenso da justia
(como caridade) trazida pela de Jesus. Fala-se aqui em uma CONCEPO RELIGIOSA DA
JUSTIA, deve-se dizer que a justia humana identificada como uma justia transitria,
por vezes um instrumento de usurpao do poder. No nela que reside
necessariamente a verdade, mas na Lei de Deus, que age de modo absoluto, eterno e
imutvel. A lei humana, portanto, que condenou Cristo, o que foi feito com base na
prpria opinio popular dos homens de seu tempo, a justia cega e incapaz de penetrar
nos arcanos da divindade.
A justia crist, portanto, aponta para valores que rompem com o imediato do
que carnal. Nesse sentido, cumpre os preceitos de justia (eterna) aquele que se faz
conduzir de acordo com esses valores, muitos dos quais desconhecidos dos homens.
Toda a lio evanglica apesar de um mistrio contnuo, o que no escusa o fiel do bom
conhecimento dos exemplos de vida do Cristo e de seus apstolos; se a palavra falha,
para refor-la existem as narrativas de atos, fatos, momentos, comportamentos. O
Verbo, nesse sentido, representa no s a elucidao dos profetas, mas a encarnao, por
sua vida, histria e palavras, das lies divinas sobre o que deve ser e o que no deve ser.
Rompendo com hbitos cristalizados, desmitificando figuras alegricas
populares, desfazendo o que era falso, introduzindo novas prticas e novos conceitos, e,
sobretudo, por meio de suas parbolas, diferenciando o justo do injusto que Cristo veio
semear a Boa Nova, no sentido de que os justos e injustos sero julgados no Juzo Final.
O sentimento cristo identifica no mal uma doena, de modo a dispor-se a seu
tratamento, que no se faz pelo julgamento insidioso e precipitado, MAS PELO PERDO e
pelo esquecimento, PELA DOAO DE SI, pelo aguardar pacientemente a reforma do
outro corao. A Justia aparece aqui como doao, o perdo reflete esta ideologia de
acolhimento, hospitalidade, acolher o que estrangeiro e dividir o conhecimento cristo,
compartilhar as escrituras/ compartilhar a salvao.
Onde reside a vingana no reside uma mxima crist; no se pode, por
exemplo, entender como legitima uma guerra religiosa, ainda que esteja travestida de
luta e combate aos infiis, ou de disseminao de uma doutrina espiritual (Cruzadas).
Anoo de justia crist que est baseada na ideia de: "Quem injusto, faa
injustia ainda; e quem est sujo, suje-se ainda; e quem justo, faa justia ainda; e quem
santo, seja santificado ainda." Esta a doutrina segundo a qual AQUELE QUE AGE POR
SUAS AES SER MEDIDO; AO JUSTO, A JUSTIA, AO INJUSTO A INJUSTIA.
A justia preexistente, divinamente inspirada e s basta aplic-la ao mundo
existente tomando como base o que a bblia diz. Basta praticar a justia se o homem se
religa a Deus atravs da f. A experincia pessoal de Paulo, sua experincia de f faz
com que ele mude o seu caminho de perseguidor e passe a ser perseguido na defesa do
cristianismo.
O justo viver da f...
PORTANTO, O IDEAL DE JUSTIA DO CRISTIANISMO EST BASEADO NA NICA
NECESSIDADE DE SE TER A F, A F NAS ESCRITURAS QUE DIZEM O QUE JUSTO, O QUE
CORRETO.
ENQUANTO A VIRTUDE PARA OS GREGOS ERA O CONHECIMENTO, A VIRTUDE
PARA OS CRISTO A MANIFESTAO DA F.
uma viso oriunda da ideia da justia vista como o bem, a gente sempre
procura fazer o bem, quando faz o mal sobre o aspecto do bem. A justia como bem.
Justo aquele que s faz o bem e o bem est descrito na Bblia
JUSTIA CRIST E ESTADO MODERNO
Quem so os escolhidos (na anlise do povo judeu como povo escolhido por
Deus)? Quem so os destinatrios da norma? Quem so os destinatrios das polticas
pblicas? Ex: bolsa famlia o estado diz quem so os beneficirios da norma. Assim como
existem os escolhidos no princpio bblico, a se observa o princpio da equidade. Amar o
prximo como a ti mesmo, um princpio fundamental para explicar o princ. da equidade:
acolher o diferente que tem uma formao diversa da minha.
Somos um estado laico, mas falamos de justia social e no entre homens, justia
social um conceito cristo, uma justia fundada na igualdade. Art. 193 da CF fala de
justia social.
Somos um Estado laico mas a ortotansia e a eutansia so proibidas pela
concepo crist de vida. A noo de justia a qual a CF/88 est assentada a crist e no
esprita ou umbandista.
Os direitos fundamentais presentes na CF/99, um repertrio de garantias
fundamentais, coisa que na Grcia no existia. O Estado Moderno regulamente direitos
privados. Ento a liberdade dos modernos diferente da liberdade dos antigos, o
cristianismo que fundamenta a regulamentao dos direitos fundamentais fundada na
teoria da f.
CONFRONTO DO PENSAMENTO GREGO COM O CRISTO
O pensamento Greco tenta sair de uma ordem do senso comum, tenta construir
o pensamento do homem na razo. Aristteles o pai da lgica, enquanto que o
pensamento cristo o fundamento da verdade est no esprito e no na razo. Existe uma
ruptura de curso, o esprito que diz o que . ( filme: teoria de tudo).
A Justia crist fundada da f confrontando a justia de Roma fundada no logos,
na razo, na prudncia... em nome da f aparece a santa aliana, eu s posso me salvar se
entregar a Deus, este o bom homem, em Aristteles, o bom homem aquele que
consegue o bom senso, que tem a ideia de razoabilidade proporcionalidade.
A distino de bem e mal para a justia crist que o mal um manifestao
negativa, uma doena, est apartado de Deus que Santo e no tem pecado ou mal. Os
gregos, no entanto, veem a possibilidade de uma relao entre bem e mal aliado ao
divino. Os deuses gregos compartilhavam dos mesmos vcios humanos eram ao mesmo
tempo bons e maus. O Deus cristo perfeitamente bom e o mal no est presente nele.
No exista valores que restringiam a vida pblica na Roma, a poligamia existia,
como tambm a homossexualidade. Existia a liberdade pblica para os gregos, o mundo
do privado no existia. O cristianismo vem trazer as regras e modelos para a vida pblica e
privada, os limites e os exemplos de comportamento. Pois a relao com o divino s
acontece com a experincia individual e a partir da segue-se o exemplo de Cristo. No
mundo o Greco no havia uma vida virtuosa, no preserva ensinamentos reconhecido
pr-estabelecidos.
SANTO AGOSTINHO
A concepo de justia de Santo Agostinho est governada pela dicotomia
bom/mal. Nesse sentido, a justia pode ser definida como humana e divina. Assim, se a
lei humana se encontra desenraizada de sua origem (O DIVINO), seu destino s pode ser o
erro e o mau governo das coisas humanas. Ao passo que se a lei humana se aproxima da
fonte de inspirao que est a governar o corao humano (A lei divina), bem como que
esta a governar todo o universo, ento as instituies humanas passam a representar um
avano em direo do que e absolutamente verdadeiro, bom, imperecvel e eterno.
No entanto, apesar de imperfeitas, as leis humanas so a garantia da ordem
social, e, para serem chamadas em seu conjunto de Direito, devem estar minimamente
aproximadas da justia. A justia, na teoria agostiniana, figura como razo essencial do
Direito; o Direito, sem a justia, consistiria em mera instituio transitria humana, inqua
e sem sentido. Mais que isso, a justia a virtude que sabe atribuir a cada um o que e
seu. (influencia do pensamento platnico).
A lei humana, temporal, voltada para a ordenao do homem em sociedade tem
por finalidade a realizao da paz social, secular, temporal. A lei eterna, a realizao da
paz eterna. A Lei humana e a lei eterna se adequaro em objetivos e finalidades. O
supremo ato de justia do homem ser a submisso lei de Deus, seu criador e senhor, a
quem devemos submisso; o homem s pode esperar de Deus a graa, que gratuita,
porque Deus nada lhe deve. A igualdade absoluta e, portanto, a justia perfeita, s existe
na Cidade de Deus (reino do inteligvel) - ante Deus, todo homem servo. A Cidade dos
Homens (reino do sensvel), tem que se submeter Cidade de Deus - sua finalidade
apenas a paz temporria, enquanto que a Cidade de Deus objetiva a paz eterna, Deus. O
homem deve ser ordenado para alcanar seu fim ltimo; se algum subverter essa ordem
dever ser punido, para conter sua maldade.
A servido explicada como expiao dos pecados. A servido nasce do pecado
(por ex., da guerra) e vista como expiao do pecado - sendo assim, o escravo no deve
se revoltar, embora Santo Agostinho ressalte em A Cidade de Deus que, por natureza, tal
como Deus, no princpio, criou o homem, ningum escravo do homem, nem do pecado.
Tambm para Santo Agostinho justia DAR A CADA UM O QUE SEU, de
acordo com a hierarquia da ordem natural criada por Deus: o corpo deve submeter-se
alma, a alma a Deus e as paixes razo. Na ordem sobrenatural, a justia consiste na
observncia da lei eterna que liga o homem a Deus e prescreve sua submisso a Ele; na
ordem natural, a Lex naturalis prescreve a harmonia do homem consigo mesmo, com o
natural e com o sobrenatural - ser imagem de Deus e no permitir que a carne subverta a
ordem divina.
A lei dos homens deve seguir a lei natural, razo de Deus por Ele ordenada. Todo
ser racional tem, inscrita em sua alma, a lei natural. O princpio de justia natural um
princpio de equilbrio entre o que se d e o que devido como suum. A lex naturalis
pretende que o homem alcance esse equilbrio.
SO TOMS DE AQUINO
As dimenses da teoria tomista sobre a justia so incrivelmente vastas.
Abrangem-se, com suas concepes, a atividade do legislador, a atividade do juiz, o que
pela natureza, por fora divina, e o que por fora de conveno. Mais que isso, todo este
aparato de classificaes permite explorar com certeza e clareza o terreno terico
elaborado por Tomas de Aquino para o cultivo de suas ideias. Ou seja, para alem da letra
do que concebeu como sendo o justo e o injusto, percebe-se a preocupao que
transparece de sua teoria de recobrir com apuro os diversos espectros pelos quais se
desdobra o problema. Com esta viso mais larga da justia, e, portanto, mais crtica, sua
resposta ao problema aparece mais completa e racional.
So Toms de Aquino se baseia em Aristteles para definir o que justo, como
tambm em Ulpiano chegando a concluso de que justia uma vontade constante e
perptua de dar a cada um o seu direito.
Sua contribuio reside em seu jus naturalismo, sendo que sua TEORIA ADMITE
UMA LEI NATURAL MUTVEL, e que, portanto, no se encontra nos ombros estreitos do
que absoluto. Ademais, sua concepo transcende para a lei divina, da qual faz derivar
tudo o que foi gerado por forca da razo divina. Nesse sentido, todo contedo de direito
positivo deve-se adequar as prescries que lhe so superiores e fontes de inspirao: o
direito natural e o direito divino. Nesse sentido, o direito transcende a lei escrita; a lei
posta pela autoridade no exaure o Direito.
Alm disso, resta como resposta ao que seja o justo, ou melhor, a qual seja o
conceito de justia: trata-se de um hbito virtuoso, de uma reiterao de atos
direcionados a um fim e voluntariamente concebidos pela razo prtica, no qual reside
A VONTADE DE DAR A CADA UM O QUE E SEU .
5. QUESTO: POSSVEL UMA JUSTIA SEM DEUS? UM DIREITO SEM DEUS? FALAR
SOBRE A NOO DE JUSTIA PARA OS CONTRATUALISTAS.
Sim, possvel uma justia sem Deus e i sso que os contratualistas vm trazer. O
conceito central do contratualismo a valorizao do individuo e no do divino, pois
fundado em uma poca minimalista atende a dois princpios: a legitimidade da auto-
preservao e a ilegalidade do dano arbitrrio feito dos outros.
A autoridade legtima passou a ser encarada como coisa fundada em PACTOS
VOLUNTRIOS FEITOS PELOS SDITOS do Estado. O Estado ilimitado no sendo no
sendo s o ordenador do Direito Positivo, como o prprio criador da Justia.
Foram trs as condies para a consolidao na histria do pensamento poltico
das teorias contratualistas, no mbito de um debate mais amplo sobre o fundamento do
poder poltico:
1-Transformao da sociedade;
2-Que houvesse uma cultura poltica secular disposta a discutir a origem e os fins
do governo;
3-Tornar o contrato acessvel de uma forma analgica.
Na poca moderna, a tentativa de reduo do problema da justia pode ser
analisado, segundo Miguel Reale, sob as seguintes perspectivas:
a) a questo assume sentido predominantemente antropolgico (condio
existencial do homem); deslocamento do foco divino para o homem, capaz de criar seus
prprios acordos que lhe do segurana.
b) a justia passa a ser focalizada como tema autnomo, de carter poltico ou
jurdico, perdendo, assim, a sua substncia filosfica (chega-se ao ponto de estud-la em
termos estritamente cientfico-positivos com recursos das doutrinas da poca
contempornea);
c) a concepo autnoma da norma jurdica como criao autnoma da razo,
que faz brotar um sistema de Direito regulando aprioristicamente a realidade jurdica.
Nasce, da, a compreenso da justia como conformidade formal lei racional,
equivalente como tal realizao do bem;
d) com o homem sendo o centro da indagao, prevalece a ideia subjetiva da
CONVENO COMO UM ATO DE VONTADE QUE MODELA A SOCIEDADE e o Estado de
acordo com as variveis exigncias de justia (concepo individualista segundo a viso
antropolgica pessimista de Hobbes ou otimista de Rousseau);
e) como corolrio, a ideia da justia deixa de ser um ditame objetivo da razo
(segundo a natureza das coisas) para se transformar num ditame da vontade dos
indivduos que decidem sobre as matrias ou fatos que devam ser considerados
naturais.
EXISTE, POIS AQUI JUSTIA SEM DEUS, EM TERMOS DE QUE OS HOMENS
ACORDAM AQUILO QUE JUSTO ENTRE ELES MESMOS.
A ideia basica do contratualismo simples: A organizao social e as vidas dos
membros da sociedade em causa dependem, em termos de justificao, de um acordo,
passvel de se definido de muitas maneiras, que permite estabelecer os princpios bsicos
dessa mesma sociedade. A histria do contratualismo moderno ensinou-nos a ver melhor
que nenhuma das configuraes do argumento contratualista permite resolver todas as
questes complexas das comunidades humanas. Contudo, permanece como uma das
alternativas mais vlidas de construo terica nao fundada na autoridade.
O contratualismo moderno e, antes de mais, uma teorizao da legitimidade da
soberania poltica face a crise das instncias legitimadoras tradicionais. Surge, em grande
parte, como resposta a crescente desintegrao dos modelos medievais, sob presso dos
seus conflitos e tenses internas. Neste processo desempenharam papel importante,
entre muitos outros fatores, as guerras de religio, a emergncia do capitalismo moderno
e da burguesia, os comeos da cincia moderna, com profundas implicaes na
compreenso que o homem tinha de si mesmo, da natureza e do saber em geral. O
protagonista dos novos tempos , sem dvida, o individuo.
Neste contexto, designam-se contratualistas todas as concepes que, no mbito
da filosofia moral e poltica, pretendem justificar normas ou princpios do agir humano e
das instituies, atravs do apelo a um contrato (hipottico) celebrado entre indivduos
autnomos, livres e iguais, numa posio inicial adequadamente definida. No se trata, no
contratualismo, de uma descrio exata da realidade social e da dinmica dos elementos
e sistemas que a integram, mas antes de clarificar e resolver problemas de soberania, de
justificao das obrigaes polticas, normas sociais e formas de organizao poltica.
O modo como se definem as caractersticas de cada um dos trs elementos
nucleares do argumento contratualista da origem a diversas formas de contratualismo.
Existem diversas tipologias do contratualismo. Uma das mais correntes hoje e a que
distingue entre contratualismo poltico e contratualismo moral. O contratualismo poltico
preocupa-se com as questes associadas a ideia de justia: estrutura bsica da sociedade,
direitos e deveres dos cidados, exerccio do poder poltico. E o tipo de questes que
surge nas obras dos principais autores do contratualismo poltico: Hobbes, Locke,
Rousseau e Rawls.
Você também pode gostar
- FilosofiaDocumento12 páginasFilosofiaAndrezabrasil BrasilAinda não há avaliações
- RESPOSTA - Estudo Dirigido Do Texto para Que Filosofia 01Documento4 páginasRESPOSTA - Estudo Dirigido Do Texto para Que Filosofia 01jbisposAinda não há avaliações
- Modulo 1 - Filosofia - Pre-UniDocumento72 páginasModulo 1 - Filosofia - Pre-Unikuroneko.gomes3Ainda não há avaliações
- Aula Inaugural - Que É FilosofiaDocumento3 páginasAula Inaugural - Que É FilosofiahenriqueAinda não há avaliações
- A Filosofia e Seus Caracteres (Chauí)Documento4 páginasA Filosofia e Seus Caracteres (Chauí)LeandroFernandesDantasAinda não há avaliações
- Filosofia ConceitosDocumento14 páginasFilosofia ConceitosAngela LimaAinda não há avaliações
- Atividade de Filosofia - 2Documento5 páginasAtividade de Filosofia - 2Kessy AguiarAinda não há avaliações
- Atitude e Reflexão FilosóficaDocumento2 páginasAtitude e Reflexão FilosóficaNandinha AndradeAinda não há avaliações
- Apostila - Produzida - Filosofia Da EducaçãoDocumento32 páginasApostila - Produzida - Filosofia Da EducaçãoCmf Carnaubais100% (1)
- Apostila - Produzida - Filosofia Da EducaçãoDocumento33 páginasApostila - Produzida - Filosofia Da EducaçãoCmf Carnaubais100% (1)
- A Atitude Filosófica e A Demanda Da VerdadeDocumento9 páginasA Atitude Filosófica e A Demanda Da VerdadeDjito Macartney Maveto100% (2)
- Objeto, Programa e Desafios Da Filosofia Do DireitoDocumento4 páginasObjeto, Programa e Desafios Da Filosofia Do DireitoLorena ArrudaAinda não há avaliações
- A Universalidade e Particularidade Da FilosofiaDocumento5 páginasA Universalidade e Particularidade Da FilosofiaArmando Alberto MassingueAinda não há avaliações
- Conhecimento e Sua Importância Na Filosofia: by LvyDocumento4 páginasConhecimento e Sua Importância Na Filosofia: by Lvyliviareis936Ainda não há avaliações
- Apostila de Filosofia - 9º AnoDocumento25 páginasApostila de Filosofia - 9º AnoRaymakson CarvalhoAinda não há avaliações
- Apostila FiolosofiaDocumento102 páginasApostila FiolosofiaAdriano De Barros100% (1)
- Abordagem Introdutoria de Filosofia 12 Ano - Copy 2Documento8 páginasAbordagem Introdutoria de Filosofia 12 Ano - Copy 2Kîñø KanssasAinda não há avaliações
- Filosofia Juridica e É Tica - Aulas 1-2-3-4-5-6Documento132 páginasFilosofia Juridica e É Tica - Aulas 1-2-3-4-5-6Ana Claudia PannekAinda não há avaliações
- Para Que Serve A FilosofiaDocumento1 páginaPara Que Serve A FilosofiaMaria LucineteAinda não há avaliações
- Para Que FilosofiaDocumento28 páginasPara Que FilosofiaElvis Patrocínio QuimquimAinda não há avaliações
- LIVRO Aranha Maria Lucia de A Filosofia Da EducacaoDocumento36 páginasLIVRO Aranha Maria Lucia de A Filosofia Da EducacaoMarcel RBAinda não há avaliações
- FilosofiaDocumento4 páginasFilosofiaMarisa FreitasAinda não há avaliações
- RESUMO DA AULA DE FILOSOFIA DE 7 DE FEVereiroDocumento5 páginasRESUMO DA AULA DE FILOSOFIA DE 7 DE FEVereirogjao154Ainda não há avaliações
- Aula 01. Introdução À FilosofiaDocumento39 páginasAula 01. Introdução À FilosofiaPaulo Tarabai100% (2)
- Filosofia - O Que É FilosofiaDocumento77 páginasFilosofia - O Que É Filosofiaqimyabr100% (1)
- A Filosofia É Uma Disciplina Que Busca CompreenderDocumento2 páginasA Filosofia É Uma Disciplina Que Busca CompreenderLUZIANEAinda não há avaliações
- 1 O Que É FilosofiaDocumento4 páginas1 O Que É FilosofiaEvilane SallesAinda não há avaliações
- O Que e A FilosofiaDocumento20 páginasO Que e A FilosofiaMariana SofiaAinda não há avaliações
- Pinzetta e TrombettaDocumento18 páginasPinzetta e TrombettadfujiseAinda não há avaliações
- Divisões Da FilosofiaDocumento3 páginasDivisões Da FilosofiaAristoteles Filho VarjãoAinda não há avaliações
- Compêndio - Filosofia - 10 AnoDocumento104 páginasCompêndio - Filosofia - 10 AnoCarolina Rodrigues100% (1)
- Apostila ENEM Filosofia 2021Documento120 páginasApostila ENEM Filosofia 2021Marcus ViniciosAinda não há avaliações
- Ciência e Pesquisa Na Era DigitalDocumento4 páginasCiência e Pesquisa Na Era DigitalRenan NunesAinda não há avaliações
- Apostila de FilosofiaDocumento22 páginasApostila de FilosofiaRaymakson CarvalhoAinda não há avaliações
- Apostila ENEM Filosofia 2021 - CompactaDocumento108 páginasApostila ENEM Filosofia 2021 - CompactaMarcus Vinicios Pantoja da SilvaAinda não há avaliações
- Objetivos 1º TesteDocumento3 páginasObjetivos 1º TesteJoana CostaAinda não há avaliações
- Filosofia Teste 2711Documento4 páginasFilosofia Teste 2711António AbreuAinda não há avaliações
- Abordagem Do ConceitoDocumento6 páginasAbordagem Do ConceitoMuanacha MucaiboAinda não há avaliações
- Abordagem Introdutória À Filosofia e Ao FilosofarDocumento126 páginasAbordagem Introdutória À Filosofia e Ao FilosofarSecret Paradise100% (3)
- FilosofiaDocumento2 páginasFilosofiateteccf9Ainda não há avaliações
- Trabalho de FilosofiaDocumento13 páginasTrabalho de FilosofiaGoverno AmedeAinda não há avaliações
- FilosofiaDocumento23 páginasFilosofiaJunety DamasAinda não há avaliações
- FilosofiaDocumento9 páginasFilosofiaCasimiro Viriato da Ana0% (1)
- Qual É A Utilidade Da FilosofiaDocumento12 páginasQual É A Utilidade Da FilosofiaJuliano RossiAinda não há avaliações
- Texto 1. Filosofia - Definição.1Documento7 páginasTexto 1. Filosofia - Definição.1Vitória De NisAinda não há avaliações
- 1 2 3 MergedDocumento63 páginas1 2 3 Mergedjosecarlosxavierr2023Ainda não há avaliações
- Fundamentos Filosóficos Da Educação - Módulo IDocumento23 páginasFundamentos Filosóficos Da Educação - Módulo Ijosecarlosxavierr2023Ainda não há avaliações
- Material ApoioDocumento121 páginasMaterial ApoioAna Margarida DiasAinda não há avaliações
- Importância e Finalidades Do Estudo Da Filosofia Do Direito - JusbrasilDocumento6 páginasImportância e Finalidades Do Estudo Da Filosofia Do Direito - Jusbrasilbidib29875Ainda não há avaliações
- 11 Classe CDocumento10 páginas11 Classe CHidepolto Himerson JoseAinda não há avaliações
- Norman L. Geisler e Paul D. Feinberg - Introdução À FilosofiDocumento13 páginasNorman L. Geisler e Paul D. Feinberg - Introdução À FilosofiLourival NetoAinda não há avaliações
- FilosofiaDocumento7 páginasFilosofiaMatsuke artAinda não há avaliações
- Filosofia - OrigemDocumento10 páginasFilosofia - Origemwh42m9m9c9Ainda não há avaliações
- Filosofia JuridicaDocumento23 páginasFilosofia JuridicaLucas MendesAinda não há avaliações
- O Que É A FilosofiaDocumento7 páginasO Que É A Filosofiacarla matiasAinda não há avaliações
- Descobrindo A FilosofiaDocumento26 páginasDescobrindo A FilosofiaMelaine NoerosAinda não há avaliações
- Objectivos de Filosofia para o Teste 1Documento9 páginasObjectivos de Filosofia para o Teste 1bebeioAinda não há avaliações