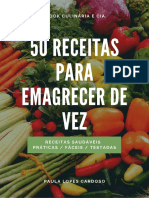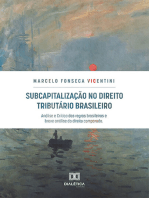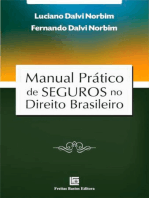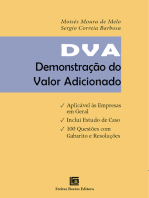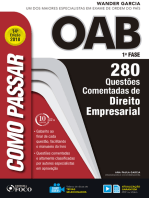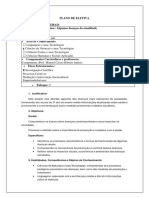Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Apostila Comex
Apostila Comex
Enviado por
Bruno GomesTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Apostila Comex
Apostila Comex
Enviado por
Bruno GomesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Comrcio Exterior
Braslia, 2006
Diretor-Presidente
Alberto Borges Matias
Instituidores Responsveis
Carlos Alberto Campello
David Forli Inocente
Gestor de Operaes
Joo Delo
Professor Autor
Comrcio Exterior
Prof. Jos Lopes Vazquez
O autor responsvel pelo contedo.
Reitor
Lauro Morhy
Vice-Reitor
Timothy Martin Mulholland
Diretor
Bernardo Kipnis
Coordenadora Pedaggica
Maria de Ftima Guerra de Sousa
Designer Educacional
Bruno Silveira Duarte
Ilustradores do Projeto
Carlos Miguel Rodrigues; Andr
Tunes; Tatiana Tibrcio; Ribamar
Arajo e Paulo Rodrigues
Capa
Rodrigo Mafra e Eduardo Miranda
Editorao
Alissom Lazaro; Evaldo Abreu;
Gibran Lima e Tlyo Nunes
Universidade de Braslia UnB
Centro de Educao a Distncia CEAD
Campus Universitrio Darcy Ribeiro, Multiuso 1
Bl. B Ent. B1/14 CEP: 70919-790 Braslia-DF
Tel (61) 3349-0996 Fax (61) 3307-3048
www.cead.unb.br cead@unb.br
INEPAD Instituto de Ensino e Pesquisa em
Administrao
Rua Marechal Rondon, 571 Jardim Amrica
CEP: 14020-220 Ribeiro Preto-SP
Tel (16) 3911-2212
www.inepad.org.br secretaria@inepad.org.br
SUMRIO
APRESENTAO ...................................................................................................... 7
TEMA 1 - TEORIAS CLSSICAS DO COMRCIO INTERNACIONAL ....................................... 9
TEMA 2 - BARREIRAS AO COMRCIO INTERNACIONAL .................................................. 23
TEMA 3 - DIREITO INTERNACIONAL E COMRCIO EXTERIOR ......................................... 35
TEMA 4 - BLOCOS ECONMICOS E ORGANISMOS REGIONAIS ...................................... 43
TEMA 5 - MERCADO CAMBIAL ................................................................................... 61
TEMA 6 - OPERAES FINANCEIRAS E NEGCIOS INTERNACIONAIS ............................... 79
TEMA 7 - TAXA DE CMBIO ....................................................................................... 91
TEMA 8 - TRIBUTAO NO COMRCIO EXTERIOR ......................................................... 97
TEMA 9 - REGIMES ADUANEIROS ESPECIAIS ................................................................107
SIGLAS, TERMOS TCNICOS E GLOSSRIO ............................................116
BIBLIOGRAFIA BSICA ....................................................................................118
APRESENTAO
Este material apresenta temas cuidadosamente selecionados e contm
no apenas teorias, doutrinas, prticas comerciais, tributrias e bancrias
mas tambm dispositivos jurdicos brasileiros em sua relao imediata
com a malha internacional da exportao e importao.
O pensamento dominante no planejamento e elaborao desse mate-
rial foi o de buscar um canal capaz de levar saber e conhecimento para sua
vida prossional e seus projetos pessoais.
A matria vale tanto para pessoas que j esto prossionalmente na rea
como para pessoas que desejam conhecer a natureza do comrcio exterior.
Inicialmente voc perceber que o modo como a matria se apresenta ir
pedir bastante ateno. Mas isso natural.
Um texto como uma casa. preciso entrar, olh-la e v-la pessoalmen-
te para sabermos bem o que ela tem por dentro. Acontecer que, progres-
sivamente, voc se familiarizar com os temas e com o processo de exposi-
o adotado. Chegar o momento em que as temticas passaro a ganhar
espao em sua mente, e a despertar suas habilidades, e a consolidar suas
competncias.
O mdulo desenvolver a matria na base de nove temas. Veja os t-
tulos: teorias clssicas sobre comrcio exterior, barreiras ao comrcio interna-
cional, direito internacional e comrcio exterior, blocos econmicos, mercado
cambial, operaes nanceiras e pagamentos, taxa de cmbio, tributao no
comrcio exterior, e regimes aduaneiros especiais.
Cada um desses temas levar a voc um conjunto de informaes que
lhe daro uma idia sobre aquilo que mais ocupa o centro de atenes dos
estudiosos, dos empresrios, dos governos, dos bancos, dos scais, e dos
trabalhadores no campo do comrcio exterior.
A m de facilitar o acompanhamento da exposio, h uma tbua de si-
glas, glossrio e termos tcnicos mais usados. Uma bibliograa bsica nal
ajudar voc a ampliar suas leituras e a descobrir um caminho para novos
conhecimentos.
Bom estudo!
TEMA 1
TEORIAS CLSSICAS DO
COMRCIO INTERNACIONAL
10
TEMA 1
TEORIAS CLSSICAS DO
COMRCIO INTERNACIONAL
TEMA 1 - TEORIAS CLSSICAS DO COMRCIO INTERNACIONAL
Objetivos do Tema
Apresentar os fundamentos que norteiam o comrcio internacional, em sua
ntima conjugao com a realidade do mercado brasileiro, no duplo captulo das
semelhanas e das diferenas.
Conhecer a essencialidade das trs teorias clssicas que ajudaro a entender
melhor o jogo do comrcio exterior.
1.1 ALGUMAS OBSERVAES SOBRE O MERCADO INTERNACIONAL
Muitas vezes as pessoas imaginam que o mercado internacional apenas um
mero prolongamento do mercado domstico. Mas mais do que isso. No fundo,
os dois se assemelham na medida em que tratam de compras e vendas de bens
e servios. Tambm verdade que o mercado internacional pode ser analisado
mediante a aplicao dos mesmos critrios e mtodos comumente utilizados
para a explicao do comrcio interno.
Ambos, comrcio interno e internacional, se encontram alicerados no atendi-
mento das necessidades e desejos dos indivduos . E neste aspecto, esto muito
prximos.
Outra aproximao pode ser feita quando examinamos os motivos que do
origem aos dois tipos de comrcio, o internacional e o nacional. O principal mo-
tivo, tanto para regies como para pases, reside na impossibilidade de uns e
outros produzirem vantajosamente todos os bens e servios para atender as ne-
cessidades de demanda de seu mercado interno . Isto proveniente de fatores
diversos, dentre os quais pode-se destacar a desigualdade na distribuio geo-
grca dos recursos naturais, as diferenas de clima e de solo e as diferenas nos
processos de produo.
1.1.1 Desigualdades e diferenas entre o comrcio domstico e o in-
ternacional
Algumas regies ou pases so possuidores de recursos naturais que
outros no tm. O carvo abundante na Amrica do Norte e em alguns
pases europeus, enquanto que escasso em outras regies. O petrleo,
de igual forma, pode ser encontrado apenas em determinadas regies .
O Estado de Minas Gerais possui abundncia de minrio de ferro ao con-
trrio de outros Estados que no possuem jazidas deste mineral ou, ento,
o possuem em menores quantidades.
As diferenas de clima e de solo tambm contribuem para essa de-
sigual distribuio. A cana-de-acar e o caf, por exemplo, podem ser
produzidos em larga escala em certas regies do Brasil. E o trigo apre-
senta melhor produtividade em pases como a Rssia e a Argentina,
ao contrrio dos pases de climas quentes, como nos de vrias regies do
continente africano.
Estes e outros fatores de origem natural fazem com que alguns pases tenham
a possibilidade de produzir determinados produtos, enquanto que outros no
tm essa mesma possibilidade. Alm do mais, oportuno ressaltar que, mesmo
quando h igualdade de condies quanto ao aspecto fsico da produo, pode-
r ser mais interessante produzir os mesmos bens em outras regies, em funo
de uma simples diferena de preos dos recursos produtivos, tributos etc.
11
TEMA 1
TEORIAS CLSSICAS DO
COMRCIO INTERNACIONAL
No ambiente internacional sempre bom considerar, tambm, as diferenas
de preos provenientes das relaes de valor das diferentes moedas. Em conse-
qncia, torna-se mais vantajoso, para cada pas e regio, aplicar o princpio da
diviso de trabalho, buscando a especializao naquelas atividades produtivas
que oferecerem melhores condies e vantagens deixando como alternativa a
permuta dos produtos entre si.
1.1.2 Semelhanas entre comrcio domstico e o internacional
Ainda no tocante s caractersticas dos dois tipos de comrcio, outros pontos
de semelhana podem ser encontrados. Tanto o comrcio internacional quanto
o comrcio interno de pases e regies tm como ponto fundamental a troca de
determinados bens e servios. De igual modo, ambos envolvem compradores e
vendedores, benefcios mtuos para as partes, polticas de produo e de vendas,
problemas de assistncia creditcia, preferncias de consumidores, faturamento,
detalhes de transportes, seguros domsticos e internacionais da carga transporta-
das, e no caso especco de comrcio externo, seguro de crdito exportao etc.
1.1.3 Algumas diferenas importantes entre comrcio domstico e o inter-
nacional
Apesar de tudo, no obstante a existncia dessas semelhanas, possui o co-
mrcio internacional tantos pontos divergentes em relao ao comrcio interno,
que se justica o seu tratamento como assunto parte.
Essas diferenas podem ser sistematizadas da seguinte maneira, observando-
se o grau de mobilidade dos fatores de produo:
A mobilidade de fatores no mercado interno
Embora a mobilidade dos fatores ocorra tanto no mercado interno como no
internacional, ela apresenta-se em maior grau no campo interno do que no inter-
nacional, especialmente em relao ao fator-trabalho.
Se, por exemplo, para a instalao de uma determinada indstria no interior
de So Paulo So Jos do Rio Preto, por exemplo - se zer necessria uma pro-
duo complementar na cidade de So Paulo, o deslocamento de mquinas ou
de equipamentos produzidos pela indstria paulistana para aquela regio far-
se- sem maiores diculdades de ordem jurdica, poltica etc. De igual forma, se
em uma regio houver falta de mo-de-obra, ao mesmo tempo em que outra se
registra excesso dela, natural que em virtude disso se produzam movimentos
migratrios, que num curto prazo podero atender a diculdade, antes apresen-
tada, de falta de mo-de-obra. No caso de um empreendimento a ser feito, se
uma regio necessitar de recursos nanceiros lgico pensar que os necessrios
recursos no deixaro de aparecer desde que a regio oferea adequada com-
pensao aos donos do capital que se dispem a investir no local.
A mobilidade de fatores no mercado internacional
No mercado internacional a mobilidade de fatores muito menor, por uma
srie de motivos. Assim como observa Killough (In: Ratti, 2000:342), a especia-
lizao prossional, associaes, laos de famlia, costumes, idioma e legislao
imigratria restritiva retardam os movimentos de trabalhadores de um para ou-
tro pas. H pases como o Brasil que no oferecem maiores diculdades entra-
da de estrangeiros. O mesmo no acontece em certos pases como, por exemplo,
nos Estados Unidos, onde a legislao imigratria e as associaes prossionais
dicultam grandemente a entrada de trabalhadores de outras nacionalidades.
12
TEMA 1
TEORIAS CLSSICAS DO
COMRCIO INTERNACIONAL
Transferncia de matrias-primas e outros produtos
As transferncias de matrias-primas e de outros produtos tambm esto su-
jeitas a restries de diversas naturezas. Alm das barreiras aduaneiras, existem
outros impedimentos como as quotas de importao, regulamentos sanitrios,
proteo aos produtores locais etc.
Diculdades e riscos de movimentao de capitais nanceiros
O mesmo ocorre em relao aos capitais nanceiros, cuja movimentao pode
ser dicultada ou, em casos extremos, impedida de entrar em determinados pa-
ses. Isso sem mencionar os maiores riscos a que esto sujeitos, como o caso do
risco poltico e cambial. O risco poltico est condicionado implementao de
regras e regulamentos que se manifestam sob a forma de nacionalizao, desa-
propriao e consco. O risco cambial, por sua vez, causado pela variao da
taxa de cmbio entre duas moedas que podem causar exposies de natureza
contbil e econmica ao detentor do capital nanceiro
1.1.2 Natureza do mercado
No mercado interno predominam os fatores de coeso, enquanto no mercado
internacional a predominncia dos fatores de disperso.
1.1.2.1 fator de coeso no mercado interno
Quando se analisa o mercado interno de um pas, chama a ateno a unidade
de idioma, costumes, hbitos de comrcio, sistemas de pesos e medidas etc.
Essa unidade tende a padronizar os hbitos de consumo e os bens produzi-
dos, o que, indiscutivelmente, oferecer maiores facilidades para a adoo de um
sistema de produo em larga escala.
1.1.2.2 O fator de disperso no mercado internacional
No mercado internacional, porm, as diferenas existentes em relao aos as-
pectos apontados tornam problemtica essa padronizao. Uma empresa que
opere no mercado internacional dever se aprofundar no estudo dos hbitos
e comportamentos dos habitantes dos pases com os quais comercia. De igual
modo, dever adaptar os seus produtos de modo a atender, na medida do pos-
svel, s peculiaridades de cada populao. Isso, evidentemente, dicultar de
certo modo a aplicao de uma poltica de produo em massa.
1.1.3 Existncia de barreiras aduaneiras e outras restries
Durante a Idade Mdia, era comum a ocorrncia de barreiras aduaneiras
internas, condicionando o comrcio entre cidades de um mesmo pas. Tais
barreiras foram desaparecendo progressivamente, com o surgimento dos
Estados-Pases. Mas no totalmente. Elas ainda persistem no campo inter-
nacional.
Essas barreiras, juntamente com outras restries, alm de dicultarem a cir-
culao de mercadorias entre os pases, contriburam para o surgimento do
que se chama cobrana de direitos aduaneiros. Tal cobrana acarreta maiores
diculdades para as empresas que se dedicam ao comrcio internacional, uma
vez que devero ser considerados os reexos da cobrana desses direitos nos
preos de seus produtos e nas possibilidades de sua colocao junto aos con-
sumidores de outros pases.
13
TEMA 1
TEORIAS CLSSICAS DO
COMRCIO INTERNACIONAL
1.1.4 Longas distncias
Embora possa haver excees, as distncias a serem percorridas pelos pro-
dutos no campo internacional so, de modo geral, muitos maiores do que no
mercado interno, salvo excees especcas.
Alm das elevadas despesas com fretes, outros fatores devem ser
considerados. Entre esses fatores est o tempo gasto nos transportes
e sua inuncia sobre as condies fsicas dos produtos transporta-
dos. Esse fato implica a necessidade de embalagens e condies es-
peciais de transportes, entre outras coisas.
1.1.5 Variaes de ordem monetria
A utilizao de diferentes moedas no comrcio internacional um
dos fatores de distino comumente apontados no confronto entre o comrcio
interno e o internacional.
No mercado interno, inexiste o problema do poder liberatrio da moeda na-
cional. Todas as transaes realizadas internamente so liquidadas na moeda do
pas. No mercado internacional isso no ocorre. Exatamente por ser quase impos-
svel impor a um exportador que ele aceite como pagamento de sua exportao
outra moeda que no seja a de seu pas.
Surge assim a necessidade de se trocar diferentes moedas, para que as liqui-
daes nanceiras do comrcio internacional possam se efetivar. A est o pro-
blema do cmbio.
1.1.6 Variaes de ordem legal
No mercado interno, as transaes comerciais esto sujeitas a um mesmo sis-
tema legal, o que implica unidade de regulamentos, tributos etc., embora pos-
sam surgir pequenas variaes de uma regio para outra.
No mercado internacional, contudo, poder haver grandes diferenas entre os
sistemas legais, o que implica numa diversidade de critrios de arbitramento das
pendncias que porventura ocorram. Ainda que o Direito tenda a se universalizar,
essas distines persistem. Em conseqncia, deve o comerciante internacional
levar em considerao uma grande variedade de dispositivos e complexidades
de ordem legal, que inexistem quando se considera apenas o mercado interno.
1.1.7 A grande questo que aqui se debate
De que maneira um pas determinar o que lhe ser mais vantajoso Produzir,
exportar ou importar?
A resposta para esta pergunta pode ser encontrada nas Teorias Clssicas dos eco-
nomistas ingleses do sculo XIX sobre comrcio exterior, apresentadas a seguir.
1.2 AS TEORIAS SOBRE O MERCADO EXTERIOR
De acordo com Passos e Nogami (2005:522), por diversas questes que en-
volvem desde a sobrevivncia de uma nao at a satisfao de necessidades
menos vitais, fortes razes induzem os pases ao comrcio exterior de bens e
servios.
Entre essas razes pode-se citar:
as desigualdades entre as naes no tocante s reservas no reprodutivas (re-
cursos naturais);
14
TEMA 1
TEORIAS CLSSICAS DO
COMRCIO INTERNACIONAL
diferenas internacionais no tocante a fatores climticos (que so determina-
dos por fatores relativamente estticos como altitude, latitude, topograa e
tipo de superfcie) e a fatores edcos (natureza e distribuio de solos);
desigualdades nas disponibilidades estruturais de capital e trabalho; e
diferenas nos estgios de desenvolvimento tecnolgico.
a partir da combinao desses quatro fatores que surge a diviso interna-
cional do trabalho, a especializao das naes. Por decorrncia, o comrcio ex-
terno tem contribudo, contnuo e persistentemente, para a internacionalizao
dos processos econmicos e, inegvel, para o gradativo aumento das taxas de
dependncia de cada economia com relao ao resto do mundo.
Trs so as principais teorias que procuram explicar a existncia do comrcio
internacional. A primeira a chamada Teoria da Vantagem Absoluta. Seu formu-
lador foi Adam Smith (1723-1790), economista ingls, que a desenvolve em seu
livro Uma Pesquisa sobre a natureza e as causas da Riqueza das Naes (Inquiry into
the nature and the causes of the Wealth of the Nations), publicado em 1776.
A segunda, a Teoria das vantagens comparativas de David Ricardo (1772-1823),
considerado o mais legtimo sucessor de Adam Smith, aperfeioou as idias con-
tidas na Teoria da Vantagem Absoluta.
A terceira chama-se Teoria da Demanda Recproca, e foi desenvolvida por John
Stuart Mill(1806-1873), lsofo e economista ingls, em Princpios de economia po-
ltica com algumas de suas aplicaes losoa social (Principles of political economy
and some of the applications to social philosophy) em 1848, obra que se tornou no
principal guia dos estudos em economia no sculo XIX, durante muitos anos.
1.2.1 A TEORIA DAS VANTAGENS ABSOLUTAS DE ADAM SMITH
A Teoria das Vantagens Absolutas mostra em que condies determinado pro-
duto ou servio pode ser oferecido, com preos de custos inferiores aos dos con-
correntes. Em geral, essa situao criada pela especializao, mas no caso de
produtos agrcolas, a condio climtica fundamental.
A teoria ca mais clara quando dizemos que um pas tem uma vantagem ab-
soluta na produo de um determinado produto, ao ser comparado com outro
pas produtor.
Isso signica que as necessidades de insumo por unidade de produto na in-
dstria so menores em certos pases do que em outros. Para entender melhor,
compare dois pases, Rssia e Inglaterra, ambos produtores de trigo e ao.
Na Rssia, um operrio poder produzir por ano, por exemplo , 30 unidades de
trigo ou seis unidades de ao. Procurando entender melhor: se, nessa perspecti-
va, um operrio resolver produzir 30 unidades de trigo, produzir zero unidades
de ao. Se resolver produzir seis unidades de ao, produzir zero unidades de tri-
go. Tudo vai depender da maneira como ele vai distribuir seu tempo de trabalho.
Se ele distribuir o tempo de produo pelos dois artigos, poder produzir, por
exemplo, 15 unidades de trigo e trs unidades de ao. Outras combinaes de
produo tambm so possveis. Isso, na Rssia.
Por outro lado, na Inglaterra, um operrio poder produzir 20 unidades de
trigo ou dez unidades de ao ou, ento, uma combinao dos dois, se resolver
distribuir seu tempo na produo de ambos.
Com base nas hipteses assinaladas acima, pode-se construir uma tabela
contendo as alternativas de produo, tal como apresentada abaixo:
15
TEMA 1
TEORIAS CLSSICAS DO
COMRCIO INTERNACIONAL
Quadro 1.1
Possibilidades de produo por homem/ano
PAS TRIGO AO
RSSIA 30 ou 6
INGLATERRA 20 ou 10
Observa-se que a Rssia tem uma vantagem absoluta na produo de trigo e
a Inglaterra uma vantagem absoluta na produo de ao.
Assim, de acordo com Adam Smith, a Rssia se especializar na produo de
trigo e a Inglaterra na produo de ao, trocando entre si, posteriormente, os
excedentes de produo.
A condio de vantagem absoluta pode, entretanto, sofrer restries em ter-
mos de comrcio internacional. comum que novos produtores ou fabricantes
peam medidas protecionistas ao Estado. O argumento fundamental tese da
indstria nascente que s com essa proteo a indstria nacional poderia
desenvolver-se e criar novos mercados. Um exemplo o da indstria automo-
bilstica brasileira: a economia de escala (vantagem absoluta) conseguida tantos
nos EUA como na Europa, tornava invivel um parque automobilstico brasileiro;
apenas o protecionismo do Estado, sobretaxando a importao permitiu que a
produo local, embora mantida por multinacionais, se desenvolvesse e chegas-
se a concorrer no mercado mundial.
1.2.2 TEORIA DAS VANTAGENS COMPARATIVAS (OU DOS CUSTOS COMPA-
RATIVOS)
O conceito de custos foi introduzido na teoria de comrcio exterior pelo econo-
mista ingls David Ricardo em 1817. Relacionam-se os custos de produo dos
produtos A e B, produzidos por dois pases distintos, N e W, comparando-os. Os
custos de produo do produto A so expressos em relao aos custos de produ-
o do produto B. Possui a vantagem comparativa o pas onde for menor a rela-
o de custos de produo dos produtos A e B. Ricardo introduziu esse conceito
como prova de que vantajosa para um pas sua especializao internacional.
Ricardo aperfeioou o modelo de Smith, mostrando que, para que os pases
se beneciem dessa atividade, necessrio que apenas haja vantagens compa-
rativas. Desse modo, na hiptese de comrcio entre dois pases, poderia ocorrer
que um pas obtivesse vantagens absolutas na produo de todos os bens em
relao ao seu parceiro.
Nesse caso, a teoria das vantagens comparativas esclarece que, mesmo assim,
benco o comrcio entre dois pases, desde que a desvantagem absoluta no
seja da mesma quantia em todas as linhas de produo. Em outras palavras, as
trocas bencas entre pases so possveis sempre que a capacidade relativa de
produzir bens for diferente entre eles, quer dizer, sempre que um pas tiver uma
vantagem comparativa, mesmo que seja absolutamente mais ou menos produ-
tivo que o outro na produo de todos os bens (Willianson, 1996). A condio
bsica para a existncia de comrcio seria apenas que o custo de oportunidade
de produzir um bem fosse diferente entre diferentes pases.
No contexto da teoria clssica, as diferenas nos custos comparativos existem
somente quando os pases apresentam diferentes funes de produo, ou seja,
o grau de especializao de cada pas depender de sua funo de produo.
16
TEMA 1
TEORIAS CLSSICAS DO
COMRCIO INTERNACIONAL
Quadro 1.2
Possibilidades de produo por homem/ ano
PAS TRIGO AO
RSSIA 18 ou 6
INGLATERRA 20 ou 10
Neste caso, a Inglaterra possui uma vantagem absoluta sobre a Rssia na pro-
duo dos dois produtos. De acordo com Adam Smith, no haveria a especializa-
o da produo, nem a troca entre os dois pases.
O grande mrito de Ricardo foi mostrar que o comrcio tambm ser provei-
toso para os dois pases, mesmo que um deles tenha vantagem absoluta sobre o
outro na produo de todas as mercadorias. Sua vantagem, porm, sempre ser
maior em alguns produtos do que em outros. Dito de outra maneira, devem ser
consideradas no as vantagens absolutas, mas sim as vantagens comparativas
ou relativas.
No Quadro 1.2 nota-se que, embora a Inglaterra tenha uma vantagem ab-
soluta sobre a Rssia na produo dos dois artigos, sua vantagem maior na
produo de ao (10 contra6) e menor na produo de trigo (20 contra18). Assim,
a Inglaterra tem uma vantagem comparativa na produo de ao (onde sua van-
tagem absoluta maior) e uma desvantagem comparativa na produo de trigo
(onde sua vantagem absoluta menor).
A Rssia, por sua vez, tem uma vantagem comparativa na produo de trigo,
onde sua desvantagem comparativa menor, e uma desvantagem comparativa
na produo de ao, onde sua desvantagem comparativa maior.
Desse modo, compensar Inglaterra especializar-se na produo de ao e
Rssia a especializao na produo de trigo, trocando entre si os excedentes de
produo.
1.2.3 Custos de Oportunidade
Embora de grande utilidade, a teoria das vantagens comparativas apresentava
uma limitao muito sria, por estipular que as relaes de valores entre dois
bens eram determinados pelas quantidades de trabalho incorporadas na produ-
o de cada um deles.
Um trabalhador, durante um certo perodo de tempo, pode produzir 30 unida-
des de trigo ou 15 unidades de ao. Portanto, 30 unidades de trigo valeriam tanto
quanto 15 unidades de ao. Isto signica que o valor de uma unidade de ao
igual a duas unidades de trigo e o valor de uma unidade trigo seria igual a meia
unidade ao. A relao de valor considera, portanto, um nico fator de produo : o
trabalho.
Na realidade, porm, h uma srie de outros fatores de produo que tambm
tm sua participao no processo produtivo, como a terra, as matrias-primas,
os capitais, as tecnologias etc. Todos esses fatores, portanto, devem ser conside-
rados.
Em 1933, Gottfried Von Haberler procurou renar a Teoria das Vantagens Com-
parativas, introduzindo o conceito de custo de oportunidade, o qual permite con-
siderar todos os fatores de produo e no apenas o fator trabalho.
Segundo Haberler (In: Ratti, 2000:359) que, com uma certa dotao de recursos,
um pas pode produzir vrias combinaes de mercadorias. Consideremos apenas
dois produtos: trigo e ao. Com os recursos de que dispe e admitindo-se o pleno
17
TEMA 1
TEORIAS CLSSICAS DO
COMRCIO INTERNACIONAL
emprego de fatores de produo, o pas poder produzir apenas trigo ou apenas
ao ou, ainda, ou fazer combinaes de dois produtos, como vamos exemplicar
a seguir.
Quadro 1.3
Possibilidades de Produo na relao de quantidades
COMBINAES TRIGO AO
A 400 0
B 300 150
C 200 300
D 100 450
E 0 600
Colocando esses valores em um grco, teremos o seguinte:
Grco 1.1
Curva de possibilidades de produo
Observando o Quadro 1.3 nota-se que a tabela mostra apenas algumas das
possveis combinaes. Na realidade, qualquer ponto localizado na reta, apresen-
tada no Grco 1.1 indica uma combinao possvel. Acima da reta no poss-
vel. Abaixo da reta possvel; porm, seria uma combinao que, ou no estaria
utilizando plenamente todos os fatores de produo (capacidade ociosa) ou, en-
to, no estaria obtendo o mximo de aproveitamento desses fatores.
Essa curva (no caso, uma reta) conhecida como curva de possibilidades de
produo, e nos mostra as combinaes mximas entre dois bens que a socieda-
de est apta a produzir (Passos, Nogami, 2005:54).
Os preos ou custos do trigo sero expressos em termos de ao e vice-versa.
No grco, a linha reta representa no apenas a curva de possibilidades de pro-
duo dos dois artigos, mas tambm a relao de valor (preos) entre eles, dada
pela inclinao da reta.
Quanto mais ao for produzido, menor ser a produo de trigo. Por outro
lado, se quisermos produzir mais trigo teremos de produzir menos ao. O custo
de oportunidade corresponde ao nmero de unidades de um produto que deve-
ro ser sacricadas para que se possa produzir uma unidade do outro produto.
18
TEMA 1
TEORIAS CLSSICAS DO
COMRCIO INTERNACIONAL
Exemplo: Examinando o Quadro 1.3 pode-se vericar que para um pas pro-
duzir 150 unidades de ao (A) deve deixar de produzir 100 unidades de trigo
(T). Estes dados permitem estabelecer a seguinte relao de que 100 unidades
de trigo so iguais a 150 unidades de ao. Desta forma, podemos dizer que uma
unidade de trigo equivale a 1,5 unidades de trigo, ou que uma unidade de ao
equivalente a 0,67 unidades de trigo.
No caso focalizado, a curva de possibilidades de produo representada por
uma reta. Isso signica que os custos de produo (custos de oportunidade), tan-
to do trigo como do ao, so constantes. Isto signica dizer que o custo para
produzir uma unidade adicional do produto ser sempre idntico ao custo da
unidade anterior produzida.
Quando os custos de oportunidade foram crescentes, ou seja, quando o custo
de cada unidade produzida for superior ao custo da unidade anteriormente pro-
duzida, a curva de possibilidades de produo deixa de ser uma reta, passando
a ser cncava em relao origem.
Figura 1.2
Curva de possibilidades de produo com custos de oportunidade crescente
No caso apresentado na Figura 1.2, teremos diferentes custos de oportunidade
para cada ponto da curva. No ponto C, por exemplo, a relao de custos repre-
sentada pela inclinao da reta tangente PP. Conforme o ponto que escolhermos
na curva, teremos retas com diferentes inclinaes e, portanto, diferentes rela-
es de custos.
1.2.4 TEORIA DA DEMANDA RECPROCA
Na exposio anterior vericou-se que David Ricardo havia formulado sua
teoria da vantagem comparativa comparando o custo de produo de uma uni-
dade de uma mesma mercadoria em dois pases diferentes. Portanto, a base de
comparao a unidade do produto. Exemplicando:
100 toneladas de acar no pas A custam 80 horas/homem;
100 toneladas de acar no pas B custam 120 horas/homem.
Posteriormente, John Stuart Mill formulou a Teoria da Demanda Recproca de
modo inverso a Ricardo. Na teoria de Stuart Mill, a base no ser mais a unidade
do produto, mas o que em um determinado nmero de horas dois pases dife-
19
TEMA 1
TEORIAS CLSSICAS DO
COMRCIO INTERNACIONAL
rentes podem produzir. Seno vejamos:
Em 10 horas o pas A produz 20 toneladas de ao;
Em 10 horas o pas B produz 10 toneladas de ao.
Aparentemente a diferena parece no ser grande, mas pelas anlises que se
pode fazer , as verdadeiras diferenas se tornaro mais claras. Antes de mais
nada, observa-se que Mill procura evidenciar a ecincia comparativa, conforme
apresentado no Quadro 1.4.
Quadro 1.4
Produo comparativa entre dois pases
INSUMO DE
TRABALHO
(HOMENS/
HORA)
PAS PRODUO DE
AO
(toneladas)
PRODUO DE
TRIGO
(toneladas)
10 A 20 20
10 B 10 15
No quadro acima verica-se que pas A tem vantagem absoluta nos dois pro-
dutos apresentados (ao e trigo). Mas tem maior vantagem comparativa no ao.
Por outro lado, o pas B no tem vantagem absoluta nos dois produtos. Tem me-
nor desvantagem comparativa no trigo.
Se no houver comrcio entre os dois pases, as trocas sero apenas internas
e nas seguintes condies:
O pas B pode trocar 10 toneladas de ao por 15 toneladas de trigo na base de
10 homens/horas;
O pas A pode trocar 10 toneladas de ao por 10 toneladas de trigo tomando
por base 5 homens/horas.
Admitindo-se que o pas B est disposto a vender 15 toneladas de trigo por
11 toneladas de ao, pode-se considerar que est havendo a um bom negcio,
exatamente porque o custo de produo de 15 toneladas de trigo nesse pas
equivale ao custo de produo de 10 toneladas de ao. Vamos admitir ainda que
o pas A aceite vender 11 toneladas de ao por 15 toneladas de trigo. Tambm
um bom negcio porque o custo de produo no pas A de 11 toneladas de
ao, que equivalem a 11 toneladas de trigo.
Diante dos nmeros acima, B exportaria trigo para A e compraria ao de A,
desde que tivesse nisso alguma vantagem. Dito de outra maneira, haver vanta-
gem para o pas B: se este conseguir trocar pelo menos, mais de 10 toneladas de
ao por 15 toneladas de trigo (ou + 10A : 15tr.);
Por sua vez, o pas A ter vantagem se conseguir trocar pelo menos, 10 tone-
ladas de ao por mais de 10 toneladas de trigo.
As condies sero vantajosas se os pases conseguirem fazer trocas externas
mais vantajosas que as trocas internas. Ser vantajoso para A trocar 10 toneladas
de ao por mais de 10 toneladas de trigo e para B trocar mais de 10 toneladas de
ao por 15 toneladas de trigo. Esses nmeros constituem os limites de possibili-
dade de troca, como est representado no Quadro 1.5.
20
TEMA 1
TEORIAS CLSSICAS DO
COMRCIO INTERNACIONAL
Quadro 1.5
Limites de possibilidade de troca mostrados em grco
PAS AO TRIGO
A 10 toneladas Por + 10 toneladas
B + 10 toneladas Por 15 toneladas
Portanto, poder ser realizado o comrcio entre os dois pases dentro desses
limites. Porm h um fator novo que vai estabelecer o valor exato de troca. Esse
fator a demanda por essas mercadorias nos dois pases. Da o nome de Teoria
da Demanda Recproca.
De acordo com essa teoria, o comrcio se realizar quando os preos equa-
lizarem as demandas nos dois pases. Em outras palavras, suponhamos que os
preos desses produtos sejam:
Quadro 1.6
Grau de interesse de troca
Valor de Troca Demanda de A Demanda de B
A = ao
Tr = trigo
Grau de interesse Grau de interesse
10A :10Tr
No h interesse em
comprar trigo de B
H interesse em
comprar ao de A
Em face da situao acima, B prope nova condio de troca.
Quadro 1.7
Condio de Troca
Valor de Troca Demanda de A Demanda de B
10A : 12Tr H interesse, porm a
demanda pequena
Continua grande
interesse
Para que haja comrcio, B melhora as condies de troca.
Quadro 1.8
Nova Condio de troca
Valor de Troca Demanda de A Demanda de B
10A :14Tr
Aumenta o
interesse de A
H interesse de B
Agora, supondo que as condies de troca fossem tal como apresentadas no
quadro abaixo, tem-se uma nova possibilidade de troca.
21
TEMA 1
TEORIAS CLSSICAS DO
COMRCIO INTERNACIONAL
Quadro 1.9
Condio de Troca
Valor de troca Demanda de A Demanda de B
10A : 15Tr H interesse H pouco interesse
10A : 20Tr
H alto interesse de A
na troca
Neste caso, no h
interesse de B na troca
Desta forma , sucessivamente, os preos vo se alterando at chegar ao ponto
de equilbrio, que poderia ser 10 toneladas de ao por 14 toneladas de trigo.
Entretanto, essa relao de troca (10A : 14Tr) se altera de acordo com a maior
ou menor demanda pelos respectivos produtos. Essa demanda sofre os efeitos
dos problemas conjunturais que podem determinar a maior ou menor necessi-
dade de mercadorias negociadas em cada pas.
Deste modo, luz das Teorias Clssicas do Comrcio Internacional (Vantagens
Absolutas, Vantagens Comparativas e da Demanda Recproca), pode-se dizer que
vivel a troca de produtos sempre que os pases tiverem recursos semelhantes
em economias de escala. A utilizao de novas tecnologias enseja um rendimen-
to crescente de escala.
ANOTE
TEMA 2
BARREIRAS AO COMRCIO
INTERNACIONAL
24
TEMA 2
BARREIRAS AO COMRCIO
INTERNACIONAL
TEMA 2 - BARREIRAS AO COMRCIO INTERNACIONAL
Objetivos do Tema
Mostrar o protecionismo adotado por certos Estados no que toca defesa de
algumas de suas matrias-primas e entrada de capital estrangeiro.
Evidenciar como os pases organizam seus esquemas protecionistas
concretizados em barreiras alfandegrias, em taxas mltiplas de cmbio para
estimular a exportao, e em subsdios a certos produtos nacionais a m de os
tornarem mais competitivos
Mostrar que, apesar do estatuto do livre comrcio internacional, h tacitamente
ou declaradamente limites na concorrncia mundial e os Estados procuram se
proteger contra o dumping
1
, os trustes
2
e os cartis
3
internacionais.
2.1 PROTEO PRODUO
Embora se pregue, at com ardor, o livre comrcio, as naes preocupam-se
em proteger sua produo nacional.
Anal, a invaso de produtos vindos do exterior, acaba tomando o lugar da-
queles que so produzidos domesticamente. E com eles, vo-se as matrias-pri-
mas (que seriam adquiridas), o trabalho (o emprego) e o capital.
A teoria econmica estabelece que os recursos produtivos (tambm denomi-
nados fatores de produo) so elementos utilizados no processo de fabricao
dos mais variados tipos de mercadorias, as quais, por sua vez, so utilizadas para
satisfazer necessidades e desejos. O trabalho, a terra, as matrias-primas, os com-
bustveis, a energia e os equipamentos so, entre outros, exemplos de recursos
produtivos. Estes recursos produtivos podem ser classicados em quatro gran-
des grupos: terra, trabalho, capital e capacidade empresarial.
Assim, com o objetivo de manter o equilbrio da economia domstica, no
sentido da manuteno do pleno emprego (utilizao plena dos recursos pro-
dutivos disponveis), os pases podem criar medidas protecionistas utilizando o
argumento, por exemplo, de proteger a indstria nascente.
Uma indstria nascente pode no estar em condies de sobreviver com-
petio externa. O argumento da indstria nascente sustenta que tais indstrias
deveriam ser protegidas, ao menos temporariamente, por altas tarifas ou cotas
at que conseguissem desenvolver ecincia tecnolgica e economias de escala
que lhes possibilitassem competir com as indstrias estrangeiras.
2.2 PROTEO AO MEIO AMBIENTE
Em dezembro de 1997, em Kyoto, no Japo, realizou-se a terceira conferncia
das Naes Unidas sobre a mudana do clima, com a presena de representantes
de mais de 160 pases. Seus objetivos eram, em primeiro lugar, o de obter o com-
promisso dos pases desenvolvidos em reduzir e limitar a emisso de dixido de
carbono e de outros gases responsveis pelo efeito estufa. Em segundo lugar,
pretendia a Conferncia da ONU criar a possibilidade de utilizao de mecanis-
1
Prtica comercial que consiste em vender produtos a preos inferiores aos custos, com a nalidade de eliminar concorrentes e/ou ganhar
maiores fatias de mercado.
2
Tipo de estrutura empresarial na qual vrias empresas, j detendo a maior parte de um mercado, combinam-se ou fundem-se para
assegurar esse controle, estabelecendo preos elevados que lhes garantam elevadas margens de lucros.
3
Grupo de empresas independentes que formalizam um acordo para sua atuao coordenada, com vistas a interesses comuns.
25
TEMA 2
BARREIRAS AO COMRCIO
INTERNACIONAL
mos de exibilidade para que os pases em desenvolvimento pudessem atingir
os objetivos de reduo de gases do efeito-estufa.
2.2.1 Em que consiste o efeito-estufa
O efeito-estufa consiste, basicamente, na ao do dixido de carbono e de
outros gases sobre os raios infravermelhos reetidos pela superfcie da terra, re-
enviando-os para ela, mantendo assim uma temperatura estvel no planeta.
Ao irradiarem para a Terra, parte dos raios luminosos oriundos do Sol so ab-
sorvidos e transformados em calor, outros so reetidos para o espao, mas s
parte destes chega a deixar a Terra, em conseqncia da ao reetora que os
chamados gases de efeito-estufa (dixido de carbono, metano, clorouorocar-
bonetos (CFCs) e xidos de azoto) tm sobre tal radiao reenviando-a para a
superfcie terrestre na forma de raios infravermelhos.
Desde a poca pr-histrica o dixido de carbono tem tido um papel de-
terminante na regulao da temperatura global do planeta. Com o aumento da
utilizao de combustveis fsseis (carvo, petrleo e gs natural), a concentra-
o de dixido de carbono na atmosfera duplicou nos ltimos cem anos. Neste
ritmo e com o abatimento massivo de orestas que se tem praticado ( nas plan-
tas que o dixido de carbono, atravs da fotossntese, forma oxignio e carbono,
que utilizado pela prpria planta), o dixido de carbono comear a proliferar
levando, muito certamente, a um aumento da temperatura global. Este aumento
de temperatura, mesmo que seja de poucos graus, levar ao degelo das calotas
polares e a grandes alteraes a nvel topogrco e ecolgico do planeta.
2.2.2 Seqestro de Carbono
O refm desse seqestro todo o carbono que capturado e mantido pela
vegetao, durante o processo respiratrio da fotossntese. Sua nalidade con-
ter e reverter o acmulo de CO2 na atmosfera visando a diminuio do efeito-
estufa.
Dessa maneira, o seqestro de carbono se tornou assunto presente em ques-
tes ambientais, pois, apesar de as quantidades de CO2 retiradas da atmosfera
pela vegetao no estarem denidas, esse tipo de medida visto como uma
importante atitude para sinalizar uma reduo na emisso de carbono e atingir
as metas estabelecidas pelo protocolo de Kyoto (diminuio de, no mnimo, 5,8%
da quantidade de carbono presente na atmosfera).
2.2.3 Crditos de Carbono
Para tanto, foram criados mecanismos de exibilizao atravs dos quais os
pases ricos podem promover a reduo fora de seu territrio. Esta alternativa
cou conhecida como Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL), sendo a ne-
gociao de crditos de carbono sua forma transacional.
A negociao de crditos de carbono j benecia uma srie de empresas no
Brasil. So empresas de diversos setores, como siderurgia, papel e celulose, sane-
amento e recursos renovveis, entre outras. Estas empresas esto acessando um
mercado que, segundo alguns especialistas, deve movimentar US$10 bilhes de
dlares em crdito de carbono ao ano, e o Brasil deve ser responsvel por 10%
desta quantia.
26
TEMA 2
BARREIRAS AO COMRCIO
INTERNACIONAL
2.2.4 O que o crdito de carbono
O crdito de carbono consiste em certicar redues de emisses de gazes de
efeito estufa (GHG Protocol
4
), que atravs de um custo marginal de reduo no
Brasil possam compensar um possvel custo de oportunidade nos pases desen-
volvidos.
2.3 PROTEO AO TRABALHO
Todo governo tem entre seus objetivos principais a proteo ao trabalho e
toda a gama de preocupaes que o tema carrega. um escopo social.
Isto posto, podemos armar que os pases podem enfrentar, em relao ao
emprego, trs situaes: falta de mo-de-obra, pleno emprego de mo-de-obra
e desemprego.
2.3.1 Falta de mo-de-obra
O mundo passou por muitas transformaes aps a
segunda guerra mundial (1939-1945). No incio, havia a
necessidade de mo-de-obra. A Europa se recuperava
dos estragos e empresas eram reconstitudas. Mas, em
grande parte, o avano da tecnologia veio substituir o
trabalho humano. E com isso, grandes quantidades de
trabalhadores foram colocadas na rua. Os pases passa-
ram a proteger-se dicultando a entrada de trabalhado-
res de outros pases. o reverso da medalha. Na medida
em que a tecnologia avana, cresce o recuo no recruta-
mento de trabalho humano. uma situao que tende a se agravar em todo o
mundo.
2.3.2 Pleno emprego da mo-de-obra
Pleno emprego da mo-de-obra signica todas as vagas preenchidas. Neste
caso no h necessidade de se contratar no exterior e a fora de trabalho local,
com a tecnologia disponvel, ocupa as vagas ofertadas.
Nas palavras de Sandroni (1999:474), uma situao em que a demanda de
trabalho igual ou maior que a oferta. Isso signica que todos que desejarem
vender sua fora de trabalho pelo salrio corrente tero condies de obter um
emprego.
Ainda segundo o autor, numa economia dinmica muito difcil que ocorra a
eliminao total do desemprego, pois:
h atividades como a agricultura que no ocupam continuamente a mes-
ma fora de trabalho (desemprego sazonal);
necessrio certo tempo para que as pessoas troquem de emprego ( o cha-
mado desemprego friccional);
alm disso, certas pessoas podem optar por viver desempregadas.
Por essa razo, considera-se haver uma situao de pleno emprego de mo-
de-obra quando no mais que 3 a 4% da fora de trabalho est desempregada.
4
GHG Protocol The Greenhouse Gas Protocol Initiative.
27
TEMA 2
BARREIRAS AO COMRCIO
INTERNACIONAL
2.3.3 Desemprego de mo-de-obra
a pior situao para o trabalhador. Dependendo de seu grau de empregabili-
dade, ser mais fcil ou difcil sua volta ao mercado. O que seria empregabilidade?
A palavra vem do ingls employability e signica o conjunto de conhecimentos,
habilidades e comportamentos que tornam um executivo/ prossional impor-
tante. Ter conhecimentos, habilidades e comportamentos compatveis para de-
sempenhar tarefas trabalhistas importante no apenas para o indivduo, mas
para toda e qualquer empresa. Esses dotes so caractersticas que transcendem
a organizao, pois atendem s necessidades do mercado de executivos/ pros-
sionais como um todo.
O desemprego da mo-de-obra pode ocorrer, devido recesso econmica,
ao crescimento econmico menor que o crescimento demogrco, s novas tec-
nologias que dispensam a mo-de-obra, e a polticas econmicas governamen-
tais inadequadas.
Analisando-se as estatsticas da atividade econmica brasileira pode-se ob-
servar que o desemprego vem crescendo nos ltimos anos no pas. Segundo
o IBGE, 7,14% da populao economicamente ativa estava desempregada em
2002, 12,30% em 2003, e 11,50% em 2004.
De acordo com o ex-ministro Roberto Campos, citado por Maia (1999:127), os
promotores do desemprego no Brasil so os sindicatos agressivos, o nacionalis-
mo, os monoplios estatais e a legislao trabalhista.
2.3.4 Sindicatos agressivos
Os investidores (particularmente os donos do capital estrangeiro) procuram
defender-se das excessivas reivindicaes, estabelecendo-se em pases onde a
atividade sindical no seja muito forte.
2.3.5 Nacionalismo
A legislao nacionalista, criando restries ao capital estrangeiro faz com
que as multinacionais procurem outros pases para se instalar. Este um argu-
mento morto, posto que a abertura efetuada nos ltimos anos equiparou o ca-
pital estrangeiro ao nacional em muitos aspectos. Problemas aos estrangeiros
so comuns aos nacionais, como a insegurana da propriedade, s para citar um
exemplo.
2.3.6 Monoplios estatais
Argumento j desqualicado tendo em vista o grande nmero de privatiza-
es ocorridas no governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).
2.3.7 Legislao trabalhista
Este argumento ainda perdura. As empresas, de qualquer porte, sofrem com
os pesados encargos sociais, tendo como conseqncia o desemprego e o au-
mento da economia informal
5
.
5
Esta denominao vem do fato de que a maioria dessas unidades dedicadas produo ou venda de mercadorias ou produo de
servios no constituda de acordo com as leis vigentes, no recolhe impostos, no mantm uma contabilidade de suas atividades.
28
TEMA 2
BARREIRAS AO COMRCIO
INTERNACIONAL
2.4 PROTEO AO CAPITAL
Os pases procuram proteger o capital nacional, criando barreiras entrada
do capital estrangeiro, seja ele capital nanceiro ou representado pela entrada
de mquinas e equipamentos (uma fbrica nova, por exemplo).
Muitas vezes, como j ocorreu aqui mesmo no Brasil, a proteo um guarda-
chuva que protege a inecincia. Muito se falou sobre a invaso dos produtos
txteis, notadamente chineses, mas nada se disse sobre a obsolescncia de nos-
so parque fabril. A cidade de Americana, no interior paulista, um bom exemplo
do antes e do depois. Antes, havia uma indstria obsoleta que quase foi dizimada
quando da invaso de produtos txteis chineses e coreanos. Hoje, h uma inds-
tria moderna e competitiva que no teme os asiticos.
Nos ltimos tempos tem-se travado uma dura batalha entre empresrios da
Associao Brasileira da Indstria de Mquinas e Equipamentos (ABIMAQ) e o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES). O motivo est
em o Banco ocial ter anunciado que voltar a nanciar a importao de mqui-
nas e equipamentos sem similar nacional. Trata-se de crdito salutar e que deve
ser incentivado. S beneciar as importaes de produtos no fabricados no
Brasil. No haver concorrncia predatria com os fabricantes nacionais uma vez
que sero nanciados somente aqueles equipamentos que no so produzidos
no Brasil.
2.5 DESVIOS DO MODELO DO COMRCIO LIVRE
H um esforo muito grande da comunidade internacional em tornar o co-
mrcio exterior mais livre, mais uente. Entretanto, o trnsito comercial mundial
pode se defrontar com algumas formas de obstculos como o dumping, os oli-
goplios, os trustes e dos cartis.
2.5.1 Dumping
Como j foi denido anteriormente, o dumping consiste em vender uma mer-
cadoria ou um servio, no exterior ou no mercado domstico, por preo abaixo
do custo de produo.
Conforme especica Sandroni (1999:187), no mercado internacional, o dum-
ping pode ser persistente quando existem subsdios governamentais para o in-
cremento das exportaes e as condies de mercado permitem uma discrimi-
nao de preos tal que a maior parte dos lucros de uma empresa que o pratica
seja obtida no mercado interno.
O dumping temporrio utilizado para afastar concorrentes de determinados
mercados quando um pas necessita colocar neles excedentes de certos produ-
tos, sem prejudicar os preos praticados em seu mercado interno.
A Unio Europia probe o dumping. A Organizao Mundial do Comrcio
(OMC), por sua vez, permite a introduo de tarifas especiais ou sobretaxas de
importao como forma de limitar os efeitos de tal poltica.
2.5.2 Oligoplio
De acordo com Passos e Nogami (2005:349) o oligoplio a forma de merca-
do que atualmente prevalece nas economias do mundo ocidental. Ele pode ser
conceituado como uma estrutura de mercado em que um pequeno nmero de
29
TEMA 2
BARREIRAS AO COMRCIO
INTERNACIONAL
empresas controla a oferta de um determinado bem ou servio. De acordo com
essa conceituao, a indstria automobilstica um exemplo de indstria com
pequeno nmero de rmas. Entretanto, o oligoplio pode tambm ser enten-
dido como uma indstria em que h um grande nmero de rmas, mas poucas
dominam o mercado. Como exemplo, pode-se citar a indstria de bebidas.
Atualmente, podemos incluir alguns outros oligoplios como os de produto-
res de suco de laranja, as indstrias de ao e de fumo e a atividade de comercia-
lizao de soja.
Desta forma, o oligoplio uma tendncia que reete a concentrao da pro-
priedade em poucas empresas de grande porte, pela fuso entre elas, incorpo-
rao ou mesmo eliminao (por compra, dumping e outras prticas restritivas)
das pequenas empresas.
2.5.3 Trustes
Os trustes representam a fuso de vrias empresas, levando ao monoplio. A
indstria siderrgica est passando por esse processo.
Os trustes tm sido proibidos em vrios pases, mas a eccia dessa proibio
no muito grande.
2.5.4 Cartel
Nas palavras de Maia (1997:93) o cartel uma forma de eliminar a concorrn-
cia. Vrios produtores fazem um acordo comercial para distribuir entre si cotas
de produo, determinar preos, suprimindo a livre concorrncia. Uma das ca-
ractersticas importantes que cada empresa conserva sua autonomia interna.
Um bom exemplo de cartel a OPEP (Organizao dos Pases Exportadores de
Petrleo), que determina o preo do barril de petrleo e estabelece a cota de
produo de cada associado.
Na verdade, existem muitos tipos de cartel. Em sua forma mais perfeita tem-
se o Cartel Centralizado, que determina todas as decises para todas as rmas-
membro. Assim, por meio de uma agncia coordenadora, organizam-se as rmas
de modo que elas ajam como se participassem de um grande conglomerado
monopolista, possuidor de vrias fbricas. Por essa razo tal forma perfeita de
conluio leva soluo de monoplio.
2.6 ESQUEMAS PROTECIONISTRAS
Constituem, tambm, barreiras ao comrcio internacional as seguintes medi-
das protecionistas:
Subsdios;
Barreiras tarifrias;
Taxas mltiplas de cmbio; e
Licenas de importao e exportao.
2.6.1 Subsdios
comum os governos subsidiarem alguns setores produtivos com a nalida-
de de os tornarem competitivos com os similares produzidos no exterior. Se o
30
TEMA 2
BARREIRAS AO COMRCIO
INTERNACIONAL
subsdio for apenas direcionado para baixar os preos, sem a contrapartida da
melhoria de qualidade, o subsdio , na verdade, uma proteo inecincia e
ao atraso.
Quando o subsdio destinado exportao, ele poder constituir-se num
dumping, sobre o qual j foi comentado anteriormente.
Outras vezes o subsdio aplicado para a produo de mercadorias destina-
das ao consumo interno, com o objetivo de manter a competitividade da produ-
o nacional, que em condies normais no poderia competir com a produo
estrangeira. Isso onera o bolso do consumidor nacional, que acaba pagando mais
por um produto igual ou pior que o importado.
Conforme salienta Maia (1999:94), normalmente os subsdios trazem outras
distores que mais prejudicam do que ajudam. A produo nacional no me-
lhora porque est protegida e torna-se obsoleta.
Como exemplo de subsdio inecincia cabe lembrar a proteo implemen-
tada ao setor de informtica, na dcada de 1970, quando foi criada a reserva de
mercado para este setor. O subsdio, se mal direcionado caro e acaba punindo
o pas.
2.6.2 Barreiras tarifrias
O governo pode aplicar uma barreira tarifria, isto , um imposto que, adicio-
nado ao preo internacional do produto, poder fazer que o preo da mercadoria
produzida internamente se torne competitivo; dessa forma, o governo protege
os produtores nacionais a m de que no sofram a concorrncia de produtos
importados mais baratos.
As barreiras tarifrias representam verdadeiro agelo para o setor importador.
Muitas vezes so baixadas medidas sem critrios claros e objetivos consistentes.
Barreiras tarifrias podem ser estabelecidas para proteger indstrias nascentes.
Citamos o caso do setor de informtica, que acabou se revelando um fracasso
monumental.
Hoje temos alquotas no setor siderrgico que tornam o produto nal do se-
tor altamente caro internamente. Seria o caso de baixar ou reduzir a zero as al-
quotas de importao, forando a baixa dos produtos internamente.
Segundo o empresrio Srgio Machado
6
, , os estaleiros nacionais estariam
pagando 30% a mais pela matria-prima do que os concorrentes internacionais.
Mas a reclamao mais antiga
7
: em 2004 , as montadoras j reclamavam do pre-
o do ao que s no perodo de janeiro a agosto subira cerca de 41%. A ABIMAQ
espera um aumento de at 15% no preo de ao para o ano de 2006.
A indstria automobilstica uma das mais atingidas por essa onda altista. O
consumidor nal, obviamente quem est pagando por isso.
No caso das exportaes, prticas alfandegrias tornam nosso acar pouco
competitivo na Europa e nos Estados Unidos. A Unio Europia tem que proteger
os inecientes produtores franceses. Nos EUA o suco de laranja tambm agra-
vado com altas taxas de imposto de importao.
6
Presidente da Transpetro, em Globo Online, edio de 16 de janeiro de 2.006
7
Folha Online, de 6 de outubro de 2004.
31
TEMA 2
BARREIRAS AO COMRCIO
INTERNACIONAL
2.6.3 Taxas Mltiplas de Cmbio
O sistema de taxas mltiplas foi criado para estimular a exportao e favore-
cer a importao de produtos considerados essenciais. E, tambm, para inibir ou
favorecer entradas e sadas nanceiras. Assim, um pas pode ter uma moeda local
desvalorizada, beneciando a exportao e inibindo a importao, uma outra
taxa de cmbio para a importao de produtos essenciais, como o petrleo, e
uma terceira taxa para operaes nanceiras.
O sistema de taxas mltiplas j foi utilizado no passado, at por pases da
Unio Europia (Peseta A e Peseta B, na Espanha), mas no encontra guarida nos
mercados cambiais em funcionamento no mundo atual.
Mesmo o Brasil passou por essa experincia nos anos 1950, quando o Gover-
no xou cinco categorias de enquadramento dos bens importveis. Perdurou
por pouco tempo, sendo substitudo pela xao de uma cotao cambial que
era manejada pelos dirigentes do Ministrio da Fazenda.
Tal prtica terminou com a criao do Banco Central do Brasil em 31 de de-
zembro de 1964 (Lei 4.595/64, ou Lei do Mercado de Capitais).
2.6.4 Licenas de Importao e Exportao
necessrio entender que licenciamentos de importao e exportao para
ns estatsticos so uma coisa, e licenciamentos com a nalidade de tornar di-
fcil a importao ou exportao de determinados produtos so outra coisa. A
licena de importao emitida para permitir a entrada de mercadorias no pas.
O que ocorre que essa licena pode estar condicionada ao cumprimento de
alguma exigncia, como a sujeio a uma determinada cota, exame por diferen-
tes rgos (IBAMA
8
, se produto que sensibiliza o meio ambiente; Ministrio do
Exrcito, no caso de armas; DETRAN
9
, se veculo etc.). Tais exigncias costumam
travar o processo de uma importao. Na rea das exportaes existem poucas
exigncias. H que se emitir o Registro de Exportao (RE), um documento obti-
do via SISCOMEX
10
e autorizado on line pelos rgos competentes.
Embora condenada no mbito da Organizao Mundial do Comrcio (OMC)
esta prtica utilizada por muitos pases, inclusive pelo Brasil.
Sistemas de licenciamento engessam as operaes de comrcio internacio-
nal. O processo burocrtico torna-se lento, impaciente e altamente corruptvel.
As decises passam a ser subjetivas, tirando todo o aspecto tcnico da questo.
2.7 NOVAS BARREIRAS AO COMRCIO INTERNACIONAL
A intensicao do comrcio internacional, seu crescimento em volume, valor
e tecnologia, com a entrada de novos atores, especialmente da China, tornaram
a arena muito competitiva e novas formas de protecionismo surgiram, represen-
tadas por barreiras tcnicas e ecolgicas.
Nesses casos, assim como no caso da barreira tarifria, o governo visa dar maior
competitividade ao produto nacional. A diferena bsica que no se aplica um
imposto, mas sim obstculos quantitativos ou burocrticos, segundo Passos e Noga-
mi (2005:527), que oneram ou inviabilizam as importaes. Como novas restries
pode-se citar os certicados de origem e vistos consulares, xao de cotas etc.
8
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis
9
Departamento Estadual de Trnsito
32
TEMA 2
BARREIRAS AO COMRCIO
INTERNACIONAL
2.7.1 Barreiras Tcnicas
A abertura dos mercados incrementou o processo de trocas entre os pases e
aprofundou a necessidade do uso de uma linguagem comum para o estabeleci-
mento de requisitos de desempenho e de ausncia de riscos para o consumidor
e o meio ambiente.
Sob esta tica, o texto do Acordo sobre Barreiras Tcnicas ao Comrcio (Tech-
nical Barrier to Trade - TBT), resultante da reviso do GATT
11
na Rodada Uruguai,
apresenta o critrio de que um regulamento tcnico no se consistiria em bar-
reira desnecessria ao comrcio quando, buscando o alcance de objetivos legti-
mos, fosse baseado em norma internacional.
A democracia do acesso participao em uma organizao internacional
de normalizao foi o princpio que poderia assegurar as condies necessrias
para que a norma internacional reetisse um consenso entre os interesses de
todos os pases.
Todavia, ter as condies necessrias para a elaborao de uma norma verda-
deiramente internacional no implica que elas tenham sido sucientes, at hoje.
Embora o objetivo seja no se constituir em barreira desnecessria ao comr-
cio, alguns pases vm exagerando no estabelecimento e implementao de tais
regulamentos.
2.7.2 Dumping Social
Dumping Social o termo utilizado para caracterizar a venda, no mercado in-
ternacional, de produtos a um preo inferior ao praticado no mercado domsti-
co, em virtude da falta ou da no-observncia dos padres trabalhistas interna-
cionalmente reconhecidos. O trabalho infantil, o trabalho escravo ou a falta de
respeito aos padres trabalhistas serviriam como fatores diferenciais na compo-
sio do preo dos produtos. O tema sensvel e ope os pases desenvolvidos,
que defendem a incluso de clusulas trabalhistas nas regras do comrcio inter-
nacional, aos pases em desenvolvimento, que preferem que o tema seja tratado
no mbito da Organizao Internacional do Trabalho.
2.7.3 Responsabilidade Scio-Ambiental
Os desequilbrios do homem ao tratar das relaes que estabelece entre seus
objetivos econmico-nanceiros e o espao natural tm despertado a socieda-
de, cujas preocupaes se voltam cada vez mais para iniciativas de preservao
do meio ambiente, visando o bem estar comum.
A atuao socialmente responsvel de todos os segmentos da sociedade,
com destaque para os fatores econmicos e educacionais, est se transforman-
do numa questo fundamental, que requer estudo, reexo e comportamentos,
principalmente pr-ativos, e em ltima instncia, reativos, haja vista tratar-se da
mola propulsora para manuteno da qualidade de vida presente sem compro-
meter as possibilidades de sobrevivncia das geraes futuras.
10
Sistema Integrado de Comrcio Exterior - SISCOMEX, institudo pelo Decreto n 660, de 25.9.92, a sistemtica administrativa do comrcio
exterior brasileiro, que integra as atividades ans da Secretaria de Comrcio Exterior - SECEX, da Secretaria da Receita Federal-SRF e do
Banco Central do Brasil - BACEN, no registro, acompanhamento e controle das diferentes etapas das operaes de exportao.
11
Acordo Geral sobre Tarifas de Comrcio (General Agreement on Tariffs and Trade). A sigla GATT denomina o organismo internacional que
visava propiciar a reduo de obstculos ao comrcio entre as naes. Dentre os 23 pases que, em 1947, assinaram o acordo de criao
do GATT, estava o Brasil. O sucesso e a importncia do GATT atestado pelo fato do comrcio internacional, desde o m da Segunda
Grande Guerra, ter crescido at multiplicar-se por dez. Em 1995, os ento 95 pases membros do GATT, assinaram um acordo constituindo a
Organizao Mundial do Comrcio (OMC), organismo de carter permanente, em substituio ao GATT, que tinha um carter temporrio.
33
TEMA 2
BARREIRAS AO COMRCIO
INTERNACIONAL
Durante anos, os recursos naturais foram explorados sem nenhum critrio de
propriedade e preservao, apenas, como bens teis ao desenvolvimento. Neste
sentido, o meio ambiente tem sido um bem econmico gratuito que a empresa
utiliza, sem considerar ou inuenciar no preo do produto ou servio e sem con-
siderar, principalmente, a nitude dos recursos naturais.
Assim, por no se ater ao futuro, at pela falta de planejamento em longo
prazo, vericam-se inmeros problemas, que esto atingindo o planeta, e agora
o homem se volta para a sua prpria sobrevivncia, preocupando-se tambm
com o futuro.
Mas, este lento processo de transformao no tem sido galgado com espon-
taneidade, tendo em vista que o comportamento da sociedade em relao ao
meio ambiente sempre foi inuenciado por acontecimentos de natureza polti-
co-social. Essa mudana de postura iniciou-se em Paris, no ano de 1968, quando
se realizou a Conferncia sobre a Biosfera.
A ocasio serviu como base para o lanamento do programa O Homem e a
Biosfera, em 1971, pela UNESCO
12
. Outros eventos seguiram-se a este, como a reu-
nio do Clube de Roma, em 1970, a qual chamava a ateno para a necessidade
de conter o crescimento econmico mundial. Em 1972, realizou-se em Estocolmo
a Conferncia Mundial sobre o Meio Ambiente. Seu objetivo era a conscientiza-
o dos governos e instituies internacionais quanto necessidade de imple-
mentar medidas efetivas para preservar e diminuir a degradao ambiental.
No Brasil, a ECO 92, realizada no Rio de Janeiro, promoveu uma srie de de-
bates sobre problemas prementes de hoje e a preparao do mundo para este
sculo. A Declarao do Rio Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento destaca que
este deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas eqitativamen-
te as necessidades de desenvolvimento e de meio ambiente das geraes pre-
sentes e futuras, que cou conhecida como Agenda 21
13
.
Nesse sentido, um dos maiores desaos, em se tratando da questo ambien-
tal, a compatibilizao entre o crescimento econmico e a preservao do meio
ambiente. Aqueles que buscam apenas a gerao de valor econmico, em pou-
cos anos, tero diculdades em sobreviver.
A relao do ser humano com o meio ambiente tem, obrigatoriamente, que se
tornar harmoniosa. A mesma vital no processo de sobrevivncia e possibilita
reexes a respeito da capacidade competitiva e da permanncia no mercado
das indstrias poluidoras, da inuncia dos acordos internacionais no perl das
empresas e a tendncia que comea a aorar no sentido de direcionar os re-
cursos nanceiros para projetos que renam, alm de vantagens econmicas,
segurana ambiental.
12
United Nations Educational, Scientic and Cultural Organization (Organizao das Naes Unidas para a Educao, a Cincia e a Cultura)
13
Agenda 21 um programa de ao para viabilizar a adoo do desenvolvimento sustentvel e ambientalmente racional em todos os
pases. Nesse sentido, o documento da Agenda constitui, fundamentalmente, um roteiro para a implementao de um novo modelo de
desenvolvimento que se quer sustentvel quanto ao manejo dos recursos naturais e preservao da biodiversidade, equnime e justo tanto
nas relaes econmicas entre os pases como na distribuio da riqueza nacional entre os diferentes segmentos sociais, economicamente
eciente e politicamente participativo e democrtico.
ANOTE
TEMA 3
DIREITO INTERNACIONAL E
COMRCIO EXTERIOR
TEMA 3
DIREITO INTERNACIONAL E
COMRCIO EXTERIOR
36
TEMA 3
DIREITO INTERNACIONAL
E COMRCIO EXTERIOR
TEMA 3 DIREITO INTERNACIONAL E
COMRCIO EXTERIOR
Objetivos do Tema
Apresentar as linhas gerais do Direito Internacional Privado e dar a conhecer
os princpios que regulam a relao internacional entre os Estados;
Mostrar os pressupostos do Direito Internacional Privado que tenham
interferncia no Comrcio Exterior. So eles: a nacionalidade, a condio
jurdica do estrangeiro, o conito de leis e o conito de jurisdies;
Dar a conhecer o sistema brasileiro de Direito Internacional Privado na sua
relao com o sistema aduaneiro, tarifrio, de direito anti-dumping etc.
3.1 INTRODUO AO DIREITO INTERNACIONAL PBLICO E PRIVADO
Segundo Costa (2005:196), nos ltimos anos, o desenvolvimento das trocas
econmicas internacionais gerou uma srie de mudanas no cenrio do comr-
cio internacional. O fenmeno comrcio internacional interessa a vrios atores. O
economista, por exemplo, por meio de suas observaes e at mesmo previses,
fornece os dados de base. J o cientista poltico, levando em conta os dados for-
necidos, determina as metas e os objetivos a serem seguidos. E, por m, o jurista
concretiza os instrumentos legais que serviro de fundamento para as transa-
es internacionais de bens e servios.
Desta forma, os contratos internacionais so, segundo Strenger (2003:43) fru-
to de uma multiplicidade de fatores, envolvendo mtodos e sistemas interdisci-
plinares, inspirados na economia, na poltica, no comrcio exterior, nas cincias
sociais e com muitos frutos colhidos nas relaes internacionais.
3.1.1 Direito Internacional Pblico
o conjunto de normas que regem as relaes dos direitos e deveres cole-
tivos, quanto aos tratados, convenes e acordos entre as naes. Tambm se
chama Direito das Gentes.
O Direito Internacional Privado tido como um ramo do Direito Pblico, que
compreende um conjunto de normas reguladoras das relaes entre as naes
no tocante proteo das pessoas, direitos e interesses particulares dos seus
nacionais em pas estrangeiro e, reciprocamente, dos estrangeiros radicados
no pas.
Quanto ao Direito Internacional, arma Alessandro Groppali, que se trata de
uma ordem normativa ainda em formao, sendo seus dispositivos desprovi-
dos da eccia que caracteriza as normas estatais. O Direito Internacional no
possui outras fontes alm dos tratados e do costume. No so suas normas do-
tadas do poder coercitivo que caracteriza a ordem estatal. Enquanto os ramos
do Direito Positivo j apresentam certo grau de estabilidade, o Direito Inter-
nacional nem codicado se acha, estando impossibilitado, portanto, de atuar
coercitivamente.
O Estado totalitrio, seguindo as pegadas de Hans Kelsen, considerou como
Direito apenas as normas estatais, sendo confrontado pela doutrina corporativis-
ta crist, que arma a necessidade de o Estado atuar s supletivamente perante
37
TEMA 3
DIREITO INTERNACIONAL
E COMRCIO EXTERIOR
os indivduos e as sociedades menores. No contexto desta doutrina, o Estado no
seria a nica fonte de normas jurdicas.
Na verdade, Estado e Direito so irmos xifpagos, predestinados a viver uni-
dos, sem poderem separar-se. Se, na verdade, a idia de um direito difuso, es-
palhado na comunidade primitiva, representado pelo totem ou mana, entidade
espiritual que governaria os destinos da comunidade, pode ser uma hiptese
encantadora para explicar a precedncia do Direito sobre o Estado, na verdade,
quando surge o Estado, tal entidade passa a ser a fonte suprema do Direito, supe-
rior em poder e eccia a todas as outras, embora a existncia destas no possa
ser negada.
3.1.2 O DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO
De acordo com Ledel (2004), para compreender adequadamente o tema ,
faz-se necessrio, primeiramente, fazer uma anlise, ainda que breve, de alguns
pontos gerais de Direito Internacional Privado, visando estabelecer o mbito de
aplicao dessa rea do direito.
Assim, segundo Jos Maria Rossani Garcez, o direito internacional privado,
em sntese, pode ser apresentado como o conjunto de normas ou princpios apli-
cados ou admitidos por cada Estado, destinadas a regular os direitos, atos ou fa-
tos que tenham conexo internacional e se destinem a ter efeitos entre pessoas
naturais ou jurdicas privadas ou a entidades pblicas ou privadas no exerccio
de atividades jusprivatistas.
O direito internacional privado, apesar da denominao, um conjunto de
normas de direito pblico e interno. Interno porque se compe de normas que
cada pas adota voluntariamente, como Estado soberano que . E direito p-
blico porque consiste em uma das espcies de normas de superdireito, ou so-
bredireito, que no disciplinam diretamente o comportamento dos homens em
sociedade, mas a aplicao de outras normas.
Quanto ao objeto do direito internacional privado, entende Jacob Dolinger
que a disciplina envolve as seguintes matrias: a nacionalidade, a condio jur-
dica do estrangeiro, o conito de leis e o conito de jurisdies.
J para a corrente liderada por Irineu Strenger, a nalidade principal do direi-
to internacional privado seria a normatividade selecionadora para a aplicao
da lei estrangeira em determinado pas e da lei nacional deste pas a casos que
comportem algum elemento de conexo com mais de uma legislao nacional,
algum elemento de estraneidade.
Enm, as normas de conito elaboradas pelos Estados soberanos visam facili-
tar a aplicao e disciplinar da forma mais adequada o relacionamento interna-
cional, oferecendo aos operadores do direito os princpios regulamentares que
permitam a aplicao da legislao estrangeira ou nacional a casos que guardem
alguma conexo internacional. Com isso busca-se evitar a possibilidade de jul-
gamentos contraditrios nos diferentes Estados, capazes de disciplinar a mesma
relao social.
As normas de direito internacional privado indicam o direito aplicvel s di-
versas situaes jurdicas conectadas a mais de um sistema legal. Essas normas
so constitudas pelos elementos de conexo, que so expresses legais, de con-
tedos variveis, que tm o efeito de indicar e permitir a determinao do direito
ou sistema legal que deve tutelar uma determinada relao jurdica.
38
TEMA 3
DIREITO INTERNACIONAL
E COMRCIO EXTERIOR
No sistema de direito internacional privado brasileiro, so estes os principais
elementos de conexo: a) domiclio; b) nacionalidade; c) residncia; d) lugar do
nascimento ou falecimento; e) lugar da constituio da pessoa jurdica; f ) lugar
da situao do bem; g) lugar da constituio ou execuo da obrigao; h) lugar
em que se encontre o proponente do contrato; i) lugar da prtica do ato ilcito.
Assim, observa-se que apesar de existir o princpio de que as leis no valem
ou no produzem efeitos ultraterritorialmente, na verdade ele mitigado, pois
vrios so os ordenamentos jurdicos que inserem normas e mecanismos rela-
tivos ao seu direito internacional privado , propiciando formas de aplicao em
seu territrio da legislao estrangeira e estabelecendo critrios para que suas
leis tambm possam aplicar-se em outros pases, quando for o caso., de acordo
com Daiana Vasconcellos.
3.2 ATOS INTERNACIONAIS
Segundo deniu a Conveno de Viena do Direito dos Tratados, de 1969, em seu
artigo 2, alnea a, tratado internacional um acordo internacional concludo por
escrito entre Estados e regido pelo Direito Internacional, quer conste de um ins-
trumento nico, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja
sua denominao especca .
No Brasil, o Ato internacional necessita, para a sua concluso, da colaborao
dos Poderes Executivo e Legislativo. Segundo a vigente Constituio Brasileira,
celebrar tratados, convenes e atos internacionais competncia privativa do
Presidente da Repblica (art. 84, inciso VIII), embora estejam sujeitos ao referen-
do do Congresso Nacional, a quem cabe, ademais, resolver denitivamente sobre
tratados, acordos e atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimnio nacional (art. 49, inciso I). Portanto, embora o Presidente
da Repblica seja o titular da dinmica das relaes internacionais, cabendo-lhe
decidir tanto sobre a convenincia de iniciar negociaes, como a de raticar o
ato internacional j concludo, a intervenincia do Poder Legislativo, sob a forma
de aprovao congressual, , via de regra, necessria.
A tradio constitucional brasileira no concede o direito de concluir tratados
aos Estados-membros da Federao. Nessa linha, a atual Constituio diz compe-
tir Unio, manter relaes com Estados estrangeiros e participar de organiza-
es internacionais (art. 21, inciso I). Por tal razo, qualquer acordo que um Esta-
do federado ou Municpio deseje concluir com Estado estrangeiro, ou Unidade
dos mesmos que possua poder de concluir tratados, dever ser feito pela Unio,
com a intermediao do Ministrio das Relaes Exteriores, decorrente de sua
prpria competncia legal.
Cabe registrar, nalmente, que, na prtica de muitos Estados, vicejou, por v-
rias razes, o costume de concluir certos tratados sem aprovao legislativa.
Eles passaram a ser conhecidos como acordos em forma simplicada ou acor-
dos do Executivo. As Constituies brasileiras, inclusive a vigente, desconhecem
tal expediente.
3.3 SISTEMA BRASILEIRO DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO
Existem estudos na rea do Direito Internacional, abrangendo tpicos foca-
dos nas reas de comrcio exterior e suas atividades complementares (cmbio,
seguros, nanciamentos, tributao, etc).
39
TEMA 3
DIREITO INTERNACIONAL
E COMRCIO EXTERIOR
Assim, o estudo de Introduo ao Direito Aduaneiro, produzido por Leonar-
do Correia Lima Macedo, Auditor Fiscal da Receita Federal, se nos agura como
instrumento esclarecedor e de apoio no entendimento do Direito Internacional
aplicvel matria.
Devido s especicidades de princpios e normas relativas ao comrcio exte-
rior, alguns autores argumentam sobre a existncia de um Direito Aduaneiro.
3.3.1 Conceituao do Direito Aduaneiro
Vejamos como o conceitua Jos Lence Carluci: Na esteira de Idelfonso Sn-
chez Gonzlez podemos conceituar o Direito Aduaneiro como o conjunto de nor-
mas e princpios que disciplinam juridicamente a poltica aduaneira, entendida
esta como a interveno pblica no intercmbio internacional de mercadorias e
que constitui um sistema de controle e de limitaes com ns pblicos.
3.3.2 Objetivo do Direito Aduaneiro
O objetivo deste ramo do Direito seria disciplinar os controles de ingressos e
sadas de veculos, pessoas e mercadorias, em harmonia com os tratados inter-
nacionais e, ainda, atender aos interesses ptrios de interveno na poltica de
comrcio exterior.
Juridicamente, seria composto pelo conjunto de normas internas aplicveis
s importaes e exportaes, assim como pelos tratados internacionais sobre
comrcio exterior. Neste sentido, apresenta uma ambivalncia entre normas in-
ternas e internacionais.
Roosevelt Baldomir Sosa, citando Eduardo
Raposo de Medeiros, lembra: Uma questo
est fora de dvida: o Direito Aduaneiro no
tem nada a ver com o Direito Fiscal, quer pelo
seu prprio contorno conceitual, quer pela es-
pecicidade da ao em funo dos regimes
mais diversos devido a espaos econmicos,
aos tipos de acordos internacionais, a procedimentos normalizados ou simpli-
cados de facilitao do comrcio externo, a suportes documentais de decla-
rao das mercadorias, etc. Por outras palavras, o Direito Aduaneiro tem particu-
laridades tcnicas e econmicas susceptveis de considerar os seus mecanismos
jurdicos de interveno no comrcio internacional, como um conjunto parte,
com uma tcnica e originalidades independentes do Direito Fiscal, e com uma
terminologia prpria. Da espraiar-se pela nomenclatura pautal em conexo com
questes da taxao em eventuais alternativas de aplicao dos regimes geral
ou preferencial, passando pelos regimes suspensivos de contedo econmico
das mercadorias e regime aduaneiro dos meios de transporte, e terminando no
contencioso aduaneiro.
Diante do exposto, ca claro que os direitos exercidos por um pas na poltica
de comrcio exterior so, na maioria das vezes, direitos aduaneiros. o caso, por
exemplo, dos direitos antidumping e compensatrio.
Supondo a existncia de tal ramo do direito, devemos delimitar suas vertentes.
Ainda segundo Roosevelt, as vertentes que contribuem para a formao do Di-
reito Aduaneiro seriam: Direito Interno: Regime legal das operaes de Comr-
cio Exterior (controle administrativo); Regime cambirio sobre pagamentos e
40
TEMA 3
DIREITO INTERNACIONAL
E COMRCIO EXTERIOR
recebimentos das operaes de Comrcio Exterior (controle do valor aduaneiro);
Regimes scal e de controle aduaneiro sobre pessoas que demandam ou saem
do territrio aduaneiro e, principalmente, sobre os uxos de transporte e de mer-
cadorias, objeto de operaes de Comrcio Exterior, inclusive ingressos tempo-
rrios; Regime legal de combate s contravenes em matrias alfandegria e
penal.
3.4 DIREITO INTERNACIONAL E DIREITO ADUANEIRO
Fazem parte do Direito Internacional os acordos sobre tarifao ou tributao
das mercadorias, objeto do comrcio exterior, os acordos sobre certicao de
origem das mercadorias, os acordos sobre valorao de mercadorias, os acordos
sobre classicao de mercadorias e os acordos de cooperao internacional em
matria aduaneira.
Devido sua forte caracterstica internacional, o Direito Aduaneiro tem uma
tendncia natural de universalizar-se, ou seja, de produzir normas, cujo principal
objetivo seja harmonizar procedimentos em nvel mundial do comrcio exte-
rior.
No Brasil, tal ramo do direito no reconhecido como autnomo e para muitos
considerado um sub-ramo do Direito Tributrio. Este no reconhecimento leva a
um conito de competncias (Ministrio da Fazenda, Ministrio do Desenvolvi-
mento, Indstria e Comrcio Exterior e Ministrio das Relaes Exteriores), o que
contribui para a ineccia de polticas no setor.
Independentemente do reconhecimento, no Brasil, da existncia do direito
aduaneiro como um ramo autnomo, existem poucos prossionais qualicados
para assuntos aduaneiros.
Na imensa maioria dos casos, os prossionais que atuam no setor so especia-
listas em outras reas, dicultando excessivamente o entendimento das regras
de comrcio exterior e, principalmente, da problemtica aduaneira.
ANOTE
ANOTE
TEMA 4
BLOCOS ECONMICOS E
ORGANISMOS REGIONAIS
44
TEMA 4
BLOCOS ECONMICOS E
ORGANISMOS REGIONAIS
TEMA 4 BLOCOS ECONMICOS E
ORGANISMOS REGIONAIS
Objetivos do Tema
Oferecer a oportunidade de conhecer os diversos blocos econmicos regio-
nais existentes no mundo, suas nalidades, seus participantes e seus obje-
tivos;
Dar a conhecer os principais debates levantados na opinio pblica que
mexem com a poltica de sustentao destes blocos.
4.1 BLOCOS ECONMICOS
Os blocos econmicos foram criados com a nalidade de desenvolver o co-
mrcio de terminada regio, segundo Maia (1999:117). Para alcanar esse objeti-
vo, eliminam as barreiras alfandegrias, o que torna o custo do produtos menor.
Este tipo de integrao regional visa criar melhor poder de compra dentro do
bloco econmico, melhorando o nvel de vida de sua populao. Assim, como
os mercados domsticos passam a ser disputados tambm por empresas dos
outros pases, membros do bloco, cresce a concorrncia, o que acaba implicando
em uma melhoria na qualidade dos produtos e reduo nos custos de produ-
o.
Desta forma, com a economia mundial globalizada, a tendncia comercial
a formao de blocos econmicos por todo o mundo. Adotam reduo ou isen-
o de impostos ou de tarifas alfandegrias e buscam solues em comum para
problemas comerciais. Em tese, o comrcio entre os pases constituintes de um
bloco econmico aumenta e gera crescimento econmico para os pases.
Geralmente estes blocos so formados por pases vizinhos ou que possuem
anidades culturais ou comerciais.
Esta a nova tendncia mundial pois, cada vez mais, o comrcio entre blocos
econmicos cresce. Economistas armam que car de fora de um bloco econ-
mico viver isolado do mundo comercial.
Segundo Balassa (1964:13), cinco so as fases para a constituio de um bloco
econmico, que podem evoluir at atingir a integrao total:
Zona de Livre Comrcio
Sistema no qual as tarifas alfandegrias so zero para os pases que integram
uma zona de livre comrcio, embora cada pas tenha um nvel diferente de tarifas
para os pases externos ao acordo de livre comrcio.
Cada pas-membro mantm a ampla liberdade no que se refere sua poltica
interna, bem como no tocante poltica comercial com os pases no associados.
Unio Aduaneira
Tambm conhecida como Unio Alfandegria, um acordo entre dois ou
mais pases que visa a eliminao das barreiras alfandegrias, estabelecendo
uma tarifa comum externa em relao aos pases no-membros. O acordo, em
45
TEMA 4
BLOCOS ECONMICOS E
ORGANISMOS REGIONAIS
geral, abrange taxas de importao e exportao e quaisquer encargos ou cotas
que tendem a restringir o comrcio. Este tipo de integrao pode limitar-se a um
grupo de produtos, como ferro e ao, ou constituir uma integrao econmica
completa, tal como existia no Mercado Comum Europeu.
Mercado Comum
O Mercado Comum um tipo de integrao econmica que vai alm do que
estabelece a Unio Aduaneira, no admitindo restries aos fatores de produo,
isto , capital e trabalho.
Unio Econmica
Extenso do Mercado Comum, a Unio Econmica procura harmonizar as po-
lticas econmicas nacionais. Assim, os pases membros mudam suas legislaes,
para torna-las coerentes com os princpios estabelecidos neste tipo de bloco
econmico.
Integrao Econmica Total
Neste estgio, os pases componentes do bloco concordam com as condi-
es estabelecidas na unio econmica e vo alm. Adotam uma poltica mo-
netria comum.
Os pases membros passam a adotar, tambm, uma poltica monetria, scal,
social e anticclica uniforme, bem como delega-se a uma autoridade supra-na-
cional poderes para elaborar e aplicar essas polticas. As decises dessa autori-
dade devem ser acatadas por todos os Estados-Membros.
4.2 PRINCIPAIS BLOCOS ECONMICOS
4.2.1 UNIO EUROPIA (UE)
Dentre os blocos econmicos formados, destacamos em primeiro lugar, a
Unio Europia (UE). um bloco econmico, poltico e social de 25 pases euro-
peus que participam de um projeto de integrao poltica e econmica.
4.2.1.1 Pases participantes
Os pases integrantes desse bloco, atualmente, so: Alemanha, ustria, Blgi-
ca, Chipre, Dinamarca, Eslovquia, Eslovnia, Espanha, Estnia, Finlndia, Frana,
Grcia, Hungria, Irlanda, Itlia, Letnia, Litunia, Luxemburgo, Malta, Pases Baixos
(Holanda), Polnia, Portugal, Reino Unido, Repblica Checa e Sucia.
Estes pases so politicamente democrticos, com um Estado de Direito. Ob-
serva-se que a maioria dos dez ltimos pases que aderiram ao bloco, foram pa-
ses comunistas. Com o total de 25 pases, em 2004 o bloco passou a ter uma
populao de 455 milhes de habitantes e um PIB de US$ 12,56 trilhes.
4.2.1.2 Tratados que deniram a constituio jurdica, poltica e econmica
da UE
Os tratados que denem a Unio Europia so: o Tratado da Comunidade Eu-
ropia do Carvo e do Ao (CECA), o Tratado da Comunidade Econmica Euro-
pia (CEE), o Tratado da Comunidade Europia da Energia Atmica (EURATOM)
e o Tratado da Unio Europia (UE), conhecido tambm pelo nome de Tratado
46
TEMA 4
BLOCOS ECONMICOS E
ORGANISMOS REGIONAIS
de Maastricht. Este tratado, assinado em 7 de fevereiro de 1992 na cidade ho-
landesa de Maastricht, estabelece os fundamentos da integrao poltica, que
sustentada por trs pilares: o mercado nico constitudo pela Unio Econmica
e Monetria e mais dois pilares inter-governamentais constitudos pela Poltica
Externa e Segurana Comum (PESC) e Justia e Assuntos Internos (JAI).
4.2.1.3 Instituies bsicas da Unio Europia
A Unio Europia no uma federao, nem uma organizao de coope-
rao entre governos como as Naes Unidas. Possui, de fato, um carter nico.
Seus Estados membros congregaram as suas soberanias em algumas reas para
ganharem uma fora e uma inuncia no mundo que no poderiam obter isola-
damente.
Entenda-se por congregao de soberanias o fato de os Estados membrosde-
legarem alguns de seus poderes a instituies comuns que criaram, de modo a
assegurar que assuntos de interesse comum possam ser decididos democratica-
mente no mbito da Comunidade Europia.
Desta forma, para alcanar seus objetivos, a Unio Europia conta com trs
instituies bsicas:
O Parlamento Europeu;
O Parlamento possui trs funes principais: partilha o poder legislativo com
o Conselho; exerce o controle democrtico de todas as instituies da Unio
Europia, especialmente da Comisso; e partilha com o Conselho, a autoridade
sobre o oramento da Unio Europia, o que signica que pode inuenciar as
despesas relativas ao bloco.
O Parlamento Europeu tem sedes na Frana, na Blgica e em Luxemburgo.
A Comisso Europia;
o rgo executivo da Unio Europia. A Comisso a instituio politica-
mente independente que representa e salvaguarda os interesses da Unio Eu-
ropia. Ela a fora impulsionadora do sistema institucional: prope legislao,
polticas, programas de ao e responsvel pela execuo das decises do Par-
lamento e do Conselho.
O Conselho da Unio Europia,
O Conselho o principal rgo de tomada de decises da Unio Europia,
tendo sido institudo atravs dos tratados de fundao da dcada de 1950-1960.
Representa os Estados membros e, nas suas reunies participa um ministro do
governo nacional de cada um dos pases do bloco. A deciso de qual o ministro
que ir participar depende do tema a ser tratado.
4.2.1.4 A Moeda nica: o euro
Com o propsito de unicao monetria e facilitao do comrcio entre os
pases membros, a Unio Europia adotou o euro como moeda nica. A partir
de janeiro de 2002, doze pases ou Estados-membros, dentre os 15 que ento a
constituam, adotaram o Euro para livre circulao. Esses pases so: Alemanha,
47
TEMA 4
BLOCOS ECONMICOS E
ORGANISMOS REGIONAIS
ustria, Blgica, Espanha, Finlndia, Frana, Grcia, Irlanda, Itlia Luxemburgo, Pa-
ses Baixos e Portugal. Gr-Bretanha, Sucia e Dinamarca caram de fora da zona
do euro por opo poltica.
4.2.1.5 Objetivos da Unio Europia
Os objetivos prioritrios da Unio Europia so:
Promover a unidade poltica e econmica da Europa;
Melhorar as condies de vida e de trabalho dos cidados europeus;
Melhorar as condies de livre comrcio entre os pases-membros;
Reduzir as desigualdades sociais e econmicas entre as regies;
Fomentar o desenvolvimento econmico dos pases em fase de crescimento;
Proporcionar um ambiente de paz, de harmonia e de equilbrio na Europa.
4.2.2 MERCADO COMUM DO SUL - MERCOSUL
O Mercado Comum do Sul ou Mercado Comum do Cone Sul, tambm co-
nhecido de forma simplicada como MERCOSUL , foi institudo pelo Tratado de
Assuno, assinado em 26.03.91, pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, com o
objetivo de promover o desenvolvimento dos quatro pases mediante a confor-
mao de um espao econmico ampliado e, por via de conseqncia, de uma
insero mais competitiva na economia internacional.
A concepo do bloco evoluiu a partir do programa de aproximao econ-
mica entre Brasil e Argentina de meados dos anos 80 e tem dois grandes pilares:
a democratizao poltica e a liberalizao econmico-comercial.
4.2.2.1 A base legal do MERCOSUL
A base legal do MERCOSUL no Brasil est contida nos seguintes diplomas legais:
Decreto n 350, de 21.11.91, que promulga o Tratado de Assuno.
Decreto n 922, de 10.09.93, que promulga o Protocolo de Braslia, assinado
em 17.12.91, que estabelece as distintas etapas e procedimentos para a solu-
o de controvrsias no MERCOSUL.
Decreto n 1.901, de 09.05.96, que promulga o Protocolo de Ouro Preto, assi-
nado em 17.12.94, que deniu a estrutura institucional do MERCOSUL e con-
feriu ao MERCOSUL personalidade jurdica de Direito Internacional.
4.2.2.2 Objetivo do MERCOSUL
O objetivo principal do MERCOSUL a constituio de um Mercado Comum
entre os pases integrantes e, para tanto, se preocupa com:
a) eliminao de barreiras tarifrias e no-tarifrias no comrcio entre os pases
membros;
b) adoo de uma Tarifa Externa Comum (TEC);
A Tarifa Externa Comum (TEC) o pilar da Unio Aduaneira. A TEC, composta
das alquotas de importao e da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM
foi implantada pelos Estados-Partes, a partir de 01.01.95.
48
TEMA 4
BLOCOS ECONMICOS E
ORGANISMOS REGIONAIS
Em funo da TEC, todos os produtos importados de pases no-participantes
do MERCOSUL, esto sujeitos mesma alquota de imposto de importao ao
serem internalizados em qualquer dos Estados-Partes.
c) coordenao de polticas macroeconmicas;
d) livre comrcio de servios;
e) livre circulao de mo-de-obra;
f ) livre circulao de capitais.
4.2.2.3 Procedimentos indispensveis Exportao
A empresa que quiser exportar para o MERCOSUL deve vericar a classicao
tarifria da sua mercadoria (NCM) e se esta consta da lista do Regime de Adequa-
o do pas de destino, para conhecer a alquota a ser aplicada. A empresa deve
fazer essa consulta porque, em princpio, todos os participantes da rea podem
importar e exportar entre si sem gravames tarifrios. S os produtos constantes
da lista do Regime de Adequao que so tarifados. Da a necessidade do exa-
me prvio.
O Registro de Exportao, que um documento bsico de exportao, dever
conter o Cdigo do Acordo de Complementao Econmica n. 18 (ACE 18), que
poder ser vericado na tabela do SISCOMEX.
Finalmente, o exportador dever providenciar o Certicado de Origem a ser
enviado ao importador, emitido por entidades de classe privadas, que tenham
jurisdio federal ou estadual, relacionadas na Portaria Interministerial MF-MICT-
MRE n. 11, de 21.01.97. Esse documento comprova que a mercadoria foi produ-
zida no pas de origem, integrante do bloco econmico.
4.2.2.4 Estrutura do Mercosul
Conselho do Mercado Comum
rgo superior do bloco, formado pelos ministros de Economia e Relaes
Exteriores que trata da conduo do processo de integrao e dos acordos com
outros pases, organismos e blocos econmicos.
Grupo do Mercado Comum
rgo executivo do Mercosul, formado por tcnicos e especialistas em inte-
grao. Suas funes so as de propor projetos de deciso do Mercado Comum
e xar programas de trabalho que garantam avanos.
Comisso de Comrcio do Mercosul
rgo de assistncia do Grupo do Mercado Comum, com o objetivo de cuidar
da aplicao dos instrumentos de poltica comercial.
Comisso Parlamentar Conjunta
rgo representativo dos Parlamentos dos pases do Mercosul.
49
TEMA 4
BLOCOS ECONMICOS E
ORGANISMOS REGIONAIS
Foro Consultivo Econmico-Social
rgo representativo dos setores econmicos, sociais, integrado por entida-
des empresariais e trabalhistas.
Secretaria Administrativa do Mercosul
rgo de apoio operacional, responsvel pela prestao de servios aos de-
mais rgos do bloco, fornecendo documentos e publicaes das decises to-
madas no Mercosul.
4.2.2.5 O Mercosul e a consolidao da zona de livre comrcio
No ano de 1997, o MERCOSUL deu continuidade aos esforos para a consoli-
dao da zona de livre comrcio e para o aprofundamento da unio aduaneira.
Nesse sentido, tentando melhor aproximao internacional, quer seja com blo-
cos econmicos, quer seja com pases, o MERCOSUL avanou na discusso de
diversos temas, com destaque para:
a) cdigo aduaneiro e gesto aduaneira;
b) circulao intra-zona de mercadorias sujeitas ao pagamento de Tarifa Externa
Comum (TEC);
c) medidas e restries no-tarifrias;
d) regulamentos tcnicos;
e) regime automotor.
f ) regime aucareiro. regime de adequao.
g) anti-dumping e subsdios
h) defesa do consumidor.
i) polticas pblicas que distorcem a competitividade.
j) regimes especiais de importao.
k) compras governamentais.
l) servios;
m) propriedade intelectual.
4.2.2.6 Relacionamento externo do MERCOSUL
O MERCOSUL pessoa jurdica de direito internacional. Assim, o bloco coor-
dena a atuao das delegaes dos governos dos Estados-Partes nos distintos
foros econmico-comerciais internacionais, bem como instrui as respectivas
representaes permanentes em organismos econmicos internacionais para
a coordenao de posies e atuao conjunta em temas relacionados com a
poltica comercial comum da Unio Aduaneira.
4.2.2.7 Regime de Origem para o Comrcio Intra-MERCOSUL
Para que o produto brasileiro circule livre de tarifa de importao dentro do MERCOSUL
deve preencher determinados requisitos para ser considerado originrio de um dos Estados-
Partes, e, para tanto, deve estar acompanhado do Certificado de Origem do MERCOSUL.
50
TEMA 4
BLOCOS ECONMICOS E
ORGANISMOS REGIONAIS
De acordo com o estabelecido no Regulamento de Origem do MERCOSUL, as
mercadorias que tiverem que cumprir com o ndice de nacionalizao devero
observar o percentual de 60%. Este clculo feito considerando que o preo CIF
dos materiais importados no deve exceder 40% do preo FOB de exportao
da mercadoria.
As mercadorias dos setores qumico e siderrgico, de informtica e de teleco-
municaes, devero cumprir os requisitos especcos previstos no ACE n. 18.
4.2.2.8 Como Solucionar Diculdades
O exportador brasileiro que se sentir prejudicado por alguma restrio im-
posta sua mercadoria por parte de qualquer pas-membro, dever dar conhe-
cimento de suas diculdades, entre outros, ao Departamento de Negociaes In-
ternacionais da SECEX
14
que submeter o assunto Seo Nacional da Comisso
de Comrcio do MERCOSUL (CCM), para exame.
parte destas colocaes, cabe ressaltar, conforme descreve Ratti (2001:498),
que a mudana do regime cambial brasileiro, com a desvalorizao do real frente
ao dlar, em 15/01/1999, contribuiu para o surgimento de uma crise no Mercosul.
Com a desvalorizao os preos dos produtos exportveis brasileiros torna-
ram-se mais baratos em termos de dlar, causando preocupaes na Argentina
com a possibilidade de uma invaso de produtos brasileiros. Pressionadas por
setores que se sentiram prejudicados, as autoridades argentinas adotaram uma
srie de medidas protecionistas. Surgiram restries contra vrios produtos bra-
sileiros: tecidos, calados, papel, produtos siderrgicos, frango e acar.
4.2.3 NAFTA - ACORDO DE LIVRE COMRCIO DA AMRICA DO NORTE
O Acordo de Livre Comrcio da Amrica do Norte (North American Free Trade
Agreement NAFTA) teve incio em 1988 com a participao dos EUA e Canad.
Os dois pases rmaram Acordo de Liberalizao Econmica tendo sido criada
uma zona de livre comrcio entre os pases- membro. O acordo foi assinado em
1991. O Mxico aderiu ao bloco em 13 de agosto de 1992.
Este projeto entrou em vigor em 01 de janeiro de 1994 tendo sido acertado
um prazo de 15 anos para a total eliminao das barreiras alfandegrias entre os
trs pases-membros, cando facultada, a todos os Estados da Amrica Central
e do Sul, a livre adeso ao bloco.
4.2.3.1 Objetivos do NAFTA
O Acordo NAFTA visa promover a adequada e efetiva proteo aos direitos de
propriedade intelectual, estabelecer mecanismos para soluo de controvrsias
e fomentar uma rede trilateral e regional de cooperao na expanso dos bene-
fcios conseguidos com o acordo.
Na opinio de Manoel Ruiz, o NAFTA obteve bons resultados com o comrcio
regional no hemisfrio norte do Continente Americano, sendo um projeto para
fazer frente Comunidade Europia, e para ajudar a enfrentar a concorrncia
representada pela economia japonesa e pelo bloco econmico europeu.
De acordo com os dados publicados por esse autor, em novembro de 2005, a
14
Secretaria de Comrcio Exterior (SECEX) do Ministrio de Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior
51
TEMA 4
BLOCOS ECONMICOS E
ORGANISMOS REGIONAIS
populao do NAFTA abriga uma populao de 417.600.000 de habitantes, com
um PIB superior a US$ 11 trilhes, o qual gera US$ 1,5 trilho em exportaes e
US$ 1,8 trilho em importaes. O acordo estabelece a livre circulao de merca-
dorias e servios entre os pases-membros, com a eliminao das barreiras legais
e das tarifas alfandegrias, limitadas somente rea comercial. O objetivo am-
pliar os horizontes de mercado dos pases-membros e maximizar a produtivida-
de interna de cada pas. O NAFTA no pretende a unicao total das economias
dos pases-membros, ao contrrio da Unio Europia.
4.2.3.2 Desnvel scio-econmico entre os membros
O NAFTA diz ainda Manoel Ruiz - gerou muita polmica em relao dife-
rena socioeconmica entre o (Mxico) e (EUA e Canad) e enfrenta grande resis-
tncia para consenso em alguns acordos, pois o Mxico por ser o pas mais pobre,
com a menor renda per capita, maior ndice de analfabetismo e menor expecta-
tiva de vida entre os pases-membros, pode oferecer mo-de- obra mais barata e
aumentar a imigrao mexicana, tudo isso preocupa os EUA e Canad. Por outro
lado, o Mxico est preocupado com o intercmbio tecnolgico, automatizao
e a robotizao da sua indstria, que poderia aumentar o desemprego, e ainda
com uma economia mais fraca no teria condies de competir com o restante
do bloco.
4.2.4 Associao Latino-Americana de Integrao - ALADI
A Associao Latino-Americana de Integrao - ALADI - foi instituda pelo Tra-
tado de Montevidu, em 12.08.80, para dar continuidade ao processo de integra-
o econmica iniciado, em 1960, pela Associao Latino-Americana de Livre Co-
mrcio - ALALC. Este processo visa implantao, de forma gradual e progressiva,
de um mercado comum latino-americano, caracterizado, principalmente, pela
adoo de preferncias tarifrias e pela eliminao de restries no-tarifrias.
4.2.4.1 Membros-participantes divididos em trs categorias
A ALADI rene doze pases classicados em trs categorias, de acordo com
suas caractersticas econmico-estruturais:
Pases de Menor Desenvolvimento Econmico Relativo (PMDER): Bolvia,
Equador e Paraguai
Pases de Desenvolvimento Intermedirio (PDI): Chile,Colmbia, Peru, Uru-
guai e Venezuela.
Demais pases: Argentina, Brasil e Mxico
4.2.4.2 Tipos de Acordo no mbito da ALADI
Os Acordos podem ser de Alcance Parcial ou Regional, diferindo entre si pela
totalidade ou no de signatrios entre os pases-membros da Associao.
Os Acordos de Alcance Parcial (AAP) , so aqueles que no contam com a
participao da totalidade dos pases-membros da ALADI, sendo utilizados para
aprofundar o processo de integrao regional, atravs de sua progressiva multi-
lateralizao.
Para exportar para algum pas da ALADI, a empresa deve vericar se o produto
52
TEMA 4
BLOCOS ECONMICOS E
ORGANISMOS REGIONAIS
em questo objeto de preferncia em algum Acordo rmado com o Brasil e seu
respectivo cdigo (os cdigos constam de tabela existente no SISCOMEX). Deve
vericar tambm se o produto em questo se encontra negociado, assim como
sua respectiva classicao em NALADI/SH
15
(classicao tarifria da ALADI).
Por m, deve providenciar a emisso do Certicado de Origem junto a uma das
entidades credenciadas e envi-lo ao importador. Em caso de dvida quanto
classicao, contatar a Secretaria da Receita Federal de sua regio.
4.2.4.3 Certicado De Origem
O Certicado de Origem emitido pelas Federaes de Comrcio, Indstria e
Agricultura e algumas Associaes Comerciais, habilitadas, junto ALADI, para
tal m.
4.2.4.4 Regime de origem da ALADI x MERCOSUL
O Regime de Origem da ALADI mais exvel que o do MERCOSUL, pois per-
mite que os produtos tenham 50%, no mnimo, de contedo nacional para todos
os pases, exceto para os de menor desenvolvimento econmico, que podero
ter 40%.
No Regime de Origem do MERCOSUL necessrio que o produto apresente
60% de contedo regional.
4.2.4.5 Convnio de Crditos Recprocos ALADI
Em 1965 foi subscrito pelo Brasil, na cidade de Mxico, Mxico, o Acordo Geral
de Crditos Recprocos, o CCR, com vistas a estimular a cooperao nanceira La-
tino-Americana, facilitar e expandir o comrcio regional de bens e servios, redu-
zir as transferncias de divisas entre os Bancos Centrais dos pases convenentes.
Na verdade tal convnio veio suprir a falta de moeda forte, o dlar americano,
pois a moeda, embora grafada em dlares escritural e no desembolsada no
momento em que a operao liquidada.
Esses convnios se destinam ao registro de pagamentos correspondentes a
operaes diretas de qualquer natureza que se efetuem entre o Brasil e aqueles
pases conveniados, com reembolso atravs do Banco Central.
Entretanto, a operao s considerada segura se tiver uma garantia banc-
ria. Uma exportao em cobrana no oferece a garantia dada pelo Convnio
embora transitada dentro do mesmo, mas sem a garantia bancria. Ocorre que
os Bancos Centrais garantem os bancos conveniados, o que no acontece com
outras empresas no nanceiras.
4.2.5 Comunidade Andina (CAN)
uma organizao sub-regional com personalidade jurdica internacional
composta por Bolvia, Colmbia, Equador, Peru e Venezuela.
O principal objetivo da CAN contribuir para o desenvolvimento da regio
15
Em 1985, o Comit de Representantes da ALADI adotou a Nomenclatura Aduaneira da Associao Latino-Americana de Integrao
(NALADI), como base comum dos Acordos. A NALADI foi criada utilizando a Nomenclatura do Conselho de Cooperao Aduaneira (NCCA).
Era a NALADI/NCCA, que continha 7 dgitos. Posteriormente, o Sistema NCCA foi substitudo pelo Sistema Harmonizado de Designao e
Codicao de Mercadorias (SH), aprovado pelo Conselho de Cooperao Aduaneira, com o objetivo de atender a todos os segmentos do
comrcio, como instrumento scal ou gerador de dados para estatsticas de produo, comrcio exterior e transporte, alm de facilitar a
compatibilizao de estatsticas internacionais e simplicar as negociaes bilaterais e multilaterais.
53
TEMA 4
BLOCOS ECONMICOS E
ORGANISMOS REGIONAIS
mediante a integrao econmica e social dos pases membros e a gradual for-
mao de um mercado comum latino-americano.
4.2.6 Mercado Comum do Caribe (CARICOM)
Pelo tratado assinado em 30/04/1968 foi constituda a Associao de Livre
Comrcio do Caribe, mais conhecida por CARIFTA (Caribbean Free Trade Associa-
tion). Era composta de quatro pases (Barbados, Guiana, Jamaica e Trinidad-Toba-
go) e sete territrios (Antgua, Dominica, Granada, Montserrat, San Kitts-Nevis-
Anguilla, Santa Lcia e So Vicente). Em 01/05/1971, houve a adeso de Belize
(antiga Honduras Britnicas).
A Associao foi formada com o objetivo de expandir e diversicar o comrcio
intrazonal atravs da eliminao das barreiras aduaneiras, bem como promover
o desenvolvimento equilibrado e progressivo das economias da rea.
Em 04/07/1973, Barbados, Guiana, Jamaica e Trinidad-Tobago rmam o trata-
do que criava o Mercado Comum do Caribe ou CARICOM (Caribbean Common
Market), em substituio CARIFTA.
4.2.5 Cooperao Econmica da sia e do Pacco (APEC)
A APEC (Asia-Pacic Economic Cooperation) foi criada no ano de 1989 na Aus-
trlia, inicialmente apenas como um frum de conversaes informais entre os
pases membros da ASEAN (Associao das Naes do Sudeste Asitico) e seus
parceiros econmicos da regio do Pacco, como EUA e Japo. Porm, s no
ano de 1993 adquiriu caractersticas de um bloco econmico na Conferncia de
Seattle (Estados Unidos), quando os membros se comprometeram a transformar
o Pacco em uma rea de livre comrcio.
4.2.5.1 Por que foi criada a APEC
A criao da APEC surgiu em decorrncia de um intenso desenvolvimento
econmico ocorrido na regio da sia e do Pacco, propiciando uma abertu-
ra de mercado entre 22 pases mais Hong Kong (China), alm da transforma-
o da rea do sudeste asitico em uma rea de livre comrcio nos anos que
antecederam a criao da APEC, causando um grande impacto na economia
mundial. Um aspecto estratgico da aliana, aproximar a economia norte-
americana dos pases do Pacco, a para contrabalanar com as economias do
Japo e de Hong Kong.
4.2.5.2 Aspectos positivos da Apec
Entre os aspectos positivos da criao da APEC esto o desenvolvimento das
economias dos pases-membros que expandiram seus mercados, sendo que
hoje em dia, alm de produzirem sua mercadoria, correspondem a 46% das ex-
portaes mundiais, alm da aproximao entre a economia norte- americana e
os pases do Pacco e do crescimento da Austrlia como exportadora de mat-
rias-primas para outros pases membros do bloco.
Como aspecto negativo, pode-se salientar que um dos maiores problemas da
APEC, seno o maior, a grande diculdade em fazer coincidir os diferentes in-
teresses dos pases-membros e daqueles que esto ligados ao bloco, como Peru,
Nova Zelndia, Filipinas e Canad.
54
TEMA 4
BLOCOS ECONMICOS E
ORGANISMOS REGIONAIS
O bloco rene uma populao de 2.559,3 milhes de habitantes, alcanando
um PIB de US$ 18,6 trilhes, exportaes no valor de US$ 2,9 trilhes e importa-
es de US$ 3,1 trilhes.
4.2.5.3 Pases-membros da APEC
Os pases-membros da APEC so: Austrlia, Brunei, Canad, Darussalam, Cana-
d, Indonsia, Japo, Malsia, Nova Zelndia, Filipinas, Cingapura, Coria do Sul,
Tailndia e Estados Unidos, desde 1989; China, Hong Kong e Formosa (Taiwan),
desde 1991; Mxico e Papua-Nova Guin, desde 1993; Chile, a partir de 1994; e
Peru, Rssia e Vietn, a partir de 1998.
4.2.6 rea de Livre Comrcio das Amricas (ALCA)
A Cpula de Miami, tambm chamada Cpula das Amricas, realizou-se de 9
a 11 de dezembro de 1994, em Miami, Estados Unidos. Reuniu chefes de Estado
e de Governo de trinta e quatro pases de todas as Amricas que tomaram a
iniciativa de criao da rea de Livre Comrcio das Amricas (ALCA). Na deno-
minao original ela conhecida como FTAA (Free Trade rea of the Amricas).
4.2.6.1 Pases que fazem parte da ALCA
A ALCA composta por 34 pases: Antgua e Barbuda, Argentina, Bahamas,
Barbados, Belize, Bolvia, Brasil, Canad, Colmbia, Costa Rica, Chile, Domini-
ca, Equador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guiana, Haiti,
Honduras, Jamaica, Mxico, Nicargua, Panam, Paraguai, Peru, Repblica Do-
minicana, St. Kittis e Nevis, Santa Lucia, So Vicente e Granadinas, Suriname,
Trinidad e Tobago, Uruguai, e Venezuela. Atualmente o Brasil detm a Pre-
sidncia e, o Equador, a Vice-Presidncia. O nico pas que no participa da
ALCA Cuba.
4.2.6.2 Evoluo estrutural e negocial da ALCA
Na Primeira Reunio Ministerial sobre Comrcio, realizada em Denver, EUA, em
30.6.95, foram constitudos sete Grupos de Trabalho: acesso a mercados; direi-
tos aduaneiros e regras de origem; investimentos; normas e barreiras tcnicas ao
comrcio; medidas sanitrias e tossanitrias; subsdios; e economias menores.
Esses grupos tinham o objetivo de iniciar um programa de trabalho para pre-
parar o incio das negociaes da ALCA, na qual as barreiras ao comrcio e aos
investimentos seriam eliminadas progressivamente, o mais tardar at 2005, ano
em que as negociaes seriam concludas.
Na Segunda Reunio Ministerial sobre Comrcio, realizada em maro de 1996,
em Cartagena, Colmbia, criaram-se mais quatro grupos de trabalho servios,
compras governamentais, defesa da concorrncia e direitos de propriedade in-
telectual.
Esses grupos de trabalho realizaram reunies ao longo de 1995, 1996 e 1997.
O Banco Central do Brasil participou do Grupo de Trabalho sobre Investimentos
(GTI) e do Grupo de Trabalho sobre Servios (GTS).
Na Quarta Reunio Ministerial sobre Comrcio, realizada em maro de 1998,
em So Jos da Costa Rica, foram denidos os seguintes aspectos sobre as nego-
ciaes da Alca:
55
TEMA 4
BLOCOS ECONMICOS E
ORGANISMOS REGIONAIS
a) incio formal em abril de 1998.
b) o acordo nal ser equilibrado, abrangente, congruente com a OMC e constitui-
r um compromisso nico. Sero levadas em conta as necessidades, as condi-
es econmicas e as oportunidades das economias menores. As negociaes
sero transparentes e se basearo no consenso para a tomada de decises.
c) a ALCA pode coexistir com acordos bilaterais e sub-regionais. As negociaes
deveriam estar concludas , no mais tardar, no ano de 2005. Motivos polticos
e econmicos no permitiram que as negociaes fossem concludas.
Com as eleies majoritrias que ocorrero no Brasil em 2006 (Presidncia da
Repblica e Governo dos Estados Federados) dicilmente as negociaes sero
concludas. A agenda ser domstica e poltica.
A estrutura institucional para as negociaes ser composta por: um Comit
de Negociaes Comerciais (CNC) no nvel de Vice-Ministros; nove grupos de ne-
gociao: acesso a mercados; investimentos; servios; compras governamentais;
soluo de controvrsias; agricultura; direitos de propriedade intelectual; subs-
dios, anti-dumping e medidas compensatrias; e polticas de concorrncia.
4.2.6.3 A ALCA hoje
A alnea c) acima inserida suciente para comprovar o estado inercial em
que se encontram os trabalhos para implementao da ALCA. Nada foi conclu-
do. Outros assuntos esto tomando a agenda das naes envolvidas e o assunto
ALCA foi colocado em segundo plano . Entretanto, para o bem ou para o mal, o
acordo ser alcanado. S no se sabe quando.
4.3 ORGANISMOS INTERNACIONAIS
4.3.1 Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
O PNUD - Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento - tem como
objetivo central o combate pobreza. Em resposta ao compromisso dos lde-
res mundiais de atingir os Objetivos de Desenvolvimento do Milnio (ODM), o
PNUD adota uma estratgia integrada, sempre respeitando as especicidades de
cada pas. Seus objetivos esto voltados, em primeiro lugar, para a promoo da
governabilidade democrtica e para o apoio implantao de polticas pblicas
e ao desenvolvimento local integrado, para a preveno de crises e recuperao
de pases devastados, assim como para a utilizao sustentvel da energia e do
meio ambiente. Mas trabalha tambm pela disseminao da tecnologia da in-
formao e da comunicao em prol da incluso digital, e ainda na luta contra o
HIV/AIDS. O PNUD uma instituio multilateral e uma rede global presente hoje
em 166 pases, pois est consciente de que nenhuma nao pode gerir sozinha a
crescente agenda de temas do desenvolvimento.
Advogado das mudanas necessrias para a sustentabilidade do planeta e de
melhores condies de vida dos povos, o PNUD conecta pases a conhecimen-
tos, experincias e recursos, ajudando pessoas a construir uma vida mais digna.
Dessa forma, trabalha conjuntamente no mbito das solues traadas pelos pa-
ses-membros, para fortalecer as capacidades locais e proporcionar acesso, tanto
aos recursos humanos, tcnicos e nanceiros do PNUD e da cooperao externa,
quanto sua ampla rede de parceiros constituda pelos governos nacionais e
locais, pelo terceiro setor, pelas universidades e centros de excelncia, pelo setor
privado, e por outros organismos internacionais.
56
TEMA 4
BLOCOS ECONMICOS E
ORGANISMOS REGIONAIS
4.3.1.1 Projetos do PNUD no Brasil
Projetos de desenvolvimento local j foram implantados em 58 municpios.
Setecentas e vinte organizaes foram incentivadas e 13.908 produtores capaci-
tados, graas ao trabalho conjunto de 150 parceiros identicados e coordenados
pelo PNUD. Trata-se de iniciativas para expandir as condies de cidadania plena
e estimular a abertura de novas oportunidades scio-econmicas e polticas nas
localidades com baixo ndice de Desenvolvimento Humano (IDH
16
).
Em parceria com o SEBRAE (Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas
Empresas), foi implementado o EMPRETEC (Programa de Desenvolvimento de
Empreendedores), que j orientou mais de 50 mil pessoas para a montagem e
administrao de negcios prprios.
Em parceria com o Ministrio da Educao, o PNUD apoiou a implantao do
Programa Proformao, que emprega ensino a distncia e presencial para certi-
cao de professores leigos do ensino fundamental. At 2002, nas regies Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, cerca de 23 mil professores das escolas pblicas de mil
e quatrocentos municpios concluram o curso Proformao.
4.3.2 PNUMA
O PNUMA um Programa das Naes Unidas para o Meio Ambiente. Foi criado
como resultado da Conferncia das Naes Unidas sobre Meio Ambiente Huma-
no realizada em Estocolmo, no ano de 1972. Pela primeira vez, o tema ambiental
e a necessidade de compatibilizar crescimento econmico com o manejo sus-
tentvel de recursos naturais foram incorporados na agenda poltica internacio-
nal. Como parte da Organizao das Naes Unidas, o PNUMA tem como misso
promover atividades e encorajar parcerias na rea ambiental.
4.3.3 Organizao Internacional do Trabalho (OIT)
A OIT foi criada em 1919 pela Conferncia de Paz, aps a Primeira Guerra
Mundial, com o objetivo de promover a justia social.
A sua Constituio converteu-se na Parte XIII do Tratado de Versalhes. Em 1944,
luz dos efeitos da Grande Depresso, a da Segunda Guerra Mundial, a OIT ado-
tou a Declarao da Filadla como anexo da sua Constituio. A Declarao an-
tecipou e serviu de modelo para a Carta das Naes Unidas e para a Declarao
Universal dos Direitos Humanos. Em 1969, em seu 50 aniversrio, a Organizao
foi agraciada com o Prmio Nobel da Paz. Em seu discurso, o presidente do Comi-
t do Prmio Nobel armou que a OIT era uma das raras criaes institucionais
das quais a raa humana podia orgulhar-se.
Em 1998, aps o m da Guerra Fria, foi adotada a Declarao da OIT sobre os
Princpios e Direitos Fundamentais no Trabalho e seu Seguimento. O documento
uma rearmao universal da obrigao de respeitar, promover e tornar rea-
lidade os princpios reetidos nas Convenes fundamentais da OIT, ainda que
no tenham sido raticados pelos Estados Membros.
Desde 1999, a OIT trabalha pela manuteno de seus valores e objetivos em
prol de uma agenda social que viabilize a continuidade do processo de globa-
lizao atravs de um equilbrio entre objetivos de ecincia econmica e de
equidade social.
16
O ndice de Desenvolvimento Humano (IDH) mede o nvel de desenvolvimento humano dos pases utilizando como critrios indicadores
de educao (alfabetizao e taxa de matrcula), longevidade (esperana de vida ao nascer) e renda (PIB per capita).
57
TEMA 4
BLOCOS ECONMICOS E
ORGANISMOS REGIONAIS
4.3.3.1 Objetivos estratgicos da OIT
Os objetivos estratgicos da OIT podem ser resumidos nos seguintes:
a) Promover os princpios fundamentais e direitos no trabalho atravs de um
sistema de superviso e de aplicao de normas;
b) Promover melhores oportunidades de emprego/ renda para mulheres e ho-
mens em condies de livre escolha, de no discriminao e de dignidade;
c) Aumentar a abrangncia e a eccia da proteo social;
d) Fortalecer o tripartismo e o dilogo social.
4.3.4 FAO Organizao das Naes Unidas para a Alimentao e Agricultura
4.3.4.1 Finalidade da criao da FAO
A FAO - Organizao das Naes Unidas para a Alimentao e a Agricultura-
foi criada em 1945 com o mandato de liberar a humanidade da fome. No pre-
mbulo de sua carta constitutiva, os Estados-membros fundadores, entre eles o
Brasil, comprometeram-se a fomentar o bem-estar geral, intensicando as aes
individuais coletivas com vistas a:
a) elevar os nveis de vida e de nutrio dos povos sob sua jurisdio;
b) melhorar o rendimento da produo e a eccia da distribuio dos produtos
agrcolas e dos alimentos em geral;
c) melhorar as condies das populaes rurais e contribuir para a expanso da
economia mundial.
No nal de 2005, faziam parte do Organismo internacional, 187 pases. O Brasil
um de seus mais importantes contribuintes e o mais importante entre os pa-
ses em desenvolvimento. O Governo brasileiro e a FAO rmaram, em 1995, im-
portante acordo de cooperao denominado Acordo para Uso de Peritos, que
compreende o apoio nanceiro do organismo a atividades de cooperao tc-
nica entre pases em desenvolvimento. Iniciou-se, assim, um processo de coope-
rao tripartida Brasil/FAO/PALOPS, envolvendo o Brasil, a FAO e os cinco Pases
Africanos de Lngua Ocial Portuguesa.
Merece meno, ainda, o papel fundamental desempenhado pelo Brasil ao lon-
go do processo de negociao dos textos adotados durante a Cpula Mundial da
Alimentao, organizada e patrocinada pela FAO. A Cpula realizou-se em Roma,
em novembro de 1996, tendo aprovado dois documentos: a Declarao Poltica e
o Plano de Ao, cujo objetivo o de combater a fome e a desnutrio no mundo
e garantir, por conseguinte, a segurana alimentar em escala global. Esta meta en-
contra-se em plena consonncia com a poltica social do Governo brasileiro, que
tem na busca da segurana alimentar um dos seus pontos cardeais.
4.4 AS ONGs INTERNACIONAIS
4.4.1 Caracterstica das ONGs
As Organizaes No-Governamentais (ONGs) tm desempenhado um impor-
tante papel na sociedade contempornea, atuando no espao pblico, embora
no sendo estado, ou atuando no setor privado, mesmo no sendo entidades
lucrativas. Com origem ou sustentao neste espao, vieram a constituir-se, em
cada uma, referncias institucionais originais prprias. No conjunto, elas se dife-
58
TEMA 4
BLOCOS ECONMICOS E
ORGANISMOS REGIONAIS
renciavam do primeiro setor, o Estado, e do segundo setor, o mercado, assumindo
uma caracterstica e um modo peculiar de ser e agir, baseado na concepo de
gesto social.
4.4.2 Mudanas e ajustes organizacionais
A partir das mudanas ocorridas no macro-contexto mundial, as ONGs tam-
bm passaram a experimentar profundos ajustes organizacionais, baseados na
concepo de gesto estratgica, que tm provocado alteraes conceituais no
seu carter institucional original. Foram pesquisadas as transformaes ocorri-
das em tal carter institucional de sete ONGs Internacionais de maior porte no
Brasil, aps a implantao de modernas prticas administrativas, prprias do se-
tor privado.
4.4.3 Tornam-se estrategicamente mais funcionais
Tomando-se por base aquela amostra, pde constatar-se que as ONGs esto
se tornando mais funcionais, dentro da lgica de gesto estratgica, imposta
principalmente pelas regras atuais do mercado, e isso tem trazido impacto des-
gurador imediato sobre os valores de referncia institucional delas.
Nas dcadas anteriores aos anos oitenta do sculo passado, o macro-ambien-
te das Organizaes No-Governamentais - ONGs - apresentava-se extremamen-
te estvel. Era caracterizado por fontes de nanciamento abundantes e pouca
exigncia em termos de eccia e impacto nos resultados. Tal contexto fazia com
que no houvesse muita preocupao, por parte delas, com gerenciamento e
estratgias organizacionais.
4.4.4 Adaptam estrutura e organizao
No entanto, transformaes ocorridas no cenrio mundial obrigaram as ONGs
a experimentarem sucessivos ajustes organizacionais. grande maioria das ONGs
viveu processos bastante severos de reengenharia interna e externa, na tentativa
de garantir a sobrevivncia. Muitas delas no conseguiram. A nfase passou a ser
na sustentabilidade nanceira e na consecuo de resultados mensurveis, prin-
cipalmente atravs da sua insero no ambiente de mercado. Com isso, as aes
de presso poltica e militncia social, to presentes no cotidiano das ONGs du-
rante os anos 70, passaram para segundo plano na ltima dcada.
ONGs internacionais, como Anistia Internacional, Human Rights Watch, Comis-
so Internacional de Justia e Oxfam, so organizaes globais poderosas com
equiparados interesses organizacionais e capacidades. A Anistia Internacional,
por exemplo, recebe doaes de seus scios que variam de meio a um milho
de dlares, e seu oramento anual opera 30 milhes de dlares, com projetos
em mais de 140 pases. A Human Rights Watch vangloria-se em terde mais de 22
milhes, e o recurso anual da Oxfam Internacional mais que 300 milhes. Estes
recursos constituem uma poderosa base para manter acesso mdia (projeo
na mdia e reportagens detalhadas), e para a comunidade diplomtica.
ANOTE
ANOTE
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
62
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5 MERCADO CAMBIAL
Objetivos do tema
Oferecer noes sobre poltica cambial, operaes de cmbio e caractersticas
do mercado de cmbio no que diz respeito ao comrcio exterior;
Proporcionar o conhecimento dos instrumentos de pagamentos que amparam
as operaes de comrcio exterior;
Evidenciar a importncia dos mesmos e o cuidado em utiliz-los de maneira a
assegurar a liquidao de suas operaes, nas ticas de empresrios, comer-
ciantes, exportadores, banqueiros e nanciadores.
5.1 GENERALIDADES
O mercado de cmbio pode ser considerado como uma passagem atravs da
qual os uxos de moeda estrangeira se convertem em moeda nacional e vice-
versa.
So ofertantes nesse mercado as pessoas fsicas e jurdicas que possuem mo-
eda estrangeira e desejam trocar por moeda nacional.
Em contraposio aos ofertantes, as pessoas que desejam ou necessitam ad-
quirir a moeda estrangeira so, no sistema cambial, demandantes
Isso signica que a mercadoria transacionada nesse mercado a divisa. Divisa
qualquer moeda estrangeira utilizvel em transaes econmicas internacio-
nais. As transaes envolvem, em geral, qualquer cidado, tanto os residentes no
pas como os residentes no exterior. Da mesma forma, o custo em moeda nacio-
nal das divisas, isto , a taxa de cmbio, representa o preo nesse mercado.
No grupo de ofertantes de moeda estrangeira esto:
os exportadores, que vendem suas mercadorias para o exterior e so pagos
em moeda estrangeira. So obrigados, pela legislao cambial, a vender s
instituies autorizadas a operar em cmbio;
os turistas estrangeiros, que trazem moeda estrangeira e necessitam troc-la
pela moeda nacional (domstica);
os investidores internacionais, que trazem divisas para aplicar no pas;
os agentes econmicos, em geral, que tomam recursos no exterior para apli-
carem em suas atividades.
No grupo dos demandantes da moeda estrangeira esto:
os importadores;
os turistas brasileiros em viagem para o exterior;
os agentes econmicos que investem ou enviam renda para o exterior;
os agentes econmicos (pessoas, empresas e governo) que possuem dvidas
no exterior e que precisam enviar divisas para quitar seus compromissos.
5.2 POLTICA CAMBIAL
A poltica cambial passou por alteraes nos ltimos 30 anos. At agosto de
1968, tnhamos uma taxa xa que s se alterava na mudana presidencial. A par-
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
63
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
tir de agosto de 1968 foi introduzido o regime de minidesvalorizao. O objetivo
da mudana era fazer com que nossa moeda, desvalorizada a conta-gotas, tor-
nasse mais competitivo nossos produtos no exterior, dando maior rentabilidade
ao setor exportador. Foi o incio da era denominada milagre brasileiro, quando o
pas cresceu com altas taxas do PIB e nas exportaes.
Intercalamos perodos de abundncia em divisas, com escassez no perodo
de 1982 a 1987, quando o cmbio chegou a ser centralizado no Banco Central.
No dia primeiro de julho de 1994, com a introduo da moeda nacional atual,
o real, o mercado foi se tornando livre, isto , passou a atuar sem a presena os-
tensiva do Banco Central do Brasil (Bacen).
Tal prtica levou a uma valorizao do Real criando tambm incentivos para
as importaes.
Aquele ano 1994 foi o ltimo da dcada de 1990 em que o pas teve
supervit na balana comercial. O Brasil s voltaria a ter supervit na balana
comercial no ano de 2001. A moeda manteve-se estvel em relao ao dlar
dos Estados Unidos e s em janeiro de 1999, com a unificao dos Mercados
Livres e Flutuantes que a moeda brasileira se descolou da moeda norte-
americana.
Uma desvalorizao cambial uma medida de poltica econmica governa-
mental, mas ela ocorre simplesmente porque o Banco Central, que o maior de-
tentor de divisas estrangeiras, anuncia que passar a praticar um preo mais alto
em suas transaes cambiais. No um anncio formal. Percebe-se a ao do
Banco Central pelo comportamento dos dealers que agem em nome da autar-
quia federal. Este fato ou ao tem o poder de alterar as curvas de oferta e
demanda por divisas instantaneamente.
Se o Banco Central do Brasil estiver comprando divisas a um preo mais alto
do que o mercado, ir elevar a curva de demanda, desvalorizando a moeda na-
cional.
Mas, quais os impactos de uma desvalorizao cambial sobre os demais ma-
cromercados?
No mercado de bens e servios, teremos um aumento na demanda agrega-
da por produtos nacionais. Isto porque o preo dos importados car mais alto
em moeda local, fazendo com que uma parcela maior do gasto seja canalizada
para a compra de produtos nacionais. Por outro lado, com os produtos nacionais
mais baratos em moeda internacional, aumentar a procura dos mesmos pelos
importadores no exterior, aumentando nossas exportaes.
5.3 OPERAES DE CMBIO
5.3.1 Conceito
Cmbio uma operao nanceira que consiste em vender, trocar ou com-
prar valores em moedas de outros pases ou papis que representem moedas de
outros pases. a troca de moeda de um pas pela de outro.
5.3.2 Mercado de Cmbio
o conjunto de operaes de cmbio, ajustadas entre operador e cliente ou
entre operadores, situados na mesma cidade, pas ou em cidades e pases dife-
rentes.
64
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
5.3.3 Caractersticas do Mercado
De acordo com as condies, podemos ter:
Mercado calmo (estvel);
Mercado nervoso (sujeito a oscilaes de segundos ou minutos);
Mercado oferecido (grande oferta de moeda ou excesso);
Mercado procurado (grande procura de moeda ou escassez).
De acordo com as caractersticas das operaes, temos:
Mercado pronto;
Mercado futuro;
Mercado interbancrio;
Fatores sensibilizadores do mercado de cmbio
Medidas adotadas pelas autoridades monetrias;
Balanos de Pagamentos;
Cotaes do ouro;
Alteraes acentuadas nas condies climticas;
Resultados de eleies presidenciais;
Conitos entre naes.
5.4 CLASSIFICAO DAS OPERAES DE CMBIO
5.4.1 Quanto ao Tipo
Cmbio Manual: consiste na compra e venda de moeda estrangeira em esp-
cie, ou seja, a troca fsica de dinheiro estrangeiro pela moeda nacional ou
vice-versa;
Cmbio Sacado: so operaes que envolvem saques sobre haveres junto a
banqueiro no exterior.
5.4.2 Quanto Natureza
Comerciais: so operaes relacionadas com o comrcio exterior (importa-
es exportaes), tais como: importao, exportao, frete, seguro, comisso
de agente;
Financeiras: ingresso e sada de capitais;
Pagamento de Assistncia Tcnica;
Pagamento de Direitos Autorais;
Royalties;
Juros;
Dividendos;
Lucros.
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
65
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
5.4.3 Mercado paralelo de cmbio
O mercado paralelo de cmbio nada mais do que realizar operaes conduzi-
das por meio de pessoas fsicas ou jurdicas no autorizadas a operar no merca-
do de cmbio. Trata-se, pois, de operaes ilegais . Assim, a denominao correta
desse mercado seria mercado negro ou mercado clandestino de cmbio. Con-
sagrou-se, porm, a expresso paralelo, por se tratar de uma operao de cmbio
paralela ao cmbio ocial ou talvez, at, por ser um termo menos chocante que
clandestino ou ilegal,
Por ser um mercado ilegal, constitudo, alimentado, ofertado e demandado
ao arrepio das leis, encontra terreno frtil em operaes clandestinas de cmbio,
nas remessas clandestinas de lucros e nas operaes de lavagem de dinheiro por
desvio de verbas pblicas. Atua sempre no mbito de operaes ilegais.
5.4.4 Posio de Cmbio
Tempos atrs, os bancos que atuavam no mercado de cmbio eram obrigados
a manter uma posio, de acordo com o limite previamente acertado com o BA-
CEN e sempre levando em conta seu patrimnio lquido. Hoje o BACEN dispen-
sou a exigncia de limite, mas passou a xar a posio do Banco de acordo com
seu patrimnio lquido. Qual a diferena? Se, no passado, o Banco no poderia ter
mais do que US$ 10.000.000,00 de posio comprada, mesmo que seu patrim-
nio lquido permitisse, agora poder ter uma posio comprada de qualquer va-
lor, desde que seu patrimnio Lquido esteja ajustado s exigncias do BACEN.
Mas, o que vem a ser posio de cmbio comprada, vendida e nivelada?
Posio comprada (long position) revela a posio em cmbio de uma insti-
tuio nanceira autorizada a operar nesse mercado e que comprou moeda
estrangeira no mercado e seu saldo ultrapassa as sua vendas de cmbio.
A posio vendida (short position), por outro lado, revela a posio cambial de
uma instituio que vendeu muita moeda estrangeira no mercado, superan-
do as compras efetuadas.
E assim, temos que a posio nivelada (balanced) uma posio conservado-
ra do Banco. Est simplesmente empatado em vendas e compras de divisas
estrangeiras.
E qual seria a posio ideal de cmbio? Depende, certamente, da instituio
envolvida na operao. A cada banco compete analisar situaes e diante dos
dados reais e tendncias do mercado tem condies de projetar uma operao
de cmbio mais rentvel.
No incio de fevereiro de 2006, o mercado previa uma forte queda do dlar
americano, com o fortalecimento da moeda brasileira o Real. Nesse caso, a ins-
tituio procurava manter uma posio vendida, pois adquiriria por um valor
menor as divisas que deveria entregar, no futuro, ao importador.
5.5 MOEDAS ESTRANGEIRAS
Moeda a unidade de valor aceita como instrumento de troca numa comu-
nidade. A moeda estrangeira aquela que utilizada como meio de troca em
outros pases, isto , fora de seu mercado domstico.
66
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
5.5.1 Quanto ao Aspecto Cambial
So conversveis, aceitas livremente por outros pases:
Dlar dos Estados Unidos Estados Unidos
Libra Esterlina Inglaterra
Iene Japo
Euro Unio Europia
Coroa Sueca Sucia
Coroa Dinamarquesa Dinamarca
Coroa Norueguesa Noruega
Dlar Canadense Canad
Franco Suo Sua
So inconversveis, mas no so aceitas ou tm curso dicultado por outros
pases:
Real Brasil
Guarani Paraguai
Rpia ndia
Dinar Argelino Arglia
5.5.2 Moeda Escritural ou de Convnio
Moeda escritural ou de convnio aquela que decorre de acordos bilaterais
ou multilaterais de pagamentos, com o objetivo de desenvolver ou de regular o
intercmbio comercial entre pases de moedas inconversveis.
5.5.3 Acordo bilateral
Os convnios bilaterais de pagamento tm por objetivo facilitar e por conseq-
ncia, desenvolver o intercmbio comercial entre dois pases. Podem xar quan-
titativamente ou qualitativamente as importaes, exportaes e operaes -
nanceiras. Geralmente contm dispositivos sobre a forma de compensao dos
dbitos e crditos e estabelecem um teto operacional, assim como a moeda para
pagamento das transaes entre os pases convenientes, o prazo para pagamen-
to de saldos alm do referido teto, etc.
As compras ou vendas de cmbio referentes a transaes ao amparo de con-
vnios bilaterais mantidos pelo Brasil so celebradas em dlares americanos.
Quando da liquidao de tais compras, o banco operador recebe do Banco Cen-
tral o valor em dlares, atravs de ordens de pagamento, junto ao banqueiro que
for indicado. Na liquidao de vendas, o Banco Central que recebe do banco
operador o crdito no exterior. Cabe ao Banco Central debitar ou creditar, confor-
me o caso, a conta do Banco Central do outro pas.
Foi um instrumento muito usado no passado, poca da Guerra Fria, isto ,
at queda do Muro de Berlim e era das reformas no tempo da glasnost e da
perestroika na Unio Sovitica.
A partir dessa poca, os convnios vencidos no foram renovados, permane-
cendo apenas um, com a Hungria.
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
67
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
5.5.4 Acordos Multilaterais
So acordos do tipo Convnio de Crditos Recprocos, mantido com os pases
da ALADI (Associao Latino-Americana de Integrao). A moeda utilizada nos
convnios, geralmente, o dlar dos Estados Unidos.
So os convnios mantidos entre diversos pases, com um texto uniforme b-
sico e instrumentos especcos entre os pases participantes (convenientes).
Em 1965 foi subscrito pelo Brasil, na cidade de Mxico, Mxico, o Acordo Geral
de Crditos Recprocos, o CCR, com o objetivo de estimular a cooperao nan-
ceira Latino-Americana, facilitar e expandir o comrcio regional de bens e ser-
vios e reduzir as transferncias de divisas entre os Bancos Centrais dos pases
convenientes.
Na verdade, tal convnio veio suprir a falta de moeda forte, o dlar americano,
pois a moeda, embora grafada em dlares, escritural e no desembolsada no
momento em que a operao liquidada.
Como foi dito acima, trata-se, verdadeiramente, de uma contabilizao escri-
tural da moeda e no de transferncia bancria para a conta do credor. Seria, nos
dias de hoje, como que uma moeda virtual. Por isso, possvel que alguns pases
quem inadimplentes na compensao, pois o acerto tem que ser em moeda
forte, isto , em dlar dos Estados Unidos. Nesses encontros de contas (compen-
sao) cada banco central comunica ao respectivo banco central de cada pas,
quanto tem a haver e quanto deve em relao ao terceiro pas. Cada banco cen-
tral efetua apenas um pagamento ao banco agente, ou faz jus ao recebimento,
se for o caso.
As operaes ao amparo de CCR dos clientes com bancos autorizados a operar
no convnio e destes com o banco central, so expressas em dlares dos Estados
Unidos, bem como todos os documentos pertinentes (saques, faturas, etc).
So muitas as operaes cursadas dentro do convnio pela segurana que ofe-
rece aos exportadores e importadores, pois a garantia do pagamento deixa de
ser comercial (importador) e passa a ser poltica (Governo), pois os bancos cen-
trais que se responsabilizam pelo reembolso.
5.5.5 Garantia bancria
A operao s considerada segura se tiver uma garantia bancria. Uma ex-
portao em cobrana no oferece a garantia dada pelo convnio, embora tran-
sitada dentro do mesmo, mas sem a garantia bancria.
Ocorre que os bancos centrais garantem os bancos conveniados, o que no
ocorre com outras empresas no nanceiras. Atualmente, o Banco Central do
Brasil mantm convnios com os seguintes pases: Argentina, Bolvia, Chile, Co-
lmbia, Equador, Mxico, Peru, Repblica Dominicana, Uruguai e Venezuela.
5.5.6 Paridade
Denida como sendo o preo de uma moeda estrangeira em relao outra. A
mais utilizada a paridade em relao ao Dlar dos Estados Unidos.
Exemplo: Se para comprar US $ 1,00 so necessrios oitenta e dois centavos
de euros ( 0,82) , diz-se que a paridade da Euro em relao ao Dlar Americano
de 0,82 por 1, ou seja, 0,82 valem US $ 1,00.
68
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
Assim, se algum tem 500,00 e quer transform-los em dlares, divide-se o
valor por 0,82, que a paridade, resultando em US $ 609,75.
5.5.7 Arbitragem
A arbitragem consiste na compra de determinada quantidade de uma moeda
e na venda de outra moeda estrangeira, de forma que, aplicada a paridade en-
tre elas, o resultado seja de equivalncia, podendo a liquidao ser simultnea,
pronta ou futura. De forma resumida, a troca de determinada moeda estran-
geira por outra.
Essas transaes so efetuadas geralmente para:
Suprir o saldo em determinada moeda estrangeira junto a banqueiro que no
tem disponibilidade para cumprir compromissos nessa moeda, mas tem disponi-
bilidade em outra
Exemplo: o banco fez uma venda para atender a importao de um cliente.
Ocorre que sua posio em moeda estrangeira mantida no exterior em dlares
americanos e a venda interna foi em ienes. Vendeu 125.000.000 e precisa com-
prar os mesmos no exterior para atender a importao. Verica qual a paridade
do iene em relao ao dlar americano: US$ 1,00 por 125,00. Assim, necessita de
US$ 1.000.000,00 para comprar os ienes necessrios. Isso o que o banqueiro faz.
E o importador no Brasil, quanto pagar por essa transao?
Sabemos que US$ 1,00 = 125,00
E que US$ 1,00 = R$ 2,15
Ento
125,00 = R$ 2,15
1 = x R$
Logo
x R$ = ( 1 x R$ 2,15 ) / 125 = 0,01720
Assim, US$ 1.000.000,00 equivale a 125.000.000 que igual a R$
2.150.000,00.
Obter vantagens em transaes envolvendo duas ou mais praas
Exemplo: Cotaes do dlar americano em duas praas:
New York US $ 0,62 Sw.Fr. 1,00
Zurich Sw.Fr. 1,00 US $ 0,64
O Banco Operador compra Francos Suos em New York e os envia para Zu-
rich, onde alcana US $ 0,64, obtendo vantagem de US $ 0,02 por Franco Suo
negociado.
New York: US $ 1.000.000,00 compra Sw.Fr. 1.612.903,23
Em Zurich vende os Sw.Fr. por US $ 1.032.258,07
claro que as compras e vendas so feitas com Bancos diferentes.
Evitar riscos com determinadas moedas que, no mercado cambial, oscilam com
freqncia, ou presume-se que se desvalorizaro
Exemplo: Algum que tenha tomado recursos em Euro em 05.01.99.
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
69
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
Um milho de euros (1.000.000) valia US$1.000.000 em 06.04.99. O Euro
tinha perdido 8,8% em relao ao Dlar Americano. A mesma quantia de Euros
valia US $ 1.007.00,00. Para o Tomador fora timo tomar em Euros porque agora
sua necessidade em dlar americano era 8,8% menor do que h 4 meses.
A deciso de se arbitrar depende da posio em que se encontra . Exemplo foi a
desvalorizao do Real frente ao dlar americano ocorrida em janeiro de 1999. Quem
estava comprado em dlar americano ganhou e a ponta vendedora perdeu.
5.5.7.1 Tipos de arbitragem
Arbitragem Direta
a transao efetuada por dois operadores localizados em praas de pases
diferentes, que arbitram suas respectivas moedas
Arbitragem Indireta
a transao realizada por um operador que, atuando em sua base, efetua
operaes envolvendo as moedas nacionais de duas praas estrangeiras, quer
arbitrando as duas moedas ou mais de duas. Em linhas gerais, uma operao
envolvendo trs moedas, utilizando-se o cross rate. o sistema cambial brasilei-
ro, envolvendo a paridade do Real em relao ao Dlar e este em relao sua
paridade com terceiras moedas.
Siglas: * DKK=coroa dinamarquesa; **NOK= coroa norueguesa - ***SEK= coroa sueca
Arbitragem interna operaes simblicas
As operaes simblicas de compra e venda simultneas de cmbio tm por
nalidade regularizar exigncias de ordem cambial, no gurando, portanto,
entre as transaes normais que se caracterizam pela entrega efetiva da moe-
da. Estas operaes ocorrem nas seguintes situaes: converso de crditos em
investimento; constituio e liberao de depsitos, no Bacen; regularizao de
fraude cambial.
Estas operaes no provocam movimentao nas contas em moedas estran-
geiras mantidas no exterior pelo Bacen.
Arbitragem externa
Esta operao consiste na remessa de divisas de uma praa para outra, bus-
cando obter vantagens em funo das diferenas de preo existentes. repre-
sentada pela venda de uma moeda estrangeira contra o recebimento de outra
moeda tambm.
5.5.7.2 Operaes de arbitragem e suas modalidades
Prontas (spots)
Operaes em que a entrega das moedas se d em de dois dias teis.
MOEDA
PARIDADE: COTAO EM R$:
COMPRA CROSS VENDA CROSS COMPRA VENDA
US $ 1,000 1,000 1,000 1,000 3,58500 3,59000
DKK* 7,43610 0,134479 7,47091 0,133853 0,479861 0,482780
NOK 7,36634 0,135753 7,40087 0,135119 0,484403 0,487352
SEK 9,10046 0,109885 9,14195 0,109386 0,392148 0,394486
70
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
Futuras (forwards)
Operaes em que a entrega da moeda se dar em prazo superior a dois
dias teis.
As paridades e o cross utilizados neste caso (futuro) podem ser diferentes
das utilizadas em operaes prontas, porque as moedas envolvidas podem
sofrer oscilaes em suas cotaes. Podem estar com prmio ou a descon-
to. Isto , vai-se receber mais ou menos moeda estrangeira no futuro. Ou se
despender mais ou menos moeda na operao.
Em princpio, as arbitragens futuras servem para fazer o hedge (proteo)
da moeda comprada ou vendida para entrega futura.
Exemplo: Se a empresa tem compromisso para pagar Sw.Fr. 1,000,000.00
em 90 dias e o Financeiro acha que poder ocorrer uma valorizao da mo-
eda em relao ao dlar americano, ele pode arbitrar futuro, pagando algum
prmio.
Assim, hoje Sw.Fr. 1.000.00,00 so comprados no mercado spot por US $
550.000,00 e no mercado futuro (90 dias) por US $ 600.000,00. Se pagar vista,
pagar o primeiro valor; se no vencimento, o segundo. O segundo valor cor-
responde a uma desvalorizao de 9,09% do dlar em relao ao Franco Su-
o. A caber ao Financeiro decidir: compra vista (spot) e entrega os dlares
ou compra a prazo (forward), suportando aquele custo.
Poder ocorrer o contrrio: o dlar se valorizar e ele perder na operao.
O conhecimento do cenrio e das tendncias do mercado sero os baliza-
dores da tomada de deciso. Muitas vezes, a arbitragem futura nada tem a ver
com operao comercial, tornando-se meramente como operao especula-
tiva. Como ocorreu no Brasil (em janeiro de 1999, para ser mais exato). certo
que as operaes datavam de perodo anterior, mas muitas foram feitas dias
antes da desvalorizao, deixando no ar a dvida de vazamento de informa-
es sobre a valorizao do dlar.
5.6 Contratos de Cmbio
Dene-se como contrato de cmbio o instrumento especial rmado entre o
vendedor e o comprador de moedas estrangeiras, no qual se mencionam as ca-
ractersticas completas das operaes de cmbio e as condies sob as quais se
realizam.
5.6.1 Quanto forma jurdica
Bilateral: existncia de um comprador e de um vendedor;
Sinalagmtico: ambas as partes tm direitos e deveres concomitantes;
Consensual: depende do bom senso, do consentimento e da anuncia das
partes;
Cumulativo e incondicional: faz a estimativa das obrigaes a serem cumpridas
independentemente de quaisquer eventos futuros e incertos;
Oneroso: as obrigaes assumidas representam comprometimento patrimo-
nial equivalente s vantagens visadas;
Solene: as normas cambiais exigem forma determinada e escrita.
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
71
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
5.6.2 Elementos Essenciais
Nome do comprador e do vendedor;
Valor em moeda estrangeira;
Valor em moeda nacional;
Taxa de cmbio, prmios e bonicaes;
Vencimento;
Natureza da operao;
Forma da entrega da Moeda Estrangeira.
5.6.3 Elementos Imutveis
Comprador e vendedor;
Moeda estrangeira, taxa cambial e moeda nacional.
5.7 ADIANTAMENTOS (CONTRATOS DE CMBIO DE EXPORTAO)
O adiantamento sobre contrato de cmbio constitui antecipao parcial ou
total,por conta do preo, em moeda nacional, da moeda estrangeira comprada
(vendida) a termo, devendo ter a sua concesso pelos bancos e sua utilizao pe-
los exportadores dirigida para o m precpuo de apoio nanceiro exportao.
5.7.1 Modalidades de Adiantamentos
ACC Adiantamento sobre Contratos de Cmbio
Os bancos que operam com cmbio podem conceder aos exportadores os
adiantamentos sobre os ACC, que constituem na antecipao parcial ou total
dos reais equivalentes quantia em moeda estrangeira comprada a termo
desses exportadores pelo banco.
a antecipao do preo da moeda estrangeira que o banco negociador das
divisas concede ao exportador amparado por uma linha de crdito externa,
intermediada pelo banco negociador, que autorizado a operar em cmbio.
O objetivo desta modalidade de nanciamento proporcionar recursos ante-
cipados ao exportador para que possa fazer frente s diversas fases do proces-
so de produo e comercializao da mercadoria a ser exportada, constituin-
do-se, assim, num incentivo exportao.
Efetuado antes do embarque da mercadoria para o exterior. Prazo de at 360
dias.
ACE Adiantamento sobre as Cambiais Entregues
Esta segunda modalidade de nanciamento ocorre quando a mercadoria j
est pronta e embarcada, podendo ser solicitado at 60 dias aps o embar-
que, aproveitando ao mximo possvel a variao cambial.
fase, passa a se chamar ACE, podendo o seu prazo se estender em at 180 dias
da data do embarque.
O adiantamento nesta fase poder caracterizar-se pela simples manuteno
do ACC, efetuando-se apenas a transformao contbil atravs, se for o caso,
de complementao de valor.
72
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
Nestes tipos de operao aplicam-se as taxas Libor
17
ou Prime Rate, mais o
spread dos bancos negociadores.
A taxa Libor a taxa praticada pelos bancos londrinos com os seus clientes
preferenciais. A taxa Prime Rate a taxa de juros praticada pelos bancos na praa
nanceira de Nova Iorque, junto aos seus clientes preferenciais.
5.8 CMBIO SIMPLIFICADO (EXPORTAO)
O cmbio simplicado caracterizado por aquelas operaes de valor at US
$ 20.000,00, cuja negociao da moeda estrangeira se formalizar mediante a
assinatura do boleto, pelo exportador, em banco autorizado a operar em cmbio.
Essas operaes de cmbio simplicado podem , ocorrer at 180 dias antes ou
180 dias aps o embarque.
5.8.1 Vantagens
Nas operaes de cmbio simplicado dispensa-se a:
apresentao pelo exportador, ao banco autorizado a operar em cmbio, dos
documentos comprobatrios da operao comercial;
vinculao, pelo banco comprador da moeda estrangeira, do contrato de
cmbio ao respectivo Registro de Exportao RE.
5.8.2 Desvantagens
As operaes no so passveis de alterao, cancelamento, baixa ou contabi-
lizao na posio especial;
No existe adiantamento.
5.8.3 Comprometimento do vendedor e comprador de moeda estrangeira
Ao vendedor (exportador) interessa: manter, pelo prazo de 5 (cinco) anos, dis-
posio do Bacen, os documentos que respaldam a operao de cmbio (bo-
leto, fatura comercial, pedido ou contrato mercantil);
Ao comprador (banco) interessa: manter em seu poder o boleto, pelo mesmo
prazo de 5 (cinco) anos, disposio do Banco Central do Brasil, para apresen-
tao, quando solicitado.
5.8.4 Cmbio simplicado (importao)
As operaes de importao de valor at US$ 20.000,00 tm seu procedimen-
to facilitado atravs da contratao do cmbio simplicado. Para tal, a contrata-
o dever ter sido desembaraada atravs de DSI (Declarao Simplicada de
Importao).
Esto dispensadas de vinculao DSI:
Fechamento: at 90 dias, antes ou aps o registro da DSI;
Guarda de documentos: cinco anos;
Licena Simplicada de Importao, quando cabvel.
17
Iniciais de London InterBank Offer Rate
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
73
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
5.9 POSIO ESPECIAL
O contrato de cmbio transferido para a posio especial quando o paga-
mento das mercadorias embarcadas no tenha ocorrido no prazo previsto para a
liquidao do contrato e o seu cancelamento no seja possvel, de imediato, por
falta do cumprimento de pr-requisitos regulamentares previstos para tal m.
5.10 LIQUIDAO DO CONTRATO DE CMBIO
Liquidao pronta: at 2 (dois) dias teis;
Liquidao futura: no vencimento, e excepcionalmente, na exportao, at 30
dias depois de vencido.
5.11 PROTESTO DO CONTRATO DE CMBIO
Quando deixa de haver consenso entre as partes, mesmo que exista a possi-
bilidade de cancelamento, o contrato de cmbio deve ir para o protesto para ser
dada baixa cambial.
5.12 MERCADO BRASILEIRO DE CMBIO
Em maro de 2005 foram divulgadas pelo Banco Central do Brasil as Resolu-
es do Conselho Monetrio Nacional n 3.265 e n 3.266, ambas de 04/03/2005,
e a Circular do Banco Central do Brasil n 3.280, de 09/03/2005. Tais normativos
deram continuidade ao trabalho do Banco Central em desburocratizar o merca-
do de cmbio, objetivando a reduo de custos e aumento da produtividade.
As modicaes promovidas pelo Conselho Monetrio Nacional extinguiram
a Consolidao das Normas Cambiais, at ento vigentes, e instituram um re-
gulamento nico denominado Regulamento do Mercado de Cmbio e Capitais
Internacionais (RMCCI). Indiscutivelmente este no regulamento representa um
avano para a transparncia e liberalizao dos controles das operaes cam-
biais no Brasil.
A principal mudana ocorrida foi a unicao dos mercados de cmbio exis-
tentes (utuante e livre) em um mercado nico para todas as operaes de cm-
bio, abrangendo as compras e moeda estrangeira, compra e venda de ouro, ca-
pitais brasileiros no exterior, capitais estrangeiros no Brasil e transferncias inter-
nacionais em reais. Embora as taxas de cmbio fossem similares, as regras eram
diferentes e implicavam incongruncias entre os procedimentos xados para
cada mercado, provocando situao de incerteza para o mercado.
Entre outras modicaes introduzidas, as pessoas fsicas e jurdicas podem
comprar ou vender moeda estrangeira e efetuar investimentos no exterior, sem
limitao de valor, observada a legalidade da trnsao e tendo fundamentao
econmica e respaldo documental exigido pelos bancos comerciais, sendo obri-
gatrio o registro no SISBACEN ou no SISCOMEX, conforme a natureza da opera-
o, e a identicao das partes, independente do valor da operao, ressalvadas
algumas excees.
Existam no Brasil, at ento, dois mercados de cmbio: um que se chamava
mercado de taxas livres (Resoluo 1.690, de 18.03.90) e outro, denominado mer-
cado de taxas utuantes (Resoluo 1.552, de 22.12.88).
Nesse mercado eram realizadas as operaes comerciais e nanceiras, em ge-
74
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
ral, por pessoas jurdicas e de interesse geral para o pas.
Em 22.12.1988 foi criado o mercado de taxas utuantes. Adiante, veremos
quais as operaes que podiam ser efetuadas nesse mercado.
Por fora da Resoluo 2.588, de 25.01.99, com validade a partir de 01.02.99,
foram unicadas as posies dos mercados de taxas livres e de taxas utuan-
tes, cando mantida a regulamentao cambial vigente para os dois mercados,
devendo tais operaes serem conduzidas conforme dispunham as normas de
regncia para sua natureza.
5.12.1 Estrutura antiga
Para entender a importncia da unicao do mercado de cmbio, basta veri-
car que o mercado de cmbio no Brasil estava, at maro de 2005, ocialmente
dividido em:
Mercado de Cmbio de Taxas Livres (Dlar Comercial)
Institudo pela Resoluo n 1.690, de 18/03/1990, do Conselho Monetrio Na-
cional, destinado s operaes de cmbio em geral, enquadrando-se neste
segmento as operaes comerciais de exportao e importao, bem como as
operaes nanceiras de emprstimos e investimentos externos, bem como o
retorno ao exterior da remunerao destas operaes.
Mercado de Cmbio de Taxas Flutuantes (Dlar Flutuante)
Institudo pela Resoluo n 1.552, de 22/12/1988, do Conselho Monetrio Na-
cional, legitimando um segmento de mercado que era at ento considera-
do ilegal, enquadrando neste segmento as operaes de compra e venda de
cmbio a clientes, gastos com carto de crdito no exterior, transferncias uni-
laterais e movimentao na CC-5 e outras operaes entre instituies nan-
ceiras como denidas pelo Bacen.
Importante salientar que, no incio de 1999, o Banco Central do Brasil j tinha
iniciado os procedimentos para a unicao do mercado de cmbio, isto , a cria-
o de uma nica taxa, e o m da diviso at ento existente entre o mercado
de cmbio livre e utuante. Desta forma, a partir de 01/02/1999 os dlares que
sobravam em um segmento j podiam ser utilizados no outro.
A contabilizao dos dlares comercial e do utuante passaram a ser con-
juntas. Faltava, portanto, acabar com as diferenas de registro e regulamentao
entre os dois segmentos para a completa unicao.
5.12.2 Operaes do Mercado de Taxas Flutuantes
Muito mais a ttulo de curiosidade, est listada abaixo a relao das operaes
que eram registradas no mercado de taxas utuantes:
Servios e operaes com ouro
Turismo;
Negcios, servios e treinamentos;
Fins educacionais, cientcos e culturais;
Participao em competies esportivas;
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
75
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
Tratamento de sade;
Operaes com ouro.
Investimento brasileiro no exterior
De pessoa jurdica;
De pessoa fsica.
Investimentos no mercado de capitais entre os pases signatrios do MER-
COSUL
Investimentos Brasileiros no Exterior em Certicados de Depsito de Aes
emitidas por Companhias sediadas em pases do MERCOSUL;
Membros do Congresso Nacional e do Poder Judicirio.
Transferncias unilaterais
Transferncias de Patrimnio;
Heranas e legados;
Aposentadorias e penses;
Contribuies a entidades associativas;
Contribuies a entidades previdencirias;
Compromissos diversos;
Aluguel de veculo no exterior;
Multas de trnsito;
Reservas em estabelecimentos hoteleiros;
Despesas com comunicaes (telefone, fax, telex etc.);
Aquisio de edital.
Outras despesas eventuais
Manuteno de pessoas fsicas no exterior;
Prmios auferidos no Pas;
Indenizaes no amparadas por seguros.
Outras transferncias
Fiana de crditos de exportaes;
Garantias bancrias;
Aquisio de software;
Vencimentos e ordenados;
Servios tcnicos prossionais;
Servios de Imprensa;
Cursos e congressos;
76
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
Passagens martimas internacionais;
Passe de atleta prossional;
Capitais estrangeiros a curto prazo menos de 360 dias;
Encomendas internacionais;
Remunerao, reembolso de despesas e custeio de torneios, competies e
outros eventos esportivos semelhantes;
Remunerao de eventos internacionais de natureza artstica;
Aquisio de medicamentos no exterior por pessoas fsicas no destinados
comercializao;
Participao em feiras e exposies;
Publicidade e propaganda;
Transmisso de eventos;
Aquisio de imveis;
Aluguel de imveis;
Multas e/ ou juros contratuais;
Honorrios de membros de conselhos consultivos;
Servios aeroporturios;
Utilizao de bancos de dados internacionais;
Honorrios prossionais referentes a cursos, palestras e seminrios;
Instalao e/ ou manuteno de escritrio no exterior.
Outras transferncias no especicadas anteriormente
Cartes de crdito Internacionais;
Vales postais Internacionais;
Reembolso postal Internacional.
Exportaes de jias, gemas, pedras preciosas e de artefatos de ouro de
pedras preciosas
5.12.3 AGENTES INTERVENIENTES NO MERCADO DE CMBIO
5.12.3.1 Banco Central do Brasil
Entidade autrquica criada pela Lei 4.595, em 31/12/1964, o Banco dos Bancos.
Por delegao do Conselho Monetrio Nacional, o Bacen instrui, supervisiona,
scaliza e controla o Sistema Financeiro Brasileiro. dele que parte toda a orien-
tao sobre o mercado cambial domstico.
5.12.3.2 Bancos Autorizados
So os bancos que, cumpridas as exigncias determinadas pelo Banco Central
do Brasil, so credenciados a operar nos mercados de cmbio.
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
77
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
TEMA 5
MERCADO CAMBIAL
5.12.3.3 Agncias de Turismo, Hotis e Similares
So as entidades que, cumpridas as exigncias da Resoluo 1.522/88, so au-
torizadas pelo Bacen a operar no segmento de taxas utuantes.
5.12.3.4 Pessoas Fsicas e Jurdicas
So as pessoas que buscam os mercados para comprar ou vender moeda es-
trangeira. Cumprida a legislao cambial, elas podem comprar ou vender a moe-
da estrangeira, restritas ao mercado (livre ou utuante) especco para suas ope-
raes. Podero ou no manter conta em moeda estrangeira, mas no podero
transacionar livremente.
5.12.3.5 Corretores de Cmbio
Antigamente, era obrigatria a presena do corretor de cmbio, nas praas
que mantinham bolsas de valores, em operaes de cmbio superiores a US$
100.000,00.
Desde a implantao do Plano Real no existe mais essa obrigao. Todavia,
no interesse do comprador ou vendedor, haver a intervenincia do corretor.
ANOTE
TEMA 6
OPERAES FINANCEIRAS E
PAGAMENTOS INTERNACIONAIS
MODALIDADES DE PAGAMENTOS
TEMA 6
OPERAES FINANCEIRAS E
PAGAMENTOS INTERNACIONAIS
MODALIDADES DE PAGAMENTOS
80
TEMA 6
OPERAES FINANCEIRAS E
PAGAMENTOS INTERNACIONAIS-
MODALIDADES DE PAGAMENTOS
TEMA 6 OPERAES FINANCEIRAS E PAGAMENTOS
INTERNACIONAIS MODALIDADES DE PAGAMENTOS
Objetivos do Tema
Conhecer os instrumentos de pagamentos que amparam as operaes de
comrcio exterior;
Evidenciar a importncia dos mesmos e o cuidado em utiliz-los de maneira
a assegurar a liquidao de suas operaes, nas ticas de empresrios,
comerciantes, exportadores, banqueiros e nanciadores;
Mostrar as principais modalidades de pagamento utilizadas no mercado
internacional: pagamento antecipado, remessa sem saque, cobrana, carta de
crdito.
6.1 PRINCIPAIS MODALIDADES DE PAGAMENTO
As principais modalidades de pagamento utilizadas no mercado internacional
so:
Pagamento antecipado;
Remessa Sem saque;
Cobrana;
Carta de crdito.
6.1.1 Pagamento antecipado
a melhor condio de pagamento para o ex-
portador e a de maior risco para o importador. Nes-
te caso o importador faz uma remessa antecipada
dos recursos para o seu fornecedor (exportador)
e este, no prazo avenado previamente, remete a
mercadoria adquirida pelo importador.
uma modalidade de pagamento utilizada mais
entre matrizes e liais ou estas e suas congneres.
Pressupe uma conana irrestrita entre as partes. H a agravante de muitos pa-
ses colocarem obstculos a essa prtica, pois envolve uma sada antecipada de
divisas, o que sempre no bem visto pelo pas do importador.
No Brasil, as instrues cambiais (RMCCI
18
1-12-5-3) permitem pagamento ante-
cipado de importao para embarque em at 180 dias. Isto signica que o exporta-
dor estrangeiro dever embarcar em at 180 dias a mercadoria para o Brasil.
Em contrapartida, os exportadores brasileiros podem remeter as mercadorias
em at 360 dias (RMCCI 1-11-4-2A) do recebimento antecipado de suas exporta-
es. Nota-se a o tratamento diferenciado: quando nos benecia, a legislao
mais condescendente com o setor exportador e mais exigente com o importador.
Em todo o caso recomenda-se que as partes (exportador e importador) te-
nham um contrato assinado entre as si, de maneira a proteger os direitos e obri-
gaes dos contratantes vendedores/compradores.
18
Regulamento do Mercado de Cmbio e Capitais Internacionais
81
TEMA 6
OPERAES FINANCEIRAS E
PAGAMENTOS INTERNACIONAIS-
MODALIDADES DE PAGAMENTOS
6.1.2 Remessa sem saque
Trata-se de modalidade de pagamentos em que o exportador remete os do-
cumentos diretamente ao importador/sacado no exterior, sem transitar pela
rede bancria. Tambm representa uma operao de risco e pressupe, como no
pagamento antecipado, uma conana irrestrita entre as partes. De novo, ope-
rao realizada entre Matrizes e Filiais e entre estas ltimas e suas congneres e
Matrizes.
Por que operao de risco?
O importador tendo recebido a documentao diretamente do exportador/
vendedor, pega o conhecimento de embarque e a fatura, dirige-se alfndega
de destino e recebe a mercadoria. E pode faz-lo sem pagar a importao.
Ao lado desse risco, apresenta tambm algumas vantagens operacionais e -
nanceiras:
documentao chega mais rapidamente s mos do importador. Assim que
a documentao de exportao estiver pronta, o exportador utiliza-se dos
servios de courier e remete imediatamente os documentos ao exterior. Essa
agilidade vai permitir ao importador preparar-se convenientemente para a
liberao da mercadoria (suprir-se para os impostos, contratar seguro e frete
locais etc.);
despesas bancrias reduzidas, pois o banco no estar envolvido na operao
da remessa e manuseio dos documentos, apenas na sua liquidao, via con-
tratao de cmbio.
At o advento da Carta-Circular BACEN n
o
3.280, de 09.03.2005, o Banco Cen-
tral obrigava o exportador (com excees pontuais) a entregar os documentos
originais da exportao do banco negociador de cmbio. Atualmente, o expor-
tador, independentemente da via de transporte, poder enviar a documentao
diretamente ao importador. Se ocorrer fechamento de cmbio, o exportador de-
ver negociar com o banco comprador das divisas a remessa direta ou no dos
documentos de exportao.
Por que o banco comprador de cmbio dever autorizar? Muito provavel-
mente o banco adquirente da moeda estrangeira nanciou o exportador. Para
manter-se a par da operao e zelar pelos seus ativos nanceiros o banco dever
acompanhar o processo da operao at ao seu nal. Isso no quer dizer que no
autorizar. Dependendo de sua poltica de crdito, e do histrico do exportador
com o banco, este autorizar ou no a remessa direta.
6.1.3 Cobrana
Cobrana, de acordo com as regras e usos uniformes para cobranas, Reviso
n 522, de 01.01.1996, da Cmara de Comrcio Internacional, Paris, Frana, repre-
senta a entrega de documentos a um banqueiro, com instrues de:
Obter pagamento e/ou aceite desses documentos;
Entregar documentos contra pagamento ou aceite;
Entregar outros documentos com outros termos e condies especicados.
6.1.3.1 Tipos de cobrana
A cobrana poder ser documentria comercial e/ou nanceira e cobrana limpa.
82
TEMA 6
OPERAES FINANCEIRAS E
PAGAMENTOS INTERNACIONAIS-
MODALIDADES DE PAGAMENTOS
Cobrana documentria
Uma cobrana documentria comercial poder vir ou no, acompanhada de
documentos nanceiros.
Os documentos nanceiros so representados pelas cambiais (letras de cm-
bio ou saques), notas promissrias ou outros documentos similares utilizados
para pagamento.
Os documentos comerciais so representados pelas faturas comerciais, docu-
mentos de transportes, outros documentos no-nanceiros.
Cobrana limpa
A cobrana limpa uma cobrana no acompanhada de documentos comer-
ciais (faturas, conhecimentos etc.), mas acompanhada de um documento nan-
ceiro (saque, nota promissria etc.).
6.1.3.2 Quanto ao prazo de pagamento
As cobranas podem ser vista ou a prazo.
Cobrana vista
O importador paga vista ao banco encarregado da cobrana, recebe a docu-
mentao de importao, habilitando-se a retirar sua mercadoria junto alfndega.
Cobrana a prazo
O importador, quando recebe a documentao da importao junto ao banco
assume o compromisso de pagar a operao em um determinado nmero de
dias do aceite da cambial ou saque. O saque ou cambial um ttulo aceito pelo im-
portador que se comprometeu a pagar a importao em um prazo determinado.
No prazo avenado ele dirige-se ao Banco, compra a moeda estrangeira, o Banco
faz a remessa para o pas do exportador, via SWIFT
19
, e a operao liquidada.
6.1.4 CARTA DE CRDITO DOCUMENTRIO
A carta de crdito , de longa data, uma das manifestaes da prtica mercantil
destinada a oferecer certa garantia aos contratos de compra e venda, principal-
mente no mercado internacional.
O crdito documentrio (ou Documentado), de criao mais recente, vem se
desenvolvendo e se aperfeioando atravs dos anos.
Com a crise que se abateu sobre o mundo, durante e aps a Primeira Grande
Guerra (1914 -1918), agravada pela crise de 1929 (crash da Bolsa de Nova Iorque,
EUA ), os vendedores, no mercado internacional, como forma de cercar os contra-
tos de venda de suas mercadorias de maiores e mais slidas garantias, passaram
a exigir um pacto acessrio de garantia, ao lado dos contratos mercantis de com-
pra e venda, representado pela interveno de um estabelecimento de crdito.
A partir de ento os crditos dos devedores passaram a ser amparados por garantia
bancria que tanto podia ser fornecida por um estabelecimento de crdito da praa do
exportador quanto do importador, e, s vezes, quando havia a descrena da solvabili-
19
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
83
TEMA 6
OPERAES FINANCEIRAS E
PAGAMENTOS INTERNACIONAIS-
MODALIDADES DE PAGAMENTOS
dade de bancos distantes do mercado de venda, exigiam os vendedores que a garantia
de um Banco fosse conrmada por outro de sua conana. Com esta exigncia faziam
com que aquele Banco que assim agisse passasse a assumir, diretamente, a responsa-
bilidade pelo bom termo do negcio. A partir do empenho ou obrigao direta de um
banqueiro, ao que se convencionou chamar crdito bancrio, estabeleceu-se um certo
equilbrio nas relaes contratuais entre vendedores e compradores de pases distin-
tos. Ao vendedor cava assegurado que o preo de venda lhe seria pago; ao compra-
dor se dava a certeza de que receberia a coisa comprada, nas condies ajustadas.
Com o decorrer dos anos, os agentes do comrcio internacional foram criando
prticas e procedimentos assemelhados para se adequarem a essa modalidade
de negcio. Porm, o mercado mundial ressentia-se da falta de regras claras e uni-
formes que estabelecessem as obrigaes e responsabilidades de todas as partes
envolvidas. Surge ento em cena um organismo mundial, cuja tarefa primordial a
de contribuir para a expanso do comrcio internacional, atravs da criao de fa-
cilitadores da realizao de negcios entre empresas de diferentes pases. Esse or-
ganismo mundial que faltava chama-se Cmara de Comrcio Internacional CCI.
6.1.4.1 Regras e usos uniformes sobre crditos documentrios
De uma reunio de trabalho da Cmara de Comrcio Internacional, ocorrida
em Viena, ustria, em 1933, resultou a publicao de um documento denomina-
do de Regras e Usos Uniformes Sobre Crditos Documentrios cuja nalidade
maior foi a de proteger os banqueiros a respeito de instrues incompletas e im-
precisas dadas pelo comprador. Com o passar dos anos, as Regras foram sendo
aperfeioadas mediante a incorporao de costumes bancrios internacionais
e outras regras que facilitassem as funes bancrias. Seu aprimoramento tem
sido buscado por meio de revises e atualizaes peridicas levadas a efeito pela
Comisso de Bancos da Cmara de Comrcio Internacional. Foram feitas revises
em 1951, 1962, 1974, 1983 e, por ltimo, em 1993.
6.1.4.2 Negociao da carta de crdito
De uma maneira sucinta voc tomou conhecimento de alguns cuidados que
o empreendedor deve tomar na negociao da carta de crdito, seja para a expor-
tao, seja para importao.
Todavia, importante um outro lembrete muito especial: independentemen-
te da negociao ocorrer em ordem, sem discrepncias, necessrio que o ex-
portador tenha informaes seguras sobre o importador e vice-versa.
6.1.4.3 Informaes importantes para importadores e exportadores.
Os bancos negociam documentos. H que se considerar com cuidado os aspec-
tos cadastrais da outra parte, bem como a idoneidade de seus proprietrios.
6.1.4.4 Conceito de crdito documentrio- Disposies gerais e denies
O crdito documentrio uma modalidade de pagamento bastante usual,
porque oferece maiores garantias, tanto para o vendedor (exportador) como
para o comprador (importador). Em que pese o fato de que o importador quem
procura um banco para propor a abertura de um crdito, convm ressaltar que
o mesmo decorre de exigncia feita pelo exportador, cabendo a este, portanto,
84
TEMA 6
OPERAES FINANCEIRAS E
PAGAMENTOS INTERNACIONAIS-
MODALIDADES DE PAGAMENTOS
determinar as condies e os termos principais do instrumento, de modo que
possa cumpri-lo integralmente e, por conseqncia, exigir tempestivamente sua
garantia. Cabe, portanto, ao exportador, caso sua escolha recaia - dentre as diver-
sas modalidades de operaes internacionais- sobre a modalidade do crdito,
procurar certicar-se, dentre outros itens:
a) de que o emitente banco slido e tradicional, de primeira linha, no repre-
sentando risco comercial para a operao;
b) de que o pas do emitente no est sujeito a restries cambiais ou regula-
mentos que possam impedir ou dicultar certas transaes de comrcio exte-
rior, particularmente as suas importaes;
c) no sendo favorvel o cenrio oferecido pela anlise dos itens precedentes,
de que ser possvel obter Conrmao do Crdito;
d) que ser possvel obter conrmao do crdito, caso o cenrio oferecido
pela anlise dos itens precedentes no seja favorvel;
e) se o crdito estabelece compromisso revogvel, irrevogvel ou irrevogvel
conrmado;
f ) de que os documentos a serem exigidos pelo importador ou seu pas podero
ser apresentados.
g) de que sua emisso no acarretar gastos adicionais;
h) de que o pas do importador permite a instituio do crdito cobrindo o valor
total da operao;
i) se o tipo de mercadoria exige ou no exibilidade no tocante ao valor ao Cr-
dito (about);
j) se sero permitidos ou proibidos embarques parcelados; se haver restrio/
exigncia de porto, para embarque/desembarque da mercadoria, de trans-
portadores e bandeiras de navios/ aeronaves;
k) de que o Crdito poder ser emitido para utilizao no seu pas e de que os
prazos de validade(de embarque e apresentao dos documentos) sero
compatveis com as condies e natureza da venda;
l) de que ele, exportador, poder satisfazer plenamente as condies gerais do
crdito.
6.1.4.5. A Red Clause ou Clusula Vermelha
A Red Clause (Clusula Vermelha), muito comum no comrcio internacional,
permite que o benecirio receba antecipadamente o valor total ou parcial do
crdito para, posteriormente, entregar os documentos ao banco.
Via de regra, ela instituda para dar ao benecirio meios para adquirir ou
fabricar o produto a ser exportado.
Por sua natureza de adiantamento sem garantia, ela dever existir apenas
quando o importador tiver plena conana no seu fornecedor estrangeiro (exporta-
dor). No Brasil, salvo em casos especiais, expressamente autorizados pelo Banco
Central do Brasil, ela proibida para as importaes, sendo permitida somente
quando instituda para os crditos de exportao.
A abertura, negociao e liquidao do crdito devem ser processadas de
acordo com as Regras e Usos Uniformes Relativos a Crditos Documentrios,
85
TEMA 6
OPERAES FINANCEIRAS E
PAGAMENTOS INTERNACIONAIS-
MODALIDADES DE PAGAMENTOS
Publicao No. 500, da C.C.I
20
., as quais, salvo se expressamente estipulado em con-
trrio no crdito, obrigam, ao seu cumprimento, todas as partes interessadas.
Segundo essas Regras, as expresses crditos documentrios (ou crditos)
abrangem qualquer ajuste pelo qual um banco (banco emitente), agindo a pedido e
em conformidade com instrues de seu cliente (tomador):
deve efetuar pagamento a terceiros (benecirios) ou sua ordem, ou aceitar
e pagar letras de cmbio emitidas pelo benecirio; ou
autoriza outro banco a efetuar tal pagamento, ou aceitar e pagar as referidas
letras de cmbio; ou
autoriza outro banco a negociar, contra a entrega de documentos exigidos,
desde que respeitados os termos e condies do crdito.
Os crditos so, por sua natureza, transaes distintas das vendas ou de outro(s)
contrato(s) que lhes possam ter servido de base, e de modo algum tal(is) contrato(s)
envolve(m) ou obriga(m) os bancos, mesmo que alguma referncia a ele(s) esteja
includa no crdito. Portanto, o compromisso de um banco de pagar, aceitar le-
tras ou negociar e/ou cumprir qualquer outra obrigao relativa ao crdito, no
est sujeito a reclamaes do tomador do crdito decorrentes de seu relaciona-
mento com o banco emitente ou com o benecirio.
Insistindo, nas operaes amparadas em crdito, todas as partes intervenien-
tes transacionam com documentos e no com mercadorias, servios e/ou outros
itens aos quais os documentos possam referir-se.
6.1.4.6 Forma e Noticao do Crdito
Em linhas gerais, o procedimento para o estabelecimento de um crdito docu-
mentrio o seguinte:
O importador providencia junto a um banco da praa a abertura de uma car-
ta de crdito no exterior, atravs do correio ou por teletransmisso (SWIFT),
em favor do exportador da mercadoria (ou dos servios). Tal crdito pode ser
transmitido ao benecirio diretamente pelo banco emitente, como atravs
de um seu correspondente na praa do exportador.;
Nessa carta de crdito so delineados os termos e condies em que a operao
deve ser concretizada; termos e condies esses que dizem respeito, especialmen-
te, aos seguintes itens: nome e endereo completo do benecirio, forma do cr-
dito, valor e moeda do crdito, prazos de validade para embarque e negociao,
documentao exigida (fatura, conhecimento de embarque, aplice de seguro,
saque, certicado de origem etc.), porto de embarque e desembarque, forma de
utilizao (pagamento vista, aceite ou negociao), em que banco ser utilizvel,
permisso ou no para embarques parcelados ou transbordos etc;
Todo o crdito documentrio deve indicar claramente se ele revogvel ou
irrevogvel. falta de indicao, todo o crdito considerado, por princpio,
como irrevogvel;
O crdito revogvel pode ser emendado ou cancelado pelo banco emitente
a qualquer momento, sem qualquer comunicao prvia ao benecirio. Este
tipo de Crdito no oferece garantias ao exportador no que se refere conti-
nuidade da transao, motivo pelo qual pouco utilizado;
O crdito irrevogvel, ao contrrio, somente pode ser emendado ou cance-
20
A Publicao no. 500 da Cmarra de Comrcio Internacional (CCI) tambm conhecida como Brochura 500.
86
TEMA 6
OPERAES FINANCEIRAS E
PAGAMENTOS INTERNACIONAIS-
MODALIDADES DE PAGAMENTOS
lado mediante prvia e expressa concordncia do banco emitente, do banco
conrmador, se houver, e do benecirio. o mais utilizado no comrcio exte-
rior por ser a modalidade de crdito que oferece maiores garantias ao expor-
tador.
6.2 OUTROS TIPOS DE CRDITO
Alm dos tipos citados acima, os crditos podem ser, ainda, transferveis e con-
rmados.
6.2.1 Crdito Transfervel
No crdito transfervel, o banco autorizado a pagar o total ou parte do seu
valor a uma ou a vrias terceiras pessoas, de acordo com instrues recebidas do
primeiro benecirio. Um crdito pode ser transferido, desde que expressamen-
te seja designado como transfervel pelo banco emitente.
Mesmo que um Crdito no seja declarado transfervel, o benecirio poder
exercer a faculdade de ceder os direitos que tenha ou venha a ter segundo os
termos do crdito. Entretanto, essa faculdade refere-se to somente cesso de
direitos de valores e no faculdade de cumprir os termos do prprio crdito.
6.2.2 Crdito Conrmado
No crdito conrmado, o exportador ca amplamente garantido, j que uma
conrmao de um crdito irrevogvel por um outro banco constitui um com-
promisso rme do Banco conrmador, adicionalmente ao do Banco emitente,
desde que os seus termos e condies sejam integralmente cumpridos:
se o crdito estipular pagamento vista - de pagar vista;
se o crdito estipular pagamento a prazo - de pagar na(s) data(s) de vencimento(s)
determinada(s) segundo as condies do crdito;
se o crdito estipular aceite - de aceitar letra(s) sacada(s) pelo benecirio
contra o Banco conrmador ou outro banco designado e pag-las no venci-
mento;
se o crdito estipular negociao - de negociar, sem direito de regresso contra
os sacadores, letra(s) sacada(s) pelo benecirio e/ou documentos apresenta-
do (s) conforme os termos do crdito.
6.3 FORMAS DE UTILIZAO DOS CRDITOS
Todos os crditos devem indicar, tambm, de forma clara, se so utilizveis por
pagamento vista, por pagamento a prazo, por aceite ou por negociao.
6.4 PARTES INTERVENIENTES DA CARTA DE CRDITO. DIREITOS E ORBRIGAES
Todo o crdito documentrio tem como partes intervenientes:
o benecirio = exportador (vendedor);
o tomador do crdito = importador (comprador);
o banco emitente = aquele que age a pedido do importador no processo de
abertura;
87
TEMA 6
OPERAES FINANCEIRAS E
PAGAMENTOS INTERNACIONAIS-
MODALIDADES DE PAGAMENTOS
o banco avisador = banqueiro da praa do exportador que transmite/comuni-
ca a abertura do crdito, sem responsabilidade de sua parte;
o banco negociador = banqueiro que paga ao exportador e ainda, opcional-
mente;
o banco conrmador = banco que assume o compromisso de pagar ao expor-
tador, em qualquer circunstncia.
Todas as obrigaes e responsabilidades das partes intervenientes na moda-
lidade de crdito documentrio acham-se consolidadas nos 49 artigos que com-
pem o conjunto das Regras. Na seqncia sero apresentadas algumas delas.
6.5 DOCUMENTOS EMISSO E PRAZOS PARA APRESENTAO
Os bancos no assumem quaisquer responsabilidades pela forma, sucin-
cia, exatido, autenticidade, falsicao ou eccia legal de qualquer (quaisquer)
documento(s), nem pelas condies gerais e/ou particulares estabelecidas nos
documentos ou neles sobrepostos. To pouco assumem qualquer obrigao pela
descrio, quantidade, peso, qualidade, embalagem, entrega, valor ou existncia
da mercadoria representada por qualquer (quaisquer) documento(s).
Todos os crditos devem estipular data de vencimento e local para a apresen-
tao dos documentos para pagamento, ou para aceite. Tambm devem indicar,
exceo dos crditos livremente negociveis, o local para apresentao dos
documentos para negociao. Uma data de pagamento estipulada para paga-
mento, para aceite ou para negociao ser entendida como data nal para apre-
sentao dos documentos.
Alm de estipular uma data de vencimento para apresentao dos documen-
tos, todo o crdito, que exija documento(s) de transporte, deve tambm estipu-
lar um prazo denido, a partir da data do embarque, durante o qual devem ser
apresentados. Caso no seja estipulado tal prazo, os bancos recusaro os docu-
mentos que lhes forem apresentados aps 21 dias da data do embarque. Em
qualquer caso, entretanto, os documentos no devem ser apresentados aps a
data do vencimento do crdito.
6.6 OPERAES FINANCEIRAS INTERNACIONAIS
6.6.1 Derivativos - Crditos Especiais
O comrcio internacional, em razo de sua complexidade e do seu constan-
te desenvolvimento, est sempre a exigir de seus participantes grande dose de
criatividade e alto poder de adaptao. Resultado direto de tais exigncias, os
chamados crditos especiais surgiram como forma de adequao do mercado
s peculiaridades que envolvem certos tipos de operaes.
6.6.2 Carta de Crdito de Reserva ou Emergncia - Standby Letter of Credit
Enquanto o crdito documentrio destinado a garantir o cumprimento e/ou
desempenho (performance), as cartas de crdito standby so destinadas a garantir
o no cumprimento e/ou o no desempenho (non performance).
Trata-se de uma operao de crdito externo, a m de possibilitar a obten-
o de recursos junto a um banco, formalizada atravs de uma carta de crdito
com vencimento estipulado. So utilizadas, tambm, como forma de abertura de
88
TEMA 6
OPERAES FINANCEIRAS E
PAGAMENTOS INTERNACIONAIS-
MODALIDADES DE PAGAMENTOS
crdito a favor de um pas, por organismos econmicos mundiais como o FMI
- Fundo Monetrio Internacional - para ser utilizado quando necessrio (emer-
gncia).
Digamos que uma empresa brasileira pretenda obter um emprstimo junto a
um banco na Inglaterra. Com o objetivo de prevenir-se contra uma eventual falta
de pagamento do emprstimo (non performance), o banco daquele pas exige
uma garantia de um banco brasileiro. Tal garantia, uma vez emitida, representar
um crdito de reserva (standby) ao banco ingls e ser utilizada somente se a
empresa nacional, tomadora do emprstimo, no honrar seu compromisso de
pagamento.
6.6.3 Crdito Rotativo - Revolving Letter of Credit
Modalidade de crdito em que a totalidade ou parte do seu montante se tor-
na disponvel aps a utilizao, geralmente dentro das mesmas condies, sem
que seja necessria a emisso de uma nova carta de crdito.
Os crditos com restabelecimento automtico estipulam que os valores pa-
gos tornar-se-o novamente e automaticamente disponveis, at que o total dos
pagamentos a serem liquidados pelo tomador (importador) do crdito atinja o
valor total da carta de crdito. Nos crditos sem restabelecimento automtico, o
valor torna-se novamente disponvel para novos embarques, mas apenas aps o
recebimento, pelo benecirio (exportador), de noticao de restabelecimento
emitida pelo banco emitente.
O crdito rotativo muito utilizado por importadores que adquirem, de um
mesmo fornecedor, continuadamente, o mesmo tipo de mercadoria. No Brasil, as
indstrias caladistas encontram-se entre as maiores benecirias desta moda-
lidade de crdito.
6.6.4 Crdito Transfervel
O crdito transfervel um crdito sob o qual o benecirio (primeiro bene-
cirio) pode solicitar ao banco autorizado a pagar, a responsabilizar-se pelo cum-
primento da obrigao por pagamento diferido, a aceitar ou a negociar (o banco
transferidor). Ou, no caso de um crdito livremente negocivel, ao banco especi-
camente autorizado no crdito como banco transferidor, que coloque o crdito
disposio no todo ou em parte a um ou mais outro(s) benecirio(s), tambm
conhecido(s) por segundo(s) benecirios(s)).
Um crdito pode ser transferido somente se for expressamente designa-
do como transfervel pelo banco emitente. Termos como divisvel, cedvel e
transmissvel no tornam o crdito transfervel.
6.6.5 Crdito Triangular - Back to Back Credit
o crdito documentrio vinculado a um primeiro crdito, denominado como
crdito mestre (Master Credit), onde o benecirio (exportador) do primeiro cr-
dito geralmente um intermedirio (no produtor) que cede seus direitos a um
banco para a emisso de um segundo crdito a favor do fornecedor (produtor)
da mercadoria.
Na realidade, o Back to Back Credit no se congura como um tipo de carta de
crdito, mas sim como uma modalidade de operao baseada em duas cartas de
89
TEMA 6
OPERAES FINANCEIRAS E
PAGAMENTOS INTERNACIONAIS-
MODALIDADES DE PAGAMENTOS
crdito. Na prtica, este tipo de operao ocorre da seguinte forma:
um importador desejando adquirir certa mercadoria no exterior emite uma
carta de crdito a favor do exportador estrangeiro, que ter que adquirir a referi-
da mercadoria de um produtor local que somente lhe vender a mesma contra
uma carta de crdito domstica.
o exportador dirige-se a um banco de sua preferncia e solicita a emisso de
uma carta de crdito domstica em favor do produtor local, apresentando, como
garantia, o crdito emitido a seu favor pelo importador.O valor deste crdito
ento transferido ao banco emitente do crdito domstico que, via de regra, de
valor inferior ao do primeiro.
efetuada a exportao, o banco local paga ao exportador a diferena entre as
duas cartas de crdito. A diferena representa o lucro do exportador.
ANOTE
TEMA 7
TAXA DE CMBIO
92
TEMA 7
TAXA DE CMBIO
TEMA 7 TAXA DE CMBIO
Objetivos do Tema
Proporcionar o conhecimento de como se movimentam as taxas no mercado de cmbio;
Mostrar a lei da oferta e da procura de moeda estrangeira, as oscilaes de mercado e
as cotaes de cmbio, conectadas com o padro da taxa de cmbio e com o sistema de
taxas livres, ociais, xas e variveis;
Mostrar como acontecem as oscilaes cambiais e quais os tipos de operaes que ocor-
rem no Mercado Brasileiro de Cmbio.
7.1 A TAXA DE CMBIO
Taxa de cmbio o preo convencionado em unidades ou fraes (centavos),
para recebimento em moeda nacional, por instituio autorizada a operar em
cmbio, pela venda de moeda estrangeira, ou paga em moeda nacional pela ins-
tituio, pela compra de moeda estrangeira.
Esse valor arbitrado para compra ou venda denominado de cotao.
Por isso dizemos que existe cotao para compra e cotao para a venda da
moeda estrangeira. Para termos a cotao correta temos que nos posicionar em
uma das pontas: vendedora ou compradora.
Voc chega cotao das diversas moedas estrangeiras em relao ao Real
utilizando a paridade das mesmas em relao ao dlar e a paridade deste em
relao moeda nacional, isto , ao Real ou R$.
No Brasil, a moeda estrangeira mais negociada o dlar dos Estados Unidos,
fazendo com que a cotao mais comumente utilizada seja a dessa moeda. Des-
sa forma, quando se fala que a taxa de cmbio 2,15, signica que o dlar norte-
americano custa R$ 2,15.
7.1.1 A taxa e a lei da oferta e da procura
A compra e a venda de moeda estrangeira ocor-
rem de acordo com as regras do mercado, isto ,
dentro da lei de oferta e de procura.
Como qualquer outro ativo, o excesso ou falta da
moeda estrangeira que ir xar o seu preo, isto , o
valor de mercado.
7.1.2 Taxa de Compra
a cotao que o operador de cmbio utili-
za para as operaes de compra de uma determi-
nada moeda. Exemplo: US$ 1,00 est cotado a R$
2,1500/2,1580.
A cotao para a compra pela instituio operadora de cmbio a da esquerda,
isto , a instituio est disposta a comprar o dlar norte-americano por R$ 2,1500.
93
TEMA 7
TAXA DE CMBIO
7.1.3 Taxa de Venda
a cotao utilizada pelos operadores de cmbio para as operaes de venda de
determinada moeda estrangeira. Exemplo: US$ 1,00 est cotado a R$ 2,1500/2,1580.
A cotao para a venda dada pela instituio autorizada a operar cmbio a da
direita, isto , a instituio est disposta a vender dlar americano por R$ 2,1508.
7.1.4 Taxa ascendente
A taxa de cmbio estar em situao ascendente quando:
A procura for maior que a oferta;
A procura permanecer estvel e a oferta diminuir;
A procura e a oferta crescerem e o crescimento da procura for maior que o
da oferta;
A procura e a oferta diminurem; e a diminuio da oferta for menor do que a
procura.
7.1.5 Taxa descendente
A taxa cambial ter sentido descendente quando:
A oferta aumenta e a procura permanece estvel;
A oferta aumenta e a procura diminui;
A oferta e demanda aumentam e o aumento da oferta maior do que a de-
manda;
A procura diminui e a oferta permanece estvel;
A oferta e a procura diminuem e a diminuio da procura maior do que a oferta.
7.1.6 Taxas livres e ociais
A taxa livre quando determinada pelo mercado segundo a lei da oferta e
da procura. Ela se forma, portanto, dentro de um mercado totalmente livre. O Go-
verno apenas intervir se perceber que algum movimento especulativo (contra
a moeda local ou divisa estrangeira) est ocorrendo e pode provocar oscilaes
indesejveis no mercado.
7.1.7 Taxas xas e variveis
Taxa xa quando o valor de uma taxa, independentemente da oferta e da pro-
cura da mesma no mercado, permanece imutvel por determinado perodo. Esse
tipo de situao j foi experimentado no passado, quando alguns planos econmi-
cos foram implementados. No Plano Cruzado, na poca do presidente Jos Sarney
em que o cmbio permaneceu com a taxa xa por alguns meses, no Plano Vero
por ocasio do mandato do mesmo Presidente, no incio do Governo Collor etc.
Na taxa varivel, como se depreende, a cotao pode variar no sentido ascenden-
te ou descendente, dependendo da oferta e da demanda pelas divisas no mercado.
Se a taxa varivel, podemos corretamente armar que a taxa utuante, ou
94
TEMA 7
TAXA DE CMBIO
seja, comprada e vendida dentro da lei da oferta e da procura.
7.1.8 O spread
O spread a diferena entre a taxa de compra e a taxa de venda, com a qual,
os bancos ou estabelecimentos autorizados a operar em cmbio cobrem seus
custos e realizam seus lucros.
7.1.9. Taxa PTAX do Banco Central do Brasil
a taxa mdia de venda (compra) do dlar norte-americano comercial pon-
derada em valor, apurada pelo Bacen ao nal de cada dia e, que serve como refe-
rncia para os negcios em dlar norte-americano.
Segundo a Circular 3.300 em seu artigo 1 diz o seguinte: As cotaes de
compra e de venda da PTAX sero calculadas com base no resultado da taxa
mdia (ponderada pelos volumes) das operaes realizadas no mercado inter-
bancrio de cambio, com liquidao em d+2, obtida apos o expurgo de uma
parcela dessas operaes, cujo volume no superior a 5% do volume nego-
ciado no dia. O expurgo feito para eliminar possveis operaes outliers
21
.
7.1.10 As bandas cambiais
Com a implantao do Plano Real, foi criado o conceito de bandas cambiais
com o objetivo, entre outros, de controlar a entrada de recursos externos. O Ba-
cen passou a, eventualmente, comprar dlar por uma taxa inferior taxa de ven-
da. Uma diferena ampla entre as duas cotaes um fator de desestmulo ao
smart money
22
.
Em fevereiro de 1996, o Bacen estabelece a faixa de utuao da Banda Cam-
bial como sendo de R$ 0,97 por US$ 1,00 a paridade mnima para sua interven-
o de compra, e R$ 1,06 por US$ 1,00 sua paridade mxima para a interveno
de venda no mercado de taxas livres (dlar comercial).
Este mecanismo foi extinto em 15/01/1999, com a adoo do mecanismo de
dlar utuante em que a cotao do dlar passava a ser formada unicamente
pelo mercado, com a interveno do Bacen apenas em situao de crise, se fosse
o caso, para controlar a volatilidade excessiva.
7.1.11 A desvalorizao cambial
Quando a economia de um pas sofre os efeitos da inao, ou seja, se os cus-
tos dos produtos produzidos internamente crescem, haver a necessidade, de
forma a manter a competitividade desses produtos no mercado internacional,
de alterar as taxas de cmbio que permitam o reajuste de preos internos aos
preos externos, aps compensado o desconto da inao externa.
No caso do Brasil, os ajustes so feitos sempre em relao ao dlar, que a mo-
eda de referncia de nossas transaes externas. A desvalorizao do real frente
ao dlar calculada levando-se em conta a taxa de cmbio nominal mdia do
perodo, considerando a cotao de venda do Bacen corrigida pela relao entre
o ndice de preo no atacado dos EUA e o IPA-DI da Fundao Getlio Vargas.
21
Operaes que tenham sido fechadas com taxas muito discrepantes em relao mdia do dia.
22
Recurso externo que s internalizado para obter ganho em prazo curto, medida que o percentual dessa diferena no permita
compensar, no prazo de oportunidade, a diferena entre as taxas de juros internas e externas.
ANOTE
ANOTE
TEMA 8
TRIBUTAO NO
COMRCIO EXTERIOR
98
TEMA 8
TRIBUTAO NO
COMRCIO EXTERIOR
TEMA 8 TRIBUTAO NO COMRCIO EXTERIOR
Objetivos do Tema
Oferecer os dados que proporcionam o conhecimento da tributao aplicada s
operaes de comrcio exterior, tanto nas exportaes como nas importaes;
Mostrar o tratamento scal nas exportaes e como funcionam os regimes
aduaneiros e a tributao alfandegria;
Apresentar um comparativo da tributao brasileira com a de outros pases.
8.1 QUEM TRIBUTA AS OPERAES DE EXPORTAO
Uma das questes fundamentais das transaes comerciais internacionais a
de saber quem tributa as operaes de exportao de mercadorias. A pergunta
: a tributao corre por conta do pas vendedor ou do pas comprador?
8.1.1 Alguns pases adotam a tributao no destino
bom saber que alguns pases adotam o princpio da tributao no destino,
ou seja, a incidncia dos tributos ocorre no pas onde sero consumidas as mer-
cadorias. Dessa forma, a exportao isenta dos tributos internos.
8.1.2 Outros pases tributam a mercadoria na origem, ou seja, antes de ser
exportada
Em contrapartida, h outros pases que adotam o princpio da tributao na
origem das mercadorias. As exportaes so tratadas como qualquer transao
interna, sofrendo a incidncia dos tributos.
8.1.3 O Brasil adota o princpio da tributao no pas de destino
No Brasil, adotado o princpio da tributao no pas de destino.Desta forma
as exportaes de mercadorias, ao sarem do pas, no sofrem a incidncia de
impostos, respeitados os princpios internacionais.
8.2 RELAO DE IMPOSTOS ISENTOS NAS OPERAES DE EXPORTAO
Apresentamos abaixo uma relao de impostos que so suspensos ou isentos
nas operaes de exportao:
8.2.1 Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
No h incidncia do imposto sobre produtos industrializados na sada de
produtos com destino ao exterior.
No caso de venda do produto no mercado interno, em operao equiparada
exportao ou para a qual sejam atribudos os incentivos scais concedidos
exportao, a sada efetuada com iseno do IPI. Como exemplo, a venda com
o m especco de exportao, nos termos do Decreto-Lei n. 1.248, de 29.11.72,
empresa comercial exportadora.
No caso de venda do produto no mercado interno, com destino exportao,
para empresa comercial que opera no comrcio exterior, a sada efetuada com
99
TEMA 8
TRIBUTAO NO
COMRCIO EXTERIOR
suspenso do IPI.
A suspenso do imposto aplica-se, tambm, nas sadas com o m de exporta-
o para:
armazm-geral alfandegado, entreposto aduaneiro e entreposto industrial;
outros estabelecimentos da mesma empresa.
A suspenso do IPI aplica-se ainda:
a produto intermedirio e material de embalagem, de fabricao nacional,
vendidos a estabelecimento industrial para industrializao de produto a ser
exportado;
a suspenso tambm aplicada quando produtos intermedirios e material
de embalagem so vendidos a estabelecimento comercial, para industriali-
zao em outro estabelecimento da mesma empresa ou de terceiros, e que
tambm se destinem exportao.
importante observar que alm da no incidncia na exportao, ao fabrican-
te concedido o direito manuteno do crdito do IPI relativo matria-prima,
produto intermedirio e material de embalagem adquiridos para emprego na
industrializao de produto exportado.
Neste caso, o crdito no estornado e pode ser utilizado:
por deduo do valor do IPI devido em sadas tributadas;
por transferncia para outro estabelecimento da empresa;
por compensao com dbitos de quaisquer tributos e contribuies sob a
administrao da Secretaria da Receita Federal, nos termos da legislao em
vigor;
mediante ressarcimento em dinheiro.
8.2.2 Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Prestao de Servios de
Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicao (ICMS)
No h incidncia do imposto sobre a circulao de mercadorias e servios
sobre operaes que destinem ao exterior produtos industrializados, inclusive
produtos semi-elaborados, produtos primrios ou prestao de servios.
O ICMS no incide, ainda, sobre operaes de sada de mercadoria, com o m
especco de exportao para o exterior, destinada a empresa comercial expor-
tadora, inclusive a constituda nos termos do Decreto-Lei n 1.248, de 29.11.72 ou
outro estabelecimento da mesma empresa, ou ainda a armazm alfandegado ou
entreposto aduaneiro.
Da mesma forma que para o IPI, concedido o direito manuteno do crdi-
to de ICMS relativo mercadoria entrada no estabelecimento para integrao ou
consumo em processo de produo de mercadorias destinadas ao exterior.
Os crditos no necessitam ser estornados e os saldos credores do ICMS acu-
mulados podem ser:
transferidos e utilizados por qualquer estabelecimento do contribuinte no
mesmo Estado;
transferidos para outros contribuintes do mesmo Estado, mediante o reco-
nhecimento formal do crdito pela autoridade competente.
100
TEMA 8
TRIBUTAO NO
COMRCIO EXTERIOR
8.2.3 Contribuio para Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
Na determinao da base de clculo da COFINS so excludas as receitas de-
correntes da exportao de mercadorias ou servios assim entendidos:
as vendas de mercadorias ou servios para o exterior, realizadas diretamente
pelo exportado;
as exportaes realizadas por intermdio de cooperativas, consrcios ou enti-
dades semelhantes;
as vendas realizadas pelo produtor-vendedor s empresas comerciais expor-
tadoras, nos termos do Decreto-Lei n 1.248, de 29.11.72, desde que destina-
das ao m especco de exportao para o exterior;
as vendas, com o m especco de exportao para o exterior, s empresas
exportadoras registradas no DECEX, da Secretaria de Comrcio Exterior;
o fornecimento de mercadorias ou a prestao de servios para uso ou consu-
mo de bordo em embarcaes e aeronaves em trfego internacional, quando
o pagamento for efetuado em moeda conversvel;
as demais vendas de mercadorias ou servios para o exterior, nas condies
estabelecidas pelo poder executivo.
8.2.4 Contribuio para os Programas de Integrao Social e de Formao
do Patrimnio do Servidor Pblico (PIS/PASEP)
Na determinao da base de clculo do PIS/PASEP, pode ser excludo o valor
da receita de exportao de mercadorias nacionais.
So consideradas exportadas, para ns do incentivo, as mercadorias vendi-
das empresa comercial exportadora de que trata o Decreto-Lei n 1.248, de
29.11.72.
8.2.4.1 Crdito de COFINS - PIS/PASEP
Consoante s disposies da Lei 9.363/96 concedido crdito presumido do IPI a ttulo de
ressarcimento dos valores da COFINS e do PIS/PASEP que hajam incidido sobre a aquisio de
insumo nacional utilizado em produto exportado.
O incentivo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a empresa comercial exportadora
com o fim especfico de exportao para o exterior. O crdito pode ser transferido para
qualquer estabelecimento da empresa para efeito de compensao com o IPI.
Este ressarcimento objetiva compensar a tributao do COFINS e do PIS/PASEP, ocorrida
em etapas anteriores do processo produtivo, de difcil mensurao e eliminao (a priori).
A base de clculo do crdito presumido determinada mediante a aplicao sobre o
valor total das aquisies de matrias-primas, produtos intermedirios e material de em-
balagens, do percentual correspondente relao entre a receita de exportao e a receita
operacional bruta do produtor exportador.
O crdito fiscal o resultado da aplicao de 5,37% (percentual fixado pelas autorida-
des) sobre a base de clculo anteriormente indicada.
8.2.5 Imposto sobre Operaes de Crdito, Cmbio e Seguros (IOF)
A alquota de 0% para as operaes de crdito, cmbio e seguro, e sobre operaes
relativas a ttulos e valores mobilirios, nas operaes de cmbio vinculadas exportao
de bens e servios.
101
TEMA 8
TRIBUTAO NO
COMRCIO EXTERIOR
A alquota 0% (zero por cento), tambm:
nas operaes de crdito exportao, bem como de amparo produo
para exportao ou de estmulo exportao;
nas operaes relativas a adiantamento de contrato de cmbio de exportao.
8.2.6 Imposto de Renda na fonte
Alquota de 0% do Imposto de Renda, incidente sobre os rendimentos auferi-
dos no Pas, por residentes ou domiciliados no exterior, nos casos de:
remessas para o exterior, exclusivamente para pagamento das despesas com
promoo, propaganda e pesquisas de mercado de produtos brasileiros, in-
clusive aluguis e arrendamentos de stands e locais para exposies, feiras e
conclaves semelhantes, bem como as de instalao e manuteno de escrit-
rios comerciais e de representao, de armazns, depsitos ou entrepostos;
solicitao, obteno e manuteno de direitos de propriedade industrial, no
exterior;
comisses pagas por exportadores a seus agentes no exterior;
juros de descontos, no exterior, de cambiais de exportao e as comisses de
banqueiro inerentes a essas cambiais;
juros e comisses relativos a crditos obtidos no exterior destinados ao nan-
ciamento de exportaes.
8.2.7 Imposto de Renda da Pessoa Jurdica (IRPJ) nas operaes de expor-
taes
As receitas de exportao esto sujeitas ao pagamento de imposto de renda,
quando da apurao do resultado ao nal do exerccio conforme o enquadra-
mento, seja no lucro presumido ou no lucro real.
8.3 REGIMES ADUANEIROS E TRIBUTOS
Este assunto ser tratado no tema 9 Tributao no Comrcio Exterior, em
Regimes Aduaneiros, com maior profundidade.
No item anterior foram listados os gravames pertinentes exportao. Neste
item esto aspectos pertinentes tributao sobre operaes de importao.
As importaes sofrem tributao por ocasio da entrada da mercadoria no mer-
cado interno, quando ocorre a nacionalizao das mesmas. O imposto de importa-
o o primeiro gravame a ser calculado e, sucessivamente, quando forem devi-
dos, os impostos de produtos industrializados, o de circulao de mercadorias e
servios, e demais taxas, que veremos a seguir.
Para que seja apurado o valor a ser pago utiliza-se um dos mtodos dispostos
no Acordo de valorao aduaneira, conforme Decreto n. 4.543/2002.
Estabelecendo a base scal, que formada pelo valor da mercadoria, mais o
valor do frete internacional, mais o valor do seguro, calcula-se a incidncia dos
impostos, comeando com o clculo do Imposto de Importao.
8.3.1 Imposto de Importao
O imposto de importao, segundo o art. 1 do Decreto-lei n. 2.472/1988, que
102
TEMA 8
TRIBUTAO NO
COMRCIO EXTERIOR
deu nova redao ao mesmo artigo do Decreto-lei n. 37/1966, incide sobre mer-
cadoria estrangeira e tem, como fato gerador, sua entrada no territrio nacional.
A base de clculo (art. 75 do Decreto n. 4.543/2002) incidir sobre,
quando a alquota for especca, a quantidade de mercadoria, expressa na
unidade de medida estabelecida;
quando a alquota for ad valorem, o valor aduaneiro apurado segundo as nor-
mas do art. VII do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comrcio (GATT).
8.3.2 Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
Considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer
operao que lhe modique a natureza ou nalidade, ou o aperfeioe para con-
sumo.
8.3.2.1 Incidncia do imposto
Segundo Cassone (2004:224), o imposto de produtos industrializados se d
pela conjugao do art. 153, IV, e o art. 153, 3, II, da Constituio Federal, inci-
dindo sobre operaes relativas a produtos industrializados e ser:
seletivo, em funo da essencialidade do produto;
no cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operao com o
montante cobrado nos anteriores;
no incidir sobre produtos industrializados destinados ao exterior.
So isentos do imposto sobre produtos industrializadosos produtos capitula-
dos no art. 135 do Decreto n. 4.543/2002, no que se refere ao inciso I e s alneas
a a o e q a t do inciso II, desde que satisfeitos os requisitos e condies exigidos
para concesso do benefcio anlogo relativo ao Imposto de Importao. Isso
signica dizer que, no havendo pagamento de Imposto de Importao, no ha-
ver pagamento do Imposto sobre Produtos Industrializados.
Sempre que o imposto de importao dispensado vier a ser exigido, exigir-se-
tambm o IPI.
8.3.2.2 Fato gerador
o desembarao aduaneiro, quando de procedncia estrangeira;
a sada do produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial.
8.3.3 Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Prestao de Servios de
Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicao (ICMS)
O ICMS um imposto estadual, de abrangncia nacional. Cada Estado da Fe-
derao tem legislao prpria.
8.3.3.1 Da Base de Clculo
Operaes relativas circulao de mercadorias e s prestaes de servios
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicao, ainda que as
operaes e as prestaes se iniciem no exterior;
Incide tambm sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, ainda
que se trate de bem destinado a consumo ou a ativo xo do estabelecimento,
103
TEMA 8
TRIBUTAO NO
COMRCIO EXTERIOR
assim como sobre o servio prestado no exterior;
A base de clculo do ICMS o montante do custo da mercadoria (mais o frete
e o seguro internacionais), mais o Imposto de Importao, mais o Imposto so-
bre Produtos Industrializados, reajustado.
8.3.4 Contribuio para o PIS/PASEP e da COFINS na Importao
Institudas pela Lei n. 10.865, de 30-4-2004, a contribuio para os programas
de integrao social e de formao do patrimnio do servidor pblico incidente
sobre a importao de produtos estrangeiros ou servios (PIS/Pasep-Importao) e
portador de bens estrangeiros ou servios do exterior (Cons-Importao), com
base nos arts. 149, 2, inciso II, e 195, inciso IV, da Constituio Federal, observado o
disposto no seu art. 195, 6.
O pagamento das contribuies dever ser efetuado na data do registro da
declarao de importao no SISCOMEX (art. 252 do Decreto n. 4.543/2002 e Lei
n. 9.532/1997, art. 54).
Alquotas:
PIS/PASEP-Importao: 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centsimos por
cento);
COFINS-Importao: 7,6% (sete inteiros e seis dcimos por cento);
8.3.5 CIDE - Contribuio de Interveno no Domnio EconmicoCombustveis
A contribuio de interveno no domnio econmico combustveis (CIDE
combustveis) foi criada pela Lei n. 10.336, de 19-12-2001 e incide sobre a impor-
tao de petrleo e seus derivados, gs natural e seus derivados, e lcool etlico com-
bustvel (Decreto n. 4.543/2002, art. 253, e Lei n. 10.336, de 19-12-2001, art. 1).
responsvel solidrio pela CIDE combustveis, o adquirente de mercadoria
de procedncia estrangeira, no caso de importao realizada por sua conta e
ordem, por intermdio de pessoa jurdica importadora (Decreto n. 4.543/2002,
art. n. 256, e Lei n. 10.336, de 2001, art. 11).
8.3.6 Adicional ao Frete para a Renovao da Marinha Mercante (AFRMM)
O AFRMM um adicional ao frete cobrado pelas empresas brasileiras e es-
trangeiras de navegao que operam em porto brasileiro, de acordo com o co-
nhecimento de embarque e o manifesto de carga, pelo transporte de carga de
qualquer natureza (art. 2 do Decreto-lei n. 2.404, de 23-12-1987). O objetivo de
tal arrecadao apoiar o desenvolvimento da marinha mercante brasileira e a
indstria de construo naval.
8.3.6.1 Fato gerador e base do clculo
O AFRMM devido na entrada no porto de descarga e calculado sobre o
frete, razo de (art. 3 do Decreto-lei n. 2.404/1987, modicado pela Lei n.
8.032/1990):
25% (vinte e cinco por cento), na navegao de longo curso;
10% (dez por cento), na navegao de cabotagem;
5% (cinco por cento), na navegao lacustre e uvial.
104
TEMA 8
TRIBUTAO NO
COMRCIO EXTERIOR
8.4 ENQUADRAMENTO DAS EMPRESAS INSCRITAS NO SIMPLES
O SIMPLES
23
consiste em uma forma simplicada e unicada de recolhimen-
to de tributos, por meio da aplicao de percentuais favorecidos e progressivos,
incidentes sobre uma nica base de clculo - a receita bruta. A empresa SIMPLES
originariamente no podia fazer operaes de importao mas tal limitao foi
suspensa a partir de 24 de agosto de 2001. Apenas pagar os impostos inciden-
tes como uma outra empresa no caracterizada como SIMPLES.
8.5 TAXAS DE ARMAZENAGEM E DE CAPATAZIA
8.5.1 Porturias
As demais despesas incidentes na importao de mercadorias so as de ca-
patazia e armazenagem. Capatazia refere-se aos gastos com a movimentao de
mercadorias pelo pessoal da administrao do porto. A armazenagem, refere-se
aos custos incidentes na mercadoria depositada nos armazns, ptios, depsitos
etc., de propriedade dos administradores dos portos, podendo ser:
armazenagem interna;
armazenagem externa;
em armazns gerais;
armazm especial.
8.5.2 Aeroporturias
Na movimentao de cargas em dependncias dos aeroportos, temos as des-
pesas de capatazia nos Terminais de Carga Area (Teca) e as de armazenagem.
Deve ser consultado um agente de cargas ou despachante aduaneiro antes
de ser fechada a importao para que sejam levantados os preos cobrados nos
diversos aeroportos e portos nacionais, considerando que os custos variam de
um para outro local de descarga/ desembarao.
s vezes, melhor para um importador de So Paulo desembaraar o produto
em Paranagu ou no Rio de Janeiro, dependendo da carga a ser movimentada.
8.6 CONTRIBUIO PROVISRIA SOBRE MOVIMENTAO OU TRANSMIS-
SO DE VALORES E DE CRDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA
CPMF
Essa contribuio foi criada provisoriamente (apenas por 13 meses) pela Lei
n. 9.311, de 24-10-1996. A alquota poca era de 0,20% sobre o valor movimen-
tado. Sistematicamente prorrogada, a contribuio, que deveria ser provisria,
tornou-se permanente, e cobrada a alquota de 0,38%.
8.7 DEMAIS DESPESAS INCIDENTES NAS OPERAES DE IMPORTAO
No registro da declarao de Importao, o importador pagar pela utilizao
do SISCOMEX. Um registro com apenas uma adio custa R$ 50,00 ao importador;
por cada adio excedente ser cobrado R$ 10,00. Essas adies representam as
23
SIMPLES Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuies das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte. O Simples
est em vigor desde 1. de janeiro de 1997. Consiste no pagamento unicado dos seguintes impostos e contribuies: IRPJ, PIS, COFINS,
CSLL, INSS Patronal e IPI (se for contribuinte do IPI). A inscrio no Simples dispensa a pessoa jurdica do pagamento das contribuies
institudas pela Unio, como as destinadas ao SESC, ao SESI, ao SENAI, ao SENAC, ao SEBRAE, e seus congneres, bem como as relativas ao
salrio-educao e Contribuio Sindical Patronal. O Simples poder incluir o ICMS e/ou o ISS devido por microempresa e/ou empresa de
pequeno porte, desde que o Estado e/ou o Municpio em que esteja estabelecida venha aderir ao Simples mediante convnio.
105
TEMA 8
TRIBUTAO NO
COMRCIO EXTERIOR
diversas classicaes tarifrias das mercadorias importadas. conveniente que
o Importador se informe sobre essa despesa junto ao despachante aduaneiro
que vai liberar sua mercadoria na alfndega pois os custos so reajustados perio-
dicamente pela Secretaria da Receita Federal.
Assim, se importar apenas um item tarifrio, isto , apenas um tipo de merca-
doria, a Declarao ter apenas uma adio; se importar quatro itens tarifrios, a
declarao de importaes ter quatro adies.
8.8 COMPARATIVO DA TRIBUTAO BRASILEIRA COM A DE OUTROS PASES
Grande parte dos pases apresentam incidncia tributria mais amena em
relao ao sco brasileiro (Percentual sobre o PIB) :
Pases da OCDE
24
Pacco: 28,88%;
Amrica: 27,5%;
Europa: 39,8%;
Unio Europia: 41,3%.
Abaixo um quadro mostrando a incidncia percentual da tributao no PIB de
cada pas. Percebe-se, infelizmente, que a carga tributria do Brasil est acima de
muitos pases.
Tal tributao onera nossos produtos quando concorrem no exterior. Embora
a balana brasileira de mercadorias esteja sendo positiva, com reexos na balan-
a de pagamentos do pas, poderia estar muito melhor ainda se a tributao no
fosse to alta. O combate economia informal (ilegal) poderia ser o remdio para
essa situao. Anal, quando todos pagam, todos pagam menos.
Quadro 8.1
Carga Tributria de Pases Selecionados
PAS PIB 2002 PIB 2003
SUCIA 53,20 50,80
NORUEGA 44,90 43,90
BRASIL 35,84 35,54
ALEMANHA 36,40 36,20
CANAD 35,20 33,90
ESPANHA 35,20 35,80
SUIA 34,50 29,80
PORTUGAL 34,50 33,90
ARGENTINA 19,20 20,70
ESTADOS UNIDOS 29,60 20,70
24
A Organizao para a Cooperao e o Desenvolvimento Economico (OCDE) sucedeu Organizao Europeia de Cooperao Economica,
que foi criada para administrar a ajuda dos Estados Unidos e do Canad, no quadro do Plano Marshall, ao processo de reconstruo
europia que se seguiu 2 Guerra Mundial. Desde que iniciou a sua atividade, em 1961, a OCDE, que conta hoje com 30 pases membros,
tem por misso reforar a economia dos pases membros, melhorar a sua eccia, promover a economia de mercado, desenvolver um
sistema de trocas livres e contribuir para o desenvolvimento e industrializao dos pases.
ANOTE
TEMA 9
REGIMES ADUANEIROS
ESPECIAIS
108
TEMA 9
REGIMES ADUANEIROS
ESPECIAIS
TEMA 9 REGIMES ADUANEIROS ESPECIAIS
Objetivos do Tema
Proporcionar uma viso ampla dos regimes aduaneiros especiais e atpicos que
facilitam o comrcio exterior, funcionando como alavancadores especiais no
incremento das exportaes;
Fazer compreender a dinmica do trnsito aduaneiro assim como a dimenso
do funcionamento do regime comum e do regime extraordinrio aduaneiro na
exportao e tambm as leis que o regem;
Oferecer dados sobre o funcionamento da operao de drawback na
importao;
Esclarecer o regime de entreposto industrial na importao.
9.1 REGIMES ADUANEIROS ESPECIAIS
Regimes aduaneiros especiais so mecanismos que permitem a importao e a
exportao de mercadorias com a suspenso dos tributos incidentes.
9.1.1 Regimes aduaneiros especiais na exportao
9.1.1.1 Trnsito Aduaneiro na Exportao
Permite o transporte de mercadoria, sob controle da autoridade aduaneira, de
um ponto a outro do territrio nacional, com suspenso de tributos.
O regime, concedido pela Secretaria da Receita Federal, pode ser aplicado ao:
transporte de mercadoria nacional ou nacionalizada, vericada ou despacha-
da para exportao, do local de origem ao local de destino, para embarque ou
armazenamento em rea alfandegada para posterior embarque;
transporte, pelo territrio aduaneiro, de mercadoria nacional ou nacionaliza-
da, vericada;
ou despachada para exportao e conduzida em veculo com destino ao ex-
terior.
O prazo de suspenso dos tributos ser o necessrio para amparar o transpor-
te desde o local de origem at ao de destino, contado a partir do momento do
desembarao para trnsito aduaneiro, e limitado ao momento da certicao da
chegada da mercadoria no destino.
O regime se extingue na concluso da operao de trnsito, no territrio na-
cional, mediante atestado de chegada da mercadoria ao destino.
9.1.1.2 Exportao Temporria
Considera-se exportao temporria a sada, do pas, de mercadoria nacional
ou nacionalizada, condicionada re-importao em prazo determinado ou mes-
mo estado ou depois de submetida a processo de conserto, reparo ou restaura-
o. O prazo mximo de permanncia no exterior de 2 (dois) anos.
O registro de exportao (RE), no SISCOMEX, constitui requisito para conces-
so do regime, que se extingue com a reimportao da mercadoria. A exporta-
o temporria concedida pela Secretaria da Receita Federal.
109
TEMA 9
REGIMES ADUANEIROS
ESPECIAIS
A aplicabilidade do Regime de Exportao Temporria cabe a
I) mercadorias destinadas a feiras, competies esportivas ou exposies, no ex-
terior;
II) produtos manufaturados e acabados, inclusive para conserto, reparo ou res-
taurao para seu uso ou funcionamento;
III) animais reprodutores para cobertura, em estao de monta,
com retorno cheia, no caso de fmea, ou com cria ao p, bem
como animais para outras nalidades;
IV) veculos para uso de seu proprietrio ou possuidor;
V) minrios e metais, para ns de recuperao ou beneciamento;
VI) mercadoria a ser submetida operao de transformao, ela-
borao, beneciamento ou montagem, no exterior, e sua reim-
portao, na forma do produto resultante dessas operaes.
Na re-importao de mercadoria exportada temporariamente para conserto,
reparo e restaurao sero exigveis os tributos incidentes na importao dos
materiais empregados na execuo dos servios, enquanto que, na hiptese de
ocorrncia de aperfeioamento passivo, sero exigveis os tributos incidentes so-
bre o valor agregado.
O regime de exportao temporria para aperfeioamento passivo (Portaria MF
675/94) o que permite a sada, do pas, por tempo determinado, de mercadoria
para ser submetida operao de transformao, elaborao, beneciamento
ou montagem, no exterior, e sua re-importao, na forma do produto resultante
dessas operaes.
9.1.1.3 Entreposto Aduaneiro na Exportao
Compreende duas modalidades:
A) Regime Comum: aquele que, aps terem sido observadas as normas pertinen-
tes, depositar as mercadorias, destinadas ao mercado externo, em entreposto
aduaneiro;
B) Regime Extraordinrio: refere-se s empresas comerciais exportadoras de que
trata a Lei 1.248/72, que adquirem mercadorias para o m especco de ex-
portao, e as depositam em entreposto aduaneiro, ou promovem o seu em-
barque direto.
Assim, este regime permite o depsito de mercadorias a serem exportadas,
em lugar determinado, com suspenso do pagamento de tributos e sob controle
scal.
O regime de entreposto aduaneiro na exportao concedido pela Secretaria da
Receita Federal.
O prazo de permanncia da mercadoria no regime de entreposto na exporta-
o de at 1 (um) ano, prorrogvel pelo mesmo perodo. Em situaes especiais,
o prazo de permanncia no regime pode ser prorrogado at o limite mximo de
3 (trs) anos.
Dentro do prazo de vigncia do regime, acrescido de 45 (quarenta e cinco)
dias aps esgotar-se o prazo de permanncia, dever ser adotada uma das se-
guintes providncias com relao mercadoria entrepostada:
iniciar o despacho de exportao ( solicitar a SD no SISCOMEX);
reintegr-la ao estoque do estabelecimento do benecirio;
110
TEMA 9
REGIMES ADUANEIROS
ESPECIAIS
em qualquer outro caso, recolher os tributos suspensos, de acordo com a le-
gislao pertinente.
Vencido o prazo do regime, sem a adoo de uma das providncias previstas, a mer-
cadoria considerada abandonada, para ns de aplicao da pena de perdimento.
9.1.1.4 Drawback
A operao de drawback compreende a importao com iseno ou suspen-
so do Imposto de Importao (II), do IPI, do ICMS, este na forma denida pelos
Estados e Distrito Federal, inclusive no mbito do CONFAZ
25
, do Adicional ao Fre-
te para Renovao da Marinha Mercante (AFRMM), alm da dispensa do reco-
lhimento de outras taxas que no correspondam efetiva contraprestao de
servios, nos termos da legislao em vigor.
Para efetivamente obterem estes benefcios tributrios, as importaes reali-
zadas atravs de operao de Drawback devem ser obrigatoriamente utilizadas
na industrializao de produtos destinados exportao.
Trata-se de poderoso instrumento de incentivo s exportaes brasileiras e
incremento das vendas externas.
Modalidades de drawback
Iseno;
Suspenso;
Restituio.
Principais vantagens
Suspenso dos tributos incidentes na importao de mercadoria a ser utiliza-
da em processo de industrializao de produto destinado exportao;
Iseno de tributos incidentes na importao de mercadoria, em quantidade
e qualidade equivalentes, destinada reposio de mercadoria anteriormen-
te importada utilizada na industrializao de produto exportado.
Essa modalidade tambm poder ser concedida, desde que haja uma justi-
cao, para a importao de mercadoria equivalente, adequada realidade
tecnolgica, com a mesma nalidade da originariamente importada, obede-
cidos os respectivos coecientes tcnicos de utilizao, e cando o valor total
da importao limitado ao valor da mercadoria substituda.
Operaes Especiais de Drawback
Drawback Genrico
D-se exclusivamente na modalidade de suspenso. Caracteriza-se pela dis-
criminao genrica da mercadoria a importar e o seu respectivo valor. Exemplo:
importao de partes e peas de locomotiva, avio, turbinas eltricas, etc.
Percebe-se que essa operao conveniente para exportao de produto de
bens de capital, que exige muitos valores agregados e, muitas vezes, alta tecnologia.
Drawback Sem Cobertura Cambial
25
O Conselho Nacional de Poltica Fazendria - CONFAZ tem por nalidade promover aes necessrias elaborao de polticas e
harmonizao de procedimentos e normas inerentes ao exerccio da competncia tributria dos Estados e do Distrito Federal, bem como
colaborar com o Conselho Monetrio Nacional - CMN na xao da poltica de Dvida Pblica Interna e Externa dos Estados e do Distrito
Federal e na orientao s instituies nanceiras pblicas estaduais.
111
TEMA 9
REGIMES ADUANEIROS
ESPECIAIS
Exclusivamente para a modalidade de suspenso, utilizado quando a impor-
tao da mercadoria feita sem cobertura cambial parcial ou total. Poder ocor-
rer quando o exportador brasileiro agregar ao produto exportado mercadoria
remetida pelo prprio importador.
Drawback Solidrio
Exclusivamente na modalidade de suspenso. Caracteriza-se pela participa-
o solidria de duas ou mais empresas industriais. Exemplo: participao de lici-
tao internacional em que o produto dever conter insumos importados. Duas
ou mais empresas locais sero as fornecedoras e atuam conjuntamente na im-
portao de matria-prima a ser utilizada no produto a exportar.
Drawback Intermedirio
Concedido nas modalidades de suspenso e Iseno. Caracteriza-se pela com-
pra externa de mercadoria, por empresas fabricantes-intermedirios, destinada a
processo de fabricao de produto intermedirio a ser fornecido a empresas in-
dstriais-exportadoras, para utilizao na industrializao de produto nal des-
tinado exportao.
Drawback para embarcao
Concedido nas modalidades de suspenso e iseno. Caracteriza-se pela im-
portao de mercadoria destinada a processo de industrializao de embarca-
o para ns de venda no mercado interno conforme disposto no pargrafo 2
do artigo 1. da Lei n. 8.402/92. Essa lei restabeleceu os incentivos scais dados
exportao e o artigo citado equiparou a venda interna das embarcaes s
exportaes no tocante ao benefcio scal. uma grande ajuda ao setor de cons-
truo naval.
Drawback para fornecimento no mercado interno:
Concedido exclusivamente na modalidade de suspenso e visa beneciar
aos fabricantes internos nas concorrncias internacionais, para a aquisio de
matria-prima, produto intermedirio e componentes destinados a processo de
industrializao no Pas, de mquinas e equipamentos a serem fornecidos no
mercado interno.
Ou seja, considera a licitao internacional para fornecimento domstico
como se fosse uma exportao.
Drawback para reposio de matria-prima nacional
Concedido exclusivamente na modalidade de iseno. Trata-se de importao
de mercadoria para reposio de matria-prima nacional utilizada em processo
de industrializao de produto exportado, beneciando a indstria exportadora
ou o fornecedor nacional para atender a situaes conjunturais de mercado.
Drawback interno ou verde amarelo
As matrias-primas, produtos intermedirios e materiais de embalagem, de
fabricao nacional, vendidos a estabelecimento industrial e destinados indus-
trializao de produtos a serem exportados, gozam do incentivo da suspenso
112
TEMA 9
REGIMES ADUANEIROS
ESPECIAIS
do imposto sobre produtos Industrializados (IPI), e o assunto tratado pela Ins-
truo Normativa DpRF no. 84/92.
No concesso de drawback
Importao de mercadoria utilizada na industrializao de produto
destinado ao consumo na Zona Franca de Manaus e em reas de livre comrcio.
a) Exportao ou importao de mercadoria suspensa ou proibida;
b) Exportaes contra pagamento em moeda nacional;
c) Exportaes conduzidas em moeda-convnio ou outras no conversveis,
contra importaes cursadas em moeda de livre conversibilidade;
d) Importaes de petrleo e seus derivados, conforme o disposto no Decreto
no. 1.495/95.
9.2 EXPORTAES VINCULADAS COMPROVAO DE OUTROS REIMES
ADUANEIROS OU INCENTIVOS EXPORTAO
Resultado cambial
No exame do pedido de drawback, ser levado em conta o resultado cambial
da operao.
Assim, a relao bsica a ser observada de 40% (quarenta por cento), esta-
belecida pela comparao do valor total das importaes, isto , valor da merca-
doria na origem, mais despesas de frete, seguro e outras despesas formadoras
do preo de importao, com o valor lquido das exportaes, assim entendido o
valor no local de embarque deduzido das parcelas de comisso de agente, even-
tuais descontos e dedues.
Quando apresentar o pedido, a interessada dever fornecer os valores estima-
dos de frete, seguro de demais despesas incidentes na importao pretendida.
Modalidade Restituio
Ocorre quando o exportador no deseja mais vender mercadorias ao exterior
com aqueles insumos agregados sua exportao e pretende ser ressarcido, via
crdito scal.
Recomenda-se aos interessados que se dirijam s respectivas Delegacias lo-
cais da Secretaria da Receita Federal para se inteirarem de outros procedimen-
tos que possam ser estabelecidos. Lembramos que essa matria est sujeita a
alteraes e s mudanas da poltica econmica brasileira, principalmente no
sentido de acabar ou diminuir benefcios scais, podendo intempestivamente
inibir pedidos da espcie.
As operaes de drawback, nas modalidades de suspenso e de iseno, so
concedidas pela Secretaria de Comrcio Exterior do Ministrio do Desenvolvi-
mento, da Indstria e do Comrcio; sendo a modalidade suspenso operada ele-
tronicamente via SISCOMEX no mdulo drawback e a modalidade de iseno
operacionalizada pelo Banco do Brasil; j a modalidade de restituio, concedi-
da pela Secretaria da Receita Federal do Ministrio da Fazenda.
9.3 O REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DO ENTREPOSTO INDUSTRIAL
113
TEMA 9
REGIMES ADUANEIROS
ESPECIAIS
O regime de entreposto industrial o que permite a determinado estabe-
lecimento de uma indstria importar, com suspenso de tributos, mercadorias
que, depois de submetidas operao de industrializao, devero destinar-se
ao mercado externo (artigo 372 do Decreto 4.543/2002, de 27 de dezembro de
2002 e artigo 69, do DL 37/66). A importao e o processo de produo do entre-
posto industrial caro sob controle aduaneiro.
4.4 REGIMES ADUANEIROS ATPICOS
9.4.1 Loja Franca
O regime aduaneiro especial de loja franca o que permite ao estabeleci-
mento instalado em zona primria de porto ou de aeroporto alfandegado ven-
der mercadoria nacional ou estrangeira a passageiro em viagem internacional,
contra pagamento em cheque de viagem ou em moeda estrangeira conversvel
(Decreto-lei n. 1.455, de 1976, art. 15 e Decreto n. 4.543/2002, art. 421).
O regime ser outorgado somente s empresas selecionadas mediante con-
corrncia pblica, e habilitadas pela Secretaria da Receita Federal (Decreto-lei n.
1.455, de 1976, art. 15, 1).
9.4.2 Depsito Especial
O regime aduaneiro de depsito especial o que permite a estocagem de
partes, peas, componentes e materiais de reposio ou manuteno, com sus-
penso do pagamento de impostos, para veculos, mquinas, equipamentos,
aparelhos e instrumentos, estrangeiros, nacionalizados ou no, nos casos deni-
dos pelo Ministro de Estado da Fazenda (Decreto n. 4.543/2002, art. 428).
9.4.3 Depsito aanado
O regime aduaneiro especial de depsito aanado (DAF) o que permite a
estocagem, com suspenso do pagamento de impostos, de materiais importa-
dos sem cobertura cambial, destinados manuteno e ao reparo de embarca-
o ou de aeronave pertencentes empresa autorizada a operar no transporte
comercial internacional e utilizadas nessa atividade (Decreto n. 4.543/2002, art.
436, e Instruo Normativa SRF n. 113, de 27-12-1994).
O DAF localizado em zona primria pode ser utilizado, inclusive, para a guarda
de provises de bordo.
9.4.4 Depsito Alfandegado Certicado (DAC)
O regime de depsito alfandegado certicado o que permite considerar ex-
portada, para todos os efeitos scais, creditcios e cambiais, a mercadoria nacio-
nal depositada em recinto alfandegado, vendida a pessoa sediada no exterior,
mediante contrato de entrega no territrio nacional e ordem do adquirente
(Decreto-lei n. 2.472, de 1988, art. 6 e Decreto n. 4.543/2002, art. 441).
Somente ser admitida no DAC a mercadoria vendida mediante contrato Deli-
vered Under Customs Bond (DUB), convencionada entre exportador e importador
(Portaria SCE n.15, de 17.11.2004, da SECEX, MDIC, Captulo XIII).
9.4.5 Depsito Franco
O regime aduaneiro especial de depsito franco o que permite, em recinto
114
TEMA 9
REGIMES ADUANEIROS
ESPECIAIS
alfandegado, a armazenagem de mercadoria estrangeira para atender ao uxo
comercial de pases limtrofes com terceiros pases (Decreto n. 4.543, art. 447).
9.5 REGIMES ADUANEIROS APLICADOS EM REAS ESPECIAIS
9.5.1 Zona Franca de Manaus
Considerada como um regime aduaneiro atpico, porque contemplada com
uma srie de benefcios, notadamente scais, a Zona Franca de Manaus foi nor-
matizada pelo Decreto-Lei 288/67.
Caracteriza-se por ser uma rea de livre comrcio de importao e exporta-
o e de incentivos scais especiais, estabelecida com a nalidade de criar no
interior da Amaznia um centro industrial, comercial e agropecurio dotado de
condies econmicas que permitam seu desenvolvimento, em face dos fatores
locais e da grande distncia, a que se encontram, os centros consumidores de
seus produtos.
uma rea de livre comrcio por excelncia, porm, seu desenvolvimento
ocorreu graas instalao de grandes grupos industriais no local, principalmen-
te aqueles voltados para a rea eletroeletrnica.
Esse conceito foi expendido em 1967. Trinta e nove anos depois, ainda se dis-
cute a necessidade da regio continuar contando com os incentivos da poca da
implantao.
Esses incentivos so, basicamente, a iseno de imposto de Importao e Im-
posto sobre produtos Industrializados.
Pelas sucessivas alteraes ocorridas desde a sua implantao, recomenda-se
s pessoas interessadas em se instalar na regio que veriquem junto da Receita
Federal de seu domnio scal as possveis vantagens de instalao.
Importante lembrar que toda a consulta aos rgos federais, estaduais e mu-
nicipais devem ser formais, isto , atravs de carta, devidamente identicado o
responsvel na empresa, pela consulta efetuada.
9.5.2 Zona de Processamento de Exportaes (ZPE)
As ZPEs (Decreto-Lei n 2.452/88, regulado pelo Decreto 846/93) caracteri-
zam-se como reas de livre comrcio com o exterior, destinadas instalao de
empresas voltadas para a produo de bens a serem comercializados exclusiva-
mente com o exterior, sendo consideradas zonas primrias para efeito de con-
trole aduaneiro.
9.5.2.1 Finalidade das ZPE
A nalidade da ZPE a de reduzir os desequilbrios regionais, gerar novos em-
pregos, bem como, fortalecer o balano de pagamentos e promover a difuso
tecnolgica e o desenvolvimento econmico e social do Pas.
9.5.2.2 Requisitos para a criao de uma ZPE
A proposta para criao de ZPE partir dos Municpios ou Estados interessa-
dos e devero satisfazer os seguintes requisitos:
adequao de portos/aeroportos internacionais;
comprometimento dos proponentes de realizarem as desapropriaes neces-
115
TEMA 9
REGIMES ADUANEIROS
ESPECIAIS
srias e obras de infra-estruturas;
comprovao de disponibilidade nanceira, considerando inclusive a possibi-
lidade de aportes de recursos da iniciativa privada;
comprovao de disponibilidade mnima de infra-estrutura e de servios ca-
pazes de absorver os efeitos de sua implantao;
indicao da forma de administrao da ZPE;
atendimento de outras condies porventura estabelecidas em regula-
mentos.
A administradora dever atender s instrues do Ministrio da Fazenda, perti-
nentes ao fechamento da rea, ao sistema de vigilncia e aos dispositivos de segu-
rana. Dever tambm a Administradora responder pelas instalaes de equipa-
mentos necessrios ao controle, vigilncia e administrao aduaneira local.
Existe muita controvrsia junto ao Governo Federal sobre a existncia das ZPE.
Uns so favorveis, pois a instalao visa corrigir possveis distores regionais e
produzir ganhos no comrcio exterior. Outros acham que representam renncia
scal da qual o governo no deveria abrir mo.
So poucas as ZPE autorizadas e em funcionamento: Maracana, no Cear;
Parnaba, no Piau; Macaba, no Rio Grande do Norte, So Lus, no Maranho; Joo
Pessoa, na Paraba; Barcarena, no Par; Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe;
Araguana, em Tocantins; Ilhus, na Bahia; Complexo Suape, entre Cabo e Ipojuca,
em Pernambuco; Itacoatiara, no Amazonas e Cceres, em Mato Grosso.
9.5.3 rea de Livre Comrcio (ALC)
Diferente da ZPE, a ALC rea de Livre Comrcio, uma rea demarcada, con-
tnua, cuja nalidade promover o comrcio de importao e exportao, com
regime scal especial, incentivando o desenvolvimento da regio aonde for de-
marcada.
A primeira rea de livre comrcio criada foi a de Tabatinga, no Amazonas, pela
Lei 7.965/89.
A entrada dos produtos, para consumo ou reexportao, se fazem via suspen-
so de impostos.
Mais tarde, atendidas as nalidades, quando destinadas ao consumo interno,
beneciamento (de acordo com a mercadoria), agropecuria e piscicultura, ins-
talaes de turismo, atividades de construo, reparos navais, estocagem para
reexportao, as obrigaes scais so transformadas em isenes.
A nalidade promover o desenvolvimento regional, conforme o esprito da lei.
As reas de livre comrcio, so combatidas por uma parcela pondervel do
Governo Federal que, acompanhando as crticas s ZPE, vem possibilidade de
contrabando, com desvio de parte da mercadoria importada para outros locais
do Brasil e, a renncia scal do Estado a essas receitas de importaes.
Alm de Tabatinga, podemos alinhar as seguintes ALC: Guajar-Mirim, em
Rondnia; Pacaraima e Bonm, em Roraima; Macap e Santana, no Amap; Brasi-
lia e Cruzeiro do Sul, no Acre.
SIGLAS, TERMOS
TCNICOS E GLOSSRIO
AAP Acordo de alcance parcial
ACC Adiantamento sobre contratos de cmbio
ACE Adiantamento sobre as Cambiais Entregues
Acordo - Expresso de uso livre e de alta incidncia na prtica
internacional, embora alguns juristas entendam por acordo os atos
internacionais com reduzido nmero de participantes e importncia
relativa.
AFRMM - Adicional ao frete para a renovao da Marinha Mercante
Ajuste ou acordo complementar - o ato que d execuo a outro,
anterior, devidamente concludo e em vigor, ou que detalha reas de
entendimento especcas, abrangidas por aquele ato.
ALADI - Associao Latino-Americana de Integrao
ALCA - rea de Livre Comrcio das Amricas
Arbitragem - a troca de determinada moeda estrangeira por outra.
APEC - Cooperao Econmica da sia e do Pacco
Atos Internacionais - Acordo internacional concludo por escrito
entre Estados e regido pelo Direito Internacional, quer conste de um
instrumento nico, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer
que seja sua denominao especca.
BACEN Banco Central do Brasil.
BB Banco do Brasil S.A.
Cmbio Manual - Compra e venda de moeda estrangeira em espcie, isto
, troca fsica de dinheiro estrangeiro pela moeda nacional ou vice-versa.
Cmbio Sacado - So operaes que envolvem saques sobre haveres
junto a Banqueiro no exterior.
Cartel uma forma de eliminar a concorrncia. Vrios produtores se
unem e estabelecem cotas e preos
CCR - Convnio de Crditos Recprocos
CECA - Tratado da Comunidade Europia do Carvo e do Ao.
CEE - Tratado da Comunidade Econmica Europia.
CIDE - Contribuio de Interveno no Domnio Econmico.
Conveno - Num nvel similar de formalidade, costuma ser empregado o
termo Conveno para designar atos multilaterais, oriundos de conferncias
internacionais e versem assunto de interesse geral das naes.
COFINS - Contribuio para Financiamento da Seguridade Social.
Convnio O termo convnio est relacionado a matrias sobre
cooperao multilateral de natureza econmica, comercial, cultural,
jurdica, cientca e tcnica.
CPMF - Contribuio Provisria Sobre Movimentao ou Transmisso de
Valores e de Crditos e Direitos de Natureza Financeira.
Custo de oportunidade Teoria econmica em que se permite
considerar todos os fatores de produo e no apenas o fator trabalhista.
Direito Internacional Privado - Ramo do Direito Pblico, que
compreende um conjunto de normas reguladoras das relaes entre as
naes.
Direito Internacional Pblico - o conjunto de normas que regem as
relaes dos direitos e deveres coletivos, quanto aos tratados, convenes
e acordos entre as naes.
Drawback - A operao de drawback compreende a importao com
iseno ou suspenso do imposto de importao(II).
Dumping - Consiste em vender no exterior por preo abaixo do custo de
produo.
Dumping Social - Termo utilizado para caracterizar a venda, no mercado
internacional, de produtos a um preo inferior ao praticado no mercado
SIGLAS, TERMOS
TCNICOS E GLOSSRIO
domstico, em virtude da falta ou no-observncia dos padres
trabalhistas internacionalmente reconhecidos.
EURATOM - Tratado da Comunidade Europia da Energia Atmica.
FAO Organizao das Naes Unidas para a Alimentao e Agricultura.
I.I. Imposto de Importao.
Incoterms Termos internacionais de comrcio.
I.P.I. Imposto sobre Produtos Industrializados.
I.C.M.S. Imposto sobre a Circulao de Mercadorias e Servios.
LIBOR London Interbanking offered rate Taxa de juros, preferencial
no mercado de Londres, Inglaterra.
Memorando de Entendimento - O memorando de entendimento
semelhante ao acordo, com exceo do articulado, que deve ser
substitudo por pargrafos numerados com algarismos arbicos. Seu
fecho simplicado e normalmente entra em vigor na data da assinatura.
MERCOSUL - Mercado Comum do Sul ou Mercado do Cone Sul.
NAFTA North Amrica Free Trade Agreement - Acordo de Livre
Comrcio da Amrica do Norte.
OIT - Organizao Internacional do Trabalho.
Oligoplio - Concentrao da explorao do mercado nas mos de
poucos concorrentes.
ONG - Organizao No-Governamental.
Paridade (cmbio) Denida como sendo o preo de uma moeda
estrangeira em relao outra.
PIS/PASEP - Programas de Integrao Social e de Formao do
Patrimnio do Servidor Pblico.
PNUD - Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento.
PNUMA - Programa das Naes Unidas para o Meio Ambiente.
Prime Rate Taxa de juros preferencial no mercado de New York, Estados
Unidos.
Protocolo - Termo que tem sido usado nas mais diversas acepes, tanto
para acordos bilaterais quanto para multilaterais. Aparece designando
acordos menos formais que os tratados, ou acordos complementares ou
interpretativos de tratados ou convenes anteriores.
R.E. Registro de Exportao.
Spot operao nanceira de pagamento vista.
Spread - a diferena entre a taxa de compra e taxa de venda.
Swap - a combinao de uma venda futura de determinada moeda,
com sua simultnea compra pronta (ou vice-versa).
TEC - Tarifa Externa Comum
Teoria da Demanda Recproca Teoria Clssica do Comrcio
Internacional. De acordo com essa teoria o comrcio se realizar quando
os preos equalizarem as demandas nos dois pases.
Teoria das Vantagens Absolutas - Condies em que determinado
produto ou servio pode ser oferecido, com preos de custos inferiores
aos dos concorrentes.
Teoria das Vantagens Comparativas - Conceito de custos introduzido na
teoria de comrcio exterior pelo economista David Ricardo, em 1817.
Tratado - Termo para designar, genericamente, um acordo internacional.
Tripartismo Termo utilizado no foro das relaes de trabalho para
indicar as trs partes intervenientes no processo: governo, trabalhador e
empregador.
Trustes Representam a fuso de vrias empresas, levando ao
monoplio.
UE - Unio Europia.
REFERNCIAS
BIBLIOGRFICAS
BIBLIOGRAFIA BSICA I
DERNOBORG, Thomas; McDOUGALL, Duncan. Macro-Economia. Rio de
Janeiro: Mestre Jou, 1970
FUSFELD, Daniel R. A Era do Economista. Rio de Janeiro: Edies Financei-
ras S.A, 1969
GALBRAITH, John Kenneth. Moeda: de onde veio para onde foi. So Pau-
lo: Editora Pioneira, 1975
MAIA, Jayme de Mariz. Economia Internacional e Comrcio Exterior. So
Paulo: Atlas, 1999
RATTI, Bruno. Comrcio Internacional e Cmbio. So Paulo. Aduaneiras, 19
VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval. Economia: Micro e Macro. 3
edio. So Paulo: Atlas, 2002.
_________.et alii. Economia brasileira contempornea. 6 edio. So
Paulo: Atlas, 2005
VAZQUEZ, Jos Lopes. Comrcio Exterior Brasileiro.
So Paulo: Atlas, 2004
________, Manual de Exportao. So Paulo. Atlas: 2003
________, Dicionrio de Termos de Comrcio Exterior. So Paulo. Atlas:
2001
________, Prticas Bancrias Padronizadas Internacionais. Rio de Ja-
neiro: Cmara de Comrcio Internacional, 2004
WILLIAMSON, John. Economia aberta e a Economia Mundial. So Paulo.
Campus, 1989
WONNACOTT/CRUSIUS, Wonnacott/Crusius. Economia Micro e Macro.
So Paulo: McGrill, 1982
BIBLIOGRAFIA BSICA II
BALASSA, B. Teoria da integrao econmica. Lisboa: Clssica, 1964.
BAUMANN, R., CANUTO, O. e GONALVES, R. Economia internacional: teoria
e experincia brasileira. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
CARBAUGH, Robert J. International economics. 8.ed. Mason, Ohio: South-
Western, 2002.
CASSONE, V. Direito tributrio. So Paulo: Atlas, 2004.
COSTA, L.M. Comrcio exterior: negociao e aspectos legais. Rio de Janeiro:
Elsevier/Campus, 2005.
KILLOUGH, H.B. e KILLOUGH, L.W. International economics. New Jersey: D.
van Nostrana, 1960.
LEDEL, D.V. Aspectos de direito internacional privado do trabalho. Jus Navi-
gandi, Teresina, ano 8, n.442, 22/09/2004.
PASSOS, C.R.M. e NOGAMI, O. Princpios de economia. 5.ed. So Paulo: Pio-
neira Thomson Learning, 2005.
RATTI, B. Comrcio internacional e cmbio. 10.ed. So Paulo: Aduaneiras,
2001.
STRENGER, I. Contratos internacionais do comrcio. 4.ed. So Paulo: LTR, 2003.
Você também pode gostar
- Fispq - Vaselina SolidaDocumento7 páginasFispq - Vaselina Solidaseguranca5pradoluxAinda não há avaliações
- Royalties do petróleo e orçamento público: Uma nova teoriaNo EverandRoyalties do petróleo e orçamento público: Uma nova teoriaAinda não há avaliações
- 50 Receitas para Emagrecer de Vez (Paula Lopes) PDFDocumento131 páginas50 Receitas para Emagrecer de Vez (Paula Lopes) PDFplattini cardosoAinda não há avaliações
- Apostila de Comércio ExteriorDocumento84 páginasApostila de Comércio Exteriorapi-3751036100% (9)
- Certificação Interna de Conhecimentos Prova 03 Março 2009Documento41 páginasCertificação Interna de Conhecimentos Prova 03 Março 2009fegnus100% (1)
- Certificação Interna de Conhecimentos Prova 03 Março 2009Documento41 páginasCertificação Interna de Conhecimentos Prova 03 Março 2009fegnus100% (1)
- Evangelismo para MuçulmanosDocumento24 páginasEvangelismo para MuçulmanosÉrica AgAinda não há avaliações
- Tributos Incidentes Sobre o Comércio ExteriorDocumento25 páginasTributos Incidentes Sobre o Comércio ExteriorGilmar Seco PeresAinda não há avaliações
- Direito Aduaneiro IDocumento36 páginasDireito Aduaneiro IJobson Silva100% (1)
- Log - Sistemática de Comércio Exterior (2022) - vs2Documento132 páginasLog - Sistemática de Comércio Exterior (2022) - vs2POLIANE SANTOS100% (2)
- Cambios e Comercio Internacional PDFDocumento103 páginasCambios e Comercio Internacional PDFCarlos Varela RodriguesAinda não há avaliações
- Gatt 1994Documento85 páginasGatt 1994sylfernando100% (1)
- Logística para Importação e Exportação - Parte1Documento17 páginasLogística para Importação e Exportação - Parte1Marcia SuzukiAinda não há avaliações
- Do Direito Comercial Ao Direito Empresarial.Documento2 páginasDo Direito Comercial Ao Direito Empresarial.Mariana SilvaAinda não há avaliações
- Apostila Economia e Finanças Fev 2008Documento218 páginasApostila Economia e Finanças Fev 2008fegnus100% (4)
- Export AngolaDocumento14 páginasExport AngolaJoãoMarquesAinda não há avaliações
- Apostila de Importação - ExportaçãoDocumento203 páginasApostila de Importação - ExportaçãoRonniePetersonFonsecaDinizAinda não há avaliações
- APOSTILADocumento115 páginasAPOSTILAekakol100% (1)
- Procedimentos Administrativos Na ExportaçãoDocumento42 páginasProcedimentos Administrativos Na ExportaçãoJonas Corassa100% (1)
- EIRELI, SPE e SCP: Aspectos PráticosDocumento21 páginasEIRELI, SPE e SCP: Aspectos PráticoscarlospinheirotorresAinda não há avaliações
- Comercio Exterior - Política Aduaneira e FiscalDocumento113 páginasComercio Exterior - Política Aduaneira e FiscalFabio Morais100% (1)
- 60 - Apostila - Fundamentos Do Comércio InternacionalDocumento95 páginas60 - Apostila - Fundamentos Do Comércio InternacionalSara ConsaniAinda não há avaliações
- IvaDocumento188 páginasIvaReilan..Ainda não há avaliações
- Comércio Internacional - Apostila - Aula 1Documento116 páginasComércio Internacional - Apostila - Aula 1Perito CriminalAinda não há avaliações
- Despacho Aduaneiro de ExportaçãoDocumento6 páginasDespacho Aduaneiro de ExportaçãoStephanieAinda não há avaliações
- Exportação de Serviços (Apostila)Documento15 páginasExportação de Serviços (Apostila)rms_rms_rmsAinda não há avaliações
- CEJudiciários ExecucaoFiscalDocumento141 páginasCEJudiciários ExecucaoFiscalArlindo DinisAinda não há avaliações
- Apostila de Comércio Internacional e Legislação AduaneiraDocumento107 páginasApostila de Comércio Internacional e Legislação AduaneiraMagno Marcoski Marcelino100% (1)
- Apostila Comercio Internacional - International TradingDocumento45 páginasApostila Comercio Internacional - International TradingCarlos JoséAinda não há avaliações
- Taxas de CambioDocumento9 páginasTaxas de CambiojotabegeAinda não há avaliações
- Anexo - Modelo Do AnexoDocumento106 páginasAnexo - Modelo Do AnexoSerafimMonteiroAinda não há avaliações
- Cartilha Cambio Envio Recebimento Pequeno ValoresDocumento28 páginasCartilha Cambio Envio Recebimento Pequeno Valoressertecinfor67Ainda não há avaliações
- Legislação AduaneiraDocumento94 páginasLegislação Aduaneiradjailson36100% (2)
- Escrita FiscalDocumento78 páginasEscrita FiscalJuliana da SilvaAinda não há avaliações
- A dedução do ágio tributário sob a ótica constitucionalNo EverandA dedução do ágio tributário sob a ótica constitucionalAinda não há avaliações
- Tratamento Tributário Aplicável às Pessoas Físicas e aos Investidores Não Residentes na Incorporação de AçõesNo EverandTratamento Tributário Aplicável às Pessoas Físicas e aos Investidores Não Residentes na Incorporação de AçõesAinda não há avaliações
- Subcapitalização no Direito Tributário Brasileiro: Análise e Crítica das Regras Brasileiras e Breve Análise do Direito ComparadoNo EverandSubcapitalização no Direito Tributário Brasileiro: Análise e Crítica das Regras Brasileiras e Breve Análise do Direito ComparadoAinda não há avaliações
- Amortização de Ágio em Operações Societárias como Instrumento de Planejamento Tributário: limites e possibilidades na perspectiva da CSRFNo EverandAmortização de Ágio em Operações Societárias como Instrumento de Planejamento Tributário: limites e possibilidades na perspectiva da CSRFAinda não há avaliações
- A progressividade como meio de realização da justiça fiscal e social e os empecilhos para sua inclusão na reforma tributária do BrasilNo EverandA progressividade como meio de realização da justiça fiscal e social e os empecilhos para sua inclusão na reforma tributária do BrasilAinda não há avaliações
- Curso de Escrituração Fiscal Digital ICMS/IPI: guia essencial para Auditores, Contabilistas, Consultores e Estudantes de Ciências ContábeisNo EverandCurso de Escrituração Fiscal Digital ICMS/IPI: guia essencial para Auditores, Contabilistas, Consultores e Estudantes de Ciências ContábeisAinda não há avaliações
- O Fenômeno da Ambiguidade Lexical na Informação ContábilNo EverandO Fenômeno da Ambiguidade Lexical na Informação ContábilAinda não há avaliações
- Manual Prático de Seguros no Direito BrasileiroNo EverandManual Prático de Seguros no Direito BrasileiroAinda não há avaliações
- Como Passar em Concursos de Escrevente do TJSP: 870 Questões ComentadasNo EverandComo Passar em Concursos de Escrevente do TJSP: 870 Questões ComentadasAinda não há avaliações
- Autonomia patrimonial das sociedades limitadas vs. Desconsideração da personalidade jurídica: desafios e perspectivas da lei de liberdade econômicaNo EverandAutonomia patrimonial das sociedades limitadas vs. Desconsideração da personalidade jurídica: desafios e perspectivas da lei de liberdade econômicaAinda não há avaliações
- Controvérsias Tributárias Atuais no Agronegócio: Volume 1No EverandControvérsias Tributárias Atuais no Agronegócio: Volume 1Ainda não há avaliações
- Como passar na OAB 1ª Fase: direito empresarial: 280 questões comentadasNo EverandComo passar na OAB 1ª Fase: direito empresarial: 280 questões comentadasAinda não há avaliações
- Manual Do Comércio Exterior Passo-a-passoNo EverandManual Do Comércio Exterior Passo-a-passoAinda não há avaliações
- Intro Com Ext LivroDocumento150 páginasIntro Com Ext LivroAlessandro LemosAinda não há avaliações
- E-Book Do Módulo 1Documento40 páginasE-Book Do Módulo 1Gisele BrancoAinda não há avaliações
- Impressao - Aula 3Documento7 páginasImpressao - Aula 3Erica SantosAinda não há avaliações
- Negócios Internacionais e suas Aplicações no BrasilNo EverandNegócios Internacionais e suas Aplicações no BrasilAinda não há avaliações
- Capitulo 1 A 2Documento57 páginasCapitulo 1 A 2wilsonAinda não há avaliações
- Contrastes de Redação Entre Português e InglêsDocumento6 páginasContrastes de Redação Entre Português e Inglês35694Ainda não há avaliações
- Mercados Futuros e Opções AgropecuáriasDocumento334 páginasMercados Futuros e Opções AgropecuáriasDiego Schmidt100% (1)
- 3 - 12 de Fevereiro (Prof Paulo Simões)Documento3 páginas3 - 12 de Fevereiro (Prof Paulo Simões)DaniAinda não há avaliações
- Pedro Henrique Pessoa Ferreira BoaventuraDocumento54 páginasPedro Henrique Pessoa Ferreira BoaventuraAdriana CarpiAinda não há avaliações
- Apresentação - UFCD 6703 - Mod 1Documento22 páginasApresentação - UFCD 6703 - Mod 1Sandra GonçalvesAinda não há avaliações
- Economia Portuguesa em Contexto Internacional Livro Da Porto EditoraDocumento60 páginasEconomia Portuguesa em Contexto Internacional Livro Da Porto Editorapalexandra15356Ainda não há avaliações
- TCC 2 Base 1Documento24 páginasTCC 2 Base 1Leonardo AraujoAinda não há avaliações
- Contrastes de Redação Entre Português e Inglês - Como TraduzDocumento4 páginasContrastes de Redação Entre Português e Inglês - Como Traduzapi-3728326Ainda não há avaliações
- Cert Int Área 10 Novembro 2009Documento6 páginasCert Int Área 10 Novembro 2009fegnusAinda não há avaliações
- UEG 2010.1 1A FASE Prova INGLÊSDocumento28 páginasUEG 2010.1 1A FASE Prova INGLÊSfegnusAinda não há avaliações
- Bbcert09 006 6Documento4 páginasBbcert09 006 6Gerson OliveiraAinda não há avaliações
- Certificação Interna de Conhecimentos Prova 04 Março 2009Documento41 páginasCertificação Interna de Conhecimentos Prova 04 Março 2009fegnusAinda não há avaliações
- Resposta Aos Recursos Certificação Interna de Conhecimentos Março 2009Documento104 páginasResposta Aos Recursos Certificação Interna de Conhecimentos Março 2009fegnusAinda não há avaliações
- Certificação Interna de Conhecimentos Prova 01 Março 2009Documento41 páginasCertificação Interna de Conhecimentos Prova 01 Março 2009fegnusAinda não há avaliações
- Certificação Interna de Conhecimentos Prova 02 Março 2009Documento41 páginasCertificação Interna de Conhecimentos Prova 02 Março 2009fegnusAinda não há avaliações
- Apostila Marketing Nov 2008Documento150 páginasApostila Marketing Nov 2008fegnus100% (4)
- Apostila Gestão de Segurança Ago 2008Documento147 páginasApostila Gestão de Segurança Ago 2008fegnus100% (6)
- Apostila RSA e DRS Nov 2008Documento174 páginasApostila RSA e DRS Nov 2008fegnus100% (3)
- Aula 15 Magmatismo Restrito MissonDocumento203 páginasAula 15 Magmatismo Restrito MissonLuana AmaralAinda não há avaliações
- Processo de Fundição Sob Pressão SlidesDocumento73 páginasProcesso de Fundição Sob Pressão SlidesFrancisco CaetanoAinda não há avaliações
- Catequese 5Documento3 páginasCatequese 5Sandra OliveiraAinda não há avaliações
- Karl Von EckartshausenDocumento9 páginasKarl Von EckartshausenAutúliosAinda não há avaliações
- Escolha Múltipla - MillDocumento4 páginasEscolha Múltipla - MillixasperadaAinda não há avaliações
- Comunicação P.ODocumento24 páginasComunicação P.OMarlene MassicameAinda não há avaliações
- Como Sou, Como Estou Imagem Corporal e Estado Nutricional em Mulheres Dissertacao - Corrigida - Alessandra - FeierabendDocumento181 páginasComo Sou, Como Estou Imagem Corporal e Estado Nutricional em Mulheres Dissertacao - Corrigida - Alessandra - FeierabendQuintina RibeiroAinda não há avaliações
- PLANO DE ELETIVA - Algumas Doenças Da AtualidadeDocumento4 páginasPLANO DE ELETIVA - Algumas Doenças Da AtualidadeAline Paiva da SilvaAinda não há avaliações
- Mu-Vz-Hsm-Soq-002-Pt R02Documento51 páginasMu-Vz-Hsm-Soq-002-Pt R02Eduardo LJCAinda não há avaliações
- Relatório Pêndulo Simples PDFDocumento10 páginasRelatório Pêndulo Simples PDFJosé Teles NetoAinda não há avaliações
- Stephanie Melen Relatorio Final MVDocumento134 páginasStephanie Melen Relatorio Final MVRicardo SantosAinda não há avaliações
- Exoplanetas-História Busca e Classificação PDFDocumento61 páginasExoplanetas-História Busca e Classificação PDFJorge100% (1)
- Exercícios Concordância NominalDocumento29 páginasExercícios Concordância NominalRubens JúniorAinda não há avaliações
- Modelo de Relatório Física ExperimentalDocumento3 páginasModelo de Relatório Física Experimentalvitor_pedroAinda não há avaliações
- Genetic A GuppyDocumento41 páginasGenetic A GuppyDaniel FeroAinda não há avaliações
- Apostila - Cálculo Diferencial e Integral IIIDocumento77 páginasApostila - Cálculo Diferencial e Integral IIILeonardo Garcia Dos Santos100% (1)
- Cat - SM6-24kV 2009 PDFDocumento68 páginasCat - SM6-24kV 2009 PDFribeirofabianoAinda não há avaliações
- CRONOGRAMA - Hexag 26 SemansDocumento6 páginasCRONOGRAMA - Hexag 26 Semanselizandrab81Ainda não há avaliações
- Garantias C&C 2021Documento2 páginasGarantias C&C 2021Doutor Dinis GarciaAinda não há avaliações
- 02 - Sobre A Autoridade Etnografica - James Clifford - ResenhaDocumento3 páginas02 - Sobre A Autoridade Etnografica - James Clifford - ResenhaJOSENILTON COSTA MARTINSAinda não há avaliações
- Aeroportos 1Documento37 páginasAeroportos 1Jefferson SantosAinda não há avaliações
- Coelho (2010) - Mapeamento Digital de SolosDocumento95 páginasCoelho (2010) - Mapeamento Digital de SolosLucas EspíndolaAinda não há avaliações
- Descubra Como A Regenerar Células e Tecidos Do Seu Organismo para Combater Doenças e EnvelhecimentoDocumento10 páginasDescubra Como A Regenerar Células e Tecidos Do Seu Organismo para Combater Doenças e EnvelhecimentoDaniel SampaioAinda não há avaliações
- 06 Dimensões Da Educação FísicaDocumento25 páginas06 Dimensões Da Educação FísicaCleon SilvaAinda não há avaliações
- Lei Ordinária 16292 1997 de Recife PEDocumento85 páginasLei Ordinária 16292 1997 de Recife PEMarilia AlineAinda não há avaliações
- Árvore de Bons FrutosDocumento2 páginasÁrvore de Bons Frutosorkut2008zuatAinda não há avaliações
- Atividade Portfolio FisiologiaDocumento18 páginasAtividade Portfolio FisiologiaFernan DaviAinda não há avaliações