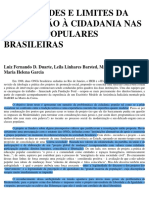Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Marco Aurélio Nogueira - Soc - Civil e Universo Gerencial PDF
Marco Aurélio Nogueira - Soc - Civil e Universo Gerencial PDF
Enviado por
georginabomfimTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Marco Aurélio Nogueira - Soc - Civil e Universo Gerencial PDF
Marco Aurélio Nogueira - Soc - Civil e Universo Gerencial PDF
Enviado por
georginabomfimDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O campo dos estudos polticos e sociais no
existe sem dissonncia. As categorias que se em-
pregam para interpretar a sociedade, a organiza-
o poltica e os fatos culturais, por serem hist-
ricas e refletirem sempre um compromisso e uma
escolha dos pesquisadores, so muitas vezes flui-
das e fugazes.
Inmeros conceitos da teoria social contem-
pornea geram controvrsias constantes. Um deles
o de hegemonia. Trata-se de um conceito empre-
gado basicamente para caracterizar a capacidade
que um grupo tem de dirigir eticamente e estabe-
lecer um novo campo de liderana. Mas como a
palavra tem origem militar, muitos a aproximam da
idia de monoplio ou uso intensivo do poder,
quer dizer, vem-na muito mais como sinnimo de
fora, autoridade e imposio. O conceito de con-
senso sofre algo parecido: elaborado para qualifi-
car uma articulao pluralista de idias e valores,
uma unidade na diversidade, acaba por ser reduzi-
do a ausncia de dissenso e divergncia, uma si-
tuao mais de silncio passivo e unanimidade que
de rudo e multiplicidade. Manuseado com esse re-
gistro, o conceito de consenso perde operacionali-
dade e se torna um jargo sem maior utilidade.
Quando muito, vale para que se demarque uma ou
outra posio em termos polticos mais imediatos.
SOCIEDADE CIVIL,
ENTRE O POLTICO-ESTATAL
E O UNIVERSO GERENCIAL
*
Marco Aurlio Nogueira
* A primeira verso deste texto foi apresentada na
mesa-redonda Sociedade civil e Estado na era da
globalizao, integrante do Seminrio Internacio-
nal Ler Gramsci, entender a realidade, promovido
pela International Gramsci Society-IGS e pela Facul-
dade de Servio Social da Universidade Federal do
Rio de Janeiro em setembro de 2001. Essa verso
serviu de base para um texto publicado na Revista
del CLAD Reforma y Democracia, 25, 2003, que an-
tecipa algumas das consideraes feitas agora.
Artigo recebido em novembro/2002
Aprovado em abril/2003
RBCS Vol. 18 n. 52 junho/2003
186 REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 18 N
. 52
Ocorre algo ainda pior com o conceito de
sociedade civil. Ao se disseminar largamente e co-
lar-se ao senso comum, ao imaginrio poltico das
sociedades contemporneas, linguagem da m-
dia, o conceito perdeu preciso: empregam-no
tanto a esquerda histrica quanto as novas esquer-
das, tanto o centro liberal quanto a direita fascista.
Os vrios interlocutores referem-se a coisas distin-
tas, mas empregam a mesma palavra. Certamente,
a referncia nem sempre Gramsci, mas Gramsci
est presente sempre, sempre lembrado e mui-
tas vezes apresentado como parmetro principal.
Inevitvel que a confuso prevalea. Hoje, como
muitos j observaram, continuamos sem uma com-
preenso nica e consensual do termo (White-
head, 1999; Cohen e Arato, 2000; Nogueira, 2000/
2001; Lavalle, 1999).
A sociedade civil serve para que se faa
oposio ao capitalismo e para que se delineiem
estratgias de convivncia com o mercado, para
que se proponham programas democrticos radi-
cais e para que se legitimem propostas de refor-
ma gerencial no campo das polticas pblicas.
Busca-se apoio na idia tanto para projetar um
Estado efetivamente democrtico como para se
atacar todo e qualquer Estado. em nome da so-
ciedade civil que muitas pessoas questionam o
excessivo poder governamental ou as interfern-
cias e regulamentaes feitas pelo aparelho de
Estado. Apela-se para a sociedade civil com o
propsito de recompor as virtudes cvicas ine-
rentes tradio comunitria atormentada pelo
mundo moderno, assim como para ela que se
remetem os que pregam o retorno dos bons mo-
dos e dos bons valores. em seu nome que se
combate o neoliberalismo e se busca delinear
uma estratgia em favor de uma outra globaliza-
o, mas tambm com base nela que se faz o
elogio da atual fase histrica e se minimizam os
efeitos das polticas neoliberais. Muitos governos
falam de sociedade civil para legitimar programas
de ajuste fiscal, tanto quanto para emprestar uma
retrica modernizada para as mesmas polticas de
sempre, assim como outros tantos governos pro-
gressistas buscam sintonizar suas decises e sua
retrica com as expectativas da sociedade civil.
Em suma, o apelo a essa figura conceitual serve
tanto para que se defenda a autonomia dos cida-
dos e a recomposio do comunitarismo perdi-
do, como para que se justifiquem programas de
ajuste e desestatizao, nos quais a sociedade ci-
vil chamada para compartilhar encargos at en-
to eminentemente estatais.
No texto que se segue, pretendo argumentar
que convivemos hoje com diferentes conceitos de
sociedade civil, estruturados a partir de distintos
programas de ao e influncias tericas. Flutua-
mos entre esses conceitos, tanto no plano terico
como no mais imediatamente poltico. Eles, na
verdade, freqentam-se reciprocamente, remeten-
do-se uns aos outros. Seus impactos e desdobra-
mentos polticos, porm, so completamente dis-
tintos, como veremos.
Para desenvolver a argumentao, este texto
toma como parmetro o conceito gramsciano de
sociedade civil. Ainda que sem pretender recons-
truir com detalhes a concepo de Gramsci,
1
nem
mapear e deslindar criticamente as diversas cor-
rentes que hoje incidem nos estudos a respeito da
sociedade civil, procurar-se- fixar o ncleo mais
especfico da concepo gramsciana e tom-lo
como base para dialogar com as demais idias de
sociedade civil que hoje procuram se afirmar no
panorama poltico e cultural.
Com esse propsito, ser aqui adotado o
pressuposto de que, em Gramsci, sociedade civil
um conceito, complexo e sofisticado, com o qual
se pode entender a realidade contempornea. Mas
tambm um projeto poltico, abrangente e igual-
mente sofisticado, com o qual se pode tentar
transformar a realidade. Diferentemente, porm,
do que ocorre em boa parte das formulaes re-
centes sobre a nova sociedade civil que procu-
ram fornecer um eixo de orientao para a ao
poltica com base numa oposio axiolgica entre
Estado e sociedade (Lavalle, 1999) , a teoria
gramsciana encontra seu alicerce terico e sua re-
ferncia tico-poltica precisamente na dialtica de
unidade-e-distino daquelas duas instncias
constitutivas do social. Com isso, Gramsci pde
atualizar o conceito de sociedade civil vis--vis as
tradies oitocentistas e assimil-lo como funda-
mento de sua teoria da hegemonia (Frosini, 2003).
Para ele, a sociedade civil no um mero terreno
SOCIEDADE CIVIL, ENTRE O POLTICO-ESTATAL... 187
de iniciativas privadas, mas tem desde logo uma
funo estatal, na medida mesma em que se pe
como hegemonia poltica e cultural de um grupo
social sobre toda a sociedade, como contedo ti-
co do Estado (Gramsci, 2000, p. 225).
O conceito e sua difuso
A histria do conceito de sociedade civil re-
monta ao mundo clssico e medieval, a partir do
qual, aps longa maturao, ressurgiu colado
progressiva afirmao do pensamento liberal.
Chegou ao sculo XIX, passando pelo Iluminis-
mo, por Ferguson, Adam Smith e Rousseau, e in-
filtrou-se com destaque nas formulaes de Hegel
e Marx, mediante os quais se incorporou cultu-
ra terica contempornea, penetrando particular-
mente os universos socialista e comunista.
2
Ao longo do sculo XX, o conceito esteve
fortemente associado elaborao marxista de
Antonio Gramsci, ganhando forte disseminao
aps a descoberta e o intenso trabalho de avalia-
o crtica de Cadernos do Crcere, no ps-Se-
gunda Guerra Mundial. A partir dos anos de
1980, os cadernos tm sido objeto de reconstitui-
o e reinterpretao, ao qual se associam nomes
como os de Norberto Bobbio, Alain Touraine,
Charles Taylor, Michael Walzer e Jurgen Haber-
mas, entre outros.
O debate sobre o tema evoluiu por uma via
predominante. Ao passo que a tradio associada
a Gramsci permaneceu vendo a sociedade civil
como parte orgnica do Estado, como mbito
dotado de especificidade, mas somente com-
preensvel se integrado a uma totalidade histrico-
social, as correntes mais recentes tenderam a tra-
tar a sociedade civil como uma instncia separada
do Estado e da economia, um reino parte, po-
tencialmente criativo e contestador, visto ora como
base operacional de iniciativas e movimentos no-
comprometidos com as instituies polticas e as
organizaes de classe, ora como espao articula-
do pelas dinmicas da esfera pblica e da ao
comunicativa (Habermas, 1997a e 1997b). Transi-
tou-se assim de uma imagem de sociedade civil
como palco de lutas polticas e empenhos hege-
mnicos, para uma imagem que converte a socie-
dade civil ou em recurso gerencial um arranjo
societal destinado a viabilizar tipos especficos de
polticas pblicas , ou em fator de reconstruo
tica e dialgica da vida social. De uma fase em
que o marxismo preponderava nas discusses e
deixava sua marca, ingressou-se numa fase em
que a perspectiva liberal-democrtica, nuanada
ou afirmada de modo ortodoxo, prevalece e ope-
ra como referncia principal.
Em termos gerais, essa recomposio e a lar-
ga difuso do conceito tiveram na base um pro-
cesso objetivo, estruturado por quatro vertentes
principais.
Em primeiro lugar, a complexificao, a dife-
renciao e a fragmentao das sociedades con-
temporneas, subproduto mais expressivo do de-
senvolvimento capitalista das ltimas dcadas.
Ainda que cortadas por imponentes processos de
integrao e estandartizao, as sociedades fica-
ram mais diversificadas e individualizadas. Torna-
ram-se ambientes tensos e competitivos, onde pre-
dominam condutas fechadas em si, pouco
dialgicas e muito desagregadas. Sob a base de
uma diminuio do peso relativo do grande sujei-
to histrico da modernidade capitalista, a classe
operria, que funcionava como vetor de unifica-
o social, projetou-se um amplo conjunto de no-
vos sujeitos, que, em sua ao, nem sempre que-
rem ou conseguem se unificar. A mundializao e
a expanso dos mercados, que em pocas anterio-
res operaram como inequvoco fator de agregao
e estruturao de aes coletivas, passaram a ani-
mar o livre curso de interesses sempre mais parti-
culares e desagregados.
Em segundo lugar, o conceito foi impelido
pela constituio de um mundo mais interligado e
integrado economicamente, submetido tanto a re-
des de comunicao e informao, como a din-
micas estruturais que relativizaram o poder dos
Estados nacionais. O social ganhou maior transpa-
rncia e maior autonomia relativa diante do pol-
tico. As sociedades entraram mais em contato
umas com as outras e passaram a assimilar influ-
xos culturais muito mais padronizados, com que
ficaram ameaadas a autonomia e a originalidade
das culturais nacionais. O mundo, porm, no se
188 REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 18 N
. 52
tornou mais igual: tornou-se, na verdade, muito
diverso, com um aumento sem precedentes das
distncias que separam ricos e pobres, protegidos
e desprotegidos, trabalhadores e proprietrios.
A difuso do conceito tambm foi impulsio-
nada, em terceiro lugar, pela crise da democracia
representativa e pelas transformaes sociocultu-
rais associadas globalizao, que fizeram com
que a poltica se tornasse bem mais espetacular,
bem mais miditica e bem menos controlada pelos
tradicionais operadores polticos. O protagonismo
adquirido pelos meios de comunicao pela tele-
viso em particular alterou em profundidade toda
a esfera do poltico, seja modificando os termos da
competio inerente a ela, seja reformulando os cir-
cuitos em que se modelam as conscincias e a opi-
nio dos cidados: transformou, portanto, o modo
mesmo como se produz consenso, como se for-
mam culturas e orientaes de sentido, como se
constroem hegemonias. Com a fora adquirida pelo
projeto neoliberal e o aprisionamento dos Estados
nacionais (e de seus governos) na jaula da globali-
zao, o modo predominante de produo de con-
senso acabou por travar a formao e o desenvol-
vimento de formas mais politizadas de conscincia,
em benefcio de formas econmico-corporativas e
da expanso de atitudes mentais consumistas, indi-
vidualistas, medocres, indiferentes vida comum.
Tal situao provocou impactos negativos impor-
tantes sobre o funcionamento e a identidade dos
partidos polticos de esquerda, j abalados pela di-
ficuldade de reproduo dos sujeitos sociais cls-
sicos e pela diminuio do sentido das grandes
utopias polticas. Em decorrncia, reforou-se o
protagonismo de organizaes e movimentos aut-
nomos em relao esfera imediatamente poltica
e a causas de natureza classista. Com sua firme e
progressiva disseminao, esses movimentos e or-
ganizaes congestionaram a sociedade civil, con-
fundindo-se com ela. De espao dedicado articu-
lao poltica dos interesses de classe de terreno
para a afirmao de projetos de hegemonia , a so-
ciedade civil se reduziu a um acampamento de
movimentos. Ganhou-se em termos de organiza-
o dos interesses e mesmo de ativao democr-
tica, mas perdeu-se em termos de unidade poltica.
Tambm contribuiu para a redescoberta da
sociedade civil, em quarto lugar, a expanso da cul-
tura democrtica em geral e da cultura participativa
em particular, com o que ganharam impulso o ati-
vismo comunitrio e, na esteira dele, os assim cha-
mados novos movimentos sociais. Ao lado de deter-
minaes de ordem mais imediatamente econmica
e poltica, foi com base nessa expanso que se com-
pletaram, ao longo dos anos de 1980, o esgotamen-
to e a sucessiva crise terminal dos regimes ditatoriais
na Amrica do Sul, bem como a derrocada comple-
ta do sistema socialista do Leste europeu. Em ambos
os casos que so bem especficos e no podem
ser reduzidos a meras variantes de processos de
descompresso poltica , o movimento pela demo-
cratizao fez-se junto com uma crise do Estado e
dos padres societais ento vigentes. Inmeros mo-
vimentos, aes e organismos passaram a se enrai-
zar num terreno que j no podia mais ser plena-
mente regulamentado de modo estatal, e acabaram,
com isso, por impulsionar a idia de que teria final-
mente surgido uma terceira esfera, ao largo do
mercado e do Estado moderno (Avritzer, 1994, p.
12), desvinculada de partidos, regras institucionais
e compromissos formais, terra da liberdade, do ati-
vismo e da generosidade social, a partir da qual se
construiria a democracia por que se lutava.
3
A ex-
presso sociedade civil ficou, assim, colada a essa
terceira esfera, e para ela foi transferida toda a po-
tncia da ao democrtica mais ou menos radical,
da luta por direitos e da constituio de uma esfera
pblica no integrada ao estatal e assentada no livre
associativismo dos cidados.
Em ambos os casos, a democratizao combi-
nou-se com avanos em termos de modernizao
capitalista e globalizao, ou seja, com pauperiza-
o, diferenciao social, crise fiscal, mudanas
culturais e recesso econmica, fatos que iriam
comprometer precisamente a consistncia, a efic-
cia e a qualidade da democracia, bem como das
respectivas sociedades civis. Combinou-se tambm
com enfraquecimento do Estado e da perspectiva
do Estado, graas progressiva afirmao de um
discurso satanizador do setor pblico e de uma
ideologia estatal auto-incriminatria, que iguala-
r tudo o que era estatal com a ineficincia, a cor-
rupo e o desperdcio (Born, 1996, p. 78). A de-
SOCIEDADE CIVIL, ENTRE O POLTICO-ESTATAL... 189
mocratizao nascer e avanar, assim, perversa-
mente articulada com uma desvalorizao do po-
ltico e uma recusa poltica institucionalizada, ou
seja, com uma despolitizao da poltica e da ci-
dadania. Num primeiro momento, portanto, du-
rante os anos de autoritarismo, a sociedade civil
apareceu como cenrio opaco, pouco denso e
cortado por interesses particulares exacerbados,
divergentes, mal compostos e certamente necessi-
tados de politizao, fato que por si s justificaria
a observao de Arato de que questionvel que
uma coisa inexistente (a sociedade civil num regi-
me totalitrio) possa, apesar disso, contribuir para
sua prpria libertao (1995, p. 19). Num segun-
do momento, com o avano neoliberal da demo-
cratizao, a sociedade civil fragmentou-se toda, as-
sistiu ao empobrecimento de muitos de seus
setores e ficou ainda mais vazia de dimenso tico-
poltica, com sintomas de um regresso hobbesia-
no que a incapacitaria para se repor civilizada-
mente. Apesar disso, continuou a crescer o elogio
unilateral de uma sociedade civil que conteria as
melhores virtudes sociais e poderia se contrapor
ao momento autoritrio, repressivo e burocrtico
do fenmeno estatal. Ao reconhecido excesso de
Estado tpico do perodo ditatorial e ao mau fun-
cionamento do Estado democrtico, iria se con-
frontar uma postura tendencialmente hostil a qual-
quer Estado (Nogueira, 1998b).
Ao longo desse amplo movimento histrico-
social, novas idias de sociedade civil foram sen-
do elaboradas e incorporadas ao lxico contempo-
rneo. Como representao da prevalncia do
mercado, ou seja, numa linha doutrinria que se
confundiria com o liberalismo econmico, com o
liberismo, cresceu uma imagem da sociedade civil
como expresso ou de uma solidariedade comuni-
tria, ou de uma espcie de revanche do econ-
mico sobre o poltico, como locus de realizao
das potencialidades do indivduo, do bourgeois
sobre o citoyen, para lembrar uma famosa expres-
so utilizada por Marx. Com tal inflexo, despoli-
tizava-se a sociedade civil, que passava ento a ser
pensada ou como trincheira para proteger o indi-
vduo e as associaes voluntrias contra o Estado,
ou como ambiente capaz de recompor as tradi-
es cvicas destrudas pelo mercado. A imagem
ficaria bem ilustrada com a definio de Dahren-
dorf: A sociedade civil a essncia vital da liber-
dade; seu caos criativo de associaes d s pes-
soas a possibilidade de viver suas vidas sem ter
que mendigar do Estado ou de outros poderes
(1997, p. 84).
Por outro lado, como representao do cres-
cimento da democracia participativa e da assimila-
o pelas esquerdas do ncleo mais herico do
liberalismo democrtico, cresceu uma imagem de
sociedade civil como esfera plural de interesses
que, mediante progressivas aes associativas me-
ritrias, daria curso a uma vontade geral quase
redentora, a um programa que busque represen-
tar os valores e interesses da autonomia social pe-
rante o Estado moderno e a economia capitalista,
sem cair em um novo tradicionalismo (Cohen e
Arato, 2000, p. 54). Para isso, a imagem criada
pela esquerda liberal-democrtica tambm foi le-
vada a destruir o vnculo orgnico entre a socieda-
de e o Estado (pea-chave da operao terica
que chega at Gramsci) e a hierarquizar axiologi-
camente essas duas instncias, de modo a negati-
vizar o Estado e positivizar a sociedade civil. Fi-
xou-se assim um conceito de sociedade civil visto
como momento oposto ao Estado, sem qualquer
liame ou intercmbio conformativo que no seja
dado a posteriori, isto , apenas como decorrncia
de seu confronto (Lavalle, 1999, p. 131).
De um modo ou de outro, portanto, a re-
descoberta do conceito de sociedade civil impli-
cou uma reviso radical da formulao gramscia-
na. Para tornar ainda mais complexo e confuso o
quadro, parte dessa reviso ir se fazer declarada-
mente a partir de uma incorporao ativa do lxi-
co de Gramsci e muitas vezes em seu nome.
A sociedade civil poltico-estatal
O conceito de sociedade civil foi concebido
por Gramsci que o resgatou da tradio iluminis-
ta e hegeliana dos sculos XVIII e XIX e o renovou
com radicalidade como parte de uma operao
terica e poltica dedicada a interpretar as impo-
nentes transformaes que se consolidavam nas
sociedades do capitalismo desenvolvido (altera-
190 REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 18 N
. 52
es no padro produtivo, expanso da classe
operria, crescimento do associativismo, da diver-
sificao e da organizao dos interesses, socializa-
o da poltica, maior peso do Estado vis--vis o
mercado, aumento da regulao e das polticas de
proteo e bem-estar etc.) (Nogueira, 1998a).
Gramsci percebia que esse movimento era virtual-
mente unificador e continha um impulso claro em
direo a formas mais avanadas de convivncia,
mas estava cortado por fortes tendncias desagre-
gadoras, competitivas, individualistas. O prprio
Estado estava sendo reconfigurado: era invadido
pela socializao da poltica que se verificava e le-
vado a ir alm do aparato repressivo e coercitivo.
A fora requeria sempre mais consenso e hegemo-
nia. O Estado se ampliava (Buci-Glucksmann,
1980), articulando-se com a nova esfera do ser
social que se objetivava em conjunto com uma
maior diferenciao social e uma melhor organiza-
o dos interesses. A idia gramsciana de socieda-
de civil espelharia a nova situao: abrigava a ple-
na expanso das individualidades e diferenciaes,
mas acomodava tambm, acima de tudo, os fatores
capazes de promover agregaes e unificaes su-
periores. Ela seria a sede de mltiplos organismos
privados, mas nem por isto menos estatais. Seus
integrantes estariam dispostos como vetores de re-
laes de fora, como agentes de consenso e he-
gemonia, candidatos a se tornar Estado.
Com o Estado reforado conectando-se com
mltiplas associaes particulares e incorporan-
do-as a si, todo o espao estatal ganhava nova
qualidade e o fato mesmo da dominao poltica
era redefinido: a coero monoplio legtimo
da violncia (Weber), ao tpica do Estado visto
como sociedade poltica tinha de ser cada vez
mais sintonizada com a busca de consensos. Nos
Cadernos do Crcere, Gramsci esclareceu que o
ato de governar continuaria a buscar o consenso
dos governados, mas no apenas como consen-
so genrico e vago que se afirma no instante
das eleies, e sim como consenso organizado.
O Estado, observava, tem e pede o consenso,
mas tambm educa esse consenso atravs das as-
sociaes polticas e sindicais, que, porm, so
organismos privados, deixados iniciativa priva-
da da classe dirigente (Gramsci, 2000, p. 119). O
terreno das associaes privadas tornava-se, as-
sim, uma espcie de dimenso civil do Estado,
base material da hegemonia poltica e cultural. Es-
tado (coero) e sociedade civil (consenso) pas-
savam, desse modo, a ser vistos como instncias
distintas mas integradas, formando uma unidade.
Reuniam-se, portanto, dialeticamente. O Estado,
dizia Gramsci, sempre uma combinao de he-
gemonia e coero. O exerccio normal da he-
gemonia, no terreno tornado clssico do regime
parlamentar escrever , caracteriza-se pela
combinao da fora e do consenso, que se equi-
libram de modo variado sem que a fora suplan-
te muito o consenso, mas, ao contrrio, tentando
fazer com que a fora parea apoiada no consen-
so da maioria, expresso pelos chamados rgos
da opinio pblica (Idem, p. 95).
A sociedade civil gramsciana condensa, nes-
se sentido, o campo mesmo dos esforos societais
dedicados a organizar politicamente os interesses
de classe constantemente fracionados pela pr-
pria dinmica do capitalismo , ciment-los entre
si e projet-los em termos de ao hegemnica. O
associativismo a base de tudo, mas desde que
tratado politicamente. Gramsci no via grande
vantagem na agregao pela agregao, na agre-
gao em funo de interesses restritos: sua nfa-
se repousava na superao poltica dessa disposi-
o espontnea dos indivduos e grupos sociais
(Gramsci, 1987). Dava-se o mesmo com a cons-
cincia econmico-corporativa: ela existia como
estado primrio da conscincia social, e devia ser
superada pela forma mais sofisticada da conscin-
cia poltica, promovendo-se assim, como se diz
nos Cadernos, a passagem ntida da estrutura
para a esfera das superestruturas complexas e o
ingresso numa fase em que as ideologias lutam
entre si at que uma delas, ou pelo menos uma
nica combinao delas, tenda a prevalecer, a se
impor, determinando, alm da unicidade dos fins
econmicos e polticos, tambm a unidade intelec-
tual e moral (Gramsci, 2000, p. 41). A prpria no-
o de hegemonia par lgico e poltico do con-
ceito de sociedade civil desdobrava-se num
empreendimento unificador. No entendimento de
Gramsci, o sujeito hegemnico seria aquele que
viesse a se mostrar mais vocacionado para agregar
SOCIEDADE CIVIL, ENTRE O POLTICO-ESTATAL... 191
e unificar do que para separar e diferenciar. Seria
nessa condio, alis, que ele poderia se afirmar
como dirigente intelectual e moral ou como fun-
dador de Estados.
Isso significa dizer que a poltica entendida
como fator de mediao, um campo onde se com-
binam atos, regras e instituies voltadas para a
conquista do poder, da direo e da liderana, bem
como para a organizao dos interesses e da pr-
pria vida comum, ou seja, entendida como campo
do Estado em sentido amplo o principal motor
de agregao e unificao das sociedades. Eviden-
temente, trata-se aqui tanto da poltica dos polti-
cos, isto , a poltica praticada pelos profissionais
da poltica, como da poltica dos cidados (Noguei-
ra, 2001, cap. 5) inerente ao modo de ser do ho-
mem, ou seja, tanto da poltica institucionalizada,
como da socialmente experimentada. Para dizer de
outro modo, Gramsci imaginava a poltica como
tica do coletivo (Buey, 2001), j que se destina-
va a viabilizar uma integrao da virtude privada e
da virtude pblica, dos interesses particulares e da
vontade geral, do Estado e da sociedade, em suma,
a possibilitar uma dissoluo das distines entre
governantes e governados, simples e intelectuais
(Tortorella, 1998). A poltica, para ele, vista como
mundo poltico e como atividade poltica, repre-
sentava o meio que viabilizava a catarse, ou
seja, a passagem do momento meramente econ-
mico (ou egostico-passional) ao momento tico-
poltico, isto , a elaborao superior da estrutura
em superestrutura na conscincia dos homens
(Gramsci, 1999, p. 314).
V-se, portanto, que a sociedade civil grams-
ciana no se sustenta fora do campo do Estado e
muito menos em oposio dicotmica ao Estado.
Ela uma figura do Estado, e foi enfatizada por
Gramsci como a grande novidade que, na passa-
gem do sculo XIX para o sculo XX, modificava a
natureza mesma do fenmeno estatal, encami-
nhando-a em direo idia do Estado amplia-
do. Ela se articula dialeticamente no Estado e com
o Estado, seja esse entendido como expresso jur-
dica de uma comunidade politicamente organiza-
da, como condensao poltica das lutas de classes
ou como aparato de governo e interveno. No se
mostra acertado, portanto, o pressuposto de Cohen
segundo o qual Gramsci foi o primeiro e o mais
importante marxista a refutar a reduo economi-
cista do conceito de sociedade civil e a insistir em
sua autonomia e em seu destaque do Estado, ou
seja, da sociedade poltica (Cohen, 1999, p. 268).
Gramsci pensava numa sociedade civil que
se poderia chamar de poltico-estatal, de modo a
acentuar que, nela, a poltica comanda: luta social
e luta institucional caminham juntas, articulando-
se a partir de uma estratgia de poder e hegemo-
nia. A famosa frmula gramsciana , aqui, elo-
qente: SP + SC = Estado, quer dizer, na noo
geral de Estado entram elementos que devem ser
remetidos noo de sociedade civil (no sentido,
seria possvel dizer, de que Estado = sociedade
poltica + sociedade civil, isto , hegemonia cou-
raada de coero) (Gramsci, 2000, p. 244).
Entendida por ele como contedo tico do
Estado, a sociedade civil possibilita a articulao e
a unificao dos interesses, a politizao das aes
e conscincias, a superao de tendncias corpora-
tivas ou concorrenciais, a organizao de consen-
sos e hegemonias. Seus personagens tpicos so
atores do campo estatal em sentido amplo. Em
decorrncia, o Estado que corresponde a essa so-
ciedade civil um Estado que poderamos cha-
mar de mximo: um Estado social radicalizado,
democrtico e participativo, que se pe como d-
namo da vida coletiva e parmetro geral dos di-
versos interesses sociais, balizando-os, de algum
modo compondo-os e, sobretudo, liberando-os
para uma afirmao plena e no-predatria.
Nessa concepo, portanto, a sociedade civil
considerada um espao onde so elaborados e
viabilizados projetos globais de sociedade, se ar-
ticulam capacidades de direo tico-poltica, se
disputa o poder e a dominao. Um espao de in-
veno e organizao de novos Estados e novas
pessoas. Um espao de luta, governo e contesta-
o, no qual se formam vontades coletivas.
Para falar em termos de uma metfora visual,
a sociedade civil poltico-estatal sugere uma forma-
o em linhas convergentes: fogo concentrado no
corao do sistema, maior capacidade de processar
e articular demandas, maiores oportunidades de in-
terferir na vida coletiva como um todo, eleger ou
combater governos. Dada a maior predisposio
192 REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 18 N
. 52
tico-poltica de seus protagonistas principais (par-
tidos polticos e assemelhados), criam-se nela con-
dies para o aparecimento de diversos pontos
timos de unificao, o que potencializa e requa-
lifica a movimentao social.
Em sua configurao tpico-ideal, essa socie-
dade civil produz incentivos basicamente organi-
zacionais e integradores: unificao, politizao e
fortalecimento do interesse pblico e democrti-
co. Desse ponto de vista, a sociedade civil polti-
co-estatal o campo por excelncia do governo
socialmente vinculado e da contestao poltica.
Nela podem se articular movimentos que apon-
tam seja para a construo de hegemonias, seja
para o controle e o direcionamento dos governos,
seja para a regulao estatal e o delineamento de
solues positivas para os problemas sociais.
O universo gerencial e o ativismo global
O conceito gramsciano de sociedade civil,
porm, no hoje hegemnico: no capaz de
dirigir. Justamente porque a globalizao traz con-
sigo impulsos irrefreveis de fragmentao, dife-
renciao e individualizao, de desnacionaliza-
o e fronteiras estatais porosas, de desconexo
entre pessoas, grupos e Estados, de enfraqueci-
mento da solidariedade social (Habermas, 2001),
de destruio do passado (Hobsbawm, 1995, p.
13), o poltico-estatal deixou de poder funcionar
como plo magntico. Tudo parece emprestar
certo charme dissoluo crescente da moderni-
dade organizada e anunciar, como programa ps-
moderno, o fim da poltica (Habermas, 2001, pp.
111-112).
Em decorrncia, as categorias referenciadas
pelo Estado e pelo poltico tendem a perder va-
lor e a ser objeto de mltiplas tentativas de res-
significao. As idias alternativas de sociedade
civil exprimem bem isso. Tendo como eixo um
esforo comum para pensar o Estado, a socieda-
de e a economia como mbitos autnomos, ain-
da que relacionados, afirmaram-se nas ltimas
dcadas, em dilogo com Gramsci e com ele con-
correndo, duas vertentes tericas distintas, mas
no contrapostas.
A primeira e a mais importante dessas idias
sobretudo pela capacidade de influncia que tem
tido pode ser chamada de sociedade civil libe-
rista. Nela, o mercado comanda: a luta social faz-
se em termos competitivos e privados, sem maio-
res interferncias pblicas ou estatais. Sua
expresso poderia estar numa frmula oposta
de Gramsci: SC + Mercado Estado, ou seja, o Es-
tado mostra-se como o outro lado tanto do mer-
cado e da sociedade civil, como de eventuais
alianas ou combinaes entre eles. Numa varian-
te atenuada, de tipo liberal-social, essa sociedade
civil v-se como um setor pblico no-estatal,
palco de organizaes que so pblicas porque
esto voltadas para o interesse geral, mas que so
no-estatais porque esto soltas do aparelho de
Estado (Bresser-Pereira e Cunilll Grau, 1999).
Nessa idia de sociedade civil no h lugar
para a questo da hegemonia. Nela, no se trata
de saber se algum ator pode ou no prevalecer e
dirigir a sociedade, mas de verificar como os ato-
res atuam para obter vantagens ou extrair maiores
dividendos para si, ou seja, maximizar seus pr-
prios interesses. Trata-se de um espao cujos per-
sonagens tpicos so atores que se organizam ou
de modo restrito, egostico, ou de modo desinsti-
tucionalizado (por exemplo, no plano do volun-
tariado ou do assistencialismo tradicional). No
h aes que pretendam a conquista do Estado,
mas aes contra o Estado ou indiferentes em re-
lao a ele. Em decorrncia, o Estado que corres-
ponde a essa sociedade civil um Estado mni-
mo, reduzido s funes de guarda da lei e da
segurana, mais liberal e representativo do que
democrtico e participativo.
Nessa concepo, a sociedade civil externa
ao Estado uma instncia pr-estatal ou infra-esta-
tal , e nela se busca compensar a lgica das bu-
rocracias pblicas e do mercado com a lgica do
associativismo sociocultural. Um espao a partir do
qual se pode ferir e hostilizar os governos, mas de
onde no se estruturam governos alternativos ou
movimentos de recomposio social. Nele, pode
existir oposio, mas no contestao.
Essa idia tambm encontra um desdobra-
mento de ordem mais prtica. que a lingua-
gem do planejamento e da gesto incorporou a
SOCIEDADE CIVIL, ENTRE O POLTICO-ESTATAL... 193
tese da participao, redefinindo-a em termos de
cooperao com os governos, gerenciamento de
crises e implementao de polticas. A sociedade
civil locus privilegiado da participao ingres-
sou assim no universo gerencial, um espao evi-
dentemente neutro, ocupado por associaes
no-governamentais despojadas de maiores inten-
es tico-polticas, sede de intervenes sociais
privadas e sem fins lucrativos dedicadas a ativar
determinadas causas cvicas ou a auxiliar os gover-
nos no combate questo social (Torres, 2003).
Com isso, o conceito de sociedade civil reiterou a
ruptura do vnculo orgnico entre sociedade e Es-
tado, mas tambm atenuou o fervor tico inerente
a formulaes mais progressistas. Como estabele-
ceu Bresser-Pereira, a sociedade civil a parte da
sociedade que est fora do aparelho de Estado. Si-
tuada entre a sociedade e o Estado, o aspecto
poltico da sociedade: a forma por meio da qual a
sociedade se estrutura politicamente para influen-
ciar a ao do Estado (1999, pp. 69 e 72). Apesar
disso, no podemos cometer o equvoco de atri-
buir a ela um papel libertador, tornando-a a con-
substanciao do interesse pblico.
Esse conceito de sociedade civil estar na
base terica do chamado Terceiro Setor, enten-
dido como um vasto conjunto de organizaes
sociais voltadas para o atendimento de necessida-
des e carncias de certos segmentos da popula-
o e unidas por uma mesma legislao regulado-
ra (Coelho, 2000; Bresser-Pereira e Cunill-Grau,
1999). Ao passo que o movimento progressista
tender a ver o Terceiro Setor como arena de
aes cvicas alternativas e/ou de operaes anti-
sistmicas mais ou menos radicais (Fernandes,
1994; Ioshpe, 1997; Vieira, 2001), a cultura neoli-
beral no se cansar de saud-lo como instncia
capacitada para substituir o Estado, trocando as
aes pblicas permanentes e gerais por iniciati-
vas tpicas ou locais no necessariamente coor-
denadas, tendo em vista uma gradual eliminao
da responsabilidade estatal para com a questo
social (Montao, 2002; Behring, 2003).
4
Recorrendo-se a uma imagem, pode-se dizer
que a sociedade civil liberista sugere uma for-
mao em linhas paralelas: as energias sociais
correm lado a lado, mas no se alimentam reci-
procamente. Ferem os governos em um nmero
maior de pontos, mas no chegam propriamente
a encurral-los. So muitas vezes por eles mani-
puladas. A disperso dos movimentos ajuda a que
eles apenas margeiem e irritem o Estado. A din-
mica geral no anti-sistmica.
Em sua configurao tpico-ideal, essa socie-
dade civil produz incentivos basicamente compe-
titivos: re-fragmentao, fechamento corporativo
dos interesses, despolitizao. Nela tendem a se
articular movimentos direcionados para valorizar
interesses particulares, atender demandas, fiscali-
zar governos, desconstruir e desresponsabilizar o
Estado, enfraquecer ou desativar dispositivos de
regulao.
A segunda idia alternativa de sociedade ci-
vil costuma ser vista e concebida como uma ex-
tenso crtica do conceito de Gramsci, mas nem
sempre se distingue da sociedade civil liberista.
Pode ser denominada de sociedade civil social.
Nela, a poltica est presente e tem lugar de
destaque, mas nem sempre comanda: a luta social
muitas vezes exclui a luta institucional e com ela
se choca, impossibilitando ou dificultando o deli-
neamento e a viabilizao de estratgias de poder
e hegemonia. Sua expresso poderia estar na fr-
mula SC SP Estado ? Mercado, quer dizer, a
sociedade civil surge como uma esfera isolada
dos demais mbitos. Recusa-se a se deixar diluir
no institucional (entendido sobretudo como siste-
ma poltico e partidrio), j que se concebe como
maior do que ele e imune a seus desvios e degra-
daes. Seu lema poderia ser tomado de emprs-
timo do velho slogan de costas para o Estado,
longe do Parlamento, usado como ttulo de um
conhecido artigo de Tilman Evers (1983).
Nessa sociedade civil h lugar para a questo
da hegemonia, mas ele est imperfeitamente defi-
nido. que os interesses, aqui, se mostram refra-
trios a articulaes superiores ou quebra de ati-
tudes corporativas: sua maior virtude a
autonomia. Seus personagens tpicos so atores
que operam na fronteira do Estado: os novos mo-
vimentos sociais, fortemente concentrados na vo-
calizao de metas no materiais, tpicas e par-
ticulares, muitas vezes concebidas como polticas
de identidade (tnicas, religiosas, culturais, de g-
194 REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 18 N
. 52
nero). Age-se, aqui, para usar o Estado tendo em
vista a reforma do social. A orientao supra-insti-
tucional soma-se a uma orientao tendencialmen-
te supranacional. Operando em rede e por inter-
mdio do que se est convencionando chamar de
cibermilitncia, os movimentos sociais estariam
buscando ativar a constituio de uma sociedade
civil mundial (Moraes, 2001; Gmez, 2000; Walzer,
1998; Habermas, 2001; Wood, 2001). Em conse-
qncia, o Estado que corresponde a essa socie-
dade civil um Estado que poderamos chamar de
cosmopolita: territorialmente desenraizado e cate-
goricamente voltado para a proteo dos direitos
de cidadania concebidos para serem viveis
num terreno supranacional , mas tambm capaci-
tado para impor limites e restries ao mercado.
Tal modalidade de sociedade civil estaria
composta por movimentos que se auto-organizam
e se autolimitam e que poderiam, acredita-se, dis-
ciplinar as instituies mais sistmicas, como o Es-
tado e o mercado. Estruturando-se como um siste-
ma independente e que se auto-referencia, a
sociedade civil poderia moderar os excessos do
Estado e do mercado e estabelecer-se como um
campo onde a composio social se recriaria. Im-
pregnada da funo de intermediar o sistema po-
ltico e os grupos sociais, a sociedade civil criaria
condies para que se formasse uma vontade p-
blica dotada da capacidade de se institucionalizar
nos corpos parlamentares e nos tribunais, para fa-
lar num tom no muito distante do lxico de Ha-
bermas. No por outro motivo que essa idia de
sociedade civil se abre bastante para os temas da
comunicao intersubjetiva, dos vnculos culturais
espontneos, da desobedincia civil e do ativis-
mo tico.
No fundo, a sociedade civil social exclui os
interesses e as classes, supondo-se como uma es-
pcie de universal abstrato, acessvel apenas aos
bons valores, aos atores eticamente superiores,
aos representantes da vontade geral. Os interes-
ses, em sua materialidade bruta e suja, estariam
fora dela: no poltico, nos governos, no Estado.
Por esse caminho, a sociedade civil social despo-
ja-se do poltico e separa-se do Estado. H polti-
ca nela, com certeza, mas se trata de uma polti-
ca convertida em tica, que no se apresenta
como poder, dominao, hegemonia e Estado e,
portanto, com poucas chances de se efetivar.
Por mais generosa que seja essa viso, ela se
mostra pouco factvel e seguramente imperfeita em
termos lgicos e polticos. No por outro motivo
que Habermas, por exemplo, prefira falar em de-
mocracia ps-nacional e no em democracia cos-
mopolita, para sugerir que a primeira no s man-
tm ativos os sistemas poltico-estatais nacionais,
como tambm preserva as comunidades polticas
nacionais requeridas pelo exerccio democrtico,
ao passo que a democracia cosmopolita conce-
beria uma comunidade inclusiva carente da auto-
compreenso tico-poltica dos cidados, ou seja,
da possibilidade efetiva de uma autodeterminao
coletiva (Habermas, 2001, p. 136). Ainda que os
cosmopolitas consigam uma organizao global
que traga consigo uma representao democratica-
mente eleita coisa, de resto, de difcil imaginao
, eles no podem criar a conscincia normativa a
partir de uma autocompreenso tico-poltica, ou
seja, diferenciada de outras tradies e orientaes
valorativas, mas antes apenas a partir de uma au-
tocompreenso jurdico-moral. O cosmopolitismo
no tem como aceitar a hiptese poltica da exclu-
so, quer dizer, do estabelecimento de distines
entre membros e no-membros. Em decorrncia,
na comunidade cosmopolita, a moldura normati-
va constitui-se apenas de direitos humanos, ou
seja, de normas jurdicas com contedo exclusiva-
mente moral (Idem, p. 136).
5
A sociedade civil social sustenta-se, assim,
sobre uma concepo dicotmica: nela estariam o
universalismo, a tica, o dilogo, ao passo que no
poltico estariam o particularismo, a fora, a cor-
rupo. Sua teoria trabalha com um construto for-
mal um modelo carregado de preferncias va-
lorativas, a partir dos quais se julga a integridade
moral e a estatura poltica dos atores. Nessa con-
cepo, portanto, a sociedade civil um espao
situado alm da sociedade poltica, do Estado e
do mercado. Um espao de onde se busca extrair,
dos governos, elementos para restringir o merca-
do e liberar energias societais autnomas. Nele,
age-se para contestar o poder e o sistema, mas
no para articular capacidades de direo tico-
poltica ou fundar novos Estados.
SOCIEDADE CIVIL, ENTRE O POLTICO-ESTATAL... 195
Essa idia tambm sugere uma formao em
linhas paralelas, expresso de uma certa anarquia
ou da ausncia de maior coordenao: as aes se
fazem quase sempre em rede, sem prever regula-
ridades ou hierarquias organizacionais. Mas o alvo
aqui o sistema, mais do que os governos pro-
priamente ditos, que no chegam a ser muito mo-
lestados. Tratar-se-ia bem mais de dar curso con-
figurao de uma sociedade civil mundial do que
de lutar por governos alternativos. A disperso dos
movimentos faz com que a aberta contestao do
sistema no chegue a se completar ou a receber
um tratamento politicamente mais produtivo. De
qualquer modo, ao menos em boa parte das
aes, a expectativa que a ativao da socieda-
de civil mundial promova uma espcie de encap-
sulamento dos diversos governos, forando-os a
uma atuao socialmente mais responsvel.
Em sua configurao tpico-ideal, essa socie-
dade civil produz incentivos basicamente libert-
rios e mobilizadores: movimentao permanente,
autonomia, aquisio de direitos. Desse ponto de
vista, um campo de contestao ao sistema, mas
no de governo do sistema. Nela podem se articu-
lar aes direcionadas para criar ticas alternati-
vas, organizar redes e fruns de resistncia, ativar
a cidadania mundial, pressionar e encurralar go-
vernos, postular novos modelos de polticas p-
blicas, maior justia social ou melhor distribuio
de renda (entre grupos e entre naes).
Tanto a sociedade civil social como a liberis-
ta sustentam-se sobre uma valorizao da socie-
dade civil em si, isto , como esfera prpria, au-
tnoma diante do Estado e a ele tendencialmente
oposta, uma instncia homognea e integrada por
intenes comuns, que se comporiam esponta-
neamente. Com isso, d-se passagem a uma idia
de sociedade civil vazia de tenses, disputas ou
contradies, uma sociedade civil que luta mas
que no est atravessada por lutas e que, por isso,
no se estrutura como um campo de aes dedi-
cadas a organizar hegemonias.
Evoluindo nesse sentido, a sociedade civil
passou a ser configurada como uma arena onde os
interesses poderiam se manifestar livremente, onde
se descobririam novas virtudes gerenciais, onde se
afirmaria a autonomia social e onde os atores, por
meio de interaes dialgicas, comunicativas,
como diria Habermas, criariam as conexes essen-
ciais da convivncia democrtica. Um arranjo, por-
tanto, propenso bem mais ao prolongamento da
fragmentao e do no-estatal do que ao encontro
de novas bases de unificao e unidade poltica,
onde haveria, em suma, pouca procura de consen-
so (hegemonia), pouca organizao e pouca for-
a, e, em contrapartida, muito agir comunicativo,
muita disposio para o dilogo e a solidariedade.
De acordo com Montao, seja como agir comuni-
cativo no mundo da vida e como livre associati-
vismo, seja como interao e como aes vo-
luntrias, os novos conceitos de sociedade civil
isolam essa esfera da tensa e contraditria totalida-
de social:
{...] pensam a mudana social, a democratizao da
sociedade, o aumento de poder e controle do cida-
do, como resultado da atividade cotidiana da so-
ciedade civil (como unidade), contra o Estado, em
parceria com este ou com independncia deste. Ne-
nhum resultado, a no ser a constante reproduo
da ordem e do status quo, sair desta perspectiva
(Montao, 2002, p. 266).
A sociedade civil, porm, no a extenso
mecnica da cidadania poltica ou da vida demo-
crtica. Longe de ser um mbito universal, um
territrio de interesses que se contrapem e s
podem se compor mediante aes polticas deli-
beradas. No uma rea social organizada ex-
clusivamente pelos bons valores ou pelos inte-
resses mais justos, mas um terreno que tambm
abriga interesses escusos, idias perversas e va-
lores egosticos, no qual podem se desenvolver
muitas atitudes e condutas incivis (Whitehead,
1999), o que levou alguns estudiosos a visualiza-
rem uma sociedade incivil como caso extremo
de uma sociedade civil tomada pela incivilidade
(Keane, 2001, p. 115).
Ao cortarem, portanto, os vnculos da socie-
dade civil com o Estado e conceberem essas duas
esferas como duais e no-integradas, as novas teo-
rizaes sobre a sociedade civil deixam de reco-
nhecer que os riscos que ameaam esse espao
social no derivam do estatismo invasivo, mas da
196 REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 18 N
. 52
incivilidade e do canibalismo social inerentes a
uma sociedade liberada do Estado (Whitehead,
1999), isto , no estruturada por um Estado que
contrabalance as desigualdades e faa com que
valores gerais (justamente os da cidadania poltica)
prevaleam sobre interesses particulares-egosti-
cos. Do mesmo modo, se se enfatiza unilateral e
axiologicamente o associativismo considerando-
o um mbito de autenticidade social e virtude c-
vica, por exemplo , pode-se no s esvaziar o
poltico-estatal de sentido, como tambm oferecer
justificativas para as posies que, em nome da re-
cuperao das tradies perdidas, da pureza po-
pular ou do espontanesmo social, combatem jus-
tamente as funes reguladoras e distributivas do
Estado, valendo-se muitas vezes de expedientes
autoritrios ou paternalistas.
Pode-se, por exemplo, na esteira de um cer-
to comunitarismo neoconservador, concluir que o
declnio cvico e moral da sociedade (a violncia,
a pornografia, o egosmo, a droga, o consumismo)
deve-se ao excesso de desenvolvimento, de polti-
ca institucional (de politicagem) ou de direitos
regulamentados. Como soluo, seria possvel
acenar-se tanto com a reduo do poltico-estatal
como com a re-tradicionalizao da sociedade,
um fechamento em si mesma, margem do Esta-
do, dos direitos bsicos do indivduo, em benef-
cio da famlia, da comunidade e do capital social
como um todo (Cohen, 1999, p. 275).
Desdobramentos possveis
Todas essas concepes de sociedade civil
cabem na realidade contempornea. Na verdade,
elas espelham essa realidade e tentam ao mesmo
tempo direcion-la: trazem consigo projetos polti-
cos e sociais correspondentes. Em boa medida, os-
cilamos entre elas, sentindo seus efeitos e reflexos.
Muitos dos movimentos ou aes que se
vinculam ao chamado Terceiro Setor hoje bem
numerosos, diversificados e ideologicamente plu-
rais transitam com bastante desenvoltura por es-
sas modalidades de sociedade civil. Sem querer
simplificar demais um quadro que seguramente
complexo, creio ser possvel sustentar que quan-
to mais uma iniciativa social se deixa contagiar
por uma perspectiva tico-poltica superior, mais
ela tende a flutuar entre a sociedade civil poltico-
estatal e a sociedade civil social. Por outro lado,
quanto mais uma ao se explicita, por exemplo,
como voluntariado ou assistencialismo tradicio-
nais, mais ela tende a se firmar no terreno da so-
ciedade civil liberista.
O fato mesmo de essas modalidades encontra-
rem ressonncia no mundo contemporneo faz com
que elas, muitas vezes, sobretudo quando traduzi-
das em ao prtica, se confundam e se interpene-
trem umas nas outras. Uma iniciativa de promoo
socioeducacional financiada por uma grande em-
presa capitalista, tendo em vista exclusivamente a
melhoria de certas condies de vida ou o atendi-
mento de certas demandas, no deixaria de pro-
duzir efeitos de uma sociedade civil poltico-esta-
tal, ainda que, em boa medida, deva ser vista
como tpica da sociedade civil liberista. Dar-se-ia o
mesmo com os movimentos que se vinculam cla-
ramente sociedade civil social, alguns dos quais
trafegam na fronteira com a sociedade civil polti-
co-estatal e com ela dialogam abertamente.
Tudo somado, a distinguir as aes entre si
estaria o modo diverso de pensar o Estado e de
conceber a relao com o governar, assim como
o modo de tratar o problema das tenses entre
luta social e luta institucional.
Diante desse quadro, repe-se a questo de
saber como lidar com a fragmentao que parece
ter-se instalado no corao das sociedades con-
temporneas, como unificar os interesses sem di-
minuir a diferenciao e as grandes margens de li-
berdade e individualidade adquiridas ao longo do
tempo, como, em suma, unificar e organizar sem
burocratizar, tolher e homogeneizar. A discusso
sobre sociedade civil pode ajudar a que se encon-
trem respostas para essa questo. Nela, no fundo,
oculta-se um problema maior: o da hegemonia, o
de saber com que valores, projetos e ideais cami-
nharemos ao longo do sculo XXI.
O conceito gramsciano de sociedade civil
por sua natureza eminentemente poltica e estatal,
quer dizer, por sua capacidade de refletir aquele
espao que, na realidade das sociedades comple-
xas, possibilita uma oportunidade de unificao e
SOCIEDADE CIVIL, ENTRE O POLTICO-ESTATAL... 197
agregao superior mostra sua utilidade justa-
mente por criar uma espcie de zona-limite da
desagregao social.
A sociedade civil social que, hoje, pre-
pondera nos ambientes democrticos e de es-
querda expressa uma indignao em marcha.
Trata-se, antes de tudo, de um campo de resis-
tncia. Sua fragmentao em boa medida ine-
vitvel, j que espelha uma situao explosiva,
multifacetada, complexa, despojada de centros
organizacionais. No h nela, ainda, por isso, su-
jeitos capazes de se universalizarem, ou seja, de
fixarem projetos em condies de converter a re-
sistncia em ataque, em estratgia de poder,
em anncio de um futuro desejvel para todos.
Enquanto projeto poltico, ela se mostra essen-
cialmente como uma traduo daquilo que j foi
chamado de sociedade civil de baixo, seja no
sentido de identificar os atores do campo econ-
mico por oposio ao Estado, seja para reduzir a
sociedade civil a tudo o que considerado bom
e louvvel (Houtart, 2001, p. 93). A unificao
dessa sociedade civil torna-se, assim, problem-
tica; em certa medida, seu prprio modo de ser
a inviabiliza. Ao mesmo tempo, porm, o cons-
tante e dedicado ativismo de seus integrantes
pode facilitar e impulsionar a disseminao de
ticas alternativas que, pelos interstcios do siste-
ma global, contribuem para o desgaste poltico
ou mesmo a condenao moral de muitas op-
es governamentais e orientaes doutrinrias.
Seja como for, aceitando-se como razovel
(ainda que discutvel) a tese de que o sculo XXI
assistir transio do Estado-nao a uma demo-
cracia cosmopolita e transnacional, ser preciso
estabelecer quais sujeitos se encarregaro dessa
operao e abrir a discusso sobre o tema poltico
do partido transnacional de cidados globais
(Beck, 2001). Hoje, h uma nova dialtica do glo-
bal e do local que no se acomoda com facilidade
na poltica nacional e s pode se resolver adequa-
damente num contexto normativo transnacional.
Mas no se mostra nada simples o estabelecimen-
to de uma teoria do partido poltico cosmopolita,
que opere para alm dos limites territoriais do Es-
tado-nao e se cole aos movimentos nacionais e
globais, aos fruns mundiais, como representante
de cidados globais, seguindo de perto as estrat-
gias das grandes corporaes transnacionais
(Idem). figura do Estado-rede imaginada por
Castells (1999) dever corresponder a figura de um
partido-rede, disposto a abrir mo de certas
agendas tradicionais e de certos clculos polticos
e a empreender uma indita construo institucio-
nal, doutrinria e cultural.
De algum modo, portanto, o avano da glo-
balizao que conheceu uma fase abertamente
dedicada a desregulamentar e a desconstruir o Es-
tado trar consigo uma nova valorizao do ins-
titucional, do poltico e do estatal. Um novo par-
metro de regulao transnacional no vir do
esforo de movimentos sociais referenciados por
uma idia social de sociedade civil, espontanea-
mente estruturada e eticamente motivada. Uma
eventual sociedade civil mundial no poder se
objetivar sem Estados fortes e sem partidos capa-
citados para organizar demandas particulares (in-
dividuais, grupais, locais, nacionais) em termos
gerais. Por mais que se deva recusar a idia de
um nico partido de vanguarda, detentor de toda
a verdade, no h como adotar um relativismo
absoluto, que daria razo s correntes ps-moder-
nas, para as quais tudo o que conta a histria
imediata dos indivduos e o alcance de objetivos
particulares, como se a expressividade das for-
mas de luta pudesse substituir o contedo delas
(Houtart, 2001, pp. 95-96). Um avano para alm
dos Estados-nao no excluir as realidades na-
cionais como centros de vida poltica e democr-
tica. Em outros termos, conexes virtuais via In-
ternet no dispensaro articulaes tico-polticas
no plano concreto da histria (Moraes, 2001).
Qualquer postulao utpica, de resto, deve po-
der precisar seus objetivos a mdio e a curto pra-
zo, e esses objetivos situam-se inevitavelmente
nos campos concretos do agir coletivo.
A demarcao de um territrio de lutas que
ignore os Estados nacionais realmente existentes,
por exemplo, pode dar margem a um internacio-
nalismo abstrato carente de bases materiais, com
o que se desfaz a possibilidade mesma de uma es-
tratgia anti-sistmica efetiva (Wood, 2001, p. 112).
A globalizao no est tornando irrelevante o Es-
tado-nao. Por detrs de cada operao econmi-
198 REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 18 N
. 52
ca transnacional h bases nacionais que depen-
dem de Estados locais para se viabilizarem. O Es-
tado-nao tradicional est certamente mudando
sua forma e tendendo a dar lugar a Estados mais
estreitamente locais e a autoridades polticas re-
gionais mais amplas. Qualquer que seja sua for-
ma, porm, ele continuar sendo crucial e pro-
vvel que por um longo tempo ainda o velho
Estado-nao continue desempenhando seu papel
dominante (Idem, p. 117).
Se assim , o Estado ainda pode ser pensa-
do como uma eticidade superior, uma fora
educativa e unificadora contra a fragmentao e a
atomizao social derivadas da objetivao do ca-
pitalismo. A poltica ainda deve se dirigir, portan-
to, para utilizar o poder do Estado para controlar
os movimentos do capital e disp-los sob o alcan-
ce de uma accountability democrtica e em con-
cordncia com uma lgica social diferente da l-
gica da competio e da rentabilidade capitalista
(Idem, p. 119).
Como ento sair desse verdadeiro impasse
terico e poltico? Uma aposta razovel seria em-
preender esforos para que a idia de sociedade
civil poltico-estatal (gramsciana) ganhe maior
consistncia terica, se mantenha como parme-
tro e, tanto quanto possvel, se superponha so-
ciedade civil social, isolando ou neutralizando a
sociedade civil liberista. A partir de uma refern-
cia como essa, pode-se imaginar o surgimento de
uma fora que unifique e organize o atual movi-
mento antiglobalizao e a sociedade civil a ele
correspondente.
No se trata de uma operao simples, at
mesmo porque a lgica das coisas conspira contra
ela. Mas, no estando morto o Estado, tambm
no esto definitivamente enterrados os partidos e
os movimentos polticos coesos, estruturados
como organizaes permanentes. Estamos parali-
sados entre a viso que absolutiza o Estado em de-
trimento do mercado, do indivduo e da esponta-
neidade social, e a viso que imagina a sociedade
como mera extenso do mercado e da livre con-
corrncia dos interesses?
6
Ser mesmo que a hist-
ria, daqui para frente, transcorrer sob a presso
dos processos cegos e incontrolveis da globa-
lizao ou, em outra escala, sob o influxo de mo-
vimentos horizontais, tendencialmente anrquicos
e dispersivos, desprovidos de centros organizacio-
nais? Poderemos seguir em frente apenas com
base em aes ticas e voluntariosas, em batalhas
no ciberespao, numa movimentao frentica,
generosa e incansvel para encurralar e desmasca-
rar o sistema? Ser assim que construiremos a al-
mejada sociedade civil mundial, a partir da qual
poderiam ser enquadradas as mltiplas e diversifi-
cadas sociedades civis realmente existentes? No
parece razovel.
Se a resposta a essas questes no se mostra
simples e gera dvidas e divergncias, creio que
estamos obrigados, mais uma vez, a pensar em
termos dialticos e a articular politicamente o que
est desagregado e o que se mostra concebido
para funcionar em rede, sem vrtices ou coman-
dos. Se pensarmos dialeticamente, no teremos
como virar as costas para o Estado, ficar longe do
parlamento ou fugir da poltica. No teremos
como glorificar unilateralmente o mercado ou a
sociedade civil, nem como justapor a luta social
luta institucional.
O sculo XX nos fez enveredar por um fu-
turo desconhecido e problemtico, mas no ne-
cessariamente apocalptico (Hobsbawm, 1995, p.
16). Espessas nuvens de fumaa, medo e sofri-
mento bloqueiam o entusiasmo, mas as possibili-
dades de avano se materializam a olhos vistos.
O que vir pela frente? Tanto quanto em
qualquer outra poca, a histria continuar a se
processar como um movimento aberto, errtico, re-
pleto de alternativas. Mas a histria no apenas
um jogo de circunstncias, decises governamen-
tais, crises estruturais, acasos e necessidades. Nela
continuaro a operar o engenho, a generosidade e
o empenho democrtico dos povos da terra, com
suas organizaes, seus lderes, suas culturas. Se o
mundo se tornou mais mundo e os problemas que
nos afetam so problemas globais, no h sada
sem dilogo, sem perspectiva poltica e esforos de
unificao, sem solues globais. Se os povos da
terra souberem se aproximar e dar vida a aes de-
mocratizadoras combinadas, a presses inteligen-
tes, a alianas sustentveis, capazes de impor suas
decises sobre todos, conseguiremos desenhar um
pacto social de novo tipo um pacto para dignifi-
SOCIEDADE CIVIL, ENTRE O POLTICO-ESTATAL... 199
car a comunidade humana, sem distines de qual-
quer espcie e com a devida promoo dos mais
frgeis e fazer com que ele prevalea sobre a glo-
balizao econmica.
NOTA
1 Para uma reconstruo desse tipo, remeto a Coutinho,
1999; Bobbio, 1999; Buci-Glucksmann, 1980; Gruppi,
1978; Ferreira, 1986; Nogueira, 1998a; Semeraro, 1999;
Aggio, 1998; Simionatto, 1995; e Soares, 2000.
2 Foge completamente dos objetivos do presente tex-
to a reconstituio histrica do conceito. A esse res-
peito, ver Bobbio, 1999; Cohen e Arato, 2000; Cos-
ta, 2002; Liguori, 1999 e 2001; Whitehead, 1999; e
Bresser-Pereira, 1999.
3 semelhante a posio de Cohen e Arato, para
quem o conceito de sociedade civil, em vrios
usos e definies, tornou-se moda graas s lutas
contra as ditaduras comunistas e militares em mui-
tas partes do mundo; apesar disto, seu status am-
bguo nas democracias liberais (2000, p. 7). Se-
guindo caminho analtico diverso, j que considera
que considerar a sociedade civil uma terceira esfe-
ra ao lado do mercado e do Estado mais confunde
do que esclarece a anlise das sociedades contem-
porneas, Fbio Wanderley Reis observa que, do
ponto de vista das discusses tericas deflagradas
no quadro do ps-socialismo, a grande novidade
a retomada e o intenso reexame do conceito de so-
ciedade civil (2000, cap. 8).
4 A discusso a respeito do Terceiro Setor polariza-se
freqentemente entre a aceitao entusiasmada e a
recusa categrica, ambas revestidas de idntico ardor
doutrinrio. Uma coisa, porm, pensar o Terceiro
Setor como criao mais ou menos espontnea do
social um conjunto de iniciativas efetivamente de-
dicadas a prestar solidariedade e minorar os efeitos
da excluso social em reas de que o Estado se au-
senta ou comparece de maneira precria , outra coi-
sa ver o Terceiro Setor como receptculo da
transferncia de responsabilidades estatais, um ins-
trumento direcionado para substituir ou refrear o Es-
tado. Ao passo que a primeira viso no exclui ne-
cessariamente o reconhecimento da relevncia
estratgica da ao estatal e pode at mesmo funcio-
nar como fator de reconstruo do pacto social, a se-
gunda viso exige a subsuno do Estado a um mun-
do de interesses particulares auto-suficientes e
orientados pelo mercado. Seja como for, no h
qualquer motivo lgico ou poltico para que o com-
bate questo social seja travado exclusivamente a
partir da ao estatal (governamental), ou seja, sem
o concurso de iniciativas sociais relativamente inde-
pendentes e espontneas, desde que devidamente
regulamentadas. O mais importante, aqui, no tan-
to a postulao de uma necessria presena fsica
do aparato estatal, mas a defesa de uma perspectiva
de Estado, quer dizer, a aceitao de que o social
no se viabiliza sem uma idia de Estado, sem uma
eticidade superior que produza parmetros de sen-
tido para todos os grupos e indivduos.
5 Para Habermas, em vez de visar a uma poltica
mltipla organizada no todo ao modo de um Esta-
do mundial, o projeto de uma democracia cosmo-
polita deveria buscar se concretizar em uma base
de legitimao menos ambiciosa, a saber, nas for-
mas de organizaes no-governamentais do siste-
ma de negociao internacional que j existe em
outros mbitos polticos. Essa orientao ofereceria
a imagem dinmica das interferncias e das intera-
es entre os processos polticos se desenvolvendo
de modo peculiar nos mbitos nacional, internacio-
nal e global. Poder-se-ia ter, assim, uma poltica
mundial, mas no um governo mundial. (Haber-
mas, 2001, p. 138-139).
6 Se a grande lio a ser extrada do colapso do socia-
lismo a do penoso erro envolvido na pretenso de
construir uma cidadania democrtica socialista pres-
cindindo inteiramente do mercado e do princpio do
mercado, a experincia dos pases capitalistas avan-
ados e de tradio liberal-democrtica deixa claro
que a construo de uma cidadania democrtica no
mbito do capitalismo no pode, por seu turno,
prescindir do Estado (Fbio W. Reis, 2000, p. 256).
BIBLIOGRAFIA
AGGIO, Alberto (org.). (1998), Gramsci: a vitali-
dade de um pensamento. So Paulo, Editora
Unesp.
ARATO, Andrew. (1995), Ascenso, declnio e re-
construo do conceito de sociedade civil:
orientaes para novas pesquisas. Revista
Brasileira de Cincias Sociais, 27, fev.
AVRITZER, Leonardo (org.). (1994), Sociedade
civil e democratizao. Belo Horizonte,
Del Rey.
BECK, Ulrich. (2001), Democracia global: la po-
ltica ms all del Estado-nacin. Metapolti-
ca, 5 (18): 66-71, Mxico, abr.-jun.
200 REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 18 N
. 52
BEHRING, Elaine Rossetti. (2003), Contra-refor-
ma do Estado, seguridade social e o lugar da
filantropia. Servio Social & Sociedade, 73:
101-119, So Paulo, mar.
BOBBIO, Norberto. (1999), Ensaios sobre Grams-
ci e o conceito de sociedade civil. Traduo
de Marco Aurlio Nogueira e Carlos Nelson
Coutinho. So Paulo, Paz e Terra.
BORN, Atlio. (1996), A sociedade civil depois
do dilvio neoliberal, in E. Sader & P. Gen-
tili (orgs.), Ps-neoliberalismo: as polticas
sociais e o Estado democrtico, 3 ed., Rio de
Janeiro, Paz e Terra.
BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. (1999), Socieda-
de civil: sua democratizao para a reforma
do Estado, in L. C. Bresser-Pereira, J. Wi-
lheim e L. Sola (orgs.), Sociedade e Estado
em transformao, So Paulo, Editora
Unesp/ENAP.
BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos & CUNILL-GRAU,
Nuria. (1999), Entre o Estado e o mercado:
o pblico no-estatal, in L. C. Bresser-Perei-
ra e N. Cunill-Grau (orgs.), O pblico no-es-
tatal na reforma do Estado, Rio de Janeiro,
Editora Fundao Getlio Vargas/CLAD.
BUCI-GLUCKSMANN, Christine. (1980), Gramsci
e o Estado. Rio de Janeiro, Paz e Terra.
BUEY, Francisco Fernndez. (2001), Leyendo a
Gramsci. Barcelona, El Viejo Topo.
CASTELLS, Manuel. (1999), Para o Estado-rede:
globalizao econmica e instituies polti-
cas na era da informao, in L. C. Bresser-
Pereira, J. Wilheim e L. Sola (orgs.), Socieda-
de e Estado em transformao, So Paulo,
Editora Unesp/ENAP.
COELHO, Simone de Castro Tavares. (2000), Ter-
ceiro Setor: um estudo comparado entre Bra-
sil e Estados Unidos. So Paulo, Editora Senac.
COHEN, Jean L. (1999), La scomessa egemonica:
lattuale dibattito americano sulla societ ci-
vile e i suoi dilemmi, in G. Vacca (org.),
Gramsci e il Novecento, Roma, Carocci edito-
re, vol. 1.
COHEN, Jean L. & ARATO, Andrew. (2000), Socie-
dad civil y teora poltica. Mxico, Fondo de
Cultura Econmica.
COSTA, Srgio. (2002), As Cores de Erclia: esfera
pblica, democracia, configuraes ps-na-
cionais. Belo Horizonte, Editora da UFMG.
COUTINHO, Carlos Nelson. (1999), Gramsci: um
estudo sobre seu pensamento poltico. Rio de
Janeiro, Civilizao Brasileira (edio revista
e ampliada).
_________. (2000), La societ civile in Gramsci e
il Brasile di oggi. Critica Marxista, 3-4: 67-
81, Roma, jun.-ago.
DAHRENDORF, Ralf. (1997), Aps 1989. Moral,
revoluo e sociedade civil. Rio de Janeiro,
Paz e Terra.
EVERS, Tilman. (1983), De costas para o Estado,
longe do Parlamento. Novos Estudos Ce-
brap, 2 (1): 25-39, abr.
FERNANDES, Rubem Csar. (1994), Privado po-
rm pblico: o terceiro setor na Amrica La-
tina. Rio de Janeiro, Relume-Dumar.
FERREIRA, Oliveiros S. (1986), Os 45 cavaleiros
hngaros: uma leitura dos Cadernos de
Gramsci. So Paulo, Hucitec.
FROSINI, Fabio. (2003), Gramsci e la filosofia:
saggio sui Quaderni del carcere. Roma, Ca-
rocci Editore.
GMEZ, Jos Maria. (2000), Poltica e democracia
em tempos de globalizao. Petrpolis, Vozes.
GRAMSCI, Antonio. (1999), Cadernos do crce-
re (vol. 1: Introduo ao estudo da filoso-
fia. A filosofia de Benedetto Croce. Edio e
traduo de Carlos Nelson Coutinho e Luiz
Srgio Henriques), Rio de Janeiro, Civiliza-
o Brasileira.
_________. (2000), Cadernos do crcere (vol. 3:
Maquiavel. Notas sobre o Estado e a poltica.
Edio e traduo de Carlos Nelson Couti-
nho e Luiz Srgio Henriques), Rio de Janei-
ro, Civilizao Brasileira.
_________. (1987), Alguns temas da questo meri-
dional, in A. Gramsci, A questo meridional,
SOCIEDADE CIVIL, ENTRE O POLTICO-ESTATAL... 201
traduo de Carlos Nelson Coutinho e Marco
Aurlio Nogueira, Rio de Janeiro, Paz e Terra.
GRUPPI, Luciano. (1978), O conceito de hegemo-
nia em Gramsci. Rio de Janeiro, Graal.
HABERMAS, Jurgen. (1997a), Teoria dell'agire co-
municativo. Bologna, Il Mulino.
_________. (1997b), Direito e democracia: entre
facticidade e validade. Rio de Janeiro, Tem-
po Brasileiro, 2 vols.
_________. (2001), A constelao ps-nacional.
So Paulo, Littera Mundi.
HOBSBAWM, Eric. (1995), Era dos extremos: o
breve sculo XX, 1914-1991. So Paulo,
Companhia das Letras.
HOUTART, Franois. (2001), A mundializao
das resistncias e das lutas contra o neolibe-
ralismo, in J. Seoane e E. Taddei (orgs.), Re-
sistncias mundiais: de Seattle a Porto Ale-
gre, Petrpolis, Vozes/CLACSO.
IOSCHPE, Evelyn Berg (org.). (1997), 3 setor: de-
senvolvimento social sustentado. So Paulo,
GIFE/Paz e Terra.
KEANE, John. (2001), Civil Society: old images, new
visions. Stanford, Stanford University Press.
LAVALLE, Adrin Gurza. (1999), Crtica ao mode-
lo da nova sociedade civil. Lua Nova, 47:
121-135, So Paulo.
LIGUORI, Guido. (1999), Stato e societ civile da
Marx a Gramsci, in G. Petronio e M. P. Mu-
sitelli (orgs.), Marx e Gramsci: memoria e at-
tualit, Roma, Manifestolibri.
_________. (2001), La societ civile da Gramsci a
Berlusconi. Critica Marxista, 2-3: 43-51,
Roma, nov.-dez.
MONTAO, Carlos. (2002), Terceiro setor e ques-
to social: crtica ao padro emergente de
interveno social. So Paulo, Cortez.
MORAES, Dnis de. (2001), O concreto e o virtual:
mdia, cultura e tecnologia. Rio de Janeiro,
DP&A.
NOGUEIRA, Marco Aurlio. (1998a), Gramsci e
os desafios de uma poltica democrtica de
esquerda, in A. Aggio (org.), Gramsci: a vi-
talidade de um pensamento, So Paulo, Edi-
tora Unesp.
_________. (1998b), As possibilidades da poltica:
idias para a reforma democrtica do Esta-
do. So Paulo, Paz e Terra.
_________. (2000/2001), Gramsci desembalsama-
do: em torno dos abusos do conceito de so-
ciedade civil. Educao em Foco, 5 (2): 115-
130, Juiz de Fora, set.-fev.
_________. (2001), Em defesa da poltica. So
Paulo, Editora Senac.
REIS, Fbio Wanderley. (2000), Mercado e utopia.
So Paulo, Edusp.
SEMERARO, Giovanni. (1999), Gramsci e a socie-
dade civil: cultura e educao para a demo-
cracia. Petrpolis, Vozes.
SEOANE, Jos & TADDEI, Emlio (orgs.). (2001),
Resistncias mundiais: de Seattle a Porto Ale-
gre. Petrpolis, Vozes/CLACSO.
SIMIONATTO, Ivete. (1995), Gramsci: sua teoria,
incidncia no Brasil, influncia no servio
social. So Paulo, Cortez.
SOARES, Rosemary Dore. (2000). Gramsci, o Esta-
do e a escola. Iju, Editora Uniju.
TORRES, Jlio Csar. (2003), Sociedade civil
como recurso gerencial? Indagaes acerca
da poltica de Assistncia Social no Brasil.
Servio Social & Sociedade, 73: 142-156, So
Paulo, mar.
TORTORELLA, Aldo. (1998), O fundamento tico
da poltica em Gramsci. Lua Nova, 43: 57-
68, So Paulo.
VIEIRA, Lizt. (2001), Os argonautas da cidada-
nia: a sociedade civil na globalizao. Rio
de Janeiro, Record.
WALZER, Michael (ed.). (1998), Toward a global
civil society. Oxford, Berghahn Books.
WHITEHEAD, Laurence. (1999), Jogando boliche
no Bronx: os interstcios incivis entre a so-
ciedade civil e a sociedade poltica. Revista
202 REVISTA BRASILEIRA DE CINCIAS SOCIAIS - VOL. 18 N
. 52
Brasileira de Cincias Sociais, 14 (41): 15-30,
So Paulo, out.
WOOD, Ellen Meiksins. (2001), Trabalho, classe
e Estado no capitalismo global, in J. Seoa-
ne e E. Taddei (orgs.), Resistncias mun-
diais: de Seattle a Porto Alegre, Petrpolis,
Vozes/CLACSO.
Você também pode gostar
- Introdução à Filosofia Política: Democracia e LiberalismoNo EverandIntrodução à Filosofia Política: Democracia e LiberalismoAinda não há avaliações
- A Criminalização Político-ideológica da Esquerda: uma explicação crítica para o recente caso brasileiroNo EverandA Criminalização Político-ideológica da Esquerda: uma explicação crítica para o recente caso brasileiroAinda não há avaliações
- Mark Bevir - Governaça DemocráticaDocumento12 páginasMark Bevir - Governaça DemocráticaEugenio PereiraAinda não há avaliações
- Carlos Nelson Coutinho - Democracia Como Valor Universal PDFDocumento14 páginasCarlos Nelson Coutinho - Democracia Como Valor Universal PDFGabriel Eduardo Vitullo100% (1)
- Resenha Sobre Capitalismo Socialismo e Democracia de SchumpeterDocumento11 páginasResenha Sobre Capitalismo Socialismo e Democracia de SchumpeterAmandaArealAinda não há avaliações
- Chantal Mouffe - Globalização e Cidadania DemocráticaDocumento9 páginasChantal Mouffe - Globalização e Cidadania DemocráticaSoturnatusAinda não há avaliações
- Gramsci e HegemoniaDocumento27 páginasGramsci e HegemoniaCarlos Manoel100% (1)
- Arato - 1994 - Ascensão, Declínio e Reconstrução Do Conceito de Sociedade CivilDocumento8 páginasArato - 1994 - Ascensão, Declínio e Reconstrução Do Conceito de Sociedade CivilFrancesca MartinelliAinda não há avaliações
- A Influência Do Pensamento de Gramsci No Serviço Social Brasil.Documento12 páginasA Influência Do Pensamento de Gramsci No Serviço Social Brasil.Izabel Saboya100% (1)
- PSocial Brasileira - IntroduçãoDocumento28 páginasPSocial Brasileira - IntroduçãoCristiano Costa de CarvalhoAinda não há avaliações
- A Democracia Como Valor Universal - Nelson CoutinhoDocumento14 páginasA Democracia Como Valor Universal - Nelson CoutinhoBeatrizAinda não há avaliações
- Vicissitudes E Limites Da Conversão À Cidadania Nas Classes Populares BrasileirasDocumento14 páginasVicissitudes E Limites Da Conversão À Cidadania Nas Classes Populares BrasileirasHUGO ALEJANDRO CANO PRAISAinda não há avaliações
- PALUDO, Conceicao - Movimentos Sociais e Educacao Popular - Atualidade Do Legado de Paulo FreireDocumento13 páginasPALUDO, Conceicao - Movimentos Sociais e Educacao Popular - Atualidade Do Legado de Paulo FreireCORAJE100% (1)
- Democracai Como Valor Universal - Carlos NelsonDocumento9 páginasDemocracai Como Valor Universal - Carlos NelsonJersey OliveiraAinda não há avaliações
- A Democracia Como Valor UniversalDocumento8 páginasA Democracia Como Valor UniversallucianalcpAinda não há avaliações
- AVRITZER - Leonardo COSTA - Sergio-art-Teoria Crítica, Democracia e Esfera PúblicaDocumento26 páginasAVRITZER - Leonardo COSTA - Sergio-art-Teoria Crítica, Democracia e Esfera PúblicaLaercio Monteiro Jr.Ainda não há avaliações
- Artigo Aline NeriDocumento18 páginasArtigo Aline NeriJuliana MulatinhoAinda não há avaliações
- 17595-Texto Do Artigo-104562-1-10-20190515Documento20 páginas17595-Texto Do Artigo-104562-1-10-20190515Laura de CarvalhoAinda não há avaliações
- Conflito Social AmbientalismoDocumento21 páginasConflito Social AmbientalismoMarcosViníciusLimaAinda não há avaliações
- Cultura Política e Contra-Hegemonia o Socialismo e ADocumento17 páginasCultura Política e Contra-Hegemonia o Socialismo e AWashington FeitosaAinda não há avaliações
- Apontamentos Sobre o Vínculo Social e A Solidariedade NeaDocumento19 páginasApontamentos Sobre o Vínculo Social e A Solidariedade NeaLumo ColetivoAinda não há avaliações
- A Crítica Do Populismo - Elementos para Uma Problematização - Lívia CotrimDocumento13 páginasA Crítica Do Populismo - Elementos para Uma Problematização - Lívia CotrimGabriel DayoubAinda não há avaliações
- Democracia e Res-Publica2Documento14 páginasDemocracia e Res-Publica2Júlio BernardesAinda não há avaliações
- Kvsqyrk LF P5 Z 8 GJ NCJ YBRxyDocumento16 páginasKvsqyrk LF P5 Z 8 GJ NCJ YBRxyEdlásio HenriquesAinda não há avaliações
- Cultura Política, Estrutura Política e Movimentos Sociais - As Formas Do Confronto PolíticoDocumento5 páginasCultura Política, Estrutura Política e Movimentos Sociais - As Formas Do Confronto PolíticoVitor BritoAinda não há avaliações
- Casi MS & ApDocumento5 páginasCasi MS & ApCasimiroAinda não há avaliações
- Admin Depext,+3 ARTIGO+3 IDEOLOGIADocumento19 páginasAdmin Depext,+3 ARTIGO+3 IDEOLOGIA708241397Ainda não há avaliações
- Trab. JEANNE Semana 1Documento8 páginasTrab. JEANNE Semana 1Emanuel FreitasAinda não há avaliações
- 4 - para Ampliar o Canone Democratico - FICHAMENTODocumento6 páginas4 - para Ampliar o Canone Democratico - FICHAMENTOHaulison Renner LimaAinda não há avaliações
- Democracia Como Pluralidade Tres InterprDocumento20 páginasDemocracia Como Pluralidade Tres InterprlisandrafilesinhaAinda não há avaliações
- GRAMSCI Hegemonia PDFDocumento9 páginasGRAMSCI Hegemonia PDFMuriel PaulinoAinda não há avaliações
- DIAS Cidadania e Teoria DemocraticaDocumento55 páginasDIAS Cidadania e Teoria DemocraticaPatrícia BrumAinda não há avaliações
- Capital Social - Origens e Aplicacoes Na Sociologia ContemporaneaDocumento26 páginasCapital Social - Origens e Aplicacoes Na Sociologia ContemporaneaRui MestreAinda não há avaliações
- A Influência Do Pensamento de Gramsci No Serviço Social BrasileiroDocumento12 páginasA Influência Do Pensamento de Gramsci No Serviço Social BrasileiroBárbara DominguesAinda não há avaliações
- INÁ, Elias de Castro. Geografia Política o Que É Afinal e para Que Serve. Espaço & Geografa, Vol.24, n.2Documento25 páginasINÁ, Elias de Castro. Geografia Política o Que É Afinal e para Que Serve. Espaço & Geografa, Vol.24, n.2teixeiradanielAinda não há avaliações
- T9 Antonio Almerico Biondi LimaDocumento25 páginasT9 Antonio Almerico Biondi LimaalmericoAinda não há avaliações
- A Nova Política Social No Brasil - Uma Prática Acima de Qualquer Suspeita TeóricaDocumento24 páginasA Nova Política Social No Brasil - Uma Prática Acima de Qualquer Suspeita TeóricaIsis VeigaAinda não há avaliações
- Correção Avaliação Parcial 1 (Anexo 3)Documento4 páginasCorreção Avaliação Parcial 1 (Anexo 3)Josué G. SilvaAinda não há avaliações
- 10373-Texto Do Artigo-57941-1-10-20220811Documento14 páginas10373-Texto Do Artigo-57941-1-10-20220811san2011Ainda não há avaliações
- Educação e Lutas Sociais No Brasil Pós-Ditadura: Da Democratização À Ausência de AlternativasDocumento21 páginasEducação e Lutas Sociais No Brasil Pós-Ditadura: Da Democratização À Ausência de AlternativasLouise Michel SanchesAinda não há avaliações
- Seminário 08 - Chantal, Mouffe. - Democracia, Cidadania e A Questão Do PluralismoDocumento16 páginasSeminário 08 - Chantal, Mouffe. - Democracia, Cidadania e A Questão Do PluralismoDianety SilvaAinda não há avaliações
- Apresentação Sociologia - Richard DayDocumento11 páginasApresentação Sociologia - Richard DayGabriel Mota MaldonadoAinda não há avaliações
- Democracia RadicalDocumento11 páginasDemocracia RadicalCipriano CaísseAinda não há avaliações
- Fichamento Do Livro Ditadura e Servico SDocumento10 páginasFichamento Do Livro Ditadura e Servico SPollyanna L. SilvaAinda não há avaliações
- A Evolução Dos Conceitos de Representação e Participação Na Teoria Democrática ContemporâneaDocumento12 páginasA Evolução Dos Conceitos de Representação e Participação Na Teoria Democrática ContemporâneaJoão Gabriel Vieira BordinAinda não há avaliações
- Comunismo - Esquerda - o Que e - OpiniaoDocumento5 páginasComunismo - Esquerda - o Que e - OpiniaoDanielAinda não há avaliações
- 4752-Texto Do Artigo-16652-1-10-20120504Documento10 páginas4752-Texto Do Artigo-16652-1-10-20120504Mariana BastosAinda não há avaliações
- Resenha Populismo y Transformación Del Imaginario Político em América LatinaDocumento4 páginasResenha Populismo y Transformación Del Imaginario Político em América LatinaLuiz Gustavo de Oliveira AlvesAinda não há avaliações
- 29408-Texto Do Artigo-117800-1-10-20200301Documento9 páginas29408-Texto Do Artigo-117800-1-10-20200301Kosinski KosinskiAinda não há avaliações
- As Cores de ErcíliaDocumento7 páginasAs Cores de ErcíliaErica da SilvaAinda não há avaliações
- Boaventura de Sousa Santos Sobre A Relação Entre Estado Sociedade e PoderDocumento28 páginasBoaventura de Sousa Santos Sobre A Relação Entre Estado Sociedade e PoderGil BatistaAinda não há avaliações
- Fichamento Do Livro Ditadura e Servico SDocumento12 páginasFichamento Do Livro Ditadura e Servico SGleide MoreiraAinda não há avaliações
- Johannes Ianik KopmannDocumento9 páginasJohannes Ianik KopmannLUCAS GUEDESAinda não há avaliações
- Capítulo I Estado Política e SociabilidadeDocumento12 páginasCapítulo I Estado Política e SociabilidadePriscila Onorio100% (1)
- Populismo AtividadeDocumento5 páginasPopulismo AtividadeMaria Cristina UFPIAinda não há avaliações
- M&U13-Cidadania Democrática, Corporativismo e Política Social No BrasilDocumento26 páginasM&U13-Cidadania Democrática, Corporativismo e Política Social No BrasilFábio Wanderley ReisAinda não há avaliações
- O SUS Que Eu VIVIDocumento680 páginasO SUS Que Eu VIVIEdson CostaAinda não há avaliações
- Manual Geladeira - Dfw35Documento2 páginasManual Geladeira - Dfw35Edson Costa100% (3)
- (O Que É Assessoria Auditoria Supervisão Consultoria (Modo de Compatibilidade) )Documento55 páginas(O Que É Assessoria Auditoria Supervisão Consultoria (Modo de Compatibilidade) )Edson CostaAinda não há avaliações
- Dois Ensaios o Sujeiro e o PoderDocumento15 páginasDois Ensaios o Sujeiro e o PoderEdson CostaAinda não há avaliações
- Artigo A Revolução Burguesa No Brasil PDFDocumento12 páginasArtigo A Revolução Burguesa No Brasil PDFepfloripaAinda não há avaliações