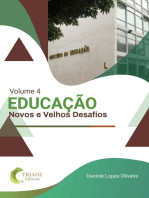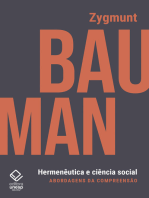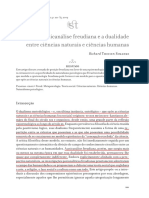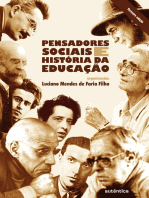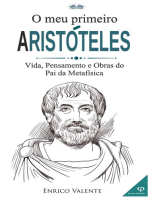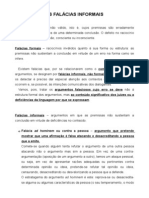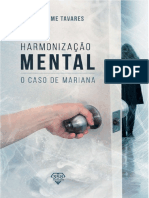Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Francisco Suarez - Ultimo Medieval Primeiro Moderno
Francisco Suarez - Ultimo Medieval Primeiro Moderno
Enviado por
Eduardo AndradeTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Francisco Suarez - Ultimo Medieval Primeiro Moderno
Francisco Suarez - Ultimo Medieval Primeiro Moderno
Enviado por
Eduardo AndradeDireitos autorais:
Formatos disponíveis
CAURIENSIA, Vol.
V (2010) 261-281, ISSN: 1886-4945
fRancisco suReZ. ltiMo MedieVal,
pRiMeiRo ModeRno: a ideia eXeMplaR
eva rodrigues Ferreira guilherme raposo
Universidade do Porto
resumen
Francisco Surez (1548-1617) representa, no contexto da Segunda Escolstica,
a procura incessante da modernidade ao tentar desenhar uma nova filosofia que
respondesse s exigncias da cincia moderna e s solicitaes de um novo mundo
poltico e epistemolgico. Esta determinao e o interesse em estudar Aristteles e S.
Toms de Aquino contriburam para que fosse uma referncia para os autores do seu
tempo e influenciasse a formao dos filsofos da modernidade.
Francisco Surez dedica em Disputationes Metaphysicae, a sua obra mais
emblemtica, um captulo intenso causa exemplar, estudando-a no de uma forma
linear, mas associada ao mundo natural. A matriz do seu pensamento reside na ideia de
causalidade ou aco livre, que o princpio de inteligibilidade, pois compreender a
causa significa compreender a organizao interna de uma substncia qualquer. A causa
exemplar no considerada como um tipo de causal fundamental, mas como o primeiro
aspecto da cadeia causal.
A noo de uma ordem causal do mundo remetida a Deus como primeira causa.
Deus, substncia eterna e imvel, identificada com o inteligvel e bem supremo, move
como causa final todas as outras coisas constituindo, por conseguinte, a causa primeira,
o princpio activo do mundo.
Palabras clave: Francisco Surez, Disputationes Metaphysicae, metafsica, causa
exemplar, causalidade, Deus.
262
eva rodrigues Ferreira guilherme raposo
aBstract
Francisco Surez (1548-1617) represents, in the context of the Second Scholastic, an
incessant search of modernity to try and redesign a new philosophy that would fulfill the
demands of modern science and also the request of a new political and epistemological
world. This determination, as well as the interest in studying Aristotle and St. Tomas
Aquinas, would become a reference to the authors of their time and would education the
formation of modern philosophers.
Francisco Surez dedicates a whole chapter to the exemplary cause of this
Disputationes Metaphysicae, his most emblematic work, where he studies in a non
linear way, but in one associated to the natural world. The core of his way of thinking
lies on the idea of causality or free will, which is the principle of intelligibility, since
understanding a cause means comprehending the internal structure of any substance.
The exemplary cause is not considered as a sort of fundamental cause, but as the primary
aspect of a chain of causes.
The notion of a causal order in the world goes back to God as first cause. God,
eternal and immutable substance, identified as the supreme goodness and intelligibility,
moves everything else, therefore constituting the primary cause, the worlds active
principle.
Key words: Francisco Surez, Disputationes Metaphysicae, metaphysics, exemplary
cause, causality, God.
I.
INTRoDUo1
A obra suareziana imensa2 abrangendo tratados filosficos e teolgicos e
surge no contexto da Segunda Escolstica Ibrica (nas universidades espanhola
e portuguesa), que tem como centro o grande movimento de renovao intelectual
que a Escola de Salamanca3 difundiu e consolidou. Assim, profundamente
1 Trabalho desenvolvido sob a orientao de Manuel Lzaro Pulido no Gabinete de Filosofia
Medieval do Instituto de Filosofia da Universidade do Porto no mbito de uma bolsa de Integrao na
Investigao da Fundao para a Cincia e Tecnologia.
2 Entre as suas obras mais famosas esto De fide, Roma, 1583, Disputationes Metaphysicae,
1597, De Legibus Tractatus, Coimbra, 1601-1603, Tractatus de Legibus ac Deo Legislatore, Coimbra,
1612; Amberes, 1613; Lyon, 1613. F. Suarez, 6 vols., Paris, Vives, 1856.
3 A Universidade de Salamanca (de onde deriva o nome da Escola) esteve na gnese de uma
importante tradio intelectual, resultante do trabalho de um conjunto de professores de moral e teologia, maioritariamente dominicanos e jesutas, que contriburam para os mais variados domnios do
saber humano. o trabalho destes autores particularmente interessante porque aplica uma abordagem
escolstica em larga medida tradicional e com firmes razes catlicas a campos que adquiriram uma
importncia renovada no seu tempo, com a descoberta do Novo Mundo. Muitos dos problemas te-
CAURIENSIA, Vol. V, 2010 261-281, ISSN: 1886-4945
Francisco Surez. ltimo medieval, primeiro moderno: a ideia exemplar
263
influenciado pela emergncia de um novo paradigma que o chamado Novo
Mundo reclamava, Francisco Surez procurou formular uma nova filosofia
que respondesse s exigncias da cincia moderna, s solicitaes de um novo
mundo poltico, de um novo mapa geogrfico e epistemolgico. Nas palavras de
Beatriz Domingues,
Surez foi a corporificao da forma pela qual a neo-escolstica reagiu ante
os problemas fundamentais da poca moderna4.
Na mesma linha de pensamento, Manuel Lzaro Pulido sustenta que Surez
se salienta como um dos espritos mais lcidos da sua poca, revolucionando
o mtodo de aproximao metafsica, sobretudo, no que diz respeito ao
comentrio filosofia primeira de Aristteles. Como explica,
Ao mesmo tempo que procedeu a uma revoluo sem precedentes sobre a metafsica aristotlica, dedicou um captulo causa mais medieval de sempre que
a causa exemplar, convidando-nos a compreend-la como parte integrante da
noo de causalidade5.
Heidegger chama tambm a ateno para o papel de charneira desempenhado
por Surez no dealbar da Modernidade, na medida em que o classifica como
o primeiro autor da escolstica a apresentar e desenvolver um pensamento
verdadeiramente sistemtico, designadamente no mbito da metafsica6.
na sua obra mais representativa Disputationes metaphysicae que
Surez apresenta uma sistematizao metafsica rigorosa, aberta ao novo
ricos com que os doutores de Salamanca se confrontaram encontram, at certo ponto, paralelo nas
preocupaes do racionalismo (Descartes) e do empirismo (especialmente em Locke), essa poder ser
(sem desprimor para a genealogia das ideias) uma das razes pelas quais a obra deste ltimo acaba em
vrios pontos por ter importantes semelhanas com a escolstica ibrica tardia. Para aprofundar o tema
cf. m. a. pena, La Escuela de Salamanca. De la monarquia hispnica al orbe catlico, Madrid, BAC,
2009.
4 B. h. domingues, o Medieval e o Moderno no Mundo Ibrico e Ibero-Americano, en
Revista Estudos Histricos, 10 (1997), 14.
5 De acordo com Manuel Lzaro investigador do instituto de Filosofia da Universidade do
Porto, en Comentrio Disputatio 25. A Causa exemplar, 2010 (documento policopiado, base
deste estudo).
6 No texto o Ser e Tempo Heidegger atribui obra metafsica de Surez o papel de mediao entre a analogia grega e a metafsica e filosofia transcendental dos modernos. Quando Heidegger diz que Surez foi o primeiro a sistematizar a ontologia est a pensar exactamente no facto de as
Disputatio metaphisycae no se assumirem como comentrio da Metafsica de Aristteles e de reordenarem os temas da metafsica de acordo com um esquema que teria influenciado a tpica metafsica
dos sculos seguintes at Hegel. Sabemos hoje que esta interpretao tem algumas fragilidades sob
o ponto de vista do rigor histrico. Porm, o que mais nos interessa sublinhar o facto de Heidegger
referir a ideia de que a Metafsica de Aristteles no tem uma estrutura sistemtica. Muita da literatura
mais recente sobre Surez estar, certamente, influenciada por este aspecto da interpretao heideggeriana da histria da filosofia ocidental.
CAURIENSIA, Vol. V, 2010 261-281, ISSN: 1886-4945
264
eva rodrigues Ferreira guilherme raposo
paradigma da cincia moderna, procurando explicar um mundo regido pela
apreenso realista dos fenmenos e abandonando a perspectiva universalista
das metafsicas do sculo XIII. nessa obra que afirma, tambm, clara e
inequivocamente a autonomia da metafsica com respeito teologia. Poder-se-
afirmar que o filsofo assumiu a superioridade da razo aristotlica e formulou
o problema fundamental do homem moderno. Como sugere Beatriz Domingues,
() no se tratava mais simplesmente de como ganhar o cu, ou do alcance da
liberdade humana, ou das bases da concrdia, e sim da busca de um princpio
ontolgico do qual pudesse resultar o restante. Ao acercar-se o momento crucial da crise histrica e filosfica, o homem tinha que se decidir a saber o que
era ser, em ltima instncia (que o problema primordial da filosofia), pois
s isso poderia permitir-lhe falar de um mtodo para descobrir o que poderia
ser conhecido de cada ser7.
A autora, seguindo os estudiosos suarezianos, sustenta ainda que Francisco
Surez manteve a doutrina de So Toms e a sua verso de tradio aristotlica8,
num esforo de adaptar a filosofia tomista s novas condies histricas,
nomeadamente a polmica catlico/protestante e a emergncia dos Estados
7 De acordo com B. H. Domingues, no seu artigo o Medieval e o Moderno no Mundo
Ibrico e Ibero-Americano (o. c.). Para a autora, Surez foi a corporificao da forma pela qual a
neo-escolstica reagiu ante os problemas fundamentais da poca moderna. Essa tentativa de revitalizar
a tradio medieval, empreendida por Surez, Luis de Molina, Benito Pereira e outros, no pode ser
interpretada como uma reminiscncia inerte do passado. o fato de ter sido um esforo que no teve
pleno xito no nos permite concluir que tenha sido um fenmeno imutvel e solitrio. J os matemticos e fsicos espanhis do fim do sculo XVII e do sculo XVIII iriam tentar uma nova conciliao
entre fsica e teologia, que culminou dando uma soluo ecltica ao desafio de assimilar a cincia moderna sem contradizer a f. A soluo ecltica foi talvez a nica forma possvel de sobrevivncia para
as diferentes gradaes de reformadores-inovadores, bem como para a prpria doutrina neotomista
oficial, num mundo onde as teorias dos cientistas modernos vinham sendo crescentemente aceitas. o
ecletismo deu o tom da recepo no s da cincia como tambm da filosofia moderna na Espanha e
na Nova Espanha (Mxico). No Velho Mundo podemos perceber a soluo ecltica na forma como o
movimento inovador lidou com o copernicanismo, bem como em outros aspectos da filosofia moderna.
Essa soluo culminou em uma incorporao dos trabalhos dos cientistas e filsofos modernos nas
universidades, mas de uma forma no-orgnica. No Novo Mundo a postura ecltica assumiu feies
particularmente interessantes devido sua coexistncia com o sincretismo tnico e religioso que teve
origem desde o incio do sculo XVI (Cf. B. h. domingues, o Medieval e o Moderno no Mundo
Ibrico e Ibero-Americano, o. c., 207).
8 Foi atravs da delimitao das esferas da razo e da f que S. Toms de Aquino pde conciliar o aristotelismo e dogmas cristos que esto nos seus antpodas (Deus criador, mundo criado,
alma distinta da matria). A causa , para S. Toms, aquilo ao qual algo se segue necessariamente.
Trata-se de um princpio, mas de um princpio de carcter positivo que afecta realmente algo. A causa
distingue-se, neste sentido, do princpio geral. o princpio aquilo de que algo procede de um modo
qualquer; a causa aquilo de que algo procede (o causado) de um modo especfico. Princpio e causa
so ambos, de certo modo, princpios, mas enquanto o primeiro o segundo o intelecto, a segunda -o
segundo a coisa (ou a realidade). Assim se estabelece a diferena entre a relao princpio-consequncia e causa-efeito, de fundamental importncia no tratamento da noo de causa.
CAURIENSIA, Vol. V, 2010 261-281, ISSN: 1886-4945
Francisco Surez. ltimo medieval, primeiro moderno: a ideia exemplar
265
nacionais europeus. Nesta linha de pensamento, Manuel Augusto Rodrigues9
refere que no tomismo Surez v representada a sntese perfeita entre a f e
a razo, circunscrevendo a realidade humana na divina; ir contudo divergir
no reconhecimento da individualidade do real, uma vez que para ele toda a
substncia singular singular por si mesma ou pela sua prpria singularidade e
no tem necessidade de outro princpio de individualizao alm da sua prpria
realidade ou dos princpios intrnsecos em que tal realidade consiste.
A reflexo de Surez representa, pois, um esforo de sistematizao
de um pensamento metafsico, no qual S. Toms de Aquino e, sobretudo,
Aristteles constituem os autores de referncia. o seu trabalho expressa clara
e inequivocamente uma opo pela modernizao metafsica, o que na
perspectiva de Beatriz Domingues, no seria um acto isolado sem qualquer
repercusso no estrangeiro10.
Para Vincent Carraud11, por seu turno, a obra-prima de Surez em metafsica,
Disputationes Metaphysicae, inicia o sculo da causalidade. De facto, a tese
principal do pensamento de Surez reside na ideia de causalidade ou aco
livre. A causa assim o princpio de inteligibilidade, pois compreender a causa
significa compreender a organizao interna de uma substncia qualquer. Sobre
este assunto, Surez aceita a tese de Aristteles no que diz respeito conexo
entre a teoria da causa e a do ente mvel12.
9 m. rodrigues, Francisco Surez (1548-1617). o Doctor Eximus, Professor da Universidade de Coimbra. Actualidade da sua teoria acerca do Ius Gentium, en Estudos em Homenagem a Jos
Francisco Marques, Vol 1, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2001, 371-380.
10 B. H. Domingues admite que as inovaes que a Espanha produziu, quer na teoria do direito de Francisco de Vitria, quer na metafsica de Francisco Surez, foram mesmo adaptadas noutros
pases para as necessidades de seus prprios sistemas filosficos, o Medieval e o Moderno no Mundo
Ibrico e Ibero-Americano, o. c., 205.
11 Vicent Carraud visa inscrever a frmula cartesiana numa histria do conceito de causalidade que teria um momento culminante na formulao do princpio de razo suficiente (ou principium
reddendae rationis) de Leibniz. Carraud faz anteceder a sua exposio da histria do problema da causa, de Suarez a Leibniz, de um til Vademecum onde sumaria os principais momentos da pr-histria
dos autores de que se ocupa. (Cf. v. carraud, Causa sive ratio. La Raison de la Cause, de Suarez a
Leibniz. Paris, PUF, 2002).
12 Aristteles admite a existncia das quatro causas: duas internas ou compositivas causa
material e formal e duas externas causa motora e final, afirmando que o fim a primeira das causas,
pois o fim que induz a causa motora. A causa material consiste naquilo de que uma coisa feita; a
causa final o objectivo com que se faz cada coisa e cada acto. Em suma, a mais clebre e influente
doutrina aristotlica a este respeito a classificao das causas em quatro tipos: a causa eficiente, que
o processo da mudana; a causa material, ou aquilo do qual algo surge ou mediante o qual vir a ser;
a causa formal, que a ideia ou o paradigma; a causa final ou o fim, a realidade para que algo tende
a ser. H, pois, na produo de algo o concurso de vrias causas e no s de uma. Por outro lado, as
causas podem ser recprocas. Embora todas as causas concorram para a produo de algo a produo
do efeito , a causa final parece ter um certo predomnio, j que o bem da coisa, e a causa final como
tal pode considerar-se como o bem por excelncia. o que faz que uma coisa tenha a possibilidade de
CAURIENSIA, Vol. V, 2010 261-281, ISSN: 1886-4945
266
eva rodrigues Ferreira guilherme raposo
II. CoNSIDERAES GERAIS SoBRE DISPUTATIONES METAPHYSICAE
Nas Disputationes Metaphysicae13 Surez prescinde da forma tradicional
do comentrio, constituindo o primeiro tratado especfico de metafsica no
ocidente. Disputationes Metaphysicae foi, deste modo, a primeira obra
em cujo ttulo apareceu a palavra metafsica. At ao seu aparecimento, a
metafsica havia sido explicitamente tratada ou apenas incidentalmente, sob
a forma de Opuscula (pequenas obras) ou em comentrios sobre o texto de
Aristteles14. Segundo Surez, a substituio do tradicional texto aristotlico
pelas disputationes permitia () poderem ser postas ao alcance de todos para
utilidade pblica (Proeminum).
A inteno e estrutura da metafsica de Surez respondem a um critrio
muito distinto do que inspira a Filosofia Primeira de Aristteles15. Contudo,
produzir outras no (em tal pensamento) tanto o facto de ser causa como o facto de ser substncia.
Ser substncia significa ser princpio das modificaes, quer das prprias, quer das executadas em
outras substncias. As quatro causas aristotlicas podem considerar-se como os diversos modos como
as substncias se manifestam enquanto substncias.
13 Francisco Surez dividiu as Disputationes Metaphysicae em duas partes. As Disputationes
Metaphysicae compreendem vrios tratados, cada um com vrias seces e subdivises. Na primeira
parte explica o objecto, a dignidade e a utilidade da metafsica e prossegue para tratar do ser em geral,
suas caractersticas e causas e da necessidade de Deus. Nas Disputas III a XI discute as paixes e as
propriedades transcendentais do ser. Disputas XII a XXVII Surez discute sobre as causas; a Disputa
XXV trata da causa exemplar. o segundo volume abre com uma contrapartida de infinito e finito. Duas
disputas para lidar com o conhecimento natural da existncia, natureza e atributos de Deus. As Disputas restantes so dedicadas metafsica do ser finito, distribudos de acordo com as categorias aristotlicas. Ideia retirada do texto de J. pereira, Surez entre Escolstica e Modernidade, Milwaukee,
Marquette University Press, 2007, 27-28.
14 Uma pequena nota sobre a importncia de S. Toms de Aquino relativamente aos comentrios e (re)interpretaes que fez sobre Aristteles. Assim, recorremo-nos da perspectiva de Santiago Carvalho para afirmar que S. Toms de Aquino foi um dos mais expressivos autores do perodo
medieval e um dos maiores responsveis pela difuso do pensamento aristotlico no ocidente. De
facto, a sua filosofia assenta em princpios bsicos do aristotelismo, como o do acto e o da potncia,
o da matria e o da forma, assim tambm como o do gnero e o da diferena especfica ou a teoria da
causalidade. Na esteira de Aristteles, S. Toms de Aquino reconheceu que o conhecimento repousa
sobre o fundamento emprico, sendo que a nica fonte do nosso conhecimento a realidade sensvel, e
sustentou que a ideia de que Deus est na origem de todos os nossos conhecimentos; procurou provar
racionalmente a ideia de Deus. No se trata agora de partir da ideia de Deus para a sua existncia, mas
a partir dos seres criados para o seu criador, das coisas que so imediatamente dadas ao nosso conhecimento (efeitos) para aquela que nos menos imediata, a sua causa. So as chamadas provas a posteriori e que se explicitam em cinco vias. (Cf. s. carvalho, Ler S. Toms, Hoje?, en Revista Filosfica
de Coimbra, 4 (1995), 103-130. Na mesma linha de pensamento, Nicola Abbagnano, refere que com
os comentrios e as reinterpretaes de S. Toms de Aquino, o aristotelismo se torna flexvel e dcil a
todas as exigncias da explicao dogmtica.
15 Para Aristteles a metafsica , em primeiro lugar, uma cincia prvia que estuda os primeiros princpios e as primeiras causas; em segundo lugar uma cincia que estuda o ser enquanto
ser no o que faz com que um ser seja isto ou aquilo mas o que faz com que seja um ser. A cincia
dos primeiros princpios e das primeiras causas a Teologia, ou a cincia do divino, a qual um acto
CAURIENSIA, Vol. V, 2010 261-281, ISSN: 1886-4945
Francisco Surez. ltimo medieval, primeiro moderno: a ideia exemplar
267
a partir do conceito aristotlico de causalidade, que Surez se dedica a definir
um conjunto de noes gerais sobre o ser, suas propriedades e causas. o ser
no somente ser, mas tambm ente real e essas noes no so mais do que
uma preparao para as aplicar a todos os entes reais e concretos encontra-se
aqui a grande diviso entre ser infinito (Deus criador) e entes finitos (criados,
criaturas)16. No se trata de definir conceitos gerais, mas sim de realidades
concretas, de seres reais, entre os quais existem relaes extrnsecas do motor
imvel, como em Aristteles, mas tambm intrnsecas e essenciais.
Surez preocupa-se com o real, com o concreto, evitando o conceptualismo
e o abstraccionismo e esfora-se, como j afirmmos, por redesenhar uma
filosofia absolutamente realista, congruente com o paradigma emergente e cujas
consequncias e resultados seriam de grande importncia para a constituio do
pensamento moderno. Como observou Fraile,
Surez esfora-se por fazer uma filosofia realista, baseada nas coisas tal como
so, estudando-as em si mesmas e no em abstraces mentais. Por isso, insiste
em que a metafsica no trata s de conceitos, mas versa tambm sobre seres
reais. A ideia central da metafsica suareziana consiste na contraposio entre
as grandes classes dos seres, o infinito e o finito, com a finalidade de estabelecer uma relao de dependncia essencial e total das criaturas a respeito do
Criador. Deus o ser por essncia e as criaturas s o sero por dependncia do
criador17.
puro, primeiro motor do universo. Esta cincia teolgica, dando acesso realidade mais elevada e
mais fundamental, pode dar-se assim como a cincia do ser enquanto ser ou ontologia. A ontologia
constitui o objecto capital da metafsica. A metafsica aparece, ento, na diviso das cincias, como a
cincia suprema ou a filosofia primeira. Para Aristteles existem diversas formas e diferentes nveis de
conhecimento da realidade, desde a experincia vulgar at ao conhecimento absoluto ou sabedoria. o
critrio para a distino e organizao hierrquica do conhecimento o da investigao das causas. o
conhecimento cientfico, quer ao nvel da fsica, quer da metafsica, supe a investigao das causas
ou princpios dos seres especificamente determinados ou do ser enquanto tal. Podemos considerar quer
princpios intrnsecos (causa material e formal), quer extrnsecos (causa eficiente e final).
16 A ideia de infinito e finito uma ideia central na histria da filosofia, designadamente na
filosofia crist. De facto, a filosofia crist viu-se imbricada na reflexo sobre o infinito, defendendo que
Deus o ser infinito em todos os seus atributos; fundamentou a finitude dos entes, enquanto pela causalidade dependeu o finito do infinito. A finitude designa as criaturas e a condio humana como criatura
por oposio transcendncia e a perfeio divina. o finito participao das infinitas perfeies do
acto puro do ser. Esta distino importante na mentalidade filosfica medieval. Assim, S. Toms de
Aquino tinha abordado este assunto de forma a que recorreu estrutura interna dos entes, explicando
a finitude pela composio de acto e potncia, essncia e ser. Esta teoria metafsica d razo nitida
distino entre ser finito e ser infinito, vinculando-os ao mesmo tempo pelo nexo causal e pelo nexo
gnosiolgico de analogia, presente na primeira escola franciscana sendo sublinhada com uma ptica
mais ontolgica e vincula univocidade do ente em Duns Scoto como assinala Jol Biard: Linfini
est tel point au coeur de sa doctrine dtermin. J. Biard, Duns Scot et linfini dans la nature, en o.
Boulnois, E. Karger, J. L. Solre, G. Sondag, Duns Scot Paris, 1302- 2002. Actes du Colloque de
Paris, 2-4 September 2002, Turnhout, Brepols, 2004, 387.
17 Cf. g. Fraile, Histria de la Filosofia Espaola, Madrid, BAC, 1985, I, 381.
CAURIENSIA, Vol. V, 2010 261-281, ISSN: 1886-4945
268
eva rodrigues Ferreira guilherme raposo
Assim se compreende a insistncia de Surez em pr o ser real como objecto
da sua metafsica, dicendum est ergo, ens inquantum ens real, esse obiectum
adaequam huius scientiae instaurando, deste modo, uma perspectiva realista e
objectiva da filosofia. Com efeito, Surez surge com um discurso formalmente
livre, doutrinalmente moderno e atractivo na anlise contempornea da
metafsica18. Este facto, no o impede de dedicar um captulo causa mais
platnica e mais medieval de todas as causas, a causa exemplar19.
Na sua reflexo sobre a causa exemplar, Surez coloca especial enfoque
na natureza do exemplar, em sintonia com a discusso sobre a natureza da
ideia e das ideias em Deus como exemplares remetendo a reflexo sobre esta
problemtica para a esfera da cincia divina20.
III. DISPUTATIo CAPTULo XXV - A CAUSA EXEMPLAR
Francisco Surez inicia a disputatio XXV em consonncia com o pensamento
de Aristteles no que diz respeito causalidade. Surez diz tratar-se de um
complemento ao tradicional quaternrio aristotlico, uma vez que para muitos
autores, multuorum sententia, Aristteles no disse nada em absoluto sobre a
causa exemplar21.
Surez considera que a causa exemplar um tema que merece toda
a sua ateno, argumentando que no algo distante nem temporal, nem,
conceptualmente no horizonte metafsica. Tratar esta temtica, afigura-se,
por isso, como sublinha, um tema agradvel e til, iucundam et utilem
materiam22. um tema til e agradvel porque supe uma reviso da forma
de entender as ideias, uma concepo diferente acerca da racionalidade e do
mundo e, portanto, torna-se absolutamente necessrio elaborar uma nova
18 Cf. C. esposito, Ritorno a Surez. Le Disputationes metaphysicae nella critica contempornea, en A. lamacchia (ed.), La filosofia nel Siglo de Oro. Studi sul tardo Rinascimento spagnolo,
Bari, Levante, 1995, 465-573.
19 De acordo com o j citado Manuel Lzaro investigador do instituto de Filosofia da Universidade do Porto, en o. c.
20 Cf. J. schmutz, Science divine et metaphysique chez Francisco Surez, en Francisco
Surez, ste es el hombre. Libro Homenaje al Profesor Salvador Castellote Cubells, Valencia, Facultad
de Teologa San Vicente Ferrer, 347-359.
21 Francisco surez, Disputationes Metaphisicae [=DM], XXV, intr., (Ed. Vivs): Quamvis
Aristoteles, multorum sententia, nihil omnino de causa exemplari dixerit, aliis auten ad summum eam
nominasse videatur simul cum formali.
22 Com esta argumentao sobre a causa exemplar reabre uma polmica que podemos verificar, por exemplo, em Fonseca que faz referncia causa exemplar (Curso Conimbracense, Physica,
II, C 7, q 3ss). Sobre este tem cf A. M. martins, a causalidade em pedro de Fonseca, en Veritas,
54/3 (2009), 112-127.
CAURIENSIA, Vol. V, 2010 261-281, ISSN: 1886-4945
Francisco Surez. ltimo medieval, primeiro moderno: a ideia exemplar
269
metafsica para num tempo novo. Assinalar esta afinidade quer causalidade
de Aristteles, quer quele contexto temporal, pode querer dizer que a causa
exemplar contm j uma iluminao sobre o que significa realmente a causa
exemplar, ainda que seja como complemento conceptual. deste modo singular,
mas interessante e interpelativo que Surez inaugura a reflexo sobre a causa
exemplar.
A abordagem a respeito da existncia e natureza da ideia exemplar feita,
por Surez, do seguinte modo:
A causa exemplar tem uma existncia objectiva e independente, um modo
prprio e peculiar de causalidade; ou se explica por uma reduo a algum
gnero de causa23.
o exemplar uma realidade que aponta para um plano de existncia
objectivo num mundo ideal (constitudo por ideias), de causalidade platnica,
de arqutipos objectivos. Efectivamente, s existe uma causalidade prpria que
seria a causa exemplar como causa de tudo, o mundo ideal como origem prexistente a toda a realidade e, no fundo, uma causa do existente. ora, o que
est subjacente causa exemplar Deus, que causa primeira e que constitui
o princpio activo do mundo. De facto, a ordem causal do mundo remetida a
Deus como primeira causa. Deus, substncia eterna e imvel, identificada com
o inteligvel e bem supremos, move como causa final todas as outras coisas,
constituindo, por conseguinte, a causa primeira, o princpio activo do mundo.
A questo do exemplarismo est ligado, como facilmente se depreende, a
outra temtica de fundo, cincia divina que se desenvolve a partir da anlise e
reflexo das ideias divinas. No fundo, o que Surez pretende anunciar desde logo
o seu posicionamento sobre a ideia de Deus e a ideia de homem. Numa primeira
interpelao, o autor prope-se responder questo de como entender a ideia,
o exemplar, inserida numa metafsica aristotlica em dilogo com a teologia,
sustentando que os exemplos de todas as coisas esto na mente divina24.
Para Surez o exemplar est na mente, ou no entendimento e, por isso,
chama-se exemplar interno. A mente o lugar das ideias, o mundo inteligvel,
sendo que a verdade reside nas ideias, ou no mundo inteligvel. Contudo, a ideia
a inteligncia de Deus, ou seja, o que entendido pelo divino. o exemplar
a forma que imita o efeito em virtude da inteno do agente que determina
o fim. As criaturas intelectuais ou racionais, embora possam conceber formas
23 DM, XXV, intr.: Tum etiam quod vel probabile sit proprium et peculiarem modum causandi
habere, velnecesse sit reductionem ejus ad aliquod genus causa declarare
24 Ib.: Nam inter causass per intellectum agents solus Deus potest esse proprie et per se causa naturalium effectuum, praesertim substantiarum et naturalium formarum, et ideo solus ipse potest
habere exemplaria huiusmodi rerum.
CAURIENSIA, Vol. V, 2010 261-281, ISSN: 1886-4945
270
eva rodrigues Ferreira guilherme raposo
intelectuais verdadeiras e propriamente representativas dos efeitos naturais, no
tm virtude eficiente destes efeitos, no podendo por isso aplicar tais formas
obra, ou ser dirigidas por elas na realizao das coisas que representam, pois no
se podem considerar exemplares.
Surez defende, portanto, que o princpio da causalidade no pode ser
estabelecido nem pela razo, nem pela intuio ou demonstrao, mas por Deus.
Considera ainda que os seres no constituem um facto, mas apenas uma unidade
essencial ou ideal. A unidade formal, entretanto, no uma criao arbitrria
da mente, mas existe in natura intellectus rei ante omnem operationem.
Tambm, a cognoscibilidade vem da medida exacta da ligao com Deus,
considerado origem do ser. Em sentido ontolgico existe o efeito porque existe
a causa; na ordem cognoscitiva efeito e causa so correlativos. importante
referir ainda que o agente inteligente no pode agir sem uma ideia exemplar
e que usada muitas vezes a expresso causa formal extrnseca, na qual
se inclui naturalmente a ideia exemplar, que sintetiza o objecto formal e a
faculdade cognoscitiva.
Surez no corrobora a opinio dos autores que expem as suas teorias
com base nas ideias de Plato, mostrando que uma pretenso separando dois
aspectos: por um lado, o material, constitudo por matria informe e catica nos
seus movimentos e, por outro, o que as coisas verdadeiramente so, a sua essncia.
A causalidade aparece tambm desdobrada: o criador a causa produtora (causa
eficiente ou agente, dir Aristteles), mas as ideias so tambm causa, causa no
apenas formal, mas tambm exemplar dos seres naturais. o mundo ideal aparece
como a base de todo o conhecimento cientfico. Alis, Plato insiste em que
apenas a razo capaz de chegar ao conhecimento verdadeiro.
Surez utiliza o exemplo de Aristteles para pr em relevo a importncia
da forma que se encontra na alma como primeiro produtor do movimento e,
deste modo, considerar que Aristteles admite a existncia quer de princpios
intrnsecos (causa material e formal), quer extrnsecos (causa eficiente e final).
De acordo com Aristteles, a causa aquilo de que uma coisa feita e que
permanece na coisa. Mas, ao mesmo tempo nota que h vrias espcies de
causas25 e que a causa a forma ou o modelo, isto a essncia necessria ou a
substncia de uma coisa. Nesse sentido, causa do homem, a natureza racional
que o define.
25 Aristteles tratou o problema da causa, da sua natureza e das suas espcies. A maior clebre
e influente doutrina aristotlica a esse respeito a classificao das causas em quatro tipos: a causa
eficiente, que o princpio da mudana; a causa material, ou aquilo do qual algo surge ou mediante o
qual vir a ser; a causa formal, que a ideia ou paradigma; e a causa final ou o fim, a realidade para que
algo tende a ser.
CAURIENSIA, Vol. V, 2010 261-281, ISSN: 1886-4945
Francisco Surez. ltimo medieval, primeiro moderno: a ideia exemplar
271
Surez situa o tema da causa exemplar como fundamental na sua reflexo
sobre a natureza do exemplar, em sintonia com a ideia de Deus como exemplar,
colocando-se na esfera do divino. Ao abordar este problema, numa poca
marcada pela controvrsia, Surez aborda uma questo que essencial tanto para
o pensamento medieval como para a compreenso da construo da filosofia
moderna. As consequncias e resultados desta reflexo so cruciais e de grande
importncia para a constituio do pensamento moderno26.
IV. IDEIA SUBJECTIVA E oBJECTIVA
Surez procura determinar que natureza tem essa realidade que chamamos
exemplar ou ideia e diz que h duas possibilidades: (1) ou que o exemplar tenha
uma natureza externa ao agente; (2) ou que seja interna ao mesmo. Afirmar em
todas as suas consequncias que o exemplar ou ideia uma realidade externa
implicaria apontar que existe uma realidade superior a qualquer agente que
levaria ao movimento das realidades. dizer uma outra realidade objectiva que
presumiria assumir como Plato que existem exemplares distintos de Deus27,
retomando a filosofia grega das realidades fsicas eternas.
Segundo Suarz, Plato acreditava que a realidade existe na medida em
que participa das ideias. S estas lhe do o verdadeiro ser. o ser das ideias
e a sua verdade no depende das coisas sensveis, sendo que o conhecimento
das ideias e das suas relaes constitui o saber autntico28. Plato estabelece
a distino entre o que em si, idntico e imutvel e a realidade sensvel
em constante fluir. A diviso platnica em dois mundos to diferentes como o
mundo inteligvel de realidades ideais que sustentem a existncia das coisas e
o mundo sensvel de fenmenos inconsistentes que no cabem na metafsica
crist. Uma coisa afirmar que na mente divina existem as ideias das coisas e
outra bem diferente que existem as ideias das coisas que pr-existem.
Para Surez esta mudana, evidente desde a perspectiva crist, implica sem
dvida uma formalizao da causa exemplar, a sua racionalizao. A questo
bvia e clara da eliminao da exposio ou entendimento externo da causa
exemplar, da ideia exemplar, leva aposta pela formalizao do exemplar ou da
ideia e eleva exposio intelectual e racional pela sua natureza. Sem dvida
26 Segundo Manuel Lzaro investigador do instituto de Filosofia da Universidade do Porto, en
o. c., 8 (documento policopiado).
27 DM, XXV, I, 13: Platon et philosophorum sententian, ponentium exemplaria distincta a Deo.
28 Para Aristteles as ideias no existem num mundo inteligvel separado das coisas sensveis;
as ideias so imanentes s coisas sensveis. De outro modo no se compreenderia como as ideias podem actuar e explicar a realidade sensvel.
CAURIENSIA, Vol. V, 2010 261-281, ISSN: 1886-4945
272
eva rodrigues Ferreira guilherme raposo
alguma o facto criador resulta de grande importncia na formulao da causa
exemplar quanto natureza da sua extenso, uma doutrina da criao qual no
serve o esquema da realidade extra-mental e objectiva.
Nesta base situa-se a relao ontolgica entre o ser transcendente e a
realidade imanente, entre Deus e a criatura, de modo a que se possa explicar sem
cair numa realidade extra-mental e objectiva, que no se pode dar explicao da
realidade infinita de Deus na relao com a precariedade ontolgica da criao.
E tudo isto a partir da perspectiva aristotlica, o que provoca a insuficincia
da explicao objectiva de seres intermdios na metafsica da participao
que exclua a propriedade ontolgica dos seres. Nem a viso platnica no seu
olhar mais original, carente de uma polaridade infinito-finito como a crist,
que mediatiza as relaes de expresso entre Deus e as suas criaturas, nem a
metafsica aristotlica a partir do acto do movimento, podem dar explicao das
relaes causais das relaes ontolgicas que supe a causa exemplar e nela a
doutrina da criao de forma essencial.
Assim, neste aspecto a invocao da exemplaridade ou exemplarismo tornase compreensvel no sentido em que interpretvel, como atesta a formulao
medieval em especial a partir de S. Boaventura29, como a causalidade que tem
como protagonistas no tanto o ser infinito-finito como o ser entendido como
criador e criatura como demonstrou Surez30:
No que se refere realidade, existe uma diviso Deus e as criaturas; mas no
podemos conceber os atributos prprios de Deus tal como so em si (), por
isso valemo-nos de conceitos negativos a fim de separar e distinguir das outras
coisas daquele Ente excelentssimo que guarda respeito e mxima distncia dos
outros e tem sobre eles deles a mnima convenincia.
29 S. Boaventura, sustenta que Deus conhece mediante as ideias e que tem em si as razes das
coisas que conhece. Para So Boaventura o exemplarismo uma verdade sagrada. Na mente divina
existem as ideias exemplares, isto , os modelos de todas as coisas que aprouve a Deus criar. uma
clara adopo de exemplarismo platnico. A tarefa da filosofia no terica e racional, mas prtica
e religiosa, isto , a filosofia deve levar a Deus, que se atinge imediatamente em todas as coisas e se
possui pela unio mstica, como ele descreve no Itinerrio. A gnoseologia de Boaventura inspira-se
no iluminismo agostiniano, que lhe sugeriu a prova intuitiva da existncia de Deus, enquanto Ele
imediatamente presente ao esprito humano. A metafsica de Boaventura afirma trs princpios directamente opostos ao aristotelismo tomista: a existncia de uma matria geral sem as formas especficas; a
pluralidade das formas em um mesmo ser, tantas quantas so as suas propriedades essenciais; a universalidade da matria fora de Deus, porque todos os seres so compostos de matria e de forma, inclusive
as essncias anglicas e as almas humanas Boaventura sustenta que a alma humana uma substncia
completa independente do corpo, auto-suficiente, composta de forma e matria. Cf. J.-M., Bissen,
Lexemplarisme divin selon saint Bonaventure, Vrin, Paris,1929.
30 DM, XXV, I, 1: Quod igitur ad rem spectat, dividitur hoc ens in Deum et creaturas; quia
vero non possumus ea quea sunt Dei propria, prout in se sunt, concipere, immo nec per positives conceptus simplices ac proprios Dei, ideo negativis utimur, ut illud excellentissimum ens, quod maxime a
caeteris distat minusque cum illis conventi quam ipsa inter sese, ab eis separemus et distinguamus.
CAURIENSIA, Vol. V, 2010 261-281, ISSN: 1886-4945
Francisco Surez. ltimo medieval, primeiro moderno: a ideia exemplar
273
Surez v-se impelido a equilibrar duas foras respeitantes metafsica que
lutam entre si: uma posio centrpeta, que se move para o centro divino ou
atrai as coisas at ele, que resistente, e outra que podemos chamar centrfuga,
que se vai impondo pouco a pouco e ao contrrio, afasta Deus do centro ou
tende a distanci-lo. Este movimento que se abre racionalidade sobre os
objectos naturais vai fazendo uma incurso na metafsica e vai secundarizando
o que resta de um esquema neoplatnico. Esta dupla perspectiva observa-se na
tenso exemplar-ideia que transparece na mudana do esquema metafsico,
afectando a discusso sobre o exemplar que acontece na Disputatio XXV. Nesta
perspectiva Surez procura o seu prprio lugar, onde situa o exemplar na mente
na mente divina de forma geral e na mente humana.
Segundo Surez as ideias de todas as coisas esto na mente de Deus, atravs
da interpretao analgica do ser, afirmando que () o exemplar a forma que
imita o efeito em virtude da inteno do agente que se determina a si mesmo
como o fim31.
Em definitivo, aponta-se a tradio clssica do exemplar, pois nas
formulaes gerais da ideia exemplar, ressoa ainda o eco da formulao de
Sneca: O exemplar a que chamo ideia aquilo sobre o que o artfice fixou
o seu olhar para realizar a obra projectada32. Mas, Surez vem afirmar, tal
como Toms de Aquino33, a intencionalidade do agente que ordena a aco a um
fim, procurando uma definio que oscila entre a forma e a imitao do objecto:
A forma concebida extrnseca ao efeito, cuja imitao feita pela prpria
inteno do agente34.
Assim sendo, o exemplar escapa esfera da mera mimesis natural ou do
protagonismo objectivo do agente e da objectividade das ideias, o que d espao
31 DM, XXV, I, 3: Solet autem in communi ita describe: exemplar est forma quam effectus
imitatur ex intentione agentis qui determinat sibi finem:
32 Citado en l. e. lYnch, The Doctrine of Divine Ideas and Illumination, in Robert Grosseteste, Bishop of Lincoln, en Mediaeval Studies, 3 (1941), 161-173.
33 S. Toms de Aquino afirma, na esteira de Aristteles, que o conhecimento repousa sobre o
fundamento emprico e que, neste sentido, diferente do intelecto divino, o intelecto humano, nfimo na
ordem dos intelectos e maximamente remoto da perfeio do intelecto divino, potencial em relao
aos inteligveis, pois () embora de certa maneira se conceda que a criatura semelhante a Deus,
de modo nenhum se pode admitir que Deus seja semelhante criatura. A nica fonte do nosso conhecimento a realidade sensvel, mas S. Toms de Aquino sustenta a ideia de que Deus est na origem
de todos os nossos conhecimentos, na medida em que, () conhecemos e julgamos todas as coisas
na luz da Verdade primeira, porque a luz, natural ou sobrenatural, da nossa inteligncia no mais do
que a marca da Verdade primeira. No entanto, esta luz no , para a nossa inteligncia, aquilo que ela
conhece, mas aquilo por meio do qual ela conhece (Suma Teolgica).
34 DM, XXV, I, 3: Per formam autem intelligenda est nom intrnseca forma informans et
constituens rem, sed forma concepta et extrnseca effectui, ad cujus imitationem fit effectus ex prpria
intentione agentis:
CAURIENSIA, Vol. V, 2010 261-281, ISSN: 1886-4945
274
eva rodrigues Ferreira guilherme raposo
para situar a causalidade exemplar num terreno que permitir a Surez reduzi-la
causa eficiente. Assim, situados na mente divina, os exemplares Deus
pode ser propriamente e por si causa dos efeitos naturais35 so realizados
atravs do entendimento criado somente de forma anloga e participada.
Surez adverte na sua interpretao do De veritate de Toms de Aquino36
que Deus conhece efectivamente as ideias a partir do conhecimento da sua
essncia, bem como a virtude produtiva que isso lhe confere, de modo que
capaz de compreender a multiplicidade de seres, de entes, sem que por isso a sua
unidade e simplicidade se vejam comprometidas. No entanto, Surez preocupase em sublinhar o aspecto prprio do conhecimento sobre o facto do objecto
conhecido insistindo numa interpretao que privilegie a aco do agente
e a preexistncia da aco da ideia sobre o objecto concreto apontado pela
ideia mesma. A intencionalidade do agente impe-se na imitabilidade a uma
inevitabilidade de necessidades tpicas nascidas da essncia divina, reforando
o protagonismo do sujeito na expresso prtica do efeito e reorientando assim,
a similitude divina.
A preciso suareziana pretende uma vez mais mostrar um equilbrio entre os
vestgios de uma estrutura metafsica de formao e a pluralidade dos seres, de
orientao neoplatnica e numa interpretao filosfica que tenha em conta os
limites e possibilidades da metafsica aristotlica, equilibrando os plos objectivo
e subjectivo do conhecimento. Deus tem uma sabedoria que se torna causal no
exemplar-ideia sem que por isso suponha uma imposio necessitarista. Este
pressuposto implica reforar o carcter formal da ideia exemplar e, por isso,
que a mesma no possa ser intrnseca. Sabendo que o exemplar ou ideia est em
Deus, toda a problemtica fica encerrada, dado que no outra coisa seno a
natureza da cincia divina.
35 DM, XXV, I, 4 : Deus potest esse proprie et per se causa naturalium effectuum.
36 S. Toms de Aquino repensa o aristotelismo integrando as doutrinas da Criao, da imortalidade pessoal e da liberdade. Explica igualmente que a unidade da alma e do corpo e demonstra a
imortalidade pessoal da alma. Reafirma a liberdade do homem que no incompatvel, segundo ele,
com a Criao; Deus de facto suficientemente poderoso para ter criado seres dotados de autonomia.
Para Toms de Aquino a organizao finalstica dos seres naturais, em especial da aco humana,
dificilmente compreensvel independentemente de um deus que opere como causa eficiente. Todavia,
isso no implica que, ao encontrar no deus aristotlico a causa eficiente do universo, Toms tenha atribudo a Aristteles a afirmao de que Deus tambm criador do mundo. Na teoria do conhecimento
defendeu a teoria aristotlica de que conhecer implica uma semelhana entre o que conhece e o que
conhecido; a natureza corprea dos seres humanos requer, portanto, que o conhecimento comece com a
percepo sensorial. possvel afirmar que S. Toms de Aquino nos apresenta uma viso intelectual do
mundo e do homem por sublinhar a primazia do intelecto em relao vontade. Contudo, vem afirmar
que tanto o intelecto como a vontade tm um papel determinante no modo de agir dos sujeitos. As duas
entidades actuam de forma diferente, mas caminham ambas para o mesmo propsito: o bem comum e
a felicidade, que se encontra em Deus.
CAURIENSIA, Vol. V, 2010 261-281, ISSN: 1886-4945
Francisco Surez. ltimo medieval, primeiro moderno: a ideia exemplar
275
Surez coloca a questo nos seguintes termos: (1) ou se trata de um conceito
objectivo da mesma coisa, que se h-de fazer mediante a arte enquanto existe
objectivamente na mente do artfice; (2) ou se trata de um conceito formal
que o artfice forma da coisa que determina fazer37. A questo de fundo tem a
ver como o entendimento de Deus com sendo a causa exemplar e o fundamento
prprio das ideias. Em especial trata-se de saber se as ideias tm um fundamento
exterior ou interior ao agente que conhece, pelo que a questo da ideia se centra
de forma essencial numa questo de natureza epistemolgica e, portanto, de
natureza notica. A questo reduz-se a discernir se o exemplar um conceito
objectivo ou um conceito formal, como assinala o prprio Surez na trade
oiectum-tamtum-mente.
Recordemos que o conceito objectivo o contedo ou objecto, o conceito
formal aponta ao objecto de conhecimento, sendo o conceito formal sem dvida
o conceito da mente, o que o mesmo, aquilo que a mente cria para representar
um objecto aponta ao acto de conhecer. Enquanto que o primeiro um sinal
formal que representa de maneira natural o objecto, o conceito formal uma
realidade psicolgica. Como afirma Surez, para o subjectivo do acto de conceber
reservamos a denominao de conceito formal, enquanto o acto apreendido o
que designaremos com o nome de conceito objectivo. o conceito objectivo
a coisa ou razo que prpria e imediatamente se conhece ou representa por
meio do conceito formal, pelo que o conceito formal o acto mesmo, ou o
que igual ao verbo com que o entendimento concebe uma coisa ou uma razo
comum38.
Para Surez h uma relao entre os dois conceitos, no se podendo
conceber um sem o outro, procurando encontrar um equilbrio entre a essncia
e a existncia do acto prprio de conceber a ideia e sugerindo uma relao entre
o sujeito e o objecto da relao. No existe um agente e um sujeito que pensa
separadamente, sendo que a uni-los esto as relaes entre Deus e as criaturas.
Assim, existe algo que para todas as coisas, causa do ser e de qualquer
perfeio, a quem chamamos Deus. Toda a importncia ontolgica da natureza
uma criatura explicada com os olhos postos no Criador, verdadeiro referente
de todo o modelo de pensar. Surez consegue unir duas concepes sobre a
verdade: a metafsica e a antropologia, numa hermenutica teolgica. Por um
lado contrape os seres infinito e finito, com a finalidade de estabelecer uma total
dependncia com o Criador, o que implica que a origem da ideia exemplar esteja,
37 DM, XXV, I, 5. Subjective dicitur esse quod inest intellectui, et informat illum sive reipsa
per veram inhaerentiam, ut in creaturis, sive nostro modo intelligendi, cum tamen in re sit per entitatem, ut in Deo. Objective autem dicitur esse quod cognoscitur, seu actu objicitur menti.
38 DM, II, I, 1: Conceptus obiectivus dicitur res illa, vel ratio, quae proprie et immediate per
conceptum formalem cognoscitur seu repraesentatur.
CAURIENSIA, Vol. V, 2010 261-281, ISSN: 1886-4945
276
eva rodrigues Ferreira guilherme raposo
naturalmente, na essncia divina; por outro lado fica patente que se preocupa
com o ser humano, com a sua condio humana, e por conseguinte, procura
conciliar os conhecimentos anteriores e de cariz essencialmente teolgicos com
os conhecimentos actuais, marcados pelas cincias.
Em concluso, relativamente existncia da causa exemplar e questo da
sua natureza, referido que subjacente causa exemplar est Deus, que causa
primeira e constitui o princpio activo do mundo. Efectivamente, a ordem causal
do mundo remetida a Deus como primeira causa. Deus, substncia eterna e
imvel, identificada com o inteligvel e bem supremo, move como causa
final todas as outras coisas, constituindo, por conseguinte, a causa primeira,
o princpio activo do mundo. o exemplar est na mente, ou no entendimento
e, por isso, se chama exemplar interno. A mente o lugar das ideias, o mundo
inteligvel, sendo que a verdade reside nas ideias, ou no mundo inteligvel.
Contudo a ideia a inteligncia de Deus, ou seja, o que entendido pelo divino
e, por consequncia, a ideia ou exemplar est na mente. o exemplar a forma
que imita o efeito em virtude da inteno do agente que determina o fim. As
criaturas intelectuais ou racionais, embora possam conceber formas intelectuais
verdadeiras e propriamente representativas dos efeitos naturais, no tem virtude
eficiente destes efeitos, no podem por isso aplicar tais formas obra ou, o que
o mesmo, ser dirigidas por elas na realizao das coisas que representam: no
se podem considerar exemplares.
Suarz, como um escolstico, aceita a teoria aristotlica das quatro causas
e pe em relevo a importncia da causa exemplar. Distingue, igualmente, entre
causa exemplar e causa final. Assim, defende que causa exemplar consiste
em ser a forma determinante da aco do agente e a causa final depende da
vontade. Defende que o princpio da causalidade no pode ser estabelecido pela
razo, por intuio ou demonstrao, mas por Deus. Considera ainda que os
seres no constituem um facto, mas apenas uma unidade essencial ou ideal. A
unidade formal, no uma criao arbitrria da mente, mas existe in natura
intellectus rei ante omnem operationem. Tambm, a cognoscibilidade vem da
medida exacta da ligao com Deus, considerado no s enquanto origem do
ser, mas simplesmente enquanto ente. Na ordem cognoscitiva efeito e causa so
correlativos: existe o efeito porque existe a causa.
de referir ainda que o agente inteligente no pode agir sem uma ideia
exemplar e que usada muitas vezes a expresso causa formal extrnseca, na
qual se inclui naturalmente a ideia exemplar, que sintetiza o objecto formal
e a faculdade cognoscitiva. a partir dos dados sensveis que chegamos ao
conhecimento da substncia. Ela pode ser incompleta como a matria e a forma,
que s se realizam quando unidas. o homem pode ser definido como substncia
incompleta, porque ele s se realiza no devir. Uma substncia fisicamente
CAURIENSIA, Vol. V, 2010 261-281, ISSN: 1886-4945
Francisco Surez. ltimo medieval, primeiro moderno: a ideia exemplar
277
completa, como a gota de gua, por exemplo, nem por isso mais perfeita que
a no-completa: comparada com o homem, falta-lhe a inteligncia. H, pois,
dois grupos de diferenas nas substncias: completo/incompleto e perfeito/
imperfeito.
Para Surez a essncia real aquela que no implica em si contradio algum,
nem uma mera inveno do intelecto; o princpio ou a raiz das operaes ou
efeitos reais, recorrendo causa extrnseca do ente como que pudesse ser produto
realmente de Deus e ser constitudo num ser de um ente actual. A prpria causa
exemplar, distinta da causa final, faz-se essencialmente no conceito interno
que formalmente expressa e representa a coisa que se h-de fazer pela arte.
Embora com a aco se pretenda a conformidade, com aquele conceito o que
se pretende a mesma forma na qual h conformidade. De modo semelhante,
parece que se pode dizer com bastante probabilidade que a primeira razo tem
causalidade exemplar prpria e que enquanto tal se pretende a conformidade das
criaturas. Ao contrrio neste ltimo aspecto, tem a essncia divina razo de fim e
tambm assim se pretende a semelhana das criaturas com Deus como seu fim.
V. SUREz E DESCARTES
Na sequncia do estudo que temos vindo a fazer sobre a importncia
de Francisco Surez no contexto da escolstica tardia e, sobretudo, quanto
reflexo feita sobre a causa exemplar, apresenta-se neste ltimo ponto a
influncia da sua obra na filosofia moderna. Procurar-se-, sobretudo, perceber
se h pontos em comum, ou se pelo contrrio h uma descontinuidade radical
e absoluta entre os dois filsofos o que nos ajudar a compreender melhor o
pensamento de Surez.
Frequentemente afirmado que Francisco Surez influenciou a filosofia
moderna, aproximando-se como nenhum outro filsofo escolstico da
modernidade. Na verdade, vrios autores, como Joaquim de Carvalho, Manuel
Rodrigues, Beatriz Domingues, Constatino Esposito ou Lzaro Pulido aludem a
este facto. Joaquim de Carvalho diz
() no se pode menosprezar o esforo genial do filsofo granadino no sentido de arrancar a Metafsica tradio dispersiva da glosa e de sistematizar
a respectiva problemtica, especialmente da Ontologia, num corpo coerente e
consistente. este um facto assente e reconhecido, como outro facto assente,
embora ainda no tratado como desenvolvimento que merece, a necessidade de
se ter presente o pensamento de Surez, especialmente nos pases protestantes,
CAURIENSIA, Vol. V, 2010 261-281, ISSN: 1886-4945
278
eva rodrigues Ferreira guilherme raposo
para a compreenso da filosofia moderna at Kant, sem esquecer incidncias
ulteriores, designadamente de Schopenhauer39.
Nesta linha de pensamento, tambm Beatriz Domingues afirma que
Francisco Surez se aproxima da filosofia moderna e a influncia quando adverte
que se deveria utilizar um mtodo. Tal como escreveu a autora, () o homem
tinha que se decidir a saber o que era ser pois s isso poderia permitir-lhe
falar de um mtodo para descobrir o que poderia ser conhecido de cada ser,
() foi por ter tentado fazer isso que Surez foi levado a srio pelos filsofos
do sculo XVIII40.
Alis, tambm Salvador Castellote, referindo-se dimenso antropolgica
da obra de Francisco Surez, sustenta que a sua antropologia filosfica ao surgir
ancorada numa metafsica racional e dialogante com as outras cincias lhe
confere, por assim dizer, um carcter moderno, () no lhes dando um mtodo, certamente de forma literal o mtodo que deveriam seguir, mas exercendo
uma funo crtica, adverte que todo o discurso cientfico deveria versar, em
ltima instncia, sobre a totalidade do homem41.
Na mesma linha de pensamento, Rubn Talavn sustenta a filosofia
moderna, que comea no sculo XVII, tem sido apresentada com frequncia
como uma ruptura com o mundo medieval. Mas, como acrescenta o autor, ()
se certo que entre o mundo medieval e o mundo moderno existe um corte, essa
descontinuidade foi preparada pelo prprio pensamento medieval42.
Descartes defende Rubn Talavn, viveu num tempo complexo e esteve
exposto a muitas correntes e todas de alguma maneira o influenciaram e, por
isso, no seu pensamento as reminiscncias medievais coexistem com certas
ideias comuns sua poca e com inovaes mais audazes43, que poder estar
evidenciada na terminologia utilizada substncia, formas, essncia, existncia,
acidentes, etc. Contudo, a primeira ruptura que podemos enunciar prende-se
com a utilizao de um mtodo44 rigoroso.
39 Joaquim de Carvalho no texto sobre Pedro da Fonseca, Precursor de Suarez na Renovao
da Metafsica, en Actas del Primier Congresso Nacional de Filosofia, Mendoza, Argentina, 1949,
Tomo 3, 1927-1930.
40 Cf. B. h. domingues, o Medieval e o Moderno no Mundo Ibrico e Ibero-Americano, o.
c., 207.
41 s. castello, Introduo eduo espanhola de De Anima. Commentaria uma cum questionibus in livros Aristotelis De Anima, Madrid, Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1978, Vol. I,
71-72.
42 observao de Rbem Talavn, no texto Pensamento, includo na obra Grandes Pensadores dedicada a Ren Descartes: Vida, Pensamento e Obra, Lisboa, Edies 70, 2008, 86.
43 Ib., 87.
44 Num texto famoso do Discurso do Mtodo, Descartes d-nos conta do mtodo por si adoptado nos seguintes termos: De h muito tinha notado que, pelo que respeita conduta, necessrio
CAURIENSIA, Vol. V, 2010 261-281, ISSN: 1886-4945
Francisco Surez. ltimo medieval, primeiro moderno: a ideia exemplar
279
Descartes pretende erguer o saber filosfico sobre fundamentos metodolgicos
totalmente novos, sendo certo que a razo s pode desenvolver as suas capacidades
atravs da aplicao do mtodo adequado, ancorado na matemtica, capaz de
conferir aos enunciados filosficos um autntico estatuto cientfico. Com efeito,
a desconfiana de Descartes relativamente filosofia do passado expressa-se na
recusa do mtodo escolstico, pois segundo Descartes, os autores medievais no
tinham elegido um mtodo seguro e firme de investigao.
o pensamento de Descartes reflecte, de facto, essa ruptura, que se traduz na
necessidade de constatar que a razo deve abrir caminho a uma nova formulao
do mundo e do destino humano. A sua audcia consiste, assim, na crena na
capacidade da faculdade racional para se legislar a si mesma sem apelar a uma
autoridade superior.
o projecto cartesiano parta do primeriro que a razo permita conhecer
o mundo. Assim, o autor distinguir-se- claramente de Surez. A verdade j
no medida em primeira instncia a partir da adequao entre o pensamento
e o conceito teolgico da realidade, como sustentava a filosofia medieval.
No caminho em direco verdade, Descartes sofre profunda influncia das
cincias matemticas, por versarem um objecto to simples e livre de toda
a incerteza que possa provir da experincia e por consistirem apenas em
deduzir consequncias da razo45. Est aqui bem patente a elevada confiana
depositada na razo humana, fundamento de toda a verdade e, em contrapartida,
a desconfiana que manifesta relativamente experincia sensvel.
Relativamente a Deus e ao princpio da causalidade h a salientar que, para
Descartes, embora necessrios, os princpios matemticos e as leis da natureza
dependem da vontade livre de Deus. Assim, justifica-se a posio da metafsica
no conjunto das cincias. A existncia de Deus provada pela aplicao do
princpio da causalidade a que Descartes atribui no s evidncia racional mas
tambm alcance ontolgico. Note-se o crculo cartesiano: Deus garantia da
verdade de todo o conhecimento claro e distinto, mas Descartes fundamenta a
algumas vezes seguir como indubitveis opinies que sabemos serem muito incertas []. Mas, agora
que resolvera dedicar-me apenas descoberta da verdade, pensei que era necessrio proceder exactamente ao contrrio e rejeitar como absolutamente falso tudo aquilo em que pudesse imaginar a menor
dvida, a fim de se, aps isso, no ficaria qualquer coisa nas minhas opinies que fosse inteiramente
indubitvel. Assim, porque os nossos sentidos nos enganam algumas vezes, eu quis supor que nada
h que seja tal como eles o fazem imaginar. E porque h homens que se enganam ao raciocinar, at
nos mais simples temas de geometria e neles cometerem paralogismos, rejeitei como falsas, visto
estar sujeito a enganar-me como qualquer outro, todas as razes de que at ento me serviria nas demonstraes. Finalmente, considerando que os pensamentos que temos quando acordados nos podem
ocorrer tambm quando dormimos, sem que neste caso nenhum seja verdadeiro, resolvi supor [], que
no era mais verdadeiro do que as iluses dos meus sonhos.
45 descartes, Discurso do Mtodo, II.
CAURIENSIA, Vol. V, 2010 261-281, ISSN: 1886-4945
280
eva rodrigues Ferreira guilherme raposo
prova da existncia de Deus, no princpio da causalidade. Significa isto que o
homem no pode reconhecer-se imperfeito sem conceber a existncia de um Ser
perfeito.
Convm salientar que sobre o princpio da causalidade em Descartes
socorremo-nos de Ferdinand Alqui46, que fez uma resenha muito interessante
sobre este problema. Mas, comecemos com a noo de causa segundo Descartes.
Para o autor, a causa o que d a razo do efeito, demonstra ou justifica a sua
existncia ou as suas determinaes. assim que Descartes a concebe, afirmando
que o mtodo analtico que utiliza demonstra como os efeitos dependem das
causas. Isto significa que a causa o que permite deduzir o efeito.
A teoria cartesiana da causalidade rene quatro afirmaes aparentemente
incompatveis e contraditrias, a saber: (1) causa a razo; (2) compreender
encontrar, sob o facto, um processo mecnico; (3) os estados da alma podem
causar os do corpo e reciprocamente; (4) Deus cria o mundo de momento a
momento. A incompatibilidade reside na terceira e quarta destas afirmaes que
se opem primeira e na impossibilidade que a segunda tem em no conseguir
concili-las.
Na teoria cartesiana, h uma tendncia clara para identificar a causa com a
razo. De facto, a causa para Descartes a razo; a causa aquilo que engendra
o efeito e contm o princpio da sua explicao racional. A ideia de causa
corresponde assim ideia da prpria razo causa sive ratio47 directamente
vinculada inteligibilidade. A noo de causa comporta a ideia de anterioridade
lgica, que permite afirmar uma proposio. Assim, a causa no apenas aquilo
que produz o efeito, mas aquilo que fundamenta a verdade de uma proposio,
a premissa da qual podemos deduzir48.
Em termos metafsicos, Descartes considera que no pode haver mais
realidade no efeito do que na causa. No que diz respeito fsica rompe
decididamente com a concepo anterior que, na sequncia da teoria defendida
por Aristteles, distinguia a causa formal, a causa material, a causa eficiente e
a causa final, mas mantm contudo a causa eficiente. precisamente a noo
de causa eficiente que vai permitir a Descartes afirmar, sob a mudana aparente
que choca com a razo, a permanncia que a explica. Assim, atravs dos estados
sucessivos do mundo, o movimento conserva-se em quantidade constante.
46 o Captulo VII, intitulado A Ideia de Causalidade de Descartes a Kant, de Ferdinand Alqui, fz parte integrante da obra de F. chtelet, Histria da Filosofia, Lisboa, Edies D. Quixote,
171-184.
47 Case sive ratio causa, ou seja razo, que indica que a relao real de causalidade que une
dois fenmenos pode ser assimilada a uma relao lgica de identidade.
48 Tambm em Espinoza e Leibniz a causa no apenas aquilo que produz o efeito, mas aquilo
que fundamenta a verdade de uma preposio, a premissa de que podemos deduzi-la.
CAURIENSIA, Vol. V, 2010 261-281, ISSN: 1886-4945
Francisco Surez. ltimo medieval, primeiro moderno: a ideia exemplar
281
Nota-se que o recurso causalidade inseparvel do esforo de reduo
unidade, de negao do diverso, de identificao, pelo esprito de termos, que
percepo, pareciam inicialmente heterogneos.
o mecanicismo cartesiano concebe os seres vivos como mquinas
complexas. De facto, no tratado Do Homem o ser humano explicado por
simples analogia com um autmato hidrulico, cuja alma no o seu princpio
vital, uma vez que a vida resulta dum princpio corporal dos movimentos.
Aps estabelecidos os princpios do movimento, Descartes prope-se deduzir
deles as causas dos fenmenos. Para Descartes todas as formas de actividade
que impliquem pensamento constituem funes da alma, embora algumas s
se realizem pela unio com o corpo. A interpretao quantitativa da realidade
material resulta de uma viso imperfeita e confusa do esprito; uma viso clara
e distinta da matria, na sua essncia, revela-a como extenso.
Como sublinha Beatriz Domingues49, Surez expunha os mesmos problemas
que os filsofos da modernidade, como Descartes: ambos colocaram os mesmos
problemas ainda que as perspectivas e as solues tenham sido diferentes; ambos
seguiram o mesmo movimento histrico moderno e foram expresses diferentes
do mesmo. o pensamento de Descartes vai naturalmente mais alm que o
pensamento de Surez, visto ter origem no reconhecimento da autonomia de um
sujeito que reivindica a autoridade nica da razo em matria de conhecimento,
iniciando o declnio dos dogmatismos e a crena na omnipotncia de uma razo
consciente da sua capacidade de tornar o homem dono da natureza.
os princpios filosficos de Surez e Descartes esto definitivamente
colocados em planos distintos. A filosofia de Surez privilegiou a metafsica a
cincia do ser enquanto ser e considerou o ser como a primeira das evidncias.
A filosofia de Descartes coloca a razo, o pensamento, na primeira linha das
evidncias e tentada a submeter-lhe toda a ordem do real.
205.
49 B. H. domingues, o Medieval e o Moderno no Mundo Ibrico e Ibero-Americano, o. c.,
CAURIENSIA, Vol. V, 2010 261-281, ISSN: 1886-4945
Você também pode gostar
- Paulo de Tarso na filosofia política atual e outros ensaiosNo EverandPaulo de Tarso na filosofia política atual e outros ensaiosAinda não há avaliações
- Filosofia da ciência: origens e evolução: é a ciência, de fato, um projeto humano racional?No EverandFilosofia da ciência: origens e evolução: é a ciência, de fato, um projeto humano racional?Ainda não há avaliações
- As Disputações Metafísicas de Francisco Suárez. Estudos e Antologia de Textos. (Rebalde, J.)Documento5 páginasAs Disputações Metafísicas de Francisco Suárez. Estudos e Antologia de Textos. (Rebalde, J.)Adriel AkárioAinda não há avaliações
- Francisco Suarez A Metafisica Na Aurora Da Modernidade PDFDocumento14 páginasFrancisco Suarez A Metafisica Na Aurora Da Modernidade PDFWilliam Dias de AndradeAinda não há avaliações
- O Materialismo Nietzsche PDFDocumento44 páginasO Materialismo Nietzsche PDFMarcello LuchiniAinda não há avaliações
- A Categoria Da (Des) Ordem e A Pós Modernidade Na AntropologiaDocumento17 páginasA Categoria Da (Des) Ordem e A Pós Modernidade Na AntropologiaPaulo Anchieta F da CunhaAinda não há avaliações
- Pensamento científico: A natureza da ciência no ensino fundamentalNo EverandPensamento científico: A natureza da ciência no ensino fundamentalAinda não há avaliações
- Humanismo Petrarca 260 - Extracted PT-BRDocumento30 páginasHumanismo Petrarca 260 - Extracted PT-BRarthur kouryAinda não há avaliações
- Por uma pedagogia da cura: uma introdução à filosofia de Georges CanguilhemNo EverandPor uma pedagogia da cura: uma introdução à filosofia de Georges CanguilhemAinda não há avaliações
- Hermenêutica e ciência social: Abordagens da compreensãoNo EverandHermenêutica e ciência social: Abordagens da compreensãoAinda não há avaliações
- Simanke - Ciencias Naturais e Ciencias HumanasDocumento15 páginasSimanke - Ciencias Naturais e Ciencias Humanasrodrigo100% (1)
- 29.09 Ciencia Pplitica - ResumoDocumento4 páginas29.09 Ciencia Pplitica - Resumofabiane maeamazonAinda não há avaliações
- Sala de Aula - EstacioDocumento4 páginasSala de Aula - Estaciothallisson fernandesAinda não há avaliações
- 02b. Artigo EdgleyDocumento15 páginas02b. Artigo EdgleyJogador NbaAinda não há avaliações
- Resenha - Lima Vaz H.C.L. Raízes Da Modernidade (Landim R.)Documento4 páginasResenha - Lima Vaz H.C.L. Raízes Da Modernidade (Landim R.)luis felipe vargas ramirezAinda não há avaliações
- Richard Rorty SAF 2023 2Documento8 páginasRichard Rorty SAF 2023 2Sartoretto LucasAinda não há avaliações
- Henrique - Jales Wintgeinstein PDFDocumento26 páginasHenrique - Jales Wintgeinstein PDFDavi LacerdaAinda não há avaliações
- Tractatus 100: revisitando a obra de WittgensteinNo EverandTractatus 100: revisitando a obra de WittgensteinAinda não há avaliações
- Elementos para Uma Epistemologia Do RomanceDocumento11 páginasElementos para Uma Epistemologia Do RomanceSantana DeniseAinda não há avaliações
- Pensadores sociais e história da educaçãoNo EverandPensadores sociais e história da educaçãoAinda não há avaliações
- Aristotelismo No Século XXDocumento4 páginasAristotelismo No Século XXigorAinda não há avaliações
- Karol Wojtyla, um Excursus para uma Antropologia Integral – Antropologia e Contexto AtualNo EverandKarol Wojtyla, um Excursus para uma Antropologia Integral – Antropologia e Contexto AtualAinda não há avaliações
- O sentido das coisas: Por um realismo fenomenológicoNo EverandO sentido das coisas: Por um realismo fenomenológicoAinda não há avaliações
- Prova de FilosofiaDocumento5 páginasProva de FilosofiaJulia EsuardaAinda não há avaliações
- A Ontologia Política de Heidegger: comunidade, decisão e históriaNo EverandA Ontologia Política de Heidegger: comunidade, decisão e históriaAinda não há avaliações
- TRIVINOS - FenomenologiaDocumento5 páginasTRIVINOS - FenomenologiaMarcel PesseyAinda não há avaliações
- Horkheimer - A Função Social Da FilosofiaDocumento12 páginasHorkheimer - A Função Social Da FilosofiaBrenda VilelaAinda não há avaliações
- CURRÍCULO PARA ALÉM DA PÓS-MODERNIDADE - Maria Aparecida SilvaDocumento17 páginasCURRÍCULO PARA ALÉM DA PÓS-MODERNIDADE - Maria Aparecida SilvaRafael Castello Branco CiarliniAinda não há avaliações
- VANDENBERGHE, Frédéric. Prefácio À Edição Brasileira - MetateoriaDocumento25 páginasVANDENBERGHE, Frédéric. Prefácio À Edição Brasileira - MetateoriaLina LinouAinda não há avaliações
- Lima VazDocumento14 páginasLima VazMarcos MayelaAinda não há avaliações
- Curso livre Marx-Engels: A criação destruidora, volume 1No EverandCurso livre Marx-Engels: A criação destruidora, volume 1Ainda não há avaliações
- Os Programas de Pós-Graduação Interdisciplinares no Brasil: Um Debate SociológicoNo EverandOs Programas de Pós-Graduação Interdisciplinares no Brasil: Um Debate SociológicoAinda não há avaliações
- O Meu Primeiro Aristóteles: Vida, Pensamento E Obras Do Pai Da MetafísicaNo EverandO Meu Primeiro Aristóteles: Vida, Pensamento E Obras Do Pai Da MetafísicaAinda não há avaliações
- Tempo, História e Psicanálise: diálogos entre Ranke, Droysen e FreudNo EverandTempo, História e Psicanálise: diálogos entre Ranke, Droysen e FreudAinda não há avaliações
- Filososofia Os Principais Filósofos ContemporâneosDocumento5 páginasFilososofia Os Principais Filósofos ContemporâneosAbilio Augusto Tavora Sala de RecursosAinda não há avaliações
- Estudos políticos e pensamento social: Volume 1No EverandEstudos políticos e pensamento social: Volume 1Ainda não há avaliações
- Filo SofiaDocumento26 páginasFilo SofiaZé AugustoAinda não há avaliações
- Talcott Parsons Na Teoria Sociológica ContemporâneaDocumento11 páginasTalcott Parsons Na Teoria Sociológica Contemporâneapcrisreis100% (1)
- Emergencia Da Filosofia GregaDocumento25 páginasEmergencia Da Filosofia GregaNadiedja TavaresAinda não há avaliações
- Resenha Sobre A Física e Suas Inerações e InterfacesDocumento4 páginasResenha Sobre A Física e Suas Inerações e InterfacesElained SilvaAinda não há avaliações
- Filosofia Política, tolerância e outros escritosNo EverandFilosofia Política, tolerância e outros escritosAinda não há avaliações
- A Categoria de (Des) Ordem Na Antropologia - R. Cardoso de Oliveira PDFDocumento17 páginasA Categoria de (Des) Ordem Na Antropologia - R. Cardoso de Oliveira PDFPierre de Aguiar Azevedo100% (1)
- Mestre Eckhart PDFDocumento26 páginasMestre Eckhart PDFRaone CalixtoAinda não há avaliações
- ResenhaDocumento5 páginasResenhaADORADORES DE JESUS CRISTOAinda não há avaliações
- Filosofia ContemporâneaDocumento82 páginasFilosofia ContemporâneaMario HenriqueAinda não há avaliações
- Resenha Um Discurso Sobre As CienciasDocumento3 páginasResenha Um Discurso Sobre As CienciasRaul Rodrigues80% (5)
- Filosofia Da Ciência (PPT 1)Documento26 páginasFilosofia Da Ciência (PPT 1)Raquel PaulinoAinda não há avaliações
- Manual Quali PDFDocumento52 páginasManual Quali PDFWenderson SantosAinda não há avaliações
- A Patrola de Deus PDFDocumento42 páginasA Patrola de Deus PDFVictor Santos100% (3)
- Andre Parente - Tramas Da Rede: Enredando o Pensamento Da ArteDocumento20 páginasAndre Parente - Tramas Da Rede: Enredando o Pensamento Da ArteValmir Knop Junior100% (1)
- Proposição EstrategiaDocumento79 páginasProposição EstrategiaSaulo TavaresAinda não há avaliações
- Portal EBD - Lição 1 - O Relativismo Moral IIDocumento3 páginasPortal EBD - Lição 1 - O Relativismo Moral IIKaty Dayse100% (2)
- Uma Nova Vida para o CEO - Ariela PereiraDocumento337 páginasUma Nova Vida para o CEO - Ariela PereiraPoliana BaskoskiAinda não há avaliações
- Sábado Insano InformáticaDocumento17 páginasSábado Insano InformáticanataliaAinda não há avaliações
- Teste Da SombraDocumento5 páginasTeste Da SombraEmidio Carvalho100% (4)
- Behavior-Definição e História-BaumDocumento15 páginasBehavior-Definição e História-BaumAntonio LimaAinda não há avaliações
- Milha 81 - Stephen King PDFDocumento48 páginasMilha 81 - Stephen King PDFrenatodaluz9230Ainda não há avaliações
- As Falacias InformaisDocumento3 páginasAs Falacias InformaissadoveiroAinda não há avaliações
- Materialismo Dialetico PDFDocumento71 páginasMaterialismo Dialetico PDFmarcelodegoisAinda não há avaliações
- O Que É Propriedade - ProudhonDocumento123 páginasO Que É Propriedade - ProudhonMatheus Araújo100% (1)
- Dimensões Da Acção Humana e Dos ValoresDocumento15 páginasDimensões Da Acção Humana e Dos Valorescatarina mendesAinda não há avaliações
- A Mão de Deus Cura Onde A Medicina Não AlcançaDocumento20 páginasA Mão de Deus Cura Onde A Medicina Não AlcançaSamuel Keys GomesAinda não há avaliações
- Firmados Na Verdade II Tessalonicenses 2.1-17Documento4 páginasFirmados Na Verdade II Tessalonicenses 2.1-17KoposaAinda não há avaliações
- Atitudes Éticas Fundamentais - Dietrich Von HildebrandDocumento53 páginasAtitudes Éticas Fundamentais - Dietrich Von HildebrandEmanuel JuniorAinda não há avaliações
- Curso Essilor 005Documento8 páginasCurso Essilor 005maralilianAinda não há avaliações
- Resumo Expandido - MINAYODocumento4 páginasResumo Expandido - MINAYOElisangela SouzaAinda não há avaliações
- Perguntas e Respostas 37Documento33 páginasPerguntas e Respostas 37Pedro PauloAinda não há avaliações
- Desafios-Lógicos-MatemáticosDocumento11 páginasDesafios-Lógicos-MatemáticosDinuel Fernandes de CamposAinda não há avaliações
- Ferrer Beltran - ProlegômenosDocumento34 páginasFerrer Beltran - ProlegômenosOni-sanAinda não há avaliações
- Bixosp-Filosofia-Introdução Á Filosofia A Passagem Do Mito Ao Logos-09-01-2018 PDFDocumento11 páginasBixosp-Filosofia-Introdução Á Filosofia A Passagem Do Mito Ao Logos-09-01-2018 PDFJohanaTaleiresAinda não há avaliações
- Fichamento Do Cap. 6 - Convite À Filosofia Da Marilena ChauíDocumento4 páginasFichamento Do Cap. 6 - Convite À Filosofia Da Marilena ChauípamelarcortesAinda não há avaliações
- Guia - Essencial Midias Sociais - IsisDocumento27 páginasGuia - Essencial Midias Sociais - IsisTabatha LinnAinda não há avaliações
- Livro - O Que É Cientifico - Rubem AlvesDocumento20 páginasLivro - O Que É Cientifico - Rubem AlvesEvando César75% (4)
- Wanderdepaula,+Costa Sofia v7n1Documento21 páginasWanderdepaula,+Costa Sofia v7n1Bruno Cortez Castelo BrancoAinda não há avaliações
- Livro Harmonizacaomental Ocasodemariana Guilherme TavaresDocumento68 páginasLivro Harmonizacaomental Ocasodemariana Guilherme TavaresJosé WemersonAinda não há avaliações
- 03 o Testemunho Cristão É Influente XDocumento14 páginas03 o Testemunho Cristão É Influente Xluiz antonioAinda não há avaliações