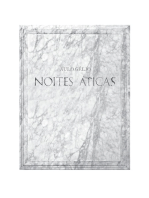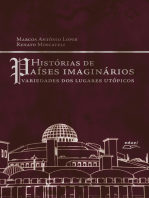Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Historia Da Filosofia Nicola Abbagnano
Enviado por
xenofontesTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Historia Da Filosofia Nicola Abbagnano
Enviado por
xenofontesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Histria da Filosofia
Nicola Abbagnano
Histria da Filosofia Primeiro volume Nicola A bbagnano ~DIGITALIZAO E ARRANJO: NGELO MIGUEL ABRANTES HISTRIA DA FILOSOFIA 2.a Edio VOLUME I TRADUO DE: ANTNIO BORGES COELHO FRANCO DE SOUSA MANUEL PATRCIO EDITORIAL PRESENA Ttulo original STORIA DELLA FILOSOFIA PREFCIO DA PRIMEIRA EDIO Esta Histria da Filosofia pretende mostrar a essencial humanidade dos filsofos. Ainda hoje perdura o preconceito de que a filosofia se afadiga com problemas que no tm a mnima relao com a existncia humana e continua encerrada em uma esfera longnqua e inacessvel aonde no chegam as aspiraes e necessidades dos homens. E junto a este preconceito vem o outro, que ser a histria da filosofia o panorama desconcertante de opinies que se sobrepem -e contrapem, privada de um fio condutor que sirva de orientao para os problemas da vida. Estes preconceitos so sem dvida reforados por aquelas orientaes filosficas que, por amor de um mal entendido tecnicismo, pretenderam reduzir a filosofia a uma disciplina particular acessvel a poucos e assim lhe menosprezaram o valor essencialmente humano. Trata-se, todavia, de preconceitos injustos, fundados em falsas aparncias e na ignorncia do que condenam. Demomstr-lo a pretenso desta obra. Parte ela da convico de que nada do que humano alheio filosofia e de que, ao contrrio, esta o prprio homem, que em si mesmo se faz problema e busca as razes e o fundamento do ser que o seu. A essencial conexo entre a filosofia e o homem a primeira base da investigao historiogrfica empreendida neste livro. Sobre tal base, esta investigao inclina-se a considerar a pesquisa que h 26 sculos os homens do ocidente conduzem acerca do prprio ser e do prprio destino. Atravs de lutas e conquistas, disperses e retornos, esta pesquisa acumulou um tesouro de experincias vitais, que urge redescobrir e fazer reviver para alm da indumentria doutrinal que muito frequentemente o oculta, ao invs de revel-lo. E isto porque a histria da filosofia profundamente diferente da da cincia. As doutrinas passadas e abandonadas j no tm para a cincia significado vital; e as ainda vlidas fazem parte do seu corpo vivo e no h necessidade de nos voltarmos para a histria para apreend-las e torn-las nossas. Em filosofia a considerao histrica , ao invs, fundamental; uma filosofia do passado, se foi verdadeiramente uma filosofia, no
um erro abandonado e morto, mas uma fonte perene de ensinamento e de vida. Nela se encarnou e exprimiu a pessoa do filsofo, no apenas em o*, que tinha de mais, seu, na singularidade da sua experincia de pensamento e de vida, mas ainda nas suas relaes com os outros e com o mundo em que viveu. E pessoa devemos volver se queremos redescobrir o sentido vital de toda doutrina. Em cada uma de elas devemos estabelecer o centro em torno do qual gravitaram os interesses fundamentais do filsofo, e que ao mesmo tempo o centro da sua personalidade de homem e de pensador. 'Devemos fazer reviver perante ns o filsofo na sua realidade de pessoa histrica se queremos compreender claramente, atravs da obscuridade dos sculos desmemorizados ou das tradies deformadoras, a sua palavra autntica que pode ainda servir-nos de orientao e de guia. Por isso no sero apresentados, em esta obra, sistemas ou problemas, quase substantivados e considerados como realidades autnomas, mas figuras ou pessoas vivas, sero feitas emergir da lgica da pesquisa em que quiseram exprimir-se e consideradas nas suas relaes com outras figuras e pessoas. A histria da filosofia no o domnio de doutrinas impessoais que se sucedem desordenadamente ou se concatenam dialecticamente, nem a esfera de aco de problemas eternos, de que cada doutrina manifestao contingente. um tecido de relaes humanas, que se movem no plano de uma comum disciplina de pesquisa, e que transcendem por isso os aspectos contingentes ou insignificantes, para se fundar nos essenciais e constitutivos. Revela a solidariedade fundamental dos esforos que procuram tornar clara, tanto quanto possvel, a condio e o destino do homem; solidariedade que se exprime na afinidade das doutrinas tanto como na sua oposio, na sua concordncia tanto como na sua polmica. A histria da filosofia reproduz na tctica das investigaes rigorosamente disciplinadas a mesma tentativa que a base e o mbil de todas as relaes humanas: compreender-se e compreender. E reprodu-lo quando colhe xitos como quando colhe desenganos, nas vicissitudes de iluses renascidas como nas de clarificaes orientadas, e nas de esperanas sempre renascentes. A disparidade e a oposio das doutrinas perdem assim o seu carcter desconcertante. O homem tem ensaiado e ensaia todas as vias para compreender-se a si mesmo, aos outros e ao mundo. Obtm nisso mais ou menos sucesso. Mas deve e dever renovar a tentativa, da qual depende a sua dignidade de homem. E no pode renov-la seno voltando-se para o passado e extraindo da histria a ajuda que os outros podem dar-lhe para o futuro. Eis por que no se encontraro nesta obra crticas extrnsecas, que pretendem pr a claro os erros dos filsofos. A pretenso de atribuir aos filsofos lies de filosofia ridcula, como a de fazer de uma determinada filosofia o critrio e a norma de julgamento das outras. Todo o verdadeiro filsofo um mestre ou companheiro de pesquisa, cuja voz nos chega enfraquecida atravs do tempo, mas pode ter para ns, para os problemas que ora nos ocupam, uma importncia decisiva. Necessrio que nos disponhamos pesquisa com sinceridade e humildade. Ns no podemos alcanar, sem a ajuda que nos vem dos filsofos do passado, a soluo dos problemas de que depende a nossa existncia individual e em sociedade. Devemos, por isso, propor historicamente esses problemas, e na tentativa para compreender a palavra genuna de Plato ou de Aristteles, de Agostinho ou de Kant e de todos os outros, pequenos ou grandes, que hajam sabido exprimir uma experincia humana fundamental, devemos ver a prpria tentativa de formular e solucionar os nossos problemas. O problema de o que ns somos e devemos ser fundamentalmente idntico ao problema de o que foram e quiseram ser, na sua substncia humana, os filsofos do passado. A separao dos dois problemas tira ao filosofar o seu alimento e histria da filosofia a sua importncia vital. A unidade dos dois problemas garante a eficcia e a fora do filosofar e fundamenta o valor da historiografia filosfica. A histria da filosofia liga simultaneamente o passado e o futuro da filosofia. Esta ligao a essencial historicidade
da filosofia. Mas justamente Por isso a preocupao da objectividade, a cautela crtica, a investigao paciente dos textos, o apego s intenes expressas dos filSOfos, no so na historiografia filosfica outros tantos sintomas de renncia ao Weresse teortico, 10 mas as provas mais seguras da seriedade do empenho teortico. Visto que a quem espera da investigao histrica uma ajuda efectiva, a quem v nos fIlsofos do passado mestres e companheiros de pesquisa, no interessa falsear-lhes o aspecto, camuflar-lhes a doutrina, mergulhar-lhes na sombra traos fundamentais. Todo o interesse tem, ao invs, em reconhecer-lhes o verdadeiro rosto, assim como quem empreende uma viagem difcil tem interesse em conhecer a verdadeira ndole de quem lhe serve de guia. Toda a iluso ou engano , neste caso, funesta. A seriedade da investigao condiciona e manifesta o empenho teortico. evidente, deste ponto de vista, que no se pode esperar encontrar na histria da filosofia um progresso contnuo, a formao gradual de um nico e universal corpo de verdade. Este progresso, tal como se verifica nas cincias, uma por uma, que uma vez implantadas nas suas bases se acrescentam gradualmente pela soma dos contributos individuais, -no pode encontrar-se em filosofia, uma vez que no h aqui verdades objectivas e impessoais que possam tornar-se e integrar-se em um corpo nico, mas pessoas que dialogam acerca do seu destino; e as doutrinas no so mais que expresses deste dialogar ininterrupto, perguntas e respostas que s vezes se respondem e se correspondem atravs dos sculos. A mais alta personalidade filosfica de todos os tempos, Plato, exprimiu na prpria forma literria da sua obra-o dilogo-a verdadeira natureza do filosofar. Por outro lado, na histria da filosofia no h, no emtanto, uma mera sucesso desordenada de opinies que alternadamente se amontoam e destroem. Os problemas em que se verte o dialogar incessante dos filsofos tm uma lgica sua, que a prpria disciplina a que os filsofos livremente sujeitam a sua pesquisa: pelo que certas directivas persistem em dominar um 11 perodo ou uma poca histrica, porque lanam uma luz mais viva sobre um problema fundamental. Adquirem, ento, uma impessoalidade aparente, que faz delas o patrimnio comum de geraes inteiras de filsofos (pense-se no agostinismo ou no aristotelismo durante a escolstica); mas em seguida declinam e apagam-se, e todavia a verdadeira pessoa do filsofo no mais se apaga, e Todos podem e devem interrog-lo para dele tirar luz. A histria da filosofia apresenta deste modo um estranho paradoxo. No h, pode dizer-se, doutrina filosfica que no tenha sido criticada, negada, impugnada e destruda pela crtica filosfica. Mas quem quereria sustentar que a obliterao definitiva de um s dos grandes filsofos antigos ou modernos no seria um empobrecimento irremedivel para todos os homens? que o valor de uma filosofia no se mede pelo quantum de verdade objectiva que ela contm, mas to s pela sua capacidade de servir de ponto de referncia (porventura somente polmico) a toda a tentativa de compreender-se a si e ao mundo. Quando Kant reconhece a Hume o mrito de o ter despertado do "sono dogmtico" e de o ter encaminhado para o criticismo, formula de maneira mais imediata e evidente a relao de livre interdependncia que enlaa conjuntamente todos os filsofos na histria. Uma filosofia no tem valor enquanto suscita o acordo formal de UM Certo nmero de pessoas sob determinada doutrina, mas somente enquanto suscita e inspira nos outros aquela
pesquisa que os conduz a encontrar cada qual o prprio caminho, assim como o autor nela encontrou o seu. O grande exemplo aqui ainda o de Plato e de Scrates: durante toda a sua vida procurou Plato realizar o significado da figura e do ensinamento de Scrates, prosseguindo, quando era necessrio, alm do invlucro doutrinal em que estavam encerrados,- e 12 desta maneira a mais alta e bela filosofia nasceu de um reiterado acto de fidelidade histrica. Tudo isto exclui que na histria da filosofia se possa ver somente desordem e sobreposio de opinies; mas exclui, no obstante, que se possa ver nela uma ordem necessria dialecticamente concatenada, em que a sucesso cronolgica das doutrinas equivalha ao desenvolvimento racional de momentos ideais constituindo uma verdade nica que se mostre em sua plenitude no fim do processo. A concepo hegeliana faz da histria da filosofia o processo infalvel de formao de uma determinada filosofia. E assim suprime a liberdade da pesquisa filosfica, que condicionada pela realidade histrica da pessoa que indaga; nega a problematicidade da prpria histria e faz dela um crculo concluso, sem porvir. Os elementos que constituem a vitalidade da filosofia perdem-se deste modo todos. A verdade que a histria da filosofia histria no tempo, logo problemtica; e feita, no de doutrinas, ou de momentos ideais, mas de homens solidamente encadeados pela pesquisa comum. Nem toda a doutrina sucessiva no tempo , s por isto, mais verdadeira que as precedentes. H o perigo de se perderem ou esquecerem ensinamentos vitais, como frequentemente aconteceu e acontece; de onde decorre o dever de inquirir incessantemente do seu significado genuno. Obedece a este dever, dentro dos limites que me so concedidos, a presente obra. Que o leitor queira compreend-la e julg-la dentro deste esprito. N. A. 13 PREFCIO DA SEGUNDA EDIO A segunda edio desta obra constitui uma actualizao da primeira com base em textos ou documentos ultimamente publicados, em novas investigaes historiogrficas e em novos caminhos da crtica histrica ou metodolgica. As partes que sofreram maiores revises ou ampliamentos so as que concernem ' lgica e metodologia das cincias, tica e poltica. As investigaes historiogrficas contemporneas voltam-se, de facto, preponderantemente para estes campos, obedecendo aos mesmos interesses que solicitam hoje a pesquisa filosfica. Aqui como ali a exigncia de ter em conta os novos dados historiogrficos e de apresentar todo o conjunto numa forma ordenada e clara tornou oportunas alteraes de extenso ou de colocao dos autores tratados, em conformidade com certas constantes conceptuais que demonstraram ser mais activas, ou verdadeiramente decisivas, na determinao do desenvolvimento ou da eficcia histrica das filosofias. bviamente, as maiores modificaes teve que sofr-las o desenvolvimento da filosofia contempornea, no intuito de oferecer um sinttico quadro de conjunto da riqueza e da variedade dos caminhos que hoje dis15
putam o campo, e dos problemas em volta dos quais se concentram as discusses polmicas adentro de cada caminho. Mas a estrutura da obra, os seus requisitos essenciais, as inscries e os critrios interpretativos fundamentais no sofreram modificaes substanciais, porque conservaram a sua validade. s notas bibliogrficas, embora acttualizadas, foi conservado o carcter puramente funcional de seleco orientadora para a pesquisa bibliogrfica. Agradeo a todos os que fizeram chegar at mim sugestes e conselhos e sobretudo aos amigos com quem discuti alguns pontos fundamentais do trabalho. A trs deles, a quem mais frequentemente recorri, Pietro Rossi, Pietro Chiodi e Carlo A. Viano, tenho gosto em exprimir pblicamente a minha gratido. Turim, Setembro de 1963. N. A. 16 PRIMEIRA PARTE FILOSOFIA ANTIGA ORIGENS E CARCTER DA FILOSOFIA GREGA 1. PRETENSA ORIGEM ORIENTAL Uma tradio que remonta aos filsofos judaicos de alexandria (sculo I a.C.) afirma que a filosofia derivou do Oriente. Os vrincivais filsofos da Grcia teriam extrado da doutrina hebraica, egpcia, babilnica e indiana no somente as descobertas cientficas mas tambm as concepes filosficas mais pessoais. Esta opinio divulgou-se progressivamente nos sculos seguintes; culminou na opinio do neo-pitagrico Numnio, que chegou a chamar a Plato um "Moiss ateicizante"; e passou dele aos escritores cristos. Contudo, no encontra ela qualquer fundamento nos testemunhos mais antigos. Fala-se, verdade, de viagens de vrios filsofos ao Oriente, especialmente pela Prsia teria viajado Pitgoras; Demcrito, pelo Oriente; pelo Egipto, segundo testemunhos mais verosmeis, Plato. Mas o prprio Plato (Rep., IV, 435 e) contrape o esprito cientfico dos Gregos ao amor da utilidade, carac19 terstico dos Egpcios e dos Fenicios; e assim exclui da mesma maneira clara a possibilidade de que se tenha podido e se possa trazer inspirao para a filosofia das concepes daqueles povos. Por outro lado, as indicaes cronolgicas que se tm sobre as doutrinas filosficas e religiosas do Oriente so to vagas, que estabelecer a prioridade cronolgica de tais doutrinas sobre as correspondentes doutrinas gregas deve ter-se por impossvel. Mais verosmil se apresenta, primeira vista, a derivao da cincia grega do Oriente. Segundo algumas opinies, a geometria teria nascido no Egipto da necessidade de medir a terra e distribui-la pelos seus proprietrios depois das peridicas inundaes do Nilo.
Segundo outras tradies, a astronomia teria nascido com os Babilnios e a aritmtica no prprio Egipto, Mas os Babilnios cultivaram a astronomia com vista s suas crenas astrolgicas, e a geometria e a aritmtica conservaram entre os Egpcios um carcter prtico, perfeitamente distinto do carcter especulativo e cientfico que estas doutrinas revestiram entre os gregos. Na realidade, aquela tradio, nascida to tarde na histria da filosofia grega, foi sugerida, numa poca dominada pelo interesse religioso, pela crena que os povos orientais estivessem em poder de uma sabedoria originria e pelo desejo de ligar a tal sabedoria s principais manifestaes do pensamento grego. Tambm entre os historiadores modernos a origem oriental da filosofia grega defendida com cores que tendem a acentuar o seu carcter religioso e, de aqui, a sua continuidade com as grandes religies do Oriente. A observao decisiva que cumpre fazer a propsito que, embora se presuma (pois que provas decisivas no existem) a derivao oriental de esta ou aquela doutrina da Grcia antiga, isto no implica ainda a origem oriental da filosofia grega. 20 ----A -sabedoria oriental essencialmente religiosa: ela o patrimnio de uma casta sacerdotal cuja nica preocupao a de defend-la e transmiti-la na sua pureza. O nico fundamento da sabedoria oriental a tradio. A filosofia grega, ao invs, pesquisa. Esta nasce de um acto fundamental de liberdade frente tradio, ao costume e a toda a crena aceite como tal. O seu fundamento que o homem no possui a sabedoria mas deve procur-la: no sofia mas filosofia, amor da sabedoria, perseguio directa no encalo da verdade para l dos costumes, das tradies e das aparncias. Com isto, o prprio problema da relao entre filosofia greco-crist-oriental perde muito da sua importncia. Pode admitir-se como possvel ou pelo menos verosmil que o povo grego tenha inferido, dos povos orientais, com os quais mantinha desde sculos relaes e trocas comerciais, noes e haja encontrado o que esses povos conservaram na sua tradio religiosa ou haviam descoberto por via das necessidades da vida. Mas isto no impede que a filosofia, e em geral a investigao cientfica, se manifeste nos gregos com caractersticas originais, que fazem dela um fenmeno nico no mundo antigo e o antecedente histrico da civilizao (cultura?) ocidental, de que constitui ainda uma das componentes fundamentais. Em primeiro lugar, a filosofia no de facto na Grcia o patrimnio ou o privilgio de uma casta privilegiada. Todo o homem, segundo os gregos, pode filosofar, porque o homem "animal racional" e a sua racionalidade significa a possibilidade de procurar, de maneira autnoma, a verdade. As palavras com que inicia a Metafsica de Aristteles: "Todos os homens tendem, por natureza, para o saber" exprimem bem este conceito, uma vez que "tendem" quer dizer que no s o desejam, mas 21 que podem consegui-lo. Em segundo lugar, e como consequncia disto, a filosofia grega investigao racional, isto , autnoma, que no assenta numa verdade j manifestada ou revelada, mas somente na fora da razo e nesta reconhece o seu guia. O seu limite polmico habitualmente a opinio corrente, a tradio, o mito, para alm dos quais intenta prosseguir; e at quando termina por uma confirmao da tradio, o valor desta confirmao deriva unicamente da fora racional do discurso filosfico. 2. FIlOSOFIA: NOME E CONCEITO
Estas caractersticas so prprias de todas as manifestaes da filosofia grega e esto inscritas na prpria etimologia da palavra, que significa "amor da sabedoria". A prpria palavra aparece relativamente tarde. Segundo uma tradio muito conhecida, referida em as Tusculanas de Ccero (V, 9), Pitgoras teria sido o primeiro a usar a palavra filosofia em um significado especfico. Comparava ele a vida s grandes festas de Olmpia, aonde uns convergiam por motivo de negcios, outros para participar nas corridas, outros ainda para divertir-se e, por fim, uns somente para ver o que acontece: estes ltimos so os filsofos. Aqui est sublinhada a distino entre a contemplao desinteressada prpria dos filsofos e a azfama interesseira dos outros homens. Mas a narrativa de Ccero provm de um escrito de Heraclides do Ponto (Dig. L, Proemimm, 12) e pretende simplesmente acentuar o carcter contemplativo que foi considerado pelo prprio Aristteles essencial filosofia. Mas, na Grcia, a filosofia teve ainda o valor de uma sageza que deve guiar todas as aces da vida. Em tal sageza se haviam inspirado os Sete 22 Sbios que, no entanto, eram tambm chamados "sofistas" como "sofista" era chamado Pitgoras. No no sentido de contemplao, mas no sentido mais genrico de pesquisa desinteressada, usa Herdoto a palavra quando fez o Rei Creso dizer a Slon. (Herdoto, J, 20); "Tenho ouvido falar das viagens que, filosofando, empreendeste para ver muitos pases"; e da mesma forma Tucidides, quando (11, 40) fez dizer a Pricles de si e dos Atenienses: "Ns amamos o belo com simplicidade e filosofamos sem receio". O filosofar sem receio exprime a autonomia da pesquisa racional em que consiste a filosofia. como veremos no tema posterior a palavra filosofia implica dois significados. O primeiro e mais geral o de pesquisa autnoma ou racional, seja qual for o campo em que se desenvolva; neste sentido, todas as cincias fazem parte da filosofia. o Segundo significado, mais especfico, indica uma pesquisa particular que de algum modo fundamental para as outras mas no as contm. Os dois significados esto ligados nas sentenas de Heraclito (fr., 35 Dels): " necessrio que os homens filsofos sejam bons indagadores (historas) de muitas coisas". Este duplo significado encontra-se claramente em Plato onde o termo vem usado para indicar a geometria, a msica e as outras disciplinas do mesmo gnero, sobretudo na sua funo educativa (Teet., 143 d; Tm., 88 c); e por outro lado a filosofia vem contraposta sofia, sabedoria que prpria da divindade. e doxa, opinio, na qual se detm quem no se preocupa com indagar o verdadeiro ser (Fedr., 278 d; Rep., 480 a). A mesma bivalncia se acha em Aristteles para quem a filosofia , como filosofia prima, a cincia do ser enquanto ser; mas abrange, tambm em seguida, as outras cincias teorticas, a matemtica e a fsica, e at a tica (t. Nic., 1, 4, 23 1906 b, ^31). Esta bivalencia de significado revela melhor do que qualquer outra coisa o significado originrio e autntico que os gregos atribuam palavra. Este significado est j includo na etimologia, e o de pesquisa. Toda a cincia ou disciplina humana, enquanto pesquisa autnoma, filosofia. Mas , logo a seguir, filosofia em sentido eminente e prprio a pesquisa que consciente de si, a pesquisa que pe o prprio problema da pesquisa e esclarece por isso o seu prprio valor nas confrontaes feitas pelo homem. Se toda a disciplina pesquisa e como tal filosofia, em sentido prprio e tcnico a filosofia smente o problema da pesquisa e do seu valor para o homem. neste sentido que Plato diz que a filosofia a cincia pela qual no smente se sabe, mas se sabe ainda fazer um uso vantajoso do que se sabe (Eutid., 288 c-290 d). Aristteles, por seu turno, acentua a supremacia da filosofia prima que a metafisica nas confrontaes com a filosofia segunda
e terceira que so a fsica e a matemtica. E num sentido anlogo a filosofia , para os Esticos, o esforo (cpitedeusis) para a sabedoria (Sexto E. Adv. Math., IX, 13); para os Epicuristas a actividade (enorgheia) que torna feliz a vida (lb., X1, 1 69). Em qualquer caso, a filosofia um saber indispensvel para o encaminhamento e a felicidade da vida humana. 3. PRIMRDIOS DA FILOSOFIA GREGA: OS MITLOGOS, OS MISTRIOS OS SETE SBIOS, OS POETAS Os primrdios da filosofia grega devem procurar-se na prpria Grcia:(nos primeiros sinais, em que a filosofia como tal i, , como pesquisa), comea a aparecer nas cosmologias mticas dos 24 poetas, nas doutrinas dos mistrios, nos apotDgrnas dos Sete Sbios e sobretudo na reflexo tico-poltica dos poetas. Odocumento da cosmologia mtica mais antigo entre os gregos a Teogonia de Hesodo, na qual decerto confluram antigas tradies. O prprio Aristteles (Met., 1, 4; 984 b, 29) diz que Hesodo foi, provvelmente, o primeiro a procurar um princpio das coisas quando disse: "primeiro que tudo foi o caos, depois a terra de amplo seio... e o amor, que sobressai entre os deuses imortais" (Teog., 116 sgs.). De natureza filosfica se apresenta aqui o problema do estado originrio de que as coisas saram e da fora que as produziu, Mas se o problema filosfico, a resposta mtica. O caos ou abismo bocejante, a terra, o amor, etc. so personificados em entidades mticas. Depois de Hesodo, o primeiro poeta de quem conhecemos a cosmologia Ferecides de Siros, contemporneo de Anaximandro, nascido provvelmente por alturas de 600-596 a.C.. Diz ele que primeiro que todas as coisas e desde sempre havia Zeus, Cronos e Ctonos. Ctonos era a terra, Cronos o tempo, Zeus o cu. Zeus transformado em Eros, ou seja no amor, procede construo do Mundo. H neste mito a primeira distino entre a matria e a fora organizadora do mundo. Observa-se uma ulterior afirmao da exigncia filosfica na religio dos mistrios espalhados pela Grcia no dealbar do sculo VI a.C.. A esta religio pertenciam o culto de Dioniso, que vinha da Trcia, o culto de Demter, cujos mistrios se celebraram em Elusis, e sobretudo o orfismo. O orfismo era tambm dedicado ao culto de Dioniso, mas punha em uma revelao a origem da autoridade religiosa e estava organizado em comunidades. A revelao era atribuda ao trcio ORFEu, que descera ao Hades; e a finalidade dos 25 ritos que a comunidade celebrava era a de purificar a alma do Homem, iniciada para subtra-la "roda dos nascimentos", isto , transmigrao para o corpo de outros seres viventes. O ensinamento fundamental que o orfismo contm- o conceito da cincia e em geral da actividade do pensamento como um caminho de vida, ou seja como uma pesquisa que conduz verdadeira vida do homem. Do mesmo modo devia depois conceber a filosofia Plato, que no Fdon se filia explicitamente nas crenas rficas. Ao lado dos primeiros lampejos da filosofia na cosmologia do mito e nos mistrios est a
primeira apresentao da reflexo moral na lenda dos Sete Sbios. So estes diversamente enumerados pelos escritores antigos, mas quatro deles, Tales, Bias, Ptaco e Slon esto includos em todas as listas. Plato, que pela primeira vez os enumerou, acrescenta a estes quatro Clebulo, Mson e Chilon (Prot., 343 a). A eles se atribuem breves sentenas morais (de a terem ainda sido chamados Gnomas), algumas das quais se tornaram famosas. A Tales se atribui a frase "Conhece-te a ti mesmo" (Dig. L., 1, 40). A Bias a frase "a maioria perversa" (1b., 1, 88) e esta outra "O cargo revela o homem" (Alist., t. Nic., V, 1,1029 b, 1). A Ptaco a frase "Sabe aproveitar a oportunidade" (Dig. L., 1, 79). A Slon as frases "Toma a peito as coisas importantes" e "Nada em excesso" (1b., 1, 60,63). A Clebulo a frase "A medida coisa ptima" (1b., 1, 93). A Mson a frase "Indaga as palavras a partir das coisas, no as coisas a partir das palavras" (1b., 1, 108). A Chlon as frases "Cuida de ti mesmo" e "No desejes o impossvel" (1b., I, 70). Como se v, estas frases so todas de natureza prtica ou moral e demonstram que a primeira reflexo filosfica na Grcia foi direita sageza da vida mais do que pura contemplao 26 (ao contrrio do que preferiu um Aristteles). Estas frases preludiam uma verdadeira e peculiar investigao sobre a conduta do homem no mundo. E no por acaso que o primeiro dos Sete Sbios, Tales, ainda considerado o primeiro autntico representante da filosofia grega. Mas o clima em que pde nascer e florescer a poesia e a reflexo filosfica grega foi preparado pela reflexo moral dos poetas que elaborou, na Grcia, conceitos fundamentais que deveriam servir aos filsofos L para a P interpretao do mundo con ceito de uma
o un lei que d unidade ao mundo umano encontra-se pela primeira vez em Homero: Toda a Odisseia dominada pela crena em ha lei de justia, de que os deuses so guardies e garantes, lei que determina uma ordem providencial nas vicissitudes humanas, pela qual o justo triunfo e o injusto punido. Em Hesodo esta lei vem personificada na Dik, filha de Zeus, que tem assento junto do pai e vigia para que sejam unidos os homens que praticam a injustia. A infraco a esta lei aparece no mesmo Hesodo como arrogncia (hybris) devida ao desenfreamento das paixes e em geral s foras irracionais: assim o qualifica o prprio Hesodo (Os trabalhos e os dias, 252, segs., 267 segs.) e ainda o Arquloco (fr. 36, 84), Mimnermo (fr. 9, l) e Tegnis (v. 1. 40, 44, 291, 543, 1103). Slon afirma com grande energia a infalibilidade da punio que fere aquele que infringe a norma de justia, sobre que se funda a vida em sociedade: ainda quando o culpado se subtrai punio, esta atinge infalivelmente os seus descendentes. A aparente desordem das vicissitudes humanas, pela qual a Moira ou fortuna parece ferir os inocentes, justificase, segundo Slon (fr. 34), pela necessidade de conter dentro dos justos limites os desejos humanos descomedidos e de afastar o homem de qualquer excesso. De maneira que a lei de justia 27
tambm norma de medida; e Slon exprime num fragmento famoso (fr. 16) a convico moral mais enraizada nos gregos: "A coisa mais difcil de todas captar a invisvel medida da sageza, a nica que traz em si os limites de todas as coisas". squilo enfim o profeta religioso desta lei universal de justia de que a sua tragdia quer exprimir o triunfo. Portanto, antes que a filosofia descobrisse e justificasse a unidade da lei por sob a multiplicidade dispersa dos fenmenos naturais, a poesia grega descobriu e justificou a unidade da lei por sob as vicissitudes aparentemente desordenadas e mutveis da vida humana em sociedade. Veremos que a especulao dos primeiros fsicos no fez mais do que procurar no mundo da natureza esta mesma unidade normativa, que os poetas haviam perseguido no mundo dos homens 4. AS ESCOLAS FILOSFICAS Desde o incio a pesquisa filosfica foi na Grcia uma pesquisa associada. Uma escola no reunia os seus adeptos somente pelas exigncias de um ensino regular: no provvel que tal ensino tenha existido nas escolas filosficas da Grcia antiga seno com Aristteles. Os alunos de uma escola eram chamados "companheiros (etairoi). Juntavam-se para viver uma "vida comum" e estabeleciam entre si no s uma solidariedade de pensamento mas tambm de costumes e de vida, numa troca contnua de dvidas, de dificuldades e de investigaes. O caso da escola pitagrica, que foi ao mesmo tempo uma escola filosfica e uma associao religiosa e poltica, certamente nico; e por outro lado este trao do pitagorismo foi por isso mesmo mais uma fraqueza que uma fora. Contudo, todas as grandes personalidades da filosofia grega so os funda28 dores de uma escola que um centro de investigao; a obra das personalidades menores vem juntar-se doutrina fundamental e contribui para formar o patrimnio comum da escola. Duvidou-se que tivessem formado uma escola os filsofos de Mileto; mas h para eles o testemunho explcito de Teofrasto que fala de Anaximandro como "concidado e companheiro (etairos)" de Tales. O prprio Plato nos fala dos heraclitianos (Teet., 1792) e dos anaxagricos (Crt., 409 b); e em o Sofista <242d) o estrangeiro eleata fala da sua escola como ainda existente em Eleia. A Academia platnica teve portanto uma histria de nove sculos. Esta caracterstica da filosofia grega no acidental J que a pesquisa filosfica no encerrava, segundo os gregos, o indivduo em si prprio; exigia, bem ao contrrio, uma concordncia de esforos, uma comunicao incessante entre os homens que dela faziam o objectivo fundamental da vida e determinava por isso uma solidariedade constante e efectiva entre os que a ela se dedicavam,.' De aqui provm o interesse constante dos filsofos gregos pela poltica, isto pela vida em sociedade. A tradio conservou-nos, notcia deste interesse mesmo na referncia queles de cuja vida no nos d mais que essas informaes. Tales, Anaximandro e Pitgoras foram homens polticos. De Parmnides se conta que deu as leis sua cidade e de Zeno que pereceu vtima da tentativa para libertar os seus concidados de um tirano. Empdocles restaurou a democracia em Agrigento; Arquitos foi um chefe de estado e Melissos um almirante. O interesse poltico exercitou portanto, como veremos, uma funo dominante na especulao de Plato.
29 5. PERODOS DA FILOSOFIA GREGA O seu prprio carcter de pesquisa autnoma na qual cada um est igualmente empenhado e da qual pode e deve cada um esperar o cumprimento da sua personalidade, torna difcil dividir em perdos o curso da filosofia grega. Todavia, a organizao da pesquisa nas escolas e as relaes necessariamente existentes entre escolas contemporneas, que, mesmo quando so polmicas, se batem em terreno comum, permitem distinguir, no curso da filosofia grega, um certo nmero de perodos, cada um dos quais determinado pela escolha de POSIO no problema fundamental da pesquisa. Se considerarmos o problema em torno do qual vir sucessivamente gravitar a pesquisa, podem distinguir-se cinco perodos: cosmolgico, antropolgico, ontolgico, tico, religioso. 1. Perodo cosmolgico que compreende a escolas pr-socrticas, com excepo dos sofistas,_ dominado pelo problema de perseguir a unidade que garante a ordem do mundo e a possibilidade do conhecimento humano 2. perodo antropolgico que compreende os sofistas e Scrates, dominado pelo problema de perseguir a unidade do homem em si mesmo e com os outros homens, como fundamento e possibilidade da -formao do indivduo e da harmonia da vida em sociedade 3. perodo lgico, que compreende Plato e Aristteles, dominado pelo problema de perseguir na relao entre o homem e o ser a condio e a possibilidade do valor do homem como tal e da validade do ser como t.Este perodo, que o da plena maturidade do pensamento grego, torna a propor na sua sntese os problemas dos dois perodos precedentes. 30 4. O perodo tico, que compreende o estoicismo, o epicurismo, o cepticismo--C o eclectismo, dominado pelo problema da conduta do homem e caracterizado pela diminuta conscincia do valor teortico da pesquisa. 5. O perodo religioso, que compreende as escolas neoplatnicas e suas afins, dominado pelo problema de encontrar para o homem a via da reunio com Deus, considerada como a nica via de salvao. Estes perodos no representam rgidas divises cronolgicas: no servem para outra coisa que no seja para dar um quadro geral e resumido do nascimento, do desenvolvimento e da decadncia da pesquisa filosfica na Grcia antiga. 6. FONTES DA FILOSOFIA GREGA As fontes da filosofia grega so constitudas: I. Pelas obras e fragmentos dos filsofos. Plato o primeiro de quem -nos ficaram as obras inteiras. Temos muitas obras de Aristteles. De todos os outros no nos ficaram mais que fragmentos mais ou menos extensos. 111. Pelos testemunhos dos escritores posteriores. As obras fundamentais de que se extraem tais testemunhos so as seguintes: a) No que respeita filosofia pr-socrtica so
precisas aluses conservadas nas obras de Plato e de Aristteles. Particularmente Aristteles deu-nos no primeiro livro da Metafsica o primeiro ensaio de historiografia filosfica. Alm disso, referncias s outras doutrinas so muito frequentes em todos os seus escritos. 31 b) Os doxgrafos, quer dizer, Os escritores pertencentes ao perodo tardio da filosofia grega, que referiram as opinies dos vrios filsofos. O primeiro destes doxgrafos, que ainda fonte de quase todos os outros, Teofrasto, autor das opinies fsicas de que nos resta um captulo e outros fragmentos em o Comentrio de Simplcio (sc. VI d.C.) Fsica de Aristteles. So ainda doxografias muito importantes: os Placita Philosophownena atribudos a Plutarco e as clogas fsicas de Joo Estobeu (sc. V d.C.). Provavelmente (como o demonstrou Diels) ambos bebiam na mesma fonte: os Placita de Acio, que procediam por via indirecta, isto , em segunda mo, das Opinies de Teofrasto. Outro doxgrafo Ccero, que nas suas obras expe doutrinas de numerosos filsofos gregos, porm todas conhecidas em segunda e terceira mo. Para a biografia dos filsofos a mais importante doxografia o primeiro livro da Refutao de todas as heresias de Hiplito (sc. III d.C.), que fora em primeiro lugar falsamente atribuda a Digenes com o ttulo de Philosophonmena. A obra de Digenes Larcio (sc. III d.C.). Vidas e Doutrinas dos Filsofos, em 10 livros, que chegou inteira at ns, de importncia fundamental para a histria do pensamento grego. Trata-se de uma histria de cada uma das escolas filosficas, segundo o mtodo das chamadas Sucesses (Diadochai) que j tinha sido praticado por Socio de Alexandria (sc. II a.C.) e por outros cujas obras tm andado perdidas. A obra de Digenes Larcio contm duas doxografias distintas: uma biogrfica e anedtica, a outra expositiva. A parte biogrfica um amontoado de anedotas e de notcias acumuladas ao acaso; apesar disso contm informaes preciosas. 32 No que respeita cronologia foi fundador desta Eratstenes de Cirene (sc. III a.C.); mas as suas Cronografias foram suplantadas pela verso em trmetros jmbicos que delas fez Apolodoro de Atenas (por volta de 140 a.C.) com o ttulo de Crnica. A poca de cada filsofo indicada pela sua acm ou florescimento que se faz coincidir com 40 anos de idade; e as outras datas so calculadas com referncia a esta ltima. Finalmente, outras indicaes se colhem nas obras dos escritores que discutiram criticamente as doutrinas dos filsofos gregos. Assim Plutarco na sua polmica contra o estoicismo e o epicurismo, nos d uma exposio destas doutrinas. Sexto Emprico assenta o seu cepticismo na critica e na exposio dos sistemas dogmticos. E os escritores cristos dos primeiros sculos, combatendo a filosofia pag, fornecem-nos outras indicaes em virtude das quais chegaram s nossas mos fragmentos e testemunhos preciosos de obras que continuam perdidas. Outras colhem-se nos comentrios de Proclo e de Simplcio a Plato e a Aristteles, nas Noites ticas. de Affio Glio (por volta de 150 a.C.), em Ateneu (por volta de 200 a.C.) e em Eliano (ao redor de 200 a.C.). NOTA BIBLIOGRFICA
1. Sobre a pretensa origem oriental da filosofia grega: ZELLER, Philosophie der Griochen, cap. 2; GompERz, Griechische Denker, I, cap. 1-3, trad. frane., p. 103 segs.; BuRNET Earty Greek Philosophy, Intr. X-XII, trad. frane. com o ttulo Aurore de Ia Phil. grecque, p. 17 segs. (Neste volume, ZELLER vir citado a 6.1 edio ao cuidado de Nestle; e de GomPERZ e BURNET as tradues francesas acima Indicadas). Para mais Indicaes bibliogrficas veja-se a longa nota acrescentada por Mondolfo sua traduo 33 Italiana da cit. ob. de ZELLER, Florena, 132, vol. 1, pg. 63-99. 3. Os fragmentos dos mitlogos, dos rficos e dos Sete Sbios ~o reunidos em DIEU, Fragmente der Vor8okratiker, 5.4 edio 1934, vol, I; SNELL, Leben und Meinungen der Sieber Wei8en. MiInchen, 1943. -KERN, Orphicorum fragmenta, Berlim, 1922: OuVHMI, La~lae auroae orphicae, Bona, 1915; ED., Civilt greca nell'Italia meridionale, Npoles, 1931; Orphei Hymni, edit. Gullermo Quandt, Berlim, 1941. 4. Sobre o contributo da poesia para a elaborao dos Conceitos morais fundamentais: MAX WUNT, Gesch. der gricch. Ethik, Leipzig, 1908, vol. I, cap. 1-2; JAEGER, Pa~, traduo Italiana, Florena, 1936, livro I; SNELL, Die Entdeckung des Geistee, trad. ital, La cultura greca e te origini del pe~ro europeo, Turim, 1951. 5. Sobre a periodizao da filosofia grega, vejam-se indicaes bibliogrficas na nota de Mondolfo a ZELLER, vol. I, pg. 375-384. 6. Fragmentos: MULLACH, Fragmenta philosophorum graecorum, 3 vol., Paris, 1860, 1867, 1881; DIELS, Potarum philosophorum fragmenta, Berlim, 1901. Os fragmentos dos pr-socrticoa: DIELS. Die Fragmente der V<>r8okratiker, 5.1 edio, ao cuidado de Krsn , Berlim, 1R34. - DAL PRA, La atoriografia filosofica antica, Milo, 19W. Os doxgrafos foram recolhidos e comentados por DIELS, Doxographi Gracci, Berlim, 1879, que contm as obras, ou os fragmentos de obras, de Acio (Plutarco-"tobeu) Ario Didimo, Teofrasto, Ccero (livro I do De %atura deorum), FIlodemo, Mplito, Plutarco, Epifneo, Galeno, Hermias. Sobre as fontes da fil. grega: UEBERWEG-PRAECHTER, PhiJ. der Altertums, Berlim, 1926, 5 4.; Mondolfo em 7--- , vol. I, p. 25-33. 34 III A ESCOLA JNICA 1. CARCTER DA FILOSOFIA PR-SOCRTICA A filosofia pr-socrtica at aos sofistas dominada pelo problema cosmolgico, mas no exclui o homem da sua considerao; mas no homem v somente uma parte ou um elemento da natureza, no ainda o centro de um problema especfico. Para os prsocrticos, os mesmos princpios que explicam a constituio do mundo fsico, explicam a construo do homem. O reconhecimento do carcter especifico da existncia humana -
lhes alheio e alheio , por Isso, o problema do que o homem na sua subjectividade como princpio autnomo da pesquisa. O escopo da filosofia pr-socrtica o de pedir e reconhecer, para l das aparncias mltiplas e continuamente mutveis da natureza, a unidade que faz da prpria natureza um mundo: a nica substncia que constitui o seu ser, a nica lei que regula o seu devir. A substncia para os pr-socrticos a matria de que todas as 35 coisas se compem; mas , tambm a fora que explica a sua composio, do seu nascimento, a sua morte, e a sua perptua mudana. 'Ela princpio no s no sentido de explicar a sua origem mas ainda e sobretudo no sentido que torna inteligvel e reconduz unidade aquela sua multiplicidade e mutabilidade que aparece primeira observao to rebelde a toda a considerao unitria. Do que deriva o carcter activo e dinmico que a natureza, a physis, tem para os pr-socrticos: ela no a substncia na sua imobilidade, mas a substncia como princpio de aco e de inteligibilidade de tudo o que mltiplo e em devir. Do que deriva ainda o chamado hilozosmo dos pr-socrticos: a convico implcita de que a substncia primordial corprea tinha em si uma fora que a fazia mover e viver. A filosofia pr-socrtica, no obstante a simplicidade do seu tema especulativo e o primitivismo materialista de muitas das suas concepes, adquiriu pela primeira vez para a especulao a possibilidade de conceber a natureza como um mundo e ps como fundamento desta possibilidade a substncia, concebida como princpio do ser e do devir. Ora- que estas conquistas respeitem exclusivamente ao mundo fsico um facto indubitvel; mas igualmente indubitvel que elas arrastam consigo, pelo menos implicitamente, outras tantas conquistas que concernem ao mundo prprio do homem e sua vida interior. O homem no pode voltar-se para a investigao do mundo como objectividade, sem tornar-se consciente da sua subjectividade; o reconhecimento do mundo como outro em relao a si condicionado pelo reconhecimento de si como eu; e reciprocamente. O homem no pode dirigir-se investigao da unidade dos fenmenos externos, se no sentir o valor da unidade na sua vida e nas suas relaes com os outros homens. 36 O homem no pode reconhecer uma substncia que constitua o ser e o princpio das coisas externas seno enquanto reconhecer semelhantemente o ser e a substncia da sua existncia individual ou em sociedade. A investigao dirigida para o mundo objectivo est sempre unida investigao dirigida para o mundo prprio do homem. Esta conexo torna-se clara em Heraclito. O problema do mundo fsico por ele posto em unidade essencial com o problema do eu; e toda a conquista naquele campo se lhe apresenta condicionada pela investigao dirigida para si mesmo. "Estudei-me a mim mesmo" diz ele (fr. 101, Diels). excepo de Heraclito, todavia, o problema para que intencionalmente se dirige a pesquisa dos pr-socrticos o problema cosmolgico: tudo o que a pesquisa dirigida para este problema implica no homem e para o homem continua inexprimido e caber ao perodo seguinte da filosofia grega traz-lo luz. O carcter de uma filosofia determinado pela natureza do seu problema; e no h dvida que o problema dominante na filosofia pr-socrtica seja o cosmolgico. A tese apresentada pelos crticos modernos (em contraposio polmica com a de Zeller, do puro carcter naturalista da filosofia pr-socrtica) de uma inspirao mstica de tal filosofia, inspirao de que ela teria trazido a sua tendncia para considerar
antropomorficamente o universo fsico, funda-se em aproximaes arbitrrias que no tm base histrica. Esta tese encontra por outro lado as suas origens na ltima fase da filosofia grega, que, para a sua inspirao religiosa, quer fundar-se numa sabedoria revelada e garantida pela tradio, e precisamente daquela fase recolhe os testemunhos sobre que se funda a pouca, verosimilhana que possui. Mas sabido que neopitagricos, neoplatnicos, etc., fabricavam os testemunhos que deviam servir para demonstrar o carcter religioso, tradi37 cional das suas doutrinas. E impossvel basear todo o desenvolvimento da filosofia grega nos seus prprios pressupostos: especialmente quando o mrito mais alto dos primeiros filsofos da Grcia foi o de terem isolado um problema especfico e determinado o problema do mundo, saindo da confuso catica de problemas e de exigncias que se entrelaavam nas primeiras manifestaes filosficas dos poetas e dos profetas mais antigos. ---Os filsofos pr-socrticos realizaram pela primeira vez aquela reduo da natureza objectividade, que a primeira condio de toda considerao cientfica da natureza;! e esta reduo exactamente o oposto da confuso entre a natureza e o homem, que prpria do misticismo antigo. Que a pesquisa naturalista implique o sentido da objectividade espiritual ou contribua para o formar, pois (como se disse) um facto indubitvel; mas este facto no devido a um influxo religioso sobre a filosofia; bem ao contrrio urna conexo que os problemas realizam na prpria vida dos filsofos que os debatem. 8. TALES O fundador da escola jnica Tales de Mileto, contemporneo de Slon e de Creso. A sua acm, quer dizer o seu nascimento deve remontar a 624-23; a sua morte faz-se cair em 546-45. ,.Tales foi homem poltico, astrnomo, matemtico e fsico, alm de filsofo-Como homem poltico, incitou os gregos da Jnia, como narra Herdoto (1, 170), a unirem-se num estado federal com capital em Teo. Como astrnomo, predisse um eclipse solar (provavelmente o de 28 de Maio de 585 a.C.). Como matemtico, inventou vrios teoremas de geometria. Como fsico, descobriu as 38 propriedades do iman. A sua fama de sbio continuamente absorto na especulao testemunhada pela anedota referida por Plato (Teet., 174 e), que, observando o cu, caiu a um poo, suscitando as risadas de uma criadita trcia. Uma outra anedota referida por Aristteles (Pol., 1, 11, 1259a) tende, ao invs, a evidenciar a sua habilidade de homem de negcios: prevendo uma belssima colheita de azeitonas, alugou todos os lagares da regio e subalugou-os depois a um preo mais elevado aos prprios donos. Trata-se, provavelmente, de anedotas falsas referidas a Tales mais como a um smbolo e incarnao do sbio que como a uma pessoa. Assim a ltima (como o prprio Aristteles observa) procura demonstrar que a cincia no intil, mas que em regra os sbios no se servem dela (como poderiam faz-lo) para enriquecer. No parece que tenha deixado escritos filosficos. Devemos a Aristteles o conhecimento da sua doutrina fundamental (Met., 1, 3, 983b, 20): "Tales diz que o princpio a gua, pelo que --sustentava ainda que a terra est sobre a gua; considerava, talvez, prova disso
ver que o alimento de todas as coisas hmido e que at o quente se gera e vive no hmido; ora aquilo de que tudo se gera o principio de tudo, Pelo que se ateve a tal conjectura, e ainda por terem os grmens de todas as coisas uma natureza hmida e ser a gua nas coisas hmidas o princpio da sua natureza". Observa Aristteles que esta crena antiqussima. Homero contou que Oceano e Ttis so os princpios da gerao. Um s argumento, pois, apresenta Aristteles como prprio de Tales: que, a terra est sobre a gua: e gua aqui substncia no seu significado mais simples, como aquilo que est sob (subiectum) e sustm. Um outro argu39 mento (a gerao pelo hmido) adoptado to s como provvel; talvez conjectura de Aristteles. Tales imaginava unida gua uma fora activa, vivificadora e transformadora: neste sentido, possivelmente, que ele dizia que "tudo est pleno de Deus" e que o man tem uma alma porque atrai o ferro. 9. ANAXIMANDRO Concidado e contemporneo de Tales, Anaximandro nasceu em 610-609 (tinha 64 anos quando em 547-46 descobriu a obliquidade do Zodaco). Foi ainda homem poltico e astrnomo. o primeiro autor de escritos filosficos na Grcia;` a sua obra em prosa Acerca da natureza marca uma etapa notvel na especulao cosmolgica dos jnicos..Foi ele o primeiro a designar a substncia nica com o nome de principio (arch e reconhecia este principio no na gua ou no ar ou em qualquer outro elemento particular, mas no infinito (peiron), isto , na quantidade infinita da matria, de que todas as coisas tiram a sua origem e em que todas as coisas se dissolvem quando termina o ciclo que lhe foi estabelecido- por uma lei necessria.' Este princpio infinito engloba, e governa tudo; por si prprio imortal e indestrutvel, divino por conseguinte.' No o concebe ele como uma amlgama (migma) dos vrios elementos corpreos em que estes estejam compreendidos cada um com as suas qualidades peculiares; mas preferentemente como uma matria em que os elementos no esto ainda distintos e que por isso, alm de infinita, ainda indefinida (a<)riston) (Diels, Ma). Estas determinaes representam j um desenvolvimento e um enriquecimento da cosmologia de Tales. Em primeiro lugar, o carcter indeterminado 40 da substncia primordial, que no se identifica com nenhum dos elementos corpreos, na medida em que permite conceber melhor a derivao destes elementos como outras tantas especificaes e determinaes dela, imprime na substncia todas as caractersticas de verdadeira e prpria corporeidade, e faz dela uma simples massa quantitativa ou extensa. Sendo a corporeidade de facto ligada determinao dos elementos particulares, o peiron no pode distinguir-se destes seno nos seres privados das determinaes que constituem a sua corporeidade sensvel e por isso na reduo ao infinito espacial. Embora no possa encontrar-se em Anaximandro o conceito de um espao incorpreo, a indeterminao do peiron, reduzindo-o espacialidade, faz dele necessariamente um corpo determinado somente pela sua extenso. Ora esta extenso infinita e como tal englobante e governo do todo (Diels, A15). Estas determinaes e sobretudo a primeira fazem da peiron uma realidade distinta do mundo e transcendente: aquilo que abraa est sempre fora e para alm do que abraado, ainda que em relao com ele. " O princpio que Anaximandro estabelece como substncia originria -merece pois o nome de "divino". A prpria exigncia da explicao naturalista Conduz Anaximandro a uma primeira elaborao
filosfica do transcendente e do divino, pela primeira vez subtrado superstio e ao mito, mas o infinito ainda aquilo que governa o mundo: por conseguinte, no s a substncia como tambm a lei do mundo. Primeiro que todos, Anaximandro props-se o problema do processo por meio do qual as coisas derivam da substncia primordial. Esse processo a separao. (A substncia infinita animada por um eterno movimento, em virtude do qual se separam dela os contrrios: quente e frio, seco e hmido, etc,1 Por meio desta separao geram-se 41 os mundos infinitos, que se sucedem segundo um _,_Ciclo eterno. em todo o mundo, o tempo do nascimento, da durao e da morte est marcado. "Todos os seres tm de pagar uns aos outros o castigo da sua injustia, segundo a ordem do tempo"] (fr. 1, Diels). Aqui a lei de justia que Slon -considerava dominadora do mundo humano, lei que prova a prevaricao e a prepotncia, torna-se lei csmica, lei que regula o nascimento e a morte dos mundos. Mas que injustia essa que todos os seres cometem e que todos tm que exprimir? Evidentemente, ela devida prpria constituio e portanto ao nascimento dos seres, uma vez que nenhum deles pode evit-la no podendo assim subtrair-se ao castigo. Ora o nascimento , como se viu, a separao dos seres da substncia infinita. Evidentemente, esta separao a ruptura da unidade, que prpria do infinito; o suceder da diversidade, e portanto do contraste, l onde existiam a homogeneidade e a harmonia. na separao que se determina, pois, a condio prpria dos seres finitos: mltiplos diversos e contrastantes entre si, pois que inevitavelmente destinados a pagar com a morte o seu prprio nascimento e a regressar unidade. Mau grado a distncia dos sculos e a escassez das informaes remanescentes podemos ainda dar-nos conta, por estes indcios, da grandeza da personalidade filosfica de Anaximandro. Ele fundou a unidade do mundo, no s na unidade da substncia, como ainda na unidade da lei que o governa. E viu nesta lei no uma necessidade cega, mas uma forma, de justia. A unidade do problema cosmolgico com o problema humano aflora aqui: Heraclito ir ilumin-la plenamente. Todavia, a prpria natureza da substncia priinordial conduz Anaximandro a admitir a infinidade dos mundos. Viu-se que infinitos mundos se 42 sucedem segundo um ciclo eterno; mas os mundos so tambm infinitos contemporaneamente no espao ou to s sucessivamente no tempo? Um testemunho de Acio inclui Anaximandro entre os que admitem mundos inumerveis que circundam de todos os lados aquele que habitamos; e um testemunho anlogo nos d Simplcio, que coloca, ao lado de Anaximandro, Leucipo, Demcrito e Epicuro (Diels, A 17). Ccero (De nat. deor., ]L 10.25), copiando Filodemo, autor de um tratado sobre a religio que se encontrou em Herculano, diz: "A opinio de Anaximandro era que aqueles so divindades que nascem, crescem e morrem a longos intervalos e que estas divindades so mundos inumerveis". Na realidade difcil negar que Anaximandro tenha admitido uma infinidade espacial dos mundos pois que se o infinito engloba todos os mundos, deve ento ser pensado para alm no de um s mundo, mas de outro e ainda de outro.] S nos confrontos de infinitos mundos pode compreender-se a infinidade da substncia primordial, que tudo abraa e transcende. Anaximandro considera de maneira original a forma da terra: esta um cilindro que paira no meio do mundo sem ser sustentada por coisa alguma, visto que, encontrando-se a igual distncia de todas as partes, no
solicitada por nenhuma destas a mover-se. Quanto aos homens, no so eles os seres originrios da natureza. Efectivamente no sabem alimentar-se por si, e no teriam, por isso, podido sobreviver se houvessem nascido da primeira vez como nascem agora. foroso que hajam tido origem de outros animais. Nasceram dentro dos peixes e depois de terem sido alimentados, tornados capazes de se protegerem a si mesmos, foram lanados fora e encaminharam-se para terra. Teorias estranhas e primitivas, mas que mostram da 43 maneira mais firme a exigncia de procurar uma explicao puramente naturalista do mundo e de se ater aos dados da experincia. 10. ANAXMENES Anaxmenes de Mileto, mais jovem do que Anaximandro e talvez seu discpulo, floresceu por volta de 546-45 e morreu entre 528-25 (63.a Olimpada).como Tales, reconhece como princpio uma matria determinada, que o ar; mas atribui a esta matria as caractersticas do princpio de Anaximandro. Via ainda no ar a origem de todas as coisas: "Assim como a nossa alma, que ar, nos sustm, assim o sopro e o ar circundam o mundo inteiro" (fr. 2, Diels). O mundo como um animal gigantesco que respira: e a respirao a sua vida e a sua alma. Do ar nascem todas as coisas que so, que foram e que Sero, e at os deuses e as coisas divinas. O ar o princpio do movimento de todas as coisas. Anaxmenes diz-nos ainda o modo como o ar determina a transformao das coisas: este modo o duplo processo de rarefaco e da condensao: Rarefazendo-se o ar tornase fogo; condensando-se torna-se vento, depois nuvem e, condensando-se mais, gua, terra e em seguida pedra. At o calor e o frio se devem a esse processo: a condensao produz o frio, a rarefaco o calor. Como Anaximandro, Anaximenes admite o devir "Cclico do mundo; de onde a sua disoluo peridica no princpio originrio e a sua peridica regenerao a partir dele. Mais tarde a doutrina de Anaxmenes foi defendida por Digenes de Apolnia, contemporneo de Anaxgoras. A aco que Anaxgoras atribua inteligncia, atribua-a Digenes ao ar, que tudo 44 invade e, que, com alma e sopro (pneuma) cria nos animais a vida, o movimento e o pensamento. Por conseguinte, o ar , segundo Digenes, incriado, iluminado, inteligente e regula e domina tudo. 11. HERACLITO A especulao dos jnios culmina na doutrina de Heraclito, que pela primeira vez acomete o prprio problema da pesquisa e do homem que a institui. Heraclito de feso pertence nobreza da sua cidade; foi contemporneo de Parmnides e floresceu como ele por alturas de 504-01 a.C. autor de uma obra em prosa que foi depois designada com o ttulo habitual Acerca da natureza, constituda por aforismos e sentenas breves e lapidares, nem
sempre claras, donde o apelido de "obscuro". O ponto de partida de Heraclito a constatao do incessante devir das coisas. O mundo um fluxo perptuo: "No possvel descer duas vezes no mesmo rio nem tocar duas vezes numa substncia mortal no mesmo estado, pois que, pela velocidade do movimento, tudo se dissipa e se recompe de novo, tudo vem e vai" (fr. 91, Diels). A substncia, que o princpio do mundo, deve explicar o devir incessante justamente por meio da extrema mobilidade; Heraclito reconhece-a no fogo. mas pode dizer-se que o fogo perde, na sua doutrina, todo o carcter corpreo: um princpio activo, inteligente e criado "Este mundo, que o mesmo para todos, no foi criado por qualquer dos deuses ou dos homens, mas foi sempre, e ser fogo eternamente vivo que com ordem regular se acende e com ordem regular se extingue" (fr. 30, Diels). A mudana , por isso, uma sada do fogo ou um regresso ao fogo. "Todas as coisas se trocam pelo 45 fogo e o fogo troca-se por todas, como o ouro se troca pelas mercadorias e as mercadorias pelo ouroi" (fr. 90, Diels). As afirmaes de que "este mundo" eterno e de que a mudana uma incessante troca pelo fogo excluem evidentemente o conceito. que os Esticos atriburam a Heraclito, de uma conflagrao universal, em virtude da qual todas as coisas regressariam ao fogo primitivo. De facto, a troca incessante entre as coisas e o fogo no implica que todas se convertam em fogo, tal como a troca entre as mercadorias e o ouro no implica que todas se convertam em ouro. Mas estes fundamentos de uma teoria da natureza so apresentados por Heraclito como o resultado de uma sabedoria difcil de alcanar-se e oculta maior parte dos homens. Nas palavras que abriam o seu livro, Heraclito, lamentava que os homens no obstante terem escutado o logos, a voz da razo, se esqueam dele nas palavras e nas aces, pelo que no sabem o que fazem no estado de viglia, como no sabem o que fazem no estado ",de sono (fr. 1, Diels). E ao, longo de toda a obra corria a polmica contra a sageza aparente dos que sabem muitas coisas, mas no tm inteligncia de nenhuma: sageza a que se ope a pesquisa dos filsofos, que essa sim incide sobre objectos mltiplos (fr. 35, Diels), mas recolhe-os todos em unidade (fr. 41, Diels). Hraclito verdadeiramente o filsofo da pesquisa. Nele, pela primeira vez, a pesquisa filosfica alcana a clareza da sua natureza e dos seus pressupostos. Por alguma razo a prpria palavra filosofia usada eclassificada no seu justo sentido. segundo Heraclito, a prpria natureza impe a pEsquisa: com efeito ela "gosta de ocultarse." (fr. 123, Diels). Ele v abrir-se pesquisa o mais vasto horizonte: "Se no esperares, 46 no achars o inesperado, porque no se Pode achar e inacessvel" (fr. 18, Diels). Mas no se esconde a dificuldade e o risco da pesquisa: "Os que procuram ouro escavam muita terra, mas encontram pouco metal" (fr. 22, Diels)._detmse especialmente nas condies que a tornam possvel primeira delas que o homem examina-se a si mesmo."Procurei-me a mim mesmo", diz ele (fr. 101, Diels). A pesquisa dirigida ao mundo natural condicionada pela clareza que o homem pode alcanar a respeito do ser que lhe prprio. A pesquisa interior revela profundidades infinitas: "Tu no encontrars os confins da alma, caminhes o que caminhares, to profunda a sua razo" (fr. 45, Tiels). A pesquisa interior abre ao homem zonas sucessivas de profundidade, que jamais se esgotam: a razo, a lei ltima do eu, aparece continuamente mais alm, em uma profundidade sempre mais
longnqua e ao mesmo tempo sempre mais ntima. Mas esta razo, que a lei da alma, ao mesmo tempo lei universal. A segunda e fundamental condio a comunicao entre os homens: O pensamento comum a todos segundo Heraclito, (fr. 113, Diels). " necessrio seguir o que comum a todos porque o que comum geral" (fr. 2, Diels). "Quem quiser falar com inteligncia deve fortalecer-se com o que comum a todos, como a cidade se fortalece com a lei, e muito mais. Porque todas as leis humanas se alimentam da nica lei divina e esta doutrina tudo o que quer, basta a tudo e tudo supera" (fr. 114 Diels).[O homem deve pois dirigir a pesquisa no s para si mesmo, mas tambm, e com o mesmo movimento, para aquilo que o liga aos outros, o logos que constitui a mais profunda essncia _(;homem individual ainda o que liga os homens entre si numa comunidade de natureza., Este logos como a lei para a cidade, mas 47 ele prprio a lei, lei suprema que tudo rege: o homem individual, a comunidade dos homens e a natureza externa. Ele , portanto, no s a racionalidade mas o prprio ser do mundo: tal se revela em todos os aspectos da pesquisa. "Heraclito pe constantemente defronte do homem -a alternativa entre o estar acordado e o dormir:! entre o abrir-se, mediante a pesquisa, comunicao inter-humana, que revela a realidade autntica do mundo objectivo: e o fechar-se no prprio pensamento isolado, num mundo fictcio que no tem comunicao com os outros (fr. 2, 34, 73; 89). O sono o isolamento do indivduo, a sua incapacidade de compreender a si mesmo, os outros e o mundo. A viglia a pesquisa vigilante que no se detm nas aparncias, que alcana a realidade da conscincia, a comunicao com os outros, e a substncia do mundo na nica lei (logos) que rege o todo. Esta alternativa estabelece o valor decisivo que a pesquisa possui para o homem. Ela no s pensamento (noesis) mas tambm sabedoria da vida (fronesis); ela determina a ndole do homem, o ethos, que o seu prprio destino (fr. 119). Mas Heraclito determinou ainda esta lei de que a pesquisa deve clarificar e aprofundar o significado. Ela j para os antigos a grande descoberta de Heraclito; isso nos atesta Ffion (Rer. Div. Her., 43): "0 que resulta dos dois contrrios uno, e se o uno se divide, os contrrios aparecem. No este o princpio que, conforme afirmam os gregos justamente, o seu grande e celebrrimo Heraclito colocava cabea da sua filosofia, o princpio que a resume toda e de que ele se gabava como sendo uma nova descoberta?" . A grande descoberta de Heraclito , pois, que a unidade do princpio criador no uma unidade idntica e no exclui a luta, a discrdia, a oposio. Para compreender a lei suprema do ser, o logos que o constitui e 48 governa, necessrio unir o completo e o incompleto, o concorde e o discorde, o harmnico e o dissonante (fr. 10), e dar-se conta de que de todos os opostos brote a unidade e da unidade saem os opostos. " a mesma coisa o vivo e o morto. o acordado e o dormente, o jovem e o velho: pois que cada um destes opostos transformando-se, o primeiro" (fr. 88). Como na circunferncia todo o ponto ao mesmo tempo princpio e fim, como o mesmo caminho pode ser percorrido para cima e para baixo (fr. 103, 60), assim todo o contraste supe uma unidade que constitui o significado vital e racional do prprio
contraste. 00 e oposto une--se e o que diverge conjuga-se". A luta a regra do mundo e a guerra comum geradora e senhora de todas as coisas". Nestas afirmaes est contido o ensinamento fundamental de Heraclito, de cujo ensinamento ele deduz que os homens no podem elevar-se seno Por meio de uma longa pesquisa "Os homens no sabem como o que discorde est em acordo consigo mesmo: harmonia de tenses opostas, como as do arco e da lira" (fr. 51). Como as cordas do arco e as da lira se retesam para reunir e estreitar ao mesmo tempo as extremidades opostas, assim a unidade da substncia primordial liga pelo logos os opostos sem os identificar, bem ao contrrio opondo-os. A harmonia no para Heraclito a sntese dos opostos a conciliao e o anulamento das suas oposies; antes a unidade que submete precisamente as oposies e a torna possvel. A Homero, que dissera: "Possa a discrdia desaparecer de entre os deuses e de entre os homens", Heraclito replica: "Homero no se apercebe que pede a destruio do universo; se a sua prece fosse atendida, todas as coisas pereceriam" (Diels, A22): A tenso uma unidade (isto , uma relao) que pode 49 encontrar-se somente entre coisas opostas enquanto opostas. A conciliao, a sntese anul-la-iam. unidade prpria do mundo , segundo Heraclito, uma tenso deste gnero: no anula nem concilia nem supera o contraste, mas f-lo existir, e f-lo compreender, como contraste. Hegel viu em Heraclito o fundador da dialctica e afirmou que no havia proposio de Heraclito que ele no tivesse acolhido na sua lgica (Geschichte der Phil., ed. Gockler, I. p. 343). Mas Hegel interpretava a doutrina heraclitiana da tenso entre os opostos como conciliao ou harmonia dos prprios opostos. Segundo Heraclito, os opostos esto unidos, certo, mas nunca conciliados: o seu estado permanente a guerra. Segundo Hegel, os opostos esto continuamente conciliados e a sua conciliao tambm a sua "verdade". Heraclito no um filsofo optimista que considera (como Hegel) a realidade em paz consigo mesma. um filsofo por tendncia pessimista e amargo (por alguma razo a tradio o representava como "choro": Hiplito, Refut., 1, 4; Sneca, De Ira, 11, 10, 5, etc.) que considera um sonho ou uma iluso ignorar a luta e a discrdia de que todas as coisas so constitudas e vivem. NOTA BIBLIOGRFICA 7. ~re toda a filosofia pr-socrtica: RITTER e PRELLER, Historia critica philosophiae gracae, g., edio, 1913, DEvOGEL, Greek philosophy, Leiden, 1950; KAFKA, Die Vorsokratik", Mnaco, 1921; SCHUM, Essai sur ta formation de Ia pense grecque, Paris; 19a4; CHERNISS, Aristot&s Criticim of Pr"ocratic Philosophy, Baltimore, 1935; REY, La jeunesse de Ia science grecque, Paris, 1933; GOVOTri, I pre-aocratici, Npoles, IgU; MADDALENA, Sulla cosmoZogia ionica 50 da Tauto ad Bracuto, pdd", 1%0. A &kterp~O ~ca da filosofia, pr~rUca foi sustentada por C.~ JOEL, Der Ure~g der Naturph~10 gw dom ~to der My&ttk, lena, lgW; M., Ge~cht# der asfikes Phi~Me, J Tubinga, IM. Mo particularmente importantes: STzNzEL, Die M~phyaik doe Altertuino, M6naco, 1931; JAEGER, Pa~, 3 VOL, trad. ltal., Florena; 1936-59, ID., The Theology of the Barly &reek Ph~hera, Oxford, 1947; GIGON, Der
Uroprung der G~hiochen Phfk8~e. Von H~ bis Porme~, Basilela, 1945; G. S. ~-J. E. RAvEN, The Pnesocratic Ph~hem. A Crit~ H~V with a Setec~ of Texts, Cambridge, 1957. S. Os fragmentos de Talco in Dm^ cap. li. Sobre Talco alm das obras citado : D. R. Dims in "Classical Quarterly>, 1950. 9. Oa fragmentos de Anaximandro in DMU, 12.- W-1 -NES=, 1, 270 sego.; GOMPERZ, I, 55 sega.: BURNET, 52 aep.; Dmi, lu "New Ja~ chen, 1923, 6&76; HEIDEL, in "~Ical Philosophy>, 1912; C. ~N, A. and the 011~ of Greek Co~ Jogy, Nova Iorque, 1960. 10. Os fragmentos de Anaxmenes in DM CaP- 13.-ZELLEP-MSTLE, 1, 315 ~.; Gom~ I, 62 sega.; BuRNET, 76 sega. Os fragmentos de Digenes in D=, cap. 64. -zP-T.T -NEMx, 1, 338 segs.; Gom~, 1, 390 seg.; BuRNET, 406 segs. li. Os fragmentos de Heraclito in DiEu, cap. 22-72ri-Ta -NMix, 1, 783 sego.; -GomPERz, 1, 6 segs.; BuRNzT, 145 sega.; STENzEL, artig:o na Encicl~a Pauly-Wissowa-Kro11; WALzER; Braclito (frag. e trad. ltal.), Florena, 1939. Uma Interpretao em sentido exstencialista-heidegge~o a de BRECHT, H~it, Heidelber^ 1936. Um Heraclito criatianizante apresentado por M~NTINI, Braclito, 51 Turim. 1944; KIRK, Irire in the Cos~g" Spoculat" of Heraclitu&, Mlanneapolls, 1940; HeracUtu8: The Coismic Fragments, 1954; RAus=NBERGzR, Parmen~ und Heraklit, Heidelberg, 1941; DnZER, Weltbild und Sprwhe in Reraklitismus, In "Neue lMld der Antike>, 1942; A. JEANNnM, La pense d'HdracUte d'Eph6e, Paris, 1959; H. QUIRING, H., Berlim, 1959; P. H. WHEELWRIGHT, H., Princeton, 1959. 52 lu A ESCOLA PITAGRICA 12. PITGORAS A tradio complicou com tantos elementos lendrios a figura de Pitgoras que se torna difcil deline-la na sua realidade histrica. Os apontamentos de Aristteles limitam-se a poucas e simples doutrinas, referidas as mais das vezes no a Pitgoras mas em geral aos pitagricos; e se a tradio se enriquece medida que se afasta no tempo do Pitgoras histrico, isto sinal evidente que se enriquece com elementos lendrios e fictcios, que pouco ou nada tm de histrico. Filho de Mnesarco, Pitgoras nasceu em Samos, provavelmente em 571-70, veio para a Itlia em 532-31 e morreu em 497-96 a.C.. Diz-se que fora discpulo de Ferecides de Siros e de Anaximandro e que viajou pelo Egipto e pelos pases do Oriente. 56 certo que emigrou de
Samos para a Grande Grcia e arranjou casa em Crotona onde fundou uma escola que foi tambm uma associao religiosa e poltica. A lenda representa Pitgoras 53 como profeta e operador de milagres, a sua doutrina ter-lhe-ia sido transmitida directamente do seu deus protector. Apolo, pela boca da sacerdotisa de Delfos Temistocleia Aristsseno in Dig. L.. VM, 21). muito provvel que Pitgoras no tenha escrito nada. Aristteles no conhece, com efeito, nenhum escrito seu; e a afirmao de Jmblico (Vida de Pt., 199) de que os escritos dos primeiros Pitagricos at Filolau teriam sido conservados como segredo da escola, vale s como uma prova do facto de que ainda mais tarde no se possuam escritos autnticos de Pitgoras anteriores a Filolau. Pelo que muito difcil reconhecer no pitagorismo a parte que pertence ao seu fundador. Uma nica doutrina pode com toda a certeza ser-lhe atribuda - (a da sobrevivncia da alma depois da morte e sua transmigrao para outros corpos) -----"Segundo esta doutrina, de que se apoderou Plato '(Grg., 493a), o corpo uma priso para a alma, que aqui foi encerrada pela divindade para seu castigo. Enquanto a alma estiver no corpo, tem necessidade dele porque s por seu intermdio pode sentir; mas quando estiver fora dele vive num mundo superior uma vida incorprea nu __e se purificou durante a vida corprea, a alma regressa a esta vida; no caso contrrio, retoma depois da morte a cadeia das transmigraes. 13. A ESCOlA DE PITGORAS -- A Escola de Pitgoras foi uma associao religiosa poltica alm de filosfica; Parece que a admisso na sociedade estava subordinada a provas rigorosas e observncia de um sigilo de vrios anos. Era necessrio absterem-se de certos alimentos (carne, favas) e observar o celibato. Alm disso, 54 nos graus mais elevados os Pitagricos viviam em plena comunho de bens. Mas o fundamento histrico de todas estas notcias bastante inseguro. Muito provavelmente, o pitagorismo foi uma das muitas seitas que celebravam mistrios a cujos iniciados era imposta uma certa disciplina e certas regras de abstinncia, que no deviam ser pesadas. O carcter poltico da seita determinou uma revoluo Contra o governo aristocrtico, tradicional nas cidades gregas da Itlia meridional, a que davam o seu apoio os Pitagricos, levantou-se um movimento democrtico que provocou revolues e tumultos. Os Pitagricos transformaram-se em objecto de perseguies: a sede da sua escola foi incendiada, eles mesmos foram massacrados ou fugiram; e s tempos depois os exilados puderam regressar ptria. provvel que Pitgoras tenha sido forado a trocar Crotona pelo Metaponto justamente devido a tais movimentos inssurreccionais. Aps a disperso das comunidades itlicas temos conhecimento de filsofos pitagricos fora da Grande Grcia. O primeiro deles Fillau. que era contemporneo de Scrates e de Demcrito e viveu em Tebas nos ltimos decnios do sculo V. No mesmo perodo coloca Plato Timeu de Locres, do qual nem sabemos com segurana se se trata de uma personagem histrica. Na segunda metade do sculo IV o pitagorismo assumiu nova importncia poltica atravs da obra de Arquitas, senhor de Tarento, de quem foi hspede Plato durante a sua viagem Grande Grcia. Depois de Arquitas a filosofia pitagrica parece ter-se extinguido at na Itlia. Junta-se ao pitagorismo, embora no tenha sido (como h quem diga) discpulo de Pitgoras, o mdico de Crotona Alemon, que repete algumas das doutrinas tpicas do pitagorismo; mas sobretudo notvel por ter considerado
o crebro o rgo da vida espiritual do homem. 55 A doutrina dos pitagricos tinha essencialmente carcter religioso. Pitgoras apresenta-se como o depositrio de uma sabedoria que lhe foi transmitida pela divindade; a esta sabedoria no podiam os seus discpulos trazer nenhuma modificao, mas deviam permanecer fiis palavra do mestre (ipse dixit). Alm disso, eram obrigados a conservar o segredo e por esta razo a escola se cobria de mistrios e de smbolos que ocultam o significado da doutrina aos profanos. 14. A METAFSICA DO NMERO A doutrina fundamental dos Pitagricos que a Substncia das coisas o nmero. Segundo Aristteles (Met., I, 5)os Pitagricos, que haviam sido os primeiros a fazer progredir a matemtica, acreditariam que os princpios da matemtica eram os -princpios de todas as coisas; e uma vez que os princpios da matemtica so, os nmeros, parece-lhes ver nos nmeros, mais do que no fogo, na terra ou no ar, muitas semelhanas com as coisas que so ou que devem. Aristteles considera, por isso, que os Pitagricos atriburam ao nmero a funo de causa material que os jnios atribuam a um elemento corpreo: o que sem dvida nenhuma uma indicao precisa para compreender o significado do pitagorismo, mas no ainda suficiente para torn-lo claro. Na realidade, se os jnios recorriam a uma substncia corprea para explicar a ordem do mundo, os Pitagricos fazem dessa prpria ordem a substncia do mundo---O nmero como substncia do mundo a hiptese da ordem mensurvel e A grande descoberta dos Pitagricos, dos fenmenoS a descoberta que lhes determina a importncia na histria da cincia ocidental, consiste precisamente 56 na funo fundamental que eles reconheceram medida matemtica para compreender a ordem e a unidade do mundo. Veremos que a ltima fase do pensamento platnico dominada pela mesma preocupao: encontrar a cincia da medida que simultaneamente o fundamento do ser em si e da existncia humana. Primeiro que todos, os Pitagricos deram expresso tcnica aspirao fundamental do esprito grego para a medida, aspirao que Slon exprimia dizendo: "A coisa mais difcil de todas captar a invisvel medida da sageza, a nica que traz em si os limites de todas as coisas". Como substncia do mundo, o nmero o modelo originrio das coisas (lb., 1, 6, 987 b, 10) pois que constitui, na sua perfeio ideal, a ordem nelas implcita. O conceito de nmero como ordem mensurvel permite eliminar a ambiguidade entre significado aritmtico e significado espacial no nmero pitagrico, ambiguidade que dominou as interpretaes antigas e recentes do pitagorismo. Aristteles diz que os Pitagricos trataram os nmeros como grandezas espaciais (1b., XIII, 6, 1080b. 18) e alega ainda a opinio de que as figuras geomtricas so os elementos substanciais de que consistem os corpos _,Ib., VII, 2, 1028b, 15). "s seus comentadores vo ainda mais longe, sustentando que os Pitagricos consideraram as figuras geomtricas como princpios da realidade corprea e reduziram estas figuras a um conjunto de pontos, considerando os pontos como unidades extremas (Alexandre, -20r sua vez, co In met., 1, 6, 687b, 33, ed. Bonitz, p. 41). E alguns intrpretes recentes insistem em
conservar o significado geomtrico como o nico que permite compreender o princpio pitagrico de que, no fim de contas, tudo composto de nmeros. Na verdade, se por nmero se entende a ordem mensurvel do mundo, o significado aritmtico e o 57 significado geomtrico aparecem fundidos, uma vez que a medida supe sempre uma grandeza espacial ordenada, logo geomtrica, e ao mesmo tempo um nmero que a exprime" Pode dizer-se que o verdadeiro significado do nmero pitagrico est expresso naquela figura sacra, a tetraktys, por que os Pitagricos tinham o hbito de jurar e que era a seguinte: A tetraktys representa o nmero 10 como o tringulo que tem o 4 como lado. A figura constitui, portanto, uma disposio geomtrica que exprime um nmero ou um nmero expresso numa disposio geomtrica: o conceito que ela pressupe o da ordem mensurvel. - Se o nmero a substncia das coisas, todas as disposies das coisas se reduzem a oposies --,)entre nmeros.' Ora a oposio fundamental das coisas com respeito ordem mensurvel que constitui a sua substncia a de limite e de ilimitado: o limite, que torna possvel a medida, e o ilimitado que a exclui. A esta oposio corresponde a oposio fundamental dos nmeros, par e mpar: o mpar corresponde ao limite, o par ao ilimitado. E, com efeito, no nmero mpar a unidade dspar constitui o limite do processo de numerao, enquanto no nmero par este limite falta e o processo fica, por conseguinte, inconcluso. A unidade , pois, o par/mpar visto que o acrescentamento dela torna par o mpar e o mpar o par. oposio do mpar e do par, correspondem nove outras oposies fundamentais e resulta da a lista seguinte: 1.o Limite, ilimitado; 2.<' mpar, par; 3.O Unidade, multiplicidade, 4.O Direita, esquerda, 5.1> Macho, fmea; 58 6.o Quietude. movimento; 7.o Recta, curva; 8.o Luz, trevas; 9.o Bem, mal; 10.- Quadrado, rectngulo. O limite, isto , a ordem, a perfeio; por isso, tudo o que se encontra do mesmo lado na srie dos opostos bom, o que se encontra do outro lado mau. Os Pitagricos pensam, todavia, que a luta entre os opostos se concilia por meio de um princpio de harmonia; e a harmonia, como vnculo dos mesmos opostos, constitui para eles o significado ltimo das coisas Filolau define a harmonia como "a unidade do mltiplo e a concrdia do discorde" (fr. 10, Diels). Como por toda a parte existe a oposio dos elementos, por toda a parte existe a harmonia; e pode dizer-se outro tanto que tudo nmero ou que tudo harmonia porque todo o nmero uma harmonia do mpar e do par. A natureza da harmonia em seguida revelada pela msica: as relaes musicais exprimem do modo mais evidente a natureza da harmonia universal; e so por isso assumidas pelos Pitagricos como modelo de todas as harmonias do universo (Filo]., fr. 6, Diels). 15. DOUTRINAS COSMOLGICAS ANTROPOLGICAS Mais ou menos em conformidade com a doutrina metafsica do nmero, os Pitagricos
desenvolveram uma doutrina cosmolgica e antropolgica de que somente conhecemos uns escassos elementos. Filolau defendeu o princpio de que a diversidade dos elementos corpreos (gua, ar, fogo, terra e ter) dependia da diversidade da forma geomtrica das partculas mais pequeninas que os compunham. Esta doutrina que nele se acha apenas referida, foi precisada no Timeu de Plato que atribui a todos os elementos a constituio de um determinado 59 slido geomtrico; mas esta preciso, tornada possvel pelo desenvolvimento dado geometria slida pelo matemtico Teeteto (ao qual dedicado o dilogo homnimo de Plato) no era possvel a Filolau. [Sobre a formao do mundo, os Pitagricos pensam que no corao do Universo existe um fogo central, a que chamam a me dos deuses, porque dele provm a formao dos corpos celesteS. ou ainda Hstia, lar ou altar do universo, . a cidadela ou o trono de Zeus. porque o centro ,,de onde emana a fora que conserva o mundo Por este fogo central so atradas as partes mIs prximas do ilimitado que o circunda (espao ou matria infinita), partes que so limitadas por esta atraco, e a seguir plasmadas na ordem. Este processo repetido mais vezes conduz formao do -universo inteiro, no qual por conseguinte, como refere Aristteles (Met., XII, 7, 1072 b, 28), a perfeio no est no princpio, mas no fim. notvel que, em conformidade com esta cosmogonia, os Pitagricos cheguem a uma doutrina cosmolgIca, que os faz contar entre os primeiros predecessores de Coprnico., O. mundo por eles concebido como uma esfera, no centro da qual est o fogo originrio, e em torno desta movem-se, de ocidente para oriente, dez corpos celestes: o cu das estrelas fixas, que o mais afastado centro, e em seguida, a distncias sempre menores, os cinco planetas, o sol, que como uma grande lente recebe os raios do fogo central e reflecte-os em redor, a lua, a terra e a antiterra, um planeta hipottico que os Pitagricos admitem para completar o sagrado nmero de dez. O limite extremo do universo seria formado por uma esfera envolvente de fogo correspondente ao fogo celeste. As estrelas esto fixas a esferas transparentes em cuja rotao so arrastadas (Aristteles, De coelo, H, 13). Uma vez que todos os corpos movidos velozmente produzem um som 60 musical, o mesmo acontece com os corpos celestes: o movimento das esferas produz uma srie de sons musicais que formam no seu conjunto uma oitava. Os homens no se apercebem destes sons, porque os sentem ininterruptamente desde o nascimento ou ainda porque os seus ouvidos no so adequados para perceb-los. \Como todas as outras coisas, a alma humana harmonia: a harmonia entre os elementos contrrios -)que compem o corpo. A em doutrina, que exposta por Simias, discpulo de Filolau, em o Fdon platnico, o prprio Plato objecta que, como harmonia, a alma no poderia ser imortal porque dependeria dos elementos corpreos, que se desagregam com a morte. E esta objeco pareceu to sria, que se negou que a doutrina da alma-harmonia fosse concebida pelos Pitagricos no sentido explicado por Plato e ela foi reportada, ao invs, interpretao de Claudiano Mamerto (De statu animae, H, 7; V. 170) de que a harmonia antes a convergncia, quer dizer o vnculo que une a alma e o corpo. Na verdade, se se sustenta o princpio pitagrico de que a harmonia nmero e o nmero substncia, a objeco platnica perde ,-valor- a harmonia que determina e condiciona a mescla dos elementos corpreos, e no esta que ,-,Condio daque! doutrina da harmonia se liga a tica pitagrica com a sua definio da justia. A justia um nmero quadrado; consiste no nmero plano multiplicado pelo nmero plano, porque
d o plano pelo plano. Por isto os Pitagricos designam-se com o quatro, que o primeiro nmero quadrado, ou com o nove, que o primeiro nmero quadrado mpar. No resto, a tica pitagrica de carcter religioso, sendo o seu preceito fundamental o de seguir a divindade e tornar-se semelhante a ela. As mximas e prescries de carcter prtico que cons61 tituem o patrimnio tico da Escola no tm um significado filosfico especial seno talvez na medida em que se comea a entrever nelas a subordinao da aco contemplao, da moral prtica sabedoria, que conseguir a vitria com o aristotelismo. O pitagorismo colocou a purificao da alma, que as outras seitas viam nos ritos e prticas propiciatrias. na actividade teortica, a nica capaz de subtrair a alma cadeia dos nascimentos e de a reconduzir divindade. NOTA BIBLIOGRFICA 12. Os testemunhos sobre Pitgoras em Dw^ cap. 14. As VU" de Pitgorw, de Porfirio e de Jmblico so teis para o conhecimento da lenda de Pitgoras e das doutrinas neopitagricas e neoplatnicas, mas no para a reconstruo do Pitgoras histrico. Sobre Pitgoras: GomPm, 108 sega.; BuRNET, 93 segs.; ROSTAGNI, Il verbo <U Pitagora, Turim, 1924. 13. Sobre as vicissitudes da escola pitagrIca: ROSTAGNI, Pita~ e i Pitag~ in Timeo, In. "AtU dell'Acc. delle Scienze di Torino>, 1914. Os fragmentos de Filolau In DiELs, cap. 44; de Arquitas In DIELS, cap. 47; de Alcmon In DIMs, cap. 24. Sobre estes Pitagricos: OLivmu, Civi;t greca negIt~ ~dionale, Npoles, 1931; VON MTZ, Pythagorcan Politics in Southem Itaiy, Nova-Iorque, 1940. 14. Sobre a doutrina pitagrica: ZELLM, 1, 361 segs.; GompERz, 1, 180 segs.; BURNET, 317 segs.FRANK, Plato und die Soge~nten Pythag~, Halle, 1923; RAVEN, Pythagoreiam and Ekatm, Cambridge, 1948; STRAINGE UNG, A Study of the Doctrine of Metempsychosis in Greoce from Pythagora8 to Plato, Princeton, 1948. 62 IV A ESCOLA ELETICA 16. CARCTER DO ELEATISMO 1 a escola jnica no aceitara o devir do mundo.' que se manifesta no nascer, perecer e transformar das coisas, como um facto ltimo e definitivo, porque intentara descobrir, para 4 disso, a unidade e a permanncia d substncia. No negara, todavia, a realidade do devir; Tal negao obra da escola eletica, que reduz o prprio devir a simples aparncia e afirma que s a substncia verdadeiramente Pela primeira vez, com a escola eletica, a substncia se torna por si mesma princpio -metafsico: pela primeira vez, ela dk 1da_'_n_ como elemento corpreo ou como nmero, mas to s como substncia, como permanncia e necessidade do ser enquanto ser. O carcter normativo que a substncia
revestia na especulao de Anaximandro, que via nela uma lei csmica de justia, carcter que fora expresso pelos Pitagricos no princpio que o nmero o modelo das coisas, surge assumido como a prpria definio da subs63 tncia por Parmnides e pelos seus seguidores. Para eles a substncia o ser que e deve ser: o ser na sua unidade e imutabilidade, que faz dele o nico objecto do pensamento, o nico termo da pesquisa filosfica. O princpio_M eleatismo marca uma etapa decisiva na histria da filosofia, Ele pressupe indubitavelmente a pesquisa cosmolgica dos jnicos e dos Pitagricos, mas subtrai-a ao seu pressuposto naturalista e tr-la pela primeira vez ao plano ontolgico em que deveriam enraizar-se os sistemas de Plato e de Aristteles. 17. XENFANES Segundo os testemunhos de Plato (Sof., 242d) e de Aristteles (Met., 1, 5, 986 b. 2l) a direco peculiar da escola eletica fora iniciada por XENFANEs de Colfon, que foi o primeiro a afirmar a unidade do ser. Estes testemunhos tm sido interpretados no sentido de que Xenfanes tinha fundado a escola eletica; mas esta interpretao vai muito alm do significado dos testemunhos e bastante improvvel. O prprio Xenfanes nos diz (fr. 8, Diels), numa poesia composta aos 92 anos, que h 67 anos percorria de ponta a ponta os pases da Grcia, e esta vida errante concilia-se mal com uma regular estadia em Eleia, onde teria fundado a escola. A nica prova da sua permanncia em Eleia uma anedota contada por Aristteles (Ret., 11, 26, 1400 b, 5): aos Eleatas que lhe perguntavam se deveriam oferecer sacrifcios e lgrimas a Leucoteia, teria ele retorquido: "Se a julgais uma deusa, -no deveis chor-la, Se a no julgais tal, no deveis oferecer-lhe sacrifcios". Temse, no entanto, conhecimento de um longo poema em hexmetros que Xenfanes teria escrito acerca da fundao da sua cidade; mas tudo isto no bas64 tante para provar a sua regular residncia e a instituio de uma escola em Eleia. No tambm certo que tenha exercido a profisso de rapsodo. De seguro, sabemos que escreveu em hexmetros e comps elegias e jambos (Silloz) contra Homero e Hesodo. improvvel, finalmente, que Xenfanes tenha escrito um poema filosfico, de que, com efeito, no se tem conhecimento preciso. Os fragmentos teolgicos e filosficos que se costumam considerar como resduos desse poema podem muito bem fazer parte das suas stiras, a cujo contedo se referem. O ponto de partida de Xenfanes, uma crtica decidida ao antropomorfismo religioso tal como se apresenta nas crenas comuns dos gregos e ainda como se acha em Homero e em Hesodo. "Os homens, diz ele, crem que os deuses tiveram nascimento e possuem uma voz e um corpo semelhantes aos seus" (fr. 14, Diels). Pelo que os Etopes representam os seus negros e de narizes achatados, os Trcios dizem que tm olhos azuis e cabelos vermelhos, e at os bois, os cavalos e os lees imaginariam. se pudessem, os seus deuses sua semelhana (fr. 16, 15). Os poetas encorajaram esta crena. Homero e Hesodo atriburam aos deuses at aquilo que objecto de vergonha e de censura entre os homens: roubos, adultrios e enganos recprocos. Na realidade, h uma s divindade "que no se assemelha aos homens nem pelo corpo nem pelo pensamento" (fr. 23). Esta nica divindade identifica-se com o universo, um deus-tudo, e tem o atributo da eternidade: no nasce e no morre e sempre a mesma. Com efeito, se nascesse isso significaria que antes no era, ora o que no , no pode nascer nem fazer nascer coisa alguma. Xenfanes afirma sob forma teolgica a unidade e a imutabilidade do universo. Mas
65 medida parece-lhe difcil de compreender e, assim, pode ser entendida depois de longa pesquisa,,, "Os deuses no revelaram tudo aos homens desde o princpio, mas s procurando encontram, passado tempo, o melhor" (fr. 18). o reconhecimento explcito da filosofia como pesquisa. Em Xenfanes encontram-se ainda assomos de investigaes fsicas: ele julga que todas as coisas e at o homem so formadas de terra e gua (fr. 29, 33); que tudo vem da terra e tudo terra regressa; mas estes elementos de um tosco materialismo pouca ligao tm com o seu princpio fundamental. H um aspecto notvel na sua obra de poeta: a sua crtica da virtude agonstica dos vencedores de jogos, que era to altamente estimada pelos gregos, e a afirmao da superioridade da sageza. "No justo antepor sabedoria a mera fora corprea" diz ele (fr. 1). Aqui, virtude fundada na robustez fsica aparece contraposta a virtude espiritual do sbio. 18. PARMNIDES O fundador do eleatismo Parmnides. A grandeza de Parmnides desde logo evidente pela admirao que suscitou em Plato: este fez dele a personagem principal do dilogo que marca o ponto crtico do seu pensamento e que dedicado a ele; aponta-o, em outra parte (Teet., 183 e), como "venerando e terrvel a um tempo". Parmnides era cidado de Eleia ou Vlia, colnia focense situada na costa da Campnia ao sul de Paestum. Segundo as indicaes de Apolodoro, que coloca o seu florescimento na 69.a Olimpadas, teria nascido em 540-39; mas esta indicao ope-se ao testemunho de Plato segundo o qual Parmnides tinha 65 anos quando, acompanhado por 66 Zeno, veio a Atenas e se encontrou com Scrates, ento muito jovem (Parm., 127b; Teet., 183e; Sot., 217 c). Dada a grande elasticidade das indicaes cronolgicas de Apolodoro, no h motivo para pr em dvida o rebatido testemunho de Plato: da deduzia-se como provvel que Parmnides tenha nascido por volta de 516-11. Aristteles cita dubitativamente a indicao que Parmnides tenha sido discpulo de Xenfanes; mas uma vez que de excluir, como se viu, que Xenfanes tenha fundado uma escola em Eleia, a indicao aristotlica no significa provavelmente outra coisa seno queParmnides retomou a direco de pensamento iniciada com Xenfanes.' Segundo outras tradies (DioG. L., DC, 21; Diels, AI) Parmnides foi educado na filosofia do pitagrico Amenias e seguiu "vida pitagrica". o primeiro a expor a sua filosofia num poema em hexmetros. Xenfanes tambm expusera em versos as suas ideias filosficas mas de forma ocasional, entremeando-as nas suas poesias satricas. Anaximandro, Anaxmenes e Heraclito haviam escrito em prosa. O exemplo de Parmnides ser seguido somente por Empdocles. Do poema de Parmnides que, provavelmente, s em data posterior foi designado com o ttulo Acerca da natureza, restam-nos 154 versos. O poema dividia-se em duas partes: a doutrina da verdade (altheia) e a doutrina da opinio (doxa). Nesta ltima parte, Parmnides expunha as crenas do homem comum, propondo-se, porm, realizar sobre elas um trabalho de avaliao e normativo"Tambm isto aprenders: como so verosimilmente as coisas aparentes, para quem as examina em tudo e para tudo" (fr. 1, v. 31). Por conseguinte, Parmnides apresenta um conjunto de teorias fsicas provavelmente de inspirao pitagrica. Ao dualismo do limite e do
ilimitado, faz corresponder o da luz e das trevas que porventura no era des67 conhecido dos mesmos pitagricos; e considera a realidade fsica como um produto da mescla e ao mesmo tempo da luta destes dois elementos (fr. 9, Diels). A oposio entre estes dois elementos foi interpretada, a partir de Aristteles, como oposio entre o quente e o frio. "Parmnides, diz Aristteles, (Fs., 1, S. 188 a 20), toma como principio o quente e o frio que ele chama, por isso, fogo e terra". Sob esta forma, o dualismo parmendeo foi retomado no Renascimento por Telsio. Mas esta parte do poema de Parmnides em que ele se limita a expor " as opinies dos mortais" limitando-se a corrigi-las conformemente a uma maior verosimilhana, parece ter simplesmente como objectivo uma rectificao das opinies correntes que, todavia, ficam afastadas da verdade, visto que presistem no domnio das aparncias. a sua filosofia o contraste entre a verdade e a aparncia. "S duas vias de pesquisa se podem conceber. Uma que o ser e no pode no ser; e esta a via de persuaso porque acompanhada da verdade. A outra, que o ser no e necessrio que no seja; e isto, digo-te, um caminho em que ningum pode persuadir-se de nada" (fr. 4, Diels).: Pois que "um s caminho resta ao discurso: que o ser " (fr. 8). Mas este caminho no pode ser seguido seno pela razo: uma vez que os sentidos, ao contrrio, se detm na aparncia e pretendem testemunhar-nos o nascer, o perecer, o mudar das coisas, ou seja ao mesmo tempo o seu ser e o seu no-ser. - Na via da aparncia como se os homens tivessem duas cabeas, uma que v o ser, outra que v o no-ser, e erram por aqui e por ali como estultos e insensatos sem poderem ver claro em coisa nenhuma. Parmnides quer afastar o homem do conhecimento sensvel, quer desabitu-lo de se deixar dominar pelos olhos, pelos ouvidos e pelas palavras. homem 68 deve julgar com a razo e considerar com ela as coisas distantes como se estivessem diante dele. Ora a razo demonstra facilmente que no se pode nem pensar nem exprimir o no-ser. No se pode pensar sem pensar alguma coisa; o pensar coisa nenhuma um no-pensar, o dizer coisa nenhuma um no-dizer. O pensamento e a expresso devem em todo caso ter um objecto e este objecto o ser. Parmnides determina com toda a clareza o critrio fundamental da validade do conhecimento que deveria dominar toda a filosofia grega: o valor de verdade do conhecimento depende da realidade do objecto, o conhecimento verdadeiro no pode ser outra coisa seno o conhecimento do ser. este o significado das afirmaes famosas de Parmnides: "A mesma coisa o pensamento e o ser". (fr. 3, Diels). "A mesma coisa o pensar e o objecto do pensamento: sem o ser em que o pensamento expresso no poders encontrar o pensamento, visto que nada h ou haver fora do ser". (fr. 8, v. 34-37). Ao ser que objecto do pensamento, Parmnides atribui os mesmos caracteres que Xenfanes reconhecera no deus-tudo. Mas estes caracteres so por ele reconduzidos modalidade fundamental, que a da necessidade: O ser e no pode no ser. (fr. 4, Diels) a fiLosofia principal de Parmnides: tese que exprime o que para ele o sentido fundamental do ser em geral e constitui o princpio director da investigao racional. A necessidade a respeito do tempo eternidade, isto , contemporaneidade, totum simul; a respeito do mltiplo unidade, a respeito do devir (ou seja do nascer e perecer)
imutabilidade (fr. 8, 2-4, Diels). Parficularmente a ternidade no concebida por Parmnides como durao temporal infinita mas como negao do tempo. "O ser nunca foi nem 69 nunca ser porque agora todo de uma vez, uno e contnuo". Parmnides foi o primeiro que elaborou o conceito da eternidade como presena total. o ser no pode nascer nem perecer, visto que deveria derivar do no-ser ou dissolver-se nele, o que impossvel porque o no-ser no . O ser indivisvel porque todo igual e no pode ser em um lugar mais ou menos que em outro; imvel porque reside nos limites prprios; finito porque o infinito incompleto e ao ser nada falta. O ser completude e perfeio; e neste sentido justamente finitude. Como tal assimilado por Parmnides a uma esfera homognea, imvel, perfeitamente igual em todos os pontos. "Por conseguinte, visto que no tem um limite extremo, o ser perfeito em todas as partes. semelhante massa arredondada de esfera igual do centro para todas as suas partes" (fr. 8). Pelo que o ser pleno, enquanto todo presente a si mesmo e em ponto nenhum falta a ou deficiente de si; ele auto-suficincia. Algumas destas determinaes, por exemplo a da plenitude, e a da assimilao esfera, fizeram pensar numa corporeidade do ser parmendeo. De Zeller em diante tem-se afirmado que nem Parmnides nem os outros filsofos pr-socrticos se elevaram distino entre corpreo e incorpreo: como se fosse verosmil que os homens que atingiram tal altura de abstraco especulativa, pudessem no ter realizado a primeira e mais pobre de tais abstraces, a distino entre o corpreo e o incorpreo. Na realidade a plenitude do ser significa a sua auto-suficincia perfeita, pela qual o ser no falta ou no se basta a si em alguma das suas partes; e a esfera no , como o texto demonstra, seno um termo de comparao de que Parmnides se serve para ilustrar a finitude do ser, cujos limites no so negatividade, mas perfeio. No 70 entanto adoptou-se, para provar a corporeidade do ser parmendeo, uma frase de Aristteles a qual diz que Parmnides e Melissos "no admitiram nada mais que substncias sensveis" (De coei., IH, 1, 298b, 21). Mas Aristteles, que em certo ponto dissera primeiro que estes filsofos no falam das coisas fsicas", isto , no se ocupam das substncias corpreas, quer simplesmente dizer, com aquela frase, que eles no admitiram as substncias intelectuais (as inteligncias celestes) a que, ainda segundo ele, se podem referir a ingenerabilidade e a incompatibilidade que os Eleatas afirmam do ser.,Na realidade, Parmnides formulou pela primeira vez com absoluto rigor lgico os princpios fundamentais da cincia filosfica que muito mais tarde haver de chamar-se ontologia.) Com efeito, eles revelaram em ti a a sua-fora lgica aquela necessidade intrnseca do ser que j os filsofos jnicos e especialmente Anaximandro haviam expresso no conceito de substncia. Repetem-se nele, no entanto, empregados para exprimirem a necessidade do ser, os mesmos termos de que se servira Anaximandro: a lei frrea da justia (dike) ou do destino (moira). "A justia no desaperta os seus grilhes e no permite que alguma coisa nasa ou seja destruda, antes mantm com firmeza tudo o que " (fr. 8, v. 6). Nada h ou haver fora do ser, uma vez que o destino o agrilhoou de maneira a que ele permanea inteiro e imvel" (fr. 8, v. 36). A justia e o destino no so, aqui, foras mticas: so termos que servem para exprimir com evidncia intuitiva e potica a modalidade do ser, que no
pode no ser. Pela vez primeira o problema do ser foi posto por Parmnides; como problema metafsicoontolgico, quer isto dizer na sua generalidade mxima e no j to s como problema fsico. A pergunta eque coisa o ser?" a que Parmnides quis for71 mular a resposta, no equivalente pergunta "que coisa a natureza?" para que tinham procurado a resposta os filsofos precedentes e o prprio Heraclito. O ser de que fala Parmnides no , em Primeiro lugar, somente o da natureza, mas tambm o homem, as aces humanas, ou o de qualquer coisa pensvel, seja ela qual for; em segundo lugar, no tem relao directa com as aparncias naturais ou empricas porque fica para alm de tais aparncias e no constitu a estrutura, necessria, somente reconhecvel pelo pensamento, A caracterizao desta estrutura dada por Parmnides recorrendo quilo a que hoje chamamos urna categoria de modalidade: a necessidade. O ser verdadeiro ou autntico, o ser de que no se pode duvidar e a que s o pensamento pode convir o ser necessrio. "O ser e no pode no ser". (fr. 4). esta uma resposta que a pesquisa ontolgica haveria de dar mesma pergunta durante muitos e muitos sculos e que, de um certo ponto de vista, ainda a nica resposta que ela pode dar. Uma sua consequncia imediata a negao do possvel: visto que o possvel o que pode no ser e, segundo Parmnides, o que podo no ser, no . Com efeito, "no h nada, diz Parmnides, que impea o ser de se alcanar a si mesmo" (fr. 8, 45): quer dizer, que o impea de realizar-se na sua plenitude e perfeio. Os Megricos ( 37) exprimiram a mesma coisa com o teorema "o que possvel realiza-se, o que no se realiza no possvel". A forma potica no , no pensamento de Parmnides, to inflexvel na sua lgica rigorosa, uma vestimenta ocasional. imposta pelo entusiasmo do filsofo que na pesquisa puramente racional, que nada concede opinio e aparncia, reconheceu a via da redeno humana. Parmnides verdadeiramente pitagrico-no sentido em que 72 o ser Plato -pela sua convico inabalvel que s com a pesquisa rigorosamente conduzida o homem pode chegar a salvo, em companhia da verdade. A imagem, com que abre o poema de Parmnides, do sbio que transportado por cavalos fogosos "intacto (asine) atravs de todas as coisas, sobre a famosa via da divindade" (fr. 1), manifesta toda a fora de uma convico inicitica, que acredita, no nos ritos ou mistrios mas unicamente no poder da razo indicadora. E assim, pela primeira vez na histria da filosofia, se solvem na personalidade de Parmnides ao mesmo tempo o rigor lgico da pesquisa e o seu significado existencial. A "terribilidade" de Parmnides consiste justamente no extraordinrio poder que a pesquisa racional adquire com ele, enraizada como est na f no seu fundamental valor humano. Vezes houve em que se viu em Parmnides o fundador da lgica: mas, isto demasiado pouco para ele. Se por lgica se entende uma cincia em si, que sirva de instrumento pesquisa filosfica, nada mais estranho a Parmnides que uma lgica assim entendida. Mas se por lgica se entende a disciplina intrnseca pesquisa, enquanto se torna independente da opinio e assenta sobre um princpio autnomo prprio, ento verdadeiramente Parmnides o fundador da lgica. Por outro lado, a pura tcnica da pesquisa poder tornar-se, com Aristteles, objecto de -uma cincia particular somente depois que Parmnides e Plato mostraram em acto todo o seu valor. 19. ZENO
Discpulo e amigo de Parmnides, Zeno de Eleia era (segundo Plato, Parm., 127a) mais novo do que ele 25 anos: o seu nascimento, por conse73 guinte, deve ter ocorrido cerca de 489. Como a maior parte dos primeiros filsofos, Zeno participou na poltica da sua cidade natal; parece que contribuiu para o bom governo de Eleia e que sucumbiu corajosamente, tortura por ter conspirado contra um tirano (Diels, A 1). O prprio Plato (Parm., 128 b), nos expe o carcter e o intento de um escrito, que devia ser a obra mais importante de Zeno. 10 escrito era uma forma de reforo" da argumentao de Parmnides, dirigido contra os que procuravam apouc-la aduzindo que, se a realidade uma. vemo-los enredados em muitas e ridculas contradies. O escrito pagava-lhes na mesma moeda pois que tendia a demonstrar que a sua hiptese da multiplicidade emaranhava-se, desenvolvida a fundo, em dificuldades ainda maiores. O mtodo de Zeno consistia, por conseguinte, em reduzir ao absurdo a tese dos negadores da unidade do ser, conseguindo deste modo confirmar a tese de Parmnides.--4Precisamente em ateno a este mtodo reconheceria Aristteles em Zeno o inventor da dialctica (Dig. L., VIII, 57). E, com efeito, a dialctica para Aristteles o raciocnio que parte no de premissas verdadeiras mas de premissas provveis ou que parecem provveis. (Tp., 1, 1, 100 b, 21 segs.); e as teses de que parte Zeno para as refutar parecem exactamente provveis em extremo. Hegel, ao invs, opina que a dialctica de Zeno uma dialctica imperfeita porque metafsica, e aproximou-a da dialctica kantiana das antinomias. Zeno ter-se-ia servido das antinomias para demonstrar a falsidade das aparncias sensveis,'Kant para afirmar a verdade delas; pelo que Zeno seria superior a Kant (Geschichte der Phil., ed. Glockner, I, p. 343 segs.). Os historiadores modernos preocuparam-se com determinar contra quem foram dirigidas as refutaes de Zeno; e a maioria v 74 no pitagorismo o objecto destas refutaes, na medida em que ele afirmava a realidade do nmero, ou seja do mltiplo. Mas difcil, como se viu 14), supor que o nmero de que fala o pitagorismo seja um simples mltiplo: ele antes uma ordem e uma ordem mensurvel. Nem indispensvel supor que Zeno teve presentes as teses deste ou daquele filsofo: parece provvel que ele tenha esquematizado e fixado os fundamentos tpicos de todo o pluralismo de maneira a que a sua refutao valesse tanto contra o modo comum de pensar (a doxa de Parmnides), como contra os filsofos que esto de acordo com ele na admisso do pluralismo. Os argumentos de Zeno podem separar-se em dois grupos. O primeiro grupo dirige-se contra a multiplicidade e a divisibilidade das coisas. O segundo grupo dirige-se contra o movimento Se as coisas so inscritas, diz Zeno, o seu nmero ao mesmo tempo finito e infinito: finito, porque elas no podem ser mais ou menos do que so; infinito, porque entre duas coisas haver sempre uma terceira e entre esta e as outras duas haver ainda outras e assim por diante (fr. 3, Diels). Contra a unidade concebida como elemento real das coisas, Zeno observa que, se a unidade tem uma grandeza, ainda que mnima, visto que em toda a coisa se acham infinitas unidades. toda a coisa ser infinitamente grande; ao passo que, se a unidade no tem grandeza, as coisas que resultam dela sero privadas de grandeza e portanto nada (fr. 1 e 2). O argumento vale ainda, evidentemente, contra, a realidade da grandeza. No entanto, o espao real. Se tudo est no espao, o espao, por sua vez, dever estar em um outro
espao e assim at ao infinito: isto impossvel e obriga a deduzir que nada est no espao (Diels, A 24). Contra a multiplicidade se dirige ainda o outro 75 argumento que se um moio de trigo causar rumor quando cai, todo o gro e toda partcula de um gro deveriam causar um som: o que no acontece (Diels, A 29). A dificuldade est aqui em compreender como que diversas coisas reunidas juntamente podem produzir um efeito que cada uma delas separadamente no produz. Mas os argumentos mais famosos de Zeno so os dirigidos contra o movimento que nos foram conservados por: Aristteles (Fs., VI, 9). O primeiro o argumento chamado da dicotomia: para ir de A a B, um mvel deve primeiro efectuar metade do trajecto A-B, e, primeiro, metade desta metade; e assim por diante at ao infinito; pelo que nunca mais chegar a B. O segundo argumento o de Aquiles: Aquiles (ou seja o mais veloz) nunca alcanar a tartaruga (ou seja o mais lento), considerando que a tartaruga tem um passo de vantagem. Com efeito, antes de alcan-la, Aquiles dever atingir o ponto de que partiu a tartaruga, pelo que a tartaruga estar sempre em vantagem. O terceiro argumento o da seta. A seta, que parece estar em movimento, na realidade est imvel; com efeito, em cada instante a seta no pode ocupar seno um espao vazio igual ao seu comprimento e est imvel com referncia a este espao; e dado que o tempo feito de instantes, durante todo o tempo a seta estar imvel. O quarto argumento o do estdio. Duas multides iguais, dotadas de velocidades iguais, deveriam percorrer espaos iguais em tempos iguais. Mas se duas multides se movem ao encontro uma da outra desde extremidades opostas do estdio, cada uma delas gasta, para percorrer o comprimento da outra, metade do tempo que gastaria se uma delas estivesse parada: do que Zeno extraa a concluso que a metade do tempo igual ao dobro. 76 A inteno destes subtis argumentos, que amide tm sido chamados sofismas ou cavilaes at pelos filsofos que no tm mostrado muita habilidade a refut-los, bastante clara. O espao e o tempo so a condio da pluralidade e da mudana das coisas: pelo que, se eles se revelam contraditrios, revelam que a multiplicidade e a mudana so contraditrias e por isso irreais. Mas eles s so contraditrios se se admitir (como Zeno considera inevitvel) a sua infinita divisibilidade: por isso esta infinita divisibilidade assumida por Zeno como pressuposto tcito dos seus argumentos. Aristteles procurou, portanto, refut-lo negando sobretudo a infinita divisibilidade do tempo e afirmando que as partes do tempo nunca so instantes, privados de durao, mas tm sempre uma certa durao, ainda que mnima: assim j no seria impossvel, percorrer partes infinitas de espao em um tempo finito. Esta refutao no vale muito. Os matemticos modernos, a partir de Russell (Principles of Mathematics, 1903), tendem antes a exaltar Zeno precisamente por ter admitido a possibilidade da diviso at ao infinito, que est na base do clculo infinitesimal. E pode admitir-se que os argumentos de Zeno, pelas discusses que sempre suscitaram, hajam servido tambm para isto. Mas Zeno no foi, decerto, um matemtico, e aquilo com que se preocupava era muito simplesmente a negao da realidade do espao, do tempo e da multiplicidade. 20. MELISSOS Melissos de Samos, porventura discpulo de Parmnides, foi o general que destroou a frota ateniense em 441-40 a.C.. esta a nica notcia que temos da sua vida. (Plutarco, Per., 26), cuja
- 77 acm exactamente situada naquela data. Em um escrito em prosa Sobre a natureza ou sobre o ser, Melissos defendia polemicamente a doutrina de Parmnides, especialmente contra Empdocles. e Leucipo. A prova da fundamental falsidade do conhecimento sensvel , segundo Melissos, que este nos testemunha ao mesmo tempo a realidade das coisas e a sua mudana. Mas se as coisas fossem reais, no mudariam; e se mudam, no so reais. No existem, por conseguinte, coisas mltiplas, mas to -s a unidade (fr. 8, Diels). Como Zeno polemizava de preferncia contra o movimento, assim Melissos polemiza de preferncia contra a mudana. " Se o ser mudasse ainda s o equivalente a um cabelo em dez mil anos, seria inteiramente destruido na totalidade do tempo" (fr. 7). Em dois pontos todavia, Melissos modifica a doutrina de Parmnides. Parmnides concebia o ser como uma totalidade finita e intemporal; o ser vive, segundo Parmnides, somente no agora, como uma totalidade simultnea, e finito na sua completude. Melissos concebe a vida do ser como uma durao ilimitada; e afirma por isso a infinidade do ser no espao e no tempo. Ele compreende a eternidade do ser com infinidade de durao, como "o que sempre foi e sempre ser" e no tem, por conseguinte, nem princpio nem fim. Consequentemente, admite a infinidade de grandeza do ser: "Visto que o ser sempre, deve ser sempre de infinita grandeza" (fr. 3). Esta modificao de uma das teses fundamentais de Parmnides e talvez a outra afirmao de Melissos, que o ser pleno e que o vazio no existe (fr. 7), sugeriram a Aristteles a observao que " Parmnides tratou do uno segundo o conceito, Melissos segundo a matria" (Met., 1, 5, 986 b, 18). Tanto mais relevo adquire, por isso, a afirmao decidida, feita por Melissos da incorporeidade do ser. "Se , necessi78 ta-se absolutamente que seja uno; mas se uno no pode ter corpo, porque se tivesse um corpo teria partes e j no seria uno" (fr. 9). Os crticus modernos, que afirmaram a corporeidade do ser parmendeo (que excluda pela prpria formulao que os Eleatas do ao problema), atribuem a negao de Melissos a algum particular elemento, cuja realidade, ao que supem, Melissos discutisse. Mas mesmo no caso de Melissos ter em mente uma hiptese particular, o significado da sua afirmao no muda: o que corpo tem partes, portanto no uno: portanto no . A negao da realidade corprea est implcita para Melissos, como para Parmnides e para Zeno, na negao da multiplicidade e da mudana e no repdio da experincia sensvel como via de acesso verdade. NOTA BIBLIOGRFICA 16. Sobre o carcter do eleatismo: ZELLER-NESTLE, 1 167 segs., que todavia est dominada pela preocupao de atribuir aos Eleatas a doutrina da corporeidade do ser, preocupao que no d a perceber o valor especulativo do eleatismo e o seu significado histrico como antecedente necessrio da ontologia platnica e aristotlica. Os fragmentos e os testemunhos foram traduz. para o ltal. por PILo ALBERTELLI, Os Eleatas, Bari, 1939; ZFIROPULO, L' cole Mate: Parmnide, Znon, Melissos, Paris, 1950; G. CALOGERO, StUdi sWI'eleatismo, Roma, 1932; La logica del secondo eleatismo, in "Atene e Roma>, 1936, p. 141 segs. Conf. tambm A. CApizzi, recenti studi sull'eleatismo, in "lrtwsegna di filosofia", 1955, p. 205 segs. 17. Os fragmentos de Xenfanes em DrELS, cap. 21.-ZELLER-NEsTLE 1, 640 segs.;
GompERz, 1, 667 segs.; BORNET, 126 seg.; HEIDEL, Hecataeus and Xenophanes, In "American Journal of Philology", 1943. 18. Os fragmentos de Parmnides in DIELS, cap. 28. Sobre Parmnides fundamental: REINHARDT, Parmnides, Bonn, 1916. Vejam-se ainda as belas pgi79 nas dedicadas a Parmnides por JAEGm, Paidia, trad, ltal., 276 segs.. E alm disso M. UNTERSTEINER, Parmnide. Te8timonta=e e framm-ent, Florena, 1958, com uma larga introduo que refunde e rectifica os precedentes estudos do autor. Os pontos tpicos da Interpretao de Understeiner so os seguintes: 1) o ser de Parinnides seria uma totalidade, no uma unidade, uma vez que a unidade (como a continuidade) constituiria uma referncia ao plano emprico ou temporal e estaria, por conseguinte, em oposio com a eternidade do ser; 2) Parmnides; no diria (fr. 6. Diela). c0 ser, o nko-ser no "; mas diria"Existe o dizer e o Intuir o ser, e ao Invs no existe o dizer e o intuir o nada": no sentido que o prprio mtodo da pesquisa acabaria por criar o ser. Sobre as dificuldades filo16gicas desta subtil e porventura demaqiado moderna Interpretao efri J. BRUNSCHWIG, in "Revue Philosophique>, 1962, p. 120 sega. Do ponto de vista filosfico tem o inconveniente de descurar completamente o carcter fundamental do ser parmenideo, a necessidade. 19. Os fragmentos de Zeno In DmU, cap. 29. A discusso de Aristtelos est In Fs., VI, 2-9; ZELLER-NEsTLE, 1, 742 sega.; GoMPERz, 1, 205 segs.; BURNET, 356 segs. Sobre os argumentos contra o movimento: BROCHARD. tudes de philos. anc. et de Philos. moderne, Paris, 1912. 20. Os fragmentos de Melssos, In cap. 30.-ZELLER-NEsTLE, 1, 775 seg.; Gomp=, I, 198 segs.; BURNET, 368 segs.; ZELLER e BURNET, defensores do carcter materialista do ser parmendeo, so os autores da interpretao do fragmento 9 de Meilisaos discutida no texto. 80 v OS FISICOS POSTERIORES 21. EMPDOCLES O eleatismo, declarando aparente o mundo do devir e ilusrio o conhecimento sensvel que lhe concerne, no afastou a filosofia grega da investigao naturalista. Esta continua de acordo com a tradio iniciada pelos Jnicos, mas no pode deixar de ter em conta as concluses do eleatismo. A afirmao de que a substncia do mundo uma s e que ela o ser, no permite salvar a realidade dos fenmenos e explic-los.Se quiser reconhecer-se que o mundo do devir existe em certos limites reais, deve admitir-se que o princpio da realidade no nico mas mltiplo. Nesta via se pem os fsicos do sculo V. buscando a aplicao do devir na aco de uma multiplicidade de elementos, qualitativamente ou quantitativamente diversos. Empdocles, de Agrigento nasceu ao redor de 492 e morreu mais ou menos aos sessenta anos. Filho de Meto, que tinha um lugar
importante no governo democrtico da cidade, participou na vida 81 poltica e foi ao mesmo tempo mdico, dramaturgo e homem de cincia. Ele prprio apresenta a sua doutrina como um instrumento eficaz para dominar as foras naturais e at para chamar do Hades a alma dos defuntos (fr. 111, Diels). A sua figura de mago (ou de charlato) realada pelas lendas que se formaram acerca da sua morte. Os seus partidrios disseram que tinha subido ao cu durante a noite; os seus adversrios, que se precipitara na cratera do Etna para ser julgado um deus (Diels, A 16). Empdocles foi, depois de Parmnides, o nico filsofo grego que exps em verso as suas doutrinas filosficas. O seu exemplo no foi seguido na antiguidade seno por Lucrcio, o qual lhe dedicou um magnfico elogio (De nat. rer., 1, 716 segs.). Restaram dele fragmentos mais abundantes que de qualquer outro filsofo prsocrtico, pertencentes a dois poemas. Sobre a natureza e Purificaes: o primeiro de carcter cosmolgico, o segundo de carcter teolgico e inspira-se no orfismo e no pitagorismo. Empdocles conhecedor dos limites do conhecimento humano. Os poderes cognoscitivos do homem so limitados; o homem v s uma pequena parte de uma "vida que no vida" (porque passa de fulgida) e conhece s aquilo com que por acaso topa. Mas justamente por isto no pode renunciar a nenhum dos seus poderes cognoscitivos: necessrio que se sirva de todos os sentidos e ainda do intelecto, para ver todas as coisas na sua evidncia. Como Parmnides, Empdocles considera que o ser no pode nascer nem perecer; mas diferena de Parmnides quer explicar a aparncia do nascimento e da morte e explica-a recorrendo ao combinar-se e separar-se dos elementos que compem a coisa.A unio dos elementos o nascimento das coisas, a sua desunio a morte.1 Os elementos so quatro: fogo, gua, terra e ar. O nome "elemento" 82 s mais tarde, com Plato, aparece na terminologia filosfica: Empdocles, fala de "quatro razes de todas as coisas". Estas quatro razes so animadas por duas foras opostas: o Amor (Philia) que tende a uni-las; a Desavena ou dio (Neikos) que tende a desuni-las.',O Amor e a Desavena so duas foras csmicas de natureza divina, cuja aco se alterna no universo, determinando, com tal alternncia, as fases do ciclo csmico. H uma fase em que o Amor domina completamente e o Sfero no qual todos os elementos so unificados e enlaados na mais perfeita harmonia. Mas nesta fase no h nem o sol nem a terra nem o mar, porque no h mais que um todo uniforme, uma divindade que goza da sua soledade (fr. 27, Diels). A aco da Desavena rompe esta unidade e comea a introduzir a separao dos elementos. Mas nesta fase a separao no destrutiva: at certo ponto, ele determina a formao das coisas que existem no nosso mundo, o qual produto da aco combinada das duas foras e fica a meio caminho do reino do Amor e do reino do dio. Continuando o dio a agir, as prprias coisas se dissolvem e tem-se o reino do caos: o puro domnio do dio. -Mas ento cabe de novo ao Amor recomear a reunificao dos elementos: a meio caminho ter-se- novamente o mundo actual, mesclado de dio e de amor e finalmente regressar-se- ao Sfero: no qual recomear um novo ciclo. Aristteles observou (Met., 1. 4, 985 a, 25) Que Empdocles no coerente porque admite ao mesmo tempo que o Amor crie o mundo numa volta e o destrua na outra; e assim o (dioJ Mas Aristteles faz esta observao porque identifica o Amor e o dio respectivamente com o Bem e o Mal (1b., 985 a, 3). Em Empdocles, tal identificao no existe. Empdocles est bem longe de admitir que o Amor, e s o Amor,
o princpio 83 do Cosmos: como Heraclito est convencido que a diviso dos elementos, o dio, a luta, tm uma parte importante na constituio do mundo. "Estas duas coisas, escreveu ele, so iguais e igualmente originrias e tem cada uma o seu valor e o seu carcter e predominam alternadamente no volver do tempo" (fr. 17, v. 26, Diels). Os quatro elementos e as duas foras que os movem so ainda as condies do conhecimento humano. O princpio fundamental do conhecimento que o semelhante se conhece com o semelhante. "Ns conhecemos a terra com a terra, a gua com a gua, o ter divino com o ter, o fogo destruidor com o fogo, o amor com o amor e o dio funesto com o dio" (fr. 109).' O conhecimento realiza-se por meio do encontro entre o elemento que existe no homem e o mesmo elemento que existe no exterior do homem. Os eflvios que provm das coisas produzem a sensao quando se aplicam aos poros dos rgos dos sentidos pela sua grandeza;'de outro modo passam despercebidos (Diels, A 86). Empdocles no faz qualquer distino entre o conhecimento dos sentidos e o do intelecto; tambm este ltimo se realiza da mesma maneira por um encontro dos elementos externos e internos. Em as Purificaes Empdocles retoma a doutrina rfico-pitagrica da metempsicose. H uma lei necessria de justia, que faz expiar aos homens, atravs de uma srie sucessiva de nascimentos e de mortes, os pecados de que se mancharam (fr. 115). Empdocles apresenta esta doutrina como o seu destino pessoal: "Fui em dada poca menino e menina, arbusto e pssaro e silencioso peixe do mar" (fr. 117). E lembro saudosamente a felicidade da antiga morada: "De que honras, de que alturas de felicidade eu ca para errar aqui, sobre a terra, entre os mortais" (fr. 119). 84 22. ANAXGORAS Anaxgoras de Clazmenes, nascido em 499-98 a.C. e falecido em 428-27, apresentado pela tradio como um homem de cincia absorto nas suas especulaes e alheio a toda actividade prtica. Para poder ocupar-se das suas investigaes cedeu todos os seus haveres aos parentes. Interrogado acerca da finalidade da sua vida respondeu orgulhosamente que era viver "para contemplar o sol, a lua e o cu". Aos que o exprobravam por nada lhe importar a sua ptria respondeu: "A minha ptria importa-me muitssimo", indicando o cu com a mo (Diels, A 1). Foi o primeiro a introduzir a filosofia em Atenas, que era ento governada por Pricles, 1 de quem foi amigo e mestre; mas, acusado de impiedade pelos inimigos de Pricles e forado a regressar Jnia, fixou residncia em Lampsaco. Restam-nos alguns fragmentos do primeiro livro da sua obra Sobre a natureZa. - > 1 Tambm Anaxgoras aceita o principio de Parmnides da substancial imutabilidade do ser.'!"A respeito do nascer e do perecer, diz ele (fr. 17), os gregos no tm uma opinio exacta.)Nenhuma coisa nasce e nenhuma perece, mas todas se compem de coisas j existentes ou se decompem nelas. A E assim se deveria antes chamar reunir-se ao nascer e separar-se ao perecer". Como Empdocles, admite que os elementos so qualitativamente distintos uns dos outros, mas diferena de Empdocles, considera que esses elementos so partculas invisveis que denomina sementes.1 Uma considerao filosfica est na base da sua doutrina. Ns utilizamos um alimento simples e de uma s espcie, o po e a gua, e deste alimento formam-se o sangue, a carne, as peles, os ossos, etc. preciso,
portanto, que no alimento se encontrem as partculas geradoras de todas as partes do nosso 85 corpo, partculas visveis mente., Anaxgoras substituiu assim como fundamento da fsica a considerao cosmolgica pela considerao biolgica. As partculas elementares, na medida em que so semelhantes ao todo que constituem, foram chamadas por Aristteles homeomerias, -- - - A primeira caracterstica das sementes ou homeomerias a sua infinita divisibilidade, a segunda caracterstica a sua infinita agregabilidade. Por outras palavras no se pode, segundo Anaxgras, chegar a elementos indivisveis com a diviso das sementes, como no se pode chegar a um todo mximo com a agregao das sementes, todo tal que no seja possvel haver maior. Eis o fragmento famoso em que Anaxgoras exprime este conceito: "No h um grau mnimo do pequeno mas h sempre um grau menor, sendo impossvel que o que deixe de ser por diviso. Mas tambm do grande h sempre um maior. E o grande igual ao pequeno em composio. Considerada em si mesma, toda a coisa a um tempo pequena e grande" (fr. 3, Diels).'Como se v, a infinita divisibilidade, que Zeno assumia para negar a realidade . das coisas, assumida por Anaxgoras como a prpria essncia da realidade. 1 A importncia matemtica deste conceito evidente. Por um lado, a noo que se possa obter sempre por diviso, uma quantidade mais pequena do que toda a quantidade dada, o conceito fundamental do clculo infinitesimal. Por outro lado, que toda a coisa possa ser. chamada grande ou pequena conformemente ao processo de diviso ou de composio por que est envolvida, uma afirmao que implica a relatividade dos conceitos de grande e pequeno. Uma vez que nunca se chega a um elemento ltimo e indivisvel, tambm jamais se alcana, segundo Anaxgoras, um elemento simples, isto , um elemento qualitativamente homogneo que seja, 86
por exemplo, somente gua ou somente ar. "Em toda a coisa diz ele, h sementes de todas as coisas" (fr. 11). A natureza de uma coisa deterninada pelas sementes que nela prevalecem: parece ouro aquela em que prevalecem as partculas de ouro, embora haja nela partculas de todas as outras substncias. No princpio as sementes estavam mescladas entre si desordenadamente e constituam uma multido infinita, quer no sentido da grandeza do conjunto, quer no sentido da pequenez de qualquer parte sua. NEsta mistura catica em imvel; para nela introduzir o movimento e a ordem interveio o Intelecto (fr. 12). Para Anaxgoras o Intelecto est totalmente separado da matria constituda pelas sementes. Ele simples, infinito e dotado de fora prpria; e serve-se desta fora para operar a separao dos elementos. Mas porque as sementes so divisveis at ao infinito, a separao de partes operada pelo Intelecto no elimina a mescla: e assim agora como no principio "todas as coisas esto juntas" (fr. 6). Pode perguntar-se, a ser assim, em que coisa consiste a ordem que o Intelecto d ao universo. A resposta de Anaxgoras que esta ordem consiste na relativa prevalncia, que as coisas do mundo mostram, de uma certa espcie de sementes: por exemplo, a gua assim porque contm uma prevalncia de sementes de gua, embora contenha ainda sementes de todas as outras coisas. Por esta prevalncia, que o efeito da aco ordenadora do Intelecto, se determina ainda a separao e a oposio das
qualidades, por exemplo do raro e do denso, do frio e do quente, do escuro e do lunnoso, do hmido e do seco (fr. 12, Diels). ,: 1 Empdocles explicara o conhecimento por meio do princpio da semelhana: Anaxgoras explica-o por meio dos contrrios. Ns sentimos o frio pelo quente, o doce pelo amargo e toda a qualidade pela 87 qualidade oposta. Visto que toda a disseno acarreta dor, toda a sensao dolorosa e a dor acaba por se sentir com a longa durao ou com o excesso da sensao (Diels, A 29). A prpria constituio das coisas introduz um limite no nosso conhecimento; no podemos perceber a multiplicidade das sementes que constituem cada uma delas: pois que Anaxgoras diz que "a fraqueza dos nossos sentidos impede-nos de alcanar a verdade" (fr. 21 a); e, com efeito, os sentidos mostram-nos as sementes que predominam na coisa que est ante ns e fazem-nos perceber a sua constituio interna. A importncia de Anaxgoras reside em ter ele afirmado um princpio inteligente como causa da ordem do mundo. Plato (Fd. 97 b) elogia-o por isto e Aristteles diz dele pelo mesmo motivo: "Aquele que disse: "Tambm na natureza, como nos seres viventes, h um Intelecto causa da beleza e da ordem do universo", fez figura de homem sensato e os predecessores, em comparao com ele, parecem gente que fala toa" (Met., 1, 3, 984 b). Mas Plato confessa a sua desiluso ao constatar que Anaxgoras no se serve do intelecto para explicitar a ordem das coisas e recorre aos elementos naturais, e Aristteles diz de maneira anloga (lb., 1, 4, 985 a, 18) que Anaxgoras utiliza a inteligncia como se se tratasse de um deus ex machina todas as vezes que se v embaraado para explicar qualquer coisa por meio das causas naturais, ao passo que nos outros casos recorre a tudo, excepto ao Intelecto. Plato e Aristteles indicaram assim, com toda a justia, a importncia e os limites da concepo de Anaxgoras. Contudo, permanecendo embora preso ao mtodo naturalista da filosofia jnica, Anaxgoras inovou radicalmente a concepo do mundo prprio daquela filosofia, 88 admitindo uma inteligncia divina separada do mundo e causa da ordem deste. 23. OS ATOMISTAS A escola de Mileto no findou com Anaxmenes; de Mileto provm ainda Leucipo (se bem que alguns escrapres antigos afirmem, ser de Eleia ou de Abdera o fundador do atomismo, que pode considerar-se o ltimo e mais maduro fruto da pesquisa naturalista iniciada com a escola de Mileto. Sabe-se to pouco de Leucipo que at foi possvel duvidar da sua existncia. Epicuro (Diels, 67, A 2) diz que nunca houve um filsofo com este nome; e esta opinio foi tambm retomada por historiadores recentes. Segundo testemunhos antigos, foi contemporneo de Empdocles e de Anaxgoras e discpulo de Parmnides. Os seus escritos devem ter-se confundido com os de Demcrito a quem se unira para indicar os dois fundadores do atomismo antigo. Demcrito de Abdera foi o maior naturalista do seu tempo. contemporneo de Plato, pelo qual, todavia, nunca foi nomeado. Ele prprio nos diz (fr. S. Dieis) que era ainda jovem, quando Anaxgoras era velho; o seu nascimento situa-se em 460-59 a.C.. Das muitas obras que tm o seu nome, e de que temos numerosos fragmentos, O grande ordenamento, O pequeno ordenamento, Sobre a inteligncia, Sobre as formas, Sobre a bondade da alma, etc., nem todas so, muito provavelmente, devidas a ele; algumas expem a doutrina geral
da escola. A fama de Demcrito como homem de cincia fez com que a sua figura fosse estilizada na de um sbio completamente distrado da prtica da vida. Horcio (Ep., 1, 12, 12) conta que rebanhos de gado devastavam, pastando, os campos de 89 Demcrito, enquanto a mente do sbio errava por stios remotos. Na partilha da rica herana paterna quis que a sua parte fosse em dinheiro e assim recebeu menos, tendo gasto tudo nas suas viagens ao Egipto e junto dos Caldeus. Quando o pai ainda era vivo, costumava recolher-se a um casinhoto campestre que servia tambm de estbulo, e aqui ficou uma vez sem reparar num boi que o pai l prendera espera de ele o levar ao sacrifcio (Diels, 68, A 1). O esprito levemente zombeteiro desta anedota desenha-o como o tipo do sbio distrado. Parece que Leucipo lanou os fundamentos da doutrina e que Demcrito, desenvolveu depois estes fundamentos quer na pesquisa fsica quer na pesquisa moral. Os atomistas concordam com o princpio fundamental do eleatismo de que s o ser mas decidem reportar este principio experincia sensvel e servir-se dela para explicar os fenmenos. Assim que conceberam o ser como o pleno, o no-ser como o vazio e consideram que o pleno e o vazio so os princpios constitutivos de todas as coisas.! Todavia, o pleno no um todo compacto: formado por um nmero infinito de elementos que so invisveis pela pequenez da sua massa. Se estes elementos fossem divisveis at ao infinito, dissolver-seiam no vazio; devem, por conseguinte, ser indivisveis, e por isso so chamados tomos., S os tomos so eternamente contnuos, os outros corpos no so contnuos porque resultam do simples contacto dos tomos e podem, por isso, ser divididos. A diferena entre os tomos no qualitativa como a das sementes de Anaxgoras, mas quantitativa. Os tomos no diferem entre si por natureza mas to somente por forma e grandeza. Eles determinam o nascimento e a morte das coisas pela unio e pela desagregao; determinam a diversidade e a mudana delas pela sua ordem 90 e pela sua posio. 1 Segundo a comparao de Aristteles (Met., 1, 4, 985 b), so semelhantes s letras do alfabeto; que diferem entre si pela forma e do origem a palavras e a discursos diversos dispondo-se e combinando-se diversamente. Todas as qualidades dos corpos, dependem, portanto, ou da figura dos tomos ou da ordem e da combinao deles, Pelo que nem, todas as qualidades sensveis so objectivas, quer dizer no pertencem verdadeiramente s coisas que se provocam em ns. So objectivas as qualidades prprias dos tomos: a forma, a dureza, o nmero, o movimento; ao contrrio o frio, o calor, os sabores, os odores, as cores so simplesmente aparncias sensveis, provocadas, certo, por especiais figuras ou combinaes de tomos, mas no pertencentes aos prprios tomos (fr. 5). Todos os tomos so animados de um movimento espontneo, pelo qual se chocam e ricocheteiam dando ou em ao nascer, ao perecer e ao mudar de coisas Mas o movimento determinado por leis imutveis. "Nenhuma coisa, diz Leucipo (fr. 2), acontece sem razo, antes tudo acontece por uma razo e necessariamente". O movimento originrio dos tomos, fazendo-os girar e chocar-se em todas as direces, produz um vrtice, do qual as partes mais pesadas so arrastadas para o centro e as outras so, ao contrrio, repelidas para a periferia. O seu peso, que as faz tender para o centro, portanto um efeito do movimento vertical em que so arrastadas. Desta maneira se formaram infinitos mundos que incessantemente se geram e se dissolvem.
O movimento dos tomos explica tambm o conhecimento humano. A sensao nasce da imagem (idla) que as coisas produzem na alma por meio de fluxos ou correntes de tomos que emanam delas. Toda a sensibilidade se reduz por isso ao tacto; 91 porque todas as sensaes so produzidas pelo contacto, com o corpo do homem, dos tomos que provm das coisas. Mas o prprio Demcrito no se satisfaz com este conhecimento, ao qual est necessariamente limitado. "Em verdade, diz ele, nada sabemos de nada, pois a opinio vem de fora para cada qual" (fr. 7). " preciso conhecer o homem com estes critrios: que a verdade fica longe dele" (fr. 6). E, com efeito, as sensaes de que deriva todo o conhecimento humano mudam de homem para homem, mudam at no mesmo homem conforme as circunstncias, pelo que no fornecem um critrio absoluto do verdadeiro e do falso (Diels, 68 A 112). Estas limitaes no respeitam, contudo, ao conhecimento intelectual. Ainda que sujeito s condies fsicas que se observam no organismo (Diels, 68 A 135), este conhecimento , todavia, superior sensibilidade, porque permite captar, para l das aparncias, o ser do mundo: o vazio, os tomos e o seu movimento. A onde termina o conhecimento sensvel que, quando a realidade se subtiliza e tende a resolver-se nos seus ltimos elementos, se torna ineficaz, comea o conhecimento racional, que um rgo mais subtil e alcana a prpria realidade (Demcr., fr. 11). A anttese entre conhecimento sensvel e conhecimento intelectual assim talhada como a que existe entre o carcter aparente e convencional das qualidades sensveis e a realidade dos tomos e do vazio. "Por conveno fala-se, diz Demcrito (fr. 125), de cor, de doce, de amargo; na realidade, h s tomos e vazio". Desta maneira, correspondentemente ao contraste entre aparncia e realidade, se mantm no atomismo o contraste entre conhecimento sensvel e conhecimento intelectual, no obstante a sua comum reduo a factores mecnicos; e ambos estes contrastes so inferidos do eleatismo. 92 O atomismo representa a reduo naturalista do eleatismo. Fez sua a proposio fundamental do eleatismo: o ser necessidade; mas compreendeu esta proposio no sentido da determinao causal. Parmnides exprimia praticamente o sentido da necessidade s noes de justia ou de destino. O atomismo identifica a necessidade com a aco das causas naturais. Do eleatismo, o atomismo infere ainda a anttese entre realidade e aparncia; mas esta prpria anttese conduzida ao plano da natureza e a realidade de que se fala a dos elementos indivisveis da prpria natureza. O resultado destas transformaes, que vai alm das intenes dos prprios atomistas, o comeo da constituio da pesquisa naturalista como disciplina em si; e da distino da pesquisa filosfica como tal. A constituio de uma cincia da natureza como disciplina particular, tal como aparece em Aristteles, preparada pela obra dos atomistas, que reduziram a natureza a pura objectividade mecnica, com a excluso de qualquer elemento mtico ou antropomrfico. A prova desta inicial separao da cincia da natureza da cincia do homem temo-la no facto de Demcrito no estabelecer qualquer relao intrnseca entre uma e a outra. A tica de Demcrito no tem, de facto, relao alguma com a sua doutrina fsica. O mais elevado bem para o homem a felicidade; e esta no reside nas riquezas, mas somente na alma (fr. 171). No so os corpos e a riqueza que nos tornam felizes, mas sim a justia e a razo, e a onde falta a razo, no se sabe fruir a vida nem superar o terror da morte. Para os homens a alegria nasce da medida do prazer e da proporo da vida: os defeitos e os
excessos tendem a perturbar a alma e a gerar nela movimentos intensos. E as almas que se movimentam de um extremo ao outro, no so constantes nem contentes (fr. 191). 93 A alegria espiritual, a ataymia, no tem por conseguinte nada que ver com o prazer (edon): "o bem e o verdadeiro-diz Demcrito-so idnticos para todos os homens, o prazer diferente para cada um deles (fr. 69). Pelo que o prazer no bem em si mesmo: necessrio que sejha somente o que procede do belo (fr. 207). A tica de Demcrito est, assim, a grande distncia da do hedonismo que poderamos aguardar Como corolrio do seu naturalismo teortico. Pelo contrrio, ao decidido objectivismo que a directriz de Demcrito no domnio da pesquisa naturalista corresponde, na tica, um igualmente decidido subjectivismo moral. O guia da aco moral , segundo Demcrito, o respeito (aidos) para consigo mesmo. "No deves ter respeito pelos outros homens mais que por ti prprio, nem proceder mal quando ningum o saiba mais que quando o saibam; mas deves ter por ti mesmo o mximo respeito e impor tua alma esta lei: no fazer aquilo que no se deve fazer" (fr. 264). Aqui a lei moral est colocada na pura interioridade da pessoa humana, que ao invs se faz lei a si prpria mediante o conceito de respeito para consigo mesmo. Este conceito, fundamental para compreender o valor e a dignidade humana, substitui o velho conceito grego do respeito para com a lei da polis, e mostra como a pesquisa moral de Demcrito se move em direco antittica da sua pesquisa fsica e como, por isso, se iniciou a diferenciao da cincia natural da filosofia. Um outro trao notvel na tica de Demcrito: o cosmopolitismo. "Para o homem sbio diz ele-toda a terra utilizvel, porque a ptria da alma excelente todo o mundo" (fr. 247). Reconhece, todavia, o valor do estado e diz que nada prefervel a um bom governo, uma vez que o governo abrange tudo: se ele se mantm, tudo 94 se mantm; se ele cai tudo perece (fr. 252). E declara que necessrio preferir viver pobre e livre numa democracia a viver rico e escravo numa oligarquia (fr. 251). A superioridade que ele atribui vida exclusivamente dedicada pesquisa cientfica torna-se evidente pelas suas ideias sobre o matrimnio. Este condenado por ele, na medida em que se funda sobre as relaes sexuais que diminuem o domnio do homem sobre si mesmo, e na medida em que a educao dos filhos impede a dedicao aos trabalhos mais necessrios, enquanto o sucesso da sua educao continua duvidoso. Aqui a preocupao de Demcrito evidentemente a de salvaguardar a disponibilidade do homem para consigo mesmo que torna possvel o empenho na pesquisa cientfica. NOTA BIBLIOGRFICA 21. Os fragmentos de Empdocles, in Diels, cap. 31. - ZELLER-NESTLE, 1, 939 segs.; GoMPERZ, I, 241 segs.; BURNET, 229 segs.; BIGNONE, Empdocle ,(estudo, crtico, trad. e comentrio dos testemunhos e dos fragmentos), Turim, 1916; G. COLLI, E.; Diza, 1949; W. KRANZ, E.; Zurique, 1949; J. ZAFIRO PAULO, E. de Agrigento. Paris, 1953; G. NLOD, E. de Agrigento, Bruxelas, 1959. 22. Os fragmentos de Anaxgoras, in D=, cap. 59-ZELLER-NESTLE, 1, 1195, segs.; GomPERZ, I, 222 segs.; BURNET 287 segs.; CLEVE, The Philosophy of Anaxagoras. An Attempt at Reconstruction, Nova-lorque, 1949.
23. Os fragmentos dos atomistas, in DIELS, cap. 67 (Lepcipo) e cap. 68 (Demcrito), trad. para o italiano por V. E. ALFIERI, Bafi, 1936. Negou a existncia de Leucipo: R.HODE, Meine Schriften, 1, 205, em 1881. Contra ele: DIELS, in "Rhein. Mus." 1887, 1 segs.. Sobre outros desenvolvimentos do problema: HOWALD, Festchrift f. Joel, 1934; A. G. M. V. MELSEN, From Atonws to Atom, Pittsburgh, 1952; V. E. ALI=RI, Atomos idea, Florena, 1953. 95 vi A SOFSTICA 24. CArCTER DA SOfSTICA Dos meados do sculo V at aos fins do sculo IV, Atenas o centro da cultura grega. A vitria contra os Persas abre o perodo ureo do poder ateniense. A ordem democrtica tornava possvel a participao dos cidados na vida poltica e tornava preciosos os dotes oratrios que permitem obter o xito. Os sofistas vm ao encontro da necessidade de uma cultura adaptada educao poltica das classes. A palavra sofista no tem nenhum valor filosfico determinado e no indica uma escola. Originariamente significou apenas sbio e empregava-se para indicar os Sete Sbios, Pitgoras e quantos se assinalaram por qualquer actividade teortica ou prtica. No perodo e nas condies que indicamos, o termo assume um significado especifico: sofistas eram aqueles que faziam profisso da sabedoria e a ensinavam mediante remunerao. O lugar da sofstica na histria da filosofia no apresenta por isso 97 analogia com o das escolas filosficas anteriores ou contemporneas. Os sofistas influenciaram poderosamente, certo, o curso da investigao filosfica, mas isto aconteceu por modo inteiramente independente do seu intento, que no era teortico, mas apenas prtico-educativo. Os sofistas no podem relacionar-se com as investigaes especulativas dos filsofos jnios, mas com a tradio educativa dos poetas, a qual se desenvolvera ininterruptamente de Homero a Hesodo, a Slon e a Pndaro, Todos eles orientaram a sua reflexo para o homem, para a virtude e para o seu destino e retiraram, de tais reflexes, conselhos e ensinamentos. Os Sofistas no ignoram esta sua origem ideal porque so os primeiros exegetas das obras dos poetas e vinculam a eles o seu ensinamento. Assim Protgoras, no dilogo homnimo de Plato, expe a sua doutrina da virtude mediante o comentrio a uns versos de Simonides. "Os sofistas foram os primeiros que reconheceram -o valor formativo do saber e elaboraram o conceito de cultura (paideia), que no soma de noes, nem to-pouco apenas o processo da sua aquisio, mas formao do homem no seu ser concreto, como membro de um povo ou de um ambiente social.)Os sofistas foram, pois, mestres de cultura. Mas a cultura, objecto da sua ensinana, era a que era til classe dirigente da cidade em que tinha lugar o seu ensino: por isso era pago. 'Para que o seu ensino fosse no s permitido, mas ainda requerido e recompensado, os sofistas tinham de inspir-lo nos valores prprios da comunidade onde o ministravam, sem tentar crticas ou indagaes que os colocassem em choque com tais valores.Por outro lado, precisamente por esta situao, estavam em condies de se darem conta da diversidade ou heterogeneidade de tais valores; tal quer dizer, tambm, das suas limitaes. Eles podiam ver
98 que duma cidade a outra, de um povo a outro, muitos dos valores em que assenta a vida do homem sofrem variaes radicais e tornam-se incomensurveis entre si. A natureza relativista das suas teses tericas no mais que a expresso duma rendio fundamental da sua ensinana. Por outro lado, consideram-se "sbios" precisamente no sentido antigo e tradicional do termo, isto , no sentido de tornar os homens hbeis nas suas tarefas, aptos para viver em conjunto, capazes de levar a melhor nas competies civis. Certamente, sob este aspecto, nem todos os sofistas manifestam, na sua personalidade, as mesmas caractersticas, Protgoras reivindicava para os sbios e para bons oradores a tarefa de guiar e aconselhar para o melhor a prpria comunidade humana (Teet., 167 c). Outros sofistas colocavam explicitamente a sua obra ao servio dos mais poderosos e dos mais sagazes. Em qualquer dos casos o interesse dos sofistas limitava-se esfera das ocupaes humanas e a prpria filosofia considerada por eles como um instrumento para se moverem habilmente nesta esfera. No grgias platnico, Clicles afirma que se estuda a filosofia unicamente "para a educao prpria" e que por isso conveniente na idade juvenil, mas torna-se intil e danosa quando cultivada para l desse limite, pois impede o homem de tornar-se experiente nos negcios pblicos e privados e em geral em tudo o que concerne natureza humana (484 e-485 d). -"-")Por motivo idntico, O Objecto do ensino sofstico limitava-se a disciplinas formais, como a retrica ou a gramtica, ou a noes vrias e brilhantes mas desprovidas de solidez cientfica, como as que podiam revelar-se teis na carreira de um advogado ou de um homem polticO. a sua criao fundamental foi a retrica, isto , a arte de persuadir, 99 independentemente da validade das razes adoptadas. com a retrica afirmavam a independncia e a omnipotncia: a independncia de todo o valor absoluto, cognoscitivo ou moral; a omnipotncia a respeito de todo o fim a alcanar, Mas pela prpria exigncia desta arte, o homem guinda-se ao primeiro lugar na ateno dos sofistas. O homem considerado no j como um fragmento da natureza ou do ser, mas nos seus caracteres especficos: assim, se a primeira fase da filosofia grega fora, prevalentemente, cosmolgica ou ontolgica, com os sofistas inicia-se uma fase antropolgica. PROTGORAS Protgoras de Abdera foi o primeiro que se intitulou sofista e mestre de virtude. Segundo Plato, que nos apresenta a sua figura no dilogo que leva o seu nome, era muito mais velho do que Scrates: o seu apogeu situa-se em 444-40. Ensinou durante 40 anos em todas as cidades da Grcia, deslocando-se de uma para outra. Esteve repetidas vezes em Atenas, mas por fim foi acusado de atesmo e obrigado a abandonar a cidade. Morreu afogado com 70 anos quando se dirigia para a Sicilia. Plato deixou-nos, no dilogo intitulado com o seu nome, um retrato vivo, ainda que irnico, do sofista. Representa-o como homem do mundo, cheio de anos e de experincias, grandiloquente, vaidoso, mais preocupado, nas discusses, em obter a todo o custo um xito pessoal do que a alcanar a verdade. A obra principal de Protgoras, RacioCnios demolidores, tambm citada com o ttulo Sobre a verdade ou sobre o ser. Atribui-se a Protgoras uma obra Sobre os deuses. Dos escritos de Protgoras poucos fragmentos restam. 100
expressou o postulado fundamental do ensino sofistico no famoso princpio com que iniciava a obra Sobre a verdade: "O homem a medida de todas as coisas (chrmata), das coisas que so enquanto so, das coisas que no so enquanto no so" (fr. 1, Dielsy. ' O significado desta tese famosa foi aclarado pela primeira vez por Plato, cuja interpretao continuou e continua a ter o favor. Segundo Plato, Protgoras pretendia dizer que "tais como as coisas singulares me aparecem, tais so para mim, e quais te aparecem, tais so para ti: dado que homem tu s e homem sou" (Teet., 152 a); e que portanto identificava aparncia e sensao, afirmando que aparncia e sensao so sempre verdadeiras porque "a sensao sempre da coisa que " (1b., 152 c); , entende-se, para este ou para aquele homem. Aristteles (Met., IV, 1, 1053 a, 31 segs.) e com ele todas as fontes antigas confirmam substancialmente a interpretao platnica. Esta aprovada tambm pela crtica que, segundo um testemunho de Aristteles (lb., LII, 2, 997 b, 32 segs.). Protgoras dirigia matemtica, observando que nenhuma coisa sensvel tem a qualidade que a geometria atribui aos entes geomtricos e que, por exemplo, no existe uma tangente que toque a, circunferncia num s ponto, como quer a geometria (fr. 7. Diels). Nesta crtica, como bvio, Protgoras valia-se das aparncias sensveis para julgar da validade das proposies geomtricas. Segundo o mesmo Plato, tambm aqui seguido quase unanimente pela tradio posterior, o pressuposto da doutrina de Protgoras era o de Heraclito: o incessante fluir das coisas. O Teeteto platnico contm tambm uma teoria da sensao elaborada segundo este pressuposto: a sensao seria o encontro de dois movimentos, o do agente, isto do objecto, e o do paciente, isto do sujeito. 101 Dado que os dois movimentos continuam depois do encontro, nunca sero duas sensaes iguais quer para homens diferentes quer para o mesmo homem (Teet., 182 a). No sabemos se esta doutrina pode referir-se a Protgoras: todavia tambm ela uma confirmao da identidade que Protgoras estabelecia entre aparncia e sensao. por isso bastante claro que mundo da doxa (isto , da opinio), que para o caso compreende as aparncias sensveis e todas as crenas que nelas se fundam, aceite por Protgoras tal como se apresenta; e que ele, como os outros sofistas se recusa a proceder para l dele e instituir uma pesquisa que de qualquer modo o transcenda: Esse o mundo das ocupaes humanas em que Protgoras e todos os sofistas entendem mover-se e permanecer. O agnosticismo religioso de Protgoras uma consequncia imediata desta limitao do seu interesse esfera da experincia humana. Dos deuses -dizia Protgoras -no estou em posio de saber nem se existem nem se no existem nem quais so: efectivamente muitas coisas impedem sab-lo: no s a obscuridade do problema mas a brevidade da vida humana" (fr. 4, Diels). A "obscuridade" de que fala Protgoras consiste provavelmente no prprio facto de que o divino transcende a esfera daquela experincia humana qual, segundo Protgoras, limitado o saber. Todavia, estes esclarecimentos no so suficientes ainda para compreender o alcance do principio protagrico. O interesse de Protgoras, como o de todos os sofistas, no puramente gnoseolgico-teortico. Os problemas que Protgoras toma a peito so os dos tribunais, da vida poltica e da educao: isto , os problemas da vida social que surgem no interior dos grupos humanos ou nas relaes entre os grupos. O homem que toma em considerao certamente o indivduo (e no, 102
como queria Gomperz, o homem em geral ou a natureza humana); mas no o indivduo isolado, fechado em si como uma mnada, antes o indivduo que vive juntamente com os outros; por isso deve ser capaz ou tornar-se capaz de afrontar os problemas desta convivncia. Seria por isso arbitrrio restringir o princpio de Protgoras relao entre o homem e as coisas naturais: muito mais correcto entend-lo no seu alcance mais vasto, como compreendendo todo e qualquer tipo de objecto sobre que reca uma relao interhumana, compreendidos os objectos que se chamam bons e valorosos. No mesmo significado literal da palavra chrmata usada por Protgoras, os bens e os valores so compreendidos no mesmo ttulo dos corpos ou das qualidades dos corpos. "O homem no apenas, desse ponto de vista, a 'medida das coisas que se percebem, mas tambm a do bem, do justo e do belo. No h dvida, Protgoras considerava tambm que tais valores so diferentes de indivduo para indivduo porque tais aparecem; e que tambm neste campo todas as opinies so igualmente verdadeiras. Na enrgica defesa que o prprio Scrates faz de Protgoras a meio do Teeteto, diz-se claramente que "as coisas que a cada cidade parecem justas e belas, so tambm tais para ela, pois que as considera tais" (Teet., 167 e); e esta uma tese que j pode ser compreendida no princpio de que o homem a medida de tudo. Os sofistas insistiam de bom grado (como veremos) sobre a diversidade e a heterogeneidade dos valores que regem a convivncia humana. Um escrito annimo, Raciocnios duplos (composto provavelmente na primeira metade do sculo IV), que se prope demonstrar que as mesmas coisas podem ser boas e ms, belas e feias, justas e injustas, apresentado pelo seu autor como uma suma do ensino sofstico: "raciocnios duplos (assim se indica no escrito) 103 em torno do bem e do mal so defendidos na Grcia por aqueles que se ocupam da filosofia" (Diels, 90, 1 (1). Pode ser que o autor deste escrito seguisse mais de perto as pisadas de um determinado sofista (por exemplo de Grgias, como alguns estudiosos defendem). mas difcil imaginar que no se reportasse tambm a Protgoras que sabemos ter escrito um livro intitulado Antilgia (Diels. 80. fr. 5). A segunda parte do escrito particularmente interessante pois contm a exposio daquilo que hoje se chama o "relativismo cultural", isto o reconhecimento da disparidade dos valores que presidem s diferentes civilizaes humanas. Eis alguns exemplos: Os Macednios acham bem que as raparigas sejam amadas e se acasalem com um homem antes de se esposarem, mas censurvel depois de casadas; para os Gregos m tanto uma coisa como a outra... Os Massagetos fazem em pedaos os (cadveres) dos genitores e comem-nos; e acreditam que um tmulo belssimo ser sepultado nos prprios filhos; se ao invs algum na Grcia fizesse isto, seria expulso e morreria coberto de vergonha por ter cometido uma aco feia e terrvel. Os Persas consideram belo que tambm os homens se adornem como as mulheres e que se juntem com a filha, a me e a irm; ao contrrio os Gregos consideram estas aces feias e imorais; etc." (Diels, 90, 2 (12); (14); (15". O autor do escrito conclui a sua exemplificao dizendo que "se algum ordenasse a todos os homens que agrupassem num s lugar todas as leis (nomoi) que se consideram ms e escolhessem depois aquelas que cada um considera boas, nem uma ficaria, mas todos repartiriam tudo" (Diels, 2, 18). Consideraes deste gnero no aparecem isoladas no mundo grego e acorrem frequentemente no ambiente sofstico. Segundo um testemunho de Xenofonte (Mem. IV, 20). Hpias negava que a 104 proibio do incesto fosse lei natural dado que transgredida por alguns povos vizinhos. oposio entre natureza e lei. caracterstica de Hpias e de outros sofistas ( 27), no era
mais que uma consequncia da concepo relativstica que tais sofistas tinham dos valores que presidiam s diferentes civilizaes humanas. -de recordar final,--mente a este propsito que Herdoto -certamente teve ligaes com o ambiente sofistico e compartilhou a seu modo a sua direco iluminstica-, depois de ter relatado o costume, referindo-o aos Indianos Callati, de algumas populaes darem sepultura no seu estmago aos parentes mortos e depois de ter posto em confronto a repugnncia dos Gregos por este costume com a repugnncia daqueles Indianos pelo costume dos Gregos de queimar os mortos, conclua com uma afirmao tpica do relativismo dos valores: "Se propusessem a todos os homens escolher entre as vrias leis e os convidassem a eleger a melhor, cada um, depois de ter reflectido, escolheria (lei) do seu pas: tanto a cada um parecem muito melhores as prprias leis". E conclua a sua narrativa comentando: "Assim so estas leis dos antepassados e eu creio que Pndaro tinha razo nos seus versos: "a lei rainha de todas as coisas" (Hist., IH, 38). Por isso se se tem presente, na interpretao do princpio de Protgoras, a totalidade do ambiente sofstico (que por outro lado o mesmo Protgoras contribui poderosamente para formar), parece bvio que o princpio se refere a todas as opinies humanas compreendidas as que se referem s qualidades sensveis ou s prprias coisas. Mas a heterogeneidade e a equivalncia das opinies no significa a sua imutabilidade: as opinies humanas so, segundo Protgoras, modificveis e na realidade modificam-se; e todo o sistema poltico-educativo que constitui uma comunidade humana (polis) 105 dirigido precisamente para obter na altura prpria modificaes nas opinies dos homens. Em que sentido se tomam estas modificaes? Certamente no no sentido da verdade, porque do ponto de vista da verdade todas as opinies so equivalentes. Tomam-se ao contrrio e devem tomar-se no sentido da utilidade privada ou pblica. Esta de facto a tese que vem exposta na defesa que o prprio Scrates faz de Protgoras no Teeteto (166 a, 168 c). E no Protgoras. diz-se: "Corno os mestres se comportam com os alunos que ainda no sabem escrever, traando eles mesmos as letras sobre as tabuinhas e obrigando-os a recalcar os traos, assim a comunidade (polis), fazendo valer as leis inventadas pelos grandes legisladores antigos, obriga os cidados a segui-las seja no mandar seja no obedecer e pune quem se afasta delas" (Prot., 326 d). Sobre esta mesma possibilidade de rectificao das opinies humanas no sentido da utilidade privada e pblica, se insere, segundo a " defesa" do Teeteto, a obra do sbio que se faz mestre dos indivduos e da cidade "fazendo parecer justas as coisas boas em lugar das ms". Neste sentido, a obra do sbio (ou sofista) perfeitamente semelhante do mdico ou do agricultor: transforma em boa uma disposio m, faz passar os homens de uma opinio danosa aos indivduos e comunidade para uma opinio til, prescindindo completamente da verdade ou falsidade das opinies que, a este respeito, so todas iguais para ele (Teet., 167 c-d). $Por isso Protgoras apresentava-se como mestre, no de cincia, mas de "sagacidade nos negcios privados e nos negcios pblicos" (Prot., 318 c); e por isso professava a ensinabilidade da virtude, isto a modificabilidade das opinies no sentido do til; e por isso se afirmava (e era considerado) digno de ser recompensado com dinheiro pela sua obra educativa 106 Depois nada h em tudo aquilo que sabemos da doutrina de Protgoras que deixe supor que ele atribua carcter absoluto s formas que a utilidade reveste na vida pblica ou privada do homem. Certamente, segundo Protgoras, "toda a vida do homem tem necessidade de ordem e de adaptao" (Prot., 326 b). Zeus teve de enviar aos homens a arte poltica, fundada no respeito e na justia, a fim de que os homens deixassem de
destruir-se reciprocamente e pudessem viver em comunidade (lb., 322 c). Mas nem a arte poltica uma cincia nem o respeito e a justia so objecto da cincia, segundo Protgoras. "Respeito e justia" so no mito a mesma coisa que '"a ordem e a adaptao" fora do mito: podem assumir inumerveis formas. Na prpria Repblica de Plato o conceito de justia introduzido e defendido como condio de qualquer convivncia humana, de qualquer actividade que os homens devam desenvolver em comum, compreendida a dum bando de salteadores e de ladres (Rep., 351 c); e no por acaso que um testemunho antigo faz depender a Repblica de Plato da Analogia de Protgoras (fr. 5, Diels). Plato no se deteve, certo, neste conceito formal de justia: todo o corpo da Repblica dirigido a delimit-lo e defini-lo tornando-o objecto de cincia e assim absolutizando-o. Mas para Protgoras ele conservava indubitavelmente o seu carcter formal e assim a sua fluidez; o que significa que, para Protgoras, a prpria justia, isto , a ordem e o acomodamento recproco dos homens, alcanveis atravs da rectificao que as leis e a educao impem s suas diferentes opinies, pode assumir formas diversas, que a sagacidade ou a engenhosidade humana podem descobrir ou fazer valer nas diferentes comunidades humanas. 107 26. GRGIAS Contemporneo de Protgoras foi Grgias de LentinI, nascido por volta de 484-83; ensinou primeiramente na Siclia e, depois de 427, em Atenas e outras cidades da Grcia. Nos ltimos tempos da sua vida estabeleceu-se em Larissa, na Tesslia, onde morreu com 109 anos. Foi acima de tudo um retrico, mas escreveu tambm uma obra filosfica Sobre o no ser ou sobre a natureza, de que Sexto Emprico nos conservou um longo fragmento (Adv. math., VII, 65 sgs.). Temos tambm fragmentos de alguns dos seus discursos, um Encmo de Helena e uma Defesa de Palamedes. As teses fundamentais de Grgias eram trs, concatenadas entre si: I.& Nada existe; 2.a Se algo existe no cognoscvel pelo homem; Ia Ainda que seja cognoscvel, incomunicvel aos outros. 1) Sustentava o primeiro ponto demonstrando que no existe nem o ser nem o no-ser. Efectivamente o no-ser no existe porque se existisse seria ao mesmo tempo no-ser e ser, o que contraditrio. E o ser se existisse tinha de ser ou eterno ou gerado ou eterno e gerado ao mesmo tempo. Mas se fosse eterno seria infinito e se infinito no estaria em nenhum lugar, isto , no existiria de facto. Se gerado deve ter nascido ou do ser ou do no-ser, mas do no-ser no nasce nada; e se nasceu do ser j existia antes, portanto no gerado. O ser no pode ser pois nem eterno nem gerado; no pode ser to-pouco eterno e gerado ao mesmo tempo porque as duas coisas se excluem. Portanto nem o ser nem o noser existem. 2) Mas se o ser existe, no pode ser pensado. Efectivamente as coisas pensadas no existem: de outro modo existiriam todas as coisas inverosmeis e absurdas que ao homem ocorra pensar. Mas se verdade que aquilo que pensado no existe, ser tambm 108 verdade que aquilo que existe no pensado e que portanto, o ser. se existe, incognoscvel. 3) Finalmente., ainda que fosse cognoscvel, no seria comunicvel. Efectivamente, ns expressamo-nos pela palavra. mas a palavra no o ser; portanto. comunicando palavras, no comunicamos o ser. Grgias, chega assim a um nielismo filosfico total. utilizando as teses eleticas sobre o ser
e reduzindo-as ao absurdo. Tem-se posto em dvida se este nilismo representa verdadeiramente uma convico filosfica de Grgias ou no ser antes um simples exerccio retrico, uma prova de habilidade oratria. Mas no possumos elementos para negar o interesse filosfico de Grgias e portanto a seriedade das suas concluses. Tal concluso em certo sentido oposta da doutrina de Protgoras. Para Protgoras tudo verdadeiro, para Grgias tudo falso. Mas na realidade o significado das duas teses um s: a negao da objectividade do pensamento, portanto da validade que da deriva na sua referncia ao ser. Para o afastamento de tal objectividade, a palavra. particularmente quando dirigida pela retrica, tem uma fora necessitante a que ningum pode resistir. Na Defesa de Helena, Grgias sustenta que "Helena-seja porque tenha feito o que fez por amor, ou porque persuadida pela palavra. ou porque raptada pela violncia, ou porque forada da constrio divina - em qualquer caso escapa acusao" (fr. 11, 20). Aqui a fora da palavra posta ao lado da constrio divina ou do poder do amor ou da violncia como condio necessitante que elimina a liberdade, portanto a imputabilidade de uma aco. cA fora da persuaso diz ainda Grgias-que origina a deciso de Helena, efectivamente enquanto origina por necessidade, no passvel de censura mas possui um 109 poder que se identifica com o desta necessidade" (fr. 12). claro que, segundo Grgias, a palavra tem fora necessitante porque no encontra limites ao seu poder em nenhum critrio ou valor objectivo, nalguma ideia no sentido platnico do termo: o homem no pode resistir a ela aferrando-se verdade ou ao bem e est completamente desprovido de defesa nos seus confrontos. O relativismo teortico e prtico da sofstica encontra aqui um corolrio importante: a omnipotncia da palavra e a fora necessitante da retrica que a guia com o seu engenho infalvel. Quando Plato ope a Grgias, no dilogo que dele se intitula, que a retrica no pode persuadir se no daquilo que verdadeiro e justo, parte de um pressuposto que Grgias no partilha: isto , que existem critrios infalveis e universais para reconhecer o verdadeiro e o justo (Grgias, 455 a). Aquilo que distingue a retrica de Grgias como arte omnipotente da persuaso, da retrica de Plato como educao da alma para o verdadeiro e o justo, o pressuposto fundamental do platonismo: a existncia de ideias como critrios ou valores absolutos. 27. OUTROS SOFISTAS Mais jovens que Protgoras e Grgias so os dois contemporneos de Scrates, Prdico e Hpias. Prdico de Ceos, conhecido principalmente como autor de um Ensaio de Sinonmica (ridcula-mente consagrado procura de sinnimos o representa Plato no Protgoras 337 a-c), tambm autor de um escrito intitulado Horas, no qual representa o encontro de Hrcules com a Virtude e a Depravao. Tanto uma como a outra exortavam o heri a seguir o seu sistema de vida, mas Hrcules decidia-se pela Virtude e preferia os suores desta aos prazeres precrios da Depravao (fr. 1,Diels). Sabemos tambm que Prdico afirmava o valor do esforo dirigido para a virtude e considerava a prpria virtude como uma condio imposta por um mandado divino para a obteno dos bens da vida. As Horas deviam conter tambm partes dedicadas filosofia da natureza e antropologia. Em particular. sobre este ltimo tema. sabemos que Prdico aventura sobre a origem da religio 1111na teoria que o fez contar entre os ateus. "Os antigos-dizia ele -consideravam deuses. em virtude da uW~e que deles derivava, o sol. a lua. os raios, as fontes e em geral
todas as coisas que servem para a nossa vida, como, por exemplo, para os Egpcios. o Nilo. E por isto o po em considerado como Demeter, o vinho como Dionsio, a gua como Poseidon. o fogo como Ef~ e a i cada um dos bens que nos til" (Sesto E., Adv. math., IX, 18; cir. Cicer, De nw. d~um, ] 37. 118). Hpias de lide era ao contrrio famoso pela sua cultura enciclopdica e pelo vigor da sua memria. N, dilogo platnico Hpias Maior ele prprio declara ser frequentemente enviado pela sua ptria como legado para tratar de negcios com outra cidade; e gaba-se de ter ganho grandes somas com o seu ensino. Comps elegias e discursos de temas vrios, de que possumos fragmentos escassamente importantes do ponto de vista filosfico. Por um testemunho de Xenofonte (Mem., IV. 4. 5 segs.) que relata uma longa discusso entre ele e Scrates. sabemos que um dos seus temas preferidos era a oposio entre a natureza (physis) e a lei (nownos). As leis no so uma coisa sria porque no tm uniformidade e estabilidade e aqueles mesmos que as fizeram muitas vezes as revogam. As verdadeiras leis so as que a prpria natureza prescreve e que, ainda que no sejam escritas "so vlidas em cada pas e no mesmo modo". 111 Esta anttese entre as leis e a natureza torna-se o tema favorito da gerao mais jovem dos sofistas que muitas vezes se vale dela para defender uma tica aristocrtica ou directamente para tecer um elogio da injustia- Certo que os sofistas, mostrando (como se disse j no 25) a relatividade dos valores que regem a convivncia humana e recusando-se a proceder investigao dos valores universais ou absolutos eram levados a ver nas leis nada mais que convenes humanas, mais ou menos teis mas indignas de um reconhecimento obrigatrio. Antifonte, sofista, assegurava que todas as leis so puramente convencionais, por isso contrrias natureza e que o melhor modo de viver o de seguir a natureza, isto de pensar no prprio til. reservando uma reverncia puramente aparente ou formal s leis dos homens (Diels, 87, fr. 44 A, col. 4). Polo e Calicles no Grgias, Trasmaco na Repblica sustentam que a lei da natureza a lei do mais forte e que as leis que os homens fazem valer na sua convivncia so convenes dirigidas a impedir os mais fortes de se valerem do seu direito natural. Segundo a natureza, justia que o forte domine o mais fraco e siga em todas as circunstncias sem freio o talento prprio. e isto acontece de facto quando um homem dotado de natureza capaz rompe as cadeias da conveno e de servo se converte em senhor (Grgias, 484 a; Repblica, 1, 338 b segs.). Outra actividade dos sofistas era a erstica, isto a arte de vencer nas discusses impugnando as afirmaes do adversrio sem olhar sua verdade ou falsidade. No Eutidemo platnico, duas figuras menores dos sofistas, Eutidemo e Dionisorodo, so mostrados em aco nalgumas atitudes tpicas do seu repertrio. Um dos lugares comuns da eurstica era o que Plato recorda tambm no Mnon (80 d) e ao qual ope a doutrina da anamnesis: isto , que 112 no se pode indagar nem aquilo que se sabe nem aquilo que no se sabe: porque intil indagar sobre aquilo que se sabe e impossvel indagar se no se sabe que coisa indagar. A erstica foi certamente a actividade inferior dos sofistas, aquela que mais contribuiu para os desacreditar. Todavia, tambm essa fazia parte da sua bagagem: quando se nega todo o critrio objectivo de indagao e se reconhece a omnipotncia da palavra, abre-se o caminho tambm possibilidade de usar a prpria palavra como puro instrumento de
batalha verbal ou como simples exerccio de bravura polmica. NOTA BIBLIOGRFICA 24. Sobre o nome e conceito de Sofista, os testemunhos antigos em Dieis, cap. 79, e a nota introdutria de M. UNTERSTEINER, Sofisti. Testemunhos e fragmentos, texto grego, trad. -italiana e netag, I-III, 1949-54 (falta ainda o vol. IV). Para a bibliografia ver as notas antepostas aos volumes de Untersteiner ou ainda a obra do mesmo autor, Os Sofistas, Turim, 1949. Sobre o valor da sofstica na histria da cultura grega. JAEGER, Paidea, 1, livre II, cap. III. Sobre a lgica sofistica: PRANTL, Geschic7ite der Logik, 1, p. 11 segs. 25. Os fragmentos de Protgoras em DiELs, cap. 80; UNTERSTEINER, cap. 2. Os discursos duplos, em DIELS, cap. 90; UNTERSTEINER, ca-p. 10. Bibliografia sobre Protgoras, em A. CAPUZI, Protgoras, Florena, 1955; S. ZEPPI, Protgoras e a Filosofia do seu tempo, Florena, 1961. 26. Os fragmentos de G6rgias, em DIELS, cap. 82, e em UNTERSTEINER, cap. 4. Para a bibliografia ver as obras j citadas. 27. Os fragmentos de Prdico, em DIELS, cap. 84; UNTERSTEINER, cap. 6; de Hipias, em DIELS, cap. 86; UNTERSTEINER, cap. 8; de Antifonte, in DIELS, cap. 87; de Trasmaco, em DiELs, cap. 85; UNTM,SMNER, cap. 7. Sobre todos ver a bibliografia nas obra.s j citadas. 113
ViI SCRATES 28. O PROBLEMA A data do nascimento de Scrates determinada pela idade que tinha data do processo e da condenao. Nessa data (399) tinha setenta anos (Plat., Ap., 175; Crit., 52 e); devia ter nascido portanto em 470 ou nos primeiros meses de 469 a.C.. O pai, Sofronisco, era escultor; a me, Fenarete, parteira: ele prprio comparou depois a sua obra de mestre arte da me (Teet., 149 a). Completou em Atenas a sua educao juvenil, estudou provavelmente geometria e astronomia; e se no foi aluno de Anaxgoras (como queria um testemunho antigo), conheceu certamente o escrito deste filsofo, como se depreende do Fdon platnico (97 c). S se ausentou de Atenas por trs vezes para cumprir os seus deveres de soldado e participou nas batalhas de Potideia. Dlios e Anfpolis. No Banquete de Plato, Alcibades fala de Scrates na guerra como de um homem insensvel fadiga e ao frio, corajoso, modesto e senhor de si mesmo no prprio momento em que o exrcito era derrotado. 115
Scrates manteve-se afastado da vida poltica. A sua vocao, a tarefa a que se dedicou e a que se manteve fiel at ao final, declarando ao prprio tribunal que se preparava para o condenar, que no a abandonaria em caso algum, foi a filosofia; Mas ele entende a investigao filosfica como um exame incessante de si prprio e dos outros; a este exame dedicou todo o seu tempo, sem nenhum ensinamento regular. Por esta tarefa, descurou toda a actividade prtica e viveu pobremente com sua mulher Xantipa e os filhos. Todavia, a sua figura no tem nenhum dos traos convencionais de que a tradio se serviu para delinear o carcter de outros sbios, por exemplo, de Anaxgoras ou de Demcrito. A sua personalidade tinha qualquer coisa de estranho (topon) e de inquietante que no escapava queles que dele se aproximaram e o descreveram. A sua prpria aparncia fsica chocava o ideal helnico da alma sbia num corpo belo e harmonioso (kaUagatos): parecia um Sileno e isto estava em estridente contraste com o seu carcter moral e o domnio de si mesmo que conservava em todas as circunstncias (Banq., 215, 221). Pelo aspecto inquietante da sua personalidade, foi comparado por Plato tremelga do mar que entorpece quem 'a toca: do mesmo modo provocava a dvida e a inquietao no nimo daqueles que dele se aproximavam (Mn., 80).1 Todavia, este homem que dedicou filosofia a existncia inteira e morreu por ela, nada escreveu, indubitavelmente o maior paradoxo da filosofia grega. No pode tratar-se dum facto casual. Se Scrates nada escreveu, foi porque defende que a pesquisa filosfica, tal como ele a entendia e praticava, no podia ser levada por diante ou continuada depois dele, por um escrito. O motivo autntico da falta de actividade do Scrates escritor pode ver-se aflorado no Fedro (275 e) plat116 nico, nas palavras que o rei egpcio Thamus dirige a Theut, inventor da escrita: "Tu ofereces aos alunos a aparncia, no a verdade da sabedoria; porque quando eles, graas a ti, tiverem lido tantas coisas sem nenhum ensinamento, julgar-se-o na posse de muitos conhecimentos, apesar de permanecerem fundamentalmente ignorantes e sero insuportveis para os demais, porque tero no a sabedoria, mas a presuno, da sabedoria". Para Scrates que entende o filosofar como o exame incessante de si e dos outros, nenhum escrito pode suscitar e dirigir o filosofar. O escrito pode comunicar uma doutrina, no estimular a pesquisa. Se Scrates renunciou a escrever, isto foi devido ainda sua prpria atitude filosfica e faz parte essencial de tal atitude. 29. AS FONTES Esta renncia porm coloca-nos perante o difcil problema de caracterizar a personalidade de Scrates atravs de testemunhos indirectos. Possumos trs testemunhos principais: o de Xenofonte nos Ditos memorveis, de Scrates, o de Plato que o faz falar como personagem principal na maior parte dos seus dilogos, e o de Aristteles que lhe dedica breves e precisas aluses. A caricatura que Aristfanes deu de Scrates nas Nuvems como de um filsofo da natureza que d dos factos mais simples a explicao mais complicada e como um sofista que converte os discursos mais fracos nos mais fortes e faz triunfar os injustos sobre os justos, quis evidentemente representar no personagem ateniense mais popular o tipo do intelectual inovador, concentrando nele caractersticas contraditrias que pertenciam a personagens reais diferentes (Digenes de Apolnia e Protgoras). Essa caricatura no tem portanto valor histrico. 117 Xenofonte, que era escassamente dotado de esprito filosfico, deu-nos uma imagem extremamente pobre e mesquinha da personalidade de Scrates; nada no seu retrato
justifica a enorme influncia que Scrates exerceu sobre todo o desenvolvimento do pensamento humano. Por outro lado, a personalidade de Scrates vive poderosamente nos dilogos de Plato; mas aqui nasce legitimamente a dvida de que Plato pense e fale ele prprio na figura de Scrates e que portanto no possa encontrar-se nos seus dilogos o Scrates, histrico. Finalmente os testemunhos de Aristteles nada acrescentam a quanto j se encontra em Xenofonte e Plato. Durante um certo tempo, o prprio carcter insuficientemente filosfico da apresentao de Xenofonte e o ttulo da sua obra pareceram uma garantia de fidelidade histrica, frente evidncia da transfigurao a que Plato submeteu a figura do mestre, sobretudo nalguns dilogos. Mas a brevidade das relaes de Xenofonte com Scrates, a ineficcia evidente do ensino socrtico sobre o seu carcter e sobre o seu modo de viver (foi substancialmente um aventureiro) e o longo perodo de tempo, decorrido entre o seu discpulo e a composio do seu escrito, fizeram surgir a suspeita de que este escrito, mais que recolha fiel de recordaes socrticas, ser uma composio literria, no isenta de intuitos polmicos (sobretudo contra Antstenes, e fundado em boa parte sobre escritos alheios, sem excluir os platnicos. Por outro lado, tambm os testemunhos de Aristteles parecem dependentes em boa parte de Plato e talvez mesmo do prprio Xenofonte. De modo que a fonte fundamental para a reconstruo do Scrates histrico ainda e sempre Plato. O testemunho de Aristteles e a representao de Xenofonte (esta ltima na medida em que corroborada pela primeira) fornecem antes um critrio para discernir e limitar aquilo que na com118 plexa figura que domina a obra de Plato pode efectivamente atribuir-se ao Scrates histrico. Assim no pode certamente atribuir-se a este ltimo a doutrina das ideias da qual no h indcio em Xenofonte e, em Aristteles; e deve portanto excluir-se a interpretao de um certo estudioso moderno que viu em Plato o historiador de Scrates e atribuiu, a este ltimo o corpo central do sistema platnico e a Plato apenas a crtica e a correco de tal sistema, que se iniciam com o Parmnides. 30. O "CONHECE-TE A TI MESMO E A IRONIA "Scrates chamou a filosofia do cu terra," Estas palavras de Ccero (Tusc., V, 4, 10) exprimem exactamente o carcter da investigao socrtica. Ela tem por objecto exclusivamente o homem e o seu mundo; isto , a comunidade em que vive. Xenofonte testemunha claramente a atitude negativa de Scrates frente a toda a pesquisa naturalstica e o seu propsito de manter-se no domnio da realidade humana. A sua misso a de promover no homem a investigao em torno do homem. Esta investigao deve tender a colocar o homem, cada homem individual, a claro consigo mesmo, a lev-lo ao reconhecimento dos seus limites e a torn-lo justo, isto solidrio com os outros; Por isso Scrates fez sua a divisa dlfica "conhece-te a ti mesmo" e fez do filosofar um exame incessante de si prprio e dos outros: de si prprio em relao aos outros, dos outros em relao a si prprio. A primeira condio deste exame o reconhecimento da prpria ignorncia. Quando Scrates conheceu a resposta do orculo que o proclamava o homem mais sbio de todos, surpreendido andou 119 a interrogar os que pareciam sbios e deu-se conta de que a sabedoria deles era nula.
Compreendeu ento o significado do orculo: nenhum dos homens sabe verdadeiramente nada, mas sbio apenas quem sabe que no sabe, no quem se ilude com saber e ignora assim at a sua prpria ignorncia. Na realidade s quem sabe que no sabe procurar saber, enquanto os que crem estar na posse dum saber fictcio no so capazes da investigao. no se preocupam consigo mesmos e permanecem irremedivelmente afastados da verdade e da virtude. Este princpio socrtico representa a anttese ntida da sofstica. 1 Contra os sofistas que faziam profisso de sabedoria e pretendiam ensin-la aos outros, Scrates fez profisso de ignorncia: o saber dos sofistas um no-saber, um saber fictcio privado de verdade que d apenas presuno e jactncia e impede de assumir a atitude submissa da investigao, a digna dos homens meio de promoz nos outros ess reconhecimento da prpria ignorncia, que a condio da pesquisa, a ironia. ironia a interrogao dirigida a descobrir no homem a sua ignorncia, a abandon-lo dvida e inquietao para obrig-lo pesquisa.A ironia o meio de descobrir a nulidade do ar fictcio, de pr a nu a ignorncia fundamental que o homem oculta at a si prprio com os ouropis de um saber feito de palavras e de vazio. A ironia a arma de Scrates contra a vaidade do ignorante que no sabe que tal e por isso se recusa a examinar-se a si mesmo e a reconhecer os limites prprios. Esta a sacudidela que o torpedo tremelga marinho comunica a quem a toca e sacode pois o homem do torpor e lhe comunica a dvida que o encaminha para a busca de si mesmo. Mas precisamente por isso tambm uma libertao. 120 Sob este aspecto da ironia como libertao do saber fictcio, isto , daquilo que oficialmente ou comummente passa por saber ou por cincia, insistiu justamente Kierkegaard no Conceito da ironia. Trata-se certamente duma funo negativa, do aspecto limitante e destrutivo da filosofia socrtica, mas precisamente por isso de um aspecto que indissolvel da filosofia como investigao e que portanto contribui para fazer de Scrates o smbolo da filosofia ocidental. 31. A MAIUTICA SCrates no se prope portanto comunicar uma doutrina ou complexo de doutrinas. Ele no ensina nada: comunica apenas o estmulo e o interesse pela pesquisa] Em tal sentido compara, no Teeteto platnico, a sua arte da me, a parteira Fenarete. A sua arte consiste essencialmente em averiguar por todos os meios se o seu interlocutor tem de parir algo fantstico e falso ou genuno e verdadeiro. Ele declara-se estril de sabedoria. Aceita como verdadeira a censura que muitos lhe fazem de saber -interrogar os outros, mas de nada saber responder ele prprio. A divindade que o obriga a fazer de parteiro probe-o de dar luz: E ele no tem nenhuma descoberta a ensinar aos outros e no pode fazer outra coisa seno ajud-los no seu parto intelectual. E os outros, aqueles que dele se aproximam, a princpio parecem completamente ignorantes, mas depois a sua pesquisa torna-se fecunda, sem que todavia aprendam nada dele. Esta arte maiutica no na realidade seno a arte da pesquisa em comum. O homem no pode por si s ver claro em si prprio. A pesquisa que o concerne no pode comear e acabar no recinto 121
fechado da sua individualidade: pelo contrrio s pode ser o fruto de um dialogar continuo com os outros, como consigo mesmo. Aqui est verdadeiramente a sua anttese polmica com a sofstica. A sofstica um individualismo radical. O sofista no se preocupa com os outros seno para extorquir, a todo o custo e sem preocupar-se com a verdade, o consenso que lhe assegura o sucesso; mas nunca chega sinceridade consigo prprio e com os outros. No Grgias platnico, Scrates compara a sofstica arte da cozinha que procura satisfazer o paladar mas no se preocupa se os alimentos so benficos para o corpo! A maiutica, , pelo contrrio, semelhante medicina que no se preocupa se causa dores ao paciente contanto que conserve ou restabelea a sade. Ao individualismo sofstico, Scrates contrape, no o conceito de um homem universal, um homem-razo que no tenha j nenhum dos caracteres precisos e diferenciados do indivduo, mas o vnculo de solidariedade e de justia entre os homens, pelo qual nenhum deles pode libertar-se ou alcanar qualquer coisa de bom por si s, mas ca um est vinculado aos outros e s pode progredir com a sua ajuda e ajudando-os por sua vez. O universalismo socrtico no a negao do valor dos indivduos: o reconhecimento de que o valor do indivduo no se pode compreender ;nem realizar seno nas relaes entre os indivduos/ Mas a relao entre os indivduos, se tal que-garanta a cada um a liberdade da pesquisa de si, uma relao fundada na virtude e na justia. E aqui, portanto, que o interesse de Scrates, enquanto entende promover em cada homem a investigao de si, se dirige naturalmente ao problema da virtude e da justia. 122 32. Scrates: CINCIA E VIRTUDE A busca de si ao mesmo tempo busca de verdade. Por outras palavras : saber e verdade simultaneamente investigao do saber e da virtude. Saber e virtude identificam-se, segundo Scrates o homem no pode tender seno para',,-saber aquilo que deve fazer ou aquilo que deve ser: e tal saber a prpria virtude. Este o princpio fundamental da tica socrtica, princpio que vem expresso, na forma mais extrema, no Protgoras de Plato. A maior parte dos homens crem que sabedoria e virtude so duas coisas diferentes, que o saber no possui nenhum poder directivo sobre o homem, e que o homem, ainda quando sabe o que o bem, pode -ser vencido pelo prazer e afastar-se da virtude. Mas para Scrates uma cincia que seja incapaz de dominar o homem e que o abandone merc dos impulsos sensveis, no to-pouco uma cincia. Se o homem se entrega a estes impulsos, isto significa que ele sabe ou cr saber que tal seja a coisa mais til ou mais conveniente para ele. Um erro de juzo, a ignorncia portanto, a base de toda a culpa e de todo o vcio. um mau clculo o que faz o homem preferir o prazer do momento, no obstante as consequncias ms ou dolorosas que da possam derivar; e um clculo errado fruto de ignorncia. Quem sabe verdadeiramente, faz -bem os seus clculos, escolhe em cada caso o prazer melhor, aquele que no pode ocasionar-lhe nem dor nem mal; e esse s o prazer da virtude. Portanto, para ser virtuoso, no necessrio que o homem renuncie ao prazer. A virtude no a negao da vida humana, mas a vida humana perfeita; compreende o prazer e antes o prazer mximo. A diferena entre o homem virtuoso e o homem que o no , est em que o primeiro sabe 123 fazer o clculo dos prazeres e escolher o maior; o segundo no sabe fazer este clculo e entrega-se ao prazer do momento. O utilitarismo socrtico assim um outro aspecto da
polmica contra os sofistas. A tica dos sofistas oscilava entre um franco hedonismo como o encontramos defendido por Antifonte, por exemplo, e por alguns interlocutores dos dilogos platnicos, e aquela espcie de activismo da virtude que foi a tese de Prdico. Para Scrates, uma e outra destas duas tendncias so insustentveis. A virtude no puro prazer nem puro esforo, mas clculo inteligente. Neste clculo, a profisso ou a defesa da justia no pode encontrar lugar porque a injustia no mais que um clculo errado. Contra a identificao socrtica de cincia e virtude, j Aristteles observava que, dessa maneira, Scrates reconduz a virtude razo, enquanto que se a virtude no tal seno com a razo, ela no se identifica, com a prpria razo (Et. Nic., 13, 1144 J b). Aceite por Hegel (Geschichte der Phil., I, cap. II, B, 2 a), esta critica tornou-se muito comum na historiografia filosfica e est, entre outras coisas, no fundamento da desvalorizao que Nietzsche intentou da figura de Scrates quando quer entrever nele a tentativa de reduzir o instinto razo e portanto de empobrecer a vida (Ecee Homo). Mas na verdade tudo aquilo que se pode censurar a Scrates o no ter feito as distines entre as actividades ou faculdades humanas que Plato e Aristteles introduziram na filosofia. Para Scrates, o homem ainda uma unidade indivisa. O seu saber no apenas a actividade do seu intelecto ou da sua razo, mas um total modo de ser e de comportar-se, o empenhar-se numa investigao que no reconhece limites ou pressupostos fora de si, mas encontra por si a sua disciplina, Segundo Scrates, a virtude cincia, em primeiro lugar 124 porque no se pode ser virtuoso conformando-se simplesmente com as opinies correntes e com as regras de vida j conhecidas. cincia porque investigao, investigao autnoma dos valores sobre que deve fundar-se a vida. 33. A RELIGIO DE SCRATES Para Scrates o filosofar uma misso divina, uma -tarefa confiada por um mandato divino (Ap., 29-30). Fala de um demnio, de uma inspirao divina que o aconselha em todos os momentos decisivos da vida. Interpreta-se comummente este demnio como a voz da conscincia; na realidade o sentimento de uma investidura recebida do alto, prpria de quem abraou uma misso com todas as suas foras. Por isso o sentimento da divindade est sempre presente na investigao socrtica, como sentimento do transcendente, daquilo que est para l do homem e superior ao homem, e do alto o guia e lhe oferece uma garantia providencial. Certamente a divindade de que fala Scrates no a da religio popular dos Gregos. Ele considera que o culto religioso tradicional faz parte dos deveres do cidado e por isso aconselha cada qual a ater-se ao costume da prpria cidade e ele prprio se atm a ele. Mas admite os deuses s porque admite a divindade: neles no v mais que encarnaes e expresses do nico princpio divino, ao qual se podem pedir no j bens materiais, mas o bem, aquele que s tal para o homem, a virtude. E na realidade a sua f religiosa no outra coisa seno a sua filosofia. Esta religiosidade socrtica no tem, bviamente, nada a ver com o cristianismo de que Scrates, na velha historiografia, tem sido frequentemente considerado o precursor No se pode falar 125 de cristianismo se se Prescinde da revelao; e nada mais estranho ao esprito de Scrates do que um saber que seja ou pretenda ser de revelao divina. Aquilo que a
divindade ordena, segundo Scrates o empenho na investigao e o esforo para a justia; ' aquilo que ela garante que "para o homem honesto no existe mal nem na vida nem na morte" (Ap., 41 c). Mas, quanto verdade e virtude, o homem deve procur-la e realiz-la por si. 34. A INDUO E O CONCEITO Aristteles caracterizou a investigao de Scrates do ponto de vista lgico. "Duas coisasdisse ele - (Met., XIII 4, 1078 b) se podem com boas razes atribuir a Scrates: os raciocnios indutivos e a definio do universal (katholon), e ambas se referem ao princpio da cincia." O raciocnio indutivo aquele que, do exame de um certo nmero de casos ou afirmaes particulares, conduz a uma afirmao geral que um conceito exprime. Por exemplo, no Grgias, das afirmaes de que quem aprendeu arquitectura arquitecto, quem aprendeu msica msico, quem aprendeu medicina mdico, Scrates chega afirmao geral de que quem aprendeu uma cincia tal qual foi tornado pela' mesma cincia. O raciocnio indutivo dirige-se, portanto, para a definio do conceito; e o conceito exprime a essncia ou a natureza de uma coisa, aquilo que verdadeiramente a coisa (SEN., Mem., IV, 6, 1). Este procedimento, nota ainda Aristteles, foi aplicado por Scrates apenas nos argumentos morais. Efectivamente ele no se ocupa da natureza: nos argumentos morais procurou o universal e assim levou a sua investigao para o terreno da cincia 126 (Met., 1, 6, 987 b 1). Portanto, a Scrates cabe o mrito de ter sido o primeiro a organizar a investigao segundo um mtodo propriamente cientifico. O saber, de que quer despertar a necessidade e o interesse nos homens, deve ser uma cincia, alcanada segundo um mtodo rigoroso. E efectivamente s uma cincia deste gnero, com a sua perfeita objectividade, permite aos homens entenderem-se e associarem-se na investigao comum. S como cincia, a virtude ensinvel (Prot., 361 b). Foi posto em dvida o valor do testemunho aristotlico sobre o significado lgico da investigao socrtica. As afirmaes de Aristteles derivariam das de Xenofonte (Mem., IV, 6) e estas por sua vez das platnicas (Fedro., 262 a-b). Por outro lado, ainda que se atribua todo o valor aos testemunhos de Aristteles e de Xenofonte, no se seguiria da que caiba a Scrates o ttulo de inventor do conceito, pois que investigou apenas conceitos tico-prticos e estes exprimem no aquilo que realmente , mas aquilo que deve ser: a sua obra cientfica no apontava para o conhecimento, mas era reflexo crtico-normativa em torno do fazer e do viver do homem. Ora precisamente aquilo que estas consideraes tm de verdadeiro revela o mrito indubitvel de Scrates como iniciador da investigao cientfica e confirma o testemunho de Aristteles. E, em primeiro lugar, ainda que Xenofonte e Aristteles tivessem repetido substancialmente os testemunhos de Plato, este prprio facto equivaleria confirmao dos mesmos por parte de homens que tinham maneira de comprovar a sua exactido, Xenofonte fora aluno de Scrates e ainda que os anos decorridos e a sua escassa capacidade filosfica o tornassem pouco apto para compreender a personalidade do mestre, no se pode crer que o tornassem incapaz at de compreender o mtodo da sua investigao. Quanto a Aristteles 127 difcil supor que se teria limitado a reproduzir o testemunho de Xenofonte se este estivesse em contradio com uma tradio que, dentro e fora do ambiente platnico, era
viva e operante. Mas a questo fundamental a do significado que o conceito tem para Scrates. Indubitavelmente os conceitos que Scrates elaborou so todos de carcter tico-prtico e referem-se ao dever ser e no realidade de facto. Mas qualquer conceito, teortico ou prtico, tem por objecto a essncia das coisas, o seu ser permanente ou a sua substncia. Que coisa seja a substncia ou a essncia depois o problema que Scrates deixaria em herana aos seus sucessores e que constitui o tema fundamental da investigao de Plato e de Aristteles. 35. A MORTE DE SCRATES A influncia de Scrates exercera-se j em Atenas sobre toda uma gerao, quando trs cidados, Meleto, Anito e Licone o acusaram de corromper a juventude ensinando crenas contrrias religio -do estado. A acusao tinha escassa consistncia e teria ficado em nada, se Scrates tivesse feito qualquer concesso aos juzes. No quis fazer nenhuma. Pelo contrrio, a sua defesa foi uma exaltao da tarefa educativa que havia empreendido relativamente aos atenienses. Declarou que em caso algum abandonaria esta tarefa, qual era chamado por uma ordem divina. Por uma pequena maioria, Scrates foi reconhecido culpado. Podia ainda partir para o exlio ou propor uma pena que fosse adequada ao veredicto. Em vez disso, ainda que manifestando-se disposto a pagar uma multa de trs mil dracmas, declarou orgulhosamente que se sentia merecedor de ser alimentado a expensas pblicas no Pritaneu como se fazia aos benemritos da cidade. Seguiu-se ento. com mais forte maioria, a condenao morte que fora pedida pelos seus acusadores. Entre a condenao e a execuo decorreram trinta dias porque uma solenidade sagrada impedia naquele perodo as execues capitais. Durante este tempo os amigos organizaram a sua fuga e procuraram convenc-lo; mas recusou. Os motivos desta recusa so expostos no Crton platnico: Scrates quer dar com a sua morte um testemunho decisivo a favor do seu ensinamento. Vivera at ento ensinando a justia e o respeito pela lei; no podia com a fuga ser injusto para com as leis da sua cidade e desmentir assim, no momento decisivo, toda a sua obra de mestre. Por outro lado, no temia a morte. Ainda que no tivesse uma absoluta certeza da imortalidade da alma. nutria a esperana de uma vida depois da morte que fosse para os homens justos melhor do que para os maus. Tinha setenta anos; sentia que completara a sua misso, que lhe permanecera fiel toda a sua vida e que devia dar-lhe ainda, com a morte, a ltima prova de fidelidade. As suas ltimas palavras aos discpulos foram ainda um incitamento investigao: "Se tiverdes cuidado com vs prprios, qualquer coisa que faais ser grata a mim, aos meus e a vs mesmos, ainda que agora no vos compremetais em nada. Mas se pelo contrrio no vos preocupardes com vs prprios e no quiserdes viver de maneira conforme quilo que agora e no passado vos tenho dito, fazer-me agora muitas e solenes promessas no servir de nada" (Fed., 115 b). Se a Grcia antiga foi o bero da filosofia porque pela primeira vez realizou a investigao autnoma, Scrates encarnou na sua pessoa o esprito genuno da filosofia grega porque realizou no mais alto grau a exigncia daquela investigao. No empenho de uma investigao conduzida com 129 mtodo rigoroso e incessantemente continuado, ps o mais alto valor da personalidade humana: a virtude e o bem. Tal de facto o significado daquela identificao entre a virtude e a cincia, que foi conhecida tantas vezes por intelectualismo. A cincia
para Scrates a investigao racional ente conduzida e a virtude a forma de vida propriamente humana. a sua identidade a significado no s da problemas, da prpria personalidade de Scrates. NOTA BIBLIOGRFICA 28. os restos de uma Vida de Scrates, escrita por Aristoxerio, discpulo de Aristteles, encontram-se em MuLhER, Fragm. hist. graec., 11, p. 280 se98Encontram-se outras noticias nos Memorveis e na Apologia de Xenofonte e nos dilogos de Plato, citados no texto. Existe, alm disso, a Vida de DIOGENES LAIRCIO, 11, 18 segs.. Para a edio dos escritos de Xenofonte e de Plato, relativos a Scrates, ver notas bibliogrficas dos capitulos 8 e 9. 29. Atribuiram valor histrico caricatura de Aristfanes: ClITAPELLI, O naturalismo de Scrate,9 e as primeiras nuvens de Aristla~, in "Rend. Ace. Lincei, CI. Seienze morali", 1886, p. 284 segs.; Novas investigaes sobre o naturalismo de 3crate8, In "Archv. fr Gesch. der Phil.", IV, p. 369 sgs.; T-AyLoR, Varia socratca, Oxford, 1911, p. 129 s,-s.. Seguiu preferentemente Aristteles para a interPretao de Scrates: K. JOFJ,, Der echte und der xe-nc-fonteus Sokrates, Berlim, 1893-1901, ao passo que seguiu Xenofonte A. DORING, Die Lehre des Sokrates ais soziales Reformsystem, Mnaco, 1895.-J. BURNET, Greek Philosophy, 1, cap. 11, e A. E. TAYLOR, VariO s~atica, Oxford, 1911; ID., Socrates, Londres, 1935, trad. itali., Florena, 1951; ID., Plato, Londres, 1926 (4.* edio, 1937) consideram que Plato foi apena-, * historiador de Scrates. Seguiram preferenternenU * representao de Xenofonte, servindo-se para valeriz-la dos testemunhos de Aristteles: ZELLER, V01. 11, 2; GompERz, vol. III, p. 46 sgs.; WILLAMOWITZ, Platon, I, p. 94 sgs. e outros historiadores dependentes destes. ENRICO MAIER, Sokrates, sein Werk und seine 130 geachichtUche SteUung, Tubinga, 1913 (,trad. ital., Florena, 1944), nega qualquer valor histrico ao testemunho de Aristteles que considera dependente em tudo de Pisto e de Xenofonte, reduz a obra deste ltimo a uma pura composio Uter&ria (pelos motivos repetidos no texto) e funda-se sobretudo em Plato pela sua feliz reconstruo da figura de Scrates. -Sobre as diversas interpretaes que tm sido dadaa ao significado filosfico da figura de Scratea e para a bibliografia relativa: PAOLO ROSSI, Per una storia della 8torografia &ocratica, in Probemi di atoriografia filo"fioa, ao cuidado de A. BANFI, Milo, 1951. Con~ frontar entre outros: O. GIGON, S., Berna, 1947; V. DE MAGAIMESVILHENA, Le problm-- de S.; Le S. historiqi&e et le S. de Platon, Paris, 1952; A. H. CHROUST, S. Man and Myth, Londres, 1956; J. BRUN, S., Paris, 1960. 30. Para a misso de Scrates, ver a Apologia de Plato, especialmente cap. 17. Para o "conhece-te a ti mesmo", o Alcib~ 1, 129 sgs. Para a ironia, Mmm, SO. Para o poder de libertao da ironia, Sofsta, 230. 31. Sobre a malutica, especialmente Teeteto, 148, 151, 210. 32. Sobre a Identidade da cincia e virtude e sobre o utilitarsmo de Scrates, cfr. o
Protgor", sobre que fundada a exposio deste pargrafo. % 33. Sobre o demnio socrtico, confr. especialmente Apologia, 29, 30. Mas as aluses de Scrates ao seu demnio so frequentes em todos os dilogos socrticos de Plato. Mais frequentemente, o demnio age negativamente, dissuadindo Scrates de realizar uma aco qualquer. Mas o demnio principalmente chama-o para a sua tarefa de examinar os outros e a si prprio. Sobre as Ideias religiosas de Scrates: Xenoffonte, Men~abili, 1, 4; IV, 3. O demnio compreendido como a voz da conscincia por ZELLER e GOMPM, loc. cit.. Ver sobre a insuficincia desta interpretao- MAiER, parte UI, cap. 4. 34. A critica do valor do testemunho de Aristteles est in MAiER, op. cit., vol. I, parte I, cap. 3; parte 11, cap. IV. A concluso que nega a Scrates o mrito de descobridor do conceito com os argu131 mentos discutidos no texto, est a p. 283 da traduAO Itallana. 35. As vIciasitudes do processo de Scrates encontram-se na Apologia de Plato e na de Xenofonte. O Crton expe a atitude de Scrates frente ao projecto de fuga preparado pelos amigos. O final do P~ narra as ltimas horas de S6crates e a sua morte. 132 VIII AS ESCOLAS SOCRTICAS 36. XENOFONTE Nascido em 440-39, e morto com 80-90 anos, Xenofonte no foi um filsofo, mas antes um homem de aco, especialmente competente em assuntos militares e em questes econmicas. Conhecido principalmente por ter dirigido a retirada dos dez mil gregos que participavam na expedio de Ciro contra o irmo Artaxerxcs para a conquista do trono da Prsia, retirada que ele narrou no An~s, Xenofonte pertence histria da filosofia por Os Ditos Memorveis de Scrates e por outros escritos menores nos quais se faz sentir a influncia do ensinamento de Scrates. Vimos que os Memorveis no oferecem um quadro exaustivo da personalidade de Scrates. A Apologia de Scrates a continuao dos Memorveis e pretende ser a defesa pronunciada por Scrates ante os juzes. Outros escritos que provam o diletantismo filosfico de Xenofonte so A Ciropedia. uma espcie de romance histrico que tende a desenhar em 133 Ciro o tipo ideal do tirano iluminado; o dilogo intitulado Gerone que tem um intento anlogo; e o Banquete, escrito provavelmente imitao do platnico no qual aparece tambm a figura de Scrates. Nenhum enriquecimento ou desenvolvimento original deu Xenofonte doutrina de Scrates. Entre os demais discpulos de Scrates parece que squines escreveu sete dilogos de carcter socrtico que no chegaram at ns. Tambm a Simias e, a Cebes os dois interlocutores do Fdon platnico, se atribuem escritos de que nada se sabe. Quatro discpulos de Scrates, alm de Plato, so fundadores de escolas filosficas: Euclides da escola de Megara; Fdon da de Elida; Antstenes da Cnica; Aristpo da
Cirenaica. Mas da escola de Fdon, a qual foi devida a Menedemo de Eretria, que sucedeu a Fdon, se chamou Eretraca, nada sabemos. Cada uma das trs outras escolas socrticas acentua um aspecto do ensinamento de Scrates, descurando ou negando os outros. A escola cnica coloca o bem na virtude e repudia o prazer. A cirenaica situa o bem no prazer e proclama-o como o nico fim da vida. A megrica acentua a universalidade do bem at o subtrair esfera do -homem e a identific-lo com o ser de Parmnides. 37. A ESCOLA MEGRICA Euclides de Megara (no confundir com o matemtico Euclides que viveu e ensinou em Alexandria cerca de um sculo mais tarde), depois da morte de Scrates, voltou sua cidade natal e aqui procurou continuar com o seu ensino a obra do mestre. Parece que pertenceu primeira gerao dos discpulos de Scrates e que no viveu mais de um decnio depois da sua morte. Outros represen134 tantes da escola so Eubuldes, de Mileto, o adversrio de Aristteles; Diodoro Crono (morto em 307 a.C.) e Estilpon que ensinou em Atenas por volta de 320. A caracterstica da escola megrica a de unir o ensino de Scrates com a doutrina eletica. Euclides considerava que um s o Bem e a virtude que sempre idntica a si prpria apesar de ser chamada com muitos nomes: Sabedoria, Deus, Intelecto, etc. Ao mesmo tempo negava a realidade de tudo aquilo que contrrio ao bem. E como o conhecimento do bem a virtude, admitia que no h mais que uma virtude e que as vrias virtudes no so mais que diversos nomes da mesma. Para afirmarem a unidade, os Megricos, seguindo as pisadas dos Eleatas, repudiavam completamente a sensibilidade como meio de conhecimento e prestavam f exclusivamente razo. Consequentemente, como os Eleatas, negavam a realidade do mltiplo. do devir e do movimento; e desenvolveram uma dialctica, semelhante de Zeno de Eleia, destinada a reduzir ao absurdo toda a afirmao que implicasse a realidade do mltiplo, do devir e do movimento. Contra a multiplicidade, usaram argumentos, desenvolvidos sofisticamente, que se tornaram famosos. Eubulides, usou entre outros o argumento do sorites (ou monto): tirando um gro de um monto, o monto no diminui; nem sequer tirando-os todos um a um (DioG. L., VII, 82). O mesmo argumento se repetia para os cabelos ou para a cauda de um cavalo (argumento do cavalo: Cicer., Acad., 11, 49: Horcio, Ep. II, I). mesma negao de qualquer multiplicidade se encaminha a crtica dos megricos sobre a possibilidade do juzo. Segundo Estilpon, impossvel atribuir um predicado ao sujeito e dizer, por exemplo, que "o cavalo corre". Efectivamente o ser do cavalo e o 135 ser do que corre so diferentes e definimo-los diferentemente: no se pode portanto identific-los como se faz na proposio. Por outro lado, se fossem idnticos. isto , se o correr fosse idntico ao cavalo, como se poderia atribuir o mesmo predicado de correr tambm ao leo e ao co? Admitida uma multiplicidade qualquer ou como composio de partes (como no argumento do sorites) ou como diversidade de predicados, segue-se da o absurdo; e assim fica demonstrada a falsidade de tal admisso.
Os Megricos admitiram tambm argumentos que no tm em mim a reduo ao absurdo do mltiplo mas pertencem ao gnero daqueles que hoje se chamam antinomias ou paradoxos, isto argumentos indecidveis, no sentido de que no se pode decidir sobre a sua verdade ou falsidade. O mais famoso de tais argumentos o de mentiroso que vem referido assim por Ccero: "Se tu dizes que mentiste, ou dizes a verdade e ento mentiste ou dizes o falso e ento dizes a verdade" (Acad., IV, 29, 96). Se algum diz "menti" (sem nenhuma limitao) faz uma assero que concerne todas as suas asseres compreendida a que enuncia neste momento; mas se mentiu ao dizer "menti" isto significa que diz a verdade; e se diz a verdade quer dizer que mentiu e assim por diante. A base do argumento consiste portanto em fazer asseres desprovidas de limitaes que concernem todos os casos, compreendido aquele constitudo pela prpria assero: noutros termos, consiste no uso autoreflexivo da noo "todos" considerada inclusiva da prpria assero. Argumentos do gnero so discutidos tambm na lgica contempornea. Na antiguidade, discutiram-nos, alm dos Megricos, os Esticos: e na Idade Mdia a discusso deles fez parte integrante da lgica terminstica que os chamava insolveis (Insolubilia). 136 Contra o devir e o movimento, os Megricos por obra de Diodoro, Crono, negaram que houvesse potncia quando no h acto; por exemplo, quem no constri no tem o poder de construir. Este princpio suprime o movimento e o devir porque (como nota Aristteles) quem est em p estar sempre em p e quem est sentado estar sempre sentado, sendo impossvel levantar-se a quem no tem o poder de levantar-se. O argumento de Diodoro Crono (dito o argumento vitorioso) afirma que s aquilo que se verificou era possvel, pois que se fosse possvel aquilo que nunca se verifica, do possvel resultaria o impossvel. O argumento leva a admitir que tudo aquilo que acontece deve necessariamente acontecer, e que a prpria imutabilidade que existe para os factos passados existe tambm para os futuros. anda que no parea. Brincando com este argumento, Ccero escrevia a Varro: "Sabero que se me fazes uma visita, essa visita uma necessidade, pois, se no o fosse, contar-se-ia entre as coisas impossveis." Diodoro retomava pois, reelaborando-os, os argumentos de Zeno contra o movimento. Estilpon colocava o ideal do sbio na impassibilidade (apatheia) e considerava que o sbio se basta a si prprio e por isso no tem necessidade de amigos. 38. A ESCOLA CINICA. ANTISTENES O fundador da escola cnica Antstenes de Atenas que foi primeiro discpulo de Grgias, depois de Scrates e aps a morte deste ensinou no Ginsio Cinosargos. O nome da escola deriva do gnero de vida dos seus sequazes: o epteto de ces indicava o seu ideal de vida conforme simplicidade (e desfaatez) da vida animal. 137 Antstenes escreveu ao que parece (mas no nos chegou quase nada), um livro Sobre a natureza dos animais, no qual provavelmente tirava dos animais modelos ou exemplos para a vida humana; e comps escritos sobre personagens homricos (Ajax, Ulisses) ou mitos (Defesa de Orestes). Mas a figura que Antstenes e os outros cnicos principalmente exaltavam era a de Hrcules que precisamente o ttulo de um outro escrito de Antstenes. Hrcules, superando fadigas desmedidas e vencedor de monstros, o smbolo do sbio cnico que vence prazeres e dores e sobre uns e outros afirma a sua fora de nimo.
Antstenes concordava com os Megricos ao considerar impossvel todo o juzo que no fosse a pura e simples afirmao de uma' identidade. Plato que alude a Antstenes no Sofista (215 b-c), incluindo-o com certo desprezo entre "os, velhos que comearam tarde a aprender", testemunha-nos que ele considerava impossvel afirmar, por exemplo, que "o homem bom" porque isso equivaleria a dizer que o homem ao mesmo tempo um (homem) e mltiplo (homem e bom); e queria portanto que se dissesse apenas "o homem homem" e "o bom bom". Aristteles confirma o testemunho de Plato: "Antstenes professava a estulta opinio de que de nenhuma coisa se possa dizer mais que o seu nome prprio e que por isso no pode dizer-se mais que um s nome de cada coisa individual." (Met., V, 29, 1024 b, 32). Disto derivaria -nota Aristteles-que impossvel contradizer e impossvel at dizer o faise,-, efectivamente ou se fala da prpria coisa e no nos podemos servir seno do seu prprio nome e no h contradio ou se fala de duas coisas diferentes e to-pouco neste caso possvel a contradio. Segundo este ponto de vista, a doutrina platnica das ideias como realidade universal devia parecer inconcebvel, dado 138 que para Antstenes a realidade sempre individual. e at, como veremos de seguida, corprea; e alm dela no h mais que o nome prprio que a indica: no subsiste nenhum universal. De facto teria observado a Plato: " Plato, vejo o cavalo mas no a cavalidade". Ao que Plato teria respondido: "Porque no tens olhos para v-la" (Simpl., Cat, 66 b, 45). Antstenes foi o primeiro que considerou a definio flogos) como a expresso da essncia de uma coisa: "a definio aquilo que exprime aquilo que ou era." Mas a definio s possvel das coisas compostas, no dos elementos de que resultam. Cada um destes elementos pode ser unicamente nomeado, mas no caracterizado de outro modo, os compostos, pelo contrrio, ao constarem de vrios elementos, podem ser definidos entrelaando entre si os nomes destes elementos (Arist., Met., VIII, 3, 1043 b, 25). A Antstenes parece que se referem tambm as aluses do Sofista e do Teeteto aos homens "que no acreditam que haja outra coisa seno aquilo que se pode apertar com as mos todas" isto , aos materialistas que no admitem que no haja mais realidade que a corprea. O nico fim do homem a felicidade e a felicidade est no viver segundo a virtude. A virtude concebida pelos cnicos como inteiramente suficiente por si mesma. No existe outro bem fora dela. O que os homens chamam bens e em primeiro lugar o prazer, so males porque distraem ou afastam da virtude. "Quisera antes ser louco do que gozar", dizia Antstenes. Por isso o homem deve procurar libertar-se das necessidades que o escravizam. Deve tambm libertar-se de todo o vnculo ou relao social e bastar-se absolutamente a si prprio. Contra a religio tradicional, Antstenes afirmou que "segundo as leis, os deuses so muitos, 139 mas orientando a natureza h um s deus" (Ccero, De nat. deor., 1. 13, 32); afirmao que provavelmente no tinha o significado monotestico que seramos tentados a dar-lhe, mas exprimia apenas a exigncia universal e pantestica de que a divindade est presente em toda a parte. 39. DIGENES Digenes de Sinope, que foi discpulo de Antstenes em Atenas e dali passou a Corinto onde morreu muito velho em 323 a.C., foi chamado (talvez por Plato) o Scrates louco.
Este apelativo revela o carcter do personagem. Ele levou ao extremo o desprezo caracterstico da escola cnica por todo o costume, hbito ou conveno humana e quis realizar integralmente aquele retorno natureza que o ideal da escola cnica. No nos chegou quase nada dos seus sete dramas e dos seus escritos em prosa (entre os quais uma Repblica). A lenda apoderou-se dele, atribuindo-lhe um grande nmero de anedotas e de caractersticas que provavelmente nada tm de histrico. Certamente no habitou sempre num tonel, nem sempre viveu como mendicante. Mas a sua oposio a todos os usos e s convenes humanas era radical. Diz-se que foi o primeiro a usar a capa de tecido grosseiro que servia tambm de coberta, a sacola onde trazia o alimento e o bordo, que depois se tornaram os distintivos dos Cnicos na sua vida de mendicantes (Diog. L., VI, 22). Digenes defendia a comunidade das mulheres e at a dos filhos; declarava-se cidado do mundo e manifestava em todas as circunstncias da vida aquela desvergonha que se tornou proverbial entre os Cnicos. Aqueles que para afirmar a fora de nimo do homem entendiam reconduzi-lo naturalidade primitiva da 140 vida animal. pouca conta podiam fazer do saber e da cincia; e verdadeiramente neste ponto, a escola cnica foi gravemente infiel ao ensinamento socrtico que na investigao cientfica reconhecia a verdadeira vida do homem. No numeroso bando dos Cnicos - mostram todos monotonamente os mesmos traos e agitam furiosamente capas e sacolas para exibir uma fora de nimo que Scrates ensinara dever alcanar-se com a serena e paciente investigao cientfica -, distingue-se Cratete, um tebano de nobre famlia que foi seguido na vida de mendicante pela mulher Hiparquias. Comps poesias satricas e trgicass onde celebrava o cosmopolitismo e a nobreza. 40. A ESCOLA CIRENAICA. ARISTIPO O fundador da Escola Cirenaica Aristipo de Cirena. Nascido por volta de 435, foi para Atenas depois de 416 e aqui conheceu e frequentou Scrates. Depois da morte dele ensinou em vrias cidades da Grcia e foi tambm a Siracusa junto da corte do primeiro ou segundo Dionsio. So-lhe atribudas numerosas obras, entre as quais uma Histria da Lbia, mas a atribuio insegura e de tais obras nada -ficou. Como para os outros fundadores das escolas socrticas torna-se difcil discernir, no conjunto de doutrinas que foram transmitidas como patrimnio dos Cirenaicos, as que pertencem genuinamente ao fundador da Escola. Ademais porque Aristipo teve uma filha Arete que continuou o seu ensinamento e iniciou na doutrina do pai o filho Aristipo, e um escritor antigo atribuiu ao mais jovem Aristipo o desenvolvimento sistemtico das ideias da escola. Mas os testemunhos de Plato, de Aristteles e de Speusipo (autor de um 141 dilogo intitulado Aristpo que andou perdido) convm em atribuir ao primeiro Aristipo as doutrinas fundamentais da escola. Tambm para os Cirenaicos, como para os Cnicos e os Megricos, a investigao teortica passa para segundo plano e cultivada apenas como um contributo para resolver o problema da felicidade e da conduta moral. Porm, a sua tica compreendia tambm uma fsica e uma teoria do conhecimento, pois que (segundo os testemunhos de Sexto Emprico e de Sneca) estava dividida em cinco partes: a primeira em torno das coisas que so de desejar ou de evitar, isto , em torno do bem e do mal; a segunda em torno das paixes; a terceira em torno das aces; a quarta em torno das causas, isto , dos fenmenos naturais;
e a quinta em torno da verdade (Sexto E., Adv. math., VH. 11). Evidentemente a quarta e a quinta partes so a fsica e a lgica. Na teoria do conhecimento, Aristipo inspira-se prevalentemente em Protgoras. Considera que o critrio da verdade a sensao e que esta sempre verdadeira, mas no diz nada sobre a natureza do objecto que a produz. Podemos afirmar com certeza que vemos o branco ou sentimos o doce; mas que no possvel demonstrar que o objecto que produz a sensao seja branco ou doce. Aquilo que nos aparece, o fenmeno, apenas a sensao; pois bem, esta certa, mas para l dela impossvel afirmar seja o que for (Sesto E., Ad. math., VII, 193, segs.). A doutrina da sensao que o Teeteto (156-7) platnico desenvolve, deduzindo-a do princpio de Protgoras de que o homem a medida das coisas, parece ser caracterstica de Aristipo, a que Plato alude com a frase: "outros mais requintados". Segundo esta doutrina, h duas formas de movimento, cada uma das quais depois 142 infinita em nmero: uma tem potncia activa (o objecto), a outra tem potncia passiva (o sujeito). Do encontro destes dois movimentos se gera por um lado a sensao, pelo outro o objecto sensvel. As sensaes tm os seus nomes habituais: vista, ouvido, ete., ou ento prazer, dor, desejo, temor, etc.-, os sensveis tm nomes correlativos s sensaes: cores, sons, etc.. Mas nem o objecto sensvel, nem a sensao subsistem antes nem depois do encontro dos dois movimentos que lhes do lugar; e em tal sentido nada , mas tudo se gera. A sensao tambm o fundamento dos estados emotivos do homem. Estes so trs: um para quem sente dor, semelhante s tempestades no mar; o outro para quem sente prazer, semelhante s ondas ligeiras, porque o prazer um movimento leve comparvel a uma brisa favorvel; o terceiro o estado intermdio, pelo qual no se sente nem prazer, nem dor, semelhante calma do mar (Eusbio, Prap. ev., XIV, 18). Segundo Aristipo, o bem consiste apenas nas sensaes agradveis; e a sensao agradvel sempre actual. O fim do homem portanto o prazer, no a felicidade. A felicidade o sistema dos prazeres particulares, na qual se somam tambm os prazeres passados e futuros; mas ela no desejada por si prpria, antes pelos prazeres particulares de que tecida (Diog. L., 11, 88). O prazer-e o bem portanto-era, por conseguinte, para Aristipo uma coisa precisa que vive s no instante presente. No dava nenhum valor recordao dos prazeres passados e esperana dos futuros, mas apenas ao prazer do instante. Aconselhava pensar no presente, melhor no dia de hoje, no instante em que cada um opera ou pensa, porque, dizia ele, "s o presente nosso, no o momento passado nem aquele que aguardamos, porque um est destrudo e do outro no, sabemos se existir" (Eliano, Var. hist., XIV, 6). 143 Todavia, precisamente neste viver para o instante e no instante, Aristipo realizava aquela liberdade espiritual que lhe permitia afirmar orgulhosamente: "Possuo, no sou possudo" (Diog. L., H. 75). E efectivamente viver no instante significa para ele no deplorar o passado, nem atormentar-me na espera do futuro, no desejar um prazer maior do que aquele, mesmo modesto, que o instante presente pode oferecer; significava tambm no se deixar dominar pelos desejos desmedidos, contentar-se mesmo com o pouco. no se preocupar com um futuro que provavelmente no vir. Aceitar o prazer do instante era portanto para ele a vida da virtude. E a tradio apresenta-o de humor constantemente igual e sereno, corajoso frente dor, indiferente riqueza (que todavia no desprezava), frio e humano. Aristteles narra-nos que, a uma observao um pouco alterada de Plato, respondeu apenas: "O nosso companheiro (Scrates) falava de outra maneira" (Rei., 11, 1398 ib).
41. OUTROS CIRENAICOS Nos sucessores de Aristipo, o princpio do prazer actual entra em contradio com a investigao do prazer guiada pelo intelecto. Teodoro o Ateu afirmou que o fim do homem no o prazer mas a felicidade, e a felcidade consiste na sabedoria. A sabedoria e a justia so bens; so males a estultcia e a injustia. O prazer e a dor nem so bens nem -males. mas so por si indiferentes do todo. Considerava a amizade intil quer para os tolos quer para os sbios; uns no a sabem usar, os outros no tm necessidade dela porque se bastam a si prprios (Diog. L., 11, 98). Teodoro afirmava que a ptria do sbio o mundo 144 e negava no s a existncia dos deuses populares, mas tambm da divindade em geral; daqui o seu cognome de Ateu (Cicer., De nat. deor., 1, 2, 63, 117). ' Egesia traz do hedonismo uma concluso pessimista. Os males da vida so tantos que a felicidade impossvel. A alma sofre e perturba-se juntamente com o corpo e a fortuna impede de alcanar aquilo que se espera. O sbio no deve por isso afadigar-se na v tentativa de procurar a felicidade, mas deve antes evitar os males, tentar viver isento de dores, dado que isto pode ser conseguido tambm por quem fica indiferente ao prazer (Diog. L., 11, 94-95). Sustentava que a vida, que um bem para o tolo, indiferente para o sbio. Um escrito intitulado O suicida valeu-lhe o epteto de "advogado da morte" (Peisithanatos); e levou as autoridades de Alexandria a proibir o seu ensino (Diog. L., 11, 86). Em oposio a Egesias, o seu contemporneo Ancerdes fundava a moral na simpatia para com os outros homens. Perante a impossibilidade de obter da vida a felicidade, Anicerides era de opinio que o homem devia encontrar a sua satisfao na amizade e no altrusmo (Diog. L., 11, 96). Reabilitava, portanto, os laos familiares e o amor da ptria e rompia deste modo o frio individualismo em que se haviam fechado Teodoro e Egesias. NOTA BIBLIOGRFICA 36. Sobre a vida de Xenortonte: DIMENES LARcio, 11, 48-59. Edies completas das obras socrticas de Xenofonte: DINDORF, SAUPPE, Letpzig, 1867-70; SCHENKL, Berlim, 1869-1876. Sobre Xenofonte v. oa escritos sobre Scrates e: J. LuccioHi, Les Wes politiques et soci~ de X., Paris, 1947. 145 37. Sobre a vida, a doutrina e os escritos dos Megricos: DIGENEs LARCIO, 11, 106120. Outras fontes em ZL=, 11, 1, 245, 1 segs. Os escritos no chegaram at ns, os ttulos vm em DIOGENEs LAMCIO.-GOMMM, II, p. 176 segs. Para a doutrina dos Megricos as fontes s o constitudas pela exposio de DIGENES LARCIO. Alguns dos argumentos mais conhecidos contra o movimento foram conservados por S=To-EmpiRico, Contra os matemticos, VII, 216; X, 85-86. O argumento vitorioso referido por EPiCTETO, Diss, H, 19, 1. ARISTTELES combate a negao da ~ncia na Metafisica, IX, 3, 1047; PLATO faz referncias aos Megricos no Solista, em vrios passos (248, 251 b-c). A frase referida por CICERO est numa carta Ad fam., 9,4. Para uma coleco de fragrientos: W. NESTLE, Die Sokrati7zer in
Answahi, 1922. Discutiu a lgica dos Megricos e citou as suas fontes: PRANTI, ~chichte der Logik, I, Leipzig, 1855, p. 33 segs -C. MALLET, Histoire de 1'cole de M. et des coles d'lis et dSretrie, Paris, 1843, P. M. SCHUM, Le Domi- nateur et les possibles, Paris, 1960, 38. Sobre a vida, a doutrina e os escritos dos Cnicos: DIGENES LARCIO, VI. Outras fontes em ZELI,ER, 11, 1, 281, 1 segs. Fragmentos em MuLLAc, Frag. philos. graec., 11, 259-395. PLATO alude a Antistenes no Sofista, 251, e ARISTTELES na Metaf&ica, V, 29. Sobre o materialismo de Antstenes, V, PLATO, Tecteto, 201-2z2. DUI)LEV, A History of Cynicism, Londres, 1937; HOISTADT, Cynic Hero and Cynic King. Studies in the Cynic Conceptiwt of Man, Upsala, 1949. 39. Sobre estes Cnicos v. GwiPERz, II, p. 160 segs.; SAYRE, Diogenes of Sinope, Baltimore, 1938. 40. Sobre a vida, a doutrina e os escritos de Aristi,po e da sua escola: DIGENEs LARCIO, 11, 65-104; DIELS, Doxogr. Graec., sob "Aristipo". Outras fontes em ZEIXER, 11, 1, 336, 2 segs. A mais completa coleco de fragmentos e testemunhos : G. GIANNANTONI, I Cirenaici, Florena, 1958, com trad. ital. e bibliografia. 41. No chegaram at ns quaisquer escritos. As sentenas foram recolhidas em MULLACII, Fragmenta philos. graec., 11, 405 segs. - ZELLER, loe. cit.; GomPERZ, II, p. 216 segs.; JOEL, Geschichte der ant. Philos., 1, 925 segs.; STENZEL, artigo na Enciclop. PaulyWissows,-Kro11; ZELLER, loe. cit.; GOMPERZ, II, p. 227. se.gs, 146 Ix PLATO 42. A VIDA E O IDEAL POLTICO DE PLATO Plato nasceu em Atenas em 428 a.C., proveniente de uma famlia da antiga nobreza; descendia de Slon por parte da me e do rei Codro por parte do pai. Pouco se sabe da sua educao. Segundo Aristteles, era ainda jovem quando se familiarizou com Crtilo, discpulo de Heraclito e, por isso, com a doutrina heraclitiana. Segundo Digenes Larcio, teria escrito composies picas, lricas e trgicas, que mais tarde queimara; mas esta notcia, embora no seja inverosmil, nada tem de seguro. Aos vinte anos comeou a frequentar Scrates e, at 399, ano da sua morte, contou-se entre os seus discpulos. Este ano, todavia, marca tambm uma data decisiva na vida de Plato. A Carta VII, depois que lhe foi reconhecida a autenticidade, tornou-se o documento fundamental, no s para a reconstruo da biografia, mas ainda da prpria personalidade de Plato. Ela vai per147 mitir-nos deitar uma vista de olhos pelos interesses espirituais que dominaram esta primeira parte da sua vida. Desde jovem que pensava dedicar-se vida poltica. O senhorio dos Trinta Tiranos, entre os quais tinha parentes e amigos, convidou-o a participar no
governo. Mas as esperanas que Plato pusera na sua aco frustraram-se: os Trinta fizeram, recordar vivamente, com as suas violncias, o velho estado de coisas. Entre outras coisas, ordenaram, a Scrates que fosse com outros a casa de um cidado para matarem este, e isto para envolverem Scrates, quisesse ele ou no, na sua poltica (Carta VII, 325 a; Ap. 32 c). Aps a queda dos Trinta, a restaurao da democracia envolveu Plato na vida poltica; mas acontece ento o facto decisivo que para sempre o enojou da poltica do tempo: o processo e a condenao de Scrates. Desde esse momento, Plato no deixou de meditar em como se poderia melhorar a condio da vida poltica e toda a constituio do estado, mas adiou a sua interveno activa para um momento oportuno. Deu-se conta ento que a melhoria somente poderia ser efectuada pela filosofia. "Vi que o gnero humano no mais seria libertado do mal se antes no fossem ligados ao poder os verdadeiros filsofos, ou os regedores do estado no fossem tornados, por divina sorte, verdadeiramente filsofos" (Carta VII, 325 c). Das experincias polticas da sua juventude, experincias de espectador, no de actor, Plato trouxe, pois, o pensamento que havia de inspirar toda a sua obra: s a filosofia pode realizar uma comunidade humana fundada na justia. Aps a morte de Scrates, vai junto de Euclides em Mgara, e depois, ao que dizem os seus bigrafos, vai ao Egipto e a Cirene. Nada sabemos destas viagens, de que a Carta VII nada diz; no so, contudo, inverosmeis, e a viagem ao Egipto 148 pode considerar-se provvel pelas referncias frequentes, que se encontram nos dilogos, cultura egpcia. A sua primeira viagem de que temos conhecimento seguro e que tambm o primeiro acontecimento importante da sua vida exterior, a que o levou Itlia meridional. Conheceu nesta ocasio as comunidades pitagricas, sobretudo por intermdio do seu amigo Arquitas, senhor de Tarento; e em Siracusa ligou-se pela amizade a Dio, tio de Dionsio o Jovem. Diz-se que Dionsio o Velho, tirano de Siracusa, suspeitando dos projectos de reforma poltica ventilados por Plato, o fizera vender como escravo no mercado de Egina. No sabemos se a responsabilidade do facto se deve atribuir a Dionsio; havia guerra entre Atenas e Egina (durou at 387) e um incidente semelhante podia verificar-se facilmente. certa, porm, a venda de Plato como escravo e o seu resgate por Anicerides de Cirene. A tradio filia em tal acontecimento a fundao da Academia, para o que teria servido o dinheiro do resgate, que foi recusado quando se soube de quem se tratava. Nada se sabe de certo a este respeito, mas pode dizer-se que, quando do regresso de Plato a Atenas, a "comunidade da educao livre" que Plato tinha em mente recebeu forma jurdica; e, semelhana das comunidades pitagricas foi uma associao religiosa, um tiaso. Esta era, por outro lado, a nica forma que uma sociedade cultural podia legalmente revestir na Grcia; e em uma forma que no exclua nenhum gnero de actividade, nem que fosse profana ou recreativa. Quando Dionsio o Jovem sucedeu ao pai no trono de Siracusa (367 a.C.), Plato foi chamado por Dio para dar o seu conselho e a sua ajuda realizao da reforma poltica que sempre fora o seu ideal. Aps alguma hesitao, Plato decide-se: no queria apresentar-se a si mesmo como "homem de 149 pura teoria". nem queria abandonar ao perigo eventual o amigo e companheiro Dio. Partiu, pois, para Siracusa. Mas aqui a posio de Dio era dbil; este incompatibilizou-se com Dionisio e foi por ele exilado. Plato ficou por algum tempo hspede de Dionisio e procurou inici-lo e empenh-lo na pesquisa filosfica, tal como a concebia. Mas Dionisio era o tipo do diletante presunoso e estava, alm disso, afastado dos cuidados polticos.
Plato voltou a Atenas desiludido com ele. Alguns anos depois, no entanto, Dionisio chamou-o insistentemente sua corte. Impelido pelo prprio Dio, que estava em Atenas e esperava obter do tirano, pela intercesso de Plato, a revogao do exlio, Plato decide-se a esta terceira viagem e em 361 partiu. Porm, o resultado foi desastroso: no conseguiu exercer influncia alguma sobre Dionsio, que no resistiu prova do seu ensino e acabou por faz-lo quase prisioneiro, primeiro com presses morais (ameaando confiscar os bens de Dio) e depois fazendo cercar o seu palcio por mercenrios. Quis, todavia, salvar as aparncias, mostrando continuar as suas relaes com Plato; e deixou-o partir quando Arquitas de Tarento mandou uma galera com uma embaixada. Plato foi assim libertado. Em seguida, Dio conseguiu expulsar Dionsio, mas caiu no desfavor do povo e foi morto na conjura promovida pelo ateniense Calipo. Este enviou uma carta oficial a Atenas; e Plato respondeu com a Carta VII, dirigida aos "amigos de Dio", em que expe e justifica os interesses fundamentais pelos quais viveu. Desde ento Plato haveria de viver em Atenas exclusivamente dedicado ao ensino. Sabemos, pela Carta VII, que as suas ideias polticas teriam obtido em outra ocasio mais feliz sucesso. Hermias, tirano de Atarneu, na Ntisia, 150 pediu a dois eminentes cidados de S~ Erasto e Corisco, discpulos de Plato, para elaborarem uma constituio que desse uma forma mais-branda ao seu governo. Esta constituio foi de -facto realizada e de tal modo granjeou para Hermias as simpatias das populaes da costa clica, que alguns territrios se lhe submeteram espontaneamente. Hermias honrou os seus amigos dando-lhes a cidade de Asso (Didimo, In Demst., col. 5, 52) e constituiu com os dois platnicos -uma pequena comunidade filosfica, de que Plato era o longnquo nume tutelar. Compreende-se, por isso, que, depois da morte de Plato, Aristteles se tenha precisamente dirigido a Asso. Plato morreu em 347, aos 81 anos. Um papiro de Herculano descoberto recentemente dnos a descrio das ltimas horas do filsofo. A ltima visita que recebeu foi a de um caldeu. Uma mulher trcia tocava e errou o compasso: Plato, que j tinha febre, fez ao hspede um sinal com o dedo. O caldeu observou cortesmente que no havia como os Gregos para perceber de medicina e de ritmo. Na noite seguinte a febre agravou-se e, talvez nessa mesma noite, Plato morreu. 43. O PROBLEMA DA AUTENTICIDADE DOS ESCRITOS A tradio conservou-nos de Plato uma Apologia de Scrates, 34 dilogos e 13 cartas. O gramtico Trasilo, que viveu no tempo do imperador Tibrio, adoptou e difundiu (parece que j -era conhecida por uma referncia de Terncio Varro) a ordenao destas obras em 9 tetralogias, nas quais a Apologia e as Cartas ocupam o lugar de dois dilogos. Eis a tetralogia de Trasilo: 1., Eutfron, Apologia, Crton, Fdon; 2.a Crtilo, Teeteto, 151 Sofista, Poltico; 3 a Parmnides, Filebo, Banquete, Fedro, 4.1 Alcibades 1, Alcibades 11, Hiparco, Os Amantes; 5.a Teages, Crmides, Laches, Lsis; 6 a Eutidemo, Protgoras, Grgias, Mnon; 7.4 Hpias maior, Hpias -menor, Ion, Menexeno; 8.a Clitofonte, Repblica, Timeu, Crtias; 9.a Mnos, Leis, Epinmias, Cartas.
Alguns outros dilogos e uma coleco de Definies ficaram fora das tetralogias de Trasilo, porque j pelos antigos eram considerados apcrifos. Mas mesmo entre as obras compreendidas nas tetralogias algumas h que so, indubitavelmente, apcrifas: individualiz-las e demonstrar a sua inautenticidade um aspecto essencial do problema platnico. J os escritores da antiguidade se propuseram resolver este problema; e da antiguidade at hoje pouqussimos tm sido os dilogos sobre que no tem cado a suspeita. Especialmente a crtica alem de 800 lanou-se deliberadamente na via da "attese" (como se costuma chamar negao da autenticidade duma obra), at limitar a nove o nmero dos dilogos autnticos. Uma salutar reaco contra esta tendncia, que acabava por atribuir a compiladores annimos obras que so manifestaes altssimas de pensamento e de arte, afirmou-se na crtica moderna, que s pronuncia a attese para as obras cujo carcter apcrifo evidente por elementos materiais ou formais. Os critrios para julgar da autenticidade das obras platnicas so os seguintes: 1.o - A tradio. Que os escritores antigos tenham julgado autntico um escrito sempre uma razo fortssima a favor deste, a menos que haja elementos positivos em contrrio. Este critrio, porm, no por si s decisivo. 2.o - Os testemunhos antigos, devido aos escritores que comentaram ou criticaram as obras de 152 Plato. Particular valor probatrio tm as citaes de Aristteles, assumidas por todo o historiador moderno (por ex., por Zeller) com valor de prova. Todavia, to-pouco este critrio decisivo, pois que dilogos, indubitavelmente platnicos, como por exemplo o Protgoras, no so citados por Aristteles. Por outro lado, tais testemunhos obedecem por vezes a critrios de escola, como o caso de Proclo, que declarou apcrifas a Repblica, as Leis e as Cartas. 3.o - O contedo doutrinal. Este critrio muito duvidoso: uma vez que conhecemos a doutrina de Plato pelas suas obras, julgar da autenticidade das obras baseando-nos na doutrina um crculo vicioso. Pode, no entanto, ser decisivo, quando se encontram nos escritos platnicos elementos de doutrina que pertencem a escolas posteriores. Tal o caso do Alcibades 11 (139 c), onde se diz que todos os que no alcanam a sabedoria so loucos, o que doutrina prpria dos Esticos. Prova de inautenticidade pode ainda ser uma contradio grosseira: como no caso do Teages (128 d), em que se afirma que o sinal demonaco sempre negativo, para dizer na pgina seguinte (129 e) que ele incita positivamente alguns a andarem com Scrates. 4.o - o valor artstico. Plato um artista extraordinrio, e qualquer dilogo seu ao mesmo tempo obra de pensamento e de poesia. Mas, naturalmente, no se pode pretender que todos os dilogos estejam ao mesmo nvel artstico. Este critrio s vlido no caso de se encontrar uma deficincia gravssima, como no Teages e nos Amantes. 5.o - A forma lingustica. O uso de expresses particulares, palavras, etc. pode fornecer indcios sobre a autenticidade ou inautenticidade dos dilogos: por exemplo, h no Alcibades II particularidades da linguagem que parecem pertencer a uma 153 poca mais tardia do que aquela em que foram compostos os dilogos platnicos.
Todos estes critrios oferecem uma certa segurana apenas se forem controlados uns pelos outros e se se confirmarem reciprocamente. Da sua aplicao resulta que podemos com segurana considerar apcrifos os seguintes dilogos: Alcibades II, Hiparco, AmaWes,, Teages, Minos; podem subsistir dvidas sobre o Alcibades I, o Hpias maior, o lon, o Clitolonte e o Epinmis,- tais dvidas, contudo, no impedem que alguns deles possam ser utilizados como fontes da doutrina platnica, a qual em nada contradizem. A autenticidade do Menexeno, que um elogio fnebre aos mortos na guerra (epitfio, um gnero muito em voga na retrica do tempo), parece no poder negar-se devido ao testemunho explcito de Aristteles (Ret., 1415 b, 30), mas o sarcasmo da apresentao, as incongruncias, os anacronismos so de tal ordem, que nos obrigam a consider-lo como simples pardia de um gnero literrio em voga. Quanto s Cartas, depois de quase unanimemente as haver banido do corpus platnico, a crtica moderna prepara-se para reconstruir a mesma unanimidade em aceit-las como genunas. E elas so, de facto, com excepo da primeira, documentos importantssimos para a vida e o pensamento de Plato. A Carta VII acrescenta-se de ora em diante aos dilogos fundamentais, para a interpretao do platonismo. 44. O PROBLEMA DA CRONOLOGIA DOS ESCRITOS Outro aspecto fundamental do problema dos escritos platnicos o que respeita sua ordem cronolgica. Este problema essencial para a 154 compreenso do platonismo. Plato, por motivos que so inerentes sua filosofia (e que veremos em breve), nunca quis escrever, nem mesmo na mais avanada idade, uma exposio completa do seu sistema. Os seus dilogos no so mais que fases ou etapas diversas, pontos de chegada provisrios e, por isso, sobretudo pontos de partida, de uma pesquisa que julga no poder fixar-se em nenhum resultado. A ordem cronolgica dos seus escritos a prpria ordem desta pesquisa: a ordem em que ele atingiu os sucessivos aprofundamentos da sua filosofia. No se pode, pois, compreender o desenvolvimento desta filosofia sem se dar conta da ordem cronolgica dos escritos. Infelizmente, as notcias seguras faltam completamente sobre este ponto. Temos uma nica indicao indubitvel que nos dada por Aristteles (Pol., 1264 e, 26): as Leis so posteriores Repblica. Por outra fonte sabemos que as Leis foram deixadas "sobre cera", tendo sido copiadas aps a morte de Plato. necessrio, portanto, recorrer a outros critrios. O primeiro o confronto dos dilogos entre si. Dele resulta que a Repblica antecede o Timeu, que lhe recapitula o argumento; o Poltico apresenta-se como a continuao do Sofista, e este, por sua vez, como a continuao do Teeteto. Aluses menos claras, mas suficientemente transparentes permitem ver que o Mnon anterior ao Fdon e ambos estes dilogos anteriores Repblica. O Teeteto e o Sofista referem-se depois a um encontro entre o jovem Scrates e o velho Parmnides, que talvez o que se narra no Parmnides. O segundo critrio para a ordenao cronolgica o do estilo. Entre a Repblica e as Leis, ou seja entre: os dois dilogos de que conhecemos com plena certeza a ordem da composio, h notveis 155
diferenas de estilo que tm sido minuciosamente estudadas. Trata-se de partculas conjuntivas, de frmulas de afirmao ou negao, do uso dos superlativos, giros de frases e de palavras que ocorrem nas Leis e ao invs no se encontram na Repblica. Estas particularidades estilsticas, chamadas estilemas, caracterizam a ltima fase da obra do Plato escritor. evidente que os outros dilogos em que ocorrem devem pertencer ao mesmo perodo; e alguns crticos so unnimes em estabelecer uma ordem dos dilogos segundo a frequncia de tais estilemas, atribuindo ao perodo mais tardio da vida de Plato os dilogos em que eles ocorrem com mais frequncia, e aos perodos anteriores os dilogos em que so menos frequentes. Embora uma ordem rigorosa assim fundada seja fictcia, uma vez que outros motivos podem ter infludo no estilo do escritor, no h dvida, no entanto, que este critrio serviu para delinear um grupo de dilogos que, pela semelhana do seu estilo com o das Leis, se atribui ao ltimo perodo da actividade de Plato. Tais so o Parmnides, o Teeteto, o Sofista, o Poltico, o Timeu e o Filebo. Quanto ordem de composio destes dilogos, decerto nos no podemos fundar, para estabelecla, apenas na estilometria, mas devemos servir-nos ainda dos outros critrios. Um terceiro critrio pode colher-se da forma narrativa ou dramtica dos dilogos. Em alguns deles o dilogo directamente introduzido; em outros, pelo contrrio, narrado, de maneira que a sua exposio entremeada com as frases: "Scrates disse", "o outro respondeu", "concordou com ele", etc.. Mas no prlogo do Teeteto (143 c), Euclides, que narra o dilogo, adverte que suprimiu estas frases com vista a uma maior fluncia, expondo o dilogo directamente, tal como se teria passado entre Scrates e os seus interlocutores. Por isso, 156 natural que no esperemos encontrar o mtodo da narrao nos dilogos que se seguem ao Teeteto; e de facto assim acontece para todos os dilogos do ltimo perodo, excepto para o Parmnides, que , por isso, provavelmente anterior ao Teeteto. Por outro lado, os dilogos mais altamente dramticos, como o Protgoras, o Banquete, o Fdon, a Repblica, so todos narrados, ao passo que um grupo de dilogos que tm estrutura mais simples e menor valor artstico so em forma directa. Pode supor-se que Plato tenha adoptado a forma directa numa primeira fase, tenha depois recorrido forma narrativa para dar ao dilogo o maior relevo dramtico, e tenha finalmente regressado, por motivos de comodidade e de fluncia de estilo, forma directa. Mas a ordenao que resulta deste critrio, se vlida para decidir a situao de um dilogo neste ou naquele perodo da actividade de Plato, no suficiente para estabelecer a ordem dos prprios dilogos no mbito de cada um dos perodos. Aos resultados que possam conseguir-se pelo uso combinado destes trs critrios acrescentam-se os que resultam da considerao, de importncia fundamental, de que os primeiros dilogos devem ser aqueles em que a doutrina das ideias no est ainda presente, e que se mantm, por isso, estritamente fiis letra do socratismo. Finalmente, muito difcil imaginar que Plato tenha comeado a exaltao da figura de Scrates ainda em vida do mestre: toda a sua actividade literria deve ser, portanto, posterior a 399. Sobre estes fundamentos afigura-se provvel a seguinte ordenao cronolgica dos dilogos; porm, se a atribuio de um dilogo a um determinado perodo bastante segura nesta ordenao, a ordem de sucesso dos 157 dilogos em cada um dos perodos problemtica e sujeita a cauo: 1. perodo: escritos de juventude ou socrticos: Apologia, Criton, Ion, Laches, Lsis, Crmides, Eutfron;
2.o perodo, de transio: Eutidemo, Hpias menor, Crtilo, Hpias maior, Menexeno, Grgias, Repblica 1, Protgoras, Mnon; 3.o perodo: escritos de maturidade: Fdn, Banquete, Repblica 11-X, Fedro; 4. perodo: escritos da senelitude: Parmnides, Teeteto, Sofista, Poltico, Filebo, Timeu, Crtias Leis. Pode pensar-se, com uma certa verosimilhana, que os escritos do 3.o perodo so posteriores primeira viagem Siclia, de que Plato regressou antes de 387, que os escritos do 4.o perodo so posteriores segunda viagem Siclia (366-65) e alguns, como o Crtias e as Leis, posteriores mesmo terceira (361-360). As Cartas VII e VIII apresentam-se, pelo seu contedo, como posteriores morte de Dio, e portanto ao ano de 353. 45. CARCTER DO PLATONISMO Por que razo a produo literria de Plato se manteve fiel forma do dilogo? Citmos, falando de Scrates ( 24), a passagem do Fedro em que, a propsito da inveno da escrita, atribuda ao deus egpcio Theut, Plato diz que o discurso escrito comunica, no a sabedoria, mas a presuno da sabedoria. Como as figuras pintadas, os escritos tm a aparncia de seres vivos, mas no respondem a quem os interroga. Circulam por toda a parte do mesmo modo, tanto pelas mos dos 158 que os compreendem como pelas mos dos que se no interessam de facto por eles; e no sabem defender-se nem sustentar-se por si prprios quando so maltratados ou vilipendiados injustamente (Fedro, 275 d). Plato no via no discurso escrito mais que uma ajuda para a memria; e ele mesmo nos testemunha que do ensino da Academia faziam parte tambm "doutrinas no escritas" (Carta VII, 341 c). Ora, de entre os discursos escritos, o dilogo o nico que reproduz a forma e a eficcia do discurso falado. Ele a expresso fiel da pesquisa que, segundo o conceito socrtico, um exame incessante de si mesmo e dos outros, logo um perguntar e responder; Plato considera que o prprio pensamento to s um discurso que a alma faz consigo mesma, um dialogar interior, em que a alma pergunta e responde a si mesma (Teet., 189 e, 190 a; Sof., 263 e; Fil., 38 c-d). A expresso verbal ou escrita limita-se, pois, a reproduzir a forma da pesquisa, o dilogo. A mesma convico que impediu Scrates de escrever, impediu Plato a adoptar a manter a forma dialgica nos seus escritos. O que revelou a Plato a incapacidade do jovem Dionisio de se empenhar a srio na pesquisa filosfica, foi a sua pretenso de escrever e difundir como obra prpria um "sumrio do platonismo". Plato declarou energicamente nesta ocasio: "Meu no h, nem nunca haver, tratado algum sobre este assunto. No pode ele ser reduzido a frmulas, como se faz nas outras cincias; s depois de longamente se haver travado conhecimento com estes problemas e depois do os haver vivido e discutido em comum, o seu verdadeiro significado se acende subitamente na alma, como a luz nasce de uma centelha e cresce depois por si s" (Carta VII, 341 c-d). O dilogo era, pois, para Plato o nico meio de exprimir e comunicar aos outros a vida da pes159
quisa filosfica. Ele reproduz o prprio andamento da pesquisa, que avana lenta e dificilmente de etapa em etapa; e sobretudo reproduz-lhe o carcter de sociabilidade e de comunho, pelo qual torna solidrios os esforos dos indivduos que a cultivam. Assim a forma da actividade literria de Plato um acto de fidelidade ao silncio literrio de Scrates; um e outro tm o mesmo fundamento: a convico de que a filosofia no um sistema de doutrinas, mas pesquisa que reprope incessantemente os problemas, para deles tirar o significado e a realidade da vida humana. Conta-se que uma mulher, Axioteia. aps a leitura dos escritos platnicos, se apresentou em trajes masculinos a Plato, e que um campons corntio, depois da leitura do Grgias, deixou o arado e foi ter com o filsofo (Arist., fr. 69, Rose). Estas anedotas demonstram que os contemporneos de Plato tinham compreendido o valor humano da sua filosofia. 46. SCRATES E PLATO A fidelidade ao magistrio e pessoa de Scrates o carcter dominante de toda a actividade filosfica de Plato. Nem todas as doutrinas filosficas de Plato podem, decerto, ser atribudas a Scrates; bem ao contrrio, as doutrinas tpicas e fundamentais do platonismo no tm nada que ver com a letra do ensino socrtico. Todavia, o esforo constante de Plato o de captar o significado vital da obra e da pessoa de Scrates; e para capt -lo e exprimi-lo no hesita em ir alm do modesto patrimnio doutrinal do ensino socrtico, formulando princpios e doutrinas que Scrates, em verdade, nunca ensinam, mas que exprimem o que a sua prpria pessoa incarnava. 160 Frente a esta fidelidade, que nada tem a ver com uma concordncia de frmulas doutrinais, mas que se manifesta na tentativa sempre renovadora de aprofundar uma figura de homem que, aos olhos de Plato, personifica a filosofia como pesquisa, parece muito estreito o esquema em que se tornou habitual resumir a relao entre Scrates e Plato. Inicialmente fiel a Scrates nos dilogos da sua juventude, Plato ter-se-ia depois afastado progressivamente do mestre para formular a sua doutrina fundamental, a doutrina das ideias; e, por fim, at a si mesmo teria sido infiel, criticando e negando esta doutrina. Em breve veremos que Plato jamais foi infiel a si mesmo ou sua doutrina das ideias; e que, nesta doutrina como em todo o seu pensamento, foi, ao mesmo tempo, fiel a Scrates. Nada mais quis fazer seno captar os pressupostos remotos do magistrio socrtico, os princpios ltimos que explicam a fora da personalidade do mestre e podem, por isso, iluminar a via na qual ele consegue possuir-se e realizar-se a si mesmo. Plato, escrupulosamente, no faz intervir Scrates como interlocutor principal nos dilogos que se afastam demasiado do esquema doutrinal socrtico ou que debatem problemas que no haviam suscitado o interesse do mestre (Parmnides, Sofista, Poltico, Timeu). No obstante, toda a pesquisa platnica se pode definir como a interpretao da personalidade filosfica de Scrates. 47. ILUSTRAO E DEFESA DO ENSINO DE SCRATES Na primeira fase, a pesquisa platnica mantm-se no mbito do ensino socrtico e, se no visa ilustrar o significado desta ou daquela atitude fundamental do Scrates histrico (Apologia, Crton), visa captar 161 e esclarecer os conceitos fundamentais que estavam na base do seu ensino (Alcibades, Ion, Hpias menor, Laches, Crmides, Eutfron, Hipiw maior, Lsis).
O contedo da Apologia e do Crton foi utilizado a propsito de Scrates ( 26, 31). A Apologia , em substncia, uma exaltao do dever que Scrates assumiu ante si prprio e ante os outros e , por isso, a exaltao da vida consagrada pesquisa filosfica. Pode dizer-se que o significado integral do escrito est contido na frase: "Uma vida sem pesquisa no digna de ser vivida pelo homem" (Apolog., 38). Scrates declara aos juzes que jamais deixar de cumprir a obrigao que lhe foi confiada pela divindade: o exame de si mesmo e dos outros para alcanar a via do saber e da virtude. J na apresentao que Plato faz de Scrates na Apologia se mostra claramente que ele v incarnada na figura do mestre aquela filosofia como pesquisa a que ele prprio iria dedicar toda a existncia. O Crton apresenta-nos Scrates frente ao dilema: ou aceitar a morte pelo respeito que o homem justo deve s leis do seu pas, ou fugir do crcere, conforme proposta dos amigos, e desmentir assim a substncia do seu ensino. A maneira serena como Scrates aceita o destino a que condenado a ltima prova da seriedade do seu ensino. Ela mostra-nos que a pesquisa uma misso de uma tal natureza, que o homem que se haja empenhado nela no a deve trair, aceitando compromissos e fugas que a esvaziem de significado. Com estes dois escritos, Plato fixou para sempre as atitudes que fazem de Scrates o filsofo por excelncia, "o homem de todos o mais sbio e o mais justo". Os outros escritos de Plato pertencentes a este mesmo perodo visam, ao invs, esclarecer os conceitos que estavam na base do 162 ensino socrtico. Nestes escritos Plato aparece-nos (assim o disse Gomperz), como o moralista dos conceitos: delineia o procedimento socrtico enquanto pesquisa do fundamento da vida moral do homem. E. em primeiro lugar, aclara o pressuposto necessrio de toda a pesquisa, ponto em que Scrates tanto insistira: o reconhecimento da prpria ignorncia. Sobre o tema da ignorncia desenvolve-se um grupo de dilogos: Alcibades 1, Ion, Hpias menor. O Alcibades 1 , no obstante as dvidas que se aventaram sobre a sua autenticidade, uma espcie de introduo geral filosofia socrtica. A Alcibades que, dotado e ambicioso, se prepara para participar na vida poltica, com a pretenso de dirigir e aconselhar o povo ateniense, pergunta Scrates onde aprendeu a sabedoria necessria a este fim, ele que nunca se reconheceu ignorante e que, por conseguinte, nunca se preocupou com procurla. Alcibades est ainda na ignorncia, na pior das ignorncias, a ignorncia de que no sabe que ignorante; e s pode sair dela aprendendo a conhecer-se a si mesmo. S por esta via poder alcanar o conhecimento da justia, que necessria para governar um Estado e sem a qual se no homem poltico, mas politiqueiro vulgar que se engana a si prprio e ao povo. Este tema da ignorncia no consciente de si tambm o do Ion. Ion um rapsodo que se gaba de saber expor muitos pensamentos belos sobre Homero e de ser, portanto, competente no que respeita a todos os argumentos sobre que versa a poesia homrica. Plato representa nele, provavelmente, um tipo de falso sbio que devia ser frequente no seu tempo: o tipo dos que, recordando Homero de memria e tendo sempre mo os ditos do poeta, o citavam 163 em todas as circunstncias com o ar de quem apela para a mais antiga e autntica sabedoria grega. Plato demonstra que verdadeiramente nem o poeta nem muito menos o rapsodo sabem coisa alguma. Um e outro falam de tantas coisas, no em virtude da
sabedoria, mas em virtude de uma inspirao divina que se transmite da divindade ao poeta, do poeta ao rapsodo, do rapsodo ao ouvinte, como a fora de atraco do man passa de uma argola de ferro a outra e forma uma longussima cadeia. Se o saber do poeta ou do rapsodo fosse verdadeiro, aqueles que cantam a guerra podiam comandar os exrcitos e ocupar-se assim seriamente de todas as coisas que se limitam a cantar. Uma variao paradoxal do tema da ignorncia apresentada no Hpias menor; este dilogo procura demonstrar que s o homem de bem pode pecar voluntariamente. Efectivamente, pecar voluntariamente significa pecar conscientemente; pecar sabendo qual o bem e qual o mal, e escolhendo deliberadamente o mal. Mas quem sabe qual o bem? O homem de bem; e s ele por conseguinte, pode pecar voluntariamente. O absurdo desta concluso sugere que impossvel pecar voluntariamente e que somente peca quem no sabe o que o bem, ou seja o ignorante. O dilogo uma reduo ao absurdo da tese contrria de Scrates e , por isso, uma confirmao indirecta da tese de que a virtude saber. A demonstrao desta tese o objectivo de um outro grupo de dilogos, mais importantes do que os primeiros. Esta demonstrao tem por pressuposto que a virtude s uma. Portanto, estes dilogos tm em mira reduzir ao absurdo a afirmao de que h diversas virtudes, demonstrando que nenhuma delas, tomada isoladamente, pode ser compreendida e definida. 164 No Laches chega-se a esta concluso mediante a anlise da coragem (andria). Considerada a coragem como virtude particular, h que defini-la como a cincia do que se deve ou se no deve temer, ou seja, dos bens ou dos males futuros. Mas o bem e o mal so o que so no s com referncia ao futuro, mas tambm ao presente e ao passado; a cincia do bem e do mal no pode por conseguinte, limitar-se ao futuro, mas diz respeito a todo o bem e a todo o mal; esta cincia j no a coragem como virtude particular, mas a virtude na sua integralidade. A pesquisa que nos impele a determinar a natureza de cada virtude tomada isoladamente consegue assim determinar realmente a natureza de toda a virtude: de tal modo impossvel distinguir nela partes diversas. No Crmides faz-se a mesma investigao a propsito da prudncia (sofrosyne) e chega-se mesma concluso. A prudncia definida por Crtias, principal interlocutor do dilogo, como conhecimento de si mesmo, quer dizer, do saber e do no saber prprios de cada um e, por isso, como cincia da cincia. Porm, Scrates ope a esta definio que uma cincia assim exige um objecto que seja especificamente seu. Como no h um ver que seja um ver coisa nenhuma, mas o ver tem sempre por objecto uma coisa determinada, assim a cincia no pode ter por objecto a prpria cincia, antes deve possuir um objecto determinado sem o qual como cincia da cincia falha, definir a prudncia como cincia da cincia falha, pois, pela impossibilidade de a cincia se fazer objecto de si mesma. A pesquisa procura sugerir que a prudncia, se cincia, deve ter por objecto o bem; ora se cincia do bem j no somente prudncia (sofrosyne), mas ao mesmo tempo sabedoria e coragem: virtude na sua integralidade. No Eutfron examina-se a primeira e fundamental virtude do cidado grego, que a piedade reli165 giosa ou devoo (osites). Parte-se da definio puramente formal dessa virtude, que seria a arte que regula a troca de benefcios entre o homem e a divindade, troca pela qual o homem oferece divindade culto e sacrifcios para dela obter ajuda e vantagens. Segundo esta definio, as aces piedosas so as que agradam a alguns deuses. no a todos os
deuses, uma vez que frequentemente se acham estes em desacordo. Pe-se ento o problema: aquele que santo -o porque agrada aos deuses, ou acontece, ao contrrio. que agrada aos deuses porque santo? Frente a esta pergunta. a definio formal da piedade religiosa cai e vemo-nos obrigados a perguntar de novo que coisa verdadeiramente a devoo. Pode ento dizer-se que a devoo uma parte da justia, precisamente aquela que se refere ao culto da divindade e que consiste em praticar aces que divindade agradam, mas eis-nos deste modo regressados definio que abandonmos. A concluso negativa do dilogo no s exprime a no aceitao do conceito formal da piedade religiosa, como ainda a impossibilidade de a definir como uma virtude em si, independente das outras, e assim prepara indirectamente o reconhecimento da unidade da virtude. Correlativamente indagao sobre a virtude, procede Plato indagao sobre o objecto ou o fim da virtude, sobre os valores que so seu fundamento, Uma aco bela, um belo discurso tm o belo por objecto; mas o que o belo? este o problema do Hpias maior. A concluso que o belo no pode ser distinto do bem, no podendo considerar-se nem como o que conveniente nem como o que til; dado que o conveniente a aparncia do belo, no o prprio belo, e o til no seno o vantajoso, aquilo que produz o bem e , portanto, causa do prprio bem. Como todas 166 as virtudes tendem, uma vez examinadas, a unificar-se no saber, assim os vrios objectos ou fins das aces humanas, o belo, o conveniente, o til tendem a unificar-se no conceito do bem. O bem ainda o termo ltimo e o fundamento de todas as relaes humanas. Segundo o Lsis, a amizade (filia) no se funda na semelhana nem na dissemelhana entre as pessoas: o semelhante no pode encontrar no semelhante nada que no tenha j e o dissemelhante no pode amar o que dissemelhante dele (o bom no pode amar o mau nem o mau pode amar o bom). O homem no ama e no deseja seno o bem; e ama e deseja um bem inferior em vista de um bem superior, de maneira que o ltimo e supremo bem tambm o primeiro fundamento da amizade. Verdadeiramente s ele o verdadeiro e nico amigo. as outras coisas que desejamos e amamos so simplesmente suas imagens. A amizade dos homens funda-se, portanto, na sua comum relao com o bem. Os resultados das investigaes levadas a cabo em todos estes dilogos podem resumir-se como segue: 1.o No h virtudes particulares, mas a virtude s uma; 2.O No h fins ou valores particulares, definveis cada um de per si, mas o fim ou o valor s um; o bem. Estas duas concluses rasgam as perspectivas da investigao platnica ulterior e preparam os problemas que ela viria a debater. 48. A POLMICA CONTRA OS SOFISTAS A tese que o precedente grupo de dilogos sugere indirectamente, a unidade da virtude e a sua relao com o saber, pe-se e demonstra-se positivamente no Protgoras em oposio polmica atitude dos sofistas. A Protgoras, que se intitula mestre de virtude, objecta Scrates que a virtude 167
de que fala Protgoras no cincia mas um simples conjunto de habilidades adquiridas acidentalmente por experincia; e , portanto, um patrimnio privado, que no pode transmitir-se aos outros. Protgoras, para quem as virtudes so muitas e a cincia apenas uma delas, no pode afirmar que a virtude ensinvel; pois que somente a cincia se pode ensinar. Do que decorre que a virtude pode transmitir-se e comunicar-se na medida em que cincia. Viu-se, a propsito de Scrates ( 28), que a cincia aqui entendida como clculo dos prazeres e o seu conceito continua, portanto, preso letra do ensino socrtico. Porm, j este dilogo mostra que Plato no se limita de ora em diante frustrao dos conceitos que Scrates colocou na base da vida moral; mas, contrapondo a doutrina de Scrates dos sofistas, projecta sobre a figura do mestre a mais viva luz que brota da polmica. O Protgoras recusou ver no ensino sofstico qualquer valor educativo, e formativo e na prpria sofstica qualquer contedo humano. Ante a runa da sofstica.. a doutrina de Scrates apareceu em todo o seu valor. Mas mantinham-se outros aspectos da sofstica; e contra eles dirige Plato trs dilogos que formam com o Protgoras um grupo unido. Estes aspectos so a erstica, contra a qual se dirige o Eutidemo; o verbalismo, contra o qual se dirige o Crtilo; e a retrica, contra a qual se dirige o Grgias. O Eutidemo , acima de tudo, uma representao vivssima e caricatural do mtodo erstico dos sofistas. A eristica a arte de lutar com palavras e de "refutar tudo o que se vai dizendo, seja falso ou verdadeiro". Os interlocutores do dilogo, os dois irmos Eutidemo e Dionis'odoro, divertem-se a demonstrar, por exemplo, que s o ignorante pode aprender e, logo a seguir, que contrariamente s o sbio aprende; que s se aprende o que se 168 no sabe e a seguir que s se aprende o que sabe, etc. O fundamento de semelhante exerccio a doutrina (defendida pelos Sofistas, e alm destes pelos Megricos e pelos Cnicos) de que no possvel o erro e que, seja qual for a coisa que se disser, se diz coisa que , logo verdadeira. Ao que Scrates objecta que, nesse caso, no haveria nada que ensinar e nada que aprender, pelo que a prpria erstica seria intil. Na verdade, nada h que se possa ensinar a no ser a sabedoria; e a sabedoria s pode ensinar-se e aprender-se amando-a, isto filosofando. E neste ponto o dilogo deixa de ser crtica do procedimento sofstico para se transformar em exortao filosofia (propreptikon); e, como discurso introdutrio ou proprptico tornou-se famoso na antiguidade, tendo sido muitas vezes imitado. Porm, esta parte importante sobretudo porque contm a ilustrao do objecto prprio da filosofia: objecto que Plato define como o uso do saber para utilidade do homem. A filosofia a nica cincia em que o fazer coincide com o saber servir-se do que se faz (Eut., 289 b): ou seja, a nica cincia que produz conhecimento ao mesmo tempo que ensina a utilizar o prprio conhecimento para utilidade e felicidade do homem (lb., 288-289). erstica liga-se o verbalismo, contra o qual se dirige o Crtilo. O problema deste dilogo o de ver se a linguagem verdadeiramente um meio para ensinar a natureza das coisas, como pensavam Crtilo, os Sofistas e Antstenes. Plato no considera, decerto, que a linguagem seja produto de conveno e que os nomes se implantem arbitrariamente. Como todo o instrumento deve ser adequado ao desgnio para que foi construdo, assim a linguagem deve ser adequada a fazer-nos discernir a natureza das coisas. No h dvida, pois, que todo o nome deve ter uma certa justeza, isto 169 , deve imitar e exprimir, na medida do possvel, por meio de letras e de slabas, a natureza
da coisa significada. Mas nem todos os nomes tm este carcter natural; alguns, como por exemplo os nomes dos nmeros, s o puramente convencionais. De qualquer maneira, no se pode sustentar, como faz Crtilo, que a cincia dos nomes seja tambm cincia das coisas: que no haja outra via para indagar e descobrir a realidade que no seja a de descobrir-lhes os nomes, e que no se possa ensinar seno os prprios nomes. Dado que os nomes pressupem o conhecimento das coisas, os primeiros homens que os descobriram deviam conhecer as coisas por outra via, uma vez que no dispunham ainda dos nomes; e ns prprios no podemos apelar para outros nomes para julgar da correco dos nomes, mas devemos recorrer realidade de que o nome a imagem. De modo que o critrio para compreender e julgar do valor das palavras leva-nos a procurar, para alm das palavras, a prpria natureza das coisas. O dilogo contm assim a enunciao das trs alternativas fundamentais que posteriormente se iriam apresentar constantemente na histria da teoria da linguagem, a saber: 1. - a tese sustentada pelos Eleatas, pelos Megricos, pelos Sofistas e por DemcrIto (fr. 26, Diels), de que a linguagem pura conveno, quer dizer, devida exclusivamente livre iniciativa dos homens; 2.O a tese sustentada por Crtilo e que pertencia a Heraclito (fr. 23 e, 114, Diels) e aos Cnicos de que a linguagem naturalmente produto da aco causal das coisas; 3.o a tese, defendida por Plato, de que a linguagem a escolha inteligente do instrumento que serve para aproximar o homem do conhecimento das coisas. Na ilustrao desta ltima tese Plato refere-se explicitamente s ideias (440 b), a que chama mais frequentemente "substncias" (338 b, 423 d): por 170 cujo nome compreende: "o que o objecto " (428 d). Todavia, Plato no atribui a produo da linguagem prpria natureza das coisas: considera-a, com os convencionalistas, uma produo do homem. Mas admite ao mesmo tempo que esta produo no arbitrria, antes dirigida, at onde possvel, para o conhecimento das essncias, isto , da natureza das coisas. O teorema fundamental que Plato se prope defender que a linguagem pode ser mais ou menos exacta ou mesmo errada ou, por outras palavras, que "se pode dizer o falso": teorema que no cabe nas outras duas concepes da linguagem, ou porque consideram que a linguagem sempre exacta, ou porque uma conveno vale tanto como outra, ou porque a natureza das coisas a imp-lo. A defesa deste teorema abre o caminho ontologia do Sofista. Por fim, Plato ataca no Grgias a arte que constitua a principal criao dos Sofistas e que era a base do seu ensino: a retrica. A retrica pretendia ser uma tcnica da persuaso, qual parecia completamente indiferente a tese a defender ou o assunto tratado. Plato objecta ao conceito desta arte que toda a arte ou cincia s consegue ser verdadeiramente persuasiva a respeito do objecto que lhe prprio. A retrica no tem um objecto prprio: permite falar de tudo, mas no consegue persuadir seno aqueles que tm um conhecimento inadequado e sumrio das coisas de que trata, ou seja os ignorantes. No , pois, uma arte, mas to s uma prtica adulatria que oferece a aparncia da justia e est para a poltica, que arte da justia, como a culinria est para a medicina: retrica e culinria excitam o gosto, aquela o da alma, esta o do corpo; poltica e medicina curam verdadeiramente respectivamente a alma e o corpo. A retrica pode ser til para defender com discursos a prpria injustia e para evitar sofrer a 171 pena da injustia cometida. Ora isto no uma vantagem. O mal, para o homem, no
sofrer a injustia, mas comet-la, porque isso mancha e corrompe a alma; e subtrair-se pena da injustia cometida um mal ainda pior, porque tira alma a possibilidade de libertar-se da culpa, expiando-a. Pela sua indiferena para com a justia da tese a defender, a retrica implica, na realidade, a convico (exposta no dilogo por Clicles) de que a justia somente uma conveno humana, que tolice respeitar e de que a lei da natureza a lei do mais forte. O mais forte segue s o prprio prazer e no cuida da justia; tende proeminncia sobre os outros e tem como nica regra o prprio talento. Contra este imoralismo observa, no entanto, Plato que o intemperante no o homem melhor do mesmo modo que no o mais feliz, uma vez que passa de um prazer ao outro insaciavelmente, assemelhando-se a uma pipa rota que nunca mais se enche. O prazer a satisfao de uma necessidade; e a necessidade sempre deficincia, isto , dor: prazer e dor condicionam-se reciprocamente e no h um sem o outro, Ora o bem e o mal no so conjuntos mas separados, no podendo assim identificar-se seno pela virtude; e a virtude a ordem e a regularidade da vida humana. A alma boa a alma ordenada; que a um tempo sbia, temperante e justa. A polmica contra os sofistas, conduzida pelo grupo de Scrates, faz emergir os problemas que aquele ensino apresentava. A virtude cincia; pode, portanto, ensinar-se e aprenderse. Mas o que aprender? Eis o primeiro problema. Cria ele, indubitavelmente, um vnculo entre um homem e outro homem e entre o homem e a cincia: de que natureza este vnculo? Eis um outro problema. E o que exactamente a cincia em que consiste a virtude? Qual o objecto desta cincia, o mundo ou a subs172 tncia sobre que ela versa? Eis o ltimo e mais grave problema que brota do ensino socrtico. A pesquisa platnica iria debater, no seu desenvolvimento ulterior, estes problemas; quer na sua singularidade, quer nas suas relaes recprocas. 49. O APRENDER E OS SEUS OBJECTOS (AS IDEIAS) Ao problema do aprender dedicado o Mnon. Segundo o princpio erstico, no se pode aprender o que se sabe nem o que se no sabe: visto que ningum busca saber o que sabe, nem pode buscar saber se no sabe que coisa buscar. a este princpio ope Plato o mito da anamnese. a alma imortal e nasceu muitas vezes, e viu j todas as coisas, quer neste mundo, quer no Hades: no , pois, de espantar que possa recordar o que antes sabia. A natureza em si toda igual: uma vez que a alma aprendeu tudo, nada impede que, quando ela se recorda de uma s coisa - no que consiste precisamente o aprender-, encontre por si tudo o resto, se tiver nimo e no se cansar da pesquisa; dado que pesquisar e aprender so o mesmo que recordar-se. A doutrina dos sofistas torna-nos preguiosos, porque nos dissuade da pesquisa; o mito da alma imortal e do aprender como reminiscncia torna-nos activos e incita-nos pesquisa. Plato confirma esta doutrina pelo exemplo famoso do escravo que, habilmente interrogado, consegue compreender por si, ou seja aprender e recordar, o teorema de Pitgoras. O mito da reminiscncia exprime aqui o princpio da unidade da natureza: a natureza do mundo uma s, e ainda una com a natureza da alma. Pelo que, partindo de uma coisa singular, aprendida num acto singular, o homem pode procurar aprender as outras coisas, 173 que quela esto unidas, mediante sucessivos actos de aprendizagem ligados ao primeiro no curso da pesquisa (Mn., 81 c). O mito tem aqui, como algures em Plato, um significado precioso: a anamnese exprime, nos termos da crena rfica e pitagrica, da cadeia dos nascimentos, aquela unidade da natureza das coisas e aquela unidade entre a natureza e a alma que torna possvel a pesquisa e a aprendizagem. Porm, quer o mito da
anamnese, quer a doutrina da unidade da natureza, so explicitamente apresentadas por Plato como hipteses semelhantes s de que se servem os gemetras. A hiptese pe-se quando no se conhece ainda a soluo de um problema e se antecipa esta soluo deduzindo-lhe as consequncias que podem depois confirm-la ou refut-la (Mn., 8/ a). Como veremos, o uso da hiptese faz parte integrante do que Plato entendia por procedimento dialctico. Se, pois, se pe a hiptese que a virtude cincia, deve admitir-se que pode ela ser aprendida e ensinada. Como pode ento acontecer que no haja mestres nem discpulos de virtude? Mestres de virtude no o so decerto os sofistas, nem o foram os homens mais eminentes (Aristides, Temstocles, etc.) que a Grcia teve, os quais no souberam transmitir a sua virtude aos filhos. Ora isto aconteceu e acontece porque, para aqueles homens, a virtude no era verdadeiramente sageza (frnesis), mas uma espcie de inspirao divina, como a dos profetas e a dos poetas. A sageza no seu grau mais elevado cincia, no seu grau mais baixo opinio verdadeira. A opinio verdadeira distingue-se da cincia por lhe faltar uma garantia de verdade. Plato compara-a s esttuas de Ddalo, que parecem sempre prestes a sumir-se. As opinies tendem a escapar-se "enquanto no forem ligadas em um discurso causal" (Mn., 98 a). Quando esto ligadas entre si em um discurso causal consolidam-se e 174 tornam-se cincia. A cincia , por isso, mais preciosa que as opinies verdadeiras, e distingue-se destas pelo encadeamento racional que estabelece entre os seus objectos. O Mnon esboa as primeiras linhas de uma teoria do aprender que, todavia, deixa em aberto numerosos problemas. Se o aprender um recordar-se, que valor tem, no que a ele concerne, o conhecimento sensvel? E qual o objecto do aprender? Por outro lado, toda a teoria da anamnese se funda no pressuposto da imortalidade da alma. possvel demonstrar este pressuposto? Tais so os problemas debatidos no Fdon. Mas a prpria implantao destes problemas conduz Plato definitivamente alm do ponto que Scrates havia alcanado. A determinao de um objecto da cincia, de um objecto que nada tem que ver com as coisas sensveis, como a cincia nada tem que ver com o conhecimento sensvel, induz Plato formulao da teoria das ideias. Esta teoria no vem organicamente formulada em o Fdon: somente pressuposta como algo de j conhecido e aceite pelos interlocutores como hiptese fundamental da investigao. Talvez justamente por ser ela o centro para que convergem as directivas da sua filosofia, se negou Plato, conformemente ao princpio do seu ensino ( 42), a trat-la sistematicamente. Era talvez objecto das "doutrinas no escritas" de que fala o prprio Plato em a Carta VI/ (341 c), e que Aristteles tambm assinala em vrias passagens; doutrinas que constituam, possivelmente, o patrimnio da Academia. Evidenciam-se, todavia, em o Fdon, algumas determinaes fundamentais que Plato atribui s ideias. Essas determinaes so trs: 1.o as ideias so os objectos especficos do conhecimento racional; 2.o as ideias so critrios ou princpios de julgamento 175 das coisas naturais; 3.o as ideias so causas das coisas naturais. 1. - Como objectos do conhecimento racionaL as ideias so chamadas por Plato entes ou substncias, e so nitidamente distintas das coisas sensveis. Pela primeira vez se faz em o Fdon o balano das crticas que Plato dirigiu contra os sofistas nos dilogos precedentes.
O defeito fundamental dos sofistas que eles se recusam a ir alm das aparncias: pelo que ficam seus prisioneiros e, falando com propriedade, no so filsofos. A filosofia consiste no prosseguir para alm das aparncias e, em primeiro lugar, das aparncias sensveis. A funo da filosofia, declara-se em o Fdon, a de afastar a alma da investigao "feita com os olhos, com os ouvidos e com os outros sentidos", o de recolh-la e concentr-la em si mesma de maneira a que ela enxergue "o ser em si"-, e caminha assim da considerao do que sensvel e visvel at considerao do que inteligvel e invisvel. Aqui se vem enxertar no tronco da filosofia socrtica a oposio, caracterstica do Eleatismo, entre a via da opinio e a via da verdade; e se pe, como objecto prprio da razo, o ser em si, a ideia. anttese eletica vem adjunto, por outro lado, o mito rfico-pita,,rfico, se a sensibilidade est ligada ao corpo e um impedimento, mais do que um auxlio, para a pesquisa, a pesquisa exige que a alma se separe, tanto quanto possvel, do corpo, e viva, por conseguinte, na expectativa e na preparao da morte, com a qual a separao se torna completa. Todavia, as outras determinaes das ideias que Plato apresenta, fundadas como so nas conexes entre ideias e coisas, excluem a rigidez eletica da oposio entre a razo e os sentidos. 2.o -As ideias constituem, com efeito, os critrios para julgar as coisas sensveis. Por exemplo: para 176 julgar se as duas coisas so iguais, servimo-nos da ideia de igual, que a igualdade perfeita a que s imperfeitamente se adequam os iguais sensveis. Para julgar do que bom, justo, santo, belo, o critrio fornecido pelas ideias correspondentes, isto , pelas entidades a que estes conceitos correspondem. As ideias so, por conseguinte, em o Fdon (75 c-d), critrios de avaliao; so mesmo os prprios valores. 3.o - As ideias so as causas das coisas naturais. Plato apresenta esta doutrina como uma consequncia imediata da teoria de Anaxgoras de que o Intelecto a causa ordenadora de todas as coisas. "Se assim , se o Intelecto ordena todas as coisas e dispe cada uma do modo melhor, encontrar a causa por que cada coisa se gera, se destri ou existe significa encontrar qual para ela o melhor modo de existir, de modificar-se ou de agir" (Fd., 97 c). Deste ponto de vista, "o ptimo e o excelente" so a nica causa possvel das coisas e o nico objecto da cincia: uma vez que quem sabe reconhecer o melhor pode tambm reconhecer o pior. Anaxgoras foi, certamente, infiel a este princpio, mas Plato declara que deseja, bem ao contrrio, permanecer-lhe fiel, e que no admitir portanto outras causas das coisas que no sejam as razes (logoi) das prprias coisas: a perfeio ou o fim a que elas se destinam (Ib., 99 e). As ideias so, -por isso, ao mesmo tempo critrios de avaliao e causas das coisas naturais: num caso como no outro as suas funes so de logoi, de razes das coisas. A imortalidade da alma, necessria para justificar a funo da filosofia, demonstrvel precisamente fundando-se na doutrina das ideias. Como as ideias, a alma , com efeito, invisvel, e por isso ainda, presumivelmente, indestrutvel. Por outro lado, a reminiscncia uma outra prova da sua imortalidade, na medida em que demonstra a sua 177 pr-existncia. Finalmente, se se quiser compreender a natureza da alma, preciso que busquemos a ideia de que ela participa; e essa ideia a vida. Porm, dado que participa necessariamente da vida, a alma no pode morrer: e ao avizinhar-se a morte, no fica vtima dela, mas afasta-se sem sofrer qualquer dano e conservando a inteligncia. desta forma que o desenvolvimento da teoria do aprender estabelecida em o Mnon conduz, em o Fdon, a determinar o objecto do aprender como ideia ou valor objectivo, e recebe neste dilogo a demonstrao do seu pressuposto fundamental, a imortalidade.
50. O EROS O aprender estabelece entre o homem e o ser em si entre os homens associados na pesquisa comum uma relao que no puramente intelectual, uma vez que compromete a totalidade do homem, e por isso, tambm a sua vontade. Esta relao definida por Plato como amor (eros). teoria do amor so dedicados dois dos dilogos mais perfeitos, de um ponto de vista artstico, o Banquete e o Fedro. O segundo , decerto, posterior ao primeiro. O Banquete considera predominantemente o objecto do amor, quer dizer a beleza, e procura determinar os graus hierrquicos dela. O Fedro considera, ao contrrio, o amor predominantemente na sua subjectividade, como aspirao para a beleza e elevao progressiva da alma ao mundo do ser, a que a beleza pertence. Os discursos que os interlocutores do Banquete pronunciam um aps outro em louvores de eros exprimem as caractersticas subordinadas e acessrias do amor, caractersticas que a doutrina exposta por Scrates unifica e justifica. Pausnias distingue do eros vulgar, que se volve para os corpos, o eros 178 celeste, que se volve para as almas. O mdico Erixmaco v no amor uma fora csmica que determina as propores e a harmonia de todos os fenmenos, assim no homem como na natureza. Aristfanes exprime, com o mito dos seres primitivos compostos de homem e de mulher (andrgenos), divididos pelos deuses em duas metades, para seu castigo, uma das quais caminha no encalo da outra para se unir a ela e reconstituir assim o ser primitivo, exprime, dizamos, um dos traos fundamentais que o amor manifesta no homem: a insuficincia. precisamente por este carcter que Scrates comea: o amor deseja qualquer coisa que no tem, mas de que precisa, e , portanto, imperfeio. O mito di-lo, com efeito, filho de Pobreza (Penia) e de Conquista (Poros); no , pois, um deus mas um demnio; pois que no tem a beleza mas a deseja, no tem a sabedoria, mas aspira a possu-la e , portanto, filsofo. Os deuses, ao invs, so sapientes. O amor , por conseguinte, desejo de beleza; e a beleza deseja-se porque o bem que torna feliz. O homem que mortal tende a gerar em beleza e da a perpetuar-se atravs da gerao, deixando aps si um ser que se lhe assemelha. A beleza o fim (telos), o objecto do amor. Mas a beleza tem graus diversos a que o homem somente pode elevar-se por aproximaes sucessivas, ao longo de uma lenta caminhada. Em primeiro lugar, a beleza de um corpo a que atrai e prende o homem. Este apercebe-se em seguida que a beleza igual em todos os corpos e comea assim a desejar e a amar toda a beleza corprea. Mas acima dessa h a beleza da alma; ainda mais acima, a beleza das instituies e das leis, alm desta a beleza das cincias e, finalmente, acima de tudo, a beleza em si, que eterna, superior ao devir e morte, perfeita, sempre igual a si mesma e fonte de toda a outra beleza (210 a -211 a). 179 Como pode a alma humana percorrer os graus desta hierarquia, at alcanar a beleza suprema? Eis o problema do Fedro, que parte, portanto, da considerao da alma e da sua natureza. A alma imortal enquanto incriada; efectivamente, move-se por si, pelo que tem em si mesma o princpio da sua vida. Pode exprimir-se a sua natureza "de maneira humana e mais breve" por meio de um mito. semelhante a uma parelha de cavalos alados, conduzidos por um auriga. Um dos cavalos excelente, o outro pssimo; de modo que o trabalho do auriga difcil e penoso. O auriga procura conduzir ao cu os cavalos, levando-os at corte dos deuses, l onde fica a regio supra-celeste (hiperurnio) que a sede do ser. Nesta regio est a "verdadeira substncia (ousa), sem cor e sem forma,
impalpvel, que s pode ser contemplada pelo guia da alma, que a razo, a substncia que o objecto da verdadeira cincia (Fedr., 247 c). Esta substncia a totalidade das ideias justia em si, temperana em si, etc.). e s pode ser contemplada pela alma; mesmo assim mal, pois que o cavalo ruim a puxa para baixo. Todas as almas contemplam, por conseguinte, em maior ou menor parte a substncia do ser, e quando, por esquecimento ou por culpa, o pesadume a acomete, perde as asas e encarna-se, indo vivificar o corpo de um homem que ser exactamente aquilo em que ela o transformar. A alma que viu mais entra para o corpo de um homem que se ir consagrar ao culto da sabedoria ou do amor; as almas que viram menos encarnam-se em homens que cada vez se afastaro mais da pesquisa da verdade e da beleza. Ora a recordao das substncias ideais precisamente despertada pela beleza, na alma que caiu e se encarnou. Efectivamente, mal v a beleza o homem reconhece-a de chofre, pela sua luminosidade. A vista, que o mais 180 agudo dos sentidos corpreos, no v nenhuma das outras substncias, pode ver, no entanto, a beleza. "S beleza coube o privilgio de ser a substncia. mais evidente e mais amvel". Ela faz de medianeira entre o homem cado e o mundo das ideias; e o homem responde com amor ao seu apelo. verdade que o amor pode tambm ficar preso beleza corprea e pretender gozar desta somente; mas quando sentido e realizado na sua verdadeira natureza, o amor torna-se o guia da alma para o mundo do ser. Neste caso j no to s desejo, impulso, delrio; os seus caracteres passionais no deixam de existir e manifestar-se, mas subordinam-se e fundem-se na pesquisa rigorosa e lcida do ser em si, da ideia. O eros torna-se ento procedimento racional, dialctica (156). A dialctica a um tempo pesquisa do ser em si e unio amorosa da alma no aprender e no ensinar. , por conseguinte, psicagogia, guia da alma, pela mediao da beleza, em direco ao verdadeiro destino. , ainda, a verdadeira arte da persuaso, a verdadeira retrica. Esta no , como sustentam os sofistas, uma tcnica a que seja indiferente a verdade do seu objecto e a natureza da alma que se quer persuadir, mas cincia do ser em si e, ao mesmo tempo, cincia da alma. Nessa qualidade distingue as espcies da alma e acha para cada uma o caminho apropriado para a persuadir e conduzir ao ser. Este conceito da dialctica, que o ponto culminante do Fedro e a cpula da teoria platnica do amor, viria a constituir o centro da especulao platnica nos ltimos dilogos. 51. A JUSTIA Todos os temas especulativos e todos os resultados fundamentais dos dilogos precedentes se acham resumidos na obra mxima de Plato, a Repblica, 181 que os ordena e os unes ao redor do motivo central de uma comunidade perfeita, em que o indivduo encontra a sua perfeita formao. O projecto de uma comunidade tal funda-se no princpio que constitui a directriz de toda a filosofia platnica. "Se os filsofos no governarem a cidade ou se os que agora achamos reis ou governantes, no cultivarem verdadeira e seriamente a filosofia, se o poder poltico e a filosofia no coincidirem nas mesmas pessoas e a multido dos que agora se ocupara exclusivamente de uma ou da outra no for rigorosamente impedida de faz-lo, impossvel que cessem os males da cidade e at os do gnero humano" (Rep., V., 473 d). Mas neste ponto do desenvolvimento da investigao, a constituio de uma comunidade poltica governada por filsofos oferece a Plato dois problemas fundamentais: qual o escopo e o fundamento de uma tal comunidade? Quem so propriamente os filsofos?
primeira pergunta responde Plato: a justia. E, com efeito, a Repblica dirige-se explicitamente determinao da natureza da justia. Nenhuma comunidade humana pode subsistir sem a justia. opinio sofstica que queria reduzi-la ao direito do mais forte, objecta Plato que nenhum bando de salteadores ou de ladres poderia realizar qualquer roubo, se os seus componentes violassem as normas da justia uns em prejuzo dos outros. A justia condio fundamental do nascimento e da vida do estado. Este deve ser constitudo por trs classes: a dos governantes, a dos guardies ou guerreiros e a dos cidados, que exercem qualquer outra actividade (agricultores, artesos, comerciantes, etc.). A sageza pertence primeira destas classes, porque basta que os governantes sejam sbios para que todo o estado seja sbio. A coragem pertence classe dos guerreiros. A temperana, como acordo entre 182 governantes e governados sobre quem deve comandar o estado, virtude comum a todas as classes. Mas a justia compreende em si estas trs virtudes: realiza-se ela quando cada cidado se dedica tarefa que lhe prpria e tem o que lhe pertence. Com efeito, as tarefas em um estado so muitas e todas necessrias vida da comunidade: cada qual deve escolher aquela a que se adapta e dedicar-se-lhe. S assim cada homem ser uno e no j mltiplo; e o prprio estado ser uno (423 d). A justia garante a unidade e, consigo, a fora do estado. Mas garante igualmente a unidade e a eficincia do indivduo. Na alma individual Plato distingue, como no estado, trs partes: a parte racional, que aquela pela qual a alma raciocina e domina os impulsos; a parte concupiscvel, que o princpio de todos os impulsos corporais; e a parte irascvel, que o auxiliar do princpio racional e se enfurece e luta por aquilo que a razo considera justo. Ao princpio racional pertencer a sageza, ao princpio irascvel a coragem; ao passo que o acordo de todas as trs partes em deixar o comando alma racional ser a temperana. Tambm no homem individual a justia se ter quando cada parte da alma exercer somente a funo que lhe prpria. Evidentemente que a realizao da justia no pode prosseguir paralelamente no indivduo e no estado. O estado justo quando cada indivduo atende somente tarefa que lhe prpria; mas o indivduo que atende s mente prpria tarefa ele prprio justo. A justia no s a unidade do estado em si mesmo e do indivduo em si mesmo, , ao mesmo tempo, a unidade do indivduo e do estado e, por isso, o acordo do indivduo com a comunidade. Duas condies so necessrias para a realizao da justia no estado. Em primeiro lugar, a eliminao da riqueza e da pobreza; ambas tornam imposs183 vel ao homem atender sua tarefa. Mas esta eliminao no implica uma organizao comunista. Segundo Plato, as duas classes superiores dos governantes e dos guerreiros no devem possuir nada nem ter qualquer retribuio, alm dos meios para viver. Mas a classe dos artesos no excluda da propriedade; e os meios de produo e de distribuio deixam-se nas mos dos indivduos. A segunda condio a abolio da vida familiar, abolio que deriva da participao das mulheres na vida do estado com base na mais perfeita igualdade com os homens, pondo como nica condio a sua capacidade. As unies entre homens e mulheres so estabelecidas pelo estado com vista procriao de filhos sos. E os filhos so criados e educados pelo estado que a todos torna uma nica grande famlia. Estas duas condies tornam impossvel um estado segundo a injustia, todas as vezes, claro, que se verificar esta outra: que o governo seja entregue aos
filsofos. A natureza da justia esclarece-se indirectamente pela determinao da injustia. O estado de que fala Plato o estado aristocrtico, em que o governo pertence aos melhores. Mas esse estado no corresponde a nenhuma das formas de governo existentes. Todas estas so degeneraes, do estado perfeito; e os topos de homem correspondentes so degeneraes do homem justo, que uno em si e com a comunidade, pois que fiel sua tarefa. So trs as degeneraes do estado e trs as correspondentes degeneraes do indivduo. A primeira a timocracia, governo fundado na honra, que nasce quando os governantes se apropriam de terras e de casas; corresponde-lhe o homem timocrtico, ambicioso e amante do mandato e das honras, mas desconfiado em relao aos sbios. A segunda forma a oligarquia, governo fundado no patrimnio, em que so os ricos quem comanda, corresponde-lhe o 184 homem hvido de riquezas, parco e laborioso. A terceira forma a democracia, na qual os cidados so livres e a cada um permitido fazer o que quiser; corresponde-lhe o homem democrtico, que no parco como o oligrquico, antes tende a abandonar-se a desejos descomedidos. Finalmente, a mais baixa de todas as formas de governo a tirania, que nasce frequentemente da excessiva liberdade da democracia. a forma mais desprezvel, porque o tirano, para se proteger do dio dos cidados, obrigado a rodear-se dos piores indivduos. O homem tirnico escravo das suas paixes, s quais se abandona desordenadamente, e o mais infeliz dos homens. 52. O FILSOFO A parte central da Repblica dedica-se ao delineamento da tarefa prpria do filsofo. Filsofo aquele que ama o conhecimento na sua totalidade e no somente em alguma sua parte singular. Mas que coisa o conhecimento? Pela vez primeira Plato pe aqui explicitamente o critrio fundamental da validade do conhecer: "Aquilo que absolutamente , absolutamente cognoscvel, aquilo que de nenhum modo , de nenhum modo cognoscvel" (477 a). Pelo que ao ser corresponde a cincia, que o conhecimento verdadeiro; ao no-ser, a ignorncia; e ao devir, que fica a meio do ser e do no-ser, corresponde a opinio (doxa), que est a meio do conhecimento e da ignorncia. Opinio e cincia constituem todo o campo do conhecimento humano. A opinio tem como domnio seu o conhecimento sensvel, a cincia o conhecimento racional. Quer o conhecimento sensvel quer o conhecimento racional se dividem em duas partes, que se 185 correspondem simetricamente; tm-se, assim, os seguintes graus do conhecer (Rep., VI, 510-11). 1O - A suposio ou conjectura (eikasfa), que tem por objecto sombras e imagem. 2.o - A opinio acreditada, mas no verificada (pistis), que tem por objecto as coisas naturais, os seres vivos, os objectos da arte, etc.. 3.o - A razo cientfica (dinoia), que procede por meio de hiptese partindo do mundo sensvel. Esta tem por objecto os entes matemticos. 4.o - A inteligncia filosfica (nesis), que procede dialecticamente e tem por objecto o mundo do ser.
Como as sombras, as imagens reflectidas, etc., so cpias das coisas naturais, tambm as coisas naturais so cpias dos entes matemticos e estes, por sua vez, cpias das substncias eternas que constituem o mundo do ser. E, com efeito, o mundo do ser o mundo da unidade e da ordem absoluta. Os entes da matemtica (nmeros, figuras geomtricas) reproduzem a ordem e a proporo do mundo do ser. Por sua vez, as coisas naturais reproduzem as relaes matemticas e, assim, quando queremos julgar da realidade das coisas recorremos medida. Todo o conhecimento tem pois, no seu cume o conhecimento do ser: todo o grau dele recebe o seu valor do grau superior e todos do primeiro. O homem deve caminhar desde a opinio at cincia educando-se gradualmente; e este processo descrito por Plato por meio do mito da caverna. No mundo sensvel, os homens so como escravos agrilhoados numa caverna e obrigados a ver no fundo dela as sombras dos seres e dos objectos projectadas por um fogo que arde fora. Tomam estas sombras pela realidade, porque no conhecem a realidade verdadeira. Se um escravo se libertasse 186 e conseguisse sair da caverna, no poderia a principio suportar a luz do sol; teria que se habituar a olhar as sombras, depois as imagens dos homens e das coisas reflectidas na gua, em seguida as prprias coisas e s no fim de tudo poderia alar-se contemplao dos astros e do sol. S ento ele se aperceberia que justamente o sol que nos d as estaes e os anos e que governa tudo o que existe no mundo visvel, e que do sol dependem ainda as coisas que ele e os seus companheiros viam na caverna. Ora a caverna precisamente o mundo sensvel; as sombras projectadas no fundo so os seres naturais; o fogo o sol. O nosso conhecimento das coisas naturais como o dos escravos. Se o escravo que primeiro se libertou voltar caverna, os seus olhos sero ofuscados pela obscuridade e no saber discernir as sombras; pelo que ser escarnecido e desprezado pelos companheiros, que concedero as honras mximas aos que sabem mais agudamente ver as sombras. Mas ele sabe que a verdadeira realidade est fora da caverna, que o verdadeiro conhecimento no o das sombras e, por isso, no experimentar seno compaixo para com aqueles que se contentam com tal conhecimento e o julgam verdadeiro. A educao consistir, pois, em volver o homem da considerao do mundo sensvel considerao do mundo do ser; e em conduzi-lo gradualmente a avistar o ponto mais alto do ser, que o bem. Para preparar o homem para a viso do bem podem servir as cincias que tm por objecto aqueles aspectos do ser que mais se aproximam do bem: a aritmtica como arte do clculo que permite corrigir as aparncias dos sentidos; a geometria como cincia dos entes imutveis; a astronomia como cincia do movimento mais ordenado e perfeito, o dos cus; a msica como cincia da harmonia. O bem corresponde no mundo do ser ao 187 que o sol no mundo sensvel. Como o sol no s torna visvel as coisas com a sua luz mas as faz nascer, crescer e alimentar-se, assim o bem no s torna cognoscvis as substncias que constituem o mundo inteligvel, mas lhos d ainda o ser de que so dotadas. -Por esta sua preeminncia o bem no uma ideia entre as outras, mas a causa das ideias: no substncia, no sentido em que as ideias so substncias, mas "superior substncia". Diz Plato: "As coisas cognoscvis no derivam, do bem somente a sua cognoscibilidade, mas tambm o ser e a substncia, enquanto o bem no seja substncia mas, em querer e poder, se situe ainda acima da substncia" (Rep., 509 b). O bem a prpria perfeio, ao passo que as ideias so perfeies, isto , bens; e no o ser, porque a causa do ser. Este texto platnico est na base de todas as interpretaes religiosas do platonismo que foram iniciadas pelas correntes neoplatnicas da antiguidade ( 114 ss.). Estas correntes,
insistindo na causalidade do bem, identificam-no como Deus: mas esta identificao no encontra justificao nos textos platnicos. A tese que Plato defende na passagem citada a mesma que havia defendido no Fdon: a identificao do poder causal com a perfeio, visto que uma coisa possui tanto mais causalidade quanto mais perfeita . O neoplatonismo apropriou-se desta tese; mas as implicaes teolgicas que o neoplatonismo lhe atribui so estranhas ao pensamento platnico. A inspirao fundamental deste pensamento , como j se disse, a finalidade poltica da filosofia. Em vista desta finalidade, o ponto mais alto da filosofia no a contemplao do bem como causa suprema: a utilizao de todos os conhecimentos que o filsofo pde adquirir para a fundao de uma comunidade justa e feliz. Segundo Plato, com efeito, faz parte da educao do filsofo o regresso 188 caverna, que consiste na reconsiderao e na reavaliao do mundo humano luz do que se viu fora deste mundo. Regressar caverna significa, para o homem, pr o que viu disposio da comunidade, dar-se conta ele prprio deste mundo que, apesar de inferior, o mundo humano, portanto o seu mundo, e obedecer ao vinculo de justia que o liga humanidade na sua prpria pessoa e na dos outros. Dever, pois, reabituar-se obscuridade da caverna, e ento ver melhor do que os companheiros que ali permaneceram e reconhecer a natureza e os caracteres de cada imagem, por ter visto o seu verdadeiro exemplar: a beleza, a justia e o bem. Assim poder o estado ser constitudo e governado por gente desperta e no j, como acontece agora, por gente que sonha e combate entre si por sombras, e disputa o poder como se este fosse um grande bem (VII, 520 c). S com o regresso caverna, s comprometendo-se no mundo humano, o homem ter completado a sua educao e ser verdadeiramente filsofo. 53. CONDENAO DA ARTE IMITATIVA A filosofia uma vida "em viglia", exige o abandono de toda a iluso sobre a realidade das sombras que nos jungem ao mundo sensvel. A arte imitativa, ao invs, est presa a esta iluso; daqui a condenao que Plato pronuncia sobre ela no livro X da Repblica. Com efeito, a imitao, por exemplo a da pintura, apoia-se na aparncia dos objectos; representa-os diversos nas diversas perspectivas enquanto so os mesmos, e no reproduz seno uma pequena parte da prpria aparncia, pelo que no consegue enganar seno as crianas e os tolos. Isto acontece por prescindir completamente do clculo e da medida de que nos servimos 189 para corrigir as iluses dos sentidos. Estes fazem-nos parecer os mesmos objectos ora quebrados, ora direitos, conforme sejam vistos dentro ou fora da gua, e cncavos ou convexos, grandes ou pequenos, pesados ou leves, por meio de outras iluses. Ns superamos estas iluses recorrendo parte superior da alma, que intervm para medir, para calcular, para pesar. Mas a imitao, que renuncia a estas operaes, volve-se exclusivamente para a parte inferior da alma, que a mais afastada da sageza. O mesmo faz a poesia. Esta excita a parte emotiva da alma, a que se abandona aos impulsos e ignora a ordem e a medida em que consiste a virtude; e assim vIra as costas razo. O erro da poesia trgica ou cmica ainda mais grave; faz-nos comover com as desgraas fictcias que se vem na cena, leva-nos a rir imoderadamente de atitudes chocarreiras que todos devem na realidade condenar, e deste modo encoraja e fortalece a parte pior do homem. A isto acrescenta-se a observao (j feita no Ion) de que o poeta no sabe verdadeiramente nada, pois de outro modo preferiria realizar os efeitos que canta ou praticar as artes que
descreve; e teremos o quadro completo da condenao que Plato pronuncia sobre a arte imitativa. Nenhum valor pode, por isso, ter a criao em que ela consiste. Se a divindade cria a forma natural das coisas, se o arteso reproduz esta forma nos mveis e nos objectos que cria, o artista no faz mais que reproduzir os mveis ou os objectos criados pelo arteso e ficar, por conseguinte, ainda mais afastado da realidade das coisas naturais. Estas no tm realidade seno enquanto participam das determinaes matemticas (medida, nmero, peso) que lhes eliminam a desordem e os contrastes; ora a imitao prescinde precisamente destas determinaes matemticas e contraditrias: no pode, pois, 190 aspirar a nenhum grau de validade objectiva, e tende a encerrar o homem naquela iluso de realidade de que a filosofia deve despert-lo. 54. O MITO DO DESTINO Um estado como o delineado por Plato no historicamente real. Plato diz explicitamente que no importa a sua realidade, mas to s que o homem aja e viva em conformidade com ele (IX, 592 b). Scrates foi o cidado ideal desta ideal comunidade; por ela e nela viveu e morreu. Certamente por isto chama-o Plato "o homem mais justo e melhor". E. a exemplo de Scrates, quem quiser ser justo deve ter os olhos postos numa tal comunidade. A justia, como felicidade do homem tarefa que lhe prpria, d lugar ao problema do destino. o problema debatido no mito final da Repblica, e j referido no Fedro (249 b). Plato projecta miticamente a escolha do prprio destino, que cada um faz no mundo do alm: mas o significado do mito, como de todos os mitos platnicos, fundamental. Er, morto em batalha e ressuscitado ao fim de 12 dias, pde narrar aos homens a sorte que os espera depois da morte. A parte central da narrao de Er diz respeito escolha da vida que as almas so convidadas a fazer no momento da sua reencarnao. A Parca Lchesi, que notifica da escolha, afirma a liberdade desta. "No o demnio que escolher a vossa sorte, sois vs que escolheis o vosso demnio. O primeiro que a sorte designar ser o primeiro a escolher o teor de vida a que ficar necessariamente ligado. A virtude livre em todos, cada um participar dela mais ou menos consoante a estima ou a despreza. Cada um responsvel pelo prprio destino, a divindade no 191 responsvel" (Rep., x, 617 e). As almas escolhem, por conseguinte, segundo a ordem designada pela sorte, um dos modelos de vida que tm ante si em grande nmero. A sua escolha depende em parte do acaso, uma vez que os primeiros tm maior possibilidade de escolha; mas tambm os que escolhem no fim, se escolherem judiciosamente, podem obter uma vida feliz. Todo o significado do mito est nos motivos que sugerem alma a escolha decisiva. At os que vm do cu s vezes escolhem mal, "porque no foram experimentados pelos sofrimentos" e deixam-se assim deslumbrar por modelos de vida aparentemente brilhantes, pela riqueza ou pelo poder que encobrem a infelicidade e o mal. Mas as mais das vezes a alma escolhe com base na experincia da vida precedente; e, assim, a alma de Ulisses, lembrada dos antigos trabalhos e despida j de ambio, escolhe a vida mais modesta e obscura, que fora descurada por todos. De maneira que o mito, que parecia negar a liberdade do homem na vida terrena e fazer depender todo o desenvolvimento desta vida da deciso acontecida num momento antecedente, confirma ao contrrio a liberdade, porque faz depender a deciso da conduta que a alma teve no mundo: daquilo que o homem quis ser e foi nesta vida. Scrates pode ento pr o homem em guarda e
adverti-lo a preparar-se para a escolha. " este o momento mais perigoso do homem e isto porque cada um de ns, descuidando todas as outras ocupaes, deve procurar atender somente a isto: descobrir e reconhecer o homem que o por capaz de discernir o melhor gnero de vida e de sab-lo escolher. (618 c). Para isto necessrio calcular que efeitos tm sobre a virtude as condies de vida, que resultados bons ou maus produz a beleza quando se une pobreza, ou riqueza, ou s diversas capacidades da alma, ou a quaisquer outras 192 condies da vida; e s considerando tudo isto em relao com a natureza da alma se pode escolher a vida melhor, que a mais justa. "Em vida ou na morte, esta escolha a melhor para o homem". Este mito do destino, que afirma a liberdade do homem no decidir da prpria vida, fecha dignamente a Repblica, o dilogo sobre a justia, que a virtude pela qual todo o homem deve assumir e levar a cabo a tarefa que lhe incumbe. 55. FASE CRITICA DO PLATONISMO: "PARMNIDES" E O "TEETETO" Pela primeira vez Scrates no , no Parmnides, a personagem principal do dilogo. A investigao platnica sobre o verdadeiro significado da personalidade de Scrates rasgou enfim o invlucro doutrinal, de que estava historicamente revestida. Os resultados que ela alcanou levantam outros problemas, requerem outras determinaes, problemas e determinaes que no encontram apoio na letra do ensino socrtico, mas que so no entanto necessrios para compreender plenamente tal ensino e para lhe conferir a sua justificao definitiva. A pesquisa de Plato torna-se cada vez mais tcnica, o campo de investigao delimita-se e aprofunda-se. Depois da grande sntese da Repblica, a pesquisa procura atingir outros nveis de profundidade, para o que se devem admitir partida os ensinamentos de outros mestres e, em primeiro lugar, de PARMNIDES. O Parmnides marca o ponto crtico no desenvolvimento da teoria das ideias. As ideias aparecem neste dilogo definidas (ou redefinidas) e classificadas e so formulados claramente os problemas a que elas do lugar, quer nas suas relaes recprocas, quer nas suas relaes com as coisas, quer ainda nas suas relaes com a mente humana. 193 Podem tomar-se as respostas que Scrates d a Parmnides, na introduo do dilogo, como constituindo, no seu conjunto, uma olhadela critica que o prprio Plato lanou, em dado momento, sobre a doutrina fundamental da sua filosofia. Tais respostas encontram, de facto, confirmaes literais nas referncias s ideias, que se podem observar nos outros Dilogos de Plato. Em primeiro lugar: o que a ideia? "Penso eu que -tu julgas-diz Parmnides (132 a)-que h uma forma individual em cada caso, por este motivo: quando observas muitas coisas grandes, julgas que h uma nica ideia que a mesma quando se olham todas essas coisas e que, por conseguinte, a grandeza uma unidade". Por outras palavras, a ideia a forma nica de um mltiplo que aparece como tal a quem abrange este mltiplo com um s golpe de vista intelectual: esta a definio que melhor se presta para exprimir a noo da ideia, tal como utilizada em toda a obra de Plato. Em segundo lugar: de que objectos h ideias? A resposta do Parmnides (130 b-d) que: h seguramente ideias de objectos como a semelhana e a dissemelhana, a pluralidade e a unidade, o repouso e o movimento, o um e os muitos, etc.; b) h seguramente ideias do justo, do bem, do belo, e de todas as outras determinaes deste gnero; c) duvidoso que
haja ideias de objectos como homem, fogo, gua, etc.; d) no h, com certeza, ideias de objectos desprezveis ou ridculos como cabelo, lodo, porcaria, etc.. Estas respostas encontram plena confirmao na obra de Plato. Que haja ideias dos objectos da espcie a), ou seja de objectos matemticos, doutrina platnica fundamental. So estas as ideias que, na Repblica, Plato considera objecto da razo cientfica, por conseguinte das cincias matemticas (Rep., 510 c). tambm doutrina fundamental do platonismo que haja as ideias194 -valores, que so o objecto especfico da filosofia em sentido estricto (dialctica), ou seja da inteligncia ou pensamento (noesis) (Rep., 534 a). A dvida acerca da existncia de ideias de coisas sensveis corresponde a uma conhecida oscilao do pensamento platnico sobre este assunto. As mais das vezes Plato nem sequer fala de ideias do gnero, limitando a sua exemplificao aos entes matemticos e aos valores; outras vezes, porm, fala tambm de ideias de coisas: por exemplo do frio e do calor (Fed., 103 d); de camas e de mesas (Rep., 596 a-b); do homem ou do boi (Fil., 15 a); do fogo e da gua (Tim., 51 a-b). Esta oscilao da doutrina platnica pode exprimir-se bastante bem dizendo que Plato se manteve "em dvida" no que respeita s ideias de objectos sensveis. Quanto aos objectos da classe d), Plato nunca mais falou de ideias relativamente a eles: de maneira que a excluso do Parmnides corresponde tambm aqui a uma situao de facto. Todavia, a dvida a respeito das ideias de objectos sensveis e a negao das ideias de objectos desprezveis so abaladas pela observao de Parmnides de que Scrates, neste caso, se deixou influenciar pelas opinies dos homens e que, quando a filosofia o prender completamente, ele no desprezar coisa alguma por insignificante e miservel que ela seja (Par., 130 e). Esta observao anuncia bviamente uma noo de ideia de tipo lgico-ontolgico mais do que matemtico-tico: isto , uma noo que se firme nos caracteres puramente formais de um mltiplo para ir reconhecer neste unia forma ontolgica nica, e que se no deixe embaraar neste procedimento por consideraes ticas. Com efeito, esta a posio que podemos encontrar nos dilogos platnicos posteriores ao Parmnides e mais precisamente no Sofista, no Filebo, no Timeu. 195 Em terceiro lugar: qual a relao entre as ideias e a mente do homem? O Parmnides acrescenta dois pontos a este propsito: 1) as ideias no existem somente como pensamentos na mente dos homens: com efeito, seriam neste caso pensamentos de nada (132 b); 2) as ideias no existem fora de toda a relao com o homem: com efeito, seriam neste caso incognoscveis para o homem, visto que objecto de uma "cincia em si" que no teria nada que ver com a do homem e poderia pertencer somente divindade (134 a-e). Estas duas determinaes so fundamentais: ambas correspondem a pontos de vista constantemente sustentados por Plato em toda a sua obra. Em quarto lugar: quais so as relaes das ideias entre si e das ideias com os objectos de que constituem a unidade? Este o problema fundamental que se discute em todo o resto do dilogo como problema das relaes entre o um e os muitos. O um a ideia: os muitos so os objectos de que a ideia a unidade. No que respeita a esta relao, a dificuldade consiste em compreender como poder a ideia ser participada por muitos objectos ou derramada neles sem que resulte com isso multiplicada e, portanto, destruda na sua unidade. Por outro lado, da mesma noo de ideia parece emanar a multiplicao das prprias ideias at ao infinito: uma vez que se tem uma ideia todas as vezes que se considera na sua unidade uma multiplicidade de objectos, ter-se- tambm uma ideia quando se considerar a totalidade destes objectos mais a sua ideia. Esta ser uma terceira ideia que, se considerada por sua vez conjuntamente com os objectos e a precedente ideia, dar lugar a uma quarta ideia, e assim por diante at ao infinito. este o
chamado argumento do "terceiro homem", cuja inveno se atribua ao megrico Polixeno e que Aristteles refere vrias vezes (Met., 990 b, 15; 1038 b, 30; 196 1059 b, 2). No se escapa a esta dificuldade definindo como "semelhana" a relao entre a ideia e os objectos, e considerando a ideia como arqutipo e os objectos como imagens ou cpias dela: pois que a prpria semelhana se torna neste caso uma ideia que se acrescenta como terceiro termo aos objectos e ideia, dando lugar a uma nova semelhana, etc.. Estas dificuldades so de tal monta que Parmnides dirige a Scrates uma pergunta crucial: "Que fars agora da filosofia?" Com efeito, no se pode abandonar facilmente a noo de ideia, pois que sem ela, quer dizer, sem um ponto fixo no meio da multiplicidade e variabilidade das coisas, no se pode pensar e ainda menos se pode filosofar: sem a ideia, a prpria possibilidade de dialogar ficaria destruda (135 c). O nico caminho de salvao o que o prprio Parmnides traa: discutir, como hiptese, todos os possveis modos de relao entre o um e os muitos e levar at ao fundo as consequncias que derivam de cada uma das hipteses. E as hipteses fundamentais so duas: que o uno seja uno no sentido de ser absolutamente uno; e que o uno seja na sentido de existir. A primeira hiptese refuta-se por si, visto que, excluindo a existncia de qualquer multiplicidade, no s se exclui todo o devir mas tambm o ser do uno e a prpria possibilidade de conhecer ou enunciar o uno: pois que o prprio conhec-lo ou enunci-lo o multiplica (142 a). Se, ao invs, o uno , no sentido de que existe, o seu existir, distinguindo-se da sua unidade, introduz prontamente no prprio uno uma dualidade que pode ser multiplicada e incluir a multiplicidade, o devir e, assim, a cognoscibilidade e enunciabilidade do uno (155 d-c). H, no entanto, um sentido em que o uno no (e em que, por isso, to-pouco o mltiplo ): o uno no no sentido de que no absolutamente 197 uno, de que no subsiste -fora da sua relao com o mltiplo, de que no exclui o prprio multiplicar-se e articular-se em um mltiplo que, apesar do sujeito ao devir e ao tempo, constitui sempre uma ordem numrica, ou seja uma unidade. E os muitos no so no sentido de que no so pura e absolutamente muitos, ou seja, privados de qualquer unidade, pois que em tal caso se dispersariam e pulverizariam no nada, no podendo constituir um mltiplo. O uno, por conseguinte, (existe), mas ao mesmo tempo no absolutamente uno: os muitos so (existem), mas ao mesmo tempo no so absolutamente muitos. O dilogo traa, sob a forma de uma soluo puramente lgica, uma conexo vital entre o uno e os muitos, por conseguinte entre o mundo do ser e o mundo do homem. Pela boca de Parmnides, que na sua filosofia negara resolutamente o no-ser ( 14), prepara-se o reconhecimento da realidade do no-ser (do mundo sensvel e do homem), mediante a afirmao da estreita relao dos muitos com o uno. Esta reivindicao ser feita explicitamente no Sofista; mas ela pressupe a investigao sobre o processo subjectivo do conhecer, que se realiza no Teeteto. Pode parecer estranho que nesta fase de desenvolvimento da investigao platnica aparea um dilogo abertamente socrtico em que a personagem de Scrates introduzida para fazer valer em toda a sua fora negativa e destruidora a arte maiutica ( 27). Mas o Teeteto debate um problema que reentra no mbito do ensino socrtico, o da cincia, e tem um escopo predominantemente crtico, querendo demonstrar como impossvel alcanar qualquer definio da cincia permanecendo no domnio da pura subjectividade cognoscente. A finalidade do Teeteto complementar e convergente com a do Parmnides.
O Parmnides pretendeu 198 demonstrar que impossvel considerar o ser no seu isolamento, como unidade absoluta sem relao com o homem e com o seu mundo (com os "muitos"). O Teeteto pretende demonstrar que impossvel considerar o conhecimento verdadeiro, a cincia, como pura subjectividade, sem relao com o mundo do ser (com o " uno"). Nas definies que se do da cincia e que so refutadas por Scrates uma por uma, no aparece de facto qualquer referncia ao mundo das ideias ou do ser em si; e o dilogo termina negativamente. Parmnides, o filsofo do ser, introduzido no dilogo que tem o seu nome para demonstrar a insuficincia do ser na sua objectividade. Scrates, o filsofo da subjectividade humana, introduzido no Teeteto para demonstrar a insuficincia do conhecimento como subjectividade isolada do ser. A tese que no Teeteto primeiro e mais longamente se discute a tese da extrema subjectividade do conhecer, a de Protgoras: a cincia a opinio, o que aparece, logo sensao. Mas a sensao no fornece qualquer critrio de juzo por que a sensao do ignorante equivale do sbio, a do so do doente, a do homem do animal; enquanto a cincia deve possuir um critrio, uma medida que permita julgar do valor das coisas inclusivamente para o futuro (de que no h sensao). Pode ento dizer-se que a cincia opinio verdadeira, entendendo por opinio o pensamento. "Pensar um discurso que a alma faz por si consigo mesma, acerca dos objectos que examina. Parece-me a mim que quando a alma pensa no faz mais que dialogar consigo mesma, interrogando-se e respondendo-se, afirmando e negando" (189 e 190-a). Mas esta nova definio, se reduz a metade a relatividade e a mutabilidade que a primeira punha na cincia, continua encerrada no mbito da subjectividade. Se a cincia opinio verdadeira, deve distinguirse 199 da opinio falsa; ora impossvel determinar em que consiste a falsidade de uma opinio. No entanto, a opinio deve ter sempre, como se viu j ( 49), um objecto real; e se iem um objecto real, verdadeira. Acrescentar que a cincia consiste na opinio verdadeira acompanhada de razo, no ajuda nada; uma vez que, seja como for que se entenda a razo que deve justificar e apoiar a opinio verdadeira, fica-se no mbito do pensamento subjectivo e no se garante de nenhum modo a validade objectiva do conhecimento. A concluso negativa do Teeteto fecunda em resultados. A tentativa de reduzir a cincia ao pensamento subjectivo, ao colquio interior da alma consigo mesma, no tem sucesso: como no tem sucesso a tentativa de reduzir o ser pura objectividade, s ideias, sem nenhuma relao com a inteligncia do homem. As indicaes do Parmnides e do Teeteto so, pois, claras. Se se quer justificar a realidade do ser e a verdade do conhecimento, necessrio que se alcance um ser que no seja puramente objectivo, mas que compreenda em si o conhecimento, ou um conhecimento que no seja puramente subjectivo, mas que compreenda em si o ser. 56. O SER E AS SUAS FORMAS A esta concluso se chega explicitamente no Sofista. Contra os "amigos das ideias", quer dizer contra a interpretao objectivista da teoria das ideias, afirma-se resolutamente a impossibilidade de que "o ser perfeito seja privado de movimento, de vida, de alma, de inteligncia, e que no viva nem pense". necessrio admitir que o ser compreende em si a inteligncia (ou o sujeito) que o conhece; esta, como se viu desde o Parmnides, no 200
pode ficar fora do ser, de outro modo o ser permaneceria desconhecido. Mas a incluso da inteligncia no ser modifica radicalmente a natureza do ser. Este no imvel, porque a inteligncia vida e por isso movimento: o movimento pois uma determinao fundamental, uma forma (eidos) do ser. Isto no quer dizer que o ser se mova em todos os sentidos, como sustentam os Heracliteanos; necessrio admitir que o ser , ao mesmo tempo, movimento e repouso. Mas na medida em que os compreende a ambos no uma coisa nem a outra, ainda que possa ser ambas: por conseguinte ser. O ser comum ao movimento e ao repouso; mas nem o movimento nem o repouso so todo o ser. Cada uma destas determinaes ou formas idntica a si mesma, e diferente da outra: o idntico e o diferente sero pois outras duas determinaes do ser, que assim se elevam a cinco: ser, repouso, movimento, identidade, diversidade. Mas a diversidade de cada uma destas formas da outra significa que cada uma delas no a outra (o movimento no o repouso, etc.); pelo que a diversidade um no-ser e o no-ser de qualquer modo , porque, como diversidade, uma das formas fundamentais do ser. Desta maneira completou o estrangeiro eleata, o discpulo de Parmnides que o protagonista do Sofista, o necessrio "parricdio" contra Parmnides: utilizando a pesquisa eletica, Plato foi alm dela, unindo ao ser parmendeo a subjectividade socrtica e fazendo consequentemente viver e mover o ser. Esta determinao das cinco formas (ou gneros) do ser funda (ou funda-se em) uma nova concepo do ser: nova porque diferente da que Plato j via aceite na filosofia sua contempornea. Em primeiro lugar, ela exclui que o ser se reduza existncia corprea como sustentam os 201 materialistas: dado que se diz que "so" no s tais coisas corpreas mas tambm as incorpreas, como por exemplo a virtude (247 d). Em segundo lugar, ela exclui que o ser se reduza s formas ideais como sustentam " os amigos das formas", pois que neste caso se excluiria do ser o conhecimento do ser e da a inteligncia e a vida (248 c-249 a). Em terceiro lugar, ela exclui que o ser seja necessariamente imvel (isto que "tudo seja imvel") ou que o ser seja necessariamente em movimento (isto que "tudo seja em movimento") (249 d). Em quarto lugar, exclui que todas as determinaes do ser possam combinar-se entre si ou que todas se excluam reciprocamente (252 a-d). Por outro lado, como se viu, o ser dever no entanto compreender o no-ser como alteridade. Sobre estas bases, o ser no pode definir-se de outro modo que no seja como possibilidade (dynamis); e deve dizer-se que " toda a coisa que se ache na posse de uma qualquer possibilidade, seja de agir seja de sofrer, da parte de qualquer outra coisa, ainda que insignificante, uma aco ainda que mnima e ainda que de uma s vez" (247 e). A possibilidade, de que fala Plato, no tem nada a ver com a potncia de Aristteles. Efectivamente a potncia tal, s nas comparaes com um acto que, unicamente ele, o sentido fundamental do ser. Para Plato, porm, o sentido fundamental do ser precisamente a possibilidade. E o ser assim concebido que torna possvel, segundo Plato, a cincia filosfica por excelncia, a dialctica. 57. A DIALCTICA A dialctica a arte do dilogo; mas dilogo para Plato toda a operao cognoscitiva visto que o prprio pensamento (como se viu, 45) 202 um dilogo da alma consigo mesma. A dialctica , em geral, o processo prprio da
investigao racional, portanto tambm a tcnica que d rigor e preciso a esta investigao. Ela uma tcnica de inveno ou de descoberta, no (como a silogstica de Aristteles) de simples demonstrao. So dois os momentos que a constituem: 1) O primeiro momento consiste em reduzir a uma nica ideia as coisas dispersas e em definir essa a ideia de modo a torn-la comunicvel a todos (Fedro, 265 c). Na Repblica Plato diz que, no remontar s ideias, a dialctica se situa para alm das cincias matemticas porque considera as hipteses (que as cincias no esto em condies de justificar) como simples hipteses, quer dizer como pontos de partida para chegar aos princpios de que se pode depois descer at s concluses ltimas (Rep., VI, 511 b-c). Mas nos dilogos posteriores este segundo processo melhor explicitado como tcnica da diviso. 2) O momento da diviso, que consiste "em poder dividir novamente a ideia nas suas espcies segundo as suas articulaes naturais e evitando despedaar-lhe as partes como faria um trinchante inbil" (Fedro, 265 d). Nesta segunda fase, funo da dialctica "dividir segundo gneros e no tomar por diferente a mesma forma ou por idntica uma forma diferente" (Sof., 253 d). O resultado deste segundo procedimento no seguro em todos os casos. Em um passo famoso do Sofista Plato enumera as trs alternativas com que pode topar o processo, a saber: 1) que uma nica ideia penetre e abranja muitas outras ideias, que no entanto continuam separadas dela e exteriores uma outra; 2) que uma nica ideia reduza unidade muitas outras ideias na sua totalidade; 3) que muitas ideias fiquem inteiramente distintas entre si 203 (253 d). Estas trs alternativas apresentam dois casos extremos: o da unidade de muitas ideias-em uma delas e o da sua heterogeneidade radical; e, por outro lado, uma caso intermdio, que o de uma ideia que abrange outras ideias sem todavia as fundir em unidade. Qual destes trs casos possa verificar-se numa investigao particular, coisa que s a prpria investigao pode decidir. Plato ps em aco a investigao dialctica no Fedro, no Sofista e no Poltico. Nestes dilogos ele procedeu primeiro definio da ideia, em seguida diviso da prpria ideia em duas partes, chamadas respectivamente a parte esquerda e a parte direita e distintas pela presena ou pela ausncia de uma certa propriedade, e assim por diante (Fedro, 266 a-b). O processo pode fechar-se em um certo ponto ou retomar-se, comeando por uma outra ideia. Por fim, podero reunir-se ou recapitular-se as determinaes assim obtidas em todo o processo (Sof., 268 c). A natureza da dialctica neste sentido , por conseguinte, a possibilidade da escolha, permitida em todos os passos, da caracterstica adequada para determinar a diviso da ideia em direita e esquerda de maneira oportuna, ou seja tal que siga a articulao da ideia e no "rompa" a prpria ideia. A escolha constitui a hiptese do procedimento dialctico; a hiptese que a dialctica assume como tal, para a pr prova e para a justificar, e que por isso se distingue das hipteses das disciplinas matemticas que so assumidas como princpios primeiros, em que se no ousa tocar (Rep., VII, 533 c). O mundo em que se move a dialctica , portanto, um mundo de formas, quer dizer de gneros ou espcies do ser que podem conectar-se ou no e serem mais ou menos conexos: um mundo de conexes possveis, competindo precisamente dialctica determinar-lhes a possibilidade. 204 Neste ponto, Plato afastou-se muito da noo das ideias-valores de que tratava a sua primeira especulao. As ideias como gneros e formas do ser so neutras nos confrontos do valor. Plato fez sua a advertncia de Parmnides de considerar todas as formas do ser
sem tomar em considerao o valor que os homens lhes atribuem. Se na Repblica, punha no cume do ser o Rem e considerava as ideias fundadas neste valor supremo, no Sofistas quis definir somente o ser, na sua estrutura formal, nas suas possibilidades constitutivas. 58. O BEM Portanto, quando Plato voltar a ocupar-se do bem nesta fase do seu pensamento, como acontece no Filebo, o conceito que ter presente no ser o mesmo. O bem j no a super-substncia, mas a forma da vida prpria do homem; e a pesquisa do bem a pesquisa sobre a qual esta forma de vida. Ora, segundo Plato, a vida do homem no pode ser uma vida fundada no prazer. Uma vida assim, que acabaria por excluir a conscincia do prazer, prpria do animal, que no do homem. Por outro lado, no pode ser to-pouco uma vida de pura inteligncia, que seria divina, e no humana. Deve ser, pois, uma vida mista de prazer e de inteligncia. O importante determinar a justa proporo em que o prazer e a inteligncia devem mesclar-se conjuntamente para constituir a forma perfeita do bem. O problema do bem torna-se aqui um problema de medida, de proporo, de convenincia: a investigao moral transforma-se numa investigao metafsica de natureza matemtica. Plato apoia-se em Pitgoras: e recorre aos conceitos pitagricos de limite e de ilimitado. 205 Toda a mesclana bem proporcionada constituda por dois elementos. Um o ilimitado, como por exemplo o calor o frio, o prazer ou a dor, e em geral tudo o que susceptvel de ser aumentado ou diminudo at ao infinito. O outro o limite, ou seja a ordem, a medida, o nmero, que intervm para determinar e definir o ilimitado. A funo do limite a de reunir e unificar o que est disperso, concentrar o que se espalha, ordenar o que est desordenado, dar nmero e medida ao que est privado de um e do outro. O limite como nmero suprime a oposio entre o um e os muitos, porque determinar o nmero significa reduzi-los unidade. dado que o nmero sempre um conjunto ordenado. Por exemplo, no ilimitado nmero dos sons a msica distingue os trs sons fundamentais, o agudo, o mdio e o grave, e desta maneira reduz o ilimitado ordem numrica. Ora a unio do ilimitado e do limite o gnero misto, a que pertencem todas as coisas que tm proporo e beleza, e a causa do gnero misto a inteligncia, que vem a ser, portanto, com o ilimitado, o limite e o gnero misto, o quarto elemento constitutivo do bem. A vida propriamente humana, como mesclana proporcionada de prazer e de inteligncia, um gnero misto que tem como causa a inteligncia. A ela devem pertencer todas as ordens e espcies de conhecimento da mais elevada ordem e espcie, que a dialctica, desde as cincias puras, como a matemtica, passando pelas cincias aplicadas como a msica, a medicina, etc., at opinio, que to-pouco pode ser excluda, na medida em que necessria conduta prtica da vida. No que respeita aos prazeres, s os puros, ao contrrio, devero fazer parte da vida mista, quer dizer os prazeres no ligados dor da necessidade, como 206 so os prazeres do conhecimento e os estticos. provenientes da contemplao das belas formas, das belas cores, etc.. Resulta da que a coisa melhor e mais alta para o homem, o bem supremo, a ordem, a medida, o justo meio. A este primeiro valor segue-se tudo o que proporcionado, belo e completo. Na terceira posio fica depois a inteligncia como causa da proporo e da beleza; na quarta, as cincias e a opinio; na quinta, os prazeres puros. O Filebo oferece assim ao homem a escala dos valores que resultam da estrutura do ser dilucidada no Sofista. Esta escala coloca no cume o conceito matemtico da ordem e da
medida. Plato, chegado ao termo dos aprofundamentos sucessivos da sua pesquisa, considera que a cincia do justo, de que Scrates afirmam a estrita necessidade como nico guia -para a conduta do homem, deve ser substancialmente uma cincia da medida. Um discpulo de Aristteles, Aristoxeno (Harm., 30) conta que a notcia de uma lio de Plato sobre o bem atraia numerosos ouvintes, mas que aqueles que esperavam que Plato falasse dos bens humanos, como a riqueza, a sade, a felicidade, ficavam desiludidos mal ele comeava a falar de nmero e de limites e da suprema unidade que para ele era o bem. Para Plato, na verdade, a reduo da cincia da conduta humana a cincia de nmero e de medida, representava a realizao rigorosa do projecto socrtico de reduzir a virtude a cincia. Estava agora muito afastado dos conceitos que haviam dominado o ensino de Scrates; no entanto, continuava a seguir de perto a directriz do mestre de reduzir a virtude a uma disciplina rigorosa, que pudesse constituir a base do ensino e da educao colectiva. 207 59. A NATUREZA E A HISTRIA Precisamente neste ponto perdia a sua razo de ser a recusa de Scrates em considerar o mundo natural. Pois que tudo o que este mundo possuir de realidade e de valor deve ser explicado; e no pode s-lo seno integrando-o no mundo do ser. Por outro lado, como se viu, o mundo do ser no subsiste separadamente do mundo da natureza, visto que o uno no subsiste sem o mltiplo, nem a realidade sem a aparncia. Se se radicar no mundo do ser o homem com a sua vida e a sua inteligncia, deve tambm radicar-se no ser a natureza que o mundo do homem. Um estudo do mundo da natureza , pois, possvel: mas isso no significa que ele constitua cincia. Plato refora aqui o seu conceito de cincia. A cincia incide somente sobre o que estvel e constante, e concebvel pela inteligncia; sobre a natureza, que no tem constncia nem estabilidade, s pode haver conhecimentos provveis (Tim., 29 c-d). Uma "narrao provvel" tudo o que Plato se prope oferecer como contributo pessoal investigao natural. O probabilismo da Nova Academia encontrava nestas afirmaes de Plato o seu comeo ou a sua justificao. Seja como for, a pesquisa platnica assume deliberadamente, neste ponto, a forma do mito. A causa do mundo um deus arteso ou demiurgo que o produziu pela bondade sem mcula que quer difundir e multiplicar o bem. Ele criou a natureza semelhana do mundo do ser. E dado que este tem em si alma, inteligncia e vida, a natureza foi criada como um todo animado, um gigantesco animal. Mas, uma vez que foi gerada, no podia ser, como o modelo, incorprea; devia, pois, ser corprea, logo visvel e tangvel. Para a tornar mais semelhante ao modelo, que eterno, o demiurgo criou o tempo, "uma imagem mvel da 208 eternidade": por ele o devir e o movimento da natureza seguem um ritmo ordenado e constante, ritmo que se mostra com evidncia nos movimentos peridicos do cu. O demiurgo , pois, a causa de tudo o que no mundo ordem, razo e beleza; mas o mundo tem ainda uma outra causa que j no inteligncia, mas necessidade. Com efeito, a inteligncia operou no mundo dominando a necessidade, persuadindo-a a conduzir para o bem a maior parte das coisas que se criavam. A necessidade (ananche) representada como uma terceira natureza, algo assim como a me do mundo, do mesmo modo que a ordem racional do mundo inteligvel o pai do mundo. Este elemento primitivo diferente de todos os elementos visveis (gua, ar, terra e fogo), precisamente porque deve ser o receptculo e a origem comum deles. Trata-se de uma "espcie invisvel e amorfa, capaz de tudo acolher, participe do inteligvel e difcil de ser concebida". Evidentemente que este
receptculo informe, esta matriz originria das coisas, o princpio que limita a aco inteligente do demiurgo e impede que o mundo natural, que dele resulta, tenha a mesma ordem perfeita do mundo inteligvel que seu modelo. Alm deste princpio h depois o espao (chora), que no admite destruio e a sede de tudo o que se gera; pelo que os princpios anteriores ao nascimento do inundo natural so trs: o ser, o espao e a me de toda a gerao. Destes trs princpios, por obra do demiurgo ou dos deuses a quem ele confiou a tarefa de continuar a criao, originaram-se todos os seres e todas as coisas naturais: por isso, aco da inteligncia, que a causa primeira fundamental, se juntam as causas secundrias, nas quais agem, com uma lei de necessidade. os outros 209 princpios da gerao, o receptculo informe e o espaoComo se v, no h qualquer apoio, nesta cosmologia platnica, para a identificao da divindade com o bem sobre que se centra a interpretao neoplatnica (quer dizer religiosa) do platonismo. Recordar-se- 52) que para Plato o bem causa das ideias (ou substncias), no das coisas naturais. A divindade, por seu turno, o artfice das coisas naturais, no j do bem e das ideias. O bem e as ideias entram na criao do mundo natural como critrios directivos ou limites da aco da divindade, juntos s outras condies ou limites que so a necessidade e o espao. O bem e as ideias constituem, portanto, as estruturas axiolgicas que o demiurgo realizou no mundo natural; mas tais estruturas so, segundo Plato, to independentes da divindade como o so, segundo Aristteles, as estruturas substanciais ou ontolgicas de que o mundo constitudo. H que sublinhar, por conseguinte, o carcter politesta do conceito de divindade que Plato nos apresenta no Timeu: a divindade participada por vrios deuses, cada um dos quais tem uma funo e domnio prprios, sendo o demiurgo to s o seu chefe hierrquico. Plato apresenta-nos a cosmologia do Timeu como a continuao e o complemento da Repblica. Ele diz que aps ter delineado o estado ideal se tem a mesma impresso que se experimenta ao ver animais belos, mas imveis: sente "o desejo de v-los mover-se". Por isso quer dar movimento ao estado que delineou; quer ver como se comportaria ele nas lutas e circunstncias que deve afrontar. Por isso comea no Timeu a descrever a gnese do mundo natural que teatro da sua histria. Em um dilogo posterior, o Crtias, deveria delinear a histria hipottica do seu estado ideal; o dilogo interrompe-se bruscamente aps os primeiros cap210 tulos, mas nestes j se entrev como seria a concepo platnica da histria. Trata-se de uma concepo que v na histria uma sucesso de idades, em que a seguinte menos perfeita que a precedente. Hesodo falara de cinco idades: a do ouro, a da prata, a do bronze, a dos heris e a dos homens (Trab., 109-79), Plato redu-las a trs: 1) a idade dos deuses, que colonizaram a terra criando os homens como os pastores criam hoje os rebanhos; 2) a idade dos heris, que nasceram na tica, a regio da terra colonizada por Efesto e Atena: 3) a idade dos homens que, por largo tempo dominados pelo aguilho das necessidades, quase esqueceram a tradio herica (Crtias, 109 b segs.). Reproduzida por outros escritores da antiguidade, esta diviso foi depois retomada no sculo XVIII por Vico, que no entanto lhe alterou o significado, considerando como final e perfeita a idade dos homens e dando, por conseguinte, um significado progressivo sucesso das idades. 60. O PROBLEMA POLITICO COMO PROBLEMA DAS LEIS
A ltima actividade de Plato ainda dedicada ao problema poltico. No Poltico, Plato indaga qual deve ser a arte prpria do governante dos povos. E a concluso que esta arte deve ser a da medida: efectivamente, em tudo preciso evitar o excesso ou o defeito e encontrar o justo meio. Toda a cincia do homem poltico consistir essencialmente em procurar o justo meio, aquilo que em qualquer caso oportuno ou obrigatrio nas aces humanas. A aco poltica deve "combinar intimamente", no interesse do estado, as duas ndoles opostas dos homens corajosos e dos homens prudentes, de modo a que, no estado, se temperem na medida exacta 211 a rapidez de aco e a cordura de juzo. O melhor seria que o homem poltico no fizesse leis, visto que a lei, sendo geral, no pode prescrever com preciso o que bom para cada qual. Todavia, as leis so necessrias pela impossibilidade de dar prescries precisas a cada indivduo; e elas limitam-se, por isso, a indicar o que genrica e grosseiramente o melhor para todos. No entanto, uma vez que se estabeleam da maneira melhor, devem ser conservadas e respeitadas, e a sua runa implica a runa do estado. Das trs formas de governo historicamente existentes, monarquia, aristocracia e democracia, cada uma distingue-se da correspondente forma degenerada precisamente pela observncia das leis. Assim que o governo de um s monarquia se regido pelas leis; tirania se governo sem leis. O governo de poucos aristocrata quando governado pelas leis, oligarquia quando governo sem leis. E a democracia pode ser regida por leis ou governada contra as leis. O melhor governo, prescindindo do governo perfeito delineado na Repblica, o monrquico, e o pior o tirnico. De entre os governos desordenados (isto , privados de leis) o melhor a democracia. Desta maneira o problema poltico, que na Repblica fora considerado o problema de uma comunidade humana perfeita, por conseguinte no seu aspecto moral, adquire um carcter mais determinado e especfico na ltima fase da especulao platnica; ei-lo tomado o problema das leis que devem governar os homens e encaminh-los gradualmente a tornarem-se cidados da comunidade ideal. Ao problema das leis efectivamente dedicada a ltima obra platnica, que tambm a mais extensa de todas, o dilogo em 12 livros intitulado As Leis, publicado por Filipe de Opunto aps a morte do mestre. Plato agora mais vivamente conhecedor da " fragilidade da natureza humana" e considera 212 por isso indispensvel haver, at num estado bem ordenado, leis e sanes penais (854 a). Mas a lei deve conservar a sua funo educativa; no deve somente comandar, mas tambm convencer e persuadir pela prpria bondade e necessidade: toda a lei deve, portanto, ter um preldio educativo, semelhante ao que se antepe msica e ao canto. Quanto punio, uma vez que ningum acolhe de boa vontade na sua alma a injustia, que o pior de todos os males, no deve ela ser uma vingana, mas to s corrigir o culpado, ajudando-o a libertar-se da injustia e a amar a justia. Resulta daqui que o fim das leis o de promover nos cidados a virtude, a qual, como j Scrates ensinava, se identifica com a felicidade. E no devem promover uma s virtude, como, por exemplo, a coragem guerreira, mas todas, porque todas so necessrias vida do estado; e por isso devem tender educao dos cidados, entendendo por educao "o encaminhamento do homem, desde os seus tenros anos, para a virtude, tornando-o amante e desejoso de se tornar um cidado perfeito que sabe comandar e obedecer segundo a justia" (643 e). Mas esta educao tem como seu fundamento a religio, uma religio que deve prescindir da indiferena e da superstio.
Contra os que explicam o universo pela aco de foras puramente fsicas, Plato afirma a necessidade de admitir um princpio divino do mundo. Na verdade, se toda a coisa produz transformao em outra, necessrio , remontando de coisa em coisa, que se alcance uma coisa que se move por si. Uma coisa que movida por outra no pode ser a primeira a mover-se. O primeiro movimento , pois, aquele que move a -si mesmo, e o da alma. H, pois, uma alma, uma inteligncia suprema que move e ordena todas as coisas do mundo (896 e). Mas no basta admitir um princpio divino do 213 mundo, preciso vencer ainda a indiferena dos que pensam que a divindade no se ocupa das coisas humanas, que seriam insignificantes para ela. Ora esta crena equivale a admitir que a divindade preguiosa e indolente e a consider-la inferior ao mais comum dos mortais, que quer sempre tornar perfeita a sua obra, quer esta seja grande ou pequena. Mas, enfim, a pior aberrao a superstio dos que crem que a divindade possa ser propiciada com dons e ofertas: esses pem a divindade a par dos ces que, amansados com presentes, deixam depredar os rebanhos, e abaixo dos homens comuns, que no atraioam a justia aceitando presentes oferecidos com inteno delituosa. Como se v, a ltima especulao platnica tende a delinear uma forma de religio filosfica, que Plato liga explicitamente s crenas religiosas tradicionais. No h aqui, por conseguinte, qualquer sinal de monotesmo: na crena da divindade est a crena nos deuses: a divindade participada igualmente por um nmero indefinido de entes divinos, dos quais os mais elevados tm nos astros os seus corpos visveis (Leis, 899 a-b). O caminho que Plato percorreu desde os primeiros Dilogos, que se detinham a ilustrar atitudes e conceitos socrticos, at tardia especulao das Leis, foi bem longo. No curso deles foram-se acumulando as desiluses que o homem encontrou nas tentativas de realizao do seu ideal poltico, os problemas que nasceram uns dos outros numa pesquisa que jamais quis reconhecer jornadas ou pausas definitivas. Quem confrontar a ltima desembocadura desta pesquisa (o clculo matemtico da virtude e o cdigo legislativo) com o seu ponto de partida, pode facilmente descobrir um abismo entre os dois pontos extremos dela. Mas quem considerar que at a estes ltimos desenvolvimentos Plato foi conduzido pela exigncia de formular como 214 cincia rigorosa (e a matemtica o tipo acabado do rigor cientfico) a aspirao a uma vida propriamente humana, quer dizer, a um tempo virtuosa e feliz, no pode deixar de reconhecer que Plato se manteve fiel ao esprito da ensinana de Scrates e nada mais fez, em toda a sua vida, que realizar-lhe o significado. 61. O FILOSOFAR Fazendo o balano da sua vida, na Carta VII, Plato volta uma vez mais ao problema que para ,si, como para Scrates, englobava todos os problemas: o do filosofar. No se trata do problema da natureza e dos caracteres de uma cincia objectiva, mas do problema que a prpria cincia para o homem. Plato examina-o a propsito da sua tentativa, to tristemente sucedida, da educao filosfica, as suas dificuldades e o esforo que ela exige. O resultado foi que, ao fim de uma nica lio, Dioniso julgou saber dela o bastante e preferiu compor um escrito em que expunha como obra sua aquilo que tinha ouvido a Plato. Outros haviam feito j, com menor impudncia, tentativas semelhantes; mas Plato no hesita em conden-los em bloco. "O mesmo posso dizer de todos os que escreveram ou vierem a escrever na pretenso de expor o significado da minha pesquisa, quer a tenham ouvido a mim ou a outros, ou eles prprios o tenham descoberto: pelo menos, em meu
entender, nada compreenderam do assunto como ele verdadeiramente . De minha autoria no h nem jamais haver um escrito resumido sobre estes problemas. Dado que eles no podem ser resumidos a frmulas, como os outros; pois que s depois de nos havermos familiarizado com estes problemas durante muito tempo, e depois de se ter vivido e discutido em comum, 215 o seu verdadeiro significado se acende inesperadamente na alma, como a luz nasce de uma fagulha e cresce depois por si s" (Carta VII, 341 b-d). Plato regressa assim, no fim da vida, ao problema de Scrates: o problema de encontrar para o homem a via de acesso cincia e, atravs da cincia, ao ser em si. A exposio que se segue a recapitulao do que Plato j disse nos dilogos e especialmente na Repblica. Mas esta recapitulao pe em evidncia os motivos fundamentais da pesquisa platnica e demonstra que a incluso dela se resolve no seu princpio, e como a sua integral totalidade se resolve na ensinana socrtica. Por trs meios se pode alcanar a cincia: a palavra, a definio e a imagem. Em quarto lugar est o saber, que fica para alm dos meios que servem para o conquistar. Para alm do prprio saber, em quinto lugar, est o objecto cognoscvel, o ser que verdadeiramente ser (Carta VII, 342 b). Plato esclarece tudo isto por meio do exemplo do crculo. Crculo , em primeiro lugar, a palavra pronunciada por ns. Em segundo lugar, damos a definio de crculo, definio que formada por outras palavras, como por exemplo: crculo o que tem as partes extremas equidistantes do centro. Em terceiro lugar, traamos a figura do crculo, que a imagem dele. Mas estes trs elementos, por muito que se refiram todos ao crculo em si, no tm nada que ver com ele. Conduzem, no entanto, ao quarto elemento, o qual compreende todas as actividades subjectivas do conhecer: a opinio verdadeira, a cincia e a inteligncia. Estes elementos no residem nos sons pronunciados nem nas figuras corpreas, mas nas almas. Naturalmente que tambm as actividades subjectivas do conhecer se no identificam com o ser, que o objecto do prprio conhecer; mas esto sem dvida mais prximas do ser, e entre elas a inteli216 gncia a mais prxima de todas. O ser em si o termo ltimo a que os meios e as condies do conhecer tendem a referir-se: ele indicado pelo primeiro, definido pelo segundo, figurado pelo terceiro, pensado ou compreendido pelo quarto. Porm, dada a insuficincia e a instabilidade de tais elementos, a relao que eles estabelecem com o ser ainda problemtica. Com efeito, o nome convencional e varivel; a definio, que feita de nomes, no tem maior estabilidade; a imagem (o crculo desenhado, por exemplo, aproxima-se sempre da linha recta quando deveria exclu-la). O prprio saber, condicionado como por estes elementos, no tem qualquer garantia de certeza. No resta, portanto, outro remdio seno controlar continuamente estes elementos uns pelos outros percorrendo e repercorrendo a sua cadeia de uns para os outros, e fazendo valer o resultado do seu trabalho de conjunto (Carta VII, 343 e). Mas isto precisamente o dialogar da alma consigo mesma e com as outras almas, a pesquisa que, desde a palavra, a definio e a imagem se eleva cincia, para voltar depois a conferir palavra um novo significado, a corrigir a definio, a julgar o valor da imagem. a pesquisa colectiva cujo processo os dilogos representaram ao vivo. "S depois de se haverem arranhado penosamente uns aos outros, nomes e definies, percepes visuais e sensaes, s depois de tudo se haver discutido em discusses benvolas, em que a m vontade no dita a pergunta nem a resposta, a sageza e a inteligncia salpicam todas as coisas, to intensamente quanto a fora humana o permite" (Carta VII, 344 b). Salpicam todas as coisas a sageza (frnesis) e a inteligncia (nous): o mais alto valor da conduta moral e a mais alta validade do conhecimento esto intimamente ligados. E, com efeito,
condicionam-se mutuamente: sem a inteligncia o homem no pode alar-se virtude que se revela na aco, 217 como sem esta virtude o homem no pode alar-se inteligncia. Este condicionalismo recproco da sageza e da inteligncia expresso por Plato por meio de dois conceitos: o parentesco do homem que pesquisa com o ser que objecto da pesquisa; e a comunidade da livre educao. Em primeiro lugar, o homem no alcana aquela relao com o ser em que consiste o grau mais elevado da cincia, a inteligncia, seno em virtude de um seu ntimo e profundo parentesco com o ser. "Nem a facilidade em aprender, nem a memria podero jamais produzir o parentesco com o objecto, visto que tal parentesco no pode encontrar razes em disposies heterogneas. As que so disformes e estranhas ao justo e ao belo, ainda que dotadas de facilidade em aprender e de boa memria, e as que propendem por natureza para o justo e para o belo, mas so avessas a aprender e fracas de memria, nunca podero alcanar, no que respeita virtude e perversidade, toda a verdade que possvel aprender" (344 a). A relao originria com o ser no seu mais alto valor (a justia e o bem) condiciona e estimula a eficcia e o sucesso da pesquisa. Mas, por outro lado, a pesquisa no pode realizar-se no mundo fechado da individualidade. Ela produto de homens que "vivem, juntos" e "discutem com benevolncia" e sem deixarem que a m vontade influencie as perguntas e as respostas. Quer isto dizer que ela supe a solidariedade do indivduo com os outros, o abandono da pretenso de nos julgarmos na posse da verdade e no queremos aprender nada dos outros, a sinceridade consigo mesmo e com os outros e o esforo solidrio. O filosofar no uma actividade que encerre o indivduo em si mesmo, antes a vida que abre aos outros e com os outros o harmoniza, Por isso, no ele somente inteligncia, mas tambm frnesis, sageza de vida. Nem esta solidariedade humana da pesquisa 218 fruto de uma afinidade de almas e de corpos, antes o produto da comunidade da livre educao (344 h), na qual a malevolncia e a m vontade se reduziram ao mnimo, porque aqueles que dela participam se uniram na comum aspirao ao ser. O ser, o objecto ltimo da pesquisa, fazendo convergir em si como a um nico centro os esforos individuais, promove a solidariedade dos indivduos. O conceito platnico do filosofar assim o mais alto e o mais amplo que alguma vez foi afirmado na histria da filosofia. Nenhuma actividade humana cai fora dele. Plato quer que a pesquisa se estenda "s figuras rectas ou circulares e s cores, ao bem, ao belo e ao justo, a todo o corpo artificial ou natural, ao fogo, gua e a todas as coisas do mesmo gnero, a toda a espcie de seres vivos, conduta da alma, s aces e s paixes de toda a sorte" (342 b). E de tudo ser preciso conhecer o verdadeiro e o falso porque s pelo seu confronto se pode reconhecer a verdade do ser (344 b). A pesquisa em que o filosofar se realiza no consiste na formulao de uma doutrina: qualquer tarefa humana oferece ao homem a possibilidade de alcanar a verdade e de entrar em relao com o ser. NOTA BIBLIOGRFICA 42. Dos numerosssimos escritos biogrficos antigos sobre Plato, de que chegou notcia at ns, temos hoje os seguintes: FILODEMO, Indice dos filsofos acadmicos, encontrado nos papiros de Herculano; AIPULEIO, Sobre Platdo e a mffl doutrina; DIOGENES LARCIO, Vida, que ocupa os primeiros 45 captulos do III livro da obra, livro inteiramente dedicado a Plato; PORFIRIO, um fragmento da sua Histria; OLIMPIODORO, Vida de Plato; urna Vida de Plato annima encontrada num cdice vienense; um artigo do Lxico de SUIDAS; uma Vida em rabe encontrada num
manuscrito espanhol. Encontram-se outras informaes na 219 Vida de Dido de PLUTARCO e nos escritos de CICERO, HELIANo e ATENEU. Fundamentais para a biografia so tambm as Cartas de Plato, especialmente a Carta VII. A. MADDALENA, no Exame analtico apenso sua traduo Italiana das Cartas (Bari, 1948) voltou a propor a tese da inautenticidade, reforando os argumentos j antes formulados pela critica alem de 800 e sobretudo insistindo na diversidade e incongruncia da atitude de Plato, como resulta das Cartas, em relao atitude que o prprio Plato atribuiu a Scrates na Apologia e nos Dilogos. Porm, estes argumentos no tm na devida conta o facto de que precisamente a prudncia de qualquer preocupa" o ldealizante faz das Cartas um documento autnticamente humano que tem todos os requisitos da veracidade; e que tal ausncia elimina mesmo a possibilidade de encontrar os motivos da pretensa falsificao. J que esta, quando se trata de obras de filosofia, t,m sempre o objectivo de exaltar o fundador de uma escola, como provam as numerosas falsificaes da poca alexandrina, e de lhe atribuir, anacrnicamente, as doutrinas da prpria escola para lhes conferir aquela venerabilidade tradicional que a poca alexandrina apreciava como sinal do carcter religioso e divino das suas crenas. Nada de semelhante nas Cartas, que nos mostram Plato nas suas incertezas, nas suas iluses e nos seus erros; mas tambm sempre firme e constante nos interesses fundamentais que dominam toda a sua obra de filsofo, e que nas Cartas ganham colorido e vivacidade biogrfica. Entre as reconstrues modernas da vida de Plato, ver ZELLER, 11, 1, p. 389 segs.; GomPERZ, II, p. 259 segs.; TAYLOR, Plato, cap. 1; ROBIN, Plat", p. 1 segs.; STEFANINI, Platane, vol. I; WILLAMOWITZ, Platon, Berlim, 1920; STENZEL, Platone educatore, Leipzig, 1928 (trad. ital., Bari 1936), cap. 1. 43- A edio fundamental das obras de Plato a de ENRICO STEFANO, 3 vols., Paris, 1578. A paginao desta edio reproduzida em todas as edies modernas e adoptada para as citaes. Entre as edies mais recentes, alm de vrias edies de Leipzig, notvel a de BURNET, Oxford, 1899-1906, que a melhor edio crtica, e a publicada na "Coleco da Universidade de Frana" que traz cabea a traduo francesa. 220 Entre as tradues italianas de Plato as de MRAi, AcRi, BONGH1, MARTINI e numerosas tradues parciais. Para uma resenha das obras mais recentes sobre Plato (a partir de cerca de 1930) efr. os fascculos que lhe so dedicados pela "Philosophische Rundschau>, Tubingen, 1961-62. Nestes fascculos se remete para a bibliografia mais recente. Ofr. tambm P. M. SCHUHL, tudes Platoniciennes, Paris, 1960, p. 23 segs.. 44. Sobre a cronologia dos escritos platnicos: as obras supra-indicadas e, alm dessas, as seguintes: RAEDER, Patons philosophische Entwick1ung, Uipzig, 1905; LUTOSLAWSKI, Origin and Growth of Plato's Logic, 1897; PARMENTMR, La chronologie des dialogues de Platon, Bruxelas, 1913; RITTER, Ncue Untersuchungen ueber Platon, M6naco, 1910; BROMMER, Eidos et ~. tude s~ntique et chronologique des oeuvres de Platon, Assen, 1940. 45. As duas anedotas referidas no fim do pargrafo foram conservadas por DIGENEs LARcio, a primeira, e a segunda por ARisTTELES no dilogo Merinto (fr. 69, Rose). 46. Entre oe que pensam que na fase do seu pensamento que se inicia com o Parmnides
Plato formula crticas sua prpria doutrina est GOM- =, II, p. 573. Segundo BURNET, Platonism, Berkeley, 1928, p. 58, Scrates pouco mais que um "fantasma" nos dilogos anteriores s Leis. 47. ZELLER deu-nos numa reconstruo sistemtico-escolstica do pensamento de Plato prescindindo da ordem e do desenvolvimento dos dilogos. O resultado por ele obtido encorajante para qualquer tentativa do mesmo gnero. As melhores exposies da doutrina platnica so as que lhe sugerem o desenvolvimento dilogo por dilogo. Remeto por Isso sobretudo para estes ltimos: GompERz II, p. 306 segs.; UEBERWEG-PRAECHTER, p. 222 segs. e as monografias de TAYLOR e STEFANINI (j citadas) e de RITTER. A referncia a estas obras est subentendido nos pargrafos seguintes, em que me limito a assinalar algum estudo mais Importante sobre cada dilogo Isolado. No exame do processo dialctico se funda V. GoLDSCHMIDT, Les dialogues de Platon, Paris, 1947. Cfr. tambm JAMER, Paideia, II e HI, New-York, 1943. 221 48. O Protgoras habitualmente situado no primeiro grupo de dilogos socrticos juntamente com a Apologia, Crton, Laches, etc., TAYLOR observou justamente que a perfeio artstica do dilogo prova o erro desta colocao, e por Isso situa-o com Pdon, o Banqu-ete e a Repblica no perodo em que Plato atinge a sua mxima excelncia como escritor (Plato, p. 20). Na realidade o seu contedo demonstra que anterior a estes dilogos, embora pertena certamente a um segundo perodo da actividade de Plato. A preocupao polmica anti-sofistica que o domina coloca-o, com Grgi<w e Eutidemo, no grupo dos dilogos que combatem e abalam a sofstica nos seus aspectos fundamentais: o ensino, a crtica e a retrica. Ver a introduo, minha traduo do Prot., Npoles, 1941. 49. Sobre o Mnon, efr. a bela investigao de STENZF.L em Platone educatore, p. 90 segs.; JAMER, Paideia, II, p. 182-262. Uma tentativa de relacionar o Mnon com o criticismo moderno encontra-se em NATORP, Platos Idee-nlehre, 2.1 edio, Leipzig, 1921, p. 36 segs.. Sobre o Fdon ver NATORP, op. cit., p. 126 segs. sobre as principais interpretaes da teoria platnica das Ideias: LEVI, Le interpretazioni immanentistiche della filosofia di Platone, Milano, sem data; e especialmente O. ROSS, Pktos Theory of Ideas, Oxford, 1951. 50. Sobre o Banquete e sobre o Fedro: STENZEL, ap. Cit., p. 141 segs.. 51. Sobre a Repblica: NATORP, op. Cit., p. 175 segs.; SiiOREY, Plata's Republic, Londres, 2 vols., 1930-35; MURMY, The Interpretation of Plato's Republic, Oxford, 1951. Sobre os mitos da Repblica e de Plato em geral: STENVART, Myth8 of PlatO, 1904. 54. Sobre o mito final da Repblica: STENZEL, Platone Educatore, p. 128 segs.. 55. Sobre o Parmnides: WAHL., tude sur le Parmende de Platon, Paris, 1926; DIs, Maton Parmentde, Paris, 1923; PACI, Il significato dei Parmenid nella filosofia di Platone, Milano, 1938. F. M. CORNFORD, Plato and Parmenides, Londres, 1939; J. WILD, Plato's Theory of Man, Cambridge (Mass.), 1948. Sobre o Teeteto: NATORP, Op. Cit., P. 88 SegS.; DiS, Autour de Platon, Paris, 1927, p. 450 segs.. 222
56. Sobre o Sofista: RiTTER, Platon, II, p. 120 .sega., 185 segs., 642 segs.-, NATORP, op. cit., p. 271 segs., 331 segs.; DIS, La dfinition de I'tre et Ja Nature des Ides dans le Sophiste de Platon, Paris, 1909; STENZEL, ZahI und Gestalt bei Platon und Aristoteles, Leipzig, 1924, p. 10 segs., 126 se-S.; REIDEMEISTER, Mathematik und Logik bei PZaton, Leipzig, 1942. 57. Sobre a Dialctica: STENZEL, StUdien ZUr Entu,ick1ung der Plat. Dialektik, Leipzig, 1931. Nesta ltima obra demoradamente discutido o conceito da dialctica platnica como mtodo da diviso, e este mtodo vem reconhecido como a conquista ltima da filosofia platnica. 58. Sobre o Filebo: RiTTER, Platon, II, p. 165 segs., 497 segs, NATORP, p. 296 segs.; ROBIN, Platon, cap. 4: e a minha Introduo traduo de ~ITINI, Turim, 1942. A anedota de Aristxeno encontra-se em Harmonia, ed. Marquard, p. 44, 5; R. S. BRuMBAUGH, P.'3 Mathematical Imagination, Bloomington, 1954. 59- Sobre o Timeu: RiTTER, Platon, II, p. 258 segs.; TAYLOR, A Commentary on PZatoIs Timacus, Oxford, 1928; NATORP, p. 338 segs.; ROBIN, Mudes sur Ia signification et Ia place de Ia physique dans Ia philosophie de Platon, Paris, 1919; ID., Platon, cap. 5; LEVI, Il concetto del tempo nella filosofia di Platone, Turim, s. d: CORNFORD, Platols Cosmology, Londres, 1937; PERLS, Platon. Sa conception du Kosmos, New York, 1945. 60. Sobre o Poltico: RITTER, Platon, II, p. 242 segs.. Sobre as Leis: RITTER, op. cit., II, p. 657 segs.; NATORP, p. 358 segs.; ver das Leis, a traduo ltal. de CASSAR, 2 vol., Bari, 1931. 61. Sobre as digresses filosficas da Carta VII, sobretudo no seu significado educativo: STENZEL, Platone Eduratore, cap. 6. 223 x A ANTIGA ACADEMIA 62. ESPEUSIPO A escola de Plato tirou o seu nome do "ginsio suburbano muito arborizado dedicado ao heri Academo" (Dig. L., IV, 7). Segundo a tradio, foi fundada aps a primeira viagem de Plato Siclia com o dinheiro que fora recolhido para o resgate do mesmo Plato (387 a.C., mais ou menos). Poucas notcias temos sobre a organizao da prpria escola, mas bastante duvidoso que ela tivesse cursos ou ensinos regulares. Durante a vida de Plato, a histria da Academia coincide provavelmente com o prprio desenvolvimento do pensamento platnico, isto , com a gradual evoluo dos seus interesses e dos seus temas especulativos, que foi delineada no captulo precedente. Mas a vida da Academia continuou, aps a morte de Plato, por muitos sculos. O prprio Plato confiara a direco da Academia ao seu sobrinho Espeusipo, que a conservou durante oito anos (347-339). Espeusipo afastou-se da oposio 225
platnica entre conhecImento sensvel e conhecimento racional, admitindo uma "sensao cientfica" como fundamento do conhecimento dos objectos. Em lugar das ideias platnicas ele admitia, como modelos das coisas, os nmeros matemticos, que distinguia dos sensveis. Parece que formulou contra a doutrina das ideias muitas objeces que foram depois expostas por Aristteles. Negava-se a reconhecer o bem como princpio do processo csmico, argumentando que os seres individuais, animais e vegetais manifestam na sua existncia uma tendncia para passarem do imperfeito ao perfeito e que, por conseguinte, o bem est no termo e no no incio do devir. Identificou a razo com a divindade e, na sequncia do Timeu e das Leis, concebeu a divindade como sendo a alma governadora do mundo. No seu escrito Semelhanas, em dez livros, de que nos restam alguns fragmentos, Espeusipo estudava o reino animal e vegetal, procurando sobretudo classificar-lhes as espcies. A mesma tendncia classificatria revela o ttulo de uma outra obra por ora perdida: Acerca dos tipos dos gneros e das espcies. 63. XENCRATES Por morte de Espeusipo os membros da Academia elegeram por leve maioria Xencrates para a dirigir, ocupando este o seu lugar de director por um perodo de 25 anos (339-314). De modesta capacidade especulativa, muito estimado pelo seu patriotismo e pelo carcter independente (recusou uma soma considervel oferecida pelo rei Alexandre Academia, tendo aceitado somente uma pequena parte dela), Xencrates teve uma certa influncia sobre o desenvolvimento da escola. Distinguia entre o saber, a opinio e a sensao: o 226 saber plenamente verdadeiro, a opinio tem uma verdade inferior e a sensao tem misturadas a um tempo verdade e falsidade. Estas trs espcies de conhecimento correspondem a trs espcies de objectos: o saber corresponde substncia inteligvel, a opinio substncia sensvel, a sensao a uma substncia mista. A mesma preferncia pelo nmero trs mostra a sua diviso da filosofia em dialctica, fsica e tica. Com Xencrates, acentua-se a tendncia para o pitagorismo que j caracterizava a derradeira especulao de Plato e a de Espeusipo. Mas Xencrates interpretou em sentido antropomrfico a teoria dos nmeros como princpios das coisas, dizendo que a unidade a divindade primordial masculina, a dualidade a divindade primordial feminina. Deificou, portanto, os elementos e imaginou uma imensidade de demnios como intermedirios entre a divindade e os homens. notvel a sua definio da alma como "um nmero que se move por si"; nessa definio, evidentemente, ele entendia por nmero a ordem ou a proporo que j Plato indicara com a mesma palavra. Segundo parece, deve atribuir-se a Xencrates a doutrina das ideias-nmeros, referida por Aristteles como caracterstica dos "platnicos". Segundo essa doutrina, o nmero constitua a essncia do mundo. Distinguiam-se os nmeros ideais daqueles com que se calcula, os nmeros ideais, considerados como os elementos primordiais das coisas, eram dez. Destes, a unidade e a dualidade eram os princpios respectivamente da divisibilidade e da indivisibilidade, da unio de que brotava o nmero propriamente dito. Ao paralelismo pitagrico entre conceitos aritmticos e conceitos geomtricos, acrescentava-se um paralelismo semelhante no domnio do conhecimento; a razo era identificada com a unidade-ponto, o conhecimento com a dualidade-linha, a opinio com a trada-superfcie, a percep227 o sensvel com a ttrada-corpo. No fcil qual possa ser o significado destas e de
idnticas analogias que Aristteles expe e discute em vrios passos da Metafsica. Na tica, Xencrates seguia Plato: colocou a felicidade na "posse da virtude e dos meios para a conseguir. Conta-se a seu respeito um dito de esprito cristo: "o simples desejo equivale j prtica da m aco". 64. POLMON. CRANTOR O sucessor de Xencrates na direco da Academia foi Polmon de Atenas (314-270). Depois de uma juventude desordenada, foi radicalmente transformado pelas suas relaes com Xencrates e procurou pr o seu ideal de vida na calma e na imutabilidade dohumor. A sua ensinana, predominantemente moral, consistia em afirmar a exigncia de uma vida conforme natureza, exigncia que o aproximava dos Cnicos. Um seu discpulo, Crantor, conhecido sobretudo como intrprete do Timeu, iniciou a srie dos comentadores de Plato. Crantor fundou ainda um gnero literrio que mais tarde haveria de ter fortuna, o das "consolaes", com o seu livro Sobre a dor. Um fragmento desta obra trata do papel que a dor fsica se destina a cumprir como defensora da sade e a dor moral como libertadora da animalidade. De acordo com um testemunho devido a Sexto Emprico, Cantor imaginava que os Gregos, reunidos numa festa, veriam desfilar ante si os diversos bens que aspiravam ao primeiro prmio e o disputavam; e este cabia virtude, atrs da qual surgiam a sade e a riqueza. Cratetes foi quem sucedeu a Polmon, de quem era amicssimo, na direco da Academia (270228 -268164). Sucedeu-lhe Arcesilau; mas com este a Academia muda de orientao e termina, por isso, a histria da antiga Academia. 65. HERACLIDES PNTICO Ao grupo dos discpulos imediatos de Plato pertenceu Heraclides Pntico que, segundo uma tradio, substituiu Plato na direco da escola durante a sua ltima viagem Siclia. Depois da morte de Espeusipo e da eleio de Xencrates para a direco da escola, qual ele prprio aspirara, fundou por alturas de 399 a.C. uma escola na sua ptria, Heracleia, no Ponto. No deixava de ser um pouco charlato e diz-se que corrompeu a Ptia, contra a qual os seus concidados se tinham revoltado pelo mau andamento das colheitas, com o desgnio de que a sua cidade lhe conferisse honras divinas. Mas, enquanto os mensageiros anunciavam no teatro o orculo da Ptia, segundo o qual a cidade devia oferecer uma coroa de ouro a Heraclides se queria melhorar as suas condies, Heraclides morreu de emoo; no que se viu uma sentena divina. Os dilogos de Heraclides estavam cheios de mitos e de fantasias maravilhosas. Num deles fazia descer terra um homem da lua. Um outro, intitulado Sobre o Hades, narrava uma viagem ao inferno. Heraclides seguiu, modificando-a, a doutrina de Demcrito. No lugar dos tomos ps os "corpsculos no coligados", isto , corpos simples com os quais a inteligncia divina teria construdo o mundo. Na astronomia admitiu o movimento diurno da terra e opinou que Mercrio e Vnus giram volta do Sol. Concebeu a alma como sendo for229
mada de matria subtilssima, o ter. E num escrito: Sobre os simulacros contra Demcrito, combateu, como se depreende do ttulo, a doutrina democritiana do conhecimento como procedendo dos fluxos dos tomos. 66. EUDOXO. O "EPINMIDES" Pertenceu ainda escola platnica o famoso astrnomo Eudoxo de Cnidos. Segundo Aristteles (Met., 1. 991 a, 14), considerou as ideias como estando mescladas com as coisas de que so a causa, "do mesmo modo que a cor branca numa mescla causa da brancura de um objecto". Parece, desta maneira, que as aproximava das homeomerias de Anaxgoras, que esto todas misturadas umas com as outras. No campo da tica Eudoxo considerava o prazer como o bem-doutrina que se discutiu no Filebo de Plato. A Filipo de Opunto, o discpulo de Plato que transcreveu e publicou as Leis, a ltima obra do mestre, costuma atribuir-se desde a antiguidade o dilogo pseudo-platnico Epinmides. O escopo deste dilogo determinar quais os estudos que conduzem sabedoria. Excludas as artes e as cincias, que contribuem apenas para o bem-estar material e o divertimento (como a arte da guerra, da medicina, da navegao, da msica, etc.), fica a cincia do nmero, que traz consigo todos os bens. Sem o conhecimento do nmero, o homem seria imoral e privado de razo, porque onde no h nmero no h ordem, mas somente confuso e desordem. Ora a ordem mais rigorosa a dos corpos celestes; e o movimento perfeito desses corpos s pode explicar-se admitindo que eles so vivos e que a divindade lhes deu uma alma. Eles prprios so deuses ou imagens de deuses e como tal devem ser adorados. At o ar e o ter devem ser divindades, com 230 corpos transparentes e por isso invisveis; podemos supor que constituem uma hierarquia de demnios intermedirios entre os deuses e os homens. O estudo da astronomia o mais importante de todos para conduzir piedade religiosa, que a maior de entre as virtudes. Acompanham-no os estudos auxiliares da aritmtica e da geometria plana e do espao. Somente atravs destes estudos o homem pode alcanar a sabedoria, por isso, tais estudos devem constituir a preocupao dos governantes. NOTA BIBLIOGRFICA 60. Sobre a vida, doutrina e escritos dos antigos acadmicos: DIGENEs LARcio, IV, cap. VI1] pg. 88 ss. Outras fontes em ULLFR, II, pg. 982 w. Os testemunhos em DIELS, Doxogr. Grae., e os fragmentos em MULLACH, Fragmenta Phil. Graecor., III, p. 51 ss. Sobre Espeusipo: GoMPERZ, M, pg. 3 ss. 61. A polmica da Metafsica de Aristteles contra as ideias-nmeros (especialmente XIII, cap. 3.* ss e XIV, cap. 3.* ss) parece que vai precisamente contra Xencrates; GompERz, III, pg. 7 ss. 62. Sobre Poltnon, e Crantor: GoMPERZ, III, pg. 14 ss. 65. Sobre Heraclides Pntico: GOMPERz, III, Pg. 16 SS.; JAEGER, Aristteles. 64. Sobre Eudoxo: JAEGER, Op. Cit. Sobre Epinmides e Filipo de Opunto: JAMER, Op. cit. Epinmide,9 considerado dilogo autntico de Piato por TAYLOR, Plato, pg. 497 ss. 231 XI
ARISTTELES 67. A VIDA Quando Aristteles (que nasce em Estagira em 384-83 a. C.) entrou na escola de Plato, contava apenas 17 anos. Nesta escola permaneceu 20 anos, ou seja, at morte do mestre (348-47). Esta longa permanncia, tanto mais notvel tratando-se de um homem que possua excepcionais capacidade especulativa e independncia de pensamento, torna impossvel dar crdito s anedotas que nos chegaram sobre a ingratido de Aristteles relativamente ao mestre. Segundo Digenes Larcio (V, 2). Plato teria dito: "Aristteles calcou-me com as patas como os potros calcam a me quando os d luz." Na realidade, porm, a existncia, hoje demonstrada, de um perodo platnico na especulao aristotlica, a elegia no altar de Plato ( 71) e o prprio tom que Aristteles emprega quando O critica, demonstram que a atitude de Aristteles Para com o mestre foi a da felicidade e do respeito, ainda que dentro da mais resoluta independncia de crtica filosfica. 233 Apresentando-se na tica a Nicmaco (1, 4, 1096 a, 11-16) para criticar a doutrina platnica das ideias, Aristteles declara quo penosa para ele a tarefa, dada a amizade que o liga aos homens que a defendem; e acrescenta: "Mas talvez seja melhor, ser mesmo um dever, para salvar a verdade, sacrificar os nossos assuntos pessoais, principalmente quando se filsofo: a amizade e a verdade so ambas estimveis, mas coisa santa amar mais a verdade." morte de Plato, Aristteles deixou a Academia e no voltou mais escola que o criara. Para suceder a Plato fora designado, pelo prprio Plato ou pelos condiscpulos Espeusipo; e esta escolha devia imprimir Academia uma orientao que Aristteles no podia aprovar. O esprito de Plato abandonava a escola e Aristteles j no tinha razes para se lhe manter fiel. Acompanhado por Xencrates transferiu-se ento para Asso na Trade, onde os dois discpulos de Plato, Erasto e Corisco, haviam constitudo com Hermias uma comunidade filosfico-poltica ( 42), de que temos notcias pela Carta VI de Plato e por outros testemunhos (Didimo, In Demost., col. 5). Aqui provvelmente exerceu Aristteles o seu primeiro ensino autnomo. O filho de Corisco, Neleo, converteu-se num dos mais fervorosos sequazes do filsofo; e foi precisamente na casa dos descendentes de Neleo que se encontraram, segundo conta Estrabo (XIII, 54), os manuscritos das obras acromticas de Aristteles. Depois de trs anos de permanncia em Asso, Aristteles transferiu-se para Mitilene. Segundo Estrabo, Aristteles teria fugido de Asso depois da morte de Hermias, juntamente com a filha do tirano, Pitia, que depois se torna sua esposa. Mas parece que Aristteles abandonou Asso antes da morte de Herinias e que o seu matrimnio remonta 234 ao perodo da permanncia em Asso. Seja como for, ao saber-se a notcia do assassinato de Hermias por aco dos persas, Aristteles compe uma elegia que exalta a virtude herica do amigo perdido. Neste primeiro perodo da sua actividade didctica em Asso e em Mitilene, deve ter ocorrido o afastamento de Aristteles da doutrina do mestre. Deve ter composto ento o dilogo Sobre a Filosofia, no qual aparece (como sabemos por alguns fragmentos) a crtica das ideias-nmeros.
No ano de 342 Aristteles foi chamado por Filipe, rei da Macednia, a Pella, para se encarregar da educao de Alexandre. O pai de Aristteles, Nicmaco, fora mdico na arte da Macednia uns quarenta anos antes; mas talvez a escolha de Filipe fosse determinada pela amizade de Aristteles com Hermias que mantinha relaes com Filipe. Na obra de conquista e de unificao de todo o mundo grego, para a qual a educao de Aristteles preparou Alexandre, agiu seguramente a convico por parte de Aristteles da superioridade da cultura grega e da sua capacidade de dominar o mundo, se se unisse a ela uma forte unidade poltica. O afastamento entre o rei e Aristteles s se produziu quando Alexandre, alargando os seus desgnios de conquista, pensou na unificao dos povos orientais e adoptou as formas orientais de soberania. Quando Alexandre subiu ao trono, Aristteles regressou a Atenas (335-334). Regressou ali depois de 13 anos de ausncia, clebre como mestre de vida espiritual e como filsofo; e a amizade do poderosssimo rei devia colocar sua disposio meios de investigao e de estudo excepcionais para aquele tempo. Fundou ento a sua escola, o Liceu, que compreendia alm dum edifcio e do jardim, o passeio Ou Peripato de que tomou o nome. Tal como a Academia, o Liceu praticava a vida em comuni235 dade; mas aqui a ordem das lies estava firmemente estabelecida. Aristteles dedicava as manhs aos cursos mais difceis de argumento filosfico, tarde dava lies de retrica e de dialctica a um pblico mais vasto. Ao lado do mestre, realizavam cursos os escolares mais antigos, como Teofrasto e Eudemo. Quando Alexandre morreu em 323, a insurreio do partido nacionalista contra os partidrios do rei ps em perigo Aristteles. Para evitar que "os atenienses cometessem um segundo crime contra a filosofia", Aristteles abandonou Atenas e fugiu para Caleis em Eubeia, ptria de sua me, onde possua uma propriedade que dela herdara. Aqui se manteve durante os meses seguintes at ao dia da morte. Uma doena de estmago, de que padecia, ps fim sua vida com 63 anos, em 322-21. Temos o testamento que escreveu em Calcis: fala-se l em Pitia, sua filha menor, numa mulher Herpilis que tomara em casa depois da morte da esposa e no filho Nicmaco que tivera de Herpilis. Estabelece que os seus restos mortais no sejam separados dos de Pitia, sua mulher, conforme ela tambm desejara. 68. O PROBLEMA DOS ESCRITOS As obras que chegaram at ns compreendem somente os escritos que Aristteles comps para as necessidades do seu ensino. Alm destes escritos que se chamaram acroamticos por serem destinados a ouvintes, ou esotricos, isto que continham uma doutrina secreta, mas que na realidade so apenas os apontamentos de que se servia para o ensino, Aristteles comps outros escritos segundo a tradio platnica, em forma dialogada, a que ele mesmo chamou exotricos, isto destinados ao 236 pblico, nos quais empregava mitos e outros ornamentos vivazes e se mostrava to eloquente quanto enxuto e severo se mostra nos escritos escolares. Mas destes escritos exotricos no restam mais que poucos fragmentos de cujo valor para compreender a personalidade de Aristteles a crtica s se deu conta recentemente. Os escritos acroamticos s vm a ser conhecidos quando foram publicados, nos tempos de Sila, por Andrnico de Rodes. Segundo o relato de Estrabo, estes escritos foram
encontrados na adega da casa que possuam os descendentes de Neleo, o filho de Corisco. um facto que, durante muito tempo, Aristteles s foi conhecido atravs dos dilogos e que somente aps a publicao dos escritos acroamticos, que os dilogos foram pouco a pouco relegados para o olvido pelos tratados escritos para a escola. Assim nasce o problema de saber em que relao se encontram os dilogos com os escritos escolsticos e at que ponto contribuem para a compreenso da personalidade de Aristteles. Nos tratados escolsticos, o pensamento de Aristteles aparece inteiramente sistemtico e acabado: parece excluir-se, ao menos primeira vista, que Aristteles tivesse experimentado oscilaes ou dvidas, que haja sofrido crises ou mudanas. A considerao dos dilogos permite, pelo contrrio, dar-se conta de que a doutrina de Aristteles no nasceu Completa e lograda, que o seu pensamento sofreu crises e mudanas. Os fragmentos que possumos de tais dilogos mostram-nos, com efeito, um Aristteles que adere primeiramente ao pensamento platnico para depois se afastar dele e o modificar substancialmente; um Aristteles que transforma a prpria natureza dos seus interesses espirituais, os quais, orientados primeiramente para os problemas filosficos, se vo depois concentrando em proble237 mas cientficos particulares. Pelo estudo da formao do sistema aristotlico foi possvel deitar um olhar sobre a formao e o desenvolvimento do homem Aristteles. 69. OS ESCRITOS EXOTRICOS Nos seus dilogos Aristteles no s adoptou a forma literria do mestre mas tambm os temas e algumas vezes os ttulos das suas obras. Escreveu com efeito um Banquete, um Poltico, um Sofista, um Menexeno; e depois o Grillo ou Da Retrica. que correspondia ao Grgias, o Protrptico que correspondia ao Eutidemo, o Eudemo ou Da Alma que correspondia ao Fdon. Este ltimo dilogo parece de franca inspirao platnica. O seu tema chegou at ns graas a um relato de Ccero. (De Div., 1, 25, 35; fr. 37, Rose): Eudemo, doente, tem um sonho proftico que lhe anuncia a sua cura, a morte dum tirano e o seu regresso ptria. Os dois primeiros factos realizam-se; mas enquanto espera o terceiro, Eudemo morre na batalha. Anunciando-lhe o regresso ptria, a divindade quisera indicar que a verdadeira ptria do homem a eterna, no a terrena. Aristteles partia deste relato para demonstrar a imortalidade e combater as concepes que se opunham a ela. Entre estas criticava, como Plato no Fdon, o conceito da alma como harmonia: a harmonia tem alguma coisa que se lhe contrape -a desarmonia; pelo contrrio, a alma como substncia no tem nada que se lhe contraponha; logo a alma no harmonia (fr. 45, Rose). O dilogo admitia tambm a doutrina platnica da anamnesis: a alma que desce ao corpo esquece as impresses recebidas no perodo da sua existncia; pelo contrrio, a alma que com a morte regressa ao alm, recorda o que 238 experimentou c. Pois que "a vida sem corpo a condio natural para a alma, a vida no corpo contra a natureza como uma doena" (fr. 41, Rose). Aristteles permanece aqui ligado ainda ao pessimismo rfico-pitagrico aceite antes por Plato. "Dado que impossvel para o homem participar da natureza do que verdadeiramente excelente, seria melhor para ele no ter nascido; e dado que nasceu, o melhor morrer quanto antes." (fr. 44, Rose). O Protrptico (ou discurso exortatrio) era uma exortao filosofia, dirigida a um
prncipe de Chipre, Temis n. A exortao tomava a forma de um dilema: "Ou se deve filosofar ou no se deve: mas para decidir no filosofar ainda e sempre necessrio filosofar; assim pois em qualquer caso filosofar necessrio" (fr. 51, Rose). O filosofar concebido ainda platonicamente como exerccio de morte; a condenao de tudo o que humano, enquanto aparncia enganosa, e at da beleza (fr. 59, Rose). O filsofo como o poltico deve olhar no s imitaes sensveis, mas aos modelos eternos. Consequentemente no Protrptico, o conhecimento aparece a Aristteles como sabedoria moral (frnesis) enquanto mais tarde distinguir nitidamente o conhecimento, da vida moral. O Protrptico terminava provavelmente com a exaltao da figura e da vida do sage, considerado com um deus mortal, superior ao trgico destino dos homens (fr. 61, Rose); livro que esteve entre os mais lidos e admirados por variadssimos espritos: desde o cnico Crates que o leu na oficina de um sapateiro (fr. 50, Rose) a S. Agostinho que, graas imitao que dele fez Cicero no Hortensio, veio filosofia e portanto a Deus ( 157). O afastamento por parte de Aristteles do platonismo deve iniciar-se durante a permanncia de 239 Aristteles em Asso e o seu primeiro documento o dilogo Sobre a Filosofia, que foi durante muito tempo, isto , at edio da Metafsica por interveno de Andrnico de Rodes, a fonte principal para o conhecimento da sua filosofia. O dilogo constava de trs livros. No primeiro, Aristteles tratava do desenvolvimento histrico da filosofia, de maneira anloga ao que fez no primeiro livro da Metafsica. Mas aqui no comeava em Tales, mas na sabedoria oriental e nos sete sbios. Plato era colocado no cume de toda a evoluo filosfica. No segundo livro, criticava-se a doutrina das ideias de Plato. Num fragmento que chegou at ns (fr. 9, Rose), toma-se particularmente em ateno a teoria das ideias-nmeros: "Se as ideias fossem uma outra espcie de nmeros, diferentes dos da matemtica, no poderamos ter delas nenhum entendimento. Com efeito, quem, pelo menos a maior parte de ns, pode entender que coisa seja um nmero de espcie diferente?" Mas, por um testemunho de Plutarco e de Proelo (fr .8, Rose), sabemos que ele impugnava toda a teoria das ideias, declarando que no podia segui-la mesmo custa de parecer a algum demasiado amante da disputa. No terceiro livro do dilogo, Aristteles apresentava a sua construo cosmolgica. Concebia a divindade como o motor imvel que dirige o mundo enquanto causa final, inspirando s coisas o desejo da sua perfeio. O ter era concebido como o corpo mais nobre e mais prximo da divindade; por baixo do motor imvel estavam as divindades dos cus e dos astros. A existncia de Deus era demonstrada mediante a prova que a Escolstica chamou argumento dos graus. Em qualquer domnio em que haja uma hierarquia de graus e portanto uma maior ou menor perfeio, subsiste necessariamente algo absolutamente perfeito. Ora dado que em tudo o que existe se manifesta uma 240 gradao de coisas mais ou menos perfeitas, subsiste tambm um ente de absoluta superioridade e perfeio, e este poderia ser Deus (fr. 16, Rose). Adaptando o famoso mito platnico da caverna, Aristteles tirava dele um argumento para afirmar a existncia de Deus. Se existissem homens que tivessem habitado sempre debaixo da terra em esplndidas moradas adornadas com tudo o que a arte humana pode fazer; se nunca tivessem subido superfcie e s tivessem ouvido falar da divindade, haveriam de estar, apesar disso, imediatamente seguros da sua existncia, se, saindo superfcie, pudessem contemplar o espectculo do mundo natural (fr. 12, Rose). Enquanto o mito da caverna servia a Plato para demonstrar o carcter aparente e ilusrio do mundo sensvel, serve a Aristteles para exaltar a perfeio do mesmo mundo sensvel e para tirar dessa perfeio um argumento de prova da sua origem divina. A separao entre Plato e Aristteles no
poderia ser melhor simbolizada do que mediante este mito. 70. AS OBRAS ACROAMTICAS As obras acroamticas de Aristteles, levadas a Roma por Sila, foram ordenadas e publicadas por Andrnico de Rodes pelos meados do sculo 1 a.C.. Estas obras compreendem: 1.o -Escritos de LGICA, conhecidos globalmente sob o nome de rganon (ou instrumentos de investigao): Categorias (um livro): sobre os termos ou sobre os predicados. Sobre a Interpretao (um livro): sobre as proposies. Primeiros Analticos (dois livros): sobre o raciocnio. Segundos Analticos (dois livros): sobre a prova, a definio, a diviso e o conhecimento dos princpios. Tpicos (oito 241 livros): sobre o discurso dialctico e sobre a arte da refutao fundada em premissas provveis. Elencos Sofsticos: refutao dos argumentos sofistas. Esta a ordem sistemtica em que a tradio recolheu os escritos lgicos de Aristteles. No a ordem cronolgica da sua composio acerca da qual somente se podem adiantar conjecturas. Admite-se geralmente que as Categorias ou a sua primeira redaco (que compreende os cap. I-VIII) e os livros 11-VII dos Tpicos so os escritos mais antigos, alguns dos quais compostos provavelmente quando Plato era vivo. Os Elencos sofsticos so um apndice dos Tpicos e pertencem ao mesmo perodo. Contemporneo ou pouco posterior deve ser tambm o livro Sobre a Interpretao. Os Primeiros Analticos e os Segundos Analticos pertencem fase madura do pensamento de Aristteles. Deve-se recordar tambm que o uso do vocbulo "lgica" para este gnero de investigaes foi iniciado pelos esticos e que Aristteles, ao contrrio, as compreendia sob o nome de "cincia analtica" (Ret., I, IV, 359 b, 10). 2.o - A METAFSICA, em 14 livros. Livro I: Natureza da cincia. Os quatro princpios metafsicos. Viso crtica das doutrinas dos seus predecessores (cap. IX: Sobre a doutrina platnica das ideias). Livro II: Dificuldade da investigao da verdade. Contra uma infinita srie de causas. As diversas espcies de investigao; deve-se partir do conceito de natureza. Livro III - Quinze dvidas em torno dos princpios e da cincia que se fundamenta neles. Livro IV: Soluo de algumas dvidas. Princpio da contradio. Livro V: Sobre os termos que costume usar em diferentes significados, como Princpio, causa, elemento, natureza, etc. Livro VI: Determinao do domnio da metafsica em relao ao domnio das outras cincias. Livro VII e VIII: 242 Doutrina da substncia. Livro IX: Doutrina da potncia e do acto. Livro X: O uno e o mltiplo. Livro XI, cap. I-VIII: anlogos aos livros III, IV e VI; caps. 9-12: sobre o movimento, sobre o infinito. Livro XII: As diversas espcies de substncia, a sensvelmutvel, a sensvel-imutvel, a supra-sensvel; esta ltima como objecto da metafsica. Livro XIII e XIV: As matemticas, a teoria das ideias e a teoria dos nmeros (XIII, cap. IV: Contra a doutrina platnica das ideias). Como se v por este sumrio, a Metafsica no uma obra orgnica mas um conjunto de escritos diferentes, compostos em pocas diferentes. O livro II o resto de um conjunto de apontamentos tirados por um aluno de Aristteles. O livro VI, na poca alexandrina, subsistia ainda como obra independente. O Livro XII uma exposio autnoma que oferece um quadro sinttico de todo o sistema aristotlico e em si mesmo completo. Os dois ltimos livros no tm nenhuma relao
com o que os precede. Estudos recentes permitem traar para esta srie de escritos uma ordem cronolgica e delinear tambm a direco da formao do pensamento de Aristteles. Os livros I e III constituem a redaco mais antiga da obra: com efeito, Aristteles expe a a doutrina das ideias como se fosse sua e inclui-se a si prprio entre os platnicos. Os livros XIII e XIV pertencem ao mesmo perodo e constituem uma reelaborao dos dois precedentes. O livro XIII devia substituir provavelmente o livro XIV porque oferece uma elaborao mais acabada e sistemtica dos mesmos argumentos. O livro XII contm a formulao teolgica da metafsica aristotlica, segundo a qual esta constitui urna cincia particular que tem por objecto o ser divino, o primeiro motor. Esta formulao, que est mais prxima do platonismo, indubitavelmente anterior quela que faz da filosofia a 243 cincia do ser enquanto tal. Pelo contrrio, os livros sobre a substncia (VII, VIII e IX), na medida em que consideram a substncia em geral e portanto tambm a substncia sensvel, realizam o projecto de uma filosofia como cincia do ser enquanto ser (isto do ser em geral) e portanto apta a servir de fundamento a todas as cincias particulares. Esses livros constituem a formulao mais madura do pensamento aristotlico. 3.o - Escritos de FSICA, de PSICOLOGIA. HISTRIA NATURAL, de MATEMTICA e de
Lies de fsica em 8 livros. Sobre o cu, em 4 livros. Sobre a gerao e a corrupo, em 2 livros. Sobre os meteoros, em 4 livros. Histria dos animais: anatomia e fisiologia dos animais. mesma srie pertencem os escritos: Sobre as partes dos animais,- Sobre a gerao dos animais; Sobre as transmigraes dos animais; Sobre o movimento dos animais. Os escritos: Sobre as linhas indivisveis e Sobre os mecanismos so apcrifos. A doutrina aristotlica da alma exposta nos trs livros Sobre a Alma e na recolha de escritos intitulada Parva naturalia. O escrito sobre a Fisionmica apcrifo. A recolha dos Problemas compreende a compilao de um conjunto de problemas, alguns dos quais so certamente aristotlicos. 4.O -Escritos de TICA, POLITICA, ECONOMIA, POTICA e RETRICA. Com o nome de Aristteles chegaram-nos trs tratados de tica: a tica Nicomaqueia, a tica Eudemia e a Grande tica, assim chamada no porque seja a mais vasta (pelo contrrio, a mais breve), mas porque se ocupa de mais assuntos. Mas 244 a Grande tica, certamente compilao de um aristotlico, no escapa a influncias estranhas ao aristotelismo, e provavelmente aos esticos. A tica Eudeinia atribuda por alguns a Eudemo de Rodes, discpulo de Aristteles; por outros, considerada como obra original de Aristteles, editada por Eudemo, como foi editada por Nicmaco a tica Nicomaqueia. Os estudos mais recentes levam a ver na tica Eudemia a primeira formulao da tica de Aristteles que tambm neste domnio se vai afastando cada vez mais das directrizes do mestre. A Poltica em 8 livros. Livro I: A natureza da famlia. Livro II: Considerao crtica das
teorias anteriores do estado. Livro III: Conceitos fundamentais da Poltica. Natureza dos estados e dos cidados. As vrias formas de constituio. A monarquia. Livro IV: Ulterior determinao dos caracteres das diversas constituies. Livro V: Mudanas, sedies e revolues nos estados. Livro VI: A democracia e as suas instituies. Livro VII: a constituiio ideal. Livro VIII: A educao. Aristteles recolhem 158 constituies estatais que se perderam. Voltoti luz, nos princpios do sculo passado, a Constituio dos Atenienses, escrita pessoalmente por Aristteles como primeiro livro do conjunto da obra. Da Economia, provavelmente o primeiro livro no aristotlico, o segundo decididamente apcrifo e pertence ao fim do III sculo. Retrica, em 3 livros, trata no I da natureza da retrica, que tem por objecto o verosmil e os problemas que lhe so prprios; no II do modo de suscitar com a palavra afectos e paixes, no III, da expresso e da ordem em que devem ser expostas as partes do discurso. A chama-da Retrica a Alexandre apcrifa, como o demonstra o prprio facto da dedicatria, 245 costume desconhecido no tempo de Aristteles; atribuda ao retrico Anaxmenes de Lampsaco. A Potica chegou-nos incompleta. A parte que nos resta trata apenas da origem e da natureza da tragdia. Perderam-se as obras histricas de Aristteles sobre os Pitagricos, Arquitas, Demcrito e outros. O escrito sobre Melisso, Xenfanes e Grgias no aristotlico. 71. - DO "FILOSOFAR" PLATNICO "FELOSOFIA" ARISTOTLICA Num fragmento da elegia, endereada a Eudemo, colocada no altar de Plato, Aristteles exalta assim o mestre: * h&~ que o& maus 4ndo tm sequer permitido para [louvar que sozinho ou o primeiro entre os mortais demonstrou [claramente com o exemplo de ~ vida e com o rigor de seus [argumentos que o homem se torna bom e feliz ao mesmo tempo. A ningum at agora foi permitido tanto alcanar. O ensinamento fundamental de Plato , pois, segundo Aristteles, a relao estreita que existe entre a virtude e a felicidade; e o valor deste ensinamento est no facto de que Plato no se limitou a demonstr-lo com argumentos lgicos, mas o incorporou na sua vida e para isso viveu. Mas para Plato o homem s pode alcanar o bem que a prpria felicidade, mediante uma pesquisa rigorosamente conduzida e que se dirija para a cincia do ser em si. Plato no estabelecia apenas a identi246 dade entre virtude e felicidade mas tambm entre virtude e cincia. O que que pensa Aristteles desta segunda identidade, para cuja demonstrao tende toda a obra de Plato? Encontra-se precisamente aqui a separao entre Plato e Aristteles. Para Plato a filosofia procura do ser e ao mesmo tempo realizao da verdadeira vida do homem nesta procura: cincia e, enquanto cincia, virtude e felicidade. Mas para Aristteles, o saber
no j a prpria vida do homem que procura o ser e o bem, mas uma cincia objectiva que se divide e se articula em numerosas cincias particulares, cada uma das quais alcana a sua autonomia. Por um lado, para Aristteles, a filosofia tornou-se o sistema total das cincias singulares. Por outro lado, ela prpria uma cincia singular, certamente a "rainha" das outras, mas que no as absorve nem dissolve por si mesma. Por isso, enquanto para Plato a indagao filosfica d lugar a sucessivos aprofundamentos, ao exame de problemas sempre novos que procuram aprender por todas as partes o mundo do ser e do valor, para Aristteles ela encaminha-se para a constituio de lima enciclopdia das cincias na qual nenhum aspecto da realidade fica de fora. A prpria vida moral do homem torna-se o objecto de uma cincia particular-a tica, que autnoma, como qualquer outra cincia, frente filosofia. O conceito da filosofia apresenta-se, pois, em Aristteles profundamente alterado. Por um lado a filosofia deve constituir-se como cincia em si e reivindicar portanto para si aquela mesma autonomia que as outras cincias reivindicam frente a ela. Por outro lado, diferentemente das outras cincias, deve encontrar razes para o seu fundamento comum e justificar a sua prioridade relativamente a elas. Nestes termos, o problema propriamente 247 aristotlico e no se encontra nada semelhante na obra de Plato. Para Plato a filosofia no mais que o filosofar e o filosofar o homem que procura realizar a sua verdadeira mesmidade, unindo-se ao ser e ao bem que o princpio do ser. No h em Plato um problema do que que seja a filosofia, mas s o problema do que o filsofo, o homem na sua autntica e completa realizao. Tal a pesquisa que domina todos os dilogos platnicos, principalmente, a Repblica e o Sofista. Mas para Aristteles a filosofia, enquanto cincia objectiva, deve constituir-se por analogia com as outras cincias. E como cada cincia definida e se especifica pelo seu objecto, do mesmo modo a filosofia deve ter um objecto prprio que a caracteriza frente s outras cincias e ao mesmo tempo lhe d, frente a elas, a superioridade que lhe corresponde. Qual este objecto? Dois pontos de vista se entrelaam a este respeito na Metafsica aristotlica, pontos de vista que assinalam duas etapas fundamentais da evoluo filosfica de Aristteles. De acordo com o primeiro, a filosofia a cincia que tem por objecto o ser imvel e transcendente, o motor ou os motores dos cus; e , portanto, propriamente falando, teologia. Como tal, esta a cincia mais alta porque estuda a realidade mais alta, a divina (Met., VI, 1, 1026 a, 19). Mas assim entendida, falta filosofia universalidade (e o prprio Aristteles o advertia: 1026 a, 23) porque se reduz a uma cincia particular com um objecto que, ainda que seja mais alto e mais nobre do que o das outras cincias, no tem nada a ver com elas. Nesta fase, apesar de se ter apartado do conceito platnico do filosofar, Aristteles permanece fiel ao princpio platnico de que a indagao humana deve exclusiva ou preferentement dirigir-se para 'os objectos mais elevados que constituem os valores supremos. Mas uma filosofia assim com248 premdida no consegue constituir o fundamento da enciclopdia das cincias e fornecer a justificao de qualquer investigao, a respeito de qualquer objecto. Esta exigncia leva Aristteles ao segundo ponto de vista, que o definitivo, e cuja realizao constitui a sua tarefa histrica. De acordo com este segundo ponto de vista, a filosofia tem por objecto, no uma realidade particular (seja embora a mais elevada de todas), mas o aspecto fundamental e prprio de toda a realidade. Todo o domnio do ser - dividido pelas cincias singulares, cada uma das quais considera um aspecto particular do mesmo; s a filosofia considera o ser enquanto tal, prescindindo das determinaes que constituem o
objecto das cincias particulares. Este conceito da filosofia como "cincia do ser enquanto ser, verdadeiramente a grande descoberta de Aristteles. Ela permite no s justificar o trabalho das cincias particulares, como d filosofia a sua plena autonomia e a sua mxima universalidade, constituindo-a como o pressuposto indispensvel de toda a investigao. Neste sentido, a filosofia j no somente teologia: certamente a teologia uma das suas partes, mas no a primeira nem a fundamental, pois que a primeira e fundamental aquela que conduz busca do princpio em virtude do qual o ser, todo o ser -Deus como a mais nfima realidade natural verdadeira e necessariamente tal. 72. A FILOSOFIA PRIMEIRA: SUA POSSIBILIDADE E SEU PRINCIPIO O primeiro grupo de investigaes empreendidas por Aristteles na Metafsica versa precisamente sobre a possibilidade e sobre o principio de uma cincia do ser. Aristteles preocupa-se antes de mais em definir o lugar desta cincia no sistema do saber 249 e as suas relaes com as outras cincias. Acima de tudo, cada cincia pode ter por objecto ou o possvel ou o necessrio: o possvel o que pode ser indiferentemente de um modo ou de outro; o necessrio aquilo que no pode ser de modo diferente do que . O domnio do possvel compreende a aco (praxis) que tem o seu fim em si mesma, e a produo (poiesis) que tem o seu fim no objecto produzido. As cincias que tm por objecto o possvel, enquanto so normativas ou tcnicas, podem tambm ser consideradas como artes; mas no h arte que concerne aquilo que necessrio (Et. Nic., VI, 3-4). Entre as cincias do possvel, a poltica e a tica tm por objecto as aces e por isso chamam-se prticas; as artes tm por finalidade a produo de coisas e chamam-se poticas. Destas ltimas, h uma que leva no prprio nome o selo do seu carcter produtivo- a poesia. O domnio do necessrio pertence pelo contrrio s cincias especulativas ou tericas. Estas so trs: a matemtica, a fsica e a filosofia primeira, que depois de Aristteles se chamar metafsica. A matemtica tem por objecto a quantidade no seu duplo aspecto de quantidade descontnua ou numrica (aritmtica) e de quantidade contnua de uma, duas ou trs dimenses (geometria) (Met., XI, 3, 1061 a, 28). A fsica tem por objecto o ser em movimento e, por consequncia, aquelas determinaes do ser que esto ligadas matria que condio do movimento (1b., VI 1, 1026 a, 3). A filosofia deve constituir-se por analogia com as outras cincias tericas se quer assumir como objecto de sua considerao o ser enquanto ser. Como a matemtica e a fsica, deve proceder por abstraco. O matemtico despoja as coisas de todas as qualidades sensveis (peso, leveza, dureza, etc.) e redu-las quantidade descontnua ou contnua; o fsico prescinde de todas as determinaes do ser que no se 250 reduzem ao movimento. De modo anlogo, o filsofo deve despojar o ser de todas as determinaes particulares (quantidade, movimento, etc.) e consider-lo s enquanto ser. Alm disso, como a matemtica parte de certos princpios fundamentais que concernem o objecto que lhe prprio, a quantidade em geral (como por exemplo o axioma: tirando quantidades iguais a quantidades iguais os restos so iguais), assim a filosofia deve partir de um princpio que lhe prprio e que concerne o objecto que lhe prprio, o ser enquanto tal. O problema consiste em saber se uma tal cincia possvel. Evidentemente, a primeira condio para a sua possibilidade que seja possvel reduzir os diversos significados do ser a um nico significado fundamental. De facto o ser diz-se de muitas maneiras: ns dizemos que so a quantidade, a qualidade, a privao, a corrupo, os acidentes; e at do no ser
dizemos que no ser. Todos estes modos devem ser reduzidos unidade, se ho-de ser o objecto de uma nica cincia. O ser e o uno devem de algum modo identificar-se, j que necessrio descobrir aquele sentido do ser, pelo qual o ser uno e tambm a unidade mesma do ser (1b., IV, 2, 10003 b). E esta unidade no deve ser acidental. mas intrnseca e necessria a todos os diferentes significados que o ser assume. O que acidental no pode ser objecto de cincia porque no tem estabilidade ou uniformidade; e a cincia -o somente do que sempre, ou quase sempre, de um modo (lb., VI, 2, 1027, a). Se se quer pois determinar o nico significado fundamental do ser necessrio reconhecer um princpio que garanta a estabilidade e a necessidade do prprio ser. Tal o princpio da contradio. Este princpio considerado por Aristteles, em primeiro lugar como princpio constitutivo do ser enquanto tal; em segundo lugar, como condio de 251 toda a reflexo sobre o ser. isto , de todo o pensamento verdadeiro. portanto simultaneamente um principio ontolgico e l gico; e Aristteles expressa-o em duas frmulas que correspondem a duas significaes fundamentais: " impossvel que uma mesma coisa convenha e ao mesmo tempo no convenha a uma mesma coisa, precisamente enquanto a mesma"; " impossvel que a mesma coisa seja e simultaneamente no seja"; tais so as duas frmulas principais em que o princpio ocorre em Aristteles (por exemplo, Met, IV, 3, 1005 h, 18; 4, 1006 a, 3); e destas frmulas, evidentemente a primeira refere-se impossibilidade lgica de predicar o ser e o no ser de um mesmo sujeito; a segunda impossibilidade ontolgica de que o ser seja e no seja. Aristteles defende polemicamente este princpio contra aqueles que o negam: Megricos, Cnicos e Sofistas, os quais admitem a possibilidade de afirmar todas as coisas de todas as coisas; Heracliteanos, que admitem a possibilidade de que o ser, no devir, se identifique com o no ser. Na realidade, o princpio s se pode defender e esclarecer polemicamente porque, como fundamento de toda a demonstrao, no pode por sua vez ser demonstrado. Certamente pode-se demonstrar que quem o nega nada diz ou suprime a possibilidade de qualquer cincia; e este, com efeito, o argumento polmico adoptado por Aristteles contra os que o negam. Mas com isto ainda no resulta evidente o seu valor como axioma fundamental da filosofia primeira, como principio constitutivo da metafsica como cincia do ser enquanto tal. Este valor provm, ao invs, das consideraes que Aristteles desenvolve a propsito do ser determinado (tde li). Se. por exemplo, o ser do homem se determinou como o de "animal bpede", "necessariamente todo o ser que se reconhea como homem dever ser reconhecido, como animal bpede". Se a 252 verdade - afirma Aristteles -tem um significado, necessariamente quem diz homem diz animal bpede: pois que isto significa homem. Mas se isto necessrio, no possvel que o homem no seja animal bpede: de facto a necessidade significa isto mesmo, que impossvel que o ser no seja" (Met., IV, 4, 1006 b, 30). Aqui se descobre claramente o significado do princpio da contradio como fundamento da metafsica: o princpio leva a determinar o fundamento pelo qual o ser necessariamente. E de facto a frmula negativa do princpio da contradio: " impossvel que o ser no seja" traduz-se positivamente por estoutra: o ser, enquanto tal, necessariamente. Nesta frmula, o princpio revela claramente a sua capacidade para fundamentar a metafsica. O ser que objecto desta cincia, o ser que no pode no ser, o ser necessrio. A necessidade constitui portanto para Aristteles o sentido primrio ou fundamental do
ser, aquele a partir do qual todos os outros (embora no existam), podem ser compreendidos e distinguidos. Era esta a prpria tese de Parmnides ("o ser e no pode no ser": fr. 4, Diels) que fora adoptada pelos Megricos. Todavia Aristteles no entende esta tese no sentido que s o necessrio existe e que o no necessrio nada. Porquanto (como se viu) ele afirma que s o necessrio o objecto da cincia e que portanto a prpria cincia necessidade (apodtica, isto , demonstrativa); o possvel admitido por ele como objecto de artes ou de disciplinas que tm s imperfeita ou aproximadamente carcter cientfico. Portanto, aquilo que ele entende afirmar que o ser necessrio o nico objecto da cincia e mais que do que no necessrio somente se pode ter conhecimento na medida em que de qualquer modo se avizinha da necessidade, no sentido de que manifesta uma certa uni253 formidade ou persistncia. "Algumas coisas - diz ele - so sempre necessariamente o que so, no no sentido de serem constrangidas, mas no sentido de no poderem ser de outra maneira; pelo contrrio, outras so o que so, no por necessidade mas "mais uma vez"; e este o princpio pelo qual podemos distinguir o acidental, que tal precisamente porque no nem sempre, nem o mais das vezes (1026 b, 27). Como se v, Aristteles admite ao lado do necessrio e do uniforme (o "mais das vezes") tambm o acidental; mas do acidental no h cincia mas, em todo o caso, tal como com o uniforme no-necessrio pode ser distinguido e reconhecido sobre fundamento do necessrio. Qual portanto o ser necessrio? A esta pergunta Aristteles responde com a doutrina fundamental da sua filosofia. O ser necessrio o ser substancial. O ser que o princpio da contradio permite reconhecer e isolar na sua necessidade a substncia. "Esses-diz ele (referindo-se aos que negam o princpio da contradio) -destroem completamente a substncia e a essncia necessria, pois que se vm obrigados a dizer que tudo acidental e no existe nada como o ser-homem ou o ser-animal. Efectivamente se h alguma coisa como o ser-homem, esta no ser o ser-no-homem ou o no-ser-homem, mas estes sero negaes daquele. De facto, um s o significado do ser e este a sua substncia. Indicar a substncia de uma coisa no mais que indicar o seu ser prprio" (Met., IV, 4, 1007 a, 21-27). O princpio da contradio, tomado no seu alcance ontolgico-lgico, conduz directamente a determinar o ser enquanto tal que o objecto da metafsica. Este ser a substncia. A substncia o ser por excelncia, o ser que impossvel que no seja e portanto necessariamente, o ser que primeiro em todos os sentidos. "A substncia primeira-diz Aristteles (lb., VII, 254 1, 1028 a, 3 1) -por definio, para o conhecimento e para o tempo. Ela a nica, entre todas as categorias, que pode subsistir separadamente. primeira por definio, pois que a definio da substncia est implcita necessariamente na definio de qualquer outra coisa. primeira para o conhecimento porque acreditamos conhecer uma coisa, por exemplo o homem ou o fogo, quando sabemos que coisa ela , mais do que quando conhecemos o seu qual, o quanto, o durante; e tambm s conhece~s cada uma destas determinaes quando sabemos que coisa so elas mesmas". O que coisa a substncia. O problema do ser transforma-se portanto no problema da substncia e neste ltimo se concretiza e determina o objectivo da metafsica. "Aquilo que desde h tempo e ainda agora e sempre temos buscado, aquilo que ser sempre um problema para ns. O que o ser? significa : O que a substncia?" (Met., VII, 1, 1028 b, 2). 73. A SUBSTNCIA
O que a substncia? Tal o tema do principal grupo de investigaes na Metafsica. Aristteles enfrenta-o com o seu caracterstico processo analtico e dubitativo, formulando todas as solues possveis, desenvolvendo e discutindo cada uma delas e fazendo assim brotar um problema de outro. No emaranhado das investigaes que nos vrios escritos que compem a Metafsica se entrelaam por acaso, voltando amiude ao princpio da discusso ou interrompendo-a antes da concluso, o livro VII oferece-nos o desenvolvimento mais maduro e concludente deste problema fundamental. O ltimo captulo do livro, o XVII, apresenta como, concluso o verdadeiro princpio lgico e especula255 tivo de todo o trabalho. A substncia aqui considerada como o princpio (arch) e a causa (aitia): em consequncia, como o que explica e justifica o ser de cada coisa. A substncia a causa primeira e, o ser prprio de toda a realidade determinada. o que faz de um composto algo que no se resolve na soma dos seus elementos componentes. Como a slababa no igual soma de b e a, mas tem uma natureza que desaparece quando se dissolve nas letras que a acompanham; assim qualquer realidade tem uma natureza que no resulta da adio dos seus elementos componentes e diferente de cada um e de todos estes elementos. Tal natureza a substncia daquela realidade: o princpio constitutivo do seu ser. A substncia sempre princpio, nunca elemento componente (1041 b, 31). S ela, portanto, permite responder pergunta a respeito do porqu de uma coisa. Se se pergunta, por exemplo, o porqu de uma casa ou de um leito, pergunta-se evidentemente qual a finalidade para que a casa ou o leito foram construdos. Se se pergunta o porqu do nascer, do morrer ou em geral da mudana, pergunta-se evidentemente a causa eficiente, o princpio pelo qual o movimento se origina. Mas finalidade e causa eficiente no so outra coisa seno a prpria substncia da realidade de que se pergunta o porqu (1041 a, 29). Estas observaes so a chave para compreender toda a doutrina aristotlica da substncia e consequentemente para penetrar no prprio corao da metafsica aristotlica. A expresso de que Aristteles se serve para definir a substncia : aquilo que o ser era (to ti en einal, quod quid erat esse). Nesta frmula, a repetio do verbo ser exprime que a substncia o princpio constitutivo do ser como tal; e o imperfeito (era) indica a persistncia e a estabilidade do ser, a sua necessidade, A substncia o ser do ser: o princpio pelo qual 256 o ser tal necessariamente. Mas como ser do ser, a substncia tem uma dupla funo a que corresponde uma dupla considerao da mesma: por um lado o ser em quem se determina e limita a necessidade do ser, por outro lado o ser que necessidade determinante e limitadora. Podemos exprimir a dupla funcionalidade da substncia, qual corresponde dois significados distintos mas necessariamente conjuntos, dizendo que a substncia , por um lado, a essncia do ser, pelo outro o ser da essncia. Como essncia do ser a substncia o ser determinado, a natureza prpria do ser necessrio: o homem como "animal bpede". Como ser da essncia, a substncia o ser determinante, o ser necessrio da realidade existente: o animal bpede como este homem individual. Os dois significados podem ser compreendidos sob a expresso essncia necessria, a qual d, o mais exactamente possvel, o sentido da frmula aristtlica. Evidentemente, a essncia necessria no a simples; essncia de uma coisa. Nem sempre a essncia a essncia necessria: quem diz de um homem que msico, no diz a sua essncia necessria, porque ele -pode ser homem sem ser msico. A essncia necessria aquela que constitui o ser prprio de uma realidade qualquer, aquele ser pelo qual a realidade necessariamente tal. A substncia portanto no a essncia, mas a essncia
necessria, no o ser tomado genericamente mas o ser autntico: a essncia do ser e o ser da essncia. Entendida assim, ela revela o aspecto mais ntimo do pensamento aristotlico e ao mesmo tempo a sua relao mais secreta com o pensamento de Plato. Plato explicara a validade intrnseca do ser como tal, a normatividade que o ser apresenta em si prprio e ao homem, referindo o ser aos outros valores e fazendo do bem o princpio do ser. Para Plato, se o ser vale, se possui um valor graas ao 257 qual se pe como norma, isso acontece, no porque ser, mais porque bem; aquilo que o constitui enquanto ser o bem, o prprio valor. A normatividade do ser , para Plato, estranha ao prprio ser: o ser est no valor, no o valor no ser. Ao contrrio, Aristteles descobriu o valor intrnseco do ser. A validade que o ser possui no lhe vem de um principio extrnseco, do bem, da perfeio ou da ordem, mas do seu principio -intrnseco, da substncia. O ser no est no valor, mas. "o valor no ser". Tudo aquilo que . enquanto , realiza o valor primordial e nico, o ser enquanto tal. A substncia, como ser do ser, d s mais insignificantes e pobres manifestaes do ser uma validade necessria, uma absoluta normatividade. Efectivamente, no privilgio das realidades mais elevadas, mas encontra-se tanto na base como no cimo da hierarquia dos seres e representa o verdadeiro valor metafsico. Com a descoberta da validade do ser enquanto tal, Aristteles est con condies de adoptar ante o mundo uma atitude completamente distinta da de Plato. -Para ele, tudo aquilo que , enquanto , tem um valor intrnseco, digno de considerao e de estudo e pode ser objecto de cincia. Ao contrrio, para Plato s aquilo que encarna um valor diferente do ser pode e deve ser objecto de cincia: o ser enquanto tal no basta, porque no tem em si o seu valor. Com a teoria da substncia, Aristteles elaborou o princpio que justifica a sua atitude frente natureza, a sua obra de investigador infatigvel, o seu interesse cientfico que no se apaga nem diminui nem sequer ante as mais insignificantes manifestaes do ser. A teoria da substncia ao mesmo tempo o centro da metafsica de Aristteles e o centro da sua personalidade. Ela revela o ntimo valor existencial da sua metafsica. 258 74. AS DETERMINAES DA SUBSTNCIA A dupla funo da substncia aparece continuamente na investigao aristotlica e comunica-lhe uma ambiguidade aparente que s se pode eliminar reconhecendo a distino e a unidade das duas funes da substncia. Quando Aristteles diz que a substncia expressa pela definio e que s da substncia h definio verdadeira (VII, 4, 1030 b, a), entende a substncia como essncia do ser, como aquilo que a razo pode entender e demonstrar do ser. Quando, ao contrrio, declara que a substncia se identifica com a realidade determinada (tode ti) e que, por exemplo, a beleza no existe seno naquilo que belo (VII, 6, 1031 b, 10), entende a substncia como ser da essncia, como o princpio que d natureza prpria de uma coisa a sua existncia necessria. Como essncia do ser, a substncia a forma das coisas compostas, e d unidade aos elementos que compem a todo e ao lodo uma natureza prpria, diferente daquela dos elementos componentes (VIII, 6 b, 2). A forma das coisas materiais, que Aristteles chama espcie (VII, 8, 1033 b, 5), portanto a sua substncia. Como ser da essncia, a substncia o sujeito (ypokeimenon, subjectum): aquilo de que qualquer outra coisa se predica, mas que no pode ser predicado de nenhuma. E como sujeito matria, isto , realidade privada de qualquer determinao e que s possui essa
determinao em potncia (VIII, 1, 1042 a, 26). Como essncia do ser, a substncia o conceito ou logos ou razo de ser, de que no h gerao nem corrupo (pois que o que devm no a essncia necessria da coisa, mas esta ou aquela coisa). Como ser da essncia, a substncia o composto ou sinolo, isto , a unio do conceito (ou forma) com a matria, a coisa exis259 tente; e em tal sentido a substncia nasce e morre (VIII, 15, 1039 b, 20). Como essncia do ser, a substncia o princpio de inteligibilidade do prprio ser. o que a razo pode tomar da realidade enquanto tal; e constitui o elemento estvel e necessrio, sobre o qual se fundamenta a cincia. De facto no h cincia seno do que necessrio, enquanto que o conhecimento do que pode ser e no ser, mais opinio que cincia. Precisamente por isto no existe definio ou demonstrao das substncias sensveis particulares que so dotadas de matria e no so por consequncia necessrias mas corruptveis: o seu conhecimento obscurece-se apenas deixam de ser percebidas. Todavia permanece ntegro, no sujeito que as conhece, o seu conceito que expressa precisamente a sua natureza substancial, ainda que no na forma rigorosa da definio (Met., VII, 15, 1039 b, 27). A substncia portanto objectivamente e subjectivamente o princpio da necessidade: objectivamente, como ser da essncia, enquanto realidade necessria; subjectivamente, como essncia do ser, enquanto razo de ser necessitante. Ao considerar a diversidade e disparidade dos significados que a substncia toma para Aristteles, dir-se-ia que Aristteles se havia limitado a formular dialecticamente todos os significados possveis da palavra, sem escolher entre eles nem determinar o nico significado autntico e fundamental. Por um lado, como forma ou espcie, a substncia iningendrvel e incorruptvel, pelo outro, como composto e realidade particular existente, engendrvel e corruptvel; por um lado, como sujeito existncia real que no se reduz nunca ao predicado, isto , pura determinao lgica; por outro lado, como definio e conceito, pura entidade lgica. Na realidade, concebida a substncia como ser do ser, na sua dupla funcionalidade de ser da 260 essncia e essncia do ser, Aristteles podia reconhecer igualmente a substncia em todas aquelas diversas determinaes e reduzir portanto unidade a disparidade aparente. Tal era precisamente o objectivo que se propusera ao constituir a metafsica como cincia do ser enquanto tal e ao tomar como seu fundamento o princpio da contradio. A riqueza das determinaes ontolgicas que o conceito de substncia permite justificar a Aristteles, relacionando-as com um nico significado fundamental, a prova de que alcanou verdadeiramente, com o conceito de substncia, o princpio da filosofia primeira, como aquela cincia que deve constituir o fundamento comum e a justificao ltima de todas as cincias particulares. Aristteles s devia excluir como ilegtimo um significado da substncia: aquele que separa o ser da essncia ou a essncia do ser, que pe a validade e a necessidade do ser de fora do ser, numa universalidade que no constitui a alma e a vida do prprio ser. Tal era o ponto de vista do platonismo; por isso Aristteles se serve dele continuamente como termo de confronto polmico na construo da sua metafsica. 75. A POLMICA CONTRA O PLATONISMO A caracterstica do platonismo , segundo Aristteles, a de considerar as espcies como substncias separadas, reais independentemente dos seres individuais de que so forma ou substncia. Para Aristteles a substancialidade (a realidade) da espcie a mesma do indivduo de que espcie. Para Plato as espcies tm uma realidade em si que no se dissolve na dos indivduos singularmente existentes: e em tal sentido so substncias
separadas. 261 Ora tais substncias separadas so impossveis. segundo Aristteles. Como espcies deveriam ser universais; mas impossvel que o universal seja substncia porque enquanto o universal comum a muitas coisas, a substncia prpria de um ser individual e no pertence a nenhum outro. Se em Scrates, que substncia, existisse uma outra substncia ("homem" ou "ser vivente") teramos um ser completo de vrias substncias, o que impossvel. Aristteles insiste portanto vrias vezes na Metafsica na crtica dos argumentos que eram seguidos por Plato e pelos Platnicos para estabelecer a realidade da ideia. Tal crtica versa essencialmente quatro pontos. Em primeiro lugar, admitir a ideia que corresponda a cada conceito significa actuar mais ou menos como aquele que, tendo de contar alguns objectos, julgasse que no podia faz-lo seno acrescentando o seu nmero. As ideias devem ser efectivamente em nmero maior que os respectivos objectos sensveis, porque h de haver no s a ideia de cada substncia, mas tambm a de todos os seus modos ou caracteres que podem concentrar-se num nico conceito. So outras tantas realidades que se acrescentam s realidades sensveis. de modo que o filsofo se encontra no dever de explicar, alm destas ltimas,, tambm as primeiras, enfrentando dificuldades maiores do que se se encontrasse apenas perante o mundo sensvel. Em segundo lugar, os argumentos com que se demonstra a realidade da ideia conduziriam a admitir ideias que at os Platnicos no consideram que haja; por exemplo, a das negaes ou das coisas transitrias, pois que tambm destas h conceitos. E assim, at para a relao de semelhana entre as ideias e as coisas correspondentes (por exemplo, entre a ideia do homem e cada homem) deveria haver uma ideia (um terceiro homem); e entre esta 262 ideia, por uma parte, e a ideia do homem e cada homem individual, por outra, outras ideias; e assim at ao infinito. Em terceiro lugar, as ideias so inteis porque no contribuem nada para fazer compreender a realidade do mundo. De facto, no so causa de nenhum movimento e de nenhuma mudana. Dizer que as coisas participam das ideias no quer dizer nada, porque as ideias no so princpios de aco .que determinem a natureza das coisas. Finalmente, este o argumento mais importante que se liga com a teoria aristotlica da substncia: a substncia no pode existir separadamente daquilo de que substncia. A afirmao do Fdon de que as ideias so causas das coisas , segundo Aristteles, incompreensvel, pois ainda que supondo que as ideias existam, delas no derivaro as coisas se no intervir para cri-las um princpio activo. Estes argumentos a que Aristteles retorna amide so simplesmente indicativos, mas no reveladores do verdadeiro ponto de separao entre ele e Plato. Partem do pressuposto de uma realidade das ideias absolutamente separada do mundo sensvel e da prpria inteligncia humana que as apreende: pressuposto que se no verifica no esprito autntico do platonismo. Para Plato, a ideia o valor e constitui ao mesmo tempo o dever ser, o melhor, das coisas do mundo e a norma de que o homem deve servir-se para a valorao das prprias coisas. A ideia aparece a Aristteles como separada do mundo no porque Plato haja negado implicitamente ou explicitamente a relao com o mundo, mas porque
a ideia incomensurvel com o ser do prprio mundo. A ideia o bem, o belo ou em geral (segundo os ltimos dilogos platnicos) a ordem e a medida perfeita do mundo, e constitui um princpio diferente e em consequncia estranho e separado do ser' cujo fundamento se 263 pretende que seja. A descoberta da validade intrnseca do ser como tal, o reconhecimento de que o ser, precisamente enquanto ser e no j enquanto perfeio ou valor, possui a validade necessria, leva Aristteles a rejeitar a doutrina que separa o ser do seu prprio valor e faz deste um mundo ou uma substncia separada. Por isso a substncia aristotlica, at entendida como forma ou espcie, no pode ser reconduzida ideia platnica. A substncia no a ideia que abandonando a esfera supraceleste se envolveu no ser e no devir do mundo e readquiriu a sua concreo, mas um princpio de validade intrnseco ao ser como tal: o ser prprio do devir e do mundo na prpria necessidade. Aristteles realizou a inverso do ponto de vista platnico. Para Plato, os valores fundamentais so os morais que no so puramente humanos, mas csmicos, e constituem o princpio e o fundamento do ser. Para Aristteles o valor fundamental o ontolgico, constitudo pelo ser enquanto tal, pela substncia; e os valores morais circunscrevem-se esfera puramente humana. Quando Aristteles nega que o universal seja substncia, tem em mente o universal platnico que verdadeiramente est separado do ser, na medida que um valor distinto do ser. O que ele defende constantemente contra o platonismo que o valor do ser intrnseco ao ser: a doutrina da substncia. 76. A SUBSTNCIA COMO CAUSA DO DEVIR Com a indagao sobre a natureza da substncia se entrelaa na Metafsica a investigao em torno das substncias particulares. Nesta segunda investigao, Aristteles guiado pelo critrio que ilustra 264 num passo famoso do livro VII. necessrio partir das coisas que so mais cognoscveis ao homem a fim de alcanar aquelas que so mais cognoscveis em si; do mesmo modo que, no campo da aco, se parte daquilo que bom para o indivduo a fim de que consiga fazer seu o bem universal (1020 b, 3). Mais facilmente cognoscveis para o homem so as substncias sensveis; portanto, destas se deve partir na considerao das substncias determinadas. E dado que esto sujeitas ao devir, trata-se de saber que funo desempenha a substncia no devir. Tudo aquilo que devm tem uma causa eficiente que o ponto de partida e o princpio do devir; devm alguma coisa (por exemplo, uma esfera ou um crculo) que a forma ou ponto de chegada do devir; e devm. de alguma coisa, que no a simples privao dessa forma, mas a sua possibilidade ou potncia e se chama matria. O artfice que constri uma esfera de bronze, como no produz o bronze, to-pouco produz a forma de esfera que infunde no bronze. No faz mais que dar a uma matria preexistente, o bronze, uma forma preexistente, a esfericidade. Se tivesse de produzir tambm a esfericidade, teria de a tirar de alguma outra coisa, como tira do bronze a esfera de bronze; isto , deveria haver uma matria da qual tiraria a esfericidade e logo ainda uma matria desta matria e assim at ao infinito. evidente, pois, que a forma ou espcie que se imprime na matria no devm, pelo contrrio, o que devm o conjunto da matria e forma (sinolo) que desta toma o
nome. A substncia como matria ou como forma escapa ao devir: ao qual pelo contrrio, se submete a substncia como sinolo (VII, 8, 1033 b). Isto no quer dizer que haja uma esfera aparte das que vemos ou uma casa fora das construdas com tijolos. Se assim fosse, a espcie no se converteria nunca numa realidade determinada, isto , esta casa ou 265 esta esfera. A espcie exprime a natureza de uma coisa, no diz que a coisa existe. Quem produz a coisa, tira de algo que existe (a matria, o bronze) qualquer coisa que existe e tem em si aquela espcie (a esfera de bronze). A realidade determinada a espcie que j subsiste nestas carnes e nestes ossos que formam Clias ou Scrates, os quais certamente so distintos pela matria, mas idnticos pela espcie, que indivisvel (1b., 1034 a, 5). A substncia portanto a causa no s do ser mas ainda do devir. No primeiro livro da Metafsica, Aristteles distinguira quatro espcies de causas, repetindo uma doutrina j exposta na Fsica ffi, 3 e 7). "Das causas-dissera (Met., 1, 3, 983 a, 26)-fala-se de quatro modos. Chamamos causa primeira substncia e essncia necessria, pois que o porqu se reduz em ltima instncia ao conceito (logos) que, sendo o primeiro porqu, causa e princpio. A segunda causa a matria e o substracto. A terceira a causa eficiente, isto , o princpio do movimento. A quarta a causa oposta a esta ltima, o objectivo e o bem que o fim (telos) de cada gerao e de cada devir. " Mas agora claro que estas quatro causas so verdadeiramente tais s enquanto se reduzem todas causa primeira, substncia de que so determinaes ou expresses diversas. Naquele primeiro ensaio de histria da filosofia, que Aristteles nos oferece precisamente no primeiro livro da Metafsica, ele pe prova esta doutrina das quatro causas para se certificar se os seus predecessores haviam descoberto outra espcie de causa, alm daquelas enunciadas por ele nos escritos de fsica. A concluso da sua anlise que todos se limitaram a tratar de uma ou duas das causas por ele enunciadas: a causa material e a causa eficiente foram admitidas pelos fsicos, a causa formal por Plato, enquanto da causa final s Anaxgoras teve um certo ind266 cio. "Mas estes - acrescenta Aristteles - trataram delas confusamente; e se num sentido se pode afirmar que as causas foram indicadas antes de ns, num outro sentido pode dizer-se que no foram indicadas inteiramente" o Q, 10, 992 b, 13). Aristteles est assim consciente de inserir-se historicamente na pesquisa estabelecida pelos seus predecessores e de lev-la sua culminao e clareza. O objectivo que se props parece-lhe sugerido pelos resultados histricos que a filosofia conseguiu antes dele. 77. POTNCIA E ACTO A funo da substncia no devir confere mesma substncia um novo significado. Ela adquire um valor dinmico, identifica-se com o fim (telos), com a aco criadora que forma a matria, com a realidade concreta do ser individual no qual o devir se executa. Em tal sentido a substncia acto: actividade, aco, concluso. Aristteles identifica a matria com a potncia, a forma com o acto. A potncia (dynamis) em geral a possibilidade de produzir uma mudana ou de sofr-la. H a potncia activa que consiste na capacidade de produzir uma mudana em si ou noutro (como, por exemplo, no fogo a potncia de aquecer e no construtor a de construir); e a potncia passiva que consiste na capacidade de sofrer uma mudana (como por exemplo, na madeira a capacidade de inflamar-se, naquilo que frgil a capacidade de romper-se). A potncia passiva prpria da matria; a potncia activa prpria do princpio de aco ou causa
eficiente. O acto (enrgheia) pelo contrrio a prpria existncia do objecto. Este est relativamente potncia "como o construir para o saber construir, 267 o estar acordado para o dormir, o olhar para os olhos fechados, apesar de ter vista, e como o objecto tirado da matria e elaborado completamente est para a matria bruta e para o objecto ainda no acabado" (Met., IX, 6, 1048 b). Alguns actos so movimentos (kinesis), outros so aces (praxis). So aces aqueles movimentos que tm em si prprios o seu fim. Por exemplo, ver um acto que tem em si prprio o seu fim e do mesmo modo o entender e o pensar, enquanto que o aprender, o caminhar, o construir tm fora de si o seu fim na coisa que se aprende, no ponto a que se pretende chegar, no objecto que se constri. Aristteles chamou a estes actos no aces, mas movimentos ou movimentos incompletos. O acto anterior potncia. anterior relativamente ao tempo: pois verdade que a semente (potncia) anterior planta, a capacidade de ver anterior ao acto de ver; mas a semente no pode ser derivada seno de uma planta e a capacidade de ver no pode ser prpria seno de um olho que v. O acto anterior tambm pela substncia, pois o que no devir ltimo, a forma completa, substancialmente anterior: por exemplo o adulto anterior ao rapaz e a planta semente, na medida que um j realizou a forma que o outro no tem. A galinha vem antes do ovo, segundo Aristteles. A causa eficiente do devir deve preceder o prprio devir e a causa eficiente acto. Tambm do ponto de vista do valor o acto anterior j que a potncia sempre possibilidade de dois contrrios; por exemplo, a potncia de ser saudvel tambm potncia de ser doente; mas o acto de ser saudvel exclui a doena. O acto portanto melhor que a potncia. A aco perfeita que em em si o seu fim designada por Aristteles como acto final ou realizao final (entelequia). Enquanto o movimento 268 o processo que leva gradualmente ao acto aquilo que antes estava em potncia, a entelequia o termo final (telas) do movimento, o seu trmino perfeito. Mas como tal, a entelquia tambm a realizao completa e portanto a forma perfeita daquilo que devm; a espcie e a substncia. O acto identifica-se por consequncia em cada caso com a forma ou espcie e, quando acto perfeito ou realizao final, identifica-se com a substncia. Esta a prpria realidade em acto e o princpio dela. Frente a ela, a matria considerada em si, isto , como pura matria ou matria prima, absolutamente privada de actualidade ou de forma, indeterminvel e incognoscvel e no substncia (Met., VII, 10, 1036 a, 8; IX, 7, 1049 a, 27). A matria prima o limite negativo do ser como substncia, o ponto em que cessa conjuntamente a inteligibilidade e a realidade do ser. Mas aquilo que se chama comummente matria, por exemplo o fogo, a gua, o bronze no matria prima, porque tem j em si em acto uma determinao e portanto uma forma; matria, isto , potncia, no que diz respeito s formas que pode assumir, enquanto que j, como realidade determinada, forma e substncia. Se conhecer a realidade e o porqu de uma coisa significa conhecer a sua substncia mediante a espcie ou forma (que precisamente a substncia das realidades compostas ou "sinoli"), a matria representa o resduo irracional do conhecimento, assim como a substncia representa o princpio ou a causa no s do ser, mas tambm da inteligibil idade do ser como tal. 78. A SUBSTNCIA IMVEL
filosofia como teoria da substncia compete evidentemente no s a tarefa de considerar a natureza da substncia, as suas determinaes fun. 269 damentais e a sua funo no devir, mas tambm o de classificar as substncias determinadas existentes no mundo, que so objecto das cincias particulares e de tomar como objecto de estudo aquela ou aquelas que escapam ao mbito das demais cincias. Ora todas as substncias se dividem em duas classes: as substncias sensveis e em movimento e as substncias no sensveis e imveis. As substncias do primeiro gnero constituem o mundo fsico e por sua vez subdividem-se em duas classes: a substncia sensvel que constitui os corpos celestes e iningendrvel e incorruptvel; as substncias constitudas pelos quatro elementos do mundo sublunar, que so pelo contrrio gerveis e corruptveis. Estas substncias so o objecto da fsica. O outro grupo de substncias, as no sensveis e imveis, objecto de uma cincia diferente, a teologia, qual Aristteles dedicou o livro XII da Metafsica. A existncia de uma substncia imvel demonstrada por Aristteles tanto na Metafsica (XII, 6) como na Fsica (VIII, 10), mediante a necessidade de explicar a continuidade e a eternidade do movimento celeste. O movimento contnuo, uniforme, eterno do primeiro cu, o qual regula os movimentos dos outros cus, igualmente eternos e contnuos deve ter como sua causa um primeiro motor. Mas este primeiro motor no pode ser por sua vez movido pois de outro modo requereria uma causa do seu movimento e esta causa uma outra ainda e assim at ao infinito; portanto, deve ser imvel. Ora o primeiro motor imvel deve ser acto, no potncia. Aquilo que s tem a potncia de mover, pode tambm no mover; mas se o movimento do cu contnuo, o motor deste movimento no s deve ser eternamente activo, mas deve ser pela sua natureza acto, e absolutamente privado de potncia. E pois que a potncia matria, esse 270 acto est tambm privado de matria: acto puro (Met., XII, 6, 1071 b, 22). Este acto puro ou primeiro motor no tem grandeza, portanto no tem partes e indivisvel. Com efeito, uma grandeza finita no poderia mover por um tempo infinito, pois que nenhuma coisa finita tem uma potncia infinita; e uma grandeza infinita no pode subsistir. Mas no tendo matria nem grandeza, a substncia imvel no pode mover como causa eficiente; resta-lhe portanto que mova como causa final, enquanto objecto da vontade e da inteligncia. De facto tudo aquilo que desejvel e inteligvel move sem ser movido e um e outro se identificam no seu princpio, pois que aquilo que se deseja aquilo que a inteligncia julga bom enquanto realmente tal. Na hierarquia das realidades inteligveis, a substncia simples e em acto tem o primeiro lugar; na hierarquia dos bens tem o primeiro lugar aquilo que excelente e desejvel por si mesmo. Graas identidade do inteligvel e do desejvel, o sumo grau do inteligvel, a substncia imvel identifica-se com o sumo grau do desejvel: a substncia pois tambm o grau supremo da excelncia, o sumo bem, Como tal, objecto de amor, move enquanto amada, e as outras coisas so movidas pelo que ela move dessa maneira, isto , pelo primeiro cu (Met., XII, 7, 1072 b, 2). substncia imvel, na medida que a mais elevada de todas, pertence propriamente a que at para os homens a vida mais excelente, mas que s lhes dada por breve tempo: a vida da inteligncia. S a inteligncia divina que no pode ter um objecto diferente de si ou inferior a si prpria. Ela pensa-se a si mesma no lugar do inteligvel: a inteligncia e o inteligvel so em Deus um s. Enquanto que no conhecimento humano frequentemente o ser do pensar distinto do ser
271 do pensado porque este ltimo est ligado matria, no conhecimento divino, como em geral em todo o conhecimento que no se dirige realidade material, o pensar e o pensado identificam-se e fazem um s. "Deus, portanto, se o mais perfeito que h, pensa-se a si prprio e o seu pensamento pensamento do pensamento (Met., X, XII, 9, 1074 b, 34). E pois que a actividade do pensamento o que pode existir de mais excelente e mais doce, a vida divina a mais perfeita de todas, eterna e feliz (1b., 7, 1072 b, 23). Se na ordem dos movimentos, Deus o primeiro motor, na ordem das causas Deus a causa primeira, s quais revertem todas as sries causais, compreendidas as das causas finais (Met., 11, 2). Mesmo no sentido da causa final, Deus o criador da ordem do universo que comparado por Aristteles a uma famlia ou a uni exrcito. "Todas as coisas so ordenadas uma relativamente a outra. mas no todas do mesmo modo: os peixes, as aves, as plantas tm ordem diferente. Todavia nenhuma coisa est relativamente a uma outra como se nada tivesse a fazer com a outra; mas todas so coordenadas a um nico ser. Isto , por exemplo, aquilo que acontece numa casa onde os homens livres no podem fazer aquilo que lhes agrada, mas todas ou pelo menos a maior parte das coisas acontecem segundo uma ordem; enquanto que os escravos e os animais s em pouco contribuem para o bem-estar comum e muito fazem casualmente" (lb., XII, 10. 1075 a, 12). Do mesmo modo, o bem de um exrcito consiste "conjuntamente na sua ordem e no seu comandante, mas especialmente neste ltimo: pois que ele no o resultado da ordem mas antes a ordem depende dele" (1075 a, 13). Assim Deus o criador da ordem do mundo mas no do ser do prprio mundo. A estrutura substancial do universo, para Aristteles como para Plato, est para 272 l dos limites da criao divina: ela insusceptvel de princpio e de fim. Com efeito s a coisa individual, composta de matria e forma, tem nascimento e morte, segundo Aristteles; enquanto que a substncia que forma ou razo de ser ou aquela que matria no nasce nem perece (VIII, 1, 1042 a, 30). O prprio Deus participa desta eternidade da substncia j que ele substncia (XII, 7, 1073 a, 3) a substncia no mesmo sentido em que so tais as outras substncias (Et. Nic., 1, 6, 1096 a, 24). A superioridade de Deus consiste s na perfeio da sua vida, no na sua realidade ou no seu ser, pois que, diz Aristteles, "nenhuma substncia mais ou menos substncia do que uma outra" (Cat., V. 2b, 25). Como Plato, Aristteles politesta. De facto, em primeiro lugar, Deus no a nica substncia imvel. Ele o princpio que explica o movimento do primeiro cu; mas como, alm deste, existem os movimentos igualmente eternos, das outras esferas celestes, a prpria demonstrao que vale para a existncia do primeiro motor imvel vale tambm para a existncia de tantos motores quantos so os movimentos das esferas celestes. Aristteles admite assim numerosas inteligncias motoras, cada uma das quais preside ao movimento de uma determinada esfera e princpio de todo o movimento do universo. Aristteles obtm o nmero de tais inteligncias motrizes do nmero das esferas que os astrnomos do tempo haviam admitido para explicar o movimento dos planetas. Estas esferas eram em nmero superior ao dos planetas, pois que a explicao do movimento aparente dos planetas em volta da terra exigia que cada planeta fosse movido por vrias esferas; e isto com o objectivo de justificar as anomalias que o movimento dos planetas apresenta relativamente a um movimento circular perfeito em torno da terra. Aristteles admitia por
273 consequncia 47 ou 55 esferas celestes e portanto 47 ou 55 inteligncias motoras; a oscilao do nmero devia-se aos diferentes nmeros das esferas celestes admitidos por Eudxio e por Calipo, os dois astrnomos a que Aristteles se referia (Met., XII, 8). Alis Aristteles fala constantemente em "deuses" (Et. Nic., X, 9, 1179 a 24; Met., 1, 2, 983 a, 11; 111. 2. 907 b, 10, etc.); e aludindo crena popular segundo a qual o divino abraa toda a natureza, considera que este ponto essencial, isto "que as substncias primeiras so tradicionalmente consideradas deuses", tem sido "divinamente designado" e um dos ensinamentos preciosos que a tradio salvou (Met., XII, 8, 1074 a, 38), Noutros termos, a substncia divina participou de muitas divindades no que a crena popular e a filosofia coincidem. 79. A SUBSTNCIA FSICA A palavra metafsica, inventada provavelmente por um peripattico anterior a Andrnico, deriva da ordenao dos escritos aristotlicos, na qual os livros de filosofia se colocaram "depois da fsica"; mais expressa tambm o motivo fundamental da "filosofia primeira" de Aristteles, a qual se ocupa da substncia imvel, partindo das aparncias sensveis e est dominada pela preocupao de "salvar os fenmenos". O estudo do mundo natural que para Plato pertence esfera da opinio e no ultrapassa os limites dos "raciocnios provveis" ( 59), para Aristteles ao contrrio uma cincia no pleno e rigoroso significado do termo. Para Aristteles no h na natureza nada to insignificante, to omissivel que no valha a pena ser estudado e no seja fonte de satisfao e de alegria para o investigador. "As substncias interiores-diz ele (Sobre as partes 274 dos animais, 1, 5, 645 a, 1 segs.) -sendo mais e melhor acessveis ao conhecimento, adquirem superioridade sobre as outras no campo cientfico; e como esto mais prximas de ns e mais conformes nossa natureza, a sua cincia acaba por ser equivalente filosofia que estuda as substncias divinas... Com efeito at no caso daquelas menos favorecidas do ponto de vista da aparncia sensvel, a natureza que as produziu d alegrias inefveis queles que, considerando-as cientificamente, sabem compreender as suas causas e so por sua natureza filsofos... Deve-se, alm disso, ter presente que quem discute uma parte qualquer ou elemento da realidade, no considera o seu aspecto material, nem este lhe interessa, antes olha forma na sua totalidade. O que importa a casa, no os tijolos, a cal e as traves: assim, no estudo da natureza, aquilo que interessa a substncia total de um ser determinado e no as suas partes que, separadas das substncias que o constituem, nem sequer existem". Estas palavras, que pode dizer-se traduzem o programa cientfico de Aristteles, encontram a sua justificao na teoria da substncia que o centro da sua metafsica. Esta teoria demonstrou com efeito que cada ser possui, na substncia que o constitui, o princpio ou a causa da sua necessidade. Cada ser tem, portanto, enquanto tal, o seu prprio valor e se se considera nele aquilo que precisamente o faz ser, isto , a forma total ou substncia, digno de considerao e de estudo e pode ser objecto de cincia. Por isso Aristteles adverte na passagem referida que se deve olhar forma e no matria, totalidade em que se actualiza a substncia e no s partes. COnformemente ao programa que as suas ltimas e mais maduras investigaes metafsicas tinham especulativamente justificado, a actividade cientfica de Aristteles
dirige-se cada vez mais para as investigaes particulares. Fixou a sua ateno principalmente no mundo animal, como se deduz dos nmeros, os escritos de histria natural que nos restam; mas pode afirmar-se que nenhum campo da investigao emprica lhe era estranho, pois que preparava ao mesmo tempo a reunio das 158 constituies polticas e se entregava a outras investigaes eruditas, como a compilao do catlogo dos vencedores dos jogos pticos. Mas no possvel ocuparmo-nos de todas as vastas investigaes naturalsticas de Aristteles, que como tais saem do campo da filosofia. Sabemos j que a fsica para ele urna cincia teortica, ao lado da matemtica e da filosofia primeira. O seu objecto o ser em movimento, constitudo pelas duas substncias que so dotadas de movimento, a engendrvel e corruptvel que forma os corpos sublunares e a iningendrvel e incorruptvel que forma os corpos celestes. Segundo Aristteles, o movimento a passagem da potncia ao acto e portanto possui sempre um fim (telos). que a forma ou espcie que ele tende a realizar. Dado que o acto como substncia precede sempre a potncia, cada movimento pressupe j em acto a forma que o seu trmino final. Aristteles admite quatro tipos fundamentais de movimento: 1) o movimento substancial, isto , a gerao e a corrupo; 2) o movimento qualitativo, isto , a mudana ou a alterao-, 3) o movimento quantitativo, isto , o aumento e a diminuio; 4) o movimento local, isto , o movimento propriamente dito. Todavia este ltimo , segundo Aristteles, o movimento fundamental a que todos os outros se reduzem: com efeito o aumento e a diminuio so devidos ao afluxo ou ao afastamento duma certa matria; a mudana, a gerao e a corrupo supe o reunirem-se num dado lugar ou o separar-se de determinados elementos. Por isso s o movimento 276 local, isto , a mudana de lugar, constitui o movimento fundamental que permite distinguir e classificar as vrias substncias fsicas. Ora o movimento local , segundo Aristteles, de trs espcies: 1) movimento circular em torno do centro do inundo; 2) movimento do centro do mundo para o alto, 3) movimento do alto para o centro do mundo. Estes dois ltimos movimentos so reciprocamente opostos e podem pertencer s mesmas substncias, as quais sero sujeitas mudana, gerao e corrupo. Efectivamente, os elementos constitutivos destas substncias, podendo moverem-se quer do alto para o baixo quer do baixo para o alto, provocaro com estes movimentos o nascimento, a mudana e a morte das substncias compostas. O movimento circular, ao invs, no tem contrrios; por isso as substncias que se movem com esta espcie de movimento so imutveis necessariamente e iningendrveis e incorruptveis. Aristteles sustenta que o ter, o elemento que compe os corpos celestes, o nico que se move com movimento circular. Esta opinio de que os corpos celestes so formados por um elemento diferente daqueles que compem o universo e que por isso no esto sujeitos s vicissitudes do nascimento, morte e mudanas das outras coisas, durou longo tempo na cultura ocidental e s foi abandonada no sculo XV por obra de Nicolau de Cusa. Os movimentos do alto para baixo e do baixo para alto so ao contrrio prprios dos quatro elementos que compem as coisas terrestres ou sublunares: gua, ar, terra e fogo. Para explicar O mOviMento destes elementos, Aristteles estabelece a teoria dos lugares naturais. A cada um destes elementos cabe-lhe no universo um lugar natural. Se a parte de um
elemento est afastada do seu lugar natural (o que no pode acontecer seno dum Modo violento, isto , contrrio situao natural 277 do elemento) ela tende a retornar com um movimento natural. Ora os lugares naturais dos quatro elementos so determinados pelo seu respectivo peso. Ao centro do mundo est o elemento mais pesado, a terra; volta da terra, esto as esferas dos outros elementos na ordem do seu peso decrescente: gua, ar e fogo. O fogo constitui a esfera extrema do universo sublunar; acima dela est a primeira esfera etrea ou celeste, a da lua. Aristteles era levado a esta teoria por experincias bastante simples: a pedra imersa na gua afunda-se, isto , tende a situar-se sob a gua; uma bolha de ar aberta na gua vem superfcie, por isso o ar tende a dispor-se ao cimo da gua; o fogo arde sempre para o alto, isto , tende a juntar-se sua esfera que est acima do ar. O universo fsico, que compreende os cus formados pelo ter e o mundo sublunar formado pelos quatro elementos, , segundo Aristteles, perfeito, finito, nico e eterno. A perfeio do mundo demonstrada por Aristteles com argumentos apriorsticos, que no tm qualquer referncia experincia, Invoca a teoria pitagrica sobre a perfeio do nmero 3 e afirma que o mundo, possuindo todas e as trs dimenses possveis (altura, largura e profundidade), perfeito porque no tem falta de nada. Mas se o mundo perfeito, tambm finito. Efectivamente, "infinito" significa, segundo Aristteles, incompleto: infinito aquilo que tem falta de qualquer coisa, portanto aquilo a que pode juntar-se sempre alguma coisa nova. O mundo, ao contrrio, no tem falta de nada: portanto finito. Por outro lado, nenhuma coisa real pode ser infinita, segundo Aristteles. Com efeito, cada coisa existe num espao e cada espao tem um centro, um baixo, um alto e um limite extremo. Mas no infinito no pode existir nem um centro nem um 278 alto nem um baixo nem um limite. Portanto nenhuma realidade fsica realmente infinita. A ordem das estrelas fixas assinala os limites do universo, limites para l dos quais no h espao. Nenhum volume determinado pode ser maior do que o volume desta esfera nenhuma linha pode alongar-se para l do seu dimetro. Daqui deriva que no podem existir outros mundos para l do nosso e no pode existir o vazio. No podem existir outros mundos, pois que toda a matria disponvel deve j estar disposta ab aeterno neste nosso universo que tem por centro a terra e por limite extremo a esfera das estrelas. Dado que cada elemento tende naturalmente para o seu lugar natural, cada parte de terra tende a juntar-se terra que est no centro e cada elemento tende a reunir-se prpria esfera. Deste modo o nosso universo tem de recolher toda a matria possvel e fora dele no h matria: ele nico. Mas fora dele no existe to-pouco o vazio. Os atomistas haviam sustentado que, sem o vazio, no possvel o movimento, pois que pensavam que, se os tomos (que so semelhantes a pedrinhas pequenssimas) fossem impelidos ao mesmo tempo sem intervalos vazios entre um e outro, nenhum tomo se poderia mover. Aristteles, ao contrrio, sustenta que o movimento no vazio no seria possvel. Efectivamente no vazio no haveria nem um centro, nem um alto, nem um baixo-, por consequncia no haveria motivo para um corpo se mover numa direco em lugar de outra e todos os corpos permaneceriam parados. Nesta argumentao, como se v, Aristteles socorre-se continuamente da teoria dos lugares naturais, fundada na classificao dos movimentos. E vai ao ponto de produzir
como argumento contra o vazio aquilo que ns hoje chamaramos o principio da inrcia. No vazio, diz, um corpo ou permanece279 ria em repouso ou continuaria em movimento, enquanto se lhe no opusesse uma fora maior. Este, segundo Aristteles, um argumento contra o vazio; mas na realidade este argumento demonstra apenas que Aristteles considera absurdo o que constitui o primeiro princpio da mecnica moderna, o princpio de inrcia. Veremos que este princpio encontrar reconhecimento na escolstica do sculo XIV e ser formulado depois exactamente por Leonardo. Finalmente, como totalidade perfeita e finita, o mundo eterno. Aristteles define o tempo como "o nmero do movimento, segundo o antes e o depois" (Fis., IV 11, 219 b, 1): entendendo com isto que ele a ordem mensurvel do movimento. Distingue alm disso a durao infinita do tempo, no qual vive tudo o que muda, da eternidade, que a existncia intemporal do imutvel. Mas ao mundo na sua totalidade que atribui verdadeiramente a eternidade neste sentido. Sustenta que o mundo no se gerou nem pode destruir-se e abarca e compreende na sua imobilidade total a infinitude do tempo e tambm todas as mudanas que acontecem no tempo. Consequentemente, Aristteles no nos deixou uma cosmogonia, como fizera Plato no Timeu; e no podia deix-la, dado que, segundo ele, o mundo no nasce. A esta eternidade do mundo conjunta a eternidade de todos os aspectos fundamentais e de todas as formas substanciais do mundo. So por isso eternas as espcies animais e tambm a espcie humana, a qual, segundo Aristteles, pode sofrer vicissitudes vrias na sua histria sobre a terra, mas imperecvel na medida que ingerada. A perfeio do mundo que o pressuposto de toda a fsica aristotlica, implica a estrutura finalstica do prprio mundo: isto , implica, que no mundo todas as coisas tenham um fim. A consi280 derao do fim essencial a toda a fsica aristotlica. Viu-se que para Aristteles o movimento de um corpo no se explica se no admitindo que tende naturalmente a alcanar o seu lugar natural: a terra tende para o centro e os outros elementos tendem cada um para a sua prpria esfera. O lugar natural de um elemento determinado pela ordem perfeita das partes do universo. Atingir esse lugar e ainda manter e garantir a perfeio de tudo, o fim de todo o movimento fsico. J na lei fundamental que explica os movimentos da natureza est presente a considerao do fim. Mas o fim ainda mais evidente no mundo biolgico, isto , nos organismos animais: daqui se explica a preferncia de Aristteles pelas investigaes biolgicas, s quais dedicou grande parte da sua actividade. "A divindade e a natureza-diz Aristteles (De coelo, i, 4, 271 a)-no fazem nada que seja intil". O acaso (autmaton), propriamente falando, no existe. Dizemos que se verificam por acaso os efeitos acidentais de certos acontecimentos que reentram na ordem das coisas. Uma pedra que cai e fere algum, fere-o por acaso porque no caiu com o objectivo de feri-lo, a sua queda cabe no entanto na ordem das coisas. A fortuna (tyche) um espcie de acaso que se verifica na ordem das aces humanas, como, por exemplo, vir ao mercado por um motivo completamente diverso e encontrar l um devedor que restitui a soma devida. A aco deste homem afortunado era feita para um fim mas no para aquele fim: por isso se fala de fortuna (Fis., 11, 5). 80. A ALMA
Uma parte da fsica aquela que estuda a alma. A alma objecto da fsica enquanto forma 281 incorporada na matria; as formas deste gnero so precisamente estudadas pela fsica, enquanto a matemtica estuda as formas abstractas ou separadas da matria. A alma uma substncia que informa e vivifica um determinado corpo. Ela definida como "O acto (entelquia) primeiro de um corpo que tem a vida em potncia" . A alma est para o corpo como o acto da viso est para o rgo da vista: a realizao final da capacidade que prpria de um corpo orgnico. Como todo o instrumento tem uma funo, que o acto ou actividade do instrumento (como, por exemplo, a funo do machado cortar), assim o corpo enquanto instrumento tem como sua funo a de viver e de pensar; e o acto desta funo a alma. Aristteles distingue trs funes fundamentais da alma: a) a funo vegetativa, que a potncia nutritiva e reprodutiva e prpria de todos os seres viventes a comear pelas plantas; b) a funo sensitiva, que compreende a sensibilidade e o movimento e prpria dos animais e do homem; c) a funo intelectiva, que prpria do homem. As funes mais elevadas podem fazer as vezes das funes inferiores, mas no vice-versa; assim no homem a alma intelectiva compreende tambm as funes que nos animais so desempenhadas pela alma sensitiva e nas plantas pela vegetativa. Alm dos cinco sentidos especficos, cada um dos quais fornece sensaes particulares (cores, sons, sabores, etc.). h um sentido comum a que Aristteles atribui uma dupla funo: 1) a de constituir a conscincia da sensao, isto , "o sentir do sentir" que no pode pertencer a nenhum sentido particular; 2) a de perceber as determinaes sensveis comuns a vrios sentidos como o movimento, o repouso, a figura, a grandeza, o nmero e a unidade. A sensao em acto coincide com o objecto sensvel: por exemplo, o ouvir o som e o prprio 282 som coincidem. Em tal sentido pode dizer-se que se no existissem os sentidos, no conheceriam os objectos sensveis (se no tivssemos vista, no conheceramos as cores). No conheceramos em acto: existiriam porm em potncia, porque eles s coincidem com a sensibilidade no acto desta. A imaginao distingue-se dos sentidos. Distingue-se tambm da cincia, que sempre verdadeira, e da opinio que acompanhada pela crena na realidade do objecto, porque tal crena falta na imaginao. A imaginao produzida pela sensao, em acto e as imagens que ela fornece so semelhantes s sensaes; podem pois determinar a aco nos homens ou tambm nos animais quando tm a mente ofuscada pelo sentimento, pelas doenas ou pelo sono. Anloga da sensibilidade a funo do intelecto. A alma intelectiva recebe as imagens como os sentidos recebem as sensaes; o seu objectivo julg-las verdadeiras ou falsas, boas ou ms; e conforme as julga, aprova-as ou desaprova-as, deseja-as ou afasta-as. O intelecto pois a capacidade de julgar as imagens fornecidas pelos sentidos. "Ningum poderia aprender ou compreender nada, se os sentidos nada lhe ensinassem; e tudo quanto se pensa, pensa-se necessariamente com imagens" (De an., 111, 7, 432 a). Todavia, o pensamento no tem nada que ver com a imaginao: o juzo emitido sobre os objectos da imaginao que os declara verdadeiros ou falsos, bons ou maus.
Como o acto de sentir idntico ao objecto inteligvel, isto significa que quando o intelecto compreende, o seu acto se identifica com a prpria verdade, com o objecto percebido, mais precisamente identifica-se com a essncia substancial do prprio objecto (De an., 111, 6, 430 b, 27). Por isso Aristteles afirma: "a cincia em acto idntica ao seu objecto" (lb., 431 a, 1), ou, num sentido 283 mais geral, "a alma , num certo modo, todos os entes"; com efeito os entes so os sensveis ou inteligveis e enquanto a cincia se identifica com os entes inteligveis, a sensao identifica-se com os sensveis (1b., 431 b, 20). Todavia esta identidade j no existe quando se considera, no j o conhecimento em acto, mas em potncia. Aristteles insiste na distino entre intelecto potencial e actual. Este ltimo contm em acto todas as verdades, todos os objectos possveis da inteleco. Ele age sobre o intelecto potencial como a luz que faz passar a acto as cores que na obscuridade esto em potncia: isto , faz passar a acto as verdades que no intelecto potencial esto apenas em potncia. Por isso Aristteles lhe chama intelecto activo e o considera "separado, impassvel, no misturado" (De an., 111, 5). S ele no morre e dura eternamente, enquanto o intelecto passivo ou potencial se corrompe e sem o primeiro no pode pensar em nada. Se o intelecto activo ser do homem, de Deus ou de ambos, em que relaes estar com a sensibilidade, qual seja o significado da separao que Aristteles lhe atribui, so problemas que Aristteles no estuda e que devero ser largamente discutidos na escolstica rabe e crist e no Renascimento. 81. A TICA Cada arte, cada pesquisa ou como cada aco e cada escolha, so feitas com vista a um fim que nos parece bom e desejvel: o fim e o bom coincidem. Os fins das actividades humanas so mltiplos e alguns deles so desejados com vista apenas a fins superiores; por exemplo, desejamos a riqueza, a boa sade, pela satisfao e os prazeres que podem 284 dar. Mas deve haver um fim supremo, um fim que desejado por si prprio, e no j enquanto condio ou meio de um fim ulterior. Se os outros fins so bens, este fim ser o bem supremo, aquele de que dependem todos os outros. No h dvida, segundo Aristteles, que este fim seja a felicidade. A procura e a determinao desse fim o objecto primeiro e fundamental da cincia poltica, porque s no que respeita a ela se pode prescrever aquilo que os homens na sua vida social e como seres individuais, devem fazer ou aprender. Mas em que consiste a felicidade para o homem? Evidentemente s se pode responder a esta pergunta se se determina qual a misso prpria do homem. Cada qual feliz enquanto faz bem a sua misso: o msico quando toca bem, o construtor quando constri objectos perfeitos. Mas a misso prpria do homem enquanto tal no a vida vegetativa que ele tem em comum com as plantas, nem a vida dos sentidos que tem em comum com os animais, mas s a vida da razo. Assim o homem s ser feliz se viver de acordo com a razo; e esta vida a virtude. O estudo sobre a felicidade transforma-se tambm numa indagao sobre a virtude. O prazer est ligado vida que segue a virtude. Com efeito, ela a verdadeira actividade do homem; e toda a actividade acompanhada e coroada pelo prazer (Et. Nic., X 4, 1174 b). Os bens exteriores como a riqueza, o poder ou a beleza, podem, com a sua presena,
facilitar a vida virtuosa ou torn-la mais difcil com a sua ausncia: mas no podem determin-la. A virtude e a maldade s dependem dos homens. Certamente o homem no escolhe o fim, que est nele por natureza, como uma luz que o guia, a julgar rectamente e a escolher o verdadeiro bem (111, 5, 1113 b). Mas a virtude depende precisamente da escolha que se faz dos meios, com vista ao fim supremo. E esta escolha livre porque 285 depende exclusivamente do homem. Com efeito, Aristteles chama livre quele que tem em si o princpio dos seus actos ou "princpio de si prprio" (111, 3, 1112 b, 15-16). O homem verdadeiramente livre neste sentido: enquanto "o princpio e o pai dos seus actos como dos seus filhos"; e quer a virtude quer o vcio so manifestaes desta liberdade (111, 5, 1113 b, 10 segs.). Dado que no homem, alm da parte racional da alma, h a parte apetitiva que, ainda que carecendo de razo, pode ser dominada e dirigida pela razo, assim h duas virtudes fundamentais: a primeira consiste no prprio exerccio da razo e por isso chamada intelectiva ou racional (dianoetica); a outra consiste no domnio da razo sobre os impulsos sensveis, determina os bons costumes (ethos-mos), e por isso se chama virtude moral (tica). A virtude moral consiste na "disposio (hexis, habitatus) de escolher o justo meio (mestes, mediocritas), adequado nossa natureza, tal como determinado pela razo e como poderia determin-lo o sbio". O justo meio exclui os dois extremos viciosos que pecam um por excesso, o outro por defeito. Esta capacidade de escolha uma potncia (dynamis) que se aperfeioa e revigora com o exerccio. Os seus diferentes aspectos constituem as vrias virtudes ticas. A coragem, que o justo meio entre a cobardia e a temeridade, gira em torno do que se deve e do que se no deve temer. A temperana, que o justo meio entre a intemperana e a insensibilidade, diz respeito ao uso moderado dos prazeres. A liberalidade, que o justo meio entre a avareza e a prodigalidade, diz respeito ao uso prudente das riquezas. A magnanimidade, que o justo meio entre a vaidade e a humildade, concerne a recta opinio de si prprio. A benignidade, que o justo meio entre a irascibilidade e a indolncia, concerne ira. 286 A principal entre as virtudes ticas a justia, qual Aristteles dedica um livro inteiro da Etica (Nicom., V = Eudem., IV). No significado mais gemi, isto , como conformidade com as leis, a justia no uma virtude particular, mas a virtude total e perfeita. Efectivamente, o homem que respeita todas as leis o homem completamente virtuoso. Mas, alm deste significado geral, a justia tem um significado especfico e ento ou distributiva ou comutativa. A justia distributiva aquela que preside distribuio das honras ou do dinheiro ou dos outros bens que Msam dividir-se entre aqueles que pertencem mesma comunidade. Tais bens devem ser distribudos segundo os mritos de cada um. Porque a justia distributiva semelhante a uma proporo geomtrica, na qual as recompensas distribudas a duas pessoas se relacionam entre si com os seus mritos respectivos. A justia comutativa, ao contrrio, ocupa-se dos contratos, que podem ser voluntrios ou involuntrios. So contratos voluntrios a compra, a venda, o emprstimo, o depsito, o aluguer, etc. Dos contratos involuntrios alguns so fraudulentos como o furto, o malefcio, a traio, os falsos testemunhos; outros so violentos, como as pancadas, o assassnio, a rapina, a injria etc. A justia comutativa correctiva: procura equilibrar as vantagens e as desvantagens entre os dois contratantes. Nos contratos involuntrios, a pena infligida ao ru deve ser proporcionada com o dano por ele provocado. Esta justia pois semelhante a uma proporo aritmtica (igualdade pura e simples).
O direito funda-se sobre a justia. Aristteles distingue o direito privado do direito pblico, que concerne vida social dos homens no estado, e divide o direito pblico em direito legtimo (ou positivo), que aquele estabelecido nos vrios estados, e o direito natural que conserva o seu valor 287 em qualquer lugar, mesmo que no esteja sancionado pelas leis. Distingue do direito a equidade, que uma correco da lei mediante o direito natural, necessria pelo facto de que nem sempre, na formulao das leis, possvel determinar todos os casos, pelo que a sua aplicao resultaria s vezes injusta. A virtude intelectiva ou dianotica a que prpria da alma racional. Ela compreende a cincia, a arte, a prudncia, a sabedoria, a inteligncia. A cincia a capacidade demonstrativa (apoditica) que tem por objecto aquilo que no pode acontecer diferentemente do modo que sucede, isto , o necessrio e o eterno. A arte (techne) a capacidade, acompanhada de razo, de produzir um objecto qualquer; ela concerne portanto produo (poiesis) que tem sempre um fim fora de si, no aco (praxis). A prudncia (frnesis) a capacidade unida razo de agir convenientemente frente aos bens humanos; cabe-lhe determinar o justo meio em que consistem as virtudes morais. A inteligncia (nous) a capacidade de compreender os primeiros princpios de todas as cincias, primeiros princpios que, precisamente como tais, no caem no mbito das prprias cincias. A sabedoria (sofia) o grau mais alto da cincia: o sage aquele que possui ao mesmo tempo cincia e inteligncia, que sabe no s deduzir aos princpios, mas julgar da verdade dos mesmos princpios. Enquanto a prudncia concerne s coisas humanas e consiste no juzo sobre a sua convenincia, oportunidade e utilidade, a sabedoria refere-se s coisas mais altas e universais. A prudncia sempre prudncia humana e no tem valor para seres diferentes ou superiores ao homem; a sabedoria universal. Por isso absurdo sustentar que a prudncia e a cincia poltica coincidem com a cincia suprema, pelo menos enquanto no se demonstre que o homem 288 o ser supremo do universo. Anaxgoras, Tales e outros homens do mesmo tipo eram chamados sages; no prudentes; porque conheciam muitas coisas maravilhosas, difceis e divinas, mas inteis aos homens, e se desinteressavam dos bens humanos (Et. Nic., VI, 7, 1141 a). Este contraste entre sabedoria (sofia) e prudncia (frnesis) o reflexo no campo da tica da atitude filosfica fundamental de Aristteles. Como teoria da substncia, a filosofia uma cincia que no tem nada a ver com a dos valores propriamente humanos; por isso a sabedoria, que consiste na plena posse desta cincia nos seus princpios e nas concluses, no tem nada que ver com a prudncia que o guia da conduta humana. A sabedoria te... por objecto o necessrio que, como tal, nada tem a ver com o homem na medida em que no pode ser modificado por ele: frente ao necessrio, possvel uma nica atitude, a da pura contemplao (teoria). amizade dedica Aristteles os livros VIII e IX da tica Nicomaqueia. Ela uma virtude ou pelo menos est estreitamente unida virtude: em todo o caso a coisa mais necessria vida. "Ningum - diz ele - escolheria viver sem amigos, ainda que estivesse provido em abundncia de todos os outros bens". A amizade pode fundar-se sobre o prazer recproco ou sobre o til ou sobre o bem. Mas a fundada sobre o til ou sobre o prazer recproco acidental e cai subitamente quando cessa o prazer ou o til. Ao contrrio a amizade que se funda sobre o bem e sobre a virtude verdadeiramente perfeita porque a sua raiz est na prpria natureza das pessoas que a contraem e portanto estvel e firme. "O homem
virtuoso - diz Aristteles - comporta-se para com o amigo como se comporta consigo mesmo, porque o amigo um outro ele: decorre da que, como a cada um a exis289 tncia prpria desejvel, assim desejvel a do amigo" (Et. Nic. IX, 9, 1170 b, 5). Dado que a virtude como actividade prpria do homem a prpria felicidade, a felicidade mais alta consistir na virtude mais alta e a virtude mais alta a teortica, que culmina na sabedoria. Com efeito a inteligncia a actividade mais elevada que existe em ns; e o objecto da inteligncia aquele que existe mais alto em ns e fora de ns. O sage basta-se a si mesmo e no tem necessidade, para cultivar e alargar a sua sabedoria, de nada que no tenha em si mesmo. A vida do sbio feita de serenidade e de paz, pois que no se afadiga por um fim exterior cujo alcance problemtico, mas o fim est na prpria actividade da sua inteligncia. A vida teortica portanto uma vida superior humana: o homem no a vive enquanto homem, mas enquanto tem em si qualquer coisa de divino. "O homem no deve, como dizem alguns, conhecer enquanto homem as coisas humanas, enquanto mortal as coisas mortais, mas deve tornar-se, na medida do possvel, imortal e fazer tudo para viver segundo tudo quanto existe nele de mais elevado: e ainda que isto seja pouco em quantidade, em potncia e valor supera todas as outras coisas" (Et. Nic., X, 7, 1177 b). Assim a tica de Aristteles encerra-se com a afirmao incisiva da superioridade da vida teortica. Este um ponto em que o afastamento polmico entre Aristteles e Plato mais acentuado. Plato no distinguia a sabedoria da prudncia: com as duas palavras entendia a mesma coisa, isto , a conduta racional da vida humana, especialmente da vida social (Rep. 428 b; 433 e). Aristteles distingue e contrape as duas coisas. A prudncia tem por objecto os assuntos humanos que so mutveis e no podem ser includos entre as coisas muito elevadas; a sabedoria tem por objecto o ser necess290 rio. que se liberta de todos os acontecimentos (Et. Nic., VI, 7, 1041 b. 11). Amim a distncia que existe entre prudncia e sabedoria a mesma que ocorre entre o homem e o Deus. O que quer dizer que, para Aristteles, a filosofia tem como objecto fundamental o de levar o homem individual vida teortica, pura contemplao do que necessrio; enquanto para Plato tem o objectivo de levar os homens a uma vida em comum, fundada na justia. 82. A POLTICA Todavia, tambm segundo Aristteles, a virtude no realizvel fora da vida social. A origem da vida social est em que o indivduo no se basta a si prprio: no s no sentido de que no pode por si s prover s suas necessidades, mas tambm no sentido de que no pode por si, isto , fora da disciplina imposta pelas leis e pela educao, alcanar a virtude. Por consequncia, o estado uma comunidade que no tem em vista apenas a existncia humana, mas a existncia materialmente e espiritualmente feliz; e este motivo pelo qual nenhuma comunidade poltica no pode ser constituda por escravos ou por animais, os quais no podem participar da felicidade ou de uma vida livremente escolhida (Pol., 111, 9, 1280 a). E a este propsito Aristteles sustenta que h indivduos escravos por natureza enquanto incapazes das virtudes mais elevadas e que a distino entre escravo e livre to natural como a que existe entre macho e fmea e jovem e velho (lb., L, 13, 1p60 a). Entre os que, como Plato, se limitam a delinear um tipo de estado ideal dificilmente realizvel e aqueles que, por outro lado, vo em busca de um esquema prtico de
constituio e o descobrem em qualquer das constituies j existentes, 291 o problema fundamental o de encontrar a constituio mais adaptada a todas as cidades: " necessrio ter em mente um governo no s perfeito, mas tambm realizvel e que possa adaptar-se facilmente a todos os povos" (Pal., IV, 1, 1288 b). necessrio portanto propor uma constituio que tenha a sua base nas existentes e vise realizar nela correces e mudanas que a aproximem da perfeita. Por isso a Poltica de Aristteles culmina na teoria da melhor constituio exposta nos dois ltimos livros; mas a esta teoria chega ele mediante a considerao crtica das vrias constituies existentes e dos problemas a que do origem. Viu-se que Aristteles recolheu umas 158 constituies estatais, das quais, no entanto, s uma, a de Atenas, foi encontrada. Evidentemente, deve -ter-se servido deste material para as observaes que veio fazendo sobretudo nos livros IV, V, VI, da sua obra, que aparecem compostos mais tarde. Como Plato, Aristteles distingue trs tipos fundamentais de constituies: a monarquia ou governo de um s ; a aristocracia ou governo dos melhores; a democracia ou governo da multido. Esta ltima chama-se poltica, isto , constituio por antonomsia, quando a multido governa para o bem de todos. A estes trs tipos correspondem outras tantas degeneraes quando o governo descuida o bom comum em favor do bem prprio. Com efeito a tirania uma monarquia que tem por fim o bem do monarca, a oligarquia tem por fim o bem dos possidentes, a democracia o bem dos pobres: nenhuma visa a utilidade comum. Na realidade, pois, cada tipo de constituio pode tomar caracteres distintos. No existe uma s monarquia e uma s oligarquia, mas estes tipos diversificam-se segundo as instituies nas quais se realizam. Existem tambm distintas espcies de democracia segundo o governo se funda na igual292 dade absoluta dos cidados ou se reserve a cidado dotados de requisitos especiais. A prpria democracia transforma-se numa espcie de tirania quando em detrimento das leis prevalece o arbtrio da multido. O melhor governo aquele em que prevalece a classe mdia, isto , o dos cidados possuidores de uma fortuna modesta. Este tipo de governo o mais afastado dos excessos que se verificam quando o poder cai nas mos dos que nada possuem ou daqueles que possuem demasiado. Ao delinear a constituio melhor, em conformidade como o princpio de que todo o tipo de governo bom, enquanto se adapte natureza do homem e s condies histricas, Aristteles no se limita a descrever um governo ideal, mas determina as condies pelas quais um tipo qualquer de governo pode alcanar a sua forma melhor. A primeira e fundamental condio que a constituio do estado seja tal que proveja prosperidade material e vida virtuosa e feliz dos cidados. A este propsito tm-se presentes as concluses da tica, isto , que a vida activa no a nica vida Possvel para o homem e nem to-pouco a mais alta e que ao lado dela e acima dela est a vida teortica. Outras condies referem-se ao nmero dos cidados que no deve ser nem demasiado elevado nem demasiado baixo, e s condies geogrficas. isto , ao territrio do estado. Depois importante a considerao da ndole dos cidados que deve ser corajosa e inteligente como a dos Gregos. que so os mais aptos a viver em liberdade e a dominar os outros povos. Tambm necessrio que na cidade todas as funes estejam bem distribudas e que se formem as trs classes fundamentais, segundo o projecto de Plato, do qual Aristteles exclui, no entanto, a comunidade da propriedade e das mulheres. necessrio alm disso 293 os ancios, que no estado mandem, pois que ningum se resigna sem amargura s
condies da obedincia se esta no devida idade e se no sabe que alcanar, com a idade, a condio superior. Finalmente, o estado deve preocupar-se com a educao dos cidados que deve ser uniforme para todos e dirigida no s a adestrar para a guerra mas a preparar para a vida pacfica, para as funes necessrias e teis e acima de tudo para as aces virtuosas. 83. A RETRICA Entre as artes que so necessrias vida social est a retrica. A retrica afim da dialctica: como a dialctica, no tem um objecto especfico porque concerne a todo o tipo e espcie de objecto e todavia prpria de todos os homens porque todos "se ocupam a indagar sobre qualquer tese e a sust-la, a defender-se e a acusar" (Ret., 1, 1, 1354 a). A funo da retrica no a de persuadir mas de mostrar os meios que so aptos a introduzir persuaso. A retrica procura descobrir quais so estes meios relativamente a qualquer argumento dado: neste sentido no constitui a tcnica prpria de um campo especifico. O objecto da retrica o "verosmil", isto , o que acontece o mais das vezes (enquanto o objecto da cincia o necessrio, que acontece sempre): o mais, das vezes o anlogo do necessrio nas disciplinas cujo objecto privado de necessidade (lb., 1, 2, 1357 a). Dado que todo o discurso dirigido a um auditrio que o fim do prprio discurso e o auditrio pode ser ou um simples auditor ou um juiz que deve pronunciar-se sobre coisas passadas ou futuras, h trs gneros de retrica: a delibe294 rativa, a judicial e a demonstrativa. A retrica deliberativa a que se volta para coisas futuras e deve persuadir ou dissuadir, demonstrando que qualquer coisa til Ou Perniciosa. A retrica judicativa refere-se a factos ocorridos no passado e o seu objectivo acusar ou defender, persuadindo que tais factos so justos ou injustos. Finalmente, a retrica demonstrativa refere-se a coisas presentes e o seu objectivo louv-las ou conden-las como verdadeiras ou falsas, boas ou ms. 84. A POTICA A poesia, e em geral a arte, definida por Aristteles como imitao. Mas a imitao pode ser feita com meios diferentes e por modos diferentes e dirigir-se a objectos diferentes. Com efeito, pode-se imitar por meio de cores ou de formas como acontece na pintura, ou por meio da voz como ocorre na poesia, ou por meio do som na msica. Relativamente ao objecto podem imitar-se ou pessoas superiores ao comum dos homens, como acontece na epopeia e na tragdia, ou pessoas comuns ou inferiores ao comum, como acontece na comdia. Relativamente aos modos da imitao, pode-se imitar narrativamente ou dramaticamente: neste ltimo caso, introduzem-se as diferentes pessoas a agir e a falar directamente, como acontece na tragdia e na comdia. Alm destas determinaes gerais do conceito da imitao, a Potica de Aristteles na parte que chegou at ns no contm mais que a teoria da tragdia. Esta define-se como "imitao de uma aco grave e completa em si mesma, que tenha uma certa amplitude, uma linguagem adornada em proporo diferente conforme as diferentes partes; e desenrola-se atravs de personagens que actuam 295
em cena, no que narrem; e produza finalmente' mediante casos de piedade e de terror, a purificao de tais paixes" (Poet., 6, 1449 b). Aristteles detm-se especialmente a ilustrar a unidade da aco trgica. Esta deve desenrolar-se com continuidade do princpio ao fim de modo tal que todos os acontecimentos se encadeiem e no seja possvel suprimi-los ou mud-los de lugar, sem mudar e desorganizar a ordem do conjunto. Por isso o objecto da tragdia mais que o verdadeiro o verosmil, aquilo que pode verificar-se "segundo verosimilhana e necessidade". Por isso, tambm, ca poesia mais filosfica e mais elevada que a histria: a poesia exprime principalmente o universal, a histria o particular (1b., 9, 1451 b). Efectivamente a histria narra tudo aquilo que aconteceu a uma dada personagem ou num dado perodo, segundo a pura e simples sucesso dos acontecimentos; a poesia imita somente o verosmil, o qual como se disse ( 83) aquilo que acontece mais geralmente e portanto o anlogo da universalidade (ou da necessidade) prpria dos objectos da cincia. Se Plato sustenta que a aco dramtica, interessando os espectadores nas paixes violentas agitadas em cena, encoraja neles tais paixes, Aristteles cr pelo contrrio que a tragdia exerce uma funo purificadora e liberta a alma do espectador das paixes que a tragdia representa. Aristteles reconhece o mesmo efeito na msica. "Alguns daqueles que so dominados pela piedade, pelo temor ou pelo entusiasmo, quando ouvem cantos orgiticos como os religiosos, acalmam-se como por efeito duma medicina e de uma catarsis. Por isso necessrio que se submetam a tal aco aqueles que se vem sujeitos piedade, ao temor e em geral s paixes, de modo conveniente a cada um, a fim de que se gere em todos uma 296 um alivio aprazvel" (Pol., VIII, 7, ris teles v assim na arte e em particular na poesia e na msica um meio potente de educao, e no carcter imitativo da arte j no v como Plato motivo para consider-la ilusria. O mundo sensvel, que a arte imita, no para Aristteles simples aparncia, mas realidade que pode ser objecto de cincia; tambm a imitao dela atravs da arte perde portanto o carcter de aparncia ilusria. Aristteles pode assim reconhecer arte aquela funo catrtica que lhe d valor educativo e formativo nos confrontos do homem. Sobre a catarsis, faltam na Potica elementos explcitos que consintam compreender a sua natureza. Intrpretes antigos viram nela um tratamento mdico das paixes, uma cura que combate, o semelhante com o semelhante. E no claro se a catarsis se entende como purificao pelas paixes ou antes como purificao das paixes. Todavia se se considera que a catarsis est ligada ao valor propriamente artstico da tragdia ou da msica, pode-se excluir que ela seja, para Aristteles, apenas uma medicina das paixes. catarsis est ligado um momento mais alto da vida espiritual, um momento no qual a paixo no est excluda, mas purificada ou exaltada. E efectivamente enquanto a paixo se dirige unicamente ao objecto (coisa ou pessoa) que liga ao homem com o amor ou com o dio, com o temor ou com a esperana, a arte, apresentando a paixo realizada num complexo ordenado de acontecimentos (como ocorre na tragdia) ou de sons expressivos (como na msica), afasta o homem do objecto da paixo para interess-lo na paixo em si mesma, naquilo que ela , na sua substncia. A paixo tem como seu telos a obteno do seu objecto, a arte tem como seu telos a paixo na sua realidade representada. Aristteles inclui isto 297 na sua teoria da catrsis. A arte liberta a paixo do seu trmino natural porque a faz volver prpria paixo, sua substncia realizada na arte.
85. A LGICA A organizao do saber num sistema de cincias, cada uma das quais se constitui com relativa independncia das outras, colocava a Aristteles o problema da forma geral da cincia. Aristteles 72) dividia a cincia em trs grandes grupos: cincias tericas, fsica, matemtica e filosofia, que tm por objecto o ser em alguns dos seus aspectos especiais ou o ser em geral (Met., X1, 7, 1064 b); cincias prticas ou normativas, das quais a principal a poltica, que tm por objecto a aco; cincias poiticas que regulam a produo dos objectos. evidente que estas trs espcies de cincias, na medida em que so todas igualmente cincias, tm em comum a forma, isto , a natureza do seu procedimento. Considerando parte tal forma. mediante a abstraco de que cada uma das cincias se serve para isolar o seu objecto, obtm-se uma disciplina que descreve o procedimento comum de todas as cincias enquanto tais; e tal disciplina a lgica, que Aristteles chama analtica e que ele foi o primeiro a conceber e fundar como uma disciplina em si, utilizando e sistematizando as observaes e os resultados dos seus predecessores e especialmente de Plato. Mas, evidentemente, o valor de uma lgica assim entendida depende da legitimidade de distinguir a forma geral das cincias do seu contedo, isto , do objecto particular de cada uma delas: isto depende da legitimidade da abstraco mediante a qual cada cincia singular, incluindo a filosofia, consegue determinar o seu objecto. Por sua vez a legitimi298 dade de abstraco funda-se na teoria da substncia. em efeito, considerar a forma separadamente de cada contedo particular, s procedimento legtimo se a forma , ao mesmo tempo, a substncia, isto , a essncia necessria daquilo que se considera. Se a forma no tivesse a validade que lhe vem do ser e no fosse ela s a substncia daquilo de que forma, o consider-la parte atravs da abstraco seria uma falsificao. A abstraco justifica-se portanto apenas como considerao da essncia de uma coisa separada das suas particularidades contingentes. A lgica, como procedimento analtico, isto , resolutivo da forma do pensamento como tal, est portanto fundada sobre a metafsica como teoria da substncia e sustm-se e cai com ela. Num passo da Metafsica (IV, 3, 1005 b, 6) em que Aristteles parece considerar a lgica como a tcnica indispensvel da investigao, ele tem o cuidado de acrescentar que a considerao dos princpios silogsticos diz respeito ao filsofo e a quem especula sobre a natureza de qualquer substncia. A lgica assim reconduzida por ele prprio ao seu pressuposto indispensvel: a teoria da substncia. Por outro lado, esta teoria o fundamento da verdade de todo o conhecimento intelectual. A forma ao mesmo tempo ratio essendi e ratio cognoscendi do ser: Como ratio essendi substncia, como ratio cognoscendi conceito ou definio. Ela garante pois a correspondncia entre o conceito e a substncia e assim a verdade do conhecimento e a racionalidade do ser. Por isso Aristteles pode dizer que o ser e a verdade esto numa relao recproca: que, por exemplo, se o homem , a afirmao que o homem , verdadeira; e reciprocamente se verdadeira a afirmao de que , o homem . Mas Aristteles acrescenta que nesta relao o fundamento o ser e que o ser no 299 tal porque a afirmao que o concerne verdadeira, mas a afirmao verdadeira porque o ser tal como ela o expressa (Cat.. 12, 14 b, 21). Noutros termos, a verdade do conceito funda-se na substncia e no vice-versa: a metafsica (ou em geral a cincia) precede e fundamenta a lgica.
No pode pois sustentar-se que Aristteles tenha querido fundar a lgica como cincia "formal", no sentido mo-demo do termo, isto , como cincia sem objecto ou sem contedo, constituda unicamente por proposies tautolgicas. A lgica tem um objecto, segundo Aristteles, e este objecto a estrutura da cincia em geral que tambm a prpria estrutura do ser que objecto da cincia. Nesta base, Aristteles afirma que a lgica deve analisar a linguagem apofntica ou declarativa que caracterstica das cincias teorticas, na qual tm lugar as determinaes; de verdadeiro e falso se a unio ou separao dos termos (em que consiste uma proposio) reproduz ou no a unio ou a separao das coisas. Aristteles no nega que existam discursos no apofnticos, por exemplo a orao splica. Mas privilegiando o discurso apofntico, faz dele a verdadeira linguagem, aquela sobre a qual as outras mais ou menos se modelam ou do ponto de vista da qual devem ser julgadas. Efectivamente a potica e a retrica que se ocupam de linguagens no apofnticas so tratadas por Aristteles parte e subordinadamente analtica. A linguagem apofntica no tem nada de convencional. Segundo Aristteles, as palavras da linguagem so convencionais: tanto assim verdade que so diferentes duma lngua para outra. Mas elas referem-se a "afeces da alma que so as mesmas para todos e constituem imagens dos objectos que so os mesmos para todos" (De inierpr., 1, 16 a, 3). A combinao das palavras comandada por isso, atravs da imagem mental, 300 pela combinao efectiva das coisas que lhes correspondem: assim.. por exemplo, s se podem combinar as palavras "homem" e "corre" na proposio "o homem corre" se na realidade o homem corre. Pode dizer-se portanto que a linguagem para Aristteles convencional no seu dicionrio, no na sua sintaxe: a lgica deve voltar-se portanto para esta sintaxe para analisar a estrutura fundamental do conhecimento cientfico e do ser. As partes do Organon aristotlico, na ordem em que chegarem at ns, tratam de objectos que vo do simples ao complexo, comeando pelos mais simples, isto , pelos elementos. Tais elementos so considerados e classificados nas Categorias. "Categorias" significa predicados; mas na realidade Aristteles trata no livro em questo de todos os termos que "no entram em nenhuma combinao", porque so considerados isoladamente como "homem", "branco", "corre", "vence", etc. Dos termos assim compreendidos, no se pode dizer nem que so verdadeiros nem que so falsos, pois verdadeira ou falsa apenas uma combinao qualquer dos termos, por exemplo, "o homem corre". Aristteles classifica-os em dez categorias 1) a substncia, por exemplo, homem; 2) a quantidade, por exemplo, de dois cvados-, 3) a qualidade, por exemplo, branco, 4) a relao, por exemplo, maior; 5) o lugar, por exemplo, no liceu; 6) o tempo, por exemplo, o ano passado; 7) a situao, por exemplo, est sentado; 8) o ter, por exemplo, tem os sapatos; 9) o agir, por exemplo, queima; 10) o sofrer, por exemplo, queimado. obviamente, dado o assentamento geral da lgica aristotlica, a classificao das categorias no visa s os termos elementares da linguagem mas tambm as coisas a que se referem: mais, visa os primeiros s porque, antes de mais, considera estes ltimos. Conformemente direco da sua metafsica, Aris301 tteles considera como categoria fundamental a substncia. Um dos pontos mais famosos do escrito a distino entre substncias primeiras e substncias segundas. A substncia primeira a substncia no sentido prprio que no pode nunca ser usada como predicado de um sujeito e nunca pode existir num outro sujeito: por exemplo, este homem ou aquele cavalo. As substncias segundas so ao contrrio as espcies e os gneros: por exemplo a
espcie homem, a que cada homem determinado pertence, e o gnero animal a que pertence a espcie homem juntamente com as outras espcies. Porquanto considere de algum modo justificado chamar substncias s espcies e aos gneros que servem para definir as substncias primeiras, Aristteles repara que s as substncias primeiras "so substncias no sentido mais preciso, na medida em que esto na base de todos os outros objectos" (2 a, 37). No livro Sobre a interpretao, Aristteles examina as combinaes dos termos que se chamam enunciados declarativos (logoi apophantikoi) ou proposies (protaseis), isto , as frases que constituem asseres e no j splicas, ordens, exortaes, etc. A assero pode ser afirmativa ou negativa segundo "atribui alguma coisa a alguma coisa" ou "separa alguma coisa de alguma coisa". Por outro lado pode ser universal ou singular: universal quando o sujeito universal (entendendo-se por universal "aquilo que por natureza se predica de vrias coisas", por exemplo: homem; singular quando o sujeito um ente singular, por exemplo Callia. Mas um mesmo termo universal pode ser tomado numa proposio quer na sua universalidade, como quando se afirma "todo o homem branco", quer na sua particularidade, como quando se afirma "alguns homens so brancos". Aristteles preocupa-se em estabelecer a relao entre a proposio universal 302 e a proposio particular, cada uma das quais pode por sua vez ser afirmativa ou negativa. Estas relaes resultam do esquema seguinte: universal afirmativa (A) todo o homem branco; Universal negativa (E) <Nenhum homem branco> Particular afirmativa (i) <Alguns homens so brancos; Particular negativa (O) <Alguns homens no so brancos> (por uma questo de apresentao grfica, o esquema no est igual ao do original) O esquema foi construdo desta maneira (que reflecte exactamente a doutrina aristotlica) pelos Lgicos medievais que lhe chamaram "quadrado dos opostos" e que indicaram as vrias espcies de proposies com as letras maisculas que foram usadas. Como resulta da, Aristteles chamou contrria a oposio entre a proposio universal afirmativa e a particular negativa e contraditria a oposio entre a universal afirmativa e a universal negativa. A relao entre a particular afirmativa e a particular negativa foi chamada pelos Lgicos medievais oposio subcontrria. Trata-se de uma oposio para a qual, segundo Aristteles, no vlido o princpio da contradio. Com efeito, nas duas proposies "alguns homens so brancos", "alguns homens no so brancos", podem ser ambas verdadeiras. Pelo contrrio, para as proposies que esto entre si em oposio contrria e contraditria, o princpio de contradio rigorosamente vlido. Uma delas tem de ser falsa e a outra tem de ser verdadeira. Esta segunda existncia (isto , que uma delas deve ser verdadeira) a expressa pelo princpio que muito mais tarde se chamou do "terceiro excludo" e que Aristteles, embora sem distingui-lo do princpio da contradio, expressao e defende-o vrias vezes (Met., IV, 7. 1011 b, 23; X, 7, 1057 a, 33), afirmando que "entre os opostos contraditrios no h um 303 meio". Todavia Aristteles considera uma dificuldade que pode surgir do uso deste Princpio quanto aos acontecimentos futuros. Se se afirma "amanh -haver uma batalha naval" e "amanh no haver uma batalha naval", destas duas proposies contraditrias uma deve ser necessariamente verdadeira. Mas se uma delas necessariamente verdadeira, por exemplo, aquela que afirma "amanh no haver uma batalha naval", isto quer dizer que necessariamente amanh no haver uma batalha naval; verdadeiramente porque necessariamente verdadeiro que "amanh no haver uma batalha naval". Em tal
caso do uso do princpio do terceiro excludo, referido aos acontecimentos futuros, surgiria a tese da necessidade de todos os acontecimentos, mesmo daqueles que so devidos escolha do homem. Aristteles no afirma que estas consequncias sejam legtimas e que todos os acontecimentos aconteam por necessidade. Uma das duas coisas expressas por uma proposio contraditria necessariamente se verificar no futuro, mas esta necessidade no assume qual das duas coisas que se verificar. Noutros termos, no necessrio, atendo-se ao princpio do terceiro excludo, nem que amanh haja nem que amanh no haja uma batalha naval, qualquer que seja a alternativa que se verificar amanh. Mas necessrio que amanh acontea ou no acontea uma batalha naval. Noutros termos, a necessidade consiste na impossibilidade de sair da alternativa de uma contradio, no no verificar-se duma ou doutra destas alternativas (19-a, 32). Aristteles no nota que, se a alternativa necessria, ela no pode ser seno alternativa, isto , no pode decidir-se nem num sentido nem no outro: pelo que seria necessria precisamente a sua indeterminao; e amanh no poder nem haver nem no haver uma batalha naval. Como quer que seja, a soluo de 304 Aristteles e toda a discusso do caso mostram claramente o primado que ele atribui a uma das duas modalidades fundamentais das proposies, isto , precisamente necessidade. A outra modalidade de que fala e que tambm permaneceu tradicional na lgica a da possibilidade. Mas a prpria possibilidade definida por Aristteles como no-impossibilidade, isto , como simples negao da necessidade negativa ("impossibilidade" significa de facto "necessidade que no seja"). E s na base desta definio do possvel, ele pode afirmar que tambm o necessrio possvel porque aquilo que necessariamente, no deve ser impossvel. Mas a reduo do possvel a "no impossvel" demonstra como tem andado completamente esquecido, na lgica de Aristteles, o significado da possibilidade que Plato tinha esclarecido como fundamento da dialctica ( 56). Os Primeiros Analticos contm a teoria aristotlica do raciocnio. O raciocnio tpico , segundo Aristteles, o dedutivo ou silogismo: definido como "um discurso em que, postas tais coisas, outras se derivam delas necessariamente" (24 b, 18). As caractersticas fundamentais do silogismo aristotlico so: 1) o seu carcter mediato; 2) a sua necessidade. O carcter mediato do silogismo depende do facto de que silogismo a contrapartida lgico-lingustica do conceito de substncia. Em virtude disto, a relao entre duas determinaes de uma coisa s se pode estabelecer na base daquilo que a coisa necessariamente, isto , da sua substncia, por exemplo, se se quer decidir se o homem mortal, apenas se pode encarar a substncia do homem (aquilo que o homem no pode no ser) e raciocinar assim: todo o homem animal, todo o animal mortal, portanto todo o homem mortal. A determinao "animal", necessariamente includa na substncia "homem", permite concluir da mor305 talidade do prprio homem. Neste sentido diz-se que a noo "animal" fez de termo mdio do silogismo: ela representa no silogismo a substncia, ou a causa ou a razo, e que s ela torna possvel a concluso (94 a, 20): o homem mortal porque, e s porque, animal. O silogismo tem portanto trs termos: o sujeito e o predicado da concluso e o termo mdio. Mas a f uno do termo mdio que determina a figura (schemata) do silogismo. Na primeira figura, o termo mdio faz de predicado na primeira premissa e de sujeito na outra, como no silogismo agora citado. Na segunda figura, o termo mdio faz de predicado em ambas as premissas (por exemplo, "Nenhuma pedra animal, todo o homem animal, logo nenhum homem pedra"). Nesta figura, uma das premissas e a concluso so
negativas. Na terceira figura o termo mdio faz de sujeito em ambas as premissas (por exemplo, "Todo o homem substncia, todo o homem animal, logo alguns animais so substncias"). Nesta figura a concluso sempre particular. Cada uma das trs figuras se divide depois numa variedade de modos, segundo as premissas so universais ou particulares, afirmativas ou negativas. Aristteles levou at a um certo ponto esta casustica dos modos silogsticos que na lgica medieval devia encontrar o seu fecho, mesmo em relao aos desenvolvimentos que a prpria lgica sofreu na antiguidade por obra dos Aristotlicos e dos Estoicos. O silogismo por definio deduo necessria: por isso a sua forma primria e privilegiada o silogismo necessrio, que Aristteles chama tambm demonstrativo ou cientfico. Dos silogismos necessrios, a primeira e melhor espcie a dos silogismos ostensivos que Aristteles contrape aos que partem de uma hiptese. Estes ltiMos no so aqueles que se chamaro em seguida "hipotticos" (nos quais a premissa maior 4 cons306 tituda por uma condicional). mas aqueles cuja Premissa maior no a concluso de um Outro silogismo nem evidente por si, mas tomada por via de hiptese. Um de tais silogismos aquele que opera a reduo ao absurdo. Entre os silogismos ostensivos mais perfeitos esto os silogismos universais da primeira figura, aos quais possvel reconduzir todas as outras formas do silogismo. Finalmente, do silogismo dedutivo distingue-se o silogismo indutivo ou induo, que a outra das duas vias fundamentais atravs das quais o homem alcana as prprias crenas (68 b, 13). A induo, segundo Aristteles, uma deduo que, em vez de deduzir um termo do outro mediante o termo mdio (por exemplo, a mortalidade do homem mediante o conceito de animal), como faz o silogismo verdadeiro e legtimo, deduz o termo mdio de um extremo, valendo-se do outro extremo. Por exemplo, depois de ter verificado que o homem, cavalo e o macho (1.O termo) so animais sem blis (termo mdio) e que o homem, o cavalo e o macho so de longa vida (2.O termo) deduz que todos os animais sem blis so de longa vida: na qual concluso compara o termo mdio e um extremo. O "ser sem blis" , neste caso, o termo mdio, porque a razo ou a causa pela qual o homem, o cavalo e o macho so de longa vida. A induo vlida apenas se se esgotar em todos os casos possveis; se, no exemplo em exame, o homem, o cavalo e o macho so todos animais sem blis. Por isso, de uso limitado e no pode suplantar o silogismo dedutivo, semo se para o homem um procedimento mais fcil e claro (68 b, 15 segs.). Aristteles sustenta por isso que pode ser usado no na cincia, mas na dialctica e na oratria, isto , como instrumento de exerccio ou de persuaso (Ret., 1, 2, 1356 b, 13). 307 Nos Segundos Analticos, Aristteles examina as premissas do silogismo e o fundamento da sua validade. Aristteles parte do princpio de que toda a doutrina ou disciplina deriva de um conhecimento preexistente" (71 a, 1). Para que o silogismo conclua necessariamente, as premissas de que deriva devem por sua vez ser necessrias. E para ser tais, devem ser, em si prprias, princpios verdadeiros, absolutamente primeiros e imediatos; e, no que respeita concluso, mais cognoscveis, anteriores concluso e causa dela (71 b, 19). "Imediatos" significa que so indemonstrveis, embora evidentes por si prprios: pois que, se no fossem tais, haveria princpios dos princpios e assim at ao infinito (90 b, 24). Alguns destes princpios so comuns a todas cincias outros so prprios de cada cincia. Comum , por exemplo, o princpio: se de dois objectos iguais se tiram objectos iguais, os restos so iguais. Especiais so por exemplo os seguintes princpios da geometria: a linha tem a seguinte natureza; a linha recta tem a seguinte natureza, etc. (76 a, 37). Mas os princpios, especialmente os princpios particulares, no so outra coisa, segundo Aristteles, seno as definies e as definies so possveis s pela substncia ou pela
essncia necessria. (90 b, 30). A validade dos princpios em que se funda a cincia consiste por isso em serem eles expresso da substncia ou, melhor, do gnero das substncias sobre que versa uma cincia particular; e pois que a substncia causa de todas as suas propriedades e determinaes como os princpios so causa das concluses que o silogismo delas deriva, todo o conhecimento conhecimento de causas. Como dissemos a propsito da tica, Aristteles admite um rgo especfico para a intuio dos primeiros princpios que o intelecto: uma das virtudes dianoticas, isto , dos hbitos superiores 308 racionais do homem ( 81). Como virtude ou hbito racional, o intelecto no uma faculdade natural e inata mas, como todas as outras virtudes, forma-se gradualmente atravs da repetio e do exerccio. Em particular, forma-se a partir da sensao. Da sensao deriva a lembrana e da lembrana renovada dum mesmo objecto nasce a experincia. Depois, na base da experincia, se consegue surpreender a substncia que una e idntica num conjunto de objectos, tem-se ento o intelecto, que o princpio da arte da cincia. Por consequncia, o conhecimento sensvel condiciona, segundo Aristteles, a aquisio do intelecto dos primeiros princpios e tambm de toda a cincia; mas no condiciona a validade da cincia. Tal validade , segundo Aristteles, completamente independente das condies que permitem ao homem alcanar a cincia e consiste unicamente na necessidade dos primeiros princpios e na necessidade das demonstraes que da resultam. Enquanto os Primeiros e Segundos Analticos tm por objecto a cincia, os Tpicos tm por objecto a dialctica. A dialctica distingue-se da cincia pela natureza dos seus princpios: os princpios da cincia so necessrios, isto , absolutamente verdadeiros, os princpios da dialctica so provveis, isto , "parecem aceitveis a todos ou aos mais ou aos sbios e entre estes ou a todos ou aos mais ou aos mais notveis e ilustres" (100 b, '21). Fundados em princpios deste gnero so os raciocnios usados na oratria forense ou poltica (que Aristteles estuda na Retrica), quer nas discusses, quer nas que so feitas com o simples objectivo de exercitar-se na arte de raciocinar. A maior parte dos Tpicos, dedicada ao estudo dos argumentos que se usam nas discusses: como se disse, os Tpicos de Aristteles so, no seu corpo principal, a primeira formulao da lgica 309 aristotlica, a que ele concebeu debaixo da influncia do platonismo, que mantinha a discusso dialgica como o nico mtodo de pesquisa. A anlise de Aristteles visa substancialmente isolar, dividir classificar e valorizar no seu valor demonstrativo (isto , relativamente s formas correspondentes do silogismo cientfico) os lugares lgicos, isto , os esquemas argumentativos que podem ser usados na discusso. No mbito da dialctica encontram tambm lugar e reconhecimento os problemas: pois que estes, enquanto so constitudos por uma pergunta que pode ter duas respostas contraditrias, no nascem nem quando se trata de deduzir consequncias necessrias de premissas necessrias (como acontece na cincia) nem a propsito daquilo que a ningum aparece como aceitvel, mas sim naquela esfera do provvel que prpria da dialctica. (104 a; 104 b, 3). Assim a que aparecera a Plato como a cincia filosfica por excelncia, a dialctica, confinada por Aristteles numa zona marginal da cincia e inferior a ela; e adquire um significado totalmente diverso. Certamente, a dialctica platnica no tem o carcter de necessidade que Plato atribui cincia; mas no tem este carcter porque no o tem mesmo o, prprio ser que seu objecto e que definido por Plato como possibilidade. Assim a ausncia de necessidade que para Aristteles a deficincia fundamental da dialctica
platnica, que ele chama "silogismo fraco" (Pr. An., 1, 31, 46 a, 31), no tal para Plato que a considera antes como condio indispensvel para que o procedimento dialctico possa submeter a crtica as suas prprias premissas e mudar oportunamente tais premissas segundo a complexidade do objecto. Enfim, nas Refutaes (elenchi) sofsticas, Aristteles examina os raciocnios refutadores ou ersticos dos Sofistas. Ele entende por raciocnios crticos aquele em que as premissas no so nem 310 necessrias (como as premissas da cincia) nem provveis, (como as da dialctica), mas s aParentemente provveis. os argumentos ersticos, a que Aristteles chama sofismas e que os Latinos indicaram com o termo de falcias, so divididos por Aristteles em duas grandes classes: os que dependem do modo de exprimir-se e aqueles que so independentes disso. Exemplo dos primeiros a anjibolia que consiste no uso de expresses que tm um significado duplo e que so tomadas ora num ora noutro destes significados. Por exemplo, quando se diz: "aquilo que deve ser bem", mas "o mal deve ser; logo bem", o "deve sem, na primeira premissa tomado como aquilo que desejvel que seja e na segunda como aquilo que inevitvel. Da segunda espcie de falcias, um exemplo a petio de princpio que consiste em tomar, de forma dissimulada, como premissa da demonstrao, aquilo que se deveria demonstrar. NOTA BIBLIOGRFICA 67. Chegaram at ns as seguintes e antigas vidas de Aristteles: 1.- DIGENEs LARcio, V. cap. 1 segs.; 2.1 DIONISIO DE ~CARNAsso na carta a Ammeo, cap. 5; 3.* Vida menagiana, assim chamada pelo seu editor Menagio; 4.o Vida neoplatnlca, que nos chegou em trs redac es distintas; SUIDAS, Lxico, na palavra Arlstteles; 6.* Biografias sirlaco-rabes compostas entre os sculos V e VM. ]Entre as reconstru es modernas: ZELLER, 11, 2, u. 1 segs.; GoMPERz, M, p. 20 segs.; JAMER, A~., p. 11 sega., 133 sega., 149 segs.. O testamento de Aristteles foi-nos conservado por DIGFNEs LARcio, V, 11. 68. Sobre o problema dos escritos aristotlicos: JAEGER, Op. Cit.; MORFAU, As listas antigas das ~as de Aristtelw, Lovaina, 1951.-Uma tentativa para revolucionar a atribuio dos escritos aristotlicos encontra-se em ZURCITER, Aristotel~ Werk und Gei8t, Paderbon, 1952. Sobre a cronologia das obras lgicas 311 de Aristteles: P. GomKE, Die Enatchung der ariBtoteltechen Logik, Berlim, 1936; F. NUYENS, LIVOIUt" de Ia psychologie d'Aritote, UYvaina, 1948, e os autores do volume colectivo Autour d' Aristote, Lovaina, 1955, negam que o livro XII da Metaf&ica seja uma obra juvenil, segundo a tese de Jaeger, mas sem argumentos vlidos. Cfr. M. UNTERSTEINER, In. "Rivista di filologia elassca>. 69. Os fragmentos dos escritos exotricos foram recolhidos por VALENTIN ROSE, Leipzig, 1866. Veja-se tambm: WALZER, Aristotelis dialogorum fragn~ta, Florena, 1934. Sobre as obras perdidas de Aristteles: JAMER, Op. Cit.; BIGNONF, L'Aristotele perdudo e Ia formazione filosofica di Epicuro, 2 vols, Florena, s. d.. 70. A edio fundamental das obras de Aristteles a da Academia das Cincias de Berlim ao cuidado de Bekker (1831), a numerao de cujas pginas vem reproduzida em todas as edies e serve para as citaes. A e-asa edio foi acrescentada o utilssimo Indice
de BONITZ. Notvel tambm a edio Firmn-Didot, 4 vols., Pari.3, 1849-69, com traduo latina. Numerosissimas as edies poateriores das obra6 aristotlicas, entre as quaL9 Importante a que Ross publicou na Oxford University Press. Do prprio Ross fundamental a edio comentada da Metaf~a, 2 vols., Oxford, 1924; ainda mais a monografia Aristotele, trad. ital., Bari, 1946. Esta actualmente a melhor obra geral sobre Aristteles. Na historiografia moderna a interpretao da figura de Aristteles tomou duas direces simtricas e opostas: a que faz de Aristteles um naturalista e um empirista; aquela que faz dele um espiritualista. Como exemplo da primeira interpretao: C. PIAT, Aristote, Paris, 1912; J. BURNET, Aristotle, Londres, 1924. A segunda interpretao foi iniciada por F. RAVAISSON, Essai sur Ia mtaphy8ique d'Aristote, Paris, 1913, e encontrou a sua melhor expresso na monografia de O. HAMELIN, Le systme d'Aristote, Paris, 1920. 71. Que a elegia se referia a Scrates a ~tese de GompERz, II, p. 72, que contradiz os testemunhos antigos e desmentida pela crtica recente: JAMER, p. 138 segs.; BIGNONE, I, p. 213 segs.-Sobre as duas fases da Metaffsica: JAMER, cap. 4. H 73.-74. A doutrina da substncia exposta nos livros VII e VIII da Metafsica o resultado mais 312 maduro da Investigao "totlica, segundo as coacluses de Jaeger. 75. A crtica a Plato repete-se multas vezes na M~1~, I, cap. 9; VII, cap. 13; 14 e 15; XH1, cap. 4 e 5; XIV, cap. 1 o 2. A forma maIs organizada da crtica a expoeta no livro XII ; CHERNISS, Ari8totWs Criti~ of Plato and the Aca-demy, John HopkIns Univ. Preas, 1944. 76. A doutrina das quatro causas est na Met., 1, 3, 983 a, e na Fs., 11, 3, 194 b. 77. A potncia e ao acto dedica Aristteles todo o livro EK da, Met., no qual se fundamentou a exposio do texto. J. OWENS, The Doctrine of Being in the Aristotelian Metaphysic8, Torontoi 1951. 78. Sobre a substncia imvel, veja-se Met., Xil, 8, 1072 a segs. e Fs., VUT, 5, 256 b, 20. A doutrina das outras inteligncias motrizes est no cap. 8 do mesmo livro XII. H. VON ARNIM Die Entstehung der Gotte%1ehre des Aristotele, Viena, 1931. 79- Sobre a fsica aristotlica: MANSION, Introduction Ia physique aristotlicienne, Lovaina, 1913; M. RANQUAT, Aristote naturaliste, Paris, 1932; J. DE TONQUDEC, Qu_stion-s de cosmologie e de physique chez Aristote et St. Thomas, Paris, 1950. Uma tentativa para determinar a sucesso cronolgica dos escritos recolhidos na Fsica foi feito por RUNNER, The Develo~nt of Ari-stotIe i11ustrated from the earliest books of the Physics, Kanipden, 1951. A ordem seria esta: livro VI (composto cerca de 361); livro I e parte do II, livro V e VI entre os anos 346 e 337. SO. Sobre a psicologia: C. W. SHUTE, The Psychology of Aristotle, Nova lorque, 1947. 81. Sobre a tica: H. VON ARNIM, Die drei Aristotelischen Ethiken, Viena, 1924, e
Eudemische Ethik und Metaphysik, Viena, 1928; WALzER, Magna Moralia und Aristotelische Ethik, Berlim, 1929; HAmBURGER, MoTaIs and Law: the Growth of ArstotWs Lega Theory, New Haven, 1951; J. A. THOMSOM, The Ethics Of Arstotle, Londres, 1953. 82. Sobre a politica: BARKER, Political Thought Of Plato and Aristotle, Londres, 1906; H. VON ARNIM, Zur Entstehungsge,,,chichte der aristotelischen Politik, Viena, 1954. 83. Sobre a retrica: ZELLER, 11, 2, p. 754 segs.; GOMPERZ, IIII, cap. 36-38. 84. Sobre a potica: A. Rostagni, La poetica XAristotele, Turini, 1927; S. H. BUTC=, AristotIeIs 313 Theory of Poetry and Fine Art8, Nova Iorque, 1955; GMALD E. IM , Arl[8tOtW8 P00~ The ArPUM~, Leiden, 1957. 86. Traduo Italiana de Organon, com introduo e notas de G. 001", Turim, 1955.-P~L, Ge8hichte der Log., I, p. 87 segs.; C~EDO, I jundamenti deUa Logica ari8totelica, Florena; " BLOND, Logique et mthode cheo A~ote, Paria, 1939; C. A. VIANo, La logica di Aristot^ Turim, 1955.-Para uma valorao da lgica aristotlica do ponto de vista da lgica contempornea: J. LUXASIEWICS, ArtatotWa Syllogiatic fr<"n the Standpoint o/ Modem Pormal Logio, 2.1 ed., Oxford, 1957; W. KNEALE-M. KN~, The Devel~ent of Logic, Oxford, 1962, p 23-112 314 INDICE PRE)FACIO DA PRIMEIRA EDIAO EDIAO ... ... 15 PRDdEIRA PARIT, FILOSOFIA ANTIGA I-ORIGMN8 E CARACTER DA F11,0SOF7A GREGA .. . ... ... ... ... ... 19 II-A ESCOLA MNICA ... ... ... ... ... 35 M-A ESOOLA PITAGORICA ... ... ... 53 rV_A ESOOLA ELEATICA ... ... ... ... 63 V-OS FISICOS POSTERIORES ... ... ... 81 VI - A SOFISTICA. ... ... ... ... ... ... 97 VII - SWRATES ... ... ... ... ... ... ... 115 VM -AS ESCOLAS SOCRATICAS ... ... ... 133 IX - PLATA0 ... ... ... ... ... ... ... 147 X -A ANTIGA ACADE3 225 )CI - ARISTTELES ... ... ... ... ... ... 233 Este livro acabou de se imprimir em Julho de 1976 para a EDITORIAL PRESENA, LDA. na . ... ... ... ... ... ... 7 PRMFACIO DA SEGUNDA
Empresa Grfica Feirense, L.da Vila da Feira Tiragem 3 000 exemplares
Histria da Filosofia Segundo volume Nicola A bbagnano DIGITALIZAO E ARRANJO: NGELO MIGUEL ABRANTES HISTRIA DA FILOSOFIA VOLUME II TRADUO DE: ANTNIO BORGES COELHO CAPA DE: J., C. COMPOSIO E IMPRESSO TIPOGRAFIA NUNES ,@@0s Falco, 57 - Porto EDITORIAL PRESENA . Lisboa 1969 TTULO ORIGINAL STORIA DELLA FILOSOFIA Cop3right by NICOLA ABBAGNANO Reservados todos os direitos para a lngua portuguesa EDITORIAL PRESENA, LDA. R. Augusto Gil, 2 c@E. - Lisboa XIII A ESCOLA PERIPATTICA 86. TEOFRASTO Assim como a velha Academia continua a ltima fase do ensinamento platnico, tambm A escola peripattica apresenta as caractersticas do ltimo perodo da actividade de
Aristteles, dedicado principalmente organizao do trabalho cientfico e a investigaes particulares. morte de Aristteles, sucedeu ao mestre na direco da escola Teofrasto de Eresso, em Lesbos que a dirigiu at sua morte, ocorrida entre 288 e 286 a.C. A sua actividade cientfica orientou-se sobretudo para o campo da Botnica. Conservaram-se duas obras: Histria das Plantas e As Causas das Plantas, que fizeram dele o mestre daquela disciplina durante toda a Antiguidade e at ao final da Idade Mdia. Foi tambm autor das Opinies Fsicas, uma espcie de histria das doutrinas fsicas de Tales a Plato e a Xencrates, da qual nos restam alguns fragmentos. Tambm se conservou um escrito moral, Os caracteres. Teofrasto formulou numerosas crticas a pontos concretos da doutrina aristotlica, mas manteve-se fiel aos ensinamentos fundamentais do mestre. Contra a doutrina do intelecto activo objectou que so incompatveis com a funo daquele intelecto o esquecimento e o erro. Contra o universal finalismo das coisas, professado por Aristteles, notou que, na natureza, muitas coisas no obedecem tendncia para o fim e, se esta tendncia prpria dos animais, no se revela nos seres inanimados que so os mais numerosos na natureza. Em compensao defende a doutrina aristotlica da, eternidade do mundo contra as objeces que lhe vinham sendo feitas. Na obra Os caracteres, que provavelmente no nos chegou na sua forma original mas numa redaco retocada, descreve com uma certa- argcia trinta tipos de caracteres morais (o importuno, o vaidoso, o descontente, o fanfarro, etc.) Pode dizer-se que Teofrasto aplicou vida moral, nesta obra, o mesmo mtodo descritivo empregado por ele no estudo da Botnica. 87. OUTROS DISCPULOS DE ARISTTELES Ao lado de Teofrasto, o mais importante dos discpulo imediatos de Aristteles Eudemo de Rodes, autor de numerosos escritos de histria da cincia. Eudemo designado como "o mais fiel"> dos discpulos de Aristteles. Foi o editor da obra moral de Aristteles que designada precisamente pelo seu nome (tica Eudemia) e que alguns consideram como obra sua. Aristxeno, de Tarento retomou a doutrina pitagrica da alma como harmonia, sustentada por Smias no Fdon platnico. As suas simpatias pelo pitagorismo manifestam-se tambm no interesse que sentiu pela msica, qual dedicou uma obra intitulada Harmata, de que nos restam fragmentos. Foi tambm autor de biografias de filsofos, em particular de Pitgoras e de Plato. Dicearco de Messina afirmou, em oposio a Aristteles e a Teofrasto, ia superioridade da vida prtica sobre a vida terica. Na sua obra, Vida da Grcia, de que nos restam poucos fragmentos, delineou uma histria da civilizao grega. , No Tripoltico sustentou que a melhor constituio uma mescla de monarquia, aristocracia e democracia como a que se havia desenvolvido em Esparta. 88. ESTRATO A Teofrasto sucedeu na direco da escola Estrato de Lmpsaco, que a exerceu durante dezoito anos. O sentido da sua investigao indicado pelo apodo de "o fsico".
De facto procurou conciliar Aristteles e Demcrito. De Demcrito tomou a doutrina dos tomos e do espao vazio; mas, diferentemente de Demcrito e conformemente a Aristteles, considerou que o espao vazio no se estende at ao infinito, pira l dos confins do mundo, mas apenas no interior deste entire os tomos. Al m disso, segundo Estrato, os corpsculos so dotados de certas qualidades, especialmente de calor e de frio. Na sua doutrina sobre a ordem e a constituio do mundo, Estrato aproximava-se muito mais de Demcrito do que de Aristteles. No se servia da divindade para explicar o nascimento do mundo e recorria necessidade da natureza ou pelo menos identificava com ela a aco de Deus. Estrato afirmou energicamente a unidade da alma. Por causa desta unidade no possvel uma separao ntida entre sensao e pensamento. " Sem o pensamento -dizia ele - no h sensao." Mas, por outro lado, tanto o pensamento como a sensao no so mais que movimento e deste modo voltam a entrar no mecanismo geral da natureza. Depois de Estrato, a escola peripattica continuou o seu trabalho atravs de numerosos representantes dos quais nos restam escassas notcias e fragmentos. Mas estes dedicaramse todos a investigaes naturalistas particulares e assim no trouxeram contributos relevantes ulterior elaborao da filosofia aristotlica. NOTA BIBLIOGRFICA 86. Para os escritos da ~Ia aristotlica em geral cfr. a colectnea Die Schule des Aristoteles, Texte und Kommentar, editada por Wehrli em BasEciaFontes para a vida, os escritos e a doutrina de Teofrasto: DiGENEs LARCIO, V, 36 ss.; REGENBOGEN, Theophrastos von Eresos, Stuttgart, 1940. Os escritos que nos ficaram, isto , as duas obras de botnica, os Caracteres e os fragmentos foram editados por Schneid-er, Leipzig, 1918-21; outra edio, Wimmer, Leipzig, 1854. Sobre Teofrasto: ZELLER 11, 2, p. 806 ss.; GomPERz, III, cap. 39-42. 87. Os fragmentos de Eudemo, in MULLACH, Fragmenta phil. graec., III, p. 222 ss.. Os fragm-entos da Harmonia de Aristxeno foram editados por Marquard, Berlim, 1868 e por Macran, Oxford, 1903. Os fragmentos de Dicearco, por Fuhr, Darmstadt, 1841. Sobre estes trs discpulos de Aristteles: ZELLER, U, p. 869 ss.. 88. Sobre a vida, os escritos e a doutrina de Estrato: DIGENEs LARCIO, V, 58 ss. Sobre Estrat<): ZELLER, 11, 2, p. 897; GomPERz, UT, cap. 43. ]o XIIII O ESTOICISMO 89. CARACTERSTICAS DA FILOSOFIA PS-ARISTOTLICA A conquista macEdnia e a consequente mudana da vida poltica e social do povo grego
encontra expresso no carcter fundamental da filosofia ps-aristotlica. costume exprimir tal caracterstica dizendo que este perodo da filosofia assinalado pela prevalncia do problema moral. A investigao filosfica no perodo que vai de Scrates a Aristteles dirigira-se para realizao da vida teortica, entendida como unidade da cincia e da virtude, isto , do pensamento e da vida. Mas destes dois termos, que j Scrates unificava completamente, o primeiro prevalecia nitidamente sobre o segundo. 'Para Scrates a virtude e deve ser cincia e no h virtude fora da cincia. Plato conclui no Filebo os aprofundamentos sucessivos da sua investigao dizendo que a vida humana perfeita uma vida mista de cincia e de prazer, na qual a cincia prevalece. Aristteles considera 11 a vida teortica como a mais alta manifestao da vida do homem e ele mesmo encara e defende com a sua obra os interesses desta actividade, levando a sua investigao a todos os ramos do cognoscvel. S a partir dos Cnicos o equilbrio harmnico entre cincia e virtude se rompe pela primeira vez: eles puseram o acento no peso da virtude em detrimento da cincia e tornaram-se partidrios de um ideal moral propagandstico e popularucho, chegando a ser gravemente infiis aos ensinamentos do seu mestre. Mas a rotura definitiva da harmonia da vida teortica a favor do segundo dos seus termos, a virtude, encontra-se na filosofia ps-aristotlica. A frmula socrtica-a virtude cincia- substituda pela frmula a cincia virtude. O objectivo imediato e urgente a busca de urna orientao moral, qual deve estar subordinada, como ao seu fim, a orientao teortica. O pensamento deve servir a vida, no a vida o pensamento. Na nova frmula, os termos que na antiga encontravam a sua unidade so opostos um ao outro, de modo que se sente a necessidade de escolher entre eles o termo que mais importa e subordinar-lhe o outro. A filosofia ainda e sempre procura; mas procura de uma orientao moral, de uma conduta de vida que no tem j o seu centro e a sua unidade na cincia, mas subordina a si a cincia como o meio ao fim. 90. A ESCOLA ESTOICA Das trs grandes escolas ps-aristotlicas, a estoica foi de longe, do ponto de vista histrico, a mais importante. A influncia do estoicismo tornou-se decisiva no ltimo perodo da filosofia grega, quando as correntes neoplatnicas fizeram suas muitas das suas doutrinas fundamentais, e na Patns12 tica, na Escolstica rabe e Latina, no Renascimento. Esta influncia s comparvel de Aristteles e exerceu-se muitas vezes sobre a doutrina aristotlica, sugerindo-lhe desenvolvimentos e modificaes que foram nela incorporadas e se tornaram assim suas partes integrantes. No prprio seio da filosofia moderna e contempornea, a aco do estoicismo continua, quer de maneira indirecta quer sob a forma de doutrinas que o senso comum, a sabedoria popular e a tradio filosfica aceitaram e aceitam sem se preocuparem com p-las em discusso. Aqui podemos apenas indicar algumas destas doutrinas, s quais se ter ocasio de fazer referncia mais vezes no decurso desta Histria. A primeira delas a da necessidade da ordem csmica, com as noes que lhe esto inclusas de destino e de providncia. Esta doutrina serviu de fundamento a todas as elaboraes teolgicas que se efectuaram ia partir do neoplatonismo e vlida como
critrio interpretativo do prprio aristotelismo. A definio da lgica como dialctica, a teoria do significado, da proposio e do raciocnio imediato dominaram o desenvolvimento da lgica nos ltimos sculos da Idade Mdia, constituindo uma segunda parte acrescentada lgica de derivao aristotlica. Os estoicos contriburam mesmo, a partir dos aristotlicos antigos, para integrar ou interpretar as teorias lgicas aristotlicas. As doutrinas do ciclo csmico ou do eterno retorno e de Deus como alma do mundo constituram e constituem ainda um constante ponto de referncia das concepes cosmolgicas e teolgicas. A anlise das emoes e a sua condenao, o conceito da autosuficincia e da liberdade do sbio ficaram e permanecem entre as mais tpicas formulaes da tica tradicional. Pela noo de dever por eles elaborada se renova rigorosamente a tica kantiana. A noo de valor, tambm por eles encontrada, revelou-se 13 fecundssima nas discusses ticas. A identificao de liberdade o necessidade, o cosmopolitismo, a teoria do direito natural so doutrinas de que quase intil sublinhar a importncia e a vitalidade. O fundador da escola foi Zeno de Gtium, em Chipre, de quem se conhece com verosimilhana o ano do nascimento, 336-35 a.C., e o ano da morte, 264-63. Chegado a Atenas com os seus vinte e dois anos, entusiasmou-se, atravs da leitura dos escritos socrticos (os Memorveis de Xenofonte e a Apologia de Plato), pela figura de Scrates e julgou ter encontrado um Scrates redivivo no cnico Cratete, de quem se fez discpulo. Seguidamente foi tambm discpulo de Estilpon e de Teodoro Crono. Por volta do ano 300 a.C., fundou a sua escola no Prtico Pintado (Sto poikle), pelo que os seus discpulos se chamaram Estoicos. Morreu de morte voluntria como bastantes outros mestres que lhe sucederam. Dos seus numerosos escritos (Repblica, Sobre a Vida segundo a Natureza, Sobre a Natureza do Homem, Sobre as Paixes, etc.) restam-nos apenas fragmentos. Os seus primeiros discpulos foram Ariston de Quios, Erilo de Cartago, Perseu de Citium e Cleanto de Assos, na Trade, que lhe sucedeu na direco da escola. Cleanto, nascido em 304-03, e morto em 223-22 de morte voluntria, foi um homem de poucas necessidades e de vontade frrea, mas pouco dotado para a especulao; parece que o seu contributo para a elaborao do pensamento estoico foi mnimo. A Cleanto sucedeu Crisipo de Soli ou do Tarso na Cilcia, nascido em 281-78, falecido em 208-05, que o segundo fundador do Estoicismo, tanto que se dizia: "Se no tivesse existido Crisipo no existiria a "Stoa". Foi de uma prodigiosa fecundidade literria. Escrevia todos os dias quinhentas linhas e comps ao todo 705 livros. Foi tambm um dialctico e um estilista de primeira ordem. 14 Seguiram-se a Crisipo dois discpulos seus, primeiro Zeno de Tarso, depois Digenes de SeMucia, dito o Babilnico. Digenes foi a Roma, em 156-55, numa embaixada de que faziam parte o acadmico Carnades e o peripattico Critolau. A embaixada suscitou muito interesse na juventude de Roma, mas teve a desaprovao de Cato, o qual temia que o interesse filosfico desviasse a juventude romana da vida militar. A Digenes seguiuse Antipatro de Tarso. A produo literria de todos estes filsofos, que deve ter sido imensa, perdeu-se e dela s nos restam fragmentos. Estes nem sempre so referidos a um autor singular, mas amide aos Estoicos em geral, de modo que se torna muito difcil distinguir, na massa das notcias que nos chegaram, a parte que corresponde a cada um dos representantes do Estoicismo.
Por isso se deve expor a doutrina estoica no seu conjunto, mencionando, quando possvel, as diferenas ou as divergncias entre os vrios autores. 91. CARACTERSTICAs DA FILOSOFIA ESTOICA O fundador do Estoicismo, Zeno, teve como mestre e como modelo de vida o cnico Cratete. Isto explica a orientao geral do Estoicismo, o qual se apresenta como a continuao e o complemento da doutrina cnica. Como os Cnicos, os Estoicos procuram no j a cincia, mas a felicidade por meio da virtude. Mas, diferentemente dos Cnicos, consideram que, para alcanar a felicidade e a virtude, necessria a cincia. No faltou entre os Estoicos quem, corno Ariston, estivesse ligado estreitamente ao Cinismo e declarasse intil a Lgica e superior s possibilidades humanas a Fsica, aban15 donando-se a um desprezo total pela cincia. Mas contra ele, Erilo colocava o sumo bem e o fim ltimo da vida no conhecer, volvendo assim a Aristteles. O prprio fundador da escola, Zeno, considerava indispensvel a cincia para a conduta da vida, e embora no lho reconhecesse um valor autnomo, inclua-a entre as condies fundamentais da virtude. A prpria cincia parecia-lhe virtude e as divises da virtude eram para ele divises da cincia. Tal foi indubitavelmente a doutrina que prevaleceu no Estoicismo. "A filosofia -diz Sneca- exerccio de virtude (studium virtutis), mas por meio da prpria virtude, j que no pode haver virtude sem exerccio, nem exerccio de virtude sem virtude" (Ep., 89). O conceito da filosofia vinha assim a coincidir com o da virtude. O seu fim alcanar sageza que a "cincia das coisas humanas e divinas"; mas a nica arte para alcanar a sabedoria precisamente o exerccio da virtude. Ora as virtudes mais gerais so trs: a natural, a moral e a racional; tambm a Filosofia se divide, pois, em trs partes: a Fsica, a tica e a Lgica. Diferente foi a importncia atribuda sucessivamente a cada uma destas trs partes; e distinta foi a ordem em que as ensinaram os vrios mestres da Sto. Zeno e Crisipo comeavam pela lgica, passavam Fsica e terminavam com a tica. 92. A LGICA estoica Com o termo Lgica, adoptado pela primeira vez por Zeno, os Estoicos expressavam a doutrina que tem por objecto os logoi ou discursos. Como cincia dos discursos contnuos, a lgica Retrica; como cincia dos discursos divididos por perguntas e respostas, a lgica dialctica. Mais precisamente, a 16
Pgina da obra "Vida e doutrina dos filsofos,,5, de Digenes Larcio (Cdice do sculo V) 4,, dialctica definida como "a cincia daquilo que verdadeiro e daquilo que falso e daquilo que no. nem verdadeiro nem falso." (Diog. L., VII, 42; Sneca, EP., 89). Com a expresso "aquilo que no nem verdadeiro nem falso", os
Estoicos entendiam provavelmente os sofismas ou os paradoxos, sobre cuja verdade ou falsidade no se pode decidir e cujo tratamento ocupa muito os Estoicos que, neste ponto, seguem as pisadas dos Megricos. Por sua vez, a dialctica divide-se em duas partes segundo trata das palavras ou das coisas que as palavras significam: a que trata das palavras a Gramtica, a que trata das coisas significadas a Lgica em sentido prprio, a qual, portanto, tem por objecto as representaes, as preposies, os raciocnios e os sofismas (Diog. L., VII, 43-44). O primeiro problema da lgica estoica o do critrio da verdade. este o problema mais urgente para toda a filosofia ps-aristotlica que considera o pensamento apenas como guia para a conduta: e ora, se o pensamento no possui por si mesmo um critrio de verdade e procede com incerteza e s cegas, no pode servir de guia para a aco. Ora, para todos os Estoicos, o critrio da verdade a representao cataltica ou conceptual (phantasia kataleptik). So possveis duas interpretaes do significado desta expresso e ambas se encontram nas exposies antigas do Estoicismo. Em primeiro lugar, a phantasia kataleptik pode consistir na aco do intelecto que prende e penetra o objecto. Em segundo lugar, pode ser a representao que impressa no intelecto pelo objecto, isto , a aco do objecto sobre o intelecto. Ambos os significados se encontram nas exposies antigas do Estoicismo. Sexto Emprico (Adv. math., VII, 248) diz-nos que, segundo os Estoicos, a representao cataltica aquela que vem de um objecto real e est impressa 17 e marcada por isso em conformidade com ele prprio, de modo que no poderia nascer de um objecto diferente. Por outro lado, Zeno (segundo um testemunho de Cioero, Acad., 11, 144) colocava o significado da representao cataltica na sua capacidade de prender ou compreender o objecto. Ele comparava a mo aberta e os dedos estendidos representao pura e simples; a mo contrada no acto de agarrar, ao assentimento; o punho fechado compreenso cataltica. Finalmente, as duas mos apertadas uma sobre a outra, com grande fora, eram o smbolo da cincia, a qual d a verdadeira e completa posse do objecto. A representao cataltica est, pois, relacionada com o assentimento da parte do sujeito cognoscente, assentimento que os Estoicos consideravam voluntrio e livre. Se o receber uma representao determinada, por exemplo, ver uma cor branca, sentir o doce, no est em poder daquele que a recebe porque depende do objecto de que deriva a sensao, o assentir a tal representao , pelo contrrio, sempre um acto livre. O assentimento constitui o juzo, o qual se define precisamente ou como assentimento ou como dissentimento ou como suspenso (epoch), isto , renncia provisria para assentir representao recebida ou a dissentir da mesma. Segundo testemunho de Sexto Emprico (Adv. math., VII, 253), os Estoicos posteriores puseram o critrio da verdade, no na simples representao cataltica, mas na -representao cataltica "que no tenha nada contra si", porque pode dar-se o caso de haver representaes catalticas que no sejam dignas de f pelas circunstncias em que so recebidas. S quando no tem nada contra si, a representao se impe com fora s representaes divergentes e constrange o sujeito cognoscente ao assentimento. Disto resulta claramente que a representao cataltica aquela que dotada de uma 18 evidncia no contraditada, tal que solicito com toda a fora o assentimento, o qual, no entanto, permanece livre. Consequentemente, definiam a cincia como "uma representao cataltica ou um hbito imutvel para acolher tais representaes,
acompanhadas pelo raciocnio" (Diog. L., VII, 47); e consideravam que no h cincia sem dialctica, cabendo dialctica dirigir o raciocnio. Pelo que respeita ao problema da origem do conhecimento, o Estoicismo empirismo. Todo o conhecimento humano deriva da experincia e a experincia passividade porque depende da aco que as coisas externas exercem sobre a alma considerada como uma tabuinha (tabula rasa) e na qual se vm registar as representaes. As representaes so marcas ou sinais impressos na alma, segundo Ocanto; segundo Crisipo, so modificaes da alma. Em qualquer caso, so recebidas passivamente e produzidas ou pelos objectos externos ou pelos estados internos da alma (como a virtude e a perversidade). Por isso nenhuma diferena existe entre a experincia externa e a experincia interna. Toda a representao, depois do seu desaparecimento, determina a recordao, um conjunto de muitas recordaes da mesma espcie constitui a experincia (Aezio, Plac., IV, II). Da experincia nasce, por um procedimento natural, a noo comum ou antecipao; a antecipao a noo natural do universal (D@og. L., VII, 54). Todavia, segundo eles, os conceitos no tm nenhuma realidade objectiva: o real sempre individual e o universal subsiste apenas nas antecipaes ou nos conceitos. O Estoicismo , pois, um nominalismo, segundo a expresso que foi usada na Escolstica para designar a doutrina que nega a realidade do universal. Os conceitos mais gerais, aqueles que Aristteles designara com categorias, so reduzidos pelos Estoicos a quatro: 1.* o sujeito 19 ou substncia; 2.* a qualidade; 3.* o modo de ser, 4.O o modo relativo (Plotino, Enn., VI, 1. 202). Estas quatro categorias esto entre si numa relao tal que a seguinte encerra a precedente e a determina. Efectivamente, nada pode ter um carcter relativo se no tem um modo seu de ser; no .pode ter um modo de ser se no possui uma qualidade fundamental que o diferencie dos outros; e s pode possuir esta qualidade se subsiste por si, se substncia. O conceito mais elevado e mais extenso ou, como diziam, o gnero supremo, o conceito de ser, porquanto tudo, em certo modo, , e no existe, portanto, um conceito mais extenso do que este. O conceito mais determinado , pelo contrrio, o de espcie que no tem outra espcie abaixo de si, isto , o do indivduo, por exemplo de Scrates (Diog. L., VII, 61). Outros Estoicos, pretendendo encontrar um conceito ainda mais extenso que o de ser, recorreram ao de alguma coisa (aliquid) que pode compreender tambm as coisas incorpreas (Sneca, Ep., 58). A parte da lgica estoica que teve a maior influncia no desenvolvimento da lgica medieval e moderna a que concerne proposio e ao raciocnio. Como fundamento desta parte da sua doutrina, os Estoicos elaboraram a doutrina do ,significado (lektn) que se manteve de fundamental importncia na lgica e na teoria da linguagem. "So trs -diziam eles- os elementos que se ligam: o significado, aquilo que significa e aquilo que . Aquilo que significa a voz, por exemplo, "Dione". O significado a coisa indicada pela voz e que n s tomamos pensando na coisa correspondente. Aquilo que o sujeito externo, por exemplo, o prprio "Dione" (Sexto Emp:, Adv. math., VIII, 12). Destes trs elementos conhecidos, dois ,so,,c,or,p<>reos, a voz e aquilo que ; um incor20
prco, o significado. O significado , noutros termos, qualquer informao ou representao ou conceito que nos vem mente quando percebemos uma palavra e que nos permite referir a palavra a uma coisa determinada. Assim, por exemplo, se com a voz <@homem" entendemos um "animal racional", podemos indicar com esta voz todos os animais racionais, isto , todos os homens. O conceito "animal racional" o significado que consente a referncia da palavra ao objecto existente. Ele o caminho entre a palavra (ou, em geral, a expresso verbal) e a coisa real ou corprea: e assim orienta, na -referncia ao objecto, as expresses lingusticas que, de outro modo, permaneceriam puros sons, incapazes de qualquer conexo com as coisas. A referncia coisa constitui, portanto, parte integrante do significado ou, pelo menos, um aspecto que lhe est intimamente ligado, porque a informao em que consiste o significado no tem outra funo seno a de tornar possvel * a de orientar tal referncia. Na lgica medieval * moderna, aquilo que os Estoicos chamavam significado foi frequentemente designado com outros nomes como conotao, inteno, compreenso, interpretante, sentido, enquanto a referncia coisa foi chamada suposio, denotao, extenso, significado. Mas esta diversidade de terminologia. no mudou o conceito de significado nos trs elementos fundamentais em que os Estoicos o tinham analisado. Segundo os Estoicos, um significado est completo se pode ser expresso numa frase, por exemplo, "Scrates escreve". A palavra "escreve" no tem, em contrapartida, significado completo porque deixa sem resposta a pergunta "quem?". Um significado completo , portanto, s a proposio, a qual definida tambm, com Aristteles, como aquilo que pode ser verdadeiro ou falso. 21 O raciocnio consiste numa conexo entro as proposies simples do tipo seguinte: "se noite. h trevas; mas noite, portanto existem trovas." Este tipo de raciocnio no tem, como se v, nada a ver com o silogismo aristotlico porque lhe faltam as suas caractersticas fundamentais: imediato <no tem termo mdio) e no necessrio. A falta destas caractersticas permite aos Estoicos distinguir pela sua verdade, a concludncia de um raciocnio. o raciocnio acima exposto s verdadeiro se noite mas falso se dia. Inversamente, concludente em qualquer caso porque a relao das premissas com a concluso correcta. Os tipos fundamentais de raciocnios concludentes so chamados pelos Estoicos anapodticos ou raciocnios no demonstrativos. S o evidentes por si prprios e so os seguintes: 1.* Se dia h luz, mas dia; portanto, h luz. 2.* Se dia, h luz; mas no h luz; portanto no dia. 3.* Se no dia, noite; mas dia; portanto no noite. 4.* Ou dia ou noite; mas dia; portanto no noite. 5.* Ou dia ou noite; mas no noite; portanto. dia (1p. Pirr, 11, 157-58; Diog. L., VII, 80). Estes esquemas de raciocnio so sempre vlidos mas sempre verdadeiros. dado que s so verdadeiros quando a premissa verdadeira, isto , quando corresponde situao de facto. Sobre eles se modelam os raciocnios demonstrativos que so no s concludentes mas manifestam tambm alguma coisa que antes era "obscura", isto , qualquer coisa que no imediatamente manifesta representao cataltica, a qual sempre limitada ao aqui e agora. Eis um exemplo: "Se esta mulher tem leite no seio, pariu; mas esta mulher tem leite no seio; portanto pariu> Neste sentido o raciocnio demonstrativo designado pelos Estoicos como um sinal indicativo porquanto consente trazer luz qualquer coisa que antes estava, obscuro. Sinais remwwa22 tivcw s% pelo contrrio, aqueles que, mal se apresentam, tornam evidente a recordao
da coisa que foi primeiramente observada em ligao com ela o agora no manifesta como , por exemplo, o fumo a respeito do fogo (Sexto E., Adv. math., VIII, 148 ss.). Evidentemente, os Estoicos confiaram ao raciocnio demonstrativo a construo da sua doutrina; por exemplo, a demonstrao da existncia da alma ou da alma do mundo (que Deus), feita a partir dos movimentos ou dos factos que so imediatamente dados pela representao cataltica, constitui um sinal indicativo no sentido agora referido. Como se v, a dialctica estoica tem em comum com a dialctica platnica o carcter hipottico das suas Iiwemissas, mas distingue-se desta dialctica porque a conjuno das premissas entre si e a sua conexo com a concluso exprime situaes de facto ou estados de coisas imediatamente presentes. Alis, o carcter hipottico do processo dialctico no , para os Estoicos como no era para Aristteles, um defeito da prpria dialctica pelo qual esta seria inferior cincia. Para eles, a cincia no , precisamente, outra coisa seno dialctica (Diog. L., VII, 47). O conceito estoico da lgica como dialctico difundiu-se, atravs das obras de Bocio, na Escolstica Latina e foi o fundamento da chamada lgica terninstica, caracterstica do ltimo perodo da Escolstica. 93. A FSICA ESTOICA O conceito fundamental da Fsica estoica o de uma ordem imutvel, racional, perfeita e necessria que governa e sustenta infalivelmente todas as coisas e as faz ser e conservar-se tais como so. Esta ordem identificada pelos Estoicos com o 23 prprio Deus: assim a sua doutrina um rigoroso pantesmo. Os Estoicos substituem as quatro causas aristotlicas (matria, forma, causa eficiente e causa final) por dois princpios: o princpio activo (poion) e o princpio passivo (pschon) que so ambos materiais e inseparveis um do outro. O princpio passivo a substncia privada de qualidade, isto , a matria; o princpio activo a razo, isto , Deus que agindo sobre a matria produz os seres singulares. A matria inerte, e se bem que pronta para tudo, ficaria ociosa se ningum a movesse. A razo divina forma a matria, dirige-a para onde quer e produz as suas determinaes. A substncia de que nascem todas as coisas a matria, o princpio passivo; a fora pela qual todas as coisas so feitas a causa ou Deus, o princpio activo (Diog. L., VII, 134). Contudo, a distino entre princpio activo e princpio passivo no coincide, segundo os Estoicos, com a distino entre o incorpreo e o corpreo. Ambos os princpios, seja a causa, seja a matria so corpo o nada mais que corpo, dado que s o corpo existe. Um rgido materialismo defendido pelos Estoicos na base da definio de ser dada por Plato no Sofista ( 56): existe aquilo que age ou suporta uma aco. Dado que s o corpo pode agir ou sofrer uma aco, s o corpo existe (Diog. L., VII, 56; Plut., Comm. Not., 30, 2, 1073; Stob., Ecl., 1, 636). A alma , pois, corpo como princpio de aco (Diog. L., VII, 156). corpo a voz que tambm opera e age sobre a alma (Aezio, Plac., IV, 20,2). corpo, enfim, o bem como so corpos as emoes e os vcios. Diz Sneca a este respeito: "0 bem opera porque til e aquilo que opera um corpo. O bem estimula a alma numa certa maneira: modela-a e tem-na sob o freio, aces estas que so prprias de um corpo. Os bens do corpo so corpos; 24 portanto, tambm os da alma, pois tambm ela corpo" (Ep., 106). Os Estoicos s admitiam quatro coisas incorpreas: o significado, o vazio, o lugar e o tempo (Sexto E.,
Adv. math., X, 218). Como se v, nem Deus existe entre as coisas incorpreas. O prprio Deus, como razo csmica e causa de tudo, corpo: mais precisamente fogo. Mas no o fogo de que o homem se serve, que destri todas as coisas: antes um sopro clido (pneuma) e vital que tudo conserva, alimenta, faz crescer e tambm sustm. Mas este sopro ou esprito vital, este fogo animador tambm ele corpo. Chama-se razo seminal (logos spermatiks) do mundo porque contm em si as razes seminais segundo as quais todas as coisas se geram. Como todas as partes de um ser vivo nascem da semente, assim toda a parte do universo nasce de uma mesma semente racional, ou razo seminal. Estas razes seminais so frequentemente misturadas umas com as outras, mas, ao desenvolverem-se, separam-se e do origem a seres diferentes, e assim todas as coisas nascem da unidade e se incluem na unidade. Contudo, a distino entre as diferentes coisas perfeita; no existem no mundo duas coisas semelhantes, nem mesmo duas folhas de erva. O mundo foi gerado quando a matria originria se diferenciou e se transformou nos vrios elementos. Ao condensar-se e tornar-se pesada, converteu-se em terra; ao enrarecer, converteu-se em ar e logo em humidade e gua; ao fazer-se mais subtil, deu origem ao fogo. Destes quatro elementos compem-se todas as coisas: duas delas, o ar e o fogo so activas; as outras duas, terra e gua, so passivas. A esfera do fogo est acima da das estrelas fixas. O mundo finito e tem a forma de esfera. Em torno dele h o vazio, mas dentro no h vazio porque tudo unido e compacto (Diog. L., VII, 137 ss.). 25 A vida do mundo tem um ciclo prprio. Quando, depois de um longo perodo de tempo (grande anno), os astros tornam ao mesmo signo e mesma posio em que se encontravam no princpio, acontece uma conflagrao (ekprasis) o a destruio de todos os seres; e de novo se forma a mesma ordem csmica e de novo tomam a verificar-se os acontecimentos ocorridos no ciclo precedente sem nenhuma modificao. Existe de novo Scrates, de novo Plato e de novo cada um dos homens com os mesmos amigos e concidados, as mesmas cirenas, as mesmas esperanas, as mesmas iluses (Nemsio, De nat. hom., 38, 277). Tal de facto o destino (eimarmne), a lei necessria que rege as coisas. O destino a ordem do mundo e a concatenao necessria que tal ordem pe entre todos os seres e, portanto, entre o passado e o porvir do mundo. Todo o facto se segue a um outro e est necessariamente determinado por ele como pela sua causa; e a todo o facto se segue um outro que ele determina como causa. Esta cadeia no se pode quebrar porque com ela seria quebrada a ordem racional do mundo. Se esta ordem, do ponto de vista das coisas que encadeia, destino, do ponto de vista de Deus, que o seu autor e garante infalvel. providncia que rege e conduz todas as coisas ao seu fim perfeito. Portanto, destino, providncia e razo identificam-se entre si, segundo os Estoicos, e identificam-se com Deus, considerado como a natureza intrnseca, presente e operante em todas as coisas (Alexandre Afr., De fato, 22, p. 191). Segundo este ponto de vista, os Estoicos justificavam a adivinhao, definida como a arte de prover o futuro mediante a interpretao da ordem necessria das coisas. Mas s o filsofo pode sei adivinho do futuro porque s elo conhece a ordem n~ia do mundo (Ccero, De divin., 11, 63, 130). 26 Identificando Deus com o cosmos, isto , com a ordem necessria do mundo, a doutrina estoica um rigoroso pantesmo. . ao mesmo tempo, uma justificao do politesmo
tradicional: os deuses da tradio seriam outros tantos aspectos da aco ordenadora divina. A divindade toma o nome de Jpiter fDi) enquanto tudo existe poT obra (di) sua, de Zeus enquanto causa de viver (zn), de Atena enquanto governa sobre o ter, de Hera enquanto governa sobre o ar, de Efastos enquanto fogo-artfice e assim por diante (Diog. L., VII, 147). E se o mundo, na sua ordem necessria, se identifica com a prpria razo divina, s pode ser perfeito. Os Estoicos no negavam a existncia do mal no mundo, consideravam apenas que ele era necessrio para a existncia do bem. Os bens so contrrios aos males, dizia Crisipo, no seu livro Sobre a Providncia. pois necessrio que uns sejam sustentados pelos outros porque sem um contrrio no existiria to-pouco o outro contrrio. No haveria justia se no houvesse a injustia, pois que ela no mais que a libertao da injustia. No haveria moderao -se no houvesse a intemperana, nem a prudncia se no houvesse a imprudncia e assim por diante. No haveria verdade sem a mentira (Gellio, Noct. att., VII, 1). "Deus harmonizou no mundo todos os bens com todos os males de maneira que nasa dai a razo eterna de tudo", cantava Cleanto no Hino a Jpiter. 94. A PSICOLOGIA ESTOICA Disse-se j que, segundo os Estoicos, a alma entra no rol das coisas corpreas com base no princpio de que corpo aquilo que age e que a alma age, Crisipo servia-se da prpria definio platnica da morte como "separao da alma do 27 corpo" para tirar dela a confirmao da corporeidade da alma. "0 incorpreo no poderia separar-se do corpo nem unir-se com ele; mas a alma une-se ao corpo e no se separa dele, portanto a alma corpo" (Nemsio, De nat. nom., 2, 81). A Alma humana uma parte da Alma do mundo, isto , de Deus; como Deus fogo ou sopro vivificante; e sobrevive morte no seio da Alma do Mundo (Diog. L., VII, 156). As partes da alma so quatro: 1.* o princpio directivo ou hegemnico que a razo; 2.* os cinco sentidos; 3.O o smen ou o princpio espermtico; 4.<' a linguagem (Diog. L., VII, 157; Sexto E., Adv. math., IX, 102). O princpio hegemnico gera e controla as outras partes da alma que se prolonga nelas "como os tentculos de um polvo". Assim, alm de produzir as representaes e o assentimento, ele determina tambm os sentidos e o instinto. Segundo alguns testemunhos, os Estoicos teriam posto o princpio hegemnico na cabea, comparada quilo que o sol no cosmos (Aezio, Plac., IV, 21); mas, segundo outros, t-la-iam colocado no corao ou no sopro em torno do corao (1b., IV, 5, 6). Os Estoicos partilham o conceito, j defendido por Plato e Aristteles, de que a liberdade consiste no ser "causa de si" ou dos prprios actos ou movimentos. Eles conheciam tambm o termo autopraghia, que se pode traduzir por autodeterminao, para indicar a liberdade e diziam que s o sage livre porque s ele se determina por si (Diog. L., VII, 121). Todavia, a liberdade do sage no consiste noutra coisa seno no seu conformar-se com a ordem do mundo, isto , com o destino (Diog. L., VII, 88; Stobeo, Flor., VI, 19; Cicer., De fato, 17). Assim, com os Estoicos, apresenta-se pela primeira vez a doutrina que identifica a liberdade com a necessidade, transferindo a prpria liberdade da parte para o todo, isto , do homem 28
para o princpio que opera e age no homem. No faltou, porm, entre os mestres do Stoa quem quisesse reconhecer a iniciativa do sage uma certa margem de liberdade no confronto com a prpria ordem csmica. Crisipo distinguia entre as causas perfeitas e fundamentais e as concomitantes ou prximas. As primeiras agem com necessidade absoluta; as segundas podem sofrer a nossa influncia; e mesmo quando no a sofrem est no nosso poder secund-las ou no. Assim como quem d um impulso a um cilindro lhe imprime o comeo do movimento mas no a capacidade de rodar, assim os objectos externos imprimem dentro de ns a representao mas no determinam o assentimento que permanece em nosso poder. Nestes limites, a vontade e a ndole de cada um podem influir, em conformidade com a ordem do todo, na escolha e na execuo das aces (Ccer., De fato, 41-43; Aulo G., Noet. att., VII, 2). 95. A TICA ESTOICA Deus confiou a realizao e a conservao da ordem perfeita do cosmos no mundo animal a duas foras igualmente infalveis: o instinto e a razo. O instinto (horm) guia infalivelmente o animal na conservao, na alimentao, na reproduo e em geral a tomar cuidado consigo para os fins da sua sobrevivncia (Diog. L., VII, 85). A razo , por outro lado, a fora infalvel que garante o acordo do homem consigo prprio e com a natureza em geral. A tica dos Estoicos , substancialmente, uma teoria do uso prtico da razo, isto , do uso da razo com o Em de estabelecer o acordo entre a natureza o o homem. Zeno afirmava que o fim do homem o acordo consigo prprio, isto , o 29 viver "segundo uma razo nica e harmnica". "Ao acordo consigo prprio, Cleanto acrescentou o acordo com a natureza e por isso define o fim do homem como "a vida conforme a natureza". E Crisipo exprimo a mesma coisa dizendo: "viver conforme com a experincia dos acontecimentos naturais" (Stobeo, Ecl., 11, 76, 3). Mas parece que j Zeno tinha adoptado a frmula do "viver segundo a natureza" (Diog. L., VII, 87). E indubitavelmente esta a mxima fundamental da doutrina estoica. Por natureza, Cleanto entendia a natureza universal, Crisipo no s a natureza universal mas tambm a humana que parte da natureza universal. Para todos os Estoicos, a natureza a ordem racional, perfeita e necessria que o destino ou o prprio Deus. Por isso Cleanto orava assim: "Conduz-me, 6 Zeus, e tu, Destino, aonde por vs sou destinado e vos servirei sem hesitao: porque ainda que eu no quisesse, vos deveria seguir igualmente como estulto" (Stobeo, Flor., VI, 19). Ora a aco que se apresenta conforme com a ordem racional o dever (kathkon): a tica estoica , pois, fundamentalmente uma tica do dever e a noo do dever, como conformidade ou convenincia da aco humana com a ordem racional, torna-se, pela primeira vez, nos Estoicos, a noo fundamental da tica. Efectivamente, nem a tica platnica nem a tica aristotlica fazem referncia ordem racional do todo, assumindo como seu fundamento, para a primeira, a noo de justia, para a segunda, a de felicidade. A noo de dever no surgia no seu mbito e nelas dominava a noo de virtude como caminho para realizar a justia ou felicidade. "Os Estoicos chamam dever -diz Digenes Larcio- (VII, 107-09) quilo cuja escolha pode ser racionalmente justificada... Das aces realizadas pelo instinto algumas so prprias do 30
dever. outras nem prprias do dever nem contrrias ao dever. Prprias do dever so aquelas que a razo aconselha efectuar, como honrar os pais, os irmos, a ptria e viver em harmonia com os amigos. Contra o dever so aquelas que a razo aconselha a no fazer... Nem prprias do dever nem contrrias ao dever so aquelas que a razo nem aconselha nem condena, como levantar uma palha, pegar numa pena, etc.". Como nos refere Ccero, (De offi, 111, 14), os Estoicos distinguiam o dever recto, que perfeito e absoluto e no pode encontrar-se em mais ningum a no ser no sage, e os deveres "intermdios" que so comuns a todos e muitas vezes s so realizados com a ajuda da boa ndole e de uma certa instruo. Esta prevalncia da noo do dever levou os Estoicos a uma doutrina tpica da sua tica: a justificao do suced-io. Efectivamente, quando as condies contrrias ao cumprimento do dever prevalecem sobre as favorveis, o sage tem o dever de abandonar a vida mesmo se est no cume da felicidade (Cicer., De fin., 111, 60). Sabemos que muitos mestres do Stoa seguiram este preceito que , na realidade, a consequncia da sua noo do dever. Todavia, o dever no o bem. O bem comea a existir quando a escolha aconselhada pelo dever vem repetida e consolidada, mantendo sempre a sua conformidade com a natureza, at tornar-se no homem urna disposio uniforme e constante, isto , uma virtude (Cicer., De fin., 111, 20, Tusc., IV, 34). A virtude , efectivamente, o nico bem. Mas s prpria do sage, isto , daquele que capaz do dever recto e se identifica com a prpria sageza porque esta no possvel sem o conhecimento da ordem csmica qual o sage se adequa. A virtude pode ter nomes diferentes segundo os domnios a que referida (a sageza incide sobre os objectivos do homem, a temperana sobre os impulsos, a for31 taleza sobre os obstculos, a justia sobre a distribuio dos bens (Stobeo, Ecl., 11, 7, 60). Mas, na realidade, existe uma s virtude e s a possui integralmente aquele que sabe entender e compreender e cumprir o dever, isto , s o sage (Diog. L., VII, 126). Entre a virtude e o vcio no h, portanto, meio termo. Como um pedao de madeira ou direito ou curvo sem possibilidade intermdia, assim o homem justo ou injusto e no pode ser justo ou injusto s parcialmente. De facto, aquele que tem a recta razo, isto , o sage, faz tudo bem e virtuosamente, enquanto quem privado da recta razo, o estulto, faz tudo mal e de maneira viciosa. E pois que o contrrio da razo a loucura, o homem que no sage louco. Pode-se certamente progredir para a sabedoria. Mas como quem est submerso pela gua, ainda que esteja pouco abaixo da superfcie, no pode respirar como se estivesse nas guas profundas, assim aquele que avanou para a virtude, mas no virtuoso, no est menos na misria do que aquele que est mais longe dela (Cicer., De fin., 111, 48). A virtude o nico bem em sentido absoluto porque ela constitui a realizao no homem da ordem racional do mundo. Este princpio levou os Estoicos a formular uma outra doutrina tpica da sua tica: a das coisas indiferentes (adiaphor). Se a virtude o nico bem, s devem considerar-se bens propriamente a sabedoria, a justia, etc., e males os seus contrrios; enquanto no so bens nem males as coisas que no constituem virtude, como a vida, a sade, o prazer, a beleza, a riqueza, a glria, etc., e todos os seus contrrios. Estas coisas so, portanto, indiferentes. Mas, no domnio destas mesmas coisas indiferentes, algumas so dignas de ser preferidas ou escolhidas como, precisamente, a vida, a sade, a beleza, a riqueza. etc.; 32
outras no, como os seus contrrios. Existem, pois, alm dos bens (a virtude), outras coisas que no so bens mas que, todavia, so tambm dignos de ser escolhidos. E para indicar o conjunto dos bens e de tais coisas os Estoicos utilizaram a palavra valor (axia). Valor , portanto, "todo o contributo para uma vida conforme com a razo" (Diog. L., VII, 105) ou em geral "aquilo que digno de escolha" (Cicer., De fin., 111, 6, 20). Com esta noo de valor fazia o seu ingresso na tica um conceito que devia revelar-se de grande importncia na histria desta disciplina. Faz parte integrante da tica estoica a negao total do, valor da emoo (pathos). Efectivamente, ela no tem qualquer funo na economia geral do cosmos que providenciou de modo perfeito na conservao e no bem dos seres vivos, dando aos animais o instinto e ao homem a razo. Pelo contrrio, as emoes no so provocadas por foras ou situaes naturais: so opinies ou juzos ditados pela ligeireza, por isso fenmenos de estultcia e de ignorncia que constituem em "julgar saber o que se no sabe" (Cicer., Tuse., IV, 26). Os Estoicos distinguiam quatro emoes fundamentais s quais reduziam todas as outras: duas originadas pelos bens presuntivos: o desejo dos bens futuros e a alegria dos bens presentes; duas originadas pelos males presuntivos: o temor dos males futuros e a aflio dos males presentes. A trs destas emoes, e precisamente ao desejo, alegria e ao temor faziam corresponder trs estados normais prprios do sage, isto , respectivamente a vontade, a alegria e a prudncia que so estados de calma e de equilbrio racional. Nenhum estado normal corresponde, pelo contrrio, no sapiente quilo que aflio para o estulto: efectivamente, para ele no existem males de que deva doer-se, dado que conhece a perfeio do universo. As emoes so, portanto, 33 verdadeiras e tpicas doenas que afectam o estulto mas de que o sage est imune. A condio do sage, , pois, a indiferena a toda a emoo, a apatia. A ordem racional do mundo, do mesmo modo que dirige a vida de todo o homem singular, dirige o da comunidade humana. Aquilo que se chama justia a aco, nesta comunidade, da prpria razo divina. A lei que se inspira na razo divina a lei natural da comunidade humana: uma lei superior reconhecida pelos diferentes povos da terra, perfeita, portanto no susceptvel de correces ou melhoramentos. Ccero, numa pgina famosa, exprimia assim o conceito desta lei: "Por certo, existe uma verdadeira lei, a da recta razo conforme com a natureza, difundida entre todos, constante, eterna, que com o seu mandado convida ao dever e com a sua proibio dissuade do engano... No ser diferente em Roma ou em Atenas ou hoje ou amanh, mas como nica, eterna, imutvel lei governar todos os povos e em todos os tempos" "Lactncio, Div. inst., VI, 8, 6-9; Cicer., De rep., 111, 33). Estes conceitos constituem e constituiro a base da teoria do direito natural que, por muitos sculos, foi um fundamento de toda a doutrina do direito. Se a lei que governa a humanidade nica, una ia comunidade humana. "0 homem que se conforma com a lei cidado do mundo (cosmopolita) e dirige as suas aces segundo o querer da natureza conforme o qual todo o mundo se governa" (Filon, De mundi opif., 3). Por isso, o sage no pertence a esta ou quela na o mas cidade universal na qual todos os homens so concidados. Nesta cidade no existem livres e escravos mas todos so livres. Para os Estoicos a nica escravido natural a do estulto enquanto no se determina em conformidade com aquela Ic que 34
a sua prpria natureza e do mundo. A escravatura imposta pelo homem sobre o homem, para os Estoicos, n o passa de malvadez (Diog. L., VII, 121), NOTA BIBLIOGRFICA 89. Sobre a filosofia ps-aristotlica: MELLI, La filosofia greca da Epicuro ai Neoplatonici, Flo~ rena, 1922; SCHMFKEL, For8chungen zur Philosophie des Helten8mus, Berlim, 1938. 90. Sobre a vida, os escritos e a doutrina dos antigos Estoicos as fontes principais so: 1.1 DIGENES LARciO, VII; 2., SEXTO EMPIRICO, Ipotiposi Pirronianas e Contra os -matemticos (estas obras so em boa parte tecidas com a -exposio e a crtica das doutrinas estoicas); 3.' CICERO, cujas obras filosficas so Inspiradas inteiramente pelo Estoicismo, que atingiu atravs dos escritos dos Eclcticos, principalmente de Possidnio, e Panzio; 4., diversos artigos de SUIDAS no Lxico; 5., FILODEMO, os restos do escrito Sobre os Estoicos. Os fragmentos deduzidos destas fontes e de outras menores ou mais ocasionais foram recolhidos por VON ARNIM, Stoicorum Veterum Fragmenta: vol. 1, "Zeno e os discpulos de Zeno", Leipzig, 1905; vol. II, " Os fragmentos lgicos e fsicos de Crisipo", Leipzig, 1903; vol. 111, "Os fragmentos morais de Crisipo e os fragmentos dos sucessores de Crisipo", Leipzig, 1903; vol. lV, "Indce", compilado por AMER, Leipzig, 1924. 91. Sobre a doutrina estoica em geral: BARTI1, De Stoa, Stutgard, 1908; 4.1 ed. 1922; BRMER, Chr- &ippe, Paris, 1910; 2.1 ed. 1951; POFILENZ, Die Stoa, Gottingen, 1948; 2., ed. 1954; J. BRUN, Le stoicisme, Paris, 1958. 92. Sobre a lgica estioa: B. MATrS, StoiC Logic, BerkeIey (Cal.), 1953; W KNEALE. e M. KNEALE, The Development of Logic, Oxford, 1962, cap. 3. 93. Sobre a fsica: J. MOREAu, LIme du monde de Platon aux Stoiciens, Paris, 1939; S. SAMBURSKI, The Physies of lhe Stoics, Londres, 1959, Sobre -a tica: RIETH, Grundbegriffe der stoischen Ethik, B@rlim, 1934; KIRK, The Moral Philosophy of lhe Stoics, New Brunswick, 1951. 35 XIV O EPICURISMO 96. EPICURO Epicuro, filho de Neocles, nasceu em Janeiro ou Fevereiro de 341 a.C. em Samos, onde passou a sua juventude. Comeou a ocupar-se de filosofia aos 14 anos. Em Samos escutou as lies do platnico Panfilo e depois do democritiano Nausfone. Provvelmente foi este ltimo que o iniciou na doutrina de Demcrito, do qual, por algum tempo, se considerou discpulo. S mais tarde afirmou a completa independncia da sua doutrina da do seu inspirador, a quem julgou ento poder designar com o arremedo de Lerocrito (tagarela) (Diog. L., X, 8).
Aos 18 anos, Epicuro dirigiu-se a Atenas. No est demonstrado que tenha frequentado as lies de Aristteles e de Xencrates que era naquele tempo o chefe da Academia. Comeou a sua actividade de mestre aos 32 anos, primeiro em Mitilene e em Lmpsaco, e alguns anos depois em Atenas (307-06 a.C.), onde permaneceu at sua morte (271-70). 37 A escola tinha a sua sede no jardim (kepos) de Epicuro pelo que os seus sequazes foram chamados "filsofos do jardim". A autoridade de Epicuro sobre os seus discpulos era muito grande. Como as outras escolas, o Epicurismo constitua uma associao de carcter religioso, mas a divindade a que era dedicada esta associao era o prprio fundador da escola. "As grandes almas epicuristas -diz Sneca (Ep., 6) - no as formou a doutrina mas a assdua companhia de Epicuro". Tanto durante a sua vida como depois da sua morte, lhe tributaram os discpulos e os amigos honras quase divinas e procuraram modelar a sua conduta pelo seu exemplo. "Comporta-te sempre como se Epicuro te visse"-era o preceito fundamental da escola (Sneca, Ep., 25). Epicuro foi autor de numerosos escritos, cerca de 300. Restam-nos apenas trs cartas conservadas por Digenes Larcio (livro X): a primeira, a Herdoto, uma breve exposio de fsica; a segunda, a Meneceu, de contedo tico; e a terceira, a Pitocles, de atribuio duvidosa, trata de questes metereolgicas. Digenes Larcio conservou-nos tambm as Mximas capitais e o Testamento. Num manuscrito vaticano foi encontrada uma coleco de Sentenas e nos papiros de Herculano fragmentos da obra Sobre a Natureza. 97. A ESCOLA EPICURISTA O mais notvel dos discpulos imediatos de Epicuro foi Metrodoro de Lmpsaco cujos escritos foram na sua maior parte de contedo polmico. Mas contaram-se numerosssimos discpulos e amigos de Epicuro e entre eles no faltaram as mulheres como Temistia e a hetaira Leontina que escreveu contra Teofrasto. Com efeito, as mulheres 38 podiam tambm participar na escola, j que ela se fundava na solidariedade e na amizade dos seus membros o as amizades epicuristas foram famosas em todo o mundo antigo pela sua nobreza. Todavia, nenhum discpulo trouxe uma contribuio original para a doutrina do mestre. Epicuro exigia dos seus sequazes a rigorosa observncia dos seus ensinamentos; e a esta observncia se manteve fiel a escola durante todo o tempo da sua durao (que foi longussima, at ao sculo IV d.C.). Por isso, entre os seus numerosos discpulos, s recordaremos aqueles por cuja mediao nos chegaram ulteriores notcias acerca da doutrina epicurista. De Filodemo, que viveu no tempo de Ccero, revelaram-nos os papiros de Herculano alguns fragmentos que tratam de numerosos problemas sob o ponto de vista epicurista e nos apresentam as polmicas que se desenvolviam, naquele -tempo, no prprio interior da escola epicurista e entre ela e as outras escolas. Tito Lucrcio Caro deixou-nos no seu De rerum natura no s uma obra de grande valor potico mas tambm uma exposio fiel do Epicurismo. Pouco se sabe da vida de Lucrcio. Nasceu provavelmente em 96 a.C. e morreu em 55 -a.C.. A notcia de que estava louco, transmitida pelos escritores cristos, e que havia escrito o seu poema nos intervalos da loucura, ode ser uma inveno devida
p exigncia polmica de desacreditar o mximo representante latino do atesmo epicurista; em todo o caso, pouco verosmil pela causa aduzida da loucura do poeta: um filtro amoroso. Os seis livros da obra de Lucrcio (que est incompleta) dividem-se em trs partes, dedicadas, respectivamente, metafsica, antropologia e cosmologia, cada uma das quais compreende dois livros. No primeiro e segundo livro trata-se dos princpios de toda a realidade, da matria, do espao e da constituio dos 39 corpos sensveis. No terceiro e quarto livro, trata-se do homem. No quinto e sexto, do universo e dos fenmenos fsicos mais -importantes. A obra foi editada por Ccero, que teve que reorden-la um pouco, depois da morte de Lucrcio. O poeta latino v em Epicuro aquele que libertou os homens do temor do sobrenatural e da morte. Lucrcio considerava to grande esta tarefa que no hesitou em exaltar Epicuro como uma divindade e em reconhec-lo como o fundador da verdadeira cincia. Ao sculo 11 d.C. pertence Digenes de Enoanda (sia Menor) de quem se encontrou em 1884 um escrito esculpido em blocos de pedra. Estas inscries revelam uma doutrina perfeitamente conforme com a original de Epicuro; a nica novidade a defesa do Epicurismo contra outras correntes filosficas e, especialmente, contra os dilogos platnicos de Aristteles. 98. CARACTERSTICAS DO EPICURISMO Epicuro v na filosofia o caminho para alcanar a felicidade, entendida como libertao das paixes. O valor da filosofia , pois, puramente instrumental: o seu fim a felicidade. Mediante a filosofia o homem liberta-se de todo o desejo inquieto e molesto; liberta-se tambm das opinies irracionais e vs e das perturbaes que delas procedem. A investigao cientfica destinada a investigar as causas do mundo natural no tem um fim diferente. "Se no estivssemos perturbados pelo pensamento das coisas celestes e da morte e por no conhecermos os limites das dores e dos desejos, no teramos necessidade da cincia da natureza" (Mximas capitais, 11). O valor da filosofia est, pois, inteiramente em dar ao homem um "qudruplo remdio": 1.o Libertar os homens do temor 40 EPICURO dos deuses, demonstrando que pela sua natureza feliz, no se ocupam das obras humanas. 2.' Libertar os homens do temor da morte, demonstrando que ela no nada para o homem: "quando ns existimos, no existe a morte; quando a morte existe, no existimos ns" (Ep. a Men., 125). 3.' Demonstrar a acessibilidade do limite do prazer, isto , o alcanar fcil do prprio prazer; 4.' Demonstrar a distncia do limite do mal, isto , a brevidade e a provisoriedade da dor. Deste modo a doutrina epicurista manifestava claramente a tendncia de toda a filosofia ps-aristotlica para subordinar a investigao especulativa a um fim prtico, reconhecido como vlido independentemente da pr pria investigao, de modo que vinha a ser negado a tal investigao o valor supremo que lhe atribuem os filsofos do perodo clssico: o de ela prpria determinar o fim do homem e de ser, j como investigao, parte integrante deste fim.
Epicuro distingue trs partes da filosofia: a cannica, a fsica e a tica. Mas a cannica era concebida em relao to estreita com a fsica que se pode dizer que, para o Epicurismo, as partes da filosofia so apenas duas: a fsica e a tica. Em todo o domnio do conhecimento o fim que necessrio ter presente a evidncia (enrgheia): "a base fundamental de tudo a evidncia", dizia Epicuro. 99. A CANNICA DE EPICURO Epicuro chamou cannica lgica ou teoria do conhecimento enquanto a considerou essencialmente a oferecer o critrio de verdade e, portanto, um canon, isto , uma regra que oriente o homem para a felicidade. O critrio da verdade constitudo pelas sensaes, pelas antecipaes e pelas emoes. 41 A sensao produzida no homem pelo fluxo dos tomos que se separam da superfcie das coisas (segundo a teoria de Demcrito, 22). Este fluxo produz imagens (idola) que so em tudo semelhantes s coisas que as produzem. Destas imagens derivam as sensaes; das sensaes derivam as representaes fantsticas que resultara da combinao de duas imagens diferentes (por exemplo, a representao do centauro deriva da unio da imagem do homem e do cavalo). Das sensaes repetidas e conservadas na memria derivam tambm as representaes genricas (ou conceitos) que Epicuro, (como os Estoicos) chamou antecipaes. Com efeito, os conceitos servem para antecipar as sensaes futuras. Por exemplo, se se diz "este um homem" necessrio ter j o conceito de homem, adquirido por virtude das sensaes precedentes. Ora a sensao sempre verdadeira. Efectivamente, no pode ser refutada por uma sensao homognea, que a confirma, nem por uma sensao diferente que, proveniente de um outro objecto, no pode contradiz-la. A sensao , pois, o critrio fundamental da verdade. Finalmente, o terceiro critrio de verdade a emoo, isto , o prazer ou a dor, que constitui a norma para a conduta prtica da vida e est, portanto, fora do campo da lgica. O erro, que no pode subsistir nas sensaes e nos conceitos, pode subsistir, em contravertida, na opinio, a qual verdadeira se confirmada pelos testemunhos dos sentidos ou pelo menos no contraditada por tal testemunho; falsa no caso contrrio. Atendo-se aos fenmenos, tal como se nos manifestam merc das sensaes, pode-se, com o raciocnio, estender o conhecimento at s coisas que para a prpria sensao so desconhecidas; mas a regra fundamental do raciocnio , neste caso, o mais rigoroso acordo com os fenmenos percebidos. 42 No escrito de Filodemo, Sobre os sinais, que expe a doutrina do epicurista Zeno, mestre de Filodemo, desenvolvida e defendida contra os ataques dos Estoicos a teoria do raciocnio indutivo. Os Estoicos afirmavam: no basta verificar que os homens que existem nossa volta so mortais para afirmar que em todos os casos os homens so mortais; seria necessrio estabelecer que os homens so mortais, precisamente enquanto homens, para dar quela inferncia a sua necessidade. Mas os Epicuristas respondiam que, dado que nada se ope sua concluso, uma inferncia do gnero na analogia, deve ser considerada vlida. Dado que todos os homens que caem na alada da nossa experincia so semelhantes tambm no que respeita mortalidade, necessrio considerar que so semelhantes, tambm neste aspecto, aqueles que esto fora da nossa experincia (De
signis, XVI, 16-29). Por outras palavras, os Epicuristas admitiam que a induo era um processo por analogia (entendendo-se por analogia a identidade de duas ou mais relaes), no sentido de que uma vez verificado que, na nossa experincia, uma certa qualidade (no exemplo, "mortal") acompanhada constantemente por outra qualidade (aquela que os homens constituem), pode inferir-se que, tambm onde no alcana a experincia, esta relao se mantm constante, isto , que as outras qualidades dos homens so sempre acompanhadas pela de mortal (lb., XX, 32 e ss.). Deste modo, eles pressupunham no j a necessria semelhana dos homens, segundo a crtica dos Estoicos, mas a semelhana, isto , a uniformidade, das relaes entre qualidade ou factos, uniformidade que mais tarde ser chamada (por Stuart Mill) "uniformidade das leis da natureza", enquanto distinta da "uniformidade por natureza". Os Epicuristas partiam tambm de um sentido amplo de experincia e afirmavam 43 recolher "no s os sinais que nos aparecem ou que ns prprios experimentamos mas tambm as coisas que aparecem na experincia de outrem e que por ela podem ser tomadas" (1b., 32, 14). E tambm nisto se afastavam dos Estoicos que reduziam a experincia ao aqui e agora percebido e instituam, como se viu, a fora inteira do raciocnio sobre este aqui e agora. Acerca da linguagem Epicuro formulava, pela primeira vez, uma doutrina que foi retomada nos tempos modernos: a linguagem um produto natural porque a expresso sonora das emoes que unem os homens em determinadas condies (Diog. L., X, 75-76). a tese que foi defendida no sculo XVIII por Rousseau. 100. A FSICA DE EPICURO A fsica de Epicuro tem COMO objectivo excluir da explicao do mundo toda a causa sobrenatural e libertar assim os homens do temor de estar merc de foras desconhecidas e de misteriosas intervenes. Para alcanar este objectivo a fsica deve ser: 1.o materialstica, isto , excluir a presena no mundo de qualquer " alma" ou princpio espiritual; 2.O mecanstica, isto , servir-se na sua explicao unicamente do movimento dos corpos excluindo qualquer finalismo. Dado que a fsica de Demcrito correspondia a estas duas condies, Epicuro adoptou-a e f-la sua com escassas e insignificantes modificaes. Como os Estoicos, Epicuro afirma que tudo aquilo que existe corpo porque s o corpo pode agir ou sofrer uma aco. De incorpreo, admite apenas o vazio, mas o vazio no age nem sofre alguma coisa, apenas permite aos corpos moverem-se atravs de si prprio (Ep. ad Her., 67). Tudo aquilo 44 que age ou sofre corpo e todo o nascimento ou morte mais que a agregao ou a desagregao dos corpos. Por isso Epicuro admite com Demcrito que nada vem do nada e que cada corpo composto de corpsculos indivisveis (tomos) que se movem no vazio. No vazio infinito, os tomos movem-se eternamente chocando-se, combinando-se entro s@i. As suas formas so diversas; mas o seu nmero, embora indeterminvel, no infinito. O seu movimento no obedece a nenhum desgnio providencial, a qualquer ordem finalstica, Os Epicuristas excluem explicitamente a providncia estoica e a crtica a tal providncia constitui um dos temas preferidos da sua polmica. Contra a aco da
divindade no mundo, argumentam tomando como ponto de partida a existncia do mal. "A divindade ou quer suprimir os males e no pode ou pode e no quer ou no quer nem pode ou quer e pode. Se quer e no pode -impotente; e a divindade no o pode ser. Se pode e no quer, invejosa, e a divindade no o pode ser. Se no quer e no pode, invejosa e impotente, portanto no divindade. Se quer e pode (que a nica coisa que lhe conforme) donde vem a existncia dos males e porque no os elimina? (fr. 374, Usener). Eliminada do mundo a aco da divindade, no ficam para explicar a ordem seno as leis que regulam o movimento dos tomos. A estas leis nada escapa, segundo os Epicuristas; elas constituem a necessidade que preside a todos os acontecimentos do mundo natural. Um mundo , segundo Epicuro, "um pedao de cu que compreende astros, terras e todos os fenmenos, recortado no infinito". Os mundos so infinitos; eles esto sujeitos ao nascimento e morte. Todos se formam devido ao movimento dos tomos no vazio infinito. Mas Epicuro, ao considerar que os tomos caem no vazio em linha recta e com 45 a mesma velocidade, para explicar o choque, devido ao qual se agregam e se dispem nos vrios mundos, admite um desvio casual dos tomos da sua trajectria rectilnea. Este desvio dos tomos o nico acontecimento natural no sujeito necessidade. Ele, como diz Lucrcio, "despedaa as leis do fado". Epicuro admite, contudo, a existncia das divindades neste mundo, donde foi eliminado todo o sinal de potncia divina. E admite-as devido ao seu prprio empirismo, porque os homens tm a -imagem da divindade e esta imagem, como outra qualquer, no pode ter sido produzida em si seno pelos fluxos dos tomos emanados da prpria divindade. Os deuses tm a forma humana, que a mais perfeita e, portanto, a nica digna de ser racional. Eles mantm uns com os outros uma amizade anloga humana; e habitam os espaos entre mundo e mundo (ilitermundi). Mas no se preocupam nem com o mundo nem com os homens. Todo o cuidado deste gnero seria contrrio sua perfeita beatitude, dado que lhes imporia uma obrigao e eles no tm obrigaes, antes vivem livres e felizes. Por isso, o motivo pelo qual o sage os honra no o temor, mas a admirao da sua excelncia. A alma , segundo Epicuro, composta por partculas corpreas que esto difundidas em todo o corpo como um sopro clido. Tais partculas so mais subtis e Tedondas que as demais o por isso mais mvois. As faculdades da alma, como se viu, so fundamentalmente trs: a sensao em sentido prprio; a imaginao (mens, segundo Lucrcio) que produz as representaes fantsticas; a razo (logos) que a faculdade do juzo e da opinio. A estas faculdades teorticas junta-se a emoo, prazer ou dor, que a norma da conduta prtica. A parte irracional da alma, que o princpio da vida, est difundida por todo o corpo. 46 Com a morte, os tomos da alma separam-se e cessa qualquer possibilidade de sensao: a morte "privao de sensaes". Por isso estulto tem-la: "0 mais terrvel dos males, a morte, no nada para ns porque quando existimos ns no existe a morte, quando existe a morte no existimos ns" (Ep. ad Men., 125). 101. A TICA DE EPICURO
A tica epicurista , em geral, uma derivao da cirenaica ( 39). A felicidade consiste no prazer: "o prazer o princpio o o fim da vida feliz", diz Epicuro (Diog. L., X 149). Com efeito, o prazer o critrio da eleio e da averso: tende-se para o prazer, foge-se da dor. Ele tambm o critrio com que avaliamos todos os bens. Mas h duas espcies de prazeres: o prazer estvel que consiste na privao da dor e o prazer em movimento que consiste no gozo e na alegria. A felicidade consiste apenas no prazer estvel ou negativo, "no no sofrer e no no agitar-se" e , portanto, definida como ataraxia (ausncia de perturbao) e aporia (ausncia de dor). O significado destes dois termos oscila entre a libertao temporal da dor da necessidade e a ausncia absoluta de dor. Em polmica com os Cirenaicos que afirmavam a positividade do prazer, Epicuro afirma explicitamente que "o cume do prazer a simples e pura destruio da dor." Este carcter negativo do prazer impe a escolha e a limitao das necessidades. Epicuro distingue as necessidades naturais e as inteis; das necessidades naturais, umas so necessrias, outras no. Daquelas que so naturais e necessrias, umas so necessrias felicidade, outras sade do corpo, outras prpria vida. S os desejos naturais e 47 necessrios devem satisfazer-se; os demais devem abandonar-se e rechaar-se. O epicurismo que, portanto, no o abandono ao prazer, mas o clculo e a medida dos prazeres. Tem de se renunciar aos prazeres de que deriva uma dor maior e suportar at largamente as dores de que deriva um prazer maior. "A cada desejo conveniente perguntar: que suceder se for satisfeito? Que acontecer se no for satisfeito? S o clculo cuidadoso dos prazeres pode conseguir que o homem se baste a si prprio e no se converta em escravo das necessidades e da preocupao pelo amanh. Mas este clculo s se pode ficar a dever sageza (frnesis). A sageza mais preciosa do que a filosofia, porque por ela nascem todas as outras virtudes e sem ela a vida no tem doura, nem beleza, nem justia" (Ep. ad Men., 132). A virtude, e especialmente a sageza que a primeira e a fundamental, aparecem assim a Epicuro como condio necessria da felicidade. sageza se deve o clculo, a escolha e a limitao das necessidades e, portanto, o alcanar da ataraxia e da aponia. Num passo famoso do escrito Sobre o fim, Epicuro afirma explicitamente o carcter sensvel de todos os prazeres. "Em minha opinio -diz eleno sei conceber que coisa o bem se prescindo dos prazeres do gosto, dos prazeres do amor, dos prazeres do ouvido, dos que derivam das belas imagens percebidas pelos olhos e, em geral, todos os prazeres que os homens tm pelos sentidos. No verdade que s o gozo da mente um bem; dado que tambm a mente se alegra com a esperana dos prazeres sensveis em cujo disfrute a natureza humana pode livrar-se da dor". (Ccer., Tusc., fil, 18, fr. 69, Usener. Confrontar com 67, 68 e 70, Usener). claro aqui que o bem se restringe ao mbito do prazer sensvel ao qual pertence tambm o prazer que a msica d ("os prazeres dos sons") 48 e a contemplao da beleza ("prazeres das belas imagens"); e que o prazer espiritual se reduz esperana do prprio prazer sensvel. Pode ser que o carcter polmico do fragmento (dirigido provavelmente contra o protrptico de Aristteles, o qual platonicamente exaltava a superioridade do prazer espiritual, 69), tenha levado Epicuro a acentuar a sua tese da sensibilidade do prazer. Mas claro que esta tese deriva necessariamente da sua doutrina fundamental que faz da sensao o cnon fundamental
da vida do homem. Que o verdadeiro bem no seja o prazer violento, mas o estvel da aponia e da ataraxia no coisa que contradiga a tese da sensibilidade do prazer porque a aponia "o no sofrer no corpo" e a ataraxia "o no ser perturbado na alma" pela preocupao da necessidade corprea. Mas, por isto, a doutrina de Epicuro no se pode confundir com um vulgar hedonismo. Opor-se-ia a tal hedonismo o culto da amizade que foi caracterstico da doutrina e da conduta prtica dos Epicuristas. "De todas as coisas que a sageza nos oferece para a felicidade da vida, a maior de longe a aquisio da amizade" (Max. cap., 27). A amizade nasceu do til, mas ela um bem por si mesma. O amigo no aquele que procura sempre o til, nem quem nunca o une amizade, dado que o primeiro considera a amizade como um trfico de vantagens, o segundo destri a confiada esperana de ajuda que constitui grande parto da amizade (Sentenas Vaticanas, 39, 34, Bignone). Opor-se-ia tambm ao referido hedonismo a exaltao da sageza. Seria certamente melhor, segundo Epicuro, que a fortuna tornasse prspera em todos os casos a sageza; mas sempre prefervel a sageza desafortunada insensatez afortunada (Ep. ad Men., 135). Ainda que a justia seja somente uma conveno que os homens estabeleceram entre si 49 para a utilidade comum, isto , para que se evite * fazer-se recIprocamente dano, muito difcil que * sage se deixe arrastar a cometer uma injustia ainda que esteja seguro de que o seu acto permanecer desconhecido e que, por isso, no lhe trar dano. "Quem alcanou o fim do homem, ainda que ningum esteja presente, ser igualmente honesto" (fr. 533, Usener). A atitude do epicurista para com os homens em geral definida pela mxima: " no s mais belo, mas tambm mais agradvel fazer o bem do que receb-lo" (fr. 544). Nesta mxima o prazer surge de facto como fundamento e a justificao da solidariedade entre todos os homens. E, na verdade, Digenes Larcio testemunha-nos o amor de Epicuro pelos seus pais, a sua fidelidade aos amigos, o seu sentido de solidariedade humana (X, 9). Quanto vida poltica, Epicuro reconhecia as vantagens que ela traz aos homens, obrigando-os a acatar as leis que os impedem de se prejudicarem mutuamente. Mas aconselhava ao sage que permanecesse alheio vida poltica. O seu preceito : "vive escondido" (fr. 551). A ambio poltica s pode ser fonte de perturba o e, portanto, obstculo para o alcanar da ataraxia. NOTA BIBLIOGRFICA 96. As notcias antigas sobre a vida, os escritos e a doutrina de Epicuro e dos epicuristas foram recolhidas pela primeira vez por H. USENER, Epicurea, Leipzig, 1887. - BIGNONE, Epicuro, obras, fragmentos, testemunhos sobre a vida, traduzidos com introduo e comentrios, Bari, 1920; DIANO, Epicuri Ethica, Florena, 1946; ARRIGITEM, Epicuro. Opere, Introdu- o, texto critico, traduo e notas, Turim, 1960. Oo ltimos volumes recolhem tambm oe fragmentos encontrados nos papiros de HercuLano. -Sobre a formaAo da doutrina epicurista: BIGNONF,, LIAr~tele 50 perduto e Ia form_azione filosofica di Epicuro, 2 vols., Florena, 1936; DIANO, Note epicuree, in ".4=ali Scuola normale superiore di Pisa", 1943; Questione epicuree, in.
"Giornale critico filosofia italiana", 1949. 97. Sobre os discpulos de Epicuro: ZELLER, M, 1, p. 378 ss.; LuCRCio, De rerum natura, ed. Giussani, Turim, 1896-98. Os Fragmentos de Filodemo encontram-se nas citadas compilaes: o De signis, ed. GOMPERZ, Le-,ipzig, 1865; ed. e traduo inglesa DE LAcy, Filadlfia, 1941; Digenes de Enoanda, fragmentos editados por WILLIAM, Leipzig, 1907. 99. Sobre Epicuro em geral: BAILEY, The Greek Atomists and Epicurus, Oxford, 1928; N. W. DE WITT, Epicurus and his Philosophy, Minneapolis, 1954. 100. C. DIANO, La psicologia di Epicuro, in "Giornale critico filosofia Italiana", 1939; V. E. ALFIERI, Studi di filosofia greca, Bari, 1950. 101. GuyAu, La morale d'Epicure, Paris, 1886; MONDOLFO, Problemi del pensiero antico, Bolonha, 1936. x_V O CEPTICISMO 102. CARACTERISTICAS DO CEPTICISMO A palavra cepticismo deriva de skpsi*s, que significa indagao. Em conformidade com a orientao geral da filosofia ps-aristotlica, o Cepticismo tem como objecto o alcanar da felicidade como ataraxia. Mas enquanto o Epicurismo e o Estoicismo punham a condio da mesma numa doutrina determinada, o Cepticismo coloca tal condio na crtica e na negao de toda a doutrina determinada, numa indagao que ponha em evidncia a inconsistncia de qualquer posio teortico-prtica, as considere a todas igualmente falazes e se abstenha de aceitar alguma. A tranquilidade do esprito em que consiste a felicidade, consegue-se, segundo os cpticos, no j aceitando uma doutrina, mas refutando qualquer doutrina. A indaga- o (skpsis) o meio de alcanar esta refutao e, por conseguinte, a ataraxia. Daqui resulta a mudana radical e tambm a decadncia profunda que o conceito de investiga53 o sofre por obra do cepticismo. Se se confronta o conceito cptico de indagao, como instrumento da ataraxia, com o conceito socrtico e platnico da procura, a mudana evidente. Para Scrates e Plato, a primeira exigncia da procura a de encontrar o prprio fundamento e a prpria justificao, a de organizar-se a articular-se internamente, a de aprofundar-se a si prpria para reconhecer as condies e os princpios que a tornam possvel. A indagao cptica no procura justificao em si prpria. A ela basta-lhe levar o homem refutao de toda a doutrina determinada e, portanto, ataraxia. Por isso se nutre quase exclusivamente da polmica contra as outras escolas e se aplica a refutar os diferentes pontos de vista, sem nunca dirigir o olhar para si prpria, para o fundamento e o valor do seu procedimento. Indubitavelmente, ainda assim, a indagao cptica desempenhou uma tarefa histrica notvel, afastando as escolas filosficas contemporneas da sua estagnao dogmtica e estimulando-as incessantemente indagao dos fundamentos dos seus postulados.
O cepticismo no uma escola mas a orientao seguida na Grcia por trs escolas diferentes: La a escola de Pirro de Elis, no tempo de Alexandre Magno; 2.a a mdia e nova Academia; Ia os Cpticos posteriores, a comear por Enesidemo, os quais defendem um retorno ao pirronismo. 103. PIRRO Pirro, natural de Elis, pde ainda conhecer talvez na sua cidade, a dialctica da escola eleomegrica ( 33) que, em muitos aspectos, um antecedente do Cepticismo. Participou na campanha de Alexandre Magno no Oriente juntamente com o 54 democritiano Anaxarco. Fundou na ptria uma escola que depois da sua morte teve pouca durao. Viveu na pobreza e morreu muito velho cerca de 270 a.C.. No deixou escritos. Conhecemos as suas doutrinas atravs da exposio de Digenes Larcio (IX, 61, 108) e pelos fragmentos de Slloi (ou versos burlescos) com os quais o seu discpulo Tmon de Fliunte (329-230 a.C. aproximadamente) exps e defendeu a sua doutrina. Os Sofistas tinham oposto a natureza convencionalidade das leis e tinham distinguido o que bem por natureza daquilo que bem por conveno. Pirro renova esta distino, mas apenas para negar que existam coisas verdadeiras ou falsas, belas ou feias, boas ou ms, per natura. Tudo aquilo que julgado tal julgado tal " por conveno ou por costume", no por verdade e por natureza. J que para o conhecimento humano as coisas no so verdadeiramente apreensveis e a nica atitude legtima por parte do homem a suspenso de qualquer juzo (epoch) sobre a sua natureza: o no afirmar de qualquer coisa que verdadeira ou falsa, justa ou injusta e assim sucessivamente. Esta suspenso leva a admitir que todas as coisas so indiferentes para o homem e evita que se conceda qualquer preferncia a uma mais do que a outra. Assim a suspenso do juzo j por si mesma ataraxia, ausncia de qualquer perturbao ou paixo. Para ser coerente, Pirro, que no tinha f nos sentidos, andava em redor sem olhar e sem se esquivar de nada, afrontando os carros se os encontrava, precipcios, ces, etc. (Diog. L., IX, 62). Timn de Fliunte rebatia a doutrina do mestre, considerando que, para ser feliz, o homem devia conhecer trs coisas: La qual a natureza das coisas; 2 a que posio necessrio tomar frente a elas; Ia que consequncias resultaro dessa atitude. Mas as coisas mostramse todas igualmente indife55 rentes, incertas e indiscernveis. Por isso a nica atitude possvel a de no se pronunciar a respeito de nenhuma delas (afasia) e a de permanecer completamente indiferente frente a elas (ataraxia). 104. A MDIA ACADEMIA A escola de Pirro esgotou-se muito depressa; mas a orientao cptica foi retomada pelos filsofos da Academia que encontravam o fundamento dela no prprio interior da doutrina platnica. Com efeito, Plato sustentara constantemente que no pode haver cincia do
mundo sensvel ( 59). Esta concerne ao mundo do ser, no ao mundo dos sentidos, a respeito do qual s se podem alcanar opinies provveis. Mas a especulao em torno do mundo do ser j no interessava os filsofos deste perodo, os quais pediam filosofia que se convertesse em instrumento dos fins prticos da vida. E assim, da doutrina platnica, conservava actualidade apenas a sua parte negativa, precisamente aquela que negava validade de cincia ao conhecimento do mundo sensvel e reduzia tal conhecimento a mera opinio provvel. Aquele que iniciou este novo rumo da Academia foi Arquesilau de Pitane (315/14-241/40) que sucedeu a Cratete na direco da escola. Arquesilau no escreveu nada, de modo que conhecemos as suas doutrinas s indirectamente. Segundo um testemunho de Ccero (De orat., 111, 18, 67), ele no manifestou nenhuma opinio prpria, mas limitou-se a discutir as opinies que os outros exprimiam. Quis imitar a Scrates, mas para ir mais longe do que o prprio Scrates. Se Scrates afirmava que o homem nada pode saber a no ser precisamente que no sabe nada, Arquesilau negava que tambm isto se pudesse afirmar 56 com segurana. Por Sexto Emprico sabemos que as suas crticas principais foram dirigidas ao seu contemporneo Zeno de Citium, o fundador da Stoa. Arquesilau negava que existisse uma representao cataltica porque negava que existisse uma representao que no possa tornar-se falsa. Por isso a funo do sage no a de dar o assentimento a uma representao qualquer, mas abster-se de qualquer assentimento. Quanto aco, ela no tem necessidade da representao cataltica. Arquesilau sustentava que a regra daquilo que se deve escolher ou evitar o bom senso ou a equidade (eulogia) que a base da sageza (Sexto E., Adv. math., VII, 153 ss.). Seguiram-se a Arquesilau como chefes da escola outros mestres (Lacides, Telecles, Evandro, Hegesino) dos quais no se sabe nada, excepto que seguiram a orientao de Arquesilau. Ao ltimo sucedeu Carnades. 105. A NOVA ACADEMIA Carnades de Cirena (214/12-129/28) considerado o fundador da terceira ou nova Academia e foi homem notvel por sua eloquncia e doutrina. Em 156155 foi em embaixada a Roma juntamente com o estoico Digenes e com o peripattico Critolau. Tambm ele no deixou escritos e as suas doutrinas foram recolhidas pelos discpulos. A doutrina de Carnades define-se sobretudo em oposio do estoico Crisipo. "Se Crisipo no tivesse existido, tambm eu no existiria", dizia Carnades (Diog. L., IV, 62). Carnades considera que o saber impossvel e que nenhuma afirmao verdadeiramente indubitvel. Durante a sua permanncia em Roma, pronunciou um dia um discurso belssimo em louvor da justia, demonstrando que ela a base de toda a vida civil. Mas, ao outro 57 dia, pronunciou um novo discurso, ainda mais convincente do que o primeiro, demonstrando que a justia diferente segundo os tempos e os povos e que est muitas vezes em contradio com a sageza. E demonstrava este contraste com o prprio exemplo do povo romano que se havia apoderado de todo o mundo, arrancando aos outros a sua
posse. "Se os romanos quisessem ser justos -disse ele- deveriam restituir aos outros as suas possesses e voltar para casa na misria, mas em tal caso seriam estultos; e assim sageza e justia no caminham de acordo" (Lactncio, Ist. div., 5, 14). Carnades criticou no mesmo esprito todas as doutrinas fundamentais dos Estoicos e principalmente a do destino e da providncia, sustentando que as desmentia no seu pressuposto, que a necessidade, pela existncia do acaso e da liberdade humana (Cicer., De fato, 31-34). Ele utilizou, alm disso, as antinomias megricas, por exemplo a do mentiroso, para demonstrar a impossibifidade de decidir com a dialctica aquilo que verdadeiro ou falso. Finalmente considerou falacioso o critrio estoico da representao cataltica, negando que os sentidos ou a razo pudessem valer como critrios de verdade. Quanto conduta da vida e conquista da felicidade, admitia, contudo, um critrio. Tal critrio, porm, no objectivo, isto , no consiste na relao da representao com o seu objecto, com base na qual a prpria representao poderia ser verdadeira ou falsa, mas subjectivo, isto , inerente relao da representao com quem a possui. portanto um critrio, no de verdade, mas de credibilidade. Se no se pode dizer qual seja a representao verdadeira, isto , correspondente ao objecto, pode-se dizer qual a representao que aparece como verdadeira ao sujeito. A esta representao, chama Carnades plausvel ou persuasiva 58 (pitanon). Se uma representao persuasiva no contraditada por outras representaes do mesmo gnero, ela tem um grau maior de probabilidade: assim os mdicos, por exemplo, diagnosticam uma doena por vrios sintomas concordantes. Finalmente, a representao provvel, no contraditada, examinada em todas as suas partes, o terceiro e mais alto grau de probabilidade (Sexto E., adv. math., VII, 162 ss.). A Carnades sucedeu na direco da escola um seu parente com o mesmo nome, e a este outras figuras menores, depois dos quais foi seu chefe Fjln de Larissa, o fundador da quarta Academia. 106. OS LTIMOS CPTICOS Abandonada pela Academia, a orientao cptica foi retomada por outros pensadores que quiseram ater-se directamente ao fundador do cepticismo, Pirro. Estes pensadores que floresceram do ltimo sculo a.C. ao 11 sculo d.C. no quiseram formar uma escola mas apenas uma orientao (agogh). Os principais foram Enesidemo, Agripa e Sexto Emprico. Enesidemo de Cnossos ensinou em Alexandria. Escreveu oito livros de Discursos pirrnicos que se perderam. Pelas repetidas afirmaes de Ccero, que considera extinto o pirronismo no seu tempo, deduz-se que Enesidemo devia ter iniciado a sua actividade depois da morte de Ccero (43 a.C.) Segundo Sexto Emprico, o cepticismo era considerado por Enesidemo como um caminho para a filosofia de Heraclito: "0 facto de que os contrrios parecem pertencer a uma mesma coisa, leva a admitir que eles so verdadeiramente a mesma coisa" (Pirr. hyp., 1, 210). Esta afirmao no significa 59 que Enesidemo tenha passado do cepticismo para o heraclitismo, mas apenas que, como j Plato no Teeteto, via no heraclitismo, que identifica os opostos, o fundamento de toda a concepo cptica que considera os opostos igualmente verdadeiros ou igualmente falsos.
Segundo Sexto Emprico, Enesidemo admitia dez modos (tropi) para chegar suspenso do juzo. O primeiro a diferena entre os animais, pela qual no podemos julgar entre as nossas representaes e as dos animais, porque derivam de diferentes constituies corpreas. O segundo a diferena entre os homens; o terceiro o da diferena entre as sensaes; o quarto, o das circunstncias, isto , das diferentes disposies humanas. O quinto o das posies, dos intervalos e dos lugares. O sexto, o das misturas. O stimo, o da quantidade e composies dos objectos. O oitavo, o da relao das coisas entre si e com o sujeito que as julga. O nono, o da continuidade ou raridade dos encontros entre o sujeito que julga e os objectos. O dcimo, o da educao, dos costumes, das leis, das crenas, e das opinies dogmticas. Cada um destes modos estabelece uma diversidade nos conhecimentos humanos ou uma equivalncia dos conhecimentos diversos, que se obtm segundo a diversidade dos mesmos modos. Se as sensaes so diferentes (3.' modo) para os diferentes homens (2.' modo) ou em diversas circunstncias (4.O modo), como -se pode distinguir entre a verdadeira e a falsa? Se os objectos surgem como diferentes segundo se apresentam misturados ou simples (6.O modo) ou em nmero maior ou menor (7.O modo) ou segundo se apresentam isolados ou em relao (8.' modo) ou raramente ou frequentemente ao homem (9.' modo), como se faz para decidir qual a verdadeira realidade do objecto? No resta, pois, outra possibilidade seno 60 suspender qualquer juzo. Leva a esta mesma concluso a considerao da diversidade entre as crenas e as opinies humanas, diversidade que torna impossvel decidir-se por uma ou outra delas. A Agripa (de quem no se sabe nada), atribui Sexto Emprico outros cinco modos para alcanar a suspenso do juzo, modos de carcter dialctico, teis sobretudo para refutar as opinies dos dogmticos: 1.' o modo da discordncia, que consiste em mostrar um dissdio insanvel entre as opinies dos filsofos e, por conseguinte, a impossibilidade de escolher entre elas, 2.' o modo que consiste em reconhecer que toda a prova parte de princpios que, por ;sua vez, exigem prova e assim at ao infinito; 3.O o modo da relao, pelo qual ns conhecemos o objecto relativamente a ns, e no qual em si prprio; 4.' o modo da hiptese, pelo qual se v que toda a demonstrao se funda em princpios que no se demonstram, mas se admitem por conveno; 5.O o crculo vicioso (dialelo), pelo qual se assume como demonstrado precisamente aquilo que se deve demonstrar: o que demonstra a impossibilidade da demonstrao. Outros Cpticos, sempre segundo Sexto Emprico (Pirr. hyp., 1, 178), reduziam todos estes modos a dois modos fundamentais de suspenso, isto , demonstrando que no se pode compreender nada nem por si nem na base de outro. Que nada se possa compreender por si, resulta do desacordo existente entre as opinies dos homens, desacordo insanvel, no havendo nenhum critrio que, por sua vez, no seja objecto de desacordo. Que nada se possa compreender na base de outro, resulta do facto de que, neste caso, seria necessrio ir at ao infinito ou fechar-se num crculo, dado que toda a coisa, para ser compreendida, requerer uma outra e assim sucessivamente. 61
107. SEXTO EMPIRICO A fonte de todas as notcias sobre o Cepticismo antigo a obra de Sexto que, como mdico, teve o sobrenome de Emprico e desenvolveu a sua actividade entre 180 e 214 d.C. Possumos dele trs escritos. Os Elementos (Ipotipposi) pirronianos, em trs livros, so uni compndio de filosofia cptica. Os outros dois surgem, tradicionalmente, sob o ttulo imprprio de Contra os matemticos. Ora o mtema o ensino em significado objectivo, a cincia enquanto objecto do ensino; matemticos so pois os cultores da cincia, isto , da gramtica, da retrica e das cincias do quadrvio (como foram chamadas na Idade Mdia) que Plato na Repblica considerava como propeduticas da dialctica: geometria, aritmtica, astronomia e msica. Contra esta cincias so dirigidos os livros I-IV da obra. Os livros V11-XI so dirigidos contra os filsofos dogmticos. Estes escritos de Sexto so importantes no s porque representam a smula de todo o Cepticismo antigo, como tambm porque so fontes preciosas para o conhecimento das prprias doutrinas que combatiam. Os pontos mais famosos das refutaes de Sexto, alm da doutrina dos tropos, so os seguintes: Crtica da deduo e da induo.-A deduo sempre um crculo vicioso (dialelo). Quando se diz: "Todo o homem animal, Scrates homem, portanto Scrates animal", no se poderia admitir a premissa "todo o homem animal" se no se considerasse j como demonstrada a concluso, que Scrates, como homem, animal. Por isso, quando se tem a pretenso de demonstrar a concluso, derivando-a de um princpio universal, na realidade j se a pressupe demonstrada. Por outro lado, a induo no tem maior validade. Com efeito, se ela se funda apenas no exame de alguns casos, no 62 segura, podendo desmenti-la em qualquer altura. os casos no examinados, e se se pretende que se funda em todos os casos particulares, o seu objectivo impossvel porque tais casos so infinitos (Pirr. hyp., 11, 193, 204). Crtica do conceito de causa.-Diz-se que a causa produz o efeito, portanto ela deveria preceder o efeito e existir antes dele. Mas se existe antes de produzir o efeito, causa antes de ser causa. Por outro lado, evidente, a causa no pode seguir o efeito nem ser contempornea dele porque o efeito s pode nascer da coisa que existe antes (Pirr. hYp., 111). Crtica da teologia estoica. -Sexto insistiu longamente nas contradies implcitas no conceito estoico da divindade. Segundo os Estoicos, tudo aquilo que existe corpreo; portanto, tambm Deus. Mas um corpo ou composto e est sujeito a decomposio, portanto mortal; ou simples e ento gua ou ar ou terra ou fogo. Por conseguinte, Deus deveria ser ou mortal ou um elemento inanimado, o que absurdo (Adv. math., IX, 180). Por outro lado, se Deus vivesse sentiria, e se sentisse, receberia prazer e dor; mas dor significa perturbao e se Deus capaz de perturbao mortal. Outras dificuldades derivam de atribuir a Deus todas as perfeies. Se Deus tem todas as virtudes, tambm tem a coragem; mas a coragem a cincia das coisas temveis e no temveis, portanto qualquer coisa de temvel para Deus, o que absurdo (lb., lX, 152 ss.). Sexto Emprico servia-se de todos estes argumentos para reforar a posio cptica da suspenso do juzo. Na vida prtica o cptico deve, segundo Sexto, seguir os fenmenos. Por isso so quatro os seus guias fundamentais: as indicaes que a natureza lhe d atravs dos sentidos, as
necessidades do corpo, a tradio das leis e dos costumes e as regras das 63 artes. Com estas regras, os ltimos, Cpticos procuraram diferenciar-se do critrio, sugerido pela mdia Academia, da aco motivada ou racional. Segundo Sexto, a diferena fundamental entre o Cepticismo pirrnico o o dos Acadmicos este: que enquanto os Acadmicos s admitiam saber que no possvel saber nada, os pirrnicos evitavam tambm esta assero e limitavam-se procura (Pirr. hyp., 1, 3). Sexto Emprico quis, noutros termos, realizar o ideal de uma investigao que seja apenas investigao, sem ponto de partida nem ponto de chegada. NOTA BIBLIOGRFICA 102. Sobre o desenvolvimento do cepticismo antigo: BROCHARD, Les sceptiques grees, Paris, 1887; GOEDECKEMEYER, Die Geschichte der griechischen 8keptizismus, Leipzig, 1905; DAL PRA, Lo scetticismo greco, Milo, 1950. 103. Sobre Pirro: noticias antigas sobre a vida e a doutrina, in DIGENES LARCIO, ] EX, 61-108; sobre Timon: ID., IX, 1099-116; DIELS, POt, philOS. fragm., 182 ss.; ZELLER, 111, 1, p. 494 ss.-ROBIN, Pyrrhon et le Scepticisme grec, Paris, 1944. 104. Sobre a vida, os escritos -e a doutrina de Arquesil-au e da Mdia Academia: DIGENEs LARCIO, IV, 28-45 (Arquesilau), 59-61 (Lacides). Para a doutrina, as fontes mais importantes so CICERO, Opp. filos., e STOBEO, Eclogae, lI, 39, 20 ss.. Sobre a Mdia Academia: ZELLER, IlT, 1, 507 ss.; CREDARO, Lo scetticismo degli Accademici, 2 vols., Milo, 1889-93. Sobre a lgica: PRANTL, 1, 496 ss. 105. Sobre Carnades: DiGENES LARCIO, IV, 62-66; ZELLER, M, 1, 516 ss.. 106. Sobre Enesidemo: DiOGENEs LARCIO, IX, 109-116; ZELLER, 111, 2, 1 ss.. Sobre Agripa: DiGENES LARCIO, ]IX, 88 ss.; ZELLER, 111, 2, p. 47 ss.. 107. As obras de Sexto Emprico foram editadas por Bekker, Berlim, 1892. Os Elementos Pirr64 nicos e Contra os dogmticos foram editados criticamente por Mutschmann, Leipzig, 191214. Os Elementos foram traduzidos para italiano por BISSOLATI, Ipotiposi pirroniani, Flor(-na, 1917, e por TESCARI, Schizzi pirroniani, Bari, 1926. Sobre Sexto, ver ZELLER, III, 2. p. 49 ss.. Sobre a lgica do Cepticismo: PRANT4 ob. cit., p. 497 ss.. 65 XVI O ECLECTISMO
108. CARACTERSTICAS DO ECLECTISMO As trs grandes escolas filosficas ps-aristotlicas. - Estoicismo, Epicurismo e Cepticismo , ainda que em desacordo nos seus pressupostos tericos, mostram um acordo fundamental nas suas concluses prticas. Sustentam as trs que o fim do homem a felicidade e que a felicidade consiste na ausncia de perturbao e na eliminao das paixes; colocam as trs o ideal do sage na indiferena relativamente aos motivos propriamente humanos da vida. Esta concordncia no terreno prtico devia limar necessariamente o antagonismo das respectivas posies tericas e aconselhar, bviamente, a encontrar um terreno de encontro sobre o qual as trs orientaes pudessem conciliar-se e fundir-se. O eclectismo (de ek-lgo, escolher) representa precisamente esta tendncia. As condies histricas favorecem o eclectismo. Depois da conquista da Macednia pelos romanos (186 a.C.), a Grcia tornara-se de facto uma pro67 vncia do Imprio Romano. Roma comeou a acolher e a cultivar a filosofia grega que se torna um elemento indispensvel da cultura romana. E, por sua parte, a filosofia grega vaise adaptando gradualmente mentalidade romana. Mas esta era pouco apta para dar relevo a divergncias teorticas das quais no surgisse uma diferena na conduta prtica; de modo que o intento de escolher, nas doutrinas das vrias escolas, os elementos que se prestassem para serem conciliados e fundidos num corpo nico encontrou o mais vlido apoio na mentalidade romana. Mas, dado que a escolha destes elementos supunha um critrio, chegou-se a admitir como critrio o acordo comum dos homens (consensus gentium) sobre cortas verdades fundamentais, admitidas como subsistentes no homem independentemente e antes de qualquer investigao. A orientao eclctica apareceu pela primeira vez na escola estoica, dominou por largo tempo na Academia e foi acolhida tambm pela escola peripattica. S os Epicuristas se mantiveram estranhos ao Eclectismo, permanecendo fiis doutrina do mestre. 109. O ESTOICISMO ECLCTICO O encaminhar da escola estoica para o Eclectismo que comeou com Bocto de Sdon (falecido em 119 a.C.), torna-se decisivo com Panzio de Rodes que viveu entre 185 e 109 a.C.. Viveu em Roma por algum tempo juntamente com o historiador Polbio; foi amigo de muitos nobres romanos, entre os quais Cipio o Africano e Llio-, mestre de muitos outros; e teve certamente grande influncia no desenvolvimento do interesse filosfico em Roma. Dos seus escritos restam-nos os ttulos. Um deles, Sobre o Dever, foi o modelo do De officiis de Ccero. Panzio foi um grande admira68 dor de Aristteles o inspirou-se em muitos pontos na sua doutrina. Com efeito, afirmou, com Aristteles e contra a doutrina clssica do Estoicismo, a eternidade do mundo. Distinguiu na alma trs partes: vegetativa, sensitiva e racional, seguindo tambm nisto Aristteles e separando nitidamente a parte racional das outras. O mais famoso discpulo de Panzio foi Posidnio de Apameia, na Sria, que nasceu cerca de
135 a.C. e morreu com 84 anos como chefe da escola que fundara em Rodes, escola na qual tinha tido como auditores Ccero, e Pompeu. Das 23 obras que lhe so atribudas apenas temos fragmentos. Posidnio recolheu na sua doutrina muitos elementos platnicos: a imortalidade da alma racional e a sua pr-existncia; a atribuio das emoes, que para o Estoicismo apenas tinham importncia negativa como enfermidades da alma, alma concupiscvel, compreendida como uma potncia inerente ao organismo corpreo. 110. O PLATONISMO ECLCTICO A orientao cptica, que prevalecera na Academia com Carnades e os seus sucessores imediatos, modificou-se no sentido do Eclectismo com Ffion de Larissa que foi a Roma durante a guerra de Mitrdates (88 a.C.) e aqui teve, entre os seus ouvintes, Ccero. Ffion abandona j o princpio da suspenso do assentimento que fundamental para os Cpticos. O homem no pode alcanar a certeza incondicionada da cincia, mas pode conseguir formular a clareza (enrgheia), a evidncia de uma convico satisfatria: pode, portanto, formular uma teoria tica completa, combatendo as falsas doutrinas morais e ensinando as justas. 69 Mas a prpria certeza incondicionada que Filon exclua foi admitida pelo seu sucessor, Antoco de Ascalona, com o qual a Academia abandona definitivamente o cepticismo para inclinar-se para o eclectismo. Antoco (morto em 68 a.C.) foi tambm mestre de Ccero que ouviu as suas lies no Inverno de 79-78 e entrou em polmica literria com Ffion. Sem uma certeza absoluta no possvel, segundo Antoco, nem sequer estabelecer graus de probabilidade, dado que a probabilidade se pode julgar somente pelo fundamento da verdade e no se pode admitir aquela se no se est na posse desta. Como critrio da verdade ele colocava o acordo entre todos os verdadeiros filsofos e procurou demonstrar esse acordo entre as doutrinas acadmicas, peripatticas e estoicas, s o conseguindo custa de graves deformaes. Ao eclectismo de Antoco liga-se o de Marco Tlio Ccero (106-43 a.C.) que deve a sua importncia, no originalidade do pensamento, mas sua capacidade de expor de forma clara e brilhante as doutrinas dos filsofos gregos contemporneos ou precedentes. O prprio Ccero reconhece a sua dependncia das fontes gregas dizendo das suas obras filosficas numa carta Ad Attico (XII, 52, 3): "custam-me pouca fadiga, porque de meu incluo s as palavras que, no me faltam". Dos principais escritos de Ccero, o De republica e o De legibus tm como fontes Panzio e Antoco; o Hortnsio que se perdeu inspirava-se no Protrptico de Aristteles; os Academia, em Antoco; o De finibus no mesmo Antoco e, quanto ao epicurismo, em Zeno e Filodemo. As Tusculanae dependem dos escritos do acadmico Crantore, de Panzio, de Antoco, do estoico Crisipo, de Posidnio. O De natura deorum, de vrias fontes estoicas e epicuristas. O De oficies, de Panzio; os outros esciftos menores, de fontes anlogas. 70 Como Antoco, Ccero admite como critrio da verdade o consenso comum dos filsofos e explica tal consenso com a presena em todos os homens de noes inatas, semelhantes s antecipaes do Estoicismo. Na fsica, rejeita a concepo mecnica dos Epicuristas. Que o mundo possa formar-se, devido a foras cegas, parece-lhe to impossvel como, por
exemplo, obter os Annales de nnio atirando ao cho desordenadamente um grande nmero de letras alfabticas. Mas quanto a resolver de modo positivo os problemas da fsica, Ocero considera isso impossvel e assim adopta, neste ponto, uma posio cptica. Na tica, -afirma o valor da virtude por si prpria, mas oscila entre a doutrina estoica e a acadmico-peripattica. Afirma a existncia de Deus e a liberdade e a imortalidade da alma, mas evita afrontar os problemas metafsicos inerentes a tais afirmaes. Semelhante posio de Ccero a do grande erudito seu amigo, Marco Terncio Varro (116-27 a.C.). Varro manteve-se fiel tica de Antoco. Em contrapartida, aceitava de Panzio a distino da teologia em mtica, fsica e poltica. A teologia mtica constituda pelas representaes que os poetas do da divindade. A teologia fsica a que prpria das teorias dos filsofos em torno do inundo e de Deus. A teologia poltica a que encontra a sua expresso nas disposies legislativas que se referem ao culto. Por sua parte, Varro aceitava o conceito estoico da divindade como alma do mundo. 111. O ARISTOTELISMO ECLCTICO A orientao eclctica nunca se radicou profundamente na escola peripattica. Andrnico de Rodes, que de 70 a.C. em diante e durante 10 ou 11 anos foi o chefe da escola peripattica de Atenas, 71 sobretudo famoso por ter cuidado da edio dos escritos acroamticos de Aristteles e por ter iniciado os comentrios s obras do mestre a que se dedicaram em seguida todos os peripatticos. O seu principal interesse aparece ligado lgica. Entre os eclcticos peripatticos so de enumerar o grande astrnomo Claudio Ptolemeu, no qual exerceram influncia alguns elementos da investigao platnica e estoica e a doutrina pitagrica dos nmeros, e o mdico Galeno (129-199 a.C.) que foi a maior autoridade em medicina at Idade Moderna. Ao lado das quatro causas aristotlicas: matria, forma, causa eficiente e causa final, Galeno admitiu uma quinta, a causa instrumental, isto , o instrumento ou o meio mediante o qual as outras quatro operam e que Aristteles considerara idntica causa eficiente. Galeno foi talvez o primeiro tambm a -introduzir na lgica aristotlica o tratamento dos silogismos hipotticos, modelados sobre os anapodticos dos Estoicos: as afirmaes de Alexandre de Atrodsia que atribuam aos primeiros aristotlicos (Teofrasto o Eudemo) esta inovao no encontram confirmao. Por silogismo hipottico entende ele o silogismo que tem como premissa uma proposio condicional ou disjuntiva, como nos esquemas seguintes: "Se S , P; mas S , portanto P.); "S ou P ou Q; mas no Q; portanto P". Na sua Introduo Dialctica, Galeno afirmava que enquanto o silogismo categrico (,isto , aristotlico) se requer nos raciocnios dos matemticos, o hipottico requer-se para discutir problemas como estes: "Existe o fado?", "Existem os deuses?", "Existe a providncia?" que so problemas da fsica estoica. De agora em diante o tratamento do silogismo hipottico comeou a fazer parte do corpo da lgica aristotlica e transmitiu-se como tal, atravs de Bocio, lgica medieval. 72
@ n@,N
1 1 1 1 7 CICERO O ltimo peripattico de alguma importncia foi Alexandre de Afrodsia (ensinou em Atenas entre 198 e 211), o famoso comentador de Aristteles, o exegeta por excelncia. O seu comentrio s nos chegou em parte. Alexandre propunha-se por ele aclarar e defender a doutrina de Aristteles contra as afirmaes opostas das outras escolas e especialmente dos Estoicos. O ponto do seu comentrio que iria ter na Idade Mdia e no Renascimento maior importncia o que se refere ao problema do intelecto activo. Alexandre distingue trs intelectos: 1.o intelecto fsico ou material, que o intelecto potencial; ele semelhante ao homem que capaz de aprender uma arte mas no est ainda na sua posse; 2.' o intelecto adquirido, que a capacidade de pensar, semelhante ao artista que consegue a posse da sua arte; 3.O o intelecto activo que opera a passagem do primeiro para o segundo intelecto. Este no pertence alma humana, mas age sobre ela de fora. Ele a prpria causa primeira, isto , Deus. Esta doutrina iria oferecer o ponto de partida para as numerosas interpretaes do intelecto activo que se sucederam na Escolstica rabe e Latina e no Renascimento. 112. A ESCOLA CNICA Na primeira metade do sculo 111 a.C., Bin de Boristene iniciou aquele gnero literrio que foi depois a caracterstica da escola cnica, a diatribe. As diatribes eram prdicas morais contra as opinies e os costumes dominantes; prdicas enriquecidas com mltiplos artifcios retricos destinados a aumentar a sua eficcia. Menipo de Gadara, pelos meados do sculo 111 a.C., nas suas stiras escritas em prosa mas intercaladas de versos, representou cenas burlescas 73 nas quais tomou como alvo os Epicuristas e os Cpticos. Baseado no seu exemplo, Vairro escreveu as Stiras menipeias. Cerca dos meados do sculo 111, a escola cnica perdeu a sua autonomia e acabou por fundir-se com a estoica. No comeo da nossa era ela renasce do prprio Estoicismo; e renasce com o mesmo carcter de discurso petulante e sarcstico que o mais das vezes no tem nenhuma base filosfica e nenhuma justificao moral. Difundem-se neste perodo 51 Cartas atribudas a Digenes e a Crates. Sneca louva muito * seu contemporneo Demtrio, que parece ter sido * renovador do Cinismo. Din, chamado Crisstomo, que viveu nos tempos do imperador Trajano, surge corno um propagandista popular das doutrinas tradicionais dos Cnicos. A escola cnica, que se reduziu a uma simples pregao moral sem fundamento filosfico, no sofreu a influncia dos sucessivos desenvolvimentos da especulao e sobreviveu at ao sculo V d.C. !U-%@ .. i, ',U .. : 1,
113. SNECA O Estoicismo do perodo romano, ainda que obedecendo orientao eclctica, geral da poca, orientao para a qual as divergncias tericas passam para segundo plano frente ao acordo fundamental das concluses prticas, a que se subordina completamente a investigao filosfica, mostra j de modo evidente um carcter que a fase ulterior da especulao deveria acentuar: a prevalncia do interesse religioso. Esta prevalncia fundase no acento que nos estoicos romanos recebe o tema da interioridade espiritual. A concepo estoica do sage, que auto-suficiente e alcana por si a verdade, o pressuposto do valor que o Estoicismo comea a reconhecer quilo que hoje chamamos 74 introspeco ou conscincia. Para chegar a Deus e conformar-se com a sua lei, o sage estoico no tem necessidade de olhar para fora de si; deve apenas olhar para si prprio. Os estoicos romanos fazem deste retomo do homem a si prprio um dos seus temas preferidos, tema que devia depois tornar-se central e dominante no Neoplatonismo. No se trata, contudo, de um tema que oferea ponto de partida para novas formulaes conceptuais. Dos numerosos estoicos da poca imperial de que sabemos o nome e algumas notcias, nenhum apresenta qualquer originalidade de pensamento. S quatro deles, Sneca, Musnio, Epicteto e Marco Aurlio nos aparecem dotados de personalidade filosfica prpria. Lcio Anneo Sneca, de Crdova, em Espanha, nascido nos primeiros anos da era crist, foi mestre e, por longo tempo, conselheiro de Nero, por ordem do qual morreu em 65 d.C.. Dos seus escritos ficaram-nos sete livros de Qestioni naturali e numerosos tratados de carcter religioso e moral (Dilogos, Sobre a Providncia, Sobre a Constncia do Sage, Sobre a ira, Sobre a Consolao a Mrcia, Da Vida Feliz, Da Brevidade da Vida, Sobre a Consolao a Polbio, Sobre a Consolao Me Elvia, Dos Benefcios, Sobre a Clemncia). Foi alm disso autor de vinte livros de Cartas a Lucilio que co uma fonte de notcias sobre o Estoicismo e o Epicurismo. Sneca insiste no carcter prtico da filosofia: "a filosofia -escreve- ensina a fazer, no a dizem (F-p., 20, 2). O sage para ele o "educador do gnero humano" (Ep., 89, 13). Por isso descura a lgica e s se ocupa da fsica de um ponto de vista moral e religioso. Com efeito, a ignorncia dos fenmenos fsicos a causa fundamental dos temores do homem e a fsica elimina tais temores. Alm da grandeza do mundo e da divindade ensina-nos 75 a reconhecer a nossa pequenez. Tambm, em certo sentido, a fsica superior prpria tica porque enquanto esta trata do homem, aquela trata da divindade que se revela nos cus e em geral no mundo. (Quest. nat., 1, Prl.). Contudo, nem a fsica nem a metafsica de Sneca contm algo de original relativamente s doutrinas comuns do Estoicismo. Pe-lo que respeita ao conceito da alma, pelo contrrio, ele inspira-se na doutrina platnica. Depois de distinguir uma parte racional e uma parte irracional da alma, distingue nesta ltima duas partes: uma irascvel, ambiciosa, que consiste nas paixes; a outra humilde, lnguida, dedicada ao prazer, diviso que corresponde platnica das partes racional, irascvel e apetitiva da mesma alma. Inspira-se tambm em Plato ao considerar a relao da alma com o corpo: o corpo priso e tumba da alma. O dia da morte para a alma verdadeiramente o dia do nascimento eterno (Ep.,
102, 26). Sneca est muito longe do rigorismo estoico que colocava um abismo entre o sage que segue a razo e o estulto que a no segue. Est convencido que existe sempre uma oposio entre aquilo que o homem deve ser e aquilo que na realidade; e que a oscilao entre o bem e o mal prpria de todos os homens; por isso levado a considerar com maior indulgncia as imperfeies e as quedas do homem. A sua mxima moral fundamental o parentesco universal entre os homens: "Tudo aquilo que vs, que contm o divino e o humano, tudo uno: somos todos membros de um grande corpo. A natureza gerou-nos como parentes dando-nos uma mesma origem e um mesmo fim. Ela inspirounos o amor recproco e fez-nos sociveis" (Ep., 95, 51). Sneca afirma e a interioridade de Deus no homem: "No devemos erguer as mos ao cu nem pedir ao guarda do templo que nos permita aproximar-nos das orelhas 76 da esttua de Deus, como se assim pudssemos mais facilmente ser ouvidos: a divindade est prximo de ti, est contigo, est dentro de ti" (Ep., 41). A doutrina de Sneca assim um estoicismo eclctico de fundo religioso. Alguns aspectos desta doutrina, como o conceito da divindade, da fraternidade e do amor entre os homens e da vida depois da morte esto to prximas do cristianismo que fizeram nascer a lenda das relaes de Sneca com S. Paulo, lenda que levou at a falsificar uma correspondncia (que no conservamos) entre ele e o apstolo. Tais relaes entre Sneca e S. Paulo certamente nunca existiram. Mas no h dvida que a sua doutrina, especulativamente pouco notvel, est impregnada por uma inspirao religiosa que lhe d um carcter original. 114. MUSNIO. EPICTETO Musnio Rufo de Volsnio na Etrria, foi expulso por Nero em 65 d.C. Regressou seguidamente a Roma e esteve em relaes pessoais com o imperador Tito. Dos seus discursos conservou-nos numerosos fragmentos o Florilgio de Stobeo. Musnio acentua ainda mais que Sneca o carcter prtico e moralizante da filosofia. O filsofo o educador e o mdico dos homens; deve cur-los das paixes que so as suas doenas. Para este fim, no h necessidade de muita cincia, mas apenas de muita virtude. Musnio inclina-se, por esta desvalorizao da actividade teortica, para o cinismo e isto retira-lhe toda a importncia especulativa. Foi seu discpulo Epicteto de Hierpolis, na Frgia. Nasceu cerca do ano 50 d.C., era escravo de Epafrodito, liberto de Nero. Libertado, viveu em Roma at 92-93 d.C. quando o dito de Domi77 ciano baniu de Roma todos os filsofos. Fundou ento em Nicpolis no Epiro uma escola qual pertenceu entre outros Flvio Arriano que recolheu as suas lies. Dos oito livros de Diatribes ou Dissertaes em que Arriano recolheu tais lies, restam quatro. Alm disto, ficou-nos um Manual que uma espcie de breve catecismo moral. A inteno de Epicteto a de voltar doutrina original do Estoicismo e especialmente a Crisipo. Mas a sua doutrina conserva o mesmo carcter da de Sneca, o predomnio da irreligiosidade. Deus o pai dos homens (Diss., 1, 3, 1). Ele est dentro de ns e da nossa alma; por isso o homem nunca est s (/h., 1, 14, 13). A vida um dom de Deus e um dever obedecer ao preceito divino. Estas e semelhantes expresses que, ainda que na
letra no se afastem muito das expresses anlogas dos outros estoicos, acentuam a dependncia do homem em relao a Deus, e fizeram nascer, tambm para Epicteto, a opinio de que ora cristo. Durante a poca bizantina, parafraseou-se e comentou-se o Manual para uso cristo. Na realidade, a diferena entre o moralismo religioso de Epicteto e Sneca e o Cristianismo, est no facto de que, para o primeiro, o homem s pode alcanar a virtude atravs do exerccio da razo e da procura inteiramente autnoma, enquanto para o Cristianismo o caminho do bem outorgado ao homem pelo prprio Deus. Segundo Epicteto, a virtude liberdade; mas o homem s pode ser livre desvinculando a sua prpria posio interior de toda a dependncia das coisas externas. Tudo aquilo que no est em seu poder, o corpo, os bens, a reputao e, em geral, todas as coisas que no so actos do seu esprito no devem ter o poder de comov-lo e domin-lo. As coisas sobro que deve fundar a sua liberdade so aquelas que esto em seu poder, isto , os 78 actos espirituais: a opinio, o sentimento, o desejo, * averso. Sobre estes ele pode agir, modificando-os * dominando-os de modo a tornar-se livre. Epicteto resume a tica estoica na frase Suporta e abstm-te (Gellio, Noct. att., XVII, 199, 6). necessrio abstermo-nos de hostilizar aquilo que no est no nosso poder evitar, enquanto que necessrio opormonos s coisas que esto no nosso poder, isto , s opinies, sentimentos e desejos contra a natureza ou irracionais. Arriano de Nicomdia, na Bitnia, foi cognominado o "segundo Xenofonte" na medida em que nos conservou as doutrinas de Epicteto. Tambm ele, como Xenofonte, foi militar e homem de aco. Recolheu de Epicteto as Dissertaes e os Colquios que se perderam; e tambm o autor daquele resumo das Dissertaes que o Manual. 115. MARCO AURLIO Com Marco Aurlio o estoicismo sobe ao trono imperial de Roma. Nascido em 121 d.C., de nobre famlia, Marco Aurlio foi adoptado pelo imperador Antonino e sucedeu-lhe em 161. Morreu em 180 durante uma campanha militar. Deixou um escrito composto de aforismos diversos, intitulado Colquios consigo prprio ou Recordaes, em 12 livros. Como Sneca, afasta-se aqui e ali da doutrina tradicional dos Estoicos; destaca-se principalmente no que respeita ao conceito da alma, no qual renega o materialismo estoico. Considera que o homem composto de trs princpios: o corpo, a alma material que o princpio motor do corpo, e a inteligncia. Como todos os elementos do organismo humano so partes dos correspondentes elementos do universo, assim o intelecto humano parte do mundo. O gnio que Zeus deu a cada 79 um como guia no mais que a -inteligncia e esta um "pedao" do prprio Zeus (V, 27). Das funes psquicas, as percepes pertencem ao corpo, os impulsos alma, os pensamentos ao intelecto. Como Sneca e Epicteto, Marco Aurlio considera que a condio da filosofia o retiro da alma em si prpria, a introspeco ou a meditao interior (IV, 3). Diz: "Olha para dentro de ti: dentro de ti est a fonte do bem, sempre capaz de brotar, se souberes sempre escavar em ti prprio" (VII, 59). Por isso, faz suas as teses estoicas da ordem divina do mundo e da providncia que o governa, mas afirma tambm, por sua conta, o parentesco dos homens
com Deus. O gnio individual como parte do intelecto universal e portanto de Zeus o fundamento desta convico religiosa. Pelo seu parentesco comum, os homens devem amar-se uns aos outros. " prprio do homem amar tambm aquele que o fere. Deves ter presente que todos os homens so teus parentes, que eles pecam somente por ignorncia e involuntariamente, que a morte nos ameaa a todos e, especialmente, que ningum. te pode causar dano porque ningum pode atacar a tua razo" (VII, 22). O homem parte do fluxo incessante das coisas. "A realidade como um rio que corre perenemente, as foras mudam, as causas transformam-se mutuamente e nada permanece imvel" (IX, 28). Qual o destino da alma neste fluxo? Marco Aurlio pinta com cores resplandescentes a condio da alma que, com a morte, se liberta do corpo, admitindo tambm a antiga crena do corpo como priso e tumba da alma. Mas, para ele, o problema de saber se esta libertao ser o inicio de uma nova vida ou o fim de toda a sensibilidade passa para segundo plano. Pode acontecer que a alma, ao reabsorver-se no todo, se transmute noutros seres 80 (como esta pgina manuscrita, no se encontra aqui transcrita) Pgina do livro "De Finibus", de Ccero (Cdi(,,,, Palatino Latino 1513 da Bliblioteca Vaticana) (IV, 21). Nisto Marco Aurlio mais fiel que o platonizante Sneca doutrina original do Estoicismo. NOTA BIBLIOGRFICA 109. Os dados antigos sobre o Estoicsmo Eclctico esto recolhidos in ZELLER, 111, 1, p. 57 ss. Os fragmentos de Panzio foram recolhidas por FoWLER (juntamente com os de Ecatn), Bonn, 1885. Funda- mental sobre a mdia Stoa a obra de SCHMEKEL, Die Philosophie der mittleren Stoa in ihrem geschichtliche Zusammenhange, Berlim, 1892. 110. Os dados antigos sobre Filon e Antoco, n ZELLER, EI, 1, p. 609 ss. As obras de Ccero tiveram numerosas edies crticas: ver a da Biblioteca Teubneriana de Leipzig. Sobre Terncio Varro: ZELLER, 111, 1, p. 692 ss. As obras filosficas de Varro perderamse e -apenas restam alguns fragmentos. A distino das trs teologias foi-nos conservada por S. AGOSTINHo, De civitate Dei, VI, 5. 111. Os fragmentos de Andrnico foram recolhidos por LITTIG na sua obra Andrnico de Rodes, II e 111 partes, 1894-95. Os fragmentos de Cludio Ptolomeu, in MULLER, Pragm. hist. graec., III, p. 348 ss. As obras completas de Galeno foram editadas ao cuidado de Xuhn no Corpus medicorum graecorum, Leipzig, 1821-33. A Introduo Lgica, s descoberta pelos meados do sculo passado, foi considerada apcrifa por PrantI, mas agora a sua autenticidade geralmente admitida, Foi editada com o ttulo Institutio Logica por Kalbfleisch, Leipzig, 1896. De Alexandre de Afrodsia foram publicadas as obras na "Collezione dei Commentari greci" de ARISTTELEs, a cargo da Academia de Berlim. Sobre estes peripatticos: ZELLER, M, 1, 641 ss. Sobre a lgica: PRANTL, 1, 528 ss. 112. Sobre a vida, os escritos e a doutrina de Blon e de Menipo: DIGENEs LARcio, IV, 46 ss (Bion), VI, 99 ss. (Menipo). Os fragmentos de Bion, in MULLACH, Fragmenta phil. graec. 11, 423 ss. Os dados antigos sobre os cnicos posterores, in ZELLER, 111, 1, 791 ss.
81 113. Os dados antigos sobra Sneza foram recolhidos n ZELLER, HI, 1, p. 719 ss. Das obras de Sneca ver as edies Teubnerianas de Leipzig. Sobre Sneca: MARCHESI, Seneca, Messina, 1920; MARTIjA, Les moralistes sous Z'Empire romain, Paris, 1896. 114. Os dadosantigos sobre Mus6nio, in ZELLER, nI, 1, p. 755 ss. Os fragmento.<,, recolhidos por HENsE, Leipzig, 1905 (BibL Teubneriana). Sobre Epicteto e Arriano os dados antigo-s in ZELIER, 111, 1, p. 765 ss. As Dissertaes (a cargo de SCHENKL), O Manual e os fragmentos, editados em Leipzig, 1916. O Manual, trad. italiana de GIACOmo LEoPARDI. Sobre Epicteto: BONHOrFER, Die Ethik der Epikt49@G Sttutgard, 1874. 115. Os <lados antigos sobre Mrcio Aurlio esto recolhidos in ZELLER, 111, 1, p. 781 ss. As Recordaes (In semetipsum, livros XII) foram editados criticamente por SchenkI, Leipzig, 1913 (Bibl. Teubneriana). Trad. italiana: ORNATO, MORICCA, MAZZANTINI. Sobre Marco Aurlio: RENAN, M. A. et Ia fin du monde antique, Paris, 1882. 82 XVIII PRECURSORES DO NEOPLATONISMO 116. CARACTERISTICAS DA FILOSOFIA NA POCA ALEXANDRINA A subordinao da investigao filosfica a um fim prtico, posto o reconhecido como vlido independentemente da prpria investigao, devia levar a desvalorizar o significado e a funo da filosofia como indagao racional. A primeira poca e a poca clssica da filosofia grega tinham reconhecido investigao o mais alto valor: na investigao que tende a justificar-se, a aprofundar-se em si prpria, a reconhecer o seu ponto de partida e o seu fim ltimo, tinha colocado o valor da personalidade humana e o nico caminho para o homem se formar como homem. Mas subordinada a investigao a um fim dado de antemo, o valor deste fim no pode considerar-se assegurado pela prpria investigao. Este valor deve vir no fim de contas por uma revelao transcendente ou por uma sabedoria originria, numa palavra por uma tradio religiosa, 83 qual a indagao filosfica tem de subordinar-se. O valor reconhecido tradio neste perodo coincide com a orientao religiosa da investigao filosfica. A investigao filosfica na Grcia antiga nasceu como vontade de libertao das tradies, dos costumes e das opinies estabelecidas; e Scrates o prprio smbolo de uma tal investigao, da qual Plato tentou dar o fundamento teortico: o homem no necessitou de receber a verdade da tradio porque esta verdade est confiada sua razo. Com o prevalecimento do interesse religioso, a tradio retoma os seus direitos: a verdade fruto de uma revelao originria e a sua nica garantia a tradio. Daqui deriva a tendncia da poca alexandrina para fabricar escritos que deveriam testemunhar a antiguidade de cortas crenas e conferir-lhes a garantia da tradio. O florescimento de escritos de falsa atribuio, prprio deste perodo, , pois, uma consequncia natural da atitude religiosa que a filosofia vem assumindo.
O acentuar do carcter religioso da filosofia nos Estoicos do perodo romano o incio de uma orientao que se torna cada vez mais dominante no perodo seguinte e que encontra a sua primeira expresso num eclectismo que procura recolher e cerzir os elementos religiosos implcitos na histria do pensamento grego, da religio dos mistrios ao pitagorismo e ao platonismo; depois, nas filosofias que se enlaam expressamente com as religies orientais e procuram conduzir de novo a elas o prprio pensamento grego (filosofia greco-judaica). Em suma, a expresso mais alta desta orientao ser o Neoplatonismo. 117. OS NEOPITAGRICOS A revivescncia da filosofia pitagrica manifesta-se no sculo 1 a.C. com o aparecimento dos 84 escritos pitagricos de falsa atribuio (Ditos ureos, Smbolos, Cartas, atribudas a Pitgoras; Sobre a Natureza do Todo, atribudo ao lucano Ocello), dos quais nos restam alguns fragmentos. Todos so caracterizados pelo reconhecimento de uma separao total entre Deus e o mundo, reconhecimento que traz consigo a necessidade de suportar divindades inferiores que fazem de intermedirios entre Deus e o mundo. A este mesmo tipo de escritos pertencem os que nos chegaram sob o nome de Hermes Trismegisto, que apareceram durante o sculo 1 d.C. Estes escritos tendem a relacionar a filosofia grega com a religio egpcia: Hermes reconhecido como o prprio deus egpcio Theut ou Thot. comum nos escritos de Hermes a hostilidade contra o cristianismo e a defesa do paganismo e das religies orientais. Como renovador da filosofia pitagrica, Ccero assinala P. Nigdio Fgulo, falecido em 45 a.C. Pelo final do sculo I d.C., Apolnio de Tiana escreveu uma vida de Pitgoras na qual desenhou de modo novelesco a figura do fundador do pitagorismo. Apolnio viajou por todo o Imprio Romano como mago, profeta e operador de milagres. Filostrato escreveu uma Vida de Apolrdo no princpio do sculo 111 d.C. Num escrito, Sobre os Sacrifcios, de Apolnio, surge a distino entre o primeiro deus e as outras divindades que havia de dominar a especulao teolgica deste perodo. Parece que foram compostas, por volta de 140 d.C., as duas obras que nos chegaram de Nicmaco de Gerasa, na Arbia: Introduo Aritmtica e Manual de Msica. Na primeira obra sustenta-se a prexistncia dos nmeros no esprito do criador anteriormente criao do mundo. Os nmeros so os modelos em conformidade com os quais todas as coisas foram ordenadas. Os princpios da criao so o uno, que identificado com a razo 85 ou divindade, e a dualidade que se identifica com a matria, segundo a doutrina dos antigos acadmicos. Numnio de Apameia, na Sria, viveu na segunda metade do sculo 1 d.C. e a sua doutrina uma mistura de elementos pitagricos e platnicos. Segundo Numtrio, a filosofia dos gregos deriva da sabedoria oriental; Plato um "Moiss ateicizante". Escreveu: Dos Mistrios segundo Plato, Sobre o Bem e Da Separao dos Acadmicos de Plato, obras
das quais temos fragmentos. Notvel a diviso das trs divindades. Ele distingue o demiurgo, da primeira divindade, como um segundo deus. O primeiro deus puro intelecto, princpio da realidade e rei do universo. O segundo deus o demiurgo, que opera sobre a matria, forma o mundo e o princpio do devir. O mundo, produzido pelo demiurgo, o terceiro deus. Fundem-se nesta concepo os conceitos platnicos do bem como princpio supremo e do demiurgo com o conceito aristotlico de Deus como puro intelecto. No homem, Numnio distingue duas almas, uma racional o outra irracional, e declara que o ingresso da alma num corpo sempre um mal, dado que a irrealidade incorprea, e o devir corpreo esto entre si como a boa e a m alma do mundo. A doutrina de Numnio apresenta caractersticas que se deviam tornar comuns na especulao deste perodo: o sincretismo greco-oriental, a conciliao entre Pitgoras e Plato, a crena em divindades katermdias entre Deus e o mundo, a oposio entre esprito e matria como oposio entro bem e mal, 118. O PLATONISMO MDIO A mesma mistura de doutrinas dispares encontra-se nos sequazes da escola de Plato a partir 86 do sculo 1 d.C. como continuao daquela orientao eclctica que comeara com Antoco de Asca. lona. Neste perodo, dos numerosos representantes da escola o mais notvel Plutarco, de Queroncia, nascido em 46 e morto em 120 d.C. que desenvolveu a sua actividade cientfica em Atenas aonde foi no ano 66 d.C. Ficaram-nos dele numerosssimas obras de comentrio a Plato, de polmica contra os Estoicos e os Epicuristas, de fsica, de psicologia, de tica, de religio e de pedagogia. Ele tambm autor das famosas Vidas Paralelas de gregos e romanos. Plutarco considera impossvel fazer derivar todo o mundo de uma nica causa. Se Deus fosse a nica causa do mundo, no deveria existir o mal; tem pois de se admitir, ao lado de Deus, um outro princpio que seja a causa do mal no mundo como Deus a causa do bem. Este princpio no a matria, mas uma fora indeterminada e indeterminvel que subjugada por Deus no acto de criao, mas se mantm de modo permanente no mundo como causa de toda a imperfeio e de todo o mal. Deus como puro bem assim situado absolutamente acima do mundo; e a sua relao com o mundo estabelecida pelas divindades intermdias ou demnios com cuja aco Plutarco explica e justifica as crenas da religio popular dos gregos e das outras naes. Plutarco aceita a diviso platnica da alma em intelectiva ou racional, irascvel e apetitiva (Sobre as virtudes morais, 3). Noutros lados, combina a diviso platnica com a aristotlica, admitindo assim cinco partes da alma. De todas as maneiras, mantm a superioridade do intelecto sobre as outras partes. Na tica, segue preferentemente Aristteles. H coisas que no tm relao necessria connosco como o cu, a terra, o mar, os astros; h outras que tm como o bem, o mal, o 87 prazer, a dor. As primeiras so objecto da razo (logos) cientfica ou teortica, as segundas, da razo volitiva ou prtica. A virtude prpria da razo especulativa a sabedoria (sofia); a prpria da razo prtica a sageza (frnesis). A razo prtica tem como fim moderar os impulsos da parte irracional da alma e encontrar o justo meio entre o excesso e o defeito.
Determinam-se assim as virtudes morais ou ticas, que Plutarco ope apatia cnicoestoica, como a harmonia e o justo meio das paixes frente abolio completa delas, que no possvel nem desejvel. A obra de Plutarco teve uma importncia muito superior ao seu significado especulativo. Atravs dela se difundiram e foram conhecidas em todos os pases as doutrinas fundamentais da filosofia grega, mais que atravs das obras originais. Contudo, nada na sua filosofia existe que tenha a potncia e o rigor da especulao clssica. 119. A FILOSOFIA GRECO-JUDAICA Se, por uma parte, a filosofia grega estende a mo neste perodo sabedoria oriental, por outra a sabedoria oriental estende a mo filosofia grega, solidarizando-se com ela na mesma tentativa de fundir juntamente os resultados da especulao grega e da tradio religiosa do Oriente. Na Palestina, no sculo 1 da era crist, a seita dos Essnios, de que nos falam Ffion, Josefo e Plnio, mostra uma profunda afinidade com o Neopitagorismo de tal modo que faz supor que ela se tenha desenvolvido sob a influncia dos mistrios rfico-pitagricos. Esta seita era constituda por vrias comunidades submetidas a uma disciplina severa e a um certo nmero de regras ascticas. Do ponto de vista doutrinal, interpretavam aleg88 MARCO AURLIO ricamente o Velho Testamento, segundo uma tradio que faziam remontar a Moiss. Acreditavam na pr-existncia da alma e na vida depois da morte, admitiam as divindades intermdias ou demnios e a possibilidade de profetizar o futuro. Quase todas essas crenas se encontram no Neopitagorismo e o Platonismo mdio. Aos Essnios se costuma frequentemente atribuir as doutrinas expostas nos documentos recentemente encontrados nas proximidades do Mar Morto e que se designam precisamente como os "manuscritos do Mar Morto". Com efeito, estas doutrinas no se diferenciam das dos Essnios que se conhecem pelas fontes tradicionais; e de qualquer modo os documentos que os contm so uma outra prova de difuso da filosofia grecojudaica com carcter religioso na poca que precede imediatamente o advento do cristianismo. Afim aos Essnios foi a seita judaico-egpcia dos Teraputicos que se desenvolveu no Egipto. Terreno muito favorvel para a fuso dos elementos doutrinais gregos o orientais foi Alexandria. Alguns fragmentos de Aristbulo (cerca de 150 a.C.) procuram demonstrar que j Pitgoras e Plato tinham conhecido os escritos do antigo Testamento. No livro da Sabedoria do Antigo Testamento, provavelmente composto no sculo 1 a.C., h claras reminiscncias do Platonismo e do Pitagorismo, -ia afirmao da pr-existncia e da imortalidade da alma, do impedimento que o corpo constitui paTa ela e na concepo de uma matria pr-existente e do Logos como mediador da criao divina. 120. FILON DE ALEXANDRIA
Nascido em Alexandria entro o ano 30 e o ano 20 a.C., Flon o judeu foi a Roma no ano 40 d.C. como embaixador dos judeus alexandrinos ao 89 imperador Calgula. Temos dele grande nmero de escritos de argumentos diversos, de que os principais s o os que constituem um comentrio alegrico ao Velho Testamento. Por um lado, Ffion est cheio de venerao pelas Sagradas Escrituras e, em primeiro lugar, por Moiss que ele considera inspirado directamente por Deus; por outro lado, admirador dos filsofos eh ade expressa por eles gregos e considera que a verd a mesma que est contida nos livros sagrados. A esta convico chega -interpretando alegoricamente as doutrinas do Velho Testamento e adaptando a elas os conceitos da filosofia grega. O resultado uma forma de Platonismo muito prxima da que se desenvolvera em Alexandria e que costumava reportar-se a Plato e a Pitgoras. Os pontos fundamentais da filosofia de Flon so trs : a transcendncia absoluta de Deus relativamente a tudo o que o homem conhece; a doutrina do Logos como intermedirio entre Deus e o homem, o fim do homem determinado como a unio com Deus. Na sua perfeio absoluta, Deus tal que impossvel compreender a sua natureza. Tambm o homem inspirado pode ver quem ele , no que coisa . Deus superior ao bem e unidade e no pode ter outro nome seno Ser (como indica a prpria palavra hebraica Jeov-Aquele que ). A Deus pertencem as duas potncias originais, a bondade e o poder; pela primeira, ele propriamente Deus, pela segunda o Senhor. Entre estas duas potncias existe uma terceira, conciliadora de ambas, a Sabedoria, Logos ou Verbo de Deus, que a imagem mais perfeita do prprio Deus. O Logos foi o mediador da criao do mundo. Antes de criar o mundo, Deus criou um modelo perfeito, no sensvel, incorpreo, e semelhante a ele, que precisamente o Logos (De mundi opif., 4). E sei-vindo-se dele criou o mundo. Criou-o ser90 vindo-se de uma matria que ele prprio tinha aprontado antecipadamente e a qual era originariamente indeterminada, privada de forma e de qualidade: Deus determinou-a, deu-lhe forma e qualidade e deste modo da desordem a levou ordem, Da matria derivam as imperfeies do mundo. O Logos divino a sede das ideias por intermdio das quais Deus ordena e forma as coisas materiais. As ideias so, portanto, concebidas por Filon como foras, porque a matria formada por seu intermdio. O fim do homem a sua unio com Deus. Para chegar a Deus o homem deve, em primeiro lugar, libertar-se da sensibilidade e dos vnculos com o corpo, deve libertar-se tambm da razo e esperar a graa divina que o eleve at viso de Deus. S se tem esta viso quando o homem saiu fora de si mesmo (estasi) e est debaixo de urna espcie de furor dionisaco, como brio e enlouquecido. Trata-se de uma condio que no se pode exprimir porque sobrehumana e misteriosa (De ebrietate, 261-62). NOTA BIBLIOGRFICA 177. O material antigo sobre os Neopitagricos, indicado em ZELLER, 111, 2, p. 124 ss, 234 ss. Os Ditos Areos em DIEHL, Anthol. 1yrica, Leipzig, 1923. O escrito de Ocello in MULLACH, Fragm. phil. graec., I, que contm tambm as
Cartas atribudas a Pitgoras, assim como a Vida de Pitgoras de PORFIRio e de JMBLICO foram traduzidas para italiano por PESENTI, Lanciano, 1922 (Cultura dell' anima). 118. Dados antigos sobre Plutarco, recolhidos em ZELLER, 111, 2, 176 ss. As obras de Plutarco encontram-se em numerosas edies: ver a de 7 volumes a cargo de vrios autores na Biblioteca Teubneriana de Leipzig. D. BAssi, Il pensiero moraZe, peda, gogico, religioso di Plutarco, Florena, 1927; P. TH91 VENAZ, LIme du monde, le devenir et Ia matire chez Plutarque, Paris, 1939. 119. Noticias antigas sobre os Essnios In ZELLER, 111, 2, p. 308 ss. Sobre os manuscritos do Mar Morto: DuPONT-SOMMER, Observations sur le Commentaire d'Habacuc dcouvert prs de Ia Mer morte, Paris, 1950; ID., Observations sur le Manuel de Discipline dcouvert prs de Ia Mer Morte' Paris, 1951; MILLAR BURROWS, The Dead Sea, Scrolls, Nova Iorque, 1956 (que contm tambm a traduo inglesa dos textos encontrados). 120. Das obras de Ffion as edies so: Mangey, Londres, 1742 (com traduo latina); Richter, Leipzig, 1828-30; Cohn e WendIand, Berlim, 1896 ss. Commentaire allgorique des saintes lois, texto, traduo francesa e comentrio de BRHIER, Paris, 1909. Sobre F'lDn: BRHIER, Les ides philos. et relig. de Ph. d'Alex., Paris, 1908; GOODENOUCri, The Politics of Philo. Juda6us, New Haven, 1938 (com bibl.); WOLFSON, Philo. Foundations of Religious Philosophy in Judai.sm, Christianity and Islam, Cambridge (Mass.), 2 vols., 1947. 92 XVIII O NEOPLATONISMO 121. A "ESCOLSTICA" NEOPLATNICA O Neoplatonismo a ltima manifestao do Platonismo no mundo antigo. Ele resume e leva formulao sistemtica, e (com Proelo) de um modo escolstico, as tendncias e orientaes que se tinham manifestado na filosofia grega e alexandrina do ltimo perodo. Elementos pitagricos, aristotlicos, estoicos fundem-se no Platonismo numa vasta sntese que devia influenciar poderosamente todo o curso do pensamento cristo e medieval e atravs dele tambm o do pensamento moderno, O Neoplatonismo assim a manifestao mais notvel da orientao religiosa que prevalece na filosofia da poca alexandrina. tambm a primeira forma histrica da escolstica, se com tal nome se entende a filosofia que procura realizar uma compreenso racional das verdades religiosas tradicionais ( 173). Com efeito, a atitude religiosa implica que a verdade como tal no se busca: ela foi revelada e garantida pela tradio. Por outro lado, oportuno 93 compreender, explicar e defender tal verdade; para este fim se utiliza a filosofia que melhor
se presta, neste caso o Platonismo. Por isso o Neoplatonismo no tem nada que ver com o Platonismo original e autntico. , pelo contrrio, uma espcie de escolstica que utiliza o Platonismo, em mistura confusa com elementos doutrinais heterogneos com o fim de justificar uma atitude religiosa. O facto de Proclo, o representante mais sabedor da escolstica neoplatnica, ter considerado apcrifas a Repblica e as Leis de Plato, que se prestam mal, pelo seu dominante interesse poltico, a serem utilizadas para os fins de uma apologtica religiosa, constitui uma prova evidente da descontinuidade que existe entre o Platonismo e Neoplatonismo e da impossibilidade de utilizar este ltimo como elemento de compreenso histrica do Platonismo originrio. Fundador do Neoplatonismo Antnio Sacca, que viveu entro o ano 175 e o 242 d.C. sem deixar nenhum escrito. Era braceiro (donde o sobrenome de "Sacca"); seguidamente ensinou em Alexandria a filosofia platnica. Entro os seus alunos contaram-se Orgenes, que no se deve confundir com o Orgenes cristo ( 144), e Cssio Longino (cerca de 213-273), retrico o fillogo, sob o nome do qual nos chegou o escrito Do sublime, que no obstante no seu. A maior figura do Neoplatonismo Plotino. Nascido em Licopoli, no Egipto, em 203 ou 204 d.C., participou na expedio do imperador Gordiano contra os persas para conhecer as doutrinas dos persas e dos indianos. No regresso, estabeleceu-se em Roma, onde a sua escola contou entre os seus ouvintes numerosos senadores romanos. O imperador Galieno e a sua mulher Salonina estiveram entre os seus admiradores. Morreu na Campnia com 66 anos, em 269 ou 270 depois de Cristo. 94 O s--u aluno Porfrio de Tiro (nascido em 232-33 e falecido no princpio do IV sculo) publicou os escritos do mestre ordenando-se em seis Enneadi, ou seja, livros de nove partes cada um. Porfrio tambm autor de numerosas obras originais. Entre estas so particularmente importantes uma Vida de Plotino, uma Vida de Pitgoras e a Introduo s Categorias de Aristteles que um comentrio em forma de dilogo ao escrito aristotlico. O interesse fundamental de Porfrio, prtico-religioso. Ele tira da doutrina de Plotino motivos para defender a religio pag. 122. PLOTINO: DEUS Plotino acentua at ao extremo limite a transcendncia de Deus, na qual tinham j insistido os Neopitagricos e Ffion. Mas ao passo que Ffion, ainda identifica Deus com o ser, Plotino afirma que Deus est "para l do sem (V, 5, 6); "para, l da substncia" (VI, 8, 19); "para l da morte" (111, 8, 9) de modo que transcendente a respeito de todas as coisas, ainda que produzindo-as e mantendo-as ele prprio em ser (V, 5, 12). Assim a causa do ser vem de qualquer modo destacada do ser, como aquilo que inalcanvel e inexprimvel da parte do homem. O nome que menos inadequado para dar a Deus , segundo Plotino, o de Uno e isto quer porque Deus unidade, isto , a causa simples e nica de todas as coisas, quer porque o nome "Uno" se presta a designar aquilo que simples e diferente de todas as coisas que vm depois (V, 4, 1). O prprio Plotino adverte, porm, que este nome no contm mais que a excluso do mltiplo e, salvo esta excluso, no mais adequado que os outros para exprimir Deus (V, 5, 6". Com estas consideraes, Plotino inicia aquilo que se chamou seguidamente a teologia negativa, isto , a
95 determinao de Deus atravs do reconhecimento da impossibilidade de predicar dele todas e cada uma das determinaes finitas. Alm disso, a definio de Deus como unidade no tem nada a ver com o monotesmo. Conformemente a toda a tradio grega, Plotino defende explicitamente o politesmo como consequncia necessria do poder infinito da divindade. "No restringir a divindade a um nico ser, faz-la ver mltiplice: como ela prpria se manifesta, eis o que significa conhecer o poder da divindade, capaz, ainda que permanecendo aquele que , de criar uma multiplicidade de deuses que se ligam com ele, existem para ele, existem para ele e vm dele" (11, 9, 9). Para uma divindade concebida deste modo a criao no pode ser um acto de vontade, o que implicaria uma mudana na essncia divina. A criao acontece de tal maneira que Deus permanece imvel no centro dela, sem quer-la nem consenti-Ia. Ela um processo de emanao, semelhante quele pelo qual a luz se difunde em torno do corpo luminoso ou o calor em torno do corpo clido ou, melhor, semelhante ao perfume que emana do corpo odorfero (V, 1, 6). Utilizando a noo aristotlica de Deus como "pensamento do pensamento" ( 78), Plotino interpreta a prpria emanao como o pensamento que o Uno pensa de si. O Uno, pensando-se, d origem ao Intelecto, que a sua imagem (V, 4, 2); o Intelecto, pensando-se, d origem Alma, que a imagem do Intelecto (IV, 8, 3). Passando rapidamente de imagem a imagem, a emanao @ tambm um processo de degradao. Aquilo que emana do Uno inferior ao Uno, assim como a luz menos luminosa do que a fonte donde emana e a onda de perfume menos intensa medida que se afasta do corpo odorfero. Os seres que emanam de Deus no podem--- por96 sneca tanto, ter nem a sua perfeio nem a sua unidade, mas tendem cada vez mais para a imperfeio e a multiplicidade. 123. PLOTINO: AS EMANAES A primeira emanao do Uno o Intelecto (Nous) que a imagem mais prxima dele. O Intelecto contm j a multiplicidade na medida em que implica a distino entre o sujeito que pensa e o objecto pensado. Este Intelecto, como o Logos, ou o Verbo de Flon, a sede das ideias platnicas. Ele identificado por Plotino com o Demiurgo de que fala Plato no Timeu. Do Intelecto procede a segunda emanao, a Alma do Mundo, que Verbo e Acto Intelecto, como o Intelecto o do Uno. Por um lado, a alma olha o Intelecto de que provm e com o qual pensa, pelo outro olha-se a si prpria e conserva-se; pelo outro ainda, olha aquilo que est depois dela e ordena-o, governa-o e rege-o. Assim a Alma universal tem uma parte superior que se dirige ao Intelecto e uma parte inferior que se dirige ao corpo: com esta governa o universo corpreo e Providncia. Deus, o Intelecto e a Alma do mundo constituem o mundo inteligvel. O mundo corpreo supe para a sua formao, alm da aco da Alma do mundo, de um outro princpio de que derivam a ,imperfeio, a multiplicidade e o mal. Este princpio a matria, concebida
por Plotino negativamente, como privao da realidade e do bem. A matria est no extremo inferior da escala no cimo da qual est T)eus. Ela a obscuridade que comea onde termina luz, portanto no-ser e mal. As almas singulares so partes da alma do mundo. A Alma universal penetrou a matria vivi97 ficando-a e penetrando-a toda, mas permanecendo em si mesma nica e indivisvel. Ela produz a unidade e a simpatia de todas as coisas do mundo, j que estas, tendo uma nica alma, se ligam umas s outras corno os membros de um mesmo animal. Dominado como est pela Alma universal, o mundo tem uma ordem e uma beleza perfeitas. Para descobrir esta ordem necessrio olhar o todo no qual encontra o seu posto e a sua funo cada parte singular, ainda aquela aparentemente imperfeita ou m. O prprio vcio tem uma funo til ao todo porque se torna um exemplo da fora das leis e acaba por produzir consequncias teis (111, 2, 5). 124. PLOTINO: A CONSCINCIA E O RETORNO A DEUS Na filosofia de Plotino toma-se central e dominante um conceito que j assomara na especulao dos Estoicos: o de conscincia. Conscincia no * conhecimento dos prprios estados internos, mas * atitude do sage que no tem necessidade de sair fora de si para encontrar a verdade e que, por isso, tem o olhar constantemente voltado para si prprio. A conscincia , neste sentido, o campo privilegiado em que se manifestam na sua evidncia as verdades mais altas que o homem pode alcanar e a fonte ou o prprio princpio de tais verdades, isto , Deus. O pressuposto deste conceito a auto-suficincia do sage sobre que tinham insistido os Estoicos e que tinha dominado as especulaes morais dos estoicos romanos. A distino estabelecida por Epicteto entre "s coisas que esto em nosso podem, isto , os nossos actos espirituais e "as coisas que no esto em nosso podem, isto , as coisas externas, como fundamento das atitudes 98 morais do homem, no seno um corolrio do princpio da conscincia. Para indicar a conscincia como introspeco ou auscultao interior, Plotino adopta expresses como "retorno, a si prprio", "retorno interioridade", "reflexo sobre si prprio" e contrape constantemente esta atitude prpria do sage a quem, em contrapartida, se orienta, pela conduta da sua vida, para o conhecimento das coisas externas. "0 sage -diz Plotino- tira de si prprio aquilo que revela aos outros e olha para si prprio dado que no somente tende a unificar-se e a isolar-se das coisas externas, mas se dirige a si prprio e encontra em si todas as coisas" (111, 8, 6). O retomo a Deus um itinerrio que o homem s pode iniciar e percorrer mediante o retorno a si prprio. As etapas do retorno a Deus so as etapas da progressiva interiorizao do homem; e, em primeiro lugar, da sua libertao de toda a dependncia ou relao com a exterioridade corprea. Plotino afirma, portanto, que o primeiro dever do homem o de subtrair-se aos seus laos com o corpo e purificar-se mediante a virtude. As virtudes so caminhos de purificao porque so caminhos de libertao da exterioridade. Com a inteligncia e a sabedoria, a alma do homem habitua-se a operar por si s, sem a
ajuda dos sentidos corpreos; com a temperana liberta-se das paixes; com a coragem no teme separar-se do corpo; com a justia faz que comande em si apenas a razo e o Intelecto (1, 2, 3). A virtude como purificao constitui, contudo, apenas uma condio libertadora do itinerrio interior em direco a Deus. Na msica, no amor e na filosofia, a alma encontra os caminhos positivos do retorno a Deus. Atravs da msica, o homem deve progredir para l dos sons sensveis, procurando alcanar as suas relaes o as suas medidas para se erguer at 99 quela harmonia inteligvel que a prpria beleza. Atravs do amor, o homem eleva-se gradualmente (segundo o processo j descrito por Plato no Fedro) da contemplao da beleza corprea da beleza incorprea, a qual um reflexo ou imagem do Bem, isto , de Deus. Com efeito, a beleza resplandece nas coisas que esto mais prximas da perfeio; uma esttua mais bela do que um bloco de mrmore, um corpo vivo mais belo do que uma esttua. Mas para l da beleza o homem deve avanar com a filosofia para a prpria fonte da beleza que Deus. Todavia, a Deus no se poder chegar atravs da inteligncia porque esta est confficionada pelo dualismo do sujeito que pensa e do objecto pensado, enquanto que Deus absoluta unidade. Na viso de Deus no h j intervalo, no h j dualidade, mas a alma une-se a Deus totalmente com um xtase de amor. No se trata de uma viso mas de "xtase e de simplificao, de descanso e de unio, de completa entrega". Esta condio s raramente pode ser alcanada pelo filsofo. Porfrio testemunha-nos que, nos seis anos que esteve com o mestre, Plotino s quatro vezes atingiu o xtase. 125. A ESCOLA SIRACA O discpulo de Porfrio, Jmblico de Clcide, falecido por volta de 330, inicia o chamado Neoplatonismo siraco, muito mais prximo das fontes orientais do que o plotiniano. Foi autor de numerosos escritos dos quais nos restam cinco livros da obra Sobre os mistrios dos egpcios. Jmblico, mais um telogo do que um filsofo. Elo multiplica as emanaes plotinianas subdividindo-as em outras tantas divindades, s quais faz corresponder os deuses da religio popular. Insiste, pois, sobre o valor da teurgia, que a virtude mgica dos ritos 100 e das frmulas propiciatrias. A divindade, diz ele, no pode ser persuadida a agir pelo nosso pensamento porque a perfeio no levada a agir por aquilo que imperfeito. Ela age, em contrapartida, em virtude dos smbolos o das frmulas que ela prpria sugeriu aos homens. O Neoplatonismo inclinava-se assim com Jmblico para uma teologia mtica que se prestava a justificar todas as supersties das crenas pags. Jmblico -teve numerosos discpulos que, pelas notcias que nos chegaram, aparecem desprovidos de qualquer originalidade. Quando o imperador Juliano, (dito o Apstada) quis dar nova vida ao paganismo para p-lo como fundamento da vida poltica do Imprio, recorreu precisamente filosofia neoplatnica na forma que Jmblico lhe tinha dado. Entretanto, a escola platnica de Alexandria continuava e teve novo esplendor com uma mulher, Hipzia, que caiu em 415 vtima do fanatismo da plebe crist, suscitada contra ela pelo bispo Cirilo.
Dos escritos do seu discpulo Sinsio de Cirena (nasceu por volta do ano 370) que em 411 se torna bispo de Ptolomaida ( 169) parece que ela expusera a doutrina neoplatnica segundo os ensinamentos de Jmblico. 126. A ESCOLA DE ATENAS A ltima fase do Neoplatonismo foi dedicada provalentemente ao comentrio das obras de Plato o de Aristteles. No princpio do sculo V, o chefe da escola ateniense Plutarco de Atenas, filho de Nestrio, que morreu muito velho no ano 401-02 e comentou Plato e Aristteles. A especulao metafsica foi, em contrapartida, cultivada por Siriano (o mestre de Proclo), o qual se refere especialmente a Plato que considerava 101 superior a Aristteles e que quis conciliar com os Pitagricos e com os Neoplatnicos. Proclo o maior representante da orientao ateniense. Nascido em Constantinopla no ano 410 e educado em Lcia, aos 20 anos dirigiu-se para Atenas onde permaneceu at a sua morte, ocorrida em 485. As suas obras mais importantes so o Comentrio ao Timeu, Repblica, ao Parmnides, ao Alcibades 1 e ao Crtilo e dois escritos sistemticos, a Instituio teolgica e a Teologia platnica. Proclo deu filosofia neoplatnica a sua forma definitiva. Sucederam-lhe numerosos pensadores que seguiram as suas pisadas mas que no oferecem nenhuma contribuio original para a sua doutrina. ltima gerao de neoplatnicos pertence Simplcio, cujos comentrios a muitas obras de Aristteles tm para ns a mxima importncia como fontes de todo o pensamento antigo, e representam tambm uma notvel obra de pensamento. No ano 529 Justiniano proibiu o ensino da filosofia em Atenas e confiscou o ingente patrimnio da escola platnica. Damscio, que era o seu chefe, com seis companheiros, entre os quais Simplcio, refugiou-se na Prsia. Mas dali voltaram depressa desiludidos. Doravante o pensamento platnico no existia mais como tradio independente porque havia sido absorvido e assimilado pelo pensamento cristo. O seu ltimo representante pode dizer-se que foi Severino Bocio ( 172). Bocio traduziu e comentou os principais escritos do Organon aristotlico e a Introduo s categorias de Porfrio. Escreveu tambm um Comentrio desta obra e outros trabalhos de lgica, matemtica e msica. No crcere escreveu depois a obra que o tornou famoso durante toda a Idade Mdia, A consolao da filosofia. Esta obra no original, mas resulta da utilizao de vrias fontes, entre as quais o Protrptico de Aris102 tteles, talvez conhecido atravs de algum escritor mais recente que o reproduzira. O ponto de vista de Bocio, um platonismo, eclctico. De Plato tira Bocio o conceito da divindade como sumo Bem; com Aristteles considera Deus como o primeiro motor imvel; com os Estoicos admite a providncia e o fado. Embora seja cristo, na sua filosofia segue de perto o Neoplatonismo, da poca. Apresenta na sua pessoa a passagem da antiguidade Idade Mdia; o ltimo romano e o primeiro escolstico.
127. A DOUTRINA DE PROCLO O ponto fundamental da filosofia de Proclo, a ilustrao daquele princpio tridico, que prprio do Neoplatonismo. Todo o processo se cumpro por via da semelhana das coisas que surgem com aquilo de que procedem. Um ser que no produz um outro permanece em si prprio imutvel; mas a coisa produzida necessariamente se lhe assemelha. Ora o produto, enquanto tem qualquer coisa de idntico com o que produz, resta nele; enquanto tem qualquer coisa de diverso, procede dele. Mas sendo semelhante de algum modo idntico e diverso; portanto permanece e procede ao mesmo tempo, e no faz nenhuma das coisas sem a outra. Ora todo o ser, que procede por sua natureza do uma coisa, retorna a ela. Retoma porquanto no pode fazer outra coisa seno aspirar prpria causa que seu bem; e todo o ser deseja o bem. Este retorno ou converso realiza-se pela semelhana de quem retoma com aquilo a que retoma (Ist. Teol., 30, 32). Com isto, Prclo, distingue, no processo das emanaes de todo o ser pela sua causa, trs momentos: 1.' o permanecer (mon) lutvel da causa em si mesma; 2.* o proceder (prodos) dela pelo ser derivado que, pela sua 103 semelhana com ela, permanece aderido a ela e por sua vez se afasta dela; 3.' o retorno ou converso (epistroph) do ser derivado sua causa originria. Aquele processo de emanao, que Plotino ilustrava em termos metafpicos com o exemplo da luz e do odor, justificado por Proclo com esta dialctica da relao entre a causa e a coisa produzida, pela qual ao mesmo tempo se enlaam, se separam e voltam a unir-se num processo circular no qual o princpio e o fim coincidem. O ponto de partida de todo o processo o Uno, Causa primeira e Bem absoluto que Proclo, como Plotino, considera incognoscvel e inexprimvel. Do Uno procede uma multiplicidade de Unidades ou Enadi que so tambm Bens supremos e Divindades e fazem de intermedirios entre o Uno originrio e o mundo do Intelecto. O Intelecto, que a terceira fase da emanao, dividido por Proclo em trs momentos; o inteligvel (o objecto do Intelecto), que o ser; o inteligvel-intelectual, que a vida; o intelectual (o Intelecto como sujeito), que o Intelecto. O ser e a vida, por sua vez, dividem-se em vrios momentos a cada um dos quais Proclo faz corresponder uma divindade da religio popular. O quarto momento da emanao a Alma, dividida em trs espcies: a divina, a demonaca e a humana, as primeiras duas so ainda divididas e identificadas com divindades ou seres da religio popular. O mundo organizado e governado pela Alma divina. O mal no deriva da divindade, mas da imperfeio dos graus mdios e baixos da escala do mundo e da sua deficiente aceitao do bem divino. A matria no pode ser causa do mal porque ela foi criada por Deus como necessria para o mundo. Alm das faculdades assinaladas na alma por Plato e Aristteles, Proclo admite nela uma faculdade superior a todas, o Uno na alma, que corresponde ao Uno no mundo e a faculdade apta a 104 conhec-lo. O processo da elevao moral e intelectual da alma culmina na unio exttica com o Uno. Os graus ltimos deste processo de elevao so o amor, a verdade e a f. O amor leva o homem at viso da beleza divina; a verdade at sabedoria divina e ao
conhecimento perfeito da realidade. Mas s a f o leva para l do conhecimento e de todo o devir, ao repouso e unio mstica com aquilo que incognoscvel e inexprimvel. NOTA BIBLIOGRFICA 121. Os dados antigos sobre Amnio Sacca, Orgenes e Longino foram recolhidos por ZELLER, HI, 2, p. 500 ss. Para Plotino a fonte principal das notcias biogrficas a Vida de Plotino de PORFIRIO. As obras de Plotino foram editadas por Creuzer e Moser, O.@ffrd, 1835, ed. reproduzida na de Firmin-Didot, Pars, 1855; Volkmann, Leipzig, 1883-84; na coleco "A Universidade de Frana" apareceu a edio e a traduo de BRHIER em 6 vdls., 1924-38. Tradues italianas: CILENTo, 4 vols., Bari, 1947-49; FAGGIN, Milo, 1947-48. As fontes para a biografla de Porfirio, so a sua Vida de Plotino e o artigo do Lxico de Suidas. A Vida de Plotino est publicada na edio plotiniana de Creuzer e M<)ser, o Co~trio s categorias de Aristteles nos "Comentrios gregos de Aristteles" da Academia de Berlim, IV, 1. Para as edies das obras de Porfirio, ver UEBERWEG-PRAECHTER, p. 598. Sobre Porfrio, ver BIDEZ, Vie de P. Ze philosophe noplatonique, Gand-Leipzig, 1913. 122, 123, 124. Sobre Plotino: INGE, The Phi1,osophy of P., 2 vols., Londres, 1918; BRPHIER, La philosophie de P., Paris, 1928; CARBONARA, La filosofia di P.' 2 vols., Roma, 1938-39; JENSEN, Plotin, Kjijbenhavn, 1948; Les sources de Plotin. Entretiens sur l'antiquit classique, Vandoeuvres-Genve, 1957; bibli. de MARIEN in apndice, -ao vol. IV da citada -traduo italiana de Cilento. 125. Os dados antigos sobre Jmblico, Giuliano, Hpzia, Sinsio, in ZELLER, 111, 2, p. 773 ss. 105 Sobre os mistrios dos egpcios, ed. Parthey, Berlim, 1857. As obras de Juliano foram publicadas por Bidez e Cumont, P@tris, 1922; a de Sinsio, por Petavio, Paris, 1612, 2.1 ed., 1633, e na Patr. Greca de MiGNE, vol. 66. Sobre Juliano o Apstata: BARBAGALLO, Ciu;. lIAp., Gnova, 1912; ROSTAGNI, Giu1. l'Ap., Turim, 1920. 126. Os dados antigos sobre Proclo, foram recolhidos na Vida escrita pelo seu disc@pulo M_ARiNo, ed. Boisonade, Leipzig, 1814. Sobre os outros Neoplatnios da escola de Atenas os dados antigos foram recolhidos em ZELLER, 111, 2, p. 805 ss. (Plutareo), 890 ss. (Simplcio, Damscio, Bocio). 127. As obras de Proclo foram publicadas por Cousn, 6 vols. Paris, 1820-25; existem tambm numerosas edies de Leipzig de obras separadas. As obras de Bocio est(> na Patr. Latina de MIGNE, vol. 63 e 64. Os Elementos de Teologia de Proclo foram traduzidos para italiano por LoSAceo, Lanciano, 1927. G. MARTANO, L'uomo e Dio in Proclo, Npoles, 1952, com bibliografia. 106
SEGUNDA PARTE FILOSOFIA PATRISTICA 1 O CRISTIANISMO E A FILOSOFIA 128. A FILOSOFIA GREGA E A TRADIO CRIST A Grcia foi o bero verdadeiro da filosofia. Pela primeira vez no mundo ocidental, compreendeu e realizou a filosofia como investigao racional, isto , como investigao autnoma que em si mesma encontra o fundamento e a lei do seu desenvolvimento. A filosofia grega demonstrou que a filosofia s pode ser procura e a procura liberdade. A liberdade implica que a disciplina, o ponto de partida, o fim e o mtodo da investigao sejam justificados e postos por essa mesma investigao, e no aceites independentemente dela. A influncia do cristianismo no mundo ocidental determinou uma nova orientao da filosofia. Toda a religio implica um conjunto de crenas que no so fruto de qualquer investigao porque consistem na aceitao de uma revelao. A religio a adeso a uma verdade que o homem aceitou devido a um testemunho superior. Tal , com efeito, o 109 cristianismo. Aos fariseus que lhe diziam: "Tu alegas de ti mesmo e, portanto, o teu testemunho no tem valor", Jesus respondeu: "Eu no estou s, somos eu e aquele que me enviou (S. Joo, VIII, 13, 16), apoiando assim o valor da sua doutrina no testemunho do Pai. A religio parece, portanto, nos seus prprios princpios, excluir a investigao e consistir antes numa atitude oposta, a da aceitao de uma verdade testemunhada do alto, independentemente de qualquer investigao. Todavia, logo que o homem se interroga quanto ao significado da verdade revelada e tenta saber porque caminho pode realmente compreend-la e fazer dela carne da sua carne e sangue do seu sangue, renasce a exigncia da investigao. Reconhecida a verdade no seu valor absoluto, tal como revelada e testemunhada por um poder transcendente, imediatamente se impe a cada homem a exigncia de se aproximar dela e de a compreender no seu significado autntico para com ela e dela viver verdadeiramente. Esta exigncia s pode -ser satisfeita pela investigao filosfica. A investigao renasce, pois, da prpria religiosidade, pela necessidade que o homem religioso tem de se aproximar, tanto quanto lhe for possvel, da verdade revelada. Renasce com uma tarefa especfica, que lhe imposta pela natureza de tal verdade e pelas possibilidades que pode oferecer sua efectiva compreenso pelo homem; mas renasce com todas as caractersticas, prprias da sua natureza, e com fora tanto maior quanto maior for o valor que se atribui verdade em que se acredita e se pretende fazer sua. Da religio crist nasceu assim a filosofia crist. Esta tomou tambm como objectivo conduzir o homem compreenso da verdade revelada por Cristo, de modo a que ele possa realizar o seu autntico significado. Os instrumentos indispensveis para este fim encontrou-os a filosofia crist, prontos a lio servirem, na filosofia grega. As doutrinas da especulao helnica do ltimo perodo, essencialmente religioso, prestavam-se a exprimir, de modo acessvel ao homem, o
significado da revelao crist; e com O esta finalidade foram, efectivamente, utilizadas da maneira mais ampla. 129. OS EVANGELHOS SINPTICOS A pregao de Cristo, por um lado, est ligada tradio hebraica e, por outro, renova-a profundamente. A tradio hebraica ensinava a crena num Deus nico, puro esprito e garantia da ordem moral no mundo dos homens; um Deus que escolheu como seu povo eleito o povo hebraico, a quem ampara nas dificuldades como pune inexoravelmente nas aberraes religiosas e nas suas imperfeies morais. A ltima tradio hebraica, a dos profetas, anunciava, depois de um perodo de desventuras e tremendas punies, o renovo do povo hebreu. e o seu ressurgimento como potncia material e moral, que faria dele o instrumento directo de Deus para o seu domnio no mundo. Ao anncio desta renovao, que deveria verificar-se pela obra de um Messias directamente investido por Deus, est ligada a pregao de Cristo. Nas tal pregao alarga imediatamente o horizonte do anncio proftico, estendendo-o do nico povo eleito a todos os povos da terra, a todos os homens "de boa vontade", seja qual for a sua raa, a sua civilizao ou a sua posio social. Simultaneamente, retira ao anunciado renascimento todo e qualquer carcter temporal e poltico e faz dele um ressurgimento puramente espiritual que deve realizar-se na interioridade das conscincias. O reino de Deus anunciado por Jesus no exige uma transformao poltica: "Dai a Csar o que 111 de Csar e a Deus o que de Deus" (5. Mateus, 22, 21; S. Lucas, 20, 25). antes uma realidade invisvel e -interior ao homem: "No se poder dizer "est aqui" ou "est ali", porque, na verdade, o reino de Deus est dentro de vs". (S. Lucas, 17, 21). Ele como o gro de mostarda que o mais pequeno de todos os gros e se torna uma grande rvore; ele como o fermento que se espalha na farinha e a faz levedar (S. Mateus, 13, 31 e ss.; S. Marcos, 4, 30 e ss.; S. Lucas, 13, 18 e ss.): quer dizer, uma vida espiritual que se desenvolve e se difunde gradualmente entre os homens. O reino de Deus exige do homem o abandono radical de todos os interesses mundanos. Jesus afirma explIcitamente que no veio para trazer a paz, mas a espada (S. Mateus 10, 34); a aceitao da sua mensagem significa a ruptura definitiva com todos os laos terrenos e a entrega total a Deus. Por isso exclama: " Quem encontrar a sua alma perd-la-, e quem a perder por mim encontr-la-" (S. Mateus, 39). O que esta ruptura total com o mundo e com o seu prprio eu, o que esta total entrega a Deus implica para o homem disse-o Jesus no Sermo da Montanha. O reino de Deus para os pobres de esprito, para os que sofrem, para os pacficos, para aqueles que desejam a justia, para os que so perseguidos. Isto impe ao homem o amor. lei do Velho Testamento: "Olho por olho, dente por dente", Jesus ope a nova lei crist: "Amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para que sejais filhos do vosso Pai que est nos cus, o qual faz nascer o sol para os bons e os maus e d a chuva aos justos e aos injustos. Pois se amais apenas os que vos amam que mrito tereis? No fazem os publicanos 1 o mesmo? E se estimais ape1 Publicanos (telonai) eram os funcionrios dos impostos pblicos, gente odiosa e agarrada
ao dinheiro. 112 nas os vossos irmos, que fareis de extraordinrio? No fazem os pagos a mesma coisa? Sede perfeitos, como perfeito o vosso Pai celeste" (S. Mateus, 5, 44-48). Na pregao de Jesus, Deus mais do que Senhor o Pai dos homens; mais do que executor daquela justia inflexvel e vingativa que lhe atribuam os hebreus, fonte inesgotvel de amor, que aponta a todos os homens como primeiro e fundamental dever. A comunidade humana que dever surgir da pregao de Cristo ser , portanto, uma comunidade fundada no amor. Mesmo a relao entre o homem e Deus deve ser uma relao de amor. O homem deve abandonar-se providncia do seu Pai celeste: "Procurai antes de mais nada o reino de Deus e a sua justia e tudo o restante vos ser concedido" (S* Mateus, 6, 33). Mas este abandono no deve ser uma expectativa inerte. "Velai-disse Jesus porque no sabeis o dia em que chegar o vosso Senhor. (S. Mateus, 24, 42). Esperar pelo reino de Deus significa prepararse incessantemente para ele. No concedido sem esforo: "Pedi e recebereis; procurai e encontrareis; batei e as portas se abriro" (S. Lucas, 11, 9). Todo o ensinamento de Jesus pretende transmitir a necessidade desta expectativa activa e preparatria, desta procura sem a qual no possvel tornarmo-nos dignos do reino de Deus. Por isso Jesus se volta de preferncia para os humildes e para os que sofrem ("Eu fui enviado apenas s ovelhas tresmalhadas da casa de Israel", S. Mateus, 15, 24), enquanto considera que o seu apelo ressoa em vo naqueles que esto contentes consigo e nada tm que pedir vida": " mais fcil passar um camelo pelo cu de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus" (S. Mateus, 19, 24). S pela dor, pela inquietao e pela necessidade nasce no homem a aspirao da justia, da paz e do amor, que conduz ao reino de Deus. 113 130. AS "CARTAS" PAULINAS As Cartas de S. Paulo, escritas ocasionalmente a vrias comunidades crists, contm, alm da apologia da doutrina fundamental de Cristo, admoestaes, conselhos, prescries rituais. Mas contm tambm a clara expresso dos fundamentos conceptuais da nova religio, que deviam servir nos sculos seguintes, como constantes pontos de referncia das disputas teolgicas e das interpretaes filosficas. Tais fundamentos podem recapitular-se do seguinte modo: 1.* A cognoscibilidade natural de Deus, de onde ser tomada como culpa a ignorncia ou o seu no conhecimento. Deus , de facto, cognoscvel atravs das suas obras, nas quais ele mesmo se revelou e nas quais se apoiam de modo evidente o seu poder e a sua glria (Romanos, 1, 18-25). 2.' A doutrina do pecado original o da redeno pela f em Cristo. "Assim como por um s homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte trespassou todos os homens porque todos pecaram" (Rom., V, 12). A redeno do pecado realiza-se pela f em Cristo. "Deus justo e justifica quem tem f em Jesus. Onde est, pois, a razo da vanglria? Foi excluda. Por que lei? Pela das obras? No, pela lei da f. Convenamo-nos de que o homem ser justificado pela f, sem as obras da lei" (Rom., 26-28).
3.* O conceito da graa como aco salvadora de Deus atravs da f. "No acontece com o pecado o que sucede com a graa; pois se pelo pecado de um pereceram muitos, muito mais abundou a graa de Deus e o dom da graa de um homem: Jesus Cristo" (Rom., V, 1516). 4. O contraste entre a vida segundo a carne e a vida segundo o esprito. "Se viverdes pela carne, 114 precipitar-vos-eis na morte; se pelo esprito fizerdes morrer os actos do corpo, vivereis. Porque todos os que seguem o esprito de Deus, so seus filhos. (Rom. VIII, 13-114). 5.o A identificao do reino de Deus com a vida e o esprito da comunidade dos fiis, isto , com a Igreja. Segundo S. Paulo, a Igreja o corpo de Cristo de que os cristos so os diferentes membros harmonizados e concordes. (Rom., XII, 5 sg). Na comunidade crist h lugar para as tarefas mais variadas, pois todas contribuem para a unidade do conjunto, mas cada uni deve escolher aquela para que foi chamado. Domina nas epstolas paulinas o conceito da vocao (clisis) pela qual a graa (charis') divina opera em cada indivduo chamando-o ao dom ou funo carismtica que est mais de acordo com a sua natureza. "Que cada um fique na vocao a que foi chamado". (Corntios, 1, 7, 20). "H diversidade de carismas, mas um s o Esprito; h diversidade de servios, mas um s o Senhor; h diversidade de operaes, mas um s Deus que opera tudo em todos. Em cada um o Esprito se manifesta da maneira mais til". (Cor., 1, 12, 4-7). E assim dada a um a sabedoria, a outro a cincia, a outro a f, a outro o dom da profecia e assim por diante, mas todos so como os membros de um nico corpo que o prprio corpo de Cristo, a comunidade dos cristos (Cor., 12, sg). Mas a diversidade mesma de funes na comunidade torna necessria a harmonia espiritual entre os seus membros e esta harmonia garantida apenas pelo amor (agpecharitas). O amor a condio de toda a vida crist. Todos os outros dons do esprito, a profecia, a cincia, a f, nada so sem ele". "A caridade suporta todas as coisas, tem f em tudo, em tudo tem esperana, tudo mantm... Esto aqui agora estas trs coisas: a f, a esperana e a caridade; mas a caridade a maior 115 de todas" (Cor., 1, 13, 7, 13). Este acentuar o valor da caridade e a posio central que o conceito de vocao ocupa nas epstolas paulinas demonstram com toda a evidncia que o cristianismo se tornou uma comunidade histrica, cuja vida consiste em procurar compreender os ensinamentos e a pessoa de Cristo e realizar o seu significado. 131. O QUARTO EVANGELHO Nos evangelhos sinpticos a doutrina de Cristo surge j estreitamente ligada pessoa de Cristo. Cristo deu testemunho da verdade da sua doutrina, apelando para o Pai celeste que o enviara aos homens, com os milagres que operou e sobretudo com a sua ressurreio. O Evangelho de S. Joo dominado, mais do que os sinpticos, pela figura de Jesus, e apresenta, pela primeira vez, a tentativa de compreender filosoficamente a figura do Mestre e o princpio da sua doutrina. O prlogo do Quarto Evangelho v em Jesus o Logos ou o Verbo divino. "No princpio era o Logos e o Logos
estava em Deus e o Logos era Deus. No princpio Ele estava em Deus. Tudo foi criado atravs dele e nada do que foi feito foi feito sem Ele. N'EIe estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz apareceu nas trevas e as trevas no a receberam" (S. Joo, 1, 1-5). Nestas palavras de S. Joo determina-se pela primeira vez a natureza de Cristo pelo conceito do Logos, que j tinha entrado na tradio hebraica com o livro da Sabedoria ( 119). Ao Logos atribuda a funo de mediador entre Deus e o mundo, enquanto se diz que tudo foi criado por seu intermdio. reconhecida a sua directa filiao e derivao do Pai (9, 35: 16, 28) e -lhe atribudo claramente o papel de salvador de todos os homens. "Eu no rogo apenas por estes (os discpulos), mas por todos aqueles que por sua palavra acreditaram 116 em mim, para que todos sejam uma nica coisa, como tu, 6 Pai, ests em mim e eu em ti, para que eles estejam em ns e todo o mundo acredite que tu me enviaste". (17, 20-21). No Quarto Evangelho a oposio entre os laos terrenos e o reino de Deus vem expressa como oposio entre a vida segundo a carne e a vida segundo o esprito e apresentada como a alternativa crucial do homem. A vida segundo o esprito uma nova vida que traz consigo um novo nascimento. "Em verdade, em verdade vos digo que se cada qual no nasce de novo, no pode ver o reino de Deus". Nicodemos disse-lhe: Como pode nascer um homem j velho? Pode ele entrar pela segunda vez no seio de sua me e voltar a nascer? Jesus respondeu-lhe: Em verdade, em verdade te digo, que se cada um no nascer da gua e do esprito no pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne carne, e o que nasceu do esprito esprito. No te surpreendas se te digo: necessrio nascer de novo. O vento sopra de onde quer, tu ouves o seu rudo, mas no sabes de onde vem e para onde vai; assim tudo o que gerado pelo esprito" (3, 3-8). Este renascer no esprito (pneuma) o nascimento para a verdadeira vida. "0 esprito o que vivifica, a carne de nada vale; as palavras que vos dirigi so esprito e vida" (6, 663). A vida espiritual implica um novo critrio de juzo, e por isso Jesus diz aos Fariseus: "Vs julgais segundo a carne, mas eu a ningum julgo. E se julgo, o meu juzo verdadeiro, porque no estou s, somos eu e Aquele que me enviou" (8, 15-16). 132. A FILOSOFIA CRIST Entender e realizar a mensagem de Cristo foi a finalidade da comunidade crist durante os sculos que se seguiram. A vida histrica da Igreja a 117 tentativa contnua de aproximar os homens do significado essencial da mensagem crist, reunindo-os numa comunidade universal (catolicismo), na qual o valor de cada homem se baseia unicamente na sua capacidade de viver em conformidade com o exemplo de Cristo. Mas a condio fundamental desta aproximao a possibilidade de compreender o significado daquela mensagem; e tal tarefa prpria da filosofia. A filosofia crist no pode ter a finalidade de descobrir novas verdades, nem mesmo a de aprofundar e desenvolver a verdade original do cristianismo, mas apenas a de encontrar o melhor caminho, pelo qual os homens possam chegar a compreender e a fazer sua a revelao crist. Tudo o que era necessrio para erguer o homem do pecado e salv-lo foi ensinado por Cristo e -selado com o seu martrio. Ao homem no dado descobrir a no ser com fadiga o significado essencial da revelao crist, nem pode descobri-lo apenas por si, fiando-se unicamente na razo. Na Igreja crist, a filosofia encaminha-se no s para o esclarecimento de uma verdade, que j conhecida desde o incio, como ainda para a esclarecer no mbito de uma responsabilidade colectiva, na qual cada indivduo encontra um guia e um limite. A prpria Igreja, nas suas assembleias solenes (Conclios), define as doutrinas que exprimem o
significado fundamental da revelao (dogmas). Daqui deriva o carcter especfico da filosofia crist, na qual a procura individual encontra antecipadamente assinalados os seus limites. No , como a filosofia grega, uma procura autnoma que, em primeiro lugar, pretende fixar os termos e o significado do seu problema; os termos e a natureza do problema j lhe foram dados. Isto no diminui o seu significado vital: s pela reflexo filosfica a mensagem crist, na imutabilidade do seu signi118 ficado fundamental, se renovou e manteve, atravs dos sculos, a. fora e a eficcia do seu magistrio espiritual. NOTA BIBLIOGRFICA 128. Acerca da relao entre o cristianismo e a filosofia grega qual, se refere o final deste pargrafo: RENAN, Les Evangiles et Ia seconde gnration chrt., Paris, 1877; HAVET, Le christianisme et ses origines, 4 vols, Pars, 1871-84; HARNACK, Lehrbuch der Dog~ngeschi,chte, I, 4.a ed., 1909, esp. 121-148 e 496 segs. 129. A fonte para o conhecimento do cristianismo o Novo Testamento que composto pelos seguintes livros: Evangelhos de S. Mateus, S. Marcos, S. Lucas, chamados sinpticos porque a exposio que fazem da doutrina e da vida de Cristo concordante e forma um nico quadro; IV Evangelho ou Evange.lho de S. Jo o, que apresenta uma elaborao filosfica da doutrina e do significado de Cristo; os Actos dos Apstolos; as Epstolas de, S. Pedro aos Romanos, aos Corintios (I e II), aos Efsios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses (1 e II), a Timteo, a Tito, a Filemon, aos Hebreus; as Epstolas Catlicas de Tiago, de Pedro (I e 11), de Joo (1, 11 e III), de Judas; O Apocalipse de S. Joo. Os mais importantes destes escritos, sob o ponto de vista doutrinaJ, so os quatro Evangelhos e as Epstolas de S. Paulo, particularmente as dirigidas aos Romanos e aos Corntios. O Novo Testamento est escrito em grego. Entre as edies crticas mais recentes, veja-se a de NESTLE, Stuttgart, 1928, da qual foram traduzidas as passagens citadas no texto. Sobre o Novo Testamento vejam-se as seguintes Introdues gerais: R. KNOLF-H. LIETZMANN-H. WEINEL, Binfuhrung in das Neue Testament, Berlim, 1949; W. MICHAELIS, Einleitung in das Neue Testament, Bern, 2.1 ed., 1954; A. WICKENHAUSER, Einleitung in das Neue Testament, Friburgo, 1956; A. ROBERT-A. PEUILLET, Introduction Ia Bible: II, Nouveau Testament, Tournal, 1959; ao cuidado de vrios autores, Introduzione alla Bblia: IV, I Vangeli, Turim, s. d. (1959). Actualizao bibliogrfica anual na "Internationale Zeitschriftenshau fur Ribelwissenschaft und Grenzegebiete" (Dusseldorf) e in "BibUca> (Roma) 119 130. Sobre os pontos tratados no texto velam-se os seguintes comentrios Epstola aos Romanos: T. ZAHN, Der Brief des Paulus an die Rmer, Leipzig, 1910; M. J. LAGRANGE, St. Paul. pitre aux Ramains, Paris, 1915 (numerosas reimpresses; a ltima de 1950); K. BART, Der Romerbrief, Munique, 1929; O. Kuss, no Regensburger Neues Testament, Regensburger, 1940; C. K. BARRET, The Epistle to the Romans, Londres, 1957.
131. Acerca do IV EvangeMo: J. WELLHAUSEN, Das Evangelium Johannis, Berlim, 1908; A. LOSIY, Le Quatrime Evangile, Paris, 1921; M. J. LAGRANGE, Evangite selon Saint Jean, Paris, 1925; W. BAUER, in Handbuch zum Neuen Testament, Tubingen, 1933; R. BULTMANN, in Kritisch exegetischer Kommentar uber das Neues Testament, Gottingen, 1953; Supl. 1957; A. W1KENHAUSER in Regensburger Neues Testament, Regensburger, 1957; sobre o Prlogo em particular: M. E. BOISMARD, Le prologue de Saint Jean, Paris, 1955. 120 H A PATRISTICA DOS DOIS PRIMEIROS SCULOS 133. CARACTERISTICAS DA PATRISTICA Quando o cristianismo, para se defender dos ataques polmicos e das perseguies, e tambm para garantir a prpria unidade contra cises e erros, teve de pr a claro os prprios pressupostos tericos e organizar-se num sistema doutrinal, apresentou-se como expresso completa e definitiva da verdade que a filosofia grega tinha procurado, embora imperfeita e parcialmente encontrada. Uma vez no terreno da filosofia, o cristianismo defendeu a sua continuidade com a filosofia grega e apresentou-se como a sua ltima e mais completa manifestao. Justificou esta continuidade com a unidade da razo (Logos), que Deus criou idntica para todos os homens e em todos os tempos e qual a revelao crist deu o ltimo e mais seguro fundamento; e com isto afirmou implicitamente a unidade da filosofia e da religio. Esta unidade no um problenw para os escritores cristos dos pri121 meiros sculos: mais um dado ou um pressuposto do que guia e dirige toda a sua reflexo. E mesmo quando estabelecem uma anttese polmica entre a doutrina pag e a crist (como no caso de Taciano), esta anttese estabelece-se no terreno comum da filosofia e pressupe, portanto, a continuidade entre cristianismo e filosofia. Era natural, segundo este ponto de vista, que se tentasse, por uni lado interpretar o cristianismo mediante conceitos tirados da filosofia grega, para assim o ligar a esta filosofia e, por outro, -reconduzir o significado da filosofia grega ao prprio cristianismo. Esta dupla tentativa que, na realidade, uma s, constitui a essncia da elaborao doutrinal que o cristianismo sustentou nos primeiros sculos da nossa era. Nesta elaborao, os Padres da Igreja foram frequentemente ajudados e inspirados, como era inevitvel, pelas doutrinas das grandes escolas filosficas pags; e, especialmente aos Estoicos, foram eles beber muitas das suas inspiraes, impelidos at muitas vezes (como acontece com Tertuliano) a aceitar teses aparentemente incompatveis com o cristianismo como a da corporalidade de Deus. O perodo desta elaborao doutrinal a Patrstica. Padres da Igreja so os escritores cristos da antiguidade que contriburam para a elaborao doutrinal do cristianismo e cuja obra foi aceite e tomada como sua pela Igreja. O perodo dos Padres da Igreja pode considerar-se como terminado com a morte de Joo Damasceno para a Igreja grega (cerca de 754); e com a de Beda o Venervel para a Igreja latina (735). Este perodo pode dividirse em trs partes. A primeira, que vai at cerca do ano 200, dedicada defesa do
cristianismo contra os seus adversrios pagos e gnsticos. A segunda, que vai de 200 at cerca de 450, dedicada formulao doutrinal das crenas crists. A ltima, 122 que vai de 450 at ao final da Patrstica, mar. cada pela reelaborao e sistematizao das doutrinas j formuladas. 134. OS PADRES APOLOGETAS Os Padres Apostlicos do sculo 1 so os autores das Cartas que ilustram alguns pontos da doutrina crist e regulam questes de ordem prtica e religiosa. Tais so: o autor da chamada Carta de Bernab, Gemente Romano, Hermes, Incio de Antioquia e Policarpo. Mas estes escritores no encaram ainda problemas filosficos. A verdadeira actividade filosfica crist comea com os Padres Apologetas no sculo 11. Esses Padres escreviam em defesa (apologia) do cristianismo contra os ataques a perseguies que lhe eram dirigidos. Neste perodo "os cristos so hostilizados pelos Hebreus como estrangeiros e so perseguidos pelos pagos" (Epist. ad Diogn., 5, 17). Escritores pagos adoptaram contra o cristianismo a stira e a zombaria (Luciano, Celso). Os cristos so alvo de dio da plebe pag e das perseguies sistemticas do Estado. nestas condies que nascem as apologias. A n-ia@s antiga de que h conhecimento a defesa apresentada ao imperador Adriano, por volta do ano 124, quando de uma perseguio aos cristos, movida por Cuadrato, discpulo dos Apstolos. Temos apenas um fragmento, conservado por Eusbio (Hist. Eccles., IV, 3, 2). A apologia do filsofo Marciano Aristides foi encontrada em 1878 e dirigida ao imperador Antonino Pio (138161). Nela se afirma j claramente que s o cristianismo a verdadeira filosofia. De facto, s os cristos tm aquele conceito de Deus que deriva, necessariamente, da considerao da natureza. Nesta demons123 trao so usados conceitos platnicos. A ordem do mundo, tal como aparece nos cus e na terra, faz pensar que tudo se move por necessidade e que Deus aquele que move e governa tudo. Aristides insiste na inacessibilidade e inefabilidade da essncia divina, para contrapor o monotesmo rigoroso do cristianismo s crenas dos brbaros que adoraram os elementos materiais, s dos gregos que atriburam aos seus deuses fraquezas e paixes humanas, o s dos judeus que, admitindo embora um s Deus, servem melhor os anjos do que a Ele. Mas a primeira grande figura de Padre apologeta e o verdadeiro fundador da Patrstica Justino. 135. JUSTINO Justino nasceu provavelmente no primeiro decnio do sculo 11 em Flvia Nepolis, a antiga Siquem, agora Nablus na Palestina. Ele prprio nos descreve a sua formao espiritual. Filho de pais pagos, frequentou os representantes das vrias escolas filosficas.- Estoicos, Peripatticos e Pitagricos, e professou durante largo tempo as doutrinas dos Platnicos. Por fim, encontrou no cristianismo aquilo que procurava e desde ento com a sua palavra e os seus escritos defende-o como a nica e verdadeira filosofia. Viveu muito tempo em Roma e ali fundou uma escola, foi ainda em Roma que suportou o martrio entre 163 e 167. Das obras que nos ficaram, apenas trs so seguramente autnticas: o Dilogo com o judeu Trifon e duas Apologias. A primeira e a
mais importante dirigida ao imperador Antonino Pio e deve ter sido composta nos anos 150-155. A segunda, que um suplemento ou um apndice da primeira, foi motivada pela condenao de trs cristos, rus apenas por se terem confessado como tais: O Dilogo com o judeu Tri124 fon refere uma discusso que ocorreu em feso entre Justino e Trifon e visa, em substncia, demonstrar que a pregao de Cristo realiza e completa os ensinamentos do Velho Testamento. A doutrina fundamental de Justino que o cristianismo "a nica filosofia segura e til" (Dial., 8) e que esse o resultado ltimo e definitivo que a razo pode alcanar na sua pesquisa, uma vez que a razo no mais do que o Verbo de Deus, ou seja, Cristo, do qual participa todo o gnero humano. "Ns aprendemos -disse ele (Apo. primeira, 46) que Cristo o primognito de Deus, e que a razo de que participa todo o gnero humano. E aqueles que viveram segundo a razo so cristos, ainda que tenham sido considerados ateus como, entre os Gregos, Scrates, Heraclito e outros; e entre os brbaros, Abrao e Ananias e Azarias e Misael e Elias. De modo que tambm aqueles que antes nasceram e viveram irracionalmente eram maus e inimigos de Cristo e assassinos daqueles que vivem segundo a razo, mas aqueles que viveram e vivem conformes com a razo so cristos impvidos e tranquilos". Todavia estes cristos "avant Ia lettre" no conheceram toda a verdade. Neles existiam sementes de verdade, que no puderam entender plenamente. (1b., 44). Podiam, por certo, ver obscuramente a verdade, mediante aquela semente de razo que com eles nascera. Mas uma coisa a semente e a imitao e outra o desenvolvimento completo e a realidade, da qual a semente e a imitao se geraram. (Apol. seg., 13). Aqui adoptada a doutrina estoica das razes seminais para fundamentar a continuidade do cristianismo e da filosofia grega, para reconhecer nos maiores filsofos gregos os precursores do cristianismo e para justificar a obra da razo mediante a sua identificao com Cristo. Esta mesma doutrina permite a Justino a identificao completa entre o 125 cristianismo e a verdade filosfica. "Tudo aquilo que se disse de verdadeiro pertence a ns cristos, j que, alm de Deus, ns amamos e adoramos o Logos do Deus ingnito e inefvel, que se fez homem por ns, para nos curar das nossas enfermidades participando delas" (1b., 13). Deus o eterno, o que no teve princpio, o inefvel: o conhecimento de Deus um facto inexplicvel, radicado na prpria natureza dos homens (Apol. sec., 6). Ao lado e abaixo dele existe outro Deus, o Logos coexistente e gerado antes da criao, por meio do qual Deus criou e ordenou todas as coisas (1b., 5). Assim como uma chama no diminui quando se acende urna outra, o mesmo aconteceu com Deus na criao do Logos (Dial., 48). Depois do Pai e do Logos est o Esprito Santo, a quem Justino chama o esprito proftico, ao qual os homens devem as virtudes e os dons profticos (Apol. prima, 6). O homem foi criado por Deus, livre de fazer o bem e o mal. Se o homem no tivesse liberdade, no teria mrito no bem nem culpa no mal realizado (Apol. prima, 43). A alma do homem imortal, apenas por obra de Deus: sem esta, com a morte volveria ao nada (Dial., 6). Mas o prprio corpo est destinado a participar na imortalidade da alma. Efectivam-ente, dever vir, segundo o anncio dos profetas, uma segunda parusia de Cristo, e desta vez ele vir em glria, acompanhado pela legio dos anjos, ressuscitar os
corpos e revestir com imortalidade os dos justos, ao mesmo tempo que condenar ao fogo eterno os dos inquos (Apol. prima, 52). 136. OS OUTROS PADRES APOLOGETAS Taciano o Assrio, discpulo de Justino em Roma, nasceu na Sria e converteu-se em Roma 126 depois de ter conquistado nome como filsofo. Mais tarde, provavelmente, em 172, separou-se da Igreja passando para os Gnsticos. Taciano autor de uma apologia intitulada Discurso aos Gregos que , na realidade, uma crtica do Helenismo. A obra de Taciano essencialmente polmica. Acusa de imoralidade os pensadores e os poetas gregos e alarga-se em invectivas contra eles. Aos erros dos Gregos contrape a doutrina crist acerca de Deus e do mundo, do pecado e da redeno. O Logos a potncia racional de Deus e nasceu dele atravs dum acto de participao, no de separao. Como um facho acende muitos outros sem que a sua luz diminua, assim o Logos no esgota a potncia da razo do seu geriltor (Or. ad graec., 5). No homem distingue a alnw e o esprito. S o esprito a imagem e a semelhana de Deus. (lb., 12). A alma no uma essncia simples, mas composta de vrias partes. A sua existncia est ligada ao corpo e no separvel dele, pelo que no imortal Ub., 15). S pela sua unio com o esprito, a alma e o corpo participam da imortalidade. Atravs do esprito, o homem pode reunir-se a Deus. Ele deve desprezar a matria, da qual se servem os demnios para perd-lo, e voltarse exclusivamente para a vida espiritual (Ib., 16). Atengoras de Atenas autor de uma apologia intitulada Splica para os cristos, dirigida a Marco Aurlio ou Cmodo, e por isso composta entre 176 e 180, provavelmente em 177. Esse escrito prope-se refutar as trs acusaes que eram lanadas comummente contra os cristos: o atesmo, os banquetes tiesteos e o incesto maneira de dipo. A primeira acusao refutada mediante a exposio da doutrina crist de Deus; contra as outras duas -so aduzidos os fundamentos da moral crist. Na Splica recorre, pela primeira. vez, a uma prova racional da unicidade de Deus. Se existissem mais 127 divindades, no poderiam existir no mesmo lugar porque, sendo todas incriadas, no poderiam cair sob um tipo ou modelo comum. Deveriam, pois, existir em lugares diferentes. Mas no podem estar em lugares diferentes porque o espao para l do mundo a sede de um nico Deus que essncia supramundana e assim no h espao para as outras divindades. Uma outra divindade poderia existir num outro mundo ou em torno de um outro mundo; mas, em tal caso, essa no chegaria at ns e, pela limitao da sua esfera de aco, no seria a verdadeira divindade (Supp1. pro crist., 8). Por isso, os prprios poetas e filsofos gregos conheceram a unidade de Deus, ainda que o claro, seguro e completo conhecimento dele s nos tenha sido dado atravs dos profetas (1b., 7). O Logos gerado pelo Pai e coeterno com ele, o modelo, a fora criadora de todas as coisas criadas, enquanto o Esprito Santo um eflvio de Deus, semelhante a um raio de sol (1b., 24). Tefilo de Antioquia foi bispo desta cidade e deixou trs livros Ad Autolico, que so trs escritos independentes, o terceiro dos quais foi composto volta de 181-182 e os primeiros dois pouco antes. Ao desafio de Autlico: "Mostra-nos o teu Deus", Tefilo responde: "Mostra-me o teu homem e eu te mostrarei o meu Deus." Deus s visto por aqueles que
tm bem abertos os olhos da alma. Como no se pode ver a face do homem no espelho coberto de ferrugem, tambm o homem quando est no pecado no pode ver a Deus (Ad. Autol., 1, 2). pergunta: "Tu que o vs, descreve-me o aspecto de Deus", Tefilo responde: "Escuta-me; a beleza de Deus indizvel e inefvel e no se pode ver com os olhos corpreos" (1b., 1, 3). Deus que eterno e, portanto, no gerado e imutvel, o criador de tudo: tudo ele fez do nada, para que atravs da sua obra se compreen128 desse a sua grandeza. Por isso, ele torna-se visvel atravs da, sua criao. "Como a alma humana que invisvel aos homens conhecida atravs dos movimentos do corpo, tambm Deus, que no pode ser visto pelos olhos humanos, pode ser visto e conhecido atravs da sua providncia e das suas obras." (Ib., 1, 5). A via da criao divina o Logos Deus, mediante o Logos e a sabedoria, criou todas as coisas (1b., 1, 7). O Logos o conselheiro de Deus, a sua mente e a sua prudncia (1b., 11, 22). Pela primeira vez, Tefilo usou a palavra trindade (trias) para indicar a distino das pessoas divinas. Os trs dias da criao da luz de que fala o Gnesis "so imagens da trindade, de Deus, do seu Verbo, da sua sabedoria" (1b., 11, 15). Sob o nome de Justino chegou at ns uma Carta a Diogneto que certamente no pertence a Justino pela diversidade do estilo e da doutrina. O autor responde s dvidas levantadas por um pago que se interessa pelo cristianismo. A composio da Carta no deve ter sido antes de 160, e provavelmente nos finais do sculo 11. O autor responde a trs dvidas de Diogneto. Ao culto pago e judaico, a Carta contrape o culto cristo do Deus invisvel e criador. A religio crist no uma descoberta humana mas uma revelao divina: Deus mandou o seu Filho, a eterna Verdade e a eterna Palavra, a ensinar aos homens a verdadeira religio; e o Filho de Deus veio ao mundo no como senhor mas como salvador @ libertador e encaminhou-nos para a salvao pelo amor (Ep. ad Diog., 7). Com o ttulo Irriso dos filsofos pagos, de Hermias filsofo, chegou-nos um pequeno escrito polmico no qual se pem sarcasticamente luz as contradies dos filsofos gregos @na, sua dou129 trina sobre a alma humana (cap. 1-2) o sobre os princpios fundamentais das coisas (cap. 3-10). A obra pertence provavelmente ao final do sculo II. 137. A GNOSE A obra dos Padres Apologetas no tem de se dirigir apenas contra os inimigos externos do cristianismo, pagos e hebreus, mas ainda contra os inimigos internos, contra as tendncias e as seitas que, na tentativa de interpretarem a mensagem original do cristianismo, falseavam o seu esprito e a letra, contaminando-o com elementos e motivos heterogneos. O maior perigo contra a unidade espiritual do cristianismo foi representado nos primeiros sculos pelas seitas gnsticas que se difundiram amplamente no Oriente e no Ocidente, especialmente nas esferas dos doutos e produziram uma rica o variada literatura. No entanto, esta literatura, com excepo de poucos escritos, conservados em tradues coptas, perdeu-se o s a conhecemos atravs dos passos citados pelos Padres Apologetas que os refutaram.
A importncia da tentativa dos gnsticos reside no facto de que a primeira investigao de uma filosofia do cristianismo. Mas esta investigao foi conduzida sem rigor sistemtico, misturando juntamente elementos cristos, mticos, neoplatnicos e orientais num conjunto que nada tem de filosfico. A palavra Gnosis, como conhecimento religioso distinto da pura f, foi tirada da tradio grega, especialmente do pitagorismo, no qual significava o conhecimento do divino prprio dos iniciados. Foi assim empregada para indicar um grupo de pensadores cristos do sculo II que fizeram do conhecimento a condio da salvao. Atriburam a si prprios, pela primeira vez, o 130 nome de gnsticos, os Ofitas ou scios da serpente, que depois se dividiram em numerosas seitas. Estes utilizavam grande quantidade de textos religiosos atribudos a personalidades bblicas: tal era o Evangelho de Judas, a que se refere Irineu (Adv. haer., 1, 31, 1). Outros escritos do gnero foram encontrados recentemente em tradues coptas, o mais importante dos quais a Pistis Sophia, que foi editada em 1851 e expe, em forma de dilogo entre o Salvador ressuscitado e os seus discpulos, particularmente Maria Madalena, a queda e a redeno de Pistis Sophia, um ser pertencente ao mundo dos Eones (seres intermdios entre o homem e Deus), e o caminho para a purificao do homem mediante a penitncia. Os principais gnsticos de que temos conhecimento so Baslides, Carpcrates, Valentino e Bardesanes. Basilides, que ensinou em Alexandria entre 120 e 140, escreveu uni Evangelho, um Comentrio e Salmos. A sua doutrina conhecida atravs das obras de Clemente de Alexandria (Stromata) e das refutaes de Irineu (Contra os herticos) e de Hiplito (Filosofemi). Para Basilides, a f uma entidade real, uma coisa, deposta por Deus no esprito dos eleitos, isto , dos predestinados para a salvao. Levado pela necessidade de explicar o mal no mundo, Basilides foi levado a admitir dois princpios da realidade, um como causa do bem, o outro do mal: a luz e as trevas. Postas em contacto entre si, as trevas procuraram unir-se luz e participar dela, enquanto a luz, por sua vez, permanecia retraindo-se sem absorver as trevas. As trevas originaram assim uma aparncia e uma imagem da luz, que o mundo, no qual o bem se encontra por isso em quantidade desprezvel e o mal predomina. Esta concepo de Basilides muito semelhante maniqueia, mas no admite, como esta, a luta entre os dois princpios. 131 De Carpcrates de Alexandria apenas sabemos que uma sua sequaz, Marcellina, foi a Roma nos tempos de Aniceto (cerca de 160), e "provocou a ruiria de muitos" (Irineu, Contra os hereges, 1, 25, 4). Carpcrates, para explicar a superioridade de Cristo sobre os homens, serve-se da teoria platnica da reminiscncia. Cristo torna-se superior aos outros homens, porque a sua alma recordou mais abundantemente quanto tinha visto durante o seu curso com o Pai no gerado, onde este lhe deu uma virtude particular que o tornou capaz de escapar ao predomnio do mundo e de regressar livremente at ele. O mesmo acontecer a toda a alma que se atenha mesma linha de conduta. Os sequazes de Carpcrates ou carpocracianos admitiam a transmigrao da alma de corpo em corpo, enquanto no tivesse completado o ciclo das experincias pecaminosas; s no termo desta odisseia, a alma seria digna de voltar para o Pai, libertando-se de todas as ligaes com o corpo. O maior nmero de sequazes pertence escola de Valentino que, segundo Irineu, foi a Roma nos tempos do bispo Higino (135-140). No cume da realidade, Valentino e os seus
seguidores colocavam um ser intemporal e incorpreo, no gerado e incorruptvel a quem chamavam Pai ou Primeiro Pai ou ainda Eone (do grego: ain=eterno) perfeito. Este primeiro princpio formado por pares de termos, Abismo e Silncio; e tambm os eones que emanam dele so constitudos por pares. Efectivamente, do primeiro Eone derivam a Mente e a Verdade, da qual procedem por emanao a Razo e a Vida; e dos quais procedem ainda o Homem (como determinao divina) e a Comunidade (ecclesia, comunidade de vida divina). O conjunto destas oito determinaes divinas (ogdoade) o reino da perfeita vida divina ou Pleroma. Ora o ltimo Eone, a Sabedoria, quis descobrir o primeiro, o 132 Abismo, e procurou subir at s regies superiores do Pleroma. Mas isso no foi avante e neste esforo intil deu origem ao mundo, o qual por isto apresenta as caractersticas de um esforo incompleto o os erros e o pranto que o esforo fracassado produz. "Da ansiedade e da inquietao nasceram as trevas; do temor e da ignorncia nasceram a malcia e a perverso; da tristeza e do pranto as Contes de gua e os mares. Cristo foi mandado pelo Pai Primeiro, inviolvel no seu mistrio, a restaurar o equilbrio desfeito pelo louco sonho da Sabedoria" 'Tertuliano, Contra os Valentinianos, 2). Deste modo, o universo nasce na rebelio infecunda do cone Sophia que d origem obra plasmadora de um Demiurgo. Valentino repartia o gnero humano em trs categorias: a massa dos homens carnais, o conjunto dos psquicos e a casta dos espirituais (pneumticos). Os primeiros esto destinados perdio; os segundos podem salvar-se custa de um esforo; aos privilegiados basta, para alcanar a beatitude, a gnose, isto , o conhecimento dos mistrios divinos. Bardesanes, nascido em Edessa em 154 e falecido em 222, foi discpulo de Valentino. essencialmente um astrlogo e um naturalista que, da astrologia babilnica e egpcia, retira a teoria da influncia dos astros sobre os acontecimentos do mundo e sobre as aces humanas. O persa Mani, nascido provavelmente cerca de 216, proclamou-se Parclito, isto , aquele que devia trazer a doutrina crist sua perfeio. A sua religio uma mescla fantstica dos elementos gnsticos, cristos e orientais, fundamentada no dualismo da religio de Zaratustra. Ele admite efectivamente, dois princpios originais, um, o do mal ou princpio das trevas, o outro do bem ou princpio da luz, que se combatem perpetuamente no mundo. Tambm no homem existem duas almas, 133 uma corprea que o princpio do mal, a outra luminosa que o bem. O homem atinge a sua perfeio com um trplice selo, isto , abstendo-se da comida animal e dos discursos impuros (signaculum oris), da propriedade e do trabalho (signaculum manus) e do matrimnio e do concubinato (signaculum sinus). O maniquesmo encontrou o seu grande e implacvel adversrio em S. Agostinho. 138. A POLMICA CONTRA A GNOSE Na polmica contra o gnose o cristianismo atinge uma mais rigorosa elaborao doutrinal. Neste ponto era necessrio, em primeiro lugar, individualizar e defender as fontes genunas da tradio crist e, em segundo lugar, fixar o significado autntico desta tradio contra as perverses e erros que pretendiam disput-la e exprimir o seu verdadeiro
significado. Um certo nmero de obras antignsticas perdeu-se, de outras obras (de Agrippa Castor, Egesipo, Rodn, Filipe de Cortina, Heraclito) restam escassos e insignificantes fragmentos (Migne, Patr. grec., 5.0). Em contrapartida, temos as obras de Irineu e de Hiplito. Irineu nasceu cerca de 140 na sia Menor, provavelmente em Esmima. No tempo da perseguio de Marco Aurlio, era padre da igreja de Lyon e, segundo uma tradio que remonta a S. Jernimo, morreu mrtir mas ignora-se em que data. Irineu escreveu numerosas obras. Eusbio, na sua Histria Eclesistica (V, 20), cita um tratado: Sobre a monarquia ou sobre no ser Deus autor do mal; um outro, Sobre ogdoade; vrias cartas e escritos menores um dos quais contra os pagos, intitulado Sobre a cincia. De todos estes escritos s restam escassos fragmentos (em Migne, Patr. grec., 7.0), 1225-74). Em contrapartida, conserva-se uma grande 134 obra contra o gnosticismo, intitulada Refutao e desmascaramento da falsa gnose, comummente chamada Adversus haereses. Mas chegou-nos no no seu original grego, mas uma verso latina do sculo IV; existem, contudo, fragmentos do texto grego, especialmente do primeiro livro, sob a forma de citaes dos escritores posteriores. A verdadeira gnose , segundo Irineu, aquela que foi transmitida pelos apstolos da Igreja. Mas esta gnose no tem a pretenso de superar os limites do homem, como a falsa gnose dos herticos. Deus incompreensvel e impensvel. Todos os nossos conceitos -so para ele inadequados. Ele intelecto, mas no semelhante ao nosso intelecto. luz, mas no semelhante nossa luz. " melhor no saber nada, mas crer em Deus e permanecer no amor de Deus, do que arriscar-se a perd-lo com investigaes subtis" (Adv. haer., 11, 28, 3). O que podemos saber de Deus, podemos conhec-lo somente por revelao: sem Deus no se pode conhecer Deus. E a revelao de Deus acontece tambm atravs do mundo que obra dele, como reconheceram at os melhores entre os pagos. A mais grave blasfmia dos gnsticos , segundo Irineu, (11, 1, 1) a tese de que o criador do mundo no o prprio Deus, mas uma emanao sua. Que Deus tenha tido necessidade de seres intermdios para a criao do mundo, significaria que ele no teria tido a capacidade de levar a efeito aquilo que tinha projectado. Contra a doutrina gnstica de que o Logos e o Esprito Santo so eones subordinados, Irineu afirma a igualdade de essncia e de dignidade entre o Filho, o Esprito Santo e o Pai. O Filho de Deus no teve princpio. pois que ele desde a eternidade coexistente com o Pai, nem teve princpio o Esprito Santo, o qual como o Filho est desde a eternidade junto ao Pai. Nem se pode admitir a emanao do Filho e do 135 Esprito Santo do Pai. A simplicidade da essncia divina no consente a separao do Logos ou do Esprito Santo do Pai (11, 13, 8). O Filho o rgo da revelao divina e est subordinado ao Pai no pelo seu ser ou pela sua essncia, mas apenas pela sua actividade (V, 18, 2). Pelo que se refere ao homem, Irineu, contra a distino gnstica de corpo, alma e esprito, afirma que o homem resulta da alma e do corpo e que o esprito apenas a capacidade da alma pela qual o homem se torna perfeito e se constitui imagem de Deus. Mas para que o esprito transfigure e santifique a figura humana necessria a aco do Esprito Santo. A alma humana est entre a carne o o esprito e pode voltar-se para uma ou para outro. Apenas pela f e pelo temor de Deus, o homem participa do esprito e se eleva vida divina
(V, 9, 1). Mas os gnsticos erram ao afirmar que a carne em si um mal ou a origem do mal. O corpo como a alma uma criao divina e no pode, portanto, implicar o mal na sua natureza (IV, 37, 1). A origem do mal est antes no abuso da liberdade e, por isso, deriva no da natureza, mas do homem e da sua escolha (IV, 37, 6). O bem consiste em obedecer a Deus, em acreditar nele, em guardar os seus perceitos, o mal consiste na desobedincia e na negao de Deus (IV, 39, 1). O bem conduz o homem imortalidade que concedida alma por Deus, mas no intrnseca sua prpria natureza; o mal punido com a morte eterna. Tambm os corpos ressuscitaro; mas ressuscitaro com a nova vinda de Cristo, que se verificar depois do reino do Anticristo. Ento as almas, tendo readquirido os seus corpos, podero chegar viso de Deus (V, 31, 2; 27, 2). Da vida de Hiplito, discpulo de Irineu, d-nos algumas indicaes a prpria obra que nos ficou dele, os Philosophoumena. Contra o papa Calisto 136 (217-22) colocou-se cabea de um partido cismtico e foi assim um dos primeiros antipapas que a histria conhece. O motivo do cisma foi o abrandamento da disciplina eclesistica, introduzido por Calisto, que permitira a readmisso na Igreja daqueles que retornavam das seitas herticas, a concesso das dignidades eclesisticas aos bgamos, etc. (Philos., lX, 12). Em 235, Hiplito foi exilado para a Sardenha com o segundo sucessor de Calisto, Ponziano, e ali se reconciliaram provavelmente o papa e o antipapa. Falecidos ambos na Sardenha, os seus corpos foram transportados para Roma e sepultados no mesmo dia, a 13 de Agosto de 236 ou 237. A esttua de Hiplito, encontrada mutilada no ano de 1551 e conservada no Museu de Latro, tem, nos lados do pedestral, uma lista incompleta dos seus numerosos escritos. Entre as obras de Orgenes andava inclu do, em muitos manuscritos, o primeiro livro de uma Refutao de todas as heresias, que certamente no pertence a Orgenes porque o autor se intitula bispo. Em 1842, num manuscrito do monte Athos, foram encontrados os livros IV-X da mesma Refutao, a qual hoje universalmente atribuda a Hiplito com o ttulo imprprio de Philosophoumena. Das outras obras chegaram-nos fragmentos; entre estes o capitulo final do escrito Contra Noetum. Restam-nos completos um escrito apologtico Sobre o Anticristo e um Comentrio ao profeta Daniel, que a primeira tentativa do gnero entre os telogos cristos. Outros fragmentos de obras de Hiplito conservaram-se em eslavo, armnio, siraco, etc. Hiplito prope-se refutar os herticos mostrando que eles vo beber a sua doutrina no na tradio crist, mas na sabedoria pag. Por isso, o I e o IV livro (no ltimo dos quais talvez se possa ver tambm o 11 e o 111), traam um quadro da sabedoria pag, enquanto os ltimos seis expem e 137 Tefutam as heresias. Ao papa Calisto reprova Hiplito o facto de no estabelecer uma distino suficiente entre o Pai e o Logos e o de atribuir, portanto, toda a obra redentora ao Pai mais que ao Filho. A sua doutrina do Logos tende essencialmente a estabelecer esta distino. O Pai e o Filho so duas pessoas (prosopa) diferentes, ainda que constituam uma s potncia (dynamis). Primeiramente o Logos existia no Pai impessoalmente, em inseparvel unidade com ele, como Logos no expresso. Quando o Pai quis e da maneira que quis, ele procedeu do Pai e tornou-se uma pessoa parte como outro em relao a ele.
Finalmente com a incarnao, o Logos tornou-se o verdadeiro e perfeito Filho do Pai. Hiplito insiste sobre a arbitrariedade da gerao divina do Logos. "Se Deus tivesse querido, diz ele, (Philos., X, 33), teria podido fazer um homem Deus (ou o homem) em vez do Logos". Afirma assim a subordinao da natureza do Logos do Pai. Contudo, ao afirmar que o Logos distinto de Deus, ele no pretende dizer que sejam duas divindades: a relao entre o Pai e o Logos semelhante que existe entre a fonte luminosa e a luz, entre a gua e a fonte, entre o raio e o sol. Com efeito, o Logos uma potncia que deriva do todo e o todo o Pai de cuja potncia procede (Contra Noet., 11). A procedncia do Logos do Pai era necessria para a criao do mundo, pois que o Logos o intermedirio da obra criadora. Alm do Pai e do Filho, Hiplito admite a terceira instituio (economia), o Esprito Santo. "0 Pai manda, o Filho obedece, o Esprito Santo ilumina; o Pai est acima de tudo, o Filho por tudo, o Esprito Santo est em tudo. No podemos pensar num nico Deus, se no acreditarmos no Pai, no Filho e no Esprito Santo" (Contra Noet., 14). 138 O homem foi criado por Deus dotado de liberdade e Deus deu-lhe. atravs dos profetas e especialmente de Moiss, a lei que deve guiar a sua vontade livre. O homem no Deus; mas se quiser pode tornar-se Deus: " S seguidor de Deus e co-herdeiro de Cristo, em vez de servir os instintos e as paixes e tornar-te-s Deus" (Philos., X, 33). 139. TERTULIANO Frente aos apologetas orientais que tentaram estabelecer a continuidade entre o cristianismo e a filosofia grega e apresentaram a doutrina crist como a verdadeira filosofia que a revelao de Cristo conduziu sua ltima perfeio, os apologetas ocidentais tendem a reivindicar a originalidade da revelao crist em confronto com a sabedoria pag e a fund-la sobre a natureza prtica e imediata da f, mais que sobre a especulao. Este carcter da apologtica latina demonstra-se, sobretudo, no seu maior representante, Tertuliano. Quinto Septmio Fiorente Tertuliano nasceu cerca de 160 em Cartago de pais pagos. Teve uma educao excelente e exerceu, provavelmente em Roma, a profisso de advogado. Entre 193 e 197 converteu-se ao cristianismo e recebeu a ordenao sacerdotal. Desenvolveu ento uma intensa actividade polmica a favor da nova f; irias, a meio da sua vida, passou para a seita dos montanistas e comeou a polernizar contra a Igreja Catlica com violncia pouco menor do que aquela que tinha usado contra os hereges. Finalmente, fundou uma seita prpria, os "tertulianistas" (Agostinho, De haeres., 86). Parece que viveu at idade avanada (Jernimo, De vir. iII., 53). A actividade literria de Tertuliano vastssima, mas exclusivamente polmica. As suas obras costumam dividir-se 139 em trs grupos: apologticas, em defesa do cristianismo; dogmticas, em refutao das heresias; prtico-ascticas, sobre questes de moral prtica e de disciplina eclesistica. Ao primeiro grupo pertencem: o Apologeticus, dirigido no ano de 197 aos governadores das provncias do Imprio Romano; o Ad nationes, pouco anterior ao primeiro; o De testimonio animae, que pretende fundar a f no testemunho da alma, "naturaliter christiana"; a carta Ad Scapulam, dirigida a um procnsul de frica que perseguia os cristos; o Adversus judaeos, que, provavelmente, s nos primeiros oito captulos pertence a Tertuliano. As obras dogmticas so: o De praescriptione haereticorum que um dos seus escritos filosficamente mais significativos; Adversus Marcionem, Adversus Hermogenem e Adversus Valentinianos, dirigidos contra os Gnsticos; o Scorpiace,
tambm dirigido contra os Gnsticos, comparados aos escorpies; o De baptismo, que declara invlido o baptismo dos herticos; o De carne Christi que confirma a realidade do corpo de Cristo contra o docetismo; o De ressurrectione Christi, em defesa da ressurreio da carne; o Adversus Praxean; o De anima, que o primeiro escrito de psicologia crist. Os dois ltimos escritos pertencem ao perodo montanstico. As obras prtico-ascticas so: o De patientia, o De oratione, o De poenitentia, o De pudicitia, a carta Ad martyras, o De exortatione castitatis, o De monogamia, todos dirigidos contra o segundo matrimnio; o De spectaculis, contra a interveno dos cristos nos jogos pagos; o De idololatria, contra a participao dos cristos na Vida pblica e na actividade artstica; o De corona, contra o servio militar; o De cultu foeminarum, contra os adornos das mulheres; o De virginibus velandis; o De fuga in persecutione, que declara ilcita a fuga durante as perseguies; o De ieiunio adversus psychcos, contra os jejuns dos 140 catlicos; o De palfio, em defesa da veste que havia adoptado ao abandonar a toga. O trao caracterstico de Tertuliano a irrequietude. No tratado De patientia, que dirige sobretudo a si prprio, existe indubitvelmente uma confisso sincera: "Pobre de mim, que ardo continuamente com a febre da impacincia." E, na realidade, ele era incapaz de deterse sobre os problemas e examin-los com profundidade. O trabalho paciente e rigoroso da pesquisa no era para ele; por alguma coisa, como veremos, desvaloriza a investigao ante a f. Servido por uma habilidade polmica excepcional e por uma faculdade oratria pouco comum, examina os problemas tomando as posies mais simples e extremistas com suprema indiferena por toda a cautela crtica e toda a exigncia de mtodo. Este homem que nega o valor da pesquisa e passa a vida procura de qualquer coisa; este adversrio implacvel de todas as seitas que depois passa a uma delas e acaba por fundar uma; este defensor do cristianismo que afirma a corporeidade de Deus e da alma, perdendo assim a primeira conquista no s do cristianismo mas de qualquer religio; este defensor intransigente do pudor que se detm com complacncia a descrever o acto carnal do amor (De an., 27), este causdico que defende com igual violncia polmica a trindade de Deus e a forma do seu vestir, revela em todas as suas atitudes uma carncia fundamental de clareza e de sinceridade consigo prprio. Com demasiada frequncia deixa transparecer na sua arrogncia polmica, sob o manto oratrio das frases incisivas, a inconsistncia da sua espiritualidade e o carcter formalstico da sua f. Aquela seita dos montanistas, que tinha as caractersticas do seu fundador Montano, ex-sacerdote de Cibele, formada por exaltados que viviam em contnua agitao espera do iminente regresso de Cristo, 141 pde seduzi-lo por algum tempo, mas no pde det-lo. E assim, se imprimiu especulao crist do Ocidente a sua terminologia, no conseguiu dar-lhe um contributo substancial de pensamento. 140. TERTULIANO: AS DOUTRINAS O ponto de partida de Tertuliano a condenao da filosofia. A verdade da religio fundase na tradio eclesistica-, da filosofia s nascem as heresias. No existe nada de comum entre o filsofo e o Cristo, entre o discpulo da Grcia e o dos cus (Apol., 46); os filsofos so "os, patriarcas dos herticos" (De an., 3). A raiz de todas as heresias est nos filsofos gregos. Valentino, o gnstico, era discpulo de Plato; Marcin, dos Estoicos. Para negar a imortalidade da alma recorre-se aos Epicuristas; para negar a ressurreio da carne, ao acordo unnime dos filsofos. Quando se fala de um Deus-fogo recorre-se a Heraclito. E a coisa mais intil de todas a dialctica do desgraado Aristteles que serve tanto para edificar como para destruir e que se adapta a todas as opinies (De praescr., 7). Que valor
tm ento as palavras de Cristo: "Procurai e achareis"? necessrio procurar a doutrina de Cristo enquanto no a encontrarmos, isto , enquanto no acreditamos nela. "Se procuramos para encontrar e encontramos para crer, pe-se fim, com a f, a toda a ulterior investgao e achamento. Eis o limite que o prprio resultado da investigao estabelece. Eis aqui o fosso que traou diante de ti aquele que quer que tu creias s naquilo que te ensinou e que no busques outra coisa" (De praescr., 10). A investigao exclu pois a posse e a posse exclui a investigao. Procurar, depois que se alcanou a f, significa precipitar-se na heresia (1b., 14). Nada h 142 mais estranho mentalidade de Tertuliano do que a exigncia de uma investigao que nasa e se alimente da f: esta exigncia encarnar na grande figura de S. Agostinho. Medido pelo critrio de Tertuliano, S. Agostinho seria incrdulo ou hertico. A verdade do cristianismo funda-se, portanto, apenas no testemunho da tradio. s seitas herticas que procuram interpretar a seu modo as Sagradas Escrituras, ele ope que a interpretao delas diz respeito apenas s autoridades eclesisficas, s quais foi transmitido, por hereditariedade ininterrupta, o ensinamento de Cristo. Com mentalidade de advogado defende este direito da Igreja, que foi instituda, atravs dos Apstolos, como herdeira da mensagem de Cristo. Mas admite tambm, alm da tradio eclesistica, um outro testemunho a favor da f: o da alma. Mas a alma no para ele, como ser para S. Agostinho, o princpio da interioridade, o rinco interior onde ressoa do alto a voz da verdade divina; a voz do senso comum, a crena que o homem da rua manifesta nas expresses correntes da sua linguagem. "Eu no invoco a alma que se formou nas escolas, exercitada nas bibliotecas e inchada pela sabedoria das academias e dos prticos da Grcia. Eu invoco a alma simples, rude, inculta e primitiva, tal como a possuem aqueles que s a tm a ela, a alma que se encontra nas encruzilhadas e bifurcaes dos caminhos" (De testimon. an., 1). E Tertuliano recolhe o testemunho desta alma nas expresses mais simples e mais frequentes que o vulgo emprega, com a convico de que tais expresses so "vulgares porque comuns, comuns porque naturais, naturais porque divinas" (lb., 6). O testemunho da alma , pois, para Tertuliano, o testemunho da linguagem ou do senso comum mais que o testemunho da conscincia. O princpio da conscincia , efectivamente, estranho a Ter143 tuliano, que aceita dos Estoicos a corporeidade do ser. "Tudo aquilo que , o corpo de um gnero determinado. Nada incorpreo a no ser aquilo que no " (De carne Christi, 11). O prprio Deus corpo ainda que seja esprito, pois que o esprito no mais do que um corpo sui generis. A diferena entre a natureza espiritual da alma e a natureza carnal do corpo a diferena entre dois corpos: o esprito um sopro que d vida carne, mas que ele prprio corpreo. O mundo sensvel e o mundo intelectual diferenciam-se entre si s enquanto um visvel e aparente e o outro evanescente e imperceptvel. O primeiro cai sob a sensibilidade, o segundo sob o intelecto. Mas o prprio entender um sentir e o sentir um entender. A sensao efectivamente a inteligncia da -realidade que se sente e a inteleco a sensao da realidade que se percebe (De an., 18). A alma tem, pois, a mesma figura do homem e, precisamente, do corpo que a contm (lb., 9). Ela definida por Tertuliano como "uma substncia simples, nascida do sopro de Deus, imortal, corprea e dotada de uma figura, capaz por si mesma de sabedoria, rica em atitudes, partcipe de arbtrio, sujeita s circunstncias, mutvel de humor, racional, dona da sua
capacidade, rica de virtudes, adivinhadora, multiplicando-se a partir de um nico ramo (Ib., 22). Esta ltima determinao exprime a convico de Tertuliano de que a alma se transmite, em conjunto com o corpo, de pai para filho atravs da gerao (traducianisnio). No resoluto materialismo de Tertuliano exprime-se, por um lado, a necessidade de dar ao esprito a realidade mais slida e concreta pelo outro a sua incapacidade para conceber um'@ realidade estvel e firme fora do corpo. Contudo, isso permite-lhe afirmar com extrema energia a unidade indissolvel do homem. "Se a morte no mais que a separao entre o corpo e a alma, aquilo que 144 contrrio morte, a vida, no ser outra coisa seno a unio da alma e do corpo. Esto fundidos pela vida os elementos que so desintegrados na morte" (1b., 27). Por isso, Tertuliano defende a realidade do corpo de Cristo contra aqueles que o reduziam a uma pura aparncia (docetismo). No De carne Christi detm-se, com aquela complacncia no repugnante e no abjecto que lhe to caracterstica, nos mais grosseiros detalhes da gerao e do nascimento, para defender a total e plena humanidade do homem. "Cristo, diz ele (De carne Christi, 4), amou o homem tal como . Se Cristo o criador, amou justamente o que era seu; se vem de outro Deus, o seu amor mais meritrio porque se redimiu a um estranho. Era, pois, lgico que amasse tambm o seu nascimento, a sua carne; impossvel amar um objecto qualquer sem amar o que uno com ele. Acaba com o nascimento e faz-me ver um s homem que seja; suprime a carne e diz-me que coisa pde Deus remir, se de um e da outra resultou a humanidade que Deus redimiu". A realidade e o valor da carne justificam a ressurreio de Cristo. E a este respeito encontramos palavras paradoxais que exprimem aquela exasperada tenso entre a certeza da f e a verdade do intelecto que se expressou na frmula (que no se encontra em Tertuliano): credo quia absurdum. "0 Filho de Deus foi crucificado; no vergonhoso porque poderia s -lo. O Filho de Deus morreu: crvel porque inconcebvel. Sepultado, ressuscitou: certo porque impossvel" (De carne Chr., 5). Aqui a f tem tanta maior certeza quanto mais repugna s avaliaes naturais do homem. A ressurreio de Cristo a garantia da ressurreio do homem. Tertuliano deduz as provas da imortalidade da alma dos testemunhos do senso comum, da necessidade implcita em todos de viver de qualquer modo para l do tmulo, necessidade que se funda numa instintiva certeza do futuro (De 145 testim. an., 6). Mas imortalidade da alma andar unida a ressurreio da carne. O homem dever ressurgir na sua natureza inteira e esta no seria tal sem a carne (De ressur. carnis, 56-57). Na sua doutrina do Logos, Tertuliano liga-se expressamente aos Estoicos: "Deus criou todo o mundo com a palavra, com a sabedoria e com a potncia. Tambm os vossos sbios chamam Logos, isto , palavra e sabedoria, ao artfice do universo. Zeno chama-lhe o autor da ordem que disps todas as coisas; Cleanto redu-lo a um esprito e afirma que penetra o universo. E ns Palavra, Sabedoria e Potncia pela qual Deus criou todas as coisas, atribumos-lhe, como substncia prpria, o Esprito, no qual existe a Palavra para mandar, a Razo para dispor e a Potncia para efectuar" (Apol., 21). Tertuliano admite,
contudo, a subordinao do Filho e do Esprito Santo ao Pai. O ser pertence principalmente ao Pai, do qual se comunica ao Filho e, atravs do Filho, ao Esprito Santo. Tudo aquilo que o Filho vem-lhe da substncia do Pai; toda a sua vontade, todo o seu poder lhe vem do Pai (Adv. Praexan., 3-4). O Logos tem um duplo nascimento, o imanente e o emanewe; pelo primeiro, gerado na sensibilidade de Deus; pelo segundo afasta-se do Pai e procede criao do mundo (1b., 7). 141. APOLOGETAS LATINOS Contemporneo de Tertuliano foi Mincio Flix, autor de um dilogo intitulado Octavius, que uma das primeiras apologias do cristianismo. Pouco sabemos do autor, que se intitula advogado (causidicus) em Roma. No dilogo, faz de rbitro na disputa entre o cristo Octvio Gennaro e o pago Cecilio Natale que, no final, se declara vencido. A apologia 146 de Mincio Flix , no seu esprito, uma obra mais prxima dos escritores gregos do que de Tertuliano. O cristianismo apresentado como monotesmo e caracterizado acima de tudo atravs da sua moral prtica. No se fala dos mistrios da f nem da Sagrada Escritura. A concordncia de todos os filsofos sobre a unicidade de Deus faz concluir que "ou os cristos so os filsofos de agora ou os filsofos de ento eram cristos" (Oct., 20). Todavia, a obra apresenta no seu contedo uma grande afinidade com o Apologeticum de Tertuliano. No fcil elucidar a prioridade de uma ou de outra obra. Como quer que seja, as teses que, em Tertuliano, tm uma forma violenta e extrema, tomam em Mincio Flix uma forma atenuada e corts, que as torna mais aptas para influir persuasivamente sobre os pagos cultos a quem a obra se dirige. posio cptica de Ceclio, o interlocutor pago que, reconhecendo a impossibilidade da mente humana para olhar os mistrios divinos, julga que nos devemos contentar com as crenas dos nossos pais, Octvio contrape a evidncia pela qual o Deus nico se manifesta na sua obra: o cu e a terra. Como quem entra numa casa e, ao v-Ia bem ordenada e disposta, atribui esta ordem ao dono, do mesmo modo quem considera a ordem, a providncia e a lei que regem o cu e a terra, deve crer num senhor do mundo que o move, o alimenta e o governo (1h., 18). Como Tertuliano, Mincio recorre ao testemunho da alma simples e reconhece nela "a palavra espontnea da multido". A crena crist num Deus nico confirmada juntamente pela demonstrao dos filsofos e pelo sentido comum da maioria, e contraposta por Mincio ao politesmo pago, tal como a moral crist se ope moral pag, degenerada e corrupta. Nos escritos prtico-ascticos de Tertuliano se inspirou frequentemente Tascio Cecilio Cipriano (morto em 258), em tratados e cartas que tratam 147 apenas questes referentes disciplina eclesistica e no tm, por conseguinte, interesse filosfico. Em contrapartida, tem contedo filosfico a apologia de Arnbio intitulada Adversus nationes, composta no tempo da perseguio de Diocleciano (303-305) ou pouco depois. Arnbio era professor de retrica em Sicca, na frica romana. Uma viso convenceu-o a converter-se e para vencer a desconfiana do bispo, que devia acolh -lo na comunidade crist, publicou esse escrito contra o paganismo. Tal , ao menos, o relato de S. Jernimo (De vir. I., 79). Pelo seu conceito pessimista da condio do homem, Arnbio foi comparado a Pascal. Tudo no homem lhe parece baixo, repugnante e ignbil. A sua prpria existncia intil para a economia do mundo, que permaneceria imutvel se o
homem no existisse (11, 37). A convivncia humana no chega nunca a ser justa e duradoira; a histria um suceder de violncias e de crimes (11, 38) que se repetem eternamente da mesma maneira (1, 5). Posto isto, parece a Arnbio "um crime de impiedade sacrlega" admitir que haja sido criada por Deus, autor da ordem e da perfeio do mundo, "esta coisa infeliz e msera, que se di de ser, que detesta e chora a sua condio e no entende ter sido criada por outrem seno para difundir o mal e perpetuar a sua misria" (11, 46). Portanto, o homem deve -ter sido criado por uma divindade inferior em dignidade e potncia, e em muitos graus, ao sumo Deus, ainda que pertencente sua famlia (11, 36). Arnbio admite assim divindades inferiores, subordinadas ao Deus supremo. Nem sequer exclui a existncia das divindades pags: se existem, sero tambm divindades de ordem inferior subordinadas ao Deus dos cristos (1, 28; 111, 2-3; VII, 35). A alma humana no tem, pois, o carcter divino que os Platnicos lhe tinham atribudo. Arnbio combate expressamente a doutrina platnica da 148 reminiscncia. Um homem que tivesse estado desde o seu nascimento em completa solido teria o esprito vazio e no chegaria de modo algum a ter conhecimento das coisas ultraterrenas. A sensao a origem nica de todo o conhecimento humano (11, 20). Uma s ideia inata no homem, a ideia de Deus, o nico criador e senhor de tudo (1, 33); com ela se revela tambm a certeza da existncia de Deus, da sua bondade e da sua perfeio. Ainda devido sua natureza inferior, a alma no naturalmente imortal. Ela no puro esprito nem puro corpo, mas de uma qualidade intermdia e de natureza incerta e ambgua (11, 14). S Deus pode subtra-Ia morte e conferir-lhe a imortalidade; ele confere a imortalidade queles homens que o reconhecem e servem, enquanto os demais sero por ele condenados verdadeira morte e consumidos at ao aniquilamento pelo fogo do inferno (11, 14). Erram pois os Epicuristas ao afirmar incondicionalmente a morte da alma (11, 30) e tambm Plato ao afirmar a sua imortalidade incondicionada (11, 4)0. O destino da alma um resultado da sua conduta. Discpulo de Arnbio, segundo parece, foi Lcio Clio - Firmiano Lactncio que tambm havia ensinado retrica em frica e desenvolvera j uma certa actividade literria quando se converteu ao cristianismo. Chamado por Diocleciano para ensinar retrica latina em Nicomdia, a nova capital do Imprio, conheceu a vida errante e pobre quando, no ano de 305, foi obrigado pela perseguio a deixar o seu ofcio. Mas alguns anos depois assistia mudana radical da poltica do Imprio, relativamente ao cristianismo, por obra de Constantino e compunha o De mortibus persecutorum, no qual, com amargo esprito de vingana, se compraz com a runa em que caram os perseguidores dos cristos. Na sua velhice foi, na Gali, perceptor de Crispo, filho de Constantino. A sua obra mais importante, os 7 livros 149 das Divinae institutiones so, ao mesmo tempo, a apologia do cristianismo contra os seus inimigos e um manual de toda a doutrina crist. Um compndio desta obra o Epitome divinarum institutionum. O tratado De opificio Dei tem como fim demonstrar contra os Epicuristas que o organismo humano uma criao de Deus; e o tratado De ira Dei, contra a indiferena atribuda pelos Epicuristas divindade, pretende demonstrar a necessidade da ira divina. A obra principal de Lactncio a primeira tentativa, realizada no ocidente, para reduzir a sistema a doutrina crist expondo-a de modo orgnico e completo. Pela forma literariamente aprecivel desta exposio, Lactncio foi chamado pelos humanistas o Cicero cristo; mas
a sua obra apresenta escassa originalidade de pensamento. Que existe uma providncia que rege o mundo evidente, segundo Lactncio, a quem quer que erga os olhos ao cu. S pode haver dvidas sobre a quem pertence tal providncia, se a um nico Deus ou a vrias divindades; a alternativa , pois, entre monotesmo e politesmo. Mas admitir mais divindades significa aceitar que Deus no tinha poder suficiente para reger por si s o mundo, com o que se nega a Deus uma potncia infinita e se elimina o prprio conceito de Deus. Divindades diversas poderiam estabelecer no mundo leis antagnicas que lutassem entre si, o que est excludo pela unidade e a ordem do mundo. Alm disso, como no corpo humano os diferentes membros e os diversos aspectos da vida espiritual so dirigidos por uma nica alma, assim o mundo deve ser regido por uma nica mente divina (Instit. div., 1, 2). A doutrina crist do Logos no divide nem multiplica o nico Deus. O Pai e o Filho no esto separados um do outro, pois nem o Pai pode ser dito tal sem o Filho, nem o Filho pode ser gerado sem o Pai. Constituem entre ambos uma nica razo, um nico esprito, uma nica substncia. Mas o Pai como a fonte 150 transbordante, o Filho a torrente que emana da fonte; o Pai como o sol, o Filho o raio irradiado pelo sol; como a torrente no pode separar-se da fonte e o raio no pode separarse do sol, tambm o Filho no pode separar-se- do Pai. Como uma casa que pertena a um dono que ame o seu nico filho e o reconhea igual a si, no cessa com isto de ser juridicamente uma s casa com um s dono, assim o mundo a casa de Deus e o Pai e o Filho que a habitam so um nico Deus (1b., IV, 29). O Filho foi gerado antes da criao do mundo para ser o conselheiro de Deus na concepo e na realizao do plano da criao (Ibid., 11, 10). E o mundo no foi criado por Deus para si prprio, pois no tem necessidade dele, mas para o homem; Deus criou, em contrapartida, o homem para si, para que o reconhecesse e lhe prestasse o devido culto, compreendendo e medindo a perfeio da obra que tem diante de si (Ib., VII, 5). Deus tambm no teve necessidade, na criao, de uma matria pr-existente: o homem tem necessidade da matria para todas as suas obras, mas Deus cria a prpria matria (1b., 11, 9). O homen-i composto de alma e corpo. A alma no tem nenhum peso terreno: to tnue e subtil que escapa at aos olhos da mente (1b., VII, 12-13). Alma e mente no so idnticos; a alma o princpio da vida e no entorpece no sonho nem se extingue na loucura; a mente o princpio do pensamento, aumenta ou diminui com a idade, perde-se no sonho e na loucura (1b., VII, 12). A alma e o corpo esto ligados entre si e contudo so opostos: aquilo que bem para a alma como a renncia riqueza, aos prazeres, o desprezo pela dor e pela morte um mal para o corpo; aquilo que um bem para o corpo um mal para a alma que se relaxa e extingue com os prazeres e com o desejo da riqueza (1b., VII, 15). O homem formado por princpios diferentes e contrrios, como o mundo formado 151 por luz e trevas, vida e morte. Estes princpios combatem dentro dele e se nesta luta a alma vence ser imortal e admitida luz eterna; se vence o corpo, a alma estar sujeita s trevas e morte (1b., 11, 13). Mas a imortalidade no s o termo e o prmio da virtude: condio da prpria virtude. Seria estulto renunciar queles prazeres aos quais o homem naturalmente inclinado e entrar num caminho que hostil e mortificante para a natureza humana, se a imortalidade no existisse para dar um sentido obra contra a natureza da virtude (lb., VII, 9). Reaparece aqui como pressuposto da vida moral o pessimismo de Ambio sobre a
condio do homem. A natureza humana radical e totalmente contrria vida moral e religiosa. Nada existe nela que a resgate e a atraia para o esprito; pelo contrrio, o esprito a dana, pois o seu nico bem o prazer, o nico mal a dor. Mas este pessimismo usado por Lactncio como fundamento da vida moral e religiosa. Se a natureza humana no fosse fundamentalmente perversa, a prpria virtude seria impossvel. Os Estoicos que negam o vcio no homem retiram do mesmo modo a prpria virtude, pois que coisa seria a mansido se no existisse a ira, e a continncia se no existisse desejo sexual? A virtude, com termo mdio, supe os extremos viciosos (lb., VI, 15). Pela virtude, a alma, desligando-se da sua natureza e da sua ligao corprea, tende para aquela imortalidade que lhe ser dada como prmio, Mas isto significa que o sumo bem do homem s e alcanvel na religio (1b., 111, 10), no em toda a religio mas s naquela com a qual est essencialmente ligada a esperana na imortalidade: a crist (lb., 111 12). Tudo est para o homem no reconhecimento e no culto de Deus: esta a sua esperana e a sua salvao, este tambm o sumo grau da sabedoria (Ib., VI, 9). Mas este grau mais alto da sabedoria no a filosofia. A filosofia procura a 152 sabedoria, mas no a prpria sabedoria (1b., 111, 2). Ela no atinge o conhecimento das causas, como ensinam com razo Scrates e os Acadmicos. A disparidade das escolas filosficas torna impossvel orientar-se algum nas suas opinies se se no possui antecipadamente a verdade. S a revelao pode, pois, dar a verdade. E a dialctica intil (1b., 111, 13). NOTA BIBLIOGRFICA 133. So fundamentais para o estudo da Patristica as seguintes obras: MIGNE, Patrologiae cursus completus, srie L, "Ecelesia graeea>, 162 volumes (com traduo latina) que chega at ao sculo xv, Paris, 1857-66; srie 2.1 "Eeclesia latina", 221 vols. at ao princpio do sculo MU, Paris, 1844-64. Corpus scriptorum ecelesiasticorum latinorum, a cargo da Academia de Viena, Viena, 1866, ss.; Monumenta Germaniae historica. Auctores antiquissimi, 13 vols. Berlim, 1877-98; Escritores gregos cristos dos priineiros tro scu7,os, Academia de Berlim, 31 vols. a partir de 1897; S.S. Patruum opuscula selecta, editados por HuRTER, 43 vols. 1868-85; outra srie: 6 vo,18-, 1884-92. Sobre a Patrstica em geral: STCKL, GCSchichte der christliche Philosophie zur Zeit der Kirchen-Vter, Mogncia, 1891. Bibliografia in UEBERWEGGEYER, Die Patristiche und scholastische philosophie, Berlim, 1928, p. 640 e ss. 134. Sobre os apologistas em geraJ: HARNACK, Der Vorwurf des Atheismus in den ersten drei Jahrunderten, 1905; ZCKLER, Geschichte der Apologie des Christentums, 1907; CORBIRE, Le christianisme et Ia fin de Ia philosophie antique, Paris, 1921; CARRINGSTON, Christian Apologetes of the 2nd Century in their Relation to Modern Thought, Londres, 1921*, M. PELLEGRINO, Gli Apologeti greci del II secolo, Roma, 1947. 135. As obras de Justino em Patr. Graec., vol. 6.1; Apologia, edio Pautigny, Paris, 1904; edio Rauschen, Bonn, 1911; edio Pfattisch, Mnster, 1912. Sobre Justino: LAGRANCE, Saint Justin, Paris 1914; MARTINDALE, St. Justin, Londres, 1921; RIVIRE, st. Justin et les apologistes du Ile. sicle, Paris, 1907; 153
GOODENOUGH, The Theology of Justin Martyr, Iena, 1923. 136. As obras dos padres apologetas esto impressas no Corpus apologetarum christianorum saeculi II, edio d3 OTTO, 9 vols., Iena, 1847-72; nova edio dos primeiros 5 vols., 1876-81. O escrito de Hermias, Jn DIELs, Doxographi.graeci, Berlim, 1879, pp. 649-656. 137. Os fragmentos dos gnsticos esto recolhidos (de mo-do incompleto) na colectnea de W. VOLKER, Quellen zur Geschichte der christlischen Gnosis (SammIung ausgewhlter kirchen-und dogmengesch. Quellenschriften) hrgg. v. g. G. KRUGER NF 5), Tbingen, 1932; uma seleco de textos traduzidos em italiano a de E. BUONAIUTI, Frammenti gnostici, Roma, 1923. Tratados gnsticos conservados em lngua copta publicados (em traduo alem) por C. SCHMIDT, Koptisch-gnostiche Schriften, Berlim, 1905 (com actualizao de W. TILL), 1954; W. TILL, Die gnostische Schriften des koptischen Papyrus Berolinensis 8502 ("Texte und Untersuchungen", LX), Berlim, 1955. Em 1946 foram descobertos no Alto Egipto 11 vols. contendo 48 escritos de inspirao gnstica. Sobre eles: 11. CH. PuECH, Les nouveaux crits gnostiques dcouverts en IlauteEgypte, in "Coptie Studies in Honour of Walter Ewing Crum", (Mass.), 1950, p. 91-154. Desta bibliografia gnstica foram publicados at agora: o valentiniano Evangelium veritatis, edio de M. MALILINE-H. Cil. PUECII-G. QUISPEL, Zrich, 1956; O Evangelho segundo Toms, trad. francesa, Paris, 1959; trad. alem e Inglesa, Leide, 1959. Sobre a gnose: W. BOUSSET, Hauptprobleme der Gnosis, Gottingen, 1907; A. V. HARNACK, Marcion. Das Evangelium vom fremden Gott, Leipzig, 1924; E. DE FAYE, Gnostiques et gnosticisme, Paris, 1925; F. C. BURKITT, Church and Gnosis, Cambridge, 1932. S. PTREMENT, Essai sur le dualisme chez Platon, les gnostiques et les manichens, Paris, 1947; G. QUISPEL, Gnosis aIs Weltreligion, Zurich, 1951; H. JONAS, Gnosis und sptantiker Geist, Gottingen, 1954; H. CH. PUECII, Gnostische Evangelien und verwandte Dokumente, in E. H.ENNECKE~W. SCHNEEMLCHER, NeutestamentUsche Apokryphen, I, Tubingen, 1959 (fundamental). Sobre o maniquesmo: H. CH. 154 PUEcH, Le manichisme. Son fondateur, sa doetrine, Paris, s. d. (ma-9 1949). 138. As obras de IRINEU, in Patr. Graec., vol. 7.o; Adversus haereses, edio Harvey, Cambridge, 1857; edio Stieren, Londres, 1848-53. Sobre Irineu: HITCHCOCK, Irenaeus of Lugdunum, Cambridge, 1914; BON=SCH, Die Theologie des Irenaeus, Gterslok, 1925. As obras de Hiplito, in Patr. Graec., vol., 10.1. H tambm edio berlinense em 3 vols., 1897-1916. Sobre Hiplito: A. DIALs, La thologie de St. Hyppolite, Paris, 1906. 139. As obras de TERTULIANO, em P. L.@ 1.---2.o e no Corpus de Viena@ 20.o 47.o; edio de OEHLER@ 3 voIs. Leipzig, 1851-54; edio menor, Leipzig, 1854. Sobre Tertuliano: MONCEAUX, Hist. litt. de l'Afrique chrtienne, vol. 1, Paris, 1901; BUONAIUTI, 11 cristianesimo' nell'Africa romana, Bari, 1928, p. 37-208; LORTZ, Tertullian aIs apologets, 2 vols., Mnster, 1927-28.
141. A obra de MINucio FLIX, in P. L., 3.1 edio, Teubner, Leipzig, 1912. Sobre W11ncio. BARDENHEwER, Gesch. der altkirch. Litter., 1, Friburgo, 1913, p. 337 ss; BU0NAlUTI, ob. cit., p. 217 ss. A obra de ARNBIO, in P. L., 3.1 e no Corpus de Viena, 4.1. Sobre Arnbio: MONcEAux, Hist. Litt. de PAfrique chrtienne, vl. III, p. 275 ss; BUONAIUTI, ob. cit., p. 278 ss. As obras de LACTNCIO, in P. L., 6.---7.g e no Corpus de Viena, 19.o, 27.o. Sobre Lactncio: PICHON, Lactance, Paris, 1901; BU0NAlUTI, ob. cit., pp. 285 ss. 155 HI A FILOSOFIA PATRISTICA NOS SCULOS III E IV 142. CARACTERISTICAS DO PERIODO A elaborao doutrinal do cristianismo, iniciada pelos apologetas para defender a comunidade eclesistica contra os perseguidores e herticos, foi continuada e aprofundada nos sculos seguintes por uma necessidade interna, que se afirma cada vez mais dominante no prprio campo da Igreja. Nesta elaborao seguinte dominam menos os motivos polmicos e mais a exigncia de constituir a doutrina eclesistica num organismo nico e coerente, fundado numa slida base lgica. A parte da filosofia torna-se, por isso, cada vez maior. A continuidade que os apologetas orientais, a comear em Justino, tinham estabelecido entre o cristianismo e a filosofia pag consolida-se e aprofunda-se. O cristianismo apresenta-se como a autntica filosofia que absorve e leva verdade o saber antigo, do qual pode e deve @servir-se para trazer elementos e motivos para a sua prpria justificao. As doutrinas 157 fundamentais do cristianismo encontram, mediante este trabalho, a sua sistematizao definitiva. O perodo que vai de 200 a cerca de 450 decisivo para a construo de todo o edifcio doutrinal do cristianismo. As esperanas escatolgicas das numerosas seitas crists, que tinham dominado no perodo precedente, vingam menos. Se, frente ao iminente regresso de Cristo, o trabalho longo e paciente da investigao doutrinal parecia quase intil e os ritos preparatrios e propiciatrios ocupavam o primeiro lugar, uma vez esmorecida a esperana deste retorno, a investigao doutrinal torna-se a primeira e fundamental exigncia da Igreja, que a que deve garantir a sua unidade o a sua solidez na histria. O primeiro impulso para tal investigao foi dado pela escola catequstica de Alexandria, que existia j h muito tempo quando, em 180, se tornou seu chefe Panteno, que lhe deu as caractersticas de uma academia crist , na qual toda a sabedoria grega era utilizada para os fins apologticos do cristianismo. A escola alcanou o seu mximo esplendor com Clemente e Orgenes; mas quando, em 233, Orgenes procurou na Palestina uma nova ptria e abriu em Cesareia a sua escola, esta suplantou a outra e tornou-se a sede de uma grande biblioteca que foi a mais rica de toda a antiguidade crist. 143. CLEMENTE DE ALEXANDRIA
Tito Flvio Clemente nasceu cerca de 150, provavelmente em Atenas. Convertido ao cristianismo viajou pela Itlia, a Sria, a Palestina e, finalmente, o Egipto. Em Alexandria, pouco antes de 180, torna-se discpulo de Panteno e, seguidamente, padre daquela Igreja. Cerca de 190 foi colaborador e 158 ajudante no ensino de Panteno e, depois da morte deste (cerca de 200), tornou-se chefe da escola catequstica. Em 202 ou 203, foi obrigado a deixar Alexandria devido perseguio de Stimo Severo; cerca de 211 estava na sia Menor junto do seu discpulo Alexandre, que foi depois bispo de Jerusalm. Numa carta de Alexandre a Orgenes, de 215 ou 216, fala-se de Clemente como de um padre j falecido (Eusbio, Hist. ecc1., VII, 14, 8-9). Os trs escritos de Clemente que nos restam, Protrptico aos gregos, Pedagogo e Stromata foram concebidos por ele como trs partes de um plano nico, de uma progressiva introduo ao cristianismo. O Protrptico, ou exortao aos gregos, aproxima-se muito, pelo contedo e a forma, da literatura apologtica do sculo H. O Pedagogo, em trs livros, procura educar na vida crist o leitor que j se afastou do paganismo. Os Stromata ou Tapetes, isto , "tecidos de comentrios cientficos sobre a filosofia" deviam ter como finalidade expor cientificamente a verdade da revelao crist. Perdeu-se a sua obra intitulada Hipotiposis (esquemas ou esboos) e chegou at ns uma liomilia com o ttulo Qual o rico que se salvar? O primeiro fim de Clemente o de elaborar o prprio conceito de uma gnose cr,,'st. No h dvida de que o conhecimento o limite mais alto que o homem pode alcanar. Ele a realizao (teleiosis) do homem; a s lida e segura demonstrao daquilo que foi aceite pela f e, frente a ele, a f apenas o conhecimento abreviado e sumrio das verdades indispensveis (Stromata, VII, 10). Mas, por outro lado, a f condio do conhecimento. Entre a f e o conhecimento existe a mesma relao que os Estoicos estabeleciam entre os prolepsi, isto , o conhecimento preliminar dos primeiros princpios, e a cincia; como a cincia pressupe a "prolepsi" assim a gnose pressupe a 159 f. A f to necessria ao conhecimento como os quatro elementos so necessrios vida do corpo (1b., 11, 6). F e conhecimento no podem subsistir um sem o outro (1b., 11, 4). Mas para chegar da f ao conhecimento necessria a filosofia. A filosofia teve para os gregos o mesmo valor que a lei do Velho Testamento para os hebreus: conduziu-os a Cristo. Clemente admite, corno Justino, que, em todos os homens, mas especialmente naqueles que se dedicaram especulao racional, est presente um "eflvio divino", uma "centelha do Logos divino" que lhes faz descobrir uma parte da verdade, ainda que no os torne capazes de alcanar toda a verdade que s revelada por Cristo (Prop., 6, 10; 7, 6). Por certo, os filsofos misturaram o verdadeiro e o falso; trata-se agora de escolher entre as suas doutrinas aquilo que verdadeiro, abandonando o falso, e a f fornece o critrio desta escolha (Stromata, 11, 4). A filosofia deve ser neste sentido a serva da f como Agar de Sara (1b., 1. 5). Nesta subordinao da filosofia f reside o carcter da gnose crist. A gnose dos
Gnsticos a falsa gnose porque estabelece entre a filosofia e a f a relao inversa: se ao gnstico fosse dado escolher entre a gnose e a salvao eterna, ele escolheria a gnose porque a julga superior a todas as coisas (1b., IV, 22). Este conceito da gnose influi poderosamente sobre as doutrinas teolgicas de Clemente. O cristianismo a educao progressiva do gnero humano e Cristo essencialmente o Mestre, o Pedagogo. Tal interpretao torna-se predominante na Igreja medida que diminuem as esperanas no imediato regresso de Cristo e, portanto, na iminente destruio e regenerao do mundo. Ao conceito de uma regenerao instantnea substitui-se o da regenerao gradual que deve verificar-se atravs da histria com a assimilao e a compreenso pro160 gressiva dos ensinamentos de Cristo. Esta interpretao, j clara em Clemente, dominar toda a obra de Orgenes. Frente a Deus, que inatingvel porque supera toda a palavra e todo o pensamento e de quem podemos saber aquilo que no mais do que aquilo que , o Logos a sabedoria, a cincia, a verdade, e, como tal, o guia de toda a humanidade (Ped., 1, 7). O Logos o alfa e o omega porque tudo se move por ele e tudo regressa a ele (Strom., IV, 25). A prpria aco do Esprito Santo est subordinada ao Logos porque o Esprito a luz da verdade, luz da qual participam, sem multiplic-la, todos aqueles que tm f (1b., IV, 16). Como supremo mestre, o Logos tambm o guia e a norma da conduta humana. A mxima estoica de viver segundo a razo assume em Clemente o significado de viver segundo o ensinamento do Filho de Deus (lb., VII, 16). Mas obedecer ao Logos significa am-lo; a obedincia e o amor esto condicionados pelo conhecimento. f dado o conhecimento, ao conhecimento o amor, ao amor o prmio celeste (1b., VII, ]0). 144. ORGENES: VIDA E ESCRITOS Orgenes nasceu de pais cristos em 185 ou 186, provavelmente em Alexandria. O pai, Lenidas, morreu mrtir na perseguio de Stimo Severo, em 202 ou 203, e o filho, que queria partilhar a sorte do pai, foi salvo pela me (Eusbio, Hist. ecc1., VI, 2-5). Com 18 anos, em 203, foi colocado por Demtrio, bispo de Alexandria, frente da escola catequstica como sucessor de Clemente que se tinha afastado. Desta data at 215 ou 216 desenvolveu uma actividade ininterrupta; e, atravs do estudo dos filsofos gregos e dos textos sagra161 dos, conseguiu formular as bases do seu sistema. Neste perodo, o seu zelo religioso levouo a castrar-se. Tomara por certo letra a palavra evanglica (Mateus, 19, 12) que louva aqueles que se fazem eunucos por amor do reino dos cus. Mas, provavelmente, como observa ainda Eusbio (IV, 23, 1), queria tirar todo o pretexto malignidade pblica, dado que a sua escola era tambm frequentada por mulheres. Em 215 ou 216 os massacres praticados por Caracala em Alexandria obrigaram Orgenes a fugir para a Palestina onde os bispos Alexandre de Jerusalm e Teoctisto de Cesareia o acolheram com honra e o fizeram pregar nas suas i,rejas. Demtrio no aprovou esta pregao de um laico e imps a Orgenes o regresso a Alexandria. Aqui retomou a sua actividade de mestre e de escritor que era intensssima: um discpulo, Ambrsio, pusera sua disposio sete estengrafos e vrios copistas (Eus.,
IV, 23, 2). Ordenado padre durante uma viagem, caiu em desgraa do bispo Demtrio e foi expulso de Alexandria. Demorou-se ento em Cesareia onde fundou uma escola teolgica que, em breve, se tornou florescentssima e onde permaneceu at morte. Morreu mrtir durante a perseguio de Dcio. Orgenes suportou a tortura na priso e pouco depois morreu em Tiro, com 69 anos, e portanto em 254 ou 255. Um seu discpulo, Gregrio o Taumaturgo, fornece interessantes pormenores acerca do seu ensino em Cesareia (Panegiricum in Orig., 7-15). O princpio e base do ensino de Orgenes era o estudo da dialctica. Seguia-se o estudo das cincias naturais, das matemticas, da geometria, da astronomia; a geometria era considerada como o modelo de todas as outras cincias. Seguidamente, estudava-se a tica que tinha por objecto as quatro virtudes cardiais de Plato e a Caridade crist. A filosofia grega tinha um posto eminente neste 162 curso de estudos e o seu ponto culminante era representado pela teologia. A produo literria de Orgenes foi vastssima: atribui-se-lhe um nmero de obras que vai de 6000 (segundo Epifnio, Haer., 64, 63) a 800 (segundo S. Jernimo, Epist., 33). Mas o dito de Justiniano contra Orgenes (543) e a sentena do V Conclio Ecumnico (553) que o inclua entre os herticos provocaram a perda de boa parte da produo de Orgenes. Chegaram-nos: uma obra apologtica em oito livros Contra CeIsum, dirigida contra o neoplatnico> Celso que, em 178, escrevera um Discurso verdadeiro de refutao do cristianismo; um tratado dogmtico De principiis que nos chegou apenas numa traduo latina refundida por Rufino, o qual se preocupou em atenuar ou eliminar as afirmaes que contrastavam com as decises do Conclio de Niceia; partes ou fragmentos dos seus vastssimos comentrios bblicos; dois escritos Sobre a orao e Exortao ao martrio,duas cartas e fragmentos de outras obras. As obras exegticas que, indubitavelmente, constituam a sua mais vasta produo, eram de trs espcies: scolli, isto , notas sobre passos difceis da Bblia; homilias, isto , discursos sagrados sobre captulos da Bblia; comentrios ou tomos que eram anlises minuciosas de livros inteiros da Bblia. De todos estes escrites, as partes mais notveis que nos restam s o o Comentrio ao Evangelho de S. Mateus, do qual ternos os livros X-XVII, o Comentrio ao Evangelho de S. Joo, do qual temos 9 livros no consecutivos, e o da Epstola aos romanos, de que temos um arranjo de Rufino em 10 livros. 145. ORIGENES: F E GNOSE A doutrina de Orgenes, o primeiro grande sistema de filosofia crist. No prlogo de De piin163 cipiis, ele prprio traa a finalidade que se props. "Os apstolos, diz, transmitiram-nos com a maior claridade tudo aquilo que julgaram necessrio a todos os fiis, mesmo aos mais lentos no cultivo da cincia divina. Mas deixaram queles que so dotados dos dons superiores do esprito e especialmente da palavra, da sabedoria e da cincia o cuidado de procurar as razes das suas afirmaes. Sobre muitos outros pontos, limitaram-se afirmao e no deram nenhuma explicao, para que aqueles seus sucessores que tm a paixo da sabedoria possam exercitar o seu gnio" (De prine. pref. 3). Orgenes distingue aqui as doutrinas essenciais e as doutrinas acessrias do cristianismo. O cristo que recebeu a graa da palavra e da cincia tem a obrigao de interpretar a primeira e de
explicar a segunda. A primeira funo indispensvel a todos; a segunda uma investigao supletria, movida por um amor particular da sabedoria e que consiste no simples exerccio da razo. Orgenes empreendeu uma e outra investigao. O seu trabalho exegtico dos textos bblicos tende a fazer luz sobre o significado oculto e, portanto, procura a justificao profunda das verdades reveladas. Ele distingue um trplice significado das Escrituras o somtico, o psquico e o espiritual, que esto entre si como as trs partes da alma: o corpo, a alma e o esprito (De princi., IV, 11). Mas, na prtica, contrape ao significado corpreo ou literal o significado espiritual ou alegrico e sacrifica resolutamente o primeiro ao segundo sempre que o considera necessrio (1b., IV, 12). A passagem do significado literal ao significado alegrico das Sagradas Escrituras a passagem da f ao conhecimento. Orgenes acentua a diferena entre uma e outra e afirma a superioridade do conhecimento que compreende em si a f (In Joan., XIX, 3). Aprofundando-se em si prpria, a f 164 torna-se conhecimento: este processo verificou-se nos prprios Apstolos que, primeiramente, atingiram pela f os elementos do conhecimento, depois progrediram no conhecimento e tornaram-se capazes de conhecer o Pai (In Mat., XII, 18). A prpria f, por uma exigncia intrnseca, procura, pois, as suas razes e torna-se conhecimento. Veremos de seguida que a redeno do homem, o seu ,retorno gradual vida espiritual, de que gozava no mundo inteligvel no acto de criao, entendido por Orgenes como a sua educao para o conhecimento. Ora frente ao mais alto grau do conhecimento, o ensinamento das Escrituras insuficiente. As Escrituras so apenas elementos mfflmos do conhecimento completo e constituem a sua introduo (In Joan., XIII, 5-6). Acima do Evangelho histrico e como complemento das verdades nele reveladas, existe um evangelho eterno que vale em todas as pocas do mundo e s a poucos dado conhecer (De princ., IV, 1 ss; In Joan., 1, 7). 146. ORIGENES: DEUS E O MUNDO A primeira preocupao de Orgenes a de afirmar contra os herticos a espiritualidade de Deus. Deus no um corpo e no existe num corpo: a sua natureza espiritual e simplicssima. O seu ser homogneo, indivisvel e absoluto no pode ser considerado nem como o todo nem como uma parte do todo, porque o todo feito de partes (Contra Cels., 1, 23). Para indicar a unidade de Deus, Orgenes serve-se do termo pitagrico mnada, ao lado do qual emprega o termo neoplatnico de nada, que expressa ainda mais nitidamente a singularidade absoluta de Deus (De princ., 1, 1, 6). Deus superior prpria substncia, pois que no participa dela: a substncia participa de Deus, 165 mas Deus no participa de nada. Do Logos pode dizer-se que o ser dos seres, a substncia das substncias, a ideia das ideias; Deus est para l de todas estas coisas (1b., VI, 64). Orgenes rejeita decididamente os antropomorfismos do Velho Testamento, interpretandoos alegricamente. Dizer que Deus tem forma humana e agitado por paixes como as nossas a maior das impiedades (1b., IV, 71). A omnipotncia de Deus encontra um limite na sua perfeio. Deus pode fazer tudo aquilo que no contrrio sua natureza, mas no pode cometer a injustia, porque o poder ser injusto contrrio sua divindade e sua potncia divina (1b., 111, 70). Deus
vida, mas num significado diferente da vida no nosso mundo, ele a vida absoluta, isto , na sua absoluta imutabilidade (In Joha., 1, 31). Deus o bem no sentido platnico j que s a ele pertence a bondade absoluta: o Logos a imagem da bondade de Deus, mas no o bem em si (In Math., XV, 10). A providncia divina dirige-se, em primeiro lugar, educao dos homens. Retomando e ampliando o conceito de Clemente, Orgenes compara a aco de Deus de um pedagogo ou de um mdico que pune ou inflige males e dores para corrigir ou para curar (Contra Cels., VI, 56). Assim se explica a prpria severidade divina, da qual os livros do Velho Testamento do tantos exemplos. "Se Deus fosse apenas bom e no fosse severo, desprezaramos a sua bondade; se fosse apenas severo sem ser bom, os nossos pecados conduzir-nos-iam ao desespero" (In Jerem., IV, 4). Frente transcendncia divina, afirmada em termos to rigorosos, o Logos encontra-se numa posio subordinada. Ele certamente coeterno com o Pai, o qual no seria tal se no gerasse o Filho, mas no eterno no mesmo sentido. A eternidade do Filho depende da vontade do Pai: Deus a vida e o Filho recebe a vida do Pai. O Pai 166 o Deus, o Filho Deus (In Joan., 11, 1, 2). O Esprito Santo criado no directamente por Deus, mas atravs do Logos (lb., 11, 10). Aquele compreendido por Orgenes como uma fora puramente religiosa que no tem no mundo nenhuma tarefa prpria. Retomando a doutrina platnica do Fedro, no sem sofrer a influncia dos gnsticos e especialmente de Valentino, Orgenes explica a formao do mundo sensvel com a queda das substncias intelectuais que habitavam o mundo inteligvel. As inteligncias incorpreas que constituem o mundo inteligvel so criadas e como tal sujeitas a mudana; so, alm disso, providas de livre arbtrio. A sua queda explica-se pela preguia e repugnncia para e esforo que a prtica do bem exige. Deus estabelecera que o bem dependesse exclusivamente da sua vontade e tinha-o por isso criado livre. Descuidando e opondo-se ao bem, elas provocaram a sua queda dado que a ausncia do bem o mal o na medida em que algum se afasta do bem cai no mal. Assim as inteligncias foram conduzidas ao mal, segundo descuraram mais ou menos o bem, conformemente ao movimento secreto de cada uma delas (De princ., 11, 9, 2; fr. 23 a). Orgenes insiste na liberdade do acto que provocou a sua queda. A doutrina gnstica negara essa liberdade: Orgenes combate vivamente o gnosticismo (1b., 1, 8, 2-3). o prprio demnio, - diz ele - no mau por natureza, mas tornou-se pela sua vontade (In Joan. XX, 28). A queda devida a um acto livre de webelio contra Deus, no qual participaram todos os seres supra-sensveis com excepo do Filho de Deus. A primeira consequncia da rebelio que as inteligncias se tornam almas, destinadas a revestir-se de um corpo, mais ou menos luminoso ou mais ou menos tenebroso, segundo a gravidade da culpa originria, o segundo grau da queda 167 precisamente o revestimento do corpo. Surge ento o mundo visvel na variedade e na multiplicidade dos seres que o constituem. E assim algumas inteligncias tornam-se as almas dos corpos celestes etreos, luminosos e subtis. Outras tornam-se anjos, aos quais Orgenes d os nomes bblicos de tronos, potestades, dominaes etc., destinados a ser os ministros de Deus junto dos homens. Outros ainda "descem at carne e ao sangue" e
tornam-se homens. Finalmente os ltimos tomam-se diabos. O mundo visvel no mais, portanto, do que a queda e a degenerao do mundo inteligvel e das puras essncias racionais que o habitam. Orgenes admite uma pluralidade sucessiva de mundos; mas, corrigindo o Estoicismo, nega que estes mundos sejam a repetio um do outro. A liberdade de que os homens esto dotados impede tal repetio (Contra Cels., IV, 67-68). Todavia, depois de se sucederem um nmero indeterminado de mundos, chega ao fim. O mundo visvel voltar ao mundo invisvel. Os seres racionais tero expiado atravs da srie das vidas sucessivas nos vrios mundos o seu pecado inicial e alcanaro a perfeio e a salvao finais. Podero ento ser restitudos sua condio primitiva e conhecer Deus (In Joan., 1, 16, 20). Neste processo de queda do mundo inteligvel no mundo sensvel e de retorno do mundo sensvel ao mundo inteligvel, o Logos tem uma parte essencial. Em primeiro lugar, Orgenes atribui ao Logos a mesma funo que lhe atribuam os Estoicos: o Logos a ordem racional do mundo, a fora que determina a sua unidade e o dirige. Precisamente como tal, ele distinto de Deus. Apenas o Pai Deus em si (Autothos); o Logos a imagem e o reflexo de Deus. Ele diferente do Pai "pela essncia e pelo substracto" e deixaria de ser Deus se no contemplasse continuamente o Pai Ub., 1, 168 11, 2). Por esta sua natureza subordinada, o Logos recebeu do Pai a tarefa de penetrar a obra da criao e de infundir-lhe ordem e beleza (Ib., VI, 38, 39). Mas, em segundo lugar, o Logos vive nos homens e todos participam dele (1b., 1, 3): ainda que permanecendo idntico a si mesmo, o Logos adapta-se aos homens e sua capacidade de atingi-lo (Co.,dra Cels., IV, 15); e reveste formas diversas, segundo aqueles que conseguem conhec-lo, isto , segundo a sua disposio e a sua capacidade de progresso Ub., IV, 16). O Logos , portanto, a fora imanente que diviniza o mundo e o homem. Na mesma medida em que se aproxima do mundo e do homem para penetr-los e reconduzi-los perfeio originria, assim se afasta do Pai. Precisamente a funo do Logos no homem exige e justifica a encarnao. Por ela o Logos apropria-se de um corpo mortal e de uma alma humana. Nem uma nem a outra so algo divino: divino somente o Logos que permanece imutvel na sua essncia e no sofre nada do que acontece no corpo e na alma de Cristo (Contra Cels., IV, 15). O elemento divino e o elemento humano no permanecem, contudo, justapostos em Cristo depois da encarnao (a que Orgenes chama economia para indicar o seu carcter providencial); a alma e o corpo de Jesus constituem com o Logos uma unidade absoluta (lb., 11, 9). 147. ORGENES: O DESTINO DO HOMEM O destino do homem faz parte integrante do movimento conjunto do mundo a que o homem pertence. O homem era primeiramente uma substncia racional, uma inteligncia; com a queda tornou-se uma alma. A alma algo de intermdio entre a inteligncia e os corpos: a inteligncia, corno 169 pura vida espiritual, refractria ao mal; a alma, pelo contrrio, susceptvel do bem e do mal (Itz Joan., XXX11, 18). Como a queda do homem foi um acto de liberdade, assim ser um acto de liberdade a redeno e o retorno a Deus. Com efeito, a liberdade o dote
fundamental da natureza humana que capaz de agir em virtude de razo, portanto de escolher. Como Clemente, Orgenes interpreta a aco da mensagem crist como uma aco educadora que conduz gradualmente o homem vida espiritual. Esta a funo do Logos encarnando-se em Cristo. "Jesus afasta a nossa inteligncia de tudo aquilo que sensvel e leva-a ao culto de Deus que reina sobre todas as coisas" (Contra Cels., 111, 34). Nisto consiste a obra da redeno. Comentando o prlogo do IV Evangelho, Orgenes interpreta a aco iluminadora do Logos, no como uma revelao sbita, mas como a penetrao progressiva da luz nos homens, como a chamada incessante do homem para que queira livremente voltar a Deus (In Joan., 1, 25-26). O caminho para este retorno pode ser longussimo. Se a existncia num mundo no basta, o homem renascer no mundo seguinte e depois noutros ainda at que tenha expiado a sua culpa e tenha retornado perfeio primitiva. Precisamente a necessidade da educao progressiva do homem justifica a pluralidade sucessiva dos mundos que Orgenes tomou do Estoicismo. Os mundos so outras tantas escolas nas quais se reeducam os seres que caram (De princ., 111, 6, 3). A educao do homem como retorno gradual condio de substncia inteligente opera-se atravs de graus sucessivos de conhecimento. Do mundo sensvel o homem eleva-se natureza inteligvel que a do Logos e do Logos a Deus. O Logos , com efeito, a sabedoria e a verdade e, s atravs dele, se pode discernir o ser e para l do ser o poder 170 e a natureza do Deus (In Jomi., VIII, 19). Mas quando for possvel este conhecimento directo de Deus, quando Deus no for visto j atravs do Filho, na imagem de uma imagem, mas directamente corno o prprio Filho o v, o ciclo do retorno do mundo a Deus, da apocatastasi, estar completo e Deus ser tudo em todos (lb., XX, 7). Tais so os traos fundamentais do sistema de Orgenes no qual pela primeira vez o cristianismo encontrou uma formulao doutrinal orgnica e completa. O Platonismo e o Estoicismo constituram as duas razes fundamentais pelas quais se une filosofia grega. Mas Orgenes adaptou com grande equilbrio, da mensagem crist, a doutrina platnica da queda e da redeno dos seres espirituais e a doutrina cosmolgica dos Estoicos. Por certo, alguns elementos que a conscincia religiosa contempornea considerava essenciais nesta mensagem foram perdidos na sntese de Orgenes. o conceito da criao , no fundamental, estranho a Orgenes para quem a criao das substncias racionais eterna. Na sua natureza o Logos est subordinado a Deus Pai e o Esprito Santo ao Logos, na sua natureza e na sua funo. O sacrifcio de Cristo no encontra urna prpria e verdadeira justificao e a ressurreio da carne, sobre a qual tanto insistiram outros padres (por exemplo Tertuliano) explicitamente excluda (De princ., 11, 10, 3; Contra Cels., V, 18). Mas, em compensao, Orgenes elevou, pela primeira vez. clareza da reflexo filosfica o significado mais profundo e universal do cristianismo. Foi o primeiro que viu no facto histrico da redeno o destino da humanidade inteira que, decada da vida espiritual, deve retornar a ela. Foi o primeiro que reuniu numa nica viso de conjunto a sorte da humanidade e a sorte do mundo, fazendo da antropologia crist o elemento de uma concepo cosmolgica. Foi o pri171 meiro que afirmou a exigncia de liberdade humana que se havia perdido no s nas doutrinas duaUsticas dos gnsticos, mas tambm todas as interpretaes que faziam do homem o sujeito da obra redentora de Cristo.
Finalmente temos de recordar que Orgenes foi o primeiro que exprimiu claramente o princpio em que deviam inspirar-se as doutrinas polticas do cristianismo nos sculos seguintes. Utilizando tambm aqui um conceito estoico, afirma que "existem duas leis fundamentais, a natural, cujo autor Deus, e a escrita que formulada nos diversos estados." Nesta base, afirma a independncia dos cristos perante a lei civil: "Quando a lei escrita no est em contradio com a de Deus convm que os cidados a observem e a anteponham s leis estrangeiras; mas quando a lei da natureza, isto , a lei de Deus ordena coisas contrrias lei escrita, a razo aconselha-te a deixar de bom grado as leis escritas e a vontade dos legisladores e a obedecer unicamente lei de Deus, a regular a tua vida segundo os seus ensinamentos mesmo se isto custa fadiga, morte e desonra" (Contra Cels., V, 37). O princpio estoico do direito natural era assim utilizado para defender a liberdade dos cristos frente lei civil. 148. SEQUAZES E ADVERSRIOS DE ORGENES Discpulo de Orgenes foi Dionsio de Alexandria, ao qual Eusbio d o qualificativo de grande. A partir de 231-32 foi chefe da escola catequtica de Alexandria sucedendo a Heraclito; em 247-48 tornou-se bispo da cidade e morreu em 264 ou 265. Os Discursos sobre a natureza, de que Eusbio nos conservou fragmentos, eram dirigidos contra 172 o atomismo de Demcrito e dos Epicuristas. Entre as numerosas Cartas, muitas das quais tratam de questes dogmticas ou disciplinares, as escritas contra o sabelianismo acentuavam a diferena entre o Logos e Deus Pai, fazendo dele uma criao do Pai. Mas uma obra seguinte, intitulada Refutao e defesa, abandonava a sua interpretao e dava uma outra completamente ortodoxa. Discpulo de Orgenes foi tambm Gregrio o Taumaturgo, que nasceu por volta do ano 213 em Neo-Cesareia, no Ponto, e que foi depois bispo da sua cidade natal e morreu no tempo de Aureliano (270-275). Duas biografias, uma de Gregrio Niceno, outra siraca, que um arranjo da primeira, narram uma srie de histrias miraculosas que explicam o seu cognome. Gregrio autor de um Discurso de aco de graas, no qual se exalta a obra do mestre Orgenes, de um escrito "A Teopompo sobre a capacidade e incapacidade de padecer em Deus", conservado em siraco e no qual se discute a questo de saber se a impassibilidade de Deus implica a sua despreocupao pelos homens; e de outros escritos menores, exegticos e dogmticos. Atribui-se-lhe tambm o breve tratado Sobre a alma, a Taciano, que examina a natureza da alma, fora de qualquer prova tomada das Escrituras. Eusbio, bispo de Cesareia, nascido em 265, morto em 340 conhecido principalmente como historiador dos primeiros sculos da Igreja. Discpulo de Pnfilo, do qual por reconhecimento assumiu o nome (Eusbio de Pnfilo) e a quem acompanhou quando o mestre foi encerrado no crcere. Em conjunto, compuseram uma Apologia de Orgenes, em 5 livros, dos quais resta apenas o primeiro num arranjo de Rufino. Eusbio autor de uma crnica que tem o ttulo de Histrias Vrias e de uma Histria Eclesistica que vai at 423 e constitui um riqussimo arquivo de factos, documentos 173 e estratos de obras de toda a espcie, da primeira poca da Igreja. Escreveu, alm disso, um panegrico e um elogio do imperador Constantino, do qual foi amigo entusiasta. As obras
dogmticas Contra Marcelo e Sobre a Teologia Eclesistica mostram uma acentuada tendncia para o arianismo de que defende a tese fundamental, a da no identidade de natureza entre o Pai e o Logos. As obras apologticas, Preparao Evanglica, em 15 livros, e Demonstrao Evanglica, em 20 livros (dos quais s nos chegaram os primeiros 10) pretendem demonstrar a ,superioridade do cristianismo sobre o paganismo o o judasmo. Um estrato destas duas obras o escrito Sobre a Te~da, em 5 livros, de que existem fragmentos em grego e uma verso siraca completa. Permanecem de Eusbio outras obras apologticas (Introduo Geral Elementar, Contra Gerocles) e partes ou fragmentos da sua vasta obra exegtica das Sagradas Escrituras. O escrito filosoficamente mais significativo a Preparao Evanglica, na qual Eusbio, utilizando a rica biblioteca de Cesareia, acumulou um vastssimo material de estratos de escritos gregos, que muitas vezes so preciosos tambm para ns, por se terem perdido as obras de que foram tirados. Esta obra dominada pela convico de que filosofia e revelao s o idnticas e que no cristianismo encontrou plena expresso a verdade que alvorecera j nos filsofos gregos. a mesma convico que animara Justino, Clemente e Orgenes e que dominar a obra de S. Agostinho. Aquela identidade parece a Eusbio evidente sobretudo no que diz respeito ao platonismo. Plato por ele considerado como um profeta (XIII, 13) ou como um "Moiss aticizante" (XI, 10). Plato e Moiss esto de acordo e tm as mesmas ideias; Plato conheceu a trindade divina porque ps, ao lado de Deus e do Logos, a alma do mundo (XI, 16). Nas doutrinas ticas e pedaggicas, coincidem 174 Plato e Moiss, Plato e S. Paulo, e a prpria repblica platnica encontrou a sua realizao na teocracia judaica (XIII, 12). Contudo, Plato permanece amarrado ao politesmo e admite o dualismo de Deus e da matria eterna, o que inconcilivel com o cristianismo; ele chegou, pois, ao vestbulo da verdade, no prpria verdade (XIII, 14). Esta revelada pelo cristianismo porque ele a verdadeira e definitiva filosofia. No cristianismo, no s os homens so filsofos mas tambm as mulheres, os ricos e os pobres, os escravos e os senhores (1, 4). Que a filosofia grega tenha podido alcanar tantos elementos da verdade crist, explica-se com a sua derivao das fontes hebraicas (X, 1); ou talvez tambm porque Plato foi orientado para a verdade pela prpria natureza das coisas ou por Deus (XI, 8). Adversrio de Orgenes foi, em contrapartida, Metd@o, bispo de Filipo, que morreu mrtir por volta do ano 311. Contra Orgenes era dirigido o seu escrito Sobre a@ Coisas Criadas de que nos restam fragmentos. depois autor de trs dilogos ao modo de Plato: Banquete ou sobre a Virgindade, Sobre o Livre Arbtrio, que nos foi transmitido grande parte em grego e numa traduo eslava, e Sobre a Ressurreio, do qual existem fragmentos do texto grego e uma verso eslava abreviada. Para demonstrar a eternidade do mundo, Orgenes afirmara que, se no houvesse mundo, Deus no seria o criador e o senhor. Metdio responde que Deus ento por si incompleto e s atinge a sua perfeio atravs do mundo, o que contrrio ao princpio, posto pelo prprio Orgenes, de que Deus por si prprio perfeito (De creatis, 2). Contra a doutrina de Orgenes, segundo a qual os homens e os anjos existiam no mundo inteligvel como substncias espirituais do mesmo gnero e que s com a queda se diferenciaram, Metdio defende a dife175 rena entre as almas humanas e os anjos e nega a pr-existncia das almas humanas relativamente ao corpo (De ressurectione, 10, 11). No escrito sobre o livre arbtrio, nega que o mal dependa de uma matria eterna (era a doutrina gnstica) e afirma que produto da vontade livre da criatura racional.
Boa parte da actividade especulativa no sculo IV foi posta ao servio da disputa sobre o arianismo. Ario (morto em 336) afirmara que o Logos ou Filho de Deus foi criado do nada exactamente como todas as outras criaturas e que, portanto, no eterno. Se nas Sagradas Escrituras chamado Filho de Deus, no sentido em que o so todos os homens. Portanto, a sua natureza diferente da do Pai; a sua substncia diversa. De Ario conservou-nos alguns fragmentos o seu grande opositor Atansio. Nascido por volta do ano 295, Atansio teve uma parte predominante na condenao que o primeiro Conclio Ecumnico da Igreja, que teve lugar em Niceia no ano de 325, pronunciou sobre o arianismo. Mas a setena do Conclio no foi acatada de repente e a polmica entre os cristos continuou por muito tempo. Atansio, que fora nomeado bispo de Alexandria, sofreu perseguies e condenaes por obra dos arianos e morreu a 2 de Maio de 373, em Alexandria. A parte mais notvel da actividade literria a dedicada polmica contra o irianismo: Discursos contra os Arianos, Carta a Serapio, Livro sobre a Trindade e sobre o Esprito Santo. Escreveu tambm obras histrico-polmicas e ascticas e duas apologias, Discurso contra os Gregos e Discurso sobre a Encarnao do Verbo, que so duas partes de um nico escrito. Atansio afirma energicamente a identidade de natureza do Filho com o Pai; se o Filho fosse uma criatura, no poderia reunir a Deus as criaturas porque teria por sua vez necessidade desta unio. O Filho tem em comum com o 176 Pai toda a plenitude da divindade e participa do seu prprio poder. O Esprito Santo procede conjuntamente do Pai e do Filho. H, portanto, uma nica divindade e um s Deus em trs pessoas. As formulaes de Atansio constituram a doutrina oficialmente aceite pela Igreja no Conclio de Niceia. Esta doutrina teve como defensores "os trs luminares de Capadcia": Baslio o Grande, Gregrio Nazianceno e Gregrio de Nisa. Baslio foi sobretudo homem de aco; Gregrio Nazianceno, orador e poeta; Gregrio de Nisa, pensador. 149. BASLIO O GRANDE Nascido por volta de 331, Baslio estudou em Cesareia, em Constantinopla e em Atenas. Aqui estreitou com Gregrio Nazianceno uma amizade que se fundava principalmente na comunidade dos estudos e das doutrinas. Fruto da colaborao dos dois amigos, foi uma antologia das obras de Orgenes, intitulada Filocalia. Nomeado bispo de Cesareia participou nas lutas teolgicas do tempo e morreu no dia 1.* de Janeiro de 379. Baslio deixou obras dogmticas, exegticas, ascticas e tambm homilias e cartas. As obras dogmticas (Contra Eunmio, Sobre o Esprito Santo) so dedicadas polmica sobre o arianismo. Entre as obras exegticas vm em primeiro lugar as 9 homilias sobre Hexamern, nas quais Baslio utiliza, a propsito das diferentes fases da criao do mundo, as doutrinas cientficas da Antiguidade, especialmente de Aristteles. As homilias de Baslio foram tambm famosas na Antiguidade e colocaram o seu autor entre os maiores oradores da Igreja. S 24 delas so, de certeza, autnticas. 177 Baslio apela explicitamente. na sua luta contra a heresia, para a tradio eclesistica. A f precede o intelecto: "Nas discusses em torno de Deus deve ser tomada como guia a f, a f que leva mais fortemente ao assentimento do que a demonstrao, a f que no causada pela necessidade geomtrica mas pela aco do Esprito Santo" (Hom. in Ps.,
115, 1). O contedo da f determinado pela tradio: "Ns no aceitamos nenhuma nova f que nos seja prescrita por outros, nem pretendemos expor os resultados da nossa reflexo para no dar como regra de religio aquilo que s sabedoria humana. Ns comunicamos a quem nos pergunta s aquilo que os Santos Padres nos ensinaram" (Ep., 140, 2). Baslio admite, contudo, que se possam acolher, alm dos ensinamentos da Escritura, tambm as tradies eclesisticas que no se oponham a elas (De Spir. S., 29, 7 1). Nas suas discusses trinitrias, Baslio mantm firme o fundamento: uma s substncia ou essncia (ousa), trs pessoas (ypostaseis). Em Deus, afirma, h uma certa e incompreensvel comunidade o juntamente uma diversidade: a distino das pessoas no elimina a unidade de natureza e a comunidade de natureza no exclui a particularidade dos caracteres distintivos" (Ep., 38, 4). Eurimio de Cizico, no Apologtico (composto por volta de 360), contra o qual dirigido um escrito de Baslio, sustentara que a essncia de Deus consiste em ser ingnito e que, por isso, tal essncia no pode ser participada pelo Filho, que gerado pelo Pai. Baslio ope que a essncia divina ingnita enquanto no depende de outra coisa seno de si prpria e, em tal sentido, quer o Pai quer o Filho so ingnitos porque participam da mesma essncia. Mas, na essncia divina, o Pai o nico que recebe o seu ser de pessoa por si prprio, enquanto o Filho o recebe do Pai. O Filho , portanto, gerado como 178 pessoa, no como essncia e portanto s como pessoa se distingue do Pai. Por sua vez, o Espirito Santo recebe o ser do Filho e tem, portanto, o seu lugar depois dele (Adv. Eun., 111, 1). Contra a afirmao de Eunmio de que conhecemos directamente a essncia de Deus (que seria precisamente a no gerabilidade), Baslio ope que podemos conhecer Deus atravs das suas obras, mas a sua essncia permanece inacessvel para ns. "As criaturas, diz (lb., 11, 32), fazem-no conhecer certamente o poder, a sabedoria e a arte do criador, mas no a sua natureza. Mais ainda, nem sequer manifestam necessariamente o poder do criador, pois pode acontecer que o artista no ponha toda a sua capacidade na obra, mas s a exercite nela de maneira restrita. Que se tivesse aplicado todo o seu poder na obra, seria possvel por ela medir a potncia dele, mas nunca compreender a essncia, na sua natureza." Mesmo depois da revelao, o conhecimento de Deus s nos dado de modo que o infinito pode ser conhecido pelo finito e at na vida futura a essncia de Deus nos ser incompreensvel. A concluso uma bela e profunda frase que Baslio coloca como corolrio da sua doutrina: "0 conhecimento da essncia divina consiste apenas na percepo da sua incompreensibilidade" (Ep., 234, 2). O limite que o homem encontra no conhecimento do transcendente a mais directa e evidente revelao do mesmo transcendente. 150. GREGRIO NAZIANCENO Gregrio Nazianceno nasceu por volta do ano 330 em Arianzo, prximo de Nasncio, e foi educado em Cesareia, em Alexandria e Atenas, onde travou amizade com Baslio. Foi nomeado bispo de Ssima e depois de Constantinopla (em 379), mas 179 renunciou a ambos os ofcios recolhendo-se a uma vida solitria, dedicada apenas ao labor literrio. Morreu em Arianzo, onde nascera, em 389 ou 390. Gregrio escreveu sermes, cartas e poesias. Dos
45 Sermes, os que vo do nmero 27 ao 31 so os mais importantes e famosos. Foram designados pelo autor como Sermes Teolgicos e grangearam-lhe o apelido de telogo. Foram proferidos em Constantinopla e tinham como objectivo justificar a doutrina da Trindade contra o ariano Eunmio (de quem se falou j a propsito de Baslio) e o semiariano Macednio (morto depois de 360), o qual ao mesmo tempo que afirmava a estreita semelhana de essncia do Filho e do Pai, fazia do Esprito Santo uma natureza subordinada ao Pai e ao Filho e em tudo semelhante ao@ anjos. As cartas de Gregrio, escritas em forma literria apuradsima, por conseguinte destinadas ao pblico, referem-se a certos sucessos da vida do autor ou .dos seus parentes e por isso s algumas, entre elas a ltima, tratam de questes teolgicas. Em contrapartida, as poesias so de natureza polmica, dirigidas especialmente contra os apolinaristas (Apolinrio, bispo de Laodiceia, na Sria, falecido por volta de 390, negava a humanidade de Cristo considerando-o somente Deus; o Logos divino teria tomado em Cristo o lugar da alma intelectiva). Tm escasso valor potico e no so mais que prosa versificada. A especulao de Gregrio no tem originalidade nem fora, se bem que expressa numa forma oratria eloquente. Devido a esta forma, ela contribuiu, contudo, para a difuso e a vitria das doutrinas que os seus grandes contemporneos haviam formulado. Segundo Gregrio, podemos chegar a conhecer, mediante apenas a razo, a existncia de Deus, considerando a ordem e a perfeio do mundo visvel, mas no podemos conhecer a substncia 180 ou essncia de Deus. Sabemos que ela superior * todas as outras essncias, "um oceano infinito * indeterminado de essncias" (Or., 38), mas foge nossa possibilidade determinar-lhe a natureza. Ao mistrio da essncia divina acrescenta-se o mistrio da trindade. "Esta profisso de f, diz Gregrio (1b., 40, n.' 41), eu te dou como companheiro o guia de toda a vida: uma nica divindade e poder que se encontra unida em Trs e Trs diversas compreende; que no diferente por essncia nem por natureza; que no se aumenta por acrescento nem diminui por subtraces; que totalmente igual, mais ainda totalmente a mesma, como a beleza e grandeza nica, do cu, que a infinita conjuno de trs infinitos; e cada um destes, considerado separadamente, Deus, o Pai como o Filho, o Filho como o Esprito Santo, e cada um conserva a sua propriedade, ao mesmo tempo que, considerados os trs conjuntamente, so ainda Deus, o uno pela unidade da essncia, o outro pela unidade do comando". Contra o apolinarismo, Gregrio defende a integridade da natureza humana em Cristo e assim tem ocas-io de expor a sua antropologia. Ao homem pertencem o corpo, a alma e o intelecto. Mas o intelecto no distinto da alma ; uma fora da prpria alma e, portanto, parte integrante da natureza humana (Ib., 14). Cristo que tomou a natureza humana teve de tomar tambm o intelecto humano; de outro modo, o homem seria um animal privado de razo (1b., 5 1). 151. GREGRIO DE NISA: A TEOLOGIA Gregrio de Nisa era irmo de Baslio o Grande e bastante mais jovem do que ele. Encaminhado para a carreira de professor de retrica, foi retirado 181 dela por Baslio que o nomeou bispo de Nisa. Como tal Gregrio participou na luta contra
os arianos. Em 394 estava em Constantinopla para participar num snodo que devia resolver uma controvrsia entre bispos rabes; depois o seu nome deixa de aparecer; muito provavelmente, a sua morte ocorreu pouco depois daquela data. A sua obra mais notvel o Discurso Catequtico Grande, demonstrao e defesa dos dogmas principais da Igreja contra os pagos, judeus e herticos. A obra mais extensa o escrito Contra Eunmio, rplica ao escrito Em Defesa da Apologia, com o qual Eunmio respondem a Baslio. Gregrio escreveu mais: duas obras Contra Apolinrio: vrios tratados ou dilogos (Contra os Gregos, Sobre a F, Sobre a Trindade, Sobre a Alma e a Ressurreio, Contra o Fado, Sobre os Meninos que Morrem Prematuramente). Comps, alm disso, numerosos escritos exegticos, dos quais os mais notveis so o Apologtico sobre Hexameron e o De opificio hominis e outros discursos ascticos, discursos e cartas. Como Baslio, Gregrio, afirma a distino entre a f e o conhecimento e a subordinao deste quela. A f apoia-se na revelao divina e no tem necessidade da lgica e das suas demonstraes. Ela o critrio de toda a verdade e deve ser tomada como a medida de todo o saber. Por sua parte, a cincia deve fornecer f os conhecimentos naturais preliminares que, na Idade Mdia, se chamaro preambula fidei e, em primeiro lugar, a demonstrao da existncia de Deus (Or. catech., pref.). Em particular, a dialctica fornece o mtodo para sistematizar o contedo da f e constitui o instrumento mediante o qual os princpios da f podem ser fundados e se pode progredir para a gnose ainda que isto se faa com grande cautela e em forma hipottica. (De hom. opif., 16). O prprio Gregrio 182 ps em prtica este procedimento na medida mais lata, como s Orgenes fizera antes, e apela continuamente, para l do testemunho da tradio, para princpios e demonstraes racionais. O seu Discurso Catequtico bem como o dilogo Sobre a Alma e a Ressurreio so inteiramente guiados por investigao puramente racional. No dilogo citado, v na dvida uma ajuda metdica da pesquisa. Na sistematizao da teologia crist, Gregrio preocupa-se, em primeiro lugar, por estabelecer a unicidade de Deus. Divindades diferentes s poderiam distinguir-se entre si por qualquer propriedade ou perfeio que pertencesse a uma e no a outra: mas assim nenhuma delas seria perfeita. O prprio conceito de Deus como substncia perfeitssima implica a unicidade de Deus e exclui o politesmo. Da perfeio divina deriva tambm a trindade das pessoas. No homem, a razo limitada e mutvel e no , portanto, subsistente por si. Mas em Deus ela imutvel e eterna e no tem, pois, o carcter de uma fora impessoal, mas subsiste corno pessoa (Or. catech., 1). O mesmo vale para o esprito. Em ns o esprito serve de mediador entre a palavra interna que o pensamento e a palavra externa na qual se exprime. Em Deus a palavra externa no corno para o homem um som, uma coisa como as outras, mas faz parte da sua essncia e procede, pois, do Pai e do Filho como uma outra pessoa que tem a sua prpria subsistncia e a sua prpria eternidade (1b., 1). O cristianismo, admitindo a unidade e trindade de Deus, conciliou o politesmo pago com o monotesmo judaico: admitiu com o judasmo a unidade da natureza divina, com o paganismo a plural-idade das pessoas (1b., 3). Na interpretao da trindade, Gregrio serve-se do princpio platnico da unidade da essncia (ousa), princpio de que se servir na Idade Mdia, com o mesmo fim, Anselmo de Aosta. Se o nome de 183
Deus, diz ele no tratado Adversus Graecos, significa a pessoa, necessariamente falando de trs pessoas, falamos de trs divindades. Mas se o nome de Deus indica a essncia, podemos reconhecer que h um nico Deus porque uma s a essncia das trs pessoas. Ora na realidade o nome de Deus indica a essncia divina. um costume abusivo da linguagem o de indicar com o plural do nome que significa a natureza comum os indivduos mltiplices que participam dela. Por exemplo, dizemos Podro, Paulo e Barnab so trs homens e no um s homem, como se deveria dizer desde o momento em que a palavra homem significa a essncia universal e no a existncia parcial ou prpria dos indivduos singulares. Gregrio toma neste caso (como foi muitas vezes observado) o significado abstracto da palavra, que no admite o plural, em vez do significado concreto que, ao contrrio, o admite. Contudo, o sentido da sua doutrina claro. A essncia, toda a essncia, a divina como a humana, e uma nica realidade una e simples, que no multiplicada pelo nmero de pessoas (ou ipostasi) que participam dela. A essncia humana pode ser participada por um nmero indeterminado de pessoas, a essncia divina s por trs; mas como todos os homens so tais em virtude de uma nica essncia humana, assim as trs pessoas divinas subsistem na nica essncia divina e constituem um nico Deus. O trao que distingue a essncia divina de todas as outras que ela, pela sua perfeio, implica tambm a urky'dade de aco das pessoas que participam dela. Enquanto os homens tm actividades diferentes e s vezes contrrias, ainda que participando da mesma essncia, as pessoas divinas tm uma nica actividade. "Toda a actividade procedente de Deus, que se refere criatura e denominada de modo diverso segundo a diversidade do objecto, parte do Pai, procede atravs do Filho 184 e cumpre-se no Esprito Santo. No se trata, por isso, de actividades que se diversificam segundo as pessoas que so activas, porque a actividade de cada pessoa singular no est separada da outra e tudo quanto acontece, quer diga respeito providncia sobre os homens quer concerne o governo e a ordenao do mundo, acontece por intermdio das trs pessoas sem que, todavia, seja trino". De tal modo, a essncia divina encontra, na unidade da aco divina, a sua caracterstica fundamental e prpria frente s essncias criadas. Tal a interpretao de Gregrio no que se refere unidade divina. No que se refere trindade, Gregrio expe uma interpretao que funda a diversidade das pessoas na diversidade das relaes de origem, formulando um princpio que devia tornar-se a base da interpretao trinitria nos sculos seguintes. Com efeito, a distino das pessoas divinas explicada admitindo que delas uma a causa, a outra causada e distinguindo dois tipos de causalidade que correspondem segunda e terceira pessoa da trindade. Deus Pai a causa; o Filho imediatamente causado pelo Pai de maneira que lhe corresponde o carcter de unignito; o Esprito Santo causado pelo Pai atravs da mediao do Filho e no ingnito como o PaI nem unignito como o Filho. 152. GREGRIO DE NISA: O MUNDO E O HOMEM O mundo uma criao de Deus. A questo de saber por que modo uma essncia absolutamente simples, incorprea e imutvel, como Deus, tenha podido produzir uma realidade composta, mutvel e, sobretudo, corprea, s pode encontrar resposta se se considera a natureza do corpo. Todo o 185
corpo resulta de partes que, tomadas de per si, so momentos ou potncias puramente inteligveis, como a quantidade, a qualidade, a figura, a cor, a grandeza e assim sucessivamente. Se se prescinde delas, nada resta do corpo. Portanto, o corpo como tal apenas a ligao de qualidades em si prprias incorpreas e ele mesmo incorpreo no seu fundamento. Pode-se, pois, conceber como possa ter sido criado por uma essncia incorprea (De hom. opif., 23-24). Partindo da exigncia teolgica de eliminar o abismo entre a natureza de Deus e a da criao, Gregrio foi assim levado a formular uma doutrina da pura inteligibilidade do mundo corpreo, voltando ao contrrio o materialismo de Tertuliano que exprimia, contudo, uma tendncia muito difundida entre as primeiras seitas crists. Enganar-se-ia, porm, quem interpretasse esta inteligibilidade como subjectividade das qualidades corpreas em sentido idealstico. A inteligibilidade confirma e refora a pura objectividade das qualidades porque, aproximando-as da natureza de Deus, as eleva ao princpio supremo da objectividade, que o prprio Deus. No mundo, o homem foi criado por um acto de "amor superabundante" (Or. catech., 5). O mundo no podia permanecer privado de finalidade e, por isso, Deus quis que ele servisse para um ser que pudesse participar do bem que nele havia espalhado. Por um lado, o homem um microcosmo que compreende em si o ser das coisas inanimadas, a vida das plantas, a sensibilidade dos animais e a racionalidade dos anjos. Pelo outro, a imagem de Deus; como, em Deus, do Pai ingnito procede o Logos e do Pai e do Logos o Esprito, assim, no homem, da alma ingnita procede a palavra inteligvel e de ambas a inteligncia. Atributo fundamental do homem a liberdade. A razo, que o faz distinguir entre o bem e o mal, seria intil se 186 no pudesse escolher entre o bem e o mal. Sem liberdade no haveria virtude nem mrito nem pecado (1b., 5). S na liberdade est a origem do mal. O corpo no um mal nem causa do mal porque uma criao de Deus. O mal est na nossa interioridade e consiste no desvio do bem devido ao livre arbtrio (1b., 5). O mal no tem nenhuma essncia na realidade em que apenas privao do bem, que a nica realidade positiva. Como a obscuridade a privao da luz ou a cegueira a privao da vista, assim o mal no outra coisa seno a falta do bem. "A maldade tem o seu ser no no-ser: e no tem outra origem seno a privao do sem (De an. et resur., p. 223). 153. GREGRIO DE NISA: A ApoCATSTASIS O relato bblico sobre o primeiro homem interpretado por Gregrio no sentido platnico, na base da distin o entre o homem ideal e o homem emprico. O primeiro homem foi criado, diz Gregrio, provido de um estado semelhante ao dos anjos. A sua natureza era a racionalidade e nenhum elemento irracional fazia parte dele; por isso no tinha corpo material nem sexo, era privado de todas as tendncias e dos impulsos que derivam do corpo e superior doena e morte. Era o homem perfeito, o homem ideal, o homem feito verdadeiramente imagem e semelhana de Deus. Com o pecado, o homem perdeu esta condio feliz. Como consequncia do pecado nasceu o homem emprico, que se encontra Emitado pela sua natureza animal e tem todas as qualidades e impulsos de tal natureza (De hom. opif., 17). Nesta condio, o homem encontra-se em contraste com a sua natureza originria, com a ideia perfeita do homem. 187 O homem deve retornar ento sua condio originria. Para orient-lo na via do retorno, foi necessria a encarnao do Logos. Contra a encarnao no vale a objeco de que o finito no pode abarcar o infinito e de que, por isso, a natureza humana no pode receber em si a divina, dado que a encarnao do Logos no significa mais do que a infinidade de
Deus se ter encerrado nos Emites da carne como num vaso. A natureza divina uniu-se com a humana mais como a chama se une ao corpo inflamvel ou tambm como a alma supera os limites do nosso corpo e se move livremente com o pensamento atravs da criao inteira (Or. catech., 10). Com a morte e a ressurreio de Cristo, o Deus-homem, a natureza humana como tal, recuperou a sua condio originria, da qual o pecado a tinha feito cair. Mas com ela no retornaram condio primitiva todos os indivduos nos quais, depois da queda, se multiplicou e dispersou. A obra redentora de Cristo deve, portanto, frutificar atravs dos indivduos singulares e reconduzi-los todos condio originria. Segue-se daqui que a punio que cai sobre o mal na outra vida s pode ser purificador. Aqueles que deixaram por si a sujidade do vcio com a gua do baptismo no tero necessidade de outra purificao, mas aqueles que no participaram desta purificao sacramental sero necessriamente purgados pelo fogo (1b., 35). Finalmente, a natureza chega por necessidade inevitvel apocatstasis, reconstruo da condio feliz, divina e livre de toda a dor, como era a originria (1b., 35). Gregrio afirma decididamente o carcter universal da apocatstasis: "At o inventor do mal, isto , o demnio, unir a sua prpria voz no hino de gratido ao Salvador (1b., 26). J um escritor antigo (Germano de Constantinopla em Fozio, Bibli. cod., 233) adiantara a hiptese de uma posterior falsificao dos 188 escritos de Gregrio nos pontos em que trata da apocatstasis universal. Mas esta hiptese no tem nenhum fundamento dado que aquela doutrma corresponde ao esprito e ao tom geral da obra de Gregrio. O ciclo do mundo ficaria incompleto ou coxo se uma parte dos seres se subtrasse apocatstasis e no fosse restituda sua condio ideal originria. Esta condio originria concebida platnicamente por Gregrio como o ser, a substncia ou a norma de toda a existncia: portanto, a existncia permanece tal, mesmo depois que, afastando-se do bem, se incline para o nada, s pela possibilidade, que lhe prpria, de uma restituio sua substncia originria. Precisamente em virtude da exigncia desta total reintegrao da realidade no seu ser prprio, Gregrio defende a ressurreio do corpo num sentido que no tem nada j de material. A alma dominada por uma tendncia natural para o corpo que lhe pertence e por isso imprime ao prprio corpo a sua prpria forma (eidos) que permanece na matria constitutiva do corpo e permitir alma reconhec-la, e voltar a apropriar-se dela no momento da apocatstasis (De hom. opif., 27). Aqui a fora organizadora e modeladora da alma (a forma) utilizada para explicar a crena crist na ressurreio. O fim ltimo do destino humano , segundo Gregrio, o conhecimento mstico de Deus, o xtase. Alcanou-se quando se passa para l das aparncias sensveis e da prpria razo; e nele o ver consiste em no-ver, dado que a essncia divina inconcebvel e inexprimvel. Para ele, como para Baslio, o nico modo de uma relao directa com a transcendncia divina a impossibilidade de relao. O motivo fundamental e permanente da especulao mstica encontra nestas frmulas a sua expresso. 189 Gregrio representa, com Orgenes, a expresso mxima da especulao crist dos primeiros sculos. O cristianismo alcanou com ele a sua primeira sistematizao doutrinal na base de um encontro substancial com a filosofia grega. Contudo, o princpio da interioridade espiritual afirmado pelo cristianismo e o princpio do objectivismo, fundamento de toda a filosofia
grega, no encontram ainda, na obra dos Padres orientais, o seu ponto de encontro e de fuso. S o encontraro em S. Agostinho merc de um conceito renovado da natureza e da finalidade da investigao. 154. OUTROS PADRES ORIENTAIS DO SCULO IV Foi escassa a contribuio que deram elaborao filosfica do cristianismo os outros e numerosos escritores que, nesta poca, participaram nas disputas teolgicas da Igreja. Epifnio, bispo de Constncia (a antiga Salamina), nascido por volta de 315, falecido em 403, autor de um escrito intitulado Panario (ou caixinha de medicinas) no qual pretende apresentar uma defesa para aqueles que so mordidos pelas serpentes, isto , contaminados pelas heresias. Enumera 80 heresias, mas 20 delas so seitas ou doutrinas pr-crists. Entre as heresias est includa a doutrina de Orgenes. Macrio, bispo de Magnsia, autor de uma grande apologia, O Unignito ou Resposta aos Pagos, que foi encontrada incompleta em 1867, e combate as objeces que opusera ao cristianismo o neoplatnico Porfrio nos livros que se perderam contra os cristos. A um outro Macrio, dito o Egpcio, foram atribudos erradamente 50 homilias (s quais se juntaram outras sete encontradas em 1918) que apresentam uma curiosa mescla de Estoi190 cismo e de Misticismo. Segundo Macrio, tudo aquilo que existe, incluindo a alma e as suas faculdades, corpreo, excepto Deus. Mas a alma corprea tem em si uma "imagem celeste" de Deus e esta imagem celeste de Deus que pouco a pouco libertada e purificada pela aco de Deus sobre a alma com a cooperao da vontade humana. Este processo de purificao o processo de elevao a Deus, que parte da apatia e, atravs da iluminao, da viso e da revelao da comunho com Deus, chega ao grau mais alto, ao xtase, que a unio com Deus. Carcter escassamente especulativo tm as homilias de Joo, dito Crisstomo ou Boca de oiro pela sua eloquncia, que foi patriarca de Constantinopla e morreu em 407. Em 428, Nestrio, patriarca de Constantinopla, comeou nas suas prdicas a defender a doutrina que nega a unidade da pessoa de Cristo. Esta doutrina fora precedentemente sustentada por Diodoro de Tarso (falecido por volta do ano 394) e pelo seu discpulo Teodoro de Mopsuestia (falecido por 428). Consistia em admitir que em Cristo coexistiam no s duas naturezas, mas tambm duas pessoas, uma das quais habitava na outra como num templo. Nestrio negava que Maria fosse me de Deus e considerava fbula pag a ideia de um deus envolto num sudrio e crucificado. Contra esta doutrina, combateu Cirilo, bispo de Alexandria, morto em 444. Reafirmou a unidade da pessoa de Cristo, aduzindo que o Logos assumiu a natureza humana na unidade da sua pessoa, conjuntamente divina e humana. A obra de Cirilo, importantssima para a definio do dogma da encarnao, como a de Anastsio para o dogma da trindade, no tem particular significado filosfico. O mais douto adversrio de Grilo foi Teodoreto, que nasceu por volta do ano 386 em Antioquia, discpulo de Crisstomo e de Teodoro de Mopsuestia e condiscpulo de Nestrio. Primeiramente favorvel 191 doutrina de Nestrio, que s abandonou nos ltimos anos de vida (morreu pelo ano 458), Teodoreto combateu a doutrina contrria de Eutiques, bispo de Constantinopla, que
defendia uma s natureza em Cristo, no no sentido de um s indivduo, como ensinara Cirilo, mas no sentido de uma natureza mista na qual existissem fundidas a divina e a humana. Contra esta doutrina, Teodoreto escreveu o Mendigo ou Polimorfo porque ela lhe parecia uma aberrao retirada de muitas heresias precedentes. A favor da tese de Nestrio, escreveu o Pentalogium de que apenas temos fragmentos. Teodoreto escreveu a ltima e mais completa das apologias crists que nos transmitiu a antiguidade grega. Intitula-se Cura das Enfermidades Pags ou Conhecimento da Verdade Evanglica por meio da Filosofia Pag. Ele utiliza as apologias precedentes, especialmente os Stromata de Clemente Alexandrino e a Preparao Evanglica de Eusbio. 155. OS PADRES LATINOS DO IV SCULO escasso o contributo da patrstica latina, para a especulao crist, anterior a S. Agostinho. Jlio Frmico Materno autor de uma obra, De errore profanarum religionum, escrita com o objectivo de converter os imperadores Constncio e Constante a uma enrgica poltica contra o paganismo. O escrito foi composto volta do ano 347 o urna anlise polmica do culto pago. As conquistas da especulao do Oriente foram tornadas acessveis igreja latina por Hilrio de Poitiers, morto em 366, cuja obra mais importante a que leva o ttulo De trinitate, mas originariamente devia chamar-se De fide ou De fide adversus arianos. Nos 12 livros desta obra so recolhidos e expostos 192 minuciosamente todos os argumentos da polmica da Igreja contra o arianismo. Mas, por maior que seja a importncia de Hilrio como divulgador e defensor das doutrinas ortodoxas, menosprezvel o contedo especulativo da sua obra. Uma grande figura de homem de aco Ambrsio, que nasceu cerca de 340, bispo de Milo de 374 a 397, ano da morte. Ambrsio escreveu numerosas exegeses dos livros bblicos, obras dogmticas dirigidas contra os arianos, cartas, sermes e um tratado, De officiis nnistrorum, que tem semelhana com os trs livros do De officiis de Ocero. Nele Ambrsio segue de perto a obra de Ccero, mas completa-a em sentido cristo, apontando como ltimo limite da moralidade a felicidade em Deus. Nas suas obras dogmticas, de que as principais so o De fide ad Gratianum Augustum e o De Spiritu Sancto ad Gratianum Augustum, inspira-se preferentemente nas obras de Anastsio e de Basilio o Grande. Como tradutor da Bblia para latim, destaca-se o nome de Sofrnio Aurlio Jernimo, nascido em Estridn (entre a Dalmcia e a Pannia) e morto em Belm, onde havia muitos anos se retirara para a vida erma, em 420. Reviu a verso latina, ento em uso, do Novo Testamento e traduziu do hebraico o Velho Testamento, com excepo dos livros de Baruch, Macabeos 1 e II, Eclesiastes e Sabedoria porque duvidava da sua canonicidade. Muito importante a sua obra De vitis illustribus, composta em 392 em Belm, que uma histria dos escritores eclesisticos, cuja matria, para os escritores gregos dos trs primeiros sculos, tomada da obra de Eusbio de Cesareia ( 148), enquanto que, para os escritores latinos e gregos posteriores, Jernimo se baseia no conhecimento directo. Temperamento do polemista, Jernimo redigiu tambm polemicamente as suas obras dogmticas; as suas 193 obras mais conseguidas so as Cartas que constituem algumas vezes verdadeiros tratados.
Contudo, a sua importncia est toda na sua obra de crudito o de historiador. Agostinho nomeia com louvor nas Confisses (VIII, 2) o retrico africano Mrio Vitormo. Convertido ao cristianismo em idade avanada, traduziu para latim o Isagogo de Porfrio, as Categorias e a Interpretao de Aristteles e escreveu diversos escritos contra os arianos e maniqueus. O escrito De definitionibus, que est entre as obras lgicas de Bocio, deve ser atribudo a ele. Aparece nas suas obras teolgicas a doutrina da predestinao. NOTA BIBLIOGRFICA 143. As obras de Clemente in P. G., 8.1 e 9.1; ed. Dindorf, 4 vols., Oxford, 1869; ed. Sthlin, 3 vols., Berlim, 1906-1909. Sobre Clemente: DE FAYE, Clment d?Alexandrie. tude sur les rapports du christianisme et de Ia philosophie grecque au II Wele, Paris, 1898, 2.1 edio 1906; MEYBOOM, Clemens Alexandrinus, Leiden, 1912; TOLLINGTON, Clemens of AIex. A Study in Christian Liberalism, 1-2, Londres, 1914. 144. As obras de Origenes in P. G., 11.1, 17.1, ed. berlinense na coleco patrstica, 12 vols., 1899-1955. 145. Sobre Orgenes: E. DE FAYE, Origne. Sa vie, son oeuvre, sa pense, 3 vols., Paris, 1923-28; A. MIURA-STANGE, CeIsus und Origene, Giessen, 1926; G. Rossi, ;Saggi su" metafisica di Origene, Milo, 1929; H. KocH, Pronoia und Paideusis. Studien ber Origene und sein Verhltniz zum Platonismus, Berlim, 1932; R. CADIOU, La jeunesse d10rigne, Paris, 1936; H. DE LuBACH, Histoire et esprit. Lintelligence de I'criture d'aprs Origne, Paris, 1950; M. HARL, Origne et Ia fonction rvlatrice du Verbe Incarn ' in "Patristica, Sorboniensia", Paris, 1958 (com bibl.). 148. Os escritos de Dionsio de Alexandria in P. G., 10.,, 1233-1344, 1575-1602; os,de Gregrio Taumaturgo In P. G., 10.-, 963-1232. As obras de Eusbio in 194 P. G., 19.1-24.1 e na edio berlinense dos Padres da Igreja, 6 vols. 1902-13. Os escritos de Metdio in P. G., 18.,, 9-408; e na edio berlinense dos Padres da Igreja, 1917. As obras de Anastsio in P. G., 25.---28.,. 149. As obras de Baslio o Grande in P. G., 29.---32.1. Sobre Baslio: CLARRE, St. Basil the Great, Cambridge, 1913. 150. As obras de Gregrio Nazianeeno in P. G., 35.---38.1. Sobre Greg6rio: PINAULT, Le platonsme de St. Gr. de Naz., Paris, 1926. 151. As obras de Gregrio de Nisa, in P. G., 44.1~46.1. Contra Eunonium, ed. Jaeger, 2 vols, Berlim, 1921-24; Cartas, ed. Pasquali, Beillim, 1925; Oratio Catech. Magna, ed. Mrdier, Paris, 1908; Qp. ascetiche, ed. Jaeger e outros, Leyde, 1954; Opuscoli dogmatici, ed. Muller, Leyde, 1958. 152. Sobre Gregrio: H. CHERNISS, The P,aton~ of Gregory of N-yssa, Berkeley, 1930; M. PELLEGRINO, Il platonismo di S. Grego-rio Nisseno, in "Riv. di filos. neoscol.", XXX, 1938; A. A. WEiswuRm, The Nature of Human Kno-w"ge according to St. Greg. de Nysse, Paris, 1953; W. VOLKER, Gregor von N. aIs Mystiker, Wiesbaden, 1955.
154. As obras de Epifnio in P. G.@ 41.---43.o: de Macrio de Magnesia, ed. a cargo de C. Blondel, Paris, 1876; de Macrio o Egpcio, in P. G., 34., e as outras 7 hornilias in MARRIOTT, Macarii aneedota, Cambridge, 1918; de Joo Crisstomo, in P. G., 47.---64.,; de Diodoro, de Tarso in P. G., 33.1; de Teodoro de Mopsuestia. in P. G., 66.o; de CiriIo in P. G. 77.o; Sobre todos, ver bibliografia especial in BARDENHEWER, GeSchichte der altkirchlichen Literatur, III, Friburgo in Brisg., 1923; e CHRIST-SCHMID-STAMIN, Geschichte der griech. Literatur, 11, 2, Mnaco, 1924. 155. O escrito de Firmico Materno in P. L., 12.,, 9891-1050; e no Corpus de Viena, 2.o, 1867. Os escritos de Hilrio in P. L., 9-10.1 e no Corpus de Viena, 22.1. As obras de Ambrsio n P. L., 14.---17-e no Corpus de Viena, 32.1 e 64.,. As obras de Jernimo in P. L., 22.0-30.1. os escritos de Mrio Vitorino in P. L., 8.", 999-1310; o De definitionibus in P. L., 64.% 891-910, Sobre todos, ver bibliografia nas obras citadas de BARDENHEWER E CHRIST. 195 IV SANTO AGOSTINHO 156. A FIGURA HISTRICA DE SANTO AGOSTINHO Pela primeira vez na personalidade de Agostinho a especulao teolgica deixa de ser puramente objectiva, como se conservara mesmo nas mais poderosas personalidades da patrstica grega, para se unir ao prprio homem que a institui. O problema teolgico em Santo Agostinho o problema do homem Agostinho: o problema da sua disperso e da sua inquietude, o problema da sua crise e da sua redeno, da sua razo especulativa e da sua obra de bispo. Aquilo que Agostinho deu aos outros foi aquilo que conquistou para si prprio. A sugesto e a fora dos seus ensinamentos que no diminuram atravs dos sculos, muito embora tenham mudado os termos do problema, deriva precisamente do facto de que em toda a sua especulao, mesmo nos aspectos que parecem mais afastados de qualquer referncia imediata vida, apenas procurou e alcanou a clareza sobre si mesmo e sobre o seu prprio destino, o significado autntico da sua vida interior. 197 O centro da especulao de Agostinho coincide verdadeiramente com o centro da sua personalidade. A atitude de confisso no se limita s ao escrito famoso, mas a atitude constante do pensador e do homem de aco que, em qualquer coisa que diga ou empreenda, no tem outra finalidade seno a de ver claro em si mesmo e de ser aquilo que deve ser. Por isso declara que no quer conhecer mais nada seno a alma e Deus e mantm-se constantemente fiel a este programa: a alma, isto , o homem -interior, o eu na simplicidade e verdade da sua natureza; Deus, isto , o ser na sua transcendncia e na sua normatividade sem o qual no possvel reconhecer a verdade do eu. Por certo, nesta radical interiorizao da investigao filosfica, Agostinho tem predecessores; e tais predecessores so "os Platnicos" que evoca muitas vezes nas suas obras e especialmente Plotino. Mas para os Neoplatnicos. o retomo a si prprio, a atitude da introspeco s pode ser privilgio do sbio; para Santo Agostinho est ao alcance de todo o homem. Agostinho recolheu tambm o melhor da especulao patrstica precedente; e os conceitos teolgicos fundamentais, j ento adquiridos pela especulao e
aceites pela Igreja, no sofrem na sua obra desenvolvimentos substanciais. Mas enriquecem-se com um calor e com um significado humano que antes no tinham, tornam-se elementos de vida interior para o homem, dado que so tais para ele, para Santo Agostinho. E assim consegue uni-]os inquietao e s dvidas, necessidade de amor e de felicidade que so prprias do homem, fund-los, numa palavra, na procura. Procura que encontra na razo a sua disciplina e o seu rigor, mas no exigncia de pura razo. Todo o homem procura: toda a parte ou elemento da sua natureza, intranquilidade da sua finitude, dirige-se para o Ser que o nico que pode dar-lhe 198 consistncia e estabilidade. Santo Agostinho representa na especulao crist a exigncia da pesquisa com a mesma fora com que Plato a havia apresentado na filosofia grega. Mas, diferentemente da platnica; a procura agustiniana Tadica-se na religio. Desde o comeo Santo Agostinho abandona a iniciativa a Deus: Da quod jubes et jube quod vis. S Deus determina e guia a procura humana seja como especulao seja como aco; e assim a especulao na sua verdade f na revelao e a aco na sua liberdade graia concedida por Deus. A polmica antipelagiana ofereceu a Agostinho ensejo para exprimir na forma mais extrema e enrgica o fundo da sua convico; mas no constitui uma ruptura na sua personalidade, uma vitria do homem da Igreja sobre o pensador. Nele o pensador vive todo na esfera da religiosidade, a qual s a Deus reconhece necessariamente a iniciativa da procura e encontra, portanto, a sua melhor expresso na frase: s Deus a nossa possibilidade. 157. SANTO AGOSTINHO: A VIDA Aurlio Agostinho nasceu em 354 em Tagaste, na frica romana. Seu pa, Patrcio, era pago; sua me, Mnica, crist, e exerceu sobre o filho uma ' profunda influncia. Passou a sua meninice e a adolescncia entre Tagaste e Cartago. De temperamento ardente, rebelde a todos os freios, levou neste perodo uma vida desordenada e dispersa de que se acusou asperamente nas Confisses. Mas cultivava os estudos clssicos, especial-mente latinos, o dedicava-se com paixo gramtica a ponto de considerar (como confessa com horror, Conf., 1, 18) tira solecismo mais grave do que um pecado mortal. Pelos 19 anos, a leitura do Hortnsio de Ccero trouxe-o filosofia. A obra de Ccero (que se per199 deu) em, como se disse ( 110), exortao filosofia que seguia de perto os passos do Protrptico de Aristteles. Assim, Santo Agostinho, do entusiasmo pelas questes formais e gramaticais, encaminhou o seu entusiasmo para os problemas do pensamento e, pela primeira vez, orientou-se para a investigao filosfica. Aderiu ento (374) seita dos maniqueus ( 137). Com 19 anos comeou a ensinar retrica em Cartago e manteve o seu erwino nesta cidade at aos 29 anos, entre amores de mulheres e o afecto dos amigos, do que se acusou e arrependeu igualmente depois. Com 26 ou 27 anos comps o seu primeiro livro Sobre o Belo e o Conveniente (De pulchro et apto) que se perdeu. O seu pensamento ia amadurecendo; leu e compreendeu por si mesmo o livro de Aristteles Sobre as Categorias e outros escritos, e entretanto formulava as primeiras dvidas sobre a verdade do maniquesmo, dvidas que se confirmaram quando viu que nem o prprio Fausto, o mais famoso maniqueu do seu tempo, sabia resolv-las. Com 29 anos, em 383, dirigiu-se a Roma com a inteno de continuar ali o ensino de retrica; era movido pela esperana de encontrar uma estudantada menos turbulenta e mais
preparada do que a cartaginesa e talvez tambm pela ambio de conseguir sucesso e dinheiro. Mas as suas esperanas no se realizaram e ao fim de um ano dirigiu-se a Milo para ensinar oficialmente retrica, cargo que obtivera do perfeito Simaco. O exemplo e a palavra do bispo Ambrsio persuadiram-no da verdade do cristianismo e tornou-se catecmeno. Em Milo reuniu-se-lhe sua me, cuja influncia teve importncia decisiva na crse espiritual de Agostinho. A leitura dos escritos de Plotino na traduo de Mrio Vitorino, um famoso retrico que se convertera ao cristianismo, fornece a Agostinho a orientao definitiva. No encontrou nos livros dos Neoplatnicos 200 S 1 . AGOSTINHO (Ambrsio Berognone) ensinada a encarnao do Verbo e, por conseguinte, o caminho da humildade crist, mas encontrou afirmada e demonstrada claramente a incorporeidade e incorruptibilidade de Deus e isto libertou-o definitivamente do materialismo, ao qual permanecera ligado at ento ao ponto de acreditar que o universo estava cheio de Deus maneira de uma esponja gigantesca que ocupasse o mar (Conf., VII, 5). No Outono de 386, Agostinho deixa o ensino e retira-se, com uma pequena companhia de parentes e amigos, para a vila de Verecondo, em Cassiciaco, prximo de Milo. Da meditao nesta vila e das conversaes com os amigos nascem as suas primeiras obras: Contra Acadmicos, Sobre a Ordem, Sobre a Felicidade, Solilquios. A 25 de Abril de 387 recebia o baptismo das mos de Ambrsio. Convence-se ento de que a sua misso era a de difundir na sua Ptria a sabedoria crist; pensou, pois, no regresso. Em Ostia, enquanto esperava o embarque, passou com a sua me dias de intensa alegria espiritual discorrendo com ela sobre questes religiosas, mas Mnica morreu ali. A partir daquele momento a vida de Santo Agostinho uma contnua procura da verdade e uma luta contnua contra o erro. Depois de uma nova permanncia em Roma, voltou a Tagaste onde em 391 foi ordenado sacerdote; em 395 foi consagrado bispo de Hipona. A sua actividade dirigiu-se ento no s a defender e a esclarecer os princpios da f, mediante uma procura de que a f mais o resultado que o pressuposto, mas tambm a combater os inimigos. da f e da Igreja: o maniquesmo, o donatismo e o pelagianismo. O saque de Roma, perpretado em 410 pelos "os de Alarico. voltara a dar actualismo velha tese de que a segurana e a fora do Imprio Romano estavam ligadas ao paganismo e que o cristianismo representava por isso um elemento de debilidade e de dissoluo. 201
Contra esta tese escreveu Santo Agostinho, entre 412 e 426, a sua obra-prima: A Cidade de Deus. Mas, entretanto, um flagelo anlogo, a invaso dos Vndalos, abateu-se em 428 sobre a frica romana. Havia trs meses que as tropas de Genserico assediavam Hipona quando, a 28 de Agosto de 430, Agostinho morreu. 158. SANTO AGOSTINHO: AS OBRAS Os primeiros escritos de Agostinho que chegaram at ns foram os que comps em Cassiciaco@ Contra Acadmicos, Sobre a Felicidade, Sobre a Ordem, Solilquios. De uma exposio completa de quase todas as artes liberais s acabou, em Tagaste, a parte que respeita Msica. Em Roma, enquanto esperava a partida para a frica, comps o escrito
Sobre a Quantidade da Alma, relativamente s relaes entre a alma e o corpo. De volta a Tagaste, terminou o escrito Sobre o livre Arbtrio, comeado em Roma, comps o livro Sobre o " Gnesis" contra os Maniqueus, o dilogo Sobre o Mestre e o livro Sobre a Verdadeira Religio que um dos seus escritos filosficos mais notveis. A polmica contra os maniqueus ocupou-o largamente. Os seus escritos polmicos contra a seita so numerosos (Sobre a Utilidade de Crer, composto em 391 em Hipona; Sobre as duas Almas; Contra Fortunato; Contra Adimanto; Contra Fausto; Sobre a Natureza do Bem, e outros). Tornado bispo, S. Agostinho desenvolve a sua polmica, por um lado contra os donatistas que propugnavam por uma igreja africana independente e resolutamente hostil ao Estado romano ( 165), pelo outro contra os pelagianos que negavam ou pelo menos limitavam a aco da graa divina. Contra os donatistas comps, entre 393 e 420, muitos e 'tos (Contra a carta de Parmeniano; Sobre o scri Baptismo; Contra os Donatistas; Contra a Carta de 202 Petiliano Donalista; Cartas aos Catlicos contra os Donatistas; Contra o Gramtico Crescnio; Sobre o nico Baptismo; Contra Petiliano, etc.). Contra os pelagianos, Agostinho abriu a sua luta em 412 com o escrito Sobre a Culpa e sobre a Remisso dos Pecados e sobre o Baptismo dos Meninos, ao qual se seguiram: Sobre o Esprito e sobre a Letra, a Marcelino; Sobre a Natureza e sobre a Graa; Carta aos bispos Eutropio e Paulo; Sobre a Gesta de Pelgio: A Graa de Cristo e o Pecado Original; e vrios outros. Por altura de uma carta de Santo Agostinho em 418 (Ep., 194), os monges de Adrumeto (Susa) comearam a rebelar-se contra os seus abades, sustentando que, sabido que a boa conduta depende exclusivamente do socorro divino, os seus superiores no deviam dar ordens, mas apenas elevar preces a Deus pelo seu melhoramento. Para tranquilizar e iluminar aqueles monges sobre o verdadeiro significado da sua doutrina, Agostinho comps em 426 ou 427 o escrito sobre a Graa e sobre o Livre Arbtrio e outro Sobre a Correco e sobre a Graa. Como o movimento pelagiano se difundia na Glia meridional, sob a forma atenuada que se chamou depois semipelagianismo, o qual declarava intil a graa no incio da obra de salvao e na perseverana da justificao conseguida, Agostinho escreveu contra tal doutrina outros dois escritos: Sobre a Predestinao dos Santos e Sobre o Dom da Perseverana. Juntamente com estas e outras obras polmicas menores, compunha o importante escrito Sobre a Trindade, e Sobre a Doutrina Crist, o exegtico Sobre o Gnesis Letra e a sua obra mais vasta: A Cidade de Deus (413-426). Por volta de 400, escreveu os 13 livros das Confisses que so a obra chave da sua personalidade de pensador. Para o final da sua vida, em 427, nas Retrataes, lanava um olhar retrospectivo sobre toda a sua obra literria a partir 203 da converso em 386. Agostinho recorda, por ordem cronolgica e, um por um, todos os seus escritos, excluindo as cartas e sermes, e muitas vezes indica a ocasio e o fim da sua composio e ao mesmo tempo faz a reviso crtica das doutrinas neles contidas, corrigindo os seus erros ou as imperfeies dogmticas. A obra um guia precioso para compreender o desenvolvimento da actividade literria de Agostinho. 159. CARACTERISTICAS DA INVESTIGAO AGOSTINIANA Santo Agostinho foi chamado o Plato cristo. Esta definio verdadeira no tanto porque se encontrem na sua doutrina pontos e motivos doutrinais do Plato autntico ou do Neoplatonismo, mas porque renova no esprito do cristianismo a investigao que fora a realidade fundamental da especulao platnica. A f est para Agostinho no termo da investigao, no no seu incio. Por certo a f a condio da procura que no teria
direco nem guia sem ela; mas a procura dirige-se para a sua condio e trata de, esclarec-la com o aprofundamento incessante dos problemas que suscita. Por isso a procura encontra o fundamento e o guia na f e a f encontra a sua consolidao e enriquecimento na procura. Por um lado, na medida em que leva a esclarecer e a aprofundar a prpria condio, a procura estende-se e robustece-se porque se aproxima da verdade e se funda nela; por outro lado, a prpria f alcanada e possuda atravs da procura na sua realidade mais rica e consolida-se no homem triunfando da dvida. Nada to contrrio ao esprito de Agostinho como uma pura gnose, um conhecimento puramente racional do divino, a no ser talvez a afirmao desesperada da irracionalidade da f, 204 que se encontra em Tertuliano. Para Agostinho, a procura empenha o homem todo no apenas o intelecto. A verdade para que tende tambm, segundo a palavra anglica, a via e a vida: procur-la significa procurar a verdadeira via e a verdadeira vida. Por isso, no s a mente que tem necessidade dela, mas o homem inteiro e deve dar satisfao e repouso a todas as exigncias do homem. Por outro lado, a procura agustiniana impe a si prpria uma disciplina rigorosa: no se entrega facilmente a crer, no fecha os olhos diante dos problemas e das dificuldades da f, no tenta evit-los e iludi-los, mas afronta-os e considera-os incessantemente, retornando sobre as prprias solues para as aprofundar e esclarecer. A racionalidade da procura no para Santo Agostinho o seu organizar-se como sistema, mas antes a sua disciplina interior, o rigor do procedimento que no pra frente ao limite do mistrio, mas faz deste limite e do prprio mistrio um ponto de referncia e uma base. O entusiasmo religioso, o mpeto mstico para a verdade no agem nele como foras contrrias procura mas robustecem a prpria procura, do-lhe um valor e um calor vital. Daqui deriva o enorme poder de sugesto que a personalidade de Agostinho exerceu no s sobre o pensamento cristo e medieval, mas tambm sobre o pensamento moderno e contemporneo. 160. SANTO AGOSTINHO: O FIM DA PROCURA: DEUS E A ALMA No incio dos Solilquios (1, 2), que so uma das suas primeiras obras, Agostinho declarava o fim da sua investigao deste modo: "Desejo conhecer Deus e a alma. E nada mais? Nada mais, absolutamente". E tais foram na realidade os termos para os quais se dirigiu constantemente a sua especulao 205 do princpio ao fim. Mas Deus e a alma no requerem para Agostinho duas investigaes paralelas ou diversas. Com efeito, Deus est na alma e revela-se na mais recndita interioridade da prpria alma. Procurar a Deus significa procurar a alma e procurar a alma -significa reclinar-se sobre si mesmo, reconhecer-se, na prpria natureza espiritual, confessar-se. A atitude de confisso que deu origem mais famosa das obras agustinianas , na realidade, desde o princpio, a atitude fundamental de S. Agostinho, aquela que ele mantm e observa constantemente em toda a sua actividade de filsofo e de homem de aco. Esta atitude no consiste em descrever para si e os outros as alternativas da prpria vida interna ou externa, mas em pr a claro todos os problemas que constituem o ncleo da prpria personalidade. Mesmo as Confisses no so uma obra autobiogrfica: a autobiografia um dos seus elementos que fornece os pontos de referncia dos problemas na vida de Santo Agostinho, mas no o seu carcter dominante, tanto que, num certo ponto, no livro X todo o acento autobiogrfico cessa e Santo Agostinho passa nos outros trs livros a tratar de problemas de pura especulao teolgica. O esforo de Santo Agostinho nesta obra dirigido no sentido de fazer luz sobre os problemas que constituem
a sua prpria existncia. quando, consegue aclarar a natureza da inquietao que dominou a primeira parte da sua vida e que o levou a dissipar-se e a divagar desordenadamente, dse conta que, na realidade, nunca desejou outra coisa a no ser a verdade, que a verdade o prprio Deus, que Deus se encontra no interior da sua alma. "No, saias de ti mesmo, volta * ti prprio, no interior do homem habita a verdade; * se verificas que a tua natureza mutvel, transcende-te para l de ti mesmo" (De vera rel., 39). Apenas o retorno a si prprio, o encerrar-se na prpria interioridade verdadeiramente o abrir-se 206 verdade e a Deus. necessrio chegar at ao mais ntimo e escondido ncleo do eu para encontrar mais alm dele ("transcende-te para l de ti mesmo") a verdade de Deus. Na busca desta interioridade que se transcende e se abre a Deus encontra-se uma certeza fundamental que elimina a dvida. No foi por acaso que a carreira de escritor de Santo Agostinho se iniciou com uma refutao do cepticismo acadmico. No podemos permanecer firmemente na dvida, como pretendiam os Acadmicos, e na suspenso do assentimento. Quem duvida da verdade est certo de duvidar, isto , de viver e de pensar; tem, por conseguinte, na prpria dvida uma certeza que o subtrai dvida e o leva verdade (Contra acad., 111, 11); De vera rel., 39; De trin., X, 10). Este movi. mento de pensamento para o qual a prpria dvida tomada como fundamento de uma certeza, que no imvel porque apenas significa que se pode e se deve procurar, encontrar-se- nos comeos da filosofia moderna em Descartes. Em Agostinho, esta atitude significa que a vida interior da alma no pode encerrar-se na dvida e que at a dvida permite alma transcender-se e moverse para a verdade. A verdade , pois, ao mesmo tempo interior ao homem e transcendente. O homem s pode procur-la encerrando-se em si prprio, reconhecendo-se naquilo que , confessando-se com absoluta sinceridade. Mas no pode reconhecer-se nem confessar-se se no pela verdade e frente verdade, a qual se afirma, precisa-mente, naquele acto em toda a sua transcendncia como guia e luz da pesquisa. A verdade revela-se como transcendente quele que a procura como deve procurar-se: na interioridade da conscincia. Com efeito, a verdade no a alma, mas a luz que do alto guia e chama a alma sinceridade do reconhecimento de si e humildade da confisso. A verdade no a razo mas a lei da razo, isto 207 , o critrio de que a razo se serve para julgar as coisas. Se a razo superior s coisas que julga, a lei, na base da qual ela julga, superior razo. O juiz humano julga na base da lei, mas no pode julgar a prpria lei. O legislador humano, se honesto e sbio, julga das leis humanas, mas consulta, ao fazer isto, a lei eterna da razo. Mas esta lei escapa a todo o juzo humano porque a prpria verdade na sua transcendncia (De vera rel., 30-31). 161. SANTO AGOSTINHO: A PROCURA DE DEUS A verdade Deus: este o princpio fundamental da teologia agostiniana. O carcter fundamental da verdade est no facto de que ela nos revela aquilo que , em contraste com o falso que faz aparecer ou crer aquilo que no . A verdade a revelao do ser como tal. Ela o ser que se revela, o ser que ilumina a razo humana com a sua luz e lhe fornece a norma de todo o juzo, a medida de toda a avaliao. Neste revelar-se do ser na
interioridade do homem, neste seu valer frente ao homem como o princpio iluminante da sua procura, tal a verdade. Mas o Ser que se revela e fala ao homem, o Ser que a Palavra e Razo iluminante, Deus no seu Logos ou Verbo (De vera rel., 36). A verdade no , pois, mais que o Logos ou Verbo de Deus. A primeira e fundamental determinao teolgica do Deus cristo nasce do prprio implantar da pesquisa agostiniana. Precisamente, enquanto o homem procura Deus na interioridade da sua conscincia, Deus para ele Ser e Verdade, Transcendncia e Revelao, Pai e Logos. Deus revela-se como transcendncia ao homem que incessantemente e amorosamente o procura na profundidade do seu eu: isto quer dizer que Ele no ser seno enquanto conjuntamente manifestao de si como tal, isto , Verdade, que no transcen208 dncia seno enquanto conjuntamente revelao; que no Pai seno enquanto conjuntamente Filho, Logos ou Verbo que se acerca do homem para o trazer a si. As duas primeiras pessoas da Trindade manifestam-se ao homem na procura; e tambm a outra, o Esprito Santo, que amor. Deus Amor alm de Verdade; amor e verdade vo conjuntamente porque no se pode ser amor seno pela verdade e na verdade. Amar a Deus significa amar o Amor, mas no se pode amar o Amor se no se ama quem ama. No amor aquele que no ama ningum. Por isso o homem no pode amar a Deus, que o Amor, se no ama o outro homem. O amor fraterno entre os homens "no s deriva de Deus mas o prprio Deus" (De trin., VIII, 12). Deus revela-se como verdade s a quem procura a verdade; Deus oferece-se como Amor s a quem ama. A procura de Deus no pode ser, portanto, apenas intelectual, tambm necessidade de amor. Parte da pergunta fundamental: "Que coisa amo, Deus, quando te amo"? (Conf., X, 6). Aqui est o n da procura que se dirige alma e da procura que se dirige a Deus, n que o centro da personalidade de Agostinho. No possvel procurar Deus seno submergindose na prpria interioridade, seno confessando-se e reconhecendo o verdadeiro ser prprio; mas este reconhecimento o prprio reconhecimento de Deus como verdade e transcendncia. Se o homem no se procura a si prprio no pode reconhecer a Deus. Toda a experincia da vida de Agostinho se exprime nesta frmula, dado que s para l de si, naquilo que transcende a parte mais elevada do eu, se entrev, pela prpria impossibilidade de alcan-la, a realidade do ser transcendente. Por um lado, as determinaes de Deus radicam-se na procura dado que Deus se revela como transcendncia e verdade apenas na procura; por outro lado, a procura funda-se nas 209 determinaes da transcendncia divina. Por certo o homem no pode conhecer a transcendncia se no a procura, mas no pode procurar se a transcendncia no o chama a si e no o sustm revelando-se na sua imprescrutabilidade. Deus precisamente na sua transcendncia, o transcendente da alma, a condio da sua procura, de toda a sua actividade. E ao mesmo tempo a condio das relaes interhumanas. Deus o Amor e condiciona e torna possvel todo o amor. Mas no possvel reconhec-lo como amor e, portanto, am-lo se no se ama; e no se pode amar seno o outro homem. Amar o Amor significa, em primeiro lugar, amar, e no se pode amar a no ser o homem. O amor fraterno, a caridade crist, condiciona. a relao entre Deus e o homem; e ao mesmo tempo condicionado por ela. Tambm aqui o Amor divino, o Esprito Santo , na sua transcendncia, o transcendental da procura que leva o homem para o outro homem. O tema de toda a especulao de Santo Agostinho um s e o tema da sua vida: a relao entre a alma e Deus, entro a procura humana e o seu termo transcendente e divino. Mas
esta relao manifesta-se em Santo Agostinho religiosamente, no filosoficamente<) seu acento no cai sobre a possibilidade humana na procura do transcendente mas sobre a presena do transcendente no homem como possibilidade da procura. A iniciativa abandonada a Deus. Mais precisamente, enquanto o homem se entrega iniciativa da procura e queima no ardor dela as escrias da sua humanidade inferior, deve reconhecer que a iniciativa no sua, mas de Deus; que ele consegue relacionar-se com a transcendncia divina apenas porque ela se lhe revela, consegue amar a Deus s porque Deus o ama. O esforo filosfico transforma-se em humildade religiosa: a procura torna-se f. A liberdade da iniciativa filosfica surge como graa. A exigncia de referir todo o esforo, 210 todo o valor humano graa divina no um puro resultado da polmica contra os pelagianos, um resultado que negaria os motivos agostinianos mais profundos, mas exigncia intrnseca da especulao agostiniana. Tal exigncia funda-se na relao com que, na personalidade de Agostinho, se enlaam a filosofia e a religio, a procura e a f: relao de tenso, pela qual se a-traem o ao mesmo tempo se opem uma outra. 162. SANTO AGOSTINHO: O HOMEM A possibilidade de procurar a Deus e de am-lo est radicada na prpria natureza do homem. Se fssemos animais, poderamos amar apenas a vida carnal e os objectos sensveis. Se fssemos rvores no poderamos amar nada daquilo que tem movimento e sensibilidade. Mas somos homens, criados imagem do nosso criador que a verdadeira Eternidade, a eterna Verdade, o eterno e verdadeiro Amor; temos, portanto, a possibilidade de voltar a ele, no qual o nosso ser no ter mais morte, o nosso saber no ter mais erros, o nosso amor no ter mais ofensas (De civ. Dei, XI, 28). Esta possibilidade de retornar a Deus na trplice forma da sua natureza, est inscrita na trplice forma da natureza humana, enquanto imagem de Deus. "Eu sou, eu conheo, eu quero. Sou enquanto sei e quero; sei por ser e querer; quero ser e saber. Veja quem pudor como nestas trs coisas existe uma vida inseparvel, uma nica vida, uma nica mente, uma nica essncia e como a distino inseparvel e, todavia, existe". (Conf. XIII, 11). So os trs aspectos do homem que se revelam nas trs faculdades da alma humana, a memria, a inteligncia e a vontade, as quais conjuntamente, e cada uma por si, constituem a vida, a mente e a substncia da alma. "Eu, diz Agostinho (De trin., X, 18), recordo por ter memria, intelign211
cia e vontade; entendo por compreender, querer e recordar; e quero querer, recordar e compreendem. E recordo toda a minha memria, toda a inteligncia e toda a vontade e do mesmo modo compreendo e quero todas estas trs coisas; as quais coincidem plenamente e, no obstante a sua distino, constituem uma unidade, uma s vida, uma s mente e uma s essncia. Nesta unidade da alma que se diferencia nas suas faculdades, cada uma das quais compreende as outras, est a imagem da trindade divina, imagem desigual mas imagem. A prpria estrutura do homem interior torna, pois, possvel a procura de Deus. Que o homem seja feito imagem de Deus significa, portanto, que o homem pode procurar a Deus e am-lo e relacionar-se com o seu ser. Deus criou o homem a fim de que ele seja,
dado que o ser, mesmo em grau menor, sempre um bem e o Ser supremo o supremo Bem; mas o homem pode afastar-se e decair do ser e, em tal caso, peca. A constituio do homem como imagem de Deus, se lhe d a possibilidade de se relacionar com Deus, no lhe garante a realizao necessria desta possibilidade. Com efeito, o homem , em primeiro lugar, o homem velho, o homem exterior ou carnal que nasce e cresce, envelhece e morre. Mas, em segundo lugar, pode ser tambm homem novo ou espiritual, pode renascer espiritualmente e conseguir submeter a sua alma lei divina. Tambm este homem novo tem as suas idade que, contudo, no so dadas pelo transcorrer do tempo, mas pelo seu progressivo aproximar do divino (De vera rel., 26). Todo o indivduo pela sua natureza um homem velho, mas deve tornar-se um homem novo, deve renascer para a vida espiritual- Este renascimento apresenta-se-lhe como a alternativa em que deve escolher- ou viver segundo a carne e debilitar e romper a prpria relao com o ser, isto , com Deus e cair na mentira e no pecado; ou viver 212 segundo o esprito estreitando a sua relao com Deus e preparar-se para participar na sua prpria eternidade (De civ. Dei, XIV, 1, 4). Mas a primeira escolha no verdadeiramente uma escolha nem uma deciso. A verdadeira escolha aquela com o que o homem decide aderir ao ser, isto , relacionar-se com Deus. A causa do pecado, quer dos anjos rebeldes a Deus quer dos homens, uma s: a renncia quela adeso. "A causa da beatitude dos anjos bons que eles aderem quilo que verdadeiramente ; enquanto a causa da misria dos anjos maus que eles se afastaram do ser e se voltaram para si prprios que no so o ser. O seu pecado foi, pois, o da soberba." (Ib., XII, 6). Precisamente esta soberba da vontade, que nos aparta do ser e nos ata ao que tem menos ser, o pecado, o qual, por isso, no tem causa eficiente mas apenas causa deficiente: no uma realizao (effectio) mas uma defeco (defectio). renncia quilo que supremo para adaptar-se quilo que -inferior. Querer encontrar as causas de tais defeces como querer ver as trevas ou ouvir o silncio: tais coisas s se podem conhecer ignorando-as, enquanto que, conhecendo-as, se ignoram (1b., XII, 7).
163. SANTO AGOSTINHO: O PROBLEMA DA CRIAO E DO TEMPO Enquanto ser, Deus o fundamento de tudo o que ; , portanto, o criador de tudo. E de facto a mutabilidade do mundo que nos rodeia demonstra que este no o ser: teve, pois, de ser criado e leve de ser criado por um ser eterno (Conf., XI, 4). Deus criou tudo atravs da Palavra, mas a palavra de que fala a narrao do Gnesis no a palavra sensvel, mas o Logos ou Filho de 213 Deus, que coeterno como ele (1b., XI, 7). O Logos ou Filho tem em si as ideias, isto , as formas ou as razes imutveis das coisas que so eternas como eterno ele prprio: e em conformidade com tais formas ou razes so formadas todas as coisas que nascem e morrem (De div. quaest., 83, q; 46). Estas formas ou ideias no constituem, portanto, como queria Plato, um mundo inteligvel, mas a eterna e imutvel Razo, atravs d a qual Deus criou o mundo. Separar o mundo inteligvel de Deus significaria admitir que Deus est privado de razo na criao do mundo ou antes dela (Retract., 1, 3). As ideias divinas so comparadas por Agostinho s razes seminais de que falavam os Estoicos ( 93). A ordem do mundo, que depende da diviso das coisas em gneros e espcies, garantida precisamente pelas razes seminais que, implcitas na mente divina,
determinam, no acto da criao, a diviso e o ordenamento das coisas singulares. Alguns Padres da Igreja, por exemplo Orgenes, consideravam que a criao do mundo era eterna no podendo implicar uma mudana na vontade divina. O problema apresenta-se tambm * Agostinho. "Que coisa fazia Deus antes de criar * cu e a terra"? Poder-se-ia responder ironizando: "Preparava o inferno para quem quer saber demais"; mas seria iludir com uma graa um problema srio. Na realidade, Deus o autor no s daquilo que existe no tempo, mas do prprio tempo. Antes da criao no havia tempo: no havia portanto um "antes" e no tem sentido perguntar-se que coisa fazia Deus "ento". A eternidade est acima de todo o tempo: em Deus nada passado e nada futuro porque o seu ser imutvel e a imutabilidade um presente eterno em que nada passa. Mas o que o tempo? 214 Certamente, a realidade do tempo no nada permanente. O passado tal porque no mais, o futuro tal porque no ainda; e se o presente fosse presente e no se transformasse continuamente em passado, no seria tempo, mas eternidade. No obstante esta fuga do tempo, ns conseguimos medi-lo e falamos de um tempo breve ou longo, quer, passado quer futuro. Como e onde, efectuamos sua medio? Agostinho responde: na alma. Certamente no se pode medir o passado que no mais, ou o futuro que no ainda; mas ns conservamos a memria do passado e estamos espera do futuro. O futuro no ainda, mas existe na alma a espera das coisas futuras; o passado no existe j, mas existe na alma a memria das coisas passadas. O presente est privado de durao e num instante transforma-se, mas dura na alma a ateno s coisas presentes. O tempo encontra na alma a sua realidade: no distender-se (distensio) da vida interior do homem atravs da ateno, da memria e da espera, na continuidade interior da conscincia que conserva dentro de si o passado e tende para o futuro. Partindo procura da realidade objectiva do tempo, Agostinho consegue, no entanto, aclarar a sua subjectividade. Uma vez mais o voltar da conscincia sobre si mesma surge como o mtodo resolutivo de um problema fundamental. 164. SANTO AGOSTINHO: A POLMICA CONTRA O MANIQUEISMO Alcanada a determinao da natureza do pecado, S. Agostinho estava vontade para afrontar o problema do mal no mundo e combater vitoriosamente as afirmaes dos Maniqueu. Aquilo que, segundo S. Agostinho, desmente irrefutavelmente o prprio princpio do maniqueismo o carcter fundamental 215 de Deus: a incorruptibilidade que prpria de Deus na medida em que o prprio Ser. A argumentao do seu amigo Nebridio fazia ver o contraste entre este carcter da divindade e as teses dos Maniqueu. Estes admitiam que Deus devia combater eternamente com o principio do mal. Mas se, o principio do mal pode prejudicar Deus, Deus no incorruptvel porque pode receber uma ofensa. E se no pode ser ofendido, falta algum motivo porque Deus tenha de combater (Conf., VII, -2). Assim o reconhecimento da incorruptibilidade de Deus retira todo o fundamento afirmao maniqueia de um princpio do mal; mas ao mesmo tempo volta a propor em toda a sua urgncia e grandiosidade o problema do mal no mundo. Se Deus o autor de tudo e tambm do homem, donde deriva o mal? Se do mal autor o diabo, donde deriva o prprio diabo? Se o mal depende da matria de que o mundo formado, porque que Deus ao orden-la deixou nela um resduo de mal? Qualquer que seja a soluo a que se recorra, a realidade
do mal contradiz a bondade perfeita de Deus: no resta, pois, mais que negar a realidade do mal, E tal a soluo por que se decide Agostinho. Tudo aquilo que , enquanto , bem. Tambm as coisas corruptveis so boas, dado que se tais no fossem no poderiam, corrompendo-se, perder a sua bondade.. Mas medida que se corrompem, elas no perdem apenas a bondade, mas tambm a realidade; dado que se perdessem a bondade continuando a ser, chegaram a um ponto em que seriam privadas de toda a bondade e, contudo, seriam reais, portanto incorruptveis. Mas incorruptvel Deus e absurdo supor que as coisas, corrompendo-se, se aproximam de Deus. necessrio, pois, admitir que, medida que se corrompem, as coisas perdem a sua realidade, que 216 o mal absoluto o nada absoluto e que o ser e o bem coincidem (Conf., VII, 12 ss). No pode, pois, haver outro mal no mundo seno o pecado e a pena do pecado. Ora o pecado consiste, como se viu, na deficincia da vontade que renuncia ao ser e se entrega ao que inferior. Como no um mal a gua, enquanto, pelo contrrio, um mal o precipitarse voluntariamente na gua, assim nenhuma coisa criada, por humilde que seja, um mal, mas mal entregar-se a ela como se fosse o ser e renunciar por isso ao ser verdadeiro. (De Vera rel., 20). Da tese maniqueia que fazia do mal no apenas unia realidade, mas um princpio substancial do mundo, Santo Agostinho chegou tese oposta: a negao total da realidade ou substancialidade do mal e a sua reduo defeco da vontade humana frente ao ser. O mal no , portanto, realidade nem sempre no homem, dado que defeco, deficincia, renncia, no-deciso, no-escolha; tambm no homem , pois, no-ser e morte. No pecado, Deus que o ser abandona a alma, precisamente como na morte do corpo a alma abandona o corpo (De civ. Dei, XIII, 2). 165. SANTO AGOSTINHO: A POLMICA CONTRA O DONATISMO A segunda grande polmica de Agostinho a que dirige contra o donatismo. Trata-se de uma polmica que levou Agostinho a esclarecer vigorosamente pontos fundamentais da sua construo religiosa. O donatismo (assim chamado de Donato de Casas Negras, um dos seus corifeus), quando Agostinho foi consagrado bispo, estendia-se pela frica romana havia quase um sculo. Era um Movimento cismtico fundado no princpio da abso217 luta intransigncia da igreja frente ao Estado. A Igreja uma comunidade de perfeitos que no devem ter contactos com as autoridades civis. As autoridades religiosas que toleram tais contactos perdem a capacidade de administrar os sacramentos * os fiis devem consider-los traidores e renovar * baptismo e os outros sacramentos recebidos deles. Estas afirmaes dos Donatistas tornavam impossvel toda a hierarquia eclesistica porque davam a qualquer fiel o direito de indagar dos ttulos do seu
superior hierrquico e negar-lhe, quando o julgasse oportuno, obedincia e disciplina. Alm disso. ligando o valor dos sacramentos pureza de vida do ministro, expunham os prprios sacramentos a uma dvida contnua. Estabeleciam finalmente entre a Igreja e o Estado uma anttese que estirilizava a aco da Igreja numa pura negao. Contra o donatismo, Agostinho afirma a validade dos sacramentos independentemente da pessoa que os administra. Cristo que opera directamente atravs do sacerdote e confere eficcia ao sacramento que lhe administra; no podem, portanto, existir dvidas sobre tal eficcia. Alm disso a comunidade dos fiis no pode restringir-se a uma minoria de pessoas que se isolam do resto da humanidade. "0 sangue de Cristo foi o preo do universo, no de uma minoria. S a Igreja que levantou as suas tendas por toda a parte onde h vida civil, testemunha, com a sua existncia, a validade do Evangelho no mundo. E esta Igreja a Igreja de torna." Assim Santo Agostinho via na universalidade da Igreja a demonstrao de facto do valor da mensagem crist e ao mesmo tempo defendia essa universalidade contra a tentativa de a negar e de reduzir * comunidade crist, como queriam os Donatistas, * um conventculo de isolados. 218 166. SANTO AGOSTINHO, A POLMICA CONTRA O PELAGIANISMO A terceira grande polmica agostiniana a que dirige contra o pelagianismo. Foi a polmica que teve maior importncia na formulao da doutrina agostiniana, levando Agostinho a fixar com extraordinria energia e clareza o seu pensamento sobre o problema do livre arbtrio e da graa. O monge ingls Pelgio vivia em Roma nos primeiros anos do sculo V. Ali teve, pela primeira vez, informao sobre a doutrina agostiniana da graa expressa na famosa invocao a Deus: "D aquilo que mandas e manda aquilo que queres" (Da quod jubes et Jube quod vis). Tendo Pelgio ido depois a Cartago com o seu amigo Celestio, na altura em que aproximao dos Godos muitas famlias romanas se refugiavam em frica, as suas crticas ao agostinismo difundiram-se principalmente por obra de Celestio, na prpria grei do bispo Agostinho. O ponto de vista de Pelgio consistia essencialmente em negar que a culpa de Ado tivesse debilitado radicalmente a liberdade originria do homem e, portanto, a sua capacidade de fazer o bem. O pecado de Ado apenas um mau exemplo que pesa, sim, sobre as nossas capacidades e torna mais difcil operar o bem, mas no o toma impossvel e principalmente no priva os homens da possibilidade de reagir e de decidir-se pelo melhor. Para Pelgio, o homem, quer antes do pecado de Ado, quer depois, naturalmente capaz de operar virtuosamente sem necessidade do socorro extraordinrio da graa. Mas esta doutrina levava a considerar intil a obra redentora de Cristo. Se o pecado de Ado no colocou o homem na impossibilidade de salvar-se s com as suas foras, o homem no tem evidentemente necessidade da ajuda sobrenatural que lhe trouxe a encarnao do Verbo, nem tem necessi219 dade, por conseguinte, de fazer-se participe desta ajuda pela obra mediadora da Igreja e dos sacramentos que ela administra.
Frente a uma doutrina que se apresentava to destruidora para a dogmtica crist e a obra da Igreja, Agostinho reagiu energicamente, afirmando que com Ado e em Ado pecou toda a humanidade e que, portanto, o gnero humano uma s "massa condenada" e nenhum membro dela se pode subtrair devida punio a no ser pela misericrdia e pela no devida graa de Deus (De civ. Dei, XIII, 14). E para justificar a transmisso do pecado, Agostinho foi levado a defender, acerca da origem da alma, no o criacionismo (dado que no se pode admitir que Deus crie uma alma condenada), mas o traducianismo pelo qual a alma transmitida de pai a filho atravs da gerao do corpo. O vigor com que Agostinho defendeu estas teses levou-o a no hesitar diante de nenhuma das consequncias. Inclinou-se para um pessimismo radical sobre a natureza e a possibilidade do homem, considerado incapaz de dar o mais pequeno passo no caminho da elevao espiritual e da salvao; e foi levado a insistir no carcter imperscrutvel da escolha divina que predestina alguns homens e condena os outros. Mas por mais que estas concluses paream paradoxais (e a prpria Igreja catlica teve de mitigar-lhes o rigor), no h dvida de que o princpio sobre o qual S. Agostinho as funda tem na sua doutrina um alto valor, de todo independente da polmica antipelagiana. Este princpio a identidade da liberdade humana com a graa divina. A vontade, segundo Agostinho, s livre quando no est escravizada pelo vcio e o pecado; e esta liberdade que s pode ser restituda ao homem pela graa divina (lb., XIV, LQ. O primeiro livre arbtrio, aquele que foi dado a Ado, consistia no poder no pecar. Perdida esta liberdade pelo pecado original, a liber220 dade final, aquela que Deus dar como prmio, consistir no no poder pecar. Esta ltima liberdade -ser dada ao homem como um dom divino, dado que no pertence natureza humana, e tornar esta ltima partcipe da impecabilidade prpria de Deus. Mas pois que a primeira liberdade foi dada ao homem a fim de que ele procure a ltima e completa liberdade, evidente que s esta ltima exprime aquilo que o homem verdadeiramente deve ser e pode ser. O no poder pecar, a libertao total do mal uma possibilidade do homem fundada numa ddiva divina: "0 prprio Deus a nossa possibilidade" diz Agostinho (Sol., 11, 1; De gratia Chr., 25). Estas palavras de Santo Agostinho exprimem a entidade essencial da liberdade e da graa. Aquilo que no homem esforo de libertao, vontade de procurar e amar a Deus , na sua ltima possibilidade, a aco gratificante de Deus. Agostinho no pode admitir, como faziam os pelagianos ou os semipelagianos, uma cooperao do homem com Deus, dado que o homem no est no mesmo plano de Deus. Deus o Ser que lhe d existncia, a Verdade que d lei sua razo, o Amor que o chama a amar. Sem Deus o homem s pode afastar-se do ser, da verdade e do amor, isto , s pode pecar e condenar-se. Por isso ele no possui mritos prprios que faa valer perante Deus. Os mritos do homem no so mais que dons divinos; e o homem deve atribu-los a Deus, no a si (De gratia et libero arbtrio, 6). A iniciativa s pode pertencer a Deus porque Deus como Ser, Verdade e Amor a nica fora do homem. A graa divina revela-se no homem como liberdade, como procura da verdade e do bem, afastamento do erro e do vcio, aspirao impecabilidade final. Verdadeiramente a vontade humana de libertao aco de graa. S. Agostinho concebeu a relao entre Deus 221 e o homem no modo mais intrnseco; e assim reconhece iniciativa divina todos os caracteres positivos do homem. 167. SANTO AGOSTINHO: A CIDADE DE DEUS
A vida do homem singular dominada pela alternativa fundamental: viver segundo a carne ou viver segundo o esprito. A mesma alternativa domina a histria da humanidade. Esta constituda pela luta de duas cidades ou reinos: o reino da carne e o reino do esprito, a cidade terrena ou a cidade do diabo, que a sociedade dos impios, e a cidade celeste ou cidade de Deus que a comunidade dos justos. Estas duas cidades nunca dividem nitidamente o seu campo de aco na histria. Nenhum perodo da histria, nenhuma instituio dominada exclusivamente por uma ou por outra das duas cidades. Elas nunca se identificam com os elementos particulares de que a histria dos homens construda, dado que dependem apenas daquilo que cada homem singular decide ser. "O amor de si levado at ao desprezo de Deus gera a cidade terrena; o amor de Deus levado at ao desprezo de si gera a cidade celeste. Aquela aspira glria dos homens, esta coloca acima de tudo a glria de Deus, testemunhado pela conscincia... Os cidados da cidade terrena so dominados por uma estulta cupidez de predomnio que os induz a subjugar os outros; os cidados da cidade celeste oferecem os seus servios uns aos outros com esprito de caridade e respeitam docilmente os deveres da disciplina social" (De civ. Dei, XIV, 28). Nenhuma marca exterior distingue as duas cidades que esto misturadas desde o comeo da histria humana e o estaro at ao fim dos tempos. S interrogando-se a si 222 prprio, cada um poder averiguar a qual das duas pertence. Toda a histria dos homens no tempo o desenvolvimento destas duas cidades: ela dividese em trs perodos fundamentais. No primeiro os homens vivem sem leis e no h ainda luta contra os bens do mundo; no segundo os homens vivem sob a lei e por isso combatem contra o mundo, mas so vencidos. O terceiro perodo o tempo da graa em que os homens combatem e vencem. Agostinho distingue estes perodos na histria do povo de Israel. Atenas e Roma so julgadas por Santo Agostinho principalmente atravs do politesmo da sua religio. Roma a Babilnia do Ocidente. Na sua origem est um fratricdio, o de Rmulo, que reproduz o fratricdio de Caim do qual nasceu a cidade terrena. A prpria virtude dos cidados de Roma so virtudes aparentes, na realidade so vcios porque a virtude sem Cristo no possvel (1b., XIX, 25). O livro VIII do De Civitate Dei dedicado ao exame da filosofia pag. Agostinho detm-se principalmente em Plato a quem chama "o mais merecidamente famoso dos discpulos de Scrates". Plato reconheceu a espiritualidade e a unidade de Deus, mas nem sequer o glorificou e adorou como tal, antes como os outros filsofos pagos admitiu o culto politesta (lb., VIII, 11). As coincidncias da doutrina platnica com a crist so explicadas por Agostinho com as viagens de Plato ao Oriente durante as quais pde conhecer o contedo dos livros sagrados (1h., VIII, 12). Quanto aos Neoplatnicos viu-se como o prprio Agostinho foi orientado para o cristianismo pelos escritos de Plotino: eles ensinaram a doutrina do Verbo mas no que o Verbo encarnara e se sacrificara pelos homens (Conf., VII, 9). Est" filsofos entreviram, sem dvida, ainda que de maneira obscura, o fim do 223 homem, a sua ptria celeste, mas no puderam ensinar-lhe o caminho que o assinalado pelo apstolo Joo: a encarnao do Verbo (De civ. Dei, X, 29). NOTA BIBLIOGRFICA 157. A principal fonte para a vida de Santo Agostinho so as Confisses em 13 livros dos
quais s tm carcter autobiogrfico os primeiros 10. Sobre a converso de S. Agostinho ver especialmente: TruMME, Augustins geistige Entwickelung in den ersten Jahren nach seiner "Bekehrung", Berlim, 1908; ALFARIE, L'volution intellectuelle de Saint-Augustin, Paris, 1918. Bibliografia completa sobre o tema no artigo Augustin de PoRTALi no "Dictionnalre de Thologie catholique". Ver tambm: BUONAIUTI, II Cristianesimo nell'Africa romana, Bari, 1928, p. 341 ss; PINCHERLE, SantIAgostino vescovo e teologo, Bari, 1930. 158. As obras de Santo Agostinho em MIGNE, P. L., 32.1-47.1; no Corpus seript. ecel. lat. da Academia de Viena; e no Corpus Christianorum, Srie latina, Turnhout-Paris. Alm disso: Confisses, ed. Skutella, Leipzig, 1934; De civitate Dei, ed. Dombart-Kalb, Leipzig, 1928-29; Retractiones, ed. Ynoll, no Corpus de Viena. O melhor estudo de conjunto sobre Santo Agostinho GILSON, Introduction I'tude de Saint-Augustin, Paris, 1943. Alm disso: DE PLINVAL, Pour connaitre Ia pense religieuse de Saint-Augustin, Paris, 1954; MARRou, Saint-Augustin et Ilaugustinisme, Paris, 1955. 159. Sobre as relaes entre a razo e a f em Santo Agostinho: GRABMANN, Die Geschichte der scholastichen Methode, 1, 1909, p. 125-143. 161. Sobre o conceito de verdade: BoyEn, Llide de vrit dans Ia philosophie de SaintAugustin, Paris, 1921; GUZZ0, Dai "Contra academicos" ai "De vera religione", Florena, 1925. 162. Sobre as doutrinas morais: ROLAND-GosSELIN, Lcs morale de St.-Augustin, Paris, 1925. 224 163. Sobre a doutrina das razes seminais: WIE=, Geschichte der Lehre von den Koimekrften, 1914, p. 108-224. 164. Sobre o maniqueismo: CUMONT, Recherches sur le manichisme, Bruxelas, 1908. 165. Sobre o donatismo: BATTIFOL, Le catholicisme de Saint-Augustin, Paris, 1920; BONAIUTI, Op. cit., p. 292 ss. 166. Sobre a luta antipelagiana: DuCHESNE, Histoire ancienne de Iglise, Paris, 1910; BONAlUTI, La genesi della dottrina agostiniana intorno al pecato originale, Roma, 1916; Guzzo, Agostinho contra Pelagio, 2.1 ed., Turim, 1934; BU0NAlUTI, Il Cristianismo ne111 Africa romana, p. 361 ss. Sobre a cidade de Deus: SCHOLZ, Glaube und Unglaube in der Weltgeschichte, 1911; TROELTSCH, Augustin, die chrL,@tliche Antcke und das Mittelalter, Mnaco, 1915. 225 v A LTIMA PATRSTICA
168. DECADNCIA DA PATRSTICA A partir dos meados do sculo V a patrstica perde toda a vitalidade especulativa. No Oriente, a sua actividade sobrevive nas disputas teolgicas que, contudo, passam cada vez mais para o servio da poltica eclesistica e perdem portanto todo o valor filosfico. No Ocidente, a civilizao romana rompeu-se sob os golpes dos brbaros e no se formou ainda a nova civilizao europeia. O letargo do pensamento filosfico , na realidade, o letargo da civilizao europeia. A cultura vive a expensas do passado. O poder do criao diminuiu; permanece a actividade erudita que se reduz compilao dos estratos ou dos comentrios e parte de uma renncia prvia a qualquer investigao original. No Ocidente permanece, todavia, um ncleo de interesse laico pelas sete artes liberais, o trivio (gramtica, retrica, dialctica) e o quadrivio (aritmtica, geometria, astronomia, msica). O contedo deste interesse manifesta-se em poucas obras que 227 compendiam na forma mais genrica a sabedoria da Antiguidade: a Histria Natural de Plnio o Velho, o De officiis de Ccero, a Farslia de Lucano e a Consolao da filosofia de Bocio. Devido a estas obras salva-se a tradio humanstica que caracterstica e que conduzir ao florescimento do sculo XIII. 169. ESCRITORES GREGOS Mais prximo do Neoplatonismo do que do cristianismo est, mesmo depois da converso, Sinsio de Cirena, nascido entre 370 e 375 e falecido por volta de 413. Fora discpulo da neoplatnica Hipzia ( 125) com a qual manteve relaes amigveis mesmo depois. Em 409 foi nomeado bispo de Ptolomaida com a condio de renunciar mulher e s suas convices filosficas. Algumas obras suas no mostram sinais do cristianismo. Tais so: os discursos sobre o poder real; o escrito sobre o dom do astrolbio, as narraes egpcias ou sobre a providncia; o elogio da calvcie, stira aos Sofistas que falam sem tom nem som; a apologia de Dion Crisstomo; um escrito sobre os santos. Tm carcter mais estritamente cristo numerosas cartas, duas homilias, duas oraes e alguns hinos. Sinsio considera Deus neoplatonicamente como a unidade da unidade e nega a ressurreio da carne e o fim do mundo. Bastante prximo do neoplatonismo est tambm Nemsio que foi bispo de Emessa na Fencia e comps, no final do sculo IV ou princpio do sculo V, um escrito Sobre a Natureza do Homem, que se difundiu na Idade Mdia atravs da verso latina feita no sculo XI provavelmente por Alfano (1058-1085), arcebispo de Salerno. O homem , segundo Nemsio, o trao de unio entre o mundo sensvel e o mundo supra-sensvel: pelo esprito par228 tence ao mundo supra-sensvel, isto , ao mundo dos seres espirituais ou anjos; pelo corpo pertence ao mundo sensvel. Por isso o primeiro homem no foi criado imortal nem mortal; podia tornar-se uma ou outra coisa e cabia a ele escolher uma ou outra alternativa. Transgredindo o mandado divino, torna-se mortal; mas pode de novo, retornando a Deus, participar da imortalidade (De nat. hum., 1). Nemsio aceita a definio aristotlica da alma como "entelquia de um corpo fsico que tem a vida em potncia". Como tal a alma
uma substncia imaterial e incorprea que subsiste por si e no , portanto, gerada no corpo ou com o corpo. A sua unio com o corpo no uma mistura de substncias mas uma relao pela qual a alma est toda presente em todas as partes do corpo e o vivifica do mesmo modo que o sol ilumina com a sua presena o ar (1b., 3). A alma est dotada de livre arbtrio porque a sua natureza racional. Quem pensa pode tambm reflectir e quem reflecte deve tambm poder escolher livremente (1b., 41). Foge liberdade humana aquilo que foge reflexo: a sade, as doenas, a -morte e assim sucessivamente (1b., 40). Quando as escolas retricas do mundo grego se aproximavam j da runa, tiveram um breve florescimento as escolas da cidade sria de Gaza. Entre os mestres desta escola dois tm um certo relevo e figuram como apologetas do cristianismo. Um Procpio, cuja vida decorre entre 465 e 528, que foi autor dos comentrios do Velho Testamento; o outro Encias que viveu no mesmo tempo e que deve a sua celebridade na Idade Mdia ao dilogo Teofrasto ou sobre a imortalidade da alma e sobre a ressurreio do corpo, composto antes de 534. O escrito dirigido contra a doutrina da pr-existncia da alma e da sua transmigrao. As almas no existem antes da sua unio com o corpo, mas 229 so criadas por Deus no momento desta unio. Deus criou todas as inteligncias incorpreas de uma vez, mas cria diariamente as almas dos homens. Na mesma linha de pensamento navega o irmo de Eneias, Zacarias, que foi bispo de Mitilene, dito o escolstico (isto , o retrico) e morto antes de 533. Zacarias autor de um dilogo intitulado Ammonio, destinado a combater a doutrina da eternidade do mundo. notvel o facto de que, para negar a eternidade, Zacarias negue a necessidade do mundo, procedimento que seguem todas as crticas do gnero que viro depois. O mundo foi criado pela vontade de Deus, por isso no o efeito necessrio da natureza divina e no coeterno com Deus. objeco de que se Deus no tivesse criado o mundo ab aeterno, no seria o eterno criador e feitor do bem, Zacarias responde que Deus tem em si, desde a eternidade, a ideia do mundo e de todas as coisas que o compem e tambm a potncia e a vontade de cri-lo. Um construtor sempre construtor, mesmo no momento em que no construa nada e um retrico sempre tal mesmo se nem sempre pronuncia discursos. Contra a eternidade do mundo escreveu tambm uma obra o gramtico alexandrino Joo, dito Filipono pela sua incansvel actividade. tambm autor de uma obra teolgica intitulada rbitro ou sobre a Unidade, de uma outra, Sobre a Ressurreio do Corpo e de um comentrio narrao bblica da criao, intitulado Sobre a Construo do Mundo. Este ltimo e o escrito Sobre a Eternidade conservaram-se; das outras duas obras temos fragmentos conservados pelo seu adversrio Lencio de Bizncio e Joo Damasceno. Joo Filipono entendia por natureza a essncia comum dos indivduos e por hipostasis ou pessoa a mesma natureza circunscrita existncia singular de determinadas qualidades. Flor isso entendia a unidade de substncia 230 em Deus como a natureza comum das trs hipstasis e fazia assim, das trs pessoas divinas, trs existncias particulares, isto , trs divindades. Ao lado desde tridesmo (que, por outro lado, teve neste perodo, como no precedente, numerosos defensores) Joo admitia o monofisismo no que respeita encarnao. No podem subsistir duas naturezas numa nica hipstasis: na pessoa de Cristo no pode, portanto, subsistir seno a natureza divina. O pressuposto destas interpretaes dogmticas a lgica aristotlica, qual Joo dedicara um comentrio: de facto o significado de natureza e de hipstasis tirado de
Aristteles. curioso notar que quando a lgica aristotlica for de novo empregada, por aco de Roscelino de Compigne, na interpretao do dogma da trindade, chegar-se- mesma concluso trideIstica. Ao tempo de Justiniano pertence Lencio de Bizncio que viveu entre 475 e 543 aproximadamente, autor de trs livros contra os Nestorianos o os Eutriquianos e de dois escritos contra Severo, o patriarca monofisita de Antioquia. O fundamento das interpretaes dogmticas de Lencio a lgica aristotlica filtrada atravs dos escritos dos Neoplatnicos. Para salvar a interpretao ortodoxa do dogma da encarnao, segundo o qual na nica pessoa de Cristo subsistem as duas naturezas, humana e divina, e para manter firme conjuntamente o princpio aristotlico de que cada natureza no pode subsistir seno numa nica hipstasis, Lencio introduz o conceito de etpostasi, isto , de uma natureza que subsista, no numa hipstasis prpria, mas na hipstasis de uma outra natureza. Tal o caso da natureza humana de Cristo, a qual no tem uma hipstasis sua mas subsiste na hipstasis prpria da sua natureza divina. Mas nem nesta doutrina, que se encontra j em Cirilo, o mximo antagonista dos monofisitas, nem nas 231 outras, Lencio atinge uma verdadeira originalidade de pensamento. 170. PSEUDO-DIONSIO O AEROPAGITA Pelos princpios do sculo VI comeam a ser conhecidos e citados alguns escritos cujo autor se qualifica como Dionsio, aquele que, segundo os Actos dos Apstolos (XVII, 34), foi convertido ao cristianismo pela prdica do apstolo Paulo diante do Aerpago. Motivos internos e externos demonstram que tais escritos no podem remontar para l do fim do sculo V e que, portanto, a sua atribuio a Dionsio impossvel. Na verdade, a fonte principal destes escritos o neoplatnico Proclo (418-485), de quem o autor nalguns pontos inclui estratos textuais. Como Proelo, Dionsio distingue uma teologia afirmativa, a qual, partindo de Deus, se dirige para o finito com a determinao dos atributos ou nomes de Deus e uma teologia negativa, a qual procede do finito para Deus e o considera acima de todos os predicados ou nomes com que podemos design-lo. A este segundo tipo de teologia pertence o breve tratado Teologia Mstica, segundo o qual o mais alto conhecimento o no saber mstico: s prescindindo de toda a determinao de Deus, se compreende Deus no seu ser em si. No tratado Sobre os Nomes Divinos, Dionsio insiste na impossibilidade de designar adequadamente a natureza de Deus. Ainda que seja a unidade absoluta e o bem supremo de que todas as coisas participam e sem o qual no poderiam ser, Deus superior prpria unidade tal como concebida por ns: o Uno super-essencial, que causa e princpio de todo o nmero e de toda a ordem. Elo no pode ser designado verdadeiramente nem como unidade, nem como trindade, nem como nmero, 232 nem como qualquer outro termo de que nos servimos para as coisas finitas. O prprio -nome de Bem, que o mais alto de todos, inadequado para a altura da perfeio divina. A emanao das coisas por Deus, que tem em si as ideias ou modelos de toda a realidade, compreendida por Dionsio como criao. O mundo no um estdio do desenvolvimento de Deus, mas um produto da vontade divina. Contudo os seres do mundo s o todos
manifestaes ou smbolos de Deus e por isso a sua considerao permite ao homem ascender a Deus e refazer assim no inverso o caminho da criao. Nos dois tratados Sobre a Jerarquia Celeste e Sobre a Jerarquia Eclesistica, Dionsio coloca Deus no centro das esferas em que se ordenam todas as coisas criadas. Mais prximas dele esto as criaturas mais perfeitas, enquanto nas esferas perifricas esto situadas as criaturas menos perfeitas. A hierarquia celeste constituda pelos anjos que se distribuem em 9 ordens reunidas em disposies ternrias. A primeira a dos Tronos, dos Querubins e dos Serafins; a segunda a das Potestades, das Dominaes e das Virtudes; a terceira a dos Anjos, dos Arcanjos e dos Principados (De celesti hier., 6 ss). hierarquia celeste corresponde a eclesistica, disposta tambm em trs ordens. A primeira constituda pelos Mistrios: Baptismo, Eucaristia, Ordens sacras. A segunda constituda pelos rgos que administram os mistrios: o Bispo, o Padre, o Dicono. A terceira constituda por aqueles que atravs destes rgos so conduzidos graa divina: Catecmenos, Energmenos e Penitentes. O termo da vida hierrquica a deificao, a transfigurao do homem em Deus. S se consegue atravs da ascenso mstica e o seu cume o no saber mstico, a muda contemplao do Uno. Os livros de Dionsio seguem a direco neoplatnica, adaptando-a o melhor possvel s exign233 cias crists, mas servindo-se contudo da terminologia dos mistrios, em que se comprazia o neoplatonismo. Traduzidos por Joo Ergena, tiveram na Idade Mdia uma difuso largussima e constituram o fundamento da mstica e da angeologia medieval. 171. MXIMO CONFESSOR. JOO DAMASCENO Nos escritos do falso Dionsio se inspira Mximo, dito o Confessor, nascido em Constantinopla em 580, falecido em 622. Foi o maior adversrio do chamado monoteletismo segundo o qual todos os actos de Cristo dependeriam da sua vontade divina, da qual a natureza humana seria o instrumento passivo. Esta doutrina foi depois condenada no VI Conclio Ecumnico de 680; mas a luta contra ela custou a Mximo perseguies e suplcios. Contudo, escreveu numerosas obras quase todas na forma de comentrios ou de recolhas de sentenas. Entre essas obras esto os comentrios ao Pseudo-Dionsio e a Gregrio Nazianceno (Ambgua in S. Gregorium theologum), opsculos teolgicos e vrias recolhas ou florilgios de sentenas. Segundo S. Mximo, o homem pode conhecer Deus no em si prprio mas apenas atravs das coisas criadas de que Deus a causa. Por isso s pode chegar a determinar os atributos de Deus que as prprias coisas revelam: a eternidade, a infinidade, a bondade, a sabedoria e assim sucessivamente. No seu ser em si, Deus inconcebvel e inexprimvel. As prprias perfeies que ns lhes atribumos, fundadas na considerao das coisas criadas, esto abaixo da sua natureza e podem, por isso, ser quer negadas quer afirmadas dele. A influncia da teologia negativa do Pseudo-Dionsio aqui evidente. E tambm evidente na doutrina mstica de S. Mximo. Se voltarmos as costas s paixes 234 que contrastam com a razo e nos elevarmos ao perfeito amor de Deus, podemos conseguir um conhecimento de Deus que transcende a razo e o procedimento discursivo e no qual Deus se revela imediatamente. Mas a este conhecimento de Deus no se pode chegar com a capacidade da natureza humana, mas merc da graa divina, a qual, todavia, no age por si
s, mas eleva e aperfeioa as capacidades que so prprias do homem (Quaest. ad Thalassium, q. 59). O centro das especulaes teolgicas de S. Mximo o Deus-Homem. Para ele o Logos a razo e o fim ltimo de todo o criado. A histria do mundo efectua um duplo processo: o da encarnao de Deus e o da divinizao do homem. Este ltimo s se Pde iniciar com a encarnao e com o f@n de restabelecer no homem a imagem de Deus. Como princpio deste segundo processo, Cristo devia necessariamente ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem. As duas naturezas nele no se misturam nem rompem a unidade da pessoa e dado que a cada uma das duas naturezas est unida a capacidade de querer, em Cristo subsistiam duas vontades, a divina e a humana, mas a vontade humana era levada deciso e aco pela vontade divina (Patr. Grec., 91.*, col. 48). Joo Damasceno resume as caractersticas do ltimo perodo da patrstica e conclui a prpria patrstica no seu ramo oriental, retomando e sistematizando os resultados. No se conhece o ano do seu nascimento. Sabe-se que pertencia a uma famlia crist do Damasco na qual era hereditrio de pai para filho um ofcio pblico por conta do governo rabe; e Joo tinha de facto o nome rabe de Mansur. Por volta de 730 comea a sua actividade de escritor teolgico a favor do culto das imagens que fora proibido alguns anos antes por Leo o Isurico. Quando Joo foi condenado em 754 por um conclio iconoclasta de Constantinopla, havia j falecido. 235 a Fonte do ConheA mais famosa das suas Obras primeira Ciniento, que se divide em trs partes. A ,uma introduo filosfica que segue de perto parte a lgica de Aristteles. A segunda a metafsica e mosta em boa parte urna histria das heresias, COIr sobre o Panrio 'de Epifnio (@ 154). A terceira dedicada exposio da f Ortodoxa e com este @e (De fide ortodoxa) foi traduzida ttulo precisamente ndione de Pisa (falecido em 1194) para latim por Burgu ndamentais da escolsticae tornou-se um dos textos fu de urna A obra de Joo Damasceno no passa compilao sendo a parte original escassissima. Mas tom o mrito de recolher e reordenar sistematicamente toda a especulao da patrstica grega que a Igreja reconheceu e fez sua. A sua obra , portanto, uma espcie de florilgio da prpria patrstica, unificada pelo critrio da ortodoxia. Joo fixa o principio da subordinao das cincias profanas teologia e afirma designadamente que a filosofia deve ser a serva da teologia segundo uma expresso que devia, ser retomada n@ escolstica por Pedro Damio. Como serva da teologia, a filosofia fornece certos pressupostos fundamentais da f e em primeiro lugar a demonstrao da existncia de Deus. A demonstrao retirada por Joo de outros esmitores, mas a formulao que ele lhe d aquela de que partiram muitos escolsticos, entre eles S. Toms. Em primeiro lugar, tudo aquilo que criado mutvel, dado que a prpria criao mudana (do nada ao ser). Mas tudo aquilo que existe no mundo sensvel ou espiritual mutvel, portanto criado: supe, portanto, um criador, que no seja criado por sua vez mas incriado; e este Deus. Em segundo lugar, a conservao e a durao das coisas supem a existncia de Deus, dado que elementos diversos e
contrastantes como o fogo, a gua, a terra, o ar no poderiam permanecer unidos sem destruir-se se no interviesse uma fora omnipotente para mant-los e conserv-los juntos; 236 esta fora omnipotente Deus- Finalmente, a ordem e a harmonia do mundo no podem ser produzidos pelo puro acaso e pressupeM um principio ordenador que Deus (De fide orthod., 1, 3), Mas se a existncia de Deus pode ser alcanada pela razo humana, a sua essncia incompreensvel. "A divindade, diz joo (Ib., 1, 4), indeterminvel e incOmpode ser compreendido dela, a preensivel; e s isto preensibilidade". sua indeterminabilidade e incOM trasta com a sua Podemos negar dela tudo o que con r-lhe tudo aquilo ao infinita e podemos atribui perfei~ inho que est implcito em tal perfeio; mas o cairi -guro o negativo porque todo O atributo mais se positivo desigual a Deus. Trata-se, como sc v, de noes familiares a toda a patrstica oriental, que masceno reproduz com as mesmas frmulas. COM Da ureza da alma igual procedimento aborda a nat humana que considera naturalmente imortal, porque o das substncias incorpreas e pertence ao nmer dotada. de livre, arbtrio. Isto negado pela prescincia divina, que tudo Prev 'a' no predetermina tudo: o mal depende unicamente do livre querer do homem (Ib., 11, 30). 172. ESCRITORES LATINOS Os escritores latinos da ltima patrstica caminham sobre os passos de S. Agostinho e manifestam a mesma falta de originalidade especulativa dos seus contemporneos gregos e a mesma tendncia para expor, coordenar e sistematizar doutrinas j conhecidas. o iniciador do semipelagianismo foi JO" Cassiano, nascido por volta do ano 360 na Glia em 435, autor de um escrito sobre ,meridional, falecido regras dos mosteiros e de unia a organizao e as tiones, que a rela0o dos colobra intitulada Colla 237 quios travados por ele e seu amigo Germano com eremitas egpcios. Precisamente nesta obra, Cassiano considera a tese de que Deus ilumina e refora a boa vontade que nasce no homem, mas que esta vontade tem origem apenas no esforo humano. Se o querer bem no basta ao homem, quando no socorrido pela graa divina, todavia esta graa s dada quele que tem boa vontade. A tese de Cassiano difundiu-se largamente nos no espirituais e
mosteiros do Sul da Glia. Claudino Mamerto, que foi padre em Viena no Delfinado e morreu por volta de 474, autor de um escrito em trs livros, De statu anin2ac, composto em 468 ou 469, no qual se defende a incorporeidade da alma humana. impossvel que a ffima caia sob a categoria da quantidade, que prpria do corpo, dado que o seu poder, memria, razo, vontade esto privados de quantidade, portanto so incorpreos. Ora estas faculdades da alma so a sua prpria substncia, dado que toda a alma razo, vontade, memria; segue-se daqui que toda a alma est privada de quantidade e incorprea (De statu an., 111, 4). A alma a vida do corpo e est, portanto, presente em todas as partes do corpo; mas est presente num modo que exclui a sua distribuio espacial porque est toda em todo o corpo e toda em cada parte singular do corpo. A sua presena no corpo idntica de Deus no mundo. Portanto, a alma tem a mesma incorporeidade de Deus. Trata-se de um resumo da demonstrao agostiniana da imaterialidade da alma. Por volta de 430, Marciano Capela compunha o seu escrito De ni,Ptiis Mercurii et Philologiae, um prospecto de todas as artes liberais, que subsistiu como um dos textos fundamentais da erudio medieval. Mas a quem se deve a sobrevivncia de uma parte notvel da filosofia grega na Idade Mdia a neio Mnho Torquato Severino Bocio, nascido 238 em Roma por volta de 480, cnsul de Roma sob o rei Teodorico, depois cado em desgraa deste, encarcerado e morto em 524. Bocio empreendeu a tarefa de traduzir e interpretar todas as obras de Plato o de Aristteles e de demonstrar o seu acordo fundamental, mas s em pequena parte conseguiu realizar este vasto projecto. Possumos as verses dos Analticos 1 e 11, dos Tpicos (de que se perdeu um comentrio), dos Elencos Sofsticos e do De interpretatione com dois comentrios, das Categorias com um comentrio. Temos, alm disso, o comentrio verso de Mrio Vitorino do Isagogo de Porfrio, a sua verso do Isagogo com um comentrio e outros trabalhos de lgica, Entre estes ltimos so importantes os do silogismo hipottico dado que neles Bocio, seguindo o prprio exemplo dos Aristotlicos, insere a lgica estoica no tronco da lgica aristotlica; e foi por estes escritos e pelos de Ccero que os escritores medievais tiveram conhecimento da lgica estoica. Mas a obra mais famosa de Bocio o De consolatione philosophiae, que tambm pouco original porque resulta da utilizao de vrias fontes entro as quais o Protrptico de Aristteles, conhecido talvez atravs de algum escrito mais recente que o reproduzia. A obra est redigida em forma retrica o alegrica e a filosofia apresentada na figura de uma nobre dama que conforta Bocio e responde s suas dvidas. Nada de especificamente cristo se encontra na obra e assim no faltou quem, em tempos recentes, acreditasse que Bocio era pago, ou ento cristo s de nome, e que portanto fossem apcrifos os opsculos teolgicos que nos chegaram dele (De Sancta Trinitate; Utrum Pater et Filius et Spirictus Santus de divinitate substantialiter praedicentur; Quomodo substantiae in eo quod sint bonae sint; De fide; Liber contra Nestorium et Eutychen). Mas a autenticidade destes escritos, com excepo do
239 De fide, est comprovada, no s pelo testemunho dos cdices, como pelo do contemporneo de Bocio, Cassiodoro, e portanto no pode ser posta em dvida. Alm disso, se o De consolatione no tem qualquer referncia aos mistrios do cristianismo, est impregnado por aquele esprito platnico ou neoplatnico que os escritores da patrstica consideram substancialmente cristo. As tradues e os escritos lgicos de Bocio asseguraram a sobrevivncia da lgica aristotlica mesmo no perodo da maior obscuridade medieval e fizeram dela um elemento fundamental da cultura e do ensino medieval. Quanto De consolatione, est entre as obras mais famosas da Idade Mdia. Divide-se em 5 livros e mista em verso e prosa. O primeiro livro uma esp cie de introduo na qual a filosofia se apresenta a Bocio na forma de augusta matrona que vem trazer-lhe conforto na triste condio em que se encontra, no por sua culpa, mas por ter querido seguir a verdade e a justia. No segundo livro, a filosofia faz ver a Bocio que a felicidade no consiste nos bens da fortuna, que so mutveis e caducos e que, mesmo quando se possuem, trazem consigo o perigo e o temor da sua perda. A felicidade deve consistir numa condio que exclua qualquer temor deste gnero e compreenda em si todos os bens que tornam o homem suficiente por si prprio. O terceiro livro contm, precisamente, a teoria da felicidade assim compreendida. evidente que no pode consistir nem na riqueza, nem no poder, nem nas honras, nem na glria, nem nos prazeres. Nenhum destes o bem supremo, o bem melhor de todos e que torna o homem auto-suficiente. Defende pois que a felicidade consiste no prprio Deus, enquanto o ser de que no se pode conceber melhor, portanto o bem supremo. Deus conjuntamente a origem de todas as coisas e o fundamento da verdadeira felicidade humana (111, 10). O quarto livro examina em que 240 S. GREGRIO MAGNO o mundo e modo Deus, como supremo bem, rege expe uma teoria da providncia e do fado. A proVidncia o plano da ordem e da disposio do mundo na inteligncia divina; o fado a prpria ordem que por aquele plano vem a ser determinada no mundo. "A providncia a prpria razo (ratio) divina que, constituda como supremo Princpio de tudo, dispe todas as coisas; o fado a disposio inerente s coisas mutveis, disposio pela qual a Providncia assinala a cada coisa a sua ordem prpria" (IV, 6). A ordem do fado, na multiplicidade dos seus desenvolvimentos temporais, depende pois da prpria razo de Deus. Os problemas que nascem deste conceito da Providncia e do fado so examinados no quinto livro. A Providncia e o fado parecem excluir primeira vista a liberdade, mas em tal caso seria intil para o homem a razo que serve para julgar e escolher livremente. A resposta da filosofia ao problema que, se Deus prev tudo, no prev que tudo acontea com necessidade. A previso de um acontecimento no implica que o acontecimento se deva realizar necessariamente. Alm disso, em Deus a previso inerente natureza da sua vida, que uma eternidade privada de qualquer sucesso. Nele no existe nem o passado nem o futuro e a sua cincia o conhecimento total e simultneo de todos os acontecimentos que se verificam sucessivamente no tempo (V, 6). Nele esto presentes tambm os acontecimentos futuros, mas esto presentes no mesmo modo do seu acontecimento; e aqueles que dependem do livre arbtrio esto presentes precisamente na sua contingncia (V, 6). A importncia de Bocio para a cultura medieval foi enorme. A De consolatione teve numerosssimos comentrios, as obras lgicas introduziram a lgica aristotlica (como se
disse) no ensino e na cultura escolstica. Os seus opsculos teolgicos forneceram s discusses teolgicas medievais os conceitos, a terminologia e o mtodo. Com 241 tudo isto, Bocio no assume o lugar de pensador original. um hbil compilador e uni retricO CIOadaptar lngua e mentalidade quente que soube seguindo a sombra de latina a especulao grega, S. Agostinho de quem tomou a divisa: unir, nos limites do possvel, f e razo, Contemporneo e amigo de Bocio mas de tmpera diferente foi Magno Aurlio Cassiodoro, nascido cerca de 477 em Squillace na Calbria, ministro de Teodorico e dos seus sucessores. Em 540 abandonou a corte e retirou-se para o mosteiro de Vivario que fundara, para se dedicar vida espiritual e cincia. Morreu em 570. De Cassiodoro tm grande interesse histrico as cartas que escreveu por conta de Teo(10rico, cuja recolha leva o nome@de Variae, e a Histria dos godos de que s nos chegou um estrato A obra mais importante, que escreveu no claustro, so as Istitutiones divinarum et saecularium lectiOnum em dois livros: o primeiro indica os autores que so estudados Corno guias das disciplinas teolgicas; o segundo uni manual das sete artes liberais. A obra devia servir aos monges e foi na Idade Mdia um dos manuais mais usados. Num breve escrito, De a?ma, Cassiodoro prope-se demonstrar, nas pegadas de Claudiano Mamerto, a incorporeidade da alma humana. O escrito reproduz os argumentos de Mamerto que, por sua vez, como se viu, foram retirados de S. Agostinho. A ltima figura da patrstica verdadeiramente O papa Gregrio Magno, nascido em Roma provavelmente em 540, consagrado pontifico em 590, falecido em 604. Documento da actividade papal de Gregrio o Registrum epistolarum, coleco das suas cartas Oficiais. O Uber regulae pastoralis estabelece a misso do pastor de almas. Os Dilogos tratam da vida e dos mil@gres dos diferentes homens pios de Itlia, o mais conhecido dos quais S. Bento de Nrcia. Gregrio escreveu tambm uma exposio do livro de Job e 242 duas colectnias de homilias sobre os Evangelhos e sobro Ezequiel. A parte especulativa de todos estes escritos muito restrita. A importncia de Gregrio est toda no ter procurado conservar, num perodo de decadncia total da cultura, as conquistas dos sculos passados. O tempo em que vivia parecia ter levado destruio total da cultura e de to-da a civilizao e prenunciar o fim do mundo. "As cidades esto despovoadas, escrevia Gregrio (Dial., 111, 38), as aldeias arrasadas, as igrejas queimadas, os mosteiros dos homens e das mulheres destruidos, os campos abandonados pelos homens esto privados de quem os cultive, a terra est deserta na solido e nenhum proprietrio a habita, as bestas ocuparam os lugares onde antes se aglomeravam os homens. No sei o que acontece nas outras partes
do mundo. Mas na terra em que vivemos, o fim do mundo no s se anuncia, mas j se mostra em acto". A desolao de uma civilizao quebrada e despodaada no se podia descrever melhor. Nesta desolao, a cultura mantm-se viva apenas nalguma figura solitria de erudito que a atinge nas obras do passado e a transmite em rudes e desordenados compndios. Assim Isidoro de Sevilha, nascido cerca de 570 e falecido em 636, comps uma srie de obras que deviam servir s escolas abaciais e episcopais onde se formavam os clrigos. Estas obras tm um carcter de pura compilao: so justapostas noes heterogneas sem sequer uma tentativa de unificao. No De natu@a rerum Isidoro expe a astronomia e a medicina tiradas das Questioni naturali de Sneca. No De ordine creaturarum descreve a hierarquia dos seres esprituai,s, segundo o modelo neoplatnico. Nas Sententiae faz a histria da humanidade desde a criao e trata da graa, das condies da vida terrestre do homem e de direito natural. A obra mais clebre so os 20 livros de Origini ou Etimologias, uma espcie de enciclopdia, onde est condensado todo o saber do 243 passado, das artes liberais agricultura e s outras artes manuais. Grande parte desta enciclopdia destinada a investigaes gramaticais, mas no se descura aquilo que pode ser til a uma educao filosfico-teolgica. H entremeados estratos retirados das obras de escritores clssicos e dos padres da Igreja, em particular de Gregrio Magno. A filosofia definida com os Estoicos como "a cincia das coisas humanas e divinas" e dividida em fsica, tica e lgica. Atravs da obra de Isidoro, de Sevilha os resultados da cincia antiga eram salvos do naufrgio e destinados a alimentar o trabalho intelectual dos sculos seguintes. A mesma natureza tm os escritos de Boda o Venervel, nascido em 674 em Inglaterra, morto em 735 no claustro de Jarrow. Boda forneceu ao catolicismo ingls o mesmo arsenal intelectual que Isidoro forneceu ao espanhol. O seu De natura rerum, baseado principalmente na obra de Plnio o Velho, d-nos a mesma imagem do mundo que o tratado homnimo de Isidoro. Boda tambm autor de escritos gramaticais e cronolgicos e de uma Histria eclesistica da gente dos Anglos que vai at 731. Do ponto de vista filosfico, Boda inspira-se nas obras de S. Agostinho. Em particular considera que a matria do mundo contm as sementes de todas as coisas e que delas, como de causas primordiais, se desenvolvem no curso do tempo todos os seres do mundo. O homem um microcosmo; a histria divide-se em partes correspondentes aos sete dias da criao. Boda um outro anel da cadeia atravs da qual a cultura antiga se transmite Idade Mdia. NOTA BIBLIOGRFICA 168. Sobre a histria deste perodo: DAWSON, Les origines de I'Europe, Paris, 1934. Sobre os escritores gregos deste perodo: KRUMBACHER, Geschichte der byzantinische Literatur, 2.1 edio, 1897. 244
169. Os escritos de Sinsio in P. G.@ 66.o; de Nemsio in P. G.@ 40.o9 504-817 (traduo latina do De natura hominis -a cargo de Holzinger, Leipzig, 1887); de Procpio de Gaza in P. G., 87.1 p. I-III; de Eneias de Gaza e de Zacarias Escolstico in P. G.@ 85.% 871-1004; de Joo FilipGno, edio teubneriana do De mundi aeternitate, a cargo de Rabe, 1899, e do De opificio mundi, a cargo de Reichardt, Leipzig, 1897; de Lencio de Bizncio in P. G., 86.o, p. I-U. - JAEGFR, Nemesios von Nemesa, Berlim, 1914. 170. As obras do falso Dionsio in P. G.@ 3.o-4.o. Sobre o carcter pseudo-epigrfico dos escritos: STIGLMAYR in "Hist. Jahrb.", 1895, 253-273, 721-748; KOCH, in "Theal. QuartaIschr.", 1895, 353-420, 1896, 290-298; Forschungen zur christ. Litteratur-und Dogmengeschichte, 1, 2-3, Mogncia, 1900. Sobre a doutrina de Dionsio: M-ULLER, nos "Beitrge" do Baeumker, XX, 3-4; RoQuEs, LIunivers dionysien. Structure hirarchique du monde selon le Pseudo-Denys, Paris, 1954 (com bibl.). 171. Os escritos de Mximo Confessor in P. G., 90.---91.1; de Joo Damasceno in P. G., 94.o-96.,. Sobre Joo Damasceno: PRANTL, Gesch. der Logik, 1, 657-658; GRABMANN, Gesch. der scholast. Methode, 1, 108-113; 11, 93 ss., 389 ss. 172. Os escritos de Cassiano in P. L., 49.o-50.* e no Corpus de Viena, 13., e 17.1; os de Mamerto in P. L., 53.,, 697-780 e no Corpus de Viena, 11.1. o escrito de Marciano Capella, ed. Eyssenhardt, 1866. As obras de Bocio in P. L.@ 63.---64.o e no Corpus de Viena, 48.o e 67.o; os Opsculos Teolgicos, ao cuidado de STEWART e RAND, Londres, 1926. Sobre a autenticidade dos escritos teolgicos e o testemunho de Cassiodoro: USENER, Anecdoton Holderi, Bonn, 1877. Sobre a no autenticidade do De fide: RAND, in "Jahrbucher fr klass. Philol.", supl., 1901, 405-461. Sobre as obras lgicas de, Bocio: GRABMANN, Die Gesch. der scholast. Methode, 1, 149-160; 11, 70-72; DCRR, The Propositional Logie of Boethius, Amsterdo, 1951; VANN, The Wisdom of Boethius, Londres, 1952. As obras de Cassiodoro in P. L., 69.---70.1; de Gregrio Magno in P. L., 75.---79.1; de IsidorG in P. L., 81.---84.o; de Beda in P. L., 90-95.o. Sobre todos: bibliografia especial in UEBERWEG-GEYFR, Die patr. und schol. Philos., Berlim, 1928, p. 669-672; e in VASOLI, La filosofia medievale, Milo, 1961, p. 516 ss. 245 NDICE XII - A ESCOLA PERIPATPTICA 86. Teofrasto, ... ... ... ... ... Estrato ... ... ... ... ... ... 9 Nota bibliogrfica XM-O ... ... ... 10 ... ... ... ... ... 11 ... ... 7 8 88.
7 87. Outros discpulos de Aristteles
ESTOICISMO
89. Caractersticas da Filosofia ps-Aristottica ... ... ... ... ... 11 90. A escola estoica ... ... ... ... 12 91. Caracterstica da Filosofia estoica 15 92. A Lgica ... ... ... ... ... 16 93. A Fsica ... ... ... ... ... 23 94. A Psicologia ... ... ... ... ... 27 95. A ntica ... ... ... ... ... ... 29 Nota bibliogrfica XIV -0 EPICURISMO 96. Epicuro 247 98. Caractersticas do epicurismo 99. A Cannica ... ... ... ... 100. A Fsica 101. A tica ... ... ... ... ... Nata bibliogrfica ... ... XV-0 CEPTICISMO ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35 37 ... ... ... 38
... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
37 97. A escola epicurista
102. Caractersticas do cepticismo 103. Pirro ... ... ... ... ... 104. A mdia Academia ... ... 105. A nova Academia ... ... 106. Os ltimos cpticos 107. Sexto emprico ... ... ... Nota bibliogrfica ... ... . . ... ... ...
XVI --0 ECLECTISMO
108. Caractersticas do Eclectismo 109. o estoicismo Eclctico ... 110. o Platanismo Ecltico ... iii. o Aristotelismo Eclctico 248 112. A Escola Cinica ... ... ... ... 73 113. Sneca ... ... ... ... ... ... 74 114. Musnio. Epicteto ... ... ... 77 115. Marco Aurlio ... ... ... ... 79 Nota bibliogrfica ... ... ... 81
XVII --PRECURSORES DO NEOPLATONISMO ... ... ... ... ... ... ... 83 na 84 118. O ... 88 120.
116. Caractersticas da Filosofia poca Alexandrina Platonismo mdio Filon de Alexandria Nota bibliogrfica
... ... ... 83 117. Os Neopitagricos ... ... ... ... 86 119. A Filosofia greco-judaica ... ... ... 89 ... ... ... 91 ... ... ... .. 93
XVIII -0 NEOPLATONISMO
121. A "Escolstica" Neoplatnica ... 93 122. Plotino: Deus ... ... ... ... 95 123. Plotino: as emanaes ... ... 97 249 124. Plotino: a conscincia e o retorno a Deus siriaca ... ... .. 1 100 126. Aescola de Atenas Proclo ... ... 103 Nota bibliogrfica SEGUI-4DA PARTE FILOSOFIA PATRISTICA 1-0 CRISTIANISMO E A FILOSOFIA 109 ... ... ... 105 ... ... ... ... 98 125. A escola ... ... ... 101 127. A doutrina de
128. A Filosofia grega e a tradio crist ... ... ... ... ... ... 109 129. Os evangelhos sinpticos ... ... 111 130. As "cartas" Paulinas ... ... 114 131. O quarto evangelho ... ... ... 116 132. A Filosofia crist ... ... ... 117 Nota bibliogrfica 250 A PATRISTICA DOS DOIS PR=IROS SCULOS ... ... ... ... ... ... 133. Caracteristicas da Patristica ... 121 121 ... ... ... 119
134. Os padres Apologetas ... ... 123 135. Justino ... ... ... ... ... ... 124 136. Os outros padres Apologetas ... 126 137. A Gnose .. . ... ... ... ... 130 138. A polmica contra a gnose ... 134 139. Tertuliano ... ... ... ... ... 139 140. Tertuliano: as doutrinas ... ... 142 141. Apologetas latinas ... ... ... 146 Nota bibliogrfioa ... ... ... 153 S-
III -A FILOSOFIA PATRISTICA NOS cULOS M E IV ... ... ... ... ... 157
142. Caractexisticas do perodo 144. Origenes: vida e -escritos 146. Origenes: Deus e o mundo 169 251
... 157 143. Clemente de Alexandria ... ... 158 ... 161 145. Orgenes: F @e gnose ... ... 163 ... 165 147. Origenes: o destino do hom@em
118. Sequazes e adversrios de Orgenes ... ... ... ... ... ... 172 149. Baslio o grande ... ... ... 177 150. Gregrio Nazianceno ... ... 179 151. Gregrio de Nisa: a Teologia ... 181 152. Gregrio de Nisa: o mundo e o
homem tstasis culo IV
... ... ... ... ... ... 185 153. Gregrio de Nisa: a Apoca... ... ... ... ... 187 154. Outros padres orientais ... ... ... ... ... 190 155. Os padres latinos do IV ... ... ... 194 ... ... ... ... 197 do ssculo 192
Nota bibliogrfica
IV -SANTO AGOSTINHO
156. A figura histrica ... ... ... 197 157. A vida ... ... ... ... ... ... 199 158. As obras ... ... ... ... ... 202 159. Caractersticas da investigao Agostiniana ... ... ... ... ... 204 160. O fim da procura Deus e a alma 252 161. A procura de Deus ... ... ... 208 162. O homem 163. O problema da criao e do tempo ... ... ... ... ... ... 213 164. A polmica contra o manidonatismo ... ... ... 222 217 166. ... ... ... ... ... 211 ... ... ... ... ... ... 205
quesmo ... ... ... ... ... 215 165. A polmica contra o A polmica contra o pelagianismo ... ... ... ... ... ... 219 167. A cidade de Deus
Nota bibliogrfica
... ... ... 224 ... ... ... 227
V-A CLTIMA PATRISTICA
168. Decadncia da patrstica ... 227 169. Escritores gregos ... ... ... 228 170. Pseudo-Dionsio o ae@ropagita ... 232 171. Mximo confessor. Joo Damasceno ... ... ... ... ... 234 172. Escritores latinos ... ... ... 244 ... ... ... 237
Nota bibliogrfica 253
HISTRIA DA FILOSOFIA Volume terceiro Nicola ABAGNANO
DIGITALIZAO E ARRANJO: NGELO MIGUEL ABRANTES. HISTRIA DA FILOSOFIA VOLUME III TRADUO DE: ARMANDO DA SILVA CARVALHO CAPA DE: J. C. COMPOSIO E IMPRESSO TIPOGRAFIA NUNES R. Jos Falco, 57-Porto EDITORIAL PRESENA . Lishoa 1969 TTULO ORIGINAL STORIA DELLA FILOSOFIA Copyright by NICOLA ABBAGNANO Reservados todos os direitos para a lngua portuguesa EDITORIAL PRESENA, LDA. - R. Augusto Bil, 2 cIE. - Lisboa TERCEIRA PARTE FILOSOFIA ESCOLSTICA i AS ORIGENS DA ESCOLSTICA 173. CARCTER DA ESCOLSTICA A palavra escolstica designa a filosofia crist da Idade Mdia. O termo scholasticus indicava nos primeiros sculos da Idade Mdia aquele que ensinava as artes liberais, isto , as disciplinas que constituam o trvio (gramtica, lgica ou dialctica, e retrica) e o quadrvio (geometria, aritmtica, astronomia e msica). Mais tarde passou a chaMar-se tambm scholasticus ao professor de filosofia ou de teologia, cujo ttulo oficial era o de magister (magister artlim ou magister in theologia) e que a princpio dava as suas lies na escola do claustro ou da catedral e mais tarde na universidade (studium genei-ale). A origem e o desenvolvimento da escolstica encontram-se estritamente ligados s funes docentes, funes que determinaram tambm a forma e o mtodo de actividade literria dos escritores escolsticos. Como as formas fundamentais do ensino eram duas, a lectio, que consistia no comentrio de um texto, e a disputatio, que consistia no exame de um problema tendo-se em considerao todos os argumentos que se possam aduzir pro e contra, a actividade literria dos Escolsticos assume sobretudo a forma de Commentari ( Bblia, s obras de Bocio, lgica de Aristteles e mais tarde s Sentenze de Pedro Lombardo e s outras obras de Aristteles) ou de recolha de questioni. Recolhas deste
gnero so os Quodlibeta que compreendem as questes que os -aspirantes ao grau de teologia deviam discutir duas vezes por ano (pelo Natal e pela Pscoa) sobre qualquer tema, de quodlibet. As questiones disputatae so muitas vezes o resultado das disputationes ordinariae que os professores de teologa mantinham durante os seus cursos sobre os mais importantes problemas filosficos e teolgicos. A conexo da escolstica com a funo docente no um facto puramente acidental e extrnseco; faz parte da prpria natureza da escolstica. Todas as filosofias so determinadas na sua natureza pelos problemas que constituem o centro da sua investigao; e o problema da escolstica consistia em levar o homem compreenso da verdade revelada. Tratava-se portanto de um problema de escola, ou seja, de educao: o problema da formao dos clrigos. A coincidncia tpica e total do problema especulativo com o problema educativo justifica plenamente o nome da filosofia medieval e no explica os caracteres fundamentais. Em primeiro lugar, a escolstica no , como a filosofia grega, uma investigao autnoma que afirme a sua independncia crtica frente a qualquer tradio. A tradio religiosa , para a escolstica, o fundamento e a norma da sua investigao. A verdade foi revelada ao homem atravs das Sagradas Escrituras, atravs das definies dogmticas de que a comunidade crist se serviu para fundamentar a sua vida histrica, atravs dos padres e doutores inspirados ou iluminados por Deus. Para o homem, trata-se apenas de aproximar-se dessa verdade, compreend-la na 10 medida do possvel, mediante os poderes naturais e com a ajuda da graa divina, e faz-la sua para assumi-Ia como fundamento da prpria vida religiosa. Mas mesmo nesta perspectiva, que a da prpria investigao filosfica, o homem no pode nem deve basear-se apenas nas suas faculdades; a tradio religiosa ajuda-o e deve ajud-lo fornecendo-lhe, atravs dos rgos da Igreja, um guia esclarecedor e uma garantia contra o erro. Trata-se mais de uma obra comum que individual: de uma obra na qual o simples indivduo no pode nem deve basear-se apenas nas suas foras, mas pode e deve recorrer ajuda dos outros e especialmente daqueles que a prpria Igreja reconhece como particularmente inspirados e apoiados na graa divina. Da o uso constante das auctoritates na especulao. Auctoritas a deciso de um conclio, uma expresso bblica, uma sententia de um Padre da Igreja. O recurso autoridade a manifestao tpica do carcter comum e superindividual da investigao escolstica, na qual o indivduo quer sentirse continuamente apoiado e sustentado pela autoridade e tradio eclesistica. Daqui deriva o outro aspecto fundamental da investigao escolstica. Esta no se prope formular ex novo nem doutrinas nem conceitos. O seu principal objectivo o de compreender a verdade j dada na revelao, e no o de encontrar a verdade. Deste modo, como a norma da investigao resulta da tradio religiosa, os instrumentos e os materiais dessa investigao so provenientes da tradio filosfica. Esta vive substancialmente custa da filosofia grega; primeiro a doutrina platnico-agostiniana, depois a aristotlica, fornecem-lhe os instrumentos e os materiais de especulao. A filosofia, como tal, para ela simplesmente um meio: ancilla theologiae.
Claro que as doutrinas o os conceitos que so adoptadas de acordo com aquele 11 objectivo acabam por sofrer uma transformao mais ou menos radical quanto ao seu significado original. Mas a escolstica no se prope realizar esta transformao de modo intencional o a maior parto das vezes no tem disso conscincia. O sentido da historicidade -lhe estranho. Doutrinas e conceitos surgem livres dos complexos histricos de que fazem parte e considerados independentes dos problemas a que se referem e da personalidade autntica do filsofo que os elaborou. A Idade Mdia coloca tudo num mesmo plano e fez dos filsofos mais afastados da sua mentalidade, seus contemporneos, dos quais lcito colher os frutos mais caractersticos para adapt-los s suas prprias exigncias. Nesta estrutura formal que a filosofia medieva apresenta, reflecte-se a prpria estrutura social e poltica do mundo medievaL Este um mundo constitudo como uma hierarquia rigorosa apoiada numa nica fora que do alto dirige e determina todos os aspectos. Tem-se afirmado em regra que a concepo medieval do mundo se inspira no aristotelismo: com efeito, essa substancialmente a concepo estoico-platnica qual acabam por se reduzir e adaptar as prprias doutrinas aristotlicas. O mundo uma ordem necessria o perfeita na qual todas as coisas tm um lugar e uma funo determinados, permanecendo nesse lugar e nessa funo pela fora infalvel que determina e orienta o mundo vindo do alto. Tudo o que o homem pode e deve fazer conformar-se com esta ordem: o prprio livre arbtrio pode ser utilizado com utilidade desde que integrado nessa conformidade. As instituies fundamentais do mundo medieval, O Imprio, a Igreja, o Feudalismo, apresentam-se como os defensores da ordem csmica e como os instrumentos da fora que o rege. Essas so dirigidas substancialmente no sentido de fazer surgir todos os bens materiais e espirituais a que o homem pode aspirar, desde o 12 po quotidiano verdade, como derivantes da ordem a que pertencem, assim como da hierarquia de que so intrpretes e os guardies dessa mesma ordem. Num mundo assim constitudo, a investigao filosfica no pode desenvolver os seus princpios e a sua disciplina seno a partir da hierarquia em que se concretiza a ordem universal ou da fora que se mantm causa dessa estrutura. Como ideia directiva da vida individual e social, a noo desta ordem comea a afirmar-se a partir do sculo VIII, com o desaparecimento quase total das trocas econmicas e culturais e o desaparecimento ou decadncia das cidades, deixando de p apenas uma economia rural pauprrima e fechada. O despertar do trfego comercial e das artes que se verifica a partir do sculo XI, as viagens e as trocas provocam a primeira crise da concepo medieval da ordem csmica. Essas transformaes vm demonstrar, com a prpria fora dos factos, que o indivduo pode adquirir para si os bens que se lhe oferecem, increment-los o defend-los com a sua actividade e com a colaborao dos outros. O poder hierrquico comea a surgir, agora, como um limite ou uma
ameaa, mais do que uma ajuda ou garantia, capacidade humana de adquirir ou conservar os bens que so indispensveis ao homem. A luta pela autonomia comunal, pela libertao das limitaes impostas pelo feudalismo, substancialmente baseada na crena do homem em si prprio, na sua capacidade de providenciar sobre as suas necessidades e de organizar-se em comunidades autnomas que, melhor que as hierarquias impostas de cima, podem providenciar pela sua prpria defesa. Nestas condies, a investigao filosfica adquire um respirar novo e uma nova dimenso de liberdade. Os seus pressupostos hierrquicos no so por enquanto postos em dvida, os seus limites e as suas condies sobrenaturais 13 continuam ainda a ser reconhecidos; mas a parte devida iniciativa racional do homem comea a aumentar e a reforar-se, e em certos domnios e em certos Emites tal iniciativa acaba por ser reconhecida como legtima e eficaz. Tenta-se em seguida estabelecer claramente os domnios e os limites de tal iniciativa e julga-se haver realizado um perfeito acordo entre a razo e a f, ou seja, entre a verdade que o homem pode conseguir com os seus poderes naturais o a que lhe foi revelada pelo alto e imposta pela hierarquia. Mas at este equilbrio comea a romper-se a partir dos ltimos decnios do sculo XIII; e agora no se renuncia f nem se denuncia, na sua totalidade, a concepo h-ierrquica da ordem csmica, mas alarga-se e refora-se o mbito da iniciativa racional e a investigao filosfica debrua-se sobre domnios que j nada tm a ver com os objectos da f e nos quais pode avanar com a sua fora autnoma. Sobre este desenvolvimento, que compreende os aspectos sociais e polticos como os filosficos do inundo ocidental nos sculos da Idade Mdia, se funda a caracterizao da filosofia escolstica como o problema da relao entre razo e f e a sua periodizao fundada nas diversas formas de resolver tal problema. evidente que deste ponto de vista o problema da relao entre razo e f no um problema puramente especulativo. tambm um problema especulativo considervel se nos basearmos no confronto entre os textos filosficos e os textos religiosos e as suas interpretaes e implicaes; mas no apenas isto. sobretudo o problema do papel que pode e deve ter a -iniciativa racional do homem na busca da verdade e da direco da vinda individual e colectiva, perante a posio que deve ocupar a ordem csmica e a hierarquia que a representa. Por isso tambm o Problema da liberdade que o homem pode reivin14 dicar por si e das limitaes que tal liberdade deve encontrar as hierarquias que governam o mundo. , em suma, o problema dos novos domnios da indagao (a natureza, a sociedade) que se apresentam ao homem medida que ele reivindica, pela sua razo, uma maior autonomia. Se designarmos, nos termos que assim ficam expostos, o "problema escolstico" pode ser facilmente abordado para se poder dar conta da continuidade e da variedade, das concordncias e das polmicas do pensamento medieval. Isso pode permitir que nos apercebamos de que a ortodoxia e a heterodoxia religiosas fazem parte
igualmente deste pensamento como fazem parte as especulaes polticas e os interesses, que se mantiveram ou ressurgiram, pela natureza e pela cincia; e que as tendncias herticas, as rebelies filosficas, teolgicas ou polticas que, em certa medida, sempre o caracterizaram, no constituem os aspectos histricos fundamentais a mesmo ttulo que as grandes snteses doutrinais nas quais a iniciativa racional do homem e as exigncias da f e da hierarquia eclesistica parecem ter encontrado um compromisso efectivo. O que este conceito do problema escolstico pretende excluir a tentativa de considerar a prpria escolstica no seu conjunto como uma sntese doutrinal homognea ria qual se hajam unificado e fundido os contributos individuais. Esta noo da escolstica parece sugerida pela vontade de privilegiar o aspecto da existncia (real ou presumida) de uma concordncia plena e definitiva entre a razo e a f: aspecto que caracterstico da sntese tomista. Mas este privilgio no tem nenhuma base histrica e no ter outro efeito que o de excluir da escolstica, considerada como a nica filosofia existente na Idade Mdia, uma parte importante dos pensadores medievais. Uma preferncia ideolgica, historiograficamente insustentvel, est na base deste privilgio. A filosofia medieval, tal 15 como a filosofia de qualquer outro perodo, pode ser descrita o caracterizada apenas com base no seu Problema dominante, e no nas solues que foram dadas a esse mesmo -problema. A continuidade desta filosofia pode ser reconhecida apenas com o fundamento da unidade do seu problema e das diferenas nas solues apresentadas. E a periodizao da mesma pode ser efectuada apenas com base na prevalncia de uma ou de outra das solues fundamentais. A esta exigncia responde a periodizao tradicional que distingue quatro fases na escolstica. A primeira, chamada pr-escolstica, a do renascimento carolngio, durante a qual pressuposta e admitida pura e simplesmente a identidade da razo e da f. Na segunda, chamada altaescolstica, que vai da metade do sculo XI at ao fim do sculo XII, o problema da relao entre a razo e a f comea a esboar-se e a ser posto claramente na base da anttese potencial entre os dois termos. Na terceira, que vai de 1200 aos primeiros anos de 1300, organizam-se os grandes sistemas escolsticos que constituem o que se costuma chamar o "florescimento da escolstica". Na quarta, que compreende o sculo XIV, verifica-se a dissoluo da escolstica pela reconhecida insolubilidade do problema que foi seu fundamento. Todavia, ainda que acabada como perodo histrico, a escolstica permanece actual para exprimir a exigncia, para o homem que vive numa tradio religiosa, de compreender e justificar racionalmente essa mesma tradio. Esta exigncia surge com frequncia ao longo da histria da filosofia. Outras formas de escolstica, recorrendo s formas filosficas na altura dominantes, apresentar-se-o no ulterior decurso do pensamento filosfico. 16 174. O RENASCIMENTO CAROLINGIO Os sculos VIII e IX -assinalam a concentrao das foras sobreviventes da
cultura nos grandes imprios do Ocidente: o imprio rabe e o imprio carolngio. Tanto um como o outro tomaram possvel um -renascimento cultural. Carlos Magno, pela prpria necessidade de garantir a unidade do seu imprio e de administr-lo, necessidade que exigia o emprego de numerosos funcionrios dotados de uma corta cultura, promoveu e encorajou os estudos. No perodo precedente, estes eram cultivados apenas nas regies perifricas: por um lado, nas cidades da Itlia meridional, como Npoles, Amalfi e Salerno; por outro, nos mosteiros ingleses e irlandeses. Na poca carolngia converteramse no patrimnio das grandes Abadias, que exerceram a funo que primeiramente havia pertencido s cidades. Nos fins do sculo VIII, a obra de Alcuno foi o incio da -reconstruo intelectual da Europa. Tendo nascido em 730 na Inglaterra, Alcuno formou-se na escola episcopal de York; em 781 foi chamado pelo imperador Carlos Magno para dirigir a Escola Palatina e transformou-se no organizador dos estudos no imprio franco. Morreu no ano de 804. As obras de Alcuno so quase exclusivamente constitudas por extractos tirados de outros autores. A sua Gramtica foi obtida em Prisciano, Donato, Isidoro, Beda; a sua Retrica num texto de Ccero De inventione, a sua, Dialctica num texto pseudo-agostiniano sobre as categorias. Mesmo o texto De animae ratione ad Eulaliam Virginem, que o primeiro tratado de psicologia da Idade Mdia, no passa de uma srie de extractos de Agostinho e Cassiano. Alcuno o grande organizador do ensino no reino franco. Foi ele quem ordenou os estudos segundo as sete disciplinas do trvio e do quadrvio, o a que chama as sete colunas da sabedor-ia (Patri. 17 Lat., 101, 853 c). No seu escrito teolgico sobre a Trindade (De fide Sanctae et individuae Trintatis, trs livros), Alcuno trata da essncia divina, das propriedades de Deus, da trindade das pessoas, da encarnao e da redeno, mantendo-se em tudo fiel especulao de Santo Agostinho. Tal como este, insiste na impossibilidade de se conceber e exprimir a essncia divina, em relao qual as categorias, que servem para compreender as coisas finitas, adquirem um novo significado. Em Deus tudo se identifica: o ser, a vida, o pensamento, o querer e o agir, e no entanto Ele a simplicidade absoluta. Num escrito seu sobre a alma, dedicado Jovem Eullia, Alcuno define a alma como "o esprito intelectual ou racional, sempre em movimento, sempre vivo e capaz de boa ou m vontade>. A alma assume vrios nomes consoante as suas funes: chama-se alma enquanto vivifica; esprito quando contempla; sentido enquanto sente; nimo enquanto sabe; mente enquanto compreende; razo enquanto julga; vontade enquanto consente; memria enquanto lembra. Mas estas funes diversas no so prprias de vrias substncias, apesar de serem indicadas com nomes diferentes: constituem todas uma alma nica (De animae ratione, 11). AIcuno distingue nela trs partes, de acordo com a doutrina platnica: a racional, a irascvel e a apetitiva. As trs partes da alma racional, memria, inteligncia e vontade reproduzem a Trindade divina (segundo a doutrina de Agostinho). A alma o fundamento da personalidade humana, mas o eu na sua totalidade pertence no s alma como tambm ao corpo. A alma incorprea o como tal imortal. O seu bem mais @levado Deus e o seu destino o de amar a Deus. Para tal destino a alma prepara-se atravs das virtudes; e entre estas Alcuno coloca no apenas as crists: f,
esperana e caridade, como tambm as pags: pradwia, 18 justia, fora e temperana, das quais d definies platnicas de De officiis de Cicero. A obra de Alcuno foi continuada pelos seus sucessores. Fredegiso, que lhe sucedeu como abade de S. Martinho de Tours e foi, a partir de 819, at 834, ano da sua morte, chanceler de Ludovico o Pio, comps uma obra na qual se levantava a questo de se saber se o nada alguma coisa ou no (De nihilo et tenebris). Fredegiso conclui que o nada de certo modo ; e de facto, se se nega ,isso, essa mesma negao j alguma coisa e por isso o nada de certa maneira (Patr. Lat., 105. ., 751). O prprio facto de o nada ter um nome demonstra a sua realidade, uma vez que um nome que no se refira a qualquer coisa real no pode ser pensado. A expresso bblica de que o mundo foi criado do nada demonstra tambm a sua realidade; porque do nada procedem todos os elementos e ainda a luz, os anjos e as almas dos homens. Discpulo de Alcuno foi Rabano Mauro. Nascido na Mogncia no ano de 776 ou 784, foi primeiro professor e depois abade no mosteiro de Fulda; em 847 foi nomeado arcebispo de Mogncia, onde morreu no ano de 856. Rabano considerado como o escritor da Escola da Alemanha. Da escola de Fulda saram um grande nmero de doutores que foram ensinar pelas provncias vizinhas o que haviam aprendido com o seu mestre. Um caso anedtico ;revela-nos a hostilidade de alguns eclesisticos do tempo contra a cultura e a fama que Rabano tinha conquistado. O abade de Fulda apoderou-se um dia dos cadernos de Rabano e dos seus alunos e declarou que proibia para o futuro a introduo de qualquer novidade no mosteiro; alm disso empregou os monges mais aplicados em trabalhos pesados e contnuos. Os monges apelaram para o rei que se pronunciou contra o abade. Rabano foi reintegrado na sua ctedra continuando a leccio19 nar. Os seus contemporneos chamaram-lhe Rabano o Sofista. Rabano preocupou-se sobretudo com a educao filosfica e teolgica do clero. Com este fim, comps trs livros Sobre a instruo dos Clrigos (De institutione clericorum) que uma compilao cujo material foi extrado dos Padres da Igreja, de Isidoro e de Beda. Rabano insiste na necessidade e importncia do estudo das artes liberais e tambm dos filsofos pa gos e em particular dos platnicos. Justifica a utilizao da cultura profana com a teoria da injusta posse: "Se os filsofos disseram nos seus escritos coisas verdadeiras e que esto de acordo com a f, no se deve recear e retom-los como injustos possuidores" (111, 26). Na verdade, os filsofos descobriramnas enquanto guiados pela verdade, isto , por Deus: por isso elas no lhes pertencem, mas a Deus. Num tratado De Universo, tirado em grande parte das Etimologias de Isidoro e da De natura reruni de Beda, recolheu um rico material profano de cincias naturais. Numa glosa s Categorias de Aristteles, Rabano nega, referindo-se
doutrina deste filsofo, a univocidade do ser, isto , nega que o termo "ser" conserve o mesmo significado referindo-se a tudo o que existe, e afirma, em contrapartida, a sua equivocidade, a diversidade dos seus significados. A univocidade ou a equivocidade do ser devia converter-se, no sculo XIII, num dos ternas fundamentais da polmica filosfica. Um discpulo de Rabano, Servato Lupo, que foi abade de Ferrires desde 842 at falecer, em 862, tem em grande conta a cultura humanstica e nas suas Cartas oferece o exemplo de um vivo interesse literrio e filosfico. O seu tratado Sobre trs questes trata do livre arbtrio, da predestinao e da Eucaristia, seguindo as pisadas dos padres e especialmente de Agostinho. 20 Da escola de Alcuno saiu tambm Pascsio Radoberto, abade de Corbie desde 842 e falecido em 860. Pascsio comps em 831 a obra De corpore et sanguine Domini. A sua obra maJor um Comentrio ao Evangelho de So Mateus. Na obra intitulada De fide, spe et charitate, distingue trs espcies de coisas crveis. A primeira a das que se podem crer imediatamente, como as coisas visveis; a segunda, a das coisas que se podem crer e compreender ao mesmo tempo, como os axiomas e as verdades racionais. A terceira a das coisas que a revelao ensina acerca de Deus; e estas no so simultaneamente crveis e compreensveis, devem ser primeiramente cridas com todo o corao o com ,toda a alma, para depois serem compreendidas. Pascsio exprime assim aquela precedncia da f sobre a razo que devia ser a especulao de Anselmo. Um outro monge de Corbie, Godescalco, falecido entre 866 e 869, sustentou com particular energia, apesar das condenaes de dois snodos, a doutrina da dupla predestinao. Sustentava que Deus predestina tanto o bem como o mal e que alguns homens, pela predestinao divina que os constrange morte espiritual, no podem corrigir-se do erro e do pecado, porque Deus os criou desde o princpio incorrigveis e destinados ao castigo. Esta doutrina da dupla predestinao que era ensinada tambm pelo mestre de Godescalco, o monge Ratramno (falecido volta de 868), foi combatida pelo arcebispo de Reims Hinchmar e que chegou ao nosso conhecimento precisamente atravs da refutao deste ltimo. 175. HENRIQUE E REMIGIO DE AUXERRE Henrique de Auxerre (841-876) foi discpulo de Servato Lupo e continuou a tradio humanstica 21 do mestre. Com efeito, foi autor de uma Vita S. Germat, em verso, que enriqueceu com glosas extradas dos clssicos e tambm da Divisio Naiurae de Joo Escoto. A ele foram atribudas algumas glosas marginais a um texto pseudo-agustiniano sobre as Categorias. Estas glosas apresentam uma tese que ser a do conceptualismo posterior, isto , que os conceitos universais no so realidades em si, e designam apenas as coisas particulares conhecidas pela experincia. A formao dos conceitos de gnero e espcie feita por
uma exigncia de economia mental. Uma vez que os nomes dos seres individuais so inumerveis e o intelecto e a memria no bastam para conhec-los e fixlos, formam-se os conceitos de espcie (por exemplo, homem, cavalo, leo), com os quais se podem reconhecer e recordar facilmente inumerveis indivduos. Mas como os conceitos de espcie so, por sua vez, inumerveis e, por isso, em grande parte incognoscveis, agrupam-se em conceitos mais amplos e menos numerosos, formando os conceitos de gnero, como animal ou pedra. Em seguida recorre-se a um grau mais elevado, a um conceito extensssimo que permite designar com um s nome todos os seres: o conceito de substncia. Um discpulo de Henrique, Remgio de Auxerre (841-908) ensinou na escola de Auxerre todas as artes liberais e especialmente a gramtica, a dialctica e a msica. Escreveu comentrios s obras de gramticos e poetas latinos; ao Gnesis e aos S mos. O seu comentrio a Marciano Capella possui significado filosfico. Ao contrrio do seu mestre Henrique, Remgio inclina-se para o -realismo, ou seja, para a afirmao da realidade substancial dos conceitos. Rem gio sustenta que o conceito mais geral que a inteligncia pode alcanar o da essncia, que compreende todas as naturezas; e que tudo o que existe, existe pela participao na essncia. 22 A essncia divide-se nos gneros e nas espcies at ltima espcie, que o indivduo, o qual, como a prpria palavra -indica, indivisvel. Segundo esta doutrina, que se relaciona com a de Joo Escoto, o indivduo seria o resultado da repartio sucessiva de uma realidade universal. Igualmente se relaciona com o platonismo a doutrina de Remgio sobre o conhecimento humano. A natureza humana possui em si todas as artes; mas estas foram ocultas pelo pecado original e apenas podem ser reconquistadas mediante esforos fatigantes, que pouco a pouco as libertam das trevas que as encobrem inteligncia. Assim se explica que nem todos possam ser oradores, dialcticos ou msicos, apesar de todos possurem em si as noes correspondentes. Com efeito, nem todos se empenham no esforo exigido para -trazerem de novo para a luz o saber originrio obscurecido pelas trevas do pecado. NOTA BIBLIOGRFICA 173. A tentativa de compreender a escolstica do ponto de vista do contedo, como uma sntese doutrinal, foi levada a efeito por De Walf, Histoire de Ia phil. md., (V. edi. 1924 e edi. post.) que colocou os fundamentos desta sntese na gerao da comunidade entre o ser divino e o ser das criaturas, na afirmao do valor da personalidade humana, na existncia de uma essncia supra-material e na objectividade do saber humano. De Walf considerou anti-escolsticos os sistemas que se afastam destes fundamentos, por exemplo, o de Escoto Erigena, o pantesmo do s culo XII, a averrosmo. Mas aqueles fundamentos so to genricos que no chegam para caracterizar a escolstica e explicar as suas mais importantes afirmaes. Para o estudo da escolstica so fundamentais, alm da Patrologia Grega e Latina de MIGNE, aS seguintes coleces de textos e estudos: BARACH e WORBEL, Bibliotheca philosophiae mediae aetatis BAEUMKER, Reitrage zur Geschichte der
Philosophie des Mittelal23 ters, textos e investigaes, Mnaco, a partir de 1891; ElAuRAu, Notices et extraits de quelques manuscrits de Ia Bibliothque Nationale, Paris, 18901893, 6. vols. No se faz aqui referncia s numerosas coleces nas quais existem e foram publicados textos e estudos de filosofia medieval (e que possivelmente podero estar indicados nos instrumentos bibliogrficos re@ferid4Ds) uma vez que tais textos e estudos sero indicados na nota bibliogrfica referente a cada um dos filsofos. Obras de carcter geral sobre a escolstica: SOCKL, Geschichte der Philosophie des Mittelalters, 3 vols., Mogncia, 1864-1866; HAuRAu, Histoire de Ia Philosophie scolastique, 2 vol., Paris, 1872-1880; PimVET, Essai d'une histoire gnrale et compare des philosophies mdival,es, Paris, 1905, 2.1 ed., 1913; BAEUMKER, Die ehristliche Philosophie des Mittelalters, in Allgem-eine Geshichte der Philosophie, Leipsig, 1913; GRABMANN, Geschichte der scholastischen Me@ thode, 2 vols., Freiburgo, 1909-1911; 1956 (ed. fotoesttica); DUHEm, Le systme du monde, de Platon Copernic, 10 vols., Paris, 1913-1959; GILSON, La Philosophi,e au Moyen Age, 1922, 1952; Wesprit de Ia philosophie mdivale, Paris, 1932, 1944; BRHIER, La philosophie du moyen ge, Paris, 1937; COPLESTON, A HistGry of Philosophy, H: Medieval Philosophy, Londres, 1958; VIGNAUX, La philosophie du moyen ge, Paris, 1958; VASOLI, La fiJ-osofia mediovale, Milo, 1961. Para bibliografia especial: UEBERWEG-GEYER, Die Patristische und scholastische Philosophie, Berlim, 1928; DE BRIE, Bibliographia Philosophica, 1934-1945; 2 vols., Bruxelas, 1950-1954; MOSCIIETTi, Bibliografia critica general per Ia storia del pensiero cristiano, in Grande Antologia Filosofica, III, Milo, 1954; VASOLI, Op. Cit. Para ulteriores actualizaes bibliogrficas: Repertoire Bibliographique de Ia Revue Philosophique de Louvain. 174. Sobre o renascimento carolngio: BRUNHES, La foi chrtienne et Ia philosophie au temps de Ia renaissance carolingienne, Paris, 1903; PiRENNE, Mahomet et Charlemagne, Paris, 1937. As obras de AIcuino em Pat. Lat., 100.,_101.o_ E. M. WILMONT-13UXTON, Alcuin, Londres, 1922. O texto de Fredegiso em Pat. Lat., 105.1, 751-756. -GEYMONAT, 1 problemi del nulila e delle- tenebre in Fredegiso di Tours, in Saggi di filosofia neorazionalistica, Turim, 1953, p. 101-111. 24 ALCUINO As obras de Servato Lupo in Pat. Lat., 119.1, 431-700.
As obras de Pascsio Radberto in. Pat. Lat., 120.o. As obras de Ratramno in Pat. Lat., 121.o, 13-346. As obras de I-linkmar in Pat. Lat., 125.---126.o. Sobre este autor: J. A. ENDRES, em "Beitrage", XVII, 2-3. 175. De Henrique de Auxerre, La vita de San Germano, editada em "Mon. Germ. Hist.". Poeti Latini dell'evo carolingio, M, 428-517. Excertos das glosas ao texto pseudo-agustiniano em Cousin, indits d'Ablard, p. 621, e HAUREAu, De Ia phil. schal., I, p. 131-143. De Remgio os Comentrios in Pat. Lat., 131.1, 51-134.-J. BURNAM, Commentaire anonyme sur Prudence d'aprs de ms. 413 de Valenciennes, Paris, 1910. 25 11 JOO ESCOTO ERGENA 176. JOO ESCOTO: A PERSONALIDADE HISTRICA Inesperadamente aparece, na primeira metade do sculo IX, a grande figura de Joo Escoto. Na pobreza cultural e especulativa do seu tempo, este homem dotado de um esprito extremamente livre, de excepcional capacidade especulativa e vasta erudio greco-latina, surge como um milagre. Atravs de Santo Agostinho, Joo Escoto relaciona-se como o mais genuno esprito da investigao filosfica, tal como havia surgido na idade clssica da Grcia. Ergena tem conscincia das exigncias soberanas da investigao e afirma-as decididamente. Quando tropea com a realidade incompreensvel de Deus ou da essncia das coisas, no afasta as armas dialcticas nem prescreve o abandono, f, mas volta a assumir a mesma incompreensibilidade no mbito da investigao, dialectiza-a e faz dela um elemento de clareza. A razo preguiosa, que neste perodo da histria da filosofia descobre tantas formas de entrincheirar-se por detrs das exigncias da f, no consegue assenhorear-se dele. 27 A obra de Joo Escoto teve uma importncia decisiva para a ulterior evoluo da escolstica. As suas fontes principais so as obras de Santo Agostinho, do Pseudo-Dionsio (que o prprio Escoto traduziu do grego) e dos Padres da Igreja, especialmente de S. Gregrio e S. Mximo. Em toda a especulao posterior, no h filsofo da escolstica que no se relacione com ele directa ou poa. O papa Honrio 111, -numa Bula de 23 de Janeiro de 1225, condenou a sua obra-prima: De divisione naturae. Muitos doutores escolsticos, antes e depois da condenao, entram em polmica contra as suas afirmaes; mas a sua especulao assinala em todos os pontos um marco fundamental na filosofia escolstica. 177. JOO ESCOTO: VIDA E OBRA Joo Escoto chamado Ergena devido ao facto de ter nascido na Irlanda (Eriu-Erin, Irlanda). A data do seu nascimento deve andar volta de 810. No
se sabe com preciso o ano em que se dirigiu a Frana, para a corte de Carlos o Calvo; mas deve ter sido nos primeiros anos do reinado deste rei. Com efeito, Escoto Ergena participou na controvrsia teolgica suscitada pela tese do monge Godescalco sobre a predestinao, ora a condenao de Godescalco verificou-se em 853, depois de largos e solenes debates. Muito provavelmente, a vinda de Joo Escoto para Frana foi anterior ao ano de 847. Carlos o Calvo nomeou-o director da Academia do Palcio, a Schola Palatina, em Paris; a convite do mesmo rei, Ergena traduz as obras de Dionsio o Areopagita, cujos textos o imperador bizantino, Miguel Balbo, tinha oferecido a Ludovico Pio no ano de 827. O papa Nicolau 1 queixou-se ao rei do facto de Ergena no haver submetido essa traduo censura eclesistica antes de a publi28 car e quis instaurar um processo contra as heresias que a mesma continha. Depois da morte de Carlos o Calvo, no ano de 877, no h notcias seguras sobre Joo Escoto. Segundo alguns, teria morrido em Frana nesse mesmo ano; segundo outros, teria sido chamado pelo rei Alfredo o Grande, para a escola de Oxford e, mais tarde, como abade de Malmesbury ou de Athelney, teria sido assassinado pelos monges. A actividade filosfica de Joo Escoto pode ser dividida em dois perodos. No primeiro perodo, Escoto Ergena inspirou-se sobretudo nos Padres latinos, isto , em Gregrio Magno, Isidoro e especialmente em Santo Agostinho. A este perodo pertence o texto contra o monge Godescalco: De divina praedestinatione. Num segundo perodo, Ergena sofre a influncia dos telogos e filsofos gregos. Em 858, traduz os textos do Pseudo-Dionsio o Areopagita; em 864, os Ambgua de Mximo o Confessor e o texto De hominis opificio de Gregrio de Nisa. Estes trabalhos guiaram-no na criao da sua obra-prima, a De divisione naturae, em cinco livros. Escrita em forma de dilogo entre mestre e aluno, o primeiro grande texto especulativo da Idade Mdia. Esta obra denuncia j o carcter da investigao escolstica: o mtodo apriorstico ou dedutivo que o autor maneja com grande mestria. As glosas de Ergena aos Opuscula theologica de Bocio, so o comentrio mais antigo aos escritos teolgicos de Bocio. Muito conhecidas na Idade Mdia, mas nunca impressas, deviam ter sido escritas nos ltimos anos da sua vida, volta de 870, e apresentam com a Divisio naturae a mesma relao que existe entre as Retractationes e as outras obras de Santo Agostinho. A cultura e capacidade especulativa de Joo Escoto colocam-no acima do nvel dos seus con29 temporneos. No s conhece o grego e o traduz, como adquire dos escritores e do esprito grego, grande liberdade tanto no campo da investigao como da orientao especulativa. 178. JOO ESCOTO: F E RAZO
O pressuposto da investigao de Joo Escoto o acordo intrnseco entre razo e f; entre a verdade a que chega a lIvre investigao e a que revelada ao homem pela autoridade dos Livros Sagrados e dos escritores iluminados. "No h salvao para as almas dos fiis se no em crer no que se diz com verdade sobre o nico princpio das coisas, e em entender o que com verdade se cr" (De div. nat., 11, 20). A autoridade das Sagradas Escrituras indubitavelmente indispensvel ao homem, porque s elas podem conduzi-lo aos lugares secretos em que reside a verdade (1, 64). Mas o peso da autoridade no deve, de forma alguma, afast -lo daquilo que a recta razo o persuada. "A verdadeira autoridade no cria obstculos recta razo, nem a recta razo cria obstculos autoridade. No h dvida de que ambas dimanam de uma fonte nica, isto , da sabedoria divina" (1, 66). Mas a dignidade maior e a prioridade da natureza correspondem razo, e no autoridade. A razo nasceu no princpio dos tempos, juntamente com a natureza: a autoridade nasceu depois. A autoridade deve ser aprovada pela razo, de contrrio poder no parecer slida: a razo no precisa de ser apoiada ou corroborada por qualquer autoridade. Em suma, a prpria autoridade nasce da razo, porque a verdadeira autoridade no mais que a verdade descoberta pela razo dos Santos Padres e por eles transmitidas por escrito em benefcio da posteridade (1, 69). E Joo Escoto coloca na boca 30 do mestre, que o principal interlocutor do dilogo, um enrgico convite livre investigao: "Devemos, seguir a razo que procura a verdade e no est oprimida por qualquer autoridade e que de nenhuma maneira pode impedir que seja publicamente exposto e difundido aquilo que os filsofos procuram assiduamente e com dificuldade conseguem encontrar" (11, 63). Esta enrgica afirmao da liberdade de investigao, que faz de Escoto Ergena um sobrevivente exaltado do esprito filosfico dos gregos, no implica neste autor qualquer limitao ou negao da religio. E isto porque a religio no se identifica com a autoridade, mas com a investigao. Religio e filosofia so uma e a mesma coisa: "Que significa -lidar com a filosofia seno expor as regras da verdadeira religio, por meio das quais a suma o principal causa de todas as coisas, isto Deus, humildemente adorada e racionalmente investigada? (De praedest., 1). Joo Escoto, neste ponto, est muito prximo do esprito de investigao agustiniana, para a qual a f mais um ponto de chegada que de partida, e no trmino da longa e laboriosa via da investigao, e muito mais um princpio, uma direco, um guia da investigao, do que um limito ou um obstculo. E de facto, o pressuposto agustiniano da Verdade suprema, que se revela e afirma na investigao humana, volta a repetir-se- em Escoto Ergena. A natureza humana considerada por si, uma substncia em trevas que, no obstante, capaz de participar da luz da sabedoria. Quando o ar participa do raio solar no significa que o mesmo seja luminoso por si, mas pelo esplendor do sol que nele aparece. Assim acontece com a parte racional na nossa natureza quando participa do Verbo, ou seja, da Verdade divina, que por si s no compreende as coisas inteligveis e Deus e apenas as conhece por inter31 mdio da luz divina que nela existe (De div. nat.,
11, 23). Na investigao humana quem encontra, no o homem que procura, mas a luz divina que no homem procura. A palavra de Jesus, segundo S. Joo: "No sois vs que falais Deus que fala em vs" entendida por Escoto da seguinte forma: "No sois vs que me compreendeis, sou Eu que mo compreendo a Mim prprio em vs, atravs do meti esprito" (Hom. in Joh., p. 291-A). 179. JOO ESCOTO: AS QUATRO NATUREZAS O ttulo da obra principal de Joo Escoto: * diviso da natureza de pura origem platnica. * "diviso" a que se refere significa a operao fundamental da dialctica platnica, operao que Ergena defende como constitutiva da prpria estrutura da natureza; e a "natureza", segundo os ensinamentos do Parmnides e do Sofista, o conjunto do ser e do no ser. Retomando um modelo de Santo Agostinho (De civ. Dei, V, 9). Ergena divide * natureza em quatro partes. A primeira natureza cria e no criada: ela * causa de tudo o que e que no . A segunda criada e cria, constitui o conjunto das causas primordiais. A terceira criada e no cria e corresponde ao conjunto de tudo o que gerado no espao e no tempo. A quarta no cria nem criada, o prprio Deus, como fim ltimo da criao (De div. nat., 1, 1). Faz parte destas quatro naturezas no s tudo o que , como tambm tudo aquilo que no . Pelo no-ser, no se entende o nada, mas a negao das vrias determinaes possveis do ser. Deste modo poder afirmar-se que no so as coisas que escapam aos sentidos e ao intelecto; ou as coisas infe32 riores em relao s coisas superiores e celestes, ou as coisas futuras que ainda no so; ou as que nascem e morrem; ou, em suma, as que transcendem o entendimento e a razo. To-das as coisas deste gnero, de certa forma, no so: todavia no se identificam com o nada e, constituem parte da realidade universal a que Escoto chama natureza (1, 3 e segs.). As quatro naturezas constituem o crculo vital do ser divino: "Em primeiro lugar, Deus descende da super-essencialidade da sua natureza, na qual deve dizer-se que Ele no ; criado por si prprio nas causas primeiras, convertese em princpio de toda a essncia, de toda a vida, de toda a inteligncia, o que a teoria gnstica considera como causas primordiais. Em segundo lugar, ele desce s causas primordiais que esto entre Deus e a criatura, entre a inefvel super-essencialmente de Deus, que transcende toda a inteligncia e a natureza que se manifesta aos que tm um esprito puro; encontra-se no efeito das causas primordiais e manifesta-se abertamente nas suas teofanias. Em terceiro lugar, procede atravs das formas mltiplas de ta-is efeitos at ltima ordem da natureza inteira que contm os corpos. Deste modo, procedendo ordenadamente em todas as coisas, cria todas as coisas e acaba por ser tudo em tudo; e volta a si prprio, chamando a si todas as coisas, e apesar de se encontrar em todas as coisas, no deixa de estar acima de tudo" (111, 20).
Este crculo, pelo qual a vida divina procede a constituir-se constituindo todas as coisas e com elas torna a si prpria, o pensamento fundamental de Joo Escoto. Nele se encontra contida e determinada a relao entre Deus e o mundo. O mundo o prprio Deus, enquanto teofania ou manifestao de Deus; mas Deus no o mundo, porque 33 ao criar-se e converter-se em mundo, se mantm acima dele. 180. JOO ESCOTO: A PRIMEIRA NATUREZA: DEUS A primeira natureza Deus, na medida em que no tem princpio, e a causa principal de tudo o que procede d'Ele. Com efeito, Deus o princpio, o meio e o fim: princpio na medida que d'Ele derivam todas as coisas que participam da essncia; o meio, na medida em que n'Ele e por Ele subsistem e se movem todas as coisas; o fim, na medida em que todas as coisas se movem para Ele, em busca do repouso do seu movimento e da estabilidade da sua perfeio (1, 11). Como princpio, meio e fim, a natureza divina no se limita a criar, tambm criada. criada por si prpria nas coisas que ela prpria cria, tal como o nosso intelecto se cria a si prprio atravs dos pensamentos que formula e das imagens que recebe dos sentidos (1, 12). Deus incriado, no sentido em que no criado por outro; como tal est acima de todos os seres e no pode ser compreendido nem definido adequadamente. unidade, mas unidade inefvel que no se encerra esterilmente na sua singularidade; articula-se em trs substncias: a substncia ingnita, o Pai; a substncia gnita, o Filho; a substncia procedente da ingnita e da gnita, o Esprito Santo. Joo Escoto vai buscar ao Pseudo-Dionsio, a distino das duas teologias: a positiva e a negativa. A primeira afirma de Deus todos os atributos que lhe correspondem. A outra nega que a substncia divina possa ser determinada mediante os caracteres das coisas que so; isto : que possa ser de algum modo compreendida ou exprimida. Mas os mesmos caracteres que a teologia positiva atribui a Deus assumem nesta referncia um valor diferente daquele que possuem quando se 34 referem s coisas criadas. Deus no propriamente essncia, mas superessncia; no verdade, mas supra-verdade, e o mesmo se deve dizer de todos os caracteres positivos que possam ser atribudos a Deus. De modo que a prpria teologia positiva na realidade negativa; a menos que no se lhe queira chamar positiva e negativa ao mesmo tempo; uma vez que, dizer que Deus a super-essncia, equivale a afirmar e negar ao mesmo tempo que ele seja essncia (1, 14). certo que a Deus no se pode atribuir nenhuma das categorias aristotlicas que, referidas a ele, assumem um significado diferente. Se Deus casse no mbito de algumas categorias seria um gnero (como, por exemplo, animal). Ora Deus no nem gnero nem espcie nem acidente e, deste modo, nenhuma categoria pode propriamente qualific-lo (115). A concluso de que tudo o que a razo humana pode conseguir em relao a Deus demonstrar que nada se pode propriamente afirmar d'Ele. "Ele supera
todo o entendimento e todo o significado sensvel e inteligvel, de modo que o conhecemos ignorando-o, e a ignorncia acerca dele a verdadeira sapincia" (1, 66). Mas se Deus inacessvel como natureza supra-essencial revela-se por si prprio na criao, que uma contnua manifestao d'Ele ou teofania. A essncia divina, que em si incompreensvel, manifesta-se nas criaturas intelectuais e possvel conhec-la nelas. Teofania o processo que desce de Deus ao homem atravs da graa, para regressar do homem a Deus, com o amor. Teofania significa, tambm, toda a obra de criao, enquanto manifeste a essncia divina, que deste modo se torna visvel nela e atravs dela (1, 10; V, 23). Cada uma das pessoas divinas tem a sua prpria funo no processo da teofania. O Pai o criador de tudo, o Filho cria as causas primordiais das coisas que 35 subsistem nele de forma universal e simples; o Esprito Santo multiplica estas causas primordiais nos seus efeitos; isto , distribui-as por gneros e espcies, por nmeros e diferenas, quer se trate das coisas celestiais, quer das sensveis (11, 22). 181. JOO ESCOTO: A SEGUNDA NATUREZA: O VERBO A segunda natureza, a que criada e cria, corresponde segunda pessoa da Trindade. Contm as ideias e as formas das coisas; portanto o Verbo divino, atravs do qual todas as coisas foram criadas. Escoto interroga-se sobre o valor causal que podem ter as formas subsistentes no Verbo divino; se os corpos do mundo so formados por elementos que foram criados do nada. Se o nada fosse efectivamente a origem de tais corpos, teria sido tambm a sua causa. Sendo assim, o nada seria melhor que as prprias coisas de que foi causa, uma vez que a causa sempre superior ao efeito. Escoto resolve a dificuldade afirmando que os elementos que compem o mundo no foram criados pelo nada, mas pelas causas primordiais. E volta a levantar o problema a propsito destas ltimas. Teriam sido estas criadas do nada? Escoto responde que tambm estas no foram criadas do nada; sempre estiveram com o Verbo porque so coessncias. A criao do nada no se refere s causas primordiais, nem to-pouco s coisas que dependem delas. O nada no encontra lugar nem dentro nem fora de Deus. O facto de as coisas terem sido criadas do nada significa apenas que existe um sentido no qual no so: com efeito, as coisas tiveram um princpio no tempo atravs da gerao e antes desta no apareciam nas formas nem nas espcies do mundo sensvel. Mas, noutro sentido, so sempre, j que subsistem como causas primordiais no Verbo 36 divino, na qual nunca comeam ou deixam de existir (111, 15). A teofania divina comea nas causas primeiras que subsistem no Verbo. Para elas, o prprio Criador criado por si mesmo e por si se cria, isto , comea por surgir nas. suas teofanias, a emergir dos recessos da sua natureza o a descer aos princpios e s coisas, comeando assim a existir juntamente com elas (111, 23). Joo Escoto, ao longo de toda a sua obra, insiste na identidade essencial das criaturas com o Criador, na permanncia da criatura na prpria
essncia do Criador, ria presena substancial deste naquelas. O mundo o prprio Deus na sua auto-revelao. Tal o princpio que domina toda a especulao de Ergena. Deus no pode, certamente, subsistir antes do mundo. Deus precede o mundo, no no tempo, mas apenas racionalmente enquanto causa dele. Mas no comea a ser causa num momento dado, uma vez que essencialmente causa e, embora no fosse causa se no criasse o mundo, a sua criao deve ser eterna, co-eterna com Ele (111, 8). "Deus no existia antes de criar todas as coisas" Q, 72) afirma Escoto. 182. JOO ESCOTO: A TERCEIRA NATUREZA: O MUNDO A terceira natureza, criada e no criadora, o prprio mundo-o conjunto universal das coisas sensveis e no sensveis que procedem das causas primeiras pela aco distributiva e multiplicadora do Esprito Santo. Escoto -sustenta que todos os corpos do mundo so constitudos de forma e matria. A matria, quando privada de forma e de cor, invisvel e incorprea e por isso, objecto no dos sentidos mas da razo. resultado do conjunto das diversas qualidades, por si mesmas incorpreas, que a cons37 tituem reunindo-se conjuntamente: e transforma-se nos distintos corpos medida que se lhe juntam as formas e as cores (111, 14). Tambm a terceira natureza, isto , o mundo, no se distingue na realidade do Verbo divino. A razo, afirma energicamente Escoto, obriga-nos a reconhecer que no Vero no s subsistem as causas primeiras, como ainda os seus efeitos, e do mesmo modo, nele se encontram os lugares e os tempos, as substncias, os gneros e as espcies, at as espcies especialssimas representadas pelos indivduos com todas as suas qualidades naturais. Numa palavra, subsiste no Verbo tudo o que est reunido no universo das coisas criadas, tanto o que compreendido pelos sentidos, ou pela inteligncia humana ou anglica, como o que transcende os sentidos e a prpria mente (111, 16). O mundo foi certamente criado: afirma-o a Sagrada Escritura. O mundo certamente eterno, porque subsiste no Verbo; afirma-o a razo. De que maneira se conciliam criao e eternidade, problema que a mente humana no pode resolver. Mas, na realidade, talvez o problema seja mais aparente do que real. As coisas que subsistem no espao e no tempo e esto distribudas nos gneros e nas formas do mundo sensvel no so, em verdade, distintas das causas primeiras que subsistem em Deus, e so o prprio Deus. No se trata de duas substncias diversas, mas de dois modos diversos de entender as mesmas substncias; na eternidade do Verbo divino, ou na vida do tempo. Assim, no h duas substncias "homem", uma como causa primordial, o outra individuada no mundo; mas uma s substncia, que pode ser entendida de dois modos, ou na sua causa intelectual, ou nos seus efeitos criados. Entendida da primeira forma, est livre de toda a mutabilidade; entendida da segunda, surge formada por qualidades 38 e quantidades diversas e susceptvel de ser conhecida pela inteligncia
(IV, 7). V-se assim, que Deus no apenas o princpio, mas tambm o fim das coisas. A Ele, portanto, retornaro as coisas que dele saram e nele se movem e esto. A Sagrada Escritura ensina claramente o fim do mundo e por outro lado evidente, que tudo o que comea a ser o que antes no era, deixar tambm de ser o que . Pois bem, se os princpios do mundo so as causas de que saiu, estas mesmas causas sero o ltimo termo do seu retorno. O mundo no ser reduzido ao nada, mas s suas causas primeiras; e, uma vez terminado o seu movimento, ser conservado perpetuamente em repouso. Pois bem, as causas primeiras do mundo so o prprio Verbo divino: ao Verbo divino voltar, portanto, o mundo quando chegar o seu termo. Uma vez reunido a Deus, para o qual tende no seu movimento, o mundo no ter um fim ulterior a atingir o necessariamente repousar. Por isso o princpio e o fim do mundo subsistem no Verbo de Deus e so o prprio Verbo (V, 3, 20). Se a tese tpica do pantesmo de que Deus a substncia ou a essncia do mundo, no h dvida de que a doutrina de Escoto um rigoroso pantesmo. "Deus est acima de todas as coisas e em tudo, disse Escoto, s Ele a essncia de todas as coisas porque s ele ; e, sendo tudo em tudo, no deixa de ser tudo fora de todas as coisas. Ele tudo no mundo, tudo ao redor do mundo, tudo ria criatura sensvel, tudo na criatura inteligvel, tudo ao criar o universo, torna-se tudo no universo, est todo em todo o universo, est todo nas vrias partes deste, porque ele o todo e a parte e no nem o todo nem a parte" (IV, 5). Constantemente, o pantesmo, quer na filosofia medieval quer na moderna, assumiu como princpio seu a tese-deste modo expressa,-de que Deus 39 a substncia do mundo. Por outro lado, poder compreender-se que uma outra enrgica afirmao de Escoto Ergena, a de que Deus est fora de todo o universo e que no nem o todo nem a parte, possa ser assumida como prova do carcter no pantesta da sua doutrina. 183. JOO ESCOTO: O CONHECIMENTO HUMANO O homem interior uma imagem da Trindade divina. Escoto retoma e desenvolve, sua maneira, este pensamento de Santo Agostinho. As trs pessoas divinas relacionam-se entre si como a essncia (Ousia,) a potncia (Dytzaniis) e o acto (Energheia). Na alma humana, a essncia a inteligncia ou nous, que a parte mais elevada da nossa natureza e pode perceber Deus e as coisas nas suas causas primordiais. A razo ou logos corresponde virtus ou dynamis e refere-se aos princpios das coisas que vm imediatamente a seguir a Deus. O sentido interior ou dianoia corresponde ao acto ou energheia e diz respeito aos efeitos, visveis ou invisveis, das causas primordiais. Este sentido interior essencial razo e ao entendimento, apesar de o sentido interior, que se serve dos cinco rgos e reside no corao, pertencer mais ao corpo do que alma e perecer com a dissoluo do corpo (11, 23). A estas trs partes da alma correspondem trs movimentos diversos: segundo a alma, segundo a razo, segundo os sentidos. O primeiro movimento aquele
mediante o qual, a alma se move at ao Deus desconhecido, para alm de si prpria e de toda a criatura. Atravs deste primeiro movimento, Deus aparece alma como transcendente a tudo o que e como absolutamente indefinvel. O segundo movimento aquele pela qual a alma define o Deus desconhecido como causa de todas as coisas, por40 ANSELMO DE AOSTA que nele esto as causas primordiais. O terceiro movimento o que diz respeito s razes das coisas singulares. Parte das imagens recolhidas pelos sentidos externos e, a partir dessas imagens, ergue-se at s razes ltimas das coisas das quais so imagens. Atravs deste movimento, a prpria imagem sensvel transfigura-se. De imagem impressa nos rgos dos sentidos, transforma-se em imagem que a alma sente em si como prpria; precisamente desta imagem espiritualizada que a alma parte para ascender at s razes eternas das coisas (11, 23). A correspondncia entre a alma e Deus estende-se tambm quilo que diz respeito ao conhecimento que a alma tem de si prpria. Como Deus cognoscvel. atravs das suas criaturas, mas incompreensvel em si prprio, j que nem ele prprio nem outro pode entender que coisa seja, uma vez que no possui um quid, uma essncia determinada que se possa entender, assim a alma humana sabe que , mas de nenhuma maneira pode conhecer aquilo que . E isto no um limite ou uma imperfeio da prpria mente. Assim como a melhor maneira de aproximarmo-nos de Deus no a afirmao mas a negao, no o conhecimento mas a ignorncia, porque Deus, no tendo limites, no pode ser definido nem restringido a uma essncia determinada; tambm se alma fosse possvel conhecer a sua prpria essncia, isso significaria a possibilidade de circunscrev-la e implicaria a sua dissemelhana com o Criador (IV, 7). 184. JOO ESCOTO: DIVINDADE DO HOMEM Circula em toda a obra de Joo Escoto o sentido do valor superior e divino do homem. O pessimismo prprio dos pensadores cristos, e at de 41 Santo Agostinho, sobre a natureza e o destino do homem, parece atenuar-se neste filsofo at se transformar em exaltao do homem, das suas capacidades e do seu xito final. "0 homem, afirma, no foi chamado imerecidamente fbrica de todas as criaturas; com efeito, todas as criaturas se contm nele. Compreende como o anjo. raciocina como homem, sente como animal irracional, vive como o verme, compe-se de corpo e alma e no carece de nenhuma coisa criada". Em certo sentido, o homem superior ao prprio anjo que, por carecer de corpo, no tem sensibilidade, nem movimento vital (111, 37). Muito significativas so as consideraes que Escoto tece, com visvel complacncia, em torno do tema "se o homem no pecasse ... ". Se o homem no pecasse seria de certo omnipotente como Deus. Com efeito, nada o separaria de Deus, e ele, que a imagem de Deus, participaria totalmente na perfeio do
seu modelo. Pelo mesmo motivo, seria omnisciente, porque, tal como Deus, conheceria nas suas causas primordiais todas as coisas criadas. Se o primeiro homem no tivesse pecado, a semelhana entre a natureza anglica e a humana ter-se-ia transformado numa identidade, e o homem e o anjo ter-se-iam convertido numa mesma coisa. E isto explica-se porque a mesma identidade se estabelece entre homem e homem, quando reciprocamente se compreendem. "Se, afirma Escoto, eu compreendo 9 que tu compreendes, converto-me no teu prprio entendimento e de certa maneira inefvel, converto-me em ti prprio. E quando tu compreendes o que, eu compreendo, convertes-te no meu entendimento, e dos dois entendimentos resulta um s, constitudo por aquilo que ambos sincera e correctamente compreendemos. Porque o homem verdadeiramente o seu entendimento, o qual se especifica e individualiza pela contemplao da verdade (IV, 9). 42 A perfeio do homem to grande que nem mesmo o pecado original chega para destru-Ia. Com elo o homem no perdeu a sua natureza que, enquanto imagem de Deus, necessariamente incorruptvel; perdeu apenas a felicidade, qual estava destinado se no houvesse desprezado o mandamento divino. " preciso afirmar, diz Escoto, que a natureza humana, feita imagem de Deus, nunca perdeu a fora da sua beleza e a integridade da sua essncia e nunca poder perd-las. Uma forma, divina como a alma, permanece sempre incorruptvel, alm do mais, torna-se capaz de suportar a pena do pecado" (V, 6). Com o mesmo optimismo Escoto considera o destino ltimo do homem. A morte para o homem o princpio de uma ascenso que o leva a identificar-se com Deus. No h morte para o homem, mas o retorno a um estado antigo que perdeu ao pecar. A primeira fase deste retorno a Deus d-se quando o corpo se dissolve nos quatro elementos de que formado. A segunda fase a ressurreio, na qual cada um receber de novo o seu corpo, atravs da reunio dos quatro elementos. Na terceira fase, o corpo transformar-se- em esprito. Na quarta fase, toda a natureza humana voltar s suas causas primordiais, que subsistem em Deus de forma imutvel. Na quinta fase, a natureza humana, juntamente com as suas causas, mover-se- em Deus "como o ar se move na luz" (V, 8). Este triunfo final da natureza humana no ser, no entanto, uma anulao em Deus. O dissolver-se mstico do homem em Deus est excludo por Joo Escoto. O destino da natureza humana no o de perder-se no ser divino, mas o de permanecer na sua verdadeira substncia, de reintegr-la nas suas causas primordiais e de subsistir na sua total perfeio o mbito do ser divino, como o ar na luz. O misticismo neoplatnico aqui corrigido 43 pelo sentido do carcter irredutvel da natureza humana, carcter pelo qual conserva, mesmo perante Deus, e em virtude de Deus, a sua autonomia substancial.
185. JOO ESCOTO: O MAL E A LIBERDADE HUMANA Esta mesma posio leva Joo Escoto a modificar a doutrina agustiniana da liberdade humana. De Santo Agostinho, retoma o ponto de partida para a sua doutrina do mal. Que o mal no uma realidade, mas uma negao da realidade, para Escoto Ergena um pressuposto evidente. Deste pressuposto tira a concluso de que Deus no conhece o mal. Com efeito, o conhecimento divino imediatamente criador: Deus no conhece as coisas que so, porque so: mas as coisas so porque Deus as conhece. A causa da sua essncia a cincia divina. Tudo o que , pensamento divino. O homem definido por Escoto como "uma noo intelectual eternamente criada na mente divina"; e esta mesma definio aplica-se a tudo o que existe (IV, 7). Daqui se conclui que se Deus conhecesse o mal, se o mal fosse um pensamento divino, o mal seria real no mundo (11, 28). Mas o mal no real. No algo substancial e as prprias aparncias sedutoras de que se reveste perante os homens maus, no so por si, ms. Um objecto belo e precioso que inspira ambio no avarento pode inspirar, pelo contrrio, admirao desinteressada no homem sbio. No , portanto, a aparncia bela que leva ao pecado e por si o mal, mas a disposio malfica daquele que a contempla (IV, 16). Do mal, que no realidade, no h portanto em Deus prescincia; nem to-pouco predestinao. A pena que recai sobre o que peca no foi predestinada por Deus; pois tambm ela dor e privao, e no uma realidade 44 positiva. A pena consequncia do pecado e segue-se como se estivesse ligada a ele por uma corrente; mas nem a pena, nem o pecado subsistem na mente divina, na qual apenas encontra lugar o ser e o bem (De praedest., 15, 8). Quando as Sagradas Escrituras falam de predestinao ou de prescincia divina do mal, h que entender estas expresses no sentido com que ns costumamos saber que, depois do sol se pr vm as trevas, que o silncio vem depois das aclamaes e a tristeza depois da alegria. Mas as trevas, o silncio, a tristeza, no so mais que noes negativas e indicam. apenas a ausncia das realidades -positivas correspondentes (ibid., 15, 9). Para Escoto, tal como para Santo Agostinho, o mal reduz-se ao pecado, deficincia ou ausncia de vontade. Mas enquanto para Santo Agostinho a vontade livre unicamente a vontade do bem, para Escoto Ergena a vontade livre o livre arbtrio, capaz de decidir-se quer pelo bem, quer pelo mal. certo que a causa do pecado est na mutabilidade da vontade. Esta mutabilidade, que causa do mal, certamente ela prpria um mal (Do div., nat., IV, 14). Mas sem ela o homem no seria verdadeira e plenamente livre. Se Deus tivesse dado ao homem apenas a capacidade de querer o bem e de viver de acordo com a justia, de forma a que o homem s se pudesse mover numa direco, o homem no sena absolutamente livre, mas apenas livre em parte e em parte no livre. Ora uma liberdade parcial no possvel. Se mesmo numa parte mnima o homem no livre, ele absolutamente no-livre. Um livre arbtrio que oscila no pode permanecer de p (De praedest., 5, 8). Se se afirma que no viria dano ao homem pelo facto de possuir um livre arbtrio claudicante, poder objectar-se que sem um verdadeiro e total livre arbtrio a justia divina no poderia exercer-se. Uma vez que a jus-
45 tia consiste em dar a cada um o que seu, e da parte de Deus em reconhecer a cada homem o mrito de haver obedecido aos seus preceitos. Mas que significado poderiam ter esses preceitos para um homem que apenas pudesse fazer o bem? Deus teve portanto, que dar ao homem um livre arbtrio pelo qual ele pudesse pecar ou no pecar. S um livre arbtrio assim criado torna o homem capaz de usufruir livremente a ajuda que lhe oferece a graa divina (Ibid., 5, 9). A liberdade do homem consiste portanto na possibilidade de pecar ou no pecar, uma vez que s essa possibilidade torna o homem susceptvel de ser premiado ou castigado segundo um juzo. E como s a vontade dotada de livre arbtrio responsvel pelo pecado, s a vontade pode ser castigada por Deus. Tambm os juzes humanos, se no so impelidos pela sede de vingana, tm em vista a correco dos rus e castigam no a sua natureza, mas apenas os seus delitos. Do mesmo modo, a punio divina do pecado dirigese apenas vontade que cometeu o pecado, mas deixa ntegra e salva a natureza do pecador, que permanece capaz de regressar a Deus, no triunfo final (V, 31). Para este triunfo o homem ajudado tanto pela sua natureza como pela graa divina. O homem deve prpria natureza o haver sido retirado do nada e existir; graa deve a sua deificatio pela qual regressa substncia divina. A natureza dada, a graa um dom gratuito, concebido pela divina bondade sem que tenha havido mrito por parte do homem. 186. JOO ESCOTO: A LGICA De acordo com a orientao platonizante do sistema, a lgica de Escoto Ergena realista: pressupe a realidade objectiva de todas as deter46 minaes lgicas universais, de todos os conceitos de gnero e espcie. Est no esprito de uma lgica que quanto mais um conceito universal, tanto maior a sua realidade objectiva; assim os conceitos dos gneros supremos so mais reais que os dos gneros menos extensos; e os conceitos de gnero so mais reais que os conceitos de espcie, nos quais todo o gnero se subdivide; enfim, as espcies especialssimas, isto , os indivduos, tm uma -realidade menor que as espcies superiores ou mais extensas. Comentando uma passagem bblica, Escoto afirma que Deus criou primeiro o gnero, porque nele se contm e esto reunidas todas as espcies; o gnero divide-se em seguida e multiplica-se nas formas gerais e nas espcies especialssimas. Daqui pode tirar-se uma concluso fundamental sobre o valor objectivo da dialctica: "A arte que divide os gneros em espcies e resolve as espcies e os gneros, a chamada dialctica, no foi criada atravs das investigaes humanas, mas baseia-se na prpria natureza e foi criada pelo Autor de todas as artes que so verdadeiramente artes, descoberta pelos sbios e empregada para proveito de toda a classe de investigaes sobre as coisas." (IV, 4". E assim a tbua lgica dos conceitos dispostos segundo a ordem da sua universalidade, identifica-se, segundo Escoto, com a ordem metafsica das determinaes do ser. A mais universal determinao lgica, e por conseguinte, a mais real
determinao objectiva, a essncia (ousia), que incorprea, simples e indivisvel. A essncia existe nos gneros e nas espcies, mas no se divide neles, permanecendo no-multiplicada, mesmo que se multiplique nos gneros, nas espcies e nos indivduos (1, 34). "A essncia subsiste toda reunida, est eterna e imutavelmente nas suas subdivises, e todas as suas subdivises constituem simultaneamente e sempre, nela, uma 47 unidade inseparvel" (1, 49). Por isso, a essncia de todas as coisas na realidade uma s, o prprio Deus (1, 1). incognoscvel, e incompreensvel como o prprio Deus; o que se percebe com os sentidos ou se compreende com o intelecto em toda a criatura, apenas algum acidente da essncia incompreensvel (1, 3). A lgica de Escoto, que nasceu dois sculos antes de a discusso sobre os universais se transformar no problema fundamental da dialctica, apresenta antecipadamente a soluo tipicamente realista do problema e a fonte de todas as solues do mesmo tipo que foram adoptadas depois. Representa tambm o papel de um termo de comparao polmico para as escolas anti-,realistas. NOTA BIBLIOGRFICA 177. As obras de Joo Escoto e as suas tradues do Pseudo-Dionsio e dos Ambgua de Mssimo o Confesor, in P. L. 122.1; De divisione naturae, ed. Schlter, Munique, 1938; Commentarius ad Opuscula Boethii, ed. Rand, Mnaco, 1906;Autographa, ed. Rand, Mnaco, 1912. 178. J. Huber, Johannes Scotus Erigena, 1861, ed. fot., 1960; Bett, J. S. E., Cambridge, 1925; Cappuyns, J. S. E., Paris-Louvaina, 1933, com bibl.; Dal Pra, S. E., Milo, 1951 com bibliografia. 181. Gregory, Sulla metafisica di G. S. E., in "Giorh. Crit. della Fil. Ital.", 1957; Mediazione e incarnazione, n~ filosofia dell'E.> Ib., 1960. 48 III DIALCTICOS E ANTIDIALCTICOS 187. GERBERTO As condies polticas do sculo X, sobretudo a dissoluo do imprio carolngio, detiveram quase por completo a recuperao intelectual do Ocidente. Restabelecida a unidade do imprio com Oto o Grande, o movimento da cultura tornou a prosseguir. Neste perodo aparece uma grande figura de erudito e de mestre, Gerberto, que se formou na escola de Aurillac. A partir de 972 foi professor na escola de Reims; em 982 foi designado abade de Bobbio, em 991, arcebispo de Reims; em 998, arcebispo de Ravena; em 999, papa, com o nome de Silvestre 11. Morreu no ano de 1003. Gerberto ocupou-se de todas as cincias mas sobretudo destacou-
se no estudo da mecnica e das matemticas. Atribui-se-lhe a inveno de um relgio e de uma espcie de sirene a vapor de gua. Para explicar a sua vasta erudio, um antigo cronista, Vicente de Beauvais (Speculum historiale, XXIV, 98) conta que Gerberto tinha feito uma larga estadia em Espanha, 49 pas de nigromantes. A, conseguiu seduzir a filha de um desses doutores diablicos e roubar-lhe, em seguida, os livros. O mago, advertido pelas constelaes celestes, disps-se a perseguir o ladro; este, no entanto, aproveitando-se das indicaes dos mesmos astros, conseguiu furtar-se perseguio que aquele lhe movera, escondendo-se durante uma noite debaixo do arco de uma ponte destruda. O diabo em pessoa foi busc-lo depois e levou-o sobre o mar para que um dia algum dos seus adeptos pudesse ocupar a ctedra do prncipe dos apstolos. Provavelmente, esta lenda fabulosa oculta a realidade de uma viagem de Gerberto a Espanha e da procedncia rabe de boa parte da sua cultura. Gerberto escreveu comentrios Isagoge de Porfrio, s Categorias e ao livro De interpretatione, de Aristteles, e aos Comentrios lgicos de Bocio. O seu escrito, De rationali et ratione uti, uma questo que disputou em Ravena com Otrcio, na presena de Oto II, prope-se investigar o significado da expresso "empregar a razo". A questo apresenta-se, primeira vista, com carcter lgico-gramatical; mas a soluo de Gerberto eleva-a. a um plano metafsico. regra fundamental da lgica aristotlica que o predicado seja mais universal que o sujeito: por exemplo, na proposio "Scrates mortal", o predicado mortal mais universal que o sujeito, porque pode referir-se a muitos outros seres alm de Scrates. Mas na expresso que se encontra em Santo Agostinho (De ord., 11, 12, 35): Rationale, id est quod ratione utitur, o predicado "ratione utitur" mais restrito que o sujeito "rationale", porque nem sempre quem racional se serve efectivamente da razo. Esta a dificuldade que d origem discusso. Para resolv-la, Gerberto distingue as substncias necessrias e eternas das mutveis e caducas. As primeiras so suprasensveis, cognoscveis apenas pela razo e sempre em acto. 50 As outras so sensveis e naturais, sujeitas a mudana e, por conseguinte, gerao e corrupo. Ora, uma vez que todas as substncias da primeira classe esto sempre em acto, o ser -racional e o servir-se da razo so nelas completamente coincidentes; porque so racionais precisamente no sentido de que a sua razo est sempre em acto, ou seja, que sempre se servem dela. A situao diversa quando se trata de substncia da segunda classe. Na alma, que est unida ao corpo, a racionalidade no est em acto, mas em potncia, e passa da potncia ao acto precisamente quando se diz que a alma "se serve da razo". Daqui se conclui que, para a alma, o servir-se da razo no um predicado necessrio, como para as substncias supra-sensveis, que so razo em acto, mas um atributo acidental que pode acontecer ou no racionalidade potencial da pr pria alma. Deste modo, Cerberto, empregava os conceitos aristotlicos de potncia e acto, para chegar a uma distino entre substncias racionais puras e substncias racionais sensveis, que de grande interesse para o posterior desenvolvimento da metafsica escolstica.
188. DIALCTICOS E ANTIDIALCTICOS A segunda metade do sculo XI e o sculo XII so, no Ocidente, um perodo de florescimento intelectual. A cultura deixa de ser patrimnio das abadias e o ensino tende a organizar-se na forma que h-de possuir no sculo XIII com as universidades. Este perodo representa a primeira verdadeira idade da escolstica que alcana a conscincia do seu problema fundamental: o de compreender e justificar as crenas da f. Alguns julgam encontrar a soluo do problema entregando-o razo e cincia que parece ser mais prpria dele, a dia51 Jctica; outros desconfiam da dialctica. e apelam para a autoridade dos santos e dos profetas, limitando a sua tarefa de investigao filosfica defesa das doutrinas reveladas. Daqui nasce a polmica entre dialcticos e telogos e que ocupa o sculo XI. Na realidade, mesmo os mais hostis dialctica, mesmo os mais acrrimos defensores da superioridade da f, no abandonam a investigao, propriamente escolstica, do melhor caminho para levar o homem inteligncia das verdades reveladas. Entre os dialcticos sobressai a figura de Berengrio de Tours. Formou-se no convento de Saint-Martin, em seguida frequentou a escola de Chartres, dirigida por Fulberto, de quem foi discpulo. Desdenhando as outras artes liberais, dedicou-se dialctica e em breve se divertia ao recolher nos escritos dos filsofos argumentos contra a f dos simples. Conta-se que Fulberto, no leito de morte, disse que Berengrio era um diabo enviado pelos abismos para corromper e seduzir os povos. O seu xito como professor foi, todavia, enorme. No ano de 1040 chegou a arquidicono de Angers. Morreu em 1088. Berengrio pe a razo acima da autoridade e exalta a dialctica, sobrepondo-a a todas as cincias. Baseando-se em Santo Agostinho, considera a dialctica como a arte das artes, a cincia das cincias. Recorrer dialctica significa recorrer razo. E quem no recorre razo pela qual o homem a imagem de Deus, abandona a sua dignidade e no renova em si, no dia a dia, a imagem divina (De sacra coena, edic. Vischer, p. 100). A mais famosa das polmicas de Berengrio a que se refere Eucaristia, que sustentou contra Lanfranco, e qual est dedicado o seu escrito De sacra coena adversus Lanfrancum. Berengrio sustenta o princpio aristotlico de que os acidentes ou qualidades de uma coisa no podem subsistir sem a substncia dessa mesma coisa. Deste modo, no sacra52 mento da Eucaristia os acidentes do po e do vinho mantm-se: a substncia no pode, por conseguinte, ter sido destruda, e o po e o vinho devem permanecer como tais, mesmo depois da consagrao. Esta vem acrescentar substncia do po e do vinho um corpo inteligvel que o corpo de Cristo. Tal doutrina impugnava a definio dogmtica. da Eucaristia, que afirma a transformao da substncia do po e do vinho no corpo e no sangue de Cristo; e suscitou violentas polmicas. A doutrina de Berengrio foi condenada pela
Igreja. O mais notvel adversrio de Berengrio foi Lanfranco de Pavia, nascido no ano de 1010, aluno da escola de Bolonha, j ento florescente. Lanfranco, dotado de um esprito aventureiro e entusiasta, percorreu a Borgonha e a Frana e fixou-se na Normandia. Aqui fez-se monge na abadia de Bec, que atravs dele se tornou famosa. Em 1070 foi nomeado arcebispo de Canturia; morreu em 1089. Lanfranco um adversrio da dialctica que , segundo pensa, completamente incapaz de levar o homem a compreender os mistrios divinos. Declara energicamente que prefere ouvir discutir sobre os mistrios da f com autoridades sagradas de que com razes dialcticas. (De corp. et sang. Domit, 7). "Quem vive da f, afirma, no procura analiz-la com a argumentao nem conceb-la com a razo; prefere prestar f aos mistrios celestes em vez de se cansar em vo, pondo de lado a f, para compreender o que no pode ser compreendido" (ibid. 17). Mas, no obstante estas afirmaes, Lanfranco no deixou de ser um dialctico. Se a dialctica, abandonada a si prpria, falha no campo dos mistrios da f, guiada e sustentada pela f, pode prestar teis servios quela. Com este esprito comentou as cartas de So Paulo, como nos d testemunhos Sigiberto de Gemblou (De sctipt. eccles., c. 155; em Patr. Lat., 160, 582 c): "Lanfranco, dia53 lctico e arcebispo de Canturia, exps as cartas do apstolo So Paulo: e sempre que teve oportunidade, apresentou as suas teses, os seus argumentos e as suas concluses segundo as regras da dialctica". Pode dizer-se que na relao entre a razo e a f, Lanfranco escolheu a mesma posio que depois foi assumida pelo seu grande discpulo, Anselmo de Aosta. Contra os dialcticos polemizou Pedro Damiano, nascido em 1007 em Ravena. Em 1035 retirou-se para viver como ermito em Fonte Avellana, e dali foi chamado, no ano de 1057, para ser consagrado cardeal-bispo de Aosta. Morreu em Faenza em 1072. A maior parte da obra de Pedro Damiano dedicada ascese monstica e a questes eclesisticas. A sua posio perante a dialctica e as cincias mundanas est expressa na obra que comps em 1067, De divina omnipotentia. "Muitas vezes, afirmou, a virtude divina destri os silogismos armados pelos dialcticos e as suas subtilezas e confunde os argumentos que foram considerados Inevitveis e necessrios pelos filsofos" (De div. omnip., 10). A dialctica e, em geral, toda a arte ou percia humana no deve chamar a si arrogantemente o trabalho principal e pelo contrrio deve servir velut ancilla dominae quodam famulatus obsequio (ibid. 5). A tese tpica de Pedro Damiano a da superioridade da omnipotncia divina nos confrontos da natureza e da histria. Uma vez que as leis so atribudas natureza por Deus, as coisas naturais obedecem s suas leis at que Deus o queira; mas, quando Deus no quer, esquecem a sua natureza e obedecem a Ele. A omnipotncia divina no encontra nenhum limite, nem mesmo no passado: pois Deus pode fazer com que as coisas que aconteceram no tenham acontecido: portanto o pode (no tempo presente) refere-se vontade de Deus que eterna e est fora do tempo; e ns devemos antes dizer que podia 54
no faz-las acontecer. A muitos dos prprios Escolsticos consideraes semelhantes parecero implicar a tese da superioridade da omnipotncia divina em relao ao prprio princpio da contradio: aquela tese pode, com efeito, exprimir-se com a afirmao de que Deus pode fazer com que no tenham acontecido as coisas que aconteceram. De qualquer modo, Pedro Damiano serviase da tese da omnipotncia divina para retirar validade autnoma ao mundo da natureza e do homem; e mesmo no campo poltico (como testemunham as consideraes desenvolvidas na sua Disceptatio Sinodalis) a sua preocupao dominante a de retirar ao Imperador toda a dignidade de potncia autnoma e de consider-lo como um simples delegado do Papa. NOTA BIBLIOGRFICA 187. As obras de Gerberto, em Patrist. Lat., vol. 139, 57-338; outra edio de Olleris, Paris, 1867. Epistolae, ed. Havet, Paris, 1889; Opera mathematica, ed. Bubnov, Berlim, 1899.-PICAVET, Gerbert ou le pape philosophe, Paris, 1897; LEFLON, Gerbert, P=3, 1946. 188. As obras de Berengrio in P. L., 150.1; De sacra coena, ed. Vischer, Berlim, 1834; ed. Beekenkamp, L'Aya, 1941.-A. J. MACDONALD, Berengar and the Reform of Sacramental Doctrine, Londres, 1930. As obras de Lanfranco in P. L., 150.'.-MACDONALD, Lanfrane, Oxford, 1926. As obras de Pedro Damiano in P. L., 144.o-145.o; De divina omnipotentia e outros opusculos, ao cuidado de Brezzi e Nardi, com trad. ital., Florena, 1943. -ENDREs, nei "Beitrge", VLU, 3, 1910; J. GONSETTE, P. D. et Ia culture profane, Lovaina, 1956. 55 IV ANSELMO DE AOSTA 189. ANSELMO: A FIGURA HISTRICA Anselmo de Aosta representa a primeira grande afirmao da investigao na Idade Mdia. Mas a sua investigao tem mais um valor religioso e transcendente do que humano. Com acentos agustinianos, abandona a Deus a iniciativa e a orientao das suas pesquisas; e no esforo de aproximar-se da verdade revelada no v mais que a progressiva aco iluminadora da prpria verdade. "Ensina-me a procurar-te, diz (Pros., 1), e mostra-te a mim que te procuro. Eu no posso procurar-te, se Tu no me ensinas, nem encontrar-te se Tu no te mostras. Que eu te procure desejando-te, que eu te deseje procurando-te, que te encontre amando-te e que te ame procurando-te. Reconheo-te, Senhor, e dou-te graas por teres criado em mim esta tua imagem para que me lembre de Ti, pense em Ti e te ame; mas esta imagem est to gasta pela misria dos vcios, to ofuscada pela acumulao dos pecados, que no pode fazer aquilo para que foi feita se Tu no a renovares e a no reconstitures. No pretendo,
57 Senhor, penetrar na tua altssima dignidade, porque no posso, de facto, comparar a ela o meu entendimento, mas desejo entender de alguma maneira a tua vontade que o meu corao cr e ama. Tambm no procuro entender para crer mas creio para entender. E tambm creio nisto: que seno acreditar primeiro, tambm no poderei compreendem. A -prioridade da f sobre a compreenso exprime claramente o carcter religioso da investigao de Anselmo, tal como a prioridade da compreenso sobre a f exprimir o carcter filosfico da investigao de Abelardo. Esta religiosidade encontra a sua melhor expresso no ponto culminante da investigao de Santo Anselmo, a prova ontolgica da existncia de Deus. Como o prprio Anselmo reconhece, na sua resposta a Gaunilon, o pressuposto da prova a f. S a f transforma em afirmao indubitvel a possibilidade de pensar o ser maior de todos. Se se pode pensar este ser, deve-se pens-lo como existente; mas no se pode pens-lo verdadeiramente apenas com a f. A prova ontolgica a prpria f que esclarece o seu princpio e se converte em certeza intelectual. 190. ANSELMO: VIDA E OBRA Anselmo nasceu em 1033 em Aosta, no Piemonte. Entrou para o mosteiro de Bec, na Normandia, foi prior em 1063 e abade em 1078. A maior parte das suas obras so o resultado das discusses que dirigia no mosteiro. De 1093 at 1109, ano da sua morte, foi arcebispo de Cantur@a. O seu secretrio, Eadmer, d-nos uma pormenorizada descrio da sua vida. De natureza dcil e contemplativa, Anselmo foi impelido para a vida do claustro por necessidade de recolhimento e de 58 meditao. A sua fama de santo atribuiu-lhe bem cedo poderes sobrenaturais. Curou e levou penitncia um velho monge, de quem previu a morte, que se verificou na altura e da forma que havia predito. Apagou um incndio numa casa vizinha do mosteiro fazencio o sinal da cruz sobre as chamas. E uma vez que estava na sua cela meditando sobre o dom da profecia viu atravs, das paredes, os frades que preparavam na igreja o ofcio da meia-noite. Afastado contra a sua vontade da vida contemplativa, teve que ocupar-se de negcios e poltica, primeiro como abade de Bec e depois como arcebispo de Canturia. Na qualidade de arcebispo viu-se envolvido na vida agitada da Igreja inglesa nos tempos de Guilherme o Vermelho que pretendia subordinar sua vontade o cloro ingls e subtrair-se vontade papal. Anselmo dirigiu-se a Roma para buscar apoio e conforto junto de Urbano 11. Regressado a Inglaterra teve novos desentendimentos com Henrique 1, que queria conservar o direito de investidura dos bispos com o anel e a cruz. Conseguiu um compromisso pelo qual o rei renunciava a conferir a investidura e os bispos rendiam-lhe homenagem (1106). Alguns anos depois, Anselmo, que nunca abandonara as suas meditaes, morria, quando procurava concluir as suas investigaes sobro a origem da alma.
Entre os anos 1070 e 1078 Anselmo comps o Monologion, cujo primeiro captulo era Exemplum meditandi de ratione fidei; em seguida o Proslogion, que primeiramente se intitulava Fides quarens intellectum e o apndice polmico Liber apologeticus contra Gaunilonem; em continuao, comps quatro dilogos, De veritate, De libero arbtrio De casu diabuli, De gramatico. Nos ltimos anos da sua vida escreveu o Cur Deus homo e o seu apndice De conceptu virginali. Outras obras suas: De fide 59 TritWatis, De concordia praescientiae et praedestinationis, Meditationes, e, alm disso, homilias, discursos e cartas. 191. ANSELMO: F E RAZO A frase que exprime a posio de Anselmo, sobre o problema escolstico a seguinte: Credo ut inielligum (Pros., 1). A f o ponto de partida da investigao filosfica. Nada se pode compreender se no se tem f; mas a f por si s no basta, preciso confirm-la e demonstr-la. Esta confirmao possvel. "0 que ns cremos pela f sobre * natureza divina e as pessoas da mesma, excepto * encamao, pode ser demonstrado com razes necessrias, sem se recorrer autoridade das Escrituras" (De fide Trin., 4). E, uma vez que isso possvel, passa a ser um dever: " negligncia no intentar compreender o que se cr, depois de havermos sido confirmados pela f" (Cur Deus homo, 12). A prpria encarnao apresentada por Anselmo, na obra que dedicou a este tema, como uma verdade que a razo pode alcanar por si prpria; no existe dvida, com efeito, de que os homens no teriam podido salvar-se, se o prprio Deus no tivesse encarnado e no tivesse morrido por eles (ibid. prol.). Deste modo, Anselmo considera o acordo entre a f e a razo intrnseca e essencial. Certamente que, se uma contradio se produzisse, no seria necessrio admitir a verdade do raciocnio, mesmo quando este parecesse irrefutvel (De concordia praescientiae, 6); mas Anselmo est intimamente seguro de que no pode haver uma verdadeira contradio, porque a inteligncia est iluminada pela luz divina, exactamente como a f. O que no implica, por outro lado, que a verdade se encontre inteiramente ao alcance do homem. "Seja o que for que o homem possa dizer sobre o saber, 60 afirma Anselmo, as razes supremas, os mistrios da f, -permanecem sempre escondidos" (Cur Deus homo, 1, 2). O que investiga uma realidade incompreensvel, como a Trindade, deve bastar-lhe alcanar com a inteligncia o conhecimento de que isso exista, ainda que no compreenda de que modo exista. (Mon., 64). Anselmo afirmou desta forma, em limites extensos, o valor da investigao. Distingue a verdade do conhecimento, a verdade do querer e a verdade da coisa. A verdade do conhecimento consiste na conformidade do conhecimento com
a coisa e consegue-se quando se conhece a coisa tal como . Esta verdade define-a Anselmo como rectitudo cognitionis. A verdade da vontade , analogamente, rectitudo voluntatis. Agir segundo a verdade, significa fazer o bem, fazer o que se deve fazer. Mas tambm aqui o critrio objectivo; a medida est no objecto, isto , na coisa. O fundamento de toda a verdade a verdade da coisa, a rectitudo rei. Mas esta verdade, por sua vez, est fundada na verdade eterna, que Deus: as coisas so verdadeiramente aquelas que esto na mente de Deus, na qual subsistem as suas ideias ou exemplares. O prprio Deus , portanto, a absoluta verdade, que norma e condio de qualquer outra verdade (De verit., 2-10). Anselmo segue aqui os passos da especulao de Santo Agostinho na sua De vera religione. No mbito do pensamento platnico-agustiniano movem-se tambm as suas investigaes sobre a existncia de Deus. 192. ANSELMO: A EXISTNCIA DE DEUS O Monologion um conjunto de reflexes sobre a essncia divina que conduzem a uma demonstrao da existncia de Deus. Anselmo parte do pressuposto de que o bem, a verdade, e em geral 61 todo o universal, subsiste independentemente das coisas particulares e no apenas nelas. H muitas coisas boas, quer sejam meios, isto , por utilidade, quer sejam fins, isto , pela sua bondade ou beleza intrnseca. Mas todas so mais ou menos boas e no de forma absoluta; pressupem, portanto, um bem absoluto, que seja a sua medida e do qual obtenham o grau de bondade ou verdade que possuem. Este sumo bem Deus. Da mesma maneira, tudo o que perfeito e, em geral, tudo o que existe, existe por participao de um Ser nico e sumo. O sumo bem, o sumo ser, o sumo grau, tudo o que no mundo tem verdade e valor, coincidem em Deus. O Monologion desenvolve uma argumentao cosmolgica que vai do particular ao universal e do universal a Deus. O Proslogion desenvolve, pelo contrrio, uma argumentao ontolgica que comea no simples conceito de Deus para chegar demonstrao da sua existncia. Est dirigido contra a negao pura e simples da existncia de Deus, contra o nscio do Salmo XIII "que disse em seu corao: Deus no existe". Evidentemente, mesmo o que nega a existncia de Deus deve pensar no conceito de Deus, pois impossvel negar a realidade de algo que nem sequer se pensa; a prova que vai do conceito realidade , portanto, a que no pode ser negada de modo nenhum. Portanto o conceito de Deus o de um Ser maior de que no se pode pensar nada maior (quo maius cogitari nequit). Mesmo o nscio deve admitir que o Ser, a respeito do qual nada maior pode ser pensado. existe no intelecto, mesmo que no exista na realidade. Com efeito, uma coisa existir na nossa inteligncia, e outra coisa existir na realidade; a imagem que o pintor quer pintar no existe ainda na realidade, mas existe certamente no seu pensamento. Posto isto, aprova de Anselmo a seguinte: 62 "Certamente, aquilo de que no se pode pensar nada maior, no pode existir apenas no intelecto. Porque se existisse apenas no intelecto, poder-se-ia
pensar que existe tambm na real-idade e que, portanto, era maior. Assim, se aquilo em relao ao qual nada maior se pode pensar existe apenas no intelecto, aquilo em relao ao qual nada maior se pode pensar , por sua vez, aquilo de que se pode pensar algo de maior. Mas isto , certamente, impossvel. Portanto, no h dvida de que aquilo do qual nada maior se pode pensar existe tanto no intelecto como na realidade. "(Prosl., 2). O argumento baseia-se em dois pontos: 1.o que o que existe na realidade "maior", ou mais perfeito do que o que existe apenas no intelecto; 2.o que negar que existe realmente aquilo em relao ao qual nada maior pode pensar-se, significa contradizer-se, porque significa admitir que se pode pens-lo maior, isto , existente na realidade. objeco de que ento no se v como possvel pensar que Deus no existe, Anselmo responde que a palavra pensar tem dois significados: pode pensar-se a palavra que indica a coisa e pode pensar-se a prpria coisa. No primeiro sentido pode pensar-se que Deus no existe, como, por exemplo, se pode pensar que o fogo gua; no segundo sentido, no se pode pensar que Deus no existe (Prosl., 4). Ao argumento ontolgico, o monge Gaunilone, do mosteiro Mar-Montier, no seu Liber pro insipiente, ops que, em primeiro lugar todo aquele que decididamente nega a existncia de Deus comearia por negar que tivesse o Seu conceito (que o ponto de partida do argumento ontolgico); e, em segundo lugar, mesmo admitindo que se tenha o conceito de Deus como o de um ser perfeitssimo, deste conceito no pode deduzir-se a existncia de Deus, da mesma maneira que no pode deduzir-se 63 a realidade de uma ilha perfeitssima a partir do conceito de tal ilha. Anselmo replicou com o Uber apologeticus. impossvel negar que se pode, pensar em Deus: para demonstrax esta impossibilidade basta a mesma f de que tanto Anselmo como Gaunilonern esto dotados; e se se pode pensar em Deus, deve-se reconhec-lo como existente, sendo impossvel negar a existncia quilo que se pode pensar como a maior de todas as coisas. De uma ilha fantstica, ainda que se a conceba perfeita, no se pode dizer que ;seja aquilo em relao ao qual nada mais perfeito pode pensar-se. Da possibilidade de pens-la no se segue da simples possibilidade de pensar em Deus como o ser mais perfeito de todos. O argumento ontolgico foi uma vez defendido e outras criticado durante a Escolstica e estas alternativas mantiveram-se no pensamento moderno. Na realidade, o argumento no uma prova mas um princpio. No uma prova, porque a existncia que se pretende deduzir est j implicitamente contida na definio de Deus como o ser em relao ao qual nada maior se pode pensar e, por isso, no simples pensamento de Deus: como prova um crculo vicioso. Como princpio, exprime a identidade de possibilidade e realidade no conceito de Deus. Se se pode pensar Deus, deve-se pens-lo como existente: o pensamento de Deus o prprio pensamento desta identidade da possibilidade e da existncia, identidade que, como Anselmo afirma no Liber apologeticus, realizada pela f. A f consiste precisamente em admitir, como necessariamente real, a perfeio possvel: o argumento ontolgico, que deduz dessa perfeio aquela existncia no , por conseguinte, outra coisa seno a
explicao da f na sua expresso racional ou no seu princpio lgico. Tratase uma vez mais das fides quarens intellectum, do credo ut intellgam: do 64 processo atravs do qual o acto de f se converte em acto de razo e a iluminao divina em investigao filosfica. 193. ANSELMO: A ESSNCIA DE DEUS Das prprias provas que demonstram a existncia de Deus, resulta que s Deus o ser perfeito e absoluto e que as outras coisas quase no so ou apenas so (fere non esse et vix esse, Mon., 28). Sujeito ao devir e ao tempo, o ser das coisas finitas comea e acaba continuamente e continuamente muda; por isso um ser aproximativo e apenas tal, no podendo ser comparado com o ser imutvel de Deus. Ao qual Santo Anselmo reconhece aquela necessidade, cujo conceito ia sendo elaborado pela escolstica rabe, a partir de Avicenas. A natureza de Deus tal que no pode proceder nem de si nem de outro; nem d a si prpria uma matria da qual possa ser retirada, nem outro pode dar-lhe tal matria (Mon., 6). , portanto, originria e necessria. Por conseguinte, as propriedades que se afirmam da natureza divina devem ser predicados dela quidditativamente e no qualitativamente: isto , como partes ou aspectos integrantes da essncia divina, mas de forma alguma diversas desta essncia. Deus no pode ser justo ou sbio, se o no for em si e por si; no , certamente, pela participao de uma justia ou sabedoria distintas d'Ele. O melhor portanto, dizer no que Deus justo, mas que * justia; no que tem vida, mas que a vida; * analogamente que a verdade, o bem, a grandeza, a felicidade, a eternidade, o poder, a imutabilidade, a unidade e, em geral, todas as qualidades 65 que implicam excelncia e perfeio em quem as possui (Mon., 15-16). Por outro lado, todas estas qualidades no podem subsistir na essncia divina como uma multiplicidade numrica. A natureza divina exclui toda a composio e no pode constar de partes ou de aspectos diversos. As qualidades diversas que se lhe atribuem, enquanto idnticas a ela, so idnticas entre si; e assim a justia ou a sabedoria e qualquer outra qualidade a prpria essncia divina e, quem afirma uma delas afirma tambm esta (Mon., 17). Disto se conclui que a essncia divina no substncia, no sentido de substracto ou esteio de qualidades ou acidentes. substncia no sentido de que subsiste por si e em si; mas neste sentido no pode ser compreendida sob a categoria universal de substncia, uma vez que est fora de todo e qualquer conceito genrico. A nica determinao que se pode atribuir essncia divina como substncia a espiritualidade; o ser espiritual , com efeito, mais excelente que o ser corpreo e por isso o nico que prprio de Deus (Mon., 27). Uma tal substncia est absolutamente para alm das variaes temporais. Na vida divina, no existe sucesso, tudo est presente num nico acto
indivisvel. Est completa de uma vez para sempre na sua totalidade o no pode ter aumento ou diminuio (ibid., 24). A sua imutabilidade exclui, em suma, que nela existam caracteres acidentais, que, como tais, implicariam mutabilidade. Em Deus podem subsistir tais caracteres, mas no analogamente ao que, por exemplo, a cor do corpo, mas apenas como relaes determinadas, puramente exteriores, como quando se diz que maior que todas as outras naturezas. S nestes limites, a categoria de acidente no contradiz a natureza divina (Ibid., 25). 66 194. ANSELMO: A CRIAO Uma vez que Deus o ser e as coisas existem apenas pela participao do ser, toda a coisa tem o seu ser atravs de Deus. Tal derivao uma criao do nada. E de facto, as coisas criadas no podem proceder de uma matria. Esta, por sua vez, deveria derivar de si prpria, o que impossvel, ou da natureza divina. Neste caso, a natureza divina seria a matria das coisas mutveis e estaria sujeita s mudanas e corrupo daquelas. Ela, que o Sumo Bem, estaria submetida mutabilidade e corrupo; mas o Sumo Bem no pode deixar de o ser. A matria das coisas criadas no pode ser nem por si nem de Deus; no h, portanto, matria das coisas criadas. S resta ento admitir que foram criadas do nada (ibid., 7). Contra a interpretao (que se encontra, por exemplo em Ergena) de que o "nada" do qual as coisas procedem algo positivo, por exemplo, uma causa material ou uma realidade potencial, Anselmo tem o cuidado de acrescentar que isso no nem uma matria nem outra coisa real; e que a expresso criao do nada significa apenas que o mundo primeiramente no existia mas existe agora. A expresso "criao do nada" idntica que se emprega dizendo que "se fez do nada" um homem que agora rico e poderoso e que dantes no era. Significa o salto do nada para qualquer coisa (ibid., 8). Todavia, o mundo foi racionalmente criado e nada pode ser produzido de tal modo sem se supor na frazo de quem produz um exemplar da coisa a produzir, isto , uma forma, similitude ou regra dela. Deve existir, na mente divina, o modelo da ideia da coisa produzida, como na mente do artista humano existe o conceito da obra que vai realizar: com a diferena de que o artista tem 67 necessidade de uma matria exterior para realizar a sua obra e Deus no, e de que o primeiro deve obter das coisas externas o prprio conceito da obra, enquanto Deus cria por si prprio a ideia exemplar (ibid., 11). Num e noutro caso, no obstante, a ideia da obra uma espcie de palavra interior; Deus manifesta-se nas ideias, como o artista atravs do seu conceito, mas a expresso no uma palavra exterior, uma voz; a prpria coisa, qual se dirige o engenho da mente criadora (ibid., 10). A criao do nada precisamente esta articulao interior da palavra divina. Sem a actividade criadora de Deus, nada existe e nada dura; Deus no s d o ser s coisas, como tambm as conserva e faz durar continuando a sua aco criadora. A criao contnua (ibid., 13). Daqui se segue que Deus est e
deve estar por todas as partes; onde Ele no est, nada existe e nada est de p. Isto no quer dizer, certamente, que Ele esteja condicionado pelo espao e pelo tempo. N'Ele no existe nem o alto nem o baixo, nem o antes nem o depois: Ele est em todas as coisas existentes e em cada uma delas vive uma vida interminvel, que toda ao mesmo tempo (totum simul) presente e perfeita (lbid., 14,22-24). 195. ANSELMO: A TRINDADE A palavra interior de Deus no o som de uma voz, mas essncia criadora. Este o ponto de partida da especulao trinitria de Santo Anselmo. Aquela palavra interior a divina sabedoria, o Verbo de Deus: por isso tudo foi dito e tudo foi feito. O Verbo, por um lado, idntico com a essncia de Deus; por outro, idntico com a essncia da criatura. idntico com a essncia de Deus, porque no criatura, mas princpio da criatura, e porque est em Deus, no qual no subsiste nem 68 diversidade nem multiplicidade. Por outro lado, a prpria essncia das coisas criadas: pois de que seria Verbo se no fosse Verbo das mesmas? Todo o verbo verbo de alguma coisa. necessrio portanto entender que no existiria o Verbo se no existissem as criaturas? A coisa inconcebvel, porque o Verbo necessrio e eterno como o prprio Deus. Mas, por outro lado, se as criaturas no existissem, como poderia ser verbo do que no existe? A soluo de que o Verbo , em primeiro lugar, a inteligncia que Deus tem de si mesmo. Assim, tal como a mente humana tem conhecimento e compreenso de si prpria, o mesmo acontece com Deus: o Verbo , portanto, coeterno com Deus porque a eterna inteligncia que Deus tem de si. Mas, ao mesmo tempo, tambm Verbo das coisas criadas. "Com um s e mesmo Verbo o Sumo Esprito fala de si prprio e de todas as coisas criadas" (Ibid., 33). Se tais coisas em si mesmas so mutveis, so todavia imutveis na sua essncia e no seu fundamento, que est no Verbo divino; e existem tanto mais verdadeiramente quanto mais semelhantes so a tal fundamento (Ibid., 34). Por seu lado, o Verbo, mesmo na sua identidade com o Sumo Esprito, distingue-se dele: so dois, apesar de no ser possvel exprimir a forma como o so. So distintos pela recproca relao, porquanto um o Pai e outro o Filho; e so, por sua vez, idnticos na substncia, porquanto no Pai h a essncia do Filho, e no Filho a essncia do Pai. l@nica e indivisvel , com efeito, a essncia de ambos (ibid., 43). Portanto, uma vez que o Sumo Esprito se i-econ,hece o se compreende no Filho, deve tambm amar-se, seria intil, com efeito, a inteligncia sem o amor (ibid., 43). O amor depende, portanto, da inteligncia que o Sumo Esprito tem de si, isto , depende do Pai e do Filho, conjuntamente. Esta 69 dependncia no significa gerao: o amor no filho. E, no entanto, uma dependncia que supe participao na sua natureza comum; e uma vez que tal natureza esprito, o amor chama-se Esprito (Ibid., 57). Cada uma das trs pessoas divinas, participando da total natureza divina, recorda, compreende e ama sem necessidade de outra. E, apesar de a memria ser prpria do pai, a
inteligncia do Filho, o amor do Esprito, cada uma das pessoas essencialmente memria, inteligncia e amor. Da inteligncia, memria e amor de cada uma delas no derivam nem outros filhos nem outros espritos: nisto consiste o mistrio inexplicvel da Trindade divina (ibid., 62-64). Santo Anselmo procurou esclarecer com uma imagem este mistrio. Consideremos, afirma (De fide Trinitatis, 8), uma fonte, o rio que nasce dela e o lago no qual se recolhem as suas guas: damos ao conjunto destas trs coisas o nome de Nilo. Trata-se de trs coisas distintas uma das outras; no obstante, chamamos Nilo nascente, Nilo ao rio, Nilo ao lago e, finalmente, Nilo a todo o conjunto. No falamos de trs Nilos, ainda que sejam trs coisas distintas entre si. So trs, a nascente, o rio e o lago; pois sempre o nico e o mesmo Nilo, um s fluir, urna s gua, uma s natureza. H aqui uma trindade no uno e uma unidade em trs, que a imagem da Trindade divina. 196. ANSELMO: A LIBERDADE A investigao levada a cabo por Anselmo no Monologion e no Proslogion tende a compreender Deus na sua essncia e na sua existncia. Anselmo procura traduzir com ela, a certeza da f em verdade filosfica; e com isto oferecer um caminho de abordagem verdade revelada, de modo que o 70 homem consiga chegar junto desta o mais perto possvel. Mas paralelamente a esta investigao, Anselmo empreende outra, dirigida ao homem e s suas possibilidades de elevar-se at Deus. O tema desta investigao a liberdade. A ela Anselmo, dedicou duas obras: o De libero arbitrio, e o De concordia praescientiae et praedestinationis nec non et gratiae Dei cum libero arbitrio, composta, esta ltima, no ano de 1109, depois do seu regresso a Inglaterra. A liberdade supe, em primeiro lugar, duas condies negativas: que a vontade seja livre de coaco por parte do toda a causa externa e seja livre da necessidade natural interna, como o instinto nos animais (De libero arbitrio, 2, 5). A liberdade essencialmente liberdade de escolha e esta est ausente quando existe coaco e necessidade. Posto isto, Anselmo exclui a ideia de que a liberdade possa definir-se (como havia feito Escoto) como possibilidade de escolher entre pecar e no pecar. Se fosse assim, nem Deus nem os anjos, que no podem pecar, seriam livres. Em todo o caso, quem no pode perder aquilo que o favorece mais livre do que aquele que pode perder; e deste modo quem no pode afastar-se da rectido de no pecar mais livre do que qualquer outro que pode faz-lo. A capacidade de pecar no aumenta nem diminui a liberdade; por isso no elemento ou parte da liberdade (De lib. arb., 1). O primeiro homem recebeu de Deus originariamente a rectido da vontade, isto . a justia. Poderia ter podido e devido conserv-la; e para esse fim precisamente lhe foi dada a liberdade. Portanto, esta, no arbtrio de indiferena, isto , vontade que se decide indiferentemente entre o bem e o mal; a capacidade positiva de conservar a justia originria e de conserv-la pela mesma justia, e no em vista de um motivo estranho (lbi(l., 13).
71 Este poder em que consiste a liberdade no o perde o homem em caso algum, nem sequer com o pecado. Como quem j no v um objecto, conserva a capacidade de v-lo, porque o v-lo ou no depende da distncia do objecto e no da perda de vista, assim a capacidade de conservar a rectido da vontade permanece no homem mesmo atravs do pecado e entra em aco logo que Deus restitui ao homem a rectido da vontade que perdeu. Portanto, o homem pode perd-la apenas por um acto seu de vontade e nunca por causas externas. O prprio Deus no pode retir-la ao homem. Uma vez que consiste em querer o que Deus quer que se queira, se Deus a afastasse do homem no quereria que o homem quisesse aquilo que Ele quer que ele queira. Uma vez que isto no se pode imaginar, Deus no pode tirar ao homem a vontade justa: s o homem pode perd-la. Nada portanto mais livre que a vontade (ibid., 11). No contradiz isto a frase bblica de que o homem que peca se converte em "escravo do pecado". O converter-se em escravo do pecado significa apenas que perde a rectido da vontade e que no tem a capacidade de voltar a adquiri-la a no ser por ddiva gratuita de Deus. A escravido do pecado a impotentia non peccandi: o homem que perdeu a rectido da vontade no pode deixar de pecar; mas mesmo assim permanece livre porque conserva a possibilidade de conservar aquele. la rectido, se essa lhe for devolvida. Disto :resulta que, tal como Santo Agostinho, Anselmo estabelece uma estreita relao entre a liberdade humana e a graa divina. No h dvida de que a vontade quer com rectido apenas porque recta. Mas como a vista boa no boa porque v bem, mas porque v bem boa, tambm a vontade no recta porque quer com rectido, mas quer com rectido porque recta. Isto significa que 72 ABELARDO a vontade recebe a sua rectido no de si prpria (a partir do momento em que cada acto recto seu a pressupe), mas da graa divina (De concord. praesc. c. 3, 3). A ltima condio da liberdade humana , portanto, a graa divina. Como capacidade de conservar a justia originria, a liberdade humana est condicionada pela posse dessa justia; e uma tal posse apenas pode vir-lhe de Deus. 197. ANSELMO: PRESCINCIA E PREDESTINAO Como a liberdade humana no se ope, em nada, graa divina, assim tambm nenhum limite ou restrio produzem na liberdade humana a prescincia e a predestinao divinas. certo que Deus prev todas as aces futuras dos
homens, mas esta previso no impede que as aces dos homens sejam efectuadas livremente. Com efeito, Deus prev as aces dos homens na liberdade, que atributo fundamental das mesmas. No preciso dizer, afirma Santo Anselmo, "Deus prev que eu vou ou no pecar" mas necessrio acrescentar que Ele prev que eu vou ou no pecar sem necessidade e assim, tenha eu pecado ou no, uma e outra coisa ser liberdade, porque o prprio Deus prev que isso acontecer sem necessidade. (De concord. praesc., q. 1, 3). Existe uma dupla necessidade: uma que precede o efeito, a outra que se segue realizao da coisa. A primeira verdadeiramente determinante, a segunda no. A primeira est, por exemplo, imcluda na afirmao "os cus necessariamente giram"; a segunda est contida na afirmao "tu falars". De facto, a necessidade natural obriga os cus a moverem-se, embora no exista nenhuma necessidade que obrigue o homem a falar. Mesmo neste caso, a previso verificar-se- e, por conseguinte, certa; mas a sua certeza em nada 73 anula ou diminui a liberdade do facto previsto. indubitavelmente, o que no pode no ser. Uma aco livre, uma vez que se haja verificado, tem uma necessidade de facto, que obriga a admiti-Ia tal como . Mas esta necessidade de facto no anula a liberdade, ainda que a torne previsvel com absoluta certeza por parte de Deus. Anlogas consideraes valem para a predestinao. Deus predestina a salvao dos eleitos e aqueles que no predestina esto condenados. Pode-se, por conseguinte, falar tambm de uma predestinao dos condenados, porquanto Deus permite a sua condenao: ainda que a predestinao s seja positiva e efectiva para os eleitos. A predestinao tem em conta a liberdade. Deus no predestina ningum coagindo uma vontade, deixa sempre a salvao nas mos do predestinado. Tal como a prescincia que nunca se engana, sabe de antemo tudo o que acontecer, quer acontea necessria quer livremente, tambm a predestinao, que nunca se altera, apenas prodestina em virtude e em conformidade com a prescincia (De concorda praese. q. 2, 3). So predestinados salvao aqueles apenas cuja boa vontade Deus conhece de antemo. 198. ANSELMO: O MAL Relaciona-se com os conceitos agustinianos o tratado de Anselmo, sobre o problema do mal. Como existem duas espcies fundamentais de bem, a justia e o til, assim existem tambm duas espcies fundamentais de mal: a injustia (malum injustitiae) e odano (malum incommodi). O verdadeiro e prprio mal apenas a injustia. A injustia sempre algo de negativo; a pura e sim les negao do ZD p que deve ser, isto , da justia. E mesmo que o bem seja verdadeiramente a justia, o mal no tem em nenhum caso realidade positiva: uma pura 74 negao e pode, com todo o direito, ser chamado o nada (De casu diaboli, 1226). Quanto ao dano, ou seja, o mal fsico, tambm na sua essncia uma negao;
mas como s vezes surge acompanhado de uma aco positiva, nesta que se pensa quando se lhe chama mal. No h dvida de que a cegueira, por exemplo, simples negao da vista; mas acompanhada de tristeza e dor, que so realidades positivas e constituem o aspecto pavoroso do mal (Ibid., 26). Contudo, a tristeza, a dor e o horror que estas coisas determinam na alma, seguem-se privao do bem, que o verdadeiro fundamento de todo o mal. O verdadeiro e nico bem a justia, pela qual so bons, isto , justos, os anjos e os homens e pela qual a prpria vontade boa ou justa. Pois bem, a justia consiste na conformidade da vontade humana com a vontade divina. A vontade da criatura racional deve estar submetida vontade divina e aquela que no tributa a Deus esta honra devida, tira a Deus o que seu e por isso peca. A Deus apenas pertence ter vontade prpria, isto , uma vontade que no est sujeita a ningum. Todo aquele que se atribui de uma vontade prpria esfora-se por tornar-se semelhante a Deus per rapinam e por privar Deus, naquilo a que a Ele se refere, da sua dignidade e singular excelncia (De fide Trinit., 5). O trao caracterstico destas formulaes de Anselmo consiste na reduo de todo o valor moral vontade, a nica em que reside a justia e a injustia. Os apetites sensveis, por seu lado, no so bons nem maus. O homem justo ou injusto, no porque os sente ou no, mas apenas porque os consente ou no com a vontade. O pecado consiste no em senti-los, mas em consenti-los (De concep. virg., 4). A nica origem do mal a prpria vontade. A vontade pode perder a sua rectido enquanto quer o que no deve querer; mas o 75 poder perd-la no fundamento do mal; uma vez que no a perde porque pode perd-la, mas apenas porque quer perd-la. O mal no tem outra causa positiva. Tambm no se pode atribuir a Deus, porque no se pode afirmar que Ele d aos homens uma vontade m, seno no sentido de que no impede, podendo faz-lo, que uma tal vontade acontea. Tudo o que h de bom na vontade e nas aces dos homens, procede da graa de Deus; s o mal procede do homem. E assim como a vontade o nico sujeito das valoraes morais, assim tambm apenas ela responsvel e pode ser castigada. No existe pena que no esteja dirigida contra a vontade e nenhuma coisa pode sofrer um castigo se no est dotada de vontade. Assim como a vontade que actua sobre os membros e os sentidos, assim tambm a vontade que, atravs dos membros e dos sentidos castigada ou recompensada (ibid., 23). Num cas @ apenas o pecado no depende da vontade, o caso do pecado original. Ado pecou por livre vontade; os seus descendentes pecam por necessidade natural (lhid., 23). Mas em Ado estava presente toda a natureza humana; nele, portanto, pecaram todos os homens, no pessoalmente, mas na sua origem e na sua natureza comuns. 199. ANSELMO: A ALMA A doutrina de Anselmo sobre a alma segue de perto a agustiniana sobre o mesmo tema, mas possui um notvel avano em relao quela no que se refere demonstrao da imortal-idade. O homem formado por duas naturezas, a alma e o corpo (Medit., 19) a parte mais elevada, porque est mais pr)Qimo da suma essncia, a alma e mais precisamente, o intelecto. De facto, s atravs da inte-
76 ligncia se pode conhecer e buscar a Deus e pode o homem aproximar-se d'Ele. A alma como um espelho na qual se reflecte a imagem da Suma essncia, que no se pode contemplar face a face. Anselmo segue, neste ponto, Santo Agostinho: a alma recorda, compreende e ama-se a si prpria; e desta forma reproduz a Trindade divina, que precisamente Memria, Inteligncia e Amor (Monol., 67). A natureza da alma marca o seu destino. A alma deve exprimir com actos de vontade a imagem da Trindade divina que nela est impressa naturalmente: deve, por conseguinte, empenhar toda a sua vontade em recordar, compreender e amar o Sumo Bem; esse o fim da sua existncia (Ibid., 68). Deste seu destino deriva a sua imortalidade. Se a alma est destinada a amar sem fim a sua essncia necessrio que esteja viva sempre e que a morte no venha interromper, em certo ponto, sem demrito seu, o amor que deve a Deus. Nem Deus poderia reduzir a nada uma criatura que Ele criou para que o amasse ou permitir que lhe seja retirada a criatura que ama a vida que Ele lho deu, quando ela ainda no O amava, para que possa am-LO: tanto mais que o Criador ama toda a criatura que verdadeiramente o ama. portanto evidente que uma vida entregue ao amor de Deus no pode ser seno feliz. A alma tem, por conseguinte, assegurada pelo seu destino uma vida eterna e feliz (ibid., 69). Mas a imortalidade no se refere apenas alma que ama a Deus. Se para a alma que ama Deus, a imortalidade , por parte de Deus, um dom de amor, para a alma que despreza Deus, a imortalidade , por parte de Deus, um acto de justia. Seria, com efeito, injusto que a alma que despreza Deus fosse castigada com a perda da vida e do prprio ser, e no tivesse outro castigo alm do de tornar ao estado em que se encontrava antes de toda a culpa, isto , antes de existir. Mesmo 77 a alma injusta deve, por conseguinte ser imortal, para sofrer uma pena, tal como imortal a alma justa para gozar do prmio eterno (Ibid., 71). Todas as almas so, portanto, imortais, tanto as justas como as injustas; mesmo aquelas que no so capazes nem de uma coisa nem de outra, como as almas das crianas, devem s-lo, porque devem ter a mesma natureza (ibid., 72). Sabemos pelo bigrafo Eadmer que Anselmo morreu quando tentava ansiosamente esclarecer a natureza e a origem da alma. Com efeito, pouco nos dizem as obras que nos deixou. A investigao de Anselmo, que comea com Deus, termina com a alma humana. Na verdade, Anselmo tinha feito suas as palavras de Santo Agostinho: "Desejo conhecer Deus e a alma: e nada mais". NOTA BIBLIOGRFICA 190. As obras de Santo Anselmo em P. L., 158.---159.1, e>d. Schmitt 5 vols., Roma-Londres, 1938-1951. Opere filosofiche, trad. ital. de C. Ottaviano, 3 vols., Lanciano, 1938. - De Rmusat, Saint-Anselme de Canterbury; Vanni-Rovighi, SanVAnselmo, Milo, 1949 com bibliografia; Levasti, SantIAnselmo, Bari, 1929; Domet de Vorges, Saint-Anselme, Paris, 1901.
191. Heitz, Essai historique sur les rapports entre Ia philosophie e Ia foi Brenger de Tours Saint-Thomas, Paris, 1909; Betzendrfer, Glauben und Wissen bei den grassen Denkern des Mittelalters, 1931; Gilson, in "Arch. Hist. Doct. Lit. M<)yen Age" 1934, 5-51. 192. Koyr, L'ide de Dieu dans Ia philosophie de Saint-Anselme, Paris, 1923; K. Barth, Fides quaerens intellectum, Mnaco, 1931. Sobre o argumento ontolgico na escolstica: Daniels, nei Beitrage, VII1@ 1-2. Muitissimos filsofos tomaram posio sobre o argumento ontolgico e das discusses referentes a esse ponto encontrar-,se- eco na presente obra. 78 193. Seeberg, Dogmengeschischte, EI, 1913, p. 150 sgs., 207-226. 194. Baeumker, nei Beitrge, X, 6, 1912. 195. Martin, La question de pch originel dans Saint-Anselme, in Reme des Sciences philos. et Thol. 1911, p. 735-749. 79 v A DISCUSSO SOBRE OS UNIVERSAIS 200. UNIVERSAIS: O PROBLEMA E O SEU SIGNIFICADO HISTRICO A partir do sculo XII um dos tomas de discusso mais frequentes entre os escolsticos o chamado problema dos universais. O problema parece ter surgido com uma passagem de 1sagoge (introduo) de Porfirio s Categorias de Aristteles e dos comentrios de Bocio a elas referentes. A passagem de Porfirio a seguinte: "Sobre os gneros e as espcies no direi aqui se subsistem ou se esto s@mplesmente no intelecto, e, no caso de subsistirem, se so corpreos ou incorpreos, separados das coisas sensveis ou situados nas mesmas, exprimindo os seus caeacteres uniformes". Das alternativas indicadas por Porfirio nesta passagem, uma apenas no obtm qualquer confrontao na histria desta polmica: aquela, segundo a qual, os universais seriam realidades corp reas. Em compensao, uma alternativa que, Porfirio no tinha previsto verificou-se histricamente: isto , que o universal no existe 81 nem no intelecto e no passa de um simples; nome, de um flatus vocis. De qualquer modo, resulta da passagem de Porfirio que as duas solues fundamentais do problema so aquelas que mais tarde se chamaro realismo (ou formalismo) e nom;inalismo (ou terminismo), a primeira das quais afirma, enquanto a outra nega, que os universais existem, de qualquer forma, fora da alma. As solues que a discusso dos universais encontrou dentro da escolstica foram numerossmas: Joo de Salisbria (Metalogicus, 11, 17) d-
nos disso uma primeira amostra, no entanto bastante incompleta (Cfr. PrantI, Geschishte der Logik, II, p. 121 sgs.). Apesar do problema sobre o qual se discutia no fosse precisamente novo (como veremos em seguida), o prprio facto da posio explcita do problema (ainda que mediante o recurso a um texto antigo) e o reconhecimento da possibilidade de resolv-lo em mais direces j por si significativo e pode ser considerado com um sinal do novo esprito que comea a invadir a escolstica a partir dos ltimos decnios do sculo XI. Anteriormente a este perodo, nenhum pensador conseguia pr em dvida que os gneros e as espcies fossem ideias arqutipos na mente divina e formas dessa mesma mente impressas nas coisas. Deste ponto de vista, o problema dos universais no tinha sentido. Levant-lo significa, com efeito, admitir que o mesmo pode ser Tesolvido de forma diferente das doutrinas que a primeira escolstica tinha deduzido da patrstica e que se tornaram o patrimnio da especulao teolgica. A posio do problema significa, portanto, a considerao do assunto de um ponto de vista, que deixa de ser apenas teolgico, para passar a ser tambm filosfico: isto , de um ponto de vista que v nos universais no apenas os instrumentos da aco criadora de Deus mas tambm, e sobretudo, os instrumentos ou condies das operaes 82 cognoscitivas do homem. A posio deste problema , j de per si, a instaurao de um ponto de vista que diz mais respeito ao homem que a Deus: com efeito, o problema colocado nos termos de Porfrio no outro seno o problema da validade do conhecimento racional em geral. Isso o indcio de uma nova importncia atribuda ao homem; e. deste ponto de vista, tambm as inumerveis subtilezas que desde logo possam ser consideradas como a expresso da nova liberdade com que o homem se encara e encara os seus problemas. Esta nova liberdade, que se manifesta, (como veremos no captulo seguinte) na renovada ateno que os filsofos dispensam ao mundo da natureza e aos seus problemas, acompanha e suporta o ressurgir econmico e social da poca: que se exprime na formao ou na consolidao das repblicas martimas e das comunas, nas trocas, nas viagens, na economia mercantil e, em geral, no prosseguimento da actividade e do esprito lgico. Do ponto de vista da histria da lgica, a posio do problema dos universais est condicionada pela possibilidade reconhecida de uma alternativa diferente da metafsica ou da teologia que era aceite sem discusso no perodo precedente. esta a alternativa nominalstica que em breve passa a chamar-se a via moderna da l gica e que no mais que a direco cnico-estoica apontada pela lgica, de harmonia com as obras de Bocio e de Ccero e contraposta direco tradicional platnico-aristotlica. Nominalismo e realismo correspondem, substancialmente, a estas duas direces originrias. Para o realismo, isto , para a tradio platnica-aristotlica, o universal algo de diferente, um conceptus mentis, a essncia necessria ou a substncia das coisas e a ideia de Deus. Para o nominalismo, isto , para a tradio estoicizante, o universal 83 urna marca das prprias coisas e est em lugar (supponit) delas. Apesar das suas querelas e de procurarem sempre novas solues (que muitas vezes se
distinguem umas das outras apenas por um cabelo), os Escolsticos, com o seu eclectismo desenvolto, no renunciam, no entanto, aos resultados que no campo da lgica se possam obter, utilizando ora uma ora outra das duas orientaes. A partir do sculo XIII os tratados lgicos justapem simplesmente s doutrinas lgicas aristotlicas, as esticas, dando igual importncia tanto a umas como a outras sem se preocuparem com as divergentes orientaes tericas. As Summulae logicales de Pedro Hispano constituem o mais famoso modelo desta justaposio. O antagonismo entre o realismo e o nominalismo, entre a via antiga e a via moderna, no entanto um antagonismo de fundo que transcende o alcance das subtis, abstractas e frequentemente aborrecidas querelas a que deu lugar. Do realismo pode-se fazer uso teolgico e cosmolgico, com o nominalismo no. Por isso, as correntes da escolstica que se inspiraram no realismo foram as que se aplicaram a defender a teologia e a concepo teolgica do mundo. As que se inspiraram no nominalismo alinharam em geral contra a teologia e assumiram posies crticas nos confrontos da concepo teolgica do mundo, conseguindo algumas vezes alcanar ousadas inovaes que constituem como que o anunciar ou a preparao de novas concepes da natureza e do homem. Compreende-se a razo porque, no final da escolstica, o nominalismo tenha prevalecido: os problemas da teologia, respeitantes ao domnio da f, no interessavam j filosofia, que se voltava para outros campos, nos quais se poderiam deter, de forma mais oportuna e eficaz, os poderes racionais do homem. 84 201. ROSCELINO A primeira e clamorosa fase da querela dos universais foi provocada pelo aparecimento em cena de um nominalismo na sua forma mais extrema, defendido por uma figura singular, a de Roscelino. Oto de Freising, na sua crnica Sobre as proezas de Frederico, afirma que Roscelino "foi o primeiro nos nossos tempos, que props na lgica a doutrina das palavras (setentiam vocum)". Sabemos que Roscelino nasceu em Compigne, estudou em Soissons e Reims e ensinou como telogo na escola-ctedra de Compigne, depois na de Loches, Bretanha, onde teve entre os seus alunos Abelardo, e em seguida em Besanon e Tours. Devia ter morrido entre 1123 e 1125, a julgar pelas apstrofes que Abelardo lhe dirige nos seus escritos. De Roscelino, temos apenas uma carta dirigida a Abelardo sobre a questo da Trindade. No sabemos se escreveu mais alguma outra coisa ou se as suas obras no foram ainda descobertas entre os manuscritos medievais. provvel que no tenha escrito mais nada, porque os seus adversrios, Anselmo, Abelardo e Joo de Salisbria no lhe atribuem nenhum livro e os Padres do Conclio de Soissons, que condenaram a sua doutrina trinitria, no deixariam de entregar s chamas os seus escritos se tivessem existido. No podemos, portanto, conhecer a doutrina de Roscelino a no ser a-travs dos escritos dos seus adversrios e, especialmente, de Anselmo e de Abelardo. Anselmo coloca Roscelino entre os dialcticos, mais ainda, entre os hereges dialcticos do seu tempo, "que acreditam que as substncias universais no passam de um
sopro de voz (flatus vocis); e que, por "com, apenas entendem o corpo colorido, e por "sabedoria" a prpria alma do homem". Santo Anselmo acrescenta ainda a explicao de semelhante opinio: tais pessoas perma85 n=m enredadas nos sentidos e no conseguem libertar deles a razo. "Nas suas almas, a razo que deve ser a parte dominante e julgadora de tudo o que h no homem, est de tal maneira submergida nas imaginaes corporais que no conseguem livrar-se delas; e mantm-se incapazes de discerni-la quando afinal deveriam servir-se dela apenas para a especulao". (De fide Trin., 2). Esta incapacidade de Roscelino para seperar a razo do envlucro sensvel tambm motivo, segundo Anselmo, da heresia trinitria defendida pelo clrigo de Compigne: "Quem no compreende nem sequer a maneira como os homens constituem a nica espcie homem, como poder compreender a maneira como atravs da misteriosssima natureza divina, vrias pessoas, sendo cada uma delas um Deus perfeito, constituem as trs um s Deus? E quem tem a mente to obscurecida que no sabe distinguir o cavalo da sua cor, como poder distinguir o Deus nico das suas diferentes relaes? Em suma, quem no compreende que o homem no o prprio indivduo, de forma alguma poder entender por homem a natureza humana" (ibid.). Joo de Salisbria d-nos um testemunho anlogo sobre o nominalismo de Roscelino: coloca-o "entre os que afirmam que os gneros e as espcies no so outra coisa a no ser vozes" (Metal., 11, 13, Policrat., VII, 12). Abelardo ilustra-nos outro aspecto de tal nominalismo. Roscelino sustentou que impossvel que as coisas constem de partes e que as partes das coisas so, como as espcies, nomes diversos das prprias coisas (Obras inditas, edic. Cousin, 471). Vimos j como Santo Anselmo relaciona com o nominalismo a heresia trinitria de Roscelino. Ele prprio nos afirma que, segundo Roscelino, "as trs pessoas da Trindade so trs real-idades como trs anjos ou trs almas, apesar de serem absolutamente 86 idnticas pela vontade e podem (De fide Tiin., 3); podendo-se acrescentar, se fosse costume admiti-lo, que constituem trs divindades (Epist., 11, 41). Mas sobro esta doutrina temos algumas referncias do prprio Roscelino na sua carta a Abelardo. Roscelino comea por identificar pessoa com substncia, a propsito de Deus. Uma vez que, em Deus, diversos nomes no indicam realidades diversas, mas a mesma nica e simplicssima realidade, a pessoa s pode significar substncia. Mas se as pessoas so diversas porque uma gera e a outra gerada, evidente que so diversas as substncias da Trindade divina. A Trindade una pela comunho das trs substncias, no porque seja constituda por uma nica substncia. Reconhece-se, portanto, Trindade uma unidade de semelhana ou de igualdade, mas no de substncia. Da se conclui que Roscelino deduziu o seu tridesmo da identificao de substncia e pessoa (que na tradio eclesistica sempre foram distintas): e foi levado a essa identificao por imaginar que as determinaes diversas que se atribuem a Deus no so mais que nomes diversos de uma realidade nica. A heresia de Roscelino foi condenada pela primeira vez num Conclio que se celebrou em Reims em 1092 ou 1093. Roscelino foi obrigado a abjurar e a ele
se submeteu com receio de ser assassinado pelo povo de Reiras; mas tendo abandonado a cidade, voltou a defender as suas teses. Foi novamente condenado em 1094 num conclio convocado pelo rei Filipe para celebrar as suas bodas com Bertrada. Expulso de Frana, dirigiu-se a Inglaterra, onde uma nova perseguio o obrigou a regressar a Frana. Tornou a aparecer para combater a doutrina de Abelardo, em 1121. O seu carcter surge-nos, atravs da carta que conhecemos dele, como pouco recomendvel: ataca Abelardo nos 87 termos mais violentos e atira-lhe em cara cinicamente a mutilao que lhe havia sido infligida. 1 202. GUILHERME DE CHAMPEAUX O realismo de Guilherme de Champeaux ope-se ao nominalismo de Roscelino. Guilherme nasceu em Champeaux, perto de Melun, volta de 1070 e foi discpulo em Paris de Anselmo de Laon (falecido em 1117), que contou entre os seus alunos alguns dos homens mais notveis do seu tempo, entre os quais se encontravam Abelardo e Gilberto. At 1108, Guilherme passou da escola catedral de Paris para a abadia de So Victor, da qual foi prior e abade. Em seguida foi nomeado bispo de Chlons-sur-Marne. Viveu at morrer em grande amizade com So Bernardo e faleceu no ano de 1121. Dos seus numerosos escritos ficaram: o De eucaristia, o De origine animae e um dilogo Sobre a f catlica. No que se refere doutrina sobre os universais, a nossa principal fonte a polmica que contra ele desencadeou Abelardo. Guilherme sustentava a realidade substancial dos universais e afirmava que tal realidade se encontra inteiramente em todos os indivduos, que se multiplicam e se diferenciam entre si por qualidades acidentais. Por exemplo, a espcie "homem" uma realidade que permanece una e idntica em todos os homens; a ela se acrescentam depois as qualidades acidentais que so diferentes em Scrates, Plato e nos outros indivduos particulares (Abelardo, Obras inditas, De gen. et. spec., 513). Abelardo, que foi discpulo de Guilherme, vangloria-se de o ter obrigado a modificar, e mais ainda, a abandonar completamente esta tese. Eis o texto de Abelardo (Hist. calam., 2): "Guilherme corrigiu a 88 sua opinio afirmando que a realidade universal se encontra nos indivduos no essencialmente, mas individualmente". Individualiza-se, isto , nos indivduos de modo que perde a sua unidade essencial e se multiplica neles, o que uma renncia a afirmar a realidade em si do universal. Mas com isto a tese do realismo no se encontrava de todo abandonada: estava apenas abandonada a realidade separada do universal e admitia-se o universal in i-e, o universal individualizado e incorporado na mesma coisa individual. Esta uma segunda fase do pensamento de Guilherme. Enquanto que a primeira nega efectivamente a realidade dos indivduos, reduzindo-os a meras modificaes acidentais da essncia universal, a segunda sustenta a realidade dos indivduos, afirmando, no obstante, a presena neles da essncia universal
individualizada. Um fragmento das Senientiae faz-nos conhecer uma terceira fase da doutrina de Guilherme sobre os universais; a essncia comum dos indivduos particulares nem seria a mesma: os diversos indivduos teriam apenas essncias semelhantes. Nesta terceira fase, a doutrina de Guilherme transforma-se em puro conceptualismo. 203. O TRATADO "DE GENERIBUS ET SPECIEBUS" O tratado De generibus et speciebus foi considerado por Cousin como uma obra de Abelardo e includo entre as suas obras inditas. Ritter foi o primeiro a negar esta atribuio e atribui o tratado a Joscelino (Gausleno, 1125-1151), bispo de Soissons. Esta atribuio foi logo confirmada por outros eruditos, e, com efeito, Joo de Salisbria, no seu Metalogicus (11, 17) atribui a Gausleno a doutrina de que o universal o conjunto das coisas siri89 gulares; doutrina contida no tratado. Nele se define a espcie como todo o conjunto de indivduos que tm a mesma natureza. "Essa coleco, apesar de ser essencialmente mltiplice, chama-se tradicionalmente uma s espcie, um s universal, uma s natureza da mesma maneira que se fala de um s povo, ainda que este seja constitudo por muitas pessoas" (Abelardo, Obras inditas, edic., Cousin, 527). Para o indivduo, a espcie matria, a individualidade a forma. Por exemplo, Scrates composto da matria "homem" e da forma "Scrates", Plato, de uma forma semelhante, isto , "homem", e de uma forma diferente, isto , "Plato", e assim para os outros. E como a socratitas que constitui formalmente Scrates no subsiste fora de Scrates, tambm a essncia "homem" que em Scrates constitui a socratitas no subsiste se no est em Scrates. O ponto de vista defendido neste tratado aproxima-se muito do de Abelardo. NOTA BIBLIOGRFICA 200. Sobre a querela dos universais, que ocupa a actividade filos6fica de todos os escritos da poca, veja-se a seguinte bibliografia. 201. A carta de Roscelino a Abelardo est publicada nas obras de Abelardo, em Patr. Lat., verl. 1.78.o, 357 e sgs. Nova ed. de Reiners, em Beitrage, VIII, 5, 66-80. PICAVETE: PosceZin, Paris, 1911. Sobre o nominalismo: Reiners, op. cit. 202. As obras de Guilherme de Champeaux, em P. L., 163., 1037-1072. As Sententiae (ou Quaest"es), em LEFVRE, Les variations de G. de Ch. et de Ia question des universaux, Lille, 1898; GRABMANN, GeSchischte des scholast. Methode, n 136-168. @ 203. O De generibus et speciebus, encontra-se nas obras inditas de Abelardo, editadas por Cousin; RITTER, Gesch. d. Phil., VII, 1844, 364; PRANTL, II, 142-147; RoBERT, Les coles et Ilenseignement de ta Theologie pendant ta preinire moiti du XII Mcle, Paris, 1909, 202, 205. 90 vi
ABELARDO 204. ABELARDO: A FIGURA HISTRICA Abelardo a primeira grande afirmao medieval do valor humano da investigao. Trata-se de urna figura que nem sequer a tradio medieval conseguiu reduzir ao esquema estereotipado de sbio ou santo; trata-se de um homem que pecou e sofreu e que colocou todo o significado da sua vida na investigao; de um mestre genial que fez durante sculos a fortuna e a fama da Universidade de Paris, e que encarna, pela primeira vez na Idade Mdia, a filosofia na sua liberdade e no seu significado humano. Dotado de grande presena fsica (Helosa d-nos disso testemunho em Ep., H em Patri 178.*, col. 185, quando ele se dirigia ou Regressava das aulas, com o seu olhar enrgico e a cabea erguida, despertava a admirao de todos), de uma eloquncia precisa e cortante, de um extraordinrio poder dialctico que o tornava invencvel em todas as discusses, estava destinado ao xito, que efectivamente lhe sorriu, acarretando-lhe invejas, perseguies e condenaes. Mas o centro da sua 91 personalidade a exigncia da investigao: a necessidade de resolver em motivos racionais toda a verdade que seja ou queira ser como tal para o homem, de enfrentar com armas dialcticas todos os problemas para lev-los ao plano de uma compreenso humana efectiva. Para Abelardo, a f no que se no pode entender uma f puramente verbal, privada de contedo espiritual e humano. A f, que um acto de vida, inteligncia do que se cr: todas as foras do homem devem portanto dirigir-se para a compreenso. Nesta convico reside a fora da sua especulao e do seu fascnio como professor. Nele torna-se claro o significado, at ento incerto e dbil, da ratio medieval. A ratio a investigao a que o homem se entrega para compreender e fazer a sua verdade revelada e na qual realiza e encontra a sua substncia humana. A razo para o homem o **tiruico gu ,ia possvel; e o exerccio da razo, que prprio da filosofia, a actividade mais elevada do homem. Portanto, se a f no uma obrigao cega que pode dirigir-se no sentido do preconceito e do erro, dever estar sujeita joeira da razo. Deste ponto de vista, no subsiste uma diferena radical entre os filsofos pagos e os filsofos cristos; se o cristianismo constitui a perfeio do homem, tambm os filsofos pagos, enquanto filsofos, foram cristos na sua vida e na sua doutrina (Theol. christ., 11, 1). 205. ABELARDO: VIDA E ESCRITOS As movimentadas circunstncias da vida de Abelardo so contadas por ele prprio numa carta que tem o ttulo de Historia calamitaium. Pedro Abelardo nasceu perto de Nantes, no ano de 1079, estudou dialctica com Guilherme Champeaux, de 92 quem logo se tornou adversrio e rival. Ensinou primeiramente dialctica em
vrias localidades de Frana, depois, em 1113, teologia na escola catedral de Paris. O ensino de Abelardo desenrolou-se entre discusses clamorosas e polmicas violentas, suscitadas pela sua intemperana dialctica e pela inveja que o seu xito provocava. Em Paris, apaixonou-se por Helosa, sobrinha de um tal Fulberto, cnego, que era bela e muito culta e de quem teve um filho, Astrolbio. Tendo casado com ela para aplacar a ira do tio, quis manter secreto esse casamento, com receio que pudesse prejudicar a sua fama e carreira de professor, e enviou Helosa para o convento de Argenteuil, perto de Paris, onde fora educada desde criana. Mas os tios e os parentes de Helosa, julgando que Abelardo pretendia desembaraar-se dela, vingaram-se e mandaram-no castrar enquanto ele dormia. Coberto de vergonha pelo ultraje recebido, Abelardo entrou num convento; e os dois esposos consagraram-se a Deus: Abelardo na abadia de So Dionsio perto de Paris; Helosa, no mosteiro de Argenteuil. No epistolrio de Abelardo conservam-se algumas cartas de Helosa plenas de afecto e fora de resignao Depois deste infortnio, Abelardo renovou com redobrado entusiasmo o ensino, num lugar afastado em Nogent-sur-Seine, para onde os discpulos o acompanharam e onde construram um oratrio que ele consagrou ao Esprito Santo ou Paracleto. Em 1136 reapareceu em Paris e reatou as suas lies na montanha de Santa Genoveva, onde tinha conseguido os seus primeiros xitos como professor. Exaltado pelos seus discpulos pela eloquncia e ardor da sua dialctica, invejado pelos outros professores, em breve Abelardo deu aso a que fosse apontado como herege. O Conclio de Soissons condenou a sua doutrina trinitria e obrigou-o a queimar por suas prprias 93 mos, o livro De unitate et trinitate divina (1121). Nos ltimos anos da sua vida manteve uma polmica com So Bernardo, que provocou a sua condenao pelo Snodo de Sens (1140). Abelardo apelou para o Papa o resolveu dirigir-se a Roma para defender a sua causa; mas o abade Podro de Cluny convenceu-o a permanecer em Cluny e a reconciliar-se com a Igreja, com o Papa e com So Bernardo. Abelardo comps, nesta altura, uma Apologia e passou os ltimos dias da sua vida na abadia de Saint Marcel. Aqui morreu em 20 de Abril de 1142 com 63 anos. Os seus restos mortais foram sepultados no Paracleto o para ali foram levados e sepultados a seu lado, vinte e um anos depois, os restos mortais de Helosa (1164). Abelardo o autor de uma Dialctica, escrita em 1121, de numerosas obras lgicas constitudas de comentrios (Glossae) aos escritos lgicos de Porfrio e Bocio e de uma obra intitulada Sic et non, que a tpica expresso do seu mtodo. Alm disso, escreveu trs obras sobre o problema trinitrio: Tractatus de unitate et trinitate divina, Introductio ad Theologiam, Theologia christiana. As referncias contidas nestas obras permitem conjecturar que a Theologia christiana foi escrita depois de De unitate, e provvelmente entre 1123-1124, e que a Introductio no mais que a primeira parte da Theologia condenada no Conclio de Sens. Em continuao,
Abelardo escreveu um Conientario sobre a Epstola aos Romanos e a tica ou Scito te ipsum. Posteriores ainda so as Cartas a Helosa, os Sermes, os Hinos, os Problemata, a Exposiiio in Exameron. A carta com o ttulo Historia Calamitatum foi escrita entre 1133 e 1136. Nos ltimos anos, passados em Cluny, Abelardo escreveu Carmen ad Astrolabium e o Dialogus inter indaeum, philosophum et christianum (1141-1142). 94 206. ABELARDO: O MTODO Abelardo exerceu sobre o desenvolvimento da filosofia medieval uma influncia decisiva. Esta influncia deve-se, em primeiro lugar, ao seu fascnio como mestre. Ele foi, seno o fundador, pelo menos o precursor da Universidade de Paris. o seu prestgio como professor e a superioridade do seu mtodo consagraram a celebridade da escola de Paris e prepararam a formao da Universidade. A obra na qual melhor esclareceu e ps em prtica o seu mtodo de investigao o Sic et non. Trata-se de uma compilao de opinies (sententiae) de Padres da Igreja, ordenadas segundo os problemas que abordam, de forma a que apaream as diversas opinies como respostas positivas ou negativas ao problema proposto (da o ttulo que significa sim e no). O processo ameaava lanar o descrdito sobre a unidade da tradio eclesistica, fazendo realar os seus contrastes de forma evidente; mas a finalidade de Abelardo era a de expor os problemas de forma ntida para demonstrar a necessidade de resolv-los. Com este fim, descreve no prlogo uma srie de regras. Comea por distinguir os textos do Velho e do Novo Testamento e os textos patrsticos. Os primeiros lem-se com a obrigao de crer; os outros, com liberdade de juzo. Se se encontra nos primeiros alguma coisa que parea absurdo, preciso supor, no que o autor esteja enganado, mas que o cdigo falso ou que o intrprete se equivocou ou ento somos ns que no conseguimos compreender. Mas no que se refere aos outros textos, muito do que contm foi escrito mais segundo a opinio do que a verdade. Quando neles se encontram opinies diferentes e opostas sobre o mesmo tema, preciso ter em conta o fim que o autor tinha em vista, e preciso distinguir as pocas em que a coisa foi dita, porque o que se 95 admite numa poca Proibido noutra e o que prescrito rigorosamente na maioria das vezes depois suavizado pela dispensa. Em suma, esta a regra fundamental, e muitas controvrsias podem facilmente ser resolvidas se se tiver em conta que as mesmas palavras tm significados diversos na boca de diferentes autores. H que realizar, portanto, uma investigao completa para resolver os contrastes entre os textos que tm autoridade em filosofia. E se se considerar que a disciplina que estuda e prescreve o uso das palavras e o seu significado a lgica, v-se que a lgica ter, na investigao escolstica, como prope Abelardo, um lugar predominante. A lgica equivale razo humana. A investigao de Abelardo uma busca racionalista que se exerce sobre os textos tradicionais para encontrar neles, livremente, a verdade que contm. Esta investigao deve ser entendida como uma constante interrogao (assidua seu frequens interrogatio). Principia na dvida, porque s a dvida
promove a investigao e s a investigao conduz verdade (dubitando enim ad inquisilionem venimus; inquirendo veritatem percipimus). Nisto reside, sem dvida, o motivo de fascnio que a personalidade de Abelardo exerceu sobre os seus contemporneos e da eficcia do seu ensino sobre a escolstica. Abelardo uma das personalidades que mais sentiu e viveu as exigncias e o valor da investigao. Os resultados especulativos so para ele menos importantes que a investigao necessria para chegar a esses resultados. O ter encarnado o esprito da investigao racional numa poca de despertar filosfico, levou-o a ser considerado o fundador do mtodo escolstico. Este mtodo, em breve se fixou, depois dele, num esquema que foi seguido universalmente, o esquema da questio, que consiste em partir de textos que do solues opostas ao mesmo problema 96 para chegar a elucidar, por um caminho puramente lgico, o prpria problema. Este mtodo, que a princpio foi tido como duvidoso e combatido, em breve prevaleceu em toda a escolstica. 207. ABELARDO: RAZO E AUTORIDADE O predomnio da investigao na especulao de Abelardo confere razo o predomnio sobre a autoridade. Abelardo no nega a funo da autoridade na investigao: "Enquanto a razo se mantm oculta, afirma, (Theol. christ., 111, Migne, col. 1226), deve bastar a autoridade e deve respeitar-se sobre o valor da autoridade aquele conhecidssimo princpio, transmitido pelos filsofos: no se deve contradizer o que parece verdadeiro a todos os homens, ou aos que so mais, ou aos que so doutos". S autoridade nos devemos confiar enquanto se mantiver oculta a razo (dum ratio latet). Mas a autoridade passa a ser intil quando a razo possui meios para encontrar, por si, a verdade. "Todos sabemos que, naquilo que pode ser discutido pela razo, no necessrio o juzo da autoridade" (Theol. christ., 111, col, 1224). certo que a razo humana no medida suficiente para compreender as coisas divinas (De unit. et trin., edic. StlzIe, 27). A propsito da Trindade, por exemplo, Abelardo diz explicitamente que no pode prometer com este argumento ensinar a verdade qual nenhum homem pode chegar, mas propor apenas uma soluo verosmil ou prxima da razo humana e que, ao mesmo tempo, no seja contrria f (Int. ad Theol., H, 2). Mas isto no implica que a f no se deva alcanar e defender com a razo. Se no preciso discutir, nem sequer sobre o que se deve ou no deve crer, que nos resta seno prestar f tanto 97 aos que dizem a verdade como aos que dizem o que falso? (Ibid., 11, 3). No cremos numa coisa porque Deus a tenha dito, mas porque admitimos que Ele a disse, e assim nos convencemos de que a coisa verdadeira. Uma f cega, prestada com ligeireza, no tem nenhuma estabilidade, uma f incauta e
privada de discernimento: em qualquer caso preciso discutir, pelo menos de antemo, se necessrio acreditar ou no (Ibid., 11, 3). A ltima convico de Abelardo est expressa na Historia calamitatum (cap. 9). Nela afirma que escreveu o livro sobre a Unidade e Trindade divina para os seus discpulos que, no campo teolgico, procuravam argumentos humanos e filosficos e queriam mais raciocnios do que palavras. ingnuo pronunciar-se palavras cujo significado no se entende, uma vez que no se pode crer seno no que se entende, e ridculo predicar aos outros aquilo que quem predica ou quem ouve no consegue apreender. No se pode crer seno no que se compreende. Nesta frase se contm o verdadeiro cerne da investigao de Abelardo. A prpria verdade -revelada no verdade para o homem, se no apelar para a sua racionalidade, se no o deixa entender e apropriar-se dela. 208. ABELARDO: O UNIVERSAL COMO DISCURSO Na discusso sobre os universais, a posio de Abelardo tpica e vai influenciar poderosamente o desenvolvimento posterior do problema. Com efeito, Abelardo foi o primeiro que baseou a sua soluo no j na verdadeira ou suposta realidade metafsica do conceito, mas unicamente na sua funo, que a de significar as coisas. Abelardo parte da definio de universal dada por Aristteles (De interpr., 1, 6). "Universal o 98 que nasceu para ser predicado de muitas coisas". Em virtude desta definio, Abelardo acentua o carcter lgico e puramente funcional do universal e, por um lado, nega que possa, por qualquer ttulo, ser considerado como uma realidade ou res, e por outro, que possa considerar-se como um puro nome. No pode ser considerado como realidade porque nenhuma realidade pode ser predIcada de outra. Rem de re praedicari monstrum dicunt, afirma Joo de Salisbria no Metalogicus (11, 17) referindo-se a Abelardo e aos seus continuadores. Por outro lado, no pode ser uma pura voz, porque a prpria voz como tal uma coisa, uma realidade particular que no _ pode ser predicada de outra. A frmula de Roscelino: universal est vox, substituda por Abelardo pela frmula universal est sermo: diferentemente de vox, sermo supe predicabilidade, referenoia a uma realidade significada, o que a escolstica posterior chamar intencionalidade. Este ponto de vista que encontra a sua expresso mais clara nas Glosas a Bocio, tem o grande mrito de ter clarificado a natureza puramente lgica e funcional do conceito. Trata-se de uma descoberta que o posterior desenvolvimento da lgica medieval no ir esquecer. Atravs dela, Abelardo pode justificar a realidade objectiva do universal sem ter de recorrer s hipstases metafsicas do realismo. evidente que no existe o universal fora das coisas individuais. Quando os filsofos afirmam que a espcie criada pelo gnero, no pressupem com isto que o gnero preceda s suas espcies no tempo ou exista antes delas. O gnero no de forma alguma anterior espcie, e nunca pde existir um animal que no fosse nem racional nem irracional: o gnero no pode existir seno com a espcie, tal como esta no pode existir seno com aquele. (Int. ad theol., 11, 13). Mas o facto de o
universal no existir na realidade como tal, no significa que no 99 seja nada. As coisas singulares, nas suas propriedades e na sua natureza, so uniformes ou semelhantes, a~r desta uniformidade ou semelhana no constituir, por sua vez, uma coisa singular. Todas as coisas separadas, como Scrates e Plato, so opostas em nmero mas convergem nalguma coisa, por exemplo, no facto de serem homens. E esta convergncia ou uniformidade real: Abelardo define-a, como um status, que no nem uma res nem um nihilum. Quando se diz que todos os homens se aproximam pelo facto de serem homens (In statu hominis), deve-se entender apenas que todos so homens e que nisto no diferem em nada. (Philosophische Schriften, ed. Glyer p. 19-20). Tal a a tese tpica do nominalismo medieval; e a lgica nominalista integr-lo mais tarde, com a doutrina da suppositio: mediante a qual se exprime a funo prpria do conceito (como -sinal) de estar em lugar, nas proposies e nos raciocnios em que utilizado, de um conjunto de objectos entre os seus similares. 209. ABELARDO: O ACORDO ENTRE A FILOSOFIA E A REVELAO O valor que a investigao racional como tal assume aos olhos de Abelardo, condu-lo naturalmente a reconhecer o valor de todos aqueles que se dedicam ao mesmo tipo de investigao, mesmo que estejam fora do cristianismo. Abelardo reconhece assim que a verdade falou tambm pela prpria boca dos filsofos pagos, que tambm poderiam ter reconhecido a natureza trinitria de Deus (Intr., ad. Theol., 1, 20). A distino entre filsofos pagos e cristos deixa de ter valor para ele: todos esto unidos pela razo. Tanto a vida como a doutrina dos filsofos, afirma ele, encarnam o mais alto grau da perfeio evanglica ou apostlica, e pouco 100 ou nada se afastam da religio crist (Theol., christ., 11, 1, col. 1184). A inteno fundamental de Abelardo nas suas especulaes teolgicas, precisamente a de mostrar o acordo substancial entre a doutrina crist e a filosofia pag. Abelardo d-se conta, todavia, de estar a forar, nesta sua tentativa, o sentido literal das expresses dos filsofos a que se refere, mas defende-se recordando que os prprios profetas, quando atravs deles falava o Esprito Santo, no entendiam, seno em parte, o significado das suas palavras: as quais muitas vezes so tomadas claras e interpretadas por outros (Introd. ad theol., 1, 20). De acordo com estes pressupostos, o tratamento racional do dogma trinitrio em Abelardo conduzido no sentido de demonstrar o acordo substancial dos filsofos, em particular de Plato e dos neo-platnicos, com a revelao crist. Com efeito, at mesmo os filsofos pagos, segundo Abelardo, conheceram a Trindade. E admitiram que a Inteligncia divina ou Nous nasceu de Deus e coeterna com Ele, e, alm disso, consideraram a alma do mundo, como uma terceira pessoa, que procede de Deus e a vida e a salvao do mundo. " Plato, afirma Abelardo, reconheceu explicitamente o Espirito Santo
como a Alma do mundo e como a vida de tudo. Uma vez que na bondade divina tudo, de certo modo, vive; e todas as coisas esto vivas e nenhuma est morta em Deus; o que significa que nenhuma intil, nem mesmo, os males, que so dispostos da melhor maneira para bem do conjunto" (Theol., christ., 1, 27, c. 1013). Se Plato afirma que a alma do mundo em parte indivisvel e mutvel e em parte divisvel e mutvel, enquanto se multiplica nos vrios corpos, isto deve ser entendido no sentido de que o Esprito Santo permanece indivisvel em si mesmo; mas, enquanto multiplica os seus dons, aparece dividido na sua 101 aco vivificadora. Quando Plato afirma que a Alma foi colocada por Deus no meio do mundo e que a partir da se estende igualmente por todo o globo, o que ele quer afirmar, de forma elegante, que a graa de Deus se oferece igualmente a todos, e que nesta casa ou templo que seu, o mundo, ele dispe todas as coisas de modo salutar e justo (Introd. ad theol., 1, 27). A doutrina Platnica coincide assim de forma substancial, com a f na Trindade; e se Plato afirma que a Mente e a Alma do mundo foram criadas, trata-se de uma expresso imprpria que quer significar a gerao e a providncia das duas pessoas, divinas do Pai Ubid. 1, 10). 210. ABELARDO: A TRINDADE DIVINA Estas analogias guiam Abelardo nas suas interpretaes trinitrias. A distino das trs pessoas baseada na distino dos atributos. Com o nome do Pai indica-se a potncia da majestade divina pela qual pode fazer tudo o que quer. Com o nome de Filho ou Verbo designa-se a sapincia de Deus, pela qual ele pode conhecer tudo e de modo algum ser enganado. Com o nome de Esprito Santo exprime-se a caridade ou benignidade divina, pela qual Deus quer que tudo seja disposto do melhor modo e dirigido ao melhor fim. Estes trs momentos da Trindade garantem a perfeio divina, uma vez que no perfeito em tudo quem importante em qualquer coisa, nem perfeitamente santo quem pode enganar-se em qualquer coisa, nem perfeitamente bondoso quem no quer que tudo seja disposto do melhor modo. Os trs atributos de Deus, expressos nas trs pessoas da Trindade, pressupem-se e reclamam-se uns aos outros. E assim, ainda que a sapincia pertena ao Filho e a caridade ao Esprito Santo, todavia, tanto o Pai como 102 o Esprito Santo so inteira sapincia; e, do mesmo modo, tanto o Pai como o Filho so tambm caridade (Int. ad Theol., 1, 7-10). Em razo desta unidade dos atributos divinos, as vrias pessoas derivam umas das outras. O Pai, que a potncia, gera em si a sua sapincia, que o Filho, se bem que a prpria sapincia divina, seja uma potncia, isto : um poder de Deus: o poder de discernir a forma de evitar qualquer engano ou erro, de modo a que nada pode subtrair-se ao conhecimento de Deus. O Esprito Santo procede do Pai e do
Filho, enquanto a bondade prpria do Esprito, a forma de produzir os seus efeitos deriva da potncia e da sapincia de Deus: pois se no derivasse da potncia seria privado de eficcia e se no derivasse da sapincia no conheceria a melhor forma de explicar-se e de produzir os seus efeitos. O Esprito Santo designa portanto o proceder de Deus de si para as criaturas, que tm necessidade dos benefcios da graa divina, proceder que ditado pelo amor de Deus (1b., 11, 14). O Filho e o Esprito Santo diferem, todavia, na sua derivao de Deus Pai: o Filho gerado pelo Pai, e da mesma substncia do Pai, uma vez que a sapincia uma determinada potncia; o Esprito Santo no da mesma substncia do Pai e do Filho porque a caridade, que no atributo, no nem potncia nem sapincia, ainda que esteja condicionada na sua eficcia, tanto por uma como por outra. Fala-se, portanto, de gerao do Filho em relao ao Pai, e de processo do Esprito Santo, tanto em relao ao Pai como ao Filho (1b., 11, 14). A relao entre as trs pessoas divinas e a sua gerao ou processo ilustrada em Abelardo com uma comparao. A divina Sapincia um aspecto determinado da divina Potncia do mesmo modo que um selo de bronze uma determinada parte do bronze. A divina Sapincia recebe o seu ser 103 da divina Potncia tal como O selo de bronze recebe o seu ser do bronze de que formado. Para que seja um selo de bronze, necessrio que exista o bronze; assim a divina Sapincia que a potncia de conhecer, exige necessariamente que haja a divina Potncia, de que formada. E como o bronze se chama a substncia do selo, assim a divina Potncia a substncia da divina Sapincia. Nesta similitude, o Esprito Santo aquele que se serve do selo e aquele que pressupe o ser do prprio selo e do bronze que o constitui. Tal como aquele que ao usar o selo se serve de qualquer coisa mole sobre a qual imprime a imagem que existe na substncia do selo, assim o Esprito Santo, com a distribuio dos seus dons, reconstitui em ns, a imagem destruda de Deus, para que de novo sejamos feitos conforme a imagem do Filho de Deus, isto : de Cristo. Em suma, tal como o bronze, o selo e o acto de selar so uma s coisa na sua essncia, ainda que se trate de trs coisas distintas uma das outras; assim tambm o Pai, o Filho, e o Esprito Santo so uma nica essncia, mas so distintos uns dos outros nos seus atributos pessoais, de forma que nenhuma pessoa pode ser substituda por outra. O bronze, como matria, no a forma do selo e reciprocamente. Assim o Pai no o Filho, e a Potncia divina no a divina Sapincia; e reciprocamente (Int. ad. theol., 11, 14). Estas especulaes trinitrias de Abelardo suscitaram a crtica de S. Bernardo que interpretou os atributos com que Abelardo caracteriza as trs pessoas divinas como se fossem omnipotncia, semi. -potncia, nenhuma potncia (De erroribus Ab., 3, 8). E na verdade tal coisa teolgicamente imprpria, uma vez que no assume a substancialidade das pessoas divinas que so reduzidas, segundo o esquema de Escoto Ergena, a trs momentos da vida divina (modalismo). Por outro lado, a especulao de Abe104
Abelardo conduz Helosa para o Convento do Parclito lardo tem uma intencionalidade mais cosmolgica do que teolgica. O seu objectivo mais o de esclarecer a estrutura e a constituio do mundo e a relao entre o mundo e Deus, do que propriamente esclarecer a natureza de Deus. E esta sua intencionalidade cosmolgica foi aplicada e utilizada pelos filsofos posteriores, especialmente os da escola de Chartres. 211. ABELARDO: A UNIDADE DIVINA No que se refere natureza de Deus em si prpria, Abelardo repete a especulao negativa de Escoto Ergena. No possvel definir a essncia de Deus, porque Deus inexprimvel. Deus est fora do nmero das coisas, porque no nenhuma delas. Todas as coisas pertencem ou categoria da substncia ou a outra categoria. Mas aquilo que no substncia no pode subsistir em si. Ora bem, Deus o princpio e fundamento de tudo, portanto no pode pertence- ao conjunto das coisas que no so substncia. Mas to-pouco pode ser integrado nas substncias. Com efeito, o que caracterstico da substncia o permanecer numericamente una e idntica, ainda que possa receber em si determinaes diversas e opostas. Mas Deus no pode receber nenhuma dessas determinaes, porque nele no h nada de acidental e de mutvel. Por isso, mais que substncia, deve-se chamar-lhe essncia, dado que nele, o ser e o subsistir so absolutamente -idnticos. Nenhum nome, nenhuma palavra referida a Deus conserva o significado com a qual so referidas todas as coisas criadas. A natureza divina apenas pode ser exprimida com parbolas e metforas. Podemos distinguir, por exemplo, na substncia do homem a vida animal, a razo, a mortalidade, etc., ainda que a essncia do homem permanea numericamente una e idntica. Do mesmo modo pode105 mos supor que na divina Substncia se podem distinguir atributos diversos, constitutivos de trs pessoas diferentes, permanecendo, no entanto, aquela substncia una e idntica (Intr., ad theol., il, 12). Para compreender a unidade das pessoas divinas til considerar uma outra imagem que Abelardo vai buscar gramtica. A gramtica distingue trs pessoas: a que fala, aquela a quem se fala e aquela de que se fala; mas reconhece que estas trs pessoas podem ser atribudas a um mesmo sujeito. Uma pessoa pode falar de si a si prpria; neste caso, referem-se ao mesmo sujeito todas as trs pessoas da gramtica. Alm disso, a primeira pessoa o fundamento das outras, uma vez que no h ningum que fale, tambm no h ningum a quem se fale e ningum de que se fale. Em suma, a terceira pessoa depende das duas precedentes, pois que s entre duas pessoas que falam se pode falar de uma terceira pessoa. Em tudo isto podemos encontrar a imagem da unidade divina; ainda que a segunda pessoa, com efeito, pressuponha a primeira e a terceira as outras duas. E como um e mesmo homem pode ser a primeira, a segunda e a terceira pessoas gramaticais, sem que estas trs pessoas se confundam ou anulam; assim tambm em Deus a mesma essncia pode ser as trs pessoas, sem que as trs pessoas se identifiquem umas com as
outras (lbid., 11, 12). 212. ABELARDO: DEUS E O MUNDO As relaes entre Deus e o mundo so esclarecidas em Abelardo com o fundamento dos atributos divinos e em primeiro lugar o da omnipotncia, que o atributo prprio do Pai. A concluso a que Abelardo chega, a propsito deste atributo, de que Deus no pode fazer nem mais nem menos 106 daquilo que faz e por isso a sua aco necessria. Com efeito, Deus apenas pode fazer o bem. Deus faz aquilo que quer, mas quer aquilo que bom. O princpio da sua aco no o sic volo, sic iubeo, sit pro ratione voluntas: Ele quer apenas que acontea aquilo que bom que acontea. (Theol. christ., V, col. 1323). claro pois, que, em tudo aquilo que Deus faz ou deixa de fazer, h uma justa causa... Tudo aquilo que ele faz, deve faz-lo, porque se justo que alguma coisa acontea, injusto que essa coisa seja omitida (Intr., ad theol., 111, 5). Nem se pode dizer que, se Deus tivesse feito algo de diferente daquilo que fez, esse algo seria tambm bom, porque seria feito por ele; uma vez que, se aquilo que no fez, fosse bom como aquilo que faz, no haveria fundamento para a sua escolha nem motivo para fazer uma coisa e omitir outra. Se aquilo que faz apenas o bem, Deus pode fazer apenas aquilo que faz. Tinha pois razo Plato ao afirmar que Deus no podia criar um mundo melhor do que aquele que criou (lb., 111, 5). Em Deus, possibilidade e vontade so uma e s coisa: verdade que ele pode tudo o que quer, mas verdade tambm que ele no pode, seno aquilo que quer. Esta doutrina de Abelardo implica a necessidade da criao do mundo e o optimismo metafsico. O mundo foi necessariamente querido e criado por Deus. Tudo o que Deus quer, quere-o necessariamente, nem a sua vontade pode permanecer ineficaz; necessariamente, pois, Ele leva a seu termo tudo aquilo que quer (Theol., christ., V, col. 1325 e segs.). A necessidade do mundo no implica a essncia da liberdade em Deus. A liberdade no consiste em escolher indiferentemente o fazer uma coisa ou outra, mas antes em executar sem coaco, e com plena independncia, aquilo que se decidiu consciente e racionalmente. Esta liberdade pertence tambm a 107 Deus: pois tudo aquilo que ele faz, f-lo apenas por sua vontade, e portanto sem precisar de qualquer coaco (Intr. ad theol., 111, 5). Deus concedeu ao homem a possibilidade de pecar e de fazer o mal para que, em confronto com a nossa fraqueza, nos surja na sua glria, uma vez que de forma alguma Ele pode pecar: e para que ao afastarmo-nos do pecado no atribuamos isso nossa natureza, mas ajuda da sua graa que dispe para a sua glria no s o bem como tambm o mal (Ib., HI, 5). A necessidade que prpria de Deus reflecte-se nas aces de Deus no mundo. Deus prev tudo: e se bem que a sua previso no seja necessariamente determinante em relao aos acontecimentos singulares, no pode contudo ser
desmentida e esses acontecimentos devem integrar-se na ordem das suas previses. Nesta ordem integra-se tambm a predeterminao. Deus predestina os eleitos salvao, mas mesmo aqueles que ele no predestina e que por isso esto condenados, integram-se na ordem providencial do mundo. A aco de Deus no nunca sem motivo, ainda que o motivo permanea oculto aos homens. Mesmo a traio de Judas integra-se na ordem providencial, porque sem a sua existncia no teria sido possvel a redeno da humanidade. E, tal como a traio de Judas, todos os males que podem acontecer ou acontecem, esto ordenados pela Providncia divina para o bem, o tm o seu motivo e o seu resultado inevitvel, mesmo que o homem no possa dar-se conta disso Un Ep. ad Rom., col. 649-52). 213. ABELARDO: O HOMEM A alma humana , segundo Abelardo, uma essncia simples e distinta do corpo. Existe um sentido ao afirmar-se que at as criaturas intelectuais, como 108 a alma ou o anjo, so corpreas, enquanto esto ,limitadas no espao; mas trata-se de um sentido imprprio que deriva de um conceito falar de corporeidade. A alma est toda presente em todas as partes do corpo e o princpio da vida corprea. S atravs da alma o corpo o que (Intr. ad theol., HI, 6). Como natureza espiritual, a alma traz em si a imagem da Trindade divina. O que na alma substncia, na Trindade a pessoa do Pai; o que na alma virtude e sapincia na Trindade o Filho, que a Virtude e a Sapincia de Deus; aquilo que na alma a propriedade de vivificar-se na Trindade o Esprito Santo, ao qual corresponde a misso de dar vida ao mundo (1b., 1, 5). A alma humana dotada de livre arbtrio. "Por livre arbtrio, afirma Abelardo, entendem os filsofos o livre juzo da vontade. O arbtrio , com efeito, a deliberao ou o juzo da alma, pelo qual algum se prope fazer ou deixar de fazer qualquer coisa. Este juzo livre quando nenhuma necessidade de natureza impe a realizao do que se decidiu e permanece em nosso poder tanto o fazer como o deixar de fazem (lb., 111, 7). Os animais no tm livre arbtrio porque no tm raciocnio e mesmo ns estamos privados de livre arbtrio quando queremos aquilo que no est no nosso poder ou quando alguma coisa acontece sem a nossa deciso. Como capacidade de executar voluntariamente e sem coaco a aco que se decide a seguir a um juzo racional, o livre arbtrio pertence quer aos homens quer a Deus e em geral a todos os que no esto privados na faculdade de querer. Pertence tambm, e em grau eminente, aos que no podem pecar. O que no pode peca-r, no pode certamente afastar-se do bem; mas isso no implica que seja obrigado a fazlo por uma necessidade de coaco. Essa impossibilidade no deve confundir-se com uma constrio que impea ou vincule o juzo racional 109 da vontade (1b., 111, 7). Pode dizer-se, assim, que a liberdade de escolha mais ampla no mbito do bem, quando aquele que escolhe est livre da servido do pecado (1b., 111, 7).
214. ABELARDO: A TICA O ponto central da tica de Abelardo a distino entre vcio e pecado e entre pecado e m aco. O vcio, uma inclinao natural da alma para o pecado. Mas se tal inclinao consegue ser combatida e vencida, no s no d origem ao pecado, como torna ainda mais meritria a virtude. O pecado , pelo contrrio, o consentimento dado a essa inclinao e um acto de desprezo e de ofensa a Deus. Consiste no no cumprir a vontade de Deus, no transgredir uma sua proibio. Trata-se de um no-fazer, ou de um no-omitir; de um no-ser, de uma deficincia, de uma ausncia de realidade: de algo sem substncia (Scito te ipsum 3). A aco pecaminosa pode ser cometida mesmo sem o consentimento da vontade, mesmo sem pecado: como acontece quando, por defesa. se mata um perseguidor furioso. O mal da alma verdadeiramente apenas o pecado, o consentimento dado a uma inclinao viciosa. A vida humana uma contnua luta contra o pecado. "Desta forma, ns estamos sempre empenhados num combate interior para recebermos no outro mundo a coroa dos vencedores. Mas para que haja batalha necessrio que exista um inimigo que resista e que no deixe de surgir. Este inimigo a nossa vontade pecaminosa, sobre a qual devemos triunfar submetendo-a ao querer de Deus; mas nunca conseguiremos elimin-la definitivamente porque devemos ter sempre um inimigo contra quem combatem (1b.). Abelardo est na situao de -insistir, com base nestas premissas, sobre a pura interioridade das valoHo raes mormis. A aco pecaminosa nada acrescenta ao pecado que o acto pelo qual o homem despreza o querer divino. Onde no existe consentimento da vontade no existe pecado, ainda que a aco seja em si pecaminosa (como no caso de quem mata coagido), e quando existe consentimento da vontade na inclinao viciosa, o facto de se seguir a ela uma aco pecaminosa nada acrescenta culpa. Deve-se chamar transgressor, no quele que faz aquilo que proibido, mas quele que apenas consente no que proibido por Deus: e assim a proibio deve entender-se como referida no aco, mas ao consentimento. "Deus tem em conta no as coisas que se fazem mas o nimo com que elas so feitas; e o mrito e o valor do que actua no consiste na aco mas na inteno" (1b.). Uma mesma aco pode ser boa ou m; por exemplo, enforcar um homem tanto pode ser um acto de justia como de malvadez. Nem sempre o juzo humano pode adequar-se a esta exigncia da valorao humana. Mas isso acontece porque os homens no tm em conta a culpabilidade interior, a no ser o acto pecaminoso externo, que efeito da culpa. Apenas Deus que observa, no as aces, mas o esprito com que so praticadas, pode avaliar segundo a verdade, o valor das intenes humanas e julgar exactamente a culpa (1b., 5). O juzo humano afasta-se necessariamente do juzo divino. O primeiro castiga mais a aco do que a inteno, porque segue mais um critrio de oportunidade do que um dever de justia e tem em mira, sobretudo, a utilidade comum; o segundo, pelo contrrio, castiga exclusivamente a inteno e inspira-se na mais perfeita justia, sem ter em conta as repercusses sociais da culpa. Mas enquanto o juzo humano se conforma com necessrios critrios de oportunidade, tal coisa no justificvel com o fundamento da realidade moral
111 do homem. Para esta real-idade no a aco mas a inteno que conta, e a aco s boa quando procede de uma boa inteno. Na verdade, a bondade da inteno deve ser real, no aparente; necessrio que o homem no se engane ao crer que o fim para que tende seja da vontade de Deus (1b., 11). Abelardo procede coerentemente nesta tica da inteno e no se detm perante as consequncias teologicamente perigosas da mesma. Se o pecado est apenas na inteno, como se justifica o pecado original? Abelardo responde que o pecado original no um pecado, mas a pena de um pecado. "Quando se diz que as crianas nascem com o pecado original e que ns todos, segundo o Apstolo, pecmos como Ado, como se se dissesse que do pecado de Ado derivou a nossa pena, que a sentena da nossa condenao" (1b., 14). Igualmente imprprio chamar pecado ,ignorncia em que vivem os infiis em relao verdade crist e as consequncias que surgem de tal ignorncia. "No constitui pecado o ser infiel, ainda que -tal coisa impea a entrada na vida eterna queles que chegaram ao uso da razo. Para ser-se condenado suficiente no acreditar no Evangelho, ignorar a Cristo no se aproximar dos Sacramentos da Igreja, ainda que isto acontea no por maldade, mas apenas por ignorncia" (1b., 14). No se pode ter por culpa o facto de no acreditarem no Evangelho e em Cristo aqueles que nunca ouviram falar nem dum nem doutro. Afirmar que se pode pecar por ignorncia significa entender o pecado num sentido lato e imprprio, j que o pecado verdadeiramente apenas a ignorncia quando efeito de negligncia consciente. NOTA BIBLIOGRFICA 205. As obras teolgicas de Abelardo in P. L., 178.o. Alguns escritos foram publicados parcialmente Por COUSIN, Ouvrages indits d'Ablard, Paris, 1836 112 (Cousin tem uma nova edio das obras j editadas, conjuntamente com Jourdain, Paris, 1849-1859); outros por GYEER, Abaelards philosophie Schriften, nei "Beitrage", XX1, 1-4, 1933; e por DAL PRA, P. Abelardo Scritti filosofici, Milo, 1954. Outras edies: De unitate et trinitate divina, ed. Stlzl,e, Friburgo, 1891; Theologia Summi boni, ed. Ostlender, nei "Beitrage", XXV, 1939; Dialectica, ed. De Kijk, Utrecht, 1956; Historia calamitatum, ed. Monrain, Paris, 1959. RmuSAT, Ablard, 2 vols. Paris, 1845; OTTAVIANO. P. Abelardo, Roma, 1931; S1KES, P. Abelard, Oambridge, 1932; GILSON, Heloise et Ablard, Paris, 1938 (Trad. ital., Turim, 1950); LLOYD, P. Abelard: the orthodox Rebel, Londres, 1947; MOORE, He"se and Abelard, Londres, 1952. 206. RoBERT, Les coles et Venseignement de Ia thologie pendant Ia premire moitW du XIIe sicle, Paris, 1909; GRABMANN, Geschichte de scholastichen Methode, 11, 199-221). 207. MOORE, Reason in the Theology of. P. Abelard, in "Proceed. Cathol. Philos. Assoc.", 1937.
208. REINERS, nei "1@eitrge", VH1, 5, 1910; GEYER, nei "Beitrage", supp1. 1, 1913; ARNOLD, Zur Geschichte der Suppositionstheorie, in " Symposion", 1952; MOODY, Truth and Consequence in Medieval Logic, Amsterdo, 1953. 210, 211. GRUNWALD, nei "Beitrage", VII, 3, 36-40; MCCALLUM, A.Is Christian Theology, Londres, 1948. 214. DITTRicH, Geschichte der Ethik, 111, 67-74; DAL PRA, in "Riv. Stor. F*Ilos.", 1948; in "Acme", 1948. 113 VII A ESCOLA DE CHARTRES 215. O NATURALISMO CHARTRENSE O -problema dos universais, ao fim das suas primeiras manifestaes, constitui o sinal de um novo interesse pelo homem e em especial pelos seus poderes cognoscitivos; e o resultado imediato desse interesse uma mais extensa autonomia reconhecida a tais poderes. Mas o sculo XII oferece tambm, nalguns caminhos abertos pela filosofia, o exemplo de um novo interesse pelo mundo da natureza; e tambm neste caso o resultado desse interesse o reconhecimento de uma mais extensa autonomia da natureza em confronto com o seu prprio criador. Este segundo aspecto da Escolstica do sculo XII, constitui o caminho seguido pelos filsofos que ensinaram na Escola catedral de Chartres, que foi fundada, no fim do sculo X, por Fulberto (falecido 1028). Mas juntamente com o interesse naturalstico, a escola de Chartres cultivou igualmente o interesse pelos estudos literrios o gramaticais e pela lgica; tanto assim que nos oferece a melhor documentao sobro a viragem que a filosofia escolstica sofre no 115 sculo XII; uma viragem atravs da qual o mundo do homem passa a ser observado e encarado com renovado interesse, ainda que no lugar subordinado que apesar de tudo mantm perante as foras transcendentes que o dominam. Os temas da filosofia naturalista, que os filsofos de Chartres preferem, so muito simples e todos se reconduzem tentativa de Abelardo de inserir o Timeu platnico no tronco da teologia crist. Abelardo tinha identificado a platnica Alma do mundo com o Esprito Santo. Esta identificao mantida pelos filsofos de Chartres, mas agora a identificao passa a ser entre a Alma do mundo e a Natureza. A natureza passa a ser a fora motriz, ordenadora e vivificadora do mundo; e com estas caractersticas ganha uma dignidade e uma potncia autnomas. A natureza designada fora universal (vigor universalis) que no s faz com que existam todas as coisas individuais como tambm ela prpria e de forma autnoma. E nas composies literrias que exprimem imaginosamente e segundo os modelos clssicos estes conceitos, ela surge personificada e exaltada como a filha de Deus, a genitrix de todas as coisas, a ordem, o explendor e a harmonia do mundo. Mas o importante que,
reconhecida natureza uma tal dignidade, se torna possvel reconhecer-lhe tambm uma certa autonomia: comea a dar-se conta de que possvel explicarse a natureza com a natureza, e os filsofos de Chartres. utilizando as fontes clssicas e patrsticas (especialmente Ccero), recorrem de boa vontade s doutrinas epicuristas e esticas para as suas explicaes cosmolgicas. obviamente, a utilizao de doutrinas assim heterogneas platonismo, epicurismo, estoicismo, todas filtradas pela retorta da teologia abelardiana-d lugar a construes conceptuais heterogneas e confusas que tm escasso valor cientfico e filosfico. Mas a importncia destas tentativas no 116 est nos seus resultados, mas antes nos caminhos filosficos para que apontam; caminhos que se dispem a dar um relevo cada vez maior natureza e ao homem, mesmo que a natureza e o homem sejam concebidos, no em oposio ao transcendente, mas como manifestaes do prprio transcendente. A direco que encontra na escola de Chartres a mais rica expresso filosfica tinha sido preparada, desde o sculo anterior, por um certo prosseguimento dos conhecimentos cientficos devido sobretudo aos contactos com os rabes. Antes da primeira metade do sculo XI, no que diz respeito s cincias naturais e medicina, a cultura medieval tinha ficado onde a deixara as obras de Gerberto d'Aurillac. Mas nos princpios daquele sculo, o mdico Constantino Africano traz para o conhecimento do mundo ocidental, com numerosas tradues, a cincia e a medicina greco-rabe. Constantino nascera em Cartago e viajara pelo Oriente e pelo Egipto. Em 1060 deteve-se em Salerno onde florescia uma grande escola de medicina. Mais tarde torna-se frade no claustro de Montecassino. Traduz do rabe dois livros de medicina intitulados Pantegni e Viaticum que foram em seguida atribudos ao mdico ebreu Isaac e impressos com o seu nome (Lyon, 1515). Em seguida, Constantino traduz obras mdicas do mesmo Isaac e dos grandes mdicos gregos Hipcrates e Galeno, tendo chamado a ateno para a teoria atmica dos mesmos. A obra de Constantino foi continuada pelo ingls Adelardo de Bath (nascido em 1090) que ensinou durante alguns anos em Laon, na escola de Anselmo, e viajou pela Itlia Meridional pela Espanha e pela sia Menor, para regressar, aps sete anos, a Inglaterra e dar a conhecer o que tinha aprendido com os rabes. Traduz ento os Elementos de Euclides e tratados rabes de aritmtica e de astronomia; 117 compe dois livros dos quais um, Quaestiones naturales, uma obra de fsica; o outro, De codem et diverso, tem a forma de uma carta a um sobrinho o uma alegoria na qual a filosofia e a filoscomia disputam o jovem Adelardo, vangloriando-se cada uma dos seus prprios mritos. Nas Quaestiones naturales Adelardo explicitamente contrape a razo autoridade para aquele que tenta indagar o mundo natural. Nesta indagao, afirma ele, aquilo que preciso deter o conhecer, a razo das coisas (Quaest, nat., 6). Esta forma de agir no afecta, de modo algum, o poder de Deus; porque Deus tudo fez, mas no fez nada sem razo: e no sentido de
conhecer essa razo que se deve orientar a cincia humana (1b., 1). Na investigao dessa mesma razo, Adelardo recorre frequentemente teoria atmica que provavelmente, deduzia da obra de Constantino Africano e que neste perodo, como veremos em seguida, frequentemente invocada, se bem que seja conhecida, mais do que atravs de Lucrcio, atravs das advertncias dos escritores patrsticos: Calcdio (in Tim, 279), Ambrogio (in Hexam., 1, 2), Santo Agostinho (Epi., 118, 4, 28) e Isidoro (Etim., 13, 2, 1 e segs.). Por outro lado, Adelardo introduziu pela primeira vez no Ocidente latino a prova aristotlica da existncia de Deus, deduzida do movimento (Quaest, nat., 60). De tudo isto pode, portanto, deduzir-se que teria conhecido atravs dos rabes a Fsica de Aristteles, que era ainda inacessvel aos filsofos do Ocidente e que ele cita (1b., 18). Quanto ao problema dos universais, Adelardo faz sua a soluo de Abelardo, mas exprime-a de forma diferente. Os nomes "gnero", "espcie", "indivduo" , so impostos mesma substncia, mas de um ponto de vista diferente. Assim o nome de gnero "animal" designa um sujeito dotado de sensibilidade e de alma; o nome de espcie "homem" designa esse mesmo 118 sujeito mas acrescentando-lhe o raciocnio e a mortalidade; o nome individual "Scrates" designa todas as coisas precedentes com mais uma distino numrica devida a caracteres acidentais. Adelardo conclui que Aristteles tinha razo ao afirmar que os gneros e as espcies existem apenas nas coisas sensveis; mas acrescenta que tambm Plato tinha razo em dizer que eles existem na sua pureza, enquanto formas sem matria, na mente divina. Todos estes temas e motivos so abordados na escola de Chartres cujo primeiro representante de envergadura foi Bernardo, professor de 1114 a 1119 na Escola catedral, e de 1119 a 1124, chanceler da Abadia. Dele no possumos escritos mas conhecemos a sua doutrina atravs dos testemunhos de Joo de Salisbria que no seu Metalogicus (IV, 35) lhe chama "o mais perfeito entre os platnicos do seu sculo". O que sabemos das suas doutrinas aparece como um resumo do Timeu platnico visto atravs de Abelardo. Bernardo identifica os gneros e as espcies com as ideias platnicas e sustenta que, tal como as ideias, so eternos. No so todavia coeternos com Deus no sentido em que so coeternas entre si as pessoas da Trindade. As ideias, enquanto subsistentes na mente divina, esto privadas de matria e no so sujeitas ao movimento: na matria esto apenas as imagens dessas formas ideais, impressas por Deus, imagens a que Bernardo chama formas inatas e que tm o destino das coisas singulares (1b., 11, 17). Mas Bernardo foi sobretudo (quanto sabemos) um gramtico e um literato, admirador entusiasta dos autores antigos: dizia ele que ns somos, em relao aos antigos, como anes sobre os ombros de gigantes: podemos ver mais alm apenas porque podemos subir at sua altura (1b., RI, 4). O irmo mais novo de Bernardo, Teodorico, de Chartres, foi professor em Chartres em 1121; em 119 1140 ensinou em Paris onde Joo de Salisbria foi seu aluno e em 1141 foi chanceler de Chartres e ao mesmo tempo arquidicono de Dreux. Morreu em 1150.
Teodorico, autor de um Heptateucon ou manual das sete artes liberais de que se servia no seu ensino e que um documento do material de estudo utilizado nas escolas na primeira metade do sculo XII; de um comentrio ao gneses Hexameron ou De septem diebus e de um comentrio ao De Trnitate de Bocio. Na especulao de Teodorico sensvel a influncia das obras de Escoto Ergena. Como este, Teodorico distingue quatro causas e que em seguida so quatro fases do processo de auto-realizao de Deus no mundo: a causa eficiente, que Deus Pai; a causa formal que a Sapincia ou o Filho de Deus, que organiza a matria; a causa final que o Esprito Santo que anima e vivifica a matria j formada e organizada; e finalmente a causa material que so os quatro elementos que o prprio Deus criou do nada no princpio. Como se v, Teodorico, tal como Abelardo, identifica o Esprito Santo com a Alma do mundo e na sua obra frequente a insistncia neoplatnica (obtida em Escoto Ergena) sobre o primado ontolgico da Unidade, que o prprio Deus. Teodorico insiste tambm na sua noo de unidade ao considerar Deus, no seu comentrio ao De Trh*ate de Bocio, como a nica forma do ser (forma essendi) de que participam todas as coisas existentes, tal como da nica matria participam todas as coisas materiais. provvel que esta doutrina no tenha, para Teodorico, o significado pantestico que primeira vista pode apresentar; mas com tal significado podia ser encarada, assim como foi, por alguns escolsticos, como veremos. portanto caracterstica de Teodorico (como de todos os filsofos de Chartres) a tese de que a obra miraculosamente criadora de Deus se extingue 120 com a produo dos quatro elementos; criados os quatro elementos, a aco natural da capacidade deles prprios produz o ordenamento do mundo e a disposio das suas partes: nesta aco tem grande papel o fogo com o seu poder iluminante e incandescente. Trata-se da velha doutrina estoica, extrada da tradio neoplatnica. Aluno de Bernardo foi Guilherme de Conches de quem sabemos pouqussimo. Nascido, provavelmente, em 1090, era ainda vivo em 1154 e foi professor de gramtica em Chartres. Escreveu uma Philosophia que :a sua primeira obra sistemtica, um Dragmaticon, composto entre 1144 e 1149 e que pode considerar-se a sua obra mais amadurecida. Extractos do Dragmaticon so o De secunda e o De tertia philosophia. Escreveu tambm Glosas a Bocio, Glosas ao Timeu e um tratado de tica, Moralium dognw philosopharum, que uma recolha de mximas de moral extradas de autores pagos e ordenadas sistemticamente. A Guilherme costuma tambm ser atribudo um Compendium philosophiae em seis livros que tambm atribudo a Hugo de So Victor, mas que provvelmente obra de um compilador annimo. Em todos estes escritos podemos encontrar, com pequenas oscilaes e retraimentos, a doutrina tpica da escola de Chartres. Nas Glosas ao Timeu que parecem ser anteriores Philosophia e que foram publicadas recentemente, Gui]herme afirma: "A alma do mundo o vigor natural que permite a umas coisas terem movimento, a outras o crescimento, a outras o sentir, a outras o discernir. Quanto a mim julgo que este vigor natural o Esprito Santo, ou seja, a divina e benigna concrdia da qual todas as coisas retiram o ser, o movimento, o crescimento, o sentir, o viver e o discernir". Com mais incerteza, esta doutrina vem repetida na Philosophia, mas desaparece do
Dragmaticon, talvez 121 por efeito da condenao que, na pessoa de Abelardo, essa mesma doutrina tinha entretanto sofrido. Mais caracteristicamente, Guilherme insiste na composio atmica dos quatro elementos. Segundo Guilherme, a gua, o ar, a terra e o fogo no so verdadeiramente elementos porque so divisveis: os verdadeiros elementos so indivisveis porque so simplicssimos. No entanto, Guilherme chama elementata Ou elementos do mundo gua, ao ar, terra e ao fogo e reserva o nome de elementa apenas para os tomos aos quais atribui as qualidades fundamentais opostas: quente e frio, seco e hmido (Philosophia, 1, 21). Todos os temas da escola de Chartres encontram uma expresso imaginosa na obra de Bernardo Silvestre, autor de um poema intitulado De mundi universitate sive Megacosmus et Microcosmus escrito volta de 1150 e dedicado a Teodorico de Chartres. A obra est redigida em verso e em prosa segundo o exemplo do De consolatione de Bocio e do De nupliis de Marciano Capella e uma espcie de cosmogonia inspirada no Timeu de Plato. Bernardo personifica as entidades teolgicas e metafsicas da escola de Chartres: a Matria ou Hyle, concebida como absolutamente informe, aparece reconduzida ordem e harmonia do Intelecto ou Noys, pelos trmites da Natureza ou Physis; e no cume desta ordem foi colocado o homem, o Microcosmos. A oposio entre o carcter informe, pavoroso e maligno da Hyle e a ordem racional que a Ph),sis procura impor, d colorido dramtico obra. Nela, os prprios atributos das pessoas da Trindade tomam-se puramente cosmolgicos, isto , relativos s funes que as pessoas desempenham perante o mundo e caracterizadas como Potncia, Sapincia e Bondade, segundo um esquema que ns podemos encontrar frequentemente nos mestres de Chartres e que deriva de Abelardo. 122 216. GILBERTO DE LA PORRE O mais notvel representante da escola de Chartres Gilberto Porretano. Nascido em Poitiers, foi aluno de Bernardo de Chartres e de Anselmo e Rodolfo de Laon. Ensinou em Chartres e em Paris com grande sucesso e foi bispo de Poitiers (1142-1154). Gilberto foi autor de numerosos escritos, quase todos mantidos inditos. Os mais notveis so o Commentario aos opsculos teolgicos de Bocio e um tratado das ltimas seis categorias de Aristteles que tem o ttulo De sex principiis,- tem-se duvidado da autenticidade deste escrito, mas sem razes suficientes. De qualquer modo, trata-se de um escrito que contm as teses tpicas de Gilberto e que em breve se tomou famoso; foi usado como texto de ensino na Universidade de Paris e comentado por diversos autores: a ltima vez pelo humanista Hermolau Brbaro que o publicou na sua edio das obras de Aristteles. Gilberto define a f como a "percepo, acompanhada de aprovao, da verdade de uma coisa" o sustenta que a f precede a razo no domnio teolgico, mas segue-a no domnio filosfico. As coisas criadas no tm necessidade verdadeira e prpria: uma vez que nelas tudo varivel, mesmo aquilo que em
regra se considera necessrio. A necessidade existe apenas nas coisas divinas e a f precede a razo. Ns no acreditamos porque sabemos, mas sabemos porque acreditamos (non cognoscentes credinw sed credentes cognoscimus). A f, prescindindo completamente dos princpios da razo, consegue compreender no s o que a razo humana no pode compreender, mas tambm aquilo que ela pode compreender com os prprios princpios. Justamente por isso, a f catlica considerada o exrdio no s do conhecimento teolgico mas de qualquer outro; privada de qualquer incerteza e 123 o fundamento mais firme e certo mesmo dos conceitos naturais (In Boeth. de praed. trium pers., in P. L., 64. , 1303). Com base neste pressuposto. Gilberto defende a estreita unio entre a razo e a f em toda a investigao filosfica. "Une a f razo, afirma ele, para que a f confira, em primeiro lugar, autoridade razo e em seguida a razo confira assentimento f" (Ib., 1310). Segundo um testemunho de Joo de Salisbria (Metal., 11, 17), Gilberto distinguia o universal in rem do universal ante rem. O universal in re, forma inata ou espcie, considerava-o inerente s coisas criadas. A forma inata seria a cpia do exemplar existente na mente divina, tal como a espcie imanente nos indivduos , segundo Plato, a cpia da ideia. O intelecto humano abstrai o universal das coisas individuais para considerar melhor a sua natureza e melhor compreender as suas propriedades. O universal no uma realidade em si, numericamente una, mas a simples coleco das coisas singulares, unificadas segundo as suas propriedades comuns. Noutros termos, Gilberto participa aqui no ponto de vista de Abelardo: o fundamento objectivo da universalidade do conceito, o fundamento que garante ao conceito a sua verdade, a semelhana que as coisas singulares tm entre si, a sua uniformidade colectiva. O universal tinha j sido definido como coleco de coisas singulares por Joscelino ou Gauleno no tratado De generibus et speciebus ( 203). Mas Gilberto acrescenta aqui uma opinio sua: distingue dois significados na palavra substncia. Num primeiro sentido, mais geral, substncia o que para subsistir no precisa de qualidades acidentais. Neste sentido, a substncia subsistncia, isto , essncia e exprime o quo est da coisa. Num segundo sentido, que o prprio, a palavra substncia significa aquilo que subsiste, a realidade existente ou subsistens, o quod est (In Boeth., de 124 trin., in P. L., 64. , 1281). No primeiro sentido, os gneros e as espcies, ou seja, os universais, subsistem enquanto so subsistentiae ou essncias determinadas, que no precisam de acidentes para existirem no modo que lhes prprio. Mas no segundo sentido, apenas os indivduos so substncias porque s esses, na realidade, existem. Os indivduos, portanto, no s subsistem, subsistunt, mas tambm existem, substant, porque esto dotados de diferenas prprias e especficas e constituem os sujeitos reais dos acidentes, enquanto so as suas causas e princpios. Quando o indivduo subsistente tem tambm o atributo da racionalidade, toma o nome de pessoa (In Boeth. de duab. nat., Ib., 1375 sgs.).
Com base na distino entre subsistncia e subsistente, Gilberto faz a distino entre forma e matria. A forma o que determina uma coisa no seu ser especfico; a matria o sujeito determinvel da forma. Por isso se pode chamar tambm matria s essncias enquanto so os sujeitos dos seus caracteres e so determinadas ou concriadas por tais caracteres. Existe uma forma simples que "o ser do Artfice", isto , Deus, como existe uma matria simples que a matria-prima ou informe, a hyle de Plato. Entre estes dois extremos, esto as realidades compostas ou concretas, que so matria e forma, conjuntamente, no sentido referido acima. A sua criao uma concriao (concretio): isto , a unio sucessiva, num sujeito indeterminado mas determinvel, de essncias ou subsistncias que o determinam. Neste sentido, a funo criadora de Deus uma funo formadora e Deus a forma originria de tudo (In Boeth, de trin., Ib., 1266). Se se quisesse exprimir esta doutrina nos termos do que em seguida se chamar o problema da individuao, ser necessrio afirmar que, para Gilberto, o princpio da individuao a forma. Os seres singulares so determinados e indi125 viduados pela essncia de que so investidos o ser, a corporeidade, a sensibilidade, a inteligncia, etc. Dois seres que se distingam apenas numericamente, por exemplo, dois homens, distinguem-se entre si pelas propriedades formais que os constituem; e mesmo se tais propriedades lhes faltassem, distinguir-se-iam pela sua diferena de lugar que tambm ela uma diferena qualitativa ou formal. Se por um lado Gilberto considera Intimamente unidas a f e a razo, entende distinguir nitidamente o domnio das disciplinas singulares e, em primeiro lugar, o da teologia do da filosofia. Esta distino no deve ser baseada numa diversidade de actividade ou de atitude espiritual, mas apenas sobre uma diversidade de princpios objectivos. Toda a cincia deve partir de fundamentos prprios, de princpios que so especficos da cincia e inerentes ao seu objectivo. Gilberto gaba-se de ter feito pela teologia aquilo que foi feito pela matemtica, de ter determinado os conceitos e princpios fundamentais da cincia teolgica (In Boeth. de heMom., Ib., 1316). Nas disciplinas teolgicas, todavia, preciso servimo-nos de princpios que so diferentes dos que so adoptados nas consideraes das coisas naturais. E, com efeito, o objecto da teologia completamente diferente do objecto das cincias naturais. As coisas naturais so dotadas de matria e de movimento, enquanto que Deus privado de matria e de movimento. Por tal motivo no so aplicadas a Deus as categorias e os conceitos que servem para compreender as coisas naturais. A prpria categoria de substncia indevidamente referida a Deus, porque designa aquilo que suporta as qualidades acidentais. Em relao a Deus ser mais prprio falar em essncia; mas em verdade, nem a sua realidade subsistente, o quod est, nem a sua subsistncia, o quo est, so apreendidas pela razo. De Deus apenas se pode afirmar que a singularidade da sua essncia impedem qual-atribuio. Deus portanto inteligvel, compreensvel (In Boeth. the duab. nat., Sobra a distino entre essncia e substncia, entra subsistncia o subsistente se baseia a doutrina de Gilberto sobre a Trindade. Gilberto distingue entre deidade o Deus. A deidade a nica essncia divina, da qual
participam as trs pessoas diversas do Pai, do Filho e do Esprito Santo. As trs pessoas so trs realidades singulares, numericamente distintas; a sua unidade a forma comum da deidade, de que todas participam. Em virtude da forma de deidade cada uma delas o que , e cada uma delas Deus. A frmula de Gilberto a seguinte: "Deus o Pai, o Filho e o Esprito Santo". A essncia divina que constitui a sua unidade na verdade real, mesmo nas trs pessoas distintas. Esta doutrina trinitria atraiu sobre si a condenao da Igreja. Depois do encerramento do Conclio de Sens, dois arquediconos de Poitiers foram junto do Papa Eugnio 111 e denunciaram o seu bispo como criador de novidades teolgicas herticas. Dirigiram-se em seguida a Claraval e informaram S. Bernardo da questo. O resultado foi que no Conclio de Paris em 1147 e no de Reiras em 1148, a interpretao trinitria de Gilberto foi condenada. S. Bernardo combateu a distino entre deitas e deus; e o seu secretrio Godofredo escreveu contra Gilberto o seu Libellus contra capitula Gilberti Porretani. A principal acusao de Godofredo contra Gilberto a de que a sua doutrina equivale a admitir no j uma trindade, mas uma quaternidade divina. Por um lado, existiria a forma da deidade, por outro as trs pessoas de Deus. Estas trs pessoas seriam distintas umas das outras nas suas relaes, pelas quais uma o Pai, a outra o 127 Filho e a terceira o Esprito comum e santificante: mas estas relaes seriam estranhas nica essncia divina que apareceria como uma quarta realidade, juntamente com a trindade das pessoas divinas. Gilberto explicava o dogma da encarnao sustentando que s a pessoa divina, isto , Cristo, mas no a natureza divina, ou seja a forma da deidade, assumiu a natureza humana. Esta doutrina era consequncia natural da distino entre a deidade e Deus (In Boeth. de duab., Ib., 1938). A mesma distino pode ser encontrada na doutrina antropolgica de Gilberto. O ser da alma e o ser do corpo constituem, na sua unidade, a subsistncia, o quo est do homem; apesar de o prprio homem constituir, como um todo, o quod est, a substncia existente como tal. O homem no nem a alma, nem o corpo, considerados por si. Com a morte, o homem como tal deixa de existir, mas a sua parte fundamental, a alma, no perde a sua existncia (1b., 1295). Com efeito, a alma no privada de substncia ou entelquia, mas antes uma subsistncia real, uma essncia subsistente. Todavia, a alma como tal no uma pessoa; a personalidade pertence apenas ao homem como um todo. Gilberto fazia deste modo valer com lgica rigorosa, em todas as partes do seu sistema, a distino entre subsistncia e subsistente, entre essncia e substncia. evidente que na sua investigao a soluo do problema dos universais havia de influir a de todos os outros problemas. Gilberto , sobretudo, um lgico e no discorrer do seu pensamento obedece s exigncias da sua doutrina lgica. E mesmo as suas investigaes lgicas exerceram sobre a escolstica posterior a maior influncia. O seu escrito De sex ptincips baseia-se na pretensa diferena entre as primeiras quatro e as outras seis restantes categorias aristotlicas. As primeiras quatro 128
(substncia, qualidade, quantidade, relao) designariam, alm da substncia, o que absolutamente inerente substncia, e seriam, por conseguinte, formas inerentes. As ltimas seis designariam, por seu lado, modalidades externas que interviriam para alterar a condio da substncia sem, no entanto, se unirem a ela, e seriam por isso formas assistentes. Precisamente dessas formas assistentes (aco, paixo, lugar, quando, situao, posse) que se ocupa o texto de Gilberto. 217. JOO DE SALISBRIA Joo de Salisbria est ligado Escola de Chartres no s pelas relaes que teve com alguns mestres daquela escola mas tambm pelo entusiasmo pelos estudos humansticos e pela independncia de pensamento que, tal como aqueles, sempre demonstrou ter. No entanto, as suas doutrinas teolgicas e cosmolgicas afastaram-se das que eram defendidas na escola de Chartres: as quais foram alm dos seus interesses porque suportadas por ele para l dos limites da capacidade humana. Nasceu na velha Salisbria, em Inglaterra, entre 1115 e 1120. Foi para Frana ainda jovem, volta de 1136 e aqui permanece at finais de 1148. A sua educao filosfica divide-se entre Paris, onde ensinava Abelardo, e Chartres, onde foi discpulo de Guilherme de Conches e Gilberto de Ia Porrc. Em 1151 regressa a Inglaterra e nomeado capelo do primaz de Canturia, Teobaldo; depois da morte deste, foi secretrio do seu sucessor, Toms Becket, com o qual travou relaes de amizade. Em seguida foi nomeado bispo de Chartres (1176) e nesta cidade viveu at morrer (1180). O interesse humanstico de Joo de Salisbria evidente no seu Entheticus sive de dogmate philosopharum (1155), um poema em dsticos, que 129 um manual de ensino cuja primeira parte constituda por uma histria da filosofia greco-romana. Escreve tambm numerosas Epistolae, uma Historia pontificalis, de que existe um fragmento, uma Vida de Anselmo de Canturia e uma Vida de Toms Becket. Em 1159, ou seja vinte anos depois do incio dos seus estudos, escreve as suas principais obras: o Policratus, que a primeira obra medieval de teoria poltica, e o Metalogicus que se apresenta como uma defesa do valor e da utilidade da lgica contra um tal que ele designa com o nome fictcio de Cornifcio. Em Cornifcio podemos ver, segundo os intrpretes modernos, a corrente que se opunha aos estudos humansticos em proveito da fsica; ou que propunha uma extenso da pesquisa lgica da palavra s coisas. Mas, a acreditar nas declaraes de Joo de Salisbria, Cornifcio era um sofista que escarnecia do saber autntico e da tcnica das artes para se entregar a exerccios confusionistas e discusso de questes como esta: "Se o porco conduzido ao mercado levado pelo homem ou pela corda" (Metal., 1, 3). Toda a doutrina de Joo de Salisbria animada de um esprito autenticamente crtico: o seu objectivo o de estabelecer claramente os limites e os fundamentos das possibilidades cognoscitivas humanas. Joo de Salisbria afirma-se um acadmico e sustenta que a investigao se deve contentar, a
maior parte das vezes, com o provvel: "Como acadmico, em todas as coisas que possam ser para o filsofo objecto de dvida, no juro que verdadeiro aquilo que afirmo: no entanto, verdadeiro ou falso, contento-me apenas com a probabilidade". E ainda: "Prefiro duvidar com os Acadmicos sobre as coisas individuais, do que definir temerariamente, com simulao consciente e perniciosa, o que permanece oculto e ignorado" (Metal., prol.). Esta prudente posio justificada por Joo de Salis130 bria com as prprias limitaes da cincia humana, s quais se subtraem as coisas futuras. "Sei com certeza que a pedra ou a seta que lano s nuvens dever cair por terra, porque assim exige a natureza das coisas, todavia, no sei se elas apenas podem cair no cho e porqu; com efeito, elas podero cair ou no. Tambm a outra alternativa verdadeira, ainda que no necessariamente, como verdadeira aquela que eu sei que acontecer... Aquilo que ainda no , no cincia, mas apenas opinio" (Policrat., 11, 21). Daqui deriva que todas as afirmaes que implicitamente e explicitamente digam respeito ao futuro tm um valor provvel, no necessrio: a sua probabilidade baseada na indeterminao do seu objecto e por isso impossvel de eliminar. Com efeito, deve-se chamar provvel quilo que acontece frequentissimamente: o que no acontece nunca de outra maneira ainda mais provvel: e o que se cr que no pode acontecer de outra maneira adquire o nome de necessrio (Metal., 111, 9). Donde se conclui que o "necessrio" segundo Joo de Salisbria limitado "crena"; enquanto que o "provvel" exprime a uniformidade objectiva dos eventos e baseia-se na frequncia com que acontecem. Joo de Salisbria tira todas as consequncias implcitas neste ponto de vista. A dialctica, como lgica do provvel, o instrumento indispensvel de todas as disciplinas (,Metal., 11, 13). A pretenso da astronomia divinatria de predizer infalivelmente o futuro absurda porque o futuro no necessariamente determinado e por isso imprevisvel (Policrat., 11, 19). A infalvel prescincia que Deus tem das coisas futuras no implica de forma alguma a sua necessidade (lb., 11, 21). No entanto, se o conhecimento humano se mantivesse encerrado no crculo do provvel, isso significaria para Joo de Salisbria, um abandono 131 dvida radical do cepticismo. Tem de haver um ponto firme qualquer onde possamos apoiar o edifcio das nossas limitadas certezas. Os sentidos, a razo e a f fornecem o ponto firme dessa natureza. Afirma Joo de Salisbria: "Parece ser importante aquilo que a autoridade dos sentidos, da razo o da religio nos persuade a admitir; e a dvida em torno do ser tem o carcter de doena, do erro ou do crime. Perguntar se o sol brilha, se a neve branca, se o fogo aquece, prprio do homem privado de sensibilidade. Perguntar se trs mais que dois, se o todo contm a metade, se quatro o dobro de dois, prprio de quem no tem discernimento ou possui uma razo ociosa ou completamente doentia. Quem levanta o problema da existncia de Deus, do @@eu poder, da sua sabedoria ou da sua vontade no apenas irreligioso como tambm prfido e merecedor de uma pena que o castigue" (Policrat., VII, 7).
Os primeiros princpios da cincia esto entre estas coisas indubitveis (1b.); e entre as cincias, a matemtica a nica que atinge a necessidade pelo seu carcter demonstrativo (Metal., 11, 13). E no que se refere religio, Joo de Salisbria, sustenta que to impossvel demonstrar a existncia de Deus como neg-la. Reconhece, no entanto, o valor da prova cosmolgica que vai de causa em causa at causa primeira (Policrat., 111, 8); e sustenta, por outro lado, que a ordem finalista do mundo revela claramente a sabedoria e a bondade do criador (Metal., IV, 41). Que Deus seja poderoso, sapiente, bom, venervel e amvel princpio nico de toda a religio, princpio que todos admitem gratuitamente, sem provas, por puro esprito de religiosidade (Policrat., VIII, 7). Mas outras determinaes so alheias razo. A prpria Trindade , para a razo humana, um mistrio impenetrvel (1b., 11, 26). No entanto, pode-se reconhecer que 132 Deus o fundamento da ordem do mundo, mas no se pode conceber essa ordem como um facto inelutvel, segundo a concepo dos Esticos, porque isso no exclui a mobilidade das coisas e a liberdade da vontade humana (1b., 11, 20). Joo de Salisbria insiste no carcter prtico e de devoo da f religiosa. Tal como a alma a vida do corpo, tambm Deus a vida da alma. Tal como o corpo morre se a alma o abandona, tambm a alma perde a sua verdadeira vida se Deus a abandona (Entet., 181). Por isso o destino da alma o a sua felicidade consiste em entregar-se aco da graa de Deus (Policrat., 111, 1). Como se depreende, Joo de Salisbria introduziu drsticas limitaes especulao teolgica e cosmolgica ou, para melhor dizer, estabeleceu como linha de princpios, a possibilidade e a eficcia. Debrucemo-nos sobre os trs campos em que a investigao humana pode aplicar-se com uma certa possibilidade de sucesso: a matemtica, a lgica, a poltica. Destes trs campos, as obras principais de Joo de Salisbria tratam dos dois ltimos. O Metalogicus o documento de interesse que Joo de Salisbria escreveu sobre os problemas lgicos do seu tempo; alm disso, nesta obra que pela primeira vez se utiliza os livros Tpicos de Aristteles. No que se refere ao problema dos universais, Joo de Salisbria ao mesmo tempo que d notcia das solues mais importantes oferece-nos importantes informaes sobre as escolas lgicas do tempo. A sua posio pessoal perante este problema eclctica mas inclina-se bastante para a doutrina de Abelardo. Considera os universais como formas ou qualidades comuns imanentes das coisas, formas que o intelecto abstrai das prprias coisas. Os universais (gneros e espcies) no so substncias que existam como natureza; na -realidade, s as substncias singulares existem, substncias a que Aris133 tteles chamou substncias primeiras, e que so objecto do conhecimento sensvel. Os gneros e as espcies so produto da abstraco, figmenta rationis, que a razo cria a fim de melhor proceder na sua investigao sobre as coisas naturais (Metal., U, 20). No entanto no so privados de verdade objectiva, porque correspondem a
uma conformidade efectiva das coisas singulares entre si: por isso Aristteles lhes chamou substncias segundas, querendo com isto indicar que, sendo insubsistentes enquanto realidades singulares, so no entanto, algo de real. O intelecto humano pode erguer-se at aos universais apenas pela via da induo, partindo das coisas sensveis. Joo de Salisbria refere-se doutrina aristotlica de que evidentemente aceita os resultados: "Os conceitos comuns so criados pela induo sobre as coisas singulares. Com efeito, impossvel chegar-se a considerar os universais seno atravs das indues que esto na base de todas as nossas noes abstractas. Mas impossvel induzir aquilo que desprovido de sensibilidade. Com efeito, os sentidos so a forma de conhecimento das coisas singulares e no possvel ter conhecimento das coisas singulares seno atravs dos universais conseguidos pela induo; no possvel a induo sem a sensibilidade. Com efeito, dos sentidos deriva a memria, da memria frequentemente repetida surge a experincia, e da experincia os princpios da cincia ou da arte... E assim os sentidos corpreos, que so a primeira fora e o primeiro exerccio da alma, lanam os fundamentos de todas as artes e formam o conhecimento preexistente, que no s abro a vida aos primeiros princpios, como tambm aos gneros" (Metalog., IV, 8). Trata-se, como evidente, das mesmas consideraes que encerram os Segundos Analticos de Aristteles, considera134 es cujo significado empirstico sublinhado por Joo de Salisbria. O Policraticus o nico livro de filosofia poltica medieval anterior descoberta da Poltica de Aristteles. As fontes da teoria nele exposta so Ccero, Sneca e os textos patrsticos e a base da teoria o conceito estico da lei natural como norma universal e perptua qual se submetem, mesmo as coisas. Esta norma a imagem do querer divino, a custdia da segurana, a unidade do povo, a regra do dever, o extermnio dos maus, a punio da violncia e de todas as transgresses (Policrat., IV, 2). Nela se baseia a relao entre o sbdito e o rei; e a diferena entre um prncipe e um tirano reside no facto de que o primeiro no s transgride a lei como ainda no se prope a faz-la respeitar a valer (1b., IV, 4). Por esta via, Joo de Salisbria vai ao ponto de justificar o tiranicdio. Quanto ao resto, a sua doutrina, inspirada nos princpios do teocracismo medieval. 218. ALANO DE LILLE Na direco aberta pela escola de Chartres podemos integrar a obra de Alano de Lille (ab In.yulis, Lille ou Ryssel, na Flandres), chamado o Doctor Universalis, falecido em Citeaux no ano de 1203 e que foi professor em Paris. Entre as suas obras existe um Anticlaudiano que uma espcie de enciclopdia do saber corrente; o De planctu naturae em verso e prosa, no qual as reminiscncias mitolgicas, as alegorias, e os ensinamentos morais se misturam com uma filosofia da natureza proveniente da escola de Chartres; uma Ars praedicandi que um manual de predicao; os Sermones; o Distinctiones dictionum theologicarum que uma
espcie de lxico das expresses bblicas; o Contra 135 haereticos e o Regulae de sacra theologia que so as suas obras teolgicas. Recentemente foi atribuda tambm a Alano a paternidade de um Tractatus de virtutibus et vitiis e de uma Summa que comea com as palavras Quoniam homines, ainda no publicada. A figura de Alano poeta, cosmlogo e telogo reproduz fielmente o clich dos mestres de Chartres dos quais ele deduz, com igual fidelidade, todas as suas doutrinas. Tal como os professores de Chartres, tambm ele devedor de Abelardo, de quem reproduz, letra, no seu Tractatus de virtutibus, as doutrinas morais. A nica caracterstica original da obra de Alano a forma sistemtica que pretendeu dar s suas especulaes teolgicas, tendo sobretudo em vista a tarefa a que se havia proposto: a de defender contra descrentes e herticos (Maometarios, Judeus, Valdeses) a validade da f crist. Por isso tambm Alano nos deixou uma clara definio dos limites entre a razo e a f. No prlogo do Contra haereticos, assim que descreve o objectivo proposto: "Ordenei diligentemente as razes provveis da nossa f s quais um esprito engenhoso e perspicaz dificilmente pode resistir, para que aqueles que desdenham prestar f s profecias e ao Evangelho sejam pelo menos convencidos pela razo humana. No entanto, se estas razes podem induzir os homens a acreditar, no so suficientes para se conseguir uma f plena: no ter mrito aquela f apoiada nica e exclusivamente na razo. A nossa glria estar em compreender in patria (ou seja, no cu) aquilo que agora apenas podemos contemplar como num espelho e atravs de enigmas" (Contra haeret., prol.). Comea aqui a distino entre o domnio da razo e o domnio da f e que receber a sua mais clara formulao em S. Toms. A pretenso de compreender a verdade da f na sua necessi136 BERNARDO DE CLARAVAL (Retrato de El Greco) dade, de demonstr-la como se fosse verdade de razo, pretenso que surge, por exemplo em Santo Anselmo, aqui abandonada. O que objecto de f no pode ser compreendido e por isso no objecto de cincia. "Nada se pode conhecer que no se possa compreender, mas ns no apreende mos Deus com o intelecto, portanto no existe cincia de Deus. Somos, certamente, induzidos pela razo a supor que existe Deus, mas no o sabemos com certeza, acreditamos apenas. Isto a f, uma presuno que nasce de razes certas, mas no suficientes para constiturem uma cincia. Como tal, a f est acima da opinio, mas abaixo da cincia" (lb., 1, 17). A distino entre cincia e f est aqui feita de forma bastante clara. A f deve conservar o seu mrito de conhecimento certo mas no demonstrativamente necessrio; diferente portanto da cincia. Todavia, Alano tentou organizar cientificamente a teologia precisamente sobre o modelo da cincia mais rigorosa, a matemtica. No escrito intitulado Regulae ou Maximae theologicae formulou os princpios da teologia, partindo do pressuposto de que "toda a cincia se baseia nos seus princpios como
nos seus prprios fundamentos", fixando, assim, as regras fundamentais da cincia teolgica, recolhendo e sistematizando os resultados da especulao teolgica. Destas regras, a primeira a afirmao da unidade de Deus: "a mnada aquilo em virtude do qual todo o ente uno": afirmao que bviamente no mais que o lugar-comum neoplatnico mas que assume um particular relevo nos escritos de Alano, dada a posio polmica assumida por estes escritos. Essa atitude polmica dirige-se em primeiro lugar contra a seita hertica dos Ctaros: cuja doutrina fundamental consistia no reconhecimento de um dualismo fundamental de princpios: um ptimo e criador da ordem e da perfeio do mundo, o outro 137 Pssimo e criador da desordem, da luta e do mal. Deste segundo princpio a Hyde de que falam os poemas chartrenses, informe, catica e maligna, uma boa expresso: no entanto, nesses poemas @i Ufle no tem fora para se contrapor a Deus, ela prpria criada por Deus e submetida ordem da Alma, do mundo-Natureza. Contra este dualismo (que implicava tambm o da condenao e da salvao, considerados como dois estados no mediveis entre si, nem mesmo atravs dos meios carismticos da Igreja), a afirmao feita por Alano da unidade de Deus como mnada primeira e absoluta, ainda que no seu carcter filosfico j gasto, adquire um valor de novidade polmica. E no po@ acaso que Alano utiliza e cita (na obra intitulada Aphorismi de essentia summae bonitatis Contra haeret., 1, 30, 3 1) o Uber de catsis: o texto de Prculo que est rigorosamente centrado sobre o conceito de Deus como absoluta unidade devia parecer a Alano o melhor antdoto contra qualquer concesso dualista. Com efeito, Alano afirma que a causa primeira, enquanto simples e forma absoluta, absoluta unidade, e, assim, a prpria unidade absoluta; e que referidos a tal unidade, os atributos diversos exprimem sempre a mesma essncia simplicssima (Reg. teol., 11). Como Abelardo, e muitos dos mestres de Chartres, Alano est ainda convencido que j os filsofos pagos concebiam esta verdade e que, por exemplo, a conheciam Aristteles e Hermes Trismegista (Contra haeret., 111, 3; Reg. theol., 3). 219. O PANTESMO: AMALRICO DE BENA E DAVID DE DINANT Algumas das mais importantes e mais debatidas teses da escola de Chartres tm um franco sabor pantestico. O pantesmo consiste em sustentar que 138 a relao Deus-mundo seja necessria perante o prprio Deus: isto , o mundo deriva de Deus como necessidade, quer como manifestao sua, quer como seu aspecto necessrio, de tal modo que sem o mundo, Deus no seria Deus. Esta tese est bviamente implcita em todas as especulaes teolgicas que definem o ser de Deus ou o das pessoas da Trindade nos termos das suas relaes com o mundo: por exemplo, na tese de que o Esprito Santo a Alma do mundo e que a alma do mundo a prpria natureza; ou na tese de que o pr prio Deus a forma essendi ou essncia de todas as coisas. A ltima tese sem dvida a mais explicitamente pantesta: entendida no sentido de que Deus contm a essncia (as formas, as ideias, os modelos de todas as coisas) leva-
nos a considerar Deus como a essncia das coisas e as coisas, na sua essncia, como elementos necessrios da essncia divina. Estas concluses vm no entanto bastante esbatidas e atenuadas, por parte dos mestres de Chartres, com vrias observaes destinadas a acentuar a diferena entre o ser das criaturas e o ser de Deus. Mas no perodo de que nos ocupamos, portanto da segunda metade do sculo XII, essas mesmas concepes so ainda apresentadas em toda a sua crueza pantestica por pensadores que no hesitaram em tirar delas as concluses mais paradoxais. Temos notcia de dois destes pensadores, Amalrico de Bena e David de Dinant e sabemos que as suas ideias foram seguidas por numerosos grupos sobre os quais caram as condenaes eclesisticas. E no se trata, na verdade, de teses que pertenam esfera das discusses teorticas: pela nica obra polmica que temos contra a seita de Amalrico, um escrito annimo de 1210 e que tem o nome de Contra Amaurianos, sabemos que da tese da presena de Deus em todos os seres, e portanto em todos os homens tambm, os sequazes de Amal139 rico derivam a possibilidade para todos os homens de se salvarem mediante o simples conhecimento dessa presena divina, sem a necessidade de se socorrerem dos dons carismticos cuja eficcia era por eles negada: negando assim todas as funes administrao eclesistica que a administradora desses mesmos dons. Estas caractersticas relacionam estreitamente o pantesmo de Amalrico com as seitas herticas que floresciam no sculo XII e que estavam todas ligadas na luta contra o privilgio, que a Igreja reivindica pela sua hierarquia, de administrar a salvao. Valdeses, Ctaros, Amaricianos, sustentam todos que o homem se salva atravs de uma relao directa com Deus ou que o prprio Deus o escolha manifestando-se nele ou a ele: o pantesmo de Amalrico ou de David antes de mais e sobretudo a expresso metafsica de uma insurreio contra a hierarquia eclesistica que, por seu lado, como j assente, tinha razes econmico-sociais. De Amalrico, nascido em Bena (no distrito de Chartres) sabemos apenas que morreu em Paris, como professor de teologia em 1206 ou 1207. Das notcias obtidas atravs de vrios cronistas sabe-se que ensinava que Deus a essncia de todas as criaturas e o ser de tudo e que o criador e a criatura se identificam. Provavelmente estas teses, que se aproximam das que eram sustentadas por muitos mestres de Chartres, tinham para Amalrico o significado mais prximo do que era defendido por Escoto Ergena; com efeito, ele afirmava que as ideias esto na mente divina, criam e ao mesmo tempo so criadas e que Deus o fim de todas as coisas que a ele regressam e na sua unidade indivisvel permanecem e esto (Gerson, Concordia nwtaphysicae cum logica, in Opera, IV, 825). Mas a inteno de AmaIrico compreende-se melhor pelas 140 consequncias que ele tirava das prprias teses: Deus identifica-se com todas as coisas, disseminadas como esto no espao e no tempo, identifica-se tambm com o prprio tempo e com o espao como se identifica com todos os homens que assim se unificam nele. Desta presena de Deus nos homens, Amalrico extrai a
negao, como j foi dito, da validade dos sacramentos e do magistrio eclesistico. Todas estas doutrinas foram condenadas no Snodo de Paris de 1210 e pela obra de Inocncio III, no IV Conclio de Latro de 1215. Do outro representante do pantesmo, David de Dinant (na Blgica) no sabemos nada. Atribuem-se-lhe dois textos: De tomis hoc est de divisionibus que reproduz o ttulo da obra principal de Escoto Ergena e Quaterni ou Quaternuli, nome por que foram indicados os escritos condenados a serem queimados (Denifle, Chart., Univers. Paris., 1, 70). Mas provvelmente este segundo no um ttulo mas apenas o nome genrico dos opsculos de David. Toms de Aquino d-nos a seguinte exposio da doutrina de David: "David divide a realidade em trs partes: corpos, almas e substncias separadas. Ao princpio indivisvel de que so constitudos os corpos chamou hyle (matria), ao princpio indivisvel de que so constitudas as almas chamou noun ou mente; e chamou Deus ao princpio indivisvel das substncias eternas. David afirmou que estes trs pii---ncpios so uma nica e idntica coisa, concluindo-se assim que todas as coisas so pela sua essncia uma s" (In Sent., 11, d. 17, q. 1, a. 1). Segundo S. Toms, a diferena entre a doutrina de Amalrico e a de David que, para Amalrico, Deus essncia ou forma de todas as coisas, enquanto que para David a matria. A mesma caracterizao da doutrina de David -nos dada por Alberto Magno (Sunma Theol., I, tract. IV, q. 20). Como ser originrio, Deus o ser puramente poten141 cial. David, provvelmente, desenvolveu as implicaes positivas da teologia negativa prpria da sua poca. Deus est fora de todas as categorias que constituem o ser em acto; mas, fora das categorias, no h seno o ser em potncia, que a primeira condio para a constituio de todas as coisas. David identificou o ser em potncia com Deus e uma vez que o ser em potncia a matria-prima, identificou a matria-prima com Deus. 220. JOAQUIM DE FIORE As seitas herticas do sculo XII tinham entre si de comum a crena numa iminente e final renovao do mundo que elas designavam como o advento do reino do Esprito Santo. Sabemos que tambm os Amauricianos possuam esta crena e sustentavam que depois da poca do Pai e da do Filho, a poca do Esprito Santo traria consigo a abolio de todas as formas legais e sacramentais que tinham caracterizado a poca precedente (Caesarius, Dialogus miraculorum, ed. Strange, p. 306). Esta diviso das pocas histricas, para l da esperana escatolgica em que se baseia, parece ser sugerida pelas especulaes trinitrias que Abelardo tinha iniciado e que floresceram na escola de Chartres. A ela se encontrava, portanto, ligada a obra do mais famoso e popular profeta do sculo XII, o abade Joaquim. Joaquim de Fiore nasceu em 1145 em Dorfe Ceico, perto de Cozena. A partir de 1191 foi abade do mosteiro por ele fundado em So Joo de Fiore, Calbria, e a morreu em 1202. A lenda apoderou-se deste abade proftico, cujos dados
histricos so escassssimos. Segundo a biografia urdida por um frade de Seiscentos, Jaime Grego, que obteve informaes pelas cartas do antigo convento de Fiore, 142 mas que certamente modificou e transfigurou, Joaquim de Fiore fez uma peregrinao Terra Santa e passou por Constantinopla, tendo-se salvado milagrosamente de uma epidemia, converteu-se ao ascetismo. Regressado ptria, entrou no convento cistercense de Sambucina e passou depois para o de Corazzo, do qual foi abade. Em 1191 retirou-se para fazer a vida de anacoreta e fundou ento o convento de S. Joo em Fiore. Teria tambm de certo modo participado nos agitados acontecimentos histricos do seu tempo, dirigindo-se a Npoles para ZD ameaar, pelas suas crueldades, Henrique IV que sitiava a cidade; e teria obrigado a imperatriz Constana a prostrar-se a seus ps para obter o perdo das suas culpas. O abade Joaquim escreveu trs grandes obras que mutuamente se completam: Concordia Novi et Veteris Testamenti, Expositio in Apocalypsim, Psalterim decem cordarum. Alm destas, escreveu tambm uma obra polmica de teologia contra Pedro Lombardo De unitate seu essentia Trinitatis, que se perdeu: um texto contra os judeus, Adversus Judeos; uma exposio sumria da f catlica, De articulus fidei. Estas ltimas obras so inditas. Foram editadas recentemente os Tractatus super quattor Evangelia, cuja autenticidade levanta algumas dvidas. O interesse fundamental da obra de Joaquim de Fiore est na sua mensagem proftica. Pela sua viso da histria chega a prenunciar uma renovao iminente: o advento do reino do Esprito Santo. Mas a sua viso da histria baseada num conceito da Trindade crist; as suas especulaes trinitrias vinculam-se sua mensagem proftica. Essas especulaes apresentam uma certa afinidade com as de Gilberto Porretano: ainda que no se possa falar de uma dependncia, dada tambm a diversidade de temperamento espiritual entre o telogo Gilberto 143 e o proftico abade calabrs. A teologia de J. de Fiore est elaborada com vista sua filosofia da histria: insiste sobre a distino e a autonomia das pessoas divinas, para basear a distino das trs grandes pocas histricas o para dar o necessrio relevo terceira, que a futura, a do reino do Esprito. "Uma vez que tambm o Esprito em si mesmo Deus verdadeiro, tal como o Pai e o Filho, tambm ele realiza alguma coisa imagem e semelhana prprias, tal como aconteceu com o Pai e com o Filho" (Concordia, IV, 35). O saltrio, ttulo de uma das obras de Joaquim de Fiore, precisamente a imagem da Trindade, na distino das Pessoas e na unidade que as liga. "Um altssimo lugar ocupa o saltrio de dez cordas entre as obras de Deus que sugerem o mistrio da Trindade. Trata-se com efeito de um instrumento musical unitrio. Pode ser dividido em partes porque feito de matria, mas no pode s-lo sem deixar de ser saltrio. Como instrumento uno; mas triangular e est admiravelmente unido nos trs lados. A unidade
indivisa vincula os trs lados to estreitamente que parecem um e cada um se reflecte nos trs" (Psalt., fol. 230). A unidade de Deus no deve ser portanto entendida de forma a que se anule a diversidade das pessoas: porque, nesses casos, seria impossvel compreender a diversidade das obrAs e das ,pocas histricas e deixaria de existir qualquer fundamento para a esperana numa poca de justia e de salvao (Conc., fol. 8 e segs.). s trs pessoas da Trindade correspondem as trs grandes pocas da histria. O primeiro dos trs estados o que se desenvolve sob o domnio da lei, quando o povo do Senhor, ainda um pouco criana, servia sob os elementos deste mundo, incapaz de alcanar a liberdade do Esprito, destinada a brilhar quando tivesse surgido aquele que disse: "Quando o Filho vos vier libertar, sereis verda144 deiramente livres". O segundo dos trs estados o da iniciao com o Evangelho, e que ainda perdura, em liberdade sem dvida, se o compararmos com o estado precedente, mas no em liberdade se pensarmos no futuro". "Por isso disse o Apstolo (S. Paulo, 1 Cor., XIII, 12) "conhecemos agora apenas parte e apenas em parte profetizamos: mas quando chegar a perfeio, tudo o que parcial ser anulado". O terceiro estado iniciar-se- para o fim do sculo, no sob o vu opaco da letra, mas sim em plena liberdade de esprito... Como a letra do Antigo Testamento em virtude de uma certa analogia parece pertencer ao Pai, e a letra do Novo Testamento ao Filho, assim a inteligncia espiritual, que procede de um e de outro, pertence ao Esprito Santo. E como a ordem dos cnjuges, em virtude de uma analogia evidente, pertence ao Pai e a ordem dos predicadores pertence ao Filho, tambm a ordem dos monges-a que esto destinados os grandes tempos finais, pertence ao Esprito Santo" ( Expositio, fol. 5 e segs.). O terceiro estado que h-de vir ser portanto caracterizado por uma inteligncia da palavra divina, j no literal, mas espiritual: os homens conhecero verdadeiramente o seu significado real. H um evangelho eterno que a prpria palavra de Deus, sob a letra das expresses evanglicas. Os prprios sacramentos so smbolos provisrios (mas nem por isso menos necessrios) dessa realidade com a qual, no terceiro estado, o homem entrar directamente em comunicao (Super quattor evang., p. 8, 6). "0 primeiro estado viveu do conhecimento; o segundo desenvolve-se no poder da sapincia; o terceiro difundir-se- na plenitude da inteligncia. No primeiro reinou a servido; no segundo a servido filial; o terceiro dar incio liberdade. O primeiro estado decorreu na flagelao; o segundo na aco, o 145 terceiro decorrer na contemplao. O primeiro viveu na atmosfera do temor; o segundo na da f; o terceiro viver na verdade" (Conc., V, 84, 112). No terceiro estado, no s as almas, mas tambm os corpos sero transfigurados; o cu o a terra tero uma nova beleza e a morte e a dor desaparecero. NOTA BIBLIOGRFICA 215. Sobre a escola de Chartres: CtERVAL, Les coles de Chartres au moyen ge, Paris, 1895; GRABMANN, Die Geschirhte d. schol. Methode, 11, 407-476;
PARENT, La doctrine de Ia cration dans Ilcole de Chartres, Paris-Otawa, 1938; GREGORY, Anima Mundi. La filosofia di Guglielmo di Conches e Ia scuola di Chartres, Ploren.a, 1955; GARIN, Studi sul platonisma mediocvale@, Florena, 1958. As obraB de Constantino Africano foram editadas em Basileia, 1536 e 1539. O prlogo ao livro Pantegni, in P. L., vol. 150.-, 1563-1566. - SIEBECK, in "Archiv fur Gesch. der Philos.>, 1888, p. 528 e segs.; BAEumKER, ivi, 1892, p. 557. De Abelardo: De eodem et diverso, ed. WilIner, nei "Beitrage", IV, 1, 1903; e Quaestiones naturales, ed. Muller, nei "Beitrage", XXX1, 2, 1934. THORNDIKE, A History of Magic, 11, 19-49; BLIEMTZ111EDER, A. V. B., Mnaco, 1935. Bernardo: as fontes nas obras de Joo de Salisbria in P. L., 199.---GILSON, Le platonisme de B. d. -C., In. "Revue No-scol.", 1923, 5-19. Teodorico: De sex dierum operibus, in HAUREAU, Notices et extraits, 1893, p. 52-68; eomentro ao De trinitate de Bocio em JANSEN, Der Kommentare d. Marembaldus v. Aras zu Boethius de Trinitate, BresUvia, 1926; Heptateukon, edio do Prlogo ao cuidado de JEAUNEAU, in "Medieval Studies", 1954, 171175.JEAUNEAU, in "Mmoires de Ia societ archol. d'Eure et Loire", 1954, 110. Guilherme de Conches: a Philosophia foi impressa com as obras de Beda In P. L., 90.,, 1127-1178; o Dragmaticon foi Impresso com o ttulo Dialogus de substantis physicis., Estrasburgo, 1567; ed. Parra, Paris, 1943; Glosas ao Timeu e Segunda e Terceira Filosofia, parcialmente em COUSIN, Ouvrage8 indits 146 d'Ablard; outras partes das Glosas a Bocio o ao Timeu, em JOURDAIN, NOtices et extraits, ece., XX, 2, Paris, 1862, e no escrito de PARENT noutro lado citado. -FLATTEN, Die Phil. des W. v. C., Coblenza, 1929; OTTAVIANO, Um ramo indito da "Philosophia" de G. de C., Npoles, 1935; PARENT, La doctrine de Ia cration dans 1'cole de Chartres, cit.; GREGORY, op. cit. Bernardo Silvestre: De mundi universitate, ed. Barach-Wrobel, 1nnsbruck, 1876. - GILSON, La cosmogonie de B. d. S., In "Arch. Hist. Doet. de Ia Litt. m. a.", 1928; THORNDIRE, A History of Magic, 11, 1929. 216. Gilberto de Ia Porre: as Glosas a Bocio, juntamente com os opsculos teolgicos de Bocio, in P. L., 64.-, 1225-1412; de alguns destes comentrios existem edies recentes: De Hebdomadibus, in "Traditio", 1953; "Contra Eutychen et Nestorium, in "Arch. Hist. Doctr. de Ia Litt. m. .", 1954; VANNI-ROVIGHI, La filosofia di G. P., in "Misc, dell'Universit Catt. di Milano", 1956. 217. Joo de Sa.Iisbria: obras in P. L.@ 199.o: Policratus, ed. Webb, Oxford, 1909; Metalogicus, ed. Webb, Oxford, 1929; Historia pontificalis, ed. Poole, Oxford, 1927.-WEBB, J. of S., Londres, 1932; DAL PRA, G. di Salisbury,
Milo, 1951 (com bibl.); HOHENLEUTNER, J. V. S. in der Literatur der letzen zehn Jahre, in " Hist. Jahrb.", 1958. 218. Alano de Lille: obras in P. L.@ 210.o; Trac- tatus de virtutibus, ao cuidado de Lottin, in "Medieval Studies", 1950; Suma quoniam homines, ao cuidado de Glorieux, in "Arch. Hist. Doctr. de Ia Litt. m. .", 1954; Anticlaudianus, nova ed. Bossuat, Paris, 1955. -BAUMGARTNER, em "Beitrage", 11, 4, 1896; PARENT, em "Beitrage", supp1. 111, 1935; VASOLI, Due studi per Alano di Lilla, in "Riv. Crit. di St. della FiI.", 1961; Le idee filofiche di Alano di Lilla, nel "De planctu" e neZ "Anticlaudianus", in "Giorn. Crit. delila ffios. itali.", 1961. 219. Sobre AmaIrico de Bena e David de Dinant: HAURAU; Hist. de Ia philos. schol., 11, 1, p. 83-107; DUHEM, Systme du monde, V, 244-260; CAPELLE, A. de B., Paris, 1932; DAL PRA, AmaIrico de Bena, Milo, 1951, com bibliografia. 220. De Joaquim de Piore, as seguintes edi.: Concordia Veteris et Novi Testamenti, Veneza, 1519: Expositio super apocalypsim, Veneza, 1527; Psalterium 147 de-cem cordarum Veneza 1527; Super quattor Evangelia, Roma, 1930 ("Fonti,della Storia D'Italia"). Escritos menores: De articulis fidei, ed. Buonaiuti, Roma, 1936; Liber contra Lombardum (escola de J. de F.), ed. Ottaviano, Roma, 1934.-FOURNIER, tudes sur J. de F. et ses doctrines, Paris, 1909; BUONAUTI, Gioacchino da Fiore: I tempi-La vita-II messaggio, Roma, 1931; F. RuSso, Bibliografia Gioachimita. Florena, 1954; BLLOOMFIELD, J. of P., "Traditio", 1957. 148 VIII O MISTICISMO 221. CARACTERES DO MISTICISMO MEDIEVAL O renascimento filosfico do sculo XII tambm um renascimento do misticismo. Mais precisamente, esse renascimento torna possvel o reconhecimento da mstica como uma via autnoma de elevao para Deus, uma via que em qualquer caso alternativa ou rival da investigao racional. Esta via no era ainda conhecida da primeira idade da escolstica: basta pensar nas obras de Escoto Ergena que punha na deificatio o ltimo termo da investigao racional. Mas vendo bem, essa posio no surgia como radicalmente distinta da posio racional e muito menos contraposta a ela. As condies histricas do sculo XII conduzem, pelo contrrio, ao estabelecimento de tal distino. Por um lado o nmero e a importncia das correntes herticas que florescem neste sculo, por outro a liberdade crescente de que a razo faz uso no prprio domnio da especulao teolgica, levam a encarar a via mstica como correctivo 149
eficaz que permite reconhecer em Deus e apenas em Deus a iniciativa e o sustentculo do esforo do homem na direco da verdade. Com efeito, prprio da mstica a tentativa de aproximar-se da Verdade pela prpria fora da Verdade; de se unir a Deus mediante a ajuda sobrenatural e directa de Deus e de deixar a ele apenas a iniciativa da investigao. O esforo do mstico dirigido unicamente para o fim de se tornar digno de sofrer a iniciativa divina; j que Deus que do alto o atrai a si e o ergue at compreenso dos seus mistrios. Por isso a via mstica consiste numa transumanizt@o, vencendo os limites humanos para se abrir prpria vida de Deus e beatifica aco da sua graa. Nos confrontos dos movimentos herticos que concluam todos por negar qualquer funo ao aparelho eclesistico, o misticismo oferecia a tal aparelho um poderoso instrumento de defesa, porque lhe consentia reivindicar para si a administrao dos poderes carismticos sem os quais a ascese mstica no seria possvel. E nos confrontos da razo, a que faziam apelo as escolas filosficas contemporneas, o misticismo oferecia ao mesmo aparelho eclesistico o modo de contrapor ao carcter incerto e at ento errneo dos resultados a que a razo conduzia, a certeza e a glria do xito mstico que permitem reunir os poderes sobrenaturais da Igreja. No nada de espantar, portanto, que, na poca de que agora nos ocupamos, o misticismo tenha servido em primeiro lugar de arma polmica contra as aberraes das heresias e as divagaes da dialctica; isto , como arma polmica para afirmar o poder da Igreja e reforar a ortodoxia doutrinal pela qual esse poder era justificado. Mas no foi esta a nica funo do misticismo medieval. Decorrida a fase polmica ou em concomitncia com esta fase, o misticismo coloca-se, 150 com o fundamento de uma mais ntida distino dos limites entre a razo e a f, j no como alternativa rival da investigao racional mas como complemento e coroamento dessa mesma investigao. nesta forma que aparece na escola dos Vitorinos e se conserva na escolstica sucessiva, at ao sculo XIV, em que a mstica alem assume de novo a posio anti-racionalista mas desta vez fora de qualquer preocupao de defesa da Igreja. 222. BERNARDO DE CLARAVAL Como arma de combate contra todas as formas de heresia religiosa ou filosfica e como instrumento de reforo do poder eclesistico assim foi entendido o misticismo por Bernardo de Garaval, chamado, pela sua eloquncia, o doctor melifluus. Bernardo nasceu em Fontaines, perto de Dijon, em 1091. Aos 21 anos torna-se monge em Citeaux e passados trs anos abade do convento de Claraval, onde morreu em 1153. Durante toda a sua vida foi um defensor encarniado da ortodoxia religiosa e da autoridade eclesistica. Quando em 1130 foi oposto ao papa Inocncio 11 o antipapa Anacleto II, a obra de Bemardo serviu para impedir o cisma e para convencer Anacleto a renunciar sua oposio. No conclio de Sens de 1140 pregou contra os erros de Abelardo, que foram condenados. A segunda Cruzada de 1147 foi obra das suas predicaes. As doutrinas de Gilberto de Ia Porre, encontraram nele um opositor violento. Fez igualmente valer, com idntica fora, as armas da sua
polmica contra a seita hertica dos Ctaros. De grande importncia histrica so as suas Epistolae. Contra Abelardo dirigiu dois escritos: Contra quaedam capitula errorum Abelardi e Capitula haeresum Petri Abelardi. Numerosos so, pois, 151 os escritos msticos, entre os quais: De gradibus humilitatis et superbiae (composto em 1121); De deligendo Deo (em 1126); De gratia el libero arbitrio (1127); Sermones in cantica canticorum, De consideratione (1149-1152). A doutrina de S. Bernardo, nos seus pontos essenciais, no mais que o plano estratgico da luta contra as heresias, a favor da autoridade absoluta da Igreja. Os pontos fundamentais desta doutrina podem ser assim resumidos: 1) a negao do valor da razo; 2) a negao do valor do homem, 3) a actuao do homem reduz-se ascese e elevao mstica. Sobre o primeiro ponto, Bernardo pronuncia-se sem reservas contra a razo e contra a cincia. O desejo de conhecer surge-lhe como uma <dorpe, curiosidade" (Se. in Cant., 36, 2). As discusses dos filsofos como "loquacidade cheia de vento" (Ib., 58, 7). " A minha filosofia mais sublime -proclama ele- esta: conhecer Jesus e a sua crucificao" (lb., 43, 4). Quanto ao segundo ponto, S. Bernardo afirma sem reservas que a nica atitude possvel ao homem a da humildade, da virtude "pelas quais o homem, conhecendo-se verdadeiramente, sente vergonha de si prprio" (De gradibus humilitatis, 1, 2). Reconhecer-se a si prprio como nada sendo para o homem a condio indispensvel para que possa libertar-se de todos os vnculos corpreos e identificar inteiramente a sua vida com o amor por Deus. O amor de que S. Bernardo fala baseia-se no conceito do De amicitia de Ccero e a linguagem do Cntico dos Cnticos entendida por ele substancialmente como o processo asctico de libertao do corpo e em geral de todos os vnculos naturais e como pura obedincia ou abandono vontade divina. Os graus mais altos do amor consistem em amar a Deus por si mesmo e no amarse a si prprio por amor de Deus: neste grau, o homem abandona a sua 152 ALEGORIA DA CABALA vontade inteiramente ao querer divino (De diligendo Deo, XIII, 36). Com este ascetismo do amor teolgico coincide o processo da ascese mstica, cujos graus so significativamente identificados por S. Bernardo com os graus da humildade. O primeiro grau da ascese mstica a considerao (consideratio), que um intenso pensamento de investigao e uma inteno da alma que investiga a Verdade criadora. O segundo grau a contemplao (contemplatio) que a intuio corta, uma apreenso indubitvel da verdade (De contemplatione, 11, 2). A primeira contemplao a admirao pela majestade divina que exige um corao
purificado do vcio e do pecado. O supremo grau da contemplao o xtase ou excessus mentis, pelo qual Deus desce sobre a alma humana e a alma se une a Deus. "Tal como uma gota de gua que cai no vinho se dissolve e assume o sabor e a cor do vinho; tal como o ferro candente e incandescente se torna semelhante ao fogo e perde a sua forma prpria; tal como o ar que percorrido pela luz do sol se transforma em claridade luminosa at parece mais que iluminado, transformado na prpria luz; assim nos Santos todo o afecto humano necessariamente se dissolver de modo inefvel e quase se transformar na vontade de Deus. Com efeito, de que forma poder Deus estar em todas as coisas, se algo de humano permanece no homem? certo que permanecer a substncia, mas com outra forma, com outra glria, com outro poder... Isto significa deificar-se" (De dil. Deo, 11, 28). O processo de deificao do homem supe que a alma olvide completamente o corpo. Conseguido este estdio, nada mais impede que o homem se afaste cada vez mais de si e se erga para Deus tornando-se semelhante a ele, na medida em que possvel tornar-se semelhante a Deus. Neste estdio, o homem faz uma s coisa com o Esprito de Deus (lb., 11, 32; 15, 39). 153 O nico problema que S. Bernardo tratou filosoficamente o da graa e do livre arbtrio. Distingue trs aspectos de liberdade: a liberdade da necessidade, a liberdade do pecado, a liberdade da misria. A liberdade da necessidade o livre arbtrio, que prprio da vontade humana; no se perde nem com o pecado nem com a misria, e no maior no justo que no pecador, nem no anjo que no homem (De grat., 1, 2). O livre arbtrio constitui a prpria essncia da liberdade humana. Tudo o que voluntrio livre. A vida, os sentidos, o apetite, a memria, o engenho, e todas as outras actividades humanas esto sujeitas necessidade, quando no esto inteiramente submetidas vontade (1b., 2, 5). A vontade a faculdade de escolha: mas esta escolha no se exerce necessariamente entre o bem e o mal; Deus livre nas suas aces, mas no se determina no mal. Contra Escoto Ergena e com Sto. Anselmo, S. Bernardo nega que a liberdade consiste na escolha entre o bem e o mal. A possibilidade de escolher o mal no e essencial liberdade, mas antes uma imperfeio prpria da liberdade finita, o essencial da liberdade a ausncia de toda a coaco. Ao lado do livre arbtrio est a liberdade do pecado e a liberdade da misria. Mas, apesar do livre arbtrio fazer parte da nossa natureza, a liberdade do pecado -nos dada pela graa e a liberdade da misria ser-nos- reservada in patria, isto , no cu: por isso o livre arbtrio pode ser chamado liberdade de natureza, a liberdade do pecado liberdade da graa, a liberdade da misria liberdade de vida ou de glria (lb., 3, 7.) Amigo de S. Bernardo foi Guilherme de S. Th,ierry, abade deste mosteiro de 1119 a 1135 e falecido em 1148 ou 1153. Participou na luta contra Abelardo com um escrito redigido no Inverno de 1138-1139, Disputatio adversus Abelardum e com 154 uma carta na qual pedia a ateno de S. Bernardo para os erros de Abelardo. tambm autor de obras msticas e exegticas, Meditativae orationes, De
contemplando Deo, De natura et dignitate divini amoris. Nos dois livros De natura corporis et animi, trata, no primeiro, da fsica do corpo humano e no segundo da fsica da alma. O interesse desta compilao est no facto de Guilherme procurar a unio da psicologia platnico-agustiniana com a da medicina greco-rabe, que conheceu atravs de Constantino Africano. 223. ISAAC DE STELLA O ingls Isaac foi monge em Citeaux, depois, de 1147 a 1169, abade de Stella, na diocese de Poitiers. A sua obra mais significativa filosoficamente uma Epistola ad quendam familiarem suum de anima, escrita volta de 1162. lsaac parte de um pressuposto que tira de S. Agostinho e que voltaremos a encontrar em Descartes: para o homem, o conhecimento mais claro o de Deus. Das trs realidades, corpo, alma e Deus, o corpo -nos menos conhecido que a alma e a alma menos conhecida que Deus. A alma , de certo modo, a imagem da divindade como disse Aristteles, ela a similitude de todas as coisas; e assim se transforma em meio entre o corpo e Deus. Cinco so os graus da actividade cognoscitiva da alma: o sentido corpreo, a imaginao, a razo, o intelecto e a inteligncia. Os sentidos percebem os corpos, a imaginao conserva e reproduz as imagens sensveis, mesmo na ausncia dos corpos; a razo percebe as formas incorpreas das coisas corpreas. O processo da razo abstraco; e Isaac formula uma teoria da abstraco que ser seguida e desenvolvida por S. Toms de Aquino. */*l 155 "A razo, afirma ele, abstrai dos corpos as formas ou naturezas que no corpo subsistem, mas abstrai-as no em acto, mas apenas ao consider-las; o vendo que em acto subsistem apenas no corpo, percebe no entanto que elas no so o prprio corpo. Assim a razo percebe o que nem os sentidos nem a imaginao conseguem perceber, ou seja, na natureza das coisas corpreas as formas, as diferenas, os atributos prprios e acidentais; todas as coisas ,incorpreas que, no obstante, no existirem fora dos corpos, mas na prpria razo" (P. L., 194.O, 1884). Acima da razo, o intelecto a fora que percebe as formas das coisas incorpreas, isto , dos seres espirituais; e a inteligncia. v, na medida em que possvel sua natureza, o sumo ser, isto , Deus na sua pureza e incorporeidade. Deste conhecimento supremo da inteligncia, o homem recebe a luz para os conhecimentos inferiores. Aqui Isaac: reproduz a doutrina agustiniana da iluminao exprimindo-a com os termos de Escoto Ergena: as verdades que atravs da inteligncia descem de Deus ao homem so teofanias, manifestaes de Deus (1b., 1888). 224. HUGO DE S. VICTOR: RAZO E F S. Bernardo contrape a via mstica investigaao racional. Aquela considerada como a via da humanidade e da renncia a toda a autonomia humana. No entanto, estas duas vias parecem fundir-se harmoniosamente em Hugo de S. Victor e concorrem para fazer dele uma das personalidades mais notveis do mundo medieval. Nasceu em 1096 em Hartingan na Saxnia e formou-se no convento de Hamersleben, perto de Halberstadt. A partir de 1115 foi para o convento de S. Victor em Paris e de
156 1133 a 1141, ano da sua morte, foi professor naquele convento. , em primeiro lugar, autor de uma introduo filosofia e teologia com o ttulo Eruditionis didascalicae libri VII ou, mais brevemente, Didascalion cujos trs primeiros livros so dedicados s artes iberais, os trs seguintes teologia, o ltimo um texto sobre a meditao. Dos quatro livros de De anima apenas o quarto lhe pertence, enquanto o segundo pertence provvelmente a Alqurio de Clairvaux. A sua obra maior o De sacramentis christianae fidei que parece ter sido escrita entre 1136 e 1141. Esta obra a primeira summa teolgica medieval. O obectivo declarado da obra o de fornecer um fundamento interpretao alegrica dos mistrios cristos. Com efeito, Hugo de S. Victor distingue em tais mistrios a alegoria que o seu significado fundamental e a histria que o seu significado literal. Pretendo assim fornecer um guia para se poder ler as Escrituras com critrio seguro e conseguir-se uma reconstruo alegrica que se subtraia disparidade de pareceres. Juntamente com estas obras de investigao escolstica, escreveu tambm numerosos opsculos msticos: De arca Noe mystica, De arca Noe moral!, De arrha animae, De vanitate mundi, etc. A atitude de Hugo de S. Victor perante a cincia decididamente oposta de S. Bernardo. Nada h de intil no saber: "Aprende tudo, afirma, vers que nada suprfluo" (Didasc., VI, 3). A prpria cincia profana til cincia sagrada, qual est subordinada: "Todas as artes naturais servem a cincia divina o a sapincia inferior, ordenada com rectido, conduz superiom (De sacram., I, prol. 5, 6). Em vez de contrapor entre si a cincia profana e a cincia sagrada, a f mstica e a investigao racional, Hugo de S. Vietor procura estabelecer entre elas um equilbrio harmnico e de as 157 coordenar num nico sistema. Desse modo tenta coordenar a via mstica com a investigao racional: "H dois modos e duas vias atravs das quais Deus, que permanece primeiramente oculto no corao do homem, pode ser conhecido e julgado: a razo humana e a revelao divina. A razo humana empreende de duas formas a investigao de Deus; em si e nas coisas que esto fora de si. Do mesmo modo a revelao de Deus actua de duas formas a fim de dissipar a ignorncia e a dvida do homem: com a iluminao interior e com a doutrina exteriormente transmitida e confirmada pelos miJagres" (1b., 1, 3, 3). Os caminhos da razo so dados pela natureza, os da revelao pela graa. Uma e outra servem-se tanto do interior como do que exterior ao homem para o conduzir at Deus. E como se se coordenam entre si, tendo em vista o fim nico do conhecimento de Deus, a investigao racional e a revelao, assim se coordenam tambm entre si para o mesmo fim os objectos da investigao humana. Hugo de S. Victor distingue todos os objectos possveis em quatro categorias, determinadas pelas suas relaes com a razo humana. "Certas coisas derivam da razo, outras so conformes com a razo, outras esto acima da razo, outras ainda esto contra a razo. As coisas que derivam da razo so necessrias,- as que so conformes razo, provves; as que esto acima
da razo, admirveis; e as contrrias razo, impossveis. As primeiras e as ltimas excluem a f: as primeiras, derivando da razo, so absolutamente conhecidas e no podem ser criadas porque se conhecem, as outras no podem ser criadas porque a razo no pode assentar nelas. Portanto, podem ser apenas objecto de f as coisas que so conformes com a razo e as que esto acima da razo. Nas primeiras, a f sustentada pela razo e aperfeioada pela f: se a razo no compreende a sua 158 verdade, tambm no cria obstculos a que a f acredite nelas. Nas coisas que esto acima da razo, a f no pode ser ajudada pela razo, que no compreende aquilo em que a f cr; h nelas, no entanto, qualquer coisa que exorta a razo a venerar a f, ainda que no a compreenda" (1b., 1, 3, 30). O domnio da investigao racional agora rigorosamente distinto do da f, como domnio da necessidade lgica absoluta: a f no tem lugar no que demonstrvel ou evidente. Mas, por outro lado, a f no se ope razo porque o seu objecto seja incrvel, mas porque provvel ou admirvel, o que se aproxima da razo ou a transcende, sem no entanto a negar. O princpio de S. Toms, o da graa que completa a natureza sem a destruir, encontra aqui pela primeira vez uma clara formulao. A esta classificao dos objectos do conhecimento, corresponde a classificao das correspondentes posies subjectivas. Estas posies so : a negao, a opinio, a f e a cincia. A negao, a opinio, e a f dirigem-se no coisa, mas ao que se ouve, dizer da coisa. Apenas na cincia a prpria coisa est realmente presente; a cincia conhecimento perfeito, porque convalidade e garantida pela presena prpria do seu objecto (1b., I, 10, 2). Viu-se j como a cincia tambm o nico conhecimento necessrio; e esta necessidade vem-lhe da lgica que o seu instrumento indispensvel. As cincias experimentais, como a fsica, pressupem as cincias puramente lgicas, tal com a prpria lgica e a matemtica; uma vez que a experincia por si s falaz e s na pura razo existe e garantia indiscutvel da verdade. Hugo de S. Victor extrai da obra de Abelardo * teoria aristotlica da abstraco. A matemtica * a fsica constituem, graas abstraco, o seu objecto. A matemtica considera distintamente os 159 elementos que nas coisas naturais se encontram confusos entre si; e assim, ainda que, na realidade, a linha no exista sem a superfcie e o volume, a razo considera, na matemtica, a linha em si, prescindindo da superfcie e do volume. Isto, porque a razo frequentemente considera as coisas, no como elas so, mas como podem ser, isto : no em si mesmas, mas em referncia a ela prpria (Didasc., 11, 18). Do mesmo modo, a fsica considera distintos uns dos outros os elementos que nos corpos do mundo se encontram confundidos, isto , o fogo, a terra, a gua e o ar; e julga todos os corpos como um produto da composio e da fora de tais elementos (1b., 11, 18). Como muitos representantes da escola de Chartres, Hugo de S. Victor admite a composio atmica dos
elementos (De sacram., 1, 6, 37) e afirma o princpio da conservaao da matria, princpio que apoia na autoridade de Prsio (Sat., 111, 84): de nihilo nihil, in nihilum nil posse reverti (Didasc., 1, 7). 225. HUGO DE S. VICTOR: A TEOLOGIA Vimos j que tanto a investigao racional como a mstica apoiada e baseada na graa se distinguem consoante partam do interior ou do exterior do homem. A demonstrao racional da existncia de Deus, como momento necessrio da investigao filosfica, divide-se tambm consoante parta da considerao do homem ou da considerao das coisas exteriores. O esprito humano reconhecese a si prprio como uma realidade existente e com este reconhecimento distingue-se dos corpos e de tudo o que conhece. Mas enquanto se percebe existente, reconhece tambm que nem sempre existiu, que o seu ser teve um princpio e que no ele pr prio o princpio do seu ser. Por isso levado a reco160 nhecer uma causa criadora que seja o fundamento da sua existncia. E como no pode pensar que esta causa criadora tenha s-ido por sua vez criada sem se integrar num processo ad infitzitum deve admitir que tal causa subsiste em si e que o ser da mesma no tenha princpio, mas seja eternamente real (De sacram., 1, 3, 6-9). mesma concluso se chegar pela considerao das coisas externas. Todas as coisas que tm nascimento e morte devem ter uma origem e um criador. Tudo o que mutvel nem sempre existiu e por isso deve ter tido um princpio. Deste modo as coisas externas confirmam o que a alma encontra em si; e a natureza revela o seu autor tal como o revela a prpria alma (1b., 1, 3, 10). Tal como a existncia de Deus, tambm a Trindade pode ser demonstrada atravs das duas vias, interna e externa. No homem de palavra interior revela-se na palavra exterior; assim em Deus a palavra interior, qu,@ a sua eterna Sapincia, reveIa-se na palavra externa, que o mundo criado. No nosso esprito, a razo, a sabedoria que- nasce da razo, e o amor, que procede de ambas so uma nica realidade-, assim em Deus esprito, sapincia e amor constituem uma nica substncia. Mas, enquanto que no nosso esprito a sabedoria e o amor no tm personalidade porque so puros acidentes ou afeies do esprito, em Deus a Sapincia, e o Amor so o prprio ser de Deus, so o que o prprio Deus , por conseguinte, pessoas. Assim, em Deus h trs pessoas numa s natureza, enquanto que no homem h uma s pessoa, a qual, com as diversas qualidades da sua vida interior, corresponde Trindade Divina, sem no entanto a reproduzir adequadamente (Ib., 1, 3, 25). As coisas exteriores reproduzem tambm a divindade. A grandeza do mundo corresponde ao poder divino, a sua beleza, sabedoria, o seu finalismo e a sua 161 conformidade s necessidades do homem, bondade (lb., 1, 3, 28). Deus criou o mundo no apenas secundum se, mas tambm propter se. Secundum se, ou seja: em conformidade consigo prprio, porque no tomou do extenor ou que foi obra sua; propter se, ou seja: por sua prpria causa, porque no recebeu de outro
a causa da sua aco criadora (1b., 1, 2, 3). Hugo de S. Victor distingue, a propsito da criao, as coisas que so apenas causa, das que so apenas efeito, e as que so ao mesmo tempo causa e efeito O que apenas causa e no efeito Deus, como causa suprema. No extremo oposto est aquilo que apenas efeito o no causa, a matria, de que so compostas as coisas criadas. Entre estes dois extremos esto e movem-se todas as outras coisas, que esto entro si numa relao de causa e efeito e assim vo desde a causa primordial at matria. Deus criou em primeiro lugar a matria informe; mas tal matria no era informe a ponto de ser absolutamente privada de forma, porque o que privado de forma privado de existncia, era informe apenas no sentido de que era confusa e mesclada (forma confusionis), privada de ordem e de disposio (forma dispositionis) que em seguida teve de Deus (lb., 1, 1, 4). Em polmica com Abelardo, que tinha afirmado que Deus no pode fazer coisa diferente daquilo que faz, nem aquilo que faz pode faz-lo melhor do que fez, Hugo de S. Victor sustenta que Deus teria tambm podido criar um mundo melhor. Com efeito, a razo porque Deus no pde criar um mundo melhor pode ser devida ao facto de ao mundo no faltar qualquer possvel perfeio ou ao facto de o mesmo no ser susceptvel de urna maior perfeio. Ms no primeiro caso, o mundo seria semelhante ao Criador e assim o Criador seria coagido aos limites do finito ou ento o mundo 162 elevado para alm desses limites; e tanto uma hiptese como a outra so impossveis. Se se pode afirmar a incapacidade do mundo de assumir uma perfeio maior, isto j uma prova de que o mundo no o melhor nem o mais perfeito, porque esta incapacidade , por si, defeito e imperfeio. Na verdade, apenas Deus de tal modo perfeito que no pode ser mais perfeito. O mundo criado no participa destaperfeio absoluta e por isso Deus teria podido cri-lo ainda melhor do que realmente o criou. Ele no pode fazer apenas o que impossvel, uma vez que "no poder o impossvel no no podem Ub., 1, 2, 22). A criao no uma aco necessria de Deus, mas uma livre manifestao da sua bondade. A deciso e a vontade de criar os homens esto desde a eternidade em Deus, mas a prpria criao no eterna. Deus quis sempre que o mundo existisse, mas no quis que ele fosse eterno: o querer criador de Deus eterno, e o que criado no eterno (1, 2, 10). Na criao participaram no s o poder e a bondade de Deus, como tambm a sua sabedoria. A sabedoria divina cincia, prescincia, disposio predestinao, providncia: cincia das coisas existentes, prescincia das coisas futuras, disposies das coisas a fazer, predestinao dos homens para a salvao, providncia daqueles que esto sujeitos ao querer divino. Desde a eternidade que todas as coisas criadas existiam no conhecimento divino; mas isso no as torna necessrias. As coisas no chegam necessriamente ao ser porque foram pensadas por Deus. Podem tambm no se tornarem reais e neste caso as ideias divinas no so causas das coisas. S a vontade divina pode transformar as ideias divinas em realidade criada (lb., 2, 16-18). vontade divina se referem todas as determinaes de valor. Deus no quis certa coisa apenas porque bom e justo, mas tudo o que bom e
163 justo -o porque Deus o quis. Com efeito, o ser justo propriedade essencial do querer divino. "Quando se pergunta porque que justo o que justo preciso responder: porque conforme com a vontade divina, que justa. E quando se pergunta porque que a vontade de Deus justa, preciso responder: no h causa da primeira causa e ela por si o que " (1b., 1, 4, 1). Se a vontade de Deus o prprio bem, a presena do mal no mundo deve ser exigida pela bondade conjunta do mundo. Deus fez o bem e permitiu que houvesse o mal, apesar de no ser o seu autor. E apesar de o mal ser e continuar a ser como tal, como tal e continua a ser o bem, e por bem que existe o bem e o mal. Com efeito, o bem deriva no apenas do bem, mas tambm do mal; atravs da oposio entre o bem e o mal resulta mais evidente a beleza e a ordem conjunta do mundo. Por isso um bem existir o mal e esse o motivo pelo qual Deus permitiu que o mal existisse (lbid., 1, 4, 5-6). 226. HUGO DE S. VICTOR: A ANTROPOLOGIA O homem est no cume do mundo sensvel. Segundo a Sagrada Escritura, o homem foi criado depois de todas as outras coisas, e isto aconteceu porque ele o primeiro de todas as criaturas sensveis e todo o mundo sensvel foi criado para ele. Deus criou o homem para o servir; e criou o mundo para que este sirva o homem. O homem um ser finito, precisa da ajuda exterior quer para se conservar tal como , quer para chegar a ser o que no ainda. Foi colocado no centro do mundo sensvel para que dele se sirva como de uma ajuda necessria sua conservao. Mas est destinado a 164 servir a Deus e assim alcanar aquela plemitude e felicidade que no possui ainda. Para ele existe um duplo bem, um bem de necessidade e um bem de felicidade: o primeiro -lhe dado pelas coisas do mundo, o segundo pelo prprio Criador. O primeiro suige criado por causa do homem e para se lhe tornar til; o segundo o fim para que foi criado o homem (De sacrum, 1, 2, 1). Sendo este o lugar do homem no mundo, distinguem-se na prpria natureza do homem duas partes, o corpo e a alma. A alma , em contraposio com o corpo, uma substncia simples e espiritual. Juntamente com Bocio, Hugo de S. Victor distingue o intelectvel e o inteligvel: o intelectvel o que no sensvel e no semelhante ao sensvel; o inteligvel que, apesar de no ser sensvel, tem relaes de semelhana com o sensvel. A alma intelectvel porque no nem sensvel nem semelhante ao sensvel; mas ao mesmo tempo inteligvel porque dotada de sensibilidade e de imaginao e pode assim compreender o sensvel (Didase., 11, 3, 4). Como tal, por um lado, est em relao com o sensvel e, por outro, em relao com o supra-sensvel. A sua relao com o sensvel baseada na sua sensibilidade, a relao com o supra-sensvel baseada na inteligncia. Entre as faculdades sensveis e a inteligncia est a razo, que a faculdade discursiva (De sacrum., 1, 1, 19). Definida com Bocio a pessoa como "uma substncia individual de natureza racional", Hugo atribui a personalidade alma em si e por si. O corpo no contribui para formar a pessoa, e apenas se une a ela. A prpria alma como
tal, pessoa (1b., 11, 1, 11). A caracterstica fundamental da alma como pessoa a autoconscincia. Nas pegadas de S. Agostinho, Hugo de S. Victor insiste na necessidade e no valor da conscincia da prpria existncia. "No existe sbio que no saiba que existe. E no entanto o homem, 165 se comea a considerar verdadeiramente aquilo que , compreende que no nenhuma das coisas que percebe ou pode perceber em si mesmo. O que em ns capaz de razo, ainda que, por assim dizer, esteja confundido com a carne, distingue-se no entanto da substncia da carne e compreende o que distinto dela (Didasc., VII, 17). Este pensador reconhece ao homem a liberdade como faculdade de escolha, privada de determinaes necessitantes. A liberdade o fundamento da vida moral do homem que sem ela seria impossvel. * princpio objectivo desta vida a lei de Deus. * bem o que conforme com esta lei, o mal a negao daquiilo que a lei prescreve. Com o bem, o mal tem o seu fundamento na livre vontade, e no v positivo nem negativo; um puro nada (1b., 1, 7, 16). 227. HUGO DE S. VICTOR: o MISTICISMO A via mstica para alcanar a viso directa de Deus tem trs momentos principais: o pensamento, a meditao e a contemplao. O pensamento (cogitatio) determinado pela presena na alma de uma coisa em imagem, que ou provm dos sentidos ou suscitada pela memria. A meditao (meditatio) o contnuo e sagaz exame do pensamento, que se esfora por explicar o que obscuro e de penetrar no que est oculto. A contemplao (contemplatio) a livre e perspicaz intu-io da alma que se difunde sobre as coisas examinadas. A contem- ,plao possui aquilo que a meditao procura: a viso manifesta e completa. Por seu lado, a contemplao cinde-se na considerao das criaturas e na contemplao do Criador, que o seu grau ltimo e perfeito (De nwd. dicend. et meditand., 8). Este ltimo grau a contemplao mstica, na qual a ascese para Deus se identifica com a clausura na 166 prpria intimidade espiritual: "Aquele que entra dentro de si e, penetrando internamente em si prprio, se transcende verdadeiramente sobe at junto de Deus" (De vanitate mundi, 2). 228. RICARDO DE S. VICTOR: A TEOLOGIA O terceiro dos grandes msticos desta poca Ricardo de S. Victor. Escocs de nascimento, cedo se dirigiu a Paris e entrou para o mosteiro de S. Victor. Aqui se cultivou guiado por S. Hugo e, pela morte deste, sucedeu-lhe no ensino e no priorado. Morreu em 1173. Ricardo , como Hugo, escolstico e mstico. Entre as suas obras escolsticas h um tratado em trs livros De trinitate e um texto De verbo incarnato. Entre as obras msticas: De preparatione ad contemplationem chamado tambm Beniamin minor; De gratia
contemplationis chamada tambm Beniamin maior; De statu interioris hominis; De exterminatione mali. Ricardo distingue a verdade fundada na experincia, da verdade fundada na razo e da verdade fundada na f. O homem conhece as coisas temporais atravs da experincia; as coisas eternas em parte com a razo, em parte com a f. Do que eterno, com efeito, nem tudo pode ser conhecido atravs da razo, h muito que s pode ser revelado por Deus e tem, por conseguinte, como pressuposto a f (De trinit., 1, 1). Todavia, Ricardo no desiste de prosseguir na sua busca ideal da demonstrao apodtica. Na sua obra Sobre a Trindade declara a sua inteno de acrescentar em apoio da f razes no s provveis, como necessrias, e exprime a confiana de que tais razes no faltam (1b., 1, 4). 167 Estas razes dizem respeito, em primeiro lugar, existncia de Deus. Tal como Hugo, ele tambm prefere partir da experincia para a demonstrao de Deus em homenagem ao princpio (sobre o qual insistir S. Tom s) de que "todo o nosso processo demonstrativo tem incio naquilo que conhecemos pela experincia" (Ibid., 1, 7). A sua argumentao consiste essencialmente em ascender das coisas finitas, que no tm ser por si, a um princpio que tem o ser por si e eterno. Se este princpio no existisse, as coisas que no tm ser por si no teriam podido receb-lo do nada e portanto no existiriam. A existncia mutvel do ser contingente demonstra a eternidade do ser necessrio (1b., 1, 6). Da experincia, Ricardo parte tambm para demonstrar a trindade de Deus. A experincia demonstra que o raio de sol, ainda que procedendo do sol e tendo a sua oriaem nele, no entanto seu contemporneo. O sol produz por si o raio e em tempo algum carece dele. Ora se a luz corprea tem um raio que seu contemporneo, porque razo no ter tambm a luz espiritual um raio seu coeterno? No admissvel que a natureza divina, princpio de toda a fecundidade, tenha ficado estril em si mesma e no haja gerado nada, ela que deu a todas as coisas a possibilidade de gerar. portanto provvel que na incomutabilidade supraessencial de Deus haja algo que no existe por si prprio e seja todavia ab aeterno (1b., 1, 9). Esta probabilidade torna-se certeza se se considerar a perfeio do poder, na beatitude e do amor divino. Esta perfeio implica a possibilidade de uma comunicao mediante a qual Deus possa difundir a abundncia infinita da sua vida. Uma dualidade de pessoas torna-se necessria para que Deus no seja privado dessa comunicao, sem a qual a sua vida seria estril e solitria (Ibid. HI, 11). Mas uma dualidade no basta: a comunicao no perfeita se no 168 se pode difundir alm de si, para uma terceira pessoa co-igual. A perfeio do amor pressupe que tal possa estender-se a uma tercelra pessoa que seja igualmente amada e que seja igual em dignidade e em potncia. A perfeio do amor e em geral da vida divina requer portanto a trindade das pessoas divinas, sem a qual no haveria a inte- ,-,ridade da sua plenitude (1b., 111, 11). A Trindade divina deve ser constituda por pessoas que tenham os nossos atributos. A perfeio da divindade ,implica a perfeio da Potncia,
a perfeio da Sabedoria, a perfeio do Bem. Assim como omnipotente uma delas, assim so as outras; assim como uma delas infinita, assim so as outras: assim como uma delas Deus, assim so Deus tambm as outras. Mas existe apenas um s Deus, porque assim como as trs pessoas so igualmente omnipotentes, assim as trs so igualmente Deus. O que significa que as trs pessoas tenham uma nica e idntica substncia, ou melhor, que sejam uma nica e mesma substncia (Ibid., 111, 9). Enquanto que no homem existe mais que uma substncia (alma e corpo) mas uma s pessoa, em Deus existe uma s substncia e vrias pessoas. definio boeciana de pessoa, aceite j por Hugo como "substncia individual de natureza racional", Ricardo acrescenta a determinao "dotada de existncia incomunicvel" (Ib., IV, 18). A interpretao trinitria de Ricardo constitui na escolstica uma frmula fundamental que foi seguida sobretudo pela escola franciscana. 229. RICARDO DE S. VICTOR: A ANTROPOLOGIA MSTICA O pressuposto de Ricardo a unidade e a simplicidade da natureza humana. A alma uma essncia simples e espiritual que comunica ao corpo vida 169 e sensibilidade: A alma e o esprito no so no homem duas substncias diversas, mas constituem uma nica essncia; o esprito a faculdade superior da alma, mas no se distingue substancialmente dela. Tal como os objectos se dividem nas trs classes do sensvel, do -inteligvel (mundo espiritual) e do intelectvel (Deus) assim se dividem em trs faculdades os poderes da alma; imaginao, razo, inteligncia. A funo da imaginao a de receber e conservar as percepes sensveis. A razo a capacidade de pensamento discursivo, que procede demonstrativamente de uma verdade para outra. A inteligncia so os olhos espirituais que vem as coisas invisveis na sua presena real, como os olhos da carne vem o que visvel (De contempl., 111, 9). Nestas trs faculdades se baseia a via mstica ao procurar a unio com Deus. O pensamento (cogitatio) baseia-se na imaginao; a meditao (meditatio) na razo e a contemplao (contemplatio) na inteligncia. "0 pensamento vagueia lentamente por aqui e por ali, sem se preocupar com uma meta. A meditao tenta esforadamente prosseguir atravs de obstculos e dificuldades na direco de um fim. A contemplao circula em voo livre, por onde quer que expanda o seu mpeto e com uma extraordinria agilidade. A contemplao o ltimo estdio da via mstica. Duas so as suas condies fundamentais. Em primeiro lugar, a pureza de corao, condicionada pela virtude; em segundo lugar, o conhecimento de si. Ricardo compara a razo e a vontade do homem s duas mulheres de Jacob, Raquel e Lia. Tal como Jacob se uniu primeiro a Lia e dela teve sete filhos e sete filhas, e em seguida desposou Raquel e gerou dela, assim tambm a vontade humana primeiro fecundada pelo esprito de Deus, que gera nela as virtudes; em seguida a razo humana, desposando a graa divina, gera o conhe170 cimento mais alto. As virtudes so portanto os filhos de Lia, mas a vida
mstica comea apenas com o conhecimento que a alma tem de si. O ltimo filho de Jacob e de Raquel, Benjamim, o smbolo desse conhecimento de si, que a verdadeira e prpria -introduo unio mstica com Deus (De praep. ad contempl., 67-71). "Aprenda o homem a conhecer o que h nele de invisvel, antes de conhecer o que h de invisvel em Deus. Se no te podes conhecer a ti prprio, como pretendes poder conhecer aquele que est acima de ti?" (lb., 7). Seis so os graus fundamentais da contemplao. O primeiro, in imaginatione et secundum imaginationem, considera o mundo sensvel como tal, relacionando a perfeio e a beleza com a potncia, sabedoria e bondade de Deus. O segundo, in imaginatione et secundum rationem, considera o mundo sensvel nos seus dois princpios e assim nos conduz do mundo sensvel ao mundo inteligvel. O terceiro grau, in ratione et secundum imaginationem, relaciona o sensvel com o supra-sensvel e assim tem em considerao as ideias das coisas. O quarto grau in ratione et secundum rationem considera a alma e os espritos puros, como sejam os anjos. O quinto grau, supra rationem et non praeter rationem, dirige-se a Deus na medida em que ele cognoscvel pela nossa razo. O sexto e ltrro grau, supra rationem et praeter rationem, considera os atributos da divindade que transcendem em absoluto a razo humana, por exemplo, os que se referem Trindade (De contempl., 1, 6). Os graus de ascese progressiva da alma para a verdade suprema podem distinguir-se tambm pela qualidade subjectiva dos seus actos. Alguns deles implicam, com efeito, o dilatar-se (dilatatio) da mente, outros o levantar-se (sublevatio) outros a alienar-se (alienatio) da mente de si mesma. O dilatar da mente consiste em expandir-se e em agudizar 171 as suas capacidades, sem que, no entanto, transcendam os limites humanos. O elevar-se da mente o estado em que ela permanece iluminada pela luz divina e transcende os limites da capacidade humana. Finalmente, o alienar-se da mente o abandono da memria de todas as coisas presentes e a transfigurao num estado em que j no h nada de humano Ub., V, 2). O primeiro destes graus devido actividade humana, o terceiro apenas graa divina, o segundo a uma e a outra. No terceiro grau, est o ponto culminante da contemplao, o xtase ou excessus mentis. Som invlucro e sem sombras, no mais per especulum et in enigmate, o homem contempla ento a luz da sabedoria divina. Neste estado no existe j sensibilidade, nem memria das coisas externas e a prpria razo humana se cala. A mente arrebatada l de si prpria e todos os limites da razo so superados. Morre Raquel e nasce Benjamim. A morte de Raquel significa o desaparecimento da razo (De praep. ad contemp., 73). A mstica de Ricardo a expresso fundamental e tpica do misticismo medieval. Ricardo viu nitidamente que a via mstica conduz abolio de todos os limites humanos para colocar o homem face a face com Deus. NOTA BIBLIOGRFTCA 221. GEBRART, L'Italie mystique, Paris, 1890,
8.a ed, 1917; BERNHART, Die philosophische M-.ystik des Mittelalters, Berlim, 1922; R. OTTO, West-stliche Mystik, Berlim, 1926; STOLZ, Theologie der Mystik, Ratisbona, 1936; DANILOU, Platonisme et thologie mystique, Paris, 1944. 222. As obras de S. Bernardo em P. L., 182.---185.I.Uma edio crtica est em preparao em Roma. Oeuvre8, escolha e traduo francesa de Davy, 2 vols., Paris, 1945.-COULTON, St. B., Cambridge, 1923; MI172 TERRE, La doctrine de St. B., Bruxelas, 1932; GILSON, La thlogie mystique de St. B., Paris, 1934; BAUDRY, St. B., Paris, 1946; ANTONELLI, B. di C., Milo, 1953 (com bibli.); DELHAYE, Le problme de Ia conscience morale chez St. B., Namur, 1957. As obras de Guilherme de S. Thierry, em P. L., 180.1, 205-726. Outros textos foram editados atravs das obras de S. Bernardo, em P. L., 184.o, 365-436. A carta que acompanha a Disputatio contra Abelardo, em P. L., 182.-, 531-532. Edies recentes: Meditativae orationes, ed. Davy, Paris, 1934; Epistola ad fratres de Monte, Dei, ed. Davy, Paris, 1940; Commentario ad Cantico dei cantici, ed. Davy, 1958; De contemplando Deo, ed. Hourlier, Paris, 1959;-DAVY, Thlogie et mystique de G. de St. T., La connaissance de Dieu, Paris, 1954. 223. As obras de Isaac, em P. L., 194.o, 1689-1890.-BERTOLA, La dottrina psicologica di Isacco di Stella, in. "Riv. @di Fil. NeoscoI.", 1953. 224. As obras de Hugo, em P. L., 175.---177.o. Dois outros escritos de Hugo: Epitome in philosophiam e De contemplatione et eius speciebus foram publicados por I-IAuREAu, Hugues de St. Victor, Paris, 1859, 2.1 @ed. com o titulo Les oeuvres de Hugues se St. Victor, Paris, 1886. Outras edies: Didascalion, ed. Buttimer, Washington, 1939; La contemplation et ses espces, ed. Baron, Paris, 1958. - BARKHOLT, Die Ontologie H. s. V., Bonn, 1930; KLEINZ, The Theory of Knowledge of H. of St. V., Washington, 1944; BARON, Science et sagesse chez H. de St. V., Paris, 1957. 9 225. Sobre as provas da existncia de Deus: GRUNWALD, em "Beitrage", VI, 3, 1907, p. 69-77. 226. Sobre a psicologia: OSTLER em "Beitrge", vi, 1, 1906. 228. As obras de Ricardo, em P. L., 196. . Outras edies: Les quatre degrs, ed. Dumeige, Paris, 1955; De trinitate, ed. Ribaillier, Paris, 1958; LibeT exceptionum, ed. Chatillon, Paris, 1958; Sermons et opuscules indits, trad. frane., Paris, 1951.-OTTAVIANO, Riceardo di S. Vittore, Roma, 1933; DUMEIGE, R. de St. V., Paris, 1952. 173 IX
A SISTEMATIZAO DA TEOLOGIA 230. SENTENAS E SUMAS A dificuldade de se encontrar os raros e custosos manuscritos tinha determinado na Idade Mdia o uso frequente de compndios e excertos. O desenvolvimen,to da cultura medieval manifesta-se com a modificao da natureza destas compilaes. A princpio eram constitudas por excertos tirados de um s autor ou tambm de vrios autores, mas destitudos de qualquer ordem. Por exemplo, o Sancti Prosperi liber sententiarum ex Augustino delibatarum uma compilao de cerca de quatrocentos excertos quase todos de Santo Agostinho e reunidos sem nenhuma ordem. Os manuscritos medievais contm um grande nmero de excertos ou Sententiae deste gnero. O mais clebre o Liber Pancrisis, que remonta ao sculo XII e contm sentenas dos Santos Padres e de mestres contemporneos, como Guilherme de Champeaux, Anselmo de Laon e outros. Em seguida, os excertos foram agrupados 175 segundo a ordem das Sagradas Escrituras. Os textos eram algumas vezes de um s doutor, outras vezes de mais. A primeira compilao do gnero a de Patrio, secretrio de S. Gregrio, que rene a explicao dos textos bblicos contida na obra do Santo. De mais autores foram extrados os textos recolhidos por Beda o Venervel e por Rabano Mauro, que acrescentaram aos prprios textos comentrios pessoais. Mas havia outras compilaes nas quais as sentenas dos Padres eram reagrupadas segundo uma ordem mais ou menos lgica. Isidoro de Sevilha o autor de uma obra deste gnero que intitulou Sententiarum libri tres, e que em seguida foi citada com o titulo De summo bono. Estas recolhas de textos que seguiam uma ordem mais ou menos lgica, eram designadas com o nome de Sententiae.mas, progressivamente, a parte correspondente elaborao pessoal na explicao e nos comentrios dos excertos era cada vez maior. No entanto, as recolhas continuaram a manter o nome de Setaentiae, uma vez que o texto original no era mais que a explicao e o comentrio das sentenas transcritas. Abelardo reformou profundamente este costume literrio. A partir dele as obras que mantiveram o nome de Sententiae passaram a ser compndios sistemticos, completos e racionais, das verdades fundamentais do Cristianismo. Para exprimir este novo carcter adoptou-se o termo Summa. Abelardo serve-se deste termo no prlogo da Introduo Teologia: "Escrevi uma summa da erudio sacra como introduo s divinas Escrituras". E Hugo de S. Vietor no prlogo do 1 Livro do De sacramentis, que a primeira verdadeira e prpria suma de teologia medieval, diz: "Reun numa nica cadeia (series), esta breve suma de todas as coisas". No sculo XII o nome de 176 Summa substitui o de Sententiae e os livros que continham a exposio sistemtica das verdades crists chamavam-se Sumas de teologia.
231. PEDRO LOMBARDO Entro os mais notveis autores de Sum~e h a salientar Robert Pulleyn, um ingls que ensinou em Paris e depois em Oxford e morreu em 1150; Roberto de Melun; que foi aluno em Paris, de Hugo de S. Victor e prov velmente tambm de Abolardo, do qual aceitou o principio da dvida metdica, Simo de Tournay, que ensinou em Paris entre a segunda metade do sculo XII e o principio do sculo XIII e defendia a frmula de Anselmo do credo ut intelligum, contraponda-a ao preceito da filosofia personificada por Aristteles: iniellige et credes. Mas a obra do gnero mais significativa, pela importncia que teve como texto fundamental da cultura escolstica, a de Pedro Lombardo. Pedro Lombardo nasceu em Lumollo, perto de Novara; estudou em Bolonha o depois na escola de S. Victor, em Paris. A partir de ll^ ensina na escola catedral de Paris; em 1159 torna-se bispo de Paris e morre provvelmente em 1160. Escreveu um Commentario s cartas de S. Paulo e um outro aos Salmos. Os seus livros Libri quattor sententiarum foram escritos entre 1150 e 1152. Esta obra um compndio sistemtico das doutrinas crists baseado na autoridade da Bblia e dos Padres mas no qual a parte pessoal relevante. O maior peso constitudo pela autoridade de Santo Agostinho, mas apirecem tambm citados Hilrio, Ambrsio, Jern-imo, Gregrio Magno, Cassiodoro, Isidoro, Beda e Bocio. Dos escritores posteriores utilizado sobretudo o De sacramentis, de Hugo de S. Victor. Pela primeira vez, no Ocidente, aparece citado o 177 texto De fide orthodoxa de Joo Damasceno que a terceira parte, traduzida do latim em 1151 por Borgridio de Pisa, da Fonte do conhecimento. Mas a obra de Pedro Lombardo manifesta tambm com evidncia a influncia de Abelardo e do mtodo por ele criado no Sic et non. Apesar da sua explcita afirmao de que em matria de f "cr-se nos pescadores e no nos dialcticos", Pedro Lombardo um dialctico que procura fazer valer todo o peso da razo em apoio autoridade dos textos citados. Na prpria diviso da obra, Pedro Lombardo segue um critrio sistemtico. O contedo total da Bblia constitudo por coisas e signos. A coisa o que no pode ser empregado para significar ou simbolizar outra coisa; o signo , pelo contrrio, o que serve essencialmente para esse fim. Entre os signos, Pedro Abelardo inclui os Sacramentos, que so smbolos da realidade suprasensvel. Por sua vez, as coisas distinguem-se, segundo so objecto de gozo (fruitio) ou objecto de uso. Objecto de gozo a Trindade divina, objecto de uso so as coisas criadas. As virtudes so conjuntamente objectos de gozo e objectos de uso, porque so meios para atingir o fim da beatitude. Das coisas podemos distinguir os sujeitos que as gozam ou se servem delas. Consequentemente, Pedro Lombardo distingue a sua obra em duas partes, a primeira referente s coisas, a segunda referente aos signos. A primeira parte, diz respeito aos sujeitos e aos objectos da fruio e do uso, isto ; a Trindade divina, as coisas criadas em geral, os anjos e os homens em geral e as virtudes. Estes argumentos formam o contedo dos primeiros trs livros das Sententiae. O ltimo livro dedicado aos signos, isto , aos Sacramentos.
O homem pode elevar-se ao conhecimento de Deus partindo das coisas criadas. Tudo o que ns 178 vemos mutvel e tudo o que mutvel deve ter a sua origem numa essncia imutvel. O corpo e o esprito esto igualmente sujeitos mudana: o ser de que obtm a sua origem deve ser, por isso, superior a ambos. E uma vez que todas as coisas corpos e espritos, tm uma determinada forma e espcie, h que pensar numa forma originria, ou numa primeira espcie da qual, tanto o esprito como o corpo, recebam as suas formas ou espcies. Essa primeira espcie Deus (Sent. 1, dist 3, n. 3-5). Os trs caracteres fundamentais das coisas: a unidade, a forma e a ordem, constituem o reflexo da Trindade divina e consentem ao homem a sua elevao para Ela. Na alma humana a memria, a inteligncia e a vontade constituem uma nica substncia e tambm aqui se reflecte a imagem da Trindade divina, que mente (mens), conhecimento (notitia) e amor (amor) (lbid., 1, dist. 3, n.o 6 sgs.). No entanto, nenhuma coisa criada pode dar-nos um conhecimento adequado da Trindade. preciso distinguir entre as coisas que podemos conhecer antes de crer e aquelas que para serem conhecidas pressupem a f. Entre os objectos de f, alguns no podem ser conhecidos e compreendidos, se no acreditarmos primeiramente neles; outros no podem ser cridos se no forem primeiramente, compreendidos, e estes ltimos so, por via da f, compreendidos mais profundamente (1b. 111, dist. 24, 3). O objectivo fundamental das interpretaes teolgicas de Pedro Lombardo a defesa da omnipotncia divina. Contra Abelardo e de acordo com Hugo de S. Victor ( 225), Pedro Lombardo nega que Deus no possa criar nada de melhor do que aquilo que efectivamente criou. Na realidade, se o "melhor" se refere actividade criadora de Deus, a afirmao legtima: mas se se refere ao objecto dessa actividade, isto , ao mundo criado, a afirmao fadsa, porque leva a pensar que ao mundo 179 no falta qualquer perfeio, e em tal caso o prprio mundo seria semelhante a Deus: ou ento Deus no poderia dar-lhe maior perfeio e assim o mundo manifestaria uma imperfeio que estaria em contraste com a tese, segundo a qual, o melhor dos mundos possveis (1b., 1, dist. 44, 2-3). No que diz respeito ao homem, cujas trs faculdades reproduzem, como se disse, a Trindade divina, Pedro Lombardo afirma que a alma -lhe transmitida d-irectamente por Deus. preciso distinguir no homem a sensibilidade, a razo e a vontade livre. A sensibilidade est ligada a todos os rgos dos sentidos, e receptiva e apetitiva. A razo a mais alta faculdade cognoscitiva da natureza humana: dirige-se por um lado ao que temporal; por outro ao que eterno. O livre arbtrio a faculdade da razo e da vontade conjuntamente, o por isso o homem ~lhe o bem, se a graa divina o ajuda, ou o mal, se no existe a graa. Diz,se livre em razo da vontade, que pode determinar-se por uma
coisa ou por outra; diz-se arbtrio em virtude da razo, da qual representa a faculdade ou poder de discernir o bem do mal, escolhendo umas vezes um, outras vezes o outro (lb., 11, dist. 24,5). O livre arbtrio pressup e, portanto, a vontade e a razo e no pode pertencer aos animais que so privados de razo. A sua essncia no est na capacidade de escolher entre o bem e o mal, mas antes na capacidade de escolher, sem necessidade ou coaco, o que a razo estabelece. Para o homem o mal duplo: o pecado e a pena do pecado. Um e outra so negatividade e privao do bem: o pecado privao num sentido activo, porque corrompe o bem o priva dele o homem; a pena privao em sentido passivo porque um efeito do pecado. Deus no de forma alguma causa do mal: prev infalivelmente o mal, no como obra sua, mas como obra daqueles que o fazem e suportam. A previso do 180 mal exclui o beneplcito da sua autoridade, enquanto que a previso do bem, que tudo aquilo que ele directamente opera no mundo, sempre acompanhada de tal beneplcito (lb., 1, dist. 38, 4). Condio primeira para que o homem escolha o bem a graa divina, que sempre gratuitamente concedida (gratis dada), independentemente dos mritos humanos: com efeito, no seria graa se no fosse gratuitamente dada. Mas, enquanto que a misericrdia divina sempre um acto de graa, a reprovao e a severidade de Deus perante o homem so actos de justia, determinados por aquilo que o homem mereceu. A reprovao divina consiste no no querer ser misericordioso, a severidade em no s-lo e uma e outra pretendem tornar melhor o homem (1b., dis. 41, 1). As Setuenas de Pedro Lombardo tomaram-se, em breve, um dos livros fundamentais da cultura filosfica medieval e foram objecto de numerosos comentrios at ao fim do sculo XVI. NOTA BIBLIOGRFICA 230. Sobre o desenvolvimento das complicaes de Sentenas: RoBERT, Les coles et 1'ense@gnement de Ia thol. pendant Ia premire moiti du XIIe sic@e, Paris, 1909, cap. 6; DE GHELLINCK; Le mouvement thlogique du XIIe 8ic1e. Rruges-Bruxelas-Paris, 1948 (com bibli.). 231. As obras de Pedro Lombardo, em P. L., 191.,-192.,. Edio critica das Sentenas, a cargo dos padres franciscanos de Quaracchi, 1916, 2 V018.-PROTOIS, Pierre Lombard, Paris, 1881; GRABMANN, Die Gesch. d. 8chol. Methole, 11, 350-407; ERSPENBERGER, em "Beitrge", 111, 5, 1901. 181 x A FILOSOFIA RABE 232. FILOSOFIA RABE: CARACTERSTICAS E ORIGENS
Entre as causas que mais eficazmente estimularam a actividade cultural do Ocidente no sculo XII, esto as relaes com o mundo oriental sobretudo com os rabes. Com efeito, o mundo rabe tinha j assimilado, nos sculos precedentes, a herana da filosofia e da cincia gregas, que ainda permaneciam em grande parte, ignoradas pela cultura ocidental: esta conhecia delas apenas o que tinha conseguido filtrar-se atravs da obra dos autores latinos e dos Padres da Igreja. Por outro lado, e sobretudo por isso, a filosofia rabe surgia aos olhos dos pensadores ocidentais como a prpria manifestao da razo e, por isso, como uma fora de libertao dos entraves postos pela tradio. Adelardo de Bath no hesitava em contrapor o que tinha aprendido " com os mestres rabes, orientado pela razo", ao "cabresto da autoridade" a que estavam submetidos os que seguiam a tradio (Quaest. nat., 6). Em terceiro lugar, a filosofia oci183 dental tinha, em comum com a filosofia oriental, a prpria natureza dos seus problemas. Tambm a filosofia rabe uma escolstica, isto , uma tentativa para encontrar uma via de acesso racional verdade revelada; e a verdade que se pretende alcanar, a que est contida no Coro, tem muitas caractersticas semelhantes verdade crist. Em suma, tal como a filosofia crist, a escolstica rabe vive custa da filosofia grega, especialmente do neoplatonismo e do aristotelismo. Tudo isto explica a influncia e a profunda penetrao que o pensamento rabe exerceu na escolstica crist no sculo XIII e XIV. Todavia, em certos pontos, as duas escolsticas deviam revelar-se inconciliveis. A sntese a que chegaram os maiores representantes da escolstica rabe, Al Farabi, Avicena e Averris, surge-nos de acordo com o principio da necessidade. A necessidade domina o mundo divino e humano; tal a convico dos grandes filsofos rabes. E a isso no se furta o mundo das coisas finitas que necessrio no por si, mas pela sua dependncia de Deus: nem mesmo a vontade humana, dominada por uma cadeia causal que, atravs dos acontecimentos do mundo sublu. nar e dos movimentos da esfera terrestre, tem como motor o Ser necessrio. A escolstica latina, ainda que tenha recebido o aristotelismo atravs dos rabes, dever no entanto tentar subtrai-lo ao princpio da necessidade e introduzir nele um princpio de contingncia quepermitisse salvar, ao mesmo tempo, a liberdade criadora de Deus e o livre arbtrio do homem. A primeira actividade filosfica nasceu entre os rabes da tentativa de interpretar certas crenas fundamentais do Coro. Assim a seita dos Quadries, afirmava o livre arbtrio do homem perante a vontade divina, enquanto que a dos Jabaries defendia o fatalismo absoluto. No sculo 11 da FIgira 184 (732-832),. expande-se a seita dos Motazeis ou dissidentes, que afirmavam
enrgicamente os direitos da razo na interpretao da verdade xeligiosa. Foram eles que divulgaram o Kalam. (cincia da palavra), ou seja, a teologia racional. A partir do califado de Haroun al-Raschid (785-809), os rabes comearam a familiarizar-se com a cultura grega. As tradues rabes das obras de Aristteles e dos outros autores gregos deveram-se, em geral, a sbios cristos srios ou caldeus, que viviam, em grande nmero, como mdicos na corte dos Califas. As obras de Aristteles foram traduzidas em grande parte das tradues srias que, desde a poca do imperador Justiniano, tinham comeado a difundir no Oriente a cultura grega. Entre as obras que exerceram mais profunda influncia no pensamento rabe conta-se uma Teologia atribuda a Aristteles, que formada por uma centena de passagens tiradas das Eneadis de Plotino, e o Liber de causis, que a traduo dos Elementos de teologia de Prculo. Alm destes textos e das obras de Aristteles, contribuiram para formar o pensamento rabe, os comentfios de Alexandre de Afrodsia, os dilogos de Plato, especialmente a Repblica e o Timeu, e as obras cientficas de Euclides, Ptolomeu e Galeno. Uma reaco da ortodoxia religiosa contra as novidades introduzidas pelos filsofos foi desenvolvida pelos Mutakallimun (os que discutem). A afirmao fundamental dos Mutakallimun a novidade e discontinuidade do mundo, que toma necessria a existncia de um Deus criador. Adoptam a doutrina atmica de Derncrito, que provvelmente conhecem atravs da exposio de Aristteles. Segundo eles, os tomos no tm nem quantidade nem extenso, e so criados por Deus sempre que ele quer. As coisas resultam da agregao dos tomos e as suas qualidades no podero durar dois 185 instantes, ou seja, dois tomos de tempo, se Deus no interviesse continuamente na sua criao. Quando Deus deixa de criar, as coisas, as suas qualidades e os prprios tomos, deixam de existir. A discontinuidade toma necessria a aco incessante e criadora de Deus o garante a liberdade na criao. A reforar esta tese, os Mutakallium negavam a relao de causalidade entre as coisas. As coisas criadas no tm, entre si, relaes de causa e efeito. O fogo tende a afastar-se do centro da terra e a produzir calor; mas a razo no se nega a admitir que o fogo poder mover-se em direco ao centro e a produzir frio, ainda que permanea fogo. Os nexos causais no tm qualquer necessidade intxnseca; so estabelecidos nicamente por Deus. Mais que causa primeira, Deus causa agente e eficiente e produz directamente todos os efeitos do mundo criado. No princpio do sculo estas doutrinas dos Mutakallium foram retomadas por uma outra seita, a dos Asharies, assim chamados devido a Abul-Hassan AIAshari (873-935), de Bassora. Os asharies exageram ainda a doutrina da criao directa por parte de Deus, afirmando que todas as qualidades acidentais nascem e desaparecem nicamente por um acto de criao da vontade divina. Assim, por exemplo, quando um homem escreve, Deus cria quatro acidentes que no esto ligados entre si por nenhum nexo causal: a verdade de mover a pena, a faculdade de a fazer mover, o movimento da mo, o movimento da pena. O movimento filosfico determinado pelas posies destas seitas vem a ser
substitudo a seguir pela aco de verdadeiras e prprias personallidades filosficas que, em parte, utilizam e continuam as doutrinas das prprias seitas, e em parte se opem a elas na tentativa de se manterem ficis doutrina dos filsofos gregos e especialmente a Aristteles. 186 233. AL.XINDI A,I-,Kindi o primeiro dos filsofos rabes que se relaciona explicitamente com a tradio grega. Viveu em Bagdad, e devia ter falecido em 873. Escreveu um grande nmero de obras de filosofia, matemtica, astronomia, medicina, poltica e msica. Foi um dos autores que o califa AI-Mamn encarregou de traduzir as obras de Aristteles e de outros pensadores gregos. Os rabes deram-lhe o ttulo de Filsofo por execelncia. Foi autor de numerosos comentrios aristotlicos. Gerardo de Cremona traduz no sculo X11 um texto seu com o ttulo Verbum Jacob Al Kindi de intentione antiquorum in ratione. Um outro texto foi traduzido com o ttulo De intellectu. A parte do comentrio aristotlico de AI-Kindi que chamou a especial ateno dos escolsticos latinos a que diz respeito doutrina do intelecto. Al-Kindi teve a pretenso de expor as opinies de Plato e Aristteles, mas, na verdade, segue de perto a interpretao de Alexandre de Afrodsia ( 111). Enumera quatro intelectos: "0 primeiro o que est sempre em acto; o segundo o que est em potncia na alma; o terceiro o que na alma passa da potncia a realidade efectiva; o quarto o intelecto que chamamos demonstrativo: este ltimo, Aristteles assimila-o aos sentidos porque os sentidos esto prximos da verdade e em comunicao com ela". Destes quatro intelectos os trs primeiros correspondem respectivamente ao nous poietics, ao nous yliks e ao nous epiktets de Alexandre; o quarto a alma sensitiva. Em AI-Kindi surge pela primeira vez, de uma forma ntida, o princpio tpico do aristotelismo rabe que atribui directamente ao intelecto de Deus a iniciativa do processo de conhecer do homem. "A alma, afirma ele, inteligente em potncia: passa a ser inteligente de modo efec187 fivo pela aco do Intelecto primeiro, quando dirige o seu olhar para este. Quando uma forma inteli1 givel se une alma, esta forma e a inteligncia da alma passam a ser uma s e mesma coisa, que ao mesmo tempo aquilo que conhece e o que conhecido. Mas o Intelecto que est sempre em acto, e que atrai a alma para a converter em intelecto efectivo, de intelecto potencial que era, no se identifica com o que conhecido. Em relao ao Intelecto primeiro, portanto, o intelecto e o inteligvel que a alma co"ece no so a mesma coisa; em relao alma, o intelecto que conhece e o inteligvel que conhecido so a mesma coisa". Est implcita nesta doutrina de AI-Kindi a separao entre o Intelecto activo, que o divino, e os outros intelectos, que so prprios do homem. 234. AL FARABI
AI Farabi, assim chamado por ser natural de Farab e que foi clebre entre os muulmanos no apenas como filsofo peripattico, mas tambm como matemtico o mdico, continua a tradio enciclopdica de AI-Kindi. All Farabi ensinou em Bagdad e morreu em Dezembro do ano de 950. Escreveu uma obra sobre as cincias, De scientiis, um texto sobre o intelecto, De intelectu, e ainda outras obras de tica e de poltica, todas inspiradas no pensamento aristotlico. Em AI Farabi, encontra-se pela primeira vez a distino entre a essncia e a existncia e que iria ter uma to grande Importncia na filosofia de S. Toms. Averris faz Temontar esta distino aos Mutakallimun, que teriam sido os primeiros a distinguir o ser em possvel e necessrio e teriam afirmado que para se pensar num ser possvel h que pressupr a existncia de um agente que o 188 faa passar a acto; e como o mundo no seu todo possvel, preciso que o agente do mundo seja um ser necessrio (Destr. destruct. Algazelis, 1, 4, 5). Na realidade, a primeira origem desta distino est no Liber de causis que, como j foi dito, uma das principais fontes de inspirao da especulao rabe. O Liber de causis (cap. 9) distingue, nas coisas, a existncia e a forma, ambas procedentes do exterior: a existncia do primeiro Ser pela via da criao; a forma das Inteligncias subordinadas pela via das impresses. Mas no Liber de causis a existncia o substracto receptivo da forma, e, por isso, a possibilidade da prpria forma: funciona como matria; no pensamento rabe a relao inverte-se e a essncia ou forma ser considerada como matria ou possib',lidade e a existncia como acto. Segundo AI Farabi, tudo o que existe ou possvel ou necessrio. Ao afirmarse que uma coisa dotada de existncia possvel no existe, no se enuncia nenhum absurdo, uma vez que para receber a existncia essa coisa precisa de uma causa. Uma coisa possvel no pode passar ao nmero das coisas necessrias, seno atravs da aco de um ser nocessrio. Pelo contrrio, se afirmamos o ser necessrio como no existente, fazemos uma suposio absurda, pois esse ser no tem uma essncia distinta da sua prpria existncia. O ser necessrio nico e nenhum outro alm dele possui uma verdadeira substncia: escapa a todas as categorias e a todas as distines de matria e de forma. " o acto de pensamento na sua pureza, o puro objecto pensado, o puro sujeito pensante. Nele, as trs coisas seguintes so apenas uma: sbio, sapiente e vivente. Tem actividade perfeita e perfeita vontade. Goza de uma imensa felicidade na sua prpria substncia e o primeiro amante e o primeiro amado". (Dieterici, Alfarabis philos. AbhandIungen, p. 93-96). 189 A distino entre o ser necessrio e o ser possvel ser fundamental para todo o pensamento rabe e tambm para a escolstica latina posterior. Do ser necessrio, e precisamente do acto com que o ser necessrio se pensa a si prprio (segundo o esquema de Plotino), nascem, afirma AI Farabi, os vrios intelectos, que se relacionam entre si como a matria e a forma, a potncia e
o acto. Do Ser necessrio enquanto se conhece a si prprio, nasce o primeiro Intelecto, que por sua vez conhece o Ser necessrio e a si prprio. E na medida em que conhece o Ser necessrio, produz um segundo intelecto; no entanto, enquanto se conhece a si prprio, produz o primeiro cu na sua matria e na sua forma, que a alma. Do segundo intelecto dimana, do mesmo modo, um outro intelecto e um outro cu que se situa abaixo do primeiro. E assim, de cada intelecto nasce sempre um intelecto o um cu, at se chegar a um intelecto privado de matria e que por si no pode originar a formao de uma nova esfera celeste. Este ltimo intelecto a causa da existncia das almas humanas e, em colaborao com as esferas celestes, a causa dos quatro elementos que compem o mundo sublunar. Trata-se do intelecto agente, do qual dependem os outros trs intelectos (prpriamente humanos): em potncia, em acto e adquirido, cuja distino AI Farabi retoma de AI Kindi. O princpio eficiente de todo o conhecimento humano o Intelecto agente. alma humana pertence o intelecto em potncia, que pela aco do intelecto activo, se transforma em intelecto em acto e conhece as formas inteligveis das coisas, formas que se identificam com ele. A elaborao destas formas conceptuais, dirigindo-se a noes mais gerais e mais elevadas obra do intelecto adquirido. Deste modo o intelecto adquirido forma do intelecto em acto, que, por sua vez, forma do intelecto em potncia (lb., p. 71-72). O total meranismo do conhecimento vem assim a ser dependente 190 da aco do Intelecto agente. A esta aco AI Farabi faz ligar tambm a qualidade mais elevada que o homem pode alcanar, a sapincia e a profecia. Com efeito, quando o Intelecto agente consegue transportar o intelecto potencial de um homem ao seu grau mais alto, que o intelecto adquirido, ento o homem torna-se num sbio-filsofo; mas quando o prprio Intelecto agente actua, no sobre o Intelecto, mas sobre as faculdades representativas de um homem, este homem pode transformar-se num profeta, num iluminado, num vidente e esperar ser chefe na cidade ideal; porque nenhum est em posio de o dirigir mas ele est em posio de dirigir todos (lb., p. 59). De tal modo o Intelecto agente considerado por AI Farabi que o considera um dom da iluminao divina, fazendo do homem um profeta ou um chefe; e o mecanismo atribuido ao intelecto utilizado tambm para uma explicao racional da revelao religiosa original. Mas o Intelecto agente, como se viu, nasce pela reflexo do Ser necessrio: e assim tambm a sua aco se integra na necessidade prpria deste ser. A necessidade exclui toda a possibilidade de escolha: o conhecimento com que o Ser necessrio produz tudo est necessriamente conexo com a sua prpria essncia e no separa a necessidade (1b., p. 96). A necessidade reflecte-se portanto em todas as coisas do mundo: a prpria vontade humana surge determinada pela cadeia das causas naturais que tem como origem primordial a causa absoluta. O Ser necessrio. 235. AVICENA: A METAFSICA Ibri-Sina, que os escolsticos latinos cognominaram de Avicena, era persa de origem e nasceu em Afshana (perto de Bokara) em 980. Dotado de inteligncia precoce, aos 17 anos era j famoso como
191 mdico e teve a sorte de curar o prncipe de Bokara, que o colmou de favores e ps sua disposio a imensa biblioteca do seu palcio. Mais tarde, Avicena foi para Sorsan, onde abriu uma escola pblica e deu incio ao seu clebre Cnone de medicina. Obrigado a abandonar a cidade em virtude das desordens que surgiram, dirigiu-se para Hamadan, onde foi designado Visir do prncipe dessa localidade. A sua actvidade como tal quase o levou morte, porque as tropas descontentes com ele, haviam-no prendido e pedido a sua morte. No entanto, o prncipe salvoulhe a vida e manteve-o junto de si como mdico. Avicena compe ento vrias partes da sua grande obra sobre A Cura (AI Scif). Depois da morte do seu protector, partiu para Ispahan, onde se torna secretrio do prncipe, que acompanhou frequentemente nas suas expedies. Estas viagens contribuiram para perigar a sua sade, j de si comprometida por uma vida agitada e laboriosa: Avicena amava a vida, e dedicava-se de bom grado ao amor e bebida. Tendo acompanhado o seu prncipe numa expedio contra Hamadan, caiu enfermo e morreu naquela cidade em 1307, com a idade de 57 anos. A Wa de 1bn-Sina, escrita pelo seu discpulo Sorsanus foi traduzida para o latim e imprimida no incio de diversas edies das suas obras. A actividade de Avicena estende-se a todos os campos do saber. O seu Cnone de medicina foi a obra clssica da medicina medieval. As obras que interessam filosofia so o Livro da Cura (AI Scf) e o Livro da Libertao (AINajah): o primeiro era uma vasta enciclopdia de cincias filosficas em dezoito volumes; o segundo, dividido em trs partes, era um resumo do primeiro. As edies latinas das obras de Avicena so tradues de uma ou de outra parte das suas obras principais. No fim do sculo XII Gerardo de Cremona traduz o Cnone de medicina; Domingo Gundisalvo e o judeu Avendeath 192 traduzem a Lgica, uma parte da Fsica, a Metafisica, o De caelo e muitos dos escritos cientficos. Rpidamente, entre o fim do sculo X11 o o princpio do sculo XIII, o Ocidente cristo vem a conhecer, atravs destas tradues de Avicena, quase toda a obra de Aristteles, de que apenas conhecia a lgica. Mas com tudo isto, o ocidente latino conhece bem pouco a obra de Avicena. Com efeito, a sua obra vastssima (provvelmente mais de 250 obras); e o reconhecimento da sua importncia, quer pela filosofia oriental, como pela ocidental e ainda pela cincia (e especialmente pela biologia e medicina), levaram os estudiosos modernos a publicar e a traduzir algumas partes inditas. Entre estas tm importncia para a filosofia: Tratados msticos; Epstola das definies, Livro de cincia; Livro das directivas e das notas; Lgica oriental, que parte de uma grande obra perdida, Juizo imparcial entre os orientais e os ocidentais. O ttulo desta ltima obra levou a pensar num ramo teosfico ou mstico da filosofia de Avicena em contraste com as directrizes filosficas e racionalistas das obras que conhecemos. Na realidade no existe qualquer base para uma tal laiptese: que desmentida, no s pelos fragmentos das suas obras que temos sobre a lgica, como tambm pelo contedo do Livro das directivas que pertence aos ltimos anos de Avicena e que no testemunha qualquer mudana sensvel nas concluses da sua filosofia. As fontes desta filosofia so Aristteles, Plotino (que Avicena, contudo, no distingue do primeiro e a que atribui a Theologia, e uma centena
de passagens das Eneadis) e AI Farabi; mas sobretudo dos Estoicos que se aproxima o seu conceito do mundo como o domnio de uma fora racional que o orienta com infalvel necessidade. Avicena descreve em termos nitidamente escolsticos o objectivo da filosofia: o de demonstrar e esclarecer racionalmente a verdade revelada. Os fun193 dadores da f ensinaram e transmitiram a sua doutrina por virtude da inspirao divina. Os filsofos acrescentaram doutrina transmitida o discurso e as consideraes demonstrativas. Os fundadores da f no distinguiram nem esclareceram o contedo das suas doutrinas, definiram apenas os princpios e os fundamentos: cabe aos filsofos expr e elucidar claramente o que est obscuro e oculto (De defin. et quaest., fol. 138, p. 1). Mas se a filosofia vem acrescentar tradio religiosa as consideraes demonstrativas, por outro lado a tradio religiosa, representada pelos profetas, estende o domnio da verdade humana para l dos limites que a demonstrao necessria pode alcanar. Com efeito, ela que permite afirmar com certeza a Tealdade das coisas que o intelecto no pode demonstrar ou apenas pode reconhecer a possibilidade (De divis scient., fol. 144, p. 2). O princpio da especulao de Avcena , tal como o de AI Farabi, a necessidade do ser. Todo o ser enquanto tal necessrio. "Se uma coisa no necessria em irelao a si prpria, afirma Avicena, necessita que seja possvel em relao a si prpria e necessria em relao a uma coisa diferente (Met., 11, 2, 3). A propriedade essencial do que possvel precisamente esta: a de exigir necessriamente uma outra coisa que a faa existir em acto. O que possvel perinanece sempre possvel em relao a si prprio, mas pode acontecer s-lo de modo necessrio em virtude de uma coisa diversa (1b., 11, 2, 3). A existncia em acto portanto necessria. O possvel mantm-se como tal at ter existncia em acto: quando recebe a existncia em acto, recebe ao mesmo tempo a necessidade. Isto implica, em primeiro lugar, que todo o possvel exige e ff-eclama o ser necessrio como causa da sua existncia actual. E, em segundo lugar, implica que o ser necessrio exista por si, em virtude da sua prpria essncia; 194 sendo inteligvel apenas por essa essncia. um ser simples, sem vnculos, sem deficincias e sem matria. No Livro das directvas, Avicena insiste na superioridade desta prova de Deus extrada da simples considerao do ser: "Quando consideramos o estado do ser, afirma, o ser testemunho de si enquanto ser, e ele mesmo, em razo disso, testemunha tudo o que vem a ter existncia depois dele". (1b., p. 146; trad. franc., P. 371-372). Se o ser necessrio absolutamente simples, o que possvel e existe apenas em virtude do ser necessrio j no simples e implica em si dois elementos: aquele pelo qual possvel em relao a si mesmo, e aquele pelo qual
necessrio em relao a outra coisa. A possibilidade e a necessidade conjugam-se na formao da sua natureza respectivamente como a matria e a forma. Com efeito, Avicena interpreta a distino aristotlica de matria e forma como distino entre o possvel e o necessrio: a matria possibilidade, a forma, como existncia em acto, necessidade. O que no necessrio por si, ner-essriamente formado por matria e por acto, por isso no simples. O ser que necessrio por si , no entanto, absolutamente simples, mesmo privado de possibilidade ou de matria (Met., 11, 1, 3). Este conceito do ser necessrio (necesse esse) o ponto de referncia de toda a especulao de Avicena. Em primeiro lugar, ele fundamento da distino real entre a essncia e a existncia que viria a tornair-se um dos maiores temas especulativos da escolstica crist no sculo XIII e especialmente do tomismo. Com efeito, o ser necessrio o ser que existe por essncia ou cuja essncia implica a existncia; em consequncia, o ser que no existe em virtude da prpria essncia existe apenas como efeito do ser necessrio. Esta distino ser o fundamento do princpio da analogicidade do ser, fundamental para o tomismo. Em segundo lugar, o ser 195 necessrio introduz em todos os ramos e formas da existncia a sua prpria necessidade. Toda a contingncia ou possibilidade real fica excluda uma vez que o possvel no pode passar ao ser sem ser atravs da aco do necessrio; mas com esta aco toma-se ele prprio necessrio na sua existncia (ainda que o no seja na sua essncia). Esta eliminao radical da contingncia do ser (implica, alm do mais, a necessidade da prpria criao divina) o ponto fundamental em que a doutrina de Avicena surgia contrastante das exigncias da escolstica crist, interessada em manter a liberdade da criao e na criao. Convm no entanto salientar que, no obstante esta excluso de todo o possvel da realidade, Avicenaexpe um conceito do possvel bastante mais preciso e rigoroso do que aquele que tinha sido admitido por Aristteles. Avicena distingue, com efeito, dois sentidos do possvel. No primeiro sentido possvel o "no impossvel"; neste sentido o que no possvel impossvel e portanto o prprio necessrio possvel. No segundo sentido, que o prprio, o possvel uma terceira alternativa ailm do impossvel e, do necessrio em tal caso o possvel o que pode ser ou no ser; o nem o impossvel nem o necessrio podem dizer-se possveis (Livre des directives, p. 34, 35; trad. franc., p. 138-141). bviamente, neste segundo sentido o possvel subtrai-se a todos os paradoxos a que dava lugar na lgica. de Aristteles ( 85). A absoluta simplicidade do ser necessrio consente em Avicena que seja entendido como absoluta unidade, e com maior razo com a prpria Unidade no sentido neo-platnico. Avicena, tal como acontecia j com AI Farabi, liga o conceito platnico do uno ao conceito aristotlico do Acto puro; e ao mesmo tempo identifica o Uno e o Intelecto, que os neo-platnicos distinguiam. "Como princpio de toda a existncia, o Uno conhece por si as coisas de que
196 princpio: sabe que princpio das coisas cuja existncia perfeita na sua singularidade (as coisas celestes) e tambm das coisas que esto sujeitas gerao e corrupo. Estas ltimas so por ele conhecidas quer atrav s das suas espcies quer atravs das respectivas individualizaes; mas quando conhece estes entes mutveis, no os conhiece a eles e res- pectiva mutao, enquanto seres mutveis, no os conhece com uma intelig ncia individual" (1b., VIII, 6). A derivao de todos os seres do Ser necessrio no uma criao intencional. No subsiste uma inteno criadora na Causa primeira: esta inteno implicaria uma multiplicidade de elementos na natureza do Uno, que ao invs siraplicssimo. Seria necessrio que a cincia e a bondade da Causa primeira a coagissem a ter essa inteno ou que a mesma lhe fosse sugerida pela considerao de uma utilidade ou de uma vantagem que lhe poderia advir; e tudo isto absurdo. No existe em Deus nem desejo, nem necessidade, nem inteno: Deus causa em virtude da sua prpria essncia., e aquilo de que causa, o mundo, procede necessriamente da essncia divina. O mundo assim to eterno como Deus. A derivao do mundo provemente de Deus verfica-se (como Ail Farabi havia dito, reproduzindo Plotino) atravs do pensamento isto , atravs da cincia que Deus tem de si, da auto-reflexo divina. "A Causa primeira uma inteligncia nica, que se conhece a si prpria: da o conhecer necessriamente tudo o que de si resulta; sabe que a existncia de todos os seres surge de si, que ela principio e que no h nada na sua essncia que impea s coisas de derivarem de si. A sua essncia sabe pois que a sua prpria perfeio e a sua prpria excelncia consistem nisto: que o bem deriva dela" (lb., IX, 4). Tambm a Providncia, ou seja o governo do mundo, se exercita do mesmo modo: Deus conhece a ordem,segundo a qual o bem 197 se distribui no mundo e por este simples conhecimento o prprio bem deriva d'Ele de tal forma que d'Ele deriva a ordem mais perfeita possvel (Ib., W, 6). Avicena verdadeiramente o filsofo da necessidade absoluta. Para ele, nada escapa ao princpio de que todo o ser necessrio: nem mesmo a vontade humana. As decises da nossa vontade devem ter uma causa, como tudo o que passa da simples possibilidade ao ser. Mas a srie das causas que o produzem remonta mais alm da prpria alma, remonta aos acontecimentos terrestres. Ora os aconos celesLecimentos terrestres so determinados pel tes; portanto a srie de todos os efeitos depende necessriamente da necessidade da vontade divina. "Se fosse possvel a um homem conhecer, afirma Avicena, todas as coisas que acontecem no cu e na terra na sua natureza, conheceria todos os acontecimentos futuros e tambm o modo como aconteceriam" (Metaf., X, 1). Donde se deduz a justificao das predices astrolgicas. claro que o astrlogo no pode pela simples observao do movimento dos corpos celestes obter predices infalveis, mas isso deve-se multiplicidade das
circunstnoias de que depende o acontecimento futuro, muitas das quais se subtraem s suas consideraes, no se tratando portanto de falsidade ou insuficincia da cincia astrolgica. 236. AVICENA: A ANTROPOLOGIA O que distingue os animais dotados de razo daqueles que dela so privados o poder de conhecer as formas inteligveis. Este poder a alma racional a que se costuma tambm chamar intelecto material, ou seja, o intelecto em potncia ou intelecto possvel. As formas inteligveis formam a alma de trs modos distintos. Em primeiro lugar, mediante emanao 198 ou infuso divina, sem qualquer ensinamento ou qualquer aquisio de origem sensvel: deste modo que ao homem dado o conhecimento dos primeiros princpios. Em segundo lugar, por meio do raciocnio discursivo e do pensamento demonstrativo: deste modo a alma conhece as espcies inteligveis que so objecto da considerao lgica. Em terceiro lugar, e atravs dos sentidos, com a ajuda de uma capacidade natural e inata. Mediante as espcies inteligveis que assim advm alma, o intelecto em potncia transforma-se em intelecto em acto, idntico com as prprias espcies, de tal modo que ao mesmo tempo sujeito e objecto de conhecimento (intelligens et intellectum). A inteligncia em potncia, a simples substncia intelectual, encontra-se apenas nas crianas, que esto ainda privadas de toda a forma ou espcie inteligvel. Em seguida, sem a ajuda de qualquer cincia ou de qualquer meditao, obtm-se o conhecimento dos primeiros princpios. Tais princpios so as verdades imediatamente evidentes, a que se d o assentimento de forma imediata como, por exemplo "0 todo maior que a parte" ou "Dois contrrios no podem simultneamente pertencer a uma nica coisa". No podem derivar esses princpios da experincia sensvel: no podendo portanto serem fundamento de um juzo necessrio, porque no excluem o juizo contrrio quele que sugerem. Estes princpios devem ser portanto o produto de uma imanao divina qual a alma se encontra unida continuamente ou de forma interrupta. Uma vez que, em virtude de tal imanao, a alma adquire o conhecimento dos primeiros princpios, o intelecto est j em acto e a sua actividade pode enriquecer o patrimnio inteligvel que lhe foi subrainistrado pelo alto. Intervm ento a actividade discursiva do intelecto, que procede por composio e diviso, isto , por anlise e sntese, e este exerccio determinado pelos primeiros princpios que a alma 199 possui. As outras formas inteligveis ou conhecimentos racionais so adquiridos pela alma por via de abstraco da experincia sensvel. A abstraco e a actividade discursiva que compem e dividem, so pois os dois meios fundamentais pelos quais a alma humana adquire e enriquece os seus conhecimentos racionais e constituem o intelecto adquirido. Existe uma via directa de aquisio, mas excepcional e
reservada a poucos: "Em alguns homens a viglia prolongada e uma certa unio ntima com o Intelecto universal (isto , o Intelecto em acto de Deus) conferiram ao poder da razo uma tal disposio que a alma racional destes homens deixa de ter necess);dade de qualquer raciocnio discursivo ou do socorro da reflexo para conhecer e aumentar a sua cincia. A esta disposio d-se o nome de santidade e a alma que dela dotada uma alma santificada. Mas esta graa e esta dignidade so apenas concedidas aos profetas e aos apstolos, nos quais se encontra a salvao" (De an., 8, fol., 24). Mas isto sem dvida uma excepo: para os outros homens a relao imediata com a imanao ou com o ser de que provem limitada e no constante porque o corpo o impede. Desta situao Avicena extraa, platnicamente uma prova de imortalidade da alma: " Quando a alma se encontrar separada do corpo, a continuidade que une a alma ao Ser que a aperfeioa e do qual depende no ser suprimida. A unio continua com a realidade, da qual deriva e da qual depende a sua perfeio, colocando a coberto de qualquer corrupo, a tal ponto, que ela nunca fica destruida nem mesmo quando se afasta ou separa dessa mesma realidade. Por conseguinte a alma permanece depois da morte sempre imortal, na dependncia da substncia superior que se chama Intelecto universal e que os doutores das diferentes religies designam por Sapincia de Deus" (De an., 10, fol 34). 200 MAIMNIDAS Deste modo, Avicena relaciona a imortalidade, tal como a santidade e a sabedoria, com a aco do Intelecto divino, isto , com o Ser necessrio. Mas uma vez que o Ser neccssrio tambm o bem, a felicidade consiste na contemplao do ser necessrio, ou seja, na ciencia deste ser, que proporcionada pela filosofia. Atravs da filosofia o homem aproxima-se do Bem supremo que tambm a sua origem; e do bem supremo aproximam-se igualmente todas as coisas criadas, cada uma de acordo com o modo ou via que lhe so prprios. O amor de que Avicena fala nos Tratados msticos portanto, e de harmonia com as concepes aristotl;cas a tendncia das coisas para o bem, para o fim supremo, tendncia que garante a ordem e a perfeio de tudo. No homem e sobretudo no sbio, este amor desejo de contemplao do ser necessrio. Avicena insiste em sublinhar a superioridade do sbio sobre os outros homens: o sbio actwa desinteressadamente com o nico objectivo de se ar)roximar da verdade, enquanto que os outros homens actuam por uma espcie de troca comercial, renunciando a certos bens nesta vida para terem depois a recompensa na outra (Livre des directives, p. 199; trad. franc. p. 485-487). A via mstica coincide assim com o conhecimento filosfico e a ambos se opem todas as formas populares de culto religioso que no entanto, segundo Avicena, no devem ser desprezadas pelo sbio (lb. p. 221; trad. franc., p. 524).
237. AL GAZALI Em oposio ao esprito filosfico de Avicena surge-nos o esprito xeligioso de AI Gazali, o mais clebre dos telogos muulmanos. AI Gazali, chainado pelos escolsticos latinos Algazel, nasceu em Tous do Khorasan, em 1059. Ensinou, em primeiro 201 lugar no colgio de Bagdad, depois em Damasco, Jerusalm e Alexandria. Mais tarde retirou-se para Tous, sua cidade natal, onde se dedicou a vida contemplativa dos Sfi (msticos) e compe grande nmero de escritos com o objectivo de estabelecer a superioridade do Islamismo sobre todas as outras religies e sobre a prpria filosofia. O mais clebre destes textos teolgicos, intitula-se, Restaurao das cincias religiosas, obra de teologia e de moral dividida em quatro partes que tratavam das cerimnias religiosas, das prescries relativas s diversas circunstncias da vida, dos vcios e das virtudes. Tendo abandonado o seu retiro, AI Gazali retoma a direco do colgio de Bao,,dad, mas nos ltimos tempos da sua vida, regressa novamente a Tous, onde funda um mosteiro para os Sfi e passa o resto dos seus dias na contemplao e nas prticas religiosas. Morre em 1111. Em meados do sculo XII, Domingo Gundisalvo traduz duas obras de AI Gazali: As tendncias dos filsofos e A destruio dos filsofos. Na primeira, AI Gazali no faz mais que expor em sntese os resultados da filosofia do seu tempo, principalmente de AI Farabi e de Avicena. Neste livro, evita fazer crticas, de qualquer gnero, e limita-se a fazer um inventpio das doutrinas destes filsofos. Na segunda obra, pelo contrrio, prope-se apresentar certos raciocnios que se opem argumentao dos filsofos e que pretendem demonstrar a nulidade destes. No final desta segunda obra, AI Gazali mostrase essencialmente negativo. Na parte positiva do seu sistema remete para a sua obra sobre a Restaurao das cincias religiosas. A nica filosofia que AI Gazali toma em considerao, na sua Destruio dos Filsofos, a de Avicena. E compreende-se. A doutrina de Avicena uma filosofia da necessidade: Deus o prprio ser necessrio, e tambm o mundo como 202 realidade em acto necessrio em relao a Deus. AI Gazali, pelo contrrio, ao ligar-se tradio dos Mutalcallimun, dispe-se a afirmar enrgicamente a liberdade da aco divina, pressuposto de toda a atitude religiosa. As suas crticas devem portanto dirigir-se no sentido de desmantelar as razes dessa ordem necessria, a que Avicena tinha reduzido tanto Deus como o mundo. Com efeito, AI Gazali combate, em primeiro lugar, o conceito de necessidade no prprio ser necessrio, isto , em Deus. Se este ser fosse, como Avicena afirma, absoluta necessidade, dele no poderia derivar a multiplicidade das emanaes e das coisas criadas. Segundo Avicena, tudo produto da causa primei,ra, mediante o simples conhecimento que a mesma tem de si. Mas conhecendo-se a si prpria, conhece tambm todas as coisas criadas, o que significa que contm em si essas mesmas coisas e que, portanto, no assim to simples e necessria como se afirma. O mundo foi criado por um-a vontade
eterna que tinha decretado a existncia e que tinha atribudo a tal existncia limites definidos no tempo. Segundo Avicena, isso implicaria uma alterao na vontade divina, alterao que no pode conciliar-se com a sua necessidade eterna. Mas, para AI Gazali, esta alterao no oferece apoio a qualquer objeco, uma vez que ele no v em Deus o ser necessrio. A crtica de AI Gazali necessidade prpria da essncia divina, necessidade e tambm eternidade do mundo, culmina com a crtica ao prprio conceito de necessidade, expresso no piincpio causal. No parece que seja necessrio existir entre as coisas que acontecem, isoladamente, uma relao causal. Causa e efeito so perfeitamente distintos uma do outro e no esto ligados entre si quanto s respectivas existncias. A relao existente entre o fogo e a combusto de um objecto qualquer, no 203 determinada pela aco do fogo, mas pela aco directa de Deus. "0 fogo algo de inanimado, no pode por si explicar qualquer aco. Porque razo haveramos ns de o considerar activo? Os fi-lsofos no tm outra razo para afirmarem tal, a no ser a da evidncia de que ao aproximar-squalquer coisa do fogo se verifica a combusto. Mas esta evidncia apenas se refere ao facto de que a combusto se d juntamente com o fogo, e no que ela provenha do fogo; no exclui portanto que haja outra causa, para alm dele" (Destr. destruct., 1, dub. 3). Esta outra causa, a nica verdadeira causa, Deus. Mas a aco de Deus livre e no est ligada a qualquer ordem determinada. A possibilidade de existncia do milagre permanece, deste modo, garantida. A figura de AI Gazali representa a reaco da teologia muulmana filosofia da necessidade defendida por AI Farabi e por Avicena. A parte positiva da doutrina de AI Gazali a que trata da mstica: AI Gazali atribui o mximo valor prtica da religio. Essa a razo porque as suas obras fundamentais so as de moral-para ele "a cincia a rvore, mas a prtica o fruto". 238. IBN-BADJA Ibn-Badja, que os escolsticos latinos cognominaram Avempace o primeiro filsofo famoso entre os rabes de Espanha. Nasceu em Saragoa no final do sculo X1; em 1118 encontrava-se em Sevilha. Esteve tambm em Granada e mais tarde dirigiu-se a frica onde alcanou grande considerao junto da corte dos Almor vidas. Morreu relativamente novo em Fez, no ano de 1138. Alguns autores rabes relatam que ele foi envenenado por mdicos que o invejavam. Avempace escreveu numerosas obras de cincia e de filosofia. Averris cita 204 dele uma carta Sobre a continuidade do intelecto com o homem, que fazia parte do seu escrito Sobre a alma e uma Carta de despedida (Epistola expeditionis). A sua obra principal o Regime do Sol;trio, hoje perdida mas da qual existe um resumo elaborado por um filsofo do sculo XIV, Moiss de Narbona, includo no seu comentrio obra de Ibrt-Tofail. No Regime do Solitrio, Avempace propunha-se dar a entender o modo como o homem pode chegar a identificar-se com o intelecto em acto, mediante o
sucessivo desabrochar das suas faculdades. Avompace considerava o homem isolado da sociedade, ou seja, livre dos seus vcios, mas participando das suas virtudes. O objectivo final do solitrio o de conseguir alcanar as formas inteligveis isto , a verdade especulativa; e as aces que correspondem a este objectivo integram-se no domnio do intelecto. Esse objectivo atingi-do, quando o homem consegue ser intelecto adquirido ou imanado. Este intelecto consiste na considerao das formas inteligveis em si, isto , separadamente da matria a que esto ligadas nas coisas terrenas. O intelecto adquirido o nico que pode conseguir pensar-se a si prprio e desta forma alcanar o seu termo mais alto, que a unio com o intelecto em acto, ou intelecto separado de Deus. Na obra de Avempace o problema aristotlico do intelecto passa a ser uma via de elevao e de purificao humana e deste modo se transforma de problema de especulao lgica e metafsica em problema religioso. 239. IBN-TOFAIL Ibn-Tofail ou Abubekr nasceu volta de 1100 em Uadi-Ash (Guadix), na Andaluzia, e foi clebre como mdico, matemtico, filsofo e poeta. Minis205 tro o mdico da corte dos almorvidas que atraiu flustres sbios do tempo e, entre eles, Averris que foi encarregado pelo rei, a seu conselho, de redigir uma anlise clara exacional de Aristteles. Abubekr morreu em 1185, em Marrocos. Tal como aconteceu com lbn-Badja, tambm ele levantou o problema de encontrar a via atravs da qual o homem possa conseguir unir-se ao mtelecto universal. Mas a sua originalidade consiste em ter criado sobre este problema um verdadeiro romance filosfico intitulado O vivente, filho do vigilante (HajjJaqzn). lbn-Tofail faz nascer o protagonista, sem pai nem me, numa ilha desabitada do Equador. A criana nasce da terra e uma gazela encarregi-se de aliment-la. com o seu leite. Os diversos perodos da sua -idade so assinalados com os progressos sucessivos do seu conhecimento. Partindo do conhecimento sensvel, o protagonista consegue, gradualmente, dar-se conta da unidade dos vrios seres e a conceber as formas inteligveis, sendo a primeira a da espcie. Debruando-se sobre uma concepo do mundo, na sua fflade, e atravs dos conceitos de forma e de matria, Hajj chega ao conhecimento de um Ser activo que perpetua a existncia do mundo e o pe em movimento. O regresso a este Ser supremo torna-se ento o objectivo da sua vida. Pretende afastar-se dos sentidos e da imaginao e concentrar-se no pensamento, para poder identificar-se com ele. No grau mais elevado da contemplao descobre o reflexo de Deus no universo e a proximidade da esfera celeste. Finalmente, no xtase, v a Deus dele dimanando diversas esferas celestes e descendo sobre diversos seres humanos, alguns puros e piedosos, outros impuros e condenados. Para demonstrar o acordo entre a sua doutrina e a crena da religio islmica, Ibri-Tofail imagina o seu protagonista encontrando-se, aos cinquenta
206 anos, com um homem criado na religio e que por uma via diferente consegue chegar s mesmas concluses que ele. Os dois juntam-se para criar uma comunidade religiosa, mas depois, reconhecendo a irrpossibilidade de comunicar a todos a verdade por eles alcanada, retiram-se de novo para o isolamento, para viverem uma vida contemplativa. O romance de Ibn-Tofail exprime uma posio que comum a todos os filsofos rabes: a de que a filosofia conduz a um resultado idntico ao da religio, mas por uma outra via, que a da busca individual e da demonstrao. Alm disso, a obra de Ibri-Tofail tambm como que um resumo das doutrinas correntes na filosofia rabe sobre o intelecto. O verdadeiro agente do conhecimento humano o intelecto universal, a ltima emanao do Ser supremo. O @ntelecto humano ou potencial est dominado e dirigido por Aquele. 240. AVERRIS: VIDA E OBRA Ibn-Ruslid ou Averris, o mais clebre dos comentadores rabes de Aristteles, nasceu em Crdova em 1126. O av e o pai eram jurisconsultos e juzes, e mesma carreira estava destinado Averris, que no entanto se dedicou com grande entusiasmo medicina, matemtica e filosofia. Sabemos j como ele foi apresentado por Ibri-Tofail corte do rei Yussuf. Este rei confiou-lhe numerosos cargos polticos que o obrigaram a viajar frequentemente pela Espanha e por Marrocos. O sucessor de Yussuf, Almansur, protegeu igualmente Averris. Mas quando este foi acusado por suspo*,ta de heresia e, Ial como muitos outros sbios rabes da poca, de promover o estudo da cincia e da filosofia dos gregos, em detrimento da religio 207 muulmana, Almansur desterrou-o para a cidade de El-isana (Lucena), perto de Crdova, probindo-o dela sair. Averris teve ento de suportar os insultos dos fanticos. Ele prprio nos conta que uma vez, indo com o filho mesquita para assistir orao da tarde, a turba o expulsou do lugar sagrado. Mais tarde, foi enviado para Marrocos e no voltou mais a Espanha. Morreu em 10 de Dezembro de 1198, com a idade de 73 anos. Por ordem de Almansur, as suas obras foram todas destrudas e o Ocidente teve delas conhecimento atravs de verses hebraicas. Entre as obras de Averris podemos destacar, em primeiro lugar, os Comentrios a Aristteles e que se distinguem em grandes comentrios, comentrios mdios e parfrases ou anlises. Pelas referncias contidas nestas obras podemos supor que Averris tenha redigido os comentrios mdios primeiro que os grandes e as parfrases e anlises contemporneamente ou quase com os comentrios mdios. Alm destes comentrios, Averris escreveu: 1.` A destruio da destruio dos filsofos de Algazali e que uma refutao da obra de Algazali; 2. Questes ou dissertaes sobre diversas passagens do Organon de Aristteles; 3. Dissertaes fsicas ou pequenos tratados sobre diversas questes da fsica de Aristteles; 4. Duas dissertaes sobre a unio do intelecto separado com o homem; 5.O Uma dissertao sobre o problema de se saber "se possvel que o intelecto
(intelecto material ou hlico) compreenda as formas separadas ou abstractas", 6.O Uma refutao do texto de Avicena Sobre a diviso dos seres; 7.O Um tratado sobre o acordo da religio com a filosofia; 8. Um tratado sobre o verdadeiro significado dos dogmas da religio, escrito em Sevilha em 1179. 208 241. AVERRIS: FILOSOFIA E RELIGIO A inteno declarada de Averris no a de construir um sistema prprio, mas apenas a de esclarecer o significado autntico da filosofia de Aristteles, que para ele a expresso mxima do pensamento humano. "Aristteles, afirma Avicena, a regra e o exemplo criados pela natureza para demonstrar a mxima perfeio humana. A doutrina de Aristteles a verdade mxima, porque a sua inteligncia reflecte o ponto mais alto do intelecto humano. E bem se pode afirmar que foi criado e oferecido aos homens pela Divina Providncia, para que os homens pudessem saber tudo o que lhes dado sabem (De an., 111, 14). Com tais consideraes sobre o valor de Aristteles e sobre a verdade da sua doutrina, Averris evidentemente no pretende ter a presuno de ultrapassar o seu mestre ou de se afastar do caminho por ele traado. No entanto, na sua obra de ilustrao e de wmentrios aos textos aristotlicos, perpassam os resultados fundamentais de toda a especulao rabe anterior; ele prprio se move dentro do clima dessa especulao, que substancialmente uma interpretao neoplatonizante do oristotelismo. No obstante a suspeita de heresia que sobre ele pesou, Averris no concebe a investigao filosfica em desacordo com a tradio religiosa. Em primeiro lugar, est consciente do valor absoluto dessa mesma investigao. "Na verdade, afirma, a religio prpria dos filsofos consiste em aprofundar o estudo de tudo o que , no se poder render a Deus um culto melhor do que aquele que consiste em conhecer as suas obras e leva ao conhecimento do prprio Deus em toda a sua realidade. Esta , aos olhos de Deus, a aco mais nobre, enquanto que a aco mais desprezvel a de 209 acusar de erro e de presuno v aquele que se consagra a esse culto, que o mais nobre de todos, o que adora Deus com esta religio, que a melhor de todas" (Muiik, Mlanges, p. 456). Por outro lado, no entanto, a investigao filosfica no pode ser de todos, a religio do filsofo no pode ser a religo do vulgo. Tal como certos alimentos so bons para certos animais e maus para outros, tambm os processos dos filsofos que so utilssimos nas suas investigaes so, no entanto, funestos para os no-filsofos. Se os filsofos viessem demonstrar junto do vulgo as suas dvidas e as suas demonstraes, isso poderia dar aso aos incompetentes de levantar ainda mais dvidas e argumentos sofsticos e de carem em erro. Por isso, a religio que feita para a maioria, segue e deve seguir outra via, uma via "simples e narrativa" que ilumine e dirija a aco. Este o verdadeiro domnio da razo. filosofia cabe o mundo da especulao, e rehgio o mundo da aco. Quem nega, ou simplesmente duvida, dos princpios enunciados pela tradio religiosa, tornaria impossvel o agir humano, do mesmo modo que tornaria impossvel a cincia aquele que negasse ou duvidasse dos princpios bsicos
em que ela se fundamenta (Destr. destruct., disp. 6, fol. 56, 79). Averris pretende nos seus livros "falar livremente com os autnticos filsofos" e no opor-se aos ensi-namentos da tradio religiosa. No se lhe pode portanto atribuir aquela doutrina da dupla verdade, que os escolsticos consideraram como pedra angular do seu sistema. Para ele no existe uma verdade religiosa ao lado de uma verdade filosfica. A verdade uma s: o filsofo procura-a atravs da demonstrao necessria, o crente recebe-a da tradio religiosa (a lei do Coro) numa forma simples e narrativa, que se adapta natureza da maior parte dos homens. Mas no existe um contraste entre as duas vias, nem dua210 lismo na verdade. Averris escreveu, como j dissmos, dois tratados que se destinavam a demonstrar o acordo que existe entre a verdade religiosa e a filosfica. Todos os que so estranhos especulao devem aproximar-se da forma que a verdade recebeu por obra da tradio religiosa, para que assim possam ser iluminados e guiados nas suas aces. Mas para os filsofos, ao invs, a verdade adquire o aspecto severo da demonstrao necessria e passa a ser o termo de uma investigao que a melhor e mais elevada de todas as aces humanas. 242. AVERRIS: A DOUTRINA DO INTELECTO A doutrina que os escolsticos latinos recolheram como sendo tpica do averrosmo a do intelecto. Com ela, Averris, distingue-se das interpretaes que dominam a filosofia rabe de Al Kindi a Ibr-Tofail. Para estes filsofos, o Intelecto agente a ltima emanao divina e por isso uma substncia separada de toda a matria e da prpria alma humana, pertencendo ao nmero das substncias divinas. Ointelecto potencial ou material (hlico) , pelo contrrio, para eles, o intelecto pr@pramente humano, a parte racional da alma humana. Este ltimo, passa a acto por obra do primeiro, tornando-se assim intelecto em acto; por sua vez, o intelecto em acto, aperfeioando-se com o exerccio do raciocnio discursivo, transforma-se em intelecto adquirido (adeptus). A esta doutrina que se encontra exposta e defendida, com poucas variantes, nos filsofos tratados atrs, Averris vem trazer uma modificao substancial: o intelecto material ou hlico no a alma humana. E no pela mesma razo porque no o o intelecto activo: uma vez que as formas inteligveis que so o seu objecto 211 potencial so universais, eternas, indestrutveis e no o seriam se seguissem a sorte da alma humana, que diferente nos diferentes indivduos; que algumas vezes pensa e outras no; e que pensa diferentemente em cada indivduo. Por esses mesmos motivos tambm o intelecto adquirido ou especulativo (adeptus, speculativus) que resulta da aco do intelecto agente sobre o ntelecto material ou possvel uno em todos os homens e separado da
alma humana. Mas este ltimo pode ter a participao da alma humana na sua multiplicidade e mutabilidade; e essa participao pode ter a forma de um hbito, de uma disposio, ou de uma preparao (habitus, dispositio, preparatio) e que constituem a perfeio da prpria alma: uma preparao que segue os acontecimentos, desde o nascimento morte, da prpria alma, porque pertence sua capacidade imaginativa (que dada ao corpo). O intelecto especulativo, no entanto, pode ser considerado por um lado como nico, por outro como mltiplo; como eterno ou como gerador corruptvel. Em si prprio, nico e eterno. Como disposio e preparao da alma mltiplo e submetido ao nascimento e morte. Segundo Averr@s, uma tal soluo permite resolver todas as dificuldades que a doutrina do intelecto provocava nas solues adoptadas pelos seus predecessores. "Se o objecto inteligvel, afirma Avarris, fosse absolutamente nico em mim e em ti, aconteceria que, quando eu o conhecesse, tu tambm o conhecerias; e outras coisas impossveis. Por outro lado, se o objecto inteligvel fosse diferente para os diferentes indivduos, aconteceria que o mesmo estaria em ti e em mim, nico, na sua espcie, duplo naindividualidade uma vez que haveria um outro objecto fora dele e este outro por sua vez um outro e assim sucessivamente. Seria ainda impossvel neste caso que o discpulo aprendesse, 212 o mestre, a menos que a cincia que existe no mestre no seja uma virtude que gera e cria a cincia que existe no discpulo, do mesmo modo que um fogo gera outro fogo a ele semelhante: o que impossvel. Mas quando pensamos que o objecto inteligvel que est em mim e em ti mltiplo para o sujeito para o qual verdadeiro, isto , para as formas da imaginao, e nico para o sujeito que o _;ntelecto existente e material, tais questes acabam totalmente por desaparecem (Comm. inagiuim De an., 111, 5). Portanto, segundo Averris, a virtude cognitiva prpria do homem limita-se esfera das formas imaginativas, ou seja, das formas extradas das imagens sensveis; uma tal vrtude simples preparao do Intelecto material, ~elhante preparao da matria que se dispe a receber a obra do artfice (1b., 111, 20). Deste modo, o processo total do conhecimento iotelectivo, que vai da potncia ao acto, desenrrola-se independente e separadamente da alma humana, que se limita a reflecti-lo imperfeita e parcialmente. O processo integral posto directamente em movimento e mantido pelo intelecto activo. A aco deste comparada por Averris. de acordo com a imagem aristotlica, do sol enquanto que o intelecto potencial ou materia (h,lico) comparado capacidade de ver, que existe graas luz solar; e as formas inteligveis (verdades ou conceitos) existentes na alma humana so comparveis s cores. Tal como o sol, que flumina, o meio transparente (o ar) e deste modo conduz ao acto as cores que existem no objecto, o intelecto activo, ao iluminar o intelecto potencial, faz com que este disponha a alma de forma a que esta possa abstrair das representaes sensveis os conceitos e as verdades universais. Por conseguinte, a alma individual no possui mais nada alm do material das representaes; mas ela que abstrai das referidas representaes os conceitos, ao unir-se ao intelecto potencial;
e este une-se a ela quando a ele se une o Intelecto agente. Desta doutrina resulta toda uma srie de consequncias paradoxais que desencadearam uma polmica acalorada por parte da escolstica latina. Em primeiro lugar, o intelecto material nico em todos os inffivduos porque a disposio que o Intelecto agente comunicou s respectivas almas. Multiplica-se nos diversos indivduos como a luz do sol se multiplica ao distribuir-se sobre os diversos objectos que ilumina. Como S. Toms explica (C. gent., 11, 73), a diversidade dos intelectos humanos determinada pelo facto de que, actuando o intelecto material sobra as imagens, que no existem todas em todos os indivduos, nem so igualmente distribudas por todos, as coisas que um certo homem pensa no so as mesmas que so pensadas por um outro homem. Em segundo lugar, no pode acontecer que umas vezes o intelecto material compreenda e outras vezes no, salvo no caso de determinado indivduo e nunca no que se refere espcie humana. Por exemplo, pode acontecer que Scrates ou Plato umas vezes compreendam e outras vezes no o conceito de cavalo; mas, no conjunto da espcie humana, o intelecto compreende sempre este conceito, a menos que a prpria espcie venha a desaparecer, o que impossvel. Disto resulta que a cincia no pode reproduzir-se nem corromperse, porque eterna. Morre a cincia que existe em Scrates ou em Plato com a morte do indivduo: mas no morre a cincia em si, porque est ligada a uma disposio universal, essencialmente conexa com toda a espcie humana. Nesta natureza do intelecto se fundamenta o destino da alma humana. A felicidade do homem consiste em cultivar e ampliar a disposio que constitui o intelecto material, a fim de aperfeioar 214 e ampliar a capacidade especulativa e conhecer as substncias separadas e finalmente o prprio Deus. Averris retoma, na sua totalidade, a doutrina aristotlica da superioridade da vida teortica. "0 intelecto prtico, segundo ele, comum a todos os homens, todos o possuem, uns em maior grau que outros; mas o imelecto especulativo uma faculdade divina, que se encontra apenas nos homens excepcionais" (De an., 111, 10, fol. 494 a). A cincia a nica via da beatitude humana: uma beatitude que se atinge nesta vida, atravs da pura investigao especulativa, uma vez que a vida humana no continua para alm da morte. Com efeito, a nica parte da alma humana que no est ligada ao corpo e no se encontra portanto submetida reproduo e corrupo precisamente o intelecto material. Mas esse intelecto se como simples disposio faz parte da alma humana, como realidade substancial subsiste separadamente e no mais que o prprio intelecto agente. Na alma humana mantem-se apenas o intelecto aquisitivo ou especulativo; mas este, condicionado como est pela parte sensvel que lhe fornece as imagens das quais so abstradas as formas inteligveis, est ligado ao corpo, nasce e morre com ele (1b., 111, 1). Averris levado a negar a imortalidade da alma e a colocar o fim ltimo do homem na bealitude que se pode alcanar nesta vida mediante a investigao especulativa e a contemplao das realidades supremas. 243. AVERRIS: A ETERNIDADE DO MUNDO
Sobre o problema do intelecto e sobre as questes com ele conexas, entre as quais est a imortalidade humana, Averris entra em contradio com os pensadores anteriores e especialmente com 215 Avicena que identificava o intelecto material com o humano e sustentava a imortalidade prpria da natureza e do destino da alma humana. Mas, no que diz respeito s relaes entre Deus e o mundo, e em especial criao, Averris no faz mais que retomar a doutrina dos seus predecessores. A necessidade do ser, to enrgicamente defendida por Avicena, tambm a pedra angular da metafsica de Averris. de notar que tal necessidade no exclui, mas antes exige, a criao: o ser possvel em relao a si mesmo exige o ser necessrio que o conduza ao acto e o crie. Mas esta criao apenas, como j notou S. Toms ( 278), a dependncia causal do ser possvel, que a-penas necessrio em relao a outro, desse outro que Deus. Exclui assim o incio no tempo do ser possvel, ou seja do mundo, e nada tem a ver com a criao tal como concebida na Bblia e no Coro. Esta depende de um acto de vontade do Criador, que d incio no tempo ao mundo e prescreve ao mesmo limites temporais definidos. Mas contra este conceito, Averris Emita-se a repetir as objeces de Avicena. Se Deus criou o mundo do nada, isso pode significar que ele o tenha criado por um motivo estranho sua natureza ou que se tenha verificado na sua natureza uma alterao que de certo modo o haja determinado criao. Ora ambas estas alternativas so impossveis. Nada existe fora de Deus, excepto o mundo, por isso Deus no pde buscar o inbil da sua criao no exterior. Por outro lado, nenhuma coisa pode alterar-se a si prpria; por consegunte, a natureza de Deus no pode tambm sofrer alteraco. Alm disso, se a criao significa uma escolha ivina, essa escolha deve ser contnua e eterna, a no ser que se verifique algum obstculo ou se lhe apresente uma coisa melhor para escolher. Mas no podemos falar em obstculos em relao a Deus, nem se pode conceber uma alternativa melhor na 216 criao do mundo. A escolha de Deus deve ser por isso eterna e contnua e no se pode falar de um princpio do mundo (Dest. destruct., disp. 1, dub. 1-2). Averris aceita a doutrina de AI Farabi e de Avicena, de que o mundo dimana necessriamente da cincia de Deus e que esta dimanao no motivo ou inteno particular, porque procede da natureza de Deus, na medida em que este se conhece a si prprio (Ib., disp. 3, dub. 2). Deve por isso afirmar-se que a aco de Deus na formao e na conservao do mundo no comparvel aco de nenhum agente Enito, nem natural nem voluntrio, uma vez que Deus formou o mundo e mantem-no de um modo que no tem paralelo na aco das coisas o dos homens. O mesmo deve afirmar-se da aco de Deus ao governar o mundo. Deus dirige o mundo com a sua cincia, mas a cincia de Deus nada tem a ver com a humana. Deus apenas se conhece a si prprio; mas ao conhecer-se a si prprio, conhece tudo. A sua cincia no diz respeito s coisas particulares porque est para alm dos limites das mesmas. Mas o facto de no conhecer as coisas
individuais deste mundo na sua essncia individual, no significa um defeito do conhecimento divino, pois no um defeito no conhecer de forma imperfeita aquilo que se conhece de um modo mais completo (Epit. metaf., IV, p. 138). A providncia divina segue a cincia divina. Como Deus no conhece as coisas indviduais tambm no as d-Jrige e governa com a sua aco providencial. A injustia e o mal que existem no mundo demonstram clara-mente que, nem Deus nem as outras substncias separadas que dimanam dele directamente e regem as rbitas celestes, governam directamente as vissicitudes e o destino dos seres singulares (1b., IV, p. 155). Atravs do movimento dos corpos celestes Deus regula tambm os acontecimentos do mundo 217 sublunar. Com efeito, o movimento do sol, ao determinar a sucesso dos dias e das noites e a alterrincia das estaes, regula a gerao das plantas e dos animais. Deus rege deste modo todo o mundo segundo uma ordem necessr@a e infalvel. Mas o que puramente individual ou casual, o que no se integra na ordem necessria de tudo, escapa providncia, assim como cincia de Deus (Ib., IV, p. 152). A prpria vontade humana determinada, na medida em que as suas deliberaes esto sujeitas ordem necessria do mundo. Averris sustenta que as nossas aces dependem,pelo menos em parte, do nosso livre arbtrio, mas afirma que, por outro lado, elas no podem furtar-se ao determinismo da ordem csmica. A vontade humana em si um agen!e livre; mas a sua aco manifesta-se no mundo que regulado pela ordem necessria e eterna de Deus. A relao da vontade com as causas externas determinada pelas leis naturais: por isso o Coro fala de uma predestinao infalvel do homem (Munk, Mlanges, p. 457-458). A condenao pronunciada em Paris nos anos de 1270 e 1277 contra o averrosmo, referia-se s seguintes proposies: o intelecto de todos os homens numricamente uno e idntico; o mundo eterno; a alma, que a forma do homem enquanto homem, corrompe-se com a corrupo do corpo-, Deus no conhece as coisas singulares; o livre arbtrio uma potncia passiva, no activa, movida necessriamente pelo objecto apetecido; a vontade do homem escolhe por necessidade (Denifle, Chart. Univers. Paris, 1, 486-487). Estas proposies incluem aquilo que aos escolsticos latinos surgia como tpico do averrosmo e em contraste irremedivel com o dogma cristo. Mas o significado do averrosmo no reside apenas nestas proposies. Apresenta-se tambm como a ,grande tentativa de reconquistar, com o regresso a Aristteles - o filsofo por excelncia - a liberdade 218 da investigao filosfica; o de dirigi-Ia no sentido de esclarecer essa ordem necessria do mundo, cuja contemplao pareceu a Averris ser o mais alto dever e a felicidade perfeita do homem. NOTA BIBLIOGRFICA 232. MUNK, Mlanges de philosophie juive et arabel Paris, 1852, 1927; DIETERECI, Die Philosophie der Arabern in Jahrhundert, 4 vol., Leipsig, 1865-
1870; CARRA DE VAux, Les penseurs de LlIstam, Paris, 1921; M. HORTEN, Die Philosophie des Islams, Mnaco, 1924; G. QUADRI, La filosofia degli Arabi nel suo fiore, Florena, 1939, 2 vols. Da Teologia, a traduo Ia-tina feita sobre a traduo italiana do texto rabe (descoberto em Damasco em 1516, pelo humanista Francesco Rosso) foi publicada em Roma em 1519. O texto do Liber de causis, comentado, a partir do sculo XM por numerosos autores, encontra-se numa recolha de opsculos de S. Toms, Pedro de Auvernia e Egdio Romano, publicada em Veneza em 1507. Sobre as escolas teolgicas: HORTEN, Die philosophischen Probleine der spekulativen Theoloqie in Islam, Bonn, 1912; MACDONALD, Development of Muslim TheoZogu, Jurisprudence and Constitutional Thenry, New York, 1903; GARDETANAWATY, Introduction Ia thologie musulmane, Paris, 1948. -Sobre os Mutakal!Iimun: S. PINES, Beitrge zur islamichen Atomenlehre, Berlim 1936. 233. Os escritos de AI Kindi foram publicados pela primeira vez por ALBINO NAGY, Die philosophischen AbhandIungen des AI-Kindi, em (Beitrge" de Baeumker, 11, 5, 1897. Um escrito de introduco ao estudo de Aristteles foi publicado por GUIDI e WALZER, em "Atti Aec. dei Lincei", 1940, srie VI, vol. VI. Um escrito moral de WALzER e RITTER, V01. VIII. AI Kindi foi tambm autor de escritos sobre astronomia, medicina e ptica: De astrorum indiciis, Veneza, 1507: Liber novem indicum, Veneza, 1509; De rerum gradibus, Argentorati, 1531; De temporum mutationibus 8ive de imbribus, Paris, 1540; De aspectibus, ed. Bjoernbo-Vogl, Leipsig, 1912. Sobre a doutrina do intelecto: GILSON, Les sources grco-arabes de Ilaugustinisme avicnnisant, em "Arch. d'Hist. doctr. et @it. du m. .", 1930. 219 234. De AI Farabi: De scientiis, De intelectu, Paris, 1638; ed. com trad. frane. de Gilson, em "Arch. I,Hist. doetr. et lit. du m. .", 1929-30; Philosophische AbhandIungen, texto rabe, ed. Dieterci, Leiden, 1890; Das Buch der Ringsteine, cd. Horten, em "Beitrge", V, 3, 1906; De ortu scientiarum, ed. Bë-er, Munster, 1916; ed. com trad. ingl. ed. Harmer, Glasgow, 1934; De arte poetica, com trad. ing1. ed. Arberry, em "FUvista di Studi Orientali", 1930; De Platonis philosophia, ed. Rosenthal-Walzer, Londres, 1943; Compendium legum Piatonis, texto rabe e trad. lat., ao cuidado de Gabrieli, Londres, 1952. MADICOUR, La place d'Al Farabi dans Fcol philosophique musulmane, Paris, 1934. 235. De Avicena: a parte do Cnone de medicina traduzida na Idade Mdia, em Opera Omnia, Veneza, 1495, 1508; Metafsica, trad. alem, Horten, Lcp@ig, 1913, 1960; Compendium metaphysicae, ed. Carame, Roma, 1926; De anima, ed. Rahman, Londres, 1959; Traits mystiques, trad. frane. Mehren, Leiden, 1889-
1899; Logica oriental (Mantigual-masriqiyyah), Cairo, 1910; Epitre des dfinitions, trad. frane. Goiclwn, Bey- rut-Paris, 1951; Livre de sciences, trad. frane. Mass, Paris, 1955; Pome de Ia mdicine, texto rabe com trad. frane. e lat,, ao cuidado de Jahier e Novreddine, Paris, 1956. -Bibliografia: SA'TI) NAFICY, Bib. des principaux travaux europens sur A., Teero, 1953; PUR-E SINA (A., his life, Works, Thought and Time) Teero, 1954; ANAWATI, Chronique avicnnienne, 1951-1960, em "Rev. Thomiste", 1960. CARRA DE Vxux, A., Paris, 1900; SALIBA, Mudes sur mtaphysique d'Avicenna, Paris, 1926; GoiCHON, La distinction de Vessence et de rexistence d'aprs Ibn Sina, Paris, 1937; La phil. dA. et son influence en Europe mdivale, Paris, 1944, 1951; GARDET, La peme religieuse d'A., Paris, 1951; La connaissance mystique chez Ibn-Sina, Cairo, 1952; RAHMAN, Avicenna's Psychology, Oxford, 1952; AFNAN, A., His Life and Works, Londres-New York, 1958. 237. De AI-Gazali: As tendncias dos filsofos foram publicadas na trad. lat. com o ttulo Logica et philosophiae, Veneza, 1516. A trad. lat. da Destructio philosophorum tem sido sempre editada juntainente com a Destructio, destructionum de Averris; Tendentiae philosophorum, Leiden, 1888; Destructio philosopharum, 220 Cairo, 1888; Metaphysic. A Medieval Transtation ed. Muckl.e, Toronto, 1933. ASIN PALACIOS, Algazei: Dogmatica, Moral, Asctica, Saragoa, 1901; CARRA DE VAux, Gazali, Paris, 1902; OBERMANN, Der philosophie und religiose Subjektivismus Ghazalis, VienaLeipsig, 1921; WATT, The Faith and Practice of al-Gazali, Liondres, 1953; FARID YABRF, La notion de certitude selon Ghazali dans ses origmes psychologiques et historiques, Paris, 1958. 238. De Avempace: De plantis, Continuatio intellectus cum homine, Epistola expeditionis, Regime del solitario, textos rabes e= trad. espanhola a cargo de Asin Palacios em "Al-Andalus", 1940, 1942, 1943. MUNK, Mlanges, cit. p. 386-410; FARRUKH, Ibn Baajja (Avem pace) and the Philosophy in the Modern West, Beirute, 1945. 239. De Ibn Tofail: o tratado, cujo ttu@o em rabe Hajj ibn Jaqzn, vem publicado no original e numa traduo latina de E. Pococke, Oxford, 1671, com o ttulo: Philosophus autodidactus sive epistola in qua ostenditur quomodo ex inferiorum contemplatione ad superiorum notitiam mens ascendere possit. O texto rabe com traduo francesa foi publicado por Gauthier, Argel, 1900, e teve numerosas tradues em outras lnguas. GAUTI-11ER, Ibn Tofail, Paris, 1909. 240. De Averris: a traduo latina dos seus escritos foi editada pela primeira vez em 1472 e depois editada em Veneza, vrias, dezenas de vezes, juntamente com as obras aristotlicas: a melhor edio a de 1552 a qual existe, uma reedio, Froncoforte do Meno, 1962. Commentarium magnum in De anima, ed. Crawford, Cambridge (Mass.), 1953; Trait d~f sur l'accord de Ia religion et de Ia philosophie, texto rabe e
trad. frane. de Gauthier, Argel, 1942; trad. alem. Mller, Mnaco, 1875; trad. ing1. Jamil-ur-Rehman, Baroda, 1921; trad. esp. Alonzo, Madrid 1947; De generatione et corruptione, ed. Kurland, Cambridge (Mass.), 1958; Parva Naturalia, ed. ShieIds, Cambridge (Mass.), 1949. RENAN, Averroes et Faverroisme, Paris, 1851, 1869; GAUTHIER, Ibn Roschd, Paris, 1948; ALLARD, Le rationalisme dAverres d'aprs une tude sur Ia cration, Paris, 1955. 221 xI A FILOSOFIA JUDAICA 244. A CABALA Como acontece com a filosofia rabe, com a qual tem muitos caracteres em comum, a filosofia judaica comea a constituir, a partir do sculo XIII, uma das componentes fundamentais da escolstica latina. Como acontece com a filosofia rabe e a filosofia crist da Idade Mdia, a filosofia judaica uma escolstica que tem em comum com as duas primeiras os problemas fundamentais (as relaes entre a razo e a f, entre Deus e o mundo, entre o intelecto e a alma) e empenha-se em resolv-los com os mesmos dados ou com dados semelhantes: a filosofia grega e a tradio religiosa judaica. Mais prximo desta tradio e em polmica com as tentativas mais francamente filosficas para encontrar uma justifi- cao racional das crenas religiosas, encontra-se o misticismo que assume predominantemente a forma da Cabala. A Cabala (que significa tradio) uma doutrina secreta que a principio se transmitia oralmente e mais tarde foi recolhida num certo nmero de trata, 223 dos, dois dos quais existem na totalidade ou quase: o Livro da Cri4o (Sefer Yetsir) e"o Livro do Esplendor (Zohar). Trata-se de escritos em cuja composio entram elementos heterogneos. Se bem que alguns destes elementos sejam provvelmente bastante antigos, o segundo destes escritos, o Zohar, na forma que chegou at ns, pertence, quase de certeza, segunda metade do sculo XIII. Tal como so, estes textos apresentam uma doutrina emanenhista, substancialmente semelhante dos Neopitagricos e dos Neoplatnicos dos primeiros sculos. Neles se afirma que Deus ilimitado (En Sof.), isto , inacessvel a toda a determinao e a todo o conhecimento. Como tal, a negao de to-da a coisa determinada, no nenhuma coisa, portanto o noser ou o Nada. A criao do mundo surge mediante a apario de substncias intermdias chamadas Nmeros (Sephiroth) que so, no tempo, os atributos fundamentais de Deus e as foras atravs das quais se realiza a criao divina. A mediao dos Sephiroth serve para garantir a Deus a absoluta unidade, ainda que a sua aco se expanda na multiplcidade das coisas, e neste sentido podem ser comparados aos primeiros e mais directos raios do Esplendor divino. Os Sephi -
roth so dez: I.'- A Coroa; 2.'-A Sabedoria; 3.'-A Inteligncia; 4.'-a Graa; 5.'-a Justia; 6.'-a Beleza; 7.0-o Triunfo; 8.o-a Glria: 9.---o Fundamento; 10.'-a Realeza. A aco destas substncias produz toda a realidade do mundo visvel, as trs primeiras constituem o mundo inteligvel, segundo o esquema da trindade neoplatnica. O munIo visvel e o inteligvel tm a sua provenincia comum no amor e tendem a aproximar-se e a unir-se. O impulso deve provir do mundo inferior que deve tender para o superior; em resposta a este impulso, o prprio mundo superior deseja e ama o mundo inferior. Deus no ama seno aqueles que o amam. 224 A alma humana -reproduz as trs primeiras substncias emanadas: em primeiro lugar est o esprito vital, depois o esprito intelectual, e finalmente a alma verdadeira e prpria, que domina sobre as duas precedentes e o orgo da santidade e da virtude superiores. A Cabala no tem intentos filosficos e expresso ceptual prefere a concepo imaginativa ou alegrica. A posio que pretende suscitar a do misticismo, a base doutrinal que pretende defender a ortodoxia judaica tradicional. Ainda que tenha extrado os seus conceitos do helenismo e da prpria obra dos filsofos judeus da Idade Mdia, os defensores ou expositores que teve nos sculos XIII e XIV entendem fazer dela uma alternativa s obras dos filsofos e -polemizam com eles. Todavia, no Renascimento os prprios filsofos iriam buscar Cabala parte da sua inspirao e utilizaram-na frequentemente como instrumento de interpretao dos livros sagrados. 245. ISAQUE ISRAELI Como j se disse, a filosofia judaica consiste substancialmente num encontro da tradio judaica com o helenismo; e sob este prima o mais antigo filsofo judeu da Idade Mdia Isaque Ibri Salomo Israeli, que viveu no Egipto entre 845 e 940. As suas obras de medicina foram traduzidas para o latim por Constantino Africano; os seus escritos filosficos, Livros das Definies e Livro de Elementos, foram traduzidos do rabe para o latim, por Gerardo de Cremona. Isaque no um filsofo original, mas apenas um compilador que se serve sobretudo de fontes neoplatnicas, especialmente do Livro de Causas. Muitos latinos do sculo X111, 225 entre os quais S. Toms, foram buscar a Isaque a definio de verdade como "adequao entre o intelecto e a coisa". 246. SAADJA O verdadeiro fundador da escolstica hebra-ica Saadja, que foi clebre corno filsofo e telogo, mas tambm como poeta. Nasceu em Fajjoum, no Egipto, em 892 e em 928 foi designado dirigente da academia de Sora (perto de Bagdad) que era ento a sede principal do rabinismo. Morreu em Sora em 942. A
mais notvel das suas obras o Livro da F e da Cincia que escreveu em rabe, e em verso, em 932. Ao lado da autoridade da escritura e da tradio, Saadja reconhece a da razo e afirma no apenas o direito, mas tambm, o dever, de compreendermos a verdade religiosa para assim a consolidarmos e defendermos dos ataques que lhe so dirigidos. A razo ensina-nos as mesmas verdades que a revelao, mas esta necessria para que o homem possa atingir de modo mais rpido a verdade que a razo, abandonada a si prpria, s teria podido alcanar depois de um longo trabalho. Os pontos sobre que se debrua a especulao de Saadja so: a unidade de Deus, os seus atributos, a criao, a revelao da lei, a natureza da alma humana, ete. A propsito de Deus, Saadja afirma que as categorias aristotlicas lhe so aplicveis. Defende a criao do nada, refutando os sistemas contrrios a este dogma. Defende tambm a liberdade criadora de Deus e reconhece ao homem o livre arbtrio. Verificamos, no entanto, que no seu pensamento ainda no se faz sentir a influncia do aristoteliismo: isso s vem a acontecer nos filsofos judeus de Espanha e, em primeiro lugar, em Ibri- -Gebirol. 226 247. IBN-GEBIROL: MATRIA E FORMA Salomo Ibn-Gebirol, foi reconhecido por Munk como o autor da Fons Vitae, aquele que os escolsticos latinos conheceram sob o nome de Avicebron como sendo rabe. Nasceu em Mlaga em 1020 ou 1021, fez a sua educao em Saragoa e viveu provvelmente at 1069 ou 1070. Foi clebre como poeta e, segundo uma tradio lendria, foi morto por um muulmano que tinha inveja do seu gnio. A figueira sob a qual foi sepultado deu frutos de tal modo extraordinrios que atraiu a ateno do rei sobre o seu proprietrio que foi obrigado a corifessar o crime. A sua obra, A Fonte da Vida, escrita em rabe, foi traduzida para o Iatim por Joo Hispano e Domingos Gundisalvo. Est composta em forma de dilogo entre mestre e aluno e dividida em cinco livros. A especulao de Ibn-Gebirol dominada pelos conceitos aristotlicos de matria e forma. O princpio de que parte o da composio hilomrfica universal; tudo o que existe, necessriamente composto de matria e forma. Comea por reduzir a uma matria nica as dversas matrias e a uma nica forma as diversas formas existentes. Com este objectivo, comea por reduzir unidade a matria e a forma das coisas sensveis. Nestas, as vrias espcies de matria, quer as artificiais, por exemplo, o bronze, quer as naturais (os quatro elementos), quer as celestes, tm todas a mesma natureza, que a de substracto da forma. Por outro lado, todas as formas sensveis tm em comum a caracterstica de serem formas corpreas. Nas coisas sensveis, portanto, existe uma s matria, o corpo, e uma s forma, a forma corprea ou corporeitas. Mas a matria no apenas corpo, uma vez que se s torna corpo quando a ela se junta a forma particular que a corporidade; e por outro
227 lado, a forma no apenas corporeidade porque esta apenas a determinao de uma forma mais universal. Uma matria que seja maas universal que a matria corprca deve ser comum no s aos corpos como tambm aos espritos: uma matria que entra na composio quer das substncias espirituais quer das corpreas. As substncias espirituais no so simples, so tambm compostas de matria e forma. Nos escolsticos latinos, a doutrina de IbriGebirol aparece tipificada neste princpio da composiao hilomrfica das substncias espirituais. Se se trata de uma matria universal, comum tambm s substncias espirituais, ento tratar-se- de uma forma universal comum a todos os seres. Esta forma universal o conjunto das nove categorias de Aristteles, que constituem precisamente as determinaes mais gerais do ser. A matria universal a primeira das categorias aristotlicas, a substncia, que sustenta (sustinet) as outras nove categorias (Fons vitae, 11, 6). Assim unificadas e universalizadas, a matria e a forma no subsistem em si, mas na mente do Criador. Na Sabedoria de Deus, matria e forma subsistem na sua distino. A criao comiste na unio, determinada pela vontade divina, entre a matria e a forma. Mediante ela, a forma une-se matria e determina-a, comunicando-lhe, pouco a pouco, as suas sucessivas determinaes: as qualidades primrias, a forma mineral, a forma vegetativa, a forma sensitiva, a forma racional, a forma inteligvel. Mas o pressuposto desta unio entre a matria e a forma, e em que consiste a criao, a vontade de Deus. 248. IBN-GEBIROL: A VONTADE A matria e a forma tm em comum entre si o desejo de se unirem uma outra. A matria 228 anu a forma e deseja gozar a alegria que experimenta ao unir-se a ela; a forma deseja realizar-se na matria para nela produzir a sua aco, segundo o impulso que lhe transmitido pelo prprio Criador (Fons vitae, 111, 13). O amor e a tendncia recproca, que existem entre a matria e a forma, devem derivar de uma substncia superior de que ambas participam. Esta :substncia espiritual, e ms que espiritual, o Verbo agenie (Verbum agens) ou vontade de Deus. "No ser, afirma Ibn Gebirol, apenas existern trs coisas: a matria e a forma, por um lado, a Essncia primeira, por outro; e a Vontade que o meio entre os dois extreinos". A Vontade cria a matria e a forma universais e por conseguinte, todos os seres que resultam da unio da matria e da forina. A Vontade est ligada matria e forma tal como a alma est ligada ao corpo: funde-se nelas, penetrando-as completamente (1b., V, 36). Essa a virtude da Essncia primelira, de Deus, e por conseguinte, a intermediria entre essa mesma essncia o a matria e a forma. No entanto, entre a Essncia primeira ou Verbo agente, e a matria, IbnGebirol admite uma srie de formas ou substncias separadas, inspirando-se evidentemente no neo-platonismo do Liber de causais. Estas substncias, de
acordo com a ordem que vai do menos perfeito e menos simples ao mais perfeito e mais simples, so as seguintes: a natureza, as trs almas (vegetativa, sensitiva e racional), a inteligncia. A inteligncia compreende todas as formas e conhece-as. A alma racional compreende as formas inteligveis e conhece-as mediante um movimento discursivo que a faz passar sucessivamente de uma para outra. A alma sensitiva percebe as formas corpreas e conhece-as. A alma vegetatva apodera-se do corpo e faz com que este se mova. A natureza une as partes do corpo, gera entre elas 229 a atraco ou a repulsa e alterna-as entre si. Estas substncias intermdias so menos perfeitas medida que se afastam da sua forma comum, a vontade criadora de Deus. A sua crescente imperfeio explica-se com a diminuio do poder da Vontade criadora, que, sendo infinita em si, finita na sua aco e por isso vai enfraquecendo (como um ra;o luminoso que se afasta do centro que o produz) medida que vai avanando (lb., IV, 19). A filosofia de lbn-Gebirol apresenta, no seu conjunto, uma originalidade e uma fora que lhe asseguraram grande influncia nos sculos seguintes. A parte histricamente mais importante da mesma a afirmao da matria universal. Combatida por S. Toms, esta afirmao vir a ser retomada por Giordano Bruno que far dela o pressuposto do seu pantesmo. 249. filosofia judaica: REACO CONTRA A FILOSOFIA A reaco da ortodoxia judaica contra a Elosofia representada por algumas figuras que tm escasso relevo especulativo. No final do sculo XI, Baclija lbn-Pakudia, num texto seu, Deveres dos coraes, coloca a moral prtica acima da especulao e representa na tradio hebraica o que Algazel representa no mundo rabe. Em 1140 o poeta Yehuda Halevi num livro intitulado Kuzari parte de uni facto histrico: a converso ao judasmo de um rei dos Jazares (sc. VIII), para fazer a apologia do judasmo e uma condenao da investigao filosfica. Abrao Ben David, de Toledo, escreveu em 1161, em rabe, um livro chamado A f sublime para demonstrar o acordo entre a teologia liebraica e a filosofia aristotlica. Mas esta tentativa teve pouca fortuna; e o nico que consegue entre os Judeus alcanar um lugar importante na investigao filosfica Maimnidas. 230 250. MAIMNIDAS: A TEOLOGIA Mosh lbn Maymon, chamado Maimnidas, nasceu em Crdova a 30 de Maro de 1135. Por causa da intolerncia dos almohades, a sua famlia foi obrigada a abandonar a Espanha e a fixar-se, primeiro em Fez, Marrocos, e depois na Palestina. Daqui, Moiss passou para o Egipto, instalando-se na velha Cairo. Ao mesmo tempo que se dedicava ao comrcio de pedras preciosas, dava cursos pblicos que lhe granjearam fama como fil sofo e telogo, mas sobretudo como mdico. O rm,nistro do clebre sulto Saladino, que naquele tempo tinha estendido o seu -Poder ao Egipto, assegurou-lhe os meios necessrios
pararenunciar ao comrcio e dedicar-so apenas cincia, nomeando-se mdico da corte. Ma-imnidas consegue ento obter grande celebridade e fortuna, e pde, com a ajuda do seu protector, furtar-se s acusaes que lhe foram feitas de haver regressado ao judasmo depois de ter aceitado, durante a sua estadia em Espanha quando jovem, a f muulmana. Morreu em 13 de Dezembro de 1204. Maimnidas autor de numerosos textos mdicos e teolgicos. Entre estes ltimos tem importncia fLUosfica um chamado Oito captulos. Um seu Vocabulrio da lgica foi traduzido para latim por Sebastio Munster. Mas a sua obra fundamental o Guia dos perplexos, na qual procurou levar a cabo a conciliao entre a Bblia e a filosofia, a revelao e a razo. A obra est dirigida queles que rejeitam tanto a irreligiosidade como a f cega e que, ao encontrarem nos livros sagrados coisas contraditrias ou na aparncia impossveis, no ousam admiti-Ias para no irem contra a razo, nem rejeitlas para no menosprezarem a f; ficando por isso dominados por uma perplexidade dolorosa. A estes perplexos se dirige Maimnidas, com o 231 propsito de utilizar todas as armas dialcticas, proporcionadas pela filosofia rabe e judaica na defesa da f tradicional. Vimos j que o resultado substancial da filosofia rabe desde AI Kindi a Averris foi a elaborao do princpio da necessidade do ser, princpio que tem como imediata consequncia a eternidade do mundo. certo que contra esse mesmo princpio se fez sentir a reaco dos Mutalcalli-mun, dos Asharias e de Algazel; mas esta reaco, que partia da ortodoxia -religiosa, era estranha filosofia e por isso contrria a todas as filosofias. Parecia que a defesa da novdade do mundo e da criao no podia ser feita a no ser em nome da f e com a renncia de todas as vantagens que a investigao filosfica tinha trazido prpria compreenso da verdade revelada. A originalidade de Maimnidas que, no entanto, se apresenta de incio como defensor do mundo e da criao, reside no facto de ele no renunciar ao processo demonstrativo e aos resultados da filosofia da necessidade. Uma vez que a existncia de Deus e as outras verdades fundamentais no permitem ser demonstradas rigorosamente a no ser atravs dos processos dessa mesma filosofia e na base do princpio que a mesma defende, parece ser de utilizar este princpio para se estabelecer as verdades fundamentais, para em seguida submeter a uma anlise o referido princpio. "Creio, diz Maimnidas (Guia, 1, 71), que o verdadeiro modo, o mtodo demonstrativo que elimina a dvida, consiste em estabelecer a exigncia de Deus, a sua unidade e a sua corporeidade de acordo com o procedimento dos filsofos, procedimento esse que se baseia na eternidade do mundo. No ,porque eu creia na eternidade do mundo ou faa a este propsito qualquer concesso; mas porque s com este mtodo a demonstrao se torna segura e se obtm uma certeza perfeita sobre estes pontos: 232 que Deus existe, que uno, que incorpreo, sem que isto implique decidir o que quer que seja quanto ao mundo, se ele eterno ou se foi criado. Uma vez resolvidas, com uma verdadeira demonstrao, estas trs questes graves e importantes, poderemos voltar em seguida ao problema da novidade do inundo e
para isso deitaremos mo de todos os argumentos possiveis". Noutros termos, Maimnidas admite a ttulo de hiptese provisria o princpio da necessidade do ser para poder demonstrar certas verdades fundamentais-, deixando para depois, num segundo momento, a discusso do corolrio fundamental daquele princpio, a eternidade do mundo. Sob esta base, Maimnidas procede demonstrao da existncia, de Deus e dos seus atributos fundamentais, a unidade e a corporcidade: e as suas demonstraes no fazem mais que seguir de perto o que disse Avicena. Supondo que alguma coisa existia (e para que qualquer coisa exista. bastam os nossos sentidos para o demonstrar), existe necessriamente um Ser necessrio. J que aquilo que existe, ainda que seja apenas como possvel, necessrio em relao sua causa; e esta causa precisamente o Ser necessrio (1b., 11, 1). Deus conhece todas as coisas, mesmo as particulares; mas conhece-as com um nico e imutvel acto de cincia. A multiplicidade das coisas conhecidas no implca a multiplicidade do saber divino, que permanece nico porque no depende das coisas, que por seu lado dependem dele (1b., 111, 20-21). Estabelecida a existncia de Deus, Maimnidas passa a considerar o problema do mundo. O argumento mais forte adoptado por Avicena a favor da eternidade do mundo era o seguinte: o mundo, antes de ser criado, era possvel; mas toda a possibilidade implica um substrato material; por conse- ,guinte, antes da criao subsistia a matria do mundo. Mas nenhuma matria existe privada de 233 forma; por conseguinte, antes da criao, subsistiam a matria e a forma do mundo, ou seja, o prprio mundo na sua totalidade. A este argumento e a todos os outros da mesma espcie, Maimnidas ope que impossvel raciocinar sobre as condies em que se encontrava quando comeava a nascer, uma coisa que agora est acabada e perfeita. No podemos recuar do estado em acto de uma coisa para o seu estado potencial; por conseguinte, todos os argumentos que se servem desta forma de agir so viciosos e no tm qualquer fora demonstrativa. Se a tese da eternidade do mundo no pode ser demonstrada, a tese oposta, da criao , pelo menos, possvel. Mas Maimnidas sustenta que, mais que possvel, certa e d-nos disso a razo. Essa razo consiste substancialmente no reconhecimento da liberdade do acto criador, liberdade que rompe com a necessidade do mundo, da qual derivaria a sua eternidade. Pela negao da necessidade do ser, Maimnidas pretende chegar negao da eternidade do mundo; e consegue chegar negao da sua necessidade ao reconhecer em determinado momento do processo criativo uma liberdade de escolha por parte de Deus, uma deciso contingente, no rigorosamente determinada pela exigncia de garantir a ordem necessria do todo. De qualquer modo, o mundo teria podido ser diferente do que ; no entanto ele aquilo que devido a uma livre escolha de Deus que exclui a necessidade absoluta e, por conseguiinte, a eternidade. "Se debaixo da esfera celeste existe uma tal disparidade de coisas, no obstante a matria ser uma s, poders dizer que essa disparidade se deve influncia das esferas celestes e s diferentes posies que a matria assume perante elas, como ensinou Aristteles. Mas a diversidade que, existe entre as esferas celestes,
quem poder determin4a seno Deus? 234 Se algum afirmar que ela produzida pelos intelectos separados isso nada explicaria: os intelectos no so corpos que possam ocupar uma posio relativamente esfora. Porque razo o desejo que atrai cada uma das esferas para a sua inteligncia separada arrastaria uma esfera para leste e outra para oeste? Por outro lado, qual a razo porque uma esfera seria mais lenta e outra mais rpida?" (-1b., 11, 19). A nica resposta possvel a estas perguntas , segundo Maimnidas, a contingncia do mundo. "Deus determinou como quis a direco o a rap@dez do movimento de cada esfera, mas ns ignoramos o modo como ele realizou o facto, segundo a sua sabedoria". E deste modo, Maimffides partindo da hiptese da eternidade para chegar a Deus mediante uma demonstrao necessria, consegue negar a prpria hiptese e inutilizar, no terreno da filosofia, a necessidade do mundo que era o resultado fundamental da especulao rabe. 251. MAIMNIDAS: A ANTROPOLOGIA Tal como a metafsica de Maimnidas dorninada pela exigncia de ressalvar a liberdade criadora de Deus, ainda que nela no se negue a ordem do mundo nem se faa da realidade um milagre contnuo, tambm a antropologia dominada pela exigncia de ressalvar a liberdade humana, quer no domnio do conhecimento quer no domnio moral. Vim-os j como a filosofia rabe tinha constantemente atribudo ao Intelecto agente, separado e divino, a total iniciativa do conhecer humano. Ma,imnidas, ainda que reproduzindo nos seus traos fundamentais a doutrina de Avicena sobre o intelecto, modifica-a no sentido de reservar ao homem e ao seu esforo de aperfeioamento a verdadeira e prpria iniciativa do conhecer. A alma racional do homem 235 o intelecto hilico, material e potencial, que se encontra no corpo, tal como as almas das esferas celestes se encontram nos corpos das prprias esferas. Este intelecto passa a acto e eleva a alma ao conhecimento verdadeiro e prprio das formas inteligveis, por aco do Intelecto agente que no mltiplo, nem se encontra nos corpos diversos, como a inteligncia hlica, mas nico e separado de todos os corpos (1b., 1, 50-52). At aqui nada de novo: trata-se da reproduo da doutrina de Avicena. Mas Maimnidas acrescenta que para o Intelecto poder fazer passar a acto o intelecto hlico, precisa de encontrar uma matria preparada para receber a sua expanso. Conforme a alma racional esteja ou no convenientemente disposta, assim receber ou no a influncia do Intelecto agente, passar ou no a acto, e o realizar-se numa ou noutra das alternati,vas no depende do Intelecto agente, que permanece sempre idntico, mas apenas no homem, Maimnidas retira assim ao Intelecto agente a iniciativa de conhecer e restitui-a ao homem. Consoante o grau de preparao da sua alma racional, assim recebe o homem mais ou menos a aco do intelecto agente e se ergue mais ou menos para a perfeio; j que para ele a perfeio consiste em tornar-se inteligncia em acto e em conhecer, de tudo o que existe, aquilo
que lhe dado conhecer (1b., 111, 27). A maior parte dos homens recebe do Intelecto agente apenas a luz que chega para alcanar a perfeio individual; outros recebem uma aco mais abundante, que os estimula a criar obras e a comunicar aos outros homens a sua prpria iluminao. Quem recebe a imanao do Intelecto agente na alma racional um sbio que se dedica especulao. Quem a recebe no s na alma racional, mas tambm na capacidade imaginativa, um profeta. A profecla representa (como j acontecia em AI Farabi e em Avicena) a mais elevada 236 perfeio do homem, porque s na alma melhor disposta a influncia do Intelecto agente se expande para l da razo, na faculdade imaginativa (1b., 11, 36-37). Maimnidas, assim como defende a actividade humana no domnio do conheoimento, tambm defende a liberdade humana no domnio da aco. certo que a providncia divina se estende a todo o futuro e por conseguinte determina tambm as aces humanas que iro acontecer. Mas no se pode renunciar a admitir a liberdade que o princpio da aco e a condio da responsabilidade humana. preciso portanto afirmar que a predeterminao divina e a liberdade humana so concilivis; s a forma como o so que nos escapa. A prpria providncia exerce-se tendo em conta a liberdade, a razo e os mritos do homem, e no se deve impor ao homem o peso de uma ordem prconstituda que lhe tolha a liberdade (1b., 111, 17-18). Da sua doutrina do intelecto, Maimnidas deriva a da imortalidade. A imortalidade no para todos os homens, est reservada aos eleitos, queles a que a Bblia chama as "almas dos justos" (1b., H, 27; 1, 70). Mas no se trata de uma imortalidade singular. Maimnidas admite o princpio aristotlico de que a diversidade entre os ind,ivduos de uma mesma espcie devida matria. Para as inteligncias separadas, este princpio no vale: estas so distintas nicamente pela razo causal, pela qual uma causa e outra efeito. Mas as almas dos homens so distintas entre si apenas pelos corpos: e uma vez corrompido o corpo, a distino entre os indivduos desaparece, pois apenas fica o puro intelecto (1b., 1, 74). A imortalidade do homem no mais que a sua participao na eternidade do Inteler-to separado. O homem no verdadeiramente, segundo Maimnidas, imortal como homem, mas 237 apenas, como parte do Intelecto agente; e a medida da sua imorta-ldade devida medida da sua participao nesse intelecto, ou seja, medida da sua elevao espiritual. NOTA BIBLIOGRFICA 244. Sobre a filosofia judaica: MUNK, Mianges, cit., p. 461-511; STOCKL, Geschichte der Phil. des Mittelalters, II, p. 227-305; NEumARK, Geschichte der judischen Phil. des Mittelalters, Berlim, 1907-1928; HuSIK, A History of Medieval Jewish Philosophy, New York, 1918; GUTTMANN, Die Philosophie, des Judentums, Munique, 1933; BERTOLA, La filosofia ebraica, Milo, 1947; ADLER,
Philosophy of Judaism, New York, 1960. O Livro da Criao foi imprimido em Basileia em 1567, numa recolha com o ttulo de Artis cabbalisticae scriptores; outra ed. Amesterdo, 1642, reeditada por GoIdschmidt, Francor-f do Meno, 1894. O Livro do EsvIendor, impresso pela primeira vez em Mntua, 1558-1560, teve depois vrias edies com a traduo latina de Amesterdo, de 1670 em diante. Tradues francesas de DE PAULY, Paris, 6 vols. 19051911.FRANK, Systme de Ia Eabbale, Paris, 1842; PicK, The Cabala, Londres, 1914; BOSKER, From the World of the Cabbalah, New York, 1954; SEROUYA; La Kabbale, Paris, 1957. 245. As obras de Isaque com o titulo Opera Omnia, editadas em Lyon em 1515; esta edio compreende a traduo latina do Livro das Definies e do Livro dos Elementos; ed. Muckle, in "Archiv. d'Hist. doctr. et litt. du m. ." 1937-38; trad. ing. de Stern, Londres, 1958. GuTTMANN, Die philosophischen Lehren des Isaac, em "Beitrage", X, 4, 1911. 246. De Saadja: Ouvres compltes, ed. Derenbourg, 6 vols., Paris, 18931896. GRVNFELD, em "Beitrage", VII, 6, 1909; MALTER, Saadia Gaon, Filadelfia, 1921; VENTURA, La phil. de S. G., Paris, 1934; FREIMANN; Saadia's BibUography, New York, 1943. 238 247. O Fons Vitae de Ibn-Gebirol foi editado nas partes fundamentais em rabe e traduzido para francs por MUNK, Mlanges, cit. A traduo latina de Joo Hispano e Domingo Gundisalvo, por Ba,eumker, nos seus "Beitrage", 1, 24, 1892-1895. MUNK, Mlanges, cit., p. 151 e sgs.; GUTTMANN, Die Philosophie des Salomon von Gebirol, Cottingen, 1889; BERTOLA, Salomon ibn Gebirol (Avicebron), Pdua, 1953. 249. O livro de Bachja Sobre os deveres dos coraes teve idntica edio na traduo hebraica; Npoles, 1490; Leipsig, 1846; Viena, 1854. Com traduo alem de STERN, Viena, 1856; traduo alem de FURRSTENTHAL, 1836. O livro Alcharari de Gluda Halevi foi publicado com a traduo latina em Basilei-a em 1660; com traduo alem em Leipsig, 1841-1853, 2.1 ed., Leipsig, 1869. O livro de Ben David A f sublime, na traduo hebraica acompanhada da traduo alem, foi publicado por WeiJ, Franefort do Meno, 1852. 250. A traduo latina do Guia dos Perplexos de l@faimnidas com o ttulo Dux seu doctor dubitantium seu perplexorum, foi editada em Paris em 1520. O texto rabe foi publicado com traduo francesa por S. MUNK com o titulo Le guide des gars, trait de thologie et de philosophie, 3 vols. Paris, 1856, 1861, 1866; trad. ing. edlnder, Londres, 1881, 1885; 2.1 ed. New York,
1925. LEVY, Maimnide, Paris, 1911, reedio em 1931, com bibl.; SROUYA, Maimnide, Paris, 1951; ZEITLING, Maimnides,. New York, 1955. 239 xII A POLMICA CONTRA O ARISTOTELISMO 252. ARISTOTELISMO: AS TRADUES LATINAS DE ARISTTELES O sculo XIII assinala o florescimento da escolstica. A tentativa de levar a razo humana compreenso das verdades reveladas o seu maior sucesso at dar lugar grande sntese feita por S. Toms. Esse sucesso apresenta-se condicionado pelo enriquecimento da razo nas suas foras e no seu contedo problemtico mediante a obra de Aristteles que, por intermdio dos rabes, foi redescoberta pela filosofia ocidental. J na primeira metade do sculo XII, Raimundo, arcebispo de Toledo de 1126 a 1151, havia dirigido uma escola de tradutoires, qual muito ficou a dever a escolstica, do sculo seguinte. Joo Hispano traduz a Lgica de Avicena; Domingos Gundlisalvo, arquidicono de Segvia, com a ajuda daquele, traduz a Fsica, o De coelo et mundo e os primeiros dez livros da Metafisica de Aristteles; e, alm disso, a Metafsica de Avicena, a Filosofia de AI Gazali, 241 o escrito Sobre as Cincias de AI Farabi e a Fons Vitae de Algebirol. Um outro membro da escola de Toledo, Gerardo de Cremona, falecido em 1187; traduz a Fsica. O De coelo, o De generatione, e os primeiros livros dos Meteorolgicos, de Ar@stteles; alm do Cnone de Avicena, o Liber de causis e outros textos. Miguel Scoto (1180-1235), nascido na Esccia, ou, segundo outros, em Salermo ou Toledo, famoso como mago ("veramente delle magiche frode seppe il giuo-co" afirma dele Dante, Inf., XX, 116), e autor de obras de astronornia, e de alquimia, foi encarre- ,gado pelo imperador Frederico Il de traduzir Aristteles. Traduziu a Histria animalium; e alm disso, o comentrio de Averris ao De coelo e ao De anima e provvelmente a De generatione, Meteore e Parva naturalia. Na metade do sculo XIII, Hermann, o Alemo, bispo de Astorga, traduziu o comentrio mdio de Averris tica a Nicmaco e depois Retrica e Potica. Em 1120 existia em Paris uma traduo da Metafsica de Aristteles; e em Pdua descobriu-se uma traduo latina da mesma obra que remonta aos fins do
sculo XII. Em 1125, Alfredo Anglico traduz do grego o De anima, o De somnio e o De respiratione. Entre 1240 e 1250, Roberto Grossatesta ( 255) traduzia ou mandava traduzir a Grande tica e outros opsculos de Aristteles. Guilherme de Moerbeke, nascido em 1215, forneceu a S. Toms a traduo do grego de vrios textos. Traduziu a Poltica e a Economia de Aristteles; os Comentrios de Simplcio s Categorias e ao De coelo; os Elementos de Teologia e outros opsculos de Proclo. A traduo dos Elmentos permito a S. Toms reconhecer neles o original do 242 Liber de causis, j traduzido por Gerardo de Cremona. Todo este trabalho de traduo revela um interesse profundo pela doutrina de Aristteles, na qual * escolstica do sculo XIII acabou por descobrir * expresso mais perfeita da razo humana e, por conseguinte, o melhor caminho para alcanar a verdade revelada. Mas precisamente pelo facto da obra de Aristteles ser a expresso perfeita da razzo com plena autonomia e independncia de qualquer pressuposto da f, a mesma devia suscitar, e suscitou com efeito, oposies e desconfiana e primeira vista i)areceu inconcilivel com o dogma catlico. O sculo XIII apresenta-nos as primeiras tentativas de aproximao do aristotelismo bem como as reaces contrrias; vir mais tarde o equilbrio conseguido com a sntese toraista. 253 polmica comtra o aristotelismo: GUILHERME D'AUVERGNE O primeiro contacto da escolstica latina com a doutrina de Aristteles verificou-se atravs do aristotelismo, arabe. O conhecimento directo dos textos aristotlicos ainda demasiado escasso e inseguro para que se possa discernir o aristotelismo original dos acrscimos interpretativos dos rabes; por outro lado, estes mesmos acrscimos aproximavam o aristotelismo da mentalidade dos escolsticos e do problema que os preocupava, uma vez que so, em parte, fruto da tentativa de procurar no aristotelismo uma resposta para os problemas da f muulmana que, em certos pontos essenciais (existncia e espiritualismo de Deus, criao, imortalidade da alma) coincide com a crist. O primeiro entre os escolsticos a tomar posio perante o aristotelismo Guilherme d'Auvergne. Nascido em Aurillac, provvelmente antes de 1180, 243 foi mestre de teologia na Universidade de Paris; e de 1228 at morrer (1249), bispo de Paris. A sua obra principal o Magisterium divinale, em sete partes, sendo de maior importncia filosfica o De tritiitate (escrito entre 1223 e 1228), De utverso e o De aninw (escrito entre 1231 e 1236). O objectivo de Guilherme polmico: pretende combater "os erros de Aristteles
e dos filsofos que o seguem"; mas efectivamente pretende visar sobretudo Avicena, do qual depende directa e polmicamente. Depende directamente na medida em que faz sua a distino fundamental de Avicena entre o ser necessrio e o ser possvel, depende polmicamente na medida em que transforma essa distino numa oposio, que lhe permite defender a nonecessidade do mundo, e por conseguinte, da criao. Nesta polmica, Guilherme foi levado naturalmente a utilizar a obra de Maimnidas, que era dominada pela mesma preocupao fundamental. Guilherme comea por distinguir uma dupla predicao: uma predicao secundum essentiam e uma predicao secundum partecipationem. Todo o predicado que se aplica a uma coisa ou pertence prpria essncia da coisa ou permanece exterior essncia da coisa em que participa. A predicao por participao supe a predicao por essncia. Se se afirma, por exemplo, que uma coisa boa porque participa de uma outra coisa, e que essa outra coisa boa tambm por participao, d-se incio a um processo infinito, que apenas se evi,tar quando se chegar a um ser que seja bom por essncia (De trin., 1). Ora, quando se atribui o ser s coisas finitas faz-se uma predicao por participao, que pressupe uma predicao por essncia: ou seja, supomos um -ser que ser por essncia e, portanto, impensvel como no existente. A estes dois modos de predicao correspondem assim dois modos fundamentais do ser: o Ser por 244 essncia, que inclui a existncia na sua quididade ou substncia; e o ser no por essncia cuja quididade ou substncia no inclui a existncia. O Ser por essncia no tem causa e simples, porque privado de composio. O ser no por essncia recebe a existncia do exterior e precisamente do Ser por essncia e , por conseguinte, composto sempre pela sua qualidade ou substncia e pela existncia que lhe atribuda do exterior. Estes conceitos, derivados de Avicena, so esclarecidos por Guilherme com os prprios termos de Avicena: o Ser por essncia o ser necessrio, o ser por participao o ser possvel ou potencial (De tric., 7). Mas neste ponto, Guilherme afasta-se de Avicena para se aproximar de Maimn@idas. Para Avicena no existe oposio entre o ser necessrio e o ser possvel; o ser possvel , na realidade necessrio por outrem; no pode conseguir a existncia em acto a no ser ao converter-se ipso facto em necessrio. Pelo contrrio, Gulilherme contrape nitidamente o ser necessrio ao ser possvel. "Procederei por outra via e dir-te-ei a razo por que o ser necessrio e o ser possvel so contrrios entre si. Do mesmo modo so contrrios a necessidade em si e a possibilidade em si, tal como a antiguidade e a novidade. Com efeito, como a necessidade em si causa da eternidade ou antiguidade, assim necessriamente a possibilidade em si ser causa da novidade ou temporalidade; e uma vez que a necessidade em si no se encontra no criador, nele se encontra apenas a eternidade ou antiguidade. E mais: como a necessidade em si no suporta a novidade ou temporalidade no ser em que se encontra, assim necessrio que a possibilidade em si no suporte a eternidade no seu prprio sujeito. Por isso impossvel que nenhuma das coisas criadas seja eterna" (De univ. 1. 2). O primeiro resul245
tado desta contraposio entre o ser necessrio e o ser possvel , portanto, a negao da eternidade do mundo e a afirmao da necessidade da criao. Poss,ibilidade no ser -participado, signifea temporalidade, novidade; por conseguinte, criao. Guilherme introduz assim pela primeira vez na escolstica latina, a distino real entre a essncia e a existncia das coisas criadas, que iria tornar-se o cerne da metafsica de S. Toms. "Uma vez que o ente possvel no o ente por essncia, ele e o seu ser, que no lhe pertence por essncia, so duas realidades distntas e uma (o ser) surge da outra (a essncia), ainda que no se integre na sua razo ou quididade" (De trin., 1). As coisas criadas so, portanto, formadas pela essncia e pela existnc;a e essa existncia deriva de Deus por participao. O ser das coisas criadas e o ser de Deus no so idnticos nem diferentes, so anlogos: de certo modo, assemelham-se e correspondem-se entre si, sem que tenham o mesmo significado (1b., 7). Este princp;o da analogicidade do ser, ir ter tambm uma aplicao sistemtica na metafisica de S. Toms. A criao supe que Deus contenha em si os modelos ou exemplares das coisas criadas: esses modelos no constituem um mundo parte, como queria Plato; so a prpria Sabedoria ou Verbo, gerado por Deus desde a eternidade (De univ., 1, 36-37). Deste modo, o platonismo aparece ligado especulao do aristotelismo rabe e serve para conciliar este ltimo com a f crist. O Verbo divino confere directamente ao homem os conhecimentos fundamentais ou primeiros princpios a que Guilherme chama prima intelligibil,;a, primae impressiones, dignitates et communes animarum conceptiones, etc. Esses primeiros princpios oferecem-se alma humana como se fossem inatos ou inculcados nela de forma natural (De an., V, 15); com 246 efeito, surgem i-io do exterior mas do interior, e constituem no s as regras fundamentais da verdade, como tambm as do recto agir, ou seja, da honestidade (1b., VII, 6). Atravs desta fluminao interior, que um outro enxerto do agustinismo, Guilherme sustenta que inti,1 a aco do intelecto agente. Se os primeiros princpios so ffirectamente inculcados no homem pela Sabedoria divina, os outros conhecimentos inteligveis derivam directamente da realidade inteligvel, sem qualquer fora ou potncia intermdias. "Entre os sentidos e as coisas naturais no necessria nenhuma virtude intermdia que actue sobre os sentidos de modo tal que faa com que os conhecimentos sensveis, que existem em potncia nos rgos dos sentidos, se transformem em acto. ]Para este efeito bastam os objectos sensveis que so exteriores alma. Para. qu, na verdade, uma potncia intermdia e necessria ao conhecimento intelectual, como se no bastasse ao intelecto, para apreender a realidade inteligvel, a aco dessa mesma realidade? (1b., VII, 4). O intelecto agente portanto uma fico intil. O iintelecto material, pelo contrrio, a verdadeira e prpria essncia da alma; mas no apenas potncia receptiva mas tambm activa e, por meio dela e dos objectos inteligveis, podemos explicar todo o conhecimento intelectual humano. (1b., V, 6). Entre os escritos de Guilherme figura uma reelaborao de um tratado Sobre a imortalidade da alma de Domingos Gundisalvo, arcebispo de Segvia, conhecido
sobretudo como tradutor ( 252). O escrito inteiramente dependente das fontes rabes, das quais extrada a prova da imortalidade da alma: independncia da actividade intelectual em relao ao corpo; natureza da alma como forma, imaterial o aspirao felicidade pela alma intelectiva; posio intermdia da alma entre os puros espritos e a alma das plantas e dos animais; inde247 pendncia da alma em relao a qualquer factor destruidor; ausncia de um rgo corprco da alma intelectiva; relao da alma com a origem da vida. O escrito, muito pouco original, teve dentro da escolstica uma certa importncia histrica; entre outros, inspiraram-se nele S. Boaventura e Alberto Magno. 254. ALEXANDRE DE HALES A entrada do aristotelismo na escolstica latina est de certo modo ligada com os acontecimentos da Universidade de Paris. Em Fevereiro de 1229, depois de vrios tumultos que tiveram incio num dia de Carnaval, a Universidade ficara deserta e mestre e alunos abandonaram Paris. Em 1231, o papa Gregrio IX reconstitui a Universidade, mas probe os professores de utilizarem os livros de Fsica de Arstteles (que haviam sido proibidos por um conclio provincial em 1210) at que fossem expurgados de qualquer suspeita de erro. Da comisso para tal constituda fazia parte um mestre da prpria Universidade, Guilherme d'Auxerre, autor de um comentrio s sentenas de Pedro Lombardo e que tinha o ttulo de Summa aurea. Neste comentrio, so poucas e imprecisas as referncias a Aristteles; nele se encontra, todavia, defendida a distino entre um duplo ser das coisas criadas: o ser que existe na criatura e o ser divino, do qual depende a criatura; distino que parece reconduzir que Avicena fazia entre o possvel e o necessrio. Mas com Alexandre de Hales que a escolstica assume uma ntida posio relativamente ao aristotelismo. Alexandre nasceu em Hales, no condado de Gloucester, em Inglaterra, entre 1170 e 1180. Estudou em Paris e foi professor de teologia na faculdade das artes desta cidade. Em 1231, ingressou na ordem franciscana que, atravs dele, teve -pela primeira 248 S.BOAVENTURA vez um representante na escola parisiense. Conta-se que o papa Inocncio IV, acabando por conhecer a fama que tinham as suas lies, o encarregou de compor uma Summa que servisse de regra aos doutores no seu ensino. A obra apresentada por Alexanre ao papa foi em seguida submetida ao juizo de 70 telogos. Estes aprovaram-na e recomendaram-na como livro perfeito para toJos os mestres de teologia. Rogrio Bacon, ao escrever alguns anos mais tarde a sua Opus minus (1267) negava que fosse Alexandre de Hales o autor da Summa totiu theologiae: "A partir do momento em que Alexandre entrou para a ordem dos franciscanos, os frades colocaram-no nas nuvens, conferiram-lhe a mxima autoridade em todo o gnero de estudos e atribuiram-lhe esta grande Summa que
carga demasiada para um s cavalo". O que certo que a ordem franciscana, a partir da, se manteve fiel aos pontos fundamentais do neopla,tonismo agustiniano exposto na Summa de Alexandre e defendeu-os enrgicamente contra o aristotelismo. No entanto, ela ainda apresenta vasta ressonancia do aristotelismo rabe e juda@ico e, em primeiro lugar, de lbn Gabirol. Deste, Alexandre aceita o princpio da composio hilomrfica universal. Todos os seres criados so formados por matria e forma; o mesmo acontece com os seres espirituais. A alma precisamente a forma do corpo; mas alm de ser forma, isto actividade, tambm passividade ou capacidade de suportar a aco dos outros seres e esta passividade, que igualmente pertena da alma separada do corpo, constitui a matria da mesma (Sum. 11, q. 61, 1). As coisas criadas tm, por um lado, a composio de matria e forma, por outro, a composio de essncia e de existncia (quo est e quod est); esta ltima pertence tambm alma como tal (lb., q. 20, 2). 249 Mas se existe uma matria das criaturas espirituais, ela no , como queria Ibn Gabirol, idntica das coisas corprcas. No ex@ste uma matria comum a ambas; nem sequer existe uma matria comum entre os corpos celestes e os sublunares, ainda que a matria de uns e de outros pertena ao mesmo gnero (1b., 11, q. 44, 2). A doutrina aristotlica das quatro causas adoptada por Alexandre para delerminar as relaes entre Deus e o mundo. Deus causa formal, causa eficiente e causa final das coisas. causa formal, na meJ,@da em que contm as ideias, que so os exemplares das coisas do mundo: estas ideias formam um todo com a essncia. causa eficiente, na medida em que o mundo depende da sua omnipotncia que pode levar a cabo tudo o que no contradiga a sua essencia e os seus atributos fundamentais. a@nda causa final na medida em que o bem supremo para o qual tendem as coisas, cada uma a seu modo. (Ib., q. 21, 1; 11, q. 3, 2; 11, q. 42). Tal como Guilherme d'Auvergne, Alexandre no admite seno um nico modelo do mundo, o prprio Deus. As i@eias esto reunidades na essncia de Deus e s surgem na sua diversidade quando relacionadas com as coisas mltiplas que dela provm. A propsito da questo do intelecto, Alexandre sustenta que no s o intelecto material, mas tambm o prprio intelecto agente faz parte da alma humana. "0 intelecto agente e o intelecto potencial so duas distines da alma racional. O ntelecto a-ente a forma pela qual. a alma esprito; o intelecto possvel a matria da alma, matria pela qual a alma existe em potncia relativamente s coisas congrioscveis que contm. Tais coisas existem na sua parte inferior e surgem sobretudo da alma sensvel Ub., 11, q. 69, 3). Tambm o inte250 lecto agente faz parte da alma; mas, apesar de ser a-ente, no conhece em acto to-das as formas. Recebe do primeiro Agente uma iluminao relativa a um certo nmero de forma inteligv&s; mas uma vez iluminado, aperfeioa por sua
vez o intelecto em potncia (lb., 11, q. 69, 3). Deste modo, a alma humana apresenta uma tripla distino: o intelecto material, que o acto do homem no seu corpo; o intelecto em potncia, que pertence alma enquanto separvel do corpo; o intelecto em acto, que lhe pertence porque, de certo modo, est j separada do corpo (lbid., II, q. 69, 4). Tais so os pontos sobre os quais a Summa de Alexandre assume uma posio, frente ao aristotelismo rabe e judaico. Estes pontos implicam a aceitao de poucos conceitos fundamentais: a distino real entre essncia e existncia; a composio hilomrfica de todas as criaturas; a distino entre os intelectos. Mas a Summa uma obra vastssima que tem a pretenso de reunir toda a tradio integral da escolstica latina para assim formar um dique contra a invaso das novas correntes aristotlicas. Como tal obra de escassa ou nenhuma originalidade. De destacar, contudo, a recapitulao que faz das provas da existncia de Deus, que se encontram expostas no primeiro livro da obra. A podemos descobrir a prova de Ricardo de S. Victor que, da existncia de coisas que dependem de outras, deduz a existncia do Ser que apenas depende de si prprio; a prova causal extrada do De fide orthodoxa (1, 3) de Joo Damasceno; a prova agustniana deduzida da verdade que existe no homem, e que Alexandre vai buscar a Hu_ao de S. Victor; a prova ontolgica de Santo Anselmo; e a prova deduzida da necessidade da essncia divina, tirada do Monologion do prprio Santo Anselmo. 251 255. ROBERTO GROSSETTE: A TEOLOGIA A Summa de Alexandre de Hales, alm de ser uma assimilao parcial das teses do aristotelismo, tambm uma tentativa de reaco polmica-o que representa um regresso posio platnico-agustiniana, tradicional na escolstica. O regresso ao agustinismo como mtodo para conservar e reformar a tradio originda da escolstica levado a efeito, com o maior vigor, pelo franciscano Roberto Grossette. J Rogrio Bacon se havia apercebido deste aspecto da obra de Roberto. "Monsenhor Roberto, bispo de LincoIn, de santa memoria, pos completamente de parte os livros de Aristteles e as vias que ele -indicou, e tratou os temas aristotlicos valendo-se da sua prpria experincia, de outros autores e de outras cincias. Deste modo conseguiu escrever sobre os problemas de que se ocupava o estagirita coisas mil vezes melhores do que aquelas que se podem aprender nas ms tradues daquele filsofo" (Comp. stud. phil., 8, Opera, ed. Brewer, p. 469). A observao de Bacon no significa que Roberto ignorasse os livros de Aristteles. Pelo contrrio conhecia-os e citava-os: mas pretendia no entanto regressar pura inspirao agustiniana. Roberto Grossette (Greathead, Grossum caput) nasceu em 1175 em Stradbrok no condado de Suffolk, em Inglaterra. Estudou em Oxford e em Paris, e em seguida tornou-se professor e chanceler da Universidade de Oxford. Em 1235 nomeado bispo de LincoIn e morre em 12,53, excomungado pelo papa Inocncio IV, a quem nos seus sermes havia acusado de avarento, tirano e vaidoso. Escreveu alguns Comentarii aos Segundos Analticos, s Refutaes sofsticas e Fsica de Aristteles; e traduziu do grego para latim a tica daquele filsofo.
252 Rogrio Bacon. tinha-o entre aqueles "que souberam explicar as causas de tudo com o auxlio da matemtica" (Op. maius, ed. Bridges, 1, 108); e, na verdade, a sua actividade abrange todos os ramos do saber: astronomia, meteorologia, ptica, fsica e disciplinas liberais. Os seus escritos respeitantes filosofia so: De unica forma omnium, De statu causarum, De poteidia et actu, De veritate propositionis, De scincia Dei, De ordine emanandi causatorum a Deo, De libero arbitrio. Desde o princpio, isto , desde o prprio conceito de Deus, que Roberto se baseia na autoridade de Santo Agostinho. "Eis como a autoridade de Santo Agostinho afirma abertamente: Deus forma e forma das criaturas". Da prpria definio de forma se conclui que Deus forma: uma forma aquilo pelo qual uma coisa o que . Por exemplo, a humanidade que a forma do homem, aquilo pelo qual o homem homem. Ora Deus por si aquilo que , porque a divindade, pela qual Deus, o prprio Deus. Por conseguinte, Deus forma (De forma omtdum, edio Baur, 108). Mas a afirmao de que Deus forma das criaturas tpica da filosofia de Escoto Ergena ( 180) e deste obteve Amalfico de Bene ( 219) o seu pantesmo, considerando Deus como a prpria forma das coisas. Pelo contrrio, Roberto d ao seu princpio um significado que exclui uma @nterpretao pantesta. "Deus no forma das criaturas no sentido de ser parte da sua substncia completa e precisamente aquela que ao unir-se com a matria gera a coisa singular. Chama-se forma ao modelo que o arteso tem presente para formar uma obra que imite e se assemelhe ao modelo. Chama-se forma tambm, quilo que se aplica matria que se pretende formar, como o selo forma da cera e o molde de barro forma da esttua que nele toma corpo. Finalmente, forma 253 tambm o modelo que o arteso tm no seu esprito, quando apenas considera o que no seu esprito existe para produzir uma obra que a isso se assemelhe". (lb., 109). Estes trs significados da palavra forma como modelo interior, modelo exterior e molde da coisa a produzir no so diversos uns dos outros; a forma em qualquer caso o exemplar ou modelo: e, tratando-se de Deus, o exemplar ou modelo da sua obra no pode ser exterior a EleEle prprio, e precisamente a sua Sabedoria ou o ,seu Verbo, o exemplar, a causa eficiente, o agente que confere a forma, e conserva as criaturas na forma que lhes deu (M., 110). Roberto ilustra a funo formadora do Verbo com a doutrina de Santo Agostinho do Verbo como verdade. As coisas foram criadas para toda a eternidade pelo Verbo ou Discurso divino; a sua verdade consiste na sua conformidade com o Discurso que as pronunciou. A conformidade das coisas com o que foi eternamento enunciado a rectitudo das prprias coisas, a norma da sua constituio. A verdade das coisas consiste em serem como devem ser, em possuirem a plenitude de ser (plenitudo essendi) que conforrnidade com o Verbo criador (De verit., ed. Baur, 134-5). Se o Verbo divino a prpria verdade, o homem no pode atingir a verdade
seno em virtude do prprio Verbo divino. No entanto, Roberto no admite uma iluminao directa por parte de Deus. O empirismo aristotlico ganha aqui vantagem sobre o apriorismo agustiniano. "Tal como os olhos do corpo no podem ver as cores se no receberem a ilum,@nao da luz do sol, assim tambm os dbeis olhos da alma nada vem, a no ser atravs da luz da suma verdade. No entanto, no podem ver a suma verdade em si prprio, mas s na medida em que ela se une, ou de qualquer forma se funde, com as -prprias coisas verdadeiras" (De verit., ed. 254 Baur, 137-138). Condio para conhecer a verdade , da parte do homem, a perfeio moral: S os puros podem ver a luz divina. Mas tambm os mpuros tm, de qualquer forma, conhecimento da verdade, uma vez que, sem o saberem, vem as coisas luz divina, tal como um homem v as cores luz do sol, sem necessidade de olhar para o sol Qb., 138). Roberto dedicou um tratado ao problema da liberdade humana, o De libero arbtrio. Nesta obra examina a relao entre a liberdade humana e a prescincia d,ivinq e exclui a doutrina de Averris, segundo a qual a previso divina apenas diria respeito ordem universal do mundo; no aos acontecimentos singulares. Contrriamente definio de Santo Anselmo, que afirma que o "livre arbtrio a faculdade de conservar a rectido da vontade pela prpria rectido", Roberto afirma a exigncia de incluir na definio de liberdade, a capacidade de a vontade se inclinar ou dirigir para uma coisa ou para outra, indiferentemente (flexibilitas vel vertibilitas ad utrantque). Com ele, a liberdade aparece definida como "a prpria e natural capacidade da vontade de se inclinar a querer uma ou outra de duas coisas opostas quando consideradas em si" (De lib. arb., ed. Baur, 225). Deste niodo definida, a liberdade o verdadeiro e prprio arbtrio da indiferena: j no um conceito moral mas metafsico: pertence natureza do homem e por isso designada, por Roberto, como capacidade natural e espontnea. Este conceito deveria permanecer tradicional e tpico na corrente platnicoagustiniana tal como permanecer tpico, na prpria corrente, o primado da vontade afirmado claramente por Roberto (Opera, ed. Baur, 23.1).- "0 ser da natureza racional duplo: o querer e o aprender. Mas o ser primeiro e mximo o querer, uma vez 255 que nele e no no apreender que consiste orig;nriamente e por si a felicidade." 256. ROBERTO GROSSETTE: A FSICA A especulao sobre o mundo natural tem na obra de Roberto um importante
lugar. A sua originalidade consiste em ter afirmado um principio que ser defendido por Rogrio Bacon e se tomar mais tarde o fundamento da cincia moderna: o estudo da natureza deve ser baseado na matemtica. "A utilidade, afirma (De luce, ed. Baur, 59), do estudo das linhas, dos ngulos, das figuras enorme, uma vez que sem ele impossvel conhecer seja o que for da filosofia natural. E isto vale de formi absoluta para todo o universo ou para qualquer das suas partes". Por outro lado, Roberto exprime exactamente a lei de economia que regula os fenmenos naturais e que ser mais tarde corroborada por Francis Bacon e por Galileu, todas as operaes da natureza se verificam da forma mais determinada, mais ordenada e mais breve que possvel (lb., 75). Entre as doutrinas fsicas que lhe so prprias, merecem especial relevo as que dizem respeito aos motores do cu e luz. Os cus tm dois motores, segundo ele: a alma que existe em cada cu e o motor que existe separadamente. Este motor nico * move-se infinitamente com movimento uniforme * contnuo: o prprio Deus. Pelo contrrio, as almas so mltiplas, uma para cada cu, e cada uma se move no seu cu de forma diversa (De motu supercelestium, ed. Baur, 100). Esta doutrina, que Roberto apresenta como exposio da que se encontra no X11 Livro da Metafisica de Aristteles, na realidade nada tem a ver com esta, uma vez que Aristteles no falava de almas ligadas mat256 ria dos cus, mas de motores separados, em tudo semelhantes ao primeiro ( 78). No que diz respeito ao universo corpreo, a fsica de Robeito substancialmente uma teoria da luz. Tal como Ibri Gebirol, e ao contrrio de Alexandre de Hales, Roberto admite que todos os corpos tenham uma forma comum, que se liga matria primeira antes de receber as formas particulares dos vrios elementos. Esta prneira forma ou corporeidade a luz. "A luz, afirma ele, (De inchoactione formarum, ed. Baur, 51-52), difunde-se em todas as direces, de forma que de um ponte, luminoso pode @,er gerada uma esfera de luz do tamanho que se quiser, a menos que se forme algum obstculo com corpos opacos. Por outro lado, a corporeidade aquilo que tem por consequncia necessria a extenso da matria nas trs dimenses". Roberto identifica a difuso instantnea da luz nas trs dimenses com a tridimensionalidade do espao; e por conseguinte, a luz com o espao. Atravs do processo de extenso, de agregao e de desagregao detern-iinado pela luz, so formadas as treze esferas do mundo, ou seja, as nove esferas celestes e as quatro esferas terrestres do fogo, do ar, da gua e da terra (Ib., 54). A luz, segundo Roberto, explica todos os fenmenos da natureza. Ela o instrumento mediante o qual a alma actua sobre o corpo e a causa da beleza do mundo visvel. Roberto Grossette pode ser considerado o iniciador do movimento que, contra a influncia do aristotelismo, se torna partidrio de um decidido regresso ao platonismo agostiniano. Este movimento ser continuado pelos representantes da ordem franciscana e ter como caracterstica constante, o interesse pelo mundo natural; o que se torna objecto de uma investigao que no se contenta
com os 257 textos aristotlicos, procedendo tambm com o raciocnio e com a experincia. 257. JOO DE LA ROCHELLE Foi discpulo de Alexandre de Hales e sucessor deste na ctedra ocupada pedos franciscanos na Universidade de Paris. Joo de Ia Rochelle nascido volta de 1200 e falecido em 1245, autor de uma Summa de anima que apresenta uma interpretao, no sentido agost@iniano, da teoria de Avicena sobre o intelecto. Joo de ]a Rochelle identifica o intelecto agente com Deus. "Segundo Avicena, afirma (De an., 11, 37), a funo do intelecto agente a de iluminar e difundir o fogo da inteligncia nas formas sensveis existentes na imaginao e, iluminando-as, abstrair as referidas formas de todas as suas condies materiais, para em seguida uni-Ias e orden-las no intelecto possvel". Identifica a ac@o do intelecto activo, de que fala Avicena, com a aco iluminadora de Deus, de que fala Santo Agostinho. Deste modo pode afirmar que "a alma humana nada compreende se no for iluminada pelo princpio de toda a iluminao, Deus nosso pai" (M., 1, 3). A capacidade que a alma humana possui de abstrair a forma sensvel das imageris do corpo deriva da aco iluminadora de Deus. Este autor utiliza tambm a teoria aristotlica da abstraco (que conhece de Avicena) e agrup3. elementos dspares, ao tentar reconduzir aos princpios tradicionais do agostinianismo as doutrinas do aristotelismo rabe. 258. VICENTE DE REAUVAIS Puras compilaes, privadas de qualquer elaborao original, so os escritos do dominicano 258 Vicente de Beauvais, falecido em 1264. Continuador da tradio dos enciclopedistas medievais, a sua obra apenas se destaca pelo facto de incluir passagens de autores rabes e judeus, contribuindo assim para a sua difuso no mundo latino. O seu Speculum maius compreende quatro partes (Speculum doctrinale, Speculum historiale, Speculum naturale, Speculum morale), das quais apenas as trs primeiras so autnticas. Foi perceptor do filho de S. Lus, rei de Frana, e deixou-nos um texto pedaggico intitulado, Acerca da educao dos filhos dos reis ou dos nobres. NOTA BIBLIOGRFICA 252. Sobre as tradues aristotlicas: A. e C. JOURDAIN, Recherches critiques sur 1'ge et 1'origine des traductions dAristote, 2.a ed., Paris, 1843; DUHEM, Systme du monde, III, Paris, 1915, p. 179 e segs.; GRABMANN, Forschungen ber die lat. Aristoteles-Ubersetzungen d. XIII Jahrh., em "Beitrage", XVII, 5-6, 1916; MUCKLE, Greek Works Translated directly into Latin before 1350, in
"Medieval Studies", 1943. 253. De Guilherme d'Auvergne, as Opere foram editadas: Nrnberg, 1946; Venetiis, 1591; e em edio mais completa; Aureliae, 1674. VALOlS, Guillaume dAuvergne, Paris, 1880; MuRAu, Histoire de Ia phil. scal., 11, 1, Paris, 1880, p. 142-170, DUHEM, Systme du monde, II, p. 249260, V. p. 261-283; MASNovo, Da Guglielmo d'-4uvergne a S. Tommaso d'Aquino, 2 vols., Milo, 1930; GILSON,M La notion d'existence chez G. d'A., in "Arch. d'Hist. doetri. et lit. du m. .", 1946. 254. De Guilherme de Auxerre, a Summa aurea foi editada em Paris, 1500 e 1518, e em Veneza, 1951, GRUNWALD, em "Beitrage", VI, 3, 1907, 87-911; MINGES, in "Theolog. Quartaschrift", 1915, 508-529; OTTAVIANO, G. d'Auxerre, Roma, 1929 (com bibl.). Da Summa de Alexandre de Hales fizeram-se as seguintes edies: Venetiis, 1475; Norimbergae, 1482; Papiae, 1489; Norimbergae, 1502; Lugduni, 1515; Vene259 tiis, 1576; Coloniae, 16622; edio critica ao cuidado dos franciscanos de Quaracchi, Quaracchi, 1924-1948. HA~Au, Histoire de Ia phil. mdiv., 11, 1, 130-141; GUTMANN, Die Scholastik des 13 Jahrhundert in ihrer Beziehungen zum Judentum, 1902, p. 32-46; WITTMANN; Die SteWng des M. Thomar von Aquin zu Avenceprol, 1900, p. 20 e segs.; HERSCHER, A Bibliography of A. of Hales, in. "Fran. Stud."., 1945-6. 255. De Roberto, Grossette: Os seus escritos tiveram uma primeira edio em Veneza, 1514; e uma nova edio critica ao cuidado de BuAR em "Beitrage" de Baeumker, vol. IX, 1912. Para a indicao dos textos no compreendidos nesta recolha, ver o volume de BAUR e UEBERWEG-GEYER, p. 358-359. PRANTL, Gesch. der Logik, IU, p. 85-89; STEVENSON, Robert Grossatesta, Londres, 1899; BAUR, Intr. citada edio; DUHEM, Systme du monde, V, p. 341358; ALEssio, Studi e richerche di LincoIn (Grossatesta), in "Rivista Crit. di Stor. deTIa Fil.", 1957; Storia e teoria nel pensiero scientifico di Roberto Grossatesta, na mesma revista, 1957. 257. De Joo de Ia Rochelle, a Summa de Anima, foi editada em Prato, 1882. HAURAU, HiSt. de Ia phil. scol., 11, 1, 192-213; MANSER, in "Jahrb. fr philos. und spek. Theol.", 1912, 290-324; in. "R-evue Thomiste", 1911, 89-92; MINGES, in "Archivum Franciscanum Historicum", 1913, 597-622; in "Philos. Jahrb.@>, 1914, 461-77; in "Franzisk. Studien", 1916, 365-378; FABRO, in. "Divus Thomas", 1938. 258. De Vicente de Beauvais o Speculum maius teve vrias edies: Venetils, 1484, 1494, 1591; Duaci, 1624; GRUNWALD, em "Beitrage", VI, 3, 112 e segs.; DUHEM, tudes sur Lonard de Vinci; 11, Paris, 1909,
318 e segs.; ID., Systme du monde, M, 346-348. 260 XIII S. BOAVENTURA 259. S. BOAVENTURA: O REGRESSO A SANTO AGOSTINHO O regresso a Santo Agostinho, que na Summa de Alexandre de Hales e principalmente na obra de Roberto Grossette se apresenta como a reaco da escolstica latina contra o progresso do aristotelismo, encontra em S. Boaventura a sua mxiima expresso teolgica e mstica. Contra o assalto de uma filosofia que primeira vista parece -impossibilitar a resoluo do problema escolstico, dado que conduz a investigao filosfica a concluses inconciliveis com a f, a escolstica concentra-se sobre si prpria, retorna s origens e procura alcanar uma nova vitalidade a partir da doutrina agostiniana, a qual, apesar de ter permanecido sempre como a sua principal fonte de inspirao, havia perdido a sua autenticidade e fora original ao longo de vrios sculos de laboriosas e incertas elaboraes. Santo Agostinho regressa. A primeira consequncia paradoxal do aparecimento de Aristteles no horizonte filosfico do sculo XIII consistiu na revivescncia das teses fundamentais do bispo de 261 Hipona, como que redescobertas na sua enorme capacidade de persuao. Frente a estas teorias, o aristotelismo aparece escolstica latina como uma fora estranha, possvel de ser utilizada dentro de certos limites, mas qual devemos fazer o menor nmero possvel de concesses. Os doutores escolsticos vo adquirindo uma maior familiaridade com essa mesma fora, medida que o seu conh,.cimento da obra de Aristteles se vai tornando mais amplo e mais prociso; mas aquela estranheza permanecer at ao aparecimento das obras de Alberto Magno e de S. Toms, e tudo o que os doutores aproveitaro da obra aristotlica no passar de simples sugestes ou doutr3nas particulares, que procuraro integrar o melhor possvel no corpo das doutrinas tradicionais. Esta a atitude de S. Boaventura frente ao aristotelismo. A sua palavra de ordem, tal como a de Alexandre de Hales e Roberto Grossette, o regresso a Santo Agostinho. O conhecimento da obra de Aristtoles permite-lhe aproveitar elementos e sugestes a inserir no tronco de uma filosofia que elo explicitamente reconhece e deseja como tradicional. "No pretendo, diz ele (In Sent., 11, prl.), combater as novas opinies, mas conservar aquelas que so comuns e aprovadas. E ningum pense que eu queira ser o fundador de um novo sistema". Nenhum novo sistema: S. Boaventura s quer voltar a percorrer os caminhos j desvendados, voltar a tecer a trama ininterrupta do pensamento cristo, que vai de Santo Agostinho ao seu mestre Alexandre. As novas doutrinas, tal como as aristotlicas, parecem-lhe estar to afastadas daqueles caminhos batidos e seguros que nem sequer se prope combat-las. Para ele, Aristteles um filsofo, no o filsofo: um autor cujas afirmaes podem ser ocasionalmente utilizadas, no a prpria encarnao darazo humana.
262 260. S. BOAVENTURA: VIDA E OBRA Giovanni Fidanza, chamado Boaventura na ordem franciscana, nasceu em Bagnoregio (Viterbo), em 1221. Conta uma lenda que, tendo-o S. Francisco curado ainda em criana de uma doena mortal, desde logo a me fizera o voto de o consagrar ordem franciscana. Ao certo, sabemos que desde novo ingressou nessa ordem, aos 17 (ou 23) anos. No contudo verdade que tenha sido aluno, em Paris, de Alexandre de Hales. Nos fins de 1253 ou princpios de 1254 foi nomeado mestre regente da Universidade de Paris. No ano seguinte, devido luta travada pelos mestres seculares dessa Universidade, dirigidos por Guilherme de Santo Amor, foram excludos do ensino parisiense todos os representantes das ordens mendicantes (franciscanos e dominicanos). S. Boaventura, assim como o seu am,igo S. Toms, continuou a luta atravs das suas obras, e um ano mais tarde o papa Alexandre IV decidiu a disputa a favor das ordens mendicantes. S. Boaventura foi reintegrado na Universidade, provvelmente ainda em 1256; a sua nomeao oficial em Outubbro de 1257 coincide com a de S. Toms, o qual foi ento nomeado mestre pela primeira vez. Mas j desde Fevereiro de 1257 que desempenhava o cargo de geral da ordem franciscana, a qual foi por ele completamente reorganizada. Em 1273 foi nomeado arcebispo de Albano e cardeal. Faleceu durante o Conclio de Lio, em 1274. As obras de S. Boaventura ocupam dez volumes na edio dos padres franciscanos de Quaracchi. A sua obra fundamental o Comentrio s Sentenas de Pedro Lombardo, em quatro livros, escrito a partir de 1248, durante o seu ensino em Paris. A sua obra mstica mais -importante o 1t1nerarium mentis in Deuni escrito no Outono de 1259. Outras obras importantes so: De scientia Christi, Qitaes263 tiones disputatae, Breviloquiuni, Collationes in Hexanzeron. Escreveu ainda mu,itos comentrios exegticos a livros da Bblia, numerosos opsculos msticos, sermes e escritos relativos sua actividade na ordem franciscana. Nos opsculos msticos, S. Boaventura inspira-se em S. Bernardo, Hugo de S. Vtor e Ricardo de S. Vtor. Quer dizer, enquanto que na sua obra teolgica procurava, remontando a Santo Agostinho, retomar toda a tradio escolstica, na sua obra mstica recolhia paralelamente a tradio mstica medieval. 261. S. BOAVENTURA: F E CINCIA S. Boaventura declara prviamente a superioridade da f sobre a cincia. Tratando do problema de se ser maior a certeza da f do que a da cincia, distingue uma certeza relativa s verdades da f e uma outra relativa s verdades da razo. No que respeita s verdades da f, mais certa a f do que a cincia. Mesmo que um filsofo chegue a demonstrar uma verdade de f, por exemplo, que Deus criador, nunca poder alcanar mediante a sua cincia a certeza que o verdadeiro fiel recebe da verdadeira f. No que se refere s outras verdades, a f possui uma certeza de adeso maior do que a da cincia
uma certeza do, especulao maior do que a da f. A adeso relaciona-se com o afecto, a especulao com o puro intelecto. A cincia elimina a dvida, como se nota claramente no conhecimento dos axiomas e dos primeiros princpios mas a f faz com que o crente adira verdade de tal forma que nem os argumentos, nem os tormentos, nem as lisonjas o conseguiro afastar dela. Seria louco o gernetra que enfrentasse a morte pela sua certeza dum dado teorema; mas o crente enfrenta e deve enfrentar a morte pela sua f (In 264 Sent., 111, dist. 23, a. 1, q. 4). A certeza cientfica assim reduzida a um puro facto intelectual, simples indubitabilidade teortica, que no exige um compromisso pessoal; enquanto que a certeza da f exaltada como acto de afecto e adeso, isto , como um compromisso efectivo da pessoa. F e cincia, f e opinio, podem todavia coexistir em relao mesma verdade. Se por opinio se no entende o consentimento dado a uma alternativa por temor da outra, mas sim o consentimento sugerido por razes provveis, desde logo verificamos que muitos fiis tm, para apoiar aquilo que crem, muitas razes provveis: pelo que, neste caso, a opinio no s no exclui a f, como ainda a ajuda e a serve. Por outro lado, a f no exclui a cincia em relao mesma verdade e no a exclui porque tem uma certeza superior. Pode demonstrar-se com razes necessrias que Deus existe e que uno; porm, dilucidar essa mesma essncia d-ivina e essa mesma unidade de Deus e ver como essa unidade no exclui a pluralidade das pessoas, isso s poder conseguir-se atravs da f. Por conseguinte, a cincia no torna intil a iluminao da f, antes a exige e a torna necessria. Os filsofos que conseguiram conhecer muitas verdades acerca de Deus, acabaram, por falta de f, por incorrer em erro ou por desconhecer muitas outras Un Sent., 111, dist. 24, a. q. 3). Portanto, nunca a cincia poder deixar de valer-se da f4 A f a adeso integral do homem verdade, pela qual o homem vive da verdade e a verdade vive no homem. 262. S. BOAVENTURA: O CONHECIMENTO Na teoria do conhecimento, apresenta S. Boaventura a primeira e a mais notvel concesso ao aristotelismo. pergunta de se todo o conheci265 mento deriva dos sentidos, ele responde que no: tem de adraitir que a alma conhece Deus, se conhece a si mesma e a tudo o que h em si sem o auxlio dos sentidos externos (In Sent., 11, dist. 39, a. 1, q. 2). Mas por outro lado tem tambm de admitir que alma no pode fornecer por si s todo o conhecimento. O material desse conhecimento deve provir necessriamente do exterior, atravs dos sentidos, j que constitudo por semelhanas das coisas, abstradas das imagens sensoriais (De scientia Christi, q. 4). Diz S. Boaventura: "As espcies e as semelhanas das coisas adquirem-se mediante os sentidos, como diz explicitamente o filsofo (isto , Aristteles) em muitas passagens; e tambm o ensina * experincia. Com efeito ningum poderia conhecer * que o todo ou a parte, ou o pai ou a me, se no recebe a espcie de um dos sentidos externos" (lt-i Sent., 11, dist. 39, a. 1, q. s).
Se entendemos por espcie as semelhanas das coisas, que so como que retratos das prprias coisas, teremos de dizer que a alma foi criada vazia de toda a esp&e, e que Aristteles tinha razo ao afirmar que ela uma tbula rasa (In Sent., 1, dist. 17, a. q. 4). Porm, a alina recebe smente dos sentidos o material do conhecimento: a espcie, isto , os conceitos, os termos objectivos de que parte o conhecimento. Mas o conhecimento est condic@onado na sua constituico, no seu funcionamento, e portanto no SCLI valor de verdade, por princpios que so independentes dos sentidos e, portanto, inatos, porque so infundidos directamente por Deus. S. Boaventura regressa aqui completamente tese clssica do a-ustinianismo. dada alma humana um lumen directivum, uma directio naturalis, da qual ela obtm a certeza do conhecimento. E esta luz directiva, esta direco que impressa naturalmente nela e a dirige, vem-lhe directamente de Deus. Uma linflun266 cia indirecta da razo eterna no bastaria para garantir a verdade ao conhecimento. S. Boaventura refere-se expressamente s palavras de S. Agostinho "o qual, com toda a clareza e razo, demonstra que a mente, para conhecer com certeza, tem de ser regulada por normas imutve@s e eternas, no atravs da sua prpria disposio (habitus), mas directamente por essas normas, que esto acima dela, na Verdade eterna" (De scientia Christi, q. 4). O nosso intelecto est pois unido com a prpria Verdade eterna. "Para que haja conhecimento certo requere-se necessriamente uma Razo eterna reguladora e motriz, uma Razo que no permanea isolada na sua clareza, mas se una com a razo criada e seja intuda pelo homem segundo as possibilidades da sua condio terrena" (De scientia Christi, q. 4). O Itinerrio oferece-nos a anlise das condies a priori do conhecimento humano. O mundo externo, ou macrocosmos, penetra na alma, ou microscosmos, atravs dos sentidos, produzindo no homem a apreenso, o prazer e o juizo. As coisas externas entram na alma no em si, isto , na sua substncia, mas smente na sua senzelhana. A semelhana, ou espcie no po,i@s a substncia da coisa, mas nicamente uma sua imagem: S. Boaventura est aqui afastado do princpio aristotlico segundo o qual a alma aprende a prpria forina substancial da coisa. A proporo entre o objecto percebido e o sentido perceptor determina o prazer. apreenso e ao prazer segue-se o juzo que explicita um e outro e, portanto, purifica e abstrai a espcie sensvel, levando-a dos sentidos at ao intelecto. O juizo a faculdade intermdia da razo, atravs da qual a espcie se purifica das condies materiais de tempo e lugar e elaborada conforme as exigncias do intelecto (Itn., 2). Mas o acto do juzo supe j a iluminao divina. O juizo um 267 acto da razo que abstrai do lugar, do tempo e do movimento; mas o que est fora do tempo, do lugar e do movimento eterno, portanto Deus ou um elemento divino. No juizo, a razo vale-se pois de uma regra infalvel, que o prprio Deus como verdade, segundo as palavras de Santo Agostinho (Ib., 2). A espcie, abstrada das coisas sensveis pelo juzo, constitui o ponto de
partida e o objecto da actividade intelectual. Esta actividade desdobra-se em trs momentos: a percepo dos termos, das proposies e das ilaces. O intelecto compreende o significado dos termos quando compreende, por intermdio da definio, aquilo que cada um deles. Mas a definio dum termo faz-se recorrendo a um termo superior ou mais extenso; e remontando assim a termos cada vez mais extensos, chega-se a termos supremos o generalssimos, ignorando os quais se no podern entender nem definir os termos inferiores. O termo mais extenso, condio de qualquer outra definio, o de ser. O ser pode ser parcial ou total; imperfeito ou perfeito, em potncia ou em acto; mas dado que, tal como afirma Averris (De an., 111, 25), a negao ou privao s pode conceber-se relativamente afirmao, o nosso intelecto no poder entender o ser reduzido, imperfeito ou potencial das coisas criadas se no for em referncia ao Ser purssimo, actualssimo e completssimo, no qual residem na sua maior pureza as razes de todas as coisas. Tal como a apreenso dos -termos tambm os outros dois actos do intelecto pressupem a revelao directa de Deus ao ,intelecto do homem. Com efeito, a nossa mente, que mutvel, no poderia compreender a verdade imutvel das proposies, se no fosse iluminada por uma luz imutvel; nem poderia, sem essa luz, formular ilaces, nas quais a concluso se segue 268 necessriamente das premissas. "A necessidade de tal ilaco, diz S. Boaventura, no deriva da existncia material da coisa, dado que ela contingente, nem da existncia da coisa na alma, porque seria uma fico se no se encontrasse tambm na realidade. Deriva pois do modelo que existe na arte eterna de Deus (ab exemplaritate in arte aeterna) porque as coisas tm entre si as relaes que a arte criadora divina estabelece entre os seus modelos". Daqui conclui S. Boaventura, uma vez mais com Santo Agostinho, que "o nosso intelecto est unido prpria verdade eterna e nada de verdadeiro pode compreender com certeza seno mediante o ensinamento daquela". E chega s mesmas concluses ao considerar a actividade do intelecto prtico: o conselho, que consiste em procurar o que seja melhor e que, portanto, supe a noo do ptimo, ou seja, o sumo bem, que Deus; o juzo, que versa sobre os objectos do conselho e supe um critrio ou lei que o prprio Deus; o desejo, que tende para a felicidade, a qual consiste na posio do fim ltimo, isto , do Sumo Bem, e que portanto depende dele (Itin., 3). A doutrina do conhecimento de S. Boaventura mostra da forma mais clara os traos caractersticos do seu procedimento. Permanecendo fiel aos pontos essenciais do apriorismo teolgico de Santo Agostinho, aceita a tese empirista de Aristteles, limitando-a ao material do conhecimento; prescinde, porm, completamente das posies que o problema do conhecimento havia recebido de Aristteles e dos seus intrpretes muulmanos. Um ponto isolado do sistema aristotlico, ponto julgado carente de consequncias, tudo quanto ele utiliza da obra de Aristteles. Este procedimento encontra-se ainda noutros aspectos da sua
doutrina. 269 263. S. BOAVENTURA: METAFSICA E TEOLOGIA A relao intrnseca que o intelecto humano tem com Deus no implica que lhe seja dado conhecer Deus directamente e em si. " preciso dizer que, tal como cada causa brilha no seu efeito e a sabedoria do artfice se manUesta na sua obra, assim tambm Deus, que artfice e causa da criatura, se conhece atravs da criatura. E para isso existe uma dupla razo: uma de convenincia e outra de indigncia. De convenincia: porque no podendo Deus, como luz supremamente espiritual, ser conhecido pelo intelecto na sua espiritualidade, a alma, para o poder conhecer, necessita como que de uma luz material, isto , da criatura" (In Sent., 1, dist. 3, a. 1, q. 2). Dever-se-ia esperar, dada esta nova concesso ao empirismo, que S. Boaventura seguisse, na demonstrao da existncia de Deus, a via a posteriori, escolhida e seguida por S. Toms, e que por isso recusasse o argumento de Santo Anselmo. Na realidade no foi assim: S. Boaventura reproduz e defende o argumento ontolgico: "A verdade do ser divino, diz ele, tal que no pode pensar-se com consentimento [isto , crer efectivamente] que ele no exista, a no ser por ignorncia daquilo que significa o nome de Deus" (1b., 1, dist. 8, a. 1, q. 2). O argumento de Santo Anselmo move-se no mbito da especulao agustiniana e dificilmente pode ser negado por quem, como S. Boaventura, considera que a mente humana, para entender e julgar, deve estar unida a Deus. No se pode pr Deus como pressuposto e condio do conhecimento de todas as coisas particulares, sem admitir que a sua realidade certa e demonstrvel independentemente dessas coisas, portanto a priori. Se o conhecimento das coisas condicionado pelo conhecimento de Deus, e no inversamente, s atravs da relao directa com Deus que o intelecto pode 270 entender e julgar as coisas. Que o homem se eleve das coisas at Deus uma possibilidade condicionada pela relao do homem com Deus: no pode, pois, condicion-lo. O argumento ontolgico reentra na lgica da posio agustiniana da relao entre o homem e Deus: tal como S. Boaventura, consider-lo-o vlido todos os que se novam no mbito do pensamento agustiniano. Deus, como causa criadora das coisas, tambm o seu modelo. A ideia ou o modelo das coisas na mente divina identifica-se com a essncia divina, e multiplica-se s em referncia s coisas criadas, mas no no prprio Deus (lb., 1, dist. 35, a. 1, q. 2-3). Na sua omnipotncia infin-ita, Deus a causa de todas as coisas, que ele criou do nada. A criao no implica nenhum problema insolvel, um ponto sobre o qual coincidem plenamente a f a a razo, quer no que se refere dependncia causal do mundo em relao a Deus, quer no que se refere ao incio do mundo no tempo. Que o mundo tenha sido criado do nada resulta evidente de que sendo Deus, pela sua omnipotncia, o agente mais nobre e mais perfeito, a sua aco portanto radical, e determina todo o ser da coisa produzida, no sendo condicionada por nada de estranho (1b., 11, dist. 1, a. q. 1). Mas impossvel, segundo S. Boaventura, afirmar ao mesmo tempo
que o mundo foi criado e eterno. impossvel que seja eterno aquilo que chegue a ser depois de no-ser; e este o caso do mundo, enquanto criado a partir do nada. Alm disso, a durao infinita do mundo implicaria infinitas revolues celestes. Mas aquilo que infinito no pode ser ordenado; no infinito no existe um primeiro, portanto, no existe ordem. Mas impossvel que haja revolues celestes que no sejam ordenadas. Alm disso a eternidade do inundo suporia a existncia simultnea de infinitas almas humanas, o que impossvel. Poder-se-ia 271 negar este ltimo argumento admitindo uma palingenesia, uma real unidade das almas dos homens: mas isto no s contrrio f crist como tambm declarado falso pela filosofia (1b., 11, dist. 1, a. 1, q. 2). A criao como incio do mundo no tempo pois uma verdade necessria. S. Boaventura assume aqui, como dotadas de valor demonstrativo as razes aduzidas por Mamnidas ( 250) e procede sem a mnima hesitao. A sua atitude est neste ponto em franco contraste com a prudente cautela com que o prprio Maimnidas (e mais tarde S. Toms) considera a questo, declarando impossvel a sua soluo demonstrativa. S. Boaventura aceita do aristotelismo hebraic-,) (Avicebro) o princpio da composio hilomrfica universal. Matria, diz ele, deve ser atribuda no s aos seres corporais, mas tambm aos espirituais. Com efeito, o ser espiritual, enquanto criado, no absolutamente simples; mas sim composto por potnc@a e acto. Ora potncia e acto so convertveis com matria e forma: deve pois ser tambm atribudo aos seres espirituais o conjunto de matria e forma. A matria espiritual no est sujeitta, como a das coisas corpreas, privao e corrupo; est privada de todas as determinaes corporais (lb., 11, dist. 3, a. 1, q. 1; dist. 17, a. 1, q. 2). pura potncia e constitui, com a matria corprea, uma nica matria homognea, como nico o ouro de que so feitos diversos objectos (lb., 11, dist. 3, 1, a. 1, q. 3). Esta doutrina, que j Alexandre de Hales tinha defendido, torna-se com S. Boaventura, num dos pontos bsicos do agustinianismo franciscano. Todos os seres so pois compostos por matria e forma. A forma a essncia que restringue e define a matria a um determinado ser. Mas esta essncia sempre universal, porque tem em si a capacidade de se realizar numa multiplicidade de 272 indivduos. Qual pois o princpio de individuao que determina e individualiza a forma universal? evidente que tal princpio no pode ser externo constituio do indivduo, mas deve coincidir com os seus princ pios constitutivos. E como tais princpios so precisamente a matria e a forma, a individuao derivar da unio e da aco recproca (cominunicalio) entre a matria e a forma. E , com efeito, pela unidade de matria e forma que o inJivduo, constitudo, o qual um hoc aliquid no qual o hoc constitudo pela matria, o aliquid pela forma (1b., 111, dist. 10, a. 1, q. 3). Esta soluo contrasta com a tradio aristotlica que pe na matria o princpio da individuao, e tambm ela se tornar uma doutrina comum do novo
agustinianismo. Este novo agustinianismo tomar tambm de S. Boaventura o conceito de matria como potncia. quer passiva quer activa, capaz de determinar por si mesma a emergncia das formas. A potncia activa da matria a razo seminal. A noo de razo seminal (logos spermatiks) que passara dos Esticos aos Neoplatnicos, foi retomada nestes ltimos por Santo Agostinho, do qual a retomou S. Boaventura. "A razo seminal .a potncia activa radicada na matria; e esta potncia activa a essncia da forma, porque dela se gera a forma mediante o procedimento da natureza, que nada produz do nada" (lb., 11, dist. 18, a. 1, q. 3). 264. S. BOAVENTURA: A FSICA DA LUZ Tal como Roberto Grossette, S. Boaventura elabora uma doutrina fsica, que uma teoria da luz. A luz no um corpo, mas a forma de todos os 273 corpos. Se fosse um corpo, dado que prprio dela multiplicar-se por si mesma, seria necessrio admitir que fosse possvel a um corpo multiplicar-se sem adjuno de matria, o que impossvel. A luz a forma substancial de qualquer corpo natural. Todos os corpos dela participam em maior ou menor quantidade, e conforme a sua participao, assim maior ou menor a sua dignidade ou valor na hierarquia dos seres. A luz o princpio da formao geral dos prprios corpos; a sua especial devida adio de outras formas, elementares ou mixtas (In Sent., 11, dist. 13, a. 2, q. 1-2). Isto implica que na constituio dum corpo podem entrar vrias formas, que coexistem no prprio corpo. A forma comum da luz, efectivamente, coexiste em cada com a forma prpria desse mesmo corpo (1b., 11, dist. 13, a. 2, q. 2). O princpio da pluralidade das formas substanciais constituir um outro ponto bsico da metafsica do agustinjanismo. 265. S. BOAVENTURA: A ANTROPOLOGIA "Deus criou o homem de duas naturezas mximamente d-istintas entre si, conjugando-as numa nica pessoa" (Brevil., 11, 10). A alma e o corpo entram pois, ao mesmo nvel e na mesma meJida, na constituio da unidade na natureza e da pessoa humana, embora estando to distantes uma da outra. No que se refere alma, S. Boaventura prefere a definio platnica que faz dela o motor do prprio corpo, aristotlica, que a considera como entelquia ou forma perfeita do corpo (1b., 11, 9). Mas dado que a alma no s uma forma natural, mas tambm uma substncia, e uma substncia espiritual separvel do corpo, segue-se que ela , por natureza, incorruptvel e imortal. O seu nascimento no devido aco duma forma natural, mas criao 274 directa de Deus. O seu destino alcanar a beatitude em Deus, pelo que pode ser definida como uma "forma beatificvel" (Ib., 11, 9).
S. Boaventura preocupa-se com o garantir ao homem, no campo do conhecimento, a capacidade de iniciativa, e, no campo prtico, a liberdade. Contra a identificao do Intelecto agente com Deus, sustentada por Alexandre de Hales e Joo de Ia Rochelle, afirma a oportunidade de reconhecer o poder activo que Deus concedeu alma humana. "Se bem que esta soluo, diz ele (Opera, ed. Quaracchi, 11, 568 b) afirme a verdade e esteja de acordo com a f catlica, no , todavia, oportuna (a,d propositum): j que nossa alma foi dada a possibilidade de outros actos; e Deus, embora sendo o agente principal nas aces de qualquer criatura, deu, todavia, a alguns dos seres uma fora activa, que os conduz s aces que lhe so prprias". Ainda que falando como Aristteles do intelecto possvel e do intelecto agente, S. Boaventura considera-os como duas partes da alma, dois aspectos do intelecto humano. No domnio prtico o homem livre, porque deve merecer a beatitude e no h mrito sem liberdade. A liberdade pertence natureza da vontade e de nenhum modo lhe pode ser arrebatada, ainda que se torne miservel pela culpa e escrava do pecado. A liberdade no um instinto natural, mas supe a deliberao e o arbtrio. A sua essncia consiste na possibilidade da escolha, a qual sempre escolha de indiferena, pois supe que a vontade possa, em cada caso, decidir-se por uma ou por outra de duas alternativas opostas. Mas dado que esta indiferena pressupe uma deliberao prel-iminar, qual se junta a deciso da vontade, o livre arbtrio simultncamente uma faculdade da razo e da vontade (Brevil., 11, 9). 275 A livro escolha do homem guiada e iluminada pela sindrese 1. S. Boaventura aceita de Aristteles a distino entre, intelecto especulativo e intelecto prtico; mas, ainda com Aristteles, nega que se trate de dois intelectos diferentes. "0 intelecto especulativo torna-se prtico quando se une vontade e aco, determinando-as e dirigindo-as" (In Sent., II, dist. 24, p. 1, a. 2, q. 1). Na realidade o intelecto prtico e o intelecto especulativo so a mesma faculdade: o primeiro smente a extenso do segundo ao domnio da aco (1b., II, dist. 39, a. 1, q. 1). Aquilo que a cincia para o intelecto especulativo, a conscincia para o intelecto prtico. "A cincia a perfeio do nosso intelecto enquanto especu-lativo, a conscincia a disposio (habitus) que aperfeioa o nosso intelecto enquanto prtico". Mas como a actividade do intelecto especulativo pressupe, segundo v-imos, a iluminao directa pela parte de Deus, assim tambm pressuposta a mesma iluminao pela actividade do intelecto prtico. "No momento da criao da alma, o intelecto recebe uma luz que para ele um critrio natural de juzo (naturale iudicatorium) que dirige o prprio intelecto no conhecer: tambm da mesma forma o afecto tem em si um peso (pondus) natural que o dirige no desejam (lb., 11, dist., 39, a. 2, q. 2). Este peso natural que faz mover o intelecto prtico em direco ao bem 1 O conceito de si~rese aparece pela primeira vez em S. Jernimo (Comm. in Ezechiele, in P. L., 25.o, cI. 22) como a "fasca da conscincia, que no se extinguiu ne peito de Ado depois de ter sido expulso do Paraiso". Encontrase noutros Padres (Baslio, Gregrio o Grande) e nos Vitorinos. Porm s em S. Boaventura e em Alberto o Magno ( 271) se torna urna faculdade natural do juizo, que atrai o homem para o bem e lhe d o remorso do mal.
276 a disposio nele determina pela aco iluminadora de Deus; a sindrese. "A sindrese, diz S. Boaventura (Ib., 11, dist. 39, a. 2, q. 1) a fasca da conscincia: a conscincia no pode mover, incitar, estimular, seno mediante a sndrese, que como que o seu estmulo e o seu fogo animador. Tal como a razo no pode mover seno mediante a vontade, assim tambm a conscincia no pode mover seno mediante a sindrese". O remorso no produzido pela conscincia, mas sim pela disposio que regula a conscincia, por aquela fasca que a sindrese (1b., 11, dist. 39, a. 1, q. 1). No Itinerrio, a sindrese denominada "o pice da mente" e consiste no ltimo grau da elevao at Deus, aquele que imediatamente precede o rapto final. 266. S. BOAVENTURA: A ASCESE MSTICA O misticismo de S. Boaventura inspira--se no dos Vitorinos, entroncando tambm na corrente agustiniana chefiada por aqueles. O Solilquio, dilogo entre o homem e a sua alma, insipra-se em Hugo de S. Vtor; o Itinerrio da mente para Deus, que a obra-prima mstica de S. Boaventura, inspira-se em Ricardo de S. Vtor. Tal como Hugo de S. Vtor, distingue S. Boaventura trs olhos ou faculdades da mente humana: o que esit voltado para as coisas exteriores e que a sensibilidade; o que est voltado para si prprio e que o esprito, o que est voltado para cima de si prprio e que a mente. Cada uma destas faculdades pode ver Deus per speculum, isto , atravs da imagem de Deus reflectida nos entes criados, ou in speculo, isto , na marca ou trao que o ser e a bondade de Deus deixam nas prprias coisas. Cada faculdade se desdobra deste modo e ficam assim determ-inadas sds potncias da alma pelas quais se -passa 277 das coisas nfimas s supremas, das exteriores s interiores, das temporais s eternas. Estas seis potncias, em cuja enumerao S. Boaventura segue Isaac de Stella ( 223), so as seguintes: o sentido, * imaginao a razo, o intelecto, a inteligncia, * o pice da mente ou fasca da sindrese. A estas seis potncias da alma correspondem seis graus da ascese para Deus. O primeiro consiste na considerao das coisas na sua ordem e na sua beleza e em todos os atributos que permitem remontar sua origem divina. O segundo consiste na considerao das coisas no em si prprias, mas na alma humana que delas apreende as espcies que purifica, abstraindo-as das condies, sensveis, com * faculdade do juzo. No terceiro grau contempla-se * imagem de Deus reflectida nos poderes naturais da alma: a memria, o intelecto e a vontade. No quarto grau contempla-se Deus na alma iluminada e aperfeioada pelas trs virtudes teologais. No quinto grau contempla-se Deus directamente no seu primeiro atributo que o ser. No sexto grau contempla-se Deus na sua mxima potncia que o bem, pelo qual Deus se difunde e se articula na Trindade. Com este sexto grau termina a investigao mstica, mas no a ascese mstica. alma que j percorreu os seis graus da investigao "
resta nicamente transcender e superar no s o mundo sensvel, mas tambm a si prpria". Neste ponto, necessita abandonar todas as operaes intelectuais e projectar em Deus todo o afecto. "Pois que aqui nada pode a natureza, e bem pouco a actividade humana, pouca importncia se deve dar-se investigao, eloquncia, s palavras, ao estudo, criatura, e muito piedade, alegria interior, ao dom divino, ao Esprito Santo, isto , essncia criadora, Pai, Filho e Esprito Santo" (Itin., 7). Esta condio de xtase (excessus mentis) descrita por S. Boaventura com as palavras do Pseudo-Dio278 nsio (De myst. theol., 1, 1) e definida como um estado de douta ignorncia, na qual a escurido dos poderes cognosciltivos humanos se transfornia em luz sobrenatural. "0 nosso esprito arrebatado acima de si mesmo, na escurido e no xtase, por uma espcie de dou-ta ignorncia" (Brevil., V, 6). O xtase no portanto um estado intelectual, mas sim um estado vital: a unio viva do homem com o criador, unio pela qual o homem pode participar na vida de Deus e conhecer a essncia. NOTA BIBLIOGRFICA 260. Os dados biogrficos do texto esto conforme as investigaes de PELSTER, Literargeschichtlche Problem im Anschluss an die Bonaventuraausgabe, in "Zeitschrift fr kotholische Theologie", Innsbruck, 1924, vol. 48, p. 500-532, Das obras de S. Botaventura h a edio feita pelos padres de Quaracchi, 10 volumes e um de indices, Quaracchi, 1882-1902. Outras edies: Breviloquium, Itinerarium mentis in Deum, De reductio,n,e artium ad theologiam, Quaracchi, 1911; Collationes in Hexameron, ed. Delorme, Quaracchi, 1934; Opera teologica selecta, Quaracchi, 1934-1949; Questions dispputes, De caritate, De novisimis, ed. Glorieux, Paris, 1950. GILSON, La phil. de St. B., Paris, 1924, 1953 3 (COM bibl.); STEFANINI, Il problema religioso in PTatone e S. Bonaventura, Turim, 1934; BRETON, St. B., Paris, 1943; LAzZARINI, S. Bonaventura, filosofo e mistico del cristianesimo, Milo, 1946 (com bibl.). 261. Acerca das relaes entre f e cincia: ZIESCHE, Die h1. B. Lehre von der logisch-psychologischen analys-, des Glaubensaktes, Breslau, 1908. 262. Sobre a doutrina do conhecimento: LuycKx, in "Beitrge", XXM, 3-4, 1922; DADY, The Theory of KnowIedge of St. B., Washington, 1939. 263. Sobr-@ -a teologia e a metafisica: DANIELS, in "Beitrge", VII, 1-2, 1909, p. 38-40, 132-156; RoSENMOLLEE, in "Beitrge", XXV, 3-4, 1925; BISSEN, Llexemplarisme divin seion St. B., Paris, 1931; ROBERT, Hy@-morphisme et devenir chez St. B., MontreaL, 1936; 279 TAVARD, Transi~ and Permanence. The Nature of Theology According to St. B., Saint Bonaventure (New York), 1954.
2644. Sobre a filosofia da luz: BAEumKER, Wtelo, in "Beitrgc", 111, 2, 1908, p. 394-407. 265. Sobre a antr~ogia: LUTZ, in "Beitrge", VI, 4-5, 1909; 0- DONNFL, The Psychology of St. B. and St. Thom" Aquinas, Washingtm, 1937. 266. Sobre o misticism<>: GRONEWALD, Fra"iskanische Mystik, Mnaco, 1931; PRENTicE, The Psychology of Love According to St. B., Saint Bonaventura (New York), 1951, 19572 280 ND1CE TERCEIRA PARTE FILOSOFIA ESCOLSTICA I-AS ORIGENS DA ES0OI@ST1CA ... 9
173. Carcter da Escolstica ... ... 9 174. O renascimento carolngio ... ... 17 175. Henrique e Remigio de Auxerre 21 Nota bibliogrfica ... ... ... ... 23 II - JOO ESCOTO ERIGENA ... ... ... 27
176. A personalidade histrica ... ... 27 177. Vida e Obra ... ... ... ... ... 28 178. F e Razo ... ... ... ... ... 3!p 179. As quatro naturezas ... ... ... 32 180. A primeira natureza: Deus ... 34 181. A segunda natureza: o Verbo ... 36 182. A terceira natureza: o Mundo ... 37 183. O conhecimento humano ... ... 40 184. Divindade do homem ... ... ... 41 185. O mal e a liberdade humana ... 44 186. A lgica ... ... ... ... ... ... 46 Nota bibliogrfica ... ... ... ... 281 DIALr@, 187. 188. ANSEI, 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. CTICOS E ANTIDIAL1,=ICOS Gerberto ... ... ... ... ... ... 48
49 49 51 55 57 57 58 60 61 65 67 68 70 73 74 76 78 V_A DIS SAIS 200. 201. 202. 203. VI - ABE 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. CUSSO SOBRE OS UNIVER- ... ... ... ... ... 81 o problema e o seu significado @@ 4.f_; Dialcticos e antidialcticos ... Nota bibliogrfica ... ... ... ... MO DE AOSTA ... ... ... ... A figura histrica ... ... ... Vida e Obra ... ... ... ... ... s - ... 85 ... ... ... r-?-scelino ... ... ... ... ... ... 81
Guilherme de Champe-aux ... ... 88 o tratado "de Generibus et
speelebus" ... ... ... ... ... ... 89 Nota bibliogrfica ... ... ... ... 90 LRDO ... ... ... ... ... ... --- 91 r e e Razo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
A existncia de Deus A essncia de Deus A Criao
... ... ... ... ... ... ... ...
A figura histrica ... ... ... ... 91 -ida e Escritos ... 92 ... ... 95 ... ... ... ... ...
A Trindade
o o ... ... ... Razo e Autoridade ... ... ... 97 O universal como discurso ... ... 98 O acordo entre a filosofia e a 1. X ... 100
A Liberdade ... ... ... ... ... Prescincia e predestinao ... o ai A Alma ... ... ... ... ... ... r~ a o ... ... ... ... A Trindade Divina Unidade Divina ... ... ... 105 283 Not- biblio rfica ... ... ... ... 282 212. 213. 214. VII-A ESC 215. 216. 217. 218. 219. 220. viu -o MIS ... ... ... 102 A . ... ... ...
221. 222. Deus e o mundo ... ... ... ... 106 108 110 112 115 115 123 129 135 138 142 146 149 149 151 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. IX - A SIS 230. 231. X-A FIL 232. 233. Isaac de Stella 155 156 160 164 166 167 169 172 ... ... ... ...
175 175 177 181 183 183 187 O homem ... ... ... ... ...
Hugo de S. Victor* Razo e F Hugo de S. Victor: A Teologia Hugo de S. Victor: A Antropoloma ... ... ... A tica ... ... ... ... ... ... Nota bibIioLyrfica ... ... ... ... OLA DE CHARTRES ... ... ...
O naturalismo chartrense ... ... Gilberto de ia Porre, ... ... ... T-5- A. Salisbria Hugo de S. Victor: O Misticismo Ricardo de S. Victr: A Teologia Ricardo de S. Victor- A Antroolo-ia Mistica k Nota bibliogrfica ... ... ... ... ... ... ... ... Alano de Lille ... ... ... ...
TEMATIZAO DA TEOLOGIA Sentenas e sumas ... ... ... T->.A,- T-1-1O Panteismo: AmaIrico de Bena e Davi-d de Dinant ... ... ... Joaauim de Flore ... ... ... ... Nota biblio--%fica .. ...
TICIS O ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Nota biblio@rfica OSOFIA RABE
. ... ... ... ... ... ...
Caracteres do misticismo medieval ... ... ... ... ... ... Caracceristicas e origens ... ... Al-Kindi ... ... ... ... ... ... Bernardo de CJraval ... ... ... 284 285 234. AI Farabi ... ... ... ... ... 188 235. Avicena: a Metafisica ... ... 191 236. Avicena: a Antropologia ... ... 198 237. AI Gazali. ... ... ... ... ... 201 238. Ibn-Badja ... ... ... ... ... 204 239. Ibn-Tofail ... ... ... ... ... 205 240. Averris: Vida e Obra ... ... 207 241. Averris: FiIosofia e Religio ... 209 242. Averris: a Doutrina do Intelecto 211 243. Averris: a Eternidade do Mundo 215 Nota bibliogrfica ... ... ... ... 219 XI -A FILOSOFIA JUDAICA ... ... ... 223
244. A cabala ... ... ... ... ... ... 223 24,5. Isaque Israeli ... ... ... ... 225 246. Saadja ... ... ... ... ... ... 226 247. Ibn-Gebiroil: Matria e Forma ... 227 248. IbnGebirol: a Vontade ... ... 228 249. Reaco contra a Filosofia ... 230 250. Maimnidas: a Teologia ... ... 231 251. Maimnidas: a Antropologia ... 235 Nota bibliogrfica ... ... ... ... 238 286 XH --A POLI=CA CONTRA O ARISTOTELISMO ... 2@ 252. As tradues latinas de Aristteles ... ... ... ... ... ... ... 24 253. Guilherme d'Auvergne ... ... ... 2@ 254. Alexandre de Hales ... ... ... 2@ 255. Roberto Grosset te: A Teologia 2,1 256. Roberto Grossette: A Fsica ... 2,1 257. Joo de ia Rochelle ... ... ... 2,1 258. Vicente de Beauvas Nota bibliogrfica ... ... ... ... ... ... ... 2! 2! ... ... ... ... ... ... ...
XIIII
S. BOAVENTURA
... ... ... ... , - 21
259. O regresso a Santo Agostinho ... 21 260. Vida e Obra ... ... ... ... ... 21 261. F e Cincia ... ... ... ... ... 21 262. O conhecimento ... ... ... ... 2 263. Metafisica e Teologia ... ... ... 2 264. A fsica da luz ... ... ... ... 2 265. A antropologia ... ... ... ... 2 266. A ascese mstica ... ... ... ... 2 Nota bibliogrfica ... ... ... ... 287 2
Histria da Filosofia Quarto volume Nicola Abbagnano DIGITALIZAO E ARRANJO: NGELO MIGUEL ABRANTES. HISTRIA DA FILOSOFIA VOLUME IV TRADUO DE: JOS GARCIA ABREU CAPA DE: J. C. COMPOSIO E IMPRESSO TIPOGRAFIA NUNES R. Jos Falco, 57-Porto EDITORIAL PRESENA . Lisboa 1970 TITULO ORIGINAL STORIA DELLA FILOSOFIA Copyright by NICOLA ABBAGNANO Reservados todos os direitos para a lngua portuguesa EDITORIAL PRESENA, LDA. - R. Augusto Gil, 2 cIE. - Lisboa XIV ALBERTO MAGNO 267. A OBRA DE ALBERTO MAGNO Chegada ao ocidente latino atravs das especulaes rabe e judaica, a obra de Aristteles pareceu, primeira vista, estranha tradio originria da escolstica. O primeiro resultado do seu aparecimento foi, como vimos, o entrincheiramento da tradio escolstica na sua posio fundamental, o ,regresso doutrina autntica daquele que fora at ento o inspirador e o guia da investigao escolstica, Santo Agostinho. Este regresso provoca um trabalho de reviso crtica e de sistematizao das doutrinas escolsticas fundamentais, o qual alcana a sua mxima expresso na obra de S. Boaventura. So utilizadas neste trabalho doutrinas particulares e sugestes especulativas do aristotelismo, sem que se faa a mnima concesso aos pontos
bsicos do prprio aristotelismo e ao esprito que os anima. Paralelamente, as autoridades eclesisticas advertem o perigo contido na nova corrente e procuram interromper-lhe o caminho com proibies e limitaes frequentemente repetidas 1. Mas esta situao modifica-se quando o aristotelismo encontra o homem que lhe saber dar o direito de cidadania na escolstica latina. Este homem Alberto Magno. Aquilo que Bocio fizera para o mundo latino do sculo VI, dando-lhe a possibilidade de se acercar de Plato e Aristteles; aquilo que Avicena fizera para os muulmanos do sculo XI oferecendo-lhes o pensamento de Aristteles e dos Gregos, f-lo Alberto Magno para a escolstica latina do sculo XIII, oferecendo-lhe a completa enciclopdia cientfica de Aristteles, numa exposio que faz com que o pensamento do Estagirita perca aquele carcter de estranheza que o revestia aos olhos dos escolsticos latinos. Atravs da imensa e paciente obra de Alberto Magno, abre-se a possibilidade para que o aristotelismo se insira como um ramo vital do tronco da escolstica latina, tal como havia vivido e prosperado nas escolsticas muulmana e judaica. Alberto Magno descobre e explora pela primeira vez o caminho mediante o qual os pontos bsicos do pensamento aristotlico :L Esta proibio foi estabelecida por quatro vezes durante a primeira metade do sculo XIII. Em 121.O aparece no Conclio provincial de Paris a primeira proibio das obras de Aristteles e seus comentrios. Em 1215, Roberto de Couron legado pontifcio, renova as proibies. Em 1231, Gregrio XI probe a Fsica e a Metafsica de Aristteles e nomeia uma comisso -composta por Guilherme de Auxerre, Simo d'Authie e Estvo de Provins para reviso dos textos. Em 1245 esta proibio passou a vigorar tambm na Universidade de Toulouse. Porm j em 1252 se tornou obrigatrio para os candidatos de nacionalidade inglesa o conhecimento de De anima, e em 1255 tal obrigao foi imposta a todos os candidatos e para todas as obras de Aristteles. DENIFLECI-1ATELAIN, Chartularium Universitatis Parisiensis, 1, 70, 78-79, 138, 227. podero servir para uma sistematizao da doutrina escolstica, sem atraioar nem abandonar os resultados fundamentais da tradio. Torna-se claro, com Alberto Magno, que o aristotelismo no s no torna impossvel a investigao escolstica, isto , a compreenso filosfica da verdade revelada, mas constitui o fundamento seguro de tal investigao e oferece o fio condutor que permitir ligar entre si as doutrinas fundamentais da tradio escolstica. Com a sua obra, Alberto Magno anunciou esta possibilidade; mas s a realizou parcialmente. sua sistematizao, falta a clareza e a profundidade de um resultado definitivo. Um dos mais perspicazes dos seus crticos contemporneos, Roger Bacon (Opus minus, ed. Brewer, p. 325), acertadamente assinalava j, falando do enorme sucesso de Alberto Magno, a deficincia filosfica da sua obra. "Os escritos deste autor esto cheios de erros e contm uma iinfinidade de coisas inteis. Entrou muito jovem na ordem dos pregadores; nunca ensinou filosofia, nunca pretendeu ensin-la em nenhuma escola; nunca frequentou nenhuma Universidade antes de se tornar telogo; nem teve possibilidade de ser instrudo no seio da sua ordem, j que ele , de entre os seus irmos, o primeiro mestre de filosofia". Na realidade, o aristotelismo apresenta-se-lhe como um todo confuso, no qual no sabe distinguir o pensamento original do mestre daquilo que lhe foi acrescentado
pelos intrpretes muulmanos. Os erros histricos de Alberto Magno so frequentes: considera Pitgoras como um Estico, cr que Scrates era Macednio, que Anaxgoras e EmpdocIeseram oriundos da Itlia, chama a Plato "prnceps stoicorum", e assim sucessivamente. Por outro lado, no chegou a separar-se completamente do neoplatonismo agustiniano, do qual admite uma doutrina tpica: a concepo da matria, no como simples potencialidade ou privao de forma, mas como dotada duma certa actualidade consistente na inchoatio formae: a qual, como ele diz, "no a coisa nem parte da coisa, mas semelhante ao ponto, que no a linha nem parte da linha mas sim o seu princpio incoativo" (De natura et origine aninwe, 1, 2). Finalmente, e isto ainda mais grave, Alberto Magno no fixou claramente o centro especulativo da sua investigao, no sublinhou com vigor suficiente o princpio segundo o qual o aristotelismo deve ser reformado para servir de fundamento sistematizao filosfica da revelao crist. Por todas estas razes, a sua obra teria ficado como uma simples tentativa, no fora ter sido retomada e completada por S. Toms de Aquino. 268. ALBERTO MAGNO: VIDA E OBRA Alberto, denominado Magno, pertencia famlia dos condes de BolIstdt e nasceu em Lavingen, na Subia em 1193, ou, segundo outros, em 1206 ou 1207. Estudou em Pdua, onde conheceu o geral dos dominicanos, Giordano o Saxo, por influncia do qual ingressou naquela ordem. As palavras de Roger Bacon acima mencionadas, excluem a hiptese de ele ter seguido estudos regulares. Entre 1228 e 1245 ensinou em vrios conventos dominicanos. Em 1245 torna-se mestre de teologia, em Paris; e foi neste perodo que teve como aluno S. Toms de Aquino. Em 1248 foi chamado a Colnia, para ensinar na Universidade que acabava de ser fundada, e para a o seguiu S. Toms. Entre 1254 e 1257 ocupou o cargo de provincial dos dominicanos. Em 1256, numa viagem corte papal de Alexandre IV em Anagni, na Itlia, conheceu o livro de Guilherme de Santo Amor contra as ordens mendicantes e a doutrina de Averris sobre a unidade do intelecto. De 1258 a 1260 voltou a ensinar em Colnia, aps o que, durante algum tempo, foi bispo de Ratisbona e desempenhou numerosas misses da sua ordem e da Igreja. Em 1269 ou 1270 voltou para Colnia, onde morreu em 15 de Novembro de 1280. A obra de Alberto Magno vastssima: abrange 21 volumes in folio na edio Jammy e 38 volumes in-4. na edio Borgnet. Dizia expressamente, em todas as ocasies, que s queria expor a opinio de Aristteles; de facto, a sua obra segue fielmente os ttulos e as divises da obra aristotlica, da qual, embora no citando o texto, faz uma exposio intercalada de comentrios e digresses. Alberto Magno divide a filosofia em trs partes: filosofia racional ou lgica, filosofia real, que tem por objecto aquilo que no for obra humana, e filosofia moral, que tem por objecto as aces humanas. Os seus escritos de lgica consistem na exposio dos escritos de Aristteles, dos qus tambm utilizam os ttulos. Divide a filosofia real em fsica (e tambm aqui utiliza os ttulos e a ordem das obras aristotlicas); matemtica (a cujo grupo pertence uma s obra, Speculum astronomiae, de autenticidade duvidosa); e metafsica, qual pertencem a Metafsica e uma ampla parfrase do Liber de causis. filosofia moral pertencem os dois Comentrios tica e Poltica.
Alm destas obras que repetem o traado da obra aristotlica, Alberto Magno foi ainda autor de escritos teolgicos: um comentrio s Sentenas de Pedro Lombardo, uma Sumina de creaturis, uma Summa theologiae, um comentrio ao Pseudo-Dionsio, um Comentrio ao Antigo e Novo Testamento. Contra a doutrina averrostica, comps ainda a obra De unitate intellectus. Este ltimo e a Metafsica pertencem provvelmente aos anos 1270-1275. Todo o comentrio aristotlico foi composto por 11 Alberto Magno entre o seu quinquagsimo e septuagsimo ano de idade. Dissemos j que Alberto Magno no distingue, ou distingue mal, entre o pensamento de Aristteles e o dos seus intrpretes muulmanos. Destes intrpretes, Avicena aquele que mais o influencia; serve-se tambm amplamente da obra de Maimnides para a crtica e a correco das teses muulmanas. 269. ALBERTO MAGNO: FILOSOFIA E TEOLOGIA O trabalho a que Alberto Magno se dedica o de expor o pensamento de Aristteles. "Tudo aquilo que eu disse, disse-o como concluso da Metafsica, e de acordo com as opinies dos peripatticos: quem quiser discutir o que eu disse leia atentamente os seus livros e dirija-lhes, no a mim, os louvores ou as crticas que meream". E no final do livro Acerca dos animais: Eis o fim do livro sobre os animais; com ele termina toda a nossa obra de cincia natural. Limitei-me nesta obra a expor, o melhor que mo foi possvel, aquilo que os peripatticos disseram; e ningum poder nela encontrar o que eu prprio penso em matria de filosofia natural" . Que esconder verdadeiramente esta fidelidade de Alberto Magno ao aristotelismo, to energicamente proclamada e frequentemente repetida? Evidentemente, que a convico de que o aristotelismo no somente uma filosofia, mas a filosofia, a obra perfeita da razo, o termo ltimo do saber humano. Esta admirao por Aristteles, que Averris ( 241) explicitamente proclamava na sua obra, o pressuposto subentendido na posio de Alberto Magno. Este pressuposto leva-o precisamente a separar com nitidez o domnio da filosofia do da teologia. "H quem pense, diz ele 12 ((Met., XI, 3, 7), seguir o caminho da filosofia e, na realidade, confunde a filosofia com a teologia. Mas as doutrinas teolgicas no coincidem, nos seus princpios, com as da filosofia: a teologia fundamenta-se, no na razo, mas na revelao e na inspirao. No podemos pois discutir sobre questes teolgicas na filosofia" . E ainda, no De unitate (cap. l. ): " necessrio verificar com razes e silogismos qual a opinio que devemos aceitar e defender. No falaremos portanto daquilo que ensina a nossa religio, nem admitiremos nada que no possa ser demonstrado por intermdio dum silogismo". Deste modo, o reconhecimento do aristotelismo como a autntica filosofia, leva Alberto Magno a separar nitidamente a filosofia, que procede por razes e silogismos, da teologia, que se fundamenta na f. Servindo-se, por um
momento, da linguagem de Santo Agostinho, afirma serem dois os modos da revelao de Deus ao homem. O primeiro o de uma iluminao geral, isto , comum a todos os homens, e deste modo que Ele se revela aos filsofos. O segundo o de uma iluminao superior destinada a fazer intuir as coisas sobrenaturais; e nesta iluminao que se baseia a teologia. A primeira luz transparece nas verdades conhecidas por si mesmas, a segunda, nos artigos de f (Sum. theol., 1, 1, q. 4, 12). A teologia a f que, segundo as palavras de Santo Anselmo, vai em busca do intelecto e da razo (lb., 1, 1, q. 5). O seu impulso reside na piedade religiosa, e tem, com efeito, por objecto tudo aquilo que se relaciona com a salvao da alma (lb., 1, 1. q. 2). Mas a f, que no domnio religioso implica adeso e anuncia e a via que conduz cincia das verdades divinas, , no domnio filosfico, pura credulidade alheia a qualquer cincia. E isto porque a cincia se baseia na demonstrao causal e no em razes provveis, e a f s 13 pode ter o valor de uma opinio provvel (Ib., 1, 3, q. 15, 3). Era a primeira vez, na escolstica latina, que se estabelecia to nitidamente a separao entre filosofia, e teologia. O domnio da filosofia fica reduzido ao da demonstrao necessria. Para alm dele existir tambm uma cincia, mas uma cincia baseada nos princpios admitidos pela f, e que por isso obtm a sua validade da adeso e da anuncia do homem verdade revelada. O aparecimento da autonomia da investigao filosfica coincide em Alberto Magno com a exigncia duma investigao naturalista baseada na experincia. "Das coisas que aqui expomos, diz ele numa obra sobre botnica (De vegetalibus, ed. Jessen, 339), algumas delas foram por ns comprovadas com a experincia (experimento), enquanto que outras so mencionadas nas obras daqueles que, no tendo delas falado com ligeireza, antes as comprovaram tambm com a experincia. E de facto, s a experincia concede a certeza em tais assuntos, pois que, acerca de fenmenos to particulares o silogismo nada vale". 270. ALBERTO MAGNO: METAFSICA Aceitando o princpio de Aristteles segundo o qual aquilo que primeiro em si no primeiro para ns, Alberto Magno considera que a existncia de Deus pode e deve ser demonstrada, mas que tal demonstrao ter de ser feita a partir da experincia em vez de ser a priori. Reproduz, pois, as provas cosmolgicas e causais que a traduo escolstica. havia elaborado (S. theol., 1, 3, q. 18). Deus o intelecto agente universal que est perante as coisas na mesma relao em que o intelecto do artfice est para a coisa produzida, desde que este ltimo produza as coisas por si prprio e no por 14 uma disposio proporcionada pela arte (De causis, 1, 2, 1). Como intelecto, Deus tem em si mesmo as ideias, isto , as espcies ou razes de todas as coisas criadas, mas essas ideias no so distintas dele, ainda que se diferenciem em relao s prprias coisas; j que ele s se conhece a si prprio e duma forma imediata, sem nenhuma ideia ou espcie
intermediria (Summa theol., 1, 13, q. 55, 2, a. 1-2). Daqui resulta que sejam trs os gneros das formas: o primeiro o das formas que existem antes das coisas existirem, isto , no intelecto divino como causa formativa delas; o segundo o das formas que flutuam na matria; o terceiro o das formas que o intelecto, atravs da sua aco, separa das coisas (De nat. et or. animae, 1, 2). Estes trs gneros de formas constituem os trs tipos de universais anie rem, in re e post rem, solidamente admitidos pelo realismo escolstico. Mas Alberto Magno acrescenta uma limitao importante: o universal, enquanto universal, s existe no intelecto. Na realidade, est sempre unido s coisas individuais que so as nicas que existem. Na realidade, o universal s existe enquanto forma que constitui com a matria as coisas individuais. a essncia da coisa, essncia individual ou comunicvel a outras coisas. ainda o fim da gerao ou composio da substncia que a matria deseja realizar, e quem d o ser e a perfeio (o acto) aquilo em que se encontra. O universal pois, tambm, a quididade, isto , a essncia substancial da coisa, que sempre determinada, particularizada e prpria. Neste ltimo sentido de quididade, o universal a forma, que o intelecto separa da matria e considera na sua pura universalidade, abstraindo-a das condies individualizadoras (De intellectu et intellegibili, 1, 2, 2). Estas condies individualizadoras residem no quod est, que a existncia, o substrato ou sujeito 15 do ser. Com efeito, Alberto Magno aceita a doutrina da distino real entre a essncia e a existncia. Todas as criaturas so compostas por uma qudidade ou essncia (quod est) e por um sujeito ou sustentculo de tal quid~ "0 quod est a forma total; o quod est o prprio todo a que pertence a forma" (Sum. de creat., 1, 1, q. 2, a. 5). Esta composio tambm prpria das criaturas espirituais, s quais Alberto Magno nega por vezes a composio de matria e forma, opondo-se a Avicebro e aos escolsticos agustinianos. Ora o princpio da individuao precisamente o quod est, o sujeito da essncia; a qual, pelo contrrio, participvel e comum a outras coisas. E, dado que nas coisas corpreas o quod est a matria, pode dizer-se que nelas o princpio individualizante a matria, ainda que no enquanto matria, mas enquanto que, precisamente, sustentculo da essncia, substracto real da coisa (S. th., 11, 1, q. 4, a. 1-2). Mas o ponto no qual o aristotelismo parecia inconcilivel com a revelao crist era a eternidade do mundo. Os peripatticos muulmanos haviam elaborado rigorosamente o conceito da necessidade absoluta do ser enquanto ser; e deste princpio tinham deduzido, em primeiro lugar, a necessidade da prpria criao pela parte de Deus, enquanto inerente sua essncia autocognoscente, e em segundo lugar e por consequncia, a eternidade do ser criado. O nico que, de certa maneira, havia conseguido justificar a contingncia do acto criador e do ser criado, e portanto o incio temporal do mundo, embora mantendo intactos os pontos bsicos do aristotelismo, tinha sido Moiss Maimnides. precisamente a ele (a quem chama Rabi Moiss ou Moiss Egpcio) que se refere explicitamente Alberto Magno, seguindo-lhe cuidadosamente as pegadas. Maimnides tinha justificado o incio do mundo no
16 ALBERTO MAGNO tempo mostrando a contingncia do acto criador e, portanto, a no necessidade do ser criado. A mesma via seguida por Alberto Magno. A prova fundamental por ele aduzida a da diversidade dos efeitos que derivam de uma nica causa criadora: impossvel explicar esta diversidade a no ser recorrendo livre vontade divina. "Se se admite que a totalidade dos corpos foi trazida ao ser mediante escolha e vontade, torna-se, possvel a grande diversidade que ela apresenta. Demonstrmos j que o ser que actua por liberdade livre para produzir diversas aces. A diversidade que notamos nas rbitas dos cus no ter, portanto, outra causa que no seja a Sabedoria que ordenou e prconstituiu esta diversidade segundo uma razo ideal" (Phys., VIII, 1, 13). A este argumento tirado de Maimnides, acrescenta Alberto Magno o que deriva da considerao da diversidade do ser criado em relao ao ser de Deus, No podemos aqui utilizar a mesma escala de medida. Se a eternidade a medida de Deus, o tempo deve ser a medida do mundo. Se Deus precede o mundo enquanto a sua causa, o mundo no pode ter a mesma durao de Deus. Esta -razo parece-lhe ser suficientemente forte para justificar a opinio de que o mundo tenha sido criado, mais forte do que as razes aduzidas por Aristteles para defender as teses opostas; embora no suficientemente fortes para valerem como demonstrao. A concluso que "o incio do mundo pela criao no uma proposio fsica e no pode ser demonstrada fisicamente" (Phys., VIII, 1, 14). todavia certa a no necessidade do ser criado. A criao de Deus absolutamente livre, e um acto de vontade cuja nica causa ele prprio (S. th., 1, 20, q- 79, 2, a. 1, 1-2). O acto criador no implica uma relao necessria de Deus com a coisa criada, mas somente uma dependncia da coisa criada para 17 com Deus, a qual coisa criada comea a ser a partir do nada (1b., a. 4). 271. ALBERTO MAGNO: A ANTROPOLOGIA Alberto Magno negou a composio hilomrfica das substncias espirituais: no considera que a alma seja composta de matria e forma. Reconhece, porm, a composio, prpria de todas as criaturas, de existncia e de essncia, de quod est e quo est. O homem, que tal como todos os outros seres sublunares, participa na natureza corprea, distingue-se dos outros seres pela forma que anima o seu corpo, isto , pela alma. Pela sua funo de determinar e individuar no homem a matria corprea, a alma a forma substancial do corpo (S. th., 11, 12, q. 68). Como acto primeiro do corpo, a alma conduz o corpo ao ser; como acto segundo, condu-lo a agir (S. de creat., 11, 1, q. 2, a. 3). As trs potncias da alma, vegetativa, sensitiva e racional, constituem uma nica forma e uma nica actividade (lb., H, 1, q. 7, a. 1). Alberto Magno recusa a doutrina da pluralidade das formas, a qual, pelo contrrio, era admitida pelos agustinianos da sua poca. Mas o problema fundamental da antropologia de Alberto Magno continua a ser o
mesmo do aristotelismo, isto , o problema do intelecto. Alberto Magno, tem de combater a teoria tpica do aristotelismo muulmano, a da unidade do intelecto humano, teoria que exclui a multiplicidade das almas depois da morte e, por consequncia, a imortalidade individual. O principal argumento a favor desta tese era, como vimos ( 242), que as almas eram individuadas pelos corpos aos quais se uniam e que, portanto, toda a individuao cessa com a dissoluo do corpo. Admitindo com Avicebro uma matria espiritual individuadora da alma, en18 quanto tal, os contemporneos de Alberto Magno (Alexandre de Hales, Roberto Grosseteste) conseguem evitar o argumento averrostico. Mas Alberto Magno nega a existncia de uma matria espiritual; no pode, portanto, recorrer matria para justificar a individualidade da alma separada. Tem de recorrer ao quod est, ao substrato da essncia: o quod est desempenha nos seres espirituais a mesma funo ndividualizante que a matria desempenha nos seres corpreos. "0 princpio, que faz subsistir a natureza comum e a determina ao indivduo (ad hoc aliquid), tem a propriedade de um princpio material (principium hyleale); pelo que muitos filsofos lhe do o nome de hyliathis, derivado da palavra hyle-" (De causis, 11, 2, 118. A palavra hyliathis encontra-se adoptada no Liber de causis, cap. 9). Alberto Magno afirma o princpio segundo o qual " excepo do ser primeiro, tudo o que existe composto por quo est e quod est". Pode assim admitir a individualidade da alma como tal, uma individualidade conexa com a prpria essncia da alma, inseparvel, portanto, dela mesmo para alm da morte. Os intelectos que Alberto Magno distingue, seguindo sobretudo Avicena, so partes da alma humana. O intelecto agente deriva do quo est, isto , da essncia da alma, que acto; a inteligncia possvel deriva do quod est, isto , da existncia da alma, que potncia (Sum. de creat., 11, 1, q. 52, a. 4, 1). O princpio de individuao do intelecto portanto o intelecto em potncia, o qual individualiza o intelecto agente. Este ltimo como que uma luz, imagem e semelhana da Causa primeira. Em virtude do que, a alma abstrai as formas inteligveis das condies materiais e redu-las ao seu ser simples (S. Th., 11, 15, q. 93, 2). O intelecto agente e o intelecto potencial esto unidos atravs delas. Constituem o intelecto formal que, por sua vez, simples ou composto. O inte.19 lecto composto ou tem por objecto os primeiros princpios, e ento dito inato, ou intelecto adquirido, intellectus adeptus, enquanto se adquire atravs da investigao, da doutrina e do estudo (S. th., 11, 15, q. 93, 2). Chama tambm especulativo ao intelecto adquirido (De unit. intel. contra Aver., 6). O mesmo intelecto formal, quando dedica a sua luz aco, em vez de ser especulao, e ao bem, em vez de ser verdade, o intelecto prtico (Suni. de creat., 11, 1, q. 61, a. 4). pelo intelecto adquirido ou especulativo que o homem se torna, de certa maneira, semelhante a Deus, porque realiza a conjuno mais estricta com o intelecto agente: no qual j no existe a diferena entre o acto de comprender e a coisa compreendida, e onde a cincia se identifica com a coisa conhecida (De an., 111, 2,
18). Dado o carcter espiritual e divino da sua funo intelectual, a alma no depende do corpo; pelo que no perece com ele. Na sua actividade intelectual, ela a causa de si mesma'e os seus prprios objectos so incorruptveis: portanto, a morte do corpo no a afecta (De nat. et orig. animae, 11, 8). Deste modo, Alberto Magno, embora aceitando alguns pontos bsicos do aristotelismo, cr haver conseguido garantir, contra as doutrinas erradas do prprio aristotelismo, a verdade fundamental do cristianismo. Os outros aspectos da sua antropologia carecem de originalidade. Atribui ao homem o livre arbtrio como uma potncia especial que lhe pertence por natureza; e coloca a essncia do livre arbtrio na capacidade de escolher entre as alternativas que a razo apresenta ao homem (Sum. de creat., 11, 1, q. 68, a, 2). Aproveita de Alexandre de Hales a teoria da conscincia e da sindrese. A conscincia a lei racional que obriga o homem a actuar ou a no 20 actuar. A sindrese a disposio moral determinada por essa lei, o habitus que conduz o homem ao bem e lhe d o remorso do mal. s quatro virtudes cardeais que, com Pedro Lombardo, chama adquiridas, Alberto Magno junta as trs virtudes infusas, f, esperana e caridade (Summ. theol., 11, 16, q. 103, 2). NOTA BIBLIOGRFICA 268. A data de nascimento de Alberto Magno situad-i em 1193 por MICHAEL, Geschichte der dentschen Volkes vom 13 Jahrh. bis zum Ausgang des Mittelalters, 111, 1903, p. 69 e ss.; e por PELSTER, Kritische Studien zu Leben und zu den Shriften, AIberts der Grosse, 1920. 2 situada em 1206 ou 1207 por MANDONET, Siger de Brabante et Paverroisme latin au XIII.c sicle, I, Lovaina, 1911, p. 36-39; e por ENDRES, in "Historisches Jahrbuch", 1910, p. 293-304. Existem duas edies completas da obra de Alberto Magno: a de P. Jammy, Lyon, 1651 e a de Borgnet, Paris, 1890-1899, em 38 vol. in-4.1. Saram j alguns volumes duma edio crtica organizada pelos Padres DGminicanos, Mnster, 1951 e - .; outras edi5es: De vegetalibus, ed. Jessen, Berlin, 1867; Commentari in Librum Boethii De divisione, ed. De Lo, Bonn, 1913; De animalibus, ed. StadIer, Mnster, 1916-1920; Suma de creaturis, ed. Grabmann, Leipzig, 1919; Liber sex principiorum, ed. SuIzbacher, Viena, 1955. DuHEM, Systme du monde, V, p. 418-468; WILMS, Albert der Grosse, Mnaco, 1930; SCHEEBEN, Albertus Magnus, Colnia, 1955; NARDI, Studi di filosofia medioevale, Roma, 1960, p. 69-150. 269. Sobre as relaes entre filosofia e teologia: HEITZ, in "Revue des Seiences phil. et thol.", 1908, 661-673. 270. Sobre a metafsica: DANIELS, in "Beitrge", VIIII, 1, 2, 1909, 36-37, onde se examina a atitude vacilante de Alberto, Magno perante a prova ontolgica; ROHNER, in "Beitrge", XI, 5, 1913, 45-92;
21 PELSTER, Kritische Studien zu Leben und zuden Schriften A. s. d. Gr, 1920. Sobre as relaes com Plato: GAUL, in "Beitrge", XII, 1, 1913. Sobre as relaes com Maimnides: JO2L, Das Verhltnis A.& d. Gr. zu Moses Maimonides, 1863. 271 . Sobre a psicologia: SCI1NEIDER, in "Beitrge", IV, 5-66, 1903, 1906. 22 XV S. TOMS DE AQUINO 272. A FIGURA DE S. TOMS DE AQUINO A obra de S. Toms marca uma etapa decisiva da Escolstica. ele que continua e leva ao seu termo o trabalho iniciado por Alberto Magno. Atravs da explicao tomista, o aristotelismo torna-se flexvel e dcil a todas as exigncias da explicao dogmtica; e no por meio de expedientes ocasionais ou de adaptaes artificiosas (segundo o mtodo daquele), mas em virtude de uma reforma radical, devida a um princpio nico e simples situado no prprio corao do sistema, e desenvolvido com lgica rigorosa em todas as suas partes. Se Alberto Magno necessitava ainda de corrigir o aristotelismo partindo de doutrinas que lhe eram estranhas, aproveitando motivos e sugestes da prpria corrente agustiniana contra a qual polemizava, S. Toms encontra na prpria lgica do seu aristotelismo a maneira de situar os resultados fundamentais da tradio escolstica num sistema harmonioso e completo no seu conjunto, preciso e 23 claro nos seus detalhes. Neste trabalho especulativo, S. Toms ajudado por um talento filolgico nada comum: para ele, o aristotelismo j no , como era para Alberto Magno, um todo confuso formado pelas doutrinas originais e pelas diversas interpretaes dos filsofos muulmanos. Ele procura estabelecer o significado autntico do aristotelismo, deduzindo-o dos textos de Aristteles, vale-se dos textos rabes como fontes independentes, cuja fidelidade ao Estagirita analisa criticamente. Aristteles aparece a S. Toms como o termo final da investigao filosfica. Ele foi at onde a razo humana pode ir. Para alm desse ponto s existe a verdade sobrenatural da f. Integrar a filosofia e a f, a obra de Aristteles e a verdade revelada por Deus ao homem e de que a Igreja depositria, - a tarefa que S. Toms se prope. A realizao desta tarefa supe duas condies fundamentais. A primeira a separao ntida entre a filosofia e a teologia, entre a investigao racional, unicamente guiada e sustentada por princpios evidentes, e a cincia que tem por pressuposto a revelao divina. Com efeito, s em virtude desta separao ntida pode a teologia valer como completamento da filosofia, e a filosofia pode valer como preparao e auxiliar da teologia.
A segunda condio que, no prprio seio da investigao filosfica, se faa valer como critrio directivo e normativo, um princpio que exprima a disparidade e a separao entre o objecto da filosofia e o objecto da teologia, entre o ser das criaturas e o ser de Deus. Estas duas condies esto liga-das entre si: dado que filosofia e teologia no podem ser separadas uma da outra, se no se separarem e distinguirem os seus objectos respectivos; nem a filosofia pode servir de preparao e auxiliar da teologia, que o seu verdadeiro coroamento, se no inclui e faz valer em si mesma o princpio que 24 justifica precisamente esta sua funo preparatria e subordinada: a diversidade entre o ser criado e o ser de Deus. Este princpio pois, a chave da abbada do sistema tomista. ele que guia S. Toms na determinao das relaes entre razo e f e no estabelecimento pela razo da regula fidei; no centrar a funo cognoscitiva do homem volta da funo da abstraco; na formulao das provas da existncia de Deus; no aclarar os dogmas fundamentais da f. S. Toms formulou este princpio na sua primeira obra, De ente et essentia, como distino real entre essncia e existncia; mas tambm expresso na frmula da analogicidade do ser, da qual tambm se utiliza muitas vezes. Esta forma talvez a mais adequada para exprimir o princpio da reforma radical trazida ao aristotelismo por S. Toms. Um o ser de Deus, outro o ser das criaturas. Os dois significados da palavra ser no so nem idnticos nem totalmente distintos; antes se correspondem proporcionalmente, de tal modo que o ser divino implica tudo aquilo que a causa implica em relao ao efeito. S. Toms exprime-o dizendo que o ser no unvoco nem equvoco, mas anlogo, isto , que implica propores diversas. A proporo neste caso uma relao de causa e efeito: o ser divino causa do ser finito (S. th., 1, q. 13, a. 5). S. Toms relaciona este princpio com a analogicidade do ser afirmado por Aristteles acerca das vrias categorias. Mas em Aristteles, inconcebvel uma distino entre o ser divino e o ser das outras coisas; o ser aristotlico verdadeiramente uno, o seu significado primrio reside na substncia ( 73). Para S. Toms, o ser no uno. O criador est separado da criatura; as determinaes finitas da criatura nada tm a ver com as determinaes infinitas de Deus, unicamente as reproduzem de modo imperfeito e 25 demonstram a sua aco criadora. S. Toms orientou verdadeiramente o aristotelismo numa via oposta quela para a qual a filosofia muulmana o tinha orientado. Esta conclui na necessidade e eternidade do ser, de todo o ser, inclusiv do mundo. S. Toms conclui na contingncia do ser do mundo e na sua dependncia da criao divina. 273. S. TOMS: VIDA E OBRA Toms, pertencente famlia dos condes de Aquino, nasceu em Roccasecca (prximo de Cassino) em 1225 ou 1226. Iniciou a sua educao na abadia de
Montecassino. Em 1243, em Npoles, ingressou na ordem dos dominicanos, foi depois enviado para Paris, onde foi aluno de Alberto Magno. Em 1248, quando Alberto Magno passou a ensinar em Colnia, S. Toms seguiu-o e s voltou a Paris em 1252; comentou ento a Bblia e as Sentenas. O sucesso do seu ensino rapidamente se delineou. Mas entretanto, os mestres seculares da Universidade de Paris tinham iniciado a luta contra os frades mendicantes, "falsos apstolos precursores do anticristo", e pretendiam que lhes fosse negada a faculdade de ensinar. Contra o seu libelo, Sobre os perigos dos ltimos tempos, e contra o seu organizador, Guilherme de Santo Amor, S. Toms escreveu o opsculo Contra impugnantes Dei cultum et religionem. A princpio, pareceu que o Papa dava razo aos mestres seculares; porm, no ano seguinte, decidiu a disputa a favor das ordens mendicantes. S. Toms foi ento nomeado, assim como o seu amigo S. Boaventura, mestre da Universidade de Paris (1257). O livro de Guilherme de Santo Amor foi condenado e queimado em Roma, e o seu autor foi expulso de Frana pelo rei S. Lus. 26 Em 1259, S. Toms deixou Paris e regressou a Itlia, onde foi hspede de Urbano IV em Orvieto e Viterbo de 1261 a 1264. Em 1265 foi-lhe dado o encargo de organizar os estudos da sua ordem em Roma. A este perodo de permanncia em Itlia pertencem as obras principais: a Summa contra Gentiles, o segundo Comentrio s Sentenas, a 1 e a 11 partes da Summa theologiae. Em 1269 voltou para Paris, ocupando durante trs anos a sua ctedra de mestre de teologia. Novas lutas o ocuparam nesta poca. Os professores seculares, com Gerardo de Abeville e Nicolau de Lisieux, haviam retomado a luta contra as ordens mendicantes, e ele escreve ento o De perfectione vitae spiritualis contra o tratado de Gerardo Contra adversarium perfectionis christianae; e o Contra retrahentes a religionis ingressu, contra o De perfectione et excellentia status clericorum de Nicolau. de Lisicux. Escreveu ainda, contra a difuso do aristotelismo averrosta, principalmente por obra de Siger de Brabante ( 283), o De unitate intellectus contra averrostas. As quaestiones quodlibetales pertencem igualmente a este perodo, demonstrando a actividade polmica de S. Toms tambm contra a outra corrente da Escolstica, o agustinianismo. Em 1272, perante a insistncia de Carlos da Siclia, irmo de Lus IX de Frana, voltou a Itlia para ensinar na Universidade de Npoles. Mas em Janeiro de 1274, designado por Gregrio X, partia para o Conclio de Lio. Adoeceu durante a viagem, em casa da sobrinha Francisca de Aquino. Fezse conduzir abadia cistercience de Fossanova (prximo de Terracina) onde morreu em 7 de Maro de 1274. Conservam-se trs antigas biografias de S. Toms: as de Guilherme de Tocco, Bernardo Guidone e Pedro Calo. Da sua vida se ocupa amplamente o seu aluno Bartolomeu de Lucca na sua Historia ecclesiastica nova (22. , 20-24, 39; 23. , 8-15); e 27 conservamos tambm as actas do processo de canonizao de 18 de Julho de 1323 que contm testemunhos sobre o carcter e a vida do santo. S. Toms era alto, moreno, gordo, um tanto calvo, e tinha o ar pacfico e doce do estudioso sedentrio. Devido ao seu carcter fechado e silencioso os condiscpulos de Paris chamavam-lhe o boi mudo. Vir miro modo conte,-mplativus, chama-lhe
Guilherme de Tocco, e efectivamente dedicou toda a sua vida actividade intelectual. A prpria vida mstica, testemunhada nas actas do processo de santificao, reflecte a sua investigao e as suas meditaes. Os apstolos Pedro e Paulo vm ilumin-lo a propsito do seu comentrio sobre Isaas; vozes sobrenaturais incitam-no e louvam-no pela sua obra especulativa; a sua prece tende a obter de Deus a soluo dos problemas que lhe agitam a mente. A prerrogativa de S. Toms foi ter levado toda a vida religiosa do homem para o plano da inteligncia esclarecedora. Na data da sua morte, S. Toms tinha somente 48 ou 49 anos; mas a sua obra era j vastssima. As actas do processo de canonizao (contidas nos manuscritos 3112 e 3113 da Biblioteca Nacional de Paris) do-nos um catlogo dos seus escritos que enumera 36 obras e 25 opsculos; mas muito provvel que este catlogo seja incompleto. Ao perodo da sua primeira permanncia em Paris pertencem: De ente et essentia (125253), provavelmente a sua primeira obra, o Comentrio s Sentenas (1254-56), as Quaestiones disputatae de veritate e outros escritos menores. Mas a actividade principal a que ele desenvolve nos anos do seu regresso a Itlia e da segunda permanncia em Paris (1259-72). A este perodo pertencem: o Comentrio a Aristteles, o Commentario al Liber de causis (no qual S. Toms pode reconhecer a traduo dos Elementos de teologia de Proclo, de que Guilherme de Moerbecke lhe tinha 28 comunicado a traduo); o Comentrio a Bocio e ao De divinis nonzinibus do Pseudo-Dionsio; e, finalmente, as suas obras principais: a Sunima de veritate fidei catholicae contra Gentiles (1259-64), o segundo Comentrio s Sentenas e a Summa theologiae, a sua obra-prima, cujas duas primeiras partes foram escritas em 1265-71, enquanto a terceira, at questo 90, foi composta entre 1271 e 1273. A morte impediu-o de completar esta obra, cujo Suplemento foi acrescentado por Reginaldo de Piperno. Acrescentem-se ainda as Quaestiones disputatae e quodIffietales, que reflectem especialmente a activIdade polmica de S. Toms contra os averroistas e os telogos agustinianos. Dos numerosos opsculos, os mais famosos so o De unitate intellectus contra Averrostas e o De regimine principum. O primeiro, escrito durante a sua segunda estada em Paris (por volta de 1270) dirigido contra os averrostas latinos ( 283). Do segundo, s podem ser-lhe atribudos o livro 1 e os 4 primeiros captulos do livro 11: o restante obra de Bartolomeu de Lucca. 274. S. TOMS: RAZO E F O sistema tomista baseia-se na determinao rigorosa das relaes entre a razo e a revelao. Ao homem, cujo fim ltimo Deus, o qual excede a compreenso da razo, no basta a investigao filosfica baseada na razo. Mesmo aquelas verdades que a razo pode alcanar sozinha, no dado a todos alcan-las, e no est liberto de erros o caminho que a elas conduz. Foi portanto necessrio que o homem fosse instrudo convenientemente o com mais certeza pela revelao divina. Mas a revelao nem anula nem torna intil a razo: "a graa no elimina a natureza, antes a aperfeioa". A razo
29 natural subordina-se f, tal como no campo prtico as inclinaes naturais se subordinam caridade. evidente que a razo no pode demonstrar o que pertence ao mbito da f, porque ento a f perderia todo o mrito. Mas pode servir a f de trs modos diferentes. Em primeiro lugar, demonstrando os prembulos da f, ou seja aquelas verdades cuja demonstrao necessria prpria f. No se pode crer naquilo que Deus revelou, se no se sabe que Deus existe. A razo natural demonstra que Deus existe, que uno, que tem as caractersticas e os atributos que podem inferir-se da considerao das coisas por ele criadas. Em segundo lugar, a filosofia pode ser utilizada para aclarar as verdades da f mediante comparaes. Em terceiro lugar, pode rebater as objeces contra a f, demonstrando que so falsas ou, pelo menos, que no tm fora demonstrativa (In Boet. De trinit., a. 3). Por outro lado, porm, a razo tem a sua prpria verdade. Os princpios que lhe so intrnsecos e que so certssimos sendo impossvel pensar que so falsos, foram infundidos pelo prprio Deus, que o autor da natureza humana. Estes princpios derivam portanto da Sapincia divina e fazem parte dela. A verdade de razo nunca pode ser contrria verdade revelada: a verdade no pode contradizer a verdade. Quando surge uma contradio, sinal de que no se trata de uma verdade racional, mas de concluses falsas ou, pelo menos, no necessrias: a f a regra do recto proceder da razo (Contra Gent., 1, 7). O princpio aristotlico segundo o qual "todo o conhecimento comea pelos sentidos" utilizado por S. Tom s para limitar a capacidade e as pretenses da razo. A razo humana pode, certo, elevar-se at Deus, mas somente, partindo das coisas sensveis. "Mediante a razo natural, o homem no pode alcanar o conhecimento de Deus seno atravs 30 das criaturas. As criaturas conduzem ao conhecimento de Deus, como o efeito conduz sua causa. Portanto, com a razo natural s se pode conhecer de Deus aquilo que necessariamente lhe compete enquanto o princpio de todas as coisas existentes" (S. th., 1, q. 32, a. 1). Das duas demonstraes possveis razo, a a priori ou propter quid, que parte da essncia de uma causa para descer aos seus efeitos, e a powteriori ou quia, que parte do efeito para remontar causa, s a segunda pode ser utilizada para o conhecimento de Deus (Ib., 1, q. 2, a. 2). Mas essa, se leva a reconhecer com necessidade a existncia de Deus como causa primeira, nada diz acerca da essncia de Deus. Portanto, a fora da razo no consegue demonstrar a Trindade e a Encarnao, nem todos os mistrios que com esses se relacionam. Tais mistrios constituem os verdadeiros " artigos de f" que a razo pode dilucidar e defender, mas no demonstrar; enquanto que a existncia de Deus, e tudo o que acerca de Deus a fora da razo consegue alcanar e demonstrar, constitui os prembulos da f. Esclarecidos assim os respectivos domnios da f e da razo, S. Toms passa a esclarecer os correspondentes actos. Aceitando uma definio de Santo Agostinho (De praedest. Sanctorum, 2), S. Toms define o acto da f, o crer,
como um "pensar com anuncia" (cogitare cum assensu) entendendo por "pensar" a "considerao indagadora do intelecto e o consentimento da vontade". O pensar que prprio da f um acto intelectual que continua a indagar porque no chegou ainda perfeio da viso certa. Ora, a anuncia no acompanha todos os actos intelectuais desta espcie: o duvidar consiste no no nos inclinarmos nem para o sim nem para o no; o suspeitar consiste em nos inclinarmos para um lado, mas sendo tentados ou movidos por todos os pequenos sinais da outra parte; o opinar na 31 aderncia a uma coisa, com receio que a contrria seja verdadeira. "Mas este acto que o crer, diz S. Toms (S. th., 11, 2, q. 2, a. 1), inclui a adeso firme a uma das partes; no que o crente se assemelha ao que tem cincia ou inteligncia; o seu conhecimento, todavia, no perfeito como o do que tem uma viso evidente; no que ele se assemelha ao que duvida, suspeita ou opina. E assim, prprio do crente pensar com anuncia". O assentimento implcito na f, se semelhante pela sua firmeza ao que implcito na inteligncia e na cincia, diferente pelo seu mbil: dado que no produzido pelo objecto, mas por uma escolha voluntria que inclina o homem para um lado e no para o outro. Com efeito, o objecto da f no "visto" nem pelos sentidos nem pela inteligncia, dado que a f, como disse S. Paulo (Ebrei, XI, 1), "a prova das coisas que se no vem" (S. th., 11, 2, q. 7, a. 4). Deste modo S. Toms, embora -reconhecendo f uma certeza superior do saber cientfico, funda essa certeza na vontade, reservando somente cincia a certeza objectiva. 275. S. TOMS: TEORIA DO CONHECIMENTO A teoria tomista do conhecimento decalcada sobre a aristotlica. A sua caracterstica mais original o relevo que nela toma o carcter abstractivo do processo do conhecimento e, consequentemente, a teoria da abstraco. Comentando a passagem do De anima (111, 8, 431b) onde se afirma que "a alma , de certo modo, todas as coisas" (porque as conhece todas), diz S. Toms: "Se a alma todas as coisas, necessrio que ela ou seja as prprias coisas, sensveis ou inteligveis-no sentido em que Empdocles afirmou que n s conhecemos a terra com a terra, a gua com a gua, etc. -ou ento 32 S. TOMAS DE AQUINO seja as espcies das prprias coisas. Porm a alma no as coisas, porque, por exemplo, na alma no est a pedra mas a espcie da pedra". Ora a espcie (eidos) a forma da coisa. Por conseguinte, "o intelecto uma potncia receptora de todas as formas inteligveis e o sentido uma potncia receptora de todas as formas sensveis". Deste modo, o princpio geral do conhecimento "cognitum est in cognoscente per modum cognoscentis" (o objecto conhecido est no sujeito cognoscente em conformidade com a natureza
do sujeito cognoscente). O processo atravs do qual o sujeito cognoscente recebe o objecto a abstraco. O intelecto humano ocupa uma posio intermediria entre os sentidos corpreos, que conhecem a forma unida matria das coisas particulares, e os intelectos anglicos, que conhecem a forma separada da matria. Isto uma virtude da alma que forma do corpo: portanto, pode conhecer as formas das coisas s enquanto esto unidas aos corpos e no (como queria Plato) enquanto esto separadas deles. Mas no acto de conhecer, abstrai-as dos corpos; o conhecer portanto um abstrair a forma da matria individual, e, assim, extrair o universal do particular, a espcie inteligvel das imagens singulares (fanpTIUNIMIRO = C414 Mas podemos considerar a cor dum fruto, prescindindo do fruto, sem que por tal afirmemos que exista separada do fruto; tambm podemos conhecer as formas ou espcies universais do homem, do cavalo, da pedra, prescindindo dos princpios individuais a que esto unidas; mas sem pretender que elas existam separadas destes. Portanto, a abstraco no falsifica a realidade. Ela no afirma a separao real da forma em relao matria individual: permite unicamente a considerao separada da forma; e tal considerao o conhecimento intelectual humano. de notar que esta considerao separa a forma no da matria 33 em geral mas da matria individual; pois, de contrrio, no poderamos entender que o homem, a pedra ou o cavalo tambm so constitudos por matria. "A matria dplice, diz S. Toms (S. th., [ q. 85, a. 1), isto , comum e signata ou individual; comum, como a carne e os ossos, signata como esta carne e estes ossos. O intelecto abstrai a espcie da coisa natural da matria sensvel individual, mas no da matria sensvel comum. Por exemplo, abstrai a espcie do homem desta carne e destes ossos que no pertencem natureza da espcie mas fazem parte do indivduo, e das quais, portanto, podemos prescindir. Mas a espcie do homem no pode ser abstrada pelo intelecto, da carne e dos ossos em geral". Donde resulta que, para S. Toms, o principium individuationis, o que determina a natureza prpria de cada indivduo e portanto o que o diferencia dos outros, no a matria comum (e de facto todos os homens tm carne e ossos, no se diferenciando portanto nesta medida); mas sim a matria signata ou, como ele tambm diz (De ente et essentia, 2), a "matria considerada sobre determinadas dimenses". Assim, um homem distinto de outro no porque est unido a um determinado corpo, distinto do dos outros homens por dimenses, isto , pela sua situao no espao e no tempo. Resulta ainda desta doutrina que o universal no subsiste fora das coisas individuais, mas somente nelas real (Contra Gent., 1, 65). De modo que ele in re (como forma das coisas) e post rem (no intelecto); ante rem, s na mente divina, como princpio ou modelo (ideia) das coisas criadas Un Sent., 11, dist. 111, q. 2, a. 2). O universal objecto prprio e directo do intelecto. Pelo seu prprio
funcionamento, o intelecto humano no pode conhecer directamente as coisas individuais. Com efeito, ele procede abstraindo da matria individual a espcie inteligvel; e a espcie, 34 que o produto de tal abstraco, o prprio universal. A coisa individual no pode portanto ser conhecida pelo intelecto seno indirectamente, por uma espcie de reflexo. Dado que o intelecto abstrai o universal das imagens particulares e nada pode entender seno voltando-se para as prprias imagens (convertendo se ad phantasmata), ele tambm s indirectamente conhece as coisas particulares, s quais as imagens pertencem (S. th., 1, q. 86, a. 1). O intelecto que abstrai as formas da matria individual o intelecto agente. O intelecto humano um intelecto finito, que, ao contrrio do intelecto anglico, no conhece em acto todos os inteligveis, mas tem somente a potncia (ou possibilidade) de os conhecer; , portanto, um intelecto possvel. Mas como "nada passa da potncia ao acto seno por obra do que j est em acto", a possibilidade de conhecer, prprio do nosso intelecto, torna-se conhecimento efectivo por aco dum intelecto agente, o qual faz com que os inteligveis passem a acto, abstraindo-os das condies materiais, e actuando (segundo a comparao aristotlica) como a luz sobre as cores Ub., 1, q. 79, especialmente a. 3). Contra Averris e seus seguidores, S. Toms afirma explicitamente a unidade deste intelecto com a alma humana. Se o intelecto agente estivesse separado do homem, no seria o homem a entender, mas sim o pretenso intelecto separado a entender o homem e as imagens que esto nele: o intelecto deve, portanto, fazer parte essencial da alma humana (Ib., 1, q. 76, a. 1; Contra Gerd., 11, 76). Por isso tambm o intelecto activo no um s, mas h tantos intelectos activos quantas as almas humanas: contra a tese da unicidade do intelecto, a qual era sustentada pelos averrostas, dirigido o opsculo famoso de S. Toms, De unitate intellectus contra Averrostas ( 284). O procedimento abstractivo do intelecto garante a verdade do conhecimento intelectual, porque 35 garante que a espcie existente no intelecto a prpria forma da coisa. Retomando a definio dada por Isaac ( 245) no seu Liber de definitionibus, S. Toms define a verdade como "a adequao do intelecto e da coisa" (S. th., 1, q. 16, a. 2; Contra Gent. 1, 59; De ver., q. 1, a 1). As coisas naturais, das quais o nosso intelecto recebe o saber, so a sua medida: j que ele possui a verdade s enquanto se conforma s coisas. Estas so, por sua vez, medidas pelo intelecto divino, no qual subsistem as suas formas do mesmo modo que as formas das coisas artificiais subsistem no intelecto do artfice. "0 intelecto divino medidor, mas no medido; * coisa natural medidora (em relao ao homem) * medida (em relao a Deus); o nosso intelecto medido, e no mede as coisas naturais mas somente as artificiais" (De ver., q. 1, a. 1). Portanto, Deus a verdade suprema, enquanto o -seu entender a medida do todo que existe e de qualquer outro entender (S. th., 1, q. 16, a. 5). Por isso, a cincia que ele tem das coisas a causa delas, do mesmo modo que a cincia que o artfice tem a coisa artificial
causa dessa coisa. Em Deus, o ser e o entender coincidem: entender as coisas significa, em Deus, comunicar-lhes o ser, desde que ao entender se una a vontade criadora (Ib., I, q. 14, a. 9). Isto estabelece uma diferena radical entre o intelecto divino e o humano, entre a cincia divina e a humana. Deus entende todas as coisas mediante a simples inteligncia da prpria coisa: com um s acto Deus capta (e, querendo, cria) a essncia total e completa da coisa, ou antes, de todas as coisas na sua totalidade e plenitude. Pelo contrrio, o nosso intelecto no consegue com um s acto o conhecimento perfeito de uma coisa; mas primeiro apreende-lhe um qualquer, dos seus elementos, por exemplo, a essncia, que o objecto primeiro e prprio do intelecto, e depois passa a entender a 36 propriedade, os acidentes e todas as disposies ou comportamentos que so prprios da coisa. Daqui deriva que o conhecimento intelectual humano se desdobra em actos sucessivos, segundo uma sequncia temporal; actos de composio ou de diviso, isto , afirmaes ou negaes, que exprimem mediante proposies aquilo que o intelecto vai sucessivamente conhecendo da prpria coisa. O proceder do intelecto, de uma composio ou diviso a outras sucessivas composies ou dlivises, isto , de uma proposio a outra, o raciocnio; e a cincia que assim se vai constituindo por sucessivos e conexos actos de afirmao ou de negao a cincia discursiva. O conhecimento humano , portanto, conhecimento racional, e a cincia humana, cincia discursiva: caractersticas que no se podem atribuir ao conhecimento e cincia de Deus, o qual entende tudo e simultaneamente em si prprio, mediante um acto simples e perfeito de inteligncia (lb., 1, q. 14, a. 7, 8, 14; q. 85, a. 5; Contra Gent., 1, 57-58). Isto estabelece tambm uma diferena radical entro a autoconscincia divina e a humana. Deus no s se conhece a si prprio, mas tambm a todas as coisas, atravs da sua essncia que acto puro e perfeito, e portanto, perfeitamente inteligvel por si mesmo. O anjo, cuja essncia acto, mas no acto puro porque essncia criada, conhece-se a si mesmo por essncia, mas no conhece as outras coisas seno atravs das suas semelhanas. O intelecto humano, pelo contrrio, no acto mas sim potncia; s passa a acto atravs das espcies abstradas das coisas sensveis em virtude do intelecto agente: no pode, portanto, conhecer-se seno no acto de fazer esta abstraco. Este conhecimento pode verificar-se de dois modos: singularmente, como quando 37 Scrates ou Plato tm conscincia (percipit) de ter uma alma ntelectiva pelo facto de terem conscincia de entender; geralmente, como quando consideramos a natureza da mente humana com base na actividade do intelecto. Este segundo conhecimento depende da luz que o nosso intelecto recebe da verdade divina, na qual residem as razes de todas as coisas, e exige uma investigao diligente o subtil, enquanto que o primeiro imediato (S. th., 1, q. 87, a. 1).
A possibilidade do erro est no carcter raciocinador do conhecimento humano. O sentido no se engana acerca do objecto que lhe prprio (por exemplo, a vista acerca das cores), a menos que haja uma perturbao acidental do rgo. O intelecto tambm no pode enganar-se acerca do objecto que lhe prprio. Ora o objecto prprio do intelecto a essncia ou quididade da coisa; no se engana, portanto, acerca da essncia, mas pode enganar-se acerca das particularidades que acompanham a essncia e que ele consegue conhecer compondo e dividindo (ou seja) mediante o juzo) ou atravs do raciocnio. O intelecto pode tambm incorrer em erro acerca da essncia das coisas compostas, ao formular a definio que deve resultar de diferentes elementos: isto ocorre quando refere a uma coisa a definio (em si mesma verdadeira) de uma outra coisa, por exemplo, a do crculo ao tringulo; ou quando rene elementos opostos, numa definio que por isso resulta ser falsa, por exemplo, se define o homem como "animal racional alado". No que se refere s coisas simples, em cuja definio no intervm nenhuma composio, o intelecto no pode enganar-se; s pode ser imperfeito, permanecendo na ignorncia da sua definio Ub., 1, q, 85, a. 6). 38 276. S. TOMS: METAFSICA No De ente et asseiaia, que a sua primeira obra e como que o seu Discurso do mtodo, S. Toms estabelece o princpio fundamental que, reformando a metafsica aristotlica, a adapta s exigncias do dogma cristo: a distino real entre essncia e existncia. Este princpio, de que mostrmos a progressiva afirmao na filosofia medieval, aceite por S. Toms na forma que recebera de Avicena 1. Mas este princpio servira a Avicena para fixar na forma ms rigorosa a necessidade do ser, de todo o ser, inclusiv do ser finito. Com efeito, a diferena entre o ser cuja essncia implica a existncia (Deus) e o ser cuja essncia no implica a existncia (o ser finito) consiste, segundo Avicena, em que o primeiro necessrio por si, o segundo necessrio por outro, e, portanto, deriva desse outro (do ser necessrio) quanto sua existncia actual. Na interpretao de Avicena, o princpio exclui a criao, implicando somente a derivao causal e necessria das coisas finitas em relao a Deus. Na doutrina tomista, pelo contrrio, tem a funo de levar a exigncia da criao pr pria constituio das coisas finitas, e por isso o princpio reformador que S. Toms utiliza para adaptar plenamente o aristotelismo tarefa da interpretao dogmtica. O primeiro resultado deste principio na doutrina tomista de separar a distino entre potncia e acto da distino entre matria e forma, conver1 Met., 11, tract. V, 1. De Avicena o principio passou a Maimnides, que o modificou, reduzindo a existncia a um simples eMente da essncia (Guide des gars, traduo Munk, p. 230-233). S Toms nega que a existncia seja um acidente (Quodl., q. 12, a. 5) e retoma o princpio tal como o havia enunciado Avicena. 39
tendo-a numa distino parte. Para Aristteles, potncia e acto identificam-se, respectivamente, com matria e forma: no h potncia que no seja matria, nem acto que no seja forma, e reciprocamente. S. Toms considera que no s a matria e a forma, mas tambm a essncia e a existncia esto entre sina relao de potncia e acto. A essncia, que ele tambm denomina quididade ou natureza, compreende no s a forma mas tambm a matria das coisas compostas; dado que compreende tudo o que expresso na definio da coisa. Por exemplo, a essncia do homem, que definido como "animal racional", compreende no s a "racionalidade." (forma) mas tambm a "animalidade" (matria). A essncia, assim entendida, distingue-se do ser ou existncia das prprias coisas; podemos entender, por exemplo, o que (quid) o homem ou a fnix (essncia), sem saber se o homem ou a fnix existem (esse) (De e. et ess., 3). Portanto, substncias como o homem e a fnix esto compostas por essncia (matria e forma) e existncia, separveis entre si: nelas, a essncia e a existncia esto entre si como a potncia e o acto; a essncia est em potncia em relao existncia, a existncia o acto da essncia; e a unio da essncia com a existncia, isto , a passagem de potncia a acto, requer a interveno criadora de Deus. Ora, nas substncias que so forma pura sem matria (os anjos, como inteligncias puras) falta evidentemente a composio de matria e forma, mas no falta a de essncia e existncia: tambm neles, com efeito, a essncia somente potncia em relao existncia e tambm a sua existncia requer, por isso, o acto criador de Deus. S em Deus a essncia a prpria existncia, porque Deus por essncia e, portanto, por definio; portanto, em Deus no h uma essncia que seja potncia; ele acto puro (S. th., 1, q. 50, a. 2). Por conse40 ,guinte, a essncia pode, estar na substncia, de trs modos diferentes. 1.o Na ltima substncia divina a essncia idntica existncia: por isso Deus necessrio e eterno. 2.o Nas substncias anglicas, privadas de matria, a existncia diferente da essncia: o seu ser no , portanto, absoluto, mas sim criado e, finito. 3. Nas substncias compostas de matria e forma o ser -lhes acrescentado do exterior e , portanto, criado e finito. Estas ltimas substncias, dado que incluem matria que o princpio de individuao, multiplicam-se, em vrios indivduos: o que no acontece nas substncias anglicas, as quais carecem de matria. Com esta reforma radical da metafsica aristotlica, S. Toms faz com que a prpria constituio das substncias finitas exija a criao divina. Aristteles, identificando com a forma a existncia em acto, estabelece que onde h forma h realidade em acto, e que por isso a forma por si mesma indestrutvel e incrivel, portanto, necessria e eterna como Deus. Garante assim a eternidade da estrutura formal do universo (gneros, espcies, formas e, duma maneira geral, substncias). Do seu universo excluda a criao, assim como toda a interveno activa de Deus na constituio, das coisas. E precisamente por isto, o seu sistema parecia (e era) irredutivelmente contrrio ao cristianismo, e pouco adequado para lhe exprimir as verdades fundamentais. A reforma tomista altera radicalmente a metafsica aristotlica, transformando-a de estudo do ser necessrio em estudo do ser criado.
Por consequncia, o termo "ser" aplicado criatura tem um significado no idntico, mas s semelhante ou correspondente ao ser de Deus. este o princpio da analogicidade do ser que S. Toms extrai de Aristteles, mas ao qual d um valor completamente diferente. Evidentemente que Aristteles havia distinguido vrios significados do ser, 41 mas s em relao s vrias categorias, e os tinha referido todos ao nico significado fundamental que o de substncia (ousia), o ser enquanto ser, o objecto da metafsica ( 72), Por isso, no distinguia, nem podia distinguir, entre o ser de Deus e o ser das outras coisas; por exemplo, Deus e a mente so substncias precisamente no mesmo sentido (Et. Nic., 1, 4, 1096 a). Por sua vez, S. Toms, em virtude da distino real entre essncia e existncia, distinguiria o ser das criaturas, separvel da essncia e, portanto criado, do ser de Deus, idntico essncia e, portanto, necessrio, Estes dois significados do ser no so unvocos, isto , idnticos, mas tambm no so equvocos, isto , simplesmente diferentes; -so anlogos, isto , semelhantes, porm de propores diferentes. S Deus ser por essncia, as criaturas tm o ser por participao; as criaturas enquanto so, so semelhantes a Deus, que o primeiro princpio universal de todo o ser, mas Deus no semelhante a elas: esta relao a analogia (S. th., 1, q. 4, a. 3). A relao analgica estende-se, a todos os predicados que se atribuem ao mesmo tempo a Deus e s criaturas; porque evidente que na Causa agente devem subsistir de modo indivisvel e simples aqueles caracteres que nos efeitos so divididos e mltiplos; do mesmo modo que o sol na unidade da sua fora produz no mundo terreno formas mltiplas e diferentes. Por exemplo, o termo "sapiente" referido ao homem significa uma perfeio distinta da essncia e da existncia, do homem, enquanto que referido a Deus significa uma perfeio que idntica sua essncia e ao seu ser. Por isso, referido ao homem, faz compreender aquilo que quer significar; referido a Deus, deixa fora de si a coisa simplificada, a qual transcende os limites do entendimento humano (S, th., 1, q 13, a. 5). A analogicidade do ser torna evidente42 mente impossvel uma nica cincia do ser, como o era a filosofia primeira de Aristteles, A cincia que trata das substncias criadas e serve de princpios evidentes razo humana a metafsica. Mas a cincia que, trata do Ser necessrio, a teologia, tem uma certeza superior e utiliza princpios que procedem directamente da revelao divina; por isso superior em dignidade a todas as outras cincias (inclusiv a metafsica) que lhe so subordinadas e servas (1b., 1, q. 1, a. 5). Dado que o ser de todas as coisas (excepto Deus) sempre um ser criado, a criao, se verdade de f como incio das coisas no tempo, alm disso verdade demonstrada como produo das coisas do nada e como derivao, de Deus, de todo o ser. De facto, e tal como vimos, Deus o nico ser que tal pela sua prpria essncia, isto , que existe necessariamente e por si mesmo: as outras coisas obtm dele o seu ser, por participao; tal como o ferro se torna ardente pelo fogo. Tambm a matria-prima criada. E todas as coisas do mundo formam uma hierarquia ordenada segundo a sua maior ou menor
participao no ser de Deus. Deus o termo e o fim supremo desta hierarquia. Nele residem as ideias, ou seja, as formas exemplares das coisas criadas, formas que, porm, no esto separadas da prpria sapincia divina: logo, deve dizer-se que Deus o nico exemplar de tudo (lb., 1, q. 44, aa. 1, 2, 4, 3). A separao entre o ser criado e o ser eterno de Deus, prpria de uma tal metafsica, permite que S. Toms salve a absoluta transcendncia de Deus em relao ao mundo e torne impossvel qualquer forma de pantesmo que queira identificar de algum modo o ser de Deus com o ser do mundo. S. Toms alude explicitamente, para as refutar, as duas formas de pantesmo aparecidas nos finais do sculo XII, A prmeira a de AmaIrco de Bene 43 ( 219) o qual considera Deus como "o princpio formal de todas as coisas", ou seja, a essncia ou natureza de todos os seres criados. A segunda a de David de Dinant ( 219) que identificou Deus com a matria-prima. Contra esta forma de pantesmo, assim como contra a de origem estica (mas que S. Toms conhecia por meio duma tese de Terncio Varro citada por Santo Agostinho, De civ. Dei, VII, 6) segundo a qual Deus a alma do mundo, S. Toms ope o princpio de que Deus no pode ser de nenhum modo um elemento componente das coisas do mundo. Como causa eficiente, Deus no se identifica nem com a forma nem com a matria das coisas de que causa, o seu ser e a sua aco so absolutamente primeiros, isto , transcendentes, em relao a tais coisas (S. th., 1, q. 3, a. 8). 277. S. TOMS: AS PROVAS DA EXISTNCIA DE DEUS A distino metodolgica feita por Aristteles (An. post., 1, 2) entre o que primeiro "por si" ou "por natureza" e o que primeiro "para ns", foi seguida e sempre respeitada por S. Toms. Ora se Deus primeiro na ordem do ser, no o na ordem dos conhecimentos humanos, os quais comeam pelos sentidos. portanto necessrio uma demonstrao da existncia de Deus; e deve partir daquilo que primeiro para ns, isto , dos efeitos sensveis, e ser a posteriori (demonstra-lio quia). Recusa, portanto, explicitamente a prova ontolgica de Santo Anselmo: ainda que se entenda Deus como "aquilo sobre o qual no se pode pensar nada de maior", no se segue que ele exista na realidade (in rerum natura) e no s no intelecto. 44 S. Toms enumera cinco vias para passar dos efeitos sensveis at existncia de Deus, Estas vias j expostas na Summa contra Gentiles (1, 12, 13) encontram a sua formulao clssica na Summa theologiae (1, q. 2, a. 3. A primeira via a prova cosmolgica, extrada da Fsica (VIII, 1) e da Metafsica (XII, 7) de Aristteles. Parte do princpio de que "tudo o que se move movido por outro". Ora se o que o move tambm por sua vez se move, preciso que seja movido por outra coisa; e esta por outra. Mas impossvel continuar at ao infinito; porque ento no haveria um primeiro motor nem os outros se moveriam, como, por exemplo, o pau no se move se no movido pela mo. Por conseguinte, necessrio chegar a um primeiro motor
que no seja movido por nenhum outro; e todos consideram esse motor como sendo Deus. Este argumento tinha sido -retomado pela primeira vez na escolstica latina por Abelardo de Bath ( 215); depois, insistiram nele Maimnides e Alberto Magno. A segunda via a prova causal. Na srie das causas eficientes no podemos remontar at ao infinito, porque ento no haveria uma causa primeira e, portanto, nem uma causa ltima nem causas intermedirias: deve, por conseguinte, haver uma causa eficiente primeira, que Deus. Esta prova, extrada de Aristteles (Met., 11, 2) tinha recebido de Avicena uma nova exposio. A terceira via extrada da relao entre possvel e necessrio. As coisas possveis existem somente em virtude das coisas necessrias: mas estas tm a causa da sua necessidade ou em si ou em outro. As que tm a causa noutro, remetem a esse outro, e dado que no possvel continuar at ao infinito, preciso chegar a algo que seja necessrio por si e seja causa da necessidade daquilo que necess45 rio por outro; e isso Deus. Esta prova extrada de Avicena. A quarta via a dos graus. Encontra-se nas coisas mais ou menos de verdade, de bem e de todas as outras perfeies: por conseguinte, tambm haver o mximo grau de tais perfeies e ser ele a causa dos graus menores, como o fogo, que maximamente quente, a causa de todas as coisas quentes. Ora a causa do ser, da bondade e de todas as perfeies Deus. Esta prova, de origem platnica, extrada de Aristteles (Met., li, 1). A quinta via a que se infere do governo das coisas. As coisas naturais, privadas de inteligncia, esto todavia dirigidas para um fim; e isto no seria possvel se no fossem governadas por um Ser dotado de Inteligncia, como a flecha no pode dirigir-se ao alvo seno por obra do arqueiro. Por conseguinte, h um Ser inteligente que ordena todas as coisas naturais para um fim; e este Ser Deus. Nesta prova que a mais antiga e venervel de todas, a exposio tomista segue, provavelmente, S. Joo Damasceno e Averris. O primeiro destes argumentos, o cosmolgico, tinha sido utilizado por Aristteles para demonstrar no s a existncia de Deus como primeiro motor, mas a existncia de tantos intelectos motores quantas so as rbitas dos cus ( 78). Para S. Toms, pelo contrrio, o primeiro motor um s e Deus; e s para Deus vlida a prova. Quanto ao movimento dos cus, parece, com efeito, supor uma substncia inteligente que o produza, porque, ao contrrio dos outros movimentos naturais, no tende para um s ponto, no qual deva cessar; mas muito possvel que se -ia produzido directamente por Deus. De qualquer modo, se quisermos admitir, como fizeram vrios filsofos e santos, inteligncias anglicas como motores dos cus, temos de 46 notar que no esto unidas aos cus como as almas dos animais e das plantas
esto unidas aos corpos (que so formas dos prprios corpos): mas esto unidas aos cus s com o fim de os mover, para lhes transmitir o impulso (per contactum virtutis [S. th., I, q. 70, a. 3]). S. Toms chega por isso existncia das inteligncias anglicas, separadas dos corpos, no atravs da considerao do movimento dos cus (dado que pode ser directamente produzido por Deus), mas atravs da considerao da perfeio do mundo, a qual requer a existncia de algumas criaturas incorpreas. Efectivamente, estas criaturas so, no mundo, as mais semelhantes a Deus, que puro esprito, e atravs delas o mundo, que efeito de Deus, se assimila maximamente sua Causa (lb., 1, q. 50, a. 1). 278. S. TOMS: TEOLOGIA Os dogmas fundamentais do cristianismo, a trindade, a encarnao, a criao so, segundo S. Toms, artigos de f, no susceptveis de tratamento demonstrativo; perante eles, a tarefa da razo limita-se, primeiro, a esclarec-los e depois a resolver as objeces. Os esclarecimentos de S. Toms tm uma tal lucidez e elegincia dialctica, que constituem uma das partes mais importantes de todo o seu sistema. Acerca do dogma da Trindade, a dificuldade consiste em entender de que modo a unidade da substncia divina se concilia com a trindade das pessoas. Para mostrar como se conciliam, S. Toms serve-se do conceito de relao. A relao, por um lado, constitui as pessoas divinas na sua distino; por outro lado, identifica-se com a nica essncia divina. Com efeito, as pessoas divinas so constitudas pelas suas relaes de origem: o Pai 47 pela paternidade, isto , pela relao com o Filho; o Filho pela filiao ou gerao, isto , pela relao com o Pai; o Esprito Santo pelo amor, isto , pela relao recproca de Pai e Filho. Ora estas relaes em Deus no s o acidentais (nada pode haver de acidental em Deus) mas reais; subsistem realmente na essncia divina. Por conseguinte, a prpria essncia divina na sua unidade, implicando a relao, implica a diversidade das pessoas (S. th., 1, q. 27-32, e em especial q. 29, a. 4 c). Segundo S. Toms, basta este esclarecimento para mostrar que "o que a f revela no impossvel". Isto tudo quanto deve fazer-se nestes assuntos; nos quais toda a tentativa de demonstrao mais nociva que meritria, porque induz os incrdulos a suporem que os cristos se baseiam, para crer, em razes carentes de valor necessrio (1b., 1, q. 32, a. 1). Quanto encarnao a dificuldade consiste em poder entender a presena, na nica pessoa de Cristo, de duas naturezas, a divina e a humana. A Igreja condenara j, no sculo V, duas interpretaes opostas deste dogma, interpretao s quais S. Toms reduz todas as outras para as refutar. A heresia de utiques ( 154), insistindo sobre a unidade da pessoa de Cristo, reduzia as duas naturezas a uma s: a divina. A heresia de Nestro ( 154), pelo contrrio, insistindo sobre a dualidade de naturezas, admitia em Cristo duas pessoas simultaneamente coexistentes, sendo a pessoa humana como que instrumento ou revestimento da divina. A distino real entre essncia e existncia nas criaturas, e a sua unidade em Deus, fornecem a S. Toms a
chave da interpretao. A essncia ou natureza divina identifica-se com o ser de Deus; Portanto, Cristo, que tem uma natureza divina, Deus, subsiste como Deus, isto , como pessoa divina; , portanto, uma s pessoa, a divina. Por 43 outro lado, dado que a natureza humana separvel da existncia, ele pode perfeitamente assumir a natureza humana (que alma racional e corpo) sem ser uma pessoa humana (Contra Gent., IV, 49). Assim se compreende como a natureza humana pde ser assumida por Cristo, que, revestindo-se dela, a enobreceu, elevou e tomou novamente digna da graa divina (S. th., 111, q. 2, a. 5-,6). Quanto criao, para S. Toms, ela s artigo de f no sentido de incio no tempo, no o sendo no sentido de produo a partir do nada. Pode admitirse, diz ele, que o mundo tenha sido produzido do nada e, por conseguinte, falar de criao sem admitir que ela venha depois do nada; assim fez Avicena na sua Metafsica (IX, 4). Pode dizer-se que se houvesse um p impresso no p da eternidade, ningum duvidaria que a pegada fora produzida pelo p; mas com isso no se admitiria um incio no tempo da prpria pegada (Santo Agostinho, De civ. Dei, XI, 4). Do mesmo modo, os argumentos que se podem aduzir em favor de um incio do mundo no tempo no levam a concluses necessrias. Por outro lado, tambm no concluem necessariamente os que pretendem demonstrar a eternidade do mundo. Dentre estes ltimos, o mais famoso dos aristotlicos, era o que baseava na eternidade da matria-prima, Se o mundo comeou a existir com a criao, quer dizer que antes da criao podia existir, isto , que era uma possibilidade. Mas toda a possibilidade matria, que depois passa a acto ao receber a forma. Antes da criao, existia portanto a matria do mundo. Porm, no pode haver matria sem forma; e matria e forma, em conjunto, constituem o mundo; por conseguinte, admitindo a criao no tempo, o mundo existiria antes de comear a existir, o que impossvel. A este argumento responde S. Toms que antes da criao o mundo era possvel s 49 porque Deus podia cri-lo e porque a sua criao no era impossvel; no se pode daqui deduzir a existncia de uma matria. Aos outros argumentos tambm tirados de Aristteles, segundo os quais os cus so formados por uma substncia incrivel e incorruptvel e que, portanto, so eternos, responde S. Toms que a incriabilidade e a incorruptibilidade dos cus e, portanto, do mundo, se entende per modum naturalem, isto , em relao aos processos naturais de formao das coisas, e no em relao criao. De modo que os argumentos que tendem a demonstrar a eternidade do mundo tambm no tm valor necessrio. A concluso que se no pode demonstrar nem o incio no tempo nem a eternidade do mundo; e isto deixa livre o caminho para crer na criao no tempo: id credere maxme expedit (S. th., 1, q. 46, a. 279. S. TOMS: PSICOLOGIA Segundo S. Toms, a natureza do homem constituda por alma e corpo. O homem no s alma; o corpo faz tambm parte da sua essncia, visto que ele alm de entender, sente, e o sentir no uma operao da alma sozinha. A alma (segundo a doutrina de Aristteles) o acto do corpo: a forma, o princpio
vital que faz com que o homem conhea e se mova: como tal substncia, isto , subsiste por sua conta. S Toms rejeita a doutrina do neoplatonismo judaico-muulmano aceite pelos franciscanos, segundo a qual a alma composta por matria e forma. No h uma matria da alma: se houvesse, estaria fora da alma que pura forma. Nem o intelecto poderia conhecer a forma pura das coisas, se tivesse em si matria: nesse caso, conheceria as coisas na sua materiali50 dade, isto , na sua individualidade, e, o universal escapar-se-lhe-ia (S. th., 1, q. 45, a. 4). No homem s subsiste a forma intelectiva da alma, a qual desempenha tambm as funes sensitiva e vegetativa. Duma maneira: geral, a forma superior pode sempre desempenhar as funes das formas inferiores; e assim, nos animais, a alma sensitiva desempenha tambm a funo vegetativa, enquanto que nas plantas s subsiste a alma vegetativa. S. Toms rejeita deste modo o princpio estabelecido por Avicena, e seguido pelo agustinianismo, segundo o qual num composto permanecem as formas dos vrios elementos que o compem; e que, por isso, na alma humana subsistem tambm as outras formas em conjunto com a forma intelectiva. Segundo S. Toms, formas diversas s podem coexistir em diversas partes do espao; porm, assim ficam justapostas, e no fundidas; no constituem um verdadeiro composto, o qual resulta sempre da fuso dos seus elementos. Por consequncia h uma nica forma na alma humana, a forma superior intelectiva que tambm desempenha as funes inferiores. Como forma pura, a alma imortal. A matria pode corromper-se, porque a forma (que acto, isto , existncia) pode separar-se dela. Mas impossvel que a forma se separe de si prpria; e portanto impossvel que se corrompa. Neste argumento tomista reaparece a prova platnica do Fedon, segundo a qual a alma, tendo em si a prpria ideia da vida, no pode morrer. Por outro lado, segundo S. Toms, mesmo admitindo a alma humana como sendo composta de matria e forma, tambm necessrio admitir a sua incorruptibilidade. De facto, s pode corromper-se o que tenha um contrrio; ora a alma intelectiva no tem contrrios, porque o prprio conhecimento dos contrrios constitui na alma humana uma -nica cincia, 51 Finalmente, o prprio desejo que a alma humana tem de existir um ndice (signum) de imortalidade. O intelecto que conhece o ser absolutamente, deseja naturalmente ser sempre; e um desejo natural no pode ser vo (S. th., q. 75, a. 6). Mas como possvel que a alma conserve, aps a separao do corpo, a individualidade que lhe vem precisamente do corpo? S. Toms responde que a alma intelectiva est unida ao corpo pelo seu prprio ser (esse); destrudo o corpo, este ser permanece, precisamente como era na sua unio com o corpo, individual o particular (1b., 1, q. 76, a. 2 a 2 um). A persistncia da individualidade na alma separada permitir ainda que, no dia da ressurreio dos corpos, todas as almas retornem a matria nas dimenses determinadas que lhes eram prprias reconstituindo assim o prprio corpo (De natura materiae, 7; Quodl., XI, a. 5).
280. S. TOMS: TICA Da quinta prova da existncia de Deus resulta que Deus ordena todas as coisas para o seu fim supremo, que Ele mesmo, enquanto Sumo Bem. O governo divino do mundo que ordena o mundo para o seu fim a providncia. Todas as coisas, inclusiv: o homem, esto sujeitas providncia divina. Mas isto no implica que tudo acontea necessariamente e que o desgnio providencial exclua a liberdade do homem. Aquele desgnio no s estabelece que as coisas sucedem, mas ainda o modo como elas sucedem. Por isso ordena previamente as causas necessrias para as coisas que devem suceder necessariamente, e as causas contingentes para as coisas que devem suceder contingentemente. Deste modo, a aco livre do homem faz parte da providncia divina (S. th., 1, q. 22, a, 4). E a liberdade do homem tambm no 52 anulada pela predestinao beatitude eterna. Com as suas foras naturais o homem no pode alcanar esta beatitude que consiste na viso de Deus, e deve ser portanto guiado pelo prprio Deus. Mas com isto Deus no obriga, com necessidade, o homem: porque faz parte da predestinao, que um aspecto da providncia, que o homem atinja livremente a beatitude para a qual Deus livremente o escolheu (1b., 1, q. 23, a. 6). Providncia e predestinao pressupem a pr-cincia divina, com a qual Deus prev os futuros contingentes, isto , as aces cuja causa a liberdade humana. A pr-cincia divina certa e infalvel, porque at as coisas futuras esto nela presentes; pelo que v desenvolverem-se em acto aquelas aces livres que, no sendo enquanto tais determinadas necessariamente pelas suas causas, so imprevisveis para o homem. Em Deus, que a prpria eternidade, todo o tempo est presente e esto portanto tambm presentes as aces futuras dos homens. Ele v-as, mas ao v-Ias no lhes tolhe a liberdade, como no lha tolhe c) que assiste no momento em que elas se cumprem (1b., 1, q. 14, a. 13). Por conseguinte, a vontade humana um livre arbtrio que no eliminado nem diminudo pelo ordenamento finalista do mundo nem pela pr-cincia divina, nem sequer pela graa que uma ajuda extraordinria de Deus, gratuitamente concedida. "Deus, diz S. Toms (1b., 1, 2, q. 113, a. 3), move todas as coisas no modo que prprio de cada uma delas. Assim, no mundo natural, move dum modo os corpos leves, doutro modo os corpos pesados, segundo a sua diferente natureza. Por isso move o homem para a justia segundo a condio prpria da natureza humana. Pela sua prpria natureza, o homem tem livre arbtrio. E, enquanto tem livre arbtrio, a tendncia para a justia no produzida por Deus independentemente desse livre 53 arbtrio: e Deus infunde o dom da graa justificante de modo a mover, em conjunto com ele, o livre arbtrio a aceitar o dom da graa". A presena do mal no mundo deve-se ao livre arbtrio do homem. S. Toms admite a doutrina platnico-agustiniana da no-substancialidade do mal: o mal
no seno ausncia de bem. Ora tudo o que existe bem, e bem no grau e na medida em que existe; mas dado que a ordem do mundo requer tambm a realidade dos graus inferiores do ser e do bem, os quais parecem (e so) deficientes e, portanto, maus em relao aos graus superiores, pode dizerse que a prpria ordem do mundo requer o mal. O mal de duas espcies: pena e culpa. A pena deficincia da forma (realidade ou acto) ou de uma das suas partes, necessria para a integridade de uma coisa: por exemplo, a cegueira a falta de vista. A culpa a deficincia de uma aco, que no foi feita ou no foi feita do modo devido. Dado que no mundo tudo est sujeito providncia divina, o mal, como ausncia ou deficincia de integridade, sempre pena. Mas o mal maior a culpa, que a providncia tenta eliminar ou corrigir com a pena (1b., 1, q. 48, a. 5-6). Ora a culpa (o pecado) o acto humano de escolha deliberada do mal, isto , a actuao discordante com a ordem da razo e com a lei divina (11, 1, q. 21, a. 1). o homem dotado da capacidade de distinguir o bem e de tender para ele. Com efeito, tal como h nele a disposio (habitus) natural para entender os princpios especulativos, dos quais dependem to-das as cincias, tambm nele existe a disposio (habitus) natural para entender princpios prticos, dos quais dependem todas as boas aces. Este habitus natural prtico a sindrese, que nos dirige para o bem e nos afasta do mal; o acto que deriva desta disposio, que consiste no aplicar os princpios gerais da aco 54 a uma aco particular, a conscincia (S. th., 1, q. 79, a. 12-13). As virtudes esto baseadas neste habitus geral do intelecto prtico. A este propsito, S. Toms aclara o carcter de indeterminao e de liberdade que so prprios do habitus. As potncias (ou faculdades) naturais esto determinadas a agir dum nico modo: no tm possibilidade de escolha nem liberdade, agem dum modo constante e infalvel. Pelo contrrio, as potncias racionais, que so prprias do homem, no esto determinadas num s sentido; podem agir em vrios sentidos, segundo a sua livre escolha; e por isso a escolha que fazem do sentido em que agem produz uma disposio constante, mas no necessria nem infalvel, que o habitus (11, 1, q. 55, a. 1). Neste sentido, as virtudes so habitus, disposies prticas para viver rectamente e para fugir do mal. S. Toms aceita a distino de Aristteles entre as virtudes intelectuais e as virtudes morais; destas ltimas, as principais ou cardeais, a que todas as outras se reduzem, so: justia, temperana prudncia e fortaleza. As virtudes intelectuais e morais so virtudes humanas: conduzem felicidade que o homem pode conseguir nesta vida com as suas prprias foras naturais. Mas estas virtudes no bastam para conseguir a beatitude eterna: so necessrias as virtudes teologais, directamente infundidas por Deus no Homem: f, esperana e caridade. 281. S. TOMS: POLTICA O fundamento da teoria poltica de S. Toms a teoria do direito natural, uma das maiores heranas que o estoicismo deixou ao mundo antigo e moderno e que, na poca de S. Toms, era considerada como fundamento do prprio direito
can55 nico. Segundo S. Toms, h uma lei eterna, isto , uma razo que governa todo o universo e que existe na mente divina; a lei natural, que existe no homem, um reflexo ou uma "participao" dessa lei eterna (S. th., 11, 1, q. 91, a. 1-2). Esta lei natural concretiza-se em trs inclinaes fundamentais: 1.a -a inclinao para o bem natural, que o homem tem em comum com qualquer substncia, a qual, enquanto tal, deseja a sua prpria conservao; 2.a-a inclinao especial para determinados actos, que so os que a natureza ensinou a todos os animais, como a unio do macho e da fmea, a educao dos filhos e outros semelhantes; 3 a-a inclinao para o bem segundo a natureza racional que prpria do homem, como o a inclinao para conhecer a verdade, a de viver em sociedade, etc. (S. th., 11 1, q. 94, a. 2). Alm desta lei eterna, que para o homem lei natural, existem duas outras espcies de leis: a humana, "inventada pelos homens e pela qual se dispem de modo particular as coisas a que a lei natural j se refere" (1b., 11, 1, q. 91, a. 3); e a divina, que necessria para dirigir o homem aos fins sobrenaturais (lb., a. 4). S. Toms afirma, de acordo com a teoria do direito natural, que no lei aquela que no justa, e que, portanto, "da lei natural, que a primeira regra da razo, devem ser derivadas todas as leis humanas" (1b., q. 95, a. 2). Segundo S. Toms, pertence colectividade ditar as leis. "A lei, diz ele (11, 1, q. 90, a. 3), tem como o seu fim primeiro e fundamental o dirigir para o bem comum. Ora ordenar algo com vista ao bem comum prprio de toda a colectividade (multitudo) ou de quem faz as vezes de toda a colectividade. Estabelecer as leis pertence portanto a toda a colectividade ou pessoa pblica que cuida de toda a colectividade; porque em todas as coisas s pode dirigir para um fim aquele a quem pertence 56 o prprio fim". Deste modo, S. Toms afirmou explicitamente a origem popular das leis. Todavia considera que entre as formas de governo enunciadas por Aristteles, a melhor a monarquia: como aquela que melhor garante a ordem e a unidade do estado, e a mais parecida com o prprio governo divino do mundo (De regimine princ., 1, 2). Mas embora o estado possa dirigir os homens para * virtude, no pode, pelo contrrio, dirigi-los para * fruio de Deus que o seu fim ltimo. Um tal governo espiritual pertence s quele rei, que no s homem mas tambm Deus, isto , a Cristo. E como o fim menos alto se subordina ao fim mais alto e supremo, assim o governo civil se deve subordinar ao governo religioso que prprio de Cristo, e que por Cristo foi confiado no aos reis terrenos mas ao papa. "A ele, como ao prprio Senhor Jesus Cristo, devem estar sujeitos todos os reis do povo cristo. Pois quele a quem pertence velar pelo fim ltimo devem estar sujeitos aqueles aos quais pertence velar pelos fins subordinados; estes devem estar sob o comando daquele" (De reg. princ., 1, 14). 282. S. TOMS: ESTTICA
Ocasionalmente, S. Toms exps tambm um ncleo de doutrinas estticas, extradas do Pseudo-Dionsio, e tambm com inspirao neoplatnica. O belo, segundo S. Toms, um aspecto do bem. idntico ao bem, enquanto o bem aquilo que todos desejam e, portanto, o fim; tambm o belo desejado e, portanto, tem valor de fim. Mas o que se deseja do belo a viso (aspectus) ou a conscincia: ao contrrio do bem, o belo est portanto em relao com a faculdade cognoscitiva. Por isso a beleza s se refere aos sentidos que tm maior valor cognoscitivo, ou seja, a vista e o ou57 Vido, que servem a razo; chamamos belas s coisas oisveis e aos sons, mas no aos sabores e aos dores. O que agrada, na beleza, no o objecto mas a apreenso (apprehellsio) do objecto (s. th., i, q_ 5, a. 4; 11, 1, q- 27 , a. 1). Seguindo o Pseudo-DionsiO (De div, noin., cap. 4, 1), S- Toms atribui ao belo trs caractersticas: perfeio, porque o que reduzido ou incompleto ou cas OU condies fundamentais: a integridade to e feio; a proporo ou congruncia das partes- a clareza. Estas caractersticas encontram-se no s nas coisas sensveis, irias tambm nas espirituais; as quais, portanto, tambm tm a sua beleza. Se chamamos belo a um corpo quando os seus membros so proporcionados e tem a cor devida, tambm chamamos belo a um discurso ou a uma aco que bem proporcionada e tem 90 a clareza espiritual da razo. E bela a virtude porque modera, com a razo, as aces humanas (S. th., 11, 2, q. 2, a, 1). Finalmente, chamamos bela a uma **iniaperfeitamente o seu objecto, -'em se ela representa
mesmo que eJe seja feio. E neste sentido, S. Toms- se- ,guindo Santo Agostinho (De trin., VI, 10), v a beleza perfeita no Verbo d e Deus que a imagem perfeita do Pai (S. th., 1, q. 39, a, 8). NOTA BIBLIOGRFICA 273. As antigas biografias de S. Toms (Pedro Calo, Guilherme de Toeco, Bernardo Guidone) foram novamente editadas por PRUMMER, Pontes vitac S. Thomae Aquinatis, Toulose, 1911 e .,, BARToLomEo DA LUccA, Hstria eccIesistica nova, XXrI, 20-24 39. XX111, 8-15. A edio completa da obra de 1 S. Toms apareceu pela primeira vez em Roma, por ordem do papa pio V, 1570-1571, 18 vol. n-folio, Poram posteriormente publicadas numerosas edies, das quais a ltirria, por ordem de Leo XIII, foi edi58 tada em Roma a partir de 1882, Das obras principais so numerosssimas as edies parciais e as tradues em todas as lnguas do mundo. Para a bibliografia: _MANDONNET-DESTREZ, Bibliograp7iie Thomiste, Kain, 1921;
2.1 edio completada por Chenu, Paris, 1960; "Bullettin Thomiste", 1924 e ss. Sobre a autenticidade das obras de S. Toms: XANDONNET, Les crits authentiques de St. Thomas, Paris, 1922; GRABMANN, in "Beitrge", XX11, 1-2, 1931. SERTILLANGES, St. Th. dA., 3 vol., Paris, 1910; GILSON, St. Th. d'A., Paris, 1925; RoUGIER, La scolastique et le thomisme, Paris, 1925; MARITAIN, Le doteur anglique, Paris, 1934; GRABMANN, Thomas von Aquin, Monaco, 1935; CHENU, Introduction Iltude de St. Th. dIA., Montreal-Paris, 1950; DIApcY, St. Th, dIA., Dublin-Londres, 1953; CRESSON, St. Th. dIA., Paris, 1957 3. 274. Sobre a relao entre razo e f: LABERTHONNIRE, St. Thomas et le rapport entre ia science et Ia foi, in "Annales de phiI. ehrtienne" , 1909, p. 599-621; LEFEBURE, Llacte de foi dIaprs Ia doctrine de St. Thomas dIA., Paris 1905, 2.1 ed., 1924; GILSON, twIes de phil. mdivale, p. 30 e ss.; CHENU, St. Th. dIA., et Ia thologie, Paris, 1959. 275. Sobre a teoria do conhecimento: PRANTL, Gesch. d. Log., III, p, 107119; LANNA, La teoria della conoscenza in S. Tommaso, Florena, 1913. Sobre a teoria da abstraco: BLANCH, Mlange thomiste, p. 237-251. Em geral: ROUSSELOT, Llintellectualisme de St. Th., Paris, 1908, nova ed. 1924; PEIFER, The Concept in Thomism, New York, 1952; DuPONCHEL, Hypothses pour Ilinterprtation de Ilaxiomatique thomiste, Paris, 1953. 276. Sobre a distino entre essncia e existn- [cia: Dumm, Systme du monde, V, p. 468 e ss.; GRABMANN, Doctrna S. Thomae de distinctione reali inter essentiam et esse ex documentis ineditis saec. XIII Mustratur, Roma, 1924; ROUGIER, Op. cit. Sobre a analogicidade do seu e a noo de participao: BLANCI1, in "Revue des Seiences phil. et thol.", 1921, p. 169193, e in "Revue d ePhilos.", 1923, p. 248-271; GARRIGOU-LAGRANGE, Dieu, son existence et sa nature, 4.1,ed., Paris, 1924, p. 200 e ss., etc.; LANDRY, in "Revue noscolastique". 1922, p. 257-280, 451-464; DE MUNNYNK, ib., 1923, p. 129-155; FABRO, La nozione metafsica di partecipazione secondo S. Tommaso 59 d'Aquino, Turim, 1950 2; ANDERSON, An Introduction to the Metaphysios of S. Th., Chicago, 1953; KLUBERTANS, St. Th. A. on Analogy, Chicago, 1960. 277. Sobre as provas da existncia de Deus e as suas fontes: BAEUMKER, in "Beitrge", 111, 2, p. 302 e ss,, 310, 324 e ss., 332-334; GRUNWALD, Geschichte der Gottesbeweise in MitteWters, in "Beitrge", VI, 3, p. 133-161, Sobre a teoria dos anjos: Dumm, op. cit., p. 539 e ss. 278. Sobre a teologia: GARRIGOU-LAGRANGE, op. Cit.; SLRTILLANGES, in. "Revue de Sciences phil. et thol.", 1907, p. 239-251; GEYER, in " Phi,losophisches Jahrbuch", 1924, p. 338-359.
279. Para a psicologia, os textos fundamentais so: Contda Gent., 11, 56-90; Quaestio disp. de an. e Summa theoL, 1, q. 75-89, 118-119. DOMET DE VORGES, La perception et Ia psychotoqie thomiste, Paris, 1892; FABRO, Percezione e pensiero, II, Milo, 1941; HART, The Thomistic Concept of Mental Faculty, Washington, 1930. 280. Sobre aliberdade: VERWEYEN, Das Problem der ]Villensfreffieit in der Schokstik, 1909 p. 692-713; GILSON, St. Thomas dIA. ("Les moraIistes chrtiens. Textes Qt conimentaires"), Paris, 1924; LAPORTE, in "Revue de Mt. et de Mor.", 1931, 1932, 1934. 281. Sobre a poltica: BAUMANN, Die Staatslehre d. h. Th. v. Aquino, LeIpzig, 1909; ZEILLER, Llide de Ptat dans Saint Thomas, Paris, 1910; MICHEL, La notion thomiste de bien ~mum, Paris, 1932; COTTA, Il concetto di legge nella "Summa Theologiae" di S. Tomm,aso d"Aquino, Turim, 1955; GILBY, The Political Thought of Th. A., Chicago, 1958. 282. Sobre a esttica: DE WULF, in "Revue no-seo,lastique", 1895, p. 188205, 341-357; 1896, p. 117-142, recolhidos in tudes historiques sur Ilesthtique de St. Th. dIA., Lovaina, 1896; VALENSISE, DellIestetica secondo i principii dell'Angelico Dottore, Roma, 1903; MARITAIN, in "Revue des Jenues", 1920; DE MUNNYNK, in San Tommaso, Milo, 1923, p. 228-246; Eco, Il probleina estetico in Tommaso dAquino, Turim, 1956. 60 XVI O AVERROISMO LATINO 283. AVERROISMO LATINO: CARACTERISTICAS DO AVERROISMO LATINO A primeira consequncia da introduo do aristotelismo na escolstica crist foi a plena delimitao dos campos respectivos da razo e da f. A razo o domnio das verdades demonstradas, e por isso, o das demonstraes necessrias e dos princpios evidentes que as fundamentam; a f o domnio das verdades reveladas, privadas de necessidade demonstrativa e de evidncia imediata, Esta distino solidamente mantida em toda a histria posterior do aristotelismo escolstico, ou melhor de toda a escolstica. Mas a obra de S. Toms no se tinha limitado ao reconhecimento desta distino: antes havia pretendido ultrapass-la, estabelecendo entretanto a impossibilidade de qualquer oposio entre os dois termos. "Pois que s o falso oposto ao verdadeiro, dizia S. Toms, como evidente pelas suas respectivas definies, impossvel que a verdade da f seja contrria aos princpios que a razo
61 conhece naturalmente" (Contra Gent., 1, 7). Toda a doutrina tomista est organizada com o fim de tornar impossvel esta oposio: o princpio da analogicidade do ser, no sentido em que desenvolvido por S. Toms, serve precisamente, por um lado, para demonstrar que o prprio estudo dos seres naturais tem necessidade de uma integrao sobrenatural, e por outro lado, serve para situar tal integrao na zona do ser em que a capacidade demonstrativa da razo no pode alcanar nem a afirmao nem a negao. Tomese como exemplo a maneira como S. Toms trata do problema da criao, o qual se iria tornar, fora do tomismo, um dos pontos cruciais da polmica escolstica: a criao uma verdade de razo, isto , demonstrvel; no entanto, no se pode demonstrar nem que tenha sucedido no tempo, nem que se situe fora do tempo, por isso lcito crer que tenha acontecido no tempo ( 278). O tomismo tentou assim demonstrar a coincidncia dos dois princpios, um de estrita inspirao aristotlica, exprimindo o outro a prpria possibilidade da investigao escolstica: isto , do princpio segundo o qual " impossvel que seja falso o contrrio de uma verdade demonstrvel" com o princpio: " -impossvel que uma verdade de f seja contrria verdade demonstrvel". Todavia, a no coincidncia destes dois princpios tinha sido a base do aristotelismo averroista. O aristotelismo, ou seja, a filosofia, tinha sido entendido por Averris (claro que num sentido mais conforme com as suas intenes originais) como no necessitando e no sendo susceptvel de integraes no-demonstrativas: continha, portanto, segundo Averris, tudo aquilo em que o filsofo deve acreditar (que coincide com aquilo que pode demonstrar) e constitui a verdadeira religio do filsofo, enquanto que a religio revelada no seno um modo aproximativo e imperfeito de se acercarem das prprias 62 verdades aqueles que no so capazes de seguir a via da cincia e da demonstrao. Deste ponto de vista no se podia excluir a possibilidade duma oposio entre as afirmaes da cincia e as crenas da f: mesmo que no se tratasse de uma oposio entre duas verdades, mas sim entre dois modos de exprimir a mesma verdade, dos quais um, o da f, muito mais imperfeito do que o outro porque, embora. estando adaptado sua tarefa prtica (a de dirigir as multides no caminho da salvao) est privado da necessidade racional prpria da cincia. Claro que a expresso "doutrina da dupla verdade", que foi posteriormente inventada e ainda frequentemente adoptada a propsito de Averris, dos averrostas e de qualquer outro ponto de vista que de qualquer forma admita a possibilidade de uma oposio entre a razo e a f, tal expresso no muito exacta: para Averris, em particular, a verdade uma s. Mas para os averrostas dos sc. XIV e XV essa expresso pode considerar-se dotada de uma certa verdade no sentido em que designe qualquer posio que reconhea uma oposio entre as concluses da filosofia e as crenas da f e no se preocupe em eliminar ou conciliar tal oposio. Na sua base, e como inspirao fundamental de todo o averrosmo, est o conceito da filosofia como cincia rigorosamente demonstrativa, e da felicidade do filsofo como coincidindo com a posse de tal cincia: no
inclui porm o conceito que, para l desta cincia e desta felicidade, existem uma verdade e uma felicidade diferentes, as quais so dadas pela f. Desta forma, o averrosmo podia chegar, e chegou, ao reconhecimento explcito de pontos de oposio entre os dois domnios, e no oferece nenhum princpio para anular tais oposies. Foi esta a situao em que se colocou aquela corrente que (na expresso de Renan) chamamos o averrosmo latino; corrente da qual s alguns estudos e descobertas recentes 63 permitiram conhecer o alcance, dado que as condenaes teolgicas de que foi objecto haviam impedido * difuso e a publicao do material historiogrfico * ela relativo. Fazem parte desta corrente Siger de Brabante, Bocio de Dcia, Bernier de Nivelles e Gosvino de Chapelle; mas destes dois ltimos quase nada se sabe. 284. SIGER DE BRABANTE: VIDA E OBRA Siger de Brabante, mestre da faculdade de artes da Universidade de Paris, aparece pela primeira vez na histria a 27 de Agosto de 1266, a propsito de desordens que se tinham verificado naquela Universidade. A data do seu nascimento foi fixada, com uma certa probabilidade, cerca de 1235. Em 1270, o dominicano Egdio de Lessines (que morreu cerca de 1304) expunha, numa carta a Alberto Magno, quinze teses sustentadas pelos mais clebres mestres de filosofia do estudo parisiense: 1. O intelecto de todos os homens numericamente uno e idntico. 2. A proposio w homem entende" falsa e imprpria. 3. A vontade do homem quer e escolhe por necessidade. 4. Todos os acontecimentos sublunares esto submetidos necessariamente aos corpos celestes. 5. O mundo eterno. 6. Nunca existiu um primeiro homem. 7. A alma, que a forma do homem individual, morre com a morte do homem. 8.O A alma separada depois da morte no sofre o fogo corpreo. 9.O O livre arbtrio uma potncia passiva, no activa, e movido necessariamente pelo objecto do desejo. 10.1 Deus no conhece as coisas particulares. 11. Deus no conhece aquilo que diferente de si prprio. 12. As aces humanas no so regidas pela providncia divina. 13. Deus no pode dar a imortalidade ou a incorruptibilidade a uma coisa mortal 64 AVERROIS ou corporal. 14. O corpo de Cristo, que foi crucificado e sepultado, no ou no foi sempre numericamente idntico, mas s relativamente. 15. O anjo e a alma so simples, ainda que no de uma simplicidade absoluta, no porque se aproximem do que composto, mas porque se afastam do que sumamente simples. As treze primeiras teses constituem os princpios do averrosmo parisiense; as duas ltimas pertencem doutrina tomista porque, em substncia, exprimem o princpio da unidade das formas e a simplicidade das substncias espirituais enquanto privadas de matria. Como resposta e refutao destas teses, Alberto Magno escreveu o seu tratado De quindecim
problematibus; e, provavelmente em consequncia dessa refutao, o arcebispo de Paris, Estevo Tempier, condenou as treze proposies nos finais desse mesmo ano de 1270. O averrosmo continuou todavia em Paris a sua propaganda, sob a direco de Siger e de Bocio de Dcia, at 7 de Maro de 1277 quando o mesmo arcebispo procedeu condenao de 219 proposies, que pertenciam no s ao averrosmo, mas tambm doutrina peripattica em geral. Esta segunda condenao assinalou o fim do averrosmo latino. Em 23 de Outubro de 1277 o inquisidor de Frana, Simo du Val, citou Siger de Brabante perante o seu tribunal para responder a uma acusao de heresia. Parece que Siger apelou para Roma e que a condenao foi confirmada. Ao certo sabemos que foi internado na prpria corte de Roma e passou a segui-Ia nas suas deslocaes. entre 1281 e 1284, enquanto a corte papal estava em Orvieto, Siger foi assassinado por um clrigo meio louco que estava ao seu servio. So os seguintes os escritos atribudos a Siger que, com um certo fundamento, podem considerar-se autnticos: 1. Quaestio utrum haec sit vera: homo est animal, nullo homo existente (1268); 2.O Sophis65 ma: omnis homine de necessitate est animal (1268); 3. Cotipendium super librum De generatione et corruptione (depois de 1268); 4.O Quaestiones in librum tertium De anima (cerca de 1268); 5.O Quaestiones logicales; 6. Quaestiones supra secundum Physicorum (cerca de 1270); 7. Impossiblia (1271-72); 8. Quaestiones naturales (cerca de 1271); 9. De aeternitate mundi (cerca de 1271); 10. Tractatus de anima intellectiva (1272-73); 11. De necessitate et contingentia causarum (cerca de 1272); 12. Quaestiones naturales (cerca de 1273); 13.O Quaestiones super 11-VII Metaphysicorum (1272-74), 14.o Quaestiones morales. Destas obras, umas foram publicadas por historiadores modernos e outras apareceram em estratos ou resumos. So atribudas a Siger muitas outras obras; mas algumas perderam-se completamente e outras so de autenticidade duvidosa ou contestada. 285. SIGER: NECESSIDADE DO SER E UNIDADE DO INTELECTO A fidelidade de Siger ao aristotelismo de feio averrosta aparece perfeitamente na quaestio: se ser verdadeira a preposio "o homem animal" supondo que no exista nenhum homem. Com efeito, tal questo relaciona-se com a distino real entre essncia e existncia, que tinha servido a S. Toms para a sua reforma do aristotelismo, Siger responde que "se se suprimem os homens individuais, suprime-se aquilo sem o qual a natureza humana no pode subsistir, e suprime-se assim a prpria natureza humana". Destrumos os indivduos, o homem deixa de existir; por isso, no se lhe pode chamar nem animal nem qualquer outra coisa. Essncia e existncia no so separveis, nem sequer nas coisas finitas. 66
Era assim eliminado o princpio que S. Toms tinha utilizado para mostrar que o ser das coisas finitas um ser criado e supe a aco activa de Deus; e Siger regressava ao princpio aristotlico (conservado pelo averrosmo) segundo o qual o ser, na sua estrutura universal, necessrio e eterno. Consequentemente admitia a eternidade da matria, do movimento e das espcies, reafirmando o princpio de que nenhuma espcie de entes comea a ser no tempo (De an. intell., ed. Mandonnet, 11, 159). Portanto, eterna inclusivamente a alma intelectiva, que no de forma nenhuma uma parte ou uma faculdade da alma humana. Est ligada ao corpo somente enquanto coopera com ele num nico trabalho (opus), que o de entender. Mas numericamente una e idntica em todos os homens porque, tendo o seu ser separado da matria, no se multiplica com a multiplicao da matria ou com a multiplicao dos corpos. Acontece com ela aquilo que acontece com todas as espcies (por exemplo, "homem") que so participadas por vrios indivduos, os quais diferem entre si material e numericamente, mas que, como forma deles, permanece nica e indivisa e no se multiplica com a multiplicao dos indivduos (De an. intel., 7). O De unitate intellectus de S. Toms, que nalguns manuscritos explicitamente indicado como tendo :sido dirigido contra Siger (contra magistrum Sogerum), deve ter sido escrito para refutar uma obra de Siger; no porm para refutar o Acerca da alma intelectiva, o qual, pelo contrrio, parece antes ser uma resposta s objeces de S. Toms. A principal destas objeces , como vimos ( 279) que se o intelecto fosse uma substncia separada, no seria o prprio homem a entender; ao que Siger responde que o intelecto actua no homem no como um motor, mas operans in operando, isto , 67 como um princpio directivo da sua actividade intelectual. E precisamente enquanto o homem sapiente participa nas aces do intelecto activo ou, pelo menos, permite que essas aces nele operem, que alcana aquela felicidade puramente contemplativa possvel de j obter dessa maneira, como Siger sustentava num tratado desaparecido (De felicitate) mas de cuja ideia restam traos em alguns averrostas do renascimento, especialmente em Nifo. 286. SIGER: A ETERNIDADE DO MUNDO E A DOUTRINA DA DUPLA VERDADE A unidade e eternidade do intelecto era uma tese que na filosofia de Siger, tal como no aristotelismo muulmano, estava estreitamente ligada da necessidade do ser em geral, e constituia um simples corolrio desse princpio mais geral. A esse mesmo princpio se liga a outra tese tpica do averrosmo, e da eternidade do mundo. Com efeito, se o mundo necessrio no pode ter tido um comeo e eterno. E Siger considera a necessidade do mundo como sendo uma verdade demonstrada, que deriva da prpria necessidade do ser divino. Com efeito, Deus necessariamente primeiro Motor ou primeiro Agente; como tal est sempre em acto; portanto, preciso que mova ou actue sempre. Segundo este ponto de vista, a criao no um acto livre de Deus mas deriva da sua prpria necessidade; e desta necessidade deriva tambm o ciclo imutvel da criao pelo qual todas as coisas retornam periodicamente nas mesmas condies, com base no movimento dos cus, que o intermedirio pelo
qual a necessidade divina actua no mundo. "Assim sucede, diz Siger, com as opi68 nies, as leis e as religies: todas as coisas inferiores percorrem um ciclo determinado pela rotao dos corpos celestes, ainda que os homens no recordem o retorno peridico de muitas delas, dado o seu afastamento no tempo" (De an. intell., 7). Siger encontrava deste modo, atravs de Averris, a concepo estica do devir cclico do mundo; e, admitindo a subordinao de todos os acontecimentos sublunares aos movimentos celestes, aceitava o determinismo astrolgico dos muulmanos. Todavia, perante o ntido contraste entre estas teses e os pontos fundamentais da f crist, Siger declara preferir esta ltima. "Estas proposies, diz ele, formulamo-las segundo as opinies do filsofo, mas no afirmamos que sejam verdadeiras". E aponta a mesma reserva a propsito da separao do intelecto, dizendo: "Se a santa f catlica contrria opinio do filsofo, a ela que ns preferimos, tanto neste caso como em todas as outras circunstncia s". S. Toms, referindo-se no De unitate (cap. 25) ao autor que pretende refutar, cita-lhe a seguinte frase: "Mediante a razo concluo necessariamente que o intelecto numericamente uno, mas pela f estou firmemente seguro do contrrio". esta a expresso tpica da doutrina da dupla verdade; e contra ela, S. Toms pode objectar que, nesse caso a f seria contrria razo, portanto, s verdades necessrias; e, por consequncia, falsa. As expresses que encontramos nas obras conhecidas de Siger no so to enrgicas como a que referida por S. Toms. Mas o seu sentido talvez o mesmo; dado que o filsofo, ou seja, Aristteles, a prpria encarnao da razo, tanto para Siger, como para Averris, como para o prprio S. Toms, e a irredutibilidade da sua opinio aos ensinamentos da f significa um contraste irremedivel entre as duas ordens da verdade: a verdade filosfica, 69 baseada como diz Siger "na experincia humana e na razo" e a verdade da f, baseada na revelao. 287. BOCIO DE DCIA O contraste entro as duas ordens de verdades aparece ainda mais ntido na obra do dinamarqus Bocio de Dcia, que foi aluno de Siger, e tambm foi mestre do estudo parisiense. Bocio foi autor, a',m de Comentrios s obras aristotlicas, de um trabalho sobre lgica, De modis significandis, e de outros tratados: De summo bono,- De somniis; De mundi aeternitate: este ltimo, s recentemente editado, particularmente significativo para a histria do averrosmo. Vimos que o princpio fundamental que o averrosmo latino aproveitava do aristotelismo muulmano o da necessidade do ser em geral: com efeito, derivam deste princpio as duas teses tpicas deste averrosmo, a da eternidade do mundo e a da eternidade do intelecto activo. Bocio afirma
claramente o princpio da necessidade como exigncia de quaisquer consideraes racionais ou naturais do mundo. Do ponto de vista racional, de facto, a natureza "o primeiro princpio no gnero das coisas naturais, e o primeiro princpio que o filsofo natural pode consideram (De mundi aet., ed. Saj, p. 96-97). O que significa que, para l da natureza, no existe, racional e humanamente falando, nenhum princpio superior; e que o mundo pode e deve ser explicado com base num seu princpio imanente que no reenvie a nada de superior natureza ou de diferente dela. Do ponto de vista da filosofia natural, a criao portanto impossvel: "possvel" ou "impossvel" so com efeito qualificaes que o filsofo adopta "com base nas razes que so investigveis pelo homem" ; dado 70 que mal abandona estas razes ele deixa de ser filsofo. "A filosofia no se baseia na revelao nem nos milagres" (1b., p. 117). Mas aquilo que impossvel para a filosofia no impossvel absolutamente ou em si, j que dito impossvel somente no mbito de um universo de discurso no qual valem como decisivas as razes naturais e os princpios em que elas se baseiam. Fora deste universo, a criao pode ser admitida como possvel: isto , possvel para uma causa "maior que qualquer causa natural": ou seja, que no conhea, ou transcenda, as limitaes ou os comportamentos prprios das causas naturais. A criao do mundo, que racionalmente impossvel, pode ser possvel a uma tal causa; e o reconhecimento dos dois diferentes universos do discurso, paralelos e irredutveis e em que se situam aquela impossibilidade e esta possibilidade, a nica "concordncia" que, segundo Bocio de Dcia, pode haver entre a filosofia e a f. Este ponto de vista tornava bviamente impossvel a investigao escolstica e a cincia teolgica que era a cpula ou a filha predilecta dessa investigao: assim se explica porque que isso foi constantemente considerado como um escndalo enquanto a escolstica permaneceu viva como a nica forma possvel de filosofia, e porque que, pelo contrrio, foi aceite e reconhecido medida que o prprio problema escolstico se encaminhava para a sua dissoluo. NOTA BIBLIOGRFICA 284. A figura de Siger de Brabante s recentemente pde ser estudada. As investigaes de HAURAU ("Journal des savants", 1886, 176-183; Histoire litt. de Ia France, vol. 30, 1988, 270-279; Notices et extraits, V, 88-89) e de DENIFLE (Chart. Univ. 71 Paris, 1, 487, 556) haviaxn esclarecido que as condenaes pronunciadas em 1270 e em 1277 pelo bispo de Paris, Estvo Tempier, eram fundamentalmente dirigidas contra o ensino de Siger. Mas quando BAEUMKER publicou em 1898 os Impossibilia (in "Beitrge", 11, 6) considerou-as (confirmando a opinio de HAuRAU) como uma obra polmica de autor desconhecido, e dirigida contra Siger; com a excepo de
seis nicas teses, que seriam do prprio Siger. MANDONNET (Siger de Brabante et Vaverroisme latin au XIII, Wele, I, Lovaina, 1911, p. 119 e ss.), demonstrou que toda a obra pertence a Siger, e que constituda por uma srie de sofismas, que, como era uso na Idade Mdia, tinham sido discutidos e refutados na escola, na presena do mestre (neste caso Siger). a reportatio, o resumo escrito, feito por um aluno de Siger, dos exercicios dialcticos que se faziam na escola. Ao mesmo gnero pertencem os Impossibilia de SIGER DE COURTRAI, que foi confundido, durante muito tempo, com Siger de Brabante. Dele sabemos que foi Mestre de artes = 1309, membro da Sorbonne em 1310 e Decano da igreja de Santa Maria de Courtrai de 1308 a 1330. As obras de Siger foram parcialmente editadas nos dois trabalhos abaixo mencionados de Mandonnet e Van Steenberghen. A carta de Egidio de Lessines foi editada pela primeira vez em Mandonnet, II, 29 e ss. Que o De unitate intellectus de S. Toms no seja a refutao do De anmia intellectiva de Siger (como Mandonnet considerava), mas que pelo contrrio este seja uma refutao do primeiro, foi demonstrado pela primeira vez por CHOSSAT, Saint Thomas d'Aquin et Siger de Brabant, in. "Revue de Phil., 1914, 553 e ss., e confirmado por NARDI, in Tommaso d'Aquino. Opuscoli e testi filosofici, 11, 7-8; por OTTAVIANO, Intr. traduo do opsculo tomista, Lanciano, 1935. Sobre a doutrina da dupla verdade: GILSON, La doctrine de Ia double vrit, in tudes de phil. mdiv., p. 51. Sobre Siger: P. MANDONNET, S. de B. et Vaverroisme latin du XIII- sicle, 2.1 ed. em 2 vol., Lovaina, 1908-1911; F. VAN STEENBERGHEN, S. d. B. dlaprs ses oeuvres indites, 2 vol., Lovaina, 1931-1942 (com ampla bibli.); C. A. GRAIFF, S. d. B. Questions sur Ia Mtaphysique, Lovaina, 1948; J. J. DUIN, La doe72 BO]PCIO trine de Ia Providence dans les crits de S. d. B., Lovaina, 1954 (com bib1.completa). Importante, tambm para as obras desaparecidas, B. NARDI, S. d. B. nel pensiero del Rinascimento italiano, Roma, 1945. 287. De Bocio: De summo bono e De somniis, ed. Grabmann, in Mittelalterliches Geistesleben, II, p. 200-224; De mundi aeternitate, ed. Saj, Budapeste, 1954. GREcoRY,Discussioni sulla doppia verit, in "Cultura e scuola", Roma, 1962, p. 99-106 (com bibli). 73 XVII
A LGICA DO SCULO XIII 288. LGICA DO SCULO XIII: DESENVOLVIMENTO DA LGICA MEDIEVAL Quando, nos meados do sculo XIII, a lgica comeou a ser considerada em ntima relao com a gramtica, e, portanto, como uma doutrina dos termos, isto , das palavras, consideradas como signos convencionais das coisas, esta concepo contraposta como via moderna concepo tradicional da lgica designada como via antiga. s duas partes da lgica aristotlica, denominadas agora como ars vetus, compreendendo as Categorias e as Interpretaes, e ars nova, compreendendo os Analticos primeiros e segundos, os Tpicos e os Elencos sofsticos, acrescenta-se agora, com base na nova tendncia, um outro corpo de doutrinas constitudas pelo estudo das propriedades dos termos. principalmente neste estudo que toma corpo a tendncia terminista ou nominalista da lgica do sc. XIII. Ela aparece j na lgica de Guilherme Shyreswood (falecido em 1249) e de 75 Lamberto de Auxerre; mas difunde-se sobretudo atravs da obra de Pedro Hispano, autor do mais famoso compndio medieval de lgica. Nos escritos destes autores e nos dos muitos outros que lhes seguiram as pegadas, nunca vem mencionada a diferena entre a lgica aristotlica e perspectiva conceptual prpria da lgica entendida como estudo das propriedades dos termos. As duas matrias vm simplesmente justapostas; a lgica aristotlica amputada das suas numerosas implicaes ontolgicas e metafsicas e reduzida, tanto quanto possvel, ao seu esqueleto formal. Mas o tratamento dos problemas ontolgicos e gnoseolgicos, sempre implcitos nos estudos de lgica, feito em conformidade com a nova orientao nominalista que comea a prevalecer a partir da segunda metade do sc. XIII. Esta orientao em grande parte inspirada em Abelardo, do qual repete a perspectiva ontolgica e gnoseolgica; mas os conceitos de que se serve so extrados da lgica estica, conhecida atravs da obra de Ccero e de Bocio. E dado que a lgica estica estava baseada no raciocnio hipottico, e que no organon aristotlico o raciocnio hipottico prprio da dialctica como faculdade do provvel, a dialctica, neste mesmo sentido de cincia provvel, comea a impor-se lgica e a englobar toda a lgica nos seus processos. Diz Pedro Hispano: "A dialctica a arte das artes, a cincia das cincias que abre caminho aos princpios de todos os mtodos. De facto, s a dialctica discute com probabilidade os princpios de todas as outras artes, pelo que deve vir em primeiro lugar na aquisio das cincias" (Summulae logicales, 1, 10. De acordo com o esprito da lgica estica, a lgica terminista fundamentalmente empirista. Os termos, dos quais estuda as propriedades, no indicam formas substanciais, no exprimem as estru76 turas necessrias do ser ou o ordenamento ontolgico do mundo, mas indicam somente objectos de experincia: coisas ou pessoas ou, ainda, outros termos.
A sua propriedade fundamental , portanto, a suposio (suppositio): isto , a propriedade pela qual, em todos os enunciados e raciocnios em que ocorrem, eles esto por (supponunt pro) tais objectos, e no por alguma outra forma, estrutura ou entidade de qualquer gnero. A doutrina da suppositio a principal caracterstica da nova lgica. Outra caracterstica importante o relevo que nela assume a doutrina das consequentiae, ou seja, dos raciocnios imediatos (sem termo mdio), prprios da lgica estica. Invertendo o procedimento caracterstico de Aristteles, que procurava reduzir ao silogismo todos os tipos de raciocnio, os lgicos terministas procuram reduzir todas as formas de raciocnio, incluindo o silogismo, a uma conexo do tipo "se... ento". Deste modo, o desenvolvimento da lgica segue a nova orientao da investigao filosfica: a qual, do campo da teologia em que permanecera durante o primeiro perodo da escolstica, se afastava cada vez mais para o da fsica e da antropologia, considerados como mais acessveis s capacidades da razo humana e mais fecundos de resultados positivos. Lgica terminstica, nominalismo e pesquisa fsica e antropolgica so os trs aspectos interrelacionados que caracterizam a escolstica da segunda metade do sc. XIII e do sc. XIV. Tais aspectos fazem com que a escolstica deste perodo assuma, na discusso dos problemas que preocupavam principalmente a escolstica precedente, uma atitude essencialmente crtica: orientao que leva a uma reviso dos conceitos da metafsica tradicional e a um cepticismo teolgico. 77 289. PEDRO HISPANO Pedro Hispano (Hispanus) nasceu em Lisboa, na segunda dcada do sc. XIII; estudou em Paris com Guilherme Shyreswood, do qual provavelmente extraiu as directrizes da sua lgica. Foi bispo cardeal de Tusculo, o em 1276 foi eleito papa, adoptando o nome de Joo XXI; faleceu, porm, no ano seguinte. Foi famoso como mdico e deixou numerosas obras ou tradues de livros de medicina. Mas a sua importncia no campo filosfico ficou a dever-se ao seu compndio de lgica, escrito provavelmente, em Siena, onde ensinou, e que tem o ttulo de Summulae logicales. Esta obra tem contedo idntico ao da Sinopse da lgica aristotlica, escrita em grego e atribuda a Miguel Psello (10181078 ou 1096); e foi considerada como uma traduo da obra de Psello. Na realidade, a Sinopse atribuda a Psello no passa da traduo grega das Summulae logicales feita por Jorge Scholarios (1400-1464). Aparecem pela primeira vez nas Summulae as vogais, as palavras e os versos mnemnicos que passaram a ser correntemente utilizados para o ensino da lgica. Por exemplo, indica-se por A a proposio universal afirmativa, por E a universal negativa, por 1 a particular afirmativa e por O a particular negativa, e aparecem os versos: A adfirmat, negat E, sed unicersaliter ambae, i firmat, negat O, sed particulariter ambae. Para indicar as figuras e os modos do silogismo so indicadas as palavras mnemnicas Barbara, Celarent, Darii, Ferio, etc., cujas vogais indicam a quantidade e a qualidade das proposies que constituem as premissas e a concluso do silogismo. Assim, no
78 silogismo Barbara, tanto as premissas como a concluso so universais afirmativas. A obra est dividida em sete tratados: 1) a enunciao; 2) os universais; 3) os predicamentos; 4) o silogismo, 5) os lugares dialcticos; 6) os sofismas; 7) as propriedades dos termos. Os seis primeiros tratados expem a l gica de Aristteles, o stimo expe a lgica moderna, ou seja, a lgica terminista. As propriedades dos termos consideradas nesta ltima parte so a suposio, a ampliao, a restrio, a denominao, a distribuio. Mas a mais importante destas propriedades a suposio, cuja teoria constitui a parte central da lgica nominalista. A suposio distingue-se da significao enquanto, contrariamente quela, prpria, no do termo isolado, mas do termo enquanto ocorre nas proposies, e constitui a dimenso semntica do prprio termo. Diz Pedro Hispano: "A suposio difere da significao porque a significao a imposio de um vocbulo coisa significada, enquanto que a suposio a acepo do prprio termo j significante por qualquer outra coisa; e, por exemplo, quando se diz o homem corre este termo homem est em vez de Scrates ou Plato ou outro qualquer. A significao prvia suposio, e as duas no so idnticas dado que o significado prprio do vocbulo e pela significao (Summulae, 6, 03): A distino entre as vrias espcies de suposies e os problemas que originam constitui a matria desta parte da lgica, e cria tambm os pontos de discordncia e de discusso entre os prprios lgicos da via moderna. Mencione-se somente a distino que, tendo sido formulada por Podro Hispano foi depois vulgarmente aceite pelos lgicos posteriores, ou seja, entre a suposio simples e a suposio pessoal. A suposio simples ocorre quando o termo comum empregue em vez da coisa universal que ele representa, como quando se diz "o homem 79 uma espcie", proposio em que o termo "homem" est em vez do homem em geral o no em vez de qualquer indivduo humano. A suposio pessoal, pelo contrrio, ocorre quando o termo comum est em vez dos indivduos que ele compreende, como na proposio "o homem corre", onde o termo "homem" est em vez dos indivduos humanos, isto , em vez de Scrates, Plato ou qualquer outro. A doutrina da suposio foi o maior instrumento forjado pela lgica medieval para um uso emprico da prpria lgica, isto , para um uso que no se refere a entidades de ordem metafsica. ou teolgica, mas sim a realidades ou conceitos que permanecem nos limites da experincia, ou so, de qualquer forma, acessveis ao homem. 290. RAIMUNDO LLIO Rimundo Lulio ocupa um lugar de relevo na histria da lgica medieval. Nasceu em Palma de Maiorca em 1232 ou 1235. Comeou por ser corteso na corte de Jaime 11, mas em consequncia de uma viso abandonou a vida mundana e dedicou-se vida religiosa (1265). Passa ento a dedicar-se luta contra o Islamismo e escreve numerosas obras contra a filosofia muulmana, especialmente contra o averrosmo; entretanto, ocupava-se tambm de outros estudos e, principalmente, de lgica. A partir de 1287 comeou a viajar de cidade em cidade, na propaganda das suas ideias. Embora com escasso xito,
deu lies em Paris, em 1282, sobre a sua Ars generalis. Viajou para Tunes, Npoles e pelo Oriente, aps o que regressou, voltando a viajar pelas cidades europeias. Em 1314 voltou a embarcar para Tunes e, segundo uma lenda, morreu lapidado pelos muulmanos em 29 de Junho de 1315. A sua actividade literria foi vas80 tssima e variada . Escreveu poemas, romances filosficos, obras de lgica e metafsica, tratados msticos, A sua hostilidade contra a filosofia rabe, especialmente contra o averrosmo, deriva da convico de que a f pode ser demonstrada com razes necessrias. A diversidade e a distino que o averrosmo estabelecia entre a razo e a f, fazem com que Raimundo Llio seja um seu encarniado adversrio. Segundo ele, a pr pria f suscita nos crentes as razes necessrias que a justificam. A f torna-se assim o instrumento do intelecto. O fim do intelecto no crer mas entender, e a f a intermediria entre o intelecto e Deus, j que por seu intermdio o intelecto pode elevar-se at Deus e satisfazer-se assim no seu primeiro objecto (ars magna, IX, 63). Mas a importncia de Raimundo Llio consiste na sua concepo de uma lgica entendida como cincia universal, fundamento Oe todas as cincias, concepo que ele expe num tratado intitulado Ars magna et ultima. E dado que cada cincia tem os seus princpios prprios, diferentes dos princpios das outras cincias, dever haver uma cincia geral, em cujos princpios estejam implcitos e contidos os das cincias particulares, tal como o particular est contido no universal. Mediante esta cincia geral, as outras cincias podem ser facilmente aprendidas (Ib., pref., ed. Zetzner, p. 218). Esta cincia no a metafsica dado que no trata do ser; considera somente os termos de cuja combinao podem resultar os princpios de todas as cincias. Estes termos so nove predicados absolutos (bondade, grandeza, eternidade ou durao, potncia, sabedoria, vontade, virtude, verdade, glria); nove predicados relativos (diferena, concordncia, contraste, princpio, meio, fim, maioria, igualdade, minoria); nove questes (se, o que, de que, porque, quanto, qual, quando, onde, de que 81 modo ou com quo), nove sujeitos (Deus, anjo, cu, homem, imaginao, sensveis, vegetativos, elementares, instrumentais); e ainda nove virtudes e nove vcios. A ars magna deve consistir essencialmente na capacidade de combinar os termos mencionados, de modo a formar com eles todas as verdades naturais que o intelecto humano pode atingir. A ars magna portanto verdadeiramente a arte, da combinao dos termos simples, para a descoberta sinttica dos princpios das cincias. Este conceito da arte combinatria suscitou seguidores entusisticos no Renascimento, entre os quais Agrippa, Carlos Bovillo e Giordano Bruno. O prprio Leibniz, mais tarde, retomou o conceito luliano de uma arte combinatria como fundamento de uma cincia inventiva, isto , dirigida a descobrir por via sinttica as verdades das cincias. E precisamente esta a originalidade de ars magna de Raimundo Llio. Numa poca em que a lgica era exclusivamente concebida como cincia analtica, como procedimento que se limita a decompor o pensamento nos seus termos para os
estudar independentemente, LUlio estabelece a exigncia de um procedimento sinttico e inventivo que no se limite a analisar as verdades conhecidas, mas que sirva para descobrir novas verdades. Trata-se de uma aspirao utpica, que apareceu vrias vezes na histria do pensamento. Reduzir o longo e paciente trabalho de investigao que toda a cincia supe, e pelo qual progride, a uma tcnica simples e rpida, aplicvel a todas as cincias, qualquer que seja o seu objecto, um ideal demasiado atraente para que o homem no se lhe dedique, por vezes, com complacncia. todavia um ideal utpico, porque todas as cincias, medida que progridem, constrem a sua lgica, ou seja, a sua disciplina de investigao; e esta disciplina no pode ser conhecida de 82 antemo nem aplicada automaticamente a todas as cincias. Porm, talvez se possa ver no ideal da ars magna de Llio a primeira manifestao da conscincia do carcter construtivo e sinttico da disciplina da investigao cientfica. Os outros aspectos da especulao de Raimundo Llio, o filosfico, o teolgico e o mstico, retomam motivos j conhecidos da tradio escolstica. e, portanto, no oferecem seno um escao interesse. NOTA BIBLIOGRFICA 288. Sobre a polmica -entre a via antiga e a via moderna: PRANTI, Gesch. der Logik, II, p. 261 ess.; II]@ p. 26, n. 103; IV, passim. 289. As Summulae logicales de Pedro Hispano foram editadas pela primeira vez em 1480 e tiveram numerosas edies no sculo XVI, assim como duas edies recentes: a de Mulilally, Notre Dame, (Ind.), 1945 e a de Bochensky, Turim, 1947. Nesta ltima aparecem abreviadas e organizadas em 12 tratados em vez de sete. As citaes do texto seguem esta ltima edio. As outras obras: Obras filosoficas, ed. Alonzo, 3 vol., Madrid, 1942-1952. A Sinop3e atribuida a Psello foi considerada como o original, da obra de Pedro Hispano pelo seu primeiro editor Ehinger em 1592 e a opinio era aceite por BRUCKER, Historia critica philosophiae, III, Leipzig, 1743, p. 817; e retomada depois por PRANTL, Gesch. der Logik, II, p. 264; 111, p. 18. Esta opinio foi combatida por TRUROT in "Revue Archol.", X, p. 267-281 e in "Revue Critique>, 1867, 194-203, o qual, pelo contrrio, v na Sinopse a traduo das Summulae logicales de Pedro Hispano. Esta opinio, confirmada por STAPPER, Papst Iohannes XXI, MUnster, 1898, p. 16 e ss. e por ZERVOS, Un philosophe noplatonicien du XI sicle: M. Psellos, Paris, 1920, p. 39-42, pode considerar-se como definitivamente estabelecida. E. ANOLD, Zur Geschichte der SuppositionsIchre, In "Symposion", M, Mnaco, 1952. Bibliografia sobre Pedro Hispano, in "Rev. Portuguesa de Fil.>, 1952. 83
.1,
1,11
290. A primeira edio completa das obras de Raimundo Llio foi impressa em Estiasburgo (Argentorati), 1598, e depois reimpressa vrias vezes. Uma edio, no completa, foi organizada por Salzinger e impressa em Mogncia, 1721-1742, e abrange 10 vGI. in-folio; alm destas: Obras originales de R. L., Palma de Maiorca, 1906 e ss.; Opera latina, Palma de Maiorca, 1952 e ss.; Obras essencials, Barcelona, 1957-1960. Sobre a actividade de Ll,io contra o averroismo: RENAN, Averros et l'averroisme, p. 255 e ss. Sobre a relao de Llio com a filosofia muulmana: KMCHER, in <@@Beitrge", VIII, 4-5, 1909. Sobre a lgica: PRANTL, Gesch. der Logik, 111, p. 145-177. Sobre a mstica: PROBST, in "Bp-itrge", XIII, 2-3, 1914. Sobre a figura de Llio duma maneira geral: PROBST, Caractre et origine des ides du bienheureux Raymond Lulte, Toulouse, 1912. OTTAVIANO, L'ars compendiosa de R. L., avec une tude sur Ia bibliographie et le fand ambrosien de Lu-lle, Paris, 1930 (com bibi.); PAOLo Rossi, Clavis universaZis, Milo, 1960, passim. Cf. tambm sobre todos os aspectos da obra de Llio os fascculos dos "Estudos Lullianos", Palma de Maiorca, 1957 e ss. 84 XVIII A POLMICA SOBRE O TOMISMO 291. A LUTA CONTRA S. TOMS Na luta contra o averrosmo encontravam-se coligadas as foras da tradio platnico-agustiniana e as do novo aristotelismo de Alberto o Magno e S. Toms de Aquino. Mas este aristotelismo representava, para a orientao tradicional da escolstica, um desconcertante desvio em relao aos cnones interpretativos que ela seguira desde o seu incio. Apesar do equilbrio evidente da sntese tomista, a qual, reconhecendo a relativa autonomia da razo tal como havia sido encarnada e expressa pela filosofia de Aristteles, a utilizava como um dcil instrumento para a explicao e defesa da verdade, a distncia a que esta sntese se encontrava do que at ento tinha constitudo o caminho principal da interpretao dogmtica, bastaria para provocar lutas e dissenes. Assim foi, com efeito. Na condenao pronunciada em 7 de Marco de 1277 pelo bispo de Paris, Estevo Tempier ( 284), estavam includas, entre diversas proposies averrostas, algumas teses de S. Toms, 85 precisamente as que se referem ao princpio da individuao e a negao de que as substncias intelectivas sejam providas de matria. Eram estas as teses que mais contrastavam com a doutrina platnico-agustiniana, tal como havia sido exposta, por exemplo, na Summa de Alexandre de Hales. Pouco tempo
depois, a 18 de Maro do mesmo ano, o arcebispo da Canturia, Roberto KiIwardby, condenava tambm a outra doutrina tpica do tomismo, a da unidade da forma substancial no homem, ou seja a afirmao de que "a alma vegetativa, sensitiva e intelectiva, constituem uma nica forma simples". Era o outro ponto em que o tomismo significava um ntido afastamento em relao ao augustinismo tradicional. A condenao era tanto mais significativa quanto provinha de um dominicano, de um confrade de S. Toms. Roberto Kilwardby, nascido em Inglaterra, tinha estudado em Paris onde alcanara o ttulo de Magister artium. Regressando a Inglaterra, ingressara na ordem dos dominicanos e foi mestre de teologia em Oxford de 1248 a 1261. Em 1272 ora arcebispo da Canturia. Nomeado cardeal em 1278 veio a morrer em Viterbo no ano seguinte. autor de Comentrios s obras lgicas de Aristteles, Porfrio, Bocio, Fsica e Metafsica de Aristteles, de um Comentrio s Sentenas e de uma introduo filosofia intitulada De ortu et divisione philosophae, na qual so utilizdas fontes crists e rabes. Estes escritos permaneceram inditos e s modernamente foram publicados alguns extractos ou dados sobre eles. Kilwardby segue a tradio agustiniana e poleraza vivamente contra S. Toms. Com Boaventura, defende a doutrina das razes seminais, acolhida dos Esticos por Santo Agostinho. A "matria-prima natural" deve considerar-se, no como privada de forma e actualidade, mas sim como algo "dotado das dimenses corpreas e 86 impregnado pelas razes seminais ou originais, as quais iro produzir as formas de todos os corpos especficos". Contra S. Toms insiste na distino entre as vrias partes da alma humana. A alma humana no simples mas composta: nela, as partes vegetativa, sensitiva e intelectiva so essencialmente distintas e constituem uma unidade s pela sua ordem e unio natural. A condenao contra S. Toms foi confirmada pelo seguidor e sucessor de Kilwardby no arcebispado da Canturia, Joo Peckham, a 29 de Outubro de 1284 e a 30 de Abril de 1286, especialmente no que se refere unfflade da formaalma no homem. Peckham, nascido em 1240, estudou em Paris com S. Boaventura, e pertencia ordem franciscana. Ensinou teologia em Paris e em Oxford, em 1276 foi nomeado leitor do Santo Pal cio em Roma, e em 1279, arcebispo da Canturia. Morreu em 8 de Dezembro de 1292. Ficou indito um grande nmero das suas obras. Comps uma Collectanea bibliorum sobro a concordncia entre os livros bblicos, obras do fsica (Perspectiva comniunis, Tractatus sphaerae, Theorica planetarum); um Comentrio ao Livro 1 das Sentenas, uma obra Sobre tica e uma srie de escritos exegticos e polmicos em defesa do ideal de pobreza dos franciscanos. Para a polmica entre o augustinismo e o tomismo so importantes as suas Cartas, algumas das quais s recentemente foram publicadas. Numa delas, datada de 1 de Junho de 1285, depois de condenar as novidades introduzidas em teologia nos ltimos vinte anos, enumera os pontos fundamentais do augustinismo, aos quais, com Alexandre de Hales e S. Boaventura, a ordem franciscana se tinha mantido fiel, e que constam das doutrinas sobre a lei eterna, a luz imutvel, as diversas potncias da alma e as razes seminais insitas na matria. Numa quaestio disputata sobre a luz eterna como guia do conhecer 87
humano (ed. Quaracchi, p. 180), pe trs condies do conhecimento: a luz criada, mas imperfeita, do intelecto humano, a luz incriada e supraresplandescente, o o intelecto possvel que apreende a espcie inteligvel. No mesmo plano polmico de Peckham, move-se Guilherme de la Mare seu compatriota e confrade franciscano, o qual ensinou em Oxford, morreu em 1298 e foi autor dum Correctorium fratris Thoinae, em que so indicadas e censuradas 118 proposies extradas das obras principais de S. Toms (Siimma, Quaest. disputatae, Quest. quodlibetales e Sententiae). Enquanto o geral dos franciscanos prescrevia no captulo de Estrasbwgo de 1282 a no difuso das obras de S. Toms a no ser acompanhadas dos comentrios de Frei Guilherme, a ordem dominicana reagia com vrios Correctoria ou Defensoria corruptori fratris Thomae (deformando-se assim satiricamente o ttulo da obra de Guilherme). O ,mais importante de tais Correctoria o que falsamente foi atribudo a Egidio Romano ( 294) e veio a ter muitas reimpresses. H conhecimento de mais quatro obras idnticas, mas que no entanto permanecem inditas. 292. MATEUS DE ACQUASPARTA Enquanto a luta contra o tomismo era assim conduzida no plano da condenao e censura eclesisticas, desenvolvia-se no plano doutrinal a polmica contra as posies filosficas do tomismo. Mateus, nascido em Acquasparta, na Umbria, entre 1235 e 1240, pertencia ordem franciscana; estudou em Todi e foi aluno de S. Boaventura na Universidade de Paris. Leccionou tambm em Paris como mestre de teologia. Em 1281 sucede a Peckham como Lector S. Palatii em Roma. Torna-se geral 88 da sua ordem em 1287, cardeal em 1288, bispo-cardeal de Porto e Rufina em 1291. Desempenhou cargos polticos no papado, de Bonifcio VIII, de quem era amigo. Morreu a 29 de Outubro de 1302. Escreveu um Comentrio s Sentenas, um Comentrio Bblia, Questioni disputatae. S estas ltimas foram recentemente editadas, no que se refere aos problemas do conhecimento. Mateus retoma totalmente a doutrina tpica do augustinismo: o conhecimento dirigido pela luz dlivina. Contra o cepticismo da Nova Academia, sustenta que h duas ordens de conhecimento absolutamente certas: por um lado, a autoconscincia, por outro, os axiomas da lgica e as proposies da aritmtica. A possibilidade de tais conhecimentos reside na luz divina. Para os alcanar, no basta a luz natural do intelecto humano, a no ser que ele se refira Luz eterna, fundamento -perfeito e suficiente do conhecimento, a alcance e a toque no seu grau supremo. "Tudo aquilo que se conhece com absoluta certeza, conhece-se nas razes eternas e na luz da primeira Verdade" (ed. Quaracchi, 1903, p. 261). Este princpio contraposto por Mateus de Acquasparta doutrina de S. Toms (que ele indubitvelmente ,inclui entre os quidam philosophantes contra os quais polemiza), doutrina segundo a qual basta a aco do intelecto agente para abstrair a espcie das coisas e determinar assim o verdadeiro conhecimento delas. E natural que ele rejeite a doutrina tomista aduzindo a autoridade de Santo Agostinho. "No se pode destruir desde os seus fundamentos a doutrina do bem-aventurado Agostinho: ele o doutor prncipe (doctor
praecipuus) que os doutores catlicos, especialmente os telogos, devem seguir (Ib., 252). E com efeito o conhecimento tem por objecto a essncia das coisas, mas tal essncia s se pode alcanar com o auxlio da luz divina. 89 Ao conhecer, por exemplo, o conceito de homem ou de qualquer outra coisa particular que tenha uma determinada essncia, eu no conheo um nada, nem sequer um ser em potncia ou algo nica-mente apreensvel que s subsista como tal: conheo sim, uma verdade eterna. Ora esta verdade eterna no pode ter o seu fundamento na coisa, dado que esta muda e a verdade no, a qual permaneceria vlida ainda que a coisa no existisse. A afirmao "o homem um animal racional" continuaria a ser vlida mesmo que no existisse nenhum homem. E uma verdade eterna tambm no pode ter o seu fundamento no intelecto, dado que o intelecto mutvel e aquela verdade vlida mesmo que no exista nenhum intelecto criado. As verdades eternas, independentes do objecto a que se referem e do sujeito que as formula, devem portanto ter o seu fundamento no Eterno Exemplar, no qual, segundo a palavra de Santo Agostinho, "permanecem imutveis as origens das coisas mutveis e residem as razes das coisas transeuntes". O objecto do nosso intelecto pois a essncia da coisa enquanto -referida pelo nosso intelecto (que tem o seu conceito) ao exemplar divino (Ib., 223). Todavia, a fidelidade professada por Mateus ao ensinamento agustiniano no lhe impede algumas concesses ao aristotelismo. Mateus serve-se dele para limitar ou corrigir o princpio agustiniano da pura interioridade do conhecimento. Se certo que a regra e o fundamento supremo do conhecimento a luz divina que do interior nos -ilumina, tambm certo que o prprio conhecimento est condicionado pelas coisas externas, e assim Aristteles (An. post., 11, 19) tem razo ao afirmar que o conhecimento produzido em ns pela via dos sentidos, da memria e da experincia. Mateus distingue desta forma no conhecimento um elemento a priori e um elemento a posteriori um o princpio formal, o outro 90 o princpio material. A espcie, produzida no intelecto pela coisa, o principio **naterial. A luz natural do intelecto agente o princpio formal eficiente. A espcie levada ao acto pelo intelecto agente o princpio formal, embora incompleto. A luz divina o fundamento eficiente primrio e principal e a luz por ela emanada o princpio formal completo e perfeito (lb., 294). A polmica contra S. Toms tambm evidente num outro ponto fundamental da doutrina gnoseolgica de Mateus de Acquasparta. Em primeiro lugar reafirma a validade da prova ontolgica de Santo Anselmo. "Quando o intelecto, escreve (ed. Daniels, 61), apreende o significado do nome de Deus, como aquilo em relao ao qual nada de maior se pode pensar, de nenhum modo pode duvidar ou pensar que Deus no exista". Em segundo lugar, e enquanto S. Toms tinha negado alma humana a possibilidade de ter conhecimento directo de si mesma e dos seus prprios actos e atribura unicamente a Deus a possibilidade de tal conheci- mento, Mateus sustenta que a alma se conhece a si mesma e s suas disposies, no s deduzindo esse conhecimento dos seus prprios actos, mas tambm dum modo intuitivo e objectivo atravs das suas essncias e
formalmente atravs das espcies por elas expressas (ed. Quaracchi, 334). S. Toms defendia que a alma no tem conhecimento directo das coisas singulares, alcanando-o somente "com uma certa reflexo" ( 275). Mateus afirma: "0 intelecto conhece as coisas singulares atravs das espcies singulares, os universais atravs das espcies universais, e no basta a espcie universal para tambm conhecer as coisas singulares" (ed. Quaracchi, 1903, 309). A contraposio da autoridade de Santo Agostinho s inovaes do tomismo tpica do procedimento de Mateus de Acquasparta. Contudo, tambm 91 nele se faz sentir a influncia do aristotelismo: o reconhecimento de uma condio emprica do conhecimento, o qual no tem precedentes na doutrina agustiniana, faz da sua gnoseologia uma doutrina eclctica de escassa originalidade e coerncia.
293. A ESCOLA DE S. BOAVENTURA O ensino de S. Boaventura em Paris formou um numeroso grupo de discpulos, todos pertencentes ordem franciscana. Para alm dos mais importantes, Joo Peckham, Mateus de Acquasparta, Guilherme de Ia Mare, muitos outros de menor importncia defenderam tambm o augustinismo franciscano. Rogrio de Marston, que estudou em Paris por volta de 1270 e ensinou em Oxford e depois em Cambridge, autor de duas coleces de Quaestiones disputatae e de dois Quodlibeta, apresenta uma tentativa de conciliao entre o augustinismo e o aristotelismo. Embora defendendo com muita energia o princpio agustiniano segundo o qual a certeza do conhecimento depende exclusivamente da directa iluminao de Deus, considera que o intelecto agente, de que falou Aristteles, precisamente a luz divina que ilumina e conduz o intelecto humano at verdade. Mas nesse caso o intelecto agente verdadeiramente uma substncia separada, porque o prprio Deus (ed. Quaracchi, 207). Ricardo de Middletown que estudou em Oxford e cal Paris, ensinou em Paris e morreu em 1307 ou 1308, autor de um Comentrio s Sentenas, de Quodlibeta, de Quaestiones disputatae e de escritos exegticos, aproxima-se mais, pelo contrrio, do ponto de Vista tomista. Considera que o intelecto humano iluminado por Deus, no directamente (como na doutrina tpica do augustinismo, mas 92 mediante uma "luz criada e natural que irradiada por Deus" (ed. Quaracchi, 235). Ricardo tambm se afasta da corrente franciscana pela sua negao da prova ontolgica de Santo Anselmo. Nesta mesma linha move-se Guilherme de Ware (ou de Guarra) que ensinou em
Paris nos fins do sculo XIII e foi mestre de Duns Escoto. Tambm ele considera que a luz natural, dada alma por Deus, basta para conhecer tudo o que acontece no domnio do conhecimento natural sem necessidade de uma imediata iluminao sobrenatural. A propsito da prova ontolgica, afirma que ainda que a proposio "Deus existe" seja conhecida por si prpria, o homem no pode apreend-la a no ser com esforo (cum magno labore), daido que os termos de que se compe no so conhecidos por experincia. Pedro Joo Olivi, nascido em Serignano, no Languedoque, em 1248 ou 1249, falecido na Narbona em 1298, foi o chefe dos espirituais e defensor da pobreza absoluta da ordem franciscana, doutrina que iria suscitar lutas e oposies no seio dos prprios franciscanos e no da Igreja em geral. Nas suas obras sobretudo notvel a doutrina das relaes entre a alma e o corpo. Posto o princpio de que as formas naturalmente primeiras s podem unir-se com as que so ltimas atravs das formas intermedirias, admite que a alma intelectiva se una ao corpo mediante a alma sensitiva. Isto exclui a identidade da forma intelectiva com a forma sensitiva da alma e implica a doutrina da multiplicidade das formas. no composto, a qual era tpica do augustinismo franciscano. 294. A ESCOLA TOMISTA Enquanto os Franciscanos defendiam contra o aristotelismo tomista o regresso ao augustinismo 93 que havia sido vigorosamente sustentado por S. Boaventura, a ordem dominicana defendia com os seus professores e mestres a doutrina de S. Toms. O grupo dos tomistas numerosssimo na segunda metade do sculo XIII; mas entre eles, a originalidade especulativa ou os ocasionais desvios da doutrina do mestre so ainda menos frequentes do que entre os franciscanos. O movimento tomista teve dois centros principais: um em Paris, outro em Npoles. O chefe da escola tomista parisiense foi Herv Ndlec (Herveus Natalis) que foi mestre na faculdade de teologia de Paris e morreu em Narbona, em 1323, um ms aps o processo de canonizao de S. Toms. Escreveu um Comentrio s Sentenas, Quaestiones disputatae, Quodlibeta e numerosos escritos polmicos. Na disputa sobre os universais, Herv o sustentador da chamada teoria da conformidade: o universal, que como tal existe somente no intelecto, objectivamente no seno a conformidade real dos vrios objectos por ele significados. Resulta pois da coincidncia das coisas particulares em algum atributo ou carcter comum. O chefe da escola tomista de, Npoles foi Joo de Npoles ou de Regina que estudou e ensinou em Paris e foi depois mestre na Universidade de Npoles. Autor de um Comentrio s Sentenas (que porm. nunca se descobriu), de treze Quodlibeta e quarenta e duas Quaestiones disputatae, o mximo defensor do tomismo desde os primeiros anos do sculo XIV at 1336, ano a que remontam as ltimas notcias que dele temos. A sua importncia, especulativamente nula, notvel sob o ponto de vista da difuso do tomismo em Itlia e da defesa do mesmo contra as escolas adversas, especialmente a escotista.
O tomismo encontrou defensores tambm fora dos dominicanos. Entre os eremitas agustinianos, 94 o chefe dos tomistas foi Egdio Romano, nascido em Roma em 1247 ou um pouco antes, aluno de S. Toms em Paris durante a segunda estadia deste nessa cidade (1268-1272) e defensor do tomismo contra as condenaes de Estevo Tempier e Roberto de Kilwardby. Numa obra intitulada Liber contra gradus et pluralitates formarum defende vivamente a unidade formal da alma humana contra o ponto de vista agustiniano. Aps a morte de Estvo Tempier, Egdio torna-se mestre em Paris; em 1295 foi consagrado arcebispo de Bourges por Bonifcio VIII. Faleceu em Avinho em 22 de Dozernbro de 1316. autor de seis Quodlibeta, de Quaestiones disputatae de ente et essentia, do De \nwnsura et cognitione angelorum, dos Theoremata de corpore Christi, de um Comentrio s Sentenas e de numerosos escritos exegticos. Egdio adopta uma certa liberdade frente doutrina tomista, que, no entanto, defende nos seus pontos essenciais. Afasta-se dela, por exemplo, ao admitir que o intelecto agente forma do intelecto possvel e que a causa principal do conhecimento intelectual em acto a espcie inteligvel, qual precisamente se deve a passagem a acto do intelecto possvel. Mas a importncia fundamental de Egdio reside talvez nos seus tratados polticos. O De regimine principum, que comps para o seu aluno e futuro rei, Filipe o Belo, e o De ecclesiastica sive Summi Pontificis potestate constitum expresses tpicas do curialismo, ou seja, da afirmao da superioridade do poder papal sobre os prncipes temporais da terra. Parece que a bula de Bonifcio, intitulada Unam sanctam e datada de 18 de Novembro de 1302, na qual se afirmava solenemente tal doutrina, se baseou precisamente na obra de Egdio, a qual devia ter sido escrita pouco tempo antes. 95 295. HENRIQUE DE GAND: A Metafsica Henrique de Gand, a quem os seus contemporneos chamaram o Doctor Solemnis, pertence ao grupo de pensadores que defendem e desenvolvem o augustinismo em oposio polmica mais ou menos explcita contra o tomismo. Entre esses pensadores ( 289), ele o de mais forte personalidade, o nico que demonstra uma certa liberdade especulativa. A sua biografia foi bastante renovada por estudos recentes. Nasceu em Gand (e no em Muda, perto de Gand) nos princpios do sculo XIII. No foi aluno de Alberto o Magno em Colnia, tal como o afirma a lenda, antes se formou na escola capitular de Tournai. Em 1267 era cnego em Tournai, em 1276 arcediago de Bruges, e de Tournai em 1278. Em 1277 torna-se mestre de teologia na Universidade de Paris, e como tal participou na reunio de profimsores de teologia, convocada nesse mesmo ano por Estvo Teimpier, pela qual foram condenadas proposies averrostas e tomistas. Morreu em 29 de Junho de 1293. A sua obra principal, composta entre 1276 e 1292, so os Quodlibeta (15 livros). Comps tambm uma Summa theologica, que ficou incompleta, e que trata das relaes entre filosofia e teologia, da doutrina do conhecimento e de Deus. Outras obras manuscritas so um Comentrio fsica aristotlica e
um Tratado de Lgica. O esprito que anima a obra especulativa de Henrique expresso pelo princpio que constitui o seu fundamento: a distino entro o esse essewiae e o esse existentiae. O ser da essncia aquele grau ou modo de ser que corresponde essncia como tal, independentemente da realidade, isto , do ser da existncia, o qual pode ou no acompanh-lo. Segundo ele, nenhuma essncia est privada do ser 96 que lhe compete enquanto essncia, sem a qual no seria uma essncia, antes se confundi-ria com o nada. O ser da existncia, a realidade efectiva, pode acrescentar-se ou no essncia, mas em ambos os casos, esta ltima , por si prpria, uma forma ou grau de ser, A essncia de Deus tal que inclui tambm o ser existencial e, portanto, Deus existe necessariamente. A essncia das criaturas no inclui o ser existencial, o qual lhos comunicado por Deus como causa eficiente. Mas isto no quer dizer que a essncia e a existncia estejam nas coisas criadas como dois princpios realmente diferentes e separveis. A essncia das criaturas no indiferente existncia, no sentido de no ter de facto nem o ser nem o no-ser e de estar indiferentemente disposta quer para um quer para o outro. S indiferente no sentido em que, mesmo que no exista actualmente, pode receber de outrem a existncia; e em que, mesmo que exista, pode perder essa existncia se ela deixar de lhe ser transmitida por outrem **(Qi,odl,, 111, q. 9). A distino entro esse essentiae e esse existentiae, ao levar a reconhecer essncia enquanto tal, um ser que lhe est inseparavelmente unido, conduz negao da distino real entre essncia o existncia que a alma da metafsica de S. Toms. Com efeito, esta distino explicitamente criticada e negada por Henrique de Gand. Se a essncia das coisas criadas no tivesse nenhum ser por sua conta, o ser teria de lhe vir de uma outra coisa, e o ser dessa outra coisa teria ainda de derivar de uma outra coisa e assim sucessivamente, at ao infinito. Na realidade, toda a criatura tem a sua existncia na sua essncia, enquanto o efeito o a semelhana do ser divino. "Tal como o raio de luz, diz Henrique (1b., 1, q. 9), participa da luz do sol, enquanto na sua essncia uma real semelhana dessa luz, tambm a criatura participa do ser de Deus, 97 enquanto na sua essncia uma semelhana do ser divino. Do mesmo modo, a imagem do selo, se subsistisse por sua conta fora da cera, seria uma semelhana do selo pela sua essncia e no por qualquer coisa que lhe fosse acrescentada. Assim, em qualquer criatura, o ser no algo de realmente diverso da prpria essncia e que lhe seja acrescentado; e mais, toda a criatura tem o ser pela prpria essncia pela qual aquilo que , enquanto efeito e semelhana do ser divino". Desta forma era directamente atacado o pressuposto fundamental da metafsica tomista. Enquanto a distino entre esse essentiae e esse existentiae serve a Henrique para justificar a dependncia das criaturas em relao a Deus, o reconhecimento de que a prpria essncia, enquanto tal, possui o seu ser, recondu-lo ao exemplarismo agustiniano. A essncia da criatura existe, enquanto efeito e semelhana de Deus. Portanto, Deus a causa e o modelo-causa exemplar de todas as criaturas.
Tambm neste caso o pensamento de Henrique de Gand se determina em oposio ao de S. Toms. Deus no contm as ideias prprias dos indivduos singulares (lb., V, q. 3); contm somente a essncia absoluta da criatura, isto , da espcie a que ela pertence, no a ideia desta ou daquela criatura, como S. Toms admitia (S. th., I, q. 15, a. 3). Todavia, assim como a essncia que uma s implica referncia aos mltiplos indivduos que so dela portadores (supposita), tambm a nica ideia divina da essncia implica a dos mltiplos indivduos, que levam em si a mesma nica essncia (Quodl., 11, q. 1). A metafsica de Henrique de Gand desenvolve-se em virtude de um princpio que radicalmente diferente do da tomista. Assim como a essncia tem em ,si o seu ser, tambm a matria tem em si o seu ser. Ela no pura potncia, como afirmava S. Toms 98 na sequncia de Aristteles, e dado que tem em si o seu ser, crivel por si e tem uma ideia prpria na mente do criador. A realidade da matria no lhe deriva pois da forma mas da sua prpria natureza de matria, que algo de subsistente em acto, ainda que no dotada daquela actualidade perfeita que a matria alcana somente em unio com a forma (1b., 1, q. 10). O princpio d,?,, individuao no a matria, como sustentava o tomismo, mas a negao. A negao individuante dupla, enquanto exclui no interior do indivduo a plurificabilidade e a diversidade, e enquanto exclui no exterior do indivduo a identidade com os outros indivduos. Com efeito, um indivduo tal enquanto no tem em si a possibilidade de ser diferente e exclui de si a possibilidade de ser idntico com os outros indivduos da mesma espcie (lb., V, q. 7) . 296. HENRIQUE DE GAND: A ANTROPOLOGIA A antropologia de Henrique de Gand tem um carcter voluntarista em oposio ao intelectualismo da antropologia de S. Toms. No que se refere ao conhecimento, a teoria de Henrique caracteriza-se por um ponto que se voltar a encontrar em Occam: a negao da espcie como intermediria do conhecimento. Segundo ele, com efeito, a espcie no necessria, j que o prprio objecto, presente na sua imagem, feito universal pelo Intelecto agente e torna-se assim o objecto imediato do intelecto (Qitodl., XIII, q. 11). Enquanto o prprio objecto intelectualizado pelo intelecto agente, no h necessidade da espcie. Como Rog rio de Mairston e Bacon, Henrique de Gand identifica com Deus o intelecto agente, embora tambm admita, como um 99 seu efeito, um intelecto activo na alma, o qual precisamente a actividade que transforma o objecto da imagem em objecto universal (lb., IX, q. 15). A aco de Deus, como intelecto activo, entendida por Henrique (segundo o modelo agustiniano) como aco iluminante; s que essa aco limitada queles que Deus livremente escolhe como depositrios da verdade. A ~ em Deus das regras eternas da verdade est condicionada por uma iluminao divina especial, a qual excede os poderes o os limites naturais do homem (S. th., 1, q. 2, ri. 26).
Com Santo Agostinho, Henrique afirma o primado da vontade sobre o intelecto. Sobre a vontade est fundada preferentemente a liberdade humana; sendo verdade que a escolha, condio da liberdade, supe o juzo da razo, tambm verdade que a vontade no segue necessariamente o juzo da razo, a qual, portanto, se limita a propor-lhe os objectos entre os quais a vontade se decide (Quodl., 1, q. 16). A vontade superior ao intelecto porque a sua disposio (habitus), a sua actividade e o seu objecto so superiores aos do intelecto. A disposio da vontade o amor, a do intelecto a sabedoria; e o amor superior sabedoria. A actividade do querer domina toda a vida humana e identifica-se com o objecto, que o fim a alcanar, enquanto que a actividade do intelecto permanece sempre distinta e separada do seu objecto. Por fim, o objecto do querer o bem, o qual o fim em sentido absoluto, mais o fim ltimo; o objecto do intelecto o verdadeiro, o qual um dos bens, subordinado, portanto, ao fim ltimo (lb., 1, q. 14). Dada esta superioridade da vontade, Deus mais * termo do amor do que o do conhecimento humano: * vontade une-se com o amor no seu fim, mais do que o intelecto se une com o conhecimento (lb., XIII, q. 2). 100 A doutrina de Henrique de Gand fixou em traos atraentes, e que desde logo se tornaram caractersticos, a oposio polmica contra o tomismo. Dado que Henrique pertencia ao clero secular e no aos franciscanos, a sua obra demonstra como era viva esta oposio mesmo fora do ambiente franciscano, e como ela acaba por revestir, mesmo em personalidades mais independentes da tradio agustiniana, o aspecto dum retomo ao augustinismo. 297. GODOFREDO DE FONTAINES Aluno e depois colega de Henrique de Gand na Universidade de Paris, Godofredo de Fontaines pertencia tambm ao clero secular. Foi membro da Sorbonne, cnego de Lttich, Paris e Tournai e preboste de S. Severino em Colnia (1287-95). Em 1300 foi nomeado bispo de Tournai e veio a falecer depois de 1306. A sua obra principal so os 14 Quodlibeta, que s recentemente foram publicados, mas que na Idade Mdia tiveram uma grande difuso, como demonstra o grande nmero de manuscritos que deles nos ficaram. Godofredo critica, como Henrique de Gand, a distino tomista entre essncia e existncia, reduzida por ele a uma distino puramente lgica, que se refere ao modo de entender e significar a realidade, e no prpria realidade (Quodl., II, q. ltima). Critica tambm o princpio de individuao tomista mas no se limita explicao de Henrique. "As coisas, afirma energicamente (Ib., VII, q. 5), no existem seno na sua singularidade (singulariter) que indicada pelo seu nome prprio; na sua natureza comum, elas no existem, so somente apreendidas pelo intelecto": Toda a realidade, toda a substncia , portanto, individual, mas quer isto dizer que a diferena entre os indivduos 101
uma diferena entre substncias ou realidades e no entre acidentes, e que o princpio de individuao uma forma substancial, prpria de cada indivduo. Mas se neste ponto Godofredo se afasta de S. Toms, aceita dele completamente a teoria do conhecimento, rejeitando a doutrina da iluminao. "No estado da nossa vida presente, no h seno uma maneira de entender todas as coisas, tanto as materiais e mutveis como as imateriais e eternas: a abstraco da espcie inteligvel, por virtude do intelecto agente, da imagem ou do objecto presente na imaginao". Mas esta aco abstractiva do intelecto no se refere de forma alguma ao ser do objecto, o qual permanece substancialmente individualizado e singular, mas **sekmente condio de inteligibilidade do prprio objecto. As ideias, que constituem os exemplares das coisas na mente divina, no so realidades substanciais e, portanto. no tm nem o ser da essncia nem o ser da existncia (que alis so idnticos) mas tm somente o valor de princpios cognoscitivos, como na mente do artista o tem a casa ainda no construda. A essncia e a existncia da coisa criada nascem ao mesmo tempo, por efeito da vontade criadora de Deus, de modo algum pr-existem ao acto criador na mente divina (lb., VIII, q. 3; Haurau, 11, 2, 149). A doutrina de Godofredo de Fontaines assinala assim uma decidida tendncia para o nominalismo, que ter o seu mximo triunfo em Guilherme de Occam. NOTA BIBLIOGRFICA 291. As condenaes de Rilwardby e Peckham contra o tomismo: DENIFLE, Chart. Univ. Paris., I, 543 ss., 558 ss.; EHRLE, John Pekhakn ber den Kampf 102 des Augusti%ismus und Aristotelismu& in der zweiten Hlfe des 13 Jahrhundert, in "Zeitschrift fr Katholische Theologie", 1889, 172 ss. De Peckham, tudo o que se refere tradio manuscrita in: LITTLE, The Grey Friars in Oxford, Oxford, 1892, 156. Obras citadas: Collectaneum BibZiorum, Paris, 1514, Colnia, 1541; Perspectiva communis, Medioliani, s/d, Veneza, 1501, 1593. Sete cartas foram editadas por Ehrle@, 1 e. A Quaesto sobre a luz eterna como "ratio cognoscendi", in De humanae cognitionis ratione anecdota quaedam Seraphici Doctoris S. Bonaventurae et nonnullorum ipsius discipulorum, ad Claras Acquas (Quaracchi), 1883, p. 179-182. Canticum pauperis, Quaracchi, 1905. Tractatus tres de paupertate, Aberdee,n, 1910; Quaestiones De Anima, ed. Spettmann, in "Beitrge", XIX, 5-6, 1918; Summa de Esse et Essentia, ed. Delorme, Florena, 1928; Quodlibet Romanum, e,d. Delorme, Roma, 1938; Tractatus de Anima, ed. Melani, Florena, 1948. Sobre o Quodlibetum: DESTREZ, Les disputes quodZibtiques de St.-Thomas, 49108; GLORIEUN, La litterature quodlibtique, Kain, 1925, 220-222. Sobre Peckham: SFETTMAN, in "Franziskanisclie Stu,dien", 1915, 170-207, 266285; in "Beitrge", XIX, 5-6, XX, 6; SuppI., 11, 1923, 221-242; DOUIE, Archbishop Peckham, Oxford,
1952. Sobre o Paradisus animae: The Paradise of the Soul, Londres, 1921; traduo francesa de VANHAMME, Saint-Maximin, 1921. Extractos da obra de Kilwardby, De ortu et divisione philosophiae, in 1IAURAU, Histoire de Ia philos, scol., 11, 2, Paris, 1880, 29-32, e in L. BAUR, Dominicus Gundissalinus, in "Beitrge", IV, 2-3, p. 369-375. Sobre Kilwardby: PRANTL, Gesch. d. Log., 111, 185-188; EHRLE, Der Augustinismus und der Ari.-toteZismus in der Scholastik gegen der 13 Jalbrhundert, in "Archiv fr Literatur und Kirchengeschichte des Mittelalters", 1889, 603-635; DE WURP, Gilles de Lessines De unitate formae, 73, ss.: um escrito dirigido contra uma carta de Roberto ao arcebispo de Corinto Pedro de Confleto, sobre esse tema; BIRKENMAJER, Vermischte Utersuchungen, in "Beitrge"", XX, 5, 1922, 36-69. Sobre Guilherme de Ia Mare: LITTLE, The Grey Friars in Oxford, 315, %S.; EHERLE, Der Kampf und die Lehre des W. Thomas von Aquins in ersten fnfzig Jahren nach seinen Tode, in "Archiv fr Katholische 103 Theol.", 1913, 266-318; LONGPRS, "France franciscaine" 1921-.1922. Sobre os Corr6ctoria: a obra citada de EHRLE e UEBERWEG-GEYER, 495-497. 292. Cinco das Quaestiones disputatae de Mateus foram impressas em De humanae cognitionis ralione anecdota quaedam Seraphiei Doctoris S. Bonaventurae et nonnmllorum ipsius discipulorum, Quaracchi, 1903. Uma seleco mais ampla: Questiones disputatae de g7atia, ed. Doucet, Quaracchi, 1935; De productione rerum et de providentia, ed. Gal, Quaracchi, 1956; Quaestiones disputatac De anima separata, De anima beata, De ieunio et De legibus, Quaracchi, 1959; Quaestiones disputatae selectae, 1, Quaestianes de fide et cognitione, Quaracchi, 1903. Extractos do Comentrio s Sentenas, de um manuscrito da Biblioteca comunaI de Todi, publicados por DANIELS, in "Beitrge", VIII, 1-2, 51-63. Sobre Mateus: o escrito de DANIELS, no vol. ci-tado; GRABMANN, Die Philos. und theol. ErkenntnssIehre des Kard. M. v. Acquasparta, Viena, 1906. 293. De Rogrio: De humanae cognitionis ratione, Quaracchi, 1883; Quaestiones disputatae, Quaracchi, 1932. Sobre Rogrio: CAIROLA, L'opposizione a San Tomaso nelle "Quaestiones disputatae" di R. M., in Seritti, Turim, 1954, p. 132, ss. De Ricardo de MidIetown, o Comentrio s Sentenas teve as seguintes edies: Venetiis, 1489, 1509; Brixiae, 1591; os Quodlibeta: Veneflis, 1507, 1509; Parisfis, 1510, 1519, 1529. Algumas das Quaestiones disputatae in. Anecdota quaedam, etc., cit.,p. 221-245. DANIELS, in. "Beitrge", VlU, 84-88. Do Comentrio s Sentenas foram pupblicadas as questes referentes
Imaculada Conceio, Quaracchi, 1904; duas questes sobre as provas da existncia de Deus, in DANIELS no vol. cit. dos "Beitrge", p. 89-104, e uma questo sobre o conhecimento humano, tambm por DANIELS, in "Festgabe fr C. Bacumker", 1913, 309-318. Cfr. DuHFm, Systme du monde, III, p. 484-488; ZAVALLONI, R. de MediaviZIa et Ia controverse sur Ia plralit des formes, Louvain, 1951.. De Pedro Joo Olivi foi publicado o segundo livro dos Comentrio.R s Sentenas, por Jasen, 3 vol., Quaracchi, 1922, 1924, 1926. Os Quodlibeta foram editados em Veneza, 1509. 104 Sobre GliVi: JANSEN, Die Erkenntnislehre Olivis, Berlim, 1921; BETTOM, Le dottrine filosofiche di P. G. Oliv, Milo, 1961. 294. Das obras de Herveus Natalis existem as seguintes edies: Quaestiones in libros sententiarum, Veniffis, 1505, Parisiis, 1657; Quadlibeta, Venetiis, 1486. O De unitate formarum foi impresso como sendo obra de S. Toms juntamente com a Summa philosophica de Cosme Alamanno, Paris, 1638-1639. De potestate ecelesiae et papae, Parisfis, 1500, 1506, 1657. De Joo de Npoles: Quaestiones variae Pariis disputatae, Npoles, 1618. De Egdio Romano foram numerosas vezes editadas as obra.9 nos sculos XVI e XVIII. Entre as edies recentes: De potestate ecelesiastica, ed. Scholz, Weimar, 1929; Theoremata de ente et essentia, ed. Hocdez, Louvain, 1930; outras questes publicadas por BRUNI, in "Analecta Augustiniana", 1939; De erroribus philosophorum, ed. Koch, Milwaukee, 1944; De plurificatione intellectus possibilis, ed. Bullotta Barracco, Roma, 1957. Sobre Egdio: BRUNI, Le opere di Egidio Romano, Florena, 1936; KNOX, Giles of Rome, 1944. 295. O.s Quodlibeta de Henrique foram impressos em Paris em 1518 e em Veneza em 1608 e em 1613. A Summa theologica foi impressa sob o ttulo de Summa quaestonum ordinarium em Paris em 1520 e em Ferrara em 1646. As obras filosficas de Henrique foram publicadas por ngelo Ventura em Bologna em 1701; esta edio contm tambm os escritos apcrifos. Sobre a biografia: WAUTERS, in "Bull. de Ia Comm. royale d'Histoire", IV srie, 1887, 179-190; BAEUMICER, in "Archiv fr Geschichte der Philos.", 1891, 130 ss.; DE WULF, Histoire de Ia philosophie en Belgique, Bruxelas, 1910, 80-116; J. PAULUS, H. d. G., Essai sur les tendances de la mtaphysique, Paris, 1938. 297. De Godofredo: XIV Quodlibeta, ed. De Wu11, Pelzer, Hofimans, Louvain, 1904-1935; Quodlibeta XV, com o Quaestiones, ed. Lottin, Pelzer, Hoffmans, Louvain, 1937. Sobre Godofredo: DE WULr, Un thologien-philosophe du XIIIe sicle (Godefroid de FGntaines), Bruxelas, 1904; ID., Histoire de Ia philosophie en Belgique, 80-116; PELZER, Godefroid de Fontaines, in "Revue noscol.", 1913, 365-388, 491-532.
105 XIX A FILOSOFIA DA NATUREZA NO SCULO XIII 298. FILOSOFIA DA NATUREZA: CARACTERISTICAS DA INVESTIGAO NATURALISTA NO SCULO XIII O sculo XIII assinala um grande floresciment da investigao cientfica. J no sculo precedente, a escola de Chartres, retomando e ampliando as especulaes de Escoto de Ergena e de Abelardo, tinha considerado a natureza como parte ou elemento do ciclo criador divino, atraindo assim para ela as atenes da filosofia. Mas tratava-se mais de uma exaltao teolgica e potica da natureza do que uma predisposio ao seu estudo experimental. Por outro lado, esta espcie de estudo tambm no fora completamente esquecida ao longo dos sculos da Idade Mdia: fora antes rejeitada para fora da filosofia e, em geral, do saber oficial, e reservada aos alquimistas, magos e similares doutores diablicos, dedicados a arrancar com falsas artes os segredos do mundo natural para darem ao homem, 107 com pouco trabalho, a riqueza, a sade e a felicidade. Mas com a difuso da filosofia rabe e do aristotelismo, o carcter da investigao experimental muda completamente. A matemtica, a astronomia, a ptica, a fsica, a medicina dos rabes, que por sua conta tinham continuado, embora com modestos resultados, o trabalho da investigao da cincia clssica, chegam agora ao conhecimento dos filsofos do mundo ocidental. O aristotelismo, que se apresenta como uma completa enciclopdia do saber, incluindo em si as disciplinas filosficas particulares, vale agora aos olhos desses mesmos filsofos como a justificao suficiente dessas cincias e da investigao experimental em que se baseiam. Desta maneira, tais investigaes deixam de ser um trabalho secreto reservado aos iniciados, tendendo a transformar-se num aspecto fundamental da investigao filosfica e a assumir um lugar reconhecido na economia geral do saber. Esta influncia da difuso do aristotelismo, a mais ampla e talvez a mais radical, no se restringe aos que permanecem mais fielmente aderentes letra do sistema aristotlico, antes abrange a totalidade do campo da cultura. Tanto os agustinianos como os aristotlicos a ressentem na mesma medida. O aristotlico Alberto Magno insiste na importncia da investigao experimental e dedicava grande parte da sua obra discusso dos problemas cientficos, e, por outro lado, so os agustinianos os que se dedicam com maior entusiasmo aos novos campos de investigao. Entre esses agustinianos, so os franciscanos da escola de Oxford que oferecem, no sculo XIII, o maior volume de investigaes experimentais e, de discusses cientficas, a partir de Roberto Grosseteste ( 255) que pode considerar-se como o iniciador do novo naturalismo de Oxford. 108
claro que os procedimentos e os resultados desta investigao, misturados como so com elementos teolgicos, msticos e mgicos, interessam mais (quando interessam) histria das respectivas cincias do que filosofia. Mas interessam tambm c, histria da filosofia. Em primeiro lugar, como se disse, denunciam uma nova perspectiva da investigao filosfica. e uma renovao dos seus horizontes; em segundo lugar, enquanto se intersectam (como muitas vezes acontece) com os problemas propriamente filosficos respeitantes natureza dos instrumentos cognoscitivos de que o homem dispe e s tarefas do homem no mundo. Finalmente, interessam tambm filosofia porque atravs daquelas investigaes o como seu resultado global se vai delineando a crtica e o abandono gradual da velha concepo do mundo de raiz aristotlico-estica que dominara a cultura medieval. No por acaso que, no sculo seguinte, sero os filsofos dessa orientao empirista, a qual encontrava na obra de Aristteles o seu maior encorajamento, os que descobriro as primeiras falhas na concepo aristotlica do mundo e entrevero a possibilidade de uma concepo diferente. O mximo representante do experimentalismo cientfico do sculo XIII Rogrio Bacon, discpulo de Roberto Grosseteste. Mas entre os que Rogrio Bacon exalta com seus predecessores e mestres h um tal Mestre Pedro, que foi Pedro Peregrino de Mahrancuria ou de Maricourt, na Piccardia, do qual nada se sabe ano ser que no ano 1269 estava em Lucera de Aplia onde acabava de escrever a sua Epistola de magnete. Este dado consta da prpria obra, que um pequeno tratado em 13 captulos sobre o magnetismo, ao qual se referir mais tarde, em 1600, o primeiro estudioso moderno do magnetismo, o ingls Gilbert. Bacon exalta-o como o mestre da arte experimental, o nico 109 dos latinos capaz de entender os mais difceis resultados desta cincia (Opus tert., 13). Na sua Epistola, Pedro Peregrino afirma a necessidade da experincia directa, da habilidade manual, a fim de facilmente corrigir erros que no poderiam ser eliminados por consideraes filosficas e matemticas. 299. ROGRIO BACON: VIDA E OBRA Rogrio Bacon, a quem os seus contemporneos chamaram Doctor mirabilis, nasceu perto de fichester, no Dorsetshire, entre 1210 e 1214. Estudou em Oxford, onde foi aluno de Roberto Grosseteste, depois em Paris, onde permaneceu desde 1244 at 1250 ou 1252, e onde foi tambm mestre de teologia. Em 1250 ou 1252 voltou para Oxford e no sabemos se foi antes ou depois que ingressou na ordem franciscana. Teve como protector o papa Clemente IV (1265-1268), que a 22 de Junho de 1266 lhe pedira por carta o envio do seu Opus maius. Mas alguns anos aps a morte de Clemente, em 1278, Jernimo de Ascoli, geral da ordem franciscana, condenava a doutrina de Bacon e impunha-lhe uma severa clausura que no sabemos quanto tempo durou. O ltimo dado seguro que dele temos o que se refere composio do Compndio de estudos teolgicos no ano de 1292. Nada sabemos depois desta data. As obras principais de Bacon so as intituladas Opus maius, Opus minus e Opus tertium. Destas trs obras, a nica completa o Opus maius, que
provavelmente foi tambm a nica que Bacon enviou a Clemente IV. O Opus minus e o Opus tertium no passaram da forma de esboos. Bacon. concebera o projecto grandioso duma completa enciclopdia das cincias, dado que concebia a metafsica com a cin110 cia que encerra os princpios de todas as outras. As cincias filosficas dividem-se em trs grandes grupos: matemtica, fsica e moral, enquanto que a gramtica e a lgica constituem somente partes acidentais da filosofia (Opus maius, IV, d. 1, 2). Mas no conseguiu realizar completamente este seu plano. As suas investigaes mais numerosas tratam da fsica, e em particular da ptica; outras tratam da astronomia, matemtica, histria natural e da gramtica grega e hebraica. A atitude de Bacon em todas as suas obras a de, uma resoluta liberdade espiritual. Est convicto que a verdade no se revela seno aos homens que a procuram, que as investigaes devem acrescentar-se e integrar-se umas com as outras e que, numa palavra, a verdade filha do tempo. E por isso, embora reconhecendo o imenso valor de Aristteles, a propsito de quem cita a frase de Averris segundo a qual ele representa "a ltima perfeio do homem", considera que Aristteles no penetrou nos ltimos segredos da natureza, assim como os sbios de hoje ignoram muitas verdades que sero familiares aos estudantes mais jovens dos tempos futuros (1b., 11, 13). 300. BACON: A EXPERINCIA Com base nesta atitude, Bacon podia fazer pouco ou nenhum caso do valor da autoridade para o conhecimento. Se bem que coloque a autoridade ao lado da razo e da experincia, entre as trs vias pelas quais se pode atingir o conhecimento, considera que na realidade a autoridade nada faz conhecer, a no ser vindo acompanhada pela sua prpria razo, e que por seu lado no nos d a inteligncia mas sim a credulidade, sendo ainda uma das mais 111
comuns fontes de erro (Comp. stud. phil, p. 397). Restam portanto dois modos de conhecer: a demonstrao racional e a experincia. Mas a demonstrao racional, embora resolva e nos faa resolver as questes, no d a certeza nem climina a dvid.-, j que a alma descansa no intuir da verdade se no a encontra pela via da experincia. Muitos so os que aduzem argumentos racionais para sustentar as coisas que conhecem; porm, no tendo experincia delas, no sabem discernir nos seus conhecimentos os teis e os nocivos. Pelo contrrio, o que conhece a razo e a causa por experincia, perfeito em sabedoria. Sem a experincia, nada se pode conhecer adequadamente (Op. maius, VI, 1). Mas se a experincia o nico instrumento eficaz de investigao, se s ela fornece ao homem a viso directa (inluitus) da verdade, ento todo o campo do conhecimento humano, quer se refira s coisas naturais quer s sobrenaturais e divinas, deve ser baseado na experincia. E assim , segundo ,Bacon. A
experincia no s o fundamento da investigao natural, mas tambm o do conhecimento sobrenatural. A experincia dupla: externa e interna. A experincia externa a que dada atravs dos sentidos; a experincia interna a que dada atravs da iluminao divina. Bacon junta aqui ao seu experimentalismo o princpio bsico da tradio agustiniana, a teoria da iluminao. Da experincia externa derivam as verdades naturais. da experincia interna, as verdades sobrenaturais: ambas encaminham o homem para o seu fim ltimo, a beatitude. O carcter pragmtico e utilitrio da verdade reveste em Bacon um significado tico e religioso. Admitindo a experincia como nico fundamento da verdade, Bacon suprime lgica aristotlica todo o valor como rgo de investigao. Reconhecelhe somente um valor dialctico enquanto " conclui e nos 112 faz concluir uma questo", mas nega-lhe o valor real de instrumento efectivo de investigao referente realidade, a capacidade de fundamentar a certeza, eliminar a dvida e dar assim satisfao total necessidade humana da verdade. A experincia , pois, para Bacon, um conhecimento imediato, pelo qual o homem posto frente a frente com a realidade. Isto aplica-se tambm experincia interna; esta antes o modelo de que Bacon se serve para interpretar a prpria experincia sensvel. Com efeito, a doutrina agustiniana da iluminao a formulao tpica do conhecimento imediato. Bacon distingue na experincia interna uma tripla iluminao: a iluminao ou revelao geral, comum a todos os homens; a iluminao primitiva e tradicional; a iluminao especial. Esta ltima de ordem religiosa e sobrenatural e devida graa. A iluminao primitiva refere-se tambm s verdades de ordem natural enquanto foram reveladas primitivamente por Deus. A primeira , por sua vez, iluminao no sentido da escola agustiniana, como condio do conhecimento humano, e consiste no concurso divino a tal conhecimento, independentemente da providncia universal e do concurso especial da gra a. A iluminao comum o fundamento da filosofia. "Este caminho a sapincia da filosofia, a nica sapincia que est ao alcance do homem e que pressupe uma iluminao divina que seja comum a todos, j que Deus o intelecto que age em todos os conhecimentos da nossa alma". Desta forma, Bacon une sua doutrina da experincia e doutrina agustiniana da iluminao a doutrina aristotlica do intelecto, segundo a interpretao de Avicena. "A sapincia filosfica, inteiramente irevelada e dada aos filsofos por Deus, e o prprio Deus que ilumina as almas dos homens em toda a sua sapincia, Mas dado que 113 aquilo que ilumina a nossa mente agora chamado pelos telogos intelecto activo, segundo a palavra de filsofo no livro 111 do De anima, onde distingue dois intelectos, activo e possvel, eu sustento que o intelecto agente em primeiro lugar Deus, e em segundo lugar os anjos que nos iluminam" (Opus tert., ed. Brewer, 74). E de facto o intelecto chama-se activo enquanto influi sobre as almas humanas, iluminando-as para a cincia e
para a virtude. Em certo sentido, tambm o intelecto possvel pode chamar-se activo, enquanto tal no acto de entender; mas o verdadeiro intelecto activo o que ilumina e influencia o intelecto possvel para o conduzir ao conhecimento da verdade. "E assim, segundo os maiores filsofos, o intelecto activo no uma parte da alma, mas uma substncia intelectiva diferente e separada por essncia do intelecto possvel" (Opus maius, 11, 5). aqui evidente a influncia de Avicena. Mas no era nova a identificao do intelecto activo com Deus: encontrmo-la j em Guilherme de Auvrnia ( 253), em Joo de Rupella ( 257) e ultimamente em Rogrio Marston ( 293), e em todos eles, como em Bacon, est relacionada com a doutrina da 4,*iluminao divina. A experincia interna, para Bacon, a via mstica: o seu mais alto grau o conhecimento exttico. Bacon distingue sete graus na cincia interior. O primeiro o das iluminaes puramente cientficas. O segundo consiste nas virtudes. O terceiro, nos sete dons do Esprito Santo. O quarto, nas bem-aventuranas de que fala o Evangelho. O quinto, nos sentidos espirituais. O sexto, nos frutos, entre os quais est a paz de Deus, que superam todo o sentido. O stimo consiste no rapto exttico e nas suas modalidades, porque cada um cai em extase sua maneira e v coisas que ao homem no consentido exprimir. "Aquele, acrescenta Bacon 114 (Opus maius, 11, 170 ss.), que se exercitou diligentemente nestas experincias ou na maior parte delas, pode certificar-se e certificar os outros, no s das cincias espirituais, mas de todas as cincias humanas". Assim, o experimentalismo de Bacon, em concordncia com o esprito agustiniano pelo qual completamente impregnado e dominado, conclui em pleno misticismo. A concluso aclara as **prerissas. A experincia baconiana est ainda carregada do carcter mgico e religioso das investigaes dos alquimistas e dos magos. Bacon reconduziu-a ao augus"ismo e interpretou-a luz da doutrina da iluminao divina. Mas desta forma confirmou-lhe o carcter mstico e religioso, reconhecendo-lhe um fundamento transcendente, a revelao directa de Deus. E todavia, no possvel deixar de reconhecer a esta estranha figura de frade franciscano, alquimista e mstico, experimentador e telogo, o carcter de um precursor da cincia moderna. Em primeiro lugar, pelo valor que deu investigao experimental, fundamento de toda a verdade mundana e supramundana. Em segundo lugar, porque reconheceu que a disciplina da investigao, a sua lgica interna, a matemtica. Todo o poder da lgica depende da matemtica, segundo ele, dado que todas as determinaes (qualidade, relao, espao, tempo) dependem da quantidade e a quantidade o objecto prprio da matemtica. Por isso, s na matemtica existe a demonstrao verdadeira e poderosa, e nela somente se pode chegar plena verdade isenta de erro e certeza isenta de dvida. S atravs da matemtica podem as outras cincias constituir-se e tornar-se certas (1b., IV, d. 1, c. 2-3). So estas as teses fundamentais das quais nasceu o sobre as quais se desenvolveu, de Leonardo em diante, a investigao cientfica moderna. 115 301. WITELO
Witelo (diminuitivo de Vito) nasceu na Silsia entre 1220 e 1230, de pai turngio e me polaca. Cerca de 1260 foi para Itlia e fez os seus estudos filosficos, matemticos e fsicos em Pdua. Mas deve ter tambm vivido em Viterbo, onde naquela ano se encontrava a corte papal, porque nela tinha o cargo de penitencirio Guilherme de Moerbeke, o tradutor de Aristteles, Simplcio e Proelo, que era seu amigo e a quem dedicou a sua obra principal, a Perspectiva. Esta obra foi provavelmente composta cerca de 1270, mas certamente antes de 1277, ano em que Guilherme foi nomeado arcebispo de Corinto. Este o nico dado seguro que temos de Witelo, nada se sabendo de outras estadias suas, ou do lugar e data da sua morte. A Perspectiva no foi a nica obra escrita por Witelo, mas a nica de que temos conhecimento; nela cita Witelo outras obras entre as quais uma Sobre a filosofia natural e uma outra De ordine eniiuni, a qual foi identificada por um historiador moderno com o Liber de intelligentiis, escrito annimo que expe uma teoria da luz bastante semelhante de Roberto Grosseteste ( 256). Mas esta obra na realidade mais antiga, pois j citada por S. Toms de Aquino (Quod., VI, q. 11, a 19; De ver., q. 2, a. 1) e por Vicente de Beanvais no Speculum naturale (11, 35-37). A Perspectiva um tratado de ptica em dez livros que teve uma importncia notvel na histria desta disciplina. o seu pressuposto uma metafsica da luz, tal como j se encontrou em Roberto Grosseteste e em S. Boaventura. Segundo Witelo, a aco divina exerce-se nas coisas inferiores do mundo por meio das coisas superiores. Na ordem das substncias intelectivas, as substncias inferiores recebem das superiores a luz derivada da fonte da bondade divina; e, duma 116 maneira geral, o ser de qualquer coisa deriva do ser divino, toda a inteligibilidade deriva da inteligncia divina, toda a vitalidade, da vida divina. De todas estas influncias, o princpio, o meio e o fim a luz divina, da qual, para a qual e qual todas as coisas se encontram dispostas. No que se refere s coisas corpreas, o meio a luz sensvel atravs da qual as formas corpreas supremas se difundem na matria dos corpos inferiores e nela se multiplicam de modo a produzirem as formas especficas e individuais (Perspect., ed. Bacumker, p. 127-128). A Pu`ca, que estuda as leis da difuso da luz, , portanto, mais do que uma cincia particular, toda a fsica, enquanto esclarece a estrutura de todo o mundo fsico, determinado precisamente no seu gnese pela difuso da luz. Nas trs maneiras de ver (,viso directa, reflexo, refraco) Witelo v, por isso, o signo da trplice aco das formas e de todas as potncias celestes e naturais (1b., p. 131, 15). Nos traos de Witelo move-se o dominicano Teodorico de Friburgo (no Saxe) (cerca. de 1250-1310) autor de numerosos escritos filosficos e cientficos (De on .gine rerum ~icamentalium, De quidditatibus entium, De intellectu et intellgibili, De habitibus, De esse rt essentia, De accidentibus, De mensuris durationis rerum, De tempore, De elementis, De luce, De coloribus, De iride, De miscibilibus in mixto) recentemente editados. Teodorico repete as teses tipicas do augustinianismo: a negao da distino real entre
essncia e existncia, a pluralidade das formas no composto; e partilha com o augustinianismo o interesse pela indagao experimental, sobretudo no domnio da ptica. NOTA BIBLIOGRFICA 298. A Epistola de magnete foi novamente pub?icada por Berte111, in "Bo11. di Bibliografia e di 117 storia delle, scienze matematiche e fisiche", 1868, 70-89; e por HeIlmann, in Rara magnetica, 1898. PICAVET, Essai sur 1'hi@st. gn. et comp. des thol. et des phil. mdiv., Paris, 1913, p. 232-254. 299. O Opus maius foi impresso em Londres, 1773, e em Veneza, 1750. A edio mais recente a Bridges, 2 vol., Oxford, 1897; vol. III de suplementos, Oxford, 1900. O Opus minus, O Opus tertium e o Compendium, philosophiae, in Opera quaedam hactenus inedita, editado por Brewer, Londres, 1859 Outros escritos, in Opera hactenus inedita, editado por Steele, 5 fase., Oxford, 1905-1920. O Compendium studii theologiae foi publicado por Rashdall, Aberdoniae, 1911. Sobre as obras e manuscritos de Bacon: LITTLE, The Grey Friars in Oxford, Oxford, 1892, 195-211; MANDONNET, in "Revue noscol.", 1913, p. 53-68, 164180; CHARLES, Roger Bacon, sa vie, ses Guvrages, ses doctrines, Paris, 1861; CARTON, L'exprience physique chez R. B., Paris, 1924; ID., L'exprience mystique de Villumination intrieure chez R. B., Paris, 1924; ID., La synthse doctrinale de R. B., Paris, 1924; DUHEM, Systme du monde, V, 375491 (utiliza as questes sobre fsica e sobre metafsica contidas num manuscrito de Amiens e compostas por Bacon em Paris cerca de 1250); EASTON, R. B. and his Search for a Universal Science, New York, 1952; ALESSIO, Mito e scienza in R. B., Milo, 1957. 301. A perspectiva apareceu pela primeira vez em Nuremberga em 1535. Extractos contendo as partes filosficamente mais notveis foram publicados por BAnUMKER na sua monografia Witelo, ein Philosoph und Naturforscher des XIII Jahr., in "1?>eitrge", III, 2, 1908. A Witelo atribuiu BAEUMKER nesta monografia o Liber de inteNigentiis mas depois negou essa atribuio, in Miscellanea Ehrle, vol. 1, 87-102. BIRKENMAIER, tudes sur Witelo, I-IV, in "BuIl. de l'Acad. des sciences de Cracovie", 1918-1922. De Teodorico, o De intellectu e o De abitibus foram editados p01- E. KREM in "Beitrge", V, 5-6 (1906), O De esse et essentia pelo mesmo KREM in "Revue noscolastique de phil.", 1911, e outros escritos por F. STEGMCLLEP in "Archives d'histoire doetr. et litt. du m. .", 1940-1942; e por W. WALLACE, The Scientific Methodology of T. of F., Fribourg (Sua), 1959 (com bibl.). 118
XX JOO DUNS ESCOTO 302. JOO DUNS ESCOTO: DOCTOR SUBTILIS Depois de S. Toms, deve-se a Duns Escoto a outra mudana de direco da escolstica. Trata-se de uma mudana decisiva, que devia conduzir rapidamente a escolstica ao fim do seu ciclo e exausto da sua funo histrica. Tambm esta mudana foi determinada pelo aristotelismo, mas o aristotelismo aqui o esprito de um sistema e no um sistema. Para S. Toms, o aristotelismo uma doutrina que necessrio corrigir e reformar. Paira Duns Escoto, a prpria filosofia, que necessrio reconhecer e fazer valer em todo o seu rigor a fim de circunscrever nos seus justos limites o domnio da cincia humana. Para S. Toms, trata-se de utilizar o aristotelismo para a explicao da f catlica. Para Duns Escoto trata-se de utiliz-lo como princpio que (restringe a f ao seu prprio domnio, o prtico. O ideal de uma cincia absolutamente necessria, isto , inteiramente fundada na demonstrao, e o procedimento crtico, analtico e dubitativo constituem a expresso da fidelidade de Escoto 119 ao esprito do aristotelismo. O apelativo que Escoto recebeu dos seus contemporneos, Doctor subtilis, exprime unicamente, o carcter exterior do seu filosofar: a tendncia para distinguir e subdistinguir, a insatisfao analtica que busca a clareza na enumerao completa das alternativas possveis. Mas o ncleo da sua personalidade filosfica a aspirao a uma cincia racional necessria e autnoma, e o cuidado crtico derivado dessa aspirao. A relao entre Escoto e S. Toms foi j comparada relao entre Kant e Leibniz: S. Toms e Leibniz seriam dogrnticos, Duns Escoto e Kant seriam crticos. Esta comparao, despropositada como todas as comparaes feitas entre personalidades pertencentes a momentos histricos diferentes, pode ser entendida no sentido em que Escoto tenta, tal como Kant, basear o valor do conhecimento cientfico no reconhecimento dos seus limites, e o valor da f na diversidade da sua natureza em relao da cincia. Por isso Escoto se no preocupou em criar uma obra sistemtica e no escreveu nenhuma Summa; preocupou-se somente em fazer valor o seu alto ideal da cincia como critrio para a discusso dos problemas filosficos e teolgicos do seu tempo, para neles determinar a parte que diz respeito cincia e a que diz respeito f, para circunscrever a f a um domnio diferente, o domnio prtico, e para atribuir tal domnio teologia, considerada como uma cincia sui generis, diferente das outras e sem nenhuma primazia sobre elas. O denominado primado da vontade significa simplesmente, na obra de Escoto, que tudo o que no susceptvel de rigoroso procedimento demonstrativo pertence ao domnio de um factor contingente, arbitrrio e livre, isto , ao domnio da vontade humana ou divina. O primado da vontade no aqui um princpio psicolgico, como em Henrique de Gand, mas sim um princpio metodolgico o metafsico. O seu augus120 tinismo (ainda que se afaste do augustinismo em pontos fundamentais,
principalmente no da doutrina da iluminao divina) puramente ocasional, como revela o seu carcter limitado e parcial. Daqui deriva o aspecto desconcertante que a sua figura frequentemente revestiu para os seus contemporneos e posteriores. Na realidade, o ideal cientfico de Aristteles foi utilizado por ele como princpio negativo em relao investigao escolstica tendente a reconduzir a f razo. 303. JOO DUNS ESCOTO: VIDA E OBRAS Joo Duns Escoto nasceu em 1266 ou (segundo outros) em 1274 em Maxton na Esccia. Cedo ingressou na ordem franciscana onde recebeu a sua primeira educao, e estudou em Oxford, onde, segundo uma tradio que parece provvel, foi aluno de Guilherme de Ware. Em 1302 vai para Paris, onde, como barachel e conforme o costume, deu o seu curso de comentrio s Sentenas. Em Junho de 1303 foi obrigado a sair de Paris porque, com outros frades, se tinha declarado a favor do papa na luta que estalara entre Bonifcio VIII e Filipe o Belo. Pde voltar a Paris no ano seguinte, e Gonalo de Balboa, geral da sua ordem, escrevia a 18 de Novembro de 1304 uma carta ao guardio dos estudos de Paris a fim de que apresentasse Escoto ao chanceler da Universidade para a nomeao como mestre. Essa nomeao foi-lhe conferida. Em 1305-1306 Escoto regressou a Inglaterra e pertence a este perodo a redaco da sua obra principal, o comentrio s Sentenas, conhecido com o nome de Opus oxoniense. Em 1308 ora chamado a Colnia, onde faleceu a 8 de Novembro e foi sepultado na igreja dos Frades Menores. 121 Na data da sua morte tinha Escoto cerca de 40 anos: uma vida breve, ocupada por uma intensa actividade, mesmo que consideremos somente as obras que com toda a segurana lhe podem ser atribudas. So elas o tratado De primo principio, as Quaestiones in Metaphysicam, o Opus oxoniense, os Reportata parisiensia e um Quodlibet. As trs primeiras pertencem estadia em Oxford, as outras duas so resultado do ensino parisiense. Os Reportala parisensia, que so o texto do comentrio s Sentenas feito por Escoto naquela cidade, ficaram-nos em duas redaces, uma mais breve, outra mais longa. A edio que deles fez o editor seiscentista de Escoto, Luca Waddinng, uma contaminao das duas redaces que no tem qualquer base nos manuscritos. Sabemos agora ser apcrifo um grupo de obras atribudas a Escoto. O Comentrio Fsica cita uma obra de Toms Bradwardine ( 311) composta entre 1338 e 1346, pelo que no pode pertencer a Escoto. Uma outra obra do mesino autor, escrita em 1328, citada no Comentrio aos livros meteorolgicos denunciando assim igualmente a falsidade da atribuio. Tambm no so autnticas a Exposio dos XII livros da Metafsica, as Concluses de Metafsica, a qual pertence a Gonalo de Balboa, e a Gramtica especulativa, que de Toms de Erfurt. E enquanto se descobriram j outras obras constitudas por cursos dados por Escoto nas Universidades de Paris, Cambridge e Oxford (obras, alis, ainda no publicadas), permanece incerta a posio de duas obras j conhecidas, o De perfectioni statuum e o De rerum
principio. Por seu ,turno, os Theoremata, sobre os quais existiam algumas dvidas, provocadas fundamentalmente pela extenso que neles assume o cepticismo teolgico de Escoto, so actualmente considerados como autnticos. Com efeito, os seus pressupostos gnoseo122 lgicos so incompatveis com os Ockham, a cuja escola se costumavam atribuir. E por outro lado, notrio que o agnosticismo teolgico, acentuado nesta obra, no mais do que o aspecto negativo de um ideal positivo de perfeio cientfica, ou seja, da aspirao de Escoto a uma cincia rigorosamente demonstrativa, tal como havia sido concebida e realizada por Aristteles. 304. JOO DUNS ESCOTO: CINCIA E F O De primo principio comea com uma prece a Deus, a qual constitui simultneamente a profisso de f do ideal cientfico de Duns Escoto. "Tu s o verdadeiro ser, Tu s todo o ser; isto creio eu, isto, se fosse possvel, desejaria eu conhecer. Ajuda-me, Senhor, a procurar este conhecimento do verdadeiro ser, isto de Ti mesmo, que a nossa razo natural pode atingir" (1, n. 1). Escoto, no pode a Deus uma iluminao sobrenatural, um conhecimento completo em verdade e em extenso, mas unicamente o conhecimento que prprio da razo humana natural. Ainda que, dentro dos seus limites, este seja o nico conhecimento possvel, a nica cincia para o homem. "Para alm dos atributos que de Ti os filsofos demonstram, especialmente os catlicos, louvam-Te como omnipotente, imenso, omnipresente, verdadeiro, justo e misericordioso, providente para todas as criaturas e especialmente para as inteligentes. Mas destes atributos falarei num outro tratado no qual sero expostos os objectos da f (credibilia) aos quais dado o assentimento da razo e que, todavia, so, para os catlicos, tanto mais certos quanto se baseiam, no no nosso intelecto mope e vacilante, mas na tua solidssima verdade" (4, n. 37). aqui evidente o contraste entre a verdade racional da metafsica, que prpria da razo 123
humana e, por consequncia, vlida para todos os homens, e a verdade da f, qual a razo pede somente "submeter-se" e que tem uma certeza solidssima **ii),ticamente para os catlicos. E, com efeito, a f nada tom que ver com a cincia, segundo Escoto: ela pertence inteiramente ao domnio prtico. "A f no um hbito especulativo, nem o crer um acto especulativo, nem a viso que se segue ao crer uma viso especulativa, mas sim prtica" (Op. ov., prol., q. 3). Tudo o que transcende os limites da razo humana j no cincia, mas aco ou conhecimento prtico: refere-se, no cincia, mas ao fim a que o homem deve tender, aos meios para o alcanar ou s normas que, em vista dele, se ,seguem. Porque foi a revelao necessria aos homens? Porque, responde Escoto, o homem, com a razo natural, no pode dar-se conta do fim a
que foi destinado, nem dos meios para o conseguir. Que o homem esteja destinado viso e ao gozo de Deus, coisa que no pode saber seno atravs da revelao (Op. ox., prol., q. 1, n. 7). E porque no pode sab-lo atravs da razo natural? Porque no existe uma conexo necessria entre o fira sobrenatural do homem e a natureza humana, tal como ela nesta vida (lb., prol. q. 1, n. 11). Evidentemente, trata-se de um fim de Deus quis atribuir livremente ao homem, que no se conecta necessariamente com a natureza do homem e por -isso no pode ser demonstrado como sendo prprio dessa natureza, enquanto que a demonstrao suporia tal necessidade. Os limites que Escoto, descobre no conhecimento humano no so acidentais para o prprio conhecimento, mas sim constitutivos. O homem no pode conhecer demonstrativamente aquilo que Deus decidiu em virtude do seu livre arbtrio, e que, portanto, no possui vestgio algum daquela necessidade- que torna possvel o conhe124 cimento demonstrativo. O princpio que move toda a crtica de Escoto o que ele exprime a propsito da impossibilidade de demonstrar que os nossos actos meritrios sejam seguidos poT um prmio divino. Isto impossvel de se saber, porque o acto remunerador de Deus livre. "Isto no cognoscvel naturalmente, diz ele, e daqui resulta que erram os filsofos que afirmam que tudo o que deriva imediatamente de Deus, dele deriva dum modo necessrio" (1b., prol., q. 1, n. 8). Daqui procedem a separao e a anttese entre o teortico e o prtico, as quais dominam todo o pensamento de Duns Escoto. O teortico o domnio da necessidade, e, portanto, o da demonstrao racional e da cincia. O prtico o domnio da liberdade, e, portanto, da impossibilidade de toda a demonstrao, e da f. A metafsica a cincia teortica por excelncia, a teologia por excelncia a cincia prtica. O objecto da teologia, de facto, no afugentar a ignorncia, mas persuadir o homem a agir para a sua prpria salvao. Por outras palavras, o seu fim no contemplativo, mas educativo. Ela repete frequentemente os seus ensinamentos, a fim de que o homem seja mais facilmente induzido a pratic-los (lb., prol., q. 4, n. 42). Se por conhecimento prtico se entende o conhecimento que precede e condiciona necessariamente a volio recta, toda a teologia deve ser reconhecida como sendo conhecimento prtico, porque condiciona e determina a vontade e a aco recta do homem. Mesmo aquelas verdades que aparentemente se no referem aco, como por exemplo, "Deus trino" e "o Pai gera o Filho", so, na realidade, prticas. Com efeito, a primeira inclui virtualmente o conhecimento do recto amor que o homem deve a Deus, amor que deve dirigir-se s trs pessoas divinas, e se se dirigisse a uma s dessas pessoas excluindo as outras (como 125 acontece precisamente com os infiis) deixaria de ser o recto amor de Deus. A segunda afirmao inclui o conhecimento da regra pela qual o amor do homem deve dirigir-se ao Pai e ao Filho, segundo a relao que ela precisamente determina entro eles (lb., prol., q. 4, n. 3 1).
Pelo seu carcter prtico, a teologia no pode denominar-se uma cincia em sentido prprio: com efeito, os seus princpios no dependem da evidncia do seu objecto (1b., 111, d. 24, q. 1, n. 13). Mas querendo consider-la como cincia, necessrio atribuir-lhe um lugar especial, dado que ela no se subordina a nenhuma outra cincia e no subordina a si mesma nenhuma outra cincia. Ainda que o seu objecto possa, de certo modo, ser includo no objecto da metafsica, ela no recebe os seus princpios da metafsica, porque nenhuma proposio teolgica demonstrvel mediante os princpios do ser enquanto tal (objecto da metafsica), ou mediante qualquer razo derivada da natureza do ser enquanto tal. Por outro Ia-do, ela no subordina a si nenhuma outra cincia, porque nenhuma outra cincia dela recebe os seus princpios. "Qualquer outra cincia, que pertena ao conhecimento natural, tem o seu ltimo fundamento em princpios imediata e naturalmente evidentes" (Rep. par., prol., q. 3 n. 4). Frente ao carcter prtico da teologia, que cincia s impropriamente e no sentido especificado, est o carcter teortico da metafsica, que cincia no sentido mais alto. "So, por excelncia, objecto de cincia, quer as coisas que se conhecem antes de todas as outras e sem as quais as outras no podem ser conhecidas, quer as que se conhecem com a mxima certeza. O objecto da metafsica possui no mximo grau este duplo carcter: portanto, a metafsica cincia no mximo grau" (Quaest. in Met., prol., n. 5; Op. ox., 1, d. 3, n. 25). 126 Duns Escoto acolhe de Aristteles. e dos seus intrpretes muulmanos o ideal de uma cincia necessria, inteiramente constituda por princpios evidentes e por demonstraes racionais. Mas ele o primeiro a servir-se deste ideal para restringir e limitar o domnio do conhecimento humano. O seu alto conceito da cincia alia-se nele ao reconhecimento dos limites rigorosos da cincia humana. O que no demonstrvel no necessrio mas sim contingente, logo, arbitrrio ou prtico. Posto que o nico domnio do contingente a aco, tudo o que no necessrio ou termo ou produto da aco humana ou divina, ou regra de aco, isto , f. Em Duns Escoto no existe verdadeiramente uma atitude de cepticismo ou de agnosticismo. No concebe que o conhecimento humano poderia estender-se para alm dos limites at aos quais efectivamente se estende. Tudo o que est para l do conhecimento humano carece, na verdade, de necessidade intrnseca, sendo pois indemonstrvel em si e absolutamente. No h em Escoto nenhuma renncia ao conhecimento, e mais, seu ideal cognoscitivo permanece solidamente estabelecido perante ele. Todavia, uma vez admitida a doutrina segundo a qual tudo o que no demonstrvel racionalmente um puro objecto de f, isto uma regra prtica sem fundamento necessrio, deveria aparecer como quimrica a investigao escolstica, a qual desde h sculos renovava a sua tentativa de reduzir as verdades da f a um todo compacto de doutrina lgica. Os Theoremata apresentam um impressionante conjunto de proposies indemonstrveis que, como tal, ficam a fazer parte do domnio prtico da f. No se pode demonstrar que Deus vive (Theor., XIV, n. 1); que sapiente ou inteligente (lb., n. 2); que dotado de vontade (fb., n. 3); que a primeira causa eficiente (1b., XV); que necessrio para a conservao da natureza
127 criada (lb., XVI, ri. 5); que coopera com as criaturas na sua actividade (1b., ri. 6); que imutvel e imvel (1b., ri. 11, 13); que carece de, magnitude e de acidentes (lb., ri. 14-16); que infinito no sentido da potncia (1b., ri. 17). Escoto considera impossvel demonstrar todos os atributos de Deus, e tambm, como veremos, a imortalidade da alma humana. Deste modo, a certeza destas proposies converte-se em certeza prtica, isto , baseada exclusivamente na sua livro aceitao por parte do homem. O ideal aristotlico da cincia demonstrativa conduz aqui expulso definitiva para fora do mbito de investigao filosfica de fundamentos bsicos da religio catlica. A escolstica encaminha-se para esvaziar de qualquer contedo o seu prprio problema. 305. JOO DUNS ESCOTO: CONHECIMENTO INTUITIVO E DOUTRINA DA SUBSTNCIA A doutrina do conhecimento de Duns Escoto fundamentalmente de inspirao aristotlica. Nela domina o conceito aristotlico de abstraco, e mais, a abstraco converte-se numa forma fundamental do conhecimento, no prprio conhecimento cientfico. Tal o significado da distino entre conhecimento intuitivo e conhecimento abstractivo. "Pode haver, diz Escoto (Op. ox., II, d. 3, q. 9, ri. 6), um conhecimento do objecto, que abstrai da sua existncia actual, e pode haver um conhecimento do objecto enquanto existe e enquanto est presente na sua existncia actual". A cincia abstrai da existncia actual do seu objecto, sem o que existiria ou no, conforme a existncia ou no existncia do seu objecto, com o que no seria perptua mas seguiria o nascimento e a morte desse objecto. Por outro lado, se o sentido conhece o objecto na sua 128 DUNS ESCOTO existncia actual, tambm do mesmo modo o deve conhecer o intelecto, que uma potncia cognoscitiva mais elevada. Escoto chama abstractivo ao primeiro conhecimento, porque abstrai da existncia ou no existncia actual do objecto; chama intuitivo ao segundo, enquanto nos coloca directamente na presena do objecto existente e no-lo faz ver tal como ele em si prprio. "Intuitivo" no se ope a "discursivo", no significa a imediats. do conhecimento em oposio ao procedimento indirecto da razo, designa, sim, a presencialidade do objecto que se tem no acto de ver (intueri). Duns Escoto serviu-se assim do conceito aristotlico de abstraco para determinar os dois graus fundamentais do conhecimento, independentemente da distino tradicional de sensibilidade e razo. O conhecimento abstractivo o conhecimento do universal, e prprio da cincia. O conhecimento intuitivo, que no somente prprio da sensibilidade Pias tambm pertence ao intelecto, o conhecimento da existncia como tal, da realidade, enquanto ser ou presena actual. Trata-se de duas formas ou graus de conhecimento que no correspondem a dois rgos ou faculdades diferentes (tal como a
sensibilidade e o intelecto), porque podem ser e so de um s rgo, precisamente o intelecto. Com efeito, evidente que aos sentidos dado o conhecimento intuitivo, mas no o abstractivo; enquanto que ao intelecto pertencem tanto um como outro. Ora sobre, a dupla funo intuitiva do conhecimento intelectual que se baseia toda a metafsica de Duns Escoto. esta a parte mais subtil e original de todo o sistema escotista, e consiste essencialmente na interpretao da teoria aristotlica da substncia. A substncia aristotlica, como causa ou princpio do ser enquanto ser, tambm o fundamento de toda a inteligibilidade e de toda a realidade. Ela , simultaneamente, a essncia do ser e 129 o ser da essncia, a natureza racional da realidade e a sua existncia necessria ( 73). Escoto refere-se explicitamente a esta doutrina, atravs da interpretao de Avicena (Op. ox., 11, d. 3, q. 1, n. 7). Posto que na realidade externa s existem coisas individuais, e que o universal s subsiste como tal no intelecto, Escoto preocupa-se em encontrar o fundamento comum da individualidade das coisas externas e da universalidade das coisas pensadas, reconhecendo este fundamento comum numa quididade ou substncia, de tipo aristotlico. Com efeito, embora na realidade externa s existam coisas individuais, deve no entanto haver uma substncia ou natureza comum dessas coisas individuais. Em qualquer gnero dado, existe uma unidade primeira que serve de medida de todas as coisas que pertencem a esse gnero. Tal unidade uma unidade real porque medida de coisas reais, mas no uma unidade numrica porque no se acrescenta ao nmero dos indivduos, que compem o gnero. Por exemplo, a natureza humana a medida e o fundamento de todos os indivduos que pertencem ao gnero homem e constituem a sua unidade; mas no uma unidade numrica, pois se o fosse acrescentar-se-ia, como outra realidade individual, ao nmero dos indivduos humanos. Esta unidade no numrica, ou, como ele diz, menor que a unidade numrica, a qualidade - o quod quid erat esse ou a essncia substancial de Aristteles, isto , a natureza comum. A substncia ou natureza comum simultaneamente o fundamento da realidade dos indivduos o da universalidade do conceito. Pela sua parte, no , portanto, nem individual nem universal, ou melhor, , por si mesma, indiferente individualidade e universalidade. "Ela, diz Escoto (Op. ox., 11, d. 3, q. 1, n. 7), no , por si mesma, una com uma unidade numrica, nem mltipla com uma 130 multiplicidade oposta a essa unidade; no universal em acto, tal como o universal o no intelecto; nem , em si, particular. Embora nunca exista realmente sem alguma destas determinaes, no todavia nenhuma delas, mas precede-as naturalmente a todas, e, por esta sua prioridade natural, o quod quid est [a substncia no sentido aristotlico , por si mesma, objecto do intelecto e, por si mesma, considerada pelo metafsico e expressa pela definio". Esta natureza comum no s , por si mesma, indiferente universalidade que recebe no intelecto e singularidade que recebe na
realidade, mas o seu prprio ser no intelecto no tem originariamente um carcter universal. A universalidade -lhe acrescentada como primeira determinao, enquanto objecto; na realidade externa, do mesmo modo, -lhe acrescentada a singularidade que faz dela uma realidade individual, se bem que, por si mesma, seja anterior determinao que a contrai a um indivduo singular. Pela sua igual indiferena universalidade e singularidade, no repugna nem a uma nem a outra, pode adquirir, como objecto, do intelecto, aquela universalidade que dela faz uma realidade inteligvel, e como realidade fsica, aquela individualidade que dela faz uma realidade externa alma (1b.; Rep. par., 11, d. 12, q. 6, ri. 11). Ora esta natureza comum, que fundamento de toda a realidade, quer no intelecto quer fora do intelecto, objecto do conhecimento intuitivo. Revela-se aqui a funo que Escoto atribui a esta forma de conhecimento. Dado que o conhecimento intelectual abstractivo evidentemente o do universal, e dado que a natureza comum anterior tanto universalidade como singularidade que percebida pelo sentido, no haveria qualquer possibilidade de a conhecer se o intelecto no tivesse a funo intuitiva que o faz perceber na sua realidade a substncia ltima das coisas (Op. ox., III, d. 14, q. 3, n. 4). 131 Reconhecendo assim na natureza comum e na sua unidade, "menor que a unidade numrio-a", a substncia metafsica do universo, a estrutura ltima comum ao mundo sensvel e ao mundo inteligvel, Escoto prope-se o problema de ver como ela d precisamente lugar por um lado, universalidade que objecto do intelecto, e, por outro, singularidade que o carcter das coisas existentes. Ou seja, encontra-se, por um lado, perante o problema da individuao, por outro lado, perante o problema da universalizao. No que se -refere ao princpio da individuao, Escoto nega que ele consista na matria ou na forma. A matria o fundamento indistinto e indeterminado da realidade: no pode, portanto, ser o princpio da distino e da diversidade (1b., 11, d. 3, q. 5, n. 1). Tambm a forma o no pode ser, dado que ela, na realidade, precisamente a substncia ou natureza comum que precede tanto a universalidade como a singularidade, sendo, por isso, indiferente a uma e a outra. A individualidade consiste, segundo Escoto, numa "ltima realidade do ente", a qual determina e contrai a natureza comum individualidade, ad esse hane rem. Esta ltima realidade do ente, este princpio contractor e limitativo, que restringe e define a natureza como indiferente nos limites de um indivduo determinado, foi denominado por Escoto, ou por algum dos seus discpulos imediatos, haecceitas. Este termo, que no se encontra no Opus oxoniense, aparece, pelo contrrio, nos Reportata parisiensia (11, d. 12, q. 5, n. 1, 8, 13, 14). Indica a determinao ltima e completa da matria, da forma e do seu composto. Esta determinao uma determinao real, a qual se acrescenta realmente substncia que constitui a natureza comum de todos os indivduos, mas no uma realidade dela diferente numericamente. A natureza comum e a haec132 ceitas no so duas realidades, duas coisas numericamente dislintas, embora sejam realmente distintas. Escoto introduz aqui um tipo de distino que exclui a separao e a diversidade numrica dos termos distintos, se bem que no seja uma pura distino de razo mas sim uma distino real. Tal a
distino formal, que ele considera existir a natureza e a entidade de um ente qualquer: entendendo por natureza a substncia comum indiferente, e por entidade a completa realizao do indivduo com tal (Op. ox., 11, d. 3, q. 6, n. 15). Esta soluo do problema da indivIduao implica o reconhecer ao indivduo um valor metafsico que a tradio escolstica nunca lhe atribura. A individualidade a ltima perfeio da substncia metafsica; constitui a completude de tal substncia, a sua actualidade plena. O outro problema fundamental da metafsica de Escoto o que se refere universalizao da substncia comum no intelecto. Esta universalizao realiza-se por meio da espcie inteligvel. A espcie necessariamente exigida pelo conhecimento intelectual, dado que objecto de tal conhecimento. De facto, se a imagem (phantasma) o objecto do conhecimento sensvel e representa a realidade sob o aspecto da singularidade, necessrio que o conhecimento intelectual tenha um objecto diferente, que representa a realidade sob o aspecto da universalidade: tal objecto a espcie. Ora a espcie no criada pelo intelecto, ainda que a actividade do intelecto seja a nica causa do conhecimento. A espcie , por sua natureza e no por obra do intelecto, o objecto adequado desse mesmo intelecto; o qual portanto, nos seus confrontos, no s activo mas tambm receptivo. O intelecto e a espcie concorrem conjuntamente no determinar do conhecimento, tal como o pai e a me na gerao da prole (Ib., 1, d, 3, q- 7, n. 2, 3, 20). O primeiro 133 conhecimento confuso do intelecto o da espcie especialssima, isto , da espcie menos universal e mais individualizada, o portanto, a mais prxima da imagem sensvel. Mas o primeiro conhecimento distinto do intelecto , pelo contrrio, o mais universal, o do ser, Este conceito est includo em todos os outros conceitos mais restritos: portanto, todos os outros o pressupem e no podem ser concebidos distintamente (,isto , definidos) se neles no estiver distintamente compreendido o conceito de ser. A metafsica, que, precisamente tem por objecto este conceito, pressuposta por todas as outras cincias, e condiciona. e possibilita os princpios sobre os quais elas se baseiam (Ib., 1, d. 3, q. 2, n. 22-25). 306. JOO DUNS ESCOTO: O SER E DEUS Os pontos fundamentais da doutrina de Escoto de que j tratmos so resultados duma investigao que se esfora por se manter fiel ao esprito do aristotelismo. Como Aristteles, Escoto situou a metafsica acima de todas as cincias, como condio e fundamento de todas elas. Como Aristteles, entendeu a metafsica como sendo a cincia do ser enquanto ser. Como Aristteles, explicitou-a como uma teoria da substncia, a qual s pode entender-se em referncia exposio clssica do livro VII da Metafsica. A sua teoria do universal , na realidade, a teoria da substncia como pura estrutura ontolgica, fundamento, simultaneamente, da universalidade lgica e da individualidade natural. A fidelidade ao esprito do aristotelismo conduz Escoto a um outro dos traos caractersticos da sua doutrina: a afirmao da univocidade do ser em oposio polmica a S. Toms. O conceito de ser, que o objecto prprio da metafsica, , Como vimos, o conceito primeiro e fundamental. Est
134 para alm de todas as categorias e de todas as determinaes genricas, isto , no entra em nenhuma categoria nem em nenhum gnero; como tal, transcendente (Op. ox., 11, d. 1, q- 4, n. 26). A noo de ser comum a todas as coisas existentes, comum, portanto, criatura e a Deus. unvoca, no anloga; e Escoto detm-se a mostrar as consequncias impossveis derivadas da admisso da analogicidade. O seu argumento fundamental que, se no se admite um significado de ser que seja comum a Deus e s criaturas, torna-se impossvel conhecer algo de Deus e determinar qualquer um dos seus atributos partindo das criaturas por via causaL Com efeito, assim como nada se poderia conhecer da substncia, que por ns unicamente conhecida atravs dos seus acidentes sensveis, se no houvesse um conceito comum substncia e a esses acidentes, o qual , precisamente, o conceito de ser; tambm nada se poderia conhecer de Deus se no houvesse um conceito comum a Deus e criatura: e tambm aqui tal conceito no pode ser seno o de ser (1b., 1, d. 3, q. 3, ri. 9). No se poderia, por exemplo, ascender da sapincia que ns aprendemos nas criaturas at sapincia de Deus, porque esta nada teria em comum com aquela; e valeria o mesmo afirmar que Deus uma pedra, porque entre a pedra criada e a predicada a Deus no haveria relao menor do que h entre a sapincia divina (1b., 1, d. 3, q. 2, n. 10). analogia de proporcionalidade, afirmada por S. Toms, objecta Escoto que ela confirma precisamente a impossibilidade de afirmar analogicamente qualquer um dos atributos de Deus partindo das criaturas; j que, em virtude dela se no pode afirmar que Deus possua aquela perfeio que se encontra nas criaturas, mas unicamente que a causa dessa perfeio. Ora, que Deus seja a causa de uma perfeio criada no implica que Deus tenha um atributo 135 semelhante a essa perfeio, a no ser que se aDmita uma semelhana entre o atributo divino e a perfeio criada semelhana que s se pode justificar admitindo um conceito comum a Deus e s criaturas, conceito a que certamente se no pode chegar ascendendo por via causal das criaturas at Deus (lb., 1, d. 8, q. 3, n. 10). Por outro lado, que o ser deva atribuir-se univocamente a Deus e s criaturas, no exclui a sua diversidade. Deus e as criaturas diferem nas suas respectivas realidades. as quais nada tm em comum (Ib., I, d. 8, q. 3, n. 11). Considera Escoto que o principio da univocidade do ser oferece ao homem uma via para demonstrar a existncia de Deus. Permite-nos em primeiro lugar, descobrir a impossibilidade da prova ontolgica, tal como S. Anselmo a exps. Se a proposio "Deus existe" se entende como unidade do ser e da essncia divina, certamente necessrio consider-la como evidente dado que se limita a reconhecer a Deus o ser em geral, sem determinar a realidade de tal ser. Se, pelo contrrio, fazemos questo da realidade prpria de Deus, do ser que lhe compete enquanto o pensamos mediante um conceito prprio, isto , no comum a ele e s criaturas, como, por exemplo, o de Ser necessrio, de Ser infinito ou de Sumo bem, no poderemos ento resolver a questo a no ser mediante uma demonstrao a posteriori. Posto que os conceitos que determinam a realidade prpria de Deus no so simples, mas resultam por sua vez de outros conceitos, a sua unio para formar o conceito de Deus deve ser
justificada com uma demonstrao, a qual deve proceder, como todo o nosso conhecimento, dos efeitos para as causas (Op. ox., 1, d. 2, q. 2, n. 4, 5, 10). Por outras palavras, s se pode reconhecer, a priori a Deus o ser em geral, o predicado ontolgico que comum a ele e s criaturas; mas a realidade determinada que lhe com136 pete em virtude de um conceito prprio que o homem dele forma, somente deve e pode ser demonstrada partindo da experincia. A priori, sabemos que, de um modo qualquer, Deus existe, mas que ele seja o Sumo Bem ou o Ser necessrio ou infinito, s o podemos saber em virtude, de uma demonstrao causal. De tal natureza so, com efeito, as provas que Escoto apresenta para a existncia de Deus. Dado que o que h de produtvel no mundo teve de ser produzido por uma causa, e dado que no se pode ir at ao infinito na cadeia das causas, temos de chegar a uma causa primeira ou, como diz Escoto, a uma primaridade necessria, incausvel e existente em acto. Esta prova obtida considerando a causa eficiente; obtida uma outra considerando a causa final. Existe um fim absoluto, que absolutamente primeiro, isto , no subordinado a nenhum outro fim-, e tambm este fim absoluto incausvel e actual. Finalmente, e eis uma terceira prova, deve existir uma natureza eminente, primeira pela sua perfeio absoluta, e tambm ela deve ser incausvel e actual. Existem, portanto, trs primazias, as quais so inseparveis e no podem encontrar-se seno numa nica natureza, j que o ser absoluta- mente primeiro no pode ser seno um (lb., 1, d. 2, q. 2, n. 11, 17; De primo princ., 3, 9, 11). As trs primazias exprimem os trs aspectos da suma bondade que, necessariamente, coincidem: a suprema comunicabilidade, a suprema amabilidade e a suprema perfeio. De entre os conceitos que se podem ter de Deus, um s, segundo Escoto, exprime a sua natureza intrnseca: o de infinito. Com efeito, este conceito mais simples que o de bem ou outro qualquer semelhante, dado que o infinito no um atributo ou uma determinao do ser, mas sim, um seu modo intrnseco e no acidental Se dizemos que 137 Deus sumo, damos-lhe uma determinao que lhe compete em relao s coisas que so diferentes dele; sumo entre todas as coisas existentes. Mas se dizemos que sumo na sua natureza intrnseca, ento isto no significa seno que infinito, isto , que transcende todo o grau possvel de perfeio (Op. ox., 1, d. 2, q. 2, n. 17). A infinitude divina leva ao limite todos os atributos de Deus, mas no os identifica na unidade da sua essncia. Escoto afasta-se da doutrina dominante na escolstica, segundo a qual os atributos de Deus seriam na sua multiplicidade incompatveis com a simplicidade da essncia divina, e, por isso, se identificariam imediatamente com tal essncia. Ele admite entre os atributos divinos aquela distino formal que caracterstica da sua doutrina, a qual j vimos interceder entre a natureza comum e a entidade individual. "As perfeies divinas, diz ele, distinguem-se ex parte rei, no realmente, mas formalmente". Entre elas no h somente uma distino de
razo, como haveria se s fossem modos diferentes de definIr e conceber a nica essncia divina, nem h uma distino real, como haveria s-, fossem realidades numericamente, distintas e separadas. H uma distino formal, no sentido em que uma diferente da outra dado que tem uma natureza ou uma essncia diversa, diversamente definvel. Com efeito, isto implica a distino formal: a diversidade das definies que exprimem as essncias ou quididades respectivas dos termos distintos. Ora se nas coisas erradas a definio da bondade diferente da da sapincia, tambm o ser na essncia infinita de Deus. A infinidade que caracteriza uma perfeio divina aumenta o seu grau para alm de todo o limite, mas no modifica a sua natureza. Portanto, as perfeies continuam a ser tambm em Deus formalmente diferentes uma da 138 outra: a ratio formalis de cada uma delas diferente da das outras (1b., 1, d. 8, q. 4, ri. 17). Deus inteligncia e vontade, e a inteligncia e a vontade so idnticas sua essncia. Como inteligncia, conhece no s a sua essncia mas tambm, e em virtude da prpria essncia, as coisas criadas. Mas ao contrrio do intelecto humano, que tem necessidade da espcie para entender as coisas, as quais no podem ser-lhe presentes na sua realidade, o intelecto divino no necessita de intermedirios: -lhe presente a prpria realidade e o seu objecto a realidade conhecida. "0 mundo inteligvel no seno o mundo externo enquanto existe representativamente (obiective) como mundo conhecido na mente divina: a ideia do mundo real no seno o mundo inteligvel, isto , o mundo no seu ser conhecido" (Rep. Par., 1, d. 36, q. 2, ri. 31). Quanto vontade divina, ela o verdadeiro fundamento da essncia divina. verdadeiramente causa primeira e absoluta, pois que no h motivo que a preceda e possa de alguma maneira determin-la. "No existe causa alguma pela qual a vontade divina queira isto ou aquilo, mas a vontade a vontade e nenhuma causa a precede" (Op. ox., 1, d. 8, q. 5, ri. 24). Est aqui verdadeiramente expresso o princpio do chamado voluntarismo de Duns Escoto. A vontade o princpio da contingncia absoluta, escapa a qualquer necessidade e a nica causa de si prpria. Explica-se assim que a atribuio de qualquer elemento ao domnio prtico da vontade signifique a negao da sua necessidade, isto , da sua demonstrabilidade racional. Explica-se tambm como toda a interveno directa de Deus na constituio do mundo deva ser considerada por Escoto como indemonstrvel, enquanto est excluda da ordem racional do prprio mundo. este o motivo pelo 139
qual Escoto considera que a omnipotncia de Deus indemonstrvel e constitui um puro artigo de f. Que Deus actue como causa primeira atravs da aco das causas segundas, uma verdade demonstrvel, pela qual se pode mesmo chegar (como j vimos) prpria existncia de Deus. Mas que Deus produza imediatamente, isto , prescindindo de qualquer causa intermediria, qualquer coisa que no seja em si necessria ou no inclua contradio, tal afirmao
uma afirmao que no pode ser demonstrada, mas somente acreditada (lb., 1, d. 42, q. 1). A vontade de Deus absolutamente livre, se bem que a liberdade divina se no entenda, como a humana, como a possibilidade simultnea de actos opostos, j que esta possibilidade implica uma imperfeio que no pode ser atribuda a Deus (lb., 1, d. 39, q. 5, n. 21). A liberdade de Deus consiste somente na sua capacidade de querer um nmero infinito de objectos diversos. Esta capacidade no implica nele nenhuma mutabilidade. Deus pode estabelecer que a coisa por ele querida se efectue neste ou naquele momento do tempo, sem que o seu querer perca a sua eternidade e imutabilidade. A novidade do mundo no , pois, excluda (como sustentavam os filsofos rabes) pela eternidade do querer divino. Quanto ao incio do mundo no tempo, Escoto considera que a questo, sob o ponto de vista da razo, deve ser deixada indecisa (lb., II, d. 1, q. 3). 307. JOO DUNS ESCOTO: O HOMEM Que a alma intelectiva seja a forma substancial do corpo , segundo Escoto, uma verdade demonstrvel. O homem, enquanto tal, pensa; e o seu pensamento no pode ser reportado a um rgo corporal, porque transcende o domnio dos objectos sensveis e dirige-se ao universal e ao supra-sensvel. 140 O sujeito do pensamento deve, portanto, ser a alma; e se o homem tal pelo pensamento, a alma, que o rgo do pensamento, a substncia ou a forma do homem (Op. ox., IV, d. 43, q. 2). Mas alma intelectiva no a nica forma do homem: h nele uma outra forma substancial, a do corpo enquanto corpo. a forma corporeitatis ou forma misti, que prpria do corpo como tal, anteriormente sua unio com a alma e, que o predispe a tal unio. Esta realidade que o corpo humano possui como corpo orgnico, independentemente da sua unio com a alma, a forma de corporeidade do prprio corpo (lb., IV, d. 11, q. 3; Rep. par., IV, d. 11, q. 3). A doutrina da forma de coMoreidade um corolrio da doutrina da actualidade da matria, que Escoto tem em comum com a tradio franciscana. A matria, independentemente da forma, tem uma realidade sua, pela qual se distingue do nada; ela , portanto, em wto, no enquanto o acto se ope passividade (j que, segundo Aristteles, a matria sempre passividade ou potncia) mas enquanto o acto se ope ao no ser (Op. ox., 11, d. 12, q. 1, n. 16). Esta doutrina da actualidade da matria encontra-se desenvolvida de modo caracterstico no De rerum princpio, e se bem que tais desenvolvimentos no possam ser atribudos a Escoto, dada a impossibilidade de, com certeza, lhe atribuir esta obra, eles revelam todavia um aspecto historicamente notvel da corrente escotista. So distinguidos naquela obra trs significados da matria. A matria primo prima a mais indeterminada e, portanto, a menos actual, j que privada de qualquer forma substancial ou acidental. A matria secundo Prima o substrato da gerao e da corrupo e j provida de alguma forma substancial e da quantidade. A matria tercio prima a matria sobre a qual agem as foras naturais e da qual o 141 Prprio homem se serve nas suas produes artificiais. A distino destas
trs matrias no anula a unidade da matria. O De rerum principio admite explicitamente a doutrina de Avicebro da unidade da matria, quer a das coisas corporais quer a das espirituais (De rer. princ., q. 8, a. 3-4). De qualquer maneira, a matria nada tem que ver com a individualidade da alma. A alma tem a sua singularidade independentemente, e antes da sua unio com a matria. Evidentemente, a sua singularidade , como a de qualquer outra coisa, a sua entidade ltima, a haeccetas (Quod1., q. 2, n. 5). aqui mais uma vez refutado o princpio de individuao tomista como materia signata. A partir da natureza da alma no se pode deduzi-r ou demonstrar a sua imortalidade. No so concludentes as razes que foram aduzidas em defesa da sua -imortalidade. Aristteles no teria podido admitir a imortalidade sem destruir todos os seus princpios, j que ele considera que em todo o composto o ser do todo diferente do ser das partes que o compem (a matria e a forma). Mas se a alma permanecesse aps o corpo, no seria s forma, isto , parte do homem, mas todo o homem, o que contrrio sua explcita afirmao (Rep. par., IV, d. 43, q. 2, n. 13). No se pode dizer que a alma, como forma, tenha o ser por s, e seja, portanto, indestrutvel; j que ela no tem o ser por si no sentido de subsistir por sua conta e de, a nenhum ttulo, poder ser separada do ser: isto quereria dizer que nem Deus a poderia criar ou destruir, o que falso (1b., IV, d. 43, q. 2, n. 18-19). Esta relao intrnseca entre o ser e a alma, afirmada pela primeira vez por Plato e da qual tambm S. Toms se servira para demonstrar a imortalidade, assim negada por Escoto e reduzida a pura matria de f (Op. ox., IV, d. 43, q. 2, n. 23). Ainda menos concludentes so as razes 142 extradas da vida moral: a aspirao da alma beatitude, eterna e a uma justia que remunere o bem e o mal. J que, ao menos, deveramos conhecer, por meio da razo natural, que a beatitude eterna seja o fim conveniente nossa natureza, o que no acontece; e quanto necessidade de um prmio ou de um castigo, pode dizer-se que cada um encontra a sua suficiente remunerao na sua prpria boa aco, e que a primeira pena do pecado o prprio pecado (1b., IV, d. 43, q. 2, n. 27, 32). A imortalidade, da alma , portanto, uma pura verdade de f, no susceptvel de tratamento demonstrativo. Escoto afirma com muita energia a liberdade da vontade humana. "A vontade, enquanto acto primeiro, livre para actos opostos; tambm livre de tender, mediante tais actos opostos, para objectos opostos, e, alm disso, livre de produzir efeitos opostos" (1b., I, d. 39, q. 5, n. 15). Esta liberdade condicionada essencialmente pelo facto de que a vontade no tem outra causa seno ela prpria, j que o nico princpio de tudo o que acontece de uma maneira contingente, isto , no necessariamente (lb., 11, d. 25, q. 1, n. 22). No acto voluntrio, o intelecto depende da vontade, dado que a vontade dele se serve como instrumento e o submete s exigncias da aco. Contra o primado do intelecto afirmado por S. Toms, Duns Escoto afirma, com Henrique de Gand, o primado da vontade. A bondade do objecto no causa necessariamente a anuncia da vontade, mas a vontade escolhe livremente o bem, e livremente opta pelo bem maior (1b., 1, d. 1, q. 4, n. 16). Esta supremacia da vontade confere vida moral do homem um carcter de arbitrariedade irremedivel.
A nica lei moral para o homem o mandato da vontade divina. "Deus no pode querer nada que no seja justo, porque a vontade de Deus a 143 ,primeira regra" (lb., IV, d. 46, q. 1, n. 6). Dado que a causa da vontade divina no outra seno a prpria vontade, Deus poderia agir de outra forma e estabelecer para o homem uma lei diferente daquela que estabeleceu: em tal caso, esta ltima seria a lei justa, dado que nenhuma lei justa seno enquanto aceite pela vontade divina (lb., 1, d. 44, q. 1, n. 2). Trata-se de consequncias inevitveis do princpio fundamental de que tudo o que prtico absolutamente livre e arbitrrio. Este princpio, utilizado com rgida coerncia, leva a reduzir o valor da conduta humana simples conformidade com a lei estabelecida por Deus, e o valor desta lei ao simples arbtrio divino. Porm, evidente que Escoto deve admitir uma excepo, e uma s, ao princpio segundo o qual todas as regras de conduta se reduzem a mandamentos divinos. Esta excepo refere-se prpria regra que impe o respeito ao mandamento divino; j que se esta ltima tambm s fosse vlida em virtude de um mandamento divino, no haveria para o homem nenhuma vida de acesso natural vida moral, e esta consistiria numa obedincia ao mandamento divino tambm ela prescrita somente por um mandamento divino. E tal , com efeito, a posio de Escoto a esse propsito. Comea, porm, por distinguir uma lei de natureza, evidente naturalmente ao homem do mesmo modo que os princpios especulativos, e uma lei positiva divina feita valer por um mandamento de Deus (lb., III, d. 37, q. 1); mas logo restringe o campo da lei natural distinguindo nela os princpios prticos que resultam evidentes pelos seus prprios termos ou que so demonstrados necessariamente, daqueles que sendo conformes a tais princpios, no so evidentes nem necessrios; e considera somente os primeiros como leis naturais em sentido restrito Ub., 111, d. 37, q. 1). Assim restringido, o domnio da lei natural com144 preende somente os dois primeiros preceitos da primeira tbua: "No ters outro Deus alm de mim e "No pronunciars o nome de Deus em vo", os quais so, precisamente, os preceitos sobre os quais se baseia a obedincia geral aos preceitos divinos. A todos os outros preceitos, e embora admita a sua maior ou menor consonncia com a lei da natureza, Escoto nega-lhes a naturalidade e procura confirmar esta sua negao com base na dispensa que Deus pode conceder, e concede, em relao a eles, reconhecendo de tal modo que o homem pode agir rectamente ainda que sem a sua observncia (Ib., 111, d. 37, q. 1). Como s existe um nico preceito de lei natural--a obedincia a Deus-tambm s existe um nico acto verdadeiramente bom para o seu sujeito -o amor a Deus. O amor a Deus o amor de um objecto desejvel por si mesmo e infinitamente bom, e nunca pode ser moralmente mau; do mesmo modo, o dio a Deus o nico acto verdadeiramente mau, e que em nenhuma circunstncia pode ser bom. Qualquer outro acto que se dirija a outro objecto pode ser bom ou mau conforme as circunstncias (Rep. par., IV, d. 28, q. 1, n. 6). O amor a Deus a condio do amor ao prximo e a si mesmo, e fornece a regra e a medida de qualquer outro amor (Op. ox., HI, d. 28, q. 1). Ao
amor, responde Deus com a graa, que o acto com o qual ele aceita o amor e ama aquele que o ama (lb., 11, d. 27, q. 1, n. 3). Escoto atribui ao arbtrio divino a prpria ordem providencial da salvao. Contra a justificao tradicional da redeno, concebida como necessria para retirar o homem do estado de queda para o qual fora precipitado pelo pecado de Ado, Escoto afirma a contingncia da redeno e a perfeita voluntariedade da encarnao de Cristo. O homem poderia ter sido redimido de um modo diferente do que mediante a morte de Cristo. No havia 145 ?r, 0 ., necessidade de que Cristo **reffiraisse o homem com a sua morte, a no ser uma necessidade condicionada pela sua deciso de o querer redimir daquele modo. A morte de Cristo foi contingente e devida unicamente a deciso divina (Ib., IV, d. 15, q. 1, n. 7). Assim conduziu Escoto com extremo rigor a sua reduo da f ao domnio prtico, isto , ao contingente e arbitrrio. Todavia, esta reduo no implica a seus olhos nenhuma diminuio do valor da f. O seu carcter voluntrio ainda mais lhe aumenta o mrito. No pode haver dvida sobre a profundidade do esprito religioso, desta estranha figura de franciscano que professava o ideal aristotlico, de uma cincia rigorosa e simultaneamente defendia e expunha aquela crena na imaculada concepo de Maria, que a prpria Igreja catlica s no sculo XX viria a reconhecer como dogma. NOTA BIBLIOGRFICA 303. Todas as obras de Escoto foram publicadas em 1639 em Lyon por Luca Wadding, autor de anais dos franciscanos. O De primo principio est no volume 1'11; O Opus exoniense nos vois. V-X; os Reportata parisiensia no vol. X1; o Quodlibet no vol. XII. Foram feitas edies mais recentes sob a direco dos padres franciscanos de Quaracchi: as Quaestiowes disputatae de imaculata conceptione, Qauracchi, 1904; o De rerum principio, Quaracchi, 1910. Das Opera omnia pubIieadas pela Comisso Escotista sob a presidncia de C. Balic sairam, os primeiros quatro volumes, Roma, 1950 e seguintes. Sobre a vida. e a obra: LITTLE, The Grey Friars in Oxford, Oxford, 1892, p. 210-222. Sobre a questo da autenticidade das obras: LONGPR, La philosophie du B. Duns Scot, Paris, 1924, 16-49, 288-291; e em particular sobre os Theoremata E. GILSON, in "Arch. &Hist. doct. et litt. du Moyen Age", Paris, 1938, p. 5-86; C. BALIC, in "Riv. di Fil. Neo-Scol.>, 1938, 146 p. 235-245. O confronto entre Duns Escoto e Kant in WILLMANN, Geschichte des Ideahsmus, vol. 11, 1908, p. 516. 304. Sobre as relaes entre cincia e f: MINGES, in "Forschungen zur ehristlichen Literatur und Dogmengeschichte", 1908, 4-5; FINKENZELLER, in
"Bleitrge", XXXVIII, 5, 1961. 305. Sobre a lgica e a teoria do conhecimento: PRANTL, Gesch. der Logik, 111, 202-232; HEIDEGGER, Die Kategorien und BedeutungsIehre des Duns Scotus, Tbingen, 1916. Esta obra toma em considerao especialmente a Gramtica especulativa que no autntica. Sobre o chamado realismo excessivo de Duns Escoto que a velha interpretao da sua doutrina baseada em textos apcrifos: MINGES, in "Beitrg", VI, 1, 1908. 306. Sobr,- a unIvocidade do ser: MINCES, in "Phil. Jahrbuch", 1907, 306323. Sobre a teologia: BELMOND, tudes sur Ia philos. de Duns Scotus, Paris, 1913. 307. Sobre o indeterminismo, de Escoto: MINGES, in "]3eitrge", V, 4, 1905. Sobre a tica: STOCKMus, Die Unvernderlichkeit des natrlichen Sittengesetz in der scho7astischen, Ethik, 1911, 102-135; DITTRICH, Gesch. d. Ethik, 111, 150 ss. Entre as monografias mais recentes: LANDRY, Duns Scot, Paris, 1922, contra a qual se dirige a obra de LONG~, La philos. du Bat Duns Scot, Paris, 1924, notvel sobretudo pelo exame da autenticidade das obras escotistas. A monografia inglesa de HARRIS, Duns Scotus, 2 vols., Oxford, 1927, baseia-se tambm no De rerum principio, do qual Flarris admite a autenticidade. Sobre temas fun- )damentais da filosofia escotista, o vasto eGmentro de E. GILSON, Jean Duns Scot, Introduction ses positions fondamentales, Paris, 1952. Bibliografia: IlAnRIS, op. cit., IT, p. 313-360; E. BETTONI, VentIanni di studi scotisti, in "Quaclerni defla R.v. Neo-Scol.", Milo, 1913; SCHAEFER, Bibl. de vita operibus et doctrina J. D. S., Roma, 1954. 147 XXI A POLMICA TEOLGICA E POLTICA NA PRIMEIRA METADE DO SCULO XIV 308. SINAIS PRECURSORES DA DISSOLUO DA ESCOLSTICA Entre a morte de Duns Escoto e o incio da actividade filosfica de Occam medeiam muito poucos anos. Mas durante esses poucos anos, a conscincia dos **lirutes que a investigao escolstica encontra por todo o lado na sua tentativa de explicar o dogma catlico d passos gigantescos, refora-se aprofunda-se em todos os sentidos. Pela primeira vez, Duns Escoto faz valer o aristotelismo como norma de uma rigorosa cincia demonstrativa e, consequentemente, como critrio limitativo e negativo da investigao escolstica. Pela primeira vez, ele afirma a heterogeneidade da teologia em relao cincia especulativa e reconhecera o carcter prtico, isto , arbitrrio, de qualquer afirmao dogmtico. Desenhava-se assim uma ciso entre os 149
dois domnios que a escolstica sempre houvera procurado aproximar e fundir harmonicamente Aps Duns Escoto, esta ciso vai-se sempre aprofundando cada vez mais. Uma srie de pensadores dos quais nenhum apresenta uma personalidade de primeiro plano e que, por isso, mais no fazem do que exprimir a atmosfera dominante no seu tempo, especifica e descobre novos motivos de contraste entro a investigao filosfica e as exigncias da explicao dogmtica. Pensadores relativamente independentes, como Durand de Saint-Pourain e Pedro Aurolo, discpulos de Escoto como Francisco Mayrone e Toms Bradwardine, acentuam o carcter arbitrrio das afirmaes dogmticas. O nominalismo, que se desenha nitidamente nos dois primeiros, vai corroendo as bases da explicao dogmtica conduzindo a um reconhecimento do valor da experincia, o que, com Occam, levar subverso das posies tradicionais. A revivescncia do averrosmo far reflorescer a doutrina da dupla verdade, a qual se converte no estandarte do cepticismo teolgico do perodo seguinte. Por detrs da aceitao pura e simples da verdade de f, esconde-se a desconfiana na tentativa de a entender racionalmente e a convico de que a investigao filosfica no deve sequer propor-se a esta tarefa impossvel, mas sim dirigir-se para outras vias. Finalmente, as discusses jurdicas e polticas da primeira metade deste sculo, as quais culminam na obra de Marslio de Pdua, abrem caminho a um conceito racional e positivo do direito e do estado. 309. DURAND DE SAINT-POURAIN Durand de Saint-Pourain (de S. Porciano) denominado Doetor modermis pelos seus contemporneos, nasceu entre 1270 e 1275, foi frade domi150 nicano, e morreu bispo de Meaux em 10 de Setembro de 1334. Desenvolveu algumas actividades na corte papal de Avinho. Participou com uma obra na disputa sobre a pobreza de Cristo o dos Apstolos, e fez parto da comisso que em 1326 censurou os 51 artigos extrados do Comentrio s Sentenas de Guilherme de Occam. A sua obra principal o Conzentrio s Sentenas, em cujo prlogo se afirma explicitamente a exigncias da liberdade de investigao filosfica. "0 modo de falar e de escrever em tudo o que se refere f que nos baseemos na razo, mais do que na autoridade de qualquer doutor por mais clebre e solene que ele seja, e que se faa pouco caso de qualquer autoridade humana quando a verdade contra ela surja por obra da razo". E efectivamente, parece que na sua actividade filosfica Durand seguiu uma via pessoal e, embora fosse dominicano, no fez muitas concesses autoridade de S. Toms. A esta sua posio independente se devem talvez as polmicas contra ele dirigidas por Horveus Natalis, Joo de Npoles e, outros tomistas. No que se !refere teoria do conhecimento, Durand nega a necessidade da espcie intermediria tanto para a sensibilidade como para o intelecto. O prprio objecto est presente aos sentidos e, atravs deles, tambm ao intelecto (In Sent., 11, d. 3, q. 6, n. 10). O objecto real sempre individual. O universal, seja gnero ou espcie, subsiste unicamente no intelecto. Compete coisa s enquanto ela compreendida pelo intelecto, o qual abstrai das condies individuantes dela, e no por qualquer elemento pertencente
substncia da prpria coisa (lb., 11, d. 3, q. 7, n. 7). O universal o o individual distinguem-se s racionalmente, mas na realidade so idnticos, j que o universal no 151 seno o indeterminado, e o individual o determinado. Pelo seu carcter indeterininado, o universal um conhecimento confuso, enquanto que o conhecimento do individual distinto. Aquele que tem o conhecimento universal de uma rosa que no v, conhece confusamente aquilo que intudo distintamente por quem vir a rosa que lhe est presente (1b., IV, d. 49, q. 2, n. 8). Os elementos desta doutrina do universal so tirados de Duns Escoro. Conhecimento intuitivo, conceito confuso, so noes escotistas; escotista tambm a noo de um conhecimento no qual o prprio objecto est presente no seu ser objectivo, mas tal conhecimento atribudo por Escoto no ao homem mas a Deus ( 304). A doutrina de Durand assinala uma decisiva orientao no sentido do nominalismo radical de Occam. Em polmica com S. Toms, que definira a verdade como adequao do intelecto e da coisa, Durand define a verdade como a conformidade do ser apreendido pelo intelecto com o ser real (1b., 1, d. 19, q. 5, n. 14); e esta rectificao torna-se necessria dada a sua doutrina fundamental de que no intelecto no existe a espcie ou forma da coisa, mas a prpria coisa na sua realidade representada. O mesmo princpio conduz Durand modificao da doutrina das ideias divinas, por ele consideradas no como representaes das coisas, mas as prprias coisas enquanto produzidas ou produtveis, isto , na causa do seu ser (lb., 1, d. 36, q. 3). Finalmente, Durand aceita a doutrina escotista de que a teologia unicamente uma cincia prtica e que, portanto, no cincia no sentido restrito do termo, e de que a razo incapaz de demonstrar a verdade ou mesmo a possibilidade dos artigos de f (1b., prol., q. 1, n. 40-48). 152 310. PEDRO AUROLO Na mesma linha de pensamento move-se o Doctor facundus, Pedro Aurolo, que foi provavelmente aluno de Duns Escoto em Paris. Pertenceu ordem franciscana e ensinou em Bolonha, Toulouse e Paris. Em 1321 foi nomeado arcebispo de Aix e morreu em 1322 na corte papal de Avinho. Pedro Aurolo tambm participou na luta contra os sustentadores da pobreza de Cristo e dos apstolos com um Tratactits de paupertate et usu paupere escrito em 1311. A sua obra principal um Comentrio s Sentenas, no qual defende uma teoria do conhecimento anloga de Durand. Critica a doutrina da espcie, que ele chama forma specularis, aduzindo que se a espcie fosse objecto do conhecimento, este no se referiria realidade mas s imagem dela, O objecto do conhecimento a prpria coisa externa, que, por obra do intelecto, assume um ser intencional ou objectivo, o qual no efectivamente diferente da prpria realidade particular. A rosa que objecto de definio e de demonstrao, diz ele, no seno a prpria rosa particular constituda em um ser representado ou intencional, que forma uma nica intentio e um
nico conceito simples (Dreiling, p. 82, n. 2). O universal, como tal, no tem a mnima realidade externa. Tudo o que existe singular e o problema da individuao insubsistente (In Sent., 1, 144, in Dreiling, p. 160, n. 1). O conhecimento tem tanto maIs clareza quanto menos se afasta da realidade individual: tem maior valor o conhecimento da realidade individuada e determinada do que o abstracto e universal. E isto porque o fundamento do conhecimento a experincia. " necessrio aderir ao caminho da experincia mais do que s razes lgicas, j que na experincia tem origem a cincia 153 e as noes comuns que constituem os princpios das artes" (1b., 1, 25, in Dreiffing, p. 196, n. 1), Eis aqui uma decisiva orientao no sentido do empirismo occamista, a qual tambm se evidencia na aceitao e no uso do princpio metodolgico da economia, que Occam assumir: Frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora (1b., 1, 319, in Dreiling, p. 205, n. 5). Henrique de Harelay foi outro dos sustentadores do esse obiectivum ou intentionale da realidade conhecida, isto , do carcter representativo ou significativo do objecto do conhecimento, o qual no te-ria, portanto, uma realidade substancial, um subiectum, diferente da realidade da coisa externa. Henrique de Harelay nasceu cerca de 1270 e morreu em 1317. Foi mestre na faculdade de teologia de Paris e autor de um Comentrio s Sentenas e de Questes, algumas das quais foram recentemente publicadas. Em alguns aspectos, como na doutrina das relaes, Henrique de Harelay preludia directamente Guilherme de Occam. 311. A ESCOLA ESCOTISTA A figura de Duns Escoto bem depressa obscureceu a dos outros mestres franciscanos, convertendo-se para a ordem franciscana no que S. Toms era para a ordem dominicana. Uma numerosa srie de discpullos apareceu a reexpor, explicar e defender polemicamente as doutrinas do mestre, contribuindo assim para a sua difuso ainda que sem aumentar a sua fora e originalidade especulativa. Entre estes discpulos os mais notveis so Antnio Andrea, Doctor dulcifluus, falecido cerca de 1320 e autor de uma Metafsica textualis que foi impressa entre as obras de Escoto; e Francisco de Mayarone (na Provena) cognominado pelos seus 154 contemporneos Doetor ilIuminatus ou Doctor acutus ou ainda Magister abstractionum. Este ltirno faleceu em Piacenza em 1325 e escreveu numerosas obras, entre as quais um Comentrio s Sentenas, um Comentrio Fsica aristotlica, um De primo principio e um Tractatus de formalitatibus. O Comentrio s Sentenas contm a notcia (In Sent., 11, d. 14, q. 5, fel. 150 a, ed. Venetis, 1520) de que em 1320 na Universidade de Paris um doutor afirmava que "se a terra se movesse e o cu estivesse parado, isso seria uma melhor disposio do mundo". Francisco Mayrone defendeu a distino formal de Escoto, colocando-a ao lado da distino essencial e da situao real. A distino essencial aquela que intervm entre a essncia e a existncia de duas realidades, por exemplo,
Deus e a criatura. A distino real a que intercede entre duas realidades existentes que possam ter a mesma essncia, por exemplo, entre pai e filho. A distino formal a que intercede entre duas essncias diferentes, por exemplo, entre o homem e o burro. H ainda uma distino interior essncia, que intercede entre a essncia e o seu modo intrnseco, por exemplo, entre o homem e a sua finitude. Lutou contra o nominalismo oecamista Walter Burleigh (Burlaeus), Doctor planus et perspicuus, que ensinou em Paris e em Oxford e morreu cerca de 1343. autor de uma espcie de histria da filosofia, de Tales a Sneca, que intitulada De vitis et moribus philosophorum e se baseia nas biografias de Digenes Larcio e em obras de Ccero e outros autores latinos; escreveu tambm comentrios de obras de lgica, da fsica e tica de Aristteles e vrios tratados sistemticos. Estas obras apresentam uma acentuao das teses de Escoto no sentido realista. Simultneamente matemtico, filsofo e telogo, Toms Bradwardine chamado Doctor profundus, 155 nasceu em 1290 e faleceu em 1349 como arcebispo de Canturia. autor de numerosas obras de aritmtica e de geometria, obras contra o pelagianismo e, possivelmente, de um Comentrio s Sentenas. Foi ele quem introduziu no Merton College de Oxford o gnero de estudos lgicos que depois se vieram a chamar Calculationes ( 326). No seu Tractatus de proportionibus escrito em 1328 costuma-se ver o incio da distino entre a considerao cintica e a considerao dinmica do movimento. Com efeito, Bradwardine trata nele, separadamente, da "proporo da velocidade em relao s foras dos moventes e coisa movida", que a considerao dinmica, e da velocidade "em relao s grandezas das coisas movidas e ao espao percorrido", que a medida cintica do movimento. Por outro lado, comea a formar-se com o seu Tratado o dicionrio de cinemtica que no deixa de, ter uma certa importncia at aos trabalhos de Galileu, embora s este ltimo o tenha guindado a um plano autnticamente cientfico. Os escritos teolgicos de Bradwa"ne apresentam uma acentuao do princpio escotista da perfeita arbitrariedade da vontade divina, afirmando mesmo a sua supremacia sobre a prpria vontade humana que Escoto, pelo contrrio, considerava livre. "No h em Deus razo ou lei necessria que preceda a sua vontade, s ela necessriamente a lei e a justia suprema" (De causa Dei, 1, 21). Deus a nica causa motora ou eficiente de tudo o que sucede, e determina necessriamente a prpria vontade humana. "Baste ao homem ser livre em relao de todas as coisas excepto a Deus, e ser smente serva de Deus, servo livre e no coagido" (1b., 111, 9). Assim se compreende a sua polmica contra o polagianismo, o qual afirmava a liberdade do homem mesmo em relao a Deus. 156 Um dos alunos de Toms Bradwardin-- foi Joo Wicliff, o iniciador da reforma religiosa em Inglaterra; e atravs de Wcliff, o determinismo teolgico de Bradwardine inspirou Joo Huss e Jernimo de Praga, os precursores da reforma na Alemanha.
312. OS LTIMOS AVERROSTAS MEDIEVAIS A condenao do averrosmo e da principal personalidade do averrosmo latino, Siger de Brabante, no impediu a difuso da obra de Averris. medida que na cultura escolstica crescia a importncia de Aristteles, crescia tambm a importncia daquele que era considerado como o "Comentador" por excelncia. Contudo, o averrosmo no constitui uma escola, mas sim uma orientao seguida por alguns pensadores isolados, orientao que em certos casos se afirmou uma decisiva anttese das crenas crists mantendo-se fiel doutrina original do Comentador, enquanto que noutros casos se atenuou, eliminando, ou procurando eliminar, qualquer motivo de contraste com o cristianismo. A Universidade de Pdua foi durante muito tempo um centro averrosta. Em Pdua ensinou, nos primeiros anos do sculo XIV e at sua morte (ocorrida provavelmente em 1315 durante o processo a que a Inquisio o submetera), Pedro de Abano, nascido em 1257, mdico e filsofo, defensor da astrologia e autor de um Conciliator differentiarum philosophorum et praecipue medicorum. No parece que Pedro de Abano tenha feito suas as teses tipicamente anticrists do averrosmo originrio, teses que, pelo contrrio, se encontram na obra de Joo de Jandum. No Conciliator, Pedro de Abano prope-se fazer o acordo entre as opinies diversas que haviam sido enunciadas sobretudo a 157
propsito de questes mdicas. Defende tambm o determinismo astrolgico dos rabes. Tudo o que acontece no mundo, inclusiv a vontade humana, est sujeito aos movimentos celestes, os quais determinam os grandes acontecimentos que assinalam as pocas da histria e at o aparecimento dos profetas e dos fundadores de religies. Toms de Estrasburgo (de Argentina), monge agostinho sequaz do tomismo e que morreu em Viena em 1357, atribui a Pedro de Abano, no seu Comentrio s Sentenas, um racionalismo religioso de que se no encontram traos nas obras do filsofo-mdico. A propsito de certos casos de morte aparente, cita Pedro de Abano entre os que acreditam na possibilidade desta letargia e acrescenta que ele "aproveitava isso para se rir dos milagres. nos quais se v Cristo e os Santos a ressuscitarem os mortos; dizia ele que as pessoas assim ressuscitadas no estavam verdadeiramente mortas, mas unicamente cadas em letargia". Toms de Estrasburgo acrescenta que estas heresias no lhe trouxeram nada de bom: "Estava eu l, quando na cidade de Pdua os seus ossos foram queimados por causa deste erro e de todos os outros por ele sustentados" (In Sent., IV, d. 37, q. 1, a. 4). Todavia, no se pode considerar que Pedro de Abano tenha sustentado as teses tipicamente anticrists do averrosmo originrio. Tais teses encontram-se, pelo contrrio, na obra de Joo de Jandum. Foi mestre na faculdade das artes de Paris e amigo e, segundo alguns consideram (mas quase de certeza erradamente), colaborador de Marslio de Pdua, autor do Defensor pacis, o mais vigoroso escrito da Idade Mdia contra a supremacia
poltica universal do papado. Tendo tomado partido por Lus o Bvaro, contra Joo XXII, Joo de Jandum e Marslio de Pdua refugiaram-se junto do Imperador, fugindo assim s consequncias 158 da escomunho que o papa lhos lanara. Joo de jandum morreu em 1328, o seu amigo Marslio de Pdua viveu ainda mais alguns anos. Joo de Jandum escreveu um Comentrio Fsica e Metafsica de Aristteles e vrios tratados, um dos quais acerca do sentido activo (sensus agens). Declara-se explicitamente discpulo de Aristteles e de Averris, mas a caracterstica fundamental da sua atitude filosfica o cepticismo perante, qualquer possibilidade de explicao dogmtica e o puro e SIMples reconhecimento do contraste entre f e razo. Depois. de ter afirmado a unidade numrica do intelecto nos diversos indivduos, diz que: "Ainda que esta opinio de Averris. no possa ser refutada com razes demonstrativas, eu, pelo contrrio digo e afirmo que o intelecto no numericamente uno em todos os homens; mais ainda, diferente nos diferentes indivduos segundo o nmero dos corpos humanos e a perfeio que lhos d a realidade. Mas isto no demonstro eu com nenhuma razo necessria porque no o considero possvel; e se algum o conseguir demonstrar, que se alegro (gaudeat) com isso. Esta concluso afirmo eu ser verdadeira e considero-a indubitvel unicamente para * f" (De an., 111, q. 7). Assume a mesma atitude * respeito de todos os pontos fundamentais da f crist. E repete o seu irnico convite: "que se alegre quem o souber demonstrar"; ele, por seu lado, limita-se a reconhecer a sua absoluta** incononiabilidado com os resultados da investigao racional. O averrosmo age aqui como um factor de dissoluo da escolstica e tem somente o valor dum radical cepticismo teolgico. Carcter diferente assume, pelo contrrio, em Joo de Baconthorp, que pertenceu ordem carmelita, ensinou em Inglaterra e faleceu em 1348. Das suas numerosas obras s foram publicadas o Comentrio s Sentenas, os Quodlibeta e o Compendium 159 legis Christi, ficando inditos numerosos tratados e comentrios. Interpreta a doutrina da unidade do intelecto no sentido de que ela no representa a verdadeira opinio de Averris, mas sim uma hiptese provisria de que ele se serve para alcanar uma verdade mais completa. Alm disso, Joo Baconthorp limta-se a recolher doutrinas diversas, s quais no d nenhuma elaborao original. 313. MARSLIO DE PDUA E A FILOSOFIA JURDICO-POLITICA DA IDADE MDIA A primeira metade do sculo XIV caracterizada no s pela liberdade e ausncia de preconceitos das discusses teolgicas e metafsicas, mas tambm pela liberdade e ausncia de preconceitos das discusses jurdico-polticas. Olhando para o campo destas discusses (mencionadas ocasionalmente nas pginas precedentes) nele distinguimos imediatamente dois constantes pontos de referncia, um doutrinal e outro prtico: a teoria do direito natural e
o problema das relaes entre o poder eclesistico e o poder civil. A teoria do direito natural o quadro geral em que se movem todas as discusses jurdicas e polticas da escolstica. Elaborada pelos Esticos e divulgada por Ccero, incorporada no direito romano, esta teoria constitui o fundamento daquela nova criao jurdica, caracterstica da Idade Mdia, e que o direito cannico. Na sua forma mais completa e amadurecida, que encontrou com S. Toms ( 281), a lei natural a prpria lei divina que, com perfeita racionalidade, regula a ordem e a mutao do mundo, nela devendo inspirar-se quer as leis civis quer a lei religiosa que dirige o homem par o seu fim sobrenatural. Acolhendo ecleticamente 160 as duas alternativas que a teoria do direito natural periodicamente seguira (ambas as quais se podiam j detectar nos Esticos) S. Toms considera que a lei natural simultaneamente instinto e razo porque abrange tanto as inclinaes que o homem tem em comum com os outros seres naturais como as racionais, especificas do homem (Summa theol., 11, 1, q. 94, a. 2). Mas, duma forma ou doutra, esta doutrina nunca foi posta em causa durante os sculos da Idade Mdia (e continuar a no o ser ainda durante alguns sculos), este o fundo comum de todas as discusses polticas. Por vezes, a discusso cai sobre a autoridade que melhor, mais directamente ou eminentemente **incairria a lei natural, isto , sobre o problema de se tal autoridade ser a do papa ou a do Imperador. A polmica filosfica segue ou acompanha neste caso a grande luta poltica entre o papado e, o imprio. Da teoria das "duas espadas", da qual o papa Gelsio 1 se servira, cerca dos finais do sculo V, para reivindicar a autonomia da esfera religiosa em relao autoridade poltica, o papado passara gradualmente a sustentar a tese da superioridade absoluta do poder papal sobre o poltico, e da dependncia de qualquer autoridade mundana em relao eclesistica, considerada a nica directamente inspirada e patrocinada pela lei divina. Foi sobretudo com Inocncio 111 (1198-1216), cuja obra teve uma importncia enorme em toda a Europa, que comeou a afirmar-se em todo o seu rigor a tese da superioridade do poder eclesistico; a partir desse momento, as discusses filosficas sobre a essncia do direito e do estado passaram a incidir sobre o tema da superioridade de um ou outro dos dois poderes. Pelos princpios do sculo XIV, estas discusses tornam-se particularmente vivas e inflamadas. O De ecclesiastica potes161 tate (1302) de Egidio Romano ( 294) a melhor expresso da tese curial, na sua acepo mais extensa. No s a autoridade poltica, mas toda e qualquer posse ou bem derivam da Igreja e mediante a Igreja; e a Igreja identifica-se, segundo Egdio, com o Papa, que se toma, portanto, a causa nica e absoluta de todos os poderes e bens da terra. Por outro lado, nesse mesmo ano, Joo de Paris (1269-1306), no seu De potestate regia et papali, negava a plenitude potestatis do Papa e
reivindicava para os indivduos o direito de propriedade, atribuindo unicamente ao Papa a funo de um administrador responsvel pelos bens eclesisticos. Uns anos depois, Dante, no De monarchia, preocupava-se sobretudo em defender a independncia do poder imperial frente ao poder papal. ", portanto, claro, dizia ele na concluso da obra, que a autoridade do monarca temporal desce at elo, sem nenhum intermedirio, da fonte da autoridade universal, a qual, nica como da fortaleza da sua simplicidade, flui em inmeros leitos dada a abundncia da sua excelncia" (111, 16). O imponente conjunto das obras polticas de Occam ( 322) procurava, por outro lado, separar o conceito de Igreja do de papado, identificando a prpria Igreja com a comunidade histrica dos fiis e atribuindo-lhe o privilgio de estabelecer e defender as verdades religiosas, e rebaixando o papado a um principado ministrativus, institudo exclusivamente para garantir aos fiis a liberdade que a lei de Cristo trouxe aos homens. Cada um destes escritores anticlerialistas tem as suas caractersticas prprias, conforme o interesse especfico que pretende defender: interesse que, para Joo de Paris, essencialmente econmico-social; para Dante, poltico; para Occam, filosfico-religioso. Mas a totalidade destes interesses constitui o interesse mais geral da nova classe burguesa que defende a sua liberdade de iniciativa 162 contra o monoplio do poder reivindicado pelo papado, apoiando-se na autoridade civil que se mostra mais aberta ou menos exigente. A obra de Marslio de Pdua apresenta, pelo contrrio, um carcter mais radical, conseguindo at pr entre parntesis o fundamento comum de todas as disputas polticas da Idade Mdia, ou seja a doutrina do direito natural divino. Marslio Mnardin nasceu em Pdua entre 1275 e 1280. Foi reitor da Universidade de Paris de 1212 a 1213 o participou, como dissemos, na luta entre Lus o Bvaro e o papado de Avinho como conselheiro poltico e eclesistico de Lus. Acabou de escrever o Defensor pacis em 1324, e mais tarde, durante a sua estada na Alemanha na corte de Lus, comps um resumo dessa obra sob o ttulo de Defensor minor, e dois outros escritos de menor importncia, o Tractatus de Jurisdictione imperatoris in causis matrimonialibus a propsito do casamento do filho de Lus com Margarida Maltausch, e o Tractatus de translatione Imperii. A sua morte deve ter ocorrido entre os finais de 1342 e os primeiros meses de 1343. A originalidade da obra de Marslio de Pdua consiste no carcter positivo do conceito de "lei" que ele toma como fundamento da sua discusso jurdicopoltica. Exclui explicitamente das suas consideraes a lei como inclinao natural, como hbito produtivo ou como prescrio obrigatria com vista vida futura. Uralita-se a considerar a lei como "a cincia, doutrina ou juzo universal de quanto justo e civilmente vantajoso e do seu oposto". (Def. pacis, 1, 10, 3). Mas mesmo no mbito deste conceito restrito, a lei pode ser considerada, segundo Marslio, quer como o que mos" traz aquilo que justo e injusto, vantajoso ou nocivo, e, neste sentido constitui a cincia ou doutrina do direito, quer como "um **pr"to coactivo ligado a
163 uma punio ou a uma recompensa a atribuir neste mundo" (1, 10, 4); e s neste sentido ela propriamente chamada "lei". So duas as caractersticas desta doutrina que est na base de toda a obra de Marslio: 1) O que justo ou injusto, vantajoso ou nocivo para a comunidade humana no sugerido por um instinto infalvel posto no homem por Deus, nem pela prpria razo divina, mas descoberto pela razo humana, criadora da cincia do direito. Pode ver-se neste aspecto do pensamento de Marslio o primeiro sinal da passagem do velho ao novo naturalismo jurdico, o qual incorporado no naturalismo jurdico do sculo XVII: passagem, aps a qual passa a ser atribuda prpria razo humana o juzo acerca do que vantajoso ou nocivo para a comunidade humana. 2) A limitao do conceito prprio de lei no ao simples juzo da razo (que por si s constitui** tinicamente cincia ou doutrina) mas ao que se tornou preceito coactivo ao coligar-se com uma sano. Este segundo aspecto da doutrina de Marslio de Pdua fez dele um antecessor do que hoje se denomina o positivismo jurdico. Dados estes pressupostos, a tarefa de Marslio de Pdua fica automaticamente restringida s consideraes sobre unicamente aquelas leis e governos que derivam duma forma imediata do arbtrio da mente humana" e a sua instituio (1, 12, 1). Sob este ponto de vista, o nico legislador o povo: considerado ou como "o corpo total dos cidados" ou como a sua "parte prevalescente" (pars valentior) que exprime a sua vontade numa assembleia geral e ordena que "algo seja feito ou no seja feito a respeito dos actos civis humanos sob a ameaa de uma pena ou punio temporal". Com a expresso "parte prevalescente", Marslio refere-se no s quantidade mas tambm qualidade das pessoas que constituem a comunidade que ins164 titui a lei, no sentido em que a funo legislativa pode ser deferida a uma ou mais pessoas, embora nunca em sentido absoluto mas s relativamente e salvo a autoridade do legislador primordial que o povo (1, 12, 3). lei assim estabelecida todos esto igualmente sujeitos, incluindo os clrigos. "0 facto de algum ser ou no ser sacerdote no tem perante o juiz maior importncia do que se fosse campons ou pedreiro, como no tem valor perante o mdico que seja ou no msico algum que possa adoecer e curar-se" (11, 8, 7). Portanto a pretenso do papado em assumir a funo legislativa e a plenitude do poder no passa duma tentativa de usurpao que no produz e no pode produzir seno cises e conflitos (1, 19, 8 e seguintes). Analogamente, para a definio das doutrinas respeitante-s a matria de f, definio indispensvel em todos os casos deixados duvidosos pela Sagrada Escritura, e para evitar cises e discrdias no seio dos fiis, a autoridade legtima no a do Papa mas a do conclio convocado da devida forma, isto , de modo a que nele esteja presente, ou directamente ou por delegao, a "parte prevalescente da cristandade" (11, 20, 2 e seguintes). fcil darmo-nos conta da validade e modernidade das teses do Defensor pacis. Com base nelas, o mbito, do estado limitado (segundo o princpio que mais tarde foi reintroduzido por Hobbes) defesa da paz entre os cidados, isto . eliminao dos conflitos; e, consequentemente, o domnio da lei como preceito coactivo restringido aos actos externos, limitao
importantssima porque garante a liberdade de conscincia. Alm disso, o direito entendido como norma racional puramente formal, segundo uma orientao que se tomou cada vez mais prevalescente nas modernas concepes sobre ele. 165 NOTA BIBLIOGRFICA 309. De Durand, o Comentrio s Sentenas teve nuinerosas edies, das quais a principal a de Paris, de 1508. Quaestio de natura cognitionis, ed. Koch, in "Op. et Texta", VI, Mtinster, 1929; VIII, Mnster, 1930. Sobre Durand: Koci, in "Beitrge", XXVI, 1, 1927; POURNIER, in "Hist. Lit. de Ia France" 37, Paris, 1938, p. 1, ss. 310. De Pedro Aurolo, o Comentrio e Quodlibeta, Roma, 1596, 1605. Sobre AurGio: DREILING, in <@Beitrge", X, 6, 1913; LANDRY, Pierre XAurole, in <,Revue d'I-Iist. de Ia Phil.", 1928. 311. , As obras de lgica de Antnio Andrea tiveram vrias edies venezianas in-folio: 1492, 1508, 1517- As Quaestiones sobre a Metafsica aristot,lica foram impressas em Veneza em 1481, 1514, 1523. Em Veneza foi tambm impresso em 1489 o De tribus principiis rerum naturalium. As obras de Francisco de Mayrone foram impressas em Veneza em 1520. Sobre Francisco de Mavrone: ROTH, Franz von Meyronnes, Werl i. W., 1936. De Burleigh, as obras tiveram numerosas edies entre 1472 e 1508; ed. Bhner, San BGnaventure (New York), 1951; De vitis et moribus phiZosaphorum, ed. Knust, Tbingen, 1886. Sobre Burleigh: BAUDRY in "Rev. Hist. Francis.", 1934. De TGnis Bradwardine, as obras tiveram vrias edies antigas. De causa Dei, ed. S?@vi'e, Londres, 1618; Tractatus de proportionibu8, ed. Crosby, University Gf Wisconsin, 1955. Sobre Bradwardine: HAHN, in Beitrge", V, 2, 1905; MICHALSKi, Le probl~ de Ia volont Oxford et Paris ao XiVe sicle, Leopoli, 1937; OBERMAN, Archbishop Th. B., Utrecht, 1957; assim como a introduo e o comentrio de Crosby na ed. cit. do Tractatus. 312. De Pedro de Abano: Conciliator, Veneza, 1476, 1483, 1565; a Expositio problematum Aristotelis, em Mntua em 1475, Pdua 1492, Veneza, 1501. Sobre Pedro de Abano: S. FERRARI, I tempi, ta vita, le dottrine di Pietro dAbano, Gnova, 1900; DunEm, SysUme du monde, IV, 2292663; NARDI, Intorno alle dottrine fiZosofiche di P. D'Abano, Milo, 1921. Sobre as caractersticas do averrosmo paduano: TIZOILO, Averroismo e Aristotelismo padovano, Pdua, 1939. 166 As obras de Joo de jandum tiveram numerosssimas edies venezianas na
primeira metade do sculo XVI. Sobre Jandum: GILSON, tudes de philosophie mdivale, Paris, 1921, 51-75; J. RIVIRE, in "Diet. de thol. cath(>Iique", VIII, 764 ss.; MCCLINTOCK, Perversity and Error, Indiana, 1956 (com bibli). De Joo Baconthorp: o Comentrio s Sentenas foi publicado em Milo em 1510, Veneza, 1527, Paris, 1484; e conjuntamente com os Quodlibeta em Cremo-na em 1618. Sobre Joo Baconthorp: MICHALSKI, Les courants philowphiques Oxford et Paris pendant le XIVe sicle, Cracvia, 1922, p. 13 ss. 313. Do Marslio. de Pdua: as obras in GOLDAST, Monarchia, H, 1r>14; Defensor pacis, ed. Previt-Orton, Cambridge, 1928; ed. Schols, Hannover, 1932. Tradues: inglesa de MarshalI, Londres, 1535 e de Gewirth, New York, 1956; alem de Kunsmann e Kulch, Berlim, 1958; italiana de Vasoli, Turim, 1960. Sobre Marslio de Pdua: BATTAGLIA, Marsilio da Padova, Florna, 1928; GEwIRTH, Marsilius of Padova, New York, 1951; Marsilio da Padova, volume colectivo sob a direco de C~ini e Bobbio, Pdua, 1942. Bibliografia na cit. traduo italiana de Vasoli. 167 XXII GUILHERME DE OCCAM 314. GUILHERME DE OCCAM: A LIBERDADE DE INVESTIGAO Guilherme de Occam a ltima grande figura da escolstica e simultaneamente a primeira figura da Idade Moderna. O problema fundamental, do qual a escolstica tinha sado e de cuja incessante elaborao tinha vivido, o acordo entre a investigao filosfica e a verdade revelada, declarado por Occam, e pela primeira vez, como impossvel e vazio de qualquer significado. Com isto, a escolstica medieval conclui o seu ciclo histrico; a investigao filosfica fica disponvel para a considerao de outros problemas, o primeiro dos quais o da natureza, isto , do mundo a que o homem pertence e que pode conhecer com a simples fora da razo. A negao da possibilidade do problema escolstico implica imediatamente a abertura de um problema no qual a investigao filosfica reconhece o seu domnio prprio. O princpio de que Occam se serviu para levar a cabo a dissoluo da escolstica iniciada por Escoto o recurso experincia. Para Duns Escoto, 169 o princpio limitativo e negativo da investigao escolstica fora o ideal aristotlico da cincia demonstrativa. Assumido e feito valer pela primeira vez no seu pleno rigor, este ideal levara o Doutor subtil a reconhecer na teologia uma cincia puramente prtica, isto , apta a fornecer normas de aco mais incapaz de alcanar verdades especulativas. O recurso experincia, que, pelo contrrio, constitui o trao saliente do procedimento de Occam, leva-o a pr na experincia o fundamento de todo o conhecimento e a rejeitar para fora do conhecimento possvel tudo o que transcende os limites da prpria experincia. Pode pensar-se que este primado da experincia,
afirmado por Occam, seja tambm devido influncia do aristotelismo; na realidade, o valor da experincia fora j reconhecido pela tradio franciscana e fora objecto de afirmaes solenes de Roberto Grosseteste e Rogrio Bacon. Occam mantm-se mais fiel a esta tradio do que Escoto. Mas, tal como o ideal aristotlico da cincia, embora j conhecido e aceite pela escolstica latina, s com Escoto foi adoptado como fora limitadora e negadora do problema escolstico, tambm o empirismo, embora j conhecido e aceite por muitos escolsticos, s com Occam se transforma na fora que determina a queda da escolstica. Ao empirismo, que o fundamento da sua filosofia, chegou Occam partindo de uma exigncia de liberdade que o centro da sua personalidade. Tal exigncia domina todos os seus pontos de vista. A propsito da condenao pronunciada pelo bispo de Paris, Estevo Tempier, sobre algumas proposies tomistas ( 284) diz ele: "As asseres fundamentalmente filosficas, que no se referem teologia, no devem ser condenadas ou solenemente interditas por ningum, porque nelas qualquer um deve ser livro de livremente dizer o que lhe parecem (Dial, inter mag. et disc., 1, tract. 11, e. 22, ed. Goldast, 170 p. 427). Era a primeira vez que era feita uma tal reivindicao, e nela inspirava Occam no s a sua investigao filosfica mas tambm a sua actividade poltica. Durante vinte anos defendeu a causa imperial com um imponente conjunto de obras, cujo principal intento o de levar a Igreja condio de uma livre comunidade religiosa, alheia a interesses e finalidades materiais, garantia e custdia da liberdade que Cristo reivindicou para os homens. A Igreja, que o domnio do esprito, deve ser o reino da liberdade; o imprio, que segundo a velha concepo medieval, tem em seu poder no as almas irias os corpos, pode e deve ter uma autoridade absoluta. Tal a essncia das doutrinas polticas que Occam defende na luta entre o papado de Avinho e o imprio. Uma nica atitude domina toda a sua actividade: a aspirao liberdade da investigao filosfica e da vida religiosa. Mas a condio da liberdade de investigao filosfica o empirismo, dado que uma investigao que j no reconhece, como guia a verdade revelada no pode seno tomar por guia a prpria realidade em que o homem vive, a qual dada pela experincia. 315. GUILHERME DE OCCAM: VIDA E OBRA Guilherme de Occam, chamado Doctor invincibilis e Princeps nominalium pelos seus contemporneos, nasceu em Ockham, pequena aldeia do condado de Surrey, na Inglaterra. incerto o ano do seu nascimento, mas pode situar-se cerca de 1290. No , portanto, provvel que tenha sido aluno de Escoto, o qual morreu em 1308. A primeira data segura da sua biografia 1324, ano em que foi citado a compare=. na corte de Avinho para responder por algumas teses contidas no seu Comentrio s Sentenas. Uma comisso de seis doutores censurou, 171
em 1326, cinquenta e um artigos extrados de tal comentrio. Em Maio de 1328, Occam fugia de Avinho com Miguel de Cesena, geral da ordem franciscana e sustentador da tese (considerada hertica pelo papado) da pobreza de Cristo e dos apstolos; e refugiava-se em Pisa junto do imperador Lus o Bvaro; dali prosseguiu para Munich, onde provavelmente permaneceu at ao fim da vida. A sua morte deve ter ocorrido entre 1348 e 1349, sendo o seu corpo sepultado na igreja franciscana de Munich. A primeira e fundamental obra de Occam o Comentrio s Sentenas, cujo primeiro livro muito mais amplo e prolixo do que os outros trs. Escreveu ainda: 7 livros de Quodlibeta; um tratado De sacramento altaris et de corpore Christi; um breve escrito, Centiloquium theologicum, que a exposio de cem concluses teolgicas; as Summulae Physicorum tambm chamadas Philosophia naturalis; e duas obras de lgica: a Expositio aurea super artem veterem (que contm o comentrio aos livros Praedicabilium e aos livros Praedicamentorum de Prfiro, o comentrio aos livros Perihermeneias de Aristteles, um tratado De futuris contingentibus) e a Summa totius logicae. Esto inditas outras obras, especialmente de fsica. As obras mais notveis so o Comentrio s Sentenas, os Quodlibeta e a Summa totius logicae. Numerosas so as obras polticas de Occam. Parte delas destina-se a combater as afirmaes dogrnticas, que Occam considera herticas, do papa Joo XXII. Tais obras so: Opus nonaginta dierum; De dogmatbus papae Joanis XXI1; Contra Johannem XX11; Cotnpendium errorum Johannis papae XXII. Quando, em 1338, a dieta de Rhens estabeleceu que bastava nicamente a eleio pelos prncipes alemes para a nomeao do im~or, Occam iniciou a composio de uma srie de trata172 dos em defesa desta tese. Tais tratados so: Tractatus de potestate imperiali, escrito entre 1338 e 1340; Octo quaestionum decisiones super potestatem Summi Pontificis, escrito entre 1339 e 1341; um monumental Dialogus inter magistrum et discipulum, cuja composio foi vrias vezes interrompida e que ficou incompleto; o tratado De imperatorum et pontificum potestate, que recapitula as teses do Dilogo; finalmente, o tratado De electione Caroli IV, que a ltima obra de Occam. So apcrifos a Disputatio inier militem et clericum, que do tempo de Bonifcio VIII, e o Defensorium contra errores Johannis XX11 papae. 316. GUILHERME DE OCCAM: A DOUTRINA Do CONHECIMENTO INTUITIVO A distino entre conhecimento intuitivo e conhecimento abstractivo, que servira a Escoto como fundamento para a sua teoria metafsica da substncia ( 305), serve a Occam como formulao da sua doutrina da experincia. O conhecimento intuitivo aquele mediante o qual se conhece com toda a evidncia se a coisa existe ou no e que permite ao intelecto julgar imediatamente sobre a realidade ou irrealidade, o objecto. O conhecimento intuitivo, , alm disso, aquele que faz conhecer a inerncia de uma coisa a outra, a distncia espacial ou qualquer outra relao entre as coisas particulares. "Em geral, qualquer conhecimento simples de um ou vrios termos, de uma ou vrias coisas, em virtude do qual se pode conhecer com evidncia uma verdade contingente, especialmente referente a um objecto
presente, um conhecimento intuitivo" (In Sent. prol., q. 1 Z). O conhecimento intuitivo perfeito, aquele que o princpio da arte e da cincia, a experincia, que tem sempre por objecto uma 173 realidade actual e presente. Mas o conhecimento intuitivo tambm pode ser Imperfeito o referir-se a um objecto passado (lb., prol., q. 1 Z; 11, q. 15 H). Entre o conhecimento perfeito e o imperfeito existe uma relao de derivao: todo o conhecimento intuitivo imperfeito deriva de uma experincia. A mesma relao existe entre o conhecimento intuitivo e o conhecimento abstractivo, o qual prescinde da realidade ou irrealidade do seu objecto; o segundo procede do primeiro e s se pode ter conhecimento abstractivo daquilo de que precedentemente se teve um conhecimento intuitivo (Ib., IV, q. 12 Q). O conhecimento intuitivo tanto pode ser sensvel como intelectual. Segundo Occam, a funo do intelecto no puramente abstractiva. O intelecto pode conhecer intuitivamente as prprias coisas singulares que so objecto do conhecimento sensvel; j que, se no as conhecesse no poderia formular sobro elas nenhum juzo determinado (Quodl., 1, q. 15). Intuitivamente, o intelecto conhece tambm os seus prprios actos e, duma maneira geral, todos os movimentos imediatos do esprito, tais como o prazer, a dor, o amor, o dio, etc. O intelecto conhece, com efeito, a realidade destes actos espirituais, e s a pode conhecer atravs do conhecimento intuitivo (lb., 1, q. 14). Do prprio conceito de conhecimento intuitivo, que implica uma relao imediata entre o sujeito cognoscente e a realidade conhecida, deduz-se a negao de quaisquer espcies que sirvam de intermedirias do conhecimento. Em primeiro lugar, tais espcies seriam inteis e, portanto, derrogariam o princpio metodolgico da economia (chamado "navalha do Occam") a que Occam se mantm constantemente fiel (frustra fit per plura quod potest firi per pauciora). E, em segundo lugar, o valor cognoscitivo da espcie nulo, porque, se o objecto no fosse percebido imediatamente, a espcie no o 174 poderia fazer conhecer. A esttua de Hrcules nunca conduziria ao conhecimento de Hrcules, nem se poderia judicar sobre a sua semelhana com Hrcules, se no se conhecesse previamente o prprio Hrcules (In Sent., 11, q. 14 T). Nesta negao da espcie, que Occam tem em comum com Durand de Saint-Pourain e Pedro Aurolo, ele vai alm dos seus predecessores porque nega tambm que a realidade tenha no intelecto um esse intentionale ou apparens distinto da prpria realidade. Com efeito, s o ser puramente concebido diferente do ser real, ele no no-lo faz conhecer: a prpria realidade deve ser, como tal, imediatamente presente ao conhecimento se este deve ter o pleno e absoluto valor de verdade (lb., 1, d. 27, q. 3 CC). Com base numa teoria da experincia to completa e amadurecida, que antecipa a de Locke em todos os pontos fundamentais inclusiv na distino entre experincia interna e externa, nenhuma realidade poderia ser reconhecida ao universal. Com efeito, Occam. afirma em. termos explcitos a individualidade
da realidade como tal; e faz uma crtica completa de todas as doutrinas que, seja de que forma for, reconhecem ao universal um grau qualquer de realidade, distinguindo entre as que o consideram real separadamente das coisas singulares, e as que o consideram real em unio com as prprias coisas. A concluso a impossibilidade absoluta de considerar o universal como real "Nenhuma coisa exterior alma, nem por si nem por outra coisa real ou simplesmente racional que se lhe acrescente, nem de qualquer maneira que a consideremos ou entendamos, universal; j que a impossibilidade de que alguma coisa exterior alma seja de qualquer modo universal to grande como a impossibilidade de que o homem, por qualquer considerao ou sob qualquer aspecto, seja o burro" (lb., 1, d. 2, q. 7 S). Por outras palavras, a realidade do 175 universal em si mesma contraditria e deve ser radical e totalmente excluda. O que , e que valor tem, ento, o conceito? Occam no nega que o conceito tenha uma realidade mental, isto , que existia subiective (substancialmente ou realmente) na alma. Mas esta realidade mental no seno o acto do intelecto; portanto, no uma espcie nem sequer um idolum ou fictum, isto , uma imagem ou fico que seja, duma forma qualquer, distinta do acto intelectual. Mas esta realidade subjectiva do conceito , como qualquer outra realidade, determinada e singular (lb., 1, d. 2, q. 8 Q; Quodl., IV, q. 35). A universalidade do conceito consiste, portanto, no na realidade do acto intelectual, mas na sua funo significante, para a qual ele uma intentio. O termo intentio exprime precisamente a funo pela qual o acto intelectual tende para uma realidade significada. Como intentio, o conceito um signo (signum) das coisas; e, como tal, est em lugar delas em todos os juzos e raciocnios em que ocorre. Occam determina a funo do signo no conceito da suppositio (veja-se adiante). Preocupa-se todavia em garantir a realidade do conceito. Se o conceito de homem serve para indicar os homens e no, por exemplo, os burros, deve ento ter uma semelhana efectiva com os homens; e tal semelhana deve tambm existir entre os homens, visto que podem ser todos representados igualmente bem por um nico conceito. Mas isto no implica uma qualquer realidade objectiva do universal. A prpria semelhana, segundo Occam, um conceito, como tambm um conceito qualquer relao: por exemplo, a semelhana entre Scrates e Plato significa somente que Scrates branco e Plato tambm, mas no uma realidade que se acrescente aos termos considerados. Que um conceito represente um determinado grupo de objec176 tos e no outro qualquer, no coisa que possa ter um fundamento na relao destes objectos entre si e com o conceito, j que a prpria relao no seno um conceito privado de realidade objectiva. A validade do conceito no consiste na sua realidade objectiva. Occam abandona aqui (e a primeira vez que tal acontece na Idade Mdia) o critrio platnico da objectividade. O valor do conceito, a sua relao intrnseca com a realidade que simboliza, est na sua gnese: o conceito o signo natural da prpria coisa. Diferentemente da palavra que um signo institudo por conveno arbitrria
entre os homens, o conceito, um signo natural predicvel de vrias coisas. Significa a realidade "do mesmo modo que o fumo significa o fogo, o gemido do enfermo a dor e o riso a alegria interior (Summa logicae, 1, 14). Esta naturalidade do signo exprime simplesmente a sua dependncia causal da realidade significada. Ele um produto, na alma, dessa mesma realidade: a sua capacidade de representar o objecto no significa outra coisa (Quodl. IV, q. 3). este, sem dvida, o trao mais acentuadamente empirista da teoria do conceito de Occam: a relao do conceito com a coisa no por ele justificada metafisicamente, mas empiricamente explicada com a derivao do prprio conceito da coisa, que por si s produz na mente o signo que a representa. O outro trao caracterstico do empirismo de Occam a sua doutrina da induo. Enquanto que para Aristteles a induo sempre induo completa, que funda a afirmao geral na considerao de todos os casos possveis ( 85), para Occam, a induo pode efectuar-se tambm com base numa nica prova, admitindo o princpio segundo o qual causas do mesmo gnero tm efeitos. do mesmo gnero (In Sent., prol., q. 2 G). Occam indicou assim no princpio da uniformidade causal da natu177 reza o fundamento da induo cientfica que ser teorizada pela primeira vez na Idade Moderna por Bacon e analisada nos seus pressupostos por Stuart Mill. 317. GUILHERME DE OCCAM: A LGICA OccaM considera a lgica como o estado das propriedades dos termos e das condies de verdade das proposies e dos raciocnios em que eles ocorrem. Os termos podem ser escritos, falados o concebidos (segundo a velha classificao de Bocio). O termo concebido (conceptus) "uma. inteno ou afeco (intentio seu passio) que significa ou co-significa naturalmente qualquer coisa, nascida para fazer parte de uma proposio mental o -para estar em lugar daquilo que significa". A palavra um signo subordinado do termo concebido ou mental, enquanto que o termo escrito signo da palavra. O termo significa ou co-significa: significa quando tem um significado determinado, como, por exemplo, o termo "homem"; co-significa quando no tem um significado determinado mas o adquire em unio com outros termos. Os termos co-significantes (ou sincategoremticos) so, por exemplo: qualquer, nenhum, algum, tudo, excepo de, somente, etc. Occam, analisa na sua lgica os termos de segunda inteno, isto , que se -referem a outros termos (as intentiones primae, por seu turno, so as que se referem s coisas). Intenes segundas so as categorias aristotlicas assim como as cinco vozes de Prfiro: gnero, espcie, diferena especfica, propriedade e acidente. O motivo dominante na anlise de Occam que nenhuma inteno segunda real ou signo de uma coisa real: a lgica de Occam rigorosamente nominalista tal como a sua gnoseologia. 178 A propriedade fundamental dos termos a suposio. "A suposio como que a posio em vez de qualquer outra coisa. Assim, se um termo est numa proposio em vez de outra coisa, de modo que nos servimos dele em
substituio dela e que o termo (ou o seu nominativo se ele estiver noutro caso) verdadeiro para a prpria coisa ou para o pronome demonstrativo que a indica, ento o termo supe aquela coisa". Assim, com a proposio "o homem animal" denota-se que Scrates verdadeiramente animal pelo que verdadeira a proposio "isto um animal" quando se indica Scrates (Summa logicae, 1, 63). A suposio , pois, para Occam (e dum modo geral para toda a lgica nominalista do sculo XIII) a dimenso semntica dos termos nas proposies, isto , a atribuio dos termos a objectos diferentes desses mesmos termos e que podem ser coisas, pessoas ou outros termos. Esses objectos no podem pelo contrrio, ser entidades ou substncias universais e metafsicas como a "brancura", a "humanidade", etc. Com efeito, os objectos a que a suppositio se refere devem ter um modo de existncia determinado, ou como realidades empricas (coisas ou pessoas), ou como conceitos mentais ou como signos escritos. A suposio pessoal precisamente aquela pela qual os termos esto em vez da coisa por eles significada, h uma suposio simples quando o termo est em vez do conceito mas no tomado no seu significado, como quando se diz "homem uma espcie"; e h uma suposio material quando o termo no est tomado no seu significado mas como signo verbal ou escrito, como quando se diz "homem um substantivo" ou se escreve "homem". Dado que os objectos a que a suposio se refere devem ter um modo de ser determinados, quando se formulam proposies a respeito de objectos inexistentes, essas proposies 179 so falsas porque os seus termos no esto em lugar de nada. Occam. considera por isso que so falsas as prprias proposies tautolgicas (que sob certo aspecto podem ser consideradas as mais certas) como, por exemplo, "a quimera quimera", porque a quimera no existe (11. 14). Esta doutrina da suppositio serve de base a uma nova definio do significado predicativo do verbo ser. Diz Occam: "Proposies como Scrates homem ou Scrates animal no significam que Scrates tem a humanidade ou a animalidade nem significam que a humanidade ou a animalidade esto em Scrates, nem que o homem ou o animal esto em Scrates, nem que o homem ou o animal so uma parte da substncia ou da essncia de Scrates ou uma parte do conceito substancial de Scrates. Significam sim que Scrates verdadeiramente um homem e verdadeiramente um animal, no no sentido de que Scrates seja este predicado <homem" ou este predicado "animal" mas no sentido de que existe algo para o qual estes dois predicados esto, como quando acontece que estes dois predicados esto Mra Scrates" (11, 2; Quodl., 111, 5). significativa a oposio em que esta doutrina apresentada por Occam em confronto com a velha doutrina da inerncia, -prpria da lgica aristotlica. A doutrina da mernda, que Occam descreve, aquela para a qual a cpula "" est a indicar a relao de inerncia substancial entre sujeito e predicado. Para Occam, a cpula " " significa somente que o sujeito e o predicado esto em vez do prprio sujeito existente. Esta doutrina permite a Occam declarar falsas uma quantidade de proposies que, do ponto de vista da lgica aristotlica, oram consideradas indubitveis, como as seguintes: "A humanidade est em Scrates", "Scrates tem a humanidade", "Scrates homem pela humanidade", etc. Estas proposies que do ponto de vista aristotlico so
180 incontestveis, ou melhor, necessariamente verdadeiras, so desde logo declaradas falsas por Occam porque no existe nenhum objecto ou termo real pelo qual possa estar "humanidade". A proposio "Scrates homem" tem para Occam este nico e simples significado: existe um objecto (neste caso uma pessoa) que pode ser indicado com um pronome demonstrativo ("esta pessoa") que verdadeiramente Scrates e verdadeiramente homem. Assim, o prprio modo de entender a natureza da cpula pe Occam em condies de eliminar como falsas toda uma srie de afirmaes metafsicas referentes teoria aristotlica da substncia. Isto no que se relaciona com o significado predicativo de "ser". No que se relaciona com o significado existencial, Occam afirma **imefflatamente que o ser e a coisa coincidem, isto , que a existncia no acrescentada essncia de uma coisa como se a essncia fosse a potncia e a existncia o acto dessa potncia, mas ambas sem **inads pertencem prpria coisa enquanto coisa real. E isto vlido quer em relao s coisas finitas quer em relao a Deus, embora sejam diferentes, o modo de ser das coisas finitas e o de Deus. Diz Occam: "'Ser significa a prpria coisa. Mas significa a primeira causa simples quando se diz dela significando que no depende de outrem. Quando, pelo contrrio, o ser se predica de outra coisa, significa a prpria coisa dependente e ordenada em relao causa primeira. Isto porque essas outras coisas no so coisas seno enquanto dependentes e ordenadas em relao causa primeira, e no existem doutro modo. Pelo que, quando o homem no depende de Deus, ento no existe e no sequer homem" (Summa log., HI, 11, 27). Tal como depois dele faro todos os lgicos nominalistas, Occam considera como fundamental a teoria das consequncias (consequentiae), isto das 181 conexes imediatas de tipo estico, e considera o prprio silogismo como um tipo particular de tais consequncias. A consequncia , duma maneira geral, uma proposio condicional na qual tanto o antecedente como o consequente podem ser constitudos por proposies simples ou compostas. O desenvolvimento occamista desta parte da lgica o mais rico dos desenvolvimentos medievais da matria, contm muitos teoremas do moderno clculo proposicional. Interessa finalmente sublinhar a importncia da posio occamista acerca dos denominados insolubilia, isto , dos argumentos que hoje denominamos paradoxos ou antinomias, e que j tinham Sido debati-dos pela lgica megrico-estica. O mais famoso de tais paradoxos era o do mentiroso que Ccero exprimia dizendo: "Se tu dizes que mentes, ou dizes verdade e ento mentes, ou dizes mentira e ento dizes a verdade" (Acad., IV, 29, 96). A soluo de Occam que a proposio "eu minto" no pode entender-se como se fosse verdadeira no sentido de "eu minto que **nu,*nto". Com efeito, aquela proposio pode ser falsa, mas precisamente porque pode somente ser falsa no significa, por si mesma, nem a verdade nem a falsidade (Summa log., 111, 111, 38). Por outras palavras, tratar-se-ia duma proposio indecisvel, no
sentido em que esta palavra usada na lgica moderna. 318. GUILHERME DE OCCAM: A DISSOLUO DO PROBLEMA ESCOLSTICO Uma atitude de to radical empirismo devia conduzir a uma ntida rejeio do problema escolstico desde o seu esquema bsico. Dado que o nico conhecimento possvel a experincia (da qual deriva o prprio conhecimento abstractivo) e 182 dado que a nica realidade cognoscvel a que a experincia revela, isto , a natureza, qualquer realidade que transcenda a experincia no pode alcanar-se por via natural e humana. Com efeito, Occam afirma explicitamente a heterogeneidade radical entre a cincia e a f. Trata-se de atitudes que no podem subsistir conjuntamente: mesmo quando a f parece seguir a cincia, como no caso de se crer numa concluso de que esquecemos a demonstrao, no se trata verdadeiramente de f porque se mantm firme a concluso somente enquanto se sabe que baseada numa demonstrao (In Sent., III, q. 8 R). Mas no este o caso da f religiosa, a qual s poderia ser demonstrada se se tivesse um conhecimento de Deus e da realidade sobrenatural; conhecimento que impossvel ao homem (Quodl., 11, q. 3). Os milagres e os sermes, embora possam produzir a f, no podem, de facto, produzir o conhecimento da sua verdade. A evidncia no pode estar unida falsidade: o serraceno pode ser convencido pelos milagres e pelos sermes da lei de Maom, que todavia falsa (1b., IV, q. 6). A concluso de tudo isto est exposta numa passagem da Lgica (111, 1): "Os artigos de f no so princpios de demonstrao, nem concluses, e nem sequer so provveis, j que parecem falsos a todos ou maioria ou aos sbios, entendendo por sbios os que se confiam razo natural, j que s de tal modo se entende o sbio na cincia e na filosofia". No poderia ser concebida uma excluso mais completa da verdade revelada do domnio do conhecimento humano: as verdades de f no so evidentes por si mesmas, como os princpios da demonstrao, no so demonstrveis, como as concluses da prpria demonstrao; e no so provveis porque podem parecer, e parecem, falsas aos que se servem da razo natural. O problema escolstico assim declarado, por Occam, como 183 in"vol o desprovido de todo o significado. A teologia deixa de ser uma cincia e transforma-se numa simples amlgama de noes prticas e especulativas, inteiramente desprovidas de evidncia racional e de validade emprica (In Sent., prol., q. 12). As prprias provas da existncia de Deus no tm, para Occam, valor demonstrativo. E, com efeito, a existncia de uma realidade qualquer revelada ao homem unicamente pelo conhecimento intuitivo, isto , pela experincia; mas o conhecimento intuitivo de Deus no dado ao homem **viator (lb., 1, d. 2, q. 9 Q; d. 3, q. 2 F). E dado que a existncia e a essncia esto unidas, e que s se conhece a essncia daquilo de que intuitivamente se conhece a existncia, o homem, na verdade, no conhece nem a existncia nem a essncia de Deus (lb., 1, d. 3, q. 3 Q). A proposio "Deus existe" Do ,
portanto, evidente. A existncia no se predica so-mente de Deus mas tambm de todas as outras coisas reais; no pode, portanto, fazer parte da essncia de Deus, nem ser-lhe -intrnseca Ub., 1, d. 3, q. 4 G). A prova ontolgica rechaada (Quodl., VII, q. 15). Tambm no possui valor demonstrativo a prova cosmolgica que o aristotelismo introduzira na escolstica latina e que era considerada com a mais forte. Occam nega o valor dos dois princpios em que esta prova se baseia. No verdade, em sentido absoluto, que tudo o que se move seja movido por outrem:. a alma e o anjo movem-se por si mesmos, assim como o peso que tende para baixo. Nem verdade, em sentido absoluto, que impossvel remontar at ao infinito na srie dos movimentos, j que nas grandezas contnuas o movimento se transmite necessariamente de uma a outra das infinitas partes que o compem (Ceia. theol., 1 D). Quanto prova tirada do movimento causal, 184 impugnada por Occam no seu prprio fundamento, j que ele no considera ser demonstrvel que Deus seja causa eficiente, total ou parcial, dos fenmenos, e que no bastem unicamente, as causas naturais para explicar os fenmenos (Quodl., 11, q. 1). A concluso que tais provas, privadas como so de todo o valor apodctico, podem determinar no homem somente uma razovel persuaso. J que se Deus no exercesse nenhuma aco no mundo, com que fim se lhe afirmaria a existncia? A aco de Deus no mundo pois um simples postulado da f, desprovido de valor racional (lb., 11, q. 1; In Sent., 11, q. 5 K). Tambm no se podem demonstrar os atributos fundamentais de Deus. Em primeiro lugar, no se pode estabelecer com certeza que haja um nico Deus: nenhum inconveniente derivaria da admisso de uma pluralidade de causas primeiras, porque, podendo cada uma delas querer s o melhor, nunca estariam descordantes entro si e governariam o mundo com unnime acordo (In Sent., 1, d. 2, q. 10; Qlodl., 1, q. 1). Tambm no se pode demonstrar a imutabilidade de Deus, que parece negada pelo facto de Deus ter assumido, com a incarnao, uma natureza inferior e depois a ter abandonado (Cent. theol., 12). Tambm no podem atribuir-se a Deus por via demonstrativa nem a omnipotncia nem a infinitude, e a respeito desta ltima, Occam -refuta os argumentos de Duns Escoto (Qliodl., VII, qq. 11-17). De Deus no se pode ter mais do que um conceito composto de elementos extrados das coisas naturais por abstraco (In Sent., 1, d. 3, q. 2 F). No Centiloquium theologicum desenvolve Occam uma srie de concluses de que ele prprio diz que Potius sunt incedibles quam asserendae, e que por isso as expe a ttulo de mero Cxerccio lgico. Estas concluses constituem uma reduo ao absurdo da hiptese da criao. Dado que na eternidade, como ensinou Santo Agostinho, no existe um antes nem um depois, no necessrio admitir que Deus existisse antes da criao ou que existir depois (Cent. theol., 47 D). A eternidade de Deus significa somente que Deus no tem causa da sua existncia nem, por conseguinte, comeo ou fim do seu ser; mas isto no lhe confere uma durao para alm dos limites temporais do mundo, sendo o prprio conceito de durao estranho sua natureza. Occam, detm-se nas consequncias paradoxais desta concluso, assim como na absoluta irracionalidade do dogma cristo da Trindade: "Que uma nica essncia simplicssima seja trs pessoas realmente distintas- coisa de que nenhuma razo natural pode persuadir e afirmada nicamente
pela f catlica, como o que supera todo o sentido, todo o intelecto humano e quase toda a razo" (Ib., 55). O desconhecimento da possibilidade de interpretao racional da verdade revelada em Occam to completo e decidido que assinala a etapa final da escolstica. O problema escolstico continuar, depois de Occam, a sobreviver de algum modo nas escolas, mas ser a sobrevivncia de um resduo, abandonado fora do crculo vital da filosofia, que, a partir de agora, se alimentar de outros problemas. 319. GUILHERME DE OCCAM: A CRITICA DA METAFSICA TRADICIONAL A metafsica de Occam substancialmente uma crtica da metafsica tradicional. Vimos j como ele regeita a distino real entre essncia e existncia, de que S. Toms se servira para reformar a metafsica aristotlica e a adaptar s exigncias da explicao dogmtica. pergunta sobre a existncia. de uma coisa qualquer, no se pode responder se no 186 se possui o conhecimento intuitivo da prpria coisa, isto , se a coisa no percebida por algum sentido particular ou, no caso de se tratar de uma realidade inteligvel, seno intuda pelo intelecto de modo anlogo quele em que a potncia visual v o objecto visvel. "No se pode conhecer com evidncia que a brancura existe, ou pode existir, se no se tiver visto qualquer objecto branco; e embora eu possa acreditar naqueles que contam que o leo e o leopardo existem, eu, contudo, no conheo tais coisas com evidncia se no as tiver visto" (Summa log., 111, 2, c. 25). O ser tem, portanto, um significado unvoco que o intuitivo e emprico; e no se pode predicar de Deus a no ser no sentido em que se predica das coisas naturais (Quod[., IV, q. 12). O princpio empirista vale para Occam como cnon crtico dos conceitos metafsicos tradicionais. A substncia s conhecida atravs dos seus acidentes (lb., 111, q. 6). No conhecemos o fogo em si mesmo, mas sim o calor que acidente do fogo; por isso no temos da substncia seno conceitos conotativos e negativos como " o ser que subsiste por si", "o ser que no existe em outrem", que " sujeito dos acidentes", etc. Portanto, no seno o substrato desconhecido das qualidades que a experincia revela (In Sent., 1, d. 3, q. 2). To- pouco possui validade emprica o outro conceito metafsico fundamental, a causa. Do conhecimento de um fenmeno no se pode nunca chegar ao conhecimento dum outro fenmeno que seja a causa ou o efeito do primeiro; j que de nada se tem conhecimento seno atravs dum acto de experincia, e causa e efeito so duas coisas diferentes, embora conexas, que exigem, para ser conhecidas, dois actos de experincia diferentes (lb., prol., q. 9 F). A crtica que o empirismo ingls de Locke e Hume fez dos conceitos de substncia e de causa encontra aqui 187 mn Precedente, que dele antecipa no a letra, mas tambm o espritocompreende-se que, deste ponto de vista, os conceitos fundamentatis da metafsica aristotlica, os de matria e forma, sofram uma transformao radical. Occam insiste na individualidade dos princpios metafsicos da realidade. Tantos so os princpios, diz ele, quantas as coisas geradas. Com
efeito, os princpios no podem ser universais, porque nenhum universal real e nenhum universal pode ser princpio de uma realidade individual. Devem ento ser individuais, o que quer dizer que so numericamente, diferentes nos vrios indivduos, e que a forma e a matria duma coisa so diferentes da forma e da matria duma outra coisa (Summulae phys., 1, 14). Quanto matria, ela possui uma sua actualidade prpria, independente da forma substancial, da qual susceptvel em potncia: ~ est aqui de acordo com toda a tradio franciscana. Mas acrescenta que a actualidade da matria como tal consiste na extenso. impossvel, com efeito, que a matria exista sem extenso; no h matria que no tenha uma. parte distante de outra parte, pelo que, embora as partes da matria possam unir-se entre si como, por exemplo, se unem as da gua ou do ar, nunca podem, contudo, existir no mesmo lugar. Ora a distncia recproca das partes da matria a extenso (lb., 1, 19). Mas a separao de Occam em relao metafsica aristotlica assinalada, de modo ainda mais evidente pela sua crtica da causa final. A causalidade do fim consiste em ser amado ou desejado pelo agente; mas que o fim seja amado e desejado no significa que ele actue, seja de que maneira for, efectivamente: a causalidade do fim , pois, metafrica, no real (In Sent., 11, q. 3 G). impossvel demonstrar, quer mediante proposies evidentes, quer empIricamente, que qualquer efeito tenha uma 188 causa final; os agentes naturais actuam dum modo uniforme e necessrio, e por isso excluem todo o elemento contingente ou mutvel, como seriam precisamente o amor ou o desejo do fim (Quodl., IV, q, 2). E tambm no demonstrvel a causalidade teleolgica de Deus, j que os agentes naturais, privados como so de conhecimento, produzem os seus efeitos independentemente do conhecimento de Deus. A questo propter quid no tem lugar nos acontecimentos naturais, no tem sentido perguntar com que fim se gera o fogo, j que no se requer a existncia do fim para que o efeito se produza (Quodl,, IV, q. 1). Esta crtica de Occam, que preludia a famosa crtica de Espinoza, animada pelo mesmo esprito: o seu pressuposto a convico de que os acontecimentos naturais se verificam em virtude de leis necessrias que lhes garantem a uniformidade e excluem todo o arbtrio ou contingncia. 320. GUILHERME DE OCCAM: PREV A NOVA FSICA O desinteresse, pela investigao do problema teolgico coincide com o interesse plo problema da natureza. O mesmo empirismo conduzia Occam * considerar mais profundamente a natureza, j que * natureza precisamente o objecto da experincia sensvel. Occam considera a natureza como o domnio prprio do conhecimento humano, para ele, a experincia deixa de ter o carcter inicitico e mgico que ainda conservava em Bacon, e transforma-se num campo de investigao aberto a todos os homens, enquanto tais. Esta atitude permite-lhe a mxima liberdade de crtica frente fsica aristotlica. Atravs dessa critica abrem-se numerosas vigias sobre a nova concepo do mundo, as quais sero defendidas e assumidas pela filosofia do Renascimento. As possibilidades descobertas por 189
~In converter-se-o no Renascimento em afirmaes **zesolutas e constituiro o fundamento da cincia moderna. Occam pe em dvida pela primeira vez a diversidade de natureza, estabelecida pela fsica aristotlica, e mantida por toda a filosofia medieval, entre os corpos celestes e os corpos sublunares. Tanto uns como OutrOs so formados Pela. mesma matria: o princpio metodolgico da economia impede admitir a diversidade das substncias, dado que tudo o que se explica admitindo que a matria. dos corpos celestes diferente da dos elementos sublunares Se pode explicar admitindo que as duas matrias so da mesma natureza Un Sent., II, q. 22 B). Nem sequer Os seguidOres de Occam mantero a este respeito a afirmao do mestre, necessrio chegar a Nicolau de Cusa para encontrar novamente negada, e desta vez para sempre, a diversidade entre substnCia. celeste e substncia sublunar. Contra Aristteles, Occam admite e dde**rlde a Possibilidade de mais mundos. A argumentao de Aristteles (De Coelo, 1, 9, 276 a) segundo a qual se existisse um mundo diferente do nosso, a terra desse mundo mover-se-ia naturalmente para o centro e unir-se- nossa, e, do mesmo modo, todos os Outros** CICInOntos se reuniriam na prpria esfera fOrmando um mundo nico, combatida por Occam atravs da negao das determinaes absolutas do esPaO admitidas Por Aristteles. Um mundo diferente do nosso teria um Outro centro, uma outra circunferncia, um acima e um abaixo diferentes, e Os movimentos dos elementos estariam pois dirigidos para esferas diferentes e no se verificaria a conjuno Prevista por Aristteles (In Sen_t., 1, d. 44, q. 1 F, Cel?t. theol., 2 D). Esta relatividade das determinaes espaciais do universo ser um dos PORtOS fundamentais da fsica do Renascimento, 190 Segundo Occam, tambm a infinitude da potncia divina predispe a admitir a pluralidade dos mundos. Deus pode produzir outra matria, alm daquela que constitui o nosso mundo; pode tambm produzir um nmero infinito de indivduos das mesmas espcies existentes no nosso mundo; nada impede, pois, que com eles forme um ou mais mundos diferentes do nosso (In Sent., 1, d. 44, q. 1 E). Mas a pluralidade dos mundos implica a possibilidade do infinito real. J a negao das determinaes espaciais absolutas abria a via para admitir esta possibilidade. Com efeito, no infinito, tal como se dir no Renascimento, o centro pode estar em qualquer parte. Deus pode sempre criar uma nova quantidade de matria a acrescentar existente, e assim pode aumentar infinitamente a magnitude do mundo (1b., 1, d. 17, q. 8 D). objeco alegada por Rogrio Bacon (Op. tertium, 41, ed. Brewer, p. 141-142) de que o infinito no pode ser real porque nele a parte seria idntica ao todo, responde Occam que o princpio segundo o qual o todo maior do que a parte vale para um todo finito, no para um todo infinito. Onde existir um nmero infinito de partes, o princpio no vlido; e assim, nu-ma fava existem tantas partes quantas existem no universo inteiro, porque as partes da fava so infiinitas (Cent. theol., 17 Q Quod[., 1, q. 9). Paralelamente infinitude de magnitude Occam admite
tambm a infinitude de diviso. Qualquer magnitude contnua infinitamente divisvel e no existem entidades indivisveis. Qualquer magnitude contnua pode ter, diz Occam, o mesmo nmero de partes que o cu e a mesma proporo, ainda que sem a mesma virtude absoluta (Quodl., 1, q. 9). FinAlmente, Occam admite e defende a possibilidade de o mundo ter produzido ab aeterno, Tambm isto elo no afirma explicitamente, Emi191
J4,
** tando-se a desimpedir o caminho das objeces
Possveis. objeco de que se o mundo fosse eterno se teria j verificado um nmero infinito de revolues celestes, o que impossvel porque um nmero real no pode ser infinito, responde Occam que assim como num contnuo cada parte, juntada a outra, forma um todo finito, embora as prprias partes sejam infinitas, tambm cada revoluo celeste, juntada s outras, forma sempre um nmero finito, ainda que no seu conjunto as revolues celestes sejam infinitas (In Sent., II, q. 8 D). Occam tinha conscincia de que a eternidade do mundo implica a sua necessidade, j que aquilo que o terno no p e ser seno produzido necessariamente (Quodl., od 11, q- 5). Sabe ainda que a eternidade do mundo exclui a criao, porque esta implica a no existncia da coisa antes do acto da sua produo (In Sem., 11, q. 8 R). No entanto considera que a prpria eternidade altamente provvel, dada a dificuldade. de conceber o incio do mundo no tempo. A pluralidade dos mundos, a sua infinitude e eternidade so, portanto, possibilidades, que, por obra de Occam se abrem investigao filosfica. Alguns sculos mais tarde, no Renascimento, estas possibilidades converter-se-o em certezas, e a viso do mundo que Occam havia entrevisto ser ento reconhecida como a prpria realidade do mundo. 321. GUILHERME DE OCCAM: A ANTROPOLOGIA A crtica de Occam visa aqui o conceito central da psicologia, o de alma, cOMO forma imaterial incorruptvel. A nossa vida espiritual -nos dada na experincia: mediante a intuio, conhecemos directamente os pensamentos, as volies, os nossos estados interiores. Mas o conhecimento interior nada nos diz sobre uma pretensa forma incorruptvel, que 192 seja o substrato a que so inerentes os nossos estados de conscincia. Nem to-pouco chega a esse substrato mediante o raciocnio porque toda a demonstrao nesse sentido duvidosa e pouco concludente. "Aquele que segue a razo natural, diz Occam, admitiria somente que experimentamos em ns a inteleco que o acto de uma forma corprea e corruptvel. E, consequentemente, diria que uma tal forma poderia ser recebida na prpria matria. Mas nunca experimentamos aquela espcie de inteleco que a operao prpria de uma substncia imaterial; portanto, mediante a inteleco
no podemos concluir que exista em ns, como forma, uma substncia incorruptvel" (Quodl,, 1, q. 10). Por outras palavras, Occam admite a possibilidade de ser o prprio corpo a pensar, isto , que o corpo seja o sujeito dos actos de inteleco, os quais constituem o nico dado seguro de que o raciocnio pode partir neste campo. O conceito de intelecto activo, que tanto trabalho dera ao aristotelismo rabe e latino, sem mais eliminado por Occam como intil para explicar o funcionamento do conhecimento. Com efeito, ele no necessrio para a formao dos conceitos. Todos os conceitos, tanto as intenes primeiras como as intenes segundas, so causados naturalmente, isto , sem que intervenham nem o intelecto nem a vontade, pelos objectos singulares presentes na experincia. Conhecidas as coisas singulares na intuio, formam-se em ns espontaneamente, Dela sua aco, os universais e as intenes segundas. Se, por exemplo, algum v duas coisas brancas, abstrai das duas coisas a brancura Que tm em comum: o que quer dizer que a noo daqueles dois objectos causa nele naturalmente, como o fogo causa o calor, uma terceira noo distinta, que o conceito do branco (In Sent., 11, q. 25 0), Trata-se, portanto, dum processo natural, isto , neces193 srio, ou seja, independente de qualquer interveno voluntria, processo que tem o seu ponto de partida na realidade dada pela experincia e o seu ponto de chegada na espontaneidade do intelecto. O intelecto activo no tem nele nenhum lugar. To-pouco lhe pertence a funo de dirigir a formao dos juzos, tendendo a formar um juzo verdadeiro mais do que um falso, afirmativo mais do que negativo. O intelecto activo no poderia actuar seno dum modo uniforme e constante, em qualquer ocasio e em qualquer circunstncia, e deveria, portanto, dar indiferentemente lugar a proposies verdadeiras ou proposies falsas ou a umas e outras, sem tender pela sua parte nem para umas nem para outras. Requere-se, aqui pelo contrrio, uma causa no natural mas livre, como o a vontade, que dirige a ateno do homem e lhe gradua o esforo. O intelecto agente , portanto, intil em toda a linha. Entre a vontade e o intelecto estabelece Occam uma simples diferena de nomes. Na realidade eles so idnticos entre si e com a essncia da alma. A diversidade dos seus actos no basta para estabelecer a sua prpria diversidade, j que mesmo os actos do intelecto so diferentes entre si. Nem basta para os distinguir a diversidade do seu modo de agir, agindo o intelecto necessariamente e a vontade livremente, j que esta diversidade no implica uma diversidade de princpios: por exemplo, a vontade divina princpio necessrio em relao ao Esprito Santo, princpio livre em relao criatura, mas no inclui por isto nenhuma diversidade (IB., 11, q. 24 K). A vontade livre. Por liberdade entende Occam "a faculdade de pr indeferente e contingentemente coisas diferentes, de modo a poder causar e no causar o mesmo efeito, sem que nada mude excepto essa mesma faculdade" (Q_uodl., 1, q. 16). A liberdade , portanto, entendida por ele como puro e 194
simples arbtrio de indiferena. No outro o significado da palavra liberdade, segundo Occam. Se w admite que a vontade seja de algum modo determinada, ser determinada precisamente no sentido de qualquer outra coisa natural, e no bastar para diferenciar a sua determinao a diversidade da sua natureza em relao das coisas naturais; tambm as coisas naturais tm naturezas diferentes e, todavia, o modo da sua determinao um s e exclu a contingncia Un Sent., 1, d. 10, q. 2 G). A liberdade do querer no demonstrvel com o raciocnio, mas -resulta evidente pela experincia, j que o homem experimenta em si mesmo que, sugerindo-lhe a razo alGo, a vontade pode quer-lo ou no o querer (Oi@odl., 1, ci. 166), Ou Deus possa prever as aces humanas no obstante o seu carcter contingente e livre, coisa que no se pode entender e esclarecer de nenhum modo por parte do intelecto humano (Jin Sent., I, d. 38, q. 1 U. A vontade livre o fundamento de toda a valorao moral. "0 homem, diz Occam, pode** aQir louvavelmente ou repreensivelmente, e, por **conscoune,a, merecer ou desmerecer, porque um 3Qente livre e Porque ninitos actos s a ele so im,ni-itveis" (Ouo@@Il., TTI, ci. 19). Todo o acto dif**erente dum acto de vontade nole ser mau porque pode ,r evecutado com ilm** rn@oi fim ou com uma m intf.-nco; s o acto voluntrio, enquanto est em noler do homem, ab<@ol1ihmente bom, se conforme recta r,97O (In Sent.**, T11, ci. 10 R). No basta o-ne o acto seia confcirme recta razo para aue se**;a virt,tio,zo: , nec-@-;o wie der;ve exclu@s,ivgmelnte da vontade livre**. Se 1'",iis determinasse na minba vontade um acto conforme recta ra7O. es@**te acto n@o seria virtuo,-e> nem meritrio (1b.j. Mpis se o unIor moral do** beimem dnnende eyelusiva mente da Ilberda-le do horn,-ni, o deRtino ultr@:,,miinAnno do h(,im-,m depende excluisiva mente da liberdade de Deus. 195 Occam faz a sua tese oposta de Pelgio: nada h que possa constranger Deus a salvar um homem: ele concede a salvao s com uma graa e livremente, ainda que de potentia ordinata no possa regular-se seno pelas leis que ele mesmo voluntria e contingentemente ordenou (In Sent., 1, d. 17, q. 1 M). Mas Occam tira da liberdade de escolha divina que pode predestinar ou condenar quem quiser, independentemente dos mritos humanos, uma consequncia paradoxal. No contraditrio que Deus considere meritrio um acto privado de qualquer disposio sobrenatural; assim como ele voluntria e livremente aceita como meritrio um acto inspirado pela disposio sobrenatural da caridade, tambm pode aceitar igualmente um acto voluntrio privado de tal disposio (1b., 1, d. 17, q. 2 D). Isto significa que a salvao no est impedida para quem vive somente segundo os ditames da recta razo. "No impossvel, diz Occam (1b., 11, q- 8 C), que Deus ordene que aquele que vive segundo os ditames da recta razo e no cr em nada que lhe no seja demonstrado pela razo natural, seja digno da Vida eterna. Em tal caso, tambm pode salvar-se aquele que na vida no teve outro guia seno a recta razo". Esta uma opinio que coloca Occam para alm dos limites da Idade Mdia: a f j no uma condio necessria da salvao. A livre investigao filosfica confere ao homem tal nobreza que pode torn-lo digno da vida eterna. Que a vida eterna consista no gozo e na posse de Deus, opinio de pura f. No se pode demonstrar que tal gozo seja Possvel ao homem. No se pode demonstrar que o homem no possa verdadeiramente repousar seno em Deus.
Finalmente, no se pode demonstrar que o homem possa, de qualquer modo, repousar definitivamente, j que a vontade humana, pela sua liberdade, pode sempre 196 tender para outra coisa e sofrer se no a alcanar (1b., 1, d. 1, q. 4 F). A liberdade tambm aqui insatisfao, ilimitao das aspiraes, ou seja, aquilo que Bruno denominar de herico furor. Quanto ao pecado, ele a simples no conformidade da vontade humana com o mandamento da vontade divina. Deus no obrigado a nada, dado que nenhuma norma limita ou pode limitar as possibilidades infinitas da sua vontade, mas concorre como causa eficiente no pecado do homem. No obstante isso, o pecado no imputvel a Deus, que nada deve a ningum, e que por isso no obrigado nem quele acto nem ao seu oposto: Deus, portanto, no peca, embora seja a causa do pecado humano. A vontade criada pelo contrrio, obrigada pelo preceito divino e peca quando o transgride. Sem a obrigao estabelecida por aquele preceito no haver-ia pecado para o homem, como o no h para Deus (1b., IV, q. 9 E ). 322. GUILHERME DE OCCAM: O PENSAMENTO POLTICO Occam , com Marslio de Pdua. (autor do Defensor pacis), o maior adversrio, na sua poca, da supremacia poltica do papado. Mas enquanto que Marslio de Pdua, jurista e poltico, parte da considerao da natureza dos reinos e dos estados em geral para a soluo do problema das relaes entre o Estado e a Igreja, Occam visa reivindicar a liberdade da conscincia religiosa e da investigao filosfica contra o absolutisimo papal. A lei de Cristo, segundo Occam, lei de liberdade. Ao papado no pertence o poder absoluto (plenitude potestatis) nem em matria espiritual nem em matria poltica. O poder papal ministrativus, no dominativus: foi institudo para proveito dos sbditos, no para que lhes fosse tolhida aquela liberdade 197
que a lei de Cristo, pelo contrrio, veio aperfeioar (De imp. et pont. pot., VI, ed. Scholz, 11, 460). Nem o papa nem o conclio tm capacidade para restabelecer verdades que todos os fiis tenham de aceitar; dado que a infalibilidade do magistrio religioso pertence somente Igreja, que "a multido de todos os catlicos que tm existido desde os tempos dos profetas e dos apstolos at actualidade" (Dial. inter mag. et disc., 1, tract. 1, c. 4, ed. Goldast, 11, 402). A Igreja , por outras palavras, a livre comunidade dos fiis, que reconhece e sanciona, no decurso da sua tradio histrica, as verdades que constituem a sua vida e fundamento. Por este seu ideal da Igreja combate Occam o papado de Avinho. Um papado rico, autoritrio e desptico, que tende a subordinar a si a conscincia religiosa dos fiis e a exercer igualmente um poder poltico absoluto, afirmando a sua superioridade sobre todos os prncipes e poderes da terra, devia parecer a Occam a negao do ideal cristo da Igreja como comunidade livre, alheia a
toda a preocupao mundana, em que a autoridade do papado seja unicamente a proteco da livre f dos seus membros. Indubitavelmente, o mesmo ideal de Occam animava a ordem franciscana na sua luta contra o papado de Avinho. A tese da pobreza de Cristo e dos apstolos foi a arma de que serviu a ordem franciscana para defender este ideal. No somente Cristo e os apstolos no quiseram fundar um reino ou domnio temporal, como at nem quiseram ter nenhuma propriedade comum ou individual. Quiseram sim fundar uma comunidade que, no tendo em vista seno a salvao espiritual dos seus membros, renunciasse a toda a preocupao mundana e a todo o instrumento de domnio material. Tal tambm a preocupao polmica de Occam. As palavras que segundo um escritor antigo Occam dirigiu a Lus o Bvaro quando se refugiou 198 na sua corte: "0 Imperator, defende me gladio et ego defendam te verbo", no exprimem a essncia da obra poltica de Occam. Mais do que deter-se a defender o imperador, ele contrape a Igreja ao papado e defende os direitos da prpria Igreja contra o absolutismo papal que pretende erigir-se em rbitro da conscincia religiosa dos fiis. A Igreja para Occam uma comunidade histrica, que vive como tradio, ininterrupta atravs dos sculos, a esta tradio refora e enriquece o patrimnio das suas verdades fundamentais. O papa pode errar e cair em heresia; tambm o conclio pode cair em heresia pois que formado por homens falveis, mas no pode **catir em heresia aquela comunidade universal que no pode ser dissolvida por nenhuma vontade humana e que, segundo a palavra de Cristo, durar at ao fim dos sculos (Dial., 1, tract. 11, c. 25, ed. Goldast, 11, 494-495). Deste ponto de vista, a tese sustentada pelo papado de Avinho segundo a qual a autoridade imperial procede de Deus somente atravs do papa e, portanto, s o papa possui a autoridade absoluta tanto nas coisas espirituais com nas coisas tem. **porais, tal tese devia parecer hertica. Com efeito, assim parece a Occam, que mostra como ela infundada, observando que o imprio no foi institudo pelo papa, visto que j existia antes da vinda de Cristo (Octo quaest., 11, 6, ed. Goldast, 11, 339). O imprio fdi fundado pelos Romanos que primeiro tiveram os reis, depois os cnsules, e por ltimo **eleacram o imperador para que dominasse sobre todos elos sem ulteriores mudanas. Dos Romanos foi transferido para Carlos Magno, e em seguida foi transferido dos Franceses para a nao alem. So, portanto, os Romanos, ou os povos aos quais eles transferiram o seu poder, que tm o direito de eleio imperial. Occam defende a tese afirmada 199 dieta de Rliens de 1338 de que a eleio por parte dos prncipes da Alemanha basta por si s para fazer do eleito o rei e imperador dos Romanos. Fica excluda toda a jurisdio do papado sobre o imprio. Acerca das relaes entre o imprio e o papado, Occam admite substancialmente a teoria da independncia recproca dos dois poderes, teoria que, afirmada pela primeira vez pelo papa Gelsio 1 (492-496), dominou quase toda a Idade Mdia. Occam reconhece, todavia, uma certa jurisdio do imprio sobre o papado, especialmente no que se refere eleio do papa. Em
alguns casos, o prprio interesse da Igreja pode requerer que o papa seja eleito pelo imperador ou por outros leigos (Dial., 111, tract. 11, lib. 111, c. 3, ed. Goldast, 11, 917). NOTA BIBLIOGRFICA 315. Elementos sobre a vida de Occam foram-nos deixados por velhos escritores e cronistas como TRITIRMio, De scriptoribus ecelesiasticis e WAI)DING, Annules minorum (ad annos 1308, 1323, 1347). A data da citao de Occam a Avinho -nos dada por uma carta endereada por Occam ao capitulo geral dos franciscanos de Assis em 1334, carta publicada por K.MULLER, in "Zeitschritt fr Kirchengeschichte", 1884, p. 108 ss. Sobre a biografia de Occam: HoFFR, in "Archivum francscanum historicum", 1913, p. 209-233, 439-465, 654-669; HOCHSTETTER, Studien zur Met. u. Erkenntnislehre W. v. O., Berlim, 1927, p. 1-11; ABBAGNANO, G. Ockham, Lanciano, 1931, cap. 1. Novos documentos parecem mostrar que Occam. foi citado a Avinho por denncia do chanceler da Universidade de Oxford, John Luttereil: i. KocH, Neue Aktenstcke zu dem gegen W. v. O. in Avignon gefhrten Prozes3, in "Rech. de Thol. ancienne et rndivale", 1935, VII, p. 353-380; 1936, VIII, p. 168197; Fr. HOFFMANN, Die erste Kritik des Ockamismus durch den Oxforder KanzIer Johannes LutterelI, Breslau, 1941; LON BAUDRY, G. d'O., sa vie, se& oeuvres, ses ides sociales et politiques, I, L'homme et ses oeuvres, Paris, 1950. 200 Edies antigas: Quaestiones in quatuor libros Sententiarum, Lugduni, 1495. Centiloquium theol., Lugduni, 1495 (conjuntamente com o precedente). Expostio aurea super totam artem veterem, Bonomae, 1496. Summulac in libros physicorum o Philosophia naturalis, Bononiae, 1494; Venetiis, 1506; Romae, 1637. Quodlibeta septem, Pariss, 1487; Argentinae, 1491. De sacramento altaris et de corpore Christi, Argentinac, 1491 (conjuntamente com os Quodlibeta). Summa totius logicae, Parisfis, 1488; Bononiae, 1498; Venetiis, 1508, 1522, 1591; Oxoniae, 1675. Edies recentes: Quaestio prima principalis Prologi in priknum brum Sententiarum cum interpretatione Gabri61is Biel, ed. Bhner, ZurichPaderborn-New Jersey, 1939; De sacramento altaris, ed. Birch, Burling- ,ton (Iowa) 1930: Tractatus de praedestinatione, ed. Bbhner, S Bonaventure (N. Y.), 1945; Parihermeneias, ,ed. Bhner, ir, "Traditio", 1946; Summa logicae, ed. Bhner, 1951-1954. Algumas questes inditas foram publicadas por CORVINO, in "Riv. crit. di st. della fil.", 1955, 1956, 1958. As obras polticas foram reimpressas quase todas nos princpios do sculo XVII por Melchior Goldast na sua Monarchia S. Romani Imperii, Francofordiae, 1614. No vol. Il desta obra esto includos: Opus nonaginta dierum; Tractatus adversus errores Johannis XXII; Octo quaestionum decisione3 super potestatem Summi Pontificis; Dialogus inter magistrum et discipu7um de Imperatorum, et Pontificum potestate.
As outras obras: Contra Johannem XXII, Tractatus contra Benedictum XII, Tractatus de potestate imperiali, De Imperatorum et Pontificum potestate foram edi.tadas por SCHOLZ, Unbekannte Kirchenpolitische Streitschriften aus der Zeit Ludwigs des Bayern, Roma, 1914, vol. 1. O De Imperatorum et Pontificum potestate foi tambm editado em Oxford, 1927, por Ke.nneth Brampton. A parte que falta foi publicada p,or MULDER, in "Archivum franciscanum historicum", 1924, p. 72-97. Algumas destas obras tiveram tambm edies recentes. Sobre Occam, para alm das obras j citadas: GOTTFRIED MARTIN, W. v. O., Untersuchungen zur Onto7ogie der Ordnungen, Berlim, 1949 (sobre as doutrinas lgico-matemticas de O.); E. HOCTISTETTER. P, VIGNAUx, G. MARTIN, P. BHNER, A. B. WOLTER. J. SALAmucflA, A. HAMMAN, R: HORN, V. HEYNCK, W. O. 201 (1349-1949) Aufsdtze zu seiner Philosophie und Theologie, Mnster-West., 1950; VASOLI, G. d'O., Florenga, 1953. 316. Sobre a teoria do conhecimento: HomsTETTER, Studien, cit.; DONCOEUR, in "Revue no-scol.", 1921, p. 5-25; S. G. TERNAY, W. of O.'s Nominalism., in "Phil. Review", 19366, p. 245-268; P. VIGNAUX, Nominalisme au XIVe sicle, Montral-Paris, 1948. 317. Sobre a lgica: MOODY, The Logic of W. of O., Londres-New York, 1935; BHNER, Ockham's Theory of Signification, in "Frane. Stud.", 1945; MOODY, Truth and Consequence in Mediaeval Logie, Amsterdo, 1953. 318. Sobre a teologia: ABBAGNANO, 0p. Cit. cap. VI; R. GUELLUY, Phil. et thol. chez G. dIO., Louvain-Paris, 1947 (com bibl.). 319. Sobre a metafsica: HOCHSTETTER, op. Cit., 12-26, 56-62, 139-173; MENGEs, The Concept of Univocity Regarding the Predication of God and Creature, According to W. O., St. Bonaventura (N. Y.), 1952. 320. Sobre a fsica: DUHEM, tudes sur Lonard de Vinci, II, Paris, 1909, p. 39-42, 76-79, 85-86, 257-259, 416; DELISLE BURNS, in "Mind", 1916, p. 506-512. 321. Sobre a antropDIogia: WERNER, in "Sitzungb. d. k, Akad. d. Wiss. philos. hist. kl.", vol: 49:1, 1882( p. 254-302; SIEBEK(sobre a doutrina da vontade), in. "Zeitsehrift f. Philos.", 1898, p. 195-199. Sobre a tica: DIETRICII,Geschichte der Etnik, III, Leipzig, 1926, p. 171181. 322. Sobre a doutrina pGltica: RIEzLrR, Die literaschen Widersacher der Ppste zur Zeit Ludwigs des Bayern., Leipzig, 1874; DEMPF, Sacrum Imper-*um,
Munich, 1929; R. SciiOLZ, W. v. O. aIs politischer Denker und sein Breviloquium de principatu tyrannico, in Schriften des Reichsinstitute fr Iterer deutsche Geschichtskunde, VIII, Leipsiz, 1944. Sobre a personaRdade de Oceam: ABBAGNANO, op. Cit.; ROCHSTETTER, in W. O. (1349-1949), P. 1-20. Bibliografia actualizada por V. HEYNCK na citada recolha de estudos, p. 164183. 202 XXIII O OCCAMISMO 323. OCCAMISMO: CARACTERSTICAS DA ESCOLSTICA FINAL Depois de Occam, a Escolstica, no voltou a ter nenhuma grande personalidade nem nenhum grande sistema. O seu ciclo histrico est concludo e ela vive da herana do passado. O tomismo, o escotismo, o occamismo so as escolas que entre si disputam o campo, defendendo polemicamente as doutrinas dos seus respectivos chefes, por vezes exagerando-as ou deformando-as, raramente as desenvolvendo ou prestando-lhe um contributo original. Frente ao tomismo e ao escotismo que representam a via antiga, o occamismo representa a via moderna, ou seja a crtica e o abandono da tradio escolstica. Os "modernos" so os "nominalistas", que se confiam razo natural e excluem toda a possibilidade de interpretao racional da verdade revelada. A 23 de Setembro de 1339 a doutrina occamista era proibida em Paris; e a 29 de Dezembro de 1340 a condenao era confirmada com a proibio de numerosas proposies occamistas (Denifle, Chart. 203 1~ Univers. Paris., 11, 485, 505 e seguintes). Mas apesar das proibies e condenaes, o occamismo difundia-se rapidamente e bem depressa conquistava, nas mais famosas Universidades, numerosos discpulos, os quais lhe acentuaram a tendncia crtica e negativa, no s nas questes teolgicas mas tambm nas filosficas. O nmero das questes declaradas insolveis sob o ponto de vista da razo natural e dos princpios declarados desprovidos de qualquer base experimental, aumentava continuamente. A escolstica conservava a sua estrutura exterior, o seu proceder caracterstico, o seu mtodo de anlise e de discusso. Mas esta estrutura formal voltava-se contra o seu prprio contedo, mostrando a inconsistncia lgica ou a falta de fundamentao emprica das doutrinas que tinham constitudo a substncia da sua tradio secular. Todavia, medida que os [problemas tradicionais se esvaziavam de contedo, ia-se reforando o interesse pelos problemas da natureza que j haviam abrangido uma parte to notvel da especulao de Occam. Na usura a que o occamismo submetia todo o contedo da tradio escolstica, iam
amadurecendo novas foras, foras que se vieram a desenvolver na filosofia do Renascimento. 324. PRIMEIROS DISCPULOS DE OCCAM Discpulo de Occam em Oxford foi o franciscano ingls Ado Wodham ou Goddam, falecido em 1358, ao qual o mestre dedicou a Summa totius logicae. Temos dele um Comentrio s Sentenas no qual so defendidas as teses fundamentais de Occam. Considera a f como fundada precisamente numa lgica diferente da natural, uma lgica na qual no vlido, o princpio da no contradio. 204 O dominicano ingls Roberto Holkot, falecido em 1349, foi outro dos sequazes de Occam, professor de teologia em Cambridge e autor de um Comentrio s Sentenas e de escritos morais e exegticos, entre os quais, os exegticos, se situam as Praelectiones in librum Sapientiae. O cronista Aventino cita entre os principais nominalistas, juntamente com Joo Buridan e Marslio de Inghen, o frade agostinho Gregrio de Rimini que estudou em Paris, Bolonha, Pdua e Perugia e foi mestre de teologia em Paris. Escreveu um Comentrio ao primeiro e segundo livros das Sentenas e faleceu em 1358. A preponderncia do occamismo na Universidade de Paris demonstrada pelas condenaes sofridas por dois mestres da Universidade de Paris nessa poca: Joo de Mirecourt e Nicolau. de Autrecourt. De Joo de Mirecourt (de Mirecuria) foram condenadas em 1347 pelos mestres de teologia de Paris 40 teses extradas de um Comentrio s Sentenas que ficou indito. Estas teses so exageraes de princpios occamistas; entre elas encontra-se a de que Deus causa do pecado e que o homem peca com o beneplcito da vontade divina; a de que a caridade no necessria para a salvao da alma e que, portanto, o dio ao prximo no necessariamente demeritrio (Denfle, Chart., 612, n. 34, 611, n. 27). Pertencia ordem de Cister e por isso foi chamado pelos seus contemporneos "o monge branco" (monachus albus). Nicolau de Autrecourt (de Ultricuria) estudou em Paris, foi membro da Sorbonne e magister artium. A 21 de Novembro de 1340 foi chamado por Bento XII corte de Avinho para responder por heresia. Em 1346 foram condenadas 60 teses extradas de duas cartas a Bernardo de Arezzo, de uma carta a **4EQd@o e de um Tractatus universalis indicado por vezes 4pdas palavras iniciais Exigit ordo executionis. Nicolau arrependeu-se dos seus erros 205 e morreu em 1350 como decano da ctedra de Metz. O fundamento do saber , para NicoMu de Autrecourt como para Occam, o conhecimento intuitivo. Mas a caracterstica prpria desse conhecimento no consiste, para ele, na sua referncia coisa existente enquanto mas antes na maior clareza que ele possui frente ao conhecimento abstractivo. Com efeito, qualquer conhecimento conhecimento duma coisa existente; mas "se Deus, como se cr, conhece tudo com perfeita clareza, o nosso conhecimento intuitivo
poderia chamar-se abstractivo em relao ao conhecimento de Deus, o qual, pelo contrrio, deveria chamar-se simplesmente intuitivo" (Tract., 242). Alm disto, o prprio conhecimento intuitivo, embora seja medilda e fundamento, de toda a certeza, no constitu a verdade absoluta. Ele , com efeito, a evidncia, ou seja, o manifestar-se, da coisa existente; mas, diz Nicolau (Tract., 228-229) "que aquilo que se manifesta de modo prprio e ltimo como existente existia, e que aquilo que se manifesta como verdadeiro seja verdadeiro, uma concluso, **umeamente provvel: mais provvel, no mais verdadeira, do que a concluso oposta". De modo que nem sequer a ltima certeza atingvel naturalmente pelo homem implica uma garantia absoluta de verdade mas goza umicamente de um grau eminente de probabilidade. Ms um tpico e notabilssimo desenvolvimento, do occamismo: a crtica iniciada por Occam d mais um passo em frente com Nicolau de Autrecourt. E este passo em rigor, no se destina a desvalorizar a experincia, que a forma primria e ltima" do conhecimento intuitivo. A experincia, por exemplo, daquele que, estando em Roma, v que Roma uma grande cidade, no est sujeita a erro ( que S pode aparecer no juzo feito sobre ela) enquanto assumida na sua forma ltima, ou seja, presente 206 ou actual, e constitui o critrio de validade de qualquer outra manifestao. Nicolau de Autrecourt insiste, portanto, como Occam (Summa log., 111, 2, 25), que esta certeza mxima limitada aco actual e no subsiste para alm dela. Analogia do ponto de vista de Occam e Nicolau de Autrecourt com o de Locke (inclusiv no exemplo, que, no caso de Locke, o de Constantinopla) evidente. evidente tambm, na obra destes occamistas, o alargamento que sofre o conceito de conhecimento, que passa a abranger o provvel e que, em Locke, que quem no mundo moderno recolhe a herana do occamismo, se transforma numa extenso do conceito de razo at ao domnio do provvel. Compreende-se que Autrecourt no possa reconhecer metafsica aristotlica aquele valor de saber necessrio (ou seja, demonstrativo) que lhe atribuam os Escolsticos de tipo antigo. E compreende-se que renove com substancial fidelidade a crtica de Occam contra os dois conceitos, fundamentais de tal metafsica, os de substncia e de causa, nesta crtica, serve-se do princpio de no contradio que lhe parece o nico apto a garantir aquela certeza que se pode conseguir na **deincinistrao. O princpio de no contradio no permite inferir que, posto que uma coisa exista, deva tambm existir uma coisa diferente como efeito da primeira. Portanto, o princpio de causalidade no baseado no princpio de no contradio, no h pois, certeza mas s probabilidade. Do facto de o fogo ser fogo no se segue que **arla: a combusto , portanto, o seu efeito provvel, mas no uma consequncia evidente (Lappe, pap- 327). Consideraes anlogas valem para o conceito de substncia. Da substncia, ns conhecemos os acidentes; mas dos acidentes no podemos remontar com toda a evidncia at existncia da substncia. Se a substncia qualquer coisa de diferente dos objectos dos 207 sentidos e da nossa experincia interna, impossvel afirmar a sua realidade, j que da existncia de uma coisa se no pode inferir de modo algum a existncia de uma outra (1b., 12, 20-29). Juntamente com estes pontos
fundamentais, Nicolau de Autrecourt defende tambm outras teses occamistas: a negao da finalidade do mundo, probabilidade de o mundo ser eterno; C ope fsica, aristotlica, como, pelo menos, igualmente provvel, a hiptese praristotlica dos tomos e do vazio. 325. OCCAMISMO: O NATURALISMO NA ESCOLA OCCAMISTA As intuies fsicas de Occam, que so o ponto de partida da mecnica e da astronomia modernas, so retomadas por um corto nmero de sequazes. Um deles Joo Buridan, nascido em Bthune, no Artos, mestre e reitor da Universidade de Paris, de quem temos notcias at 1358, ignorando-se, no entanto, o ano da sua morte. Buridan escreveu comentrios Fsica, Metafsica, Poltica, ao De anima e aos Parva naturalisa de Aristteles. A atitude geral da obra de Buridan segue de perto a de Occam, mas, por vezes, Buridan vai alm de Occam no desenvolvimento empirista e naturalista de certas teses. Por exemplo, para Occam, a distino tradicional entre conhecimento sensvel e conhecimento intelectual no tem grande importncia porque o primeiro lugar assumido pela distino entre conhecimento intuitivo e conhecimento abstractivo que transversal quela; para Buridan, ela tem uma importncia ainda menor porque ele no hesita em aproximar o conhecimento conceptual dum conhecimento sensvel confuso. Respondendo questo de se os universais vm antes ou depois dos singulares, Buridan afirma que, para o 208 intelecto, temos primeiro o conceito singular -que o universal porque o intelecto parte do sentido que lhe fornece representaes singulares. Mas logo a seguir reconhece que, para os sentidos, o universal precede o singular porque o conhecimento sensvel confuso vem antes do determinado e exemplifica: como quando acontece que se v de longe um objecto que no se consegue discernir, e que, portanto, confuso ou universal (dado que pode ser um objecto qualquer), e que depois se torna cada vez mais determinado at se tornar singular quando pode ser percebido claramente (De an., 1, q. 5). Isto no seno um modo de exprimir a superioridade do conhecimento sensvel sobre o intelectual, enquanto s o primeiro o instrumento para atingir as coisas nas suas determinaes efectivas e o ponto de partida do prprio conhecimento intelectual. Dentro do mesmo esprito, Buridan acentua energicamente a tese occamista de que o prprio corpo que pensa, declarando-se propenso a considerar o intelecto como "uma forma material desenvolvida pela potncia da matria" educta de potentia materiae, De an. 111, q. 4). Igualmente acentuado , na obra de Buridan, o interesse pela fsica considerada como cincia emprica. -lhe atribudo o mrito de ter vislumbrado o princpio da inrcia na chamada teoria do impetus, formulada a propsito do movimento dos projcteis. Este movimento era uma espcie de escndalo para a fsica aristotlica a qual admitia o princpio de que um corpo s pode mover outro por contacto. J Occam, opusera a este princpio o exemplo da flecha e, duma maneira geral, dos projcteis, aos quais comunicado um impulso que o projctil conserva sem que o corpo que lho
comunicou o acompanhe na sua trajectria (In Sent., 11, q. 18 e 26). Ruridan retoma esta doutrina aplie~a 209 tambm ao movimento dos cus: estes podem perfeitamente ser movidos por um impetus a eles comunicado pela potncia divina, e que se conserva porque no diminudo ou destrudo por foras opostas; isto torna inteis as inteligncias motoras que Aristteles admitira precisamente para explicar o movimento dos cus. A astronomia moderna nascia assim na escola occamista. O nome de Buridan est ligado ao famoso exemplo do burro, o qual, colocado precisamente no meio de duas faixas de palha, morreria de fome antes do decidir a comer ou uma ou outra. Este argumento no se encontra nas obras de Buridan, e no pode encontra-se porque uma reduo ao absurdo da sua doutrina. Tal doutrina, porm, d-lhe efectivamente o seu ponto de partida. Com efeito, Buridan considera que a escolha feita pela vontade segue necessariamente o juzo do intelecto. Entre dois bens, um maior outro menor, que o intelecto julga com evidncia como tais, a vontade decide-se necessariamente pelo bem maior. Mas quando se trata de dois bens iguais, que o intelecto reconhece com evidncia como tais, a vontade no pode decidir-se nem por um nem pelo outro: a escolha no se realiza (In Eth., III, q. 1). Este precisamente o caso do " burro". Mas alis Buridan. no pretende com isto negar qualquer liberdade vontade humana; mas, dado que, na presena de um juzo evidente do intelecto a escolha feita pela vontade necessariamente determinada, a vontade livre s no sentido de poder suspender ou impedir o juzo do intelecto (In Eth., III, q. 4). Nicolau de Oresme estudou teologia em Paris e morreu bispo de Lisieux em 1382. Traduziu para francs em 1371, por ordem do rei Carlos V, a Poltica, a Economia e a tica de Aristteles-, escreveu em francs vrios tratados sobre poltica e 210 economia, um Tratado da esfera e um Comentrio aos livros do cu e do mundo de Aristteles. Escreveu ainda, em latim, tratados de fsica. notvel a sua importncia no campo da economia poltica do sculo XIV, mas maior ainda no campo da astronomia, no qual um directo precursor de Coprnico. Basta aqui citar algumas das proposies do seu comentrio ao De coelo: "l. Que no se poderia provar com nenhuma experincia que o cu se move com movimento diurno e a terra no; II. Que nem sequer isso se poderia provar com o raciocnio; 111. Vrias boas razes para mostrar que a terra se move com movimento diurno e o cu no; IV. Como estas consideraes so teis para a defesa da nossa f". Igualmente importante a obra de Nicolau de Oresme no domnio da matemtica, onde se antecipa a Galileu e Descartes. Na sua obra De difformitate qualitatum serve-se pela primeira vez das coordenadas geomtricas que sero introduzidas por Descartes, e enunciou a lei da queda dos graves que seria formulada por Galileu. Alberto de Saxe, denominado tambm Alherto de Helmste ou Albertus Parvus, ensinou em Paris e foi reitor da Universidade de Paris e mais tarde da de Viena, na altura da sua fundao. Morreu em 1390 como bispo de, Halberstadt.
As suas obras tratam de lgica, matemtica, fsica, tica e economia. escassa a sua originalidade. Na Lgica segue Occam; nas Quaestiones meteororum segue Nicolau de Oresme, nas suas teorias cientficas segue Buridan. De Buridan aproveita a teoria do impetus, de que serve para explicar o movimento dos cus, considerando tambm inteis as Inteligncias motoras admitidas por Aristteles. De Nicolau de Oresme extra provavelmente a sua teoria da gravidade e a determinao da lei da queda dos graves. Afasta-se deste ltimo ao admitir a teoria ptolomaica da imobilidade da terra. 211 326. OCCAMISMO: OS "CALCULADORES" DE OXFORD A parte da doutrina occamista que encontrou um maior nmero de sequazes foi indubitavelmente a lgica, e, da lgica, a parte mais seguida e desenvolvida foi a relativa refutao dos sofismas; parte que acaba por ser tratada de modo autnomo e com fim em si prpria, embora sempre com base nos princpios da lgica terminista e, em primeiro lugar, da teoria da suppositio. Multiplicaram-se assim as coleces intituladas Sophismata, Insolubilia, Consequentiae, Obligationes, Calculationes, cuja finalidade consiste em fornecer as regras para a soluo dos sofismas, e, com base nelas, analisar e resolver o maior nmero possvel deles, mesmo os manifestamente mais absurdos ou menos provveis. A habilidade e a subtileza destes trabalhos so notveis como tambm notvel o seu formalismo e a sua (pelo menos) aparente obiosidade, tratando problemas cuja soluo no parece, duma forma ou de outra, influenciar por pouco que seja a esfera dos problemas humanos. sobretudo por esta ltima caracterstica que os sequazes desta lgica, os quais foram numerosos em Itlia nos sculos XIV e XV,, foram asperamente criticados pelos humanistas, a comear por Petrarca que viu (e no sem deixar de ter razo) neste tipo de exerccios a tentativa de evaso dos problemas referentes, ao homem e ao seu mundo, logo, a obstinada sobrevivncia de uma filosofia que tivera j a sua poca. Por outro lado, Leibniz (numa carta a Thomas Smith datada de 1696) reconhecia ao mais clebre destes calculadores, Sulseth, o mrito de haver introduzido o simbolismo matemtico (mathesin) na filosofia escolstica; e esta observao explica o renovado interesse que estudos recen212 tes dedicam a esta escola de lca, interesse que tambm permite uma avaliao mais imparcial dessa mesma escola. Os seus principais representantes apareceram na Universidade de Oxford e especialmente no Merton Colloge onde este tipo de estudos fora iniciado pelo Tractatus de proportionibus de Toms Bradwardine ( 311). Um dos mritos da escola o de ter dado incio formulao do dicionrio de termos da mecnica que iria ser aperfeioado por Galileu. Chamavam latitude a qualquer incremento positivo ou negativo do movimento (motus), da velocidade (velocitas) ou de qualquer determinao qualitativa ou quantitativa (forma) em todos os graus (gradus) possveis do zero at ao infinito. As principais obras desta escola foram as Regulae solvendi sophismata de Heytesbury e as Calculationes de Suiseth.
Guilherme Heytesbury foi mestre do Merton College, chanceler da Universidade de Oxford em 1371 e morreu em 1380. Alm da obra mencionada (cujo ttulo completo De sensu composito et diviso, regulae solvendi sophismata) que foi escrita provavelmente em 1335, escreveu tambm uma recolha de Sophismata. Alguns dos sofismas tratados por Heytesbury no De sensu composito et diviso so os tradicionais da escola negrico-estica como, por exemplo, o do mentiroso (ef. 37). Mas aqueles cuja discusso constitui a importncia da obra referem-se noo do infinito sincategoremtico tal como tinha sido tratada pelos lgicos terministas, a partir das Summulae logicales de Podro Hispano. PoT infinito sincategoremtico entende-se uma quantidade que pode ser tomada maior ou menor do que qualquer outra quantidade dada. Trata-se, como se v, dum conceito fundamental para as matemticas modernas 213 (a especialmente para o clculo infinitegiinal) e no de admirar que o tratamento que lhe foi dado pelos lgicos de Oxford tenha atrado as atenes dos estudiosos modernos; tanto mais que, ao contrrio dos escritores anteriores os quais, a comear em Rogrio Bacon e a acabar em Duns Escoto e Occam, tinham tratado esta noo nas dificuldades e nos aparentes sofismas a que dava lugar, os lgicos de Oxford adoptaram pela primeira vez, no tratamento que lhe deram, smbolos constitudos por letras e dedicaram-se sobretudo a consider-la em relao aos conceitos de movimento e de velocidade chegando mesmo a formular alguns teoremas da cinemtica moderna. Para dar uma ,ideia da maneira como Heytesbury enfrenta os problemas do infinito assim entendido, pode considerar-se o procedimento por ele seguindo na sua discusso do mximo e do mim .mo para refutar uma proposio como a seguinte: existe um peso mximo que Scrates consegue transportar. Seja a esse peso. Scrates consegue transportar a, portanto, a potncia de Scrates excede, com um excesso (excessus) qualquer, a resistncia do peso a. Mas dado que aquele excesso divisvel, com metade dele, Scrates pode transportar o peso a mais uma outra quantidade logo a no o mximo que Scrates pode transportar. E, dado que, tal como se raciocina a respeito de a do mesmo modo se pode raciocinar a respeito de qualquer peso infinitsimamente maior do que a, resulta que no existe um peso mximo que Scrates consegue transportar. Segundo Heytesbury, deve antes dizer-se que existe um peso mnimo que Scrates no consegue transportar. Considere-se, com efeito, um peso que seja igual potncia de Scrates e chame-se-lhe a. Scrates no consegue transportar a mas pode transportar qualquer peso 214 menor que a; portanto, a o peso mnimo que Scrates no consegue transportar (De sensu composito et diviso, vol. 194 r a). A obra mais famosa desta escola de lgica o Liber calculationum de Ricardo SWineshead tambm denominado Suseth ou Sulseth ou Suset cuja actividade se desenvolveu no segundo quartel do sculo XIV mas de quem quase nada se sabe, excepto que esteve implicado na tumultuosa eleio de um Chanceler de Oxford
em 1348. A sua obra foi todavia a mais famosa nos sculos XIV e XV, e dela foram feitas numerosas edies. A sua finalidade, tal como na de Heytesbury, consistia na refutao dos sofismas; mas Suiseth afirma claramente que os sofismas nascem da noo de infinito. "Sofismas em nmero quase infinito, diz ele, podem nascer do infinito; mas se tiveres presente que no existe nenhuma proporo entre a totalidade infinita e uma das suas partes, poders resolvlos** fficifimonte" (Liber calculationum, ed. 1520, fol. 8 v b). A obra de Suiseth trat-a analiticamente vrios argumentos que constituom aspectos diversos do processo atravs do qual uma grandeza ou, duma maneira geral, uma forma (isto , uma determinao qualquer) comea a ser ou cessa de ser; aumenta ou diminui de intensidade; ou aumenta ou diminui na velo--idade em que aumenta ou diminui; ou se rarefaz ou se condensa por meio da aproximao ou afastamento das suas partes. Estes argumentos so tratados analiticamente mediante o uso de smbolos e com definies precisas, embora respeitando pouco os dados da experincia aos quais s ocasionalmente se faz referncia, preferindo-se a maior parte das vezes a considerao de casos puramente fictcios. Ainda que nestes trabalhos se encontrem alguns dos teoremas que a mecnica moderna demonstra, o que lhes falta precisamente a exi215 gncia fundamental desta mecnica e, em geral, da cincia moderna: a da medida. Est-se ainda no domnio duma cincia qualitativa que carece do instrumento fundamental da cincia moderna, a observao mensuradora. Suisoth foi o mais famoso dos lgicos da escola de Oxford e, por isso, foi denominado por antonomsia o Calculator. Foi sobretudo em Itlia que a lgica de Oxford encontrou mais numerosos seguidores, ficando em voga durante mais dum sculo. Podem recordar-se os nomes de Poduro de Mntua (falecido em 1400) autor de um De instanti e de uma Lgica; de Paulo Veneto (falecido em 1429) autor de uma Summa naturalium que foi impressa em Veneza em 1476 e de uma coleco de Sophismata; de Caetano Tffiene (falecido em 1465) que ensinou em Pdua de 1422 a 1465, e cujo comentrio s Regulae de Heytesbury foi editado conjuntamente com elas em 1494, de Paulo de Pergola (falecido em 1451) autor de uma Lgica e de um Tratado sobre o sentido composto e dividido. Mas o mais famoso foi Biagio Pelacani de Parma que ensinou em Pavia, Pdua, Bolonha e Florena e morreu em 1416. Biagio foi um averrosta que ensinava um rgido determinismo astrolgico, a unidade do intelecto activo e a eternidade do mundo. Mas ocupou--se sobretudo de questes cientficas relativas ao movimento dos projcteis (no sentido de Buridan e de Oresme), ao movimento e contacto dos corpos e ptica. Nas Quaestiones de latitudinibus formarum trata dos mesmos problemas considerados por Heytesbury e chega a concluses semelhantes. A sua caracterstica fundamental a mistura que apresenta de averrosmo e occamismo: os aspectos mais interessantes da sua obra so os cientficos e especialmente os seus contributos para a elaborao duma ptica geomtrica. 216 327. A ESCOLA OCCAMISTA Na segunda metade do sculo XIV, o occamismo a cor-rente dominante nas maiores Universidades da Europa. Foi chanceler da Universidade de Paris o
francs Pedro de AilIy, nascido em 1350, bispo de Cambrai, cardeal, e falecido em 1420 como legado papal em Avinho. Participou no conclio de Constana (1414-1418) no qual contribuiu para a condenao da teoria da superioridade do Conclio sobre o Papado. Foi autor de numerosas obras de filosofia, teologia e cincias naturais e, dentre destas ltimas, duma Imago mundi que uma espcie de enciclopdia do saber do seu tempo. A sua filosofia depende substancialmente da de Occam. No Comentrio s Sentenas, que a sua obra principal, afirma resolutamente que o filsofo s pode servir-se da razo natural e que a razo natural no permite demonstrar nem sequer a existncia de Deus. Do ponto de vista da razo natural, a existncia de Deus unicamente provvel; a afirmao dessa existncia pertence somente f (In Sent., 1, q. 3, a. 2). Mas a f , neste caso, a f infundida directamente por Deus, isto , a f sobrenatural e no a adquirida. A f adquirida concilivel com o conhecimento demonstrativo ou cientfico, mas no o a f infundida por Deus. Diz Pedro de Aifiy: "No contraditrio que algum tenha cincia ou demonstrao e todavia no perca a f infunffida, ainda que perca a f adquirida, do mesmo modo que se pode ter f no princpio e conhecimento evidente da concluso ou conhecimento experimental da mesma, mas no se pode, simultaneamente, ter f adquirida na concluso e conhecimento evidente dele" (In Sent., 111, q. 1, a. 2). O exerccio da filosofia no exclui, portanto, a posse de uma f sobrenatural, isto , directamente infundida por Deus, mas exclui qualquer outra 217
espcie de f. Esta tese revela a tendncia crtica e cepticizante de Pedro de Ailly e domina toda a sua filosofia. At a existncia das coisas externas considerada por ele como no sendo nada segura, porque Deus podia destruir as coisas externas e manter as sensaes que delas tem o homem, pelo que, estas sensaes no so prova da sua existncia. Como todos os occamistas, Pedro, de Aly dedica-se, de boa vontade soluo ou ao esclarecimento dos insolubilia, isto , dos paradoxos da lgica, o afirma que todos estes paradoxos derivam de proposies que tm reflexionem supra se, ou seja, do tipo daquela que "significa que ela prpria falsa". A soluo de tais paradoxos pode obter-se, segundo ele, passando da proposio enunciada proposio mental, para a qual afirma o princpio "Nenhuma proposio mental propriamente dita pode significar ser ela prpria falsa". Outros aspectos da sua doutrina derivam directamente de Occam: * prioridade do querer divino em relao ao bem * ao mal e a arbitrariedade do mesmo querer divino. Discpulo de Pedro de Ailily em Paris, Joo Gerson, Doctor Christianissimus, nasceu em 1363 e morreu em 1429. Gerson foi doutor em teologia e chanceler da Universidade de Paris aps o seu mestre. Participou tambm no Conclio de Constana onde desenvolveu uma notvel actividade. So numerosos os seus escritos de lgica e metafsica. Mas o seu interesse fundamental era a mstica O Considerationes de theologiae mystica speculativa, o De theologiae mystica practica, o De simplificatione cordis, o De elucidatione cholastica theoloQiae mvsticae propem-se introduzir, inserir a mstica dos Vitorinos e
de S. Boaventura da filosofia occamista, que constitui o fundo especulativo da sua investigao. Gerson distingue o ser da coisa externa do ser objectale ou representativo que a coisa possui ao intelecto humano ou divino. A coisa externa 218 a matria ou o sujeito do ser representativo. Esta distino permitiria, segundo Gerson, conciliar os formalistas e os terministas, ou seja, os sequazes da via antiga, tomistas e escotistas, com os da via moderna, os occamistas (De concordia methaphycae cum logica). Para definir a natureza do esse objectale serve-se do conceito occamista da suppositio: a ratio objectalis est em lugar da coisa externa. Portanto, ela no seno a intetio occamista, signo da coisa natural. Com tudo isto Gerson considera que os procedimentos naturais do conhecimento no servem para alcanar o conhecimento de Deus. A teologia deve ter a sua prpria lgica; e esta lgica aquela que regula a relao entre o homem e Deus, ou seja, o amor. O amor exclui o conhecimento natural, mas ele prprio conhecimento; conhecimento experimental da realidade sobrenatural, anlogo ao que o tacto, o gosto, o olfacto so n- ps coisas sensveis (De simplific. cordis, 15). Assim procura Gerson oferecer ao homem, com a via mstica, aquele conhecimento de Deus que o occamismo lhe negava resolutamente por via natural; e concebe o prprio conhecimento mstico, que o amor, por analogia com a experincia da realidade natural. O misticismo de Gerson apresenta-se como a integrao mstica do nominalismo occamista. Depois de Podro de Ailly e Gerson, a Universidade de Paris continua a ser o centro da via moderna, isto , do nominalismo e do occamismo. A 1 de Maro de 1473, o rei Lus XI proibia a doutrina de Occam e as obras dos nominalistas, seus seguidores; mas, em 1481, o nominalismo estava em Paris livre de toda a proibio. Na Alemanha, o nominalismo encontra numerosos sequazes. O aluno de Buridan, Marslio de Inghen, que foi em 1386 o primeiro reitor da Uni219 versidade de Heidelberg, ento fundada, e morreu em 1396, escreveu sobre teologia, lgica e fsica. Outros sequazes de Occam so Henrique de Hainbuch (1325-1397) e Henrique Totting de Oyta. (falecido em 1397), ambos os quais ensinaram em Viena e devem ser considerados entre os fundadores da faculdade de teologia daquela Universidade. Mas quem mais contribuiu para a difuso do occamismo na Alemanha foi Gabriel Biel que estudou em Heidelberg e Erfurt, ensinou na Universidade de Tubingen e morreu em 1495. O Comentrio s Sentenas de Biel no se prope outra finalidade que a de expor, abreviandoas ou completando-as, as obras de Guilherme de Occam. Os sequazes do occamismo nas Universidades de Erfurt e de Wittemberg denominaram-se gabrielistas e o prprio Lutero foi orientado para o occamismo pelas obras de Biel. NOTA BIBLIOGRFICA
323. Sobre este ltimo perodo da escolstica: MIC11ALSKi, Les courants philosophiques Oxford pendant je XiVe sicle, Cracvia, 1922; ID., Les sources du criticisme et du scepticisme dans ta philosophie du XIVe sicle, Cracvia, 1924; ID., Le criticisme et le scepticisme dans Ia phi7sophie du XIVe sicle, Cracvia, 1925. 324. O Comentrio de Ado Woddam foi impresso em Paris em 1512. As obras de Roberto Holkot tiveram numerosas edies nos ltimos anos do sculo XV e nos primeiros amos do sculo XVI. O Comentrio de Gregrio de Rimini foi impresso vrias vezes em Paris, e em Veneza em 1532. As 40 proposies condenadas de Joo de Mireeourt foram editadas in DENIFLE, Chartularium Univ. Par., 11, 610-614. As cartas de Nicolau de Autrecourt foram editadas por LAPPE, in "Beitrge", VI, 2, 1908; o Tractatus universalis foi editado por J. R. UDONNEL, in "Mediaeval Studies", Toronto, 1, 1939. Sobre Nicolau: O'DON220 NEL, The Phil. of N. of A, and his Appraisal of Aristotie, in "Mediaeval Studies", Toronto, IV, 1942; J. R. WEINBERG, N. of A., Princeton, 1948; M. DAL PRA, N. di A., Milo, 1951. 325. As obras de Joo Buridan tiveram numerosas edies antigas. Recentes: De caelo, ed. Moody, Cambridge (Mass.), 1942; Tractatus de suppositionibus, ed. Reina, in "Riv. crit. di st. della fil.", 1953. Sobre Buridan: Dumm, tudes sur Lonard de Vinci, II e III, passim; Le Systme du monde, VI e VII, passim; REINA, Il problema del linguaggio in Buridano, in "Riv. crit. di st. della fil>, 1959-1960; Note sulla psicologia di Buridano, Milo, 1959. Sobre a tradio manuscrita: FARAL, in "Arch. d'Hist. Doctr. et Lit. du m. .", 1946; FEDERICI VESCOVINI, in "Riv. crit. di st. della fil.", 1960. De Nicolau de Oresme: os Comentrios aristotlicos tiveram algumas edies no sculo XV. Recentes: Etica, ed. Menut, New York, 1940; Economica, ed. Menut, Filadlfia, 1957; De caelo, ed. Menut-Denomy, in "Mediaeval Studies", 19411943; De Porigine, nature et mutation des monnais, ed. Wolowski, Paris, 1864; Johnson, Edimburgo, 1956; Quaestiones super geometriam Euclidis, ed. Busarda, Leiden, 1961. Sobre Oresme: DuHEm, Franais de Meyrones et Ia question de Ia rotatiow de Ia terre, in "Arch. fvane, frane. Hist.", 1913, 23., tudes sur Lonard de Vinci, III, Paris, 1913, 347 ss.; Le systme du monde, VII, VIII, IX, X, passin; BORCHERT, in "Beitrge", XXXI, 3, 1934, e XXXV, 4-5, 1940. As obras de Alberto de Saxe tiveram numerosas edies nos finais do sculo XV e no principio do sculo XVI. Sobre ele ver as obras citadas de Duhem e HEIDINGSFELDER, in "Beitrge", XX11, 3-4, 1921. 326. De Hytesbury: o Tratado foi impresso em Veneza em 1494. Sobre ele: DUHEM, tudes sur Lonard, III; MAYER, An der Greme von Scholastik und Naturwissenschaft, Roma@ 1952, COP. M; WILSON, W. H., Medieval Logic and the Bise of Mathematical Physics, Madison, 1956.
As Calculationes de Suiseth foram editadas pela primeira vez em Pdua em 1480 e reimpressas repetidas vezes. Sobre Suiseth.* DUHEM, tudes sur Lo-nard, III, passim; MICHALSKI, Le criticisme et le scepticisme dans ta phl. du XIVe sicle, Cracvia, 1926; THORNDIKE, History of Magic, III, cap. 23. 221 Textos destes autores como comentrios oportunos (mas de interesse exclusivamente cientfico) foram includos na obra de CLAGETE, The Science of Mechanics in the Mi-ddle Ages, Madison, 1959. De Paulo de Pergola a Lgica e o Tractatus de sensu composito ed diviso foram impressos em Veneza em 1501 (nova edio M. A. Brovm, St. Bonaventure, N. Y., 1961). De Biagio de Parma, as obras foram impressas em Pdua, 1482, 1486 e em Veneza, 1505. O seu averrosmo manifesto no comentrio ao De anima que est indito. A obra De latitudinibus formarum foi impressa por Amodeo, Npoles, 1909. Sobre ele, alm das obras citadas de Mayer e Clagett: G. FSDERICI VESCOVINI, in "Rivista di filosofia", 1960; in "Rinascimento", 2, 1961; ALEssio, in "Rivista critica di storia. della filosofia", 1961. 327. As obras de Pedro de Ailly foram impressas conjuntamente com as de Gerson por Du Pin, Anteverpiae, 1706, e tiveram tambm numerosas edies separadas nos sculos XV e XVI. Sobre ele: DUHEM, Le systme du monde, VII, VIII, IX, X, passim. De Gerson: Opera omnia, ed. Du Pin, 5 vols., 1706, 1727 2; nova edio critica por Glorieaux, Paris, 1961, ss. Sobre e'-e: CONNOLLY, John Gerson, Louvain, 1928 (com bibl.). De Marsilio de Inghen, as obras tiveram numerosas edies no sculo XVI. As de Henrique de Hainbuch foram editadas s em parte: v. Ueberweg-Geyer, p. 604. As de HenrIque de Oyta foram editadas em Paris em 1506. Sobre ele: MICHAT,SKI, Le criticisme, passim; e RITTER, Marsilius von Inghen, 1921, 13, 41. O Eptome de Gabriel Biel foi impresso pela primeira vez em 1501 e teve depois vrias edies: PRANTL, Gesch. d. Log., IV, p. 231 ss. 222 xxIV O MISTICISMO ALEMO 328. MISTICISMO ALEMO: CARACTERSTICAS DO MISTICISMO ALEMO A dissoluo da Escolstica, iniciada por Duns Escoto e progredindo rapidamente depois dele at alcanar o seu ponto terminal com Occam e o
occamismo, pe em primeiro plano o problema da f. Se as verdades a que a f se dirige no tm nenhum fundamento racional, no so evidentes nem demonstrveis, nem sequer justificveis, que valor tom a f? Duns Escoto tinha colocado o fundamento da f na vontade; mas, desse modo, em vez de a justificar, havia acentuado a sua arbitrariedade. De qualquer modo, depois dele, at este fundamento desaparece: apresenta-se uma diversidade radical, que muito frequentemente uma anttese, entre a f e todas as capacidades naturais do homem. A escolstica nunca chega, todavia, negao do valor da f: o problema deste valor apresenta-se, pois, Como urgente, no momento em que se tira a essa mesma f todo o apoio da razo, considerada como capaz de indagar o mundo natural, mas no de se acercar da realidade sobrenatural e de Deus. Era 223
necessrio restabelecer a possibilidade de uma relao directa entre a criatura e o criador, a fim de justificar a f. Era necessrio reconhecer, para alm e acima dos poderes naturais do homem, a possibilidade de uma relao com Deus, sem a qual a f impossvel. Era necessrio reconhecer, no homem, um ser no finito nem de criatura, que se identificasse com o prprio ser de Deus. Tal a tarefa que a si mesmo impe o misticismo especulativo alemo, sobretudo com Mestre Eckhart. O problema da f domina inteiramente a investigao especulativa de Eckhart. A mstica precedente estava solidamente ligada investigao escolstica: era um auxiliar e um complemento dessa investigao, uma via paralela, por vezes coincidente, sempre convergente, com a especulao. Mas agora a investigao escolstica parecia inadaptada sua finalidade; a sua capacidade de fazer aceder o homem verdade revelada parecia nula. Restava, ento, a via mstica; mas esta devia agora justificarse por si mesma, utilizando e transfigurando, at onde fosse possvel, os prprios conceitos da escolstica, para uma justificao da f. Nascia assim o misticismo especulativo, que j no uma simples descrio da ascese do homem para Deus, mas a investigao da possibilidade dessa ascese, e reconhecimento do seu fundamento ltimo na unidade essencial de Deus e do homem. 329. MESTRE DIETRICH Mestre Dietrich (Theodoricus) nasceu em Freiberg no Saxe, provavelmente cerca de 1250, e pertenceu ordem dominicana. Estava em Paris cerca de 1276, onde assistiu s lies de Henrique de Gand. Foi mais tarde mestre de teologia em Paris e ensinou nessa Universidade. Desempenhou na 224 MESTRE ECKHART E UTA Alemanha vrios cargos na sua ordem, mas a sua principal actividade foi a pregao. Depois de 1310 no voltamos a ter mais dados sobre ele; pouco depois desse ano, deve, portanto, situar-se a data da sua morte. Mestre
Dietrich escreveu numerosas obras de metafsica, lgica, fsica, ptica e psicologia, obras que ficaram inditas e das quais s recentemente algumas foram publicadas. A sua especulao relaciona-se dum modo geral com a tradio agustiniana; mas a sua fonte principal Proclo, cujos Elementos de teologia tinham sido traduzidos em 1268 por Guilherme de Moerbek-e. Como Proclo, admite quatro ordens de realidades: o Uno, a natureza intelectual, as almas e os corpos, que derivam umas das outras por um processo de emanao, interpretada, num sentido cristo, como criao. Tal criao determinada pela superabundncia do ser divino que se derrama fora de si prprio, sobre os graus inferiores da realidade, criando-os e governando-os (De intellectu et intelligibili, 1, 9, ed. Krebs, p. 130). Dietrich propende para a interpretao que Avicena tinha dado da teoria neo-platnica da emanao, segundo a qual a aco de Deus sobre as coisas do mundo se exerce mediante as inteligncias motoras das esferas celestes, de modo que cada uma delas depende da superior, e que da ltima e mais baixa dependem as coisas sublunares. Mas ele declara no afirmar decididamente tal doutrina ,porque no lhe encontra confirmao explcita na Sagrada Escritura. O misticismo curiosamente fundado por Mestre Dietrich sobre a doutrina aristotlica do intelecto activo. O intelecto activo a parte mais intrnseca e profunda da alma humana, e para ela aquilo que o corao para o animal (lb., 11, 2, p. 135). o abditum mentis, o princPio que sustenta e vivifica toda a actividade intelectual e a sede daquela verdade imutvel que, segundo Santo Agos225 tinho, est presente no homem como norma de todo o seu conhecimento (De visione beatifica, ed. Krebs, p. 77). O intelecto possvel , pelo contrrio, uma pura possibilidade, sem natureza positiva. As espcies inteligveis vm alma, no por abstraco das coisas sensveis, como sustentara S. Toms, mas pelo intelecto agente, segundo a doutrina de Avicena. E, dado que o intelecto agente a directa emanao de Deus, Dietrich aceita, neste sentido a doutrina agustiniana da iluminao divina (De inteil. et intellig. 111, 35, p. 203). Ora, precisamente por meio do intelecto agente o homem est em condies de regressar a Deus e de se unir com ele. Para esta unio, Dietrich no considera necessrio aquele lumen gloriae que S. Toms havia considerado como sua condio (S. th., 1, q. 13, a. 4); basta a aco natural do intelecto agente. " O mesmo intelecto agente. "0 mesmo intelecto agente, diz ele (De intell. et intellig., 11, 31, p. 162), aquele princpio beatfico, pelo qua-l, quando estamos informados- isto , quando ele se torna a nossa forma-, nos tornamos bem-aventurados, o nos unimos a Deus mediante a imediata contemplao beatfica, com a qual vemos a prpria essncia de Deus". 330. MESTRE ECKHART Joo Eckhart, o verdadeiro fundador da mstica alem, nasceu cerca de 1260 em Hochheim, perto de Gotha. Pertenceu ordem dominicana e estudou em Colnia, onde provavelmente foi aluno de Alberto Magno. Em seguida, estudou o ensinou em Paris cerca de 1300; e em 1302 foi nomeado doutor por Bonifcio VIII. Desempenhou alguns cargos na sua ordem, dirigiu em
Estrasburgo a escola teolgica e nos ltimos anos da sua V,; Ja ensinou em Colnia. Aqui, foi-lhe movido pelo arcebispo, em 1326, um 226 processo por heresia. Retratou-se condicionalmente das suas doutrinas e apelou para o -papa. Mas morreu em 1327, antes de ser publicada a bula que condenava 28 proposies extradas da sua obra (27 de Maro de 1329). Eckaot autor de um Opus trpartitum, que s foi em parte recentemente ed'iwtado, de algumas Quaestiones, e de Sermes e Tratados em alemo. Temos dele duas obras em que justifica as proposies imputadas de heresia. 1 1 A obra de Eckhart a maior tentativa de justificao da f, qual a ltima Escolstica. tirava todo o fundamento nas capacidades naturais do ficomem. A sua obra substancialmente uma teoria da f: os seus pontos fundamentais visam estabelecer aquela unidade essencial entre o homem e Deus, entre o mundo natural e o mundo sobrenatural, que a nica condio que possib,;,,ta e justifica a atitude da f. As 28 proposies condenadas revelam j o intento fundamental da especulao de Eckhart. Afirmam a eternidade do mundo, criado por Deus simultaneamente com a gerao do Verbo, a trans, formao, na vida eterna, da natureza humana na natureza divina, a identidade perfeita entre o homem santo e Deus; a unidade perfeita e indistinta de Deus; o no-ser das criaturas como tais; o valor indiferente das obras exteriores; a pertena alma do intelecto incriado. Todas estas teses tendem a estabelecer a unidade essencial do homem e de Deus, da criatura, enquanto possui uma qualquer realidade, e do criador, e a oferecer assim ao homem a possibilidade duma relao com o mundo sobrenatural e com Deus: a possibilidade da f. Para fundamentar tal relao, Eckhart deve, por um lado, negar que as criaturas tenham, enquanto tais, uma realidade prpria; por outro lado, reduzir o ser das criaturas ao ser de Deus. Tais so, com efeito. os pontos fundamentais da sua metafsica,, "Todas as criaturas, so um puro nada, diz ele. No 227 m,41,11^k%o que sejam uma coisa pequena ou sem **imperso um puro nada. O que no tem ser, **-ras tem ser porque ,no existe. Nenhuma das criatu1 o wU ser depende da presena de Deus. Se Deus se afastasse das criaturas por um s instante, elas cairiam no nada. Disse j outras vezes e verdade: quem agarrasse no mundo e em Deus nada mais teria do que se s tivesse Deus" (Pred., IV, ed. Quint, p. 69-70). Frente nulidade das criaturas, Deus o ser, todo o ser. "0 sor Deus. Esta proposio evidente, em primeiro lugar, porque se o ser diferente de Deus, Deus no existe nem Deus. Com efeito, de que modo poderia ser, e ser algo, se o ser fosse diferente, estranho e distinto dele? Ou ento, se Deus, Deus por causa de outrem, se o ser outro que no ele. Portanto, Deus e o ser so idnticos, pois de outro modo Deus receberia o ser de outrem" (Prologus generalis in opus tripartitum, n. 12). Eckhart no hesita a servir-se de conceitos e princpios da tradio
escolstica, especialmente de S. Toms, para esclarecer este ponto. Admite a analogicidade do ser e a distino real entre essncia e existncia, que s o as traves mestras do pensamento tomista; mas serve-se de tais princpios nicamente para negar toda a realidade s criaturas enquanto tais, e reduzir o ser dessas criaturas ao ser de Deus. A analogicidade do ser significa, para ele, que "todo o ser criado tem por Deus e em Deus, no em si prprio, o ser, a vida e o saber, positiva e radicalmente". Do mesmo modo, afirma que as coisas esto em Deus como na mente do artfice; mas acrescenta tambm que as ideias das coisas no so nem criadas nem criveis, mas se identificam directamente com o Verbo, e so produzi-das pelo Pai contemporaneamente com o prprio Verbo. Desta reduo total do ser a Deus deriva, em primeiro lugar, a coeternidade e a unidade substancial 228 do mundo com Deus: "No se deve imaginar, como muitos fazem, que Deus tenha criado e produzido todas as coisas no em si mas fora de si; criou-as e produziu-as por si e em si primordialmente, j que aquilo que existe fora de Deus existe fora do ser e, assim, no existe e no poderia ter sido criado nem produzido. Em segundo lugar, o que existe fora de Deus nada. Por isso, se as criaturas ou todas as coisas produzidas se colhessem ou nascessem fora de Deus, seriam produzidas do ser para o nada, e no haveria produo ou criao mas corrupo: a corrupo, com efeito, a via que vai do ser para o no ser, isto , para o nada" (In Sap., VI, 8). Deus , portanto, o ser, todo o ser na sua absoluta unidade. Como tal, a negao de todo o ser particular, determinado e mltiplo; o no-ser de tudo o que existe de qualquer modo diferente dele. Mesmo o seu nome inexprimvel: Eckhart serve-se de boa vontade da teologia negativa (apofatica) de Dinis o Areopagita, da qual se servira j Escoto de Ergena no principio da Escolstica. "Deus no tem nome, j que ningum pode dizer nem entender nada sobre ele. Se eu digo: Deus bom, ser mais ,verdadeiro dizer: eu sou bom, Deus no bom. Se eu digo: Deus sbio. no ser verdadeiro dizer: eu sou sbio. Eu digo, portanto: no verdadeiro que Deus seja uma essncia. Ele uma essncia superessencial e um nada superexistente" (Werke, ed. Pfeiffer, p. 318-319). Como tal, Ele, mais do que Deus, a divindade, a essncia em si que o fundamento comum das trs pessoas divinas, **wneriores s suas relaes, sua distino, sua actividade criadora; um repouso desrtico, no qual s h unidade. Mas, precisamente para este centro e para este fundamento ltimo da vida divina, precisamente para este repouso desrtico, que est para alm da 229 distino e da prpria actividade de Deus, deve tender o homem. E o homem pode para l tender, dada a natureza da sua alma. Eckhart admite as partes que a tradio escolstica distinguia: a parte racional, a irrascvel e a apetitiva; e, acima destas, a memria, a inteligncia e a vontade. Mas a mais alta potncia da alma no uma faculdade que esteja ao lado das outras, sim a alma na totalidade da sua essncia, na sua pura racionalidade. Na sua racionalidade, a alma verdadeiramente a imagem de Deus e, como tal, **incada e eterna; a alma dotada de faculdades pelo contrrio, mltipla e
criada. A racionalidade a citadela da alma, a chispa nela acesa pelo prprio fogo divino (lb., p. 113). S mediante esta chispa o homem se eleva acima de toda a actividade sensvel e intelectual, contemplao. Frente ao conhecimento comum, a contemplao um no-conhecimento, uma situao de cegueira, um no-saber; mas s ela a posse, o gozo da verdade, s ela a f (lb., p. 567). A f , portanto, a reunio da realidade ltima e de Deus na sua identidade. Ela revela ao homem simultaneamente a deidade de Deus e a sub"ncia da alma: e revela-as como idnticas. A f o nascimento de Deus no homem: por ela, o homem torna-se filho de Deus. A primeira condio deste nascimento que o homem volte as costas ao pecado, se desinteresse de todas as coisas finitas e se retrai-a, da multiplicidade dos seus poderes espirituais, em direco quela chispa de racionalidade, que o domnio do eterno. "Ns no podemos ver Deus, se no vemos todas as coisas e ns prprios como um puro nada". O homem deve fazer morrer em si tudo o que pertence criatura fazer viver em si o ser eterno de Deus: a morte do ser de criatura no homem o nascimento nele do ser divino. Para este nascimento pouco contribuem as obras externas (os jejuns, as viglias, 230 as maceraes), mas muito contribuem as internas, isto , o aprofundamento da relao com Deus, o qual ama as almas, no as obras externas. necessrio alcanar Deus, procurando-o no ponto central da alma: somente a Deus revela o fundamento da sua divindade, a sua inteira natureza, a sua verdadeira essncia. Nesse ponto culminante o homem torna-se uno com Deus, converte-se em Deus; as propriedades de Deus convertem-se nas suas. Mas a alma no se anula inteiramente em Deus: uma linha subtilssima separa sempre o homem de Deus: o homem Deus por graa, Deus Deus por natureza (Ib., p, 185). Tais so as caractersticas fundamentais do misticismo especulativo de Mestre Eckhart. Perante elas, parecem completamente irrelevantes os problemas que se costumam debater, no intento de reduzir a personalidade do seu autor a esquemas pr-estabelecidos. Mestre Eckhart foi um escolstico ou um mstico? ou no ortodoxa a sua especulao? O resultado da sua filosofia verdadeiramente o pan- ,tesmo? Uma soluo qualquer destes problemas nada diz sobre a personalidade de Mestre BAhart. J que ele certamente um mstico que, diferentemente dos outros msticos medievais (os Vitorinos, S. Boaventura) sabe que a via mstica a nica que permite o acesso verdade revelada, qual a investigao filosfica no pode conduzir. O pressuposto implcito da especulao de Eckhart a desconfiana na possibilidade de alcanar a f atravs da investigao realizada pela razo natural, desconfiana que existe na atmosfera filosfica da sua poca, e que ento encontrava as suas mais decididas expresses, O seu problema o problema da f: encontrar a possibilidade e a justificao da f, na possibilidade e na justificao duma relao directa entre o homem e Deus. Para este problema, serve-se, sem escrpulos, de numerosos temas e 231, motivos da **adio escolstica; mas tais tomas e motivos so por ele transfigurados e entendidos segundo uma perspectiva que j no a que
representa o seu significado genuno. Quanto sua ortodoxia, ele aparecer no como ortodoxo, desde que se utilize como medida da ortodoxia o tomismo ou a antiga tradio escolstica. Mas a sua especulao a ltima grande tentativa medieval de dar f religiosa uma fundamentao metafsica. Finalmente, se olharmos para a separao que Eckhart estabelece entre as criaturas como tais, consideradas como um puro nada, e Deus, Eckhart est muito longe do pantesmo; mas se olharmos para a identidade que Eckhart estabelece entre o ser autntico das criaturas, e em primeiro lugar da alma humana, e o ser de Deus, o pantesmo pode parecer a ltima palavra da sua especulao. Pode parecer; mas, na -realidade, o pantesmo, nas expresses tpicas que assumiria o Renascimento, sempre um naturalismo, e o naturalismo est muito longe da especulao eckhartiana, a qual est completamente absorvida no problema da f, e v, na unidade da criatura com Deus, a nica via mediante a qual o homem pode voltar a unir-se com Deus. 331. A MSTICA ALEM Discpulos imediatos de Eckhart so Joo Tauler e Henrique Suso. Joo Tauler nasceu cerca de 1300 em Estrasburgo e pertenceu ordem dominicana. Na luta entre Lus o Bvaro e o papa, esteve do lado do papa. A sua actividade desenvolveu-se como pregador em Estrasburgo, Basileia e Colnia. Morreu em Estrasburgo em 1361. A doutrina exposta nos seus Ser~- s substancialmente a de Eckhart. Como Eckhart, distingue Deus, como Trindade e actividade criadora, da essncia divina que, 232 JOO TAULER **nidade sinplicssima, o fundamento de -na sua 4ura, Deus. Como Eckhart, distingue na alma humana as suas diversas faculdades da sua substncia ltima, que a luz da razo. Ainda como Eckhart, afirma a identidade do ser da alma com o ser de Deus e esboa o ~,nhe, mediante o qual se pode alcanar esta identidade e Dous pode nascer no homem. H todavia um ponto capital em que Tauler modifica a doutrina de Eckhart: a identidade absoluta do ser das criaturas com o ser de Deus, a qual Eckhart insistira com to enrgicos paradoxos. A essncia divina permanecesse acima de todos os nveis, -numa altitude a que nenhuma criatura a pode alcanar; por isso que, se o esprito humano "se perde em Deus e se afoga no mar sem fundo da sua divindade", o eu espiritual no deve dissolver-se, mas penetrar essencialmente ntegro no recinto do mistrio divino. Estas atenuaes expressam, todavia, exigncias cujo fundamento se no descobre nas bases daquela teoria da f que Eckhart tinha desenvolvido com lgica inflexvel. Henrique Suso (Seuse) nasceu em Constana cerca de 1295 e pertenceu tambm ordem dominicana. Estudou em Colnia com Mestre Eckhart, foi um pregador famoso e morreu em Um em 1366. autor de um Livrinho da verdade, de um Livrinho da eterna sabedoria que ele mesmo traduziu para latim sob o ttulo de Horologium sapientiae, e que constitui a sua biografia, alm de numerosas Cartas. A obra de Suso alimentada por um intenso fogo lrico, mas tm pouca originalidade especulativa. O esqueleto do seu pensamento haurido em
Eckhart. Como Tauler, preocupa-se em estabelecer uma linha de demarcao entre o ser das criaturas e o ser de -Deus. Todas as criaturas em Deus so Deus, diz ele, e no tm nenhuma distino fundamental entre si. Mas a forma natural de cada uma delas distinta da essncia divina e de todas as outras formas naturais 233 <Schriften, ed. Bililmeyer, p. 331). Uma coisa a se~o, outra a distino: a alma e o corpo no esto separados, porque um est no outro, mas so distintos, porque a alma no o corpo nem o corpo a alma. Do mesmo modo, a essncia de uma criatura distinta, mas no separada, da essncia de Deus e da essncia das outras criaturas. A essncia divina no a essncia da pedra, nem a da pedra a divina ou a das outras criaturas (Ib., p. 354). Por isso, tambm a unidade do homem com Deus inferior unidade de Deus consigo mesmo, do Filho com o Pai. E, com efeito, o Filho de Deus tal por sua natureza e no tem uma personalidade independente desta sua natureza; o homem, pelo contrrio, tem uma personalidade natural, que o distingue de Deus; o seu nascimento como filho de Deus , portanto, s um renascer (1b., @p. 355). Tauler e Suso, que contriburam enerme-mente, com a sua actividade literria e os seus sermes, para a difuso do misticismo especulativo de Eckhart, no so pensadores originais. A influncia de Eckhart faz-se tambm sentir numa obra mstica, a Teologia alem, composta em Francfort por um dominicano annimo na segunda metade do sculo XIV e que foi publicada pela primeira vez por Lutero (1516-1518). Ao crculo do misticismo alemo pertence ainda o flamengo Joo de Ruysbroeck, denominado o admirvel, (1293-1381), autor de numerosas obras msticas, das quais a maIs importante O ornamento das bodas espirituais. Encontram-se em Ruysbroeck os temas fundamentais da especulao de Eckhart. ",O esprito possui Deus essencialmente na sua nua ,natureza e Deus possui o esprito. O esprito vive em Deus e Deus vive nele. Esta unidade essencial -reside em Deus; se ela faltasse, todas as criaturas seriam reduzidas ao nada" De ornatu spirit. nupt., 234 11, 59). A vida contemplativa a realizao plena desta unidade. "Ns contemplamos intensamente aquilo que somos; e aquilo que contemplamos, isso mesmo somos: assim a nossa mente, vida e essncia elevada e unida prpria verdade, que Deus. Nesta simples e intensa contemplao somos uma nica vida e um nico esprito com Deus. Esta chamo ou vida contemplativa" (De calculo, 10). Porm, tambm Ruysbroeck considera impossvel que na contemplao o homem porca inteiramente a sua essncia de criatura (De ornatu spir. nupt., 111, 1). A nossa unio com Deus condicionada pelo nosso conhecimento de Deus e de Cristo, pois, se o no fosse, tambm uma pedra poderia alcanar a vida eterna. Ns somos uno com Deus e, todavia, permanecemos eternamente diferentes daquilo que ele (De calculo, 9).
NOTA BIBLIOGRFICA 329. Das obras de Dietrich foram editadas: Tractatzts de intellectu et inteZligibili e Tractatus de habitibu,s, por KREBS, in "Beitrge", V, 5-6, 1906; De esse et essetia pelo mesmo KREBS, in "Revue no-scl.", 1911, p. 516-536; De iride, por MRSCHMIDT, in "Beltrg", XII, 5-6, 1914. Sobre ele ver, alm da introduo de KREBS, BIRKENMAJER, in "Reitrge", XX, 5, ,1922. 330. Os Sermes e os Tratados em alemo de Eckhart foram editados por PFEIFFER, Deutsche Mys~ tiker des 14 Jahrhunderts, vol. 11, 1857, e tiveram depois numerosas edies parciais. Os escritos em @l@atim foram editados por DENIFLE, in "Archiv. fr Litt. Gesch. des M. A.", 1866. As Quaestiones foram edItadas por GRABMANN, in "Sitzungsberichte der bauerich. Akad. d. Wiss.", 1921. Uma nova edio das obras :latinas e alems a que foi publie-ada por Weiss, Kock, Christ, Benz, Stuttgart-Berlim, 1936 ss. Trad. itaI.: Prediche e trattati, Bolonha,, 1928; La nascita eterna (Antologia com textos e trad.), de FAGGIN, Florena, 1953. 235 As obras em que Eckhart defende as proposies Imputa~ herticas foram editadas primeiro por DANILS, In "Beitrge", XXIII, 5, 1923, depois por THRY, In "Archives d'hist. doctrinale et littraire du moyen ge", 192619271 p. 229-268. DELACR0IX, Essa sur le mysticisme spculatif en Allemagne au XIVe sicle, Paris, 1900; KARRER, Meister Eckhart, Erfurt, 1926; LONGPR, QUeStions indites de matre Eckhart, in "Revue no-scol.", 1927, p. 69-85; DFLT,A VOPLE, Il misticismo 8peculativo di Maestro Eckhart nei suoi rapporti storici, Bollonha, 1930; 2.1 edic, revista: E. o della fil. mistica, Roma, 1952-, CLARK, The Great Geman Mystics, Eckhart, Tauler, Suso, Oxford, 1949; KoPPER, Die Metaphysik Meister Eckharts, Saarbrcken, 1955; LOSSKY, Thologie ngative et conn&ssance de Dicv, chez M. Eckhart, Paris, 1960. 331. Os Sermes de Tauler tiveram numerosas edies antigas. No seu texto original em alemo medieval foram editadas por Vetter, Berlim, 1910. H deles uma traduo francesa, verificada com a traduo latina, de Noel, Paris, 1911913. O texto crtico das obras de Henrique Suso foi editado por BIHLMEYER: Deutsche Schriften, Stuttgart, 1907. A Teologia alem foi novamente editada por PFEIFFER, Stuttgart, 1851, 5., ed., 1924. As obras de Ruysbroek foram editadas na verso latina em Colnia em 1552. Uma sua edio completa na lngua original foi publicada por David, em Gand, 6 vols., 1858-1869. Para a bibliografia sobre estes autores: UEBERWEG-GEYER, p. 789-791; FAGGIN, Meister Eckhart e Ia mistica, tedesca pre-protestante, Milo, 1946; e trad. esp. Buenos Aires, 1953 (com hibl.).
236 INDICE XIV - ALBERTO MAGNO ... ... ... ... ... 7
267. A obra de AJberto Magno ... 7 268- Vida e Obra ... ... ... ... ... 10 269. Filosofia e Teologia ... ... ... 12 270. Metafsica ... ... ... ... ... 14 271. A Antropologia .. . ... ... ... is Nota bibliogrfica ... ... ... 21 ... ... ... ... de 23
XV - S. TOMAS DE AQUINO 272. A figura de S. Toms
Aquino ... ... ... ... ... ... 23 273. Vida e Obra ... ... ... ... 26 274. Razo e F ... ... ... .. . ... 29 275. Teoria do conhecimento ... ... 32 276. Metafsica ... ... ... ... ... 39 277. As provas da existncia de Deus 44 278. Teologia ... ... .. . ... ... 47 279. Psicologia ... ... ... ... ... 50 280. ntica ... ... ... ... ... ... 52 281. Politica ... ... ... ... ... ... 55 282. Esttica ... ... ... ... . .. 57 Nota bibliogrfica 237 XVI -0 AVERROISMO LATINO 283. Oaractersticas do Averroismo latino ... ... ... ... ... ... 61 284. Siger de Brabante: Vida e Obra 64 285. Siger: Necessidade do ser e unidade do intelecto do mundo ... ... ... 66 286. Siger: A eternidade 68 287. Bocio de Dcia 71 ... ... 75 ... ... ... 61 ... ... ... 58
e a doutrina da dupla verdade ... ... ... 70 Nota bibliogrfica ... ... ...
XVII-A LGICA DO S2CULO XIII 288. Desenvolvimento da lgica ... ... 75 289. Pedro Hispano 290. Raimundo Llio ... ... Nota bibliogrfica ... ... ... 83
me- ,dieval ... ... ... ... ... ... 78 80
XVIII -A POLPMICA SOBRE O TO1@ffSMO 291. A luta contra S. Toms Acquasparta ... ... 88 238 ... ...
...
85
85 292. Mateus de
293. A escla de S. Boaventura ... 92 294. A escola Tomista ... ... ... 93 295. Henrique de Gand: A Metafsica 96 296. Henrique de Gand: A Antropologia ... ... ... ... ... ... ... ... 101 Nota bibliogrfica 99 297. Godofredo de Fontaines
... ... ... 102
XIX-A FILOSOFIA DA NATUREZA NO SnCULO XIII ... ... ... ... ... .. . 107
298. Cara cteristicas da investigao naturalista no skwulo XIII ... 107 299. Rogrio B-acon: Vidae Obra ... 110 300. Bacon: A expelincia ... ... 111 301. Witelo ... ... ... ... ... ... 116 Nota bibliogrfica ... ... ... 117 ... ... ... ... 119
XX-JO-&O DUNS ESCOTO
302. Doctor subtilis ... ... ... ... 119 303. Vida e Obras ... ... ... ... 121 304. Cincia e F ... ... ... ... 123 239 305. Conhecimento, intuitivo e douti-!na da substncia ... 128 306. O ser e Deus ... ... ... ... 134 307. O Homem ... ... ... ... ... 140 Nota bibliogrfica ... ... ... 146 ... ...
XXI-A POLMICA TEGLOGICA E POLTTICA NA PRIMEIRA METADE DO SCULO XIV 149 308. Sinais precursGres da dissoluo escolstica ... ... ... ... ... 149 309. Durand de SaintPourain ... 150 310. Pedro Aurolo ... ... ... ... 153 311. A escola escotista, ... ... ... 154 312. Os ltimos ... ... ... ... ... ...
averroistas medievais .. . ... ... ... ... ... 157 313. Marslio de Pdua e a Filosofia Jurdico-Poltica da Idade Mdia ... ... 166 XX11-GUILHERME DE OCCAM 314. A liberdade de investigao ... ... ... ... ... 171 240 316. A doutrina do conhedmento intuitivo ... ... ... ... ... 173 317. A Lgica ... ... ... ... ... 178 318. A dissoluo do problema esco1 @stico ... ... ... ... ... ... 182 160 Nota bibliogrfica ... ... ... 169 ... 169 315. Vida e Obra ...
319. A critica da metafsica tradiciona,1 ... ... ... ... ... ... 186
320. Preldios nova fisioa ... ... 189 321. A Antropologia, ... ... ... ... 192 322. O pensamento po211tico ... ... 197 Nota bibliogrfica xxIII -o OCCAMISMO ... ... ... 200 ... ... ... ... ... 203
323. Caractersticas da escolstica fina,1 ... ... .. . ... ... ... 203 204
324. Primeiros discpulos de Occam 325. O naturalismo na escola occa-
mista ... ... ... ... ... ... 208 326. Os "calculadores" de Oxford ... 212 327. A esco'a occamista. ... ... ... 217 Nota bibliogrfica 241 xxIv - O MISTICISMO ALEMAo --- --- ... 223 328. Caracterstica do misticismo 329. alemo ... ... ... .. .-- 223 330. Mestre Dietrich ... ... ... ... 224 331. Mestre Eckhart ... ... 226 ... ... ... 220
-A mstica alem ... ... Nota bibliogrfica 23,5 242
232
Composto e Impresso para a EDITORIAL PRESENA na Tipografia Nunes Porto 14
Histria da Filosofia Quinto volume Nicola A bbagnano DIGITALIZAO E ARRANJO: NGELO MIGUEL ABRANTES. HISTRIA DA FILOSOFIA VOLUME V TRADUO DE: NUNO VALADAS ANTNIO RAMOS ROSA CAPA DE: J. C. COMPOSIO E IMPRESSO TIPOGRAFIA NUNES R. Jos Falco, 57-Porto EDITORIAL PRESENA - Lisboa 1970 TTULO ORIGINAL STORIA DELLA FILOSOFIA Copyright by NICOLA ABBAGNANO Reservados todos os direitos para a lngua portuguesa EDITORIAL PRESENA, LDA. - R. Augusto Gil, 2 cIE. - Lisboa QUARTA PARTE A FILOSOFIA DO RENASCIMENTO RENASCIMENTO E HUMANISMO 332. RENASCIMENTO E HUMANISMO: O PROBLEMA HISTORIOGRFICO Escritores, historiadores, moralistas e polticos, todos esto de acordo em que se teria verificado na Itlia, a partir da segunda metade do sculo XIV, uma mudana radical na atitude dos homens perante o mundo e a vida. Convencidos como esto do incio de uma poca nova, constituindo uma ruptura radical com o mundo medieval, procuram explicar a si mesmos o significado dessa mudana. Esse significado, atribuem-no ento renascena de um esprito que j fora prprio do homem na poca clssica e se perdera durante a Idade Mdia: um esprito de liberdade, pelo qual o homem reivindica a sua autonomia de ser racional e se reconhece como intimamente ligado natureza e histria, apresentando-se resolvido a fazer de ambas o seu reino. Uma tal renascena , no ponto de vista desses escritores, um regresso antiguidade, uma reaquisio de capacidades e poderes que os antigos (isto , os Gregos e
os Latinos) tinham possudo e exercitado. Este regresso porm, no consiste numa mera repetio do antigo mas numa retomada e consequente continuao daquilo que pelo mundo antigo fora realizado. Tais princpios so expressos, de uma forma ou de outra, por inmeras figuras do Renascimento italiano; pode mesmo dizer-se que a cada nova descoberta de matria documental nos apercebemos melhor at que ponto eles foram partilhados pelos escritores e vultos notveis da poca. Estes testemunhos aparecem-nos confirmados por imponentes fenmenos culturais: o nascimento de uma nova arte, magnfica pela variedade e pelo valor das suas manifestaes, de uma nova concepo do mundo, de uma cincia que nos sculos seguintes e mesmo at ao momento presente deveria dar notveis frutos e de uma nova maneira de compreender a histria, a poltica e, em geral, as relaes dos homens uns com os outros. Assim, tais testemunhos foram durante muito tempo tomados letra, servindo de base ao estabelecimento dos perodos histricos da civilizao ocidental. A historiografia filosfica no se limitou porm, nem poderia faz-lo a aceitar o contraste que os prprios humanistas quiseram estabelecer entre a sua poca e a Idade Mdia. Se verdade que uma parte dos historigrafos aceitou esse contraste como fio condutor para a interpreta10 o das doutrinas e figuras que se apresentam em primeiro plano no sculo XV, no menos certo que uma outra parte se deu pelo contrrio ao trabalho de salientar a continuidade que, apesar de tudo, subsiste entre aquele sculo e os que o precederam. Tem-se j hoje como certo que no possvel, do ponto de vista da exactido histrica, basear a interpretao do humanismo e do Renascimento na existncia de uma anttese entre o "homem medieval" e o "Homem do Renascimento". No possvel considerar o Renascimento meramente como a afirmao da imanncia em contraste com a transcendncia. medieval ou da irreligiosidade, do paganismo, do individualismo, do sensualismo e do cepticismo em contraposio religiosidade, ao universalismo, ao espiritualismo e ao dogmatismo da Idade Mdia. No faltam e at abundam no Renascimento motivos francamente religiosos, afirmaes enrgicas de transcendncia e certas retomadas de elementos cristos e dogmticos; muitas vezes esses motivos e elementos aparecem entrelaados com elementos e motivos opostos, formando sistemas complexos cujo centro de gravidade e sentido completo so difceis de determinar. Difcil pois a compreenso das polmicas que agitam a vida cultural do Renascimento: a que, em nome da eloquncia e da antiga sabedoria clssica, os humanistas travaram contra a cincia e a cultura, oposta, que os partidrios da cincia travaram contra a eloquncia; a que lanou platnicos contra aristotlico e a que se desenrolou no prprio seio do aristotelismo entre alexandristas e 11 averrostas. evidente que nenhuma destas posies polmicas representa por si s o Renascimento, e por conseguinte no se pode ver neste apenas a revolta da sabedoria e da eloquncia, nem a da cincia contra a eloquncia, nem as reivindicaes do platonismo contra o aristotelismo medieval, nem a desforra do aristotelismo cientfico sobre a transcendncia platonizante. A primeira exigncia a fazer a de que o Renascimento seja entendido na sua totalidade pois s assim se poder conhecer o terreno comum no qual nascem e se radicam as vrias e opostas teses polmicas.
333. O HUMANISMO A primeira destas polmicas, travada entre a sabedoria clssica e a cincia, s vezes apresentada como a anttese entre humanismo e renascimento. Uma vez que a irrupo do Renascimento marcada pelo aparecimento das novas cincias naturais, a polmica contra a cincia, iniciada por Petrarca, tem sido interpretada como constituindo a defesa da transcendncia religiosa e da sabedoria revelada contra a liberdade de investigao cientfica. Acontece porm que a defesa da sabedoria clssica, inspirada na convico (que uma herana deixada pela Patrstica) da existncia de um perfeito acordo da mesma com a verdade revelada do cristianismo muito mais antiga do que o Renascimento e nunca chegou a ser totalmente abandonada pela Escolstica; o humanismo seria assim a 12 fora que combate e retarda o advento do verdadeiro esprito renascentista, o qual, como reivindicao da liberdade de investigao, seria par sua vez a continuao do aristotelismo e do averrosmo medievais. Humanismo e Renascimento constituiriam assim, na sua anttese, claras atitudes do esprito medieval, o que, se nos permite a compreenso da continuidade histrica que deve existir entre a Idade Mdia e a Moderna, afasta toda e qualquer possibilidade de entendermos a originalidade e o valor do Renascimento, ao estabelecer os pressupostos do pensamento moderno. A interpretao histrica do Renascimento, se, por um lado, vem esbater a contraposio polmica do mesmo Idade Mdia, vem por outro, fazer luz sobre aqueles aspectos que caracterizam suficientemente a sua configurao doutrinal. E do entre os aspectos mais importantes, sob este ponto de vista, podemos enunciar os seguintes: 1) - a descoberta da historicidade do mundo humano; 2) - a descoberta do valor do homem e da sua natureza mundana (natural e histrica); 3) - a tolerncia religiosa. 1) - O humanismo renascentista no consiste apenas no amor e no estudo da sabedoria clssica e na demonstrao da sua concordncia fundamental com a verdade crist mas sim e antes de mais na vontade de reconstruir uma tal sabedoria na sua forma autntica, procurando compreend-la na sua realidade histrica efectiva. com o humanismo que surge pela primeira vez a exigncia do reconhecimento da dimenso histrica dos acontecimen13 tos. A Idade Mdia tinha ignorado por completo tal dimenso. certo que j ento se conhecia o se utilizava a cultura clssica; esta era porm assimilada poca e tornada contempornea. Factos, figuras e doutrinas no possuam para os escritores da Idade Mdia uma fisionomia bem definida, individualizada e irrepetvel: o seu mrito residia apenas na validade que lhes pudesse ser reconhecida relativamente ao universo de raciocnios no qual se moviam os ditos escritores. Sob este ponto de vista eram inteis a geografia e a cronologia como instrumentos de averiguao histrica. Todas essas figuras e doutrinas se moviam numa esfera intemporal que no era outra seno a delineada pelos interesses fundamentais da poca, apresentando-se por isso como contemporneas dessa mesma
esfera. Com o seu interesse pelo antigo, pelo antigo autntico e no por aquele que vinha sendo transmitido atravs de uma tradio deformante o humanismo renascentista concebe pela primeira vez a realidade da perspectiva histrica, isto , da separao e da contraposio do objecto histrico, relativamente ao presentehistoriogrfico. Andam em polmica no Renascimento, platnicos e aristotlicos; porm, o seu interesse comum reside na descoberta do verdadeiro Plato ou do verdadeiro Aristteles, quer dizer, da doutrina autntica dos troncos do seu pensamento, no deformada nem disfarada pelos "brbaros" medievais. A exigncia filosfica no um mero aspecto formal ou acidental do humanismo, mas sim um seu elemento 14 essencial. A necessidade de descobrir os depoimentos e de os reconstituir na sua forma autntica, estudando e cotejando os manuscritos, acompanhada pela necessidade de neles buscar o seu contedo autntico em matria de poesia e de verdade filosfica ou religiosa. Sem investigao filolgica no h propriamente humanismo pois apenas existe uma posio genrica de defesa da cultura clssica, a qual pode ser encontrada em toda e qualquer poca e por conseguinte no caracterstica de nenhuma em particular. A defesa da eloquncia clssica a defesa da linguagem autntica do classicismo contra a deformao sofrida durante a Idade Mdia e simultaneamente uma tentativa de reconstituio da sua forma original. A descoberta de falsificaes documentais e de falsas autores, e a tentativa de integrao de escritores e filsofos no seu prprio mundo, na sua prpria distncia cronolgica, so os aspectos fundamentais do carcter historicista do humanismo. No restam dvidas de que o humanismo, no tocante a resultados, s parcial e imperfeitamente levou a cabo esta sua tarefa de restaurao histrica; trata-se alis de tarefa que nunca se esgota e se apresenta sempre em primeiro lugar aos historigrafos. Todavia foi o humanismo quem se apercebeu do valor desta tarefa, iniciando-a e deixando-a em herana cultura moderna. O iluminismo de setecentos constitui seguidamente um passo decisivo nesse caminho, do qual nasceu por sua vez a investigao historiogrfica moderna. 15 Nunca ser demasiada a importncia que se der a este aspecto do Renascimento. A perspectiva historiogrfica torna possvel distinguir o passado do presente e por conseguinte torna tambm possveis o reconhecimento da natureza diferente e prpria do passado e a pesquisa das caractersticas e condies determinantes de uma tal individualidade e irrepetibilidade. Por ltimo, d-nos ainda a conscincia da originalidade do passado em confronto connosco e a da nossa originalidade ao passado. A descoberta da perspectiva histrica est para o tempo, como a descoberta da perspectiva visual, conseguida pela pintura do Renascimento, est para o espao: consiste na possibilidade de nos apercebermos da distncia que vai de
um objecto a outro e de qualquer deles ao observador. por conseguinte a possibilidade de os entendermos na sua real localizao, na sua diferena relativamente aos demais e na sua individualidade autntica. O significado da personalidade humana, com centro original e autnomo de organizao dos vrios aspectos da vida, condicionado pela perspectiva, nesta acepo. A importncia que o mundo moderno atribui personalidade humana o resultado de um propsito atingido pela primeira vez pelo humanismo renascentista. 2 -Quando se diz que o humanismo renascentista descobriu ou redescobriu "o valor do homem", quer com isso dizer-se que reconheceu o valor do homem como ser terrestre ou mundano, inserido no mundo da natureza e da histria, capaz de nele forjar o prprio destino. O homem a quem se 16 reconhece um tal valor um ser racional e finito, cuja integrao na natureza e na sociedade no constitui condenao nem exlio mas antes um instrumento de liberdade o que por essa razo pode obter no meio da natureza, e entre os homens a sua formao e a sua felicidade. Este reconhecimento no , indubitavelmente, mais do que a expresso filosfica ou conceitual (alcanada com atraso, como frequentemente acontece) de capacidades e poderes que o homem se arrogava havia j alguns sculos e que j exercera e continuava exercendo nas cidades que constituram o bero do humanismo. A experincia humana em que este se apoia dera j frutos no campo da economia, da poltica o da arte, o que explica a conexo geogrfica do humanismo com as grandes cidades e particularmente com aquelas em que (como Florena) o exerccio das novas actividades poltico-econmicas fora e continuava a ser mais livre e amadurecido. Vimos no volume anterior desta Histria, como j no domnio da prpria Escolstica, a partir do sculo XI, o homem reivindica uma autonomia cada vez maior da razo, isto , da sua iniciativa inteligente, face s instituies tpicas do mundo medieval (a igreja, o imprio o feudalismo) que tinham tendncia para apresentar como dimanados do Cu todos os bens de que ele podia dispor. No humanismo renascentista, porm, esta autonomia aparece-nos afirmada e reconhecida de modo mais radical, como capacidade do homem para planear a sua prpria existncia individual ligada histria e natureza. 17 claro que, se entender como naturalismo a tese segundo a qual para alm da histria e da natureza nada existe, no se poder na verdade dizer que o humanismo e o Renascimento tenham conhecido o naturalismo; porm, se se entender como naturalismo a tese segundo a qual o homem est radicado na natureza e na sociedade e s desses dois elementos poder obter os meios necessrios sua prpria, realizao, um tal naturalismo foi caracterstico de todos os escritores da poca, os quais, se bem que exaltem a "alma" do homem como sujeito relativamente aos prprios poderes da liberdade, no esquecem por isso o corpo nem aquilo que ao corpo pertence. A averso ao ascetismo medieval, o reconhecimento do valor do prazer e a apreciao do epicurismo sob um novo prisma so as manifestaes mais evidentes deste naturalismo humanista. Ligado a ele aparece-nos tambm o reconhecimento da existncia de um vnculo que liga o homem comunidade humana; este um tema especialmente escolhido pelos humanistas florentinos os quais participaram
activamente na, vida poltica da sua cidade. Segundo este ponto de vista, exalta-se a vida activa em contraposio especulativa e a filosofia moral em contraposio fsica e metafsica. A Poltica de Aristteles estudada com renovado interesse e o seu autor elogiado por ter reconhecido o valor do dinheiro como coisa indispensvel vida e conservao do indivduo e da sociedade. Reconhecia-se assim poesia, histria, eloquncia e filosofia um valor essencial; atendendo ao que o homem e verdadeira 18 mente deve ser; retomava o seu inteiro valor aquele conceito de paideia ou humanitas que j no tempo de Ccero e de Varro exprimia o ideal da formao humana como tal, ideal este que s se poder identificar por intermdio daquelas artes prprias do homem e que o distinguem de todos os outros animais (Aulo Gellio, Noct. att., XIII, 17). 3)-Finalmente, fazem tambm parte do humanismo renascentista a concepo civil da religio e o conceito da tolerncia religiosa. A funo civil da religio encontra-se na fundamentao da correlao entre cidade celeste e cidade terrena: a cidade terrena dever, na medida do possvel, realizar a harmonia e a felicidade que so caractersticas da cidade celeste. A harmonia e a felicidade pressupem, por sua vez, a paz religiosa. O ideal da paz religiosa a for-ma tomada pela exigncia da tolerncia religiosa, no humanismo e no Renascimento. Os humanistas esto convencidos da identidade essencial entre filosofia e religio e da unidade de todas as religies, no obstante a diversidade dos respectivos cultos. Como bvio, este ideal tem de ser entendido como privando a intolerncia de toda e qualquer base pois na verdade a crena na possibilidade de uma "paz" no sentido em que, por exemplo, Pico della Mirandola emprega este termo, significa a renncia aos contrastes insuperveis e luta entre religio e filosofia por um lado e entre as vrias religies e as vrias filosofias por outro, bem como o fim do dio teolgico. Cada poca vive de uma tradio e de uma herana cultural das quais fazem parte os valores 19 fundamentais que inspiram as suas atitudes. Esta tradio, porm, especialmente nas pocas de transio e renovao, nunca consiste em herana passiva ou automaticamente transmitida mas sim na escolha de uma herana. Os humanistas rejeitaram a herana medieval e escolheram a do mundo clssico como sendo aquela que achavam constituda pelos valores fundamentais que lhes eram mais caros. O que lhes interessava era fazer reviver a mencionada herana como instrumento de educao, ou seja, de formao humana e social. A primazia que concederam s chamadas letras humanas, isto , poesia, retrica, histria, moral e poltica, fundava-se na convico, igualmente herdada dos antigos, de que estas disciplinas so as nicas que educam o homem como tal, levando-o a tomar conscincia das suas reais aptides. Esta convico poder talvez, nos nossos dias, considerar-se demasiado estreita mas o que no pode ser
encarada como preconceito de literatos. As letras humanas no constituam para os humanistas campo prprio para exerccios brilhantes mas inteis, nem ornamento fabuloso destinado ostentao nos crculos da alta sociedade. Constituam sim o nico instrumento que conheciam, apto a formar homens ,livres, dignos e empenhados em construir um mundo justo e feliz. No h dvida que o humanismo (como todos os outros perodos da histria do Ocidente) conheceu tambm o prazer do exerccio literrio, a elegncia da investigao meramente erudita e a tentao de esconder, sob os mritos formais da linguagem, das artes ou da literatura, a carncia 20 de um srio e profcuo interesse humano. igualmente indubitvel que estes sintomas de deteriorao prevaleceram ou se tomaram mais evidentes no sculo XVII, quando a decadncia poltica e civil da Itlia tomou quase impossvel o exerccio daquelas actividades que os humanistas dos sculos anteriores tinham exaltado no mundo antigo. Entretanto, porm, o humanismo renascentista italiano dera j os seus frutos da Itlia e mesmo nesta, o novo esprito de iniciativa e liberdade que o Renascimento tinha suscitado dava igualmente seus frutos no campo da cincia. 334. O RENASCIMENTO Os estudos filolgicos mais recentes (Hdebrand, Walser, Burdach) estabeleceram para alm de toda e qualquer dvida a origem religiosa do termo e do conceito de renascimento. Renascena uma segunda nascena, a nascena do homem novo ou espiritual de que falam o Evangelho segundo S. Joo e as Epstolas de S. Paulo ( 130-31). Termo e conceito mantm-se durante toda a Idade Mdia com o significado de regresso do homem a Deus e vida que lhe fugiu aps a queda de Ado. O Renascimento uma renascena do homem neste mesmo sentido de renovao; esta renovao porm no consiste j numa transcendncia dos limites da natureza humana, numa existncia de pura e exclusiva ligao com Deus, mas sim numa verdadeira renovao do homem na sua capacidade e nas suas 21 relaes com os outros homens, com o mundo e com Deus. Uma renascena em Deus, entendida como uma nova e mais genuna acepo das relaes do homem com Deus, longo de ser excluda desta renovao, at considerada como a sua condio primordial, embora no fique assim esgotado o sentido da renascena, pois esta reporta-se ao mundo do homem na sua totalidade: sua actividade prtica, sua arte, sua poesia e sua vida em sociedade. A renascena do homem no o nascimento para uma vida diferente e super-humana, mas sim o nascimento para uma vida verdadeiramente humana porque baseada naquilo que o homem tem de mais seu: as artes, a instruo e a investigao, que fazem dele um ser diferente de todos os outros que existem na natureza e o tomam na verdade semelhante a Deus, restituindo-o assim condio de que decara. O significado religioso de renascena identifica-se com o mundano: o fim ltimo da renascena o prprio homem. O seu instrumento essencial o retorno aos
antigos que tambm entendido como um regresso ao princpio, ou seja, como um retorno ao que d vida e fora a todas as coisas e de que depende a conservao e o aperfeioamento de todos os seres. O regresso ao princpio ora um conceito neoplatnico e por isso no admira que tenha sido sobretudo teorizado pelos Platnicos do Renascimento (Ficino, Pico). Foi todavia expressamente defendido tambm por certos filsofos naturalistas (Bruno, Campanella) e por Maquiavel; este ltimo afirma que o regresso s origens constitui o nico modo possvel de reno22 vao das comunidades que s assim fugiro decadncia e runa pois, segundo ele, todas as origens tm em si uma corta bondade pela qual as coisas retomaro a sua vitalidade e a sua primitiva fora. No neoplatonismo antigo o regresso ao princpio ora um conceito declaradamente religioso. O princpio Deus e o regresso a Deus o cumprimento do verdadeiro destino do homem e consiste na reproduo em sentido inverso do processo da criao pelo qual os seres se desprenderam de Deus, num voltar a subir a ladeira, numa tendncia para a identificao com Deus. Este significado religioso no estranho aos escritores do Renascimento; os Neoplatnicos, sobretudo, repetem-no e fazem-no seu. Porm o regresso s origens assume tambm no Renascimento um significado histrico e humano, segundo o qual o "princpio" a que se deve regressar no Deus e sim a origem terrena do homem e do mundo humano. sem dvida neste sentido que Maquiavel falava do "regresso s origens" como modo de renovao das comunidades humanas. Alis o prprio Pico, della Mirandola admite (em De ente et uno), ao lado do regresso ao princpio absoluto, isto , a si mesmo, consistindo nisto a sua felicidade terrena. Ora este regresso do homem ao seu princpio , substancialmente, regresso quilo que o homem foi, ou seja ao seu longnquo, mas mais autntico, passado, s origens da sua histria. Como bvio, as origens da histria humana esto para alm do mundo clssico, para o qual olham sobretudo os escritores do Renascimento os quais, porm, sustentam que foi no mundo clssico que o exerccio 23 daquelas faculdades que desde a origem asseguraram ao homem um lugar privilegiado no mundo, encontrou a sua expresso amadurecida e perfeita. Por esta razo o Renascimento pde acrescentar ao conceito da verdade como filia temporis o da continuidade da histria atravs da qual o homem melhora e amplia as suas faculdades e que por isso permite aos modernos verem mais longe que os antigos, tal como acontece ao ano empoleirado nos ombros do gigante. Por meio do regresso antiguidade clssica, que ao mesmo tempo regresso do homem a si prprio, vai tendo lentamente lugar a conquista da personalidade humana. Esta conquista condicionada pela conscincia da prpria originalidade relativamente aos outros, ao mundo e a Deus. A descoberta da historicidade e a investigao filolgica, fornecem ao homem o sentido da sua prpria originalidade quanto aos outros, quanto queles mesmos exemplares da humanidade que tinham vivido no passado. O regresso da arte natureza e a reduo desta objectividade (de onde nasceu a cincia), realam a originalidade do homem face prpria natureza de que faz parte e contribuem deste modo
para a formao do sentido e do conceito da personalidade humana. Finalmente, a confirmao da transcendncia divina pela qual o Renascimento se liga nova e directamente especulao crist da Idade Mdia, acentuando a separao entre o homem e Deus, vem acentuar ainda mais o carcter original do homem e a irredutibilidade da sua situao de qualquer outro ser, quer seja supe24 rior, quer inferior. Resulta daqui a funo mediadora. e central que atribuda ao homem como "cpula do mundo> (Ficino, Pico, Bovilo, Pomponazzi), como n da criao, no qual encontram a sua unidade e o seu equilbrio os vrios aspectos da mesma. Daqui resultam tambm a afirmao da liberdade humana e as discusses em torno das relaes desta com a ordem providencial do mundo. Resultam ainda as anlises da fortuna ou do acaso, aos quais se no pretende sacrificar o poder decisivo da vontade que se afirma dominadora de ambos. Resulta finalmente o, reconhecimento da origem humana dos estados, fruto da habilidade e da perspiccia dos polticos. 335. RENASCIMENTO: AS ORIGENS DA CINCIA EXPERIMENTAL Com o reconhecimento do carcter essencial e determinante das relaes entre o homem e a natureza, o humanismo estabeleceu a premissa fundamental da investigao experimental moderna. Tem-se insistido muito, nestes ltimos tempos, na importncia da contribuio dada pelos Escolsticos de Trezentos formao da cincia moderna, atravs da crtica de teorias aristotlicas fundamentais, como a do movimento dos astros e projcteis (325). Confrontando esta contribuio com a hostilidade que os humanistas manifestam contra o fsico Aristteles e, em geral, contra as especulaes fsicas e metafsicas dos Escolsticos, somos 25 levados a concluir, que o desenvolvimento da cincia moderna est mais ligado ao aristotelismo tradicional do que ao humanismo renascentista. Vimos j, porm, como a averso ao fsico Aristteles e a preferncia dada ao Aristteles moralista constitua para os humanistas um motivo polmico que tinha por objectivo acentuar a importncia que pretendiam atribuir queles ramos da cincia do esprito, considerados indispensveis direco da vida activa do homem. Este motivo polmico no implicava a averso natureza ou sua investigao e observao directas que j a arte do Renascimento to estreitamente ligada ao movimento humanstico considerava como seu fundamento, guia e ideal. Acontece que a investigao cientfica, tal como se revelou nas invenes de Leonardo e na obra de Galileu ora uma investigao baseada na observao e na experincia. E a observao e a experincia no so coisas que possam limitar-se a ser anunciadas e programadas tm que se empreender e levar efectivamente a cabo. No podem porm empreender-se nem levar-se a cabo se no se apoiarem num interesse vital, interesse este que s pode ser constitudo pela convico de que o
homem se encontra firmemente implantado no mundo da natureza e de que as suas faculdades cognoscitivas mais eficazes e adequadas, so precisamente aquelas que derivam das suas relaes com a natureza. Quando Galileu punha, ao lado dos raciocnios matemticos, a "experincia, sensata" como a nica fonte restante do conhecimento, estava claramente a indicar a mudana de direco que 26 existe na base do empenhamento experimental da cincia moderna. J antes dele, Bernardino Telsio, embora sem se empenhar em trabalhos de investigao, afirmara em De rerum natura juxta propria principia que os princpios prprios do mundo natural e os nicos capazes de o explicar, so os princpios sensveis, enunciando a equao entre "o que a prpria natureza revela" e "o que os sentidos do a perceber". O recurso experincia sensvel, interrogando-a e obrigando-a a falar o nico caminho que, segundo esta opinio, conduz explicao da natureza pela natureza, ou seja, aquele que no lana mo de princpios estranhos prpria natureza. Esta autonomia do mundo natural, que pressuposto de toda e qualquer investigao experimental, um aspecto da atitude humanstica, ao procurar entender cada coisa nos seus elementos constitutivos e no seu valor intrnseco. Assirn, e de uma forma geral pode dizer-se que o Renascimento criou as condies necessrias ao desenvolvimento de uma investigao experimental da natureza, estabelecendo designadamente: 1) - Que o homem no um hspede provisrio da natureza mas sim ele prprio um ser natural, cuja ptria a natureza; 2) -- Que, o homem como ser natural, possui tanto o -interesse como a capacidade de conhecer a natureza; 3) - Que a natureza s pode ser interrogada e compreendida por meio dos instrumentos que ela prpria fornece ao homem. 27 Trata-se aqui, obviamente, de condies gerais mas no determinantes e que portanto no poJem considerar-se a origem de todos os caracteres de que a cincia moderna se apresenta composta nos seus primrdios. Estes caracteres determinam por sua vez outros factores, estes porm, ainda e sobretudo pertencentes ao humanismo renascentista. O primeiro consiste precisamente no j citado "regresso ao antigo" que a tendncia peculiar do humanismo. O regresso ao antigo produziu a revivescncia de doutrinas e textos desprezados durante sculos, como por exemplo as doutrinas heliocntricas dos Pitagricos, as obras de Arquimedes, dos gegrafos, dos astrnomos e dos mdicos da antiguidade. Os velhos textos forneceram com frequncia a inspirao ou o motivo para novas descobertas, como aconteceu sobretudo com Arquimedes, no qual amide se inspirou Galileu. Por outro lado, o aristotelismo renascentista, ao mesmo tempo que dava origem a uma nova e mais livre leitura de Aristteles, ia elaborando eficazmente, em polmica com as concepes teolgico-r-liracu-listas, o conceito de uma ordem natural imutvel e necessria, baseada na srie causal dos eventos. Este conceito passou a constituir o esquema geral da investigao cientfica. A magia, posta em evidncia pelo Renascimento, uma vez aceite e difundida, contribui para determinar o carcter activo e operativo da cincia
moderna, o qual consiste no domnio e na sujeio das foras naturais com o fim de as colocar ao servio do homem. Por ltimo, a cincia derivava ainda do platonismo e 28 do pitagorismo antigos o seu outro pressuposto fundamental, sobre o qual insistem igualmente Leonardo, Coprnico e Galileu: a natureza apresenta-se escrita em caracteres matemticos e a sua linguagem prpria a da matemtica. A todos estes factores que, com importncia diversa e de modos diferentes, condicionam os primrdios da cincia experimental na Europa, o Renascimento est, directa ou indirectamente, ligado neste ou naquele dos seus aspectos essenciais. Entre estes factores podem e devem certamente incluir-se as crticas que os Escolsticos de Trezentos (Occam, Buridan, Alberto da Saxnia, Nicolau Oresmo) tinham formulado contra alguns dos pontos fundamentais da fsica aristotlica. Essas crticas provm ( preciso no o esquecer) da orientao emprica que Occam fizera prevalecer na ltima Escolstica, quando, pela reconhecida impossibilidade de interpretar e defender as verdades teolgicas, a filosofia ficara disponvel para outros fins e interesses. O valor de tais crticas deriva portanto, no do facto de se situarem adentro do aristotelismo tradicional mas antes do de serem antiaristotlicas e de constiturem a primeira manifestao daquela revolta do aristotelismo que, na segunda metade do mesmo sculo e no sculo seguinte deu origem ao humanismo. Constituem portanto, no a unio do aristotelismo com a cincia, mas, antes pelo contrrio, a primeira ruptura da frente aristotlica tradicional. Ao aristotelismo de Trezentos (como a boa parte do renascentismo) faltava todavia aquele reco29 nhecimento da naturalidade do homem e dos seus meios de conhecimento, o qual condio indispensvel de todo e qualquer estudo experimental da natureza. Sob este aspecto o aristotelismo no podia fornecer cincia qualquer impulso ou razo de vida. S a revoluo humanstica pde realizar a mudana radical de perspectiva da qual nasceu a investigao cientfica e a nova concepo do mundo. Esta concepo, para a qual contriburam igualmente platnicos como Cusano e Ficino, filsofos naturalistas como Telsio e Bruno e cientistas como Coprnico e Galileu, (,no o esqueamos) precisamente a anttese da cone-opo aristotlica. O mundo no um conjunto finito e concludo, mas antes um todo infinito e aberto em todas as direces. A sua ordem no final mas sim causal; no consiste na perfeio do todo e das partes e sim na concatenao necessria dos eventos. O homem no o principal ser visado pela teleologia do universo e cujo destino estaria pois confiado a essa teleologia, mas sim um ser natural entre os outros, que tem a mais a faculdade de planear e realizar o prprio destino. O conhecimento humano do mundo no um sistema fixo e concludo mas sim o resultado de tentativas sempre renovadas e que devem ser continuamente submetidas a verificao. O instrumento desse conhecimento no uma razo supermundana e infalvel mas um conjunto de poderes naturais falveis e corrigveis. So estes os traos gerais da concepo que ainda permanece na base da nossa cincia e da nossa civilizao. 30
336. RENASCIMENTO: DANTE O primeiro anncio da renascena aparece com Dante Alighieri. Toda a sua cultura medieval e escolstica. O seu pensamento filosfico oscila entre S. Tom s e Sigieri de Brabante-ao qual, apesar da condenao eclesistica, exaltou no Paraso-e o seu esprito alimenta-se dos textos e das discusses que imperavam nas escolas. A sua obra potica, porm, vive um clima novo e anuncia os aspectos fundamentais do Renascimento. J a poesia autobiogrfica da Vida Nova no mais do que a anlise e expresso potica da renovao sofrida pelo poeta, sob o impulso espiritualizante do amor. Precisamente por causa desta renovao nasce o poeta para a sua arte e torna-se capaz de escrever poesia segundo o "doce estilo novo", por conseguinte no atravs duma fria elaborao doutrinal, mas por inspirao do amor que o leva a falar como lhe dita o seu ntimo. (Purg., 24, 49 e segs.). Na Comdia, porm, a ideia de renovao alarga-se e aprofunda-se, abrangendo a prpria pessoa do poeta e o seu destino individual, a renovao de tudo que o rodeia, bem como da religio e da arte, da igreja e do estado. Aparentemente, a Comdia a viso proftica da viagem de Dante atravs dos trs reinos transmundanos, viagem pela qual o poeta, aps ter conhecido os abismos da culpa e do pecado se afasta penosamente do mal, subindo a montanha do Purgatrio at atingir no cume desta o Paraso ,terrestre e consequentemente o esquecimento do pecado e a renovao total da sua alma, simboli31 zados pela aco purificadora das guas do Lete e do Euno. Toma-se assim digno de iniciar a ltima parte da viagem pelas esferas celestes, at ao limiar do mistrio divino. Mas o fim da ~ dantesca no o de descrever a preparao da alma de Dante para a vida extra-terrena mas sim o de promover a renovao do mundo ao qual pertence o homem, Dante. O prprio Dante afirma na carta em que dedicou o Paraso a Cangrande della Scala, que a finalidade do poema a de "apartar os que vivem nesta vida do estado de misria, conduzindo-os a um estado de felicidade" (Ep., XHI, 15). A viagem transmundana de Dante a de um homem vivo que deve regressar para junto dos vivos e a revelar a sua viso. precisamente da revelao da sua viso e por conseguinte da participao na mesma de todos os homens de boa vontade, os quais podero, servindo-se do magistrio artstico do poeta, refazer com ele a viagem e com ele se renovar, que Dante espera a renascena do mundo seu contemporneo. Esta renascena por ele esperada, um regresso s origens. "0 supremo desejo de todas as coisas", escreve em Convvio (IV, 12, 14), "e o primeiro que da natureza resulta, o de regressar sua origem". A igreja dever renovar-se, regressando sua primitiva austeridade, segundo a admoestao e o exemplo dos seus dois grandes reformadores, S. Domingos e S. Francisco. O estado dever regressar paz, liberdade e justia que eram o
seu apangio na ora de Augusto, renovando-se assim no regresso concepo imperial de Roma. 32 Mas precisamente porque a inteno de Dante visa o outro mundo para depois regressar a este e promover a sua renascena, a obra do poeta rica de uma realidade humana, na qual os smbolos e as alegorias acham a carne, e o sangue que lhes do vida. A natureza da arte de Dante determinada pelo propsito de renovao, da qual o poeta a considera instrumento. Precisamente porque essa renovao deve tirar os homens da sua misria e conduzi-los renascena num mundo renovado, que os homens figuram no poema dantesco no como smbolos ou esquemas conceituais (ainda que s vezes ali apaream com esta funo) mas antes com a sua realidade humana, os seus ~os, as suas paixes e a sua aspirao ao divino. impossvel separar no poema de Dante o contedo doutrinal as alegorias e os smbolos, da forma potica, na qual aqueles encontram a prpria realidade artstica. A distino entre forma e contedo impossibilita o entendimento da arte de Dante a qual possui a mesma unidade da personalidade histrica do seu autor. As doutrinas, alegorias e smbolos fazem parte integrante da concepo dantesca de renascena, como dela fazem igualmente parte integrante os homens que devero viv-la e faz-la sua. Dante no se teria preocupado em revestir de carne e ossos os seus smbolos se no o tivesse MOVido uni interesse fundamental, como o de fazer participar os homens e o seu mundo, da renascena por ele prprio sofrida, na sua viagem transmundana. Quanto maior for a corpulncia humana e passional das sombras que pululam nos fossos 33 ;infernais, padecem os tormentos purificadores ou sorriem envoltas na luz do paraso, tanto mais evidente )resultar o apelo renovao e exigncia de renascena para as quais propende o esprito de Dante. No ocaso da Idade Mdia, Dante vem afirmar, com todo o poder da sua arte, a exigncia daquela renovao que deveria ser a palavra de ordem da renascena. 337. RENASCIMENTO: PETRARCA Se Dante se encontra ainda doutrinalmente ligado Idade Mdia, Francisco Petrarca (20 de Julho de 1304-18 de Julho de 1374) j se liberta mesmo doutrinalmente daquele mundo e d incio pleno ao humanismo. A polmica que conduziu contra o averrosmo em De sui ipsius et nzultorum ignorantia (1337-38), assinala precisamente essa libertao. Tal polmica conduzida em nome da velha sabedoria romano-cristo, representada por Ccero e Santo Agostinho, que Petrarca considera fundamentalmente de acordo entre si. A difuso do averrosmo, com o crescente interesse que suscitava pela investigao naturalista, parece a Petrarca desviar perigosamente os homens daquelas artes liberais que so as nicas a poder dar a sabedoria necessria para se alcanar a paz espiritual nesta vida e a eterna beatitude na outra. Quase todos o& conhecimentos que os ditos investigadores naturalistas acabam por atingir, vm a revelar-se falsos luz da experincia; "mas ainda que fossem verdadeiros", acrescenta Petrarca, "de
nada serviriam para 34 a vida beata". A sabedoria clssica e crist, contraposta por Petrarca cincia averrosta, a baseada na meditao interior pela qual se esclarece a si prpria e se forma a personalidade do homem como indivduo. O processo autobiogrfico de Santo Agostinho, continuamente debruado sobre si prprio e para quem no existe problema que no seja o seu prprio e no existe doutrina que no responda a uma sua prpria exigncia pessoal ( 156), o que se apresenta mais prximo do seu esprito e a ele pensa recorrer continuamente. Este processo o adoptado por si na obra (composta entro 1347 e 1353) De contemptu mundi qual chamou tambm Secretum e que em alguns manuscritos se apresenta com o ttulo "0 conflito secreto das suas preocupaes" (De secreto conflictu curarum suarum). um dilogo entre Petrarca e Agostinho, durante o qual o primeiro reporta continuamente ao exemplo e aos ensinamentos do segundo tolas as suas exigncias de ordem espiritual. Esta obra porm, contm alm disso a confisso do conflito interior do poeta, da sua ntima debilidade. Confessase ele vtima daquela acdia (ou acdia) que era a molstia medieval dos conventos e consistia rum doloroso tdio da w;da. A clareza que traz s suas contradies ntimas sintoma que atingiu o sentido da pers-onalidade o qual emerge precisamente dessa clareza. Numa carta famosa (Ep. famil., IV, 1), ao descrever a sua ascenso ao Monte Ventoso, Petrarca narra como, ao chegar ao cume, em vez de se deter na contemplao da majestade do espectculo que se lhe oferecia, abriu as Confisses 35 de Santo Agostinho que frequentemente o acompanhavam nas suas peregrinaes e leu "Os homens contemplam as altas montanhas, as enormes ondas do mar, o largo curso dos rios, o vasto crculo do oceano e os caminhos das estrelasmas esquecem-se de si prprios e a si prprios se encaram sem admirao". Pe ento a advertncia de Santo Agostinho Noli foras ire em relao com o Scito te ipsum de Scrates e reconhece que toda a sabedoria antiga tende concentrao do homem em si prprio, distraindo-o do mundo exterior. A sua vontade, todavia, continua dividida entre a admirao perante, a natureza e a advertncia da sabedoria, no seu esprito lutam o chamamento do mundo e o apelo concentrao interior, luta esta que caracterstica da sua personalidade. esta mesma luta que o leva, por um lado, a afastar-se do mundo, buscando a solido em Valchiusa, e por outro a procurar honras e glria, juntamente com a coroao em Campidoglio. No seu esprito combatem o homem medieval, acorrentado pelo desejo exacerbado da eterna salvao, o qual exige a maior concentrao interior, e o homem moderno, enamorado de Laura, amando a natureza e desejando a glria
e a opulncia. Est porm consciente da contradio existente entre as duas exigncias e precisamente nessa conscincia que reside a novidade da sua personalidade. Procurou ele libertar-se dessa contradio atravs da meditao moral em De reniediis utriusque fortunae. Mas mesmo a, a contradio aparece reconhecida como a lei da vida. "Tudo acontece", diz36 * nos, ",por fora da contradio. Aquilo a que se (l o nome de mudana na verdade luta". E a maior e mais spera luta, a que se trava no prprio homem. "Que cada um se interrogue e responda a si prprio para assim se dar conta at que ponto a sua vontade intimamente contrariada por diversas e contrrias paixes e impelida, ora para c, ora para l, por estmulos vrios e opostos. Jamais se consume ou se apresenta homognea, mas sim interiormente discorde e dilacerada". Donde o pessimismo que domina as meditaes de Petrarca e o leva a afirmar acerca da vida: "A cegueira e o olvido marcam o seu incio, o cansao a sua continuao, a dor o seu termo e o erro todas as coisas". Este pessimismo, porm, no impediu Petrarca de esperar e anunciar a renascena de uma era de paz. Na cano ao Esprito gentil (quer tenha ou no sido dedicada a Cola di Rienzo), manifesta a esperana de que Roma seja novamente chamada " sua antiga viagem" e reencontre o seu antigo esplendor "<.A minha Roma voltar a ser bela"). E noutro passo, no falta a espectativa de uni retorno poca urea do mundo, ou seja era da paz e da justia: De almas belas e amigas da virtude Se vai enchendo o mundo; nele veremos depois Tudo ureo e cheio de obras antigas. A poca urea consiste pois num regresso das "obras antigas", quer dizer, do costume e das artes 37 antigas. E Petrarca contribui para a renascena do antigo com a sua obra de poeta e de historiador: frica, o poema latino do qual esperava a mxima glria, uma exaltao da virtude romana que jamais se considerou separada da justia e da benevolncia; De viris illustribus uma tentativa de reconstruo das grandes figuras histricas da antiguidade, para nelas patentear a sua profunda e essenci humanitas e idntico fim tm os Reruin memorandarum cujo significado o prprio Petrarca esclarece, ao dizer: "Estudarei os exrcitos romanos, perlustrarei o frum e, quer nas legies armadas, quer no tumulto do frum encontrarei espritos pensativos e dados contemplao". 338. HUMANISTAS ITALIANOS: SALUTATI, BRUNI, RAIMONDI, FILELFO Na esteira de Petrarca seguem os humanistas italianos. Coluccio Salutati (1331-1406) que foi durante 30 anos escrivo da senhoria de Florena, apresenta certos traos de semelhana com Petrarca. Coluccio considera estreis, perante a morte, as consolaes aduzidas pelos filsofos. A morte um mal, diz nas Epistolae, embora no seja um mal moral e sim natural, no uma culpa e sim uma pena. um mal para quem morro e um m para os parentes e amigos; e o pior dos males pois consiste na perda do ser. Mesmo que a alma sobreviva, o homem, sendo unidade de corpo e alma 38
anulado pela morte que assim para ele o mal pior. Por conseguinte, o facto de o homem nada poder fazer perante a morte, aumenta e agrava a sua dor em vez de a diminuir. Em face da morte no h pois outra consolao alm da f: s Deus pode conceder ao homem a graa de o fazer suportar a ideia- Aqui, portanto, se por um lado a morte despojada de todos os aspectos consoladores e benficos de que era revestida pela sabedoria antiga e crist, por outro recorre-se pura graa de Deus para obter a designao no inevitvel. uma atitude de intima contradio, j muito remota da medieval. Igualmente remota da concepo medieval a exaltao que Coluccio faz da vida activa relativamente contemplativa. Quem se perdesse na contemplao de Deus a ponto de j no se comover com a infelicidade do prximo, de no se afligir com a morte dos parentes e de no vibrar com a runa da ptria, no seria um homem mas antes um tronco ou uma pedra. Por isso, a verdadeira sabedoria no consiste no puro entendimento mas, antes e sobretudo prudncia, ou seja razo mentora da vida. E num seu tratado, intitulado De nobilitate legum et medicinae, Coluccio afirma que de boa vontade, contanto que lhe deixem a cincia das coisas humanas, abandonar todas as outras verdades aos, que exaltam a especulao pura. Pe tambm as leis, que dizem precisamente respeito aos homens e s suas relaes mtuas, acima da medicina e das cincias naturais em geral, as quais s se ocupam de coisas materiais. Finalmente, tambm caracterstica de 39 Coluccio a afirmao da liberdade humana que julga concilivel. com a ordem infalvel do mundo criado por Deus (De fato, fortinta et cast. Discpulo de Salutati foi Leonardo Bruni, nascido por volta de 1374 e falecido em 1444. Estudou grego com Emanuel Crisolora, o qual, tendo chegado a Florena em 1397, deu aos estudos humansticos, a possibilidade de se porem em contacto directo com o mundo grego na sua lngua original. Bruni traduziu do gre.p para o latim numerosos dilogos platnicos e ainda a tica Nicoinachea, a Econmica e a Poltica, de Aristteles. Escreveu uma Vita Ciceronis e uma Vida de Dante, considerando xealizado nestas duas figuras o ideal do homem douto e sbio que, longe de permanecer alheio vida poltica, nela participa activamente. Na Vita Arstotelis, e em Dialogi ad Petrum Histrum onde se discute o valor comparativo de antigos e modernos bem como em Isagogicon moralis disciplinae, a sua preocupao constante a de demonstrar como as doutrinas morais das mais importantes escolas filosficas da antiguidade (platonismo, aristotelismo, epicurismo, estoicismo) concordam fundamentalmente entre si. E justamente s doutrinas morais que Bruni d o mximo relevo, uma vez que as disciplinas meramente especulativas lhe parecem menos teis para a vida. " A filosofia moral", diz no Isagogicon ", por assim dizer, inteiramente nossa. Por isso aqueles que a descuram, dedicando-se antes fsica, parecem de certo modo ocupar-se de assuntos estranhos, desprezando os pr-
40 prios". Estas palavras de um admirador entusistico e conhecedor directo dos Gregos que to frequentemente afirmavam a superioridade da vida especulativa, so significativas quanto tendncia dos humanistas para a exaltao da vida activa o da participao do homem nos negcios pblicos com vista ao bem comum. Tambm caracterstica a convico de Bruni, segundo a qual os filsofos antigos nada ensinaram que fosse diferente da verdade crist. "Mas se quisesse referir tudo quanto h nos filsofos de concordante com as nossas verdades, creio que suscitaria a admirao de muitos... Ensina Paulo algo mais do que Plato?" A sabedoria antiga, quer crist, quer pag, aparecia aos olhos de Leonardo Bruni como um todo harmnico; por conseguinte o regresso sabedoria clssica justificava-se como uma renascena daquela vida moral que os filsofos antigos haviam conhecido e o cristianismo fizera sua, espalhando-a depois pelo inundo. Os humanistas empenham-se cada vez mais decididamente em considerar e apreciar os aspectos propriamente humanos da vida, ou seja, o que diz respeito ao homem na sua essncia terrestre e activa, ao homem que, antes de atingir a felicidade transmundana, procura conseguir na terra a que for humanamente possvel. Esta compreenso humana do homem, este reconhecimento sem condenao da sua tendncia para a felicidade terrena, antes lhe admitindo a legitimidade e o valor, determina uma nova valorizao do prazer e por conseguinte 41 uma nova apreciao do epicurismo, doutrina para a qual o prazer ora o objectivo da vida. Tom-se agora uma concepo correcta do epicurismo e sabe-se que para Epicuro o prazer no andava separado da virtude mas era, pelo contrrio, por ela condicionado. Por esse motivo Epicuro exaltado como aquele que enunciou uma verdade fundamental da sabedoria prtica do homem. A exaltao de Epicuro encontra-se numa carta de Cosmo Raimondi (cremons, falecido em 1435) para Ambrsio Tignosi. "Epicuro", diz Raimondi, "considerou o prazer como o supremo bem porque perscrutou profundamente as foras da natureza e compreendeu que nascemos e somos formados a partir da natureza, de tal modo que no h nada mais congruente do que possuir ntegros e sos todos os membros do corpo, conservando-os nesse estado, isentos de todo e qualquer mal espiritual ou corporal". A prpria virtude se apresenta subordinada ao prazer, na medida em que no procurada seno porque permite viver prazenteiramente, evitando os prazeres que no convm buscar e buscando os que convm. Idntica defesa do prazer frequentemente encontrada nas cartas de Francisco Filelfo (13981481), o qual insiste na identidade entre a virtude e o prazer e declara que lhe parece "no apenas tolo, mas completamente louco e ftuo aquele que pretende negar o gozo do prazer mais alto, da felicidade e da beatitude, ao homem virtuoso". Este aspecto do humanismo atinge porm a sua expresso mxima com Loureno Valla. 42 339. LOURENO VALLA
Nascido em Roma em 1407, Loureno Valla vagueou por vrias cidades italianas e viveu durante muito tempo na corto de Npoles-, veio a falecer em Roma em 1457. A sua obra mais famosa o De voluptate, um dilogo em trs partes, no qual se defende a tese de que o prazer o nico bem para o homem e se apresenta uma concepo optimista da natureza, que contrasta no s com o estoicismo ao qual aparece polemicamente oposta, mas at mesmo com o ascetismo cristo. O prazer , segundo Valla, o nico fim de toda a actividade humana. As leis que governam as cidades foram elaboradas com um propsito de utilidade, a qual gera o prazer, e todos os governos visam o mesmo fim. As artes liberais, como por exemplo, as que tm por objectivo satisfazer as exigncias necessrias vida, a medicina, a jurisprudncia, a poesia e a oratria, tm todas como fim o prazer, ou pelo menos a utilidade, que o que conduz ao prazer (11, 39). A virtude no seno a escolha dos prazeres: proceder bem aquele que preferir a maior menor vantagem e a menor maior desvantageM (11, 40). At mesmo o cristo s age pelo prazer que todavia para ele , no o terreno e sim o coles- -. Porm e diversamente dos restantes glorificadores do prazer, Loureno Valla no considera este como idntico virtude. No verdade que s o justo seja feL-z, pois, pelo contrrio, a vida nos 43 mostra frequentemente que assim no . Na realidade ao cristo apresenta-se a seguinte alternativa: ou se inchna para o prazer terreno e renuncia ao eterno ou se inclina para este e renuncia quele (111, 9). Mas quem espera os bens eternos no deve gemer, nem sofrer ou acusar Deus porque lhe faltam os terrenos. A renncia do cristo deve ser confiante e jovial, para ser verdadeiramente sincera e total (111, 11). Para Loureno Valla a aceitao desta condio que prpria do homem no mundo, consistindo na conscincia da alternativa que esta condio apresenta. "Compreendo", diz-nos, "de que te lamentas: de no teres nascido imortal, como se a natureza estivesse em dvida para contigo. Se ela no pode dar-te mais, e certo que nem mesmo os pais podem dar tudo a seus filhos, no lhe ests reconhecido pelo que recebeste? Preferirias, certamente, no estar exposto ao risco quotidiano de feridas, mordeduras, venenos e contgios. Mas quem assim fosse, seria imortal e igual natureza e a Deus, ora isto no devemos pedi-lo nem possvel natureza conced-lo". Glorificador da lngua latina, na qual via o sinal da persistente soberania espiritual da Roma antiga aps a runa da sua soberania poltica (Elegantiarum linguae latinae libri, 1444), Valla provou com argumentos filolgicos num opsculo famoso, intitulado De falso credita et
emenlita Constantri donatione declamatio (1440), ser falsa a doao de Constantino, ficando deste modo demonstrada a nuli44 dade jurdica da pretenso do papado supremacia poltica universal. Paralelamente, combateu em De professione religiosorum (1442) a pretenso da Igreja exclusividade da garantia das autnticas relaes do homem com Deus nas suas ordens religiosas. ValI, a no reconhece qualquer privilgio vida monacal. A vida de Cristo no custodiada apenas por aqueles que pertencem s ordens religiosas mas sim por todos quantos, dentro ou fora da sociedade dos clrigos, dedicam a Deus as suas vidas. A verdadeira religiosidade depende unicamente da atitude do indivduo, que livremente entra em ligao com Deus e no da adeso a uma obrigao formal de carcter colectivo. Afirma-se aqui a liberdade da vida religiosa contra a sua regulamentao medieval. E na verdade a exigncia de liberdade, da liberdade do indivduo como tal, est na base de toda a posio de Valla, que a faz valer em nome da prpria religio e contra as ordens religiosas e tambm em nome da investigao filosfica, contra o esprito de reverncia pela tradio escolstica. As suas obras De libero arbtrio e Dialecticae disputationes (1439) so dirigidas precisamente contra o predomnio de aristotelismo, que considera como a negao ou limitao da liberdade de investigao. No prefcio desta ltima obra e aps ter afirmado que depois de Pitgoras, mais ningum teve o nome de sbio mas apenas o de filsofo e que sempre os filsofos tiveram a liberdade de dizer ousadamente o que pensavam, acrescenta: "Tanto menos suportveis so os peripatticos modernos que negam aos 45 sequazes de toda e qualquer ~Ia a liberdade de discordarem de Aristteles, como se este fosse sophos e no filsofo e como se ningum o houvesse discutido antes". E depois de haver aludido variedade de opinies das escolas filosficas que se seguiram a Aristteles e linguagem brbara de Avicena e Averris, apoda de "homens supersticiosos, insensatos e indignos de si mesmos, porque se privam culposamente da faculdade de procurar a verdade", aqueles aristotlicos que induzem os prprios discpulos a jurar que no mais discuidaro Aristteles. A mesma afirmao de liberdade se encontra em De libero arbtrio. Aqui porm, trata-se antes de uma lio pela qual Deus condena ou salva os homens, ultrapassando assim os limites consentidos investigao humana. Nem os homens, nem os anjos conhecem o motivo pelo qual a vontade divina torna certos homens empedernidos no mal e tem piedade de alguns outros. Valla nega todavia que se trate de uma contradio entre a liberdade humana e a prescincia divina: assim como o conhecimento de um acontecimento presente no determina esse evento, assim tambm o conhecimento futuro no determina necessariamente que o mesmo sobrevenha. A prescincia divina no causa dos acontecimentos futuros, os quais permanecem por isso contingentes. A soluo de Valla para este problema a escolstica
mas o problema em si livremente colocado e expresso mediante um mito: Apolo representa a prescincia e Jpiter a omnipotncia. 46 340. HUMANISTAS ITALIANOS: FAZIO, MANETTI, ALBERTI, PALMIERI, SACCHI, NIZOLIO Entre os temas preferidos pelos humanistas italianos, dois h que sobressaem relativamente a todos os outros: a dignidade do homem e o elogio da vida activa. O primeiro aparece-nos tratado num escrito de Bartolomeu Fazio (nascido em Espzia e falecido em 1457) intitulado De excellentia et prestantia hominis, insignificante do ponto de vista especulativo, e tambm num escrito anlogo de Giannozzo Manetti (13961459) intitulado De dignitate et excellentia hominis. Nesta obra, parte-se da afirmao do carcter divino do homem para se atingir a formulao da sua tarefa, expressa na frmula agere et intelligere. Agir e compreender significam para Giannozzo Manetti "saber e poder governar e dirigir o mundo, o qual foi feito para o homem". O reconhecimento da dignidade humana ao mesmo tempo reconhecimento da misso de domnio que o homem deve desempenhar no mundo, consistindo num regnum hominis no sentido baconiano. Contrastando com o optimismo ingnuo destas exaltaes, apresenta-se-nos o tom realista e pessimista que domina as obras de Leo Battista Alberti (1404-1472), nas quais a exigncia de afirmar no mundo o poderio do homem anda ligada ao reconhecimento das dificuldades e perigos da sua efectivao. Opondo-se atribuio de culpas sorte, por parte dos homens, Alberti diznos na introduo 47 do seu tratado Da famlia que no se pode atribuir sorte a funo de conservar a virtude, os costumes ou as leis dos homens nem a culpa das vicissitudes humanas. "A sorte no pode, nem, ao contrrio do que julgam alguns idiotas, assim to fcil, vencer quem no quer ser vencido. A sorte s subjuga quem a ela se submetem. Desta concluso, porm, apenas surge para o homem a obrigao de agir de modo mais enrgico. "Por conseguinte, pareceme poder-se acreditar que o homem nasceu, certamente no para apodrecer jazendo, mas para viver agindo". Advertncia semelhante se encontra na obra Da vida civil de Mateus Palmieri (1406-75), onde se afirma a superioridade da vida consumida ao servio do bem pblico sobre a vida solitria e devotada somente meditao. Este tema igualmente tratado em De ptimo cive de Bartolomeu Sacchi (chamado o Platina, nascido em 1421 e falecido em Roma em 1481), para quem o homem que se refugia na solido um egosta que se esquiva ao cumprimento da obrigao de trabalhar pelo bem dos seus semelhantes, A polmica contra a Escolstica, que j fora defendida energicamente por Loureno Valla, retomada por Mrio Nizolio, nascido em Bersello, perto de Mdena em 1498 (ou 88) e falecido em 1576. A sua obra principal intitula-se Antibarbarus philosophicus sive de veris principiis et vera ratione philosophandi contra pseudophilosophos (1553), a
qual dirigida contra os aristotlicos que falsearam ou entenderam mal Aristteles e contra o prprio Aristteles, que juntamente com algumas verdades, 48 ensinou enorme quantidade de erros. As verdades contm-se nos livros de tica e poltica, na retrica e nos tratados sobre os animais; os erros, sobretudo na lgica e na metafsica. portanto necessrio ler Aristteles com esprito crtico e saber distinguir nele o verdadeiro do falso. E Nizolio enumera ento as condies essenciais a todo e qualquer progresso rios estudos filosficos: um bom conhecimento das lnguas latina e grega, o conhecimento das regras gramaticais e da retrica, a leitura assdua dos autores gregos e latinos, a liberdade de apreciao e a clareza de expresso (Antibarb., 1, 1). Para combater Aristteles, Nizolio, adopta o ponto de vista de Ockham. A realidade sempre individual. O universal no mais do que o acto de compreenso (comprehensio) do intelecto pelo qual se abarcam todas as coisas particulares que pertencem ao mesmo ,gnero (111, 7). A realidade universal de que falam D os Escolsticos destituda de sentido. O universal no passa de um nome puro que designa um conjunto de coisas particulares. As cincias mais elevadas so a filosofia e a retrica. Constituem ambas um todo nico, tal como a alma e o corpo, correspondendo a filosofia alma e a retrica ao corpo; ,nenhuma delas pode passar sem a outra e apenas se distinguem pelas respectivas tarefas pois-. enquanto a filosofia tem como objectivos o conhecimento da verdade e a rectido das aces, a retrica tem como fins a rectido do pensamento e da fala, no tocante s coisas naturais e civis (111, 3). A filosofia divide-se por sua vez em fsica e poltica; da primeira faz parte a t"ogia e da segunda, a tica. 49 A doutrina de Nizolio constitui o ltimo ataque Escolstica levado a cabo com as prprias armas da Escolstica. O ockhamismo por ela utilizado para defender a sabedoria humanstica e a liberdade de investigao, da persistente reverncia pela tradio aristotlica 341. BOVELO Em Frana, o iniciador dos estudos humansticos mediante o regresso ao aristotelismo original foi Jaime Faber (Jacques Lefvre, 1455-1537). O discpulo de Faber, Carlos Bovi,.Uus (Charles Bouill, 1470 ou 75-1553, aproximadamente) uma das personalidades mais notveis da filosofia humanista, cujos temas apreende e expe com grande liberdade especulativa. A sua obra mais significativa De sapiente, no qual reconhece ao homem aquela posio central de rbitro e sntese de todo o mundo natural que igualmente lhe reconheciam Cusano (349 e segs.), Ficino (354 e scgs.), Pico (357 e segs.) e Pomponazzi "362 e segs.). "Ao homem", escreve, "nada prprio nem peculiar mas so-lhe comuns todas as coisas prprias dos outros seres. Tudo o que prprio deste ou daquele ser ou mesmo prprio dos seres individualmente considerados, pertence tambm ao homem.
O homem transfere para si a natureza de todas as coisas, reflecte tudo e imita a natureza inteira. Ao atingir e absorver tudo quanto est na natureza, torna-se ele prprio tudo isso. Por conseguinte ele no este ou aquele ser particular nem lhe pertence 50 esta ou aquela essncia, mas simultaneamente todas as coisas". Por causa desta sua posio singular o homem encontra-se no cume de toda a realidade. Tom esta quatro graus, segundo Bovilo: o ser, a vida, o sentir e o entender. O mais baixo destes graus, o ser, pertence a todas as coisas: s pedras, s plantas, aos animais e ao homem. Porm, s pelo entender que o ser atinge a conscincia de si prprio e assim conclui o termina o ciclo do seu desenvolvimento. "Definimos a razo como a fora pela qual a mo natureza volta a si prpria e pela qual se completa o ciclo de toda a natureza, sendo esta restituda a si prpria" (De sap., 5). At aqui parece que nos encontramos em presena do habitual iderio neoplatnico, segundo o qual a obra do homem o acabamento racional e mstico do mundo. Na verdade, porm, as afirmaes de Borvilo tm outro valor e tendem a definir a tarefa do homem e a alternativa do seu destino. O homem pode com efeito escolher livremente entre passar por todos aqueles graus, alcanando na inteligncia o completamento do ser, ou parar num deles. Se sucumbir ao vcio da inrcia e moleza medieval, degradar-se- at ao ponto de no ser mais que existncia nua, sem forma e por conseguinte sem conscincia, se, pelo contrrio, se elevar at ao grau mais alto, elevar consigo o prprio mundo no seu total acabamento (De sap., 1-2). S por esta segunda via o homem se tomar num microcosmo, num minor mundus, levando consigo, na sua verdade o no seu valor autntico, o macrocosmo, o maior mundus. Da deciso do homem, 51 dependero, ao mesmo tempo, a realizao completa e final do prprio homem e do mundo. o homem deve formar-se como tal, com virtude(, e arte, e, ao formar-se homem, dar ao mesmo tempo ao mundo a sua forma final porque lhe confere a perfeio ltima: a inteligncia de si mesmo. "Esta", diz Bovilo (De sap., 24) " a realizao consumada (consumatio) do homem e consiste na passagem de homem substancial a homem racional, de homem natural a homem adquirido, de homem simples a homem composto, perfeito e sbio". A natureza humana multiplica-se com esta passagem e de mnada transforma-se em dade, de homo em homohomo. O verdadeiro homem aquele que se desdobrou no sbio, ou seja, na conscincia que adquiriu de si prprio e do mundo. Mas a dade traz consigo a trade. Entre o homem como puro ser natural e o homem que se forma por si com arte, devem existir um nexo e uma concordncia que so paz e amor, a ligar os dois termos. A mnada e a dade combinam-se entre si, formando o trade homohomoh~ que a ltima perfeio do homem (De sap., 22). Mas o homem como tal, nada tem de comum com os outros seres da natureza; coloca-se numa esfera parte para onde tudo converge por obra sua, esfera essa situada no polo oposto quele em que se encontram as outras coisas do mundo.
O homem o centro de todas as coisas, o espelho no qual estas se reflectem, no na sua realidade material e sim na sua realidade verdadeira e ideal. "Seja qual for o lugar em que colocares todos os 52 seres do mundo, no lugar oposto devers colocar o homem para que possa ser o espelho de tudo". Alude-se aqui claramente pela primeira vez subjectividade que a funo do homem como tal e por conseguinte polarizao pela qual o mundo acaba por se estruturar entre objectividade e subjectividade, entre natureza e homem. Reconhece-se ainda subjectividade humana um poder de iniciativa, que essencial ao prprio mundo, uma vez que o transfigura e o conduz a uma ordem e a unia unidade que ele por si s no poderia atingir. "Todas as coisas eram plenamente actuais e cada Lima delas permanecia constante no seu grau, no seu lugar e na sua ordem. Jamais o homem poderia ter nascido das diversas actualidades, das diferentes espcies, da diversidade entre as coisas e luzes do mundo, que por si ss no poderiam nem dever:'am misturar-se, confundir-se nem harmonizar-sc. Portanto, foi precisamente no exterior das diferenas e propriedades de todas as coisas, no polo oposto quele em que todas se encontram, no n vital do mundo, no centro de tudo, que o homem se formou, como uma criatura. pblica, preenchendo tudo quanto ficara vazio na natureza com foras, sombras, espcies e razes". (De sap., 26). No poderia ter-se exprimido melhor, na linguagem neoplatonizante e escolstica, a originalidade do homem como sujeito, faca objectividade da natureza. H um mito que exprime, segundo Bovilo, esta autoformao do homem que se duplica no tocante sua naturalidade e se torna sbio: o mito de Prometeu. Assim como Prometeu penetrou na morada divina para 13 ali roubar o fogo e d-lo aos homens, tambm o sbio que abandona o mundo sensvel e penetra no espao celestial, leva ao homem o lume da sabedoria, deste modo o fortalecendo e reanimando. Com efeito, o homem, por virtude deste lume "conquista-se a si prprio, possui-se e permanece seu, ao passo que o ignorante se conserva devedor natureza, oprimido pelo homem essencial e sem pertencer jamais a si prprio". (De sap., 8). Prometeu simboliza portanto o homem que por si se forma e se possui. Bovilo exprimiu com grande energia e profundidade o resultado para o qual tende toda a especulao humanista. 342. humANISTAS FRANCESES, ESPANHIS E ALEMES A Jaime Lefvre junta-se em Frana Podro Ramus (de Ia Rame, 1515-1572), autor de numerosas obras nas quais aparecem novamente expostas a fsica, a metafsica e a lgica aristotlicas. Nas suas Dialecticae institutiones (1543), procura formular uma lgica ou uma dialctica diferente da aristotlica e mais conforme ao funcionamento natural do pensamento. D3fine a dialctica como doetrina disserendi, ou seja, cincia que ensina a arte de discutir, a qual deve acompanhar, no seu mtodo e nas suas divises, o comportamento natural do homem quando discute consigo prprio e com os outros acerca de um qualquer objecto. Este comportamento natural o seguinte: primeiramente 54 medita em silncio para encontrar o argumento que resolver determinada questo; depois exprime a ideia assim formulada e elaborada racionalmente, de
tal modo que se preste a responder a toda e qualquer objeco que lhe seja dirigida. De acordo com este processo natural de pensar, a dialctica na sua primeira parte ser o guia e a base para a soluo das questes; na segunda parte ser o guia para a expresso desta soluo de maneira a poder responder s possveis perguntas. Por outras palavras, os momentos da dialctica sero dois: a elaborao mental de um problema e a sua expresso verbal apta a enfrentar a discusso. Ramus constri sobre estas bases uma exposio minuciosa e pedante que conheceu grande xito nas escolas lgicas da poca mas que tem hoje reduzido interesse. O que h nele de importante apenas a exigncia de que parte: a reconduo da forma lgica do discurso sua forma natural e o consequente amoldar da dialctica ao mtodo prprio de qualquer homem que pense e raciocine. Nisto se revela o esprito humanstico da sua dialctica que assina-Ia tambm, embora a seu modo, um regresso natureza e ao homem. Exigncia semelhante se encontra no espanhol Lus Vives, nascido em Valncia em 1492 e falecido em 1540, o qual foi amigo de Toms Moro ( 367) e autor, entre outras, de uma obra enciclopdica intitulada De disciplinis (1531). Vves parte tambm da crtica lgica aristotlica e ope-se sobretudo reverncia incondicional que esta lgica desperta ainda nas vrias escolas, reverncia esta, na qual 55 Vives v a causa da decadncia das cincias. necessrio, segundo Vives, regressar, no doutrina de Aristteles, agora j inadequada, mas ao exemplo de Aristteles; os verdadeiros discpulos de Aristteles no so os que juram pela sua palavra, mas sim os que interrogam a natureza como ele prprio fez. S atravs da investigao experimental se, pode chegar ao conhecimento da natureza; so inteis as subtilezas aristotlicas. Nos trs livros da obra De anima et vita (1539), Vives enuncia uma exigncia emprica: preciso investigar, no o que a alma em si, mas sim as propriedades da alma e o modo pelo qual estas operam. Poprri, Vives s parcialmente se conserva fiel a este princpio, que deveria assinalar a passagem da psicologia metafsica dos antigos psicologia emprica, pelo que os seus resultados so escassamente significativos. todavia fcil reconhecer em toda a sua obraque frequentemente cai no formalismo lgico - a exigncia fundamental do humanismo, que a de um renascimento da cincia mediante o regresso -no j letra das doutrinas antigas mas ao esprito (quer dizer, aos modos e mtodos) em que foram formuladas. Na Alemanha, quem primeiro enunciou esta exigncia foi Rudolfo Agrcola (1442-85), autor de uma obra intitulada De inventione dialectica, na qual assume relativamente dialctica a mesma posio de Loureno Valla. Agrcola combate a reverncia inconsiderada por Aristteles e afirma a necessidade de joeirar livremente as suas doutrinas. Considera ele como indispensveis o estudo e o conhecimento 56 dos escritores antigos para se poderem reconduzir as cincias sua forma legtima e o fim do seu livro o de fornecer, deduzindo-os precisamente
desses escritores, os meios pelos quais se pode chegar ao conhecimento das coisas e expresso do seu carcter essencial. Agrcola resolve em sentido nominalista. o problema dos universais. Certas coisas apresentam propriedades idnticas e essas propriedades comuns constituem precisamente o universal. O universal no portanto outra coisa seno a semelhana que as coisas apresentam nas suas propriedades essenciais. Porm a importncia de Agrcola reside, mais do que nestas doutrinas e na anlise por si feita das formas retricas do discurso, em ter sido o primeiro que na Alemanha contribuiu para aquele regresso ao classicismo que constitui a mensagem do humanismo.. 343. MONTAIGNE O regresso do homem a si mesmo, que constitui a essncia do movimento de renovao renascentista, encontra a sua expresso culminante na obra de Montaigne. Miguel de Montaigne nasceu em 23 de Fevereiro de 1533 no castelo de Montaigne no Prigord, em Frana. Educado pelo pai com um mtodo que exclua todo e qualquer constrangimento ou severidade, aprendeu o latim como lngua materna atravs de um perceptor que no sabia francs. Estudou direito e tornou-se conselheiro no parla57 mento de Bordus (1557). o seu primeiro trabalho literrio foi a traduo de uma obra do telogo cataIo Raimundo Sabunde (falecido em Toulouse em 1436) intitulada Liber creaturarwn ou Theologia naturalis, livro de apologtica que procurava demonstrar a verdade da f catlica mais pelo estudo das criaturas e do homem, do que com o apoio dos textos sagrados e dos doutores da igreja. Em 1571 retirou-se para o seu castelo com o fim de se dedicar aos seus estudos. Os primeiros frutos do seu trabalho (Ensaios, 1, 220, 32-38, 40-48) so simples compilaes de factos e sentenas, obtidas a partir de diversos escritores antigos e modernos e nas quais no surge ainda a personalidade do autor. Seguidamente, porm, essa mesma personalidade comea a ser o verdadeiro objecto central da meditao de Montaigne, a qual assume o carcter de "pintura do eu" (1, 26, 31; H, 7, 10, 17, 37). Naquele mesmo ano, deixou a Frana e viajou pela Sua, Alemanha e Itlia onde, em Roma, passou o inverno de 1580-81. Tendo sido nomeado prefeito de Bordus, regressou ptria, mas as preocupaes do cargo no o impediram de se dedicar ao estudo e meditao. Em 1582 publicou uma segunda edio dos Ensaios enriquecida com algumas adendas, publicou outra em 1588, contendo numerosas adendas aos primeiros dois livros e ainda um terceiro livro. Neste ltimo, a pintura do eu constituia a parte predominante. Montaigne trabalhava numa nova edio da sua obra, com ulteriores aperfeioamentos quando em 13 de Setembro de 1592 faleceu no seu castelo. O ttulo da obra de Montaigne indica 58 claramente o carcter da mesma. Ensaios quer dizer experincias (e no tentativas); Montaigne pretende descobrir as experincias humanas expressas nas obras de autores antigos e modernos e p-las prova, relacionando-as com as suas prprias experincias. O olhar continuamente virado para si prprio, a meditao interior no j religiosa mas laica e filosfica e incidindo portanto no apenas sobre o prprio eu espiritual, mas tambm sobre todos os assuntos e coisas humanas e smultneamente o dilogo permanente com os
outros e o contnuo confronto entre as experincias prprias e as alheias, constituem os traos essenciais da obra de Montaigne. verdade que esta no uma filosofia no sentido de conter um complexo sistemtico de doutrinas; porm um verdadeiro e autntico filosofar no sentido moderno da palavra, podendo afirmar-se que Descartes e Pascal so os seus mais directos descendentes. Face a esta posio, perdem valor as caracterizaes sobre as quais habitualmente se insiste com o fim de determinar a situao histrica do seu pensamento. Na realidade, ele passou de uma orientao estica a uma orientao cptica para acabar por encontrar o seu equilbrio numa posio socrtica; s esta ltima constitui a substncia da sua pessoa e do seu pensamento. O estoicismo e o epicurismo so, para ele, no j doutrinas s quaiis deva permanecer ligado, mas sim experincias atravs das quais atinge o equilbrio que lhe prprio. A partir da experincia do estoicismo, chega ao reconhecimento do estado de dependncia em que o homem se encontra relativamente s 59 coisas; a partir da experincia do cepticismo, atinge o meio de se libertar, tanto quanto possvel, desta dependncia e de reconduzir as coisas ao seu justo valor. Assim, por exemplo, pe em evidncia a preocupao que liga o homem ao futuro. "No estamos nunca junto de ns mas sempre para alm de ns mesmos. O temor, o desejo e a esperana lanam-nos para o futuro e tiram-nos o sentimento e a considerao do que , levando-nos, a interessarmo-nos; pelo que ser, quer dizer, quando j no existirmos" (1, 3, p. 14). Agarra-se de novo ideia estica segundo a qual os homens so atormentados pelas opinies que tm das coisas e no pelas coisas em si, para promover um alvio da "Miservel. condio humana", reconhecendo aos homens a faculdade de desprezar aquelas opinies ou de as aproveitar no sentido do bem (1, 14, p. 63). Por outro lado, aproveita para o mesmo fim a experincia cptica, a qual deve curar os homens da presuno, que a sua enfermidade natural original, e conduzi-los a uma aceitao lcida e serena da sua condio. este o esprito que anima o mais longo e difundido capitulo dos Ensaios (1, 12), a Apologia de Raimundo Sabunde. Montaigno faz da condio humana uma diagnose amarga e impiedosa que ser depois apropriada por Pascal. "Que pode imaginarse de maIs ridculo do que esta criatura miservel e mesquinha que nem sequer senhora de si prpria, e se encontra exposta s ofensas provenientes de todas as coisas, dizendo-se dona e senhora do universo, quando nem ao menos possui a faculdade de conhecer a minima parte deste, quanto mais 60 de dirigi-la?" O homem deve curar-se da presuno de que a natureza parece t-lo dotado com o fim de o consolar da sua miservel condio (Ib., p. 227). Montaigne em-prega expresses e frases que reaparecero depois em Pascal: "Um antigo a quem se reprovava o fazer profisso de filosofia, sem que todavia lhe ligasse grande importncia, respondeu que isso que era realmente filosofar" (Ib., p. 262). O mesmo dizia Pascal: "Brincar com a filosofia filosofar realmente" (Penses, 4). Por outro lado, este cepticismo leva Montaigne a avaliar adequadamente tudo quanto est verdadeiramente na posse do homem, a comear pelo conhecimento sensvel. "A cincia comea e resolve-se nos sentidos. No seramos mais do que pedras se no soubssemos o que so o som, o cheiro, a luz, o sabor, a medida, o peso, a moleza, a dureza, a aspereza, a cor, a lisura, a largueza e a profundidade. So estas as
razes e os princpios de todo o edifcio da nossa cincia" (Essais, 1, 12, p. 379). "0 privilgio dos sentidos o de constiturem o extremo limite da nossa experincia; nada h para alm deles que nos possa servir para os descobrirmos e nenhum sentido pode descobrir outro". (Ib., p. 380). Ao conhecimento sensvel falta porm um critrio seguro para se poderem distinguir as aparncias falsas das verdadeiras. No temos maneira de controlar as percepes sensveis, mediante o confronto com as coisas que as determinam em ns; por conseguinte no podemos verificar a sua verdade, assim como quem no conhece Scrates, no poder dizer se o seu retrato se lhe assemelha. "No comunicamos 61 com o ser porque toda a natureza humana se encontra sempre entre o nascimento e a morte e no alcana de si prpria mais que uma aparncia obscura e sombria e uma dbil e incerta opinio. E se por acaso o nosso pensamento se obstinar em agarrar o seu ser, isso ser o mesmo que pretender agarrar gua na mo fechada: quanto mais se apertar e comprimir aquilo que por sua natureza se escapa por todos os lados, mais ser perdido por aquele que queria apertar e agarram (Ib., p. 399). Estoicismo e cepticismo foram as experincias de que Montaigne se serviu para aclarar a condio humana. Mas o estudo do homem determina-se melhor nele, como estudo daquele homem-indivduo que ele prprio . Os seus ltimos Ensaios assumem sempre um carcter autobiogrfico pelo qual o filosofar se toma num contnuo experimentar-se a si prprio, numa contnua explicao do eu a si prprio. J na introduo da obra Montaigne dissera: "Sou eu prprio o assunto do meu livro"; no terceiro livro acaba por definir claramente o seu filosofar como uma incessante experincia de si prprio. "Se a minha alma pudesse criar razes, eu no me experimentaria; resolver-me-ia (je ne m "essaierois pas, je me resoudrois). FJa porm est sempre em aprendizagem e em prova" (111, 2, p. 29). Montaigne possui um sentido sempre atento da condio problemtica da existncia; para ele, a existncia um problema sempre aberto e uma experincia contnua que no poder nunca encerrar-se definitivamente e deve por conseguinte explicar-se incessantemente a si prpria. No importa 62 para obter esta explicao o considerar-se uma vida humilde e sem brilho. "A filosofia moral pode ter por objecto com igual xito, tanto uma vida popular e privada como uma outra de mais rica substncia, uma vez que cada homem traz em si, inteira, a forma da condio humana". Por esse motivo, no pretende comunicar com os outros por meio de qualquer sinal especial e estranho mas unicamente atravs do seu ser universal, "como Miguel de Montaigne e no como gramtico, poeta ou jurisconsulto" (Ib.). E declara contentar-se consigo prprio, no com a conscincia de um anjo ou de um cavalo mas sim com a conscincia de um homem. "Quando falo, estou a investigar, a ignorar e a reportar-me decididamente s opinies comuns o
,legtimas. No ensino absolutamente nada; apenas conto". (Ib., p. 30). Este filosofar autobiogrfico que, ao dirigir-se humanidade do prprio ou, compreende e abarca igualmente a singularidade do indivduo e a universalidade mxima da condio humana, o fruto mais maduro do humanismo e assinala o incio da filosofia moderna. Descartes, no Discurso do mtodo, proceder da mesma forma para chegar ao princpio fundamental do saber cientfico: far a histria dos seus estudos, das suas dvidas, da sua investigao. Desta atitude nasce aquela aceitao serena da condio humana, igualmente afastada da exaltao e do desnimo, que caracterstica de Montaigne. afirmao de Sneca (Quaest. nat., proem): "Coisa vil e abjecta o homem se no se elevar acima da humanidade", responde ele: "Aqui est uma divisa 63 espiritual e um propsito to intil quanto, absurdo-, simultaneamente impossvel e monstruoso fechar um punho que seja maior do que a mo ou dar um passo maior do que o permitido pela perna. Nem o homem pode elevar-se acima de si prprio e da humanidade, pois no pode ver seno com os seus olhos, nem aquilo que se escapa sua apreenso". O homem no pode nem deve procurar ser seno homem. Montaigne acrescenta, na verdade, que poder consegui-lo com a ajuda divina; porm evidente que os efeitos da graa sobrenatural esto fora das possibilidades e limites humanos. O homem deve aceitar-se tal como . Esta aceitao o tema de um dos Ensaios mais notveis, o que trata do arrependimento (111, 2), do qual se extraram os passos ora citados. A, Montaigne, embora dando valor positivo quele arrependimento moral que consiste em empenharmo-nos sriamente na reforma de ns prprios, exclui e condena o arrependimento que consiste numa reprovao da condio humana por parte do homem. "Posso desejar, diz-nos, "ser diferente; posso condenar e desgostar-me da minha forma universal e suplicar a Deus a minha reforma radical e o perdo da minha natural fraqueza. A isto no posso porm chamar arrependimento, tal como no posso chamar arrependimento ao desgosto por no ser anjo ou Cato. As minhas aces regulam-se e conformam-se por aquilo que sou e pela minha condio. Melhor, no posso fazer. O arrependimento no respeita propriamente s coisas que escapam ao nosso poder como no respeita tambm aspirao. Imagino inmeras naturezas ms ilus64 MONTAIGNE tres e moderadas do que a minha; com isso porm, no melhoro as minhas faculdades, tal como o meu brao o o meu espirito no se tomam vigorosos s porque concebo outros que o so". (Ib., p. 40). Fantasiar uma condio melhor e mais elevada do que aquela em que o homem se encontra efectivamente e cultivar a aspirao quela e o desprezo por esta, atitude intil e perniciosa. Por outro lado, a morte elemento constitutivo da condio humana: "No morres por estares doente; morres porque ests vivo" (HI, 13). "A morte mistura-se e confunde-se por toda a parte com a nossa vida", no tanto por consumir o nosso organismo como porque a sua necessidade inelutvel se impe ao nosso esprito. E "quem receia sofrer, sofre j por aquilo que receia"
(Ib.). Por isso, quem ensinasse os homens a morrer, ensin-los-ia a viver; este ensinamento porm, exclui o modo da morte. Logo que o homem sabe que a sua condio perdvel, dispe-se a perd-la sem desgosto. A ideia da morte torna a vida mais estimvel. "Eu gozo-a duas vezes mais do que os outros", diz Montaigne (HI, 13) "porque a medida do gozo depende em maior ou menor grau do empenho que nisso pomos... medida que a posse da vida se vai tornando mais breve, necessrio que eu a torne mais profunda e plena". A ideia da morte suscita pois o desejo de viver, de viver mais profunda e plenamente. O humanismo atinge assim em Montaigne o seu equilbrio. O homem j no se exalta e antes se acoita tal como . Se a primeira conscincia da sua subjectividade individual e histrica, levou o homem, 65 no Renascimento, exaltao da sua situao privilegiada, o aprofundamento desta conscincia, no seu contnuo experimentar-se e pr-se prova, conduziu-o ao reconhecimento dos seus limites e lcida aceitao de si prprio. Montaigne representa precisamente esta segunda fase do humanismo renascentista e justamente atravs desta segundo fase que o humanismo se transforma na filosofia moderna, abrindo caminho a Descartes e a Pascal. 344. CHARRON, SANCHEZ, LIPSIO Directamente ligado a Montaigne, est Pie= Charron que foi seu amigo e nele encontrou a inspirao fundamental do seu pensamento. Nascido em Paris em 1541, estudou direito e fez-se advogado; porm, sob o impulso de uma vocao vinda mais tarde mudou para a teologia e fez-se padre. Viveu durante muito tempo em Bordus e a conheceu Montaigne, ao qual se ligou por amizade. Foi cnego em Condom e faleceu em Paris em 1603. Escreveu dois livros. O primeiro, intitulado Trs verdades contra todos os ateus, idlatras, judeus, maometanos, herticos e cismticos (1593), constitui uma apologia da igreja catlica. As trs verdades so as seguintes: h um Deus e uma s religio verdadeira: a religio crist a nica verdadeira; s a igreja catlica verdadeira. O outro livro, intitulado Da sabedoria est em ntida contradio com o primeiro: com efeito, consiste na apologia de uma sabedoria profana e baseada no conheci66 mento do homem. A contradio residia na prpria natureza de Charron e era por ele procurada e teorizada. " preciso", diz-nos (De la sagesse, 11, 2, 13), "que saibamos disfinguirmo-nos e separarmo-nos a ns prprios dos nossos cargos pblicos; cada um de ns desempenha dois papis e faz duas personagens, uma alheia e aparente e a outra prpria e essencial. necessrio saber distinguir a pele da camisa: o homem hbil poder desempenhar bem o seu cargo mas no deixar por isso de julgar devidamente a estupidez, o vcio e a astcia que a se aninham... necessrio servirmo-nos e valermo-nos do mundo tal como se nos depara, considerando-o porm como coisa estranha a ns prprios e sabendo gozar-nos de ns prprios parte, atravs da comunicao com um bom confidente ou pelo menos connosco prprios". Aceitar e teorizar uma contradio deste tipo, significa j assumir uma posio cptica fundamental; ora esta precisa- ,mente a posio de Charron. Nesta posio, porm, tal como no cepticismo de Montaigne, est implcita a convico de que a vida humana uma experincia contnua que o
homem faz consigo prprio e com os outros. E na verdade, diz-nos Charron (Ib., 1, 1, 1): "A verdadeira cincia e o verdadeiro estudo do homem consistem no prprio homem". Em primeiro lugar, est consciente dos limites do homem e precisamente por causa destes limites que no considera que a alma do homem seja absolutamente incorprea. Tudo quanto finito , como tal, determinado por limites espaciais e por essa razo no se apresenta destitudo de corporei67 dado. A alma, uma vez criada, corprea, embora a sua corporeidade seja invisvel e incorruptvel (Ib., 1, 8, 4). Em virtude dos seus limites, o homem no pode alcanar a verdade. Se bom que o homem exista para procurar a verdade, o possu-la s a Deus pertence. Mesmo que alguma verdade chegue s mos do homem, ter sido por mero acaso; ele no saber segur-la nem distingui-la da mentira (Ib., 1, 15, 11). Por esse motivo o homem est destinado a viver em permanente dvida, sendo a filosofia cptica a nica verdadeira (Ib., 11, 2, 5). Por conseguinte o princpio da sabedoria consiste no reconhecimento destes Emites, resultando da "a universal e plena liberdade do esprito". preciso que nos libertemos de todos os pressupostos dogmticos e nos tomemos independentes de lodo e qualquer preconceito. Nisto consiste a verdadeira sabedoria (preud'homie), uma sabedoria livro e franca, forte e generosa, risonha e jovial, igual, uniforme e constante", uma sabedoria "cujo principal incentivo reside na lei da natureza, que como quem diz na equidade e na razo universais que **briffiam e resplandecem em cada um de ns". Quem age segundo a razo natural, age ao mesmo tempo segundo Deus, de onde irradia a razo, e segundo o prprio que age, do qual a razo constitui o elemento mais rico e mais nobre. (Ib., 11, 3, 4). Esta sabedoria natural independente da ,religio. necessrio que o homem seja honesto, no por causa do paraso ou do inferno, mas por obedincia ordem que lhe vem da razo. A religio deve aprovar, autorizar e rematar o comando 68 da razo. A religio posterior sabedoria (Ib., II, 5, 29). De natureza diferente o cepticismo do Francisco Sanchos 1, nascido por volta de 1552 em Braga, Portugal, mas formado em Frana, tendo sido professor de medicina em MontpeU, ier e Toulouse, onde faleceu em 1632. autor de uma obra intitulada Quod ?hiI seitur, terminada em 1576 mas s publicada em 1581. Prope-se Sanches, adoptar a dvida como processo de pesquisa de um mtodo verdadeiro e de um saber objectivo mas acaba por concluir que o homem no possui nem um nem outro. ]Parte da crtica ao procedimento si-logstico da doutrina escolstica que pretenderia tirar concluses necessrias com base em princpios universais e obrigar concordncia sobre coisas de que no se tem um conhecimento directo. Quem no percebe porm, por si prprio, determinada coisa, no poder ser forado a perceb-la por nenhuma demonstrao. A verdadeira cincia, se existisse, seria livre e prpria de uma mente livre: seria a "conscincia perfeita do objecto". Mas esta cincia no foi dada aos homens. Nem as coisas se dei=
agarrar, nem os homens tm meio de as agarrar, 1 N. T. -No esto certas as datas citadas por Abbagnano. Este filsofo e mdico de formao francesa e italiana, nasceu em 1550 e foi baptizado em Braga em 25-7-1551, na igreja paroquial de S. Joo do Souto. Faleceu em 1622. n duvidosa a sua nacionalidade real. 69 nem poderiam alguma vez agarr-las completamente. A concluso -nos indicada pelo prprio ttulo da obra: nil scitur. Porm esta concluso no pode ser tirada nem mantida dogmaticamente; o homem deve atingi-Ia e tomar conscincia dela, atravs de uma pesquisa incessante, indagando por todos os lados os limites do conhecimento e dando-se conta da debilidade intrnseca deste ltimo. O cepticismo no constitui portanto para Sanches uma renncia investigao mas antes um estriulo pesquisa e **crtica metdica de todo o saber. Em Charron e Sanches, o regresso ao cepticismo aparece-nos como meio de renovao do homem e da sua cincia. Para o mesmo fim se dirige o regresso ao estoicismo sustentado por Justo Lpsio, nascido em Over-Issche, perto de Bruxelas, em 1547 e falecido em 1606. Pretendeu Lpsio fazer ressurgir o estoicismo antigo, sobretudo o romano, aps t-lo descoberto nas suas fontes originais, especialmente em Sneca. As suas obras principais so Manoductio ad philosophiam stoicam, Physiologia stocorum e De constantia. O tema central da sua reelaborao constitudo pela doutrina da providncia. Da providncia divina depende a ordem das coisas, segundo Lpsio; e desta ordem depende a fatalidade imutvel de todas as coisas do mundo, ou seja, o destino. Este, portanto, no seno a aco necessria da ordem csmica dependente da providncia divina (De const., I, 17-19). Ora precisamente nesta doutrina que Lpsio considera existir a fora de renovao do estoicismo. Com efeito, da aceitao do destino 70 csmico que deriva a virtude fundamental do homem, ou seja, a perseverana que no se deixa demover por qualquer vicis&itude exterior e que apesar de todas as lutas e dificuldades, d ao homem o equilbrio e a paz interior (Ib., 1, 20). Quem tiver conseguido atingir a sabedoria estica, saber que em todos os casos as coisas acontecem como devem acontecer e por conseguinte s resta ao homem aceit-las como so. NOTA BIBLIOGRFICA 332. Em H. BARO'N, Renaissance in Italien encontra-se uma resenha dos estudos sobre o renascimento (Archiv. fr Kulturgeschichte, 1927 e 1931). Cfr. tambm o axtigo respectivo de F. Chabod na Enc. Ital. e todas as obras a seguir indicadas, em especial as de Garin. ] fundamental a obra de JACOB BURCKHARDT, A civilizao do Renascimento na Itlia, trad. Valbusa, Florena, 1876. So notveis os trabalhos de G. DILTHEY, aparecidos sob o ttulo A anUse do homem e a intuio da natureza, entre 1891 e 1900 (trad. ital. Sanna, Veneza, 1926), bem como os de G. VOICT, Die Wiederbelebung des klassischen Altertums, Berlim, 3.1 edi., 1893. A concepo idealista-que consiste principalmente no desenvolvimento das teses de Burckh<%rdt- exposta
na obra de G. GENTILE, Giordano Bruno e o pensamento da Renascena, Florena, 1920 (novamente publicado sob o ttulo O pensamento italiano da Renascena, Florena, 1940). Elementos fundamentais, contidos em E. CASSIRER, O indivduo e o cosmos na filosofia do Renascimento, trad. ital. Federci, Florena, 1935 e em M. BARON, The criss of the Early Italian Renaissance, 2 vols., Princeton, 1955. A mais equilibrada e 71 autorizada interpretao do Renascimento, baseada numa documentao vastssima, a de E. GARIN a qu1 se contm principalmente em O humanismo italiano, Bari, 1952; Idade Mdia e Renascimento, Bari, 1954; A educao na Europa (1400-1600), Bari, 1957; A cultura filosfica do Renascimento italiano, Florena, 1961. Considera-se implicita a referncia a e~ obras, a propsito de todos os autores italianos mencionados no presente captlo. 333. Sobre a intevpretao que insiste na continuidade entre o humanismo renascentista e a Idade Mdia, efr. G. TOFFANIN, Histria do humanismo, Roma, 1933, 1939 2 e os autores mencionados no 335. 334. A origem religiosa, do conceito de renascimento foi sustentada pela primeira vez por R. HILDEBRAND, Zur sogenannten Renaissance, em "Zeitschrift fr den deutschen Unterricht", Leipzig, 1892, vol. VI, p. 377 e segs. (e depois em Beitrge zum deutschen Unterricht, Leipzig, 1897, p. 279 e segs.). Aquela origem fica definitivamente demonstrada aps os estudos fundamentais de K. BURDACH, Reforma, renascimento, humanismo, trad. ital. Cantimori, Florena, 1935. Para toda e qualquer investigao no mesmo sentido devero oonsultar-se as referncias contidas nesta obra. Importante taxnbm WALSER, Studien sur Weltanschauung der Renaissance, BasiWela, 1920. 335. A conexo entre as origens da cincia e o aristotelismo medieval foi pela primeira vez salientada por P. Duimm, tudes sur Lonard de Vinci. 1906-13 e seguidamente desenvolvida por numerosos autores, entre os quais efr. espeoiahnente M. CLAGETT, The Science of Mechanics in the MiddIe Ages, 1959 e John Randall Jr., The Schoot of Padua and the Emergence, of Modern Science, 1961. 336. Sobre o significado de Dante relativamente ao Renascimento: BURDACH, ob cit., passim. 72 Sobre as caractersticas medievais do pensamento de Dante: B. NARDI, Dante e a cultura medieval, Bar!, 1942. No mundo de Dante, Roma, 1944. ; 337. Sobre a posio de Petrarca no Renascimento: DILTHEY, ob. cit., vol. I, p. 25 e segs.; Burdach, ob cit., passim; Oassirer, ob. cit., passim. 338. Sobre os filsofos do sculo italiano de Quatrocentos, ver a antologia de E. GARIN, Filsofos italianos de Quatrocentos, Florena, 1942, que contm igualmente informaes biogrficas e bibliogrficas, alm das outras obras de GARIN j mencionadas. De Col~o Salutati, De nobilitate legum et medicinae editado -em 154.2 em Florena (edio e traduo ftaliana de E. GARIN, Florena, 1948); a obra intitu~ De tyranne (por VON MARTIN, Leipzig, 1913 a por P. ERCOM, Leipzig, 1914); e o Epistolrio (por NOVATI, Roma, 1891-1905). Os Dilogos de LEONARDO BRUNI foram editados por Mmer, Livorno, 1889 e o Isagogicon Por BARON, do qual fundament1 a monografia intitulada Leonardo Bruni, aretino, Deipzig, 1928. A carta d-, CosmF, RAIMONDI, na mencionada antologia de Garim Dos tratados morais e
das epistolas de Ffi~ h edies quatrocentistas e quinhentistas. 339. As obras de Valla foram publicadas em Basileia, em 1540 e 1543. Sobre Vaffia: Gentile, A filosofia italiana, desde o fim da escolstica at ao incio do Renascimento, p. 266-288; Saitta, Filosofia italiana o humanismo, Florena, 1928, p. 69-78. 340. A obra de B. FAZIO aparece editada em S-andeo, Epitomae de regibus Siciliae et Apuliae, Hanover, 1611. A obra de GIANNOZO MANETTI foi publicada em Basileia em 1532. As obras de Alberti fomm pubIteadas. por BONUCCI em Plorena, 1843-49, em 5 vols.; uma outra edio foi publicada por MANCINI, Florena, 1890. Sobre Alberti: Gentle, Giordano Bruno, p. 149-152. O Da vida civil de Palmieri foi 73 publicado em 1529 e o De optimo cive de Platina teve algumas edies quatrocentistas. As obras de NIZOLIO foram publicadas em Parma em 1553 e reeditadas por LEIBNiz em Franefort, nes anos de 1671 e 1674. 341. A obra De sapiente de BOVILO foi novamente editada por KLIBANSKI, em apndice edio original alem da ob. cit. de CASSIRER. As obras de BOVILO tinham sido publicadas em Paris, em 1512. Sobre este autor: CASSIRER, ob. cit., p. 142 e segs. 312. As obras de PEDRO RAMUS conheceram numerosas edies nos anos de quinhentos e seiscentos. Sobre este autor: Waddingtou, De P. Rami vita, seriptis philosophia, Paris, 1849 (edo, francesa, Paris, 1855); W. J. Ong, Ramus Method and Decay of Dialogue, Cambridge, Mass., 1958; R. Hooykaas, Humanisme, science et reforme-Pierre de la Rame, Leiden, 1958. A obra De disciplinis de L. Vives conheceu inmeras edies a partir da de Brgge, 1531. S<>bre este autor: Rivari, A sabedoria psicolgica e pedaggica de L. V., Bolonha, 1922. As obras de Agricola foram publicadas em Colnia em 1539 e conheceram seguidamente numerosas edies. Sobre o humanismo alemo: Burdach, Deutsche Renaissance, Berlim, 1916. 343. A melhor edio dos Ensaios de Montaigne a que vem publicada na coleco das Universi,dades de Frana, a cargo de J. PLATTARD, Paris, 1931-32 (mencionada no texto), a qual reproduz a edio elaborada por Montaigne em 1588, acrescida das adendas e correces manuscritas do prprio Montaigne. Dilthey, ob. cit., vol. 1, p. 47 e segs.; Strowski, Montaigne, Paris, 1906; Weigand, Montaig?ie, Mnaco, 1911. 344. A obra Trois vrits de Charrou fed pela primeira vez publicada em Bordus, em 1593 e o De 74 Ia sagesse na mesma cidade em 1601; Obra, 2 vols., Paris, 1635. De Sanches: Quod nihil seitur, Lyon, 1581, Francfort, 1618; Tractatus philosophici, RGterdo, 1649. MENNDEZ Y PELAY0, Ensayos de critica philosophica, vol. II, Madrid, 1892, 195-366; Giarratano, O pensamento de P. S., Npoles, 1903. De Justo Lpsio: Obra, Wesel, 1675. Dilthey, A anlise do homem, cit., p. 245 e segs.; Del Prai na "Revista de Histria da Filosofia,", 1946. 75
li RENASCIMENTO E POLTICA 345. MAQUIAVEL O humanismo renascentista encontra-se estreitamente ligado a uma exigncia de renovao poltica. Pretende-se renovar o homem, no apenas na sua individualidade mas tambm na sua vida em sociedade; por esse motivo, empreende-se uma anlise da comunidade poltica, c~ o fim de lhe descobrir o fundamento e de -reportar a este as formas histricas daquela. O regresso s origens, que at mesmo neste campo constitui a palavra de ordem da renovao, por um lado entendido como o regresso de uma comunidade histrica determinada, povo ou nao, s suas origens histricas, s quais poder ir buscar nova fora e novo vigor, e por outro, como regresso base estvel e universal de toda e qualquer comunidade, 77 ou seja, como reajustamento s reorganizao da comunidade sobre a sua base natural. Historicismo e jusnaturalismo so os dois aspectos em que se concretiza a vontade poltica renovadora do Renascimento. O primeiro destes aspectos remonta, como j se viu ( 334), ao neoplatonismo na medida em que este tenha perdido o seu carcter teolgico. O segundo aspecto encontra a sua raiz no estoicismo antigo e na doutrina do direito natural que dominara a antiguidade e a idade Mdia; at mesmo este tende a perder as suas implicaes teolgicas. Para os Esticos como para os escritores medievais, a ordem natural da comunidade humana identificava-se, por um lado com a razo e por outro com Deus; sobre a primeira destas identidades que insistem os escritores do Renascimento. O direito natural, base de toda e qualquer comunidade humana ditado pela prpria razo. Nicolau Maquiavel (1469-1527) aparece-nos como o iniciador da orientao historicista. Toda a sua vida foi dedicada tentativa de criao de uma comunidade italiana. Maquiavel via e reconhecia como nica via para essa criao, um regresso s origens da histria italiana. A investigao historiogrfica dirigida ao reconhecimento destas origens aparece nele estreitamente ligada ao labor positivo de reconstruo da unidade poltica do povo italiano, de tal modo que a sua personalidade se defino precisamente pela unidade entre a tarefa poltica e a -Investigao historiogrfica. O Prncipe (1513) e os Discursos sobre a primeira dcada de Tito Lvio contm a revelao daquela unidade 78 entre o juzo poltico e o juzo histrico que constitui a caracterstica fundamental de Maquiavel e faz dele o primeiro escritor poltico da idade moderna. O primeiro captulo da terceira parte dos Discursos dedicado explicao daquele regresso aos princpios que constitui a palavra renovadora do Renascimento em tudo quanto diz respeito ao homem e sua vida em sociedade. Segundo Maquiavel, a nica maneira pela qual as comunidades podem renovar-se e fugir assim decadncia e runa, consiste em regressar aos seus princpios, pois todos os princpios contm alguma bondade na qual aquelas podero retomar a sua
vitalidade e a sua fora primitivas. Nos estados, o regresso aos princpios faz-se, ou por acidente extrnseco ou por prudncia intrnseca. Assim aconteceu em Roma onde os reveses deram causa a que os homens "se reconhecessem" nas ordens da sua convivncia e onde instituies adequadas como a dos tribunos da plebe e a dos censores, ou at mesmo indivduos de excepcional virtude, desempenharam a tarefa de chamar novamente os cidados s suas virtudes primitivas. Mas at as prprias comunidades religiosas se salvam apenas pelo regresso aos princpios. A religio crist ter-se-ia extinguido completamente se no tivesse regressado sua origem por intermdio de S. Francisco e de S. Doraingos, que com a pobreza e o exemplo da vida de Cristo lhe restituram a sua fora primitiva. Mas o regresso aos princpios pressupe duas condies: em primeiro lugar que os princpios a 79 que se deve regressar, as origens histricas da comunidade, sejam claramente reconhecidos e entendidos com rectido; em segundo lugar, que sejam reconhecidas na sua verdade efectiva as posiies de facto, a partir das quis ou atravs das quis o regresso deve ter lugar. A objectividade histrica e o realismo poltico so pois as condies fundamentais do regresso aos princpios. Estas duas condies constituem na verdade as caractersticas, da obra de Maquiavel, o qual, por um lado, se volta para a histria, procurando encar-la na sua objectividade, no seu fundamento permanente, que a substncia imutvel da natureza humana, e por outro, observa a realidade poltica que o rodeia e ,a vida social na sua verdade efectiva, renunciando a toda e qualquer atitude de xtase perante repblicas e principados "cuja existncia real jamais foi vista ou reconhecida". Relativamente ao primeiro ponto, isto , quanto forma original a que a comunidade deve regressar,,Maquiavel acaba por reconhec-la na repblica livre, tal como existiu nos primeiros tempos da nao romana. Por mais abstracto que seja o imaginar uni tipo ideal de estado, Maquiavel no pode deixar de determinar, atravs da sua investigao histrica--- a forma original da comunidade poltica ,italiana, qual esta deve regressar. Porm, esta forma, baseada na liberdade e nos bons costumes uma metalongnqua e difcil de atingir. Incumbe ao poltico, segundo Maquiavel, uma tarefa imediata, a nica realizvel nas circunstncias histricas do tempo: fazer surgir um prncipe unificador 80 MAQUIAVEL e reorganizador da nao italiana. Deriva da o esboo da figura do prncipe. Se uma comunidade no tem outra maneira de se libertar da desordem e da servido poltica, seno a de se organizar em principado, a realizao deste principado, torna-se uma tarefa que encontra a sua regra e a sua justificao em si prpria. Pesa sobre esta tarefa o risco de se perder, caindo na tirania. Pode muito bem acontecer que aquele que a assumir "se deixe enganar por um falso bem" ou "se deixe ir voluntria ou ignorantemente" pela via aparentemente fcil mas funesta da tirania. Renunciar nesse caso glria, certeza, serenidade e satisfao interior e ir ao encontro da infncia,
do vituprio, do perigo e da inquietao. A aceitao daquela tarefa implica pois uma alternativa e uma escolha: ou seguir a via que conduz a uma vida segura e glria aps a morte, ou seguir aquela que conduz a uma vida de permanente angstia e infmia depois de morto (Disc., 1, 9). porm impossvel que a segunda alternativa seja escolhida por aquele que, por sorte ou por virtude, de particular que era se torna prncipe de uma repblica, se conhecer verdadeiramente a histria e tirar partido dos seus ensinamentos (Ib., 1, 10). Mas uma vez aceite o reconhecida, como prpria a tarefa poltica, impossvel a paragem a meio caminho. Tem ela as suas exigncias derivadas da natureza humana. No se pode contar corri a boa vontade dos homens. O homem no por natureza nem bom nem mau, mas pode ser efectivamente 81 uma e outra coisa. O poltico, se quiser ser bem sucedido nos seus planos, dever sempre contar com o pior o que quer dizer que dever partir do princpio de que todos os homens so maus e de que aproveitaro a primeira ocasio para lhe manifestar a sua malignidade (Ib., 1, 3). O poltico no pode pois fazer "profisso de bondade"; deve aprender "a poder no ser bom, e a usar ou no de bondade, conforme for preciso." (0 Princ., 15). Se puder, no deve afastar-se do bem; deve p~ saber usar do mal quando necessrio (Ib., 19). H certamente meios extremamente cruis, contrrios a todo o viver, no s cristo como humano e de tal maneira que todo e qualquer homem deve evit-los. Nesse caso "torna-se necessrio -preferir viver como particular do que como roi com tamanha runa dos homens". Todavia, se no se quiser ou no se puder enveredar por esta renncia, necessrio entrar resolutamente no caminho do mal, evitando o meio termo que para nada serve (Disc., 1, 26). Maquiavel pe assim duramente o poltico em face das cruis e tristes exigncias da sua tarefa. Aflora-lhe certamente ao esprito a dvida sobre se o combater o mal com o mal, a fraude com a fraude, a violncia com a violncia e a traio com a traio tornar possvel a reconduo da comunidade verdadeira ordem da sua forma poltica. Responde porm a essa dvida, observando que por vezes se mantiveram no poder aqueles que, depois de o terem obtido por meio de crueldade e perversidade, no continuaram. por essas vias e converteram-nas posto82 riormente na maior utilidade possvel para os seus sbditos. Esses "podem, com Deus ou com os homens, trazer algum remdio ao seu pas". Quanto aos outros, impossvel a sua manuteno (0 Princ., 8). Por outras palavras, o limite da actividade poltica reside na prpria natureza dessa actividade. A tarefa poltica no tem necessidade de deduzir do exterior a prpria moralidade nem a norma que a justifique ou lhe imponha os seus limites. Ela justifica-se por si, pela exigncia que lhe intrnseca de reconduzir os homens a uma forma de convivncia ordenada e livre e encontra os seus limites na possibilidade de xito dos meios empregados. Certos meios, extremos e repugnantes, so impolticos por se voltarem contra quem os emprega e tornarem impossvel a manuteno do estado. O domnio da aco poltica estende-se a tudo quanto oferece garantias de xito as quais consistem na estabilidade e na ordem da comunidade poltica. Maquiavel foi o primeiro a perscrutar e a considerar aquele domnio por meio dum critrio puramente intrnseco pelo qual se
entrev o princpio duma normatividade inerente s tarefas humanas como tais e no sobreposta a estas a partir do exterior, com um carcter de critrio e limite estranhos. A tarefa do poltico, na medida em que implica escolha, risco e responsabilidade, pressupe a liberdade do homem e o problematismo da histria. Maquiavel toma em considerao a hiptese de as coisas do mundo serem governadas pela sorte ou 83 por Deus de maneira que os homens no possam nem corrigi-las nem remedi-las; porm, embora a hiptese o tente, pela extrema mobilidade dos acontecimentos contemporneos, acaba por rejeit-la porque nesse caso a liberdade seria nula o a nica atitude possvel seria o "deixar-se comandar pela sorte". Sustenta como mais provvel que a sorte seja o rbitro de metade das aces humanas, deixando aos homens o comando da outra metade ou pouco menos. A sorte como um rio que, quando se encoleriza, transborda e arrasta tudo, de tal modo que o homem no consegue de maneira nenhuma det-lo ou impedir a sua marcha mas cujo mpeto porm, no se torna daninho ou se toma menos prejudicial se o homem providenciar a tempo pela construo de defesas e diques que impeam e disciplinem as cheias. A sorte mostra o seu poder onde no depara com a resistncia da "virtude ordenada" e dirige os seus mpetos para onde no houver diques nem defesas a cont-la (0 Prnc., 25). O homem s poder dirigir a sorte se se conformar historicamente, reportando-se ao passado; ligando o passado ao futuro, evitar as transformaes bruscas e inconcludentes e conseguir dirigir a sorte de modo a no ter motivo para mostrar o seu poder a cada volta do sol (Disc., 11, 30). Existe tenso entre a sorte e a liberdade. A aco do homem insere-se nos acontecimentos e portanto condicionada por eles. Mas quanto mais se apresentar historicamente fundamentada, tanto melhor conseguir domin-los, uma vez que a metade que no decurso dos 84 mesmos cabe liberdade humana pode ser a metade decisiva se a previso tiver sido feita com perspiccia. A aco humana - parece dizer Maquiavel * no pode eliminar todos os riscos mas pode e deve eliminar as reviravoltas inconcludentes e transformar o risco numa possibilidade de xito. Tudo isto envolve a radical problematicidade da histria. Esta, tira ou d ao homem a oportunidade de proceder virtuosamente, umas vezes, suscitando ou destruindo a seu belprazer as vontades humanas o outras, delineando um plano que os homens podem favorecer mas no impedir ou urdindo uma trama que aqueles podem tecer mas no quebrar (Disc., 11, 29). Porm, os homens "faro bem em no desistir nunca". No conhecem, na verdade, o fim para que tende a histria e uma vez que esta envereda sempre por atalhos e caminhos desconhecidos, haver sempre motivos para ter esperana, e, esperando, no devem os homens desistir, sejam quais forem a sua sorte e a sua aflio (Ib., 11, 29). O ensinamento que da se tira consiste, num chamamento deciso e ao querer, insero activa na histria e ao comprometimento com a mesma. Maquiavel rejeita todos os princpios e doutrinas que se resolvam. num "deixar-se andar", num abandonar-se passivamente ao curso dos acontecimentos. O homem que se compromete com a histria tem uma tarefa precisa e jamais dever desesperar: o resultado da sua aco transcende-o e pode conduzi-lo, por atalhos e caminhos distantes, vitria da tarefa que
lhe cara. 85 346. GUICCIARDINI, BOTERO As Memrias polticas e civis de Francisco Guicciardini (1482-1540) contm os ~os de uma sabedoria mundana que vai buscar as suas razes actividade poltica e tem como objectivo ilumin-la e gui-la. Guicciardini considera intil e disparatada a preocupao com problemas relativos realidade sobrenatural ou invisvel: "Os, filsofos e telogos que descrevem as coisas sobronaturais ou que se no vem, dizem mil disparates pois os homens ignoram efectivamente tais coisas e uma tal indagao serviu e serve mais para cultivar o engenho do que para encontrar a verdade". (Mem., 125). Rejeita por motivos anlogos, a astrologia: pensar em conhecer o futuro um sonho e os astrlogos no adivinham mais do que qualquer outro homem que faa conjecturas ao acaso (Ib., 207). O verdadeiro interesse de Guicciardini incide sobre o homem e em especial sobre o homem nas suas relaes sociais, na sua actividade poltica. O homem julgado, no pela tarefa que cumpre mas sim pelo modo como a cumpre. Ela no escolhe na verdade, a classe social em que nasce nem as ocupaes ou a sorte que lhe cabero. Escolhe porm a sua conduta na sua classe ou nas suas ocupaes, ou ainda em face da sua sorte. E por esta conduta que ser julgado (Ib., 216). Mas no, que se refere sua conduta o homem no pode fazer mais do que confiar na reflexo e na experincia. "Saboi que quem governa ao acaso acabar por se encontrar nas mos do acaso; o que se deve fazer pensar, 86 analisar e observar bem todas as coisas etiam mnima; mesmo vivendo assim com grande custo que se governam as coisas; pensai agora no que acontecer a quem se deixa levar pelo curso das guas" (Ib., 187). O "deixar-se levar pelo curso das guas" equivale ao "deixar-se comandar pela sorte" de Maquiavel. Tal como Maquiavel, Guicciardini pretendo o empenho activo do homem na realidade poltica e um realismo atento e laborioso que corrija, mesmo quando no o pode desviar completamente, o curso da sorte. Por essa razo d especial valor positivo f. "Ter f no seno crer com firmeza de opinio e uma quase certeza nas coisas que no so razoveis; ou, se forem razoveis, crer nelas com mais resoluo do que a simplesmente baseada nas razes". A f produz a obstinao e esta pode, num mundo submetido a mil acasos e acidentes, encontrar finalmente o caminho do xito. justamente por isso que se diz: "quem tem f consegue executar grandes coisas" Ub., 1). Porm, nem a f nem a perspiccia bastam para garantir o xito, embora possam comandar muita coisa. A sorte desempenha um grande papel nas coisas humanas, sorte essa que puro acontecimento casual e independente de qualquer ordem ou lei providencial, se existe, impenetrvel ao homem. "No se deve dizer: Deus ajudou aquele porque era bom; quele correram-lhe as coisas mal porque era mau; pois o que frequentemente se observa o contrrio. Nem por isso de=os dizer que a justia de Deus no
existe, uma vez que os seus conselhos so to profundos que so, mere87 cidamente ditos abyssus multa" (Ib., 92). porm evidente que a "mquina mundana", a ordem natural das coisas, encoraja os homens actividade. Por exemplo, se verdade que os homens no pensam na morte, embora saibam que tm de morrer, tal no acontece porque a morte coisa remota * , pelo contrrio, bem prxima e sempre iminente -mas antes porque a ideia da morte tornaria o mundo cheio de pusilanimidade e torpor" (Ib., 160). No que respeita natureza humana, Guicciardini apresenta-se substancialmente de acordo com Maquiavel. Os homens so, verdade, naturalmente propensos ao bem; mas, uma vez que a sua natureza frgil e as ocasies que os convidam ao mal so infinitas, afastam-se facilmente e por interesse prprio, da sua natural propenso (Ib., 225). A consequncia disto que os homens maus so em maior nmero do que os bons e por conseguinte boa regra do poltico o no se fiar seno naqueles que verdadeiramente conhece, mantendo, frente aos outros, os olhos bem abertos, embora sem o mostrar, para no parecer desconfiado (Ib., 201). O governo deve portanto basear-se mais na severidade do que na brandura; a combinao eo doseamento de ambas a arte mais elevada e mais difcil do homem poltico (Ib., 41). O poltico deve parecer mas tambm ser, pois a aparncia, com o decorrer do tempo, acaba por se desmascarar: "Fazei tudo para parecerdes bons, o que tem imensa utilidade; porm, como as falsas opinies duram. pouco, dificilmente conseguireis parecer bons por muito 88 tempo, se efectivamente o no fordes" (Ib., 44). assim a prpria necessidade de xito que exige e justifica uma substncia moral intrnseca da aco poltica. O ensinamento poltico de Guicciardini, no se afasta, quanto a realismo, do de Maquiavel; distingue-se deste porm, pela ausncia daquele fundamento histrico que nutria a actividade e o pensamento polticos de Maquiavel. Este considera o juzo poltico fundamentalmente ligado ao histrico. Guicciardini distingue o juzo poltico do histrico, ligando-o ao seu interesse particular, ao xito da sua obra pessoal. "H trs coisas", diz-nos, "que gostaria de ver antes de morrer mas creio que por mais que vivesse, no chegaria a ver qualquer delas: uma repblica bem ordenada na nossa cidade, a Itlia liberta de todos os brbaros e o mundo liberto da tirania criminosa dos padres" (Ib., 236). Esta aspirao permanece porm puramente retrica pois a sua particular condio impele-o a servir precisamente a causa que odeia: "0 acolhimento que tive junto de alguns pontfices, fez com que amasse particularmente a sua grandeza; e se no fosse este respeito, teria amado Martinho Lutero como a mim mesmo, no para libertar-me das indoutas leis da religio crist, no modo por que esta vulgarmente entendida e interpretada, mas para ver esta caterva de criminosos, reduzida s dimenses devidas, quer dizer, ou sem vcios ou sem autoridade" (Ib., 28). A personalidade de Guicciardini apresenta pois uma ciso que, pelo
89 contrrio, se no verifica na de Maquiavel: Guicciardini distingue a sua condio particular da tarefa poltica que julga ser a melhor, ou seja, do juzo histrico. Maquiavel unira ambas as coisas e nisso reside a sua grandeza. Os ensinamentos polticos de Maquiavel foram recolhidos em fins do sculo XVI por Joo Botero (nascido por alturas de 1533 e falecido em 27 de Junho de 1617), autor dos dez livros de que se compe a obra Da razo de estado (1589). A prpria noo de razo de estado uma herana do maquiavalismo. "Razo de estado o conjunto dos meios idneos para fundar, conservar e ampliar um domnio". Com isto reconhece arte poltica uma autonomia, uma lgica e uma normatividade intrnsecas que a colocam numa esfera parte, era precisamente isto o que fundamentalmente resultava da obra de Maquiavel. Mas o que caracteriza e constitui novidade em Botero, em confronto com Maquiavel, a incluso entre as exigncias da razo de estado, das exigncias prprias da moral. Afirma assim que " necessria no prncipe a excelncia da virtude" pois o fundamento do estado a obedincia dos sbditos e esta cativada precisamente pela virtude do prncipe. As virtudes podem conseguir a reputao e o amor; entre as que produzem o amor, a principal a justia, e entre as que obtm a reputao, a principal a prudncia. A justia deve ser garantida pelo prncipe, quer nas relaes entre ele e os sbditos, quer nas relaes destes entre si. A prudncia exige que o prncipe se deixe 90 guiar unicamente pelo interesse, nas suas decises. "Por esse motivo no deve fiar-se na amizade, nem no parentesco, nem nas alianas, nem em qualquer outro vnculo relativamente ao qual aquele com quem tratar, no ti-ver fundamento de interesse" (Da razo de estado, ed. de 1589, 60). Preocupado como est, mais com a conservao do Estado do que com a sua fundao e ampliao, Botero prefere as vias cautelosas da prudncia, condena as grandes ambies e os grandes projectos e desconfia da astcia demasiado subtil. A diferena entre prudncia e astcia reside inteiramente na escolha dos meios: a prudncia segue mais o honesto do que o til e a astcia s tem em conta o interesse. Porm, a subtileza da astcia um obstculo para a execuo, tal como um relgio que, quanto mais complexo, mais facilmente se estragar, assim os projectos e empresas baseadas numa subtileza demasiado minuciosa, fracassam a maior parte das vezes (Ib., 70). No tocante religio, Botero, vivendo no ambiente da contra-reforma, considera-a como um dos fundamentos do estado e aconselha o prncipe a rodear-se de um "conselho de conscincia", constitudo por doutores em teologia e em direito cannico, "pois de outro modo carregar a sua conscincia e far coisas que ter mais tarde de desfazer, se no quiser danar a sua alma e as dos seus sucessores". Estamos portanto perante um maquiavelismo temente a Deus, no qual se estabelecem como meios de governo, preceitos de moral, de religio e regras de
procedimento astucioso. 91 347. T. MORO, G. BODIN Das duas correntes nas quais se concretiza o esforo de renovao poltica do renascimento, a outra a que se inclina para o jusnaturalismo. As origens desta corrente residem numa preocupao universal e filosfica que se distingue da preocupao particular e histrica que prevalece na corrente historicista. No se trata aqui de renovar e reconstituir um determinado estado, por meio do regresso s suas origens histricas, mas sim de renovar ou reconstituir o estado em geral pelo regresso ao sou fundamento universal e eterno. A investigao sobre a natureza do estado torna-se aqui mais vasta e desenvolve-se a partir duma base filosfico-jurdica. Procura-se a substncia, princpio ltimo que d fora e valor a todo e qualquer estado e projectam-se transformaes e reformas que possam reconduzi-lo sua forma ideal. Pode-se por conseguinte reconhecer como primeira manifestao de jusnaturalismo precisa-mente aquele desejo de uma forma ideal de estado que se encontra na Utopia de Toms Moro. A forma ideal do estado consiste na verdade, na sua estrutura racional; e a natureza fundamental de todas as comunidades polticas descoberta pela razo. O verdadeiro e propriamente dito naturalismo, o de Gentile e Grcio, desenvolver-se- precisamente a partir deste pressuposto: a identidade existente entre o direito natural e as exigncias de uma estrutura puramente racional da comunidade. 92 Toms Moro nasceu em Londres em 1480. Estadista e literato, ops-se ao acto do parlamento que declarava nulo o matrimnio de Henrique VIII e Catarina e designava como sucessor o filho do segundo matrimnio do rei com Ana Bolena. Por esse motivo foi condenado morte e decapitado = 1535. As suas opinies polticas e filosficas encontram-se expressas na Utopia, publicada em 1516, a qual uma espcie de novela filosfica em que as opinies de Moro aparecem enunciadas por um filsofo de nome Rafael, que conta o que lhe teria sido dado observar numa ilha ignota chamada precisamente Utopia, durante uma das viagens de Amrico Vespcio. O ponto de partida de Moro a crtica das condies sociais na Inglaterra do seu tempo. A aristocracia proprietria de terras empenhava-se ento em substituir o cultivo de cereais pela criao de carneiros de cuja l retirava maior rendimento. Os camponeses eram expulsos de casas e quintas e no tinham outra sada seno a mendicidade (para a qual a rainha Isabel veio a instituir penas severas) e a rapinagem. A anlise desta situao levou Moro a almejar uma reforma radical da ordem social. Na ilha da Utopia a propriedade privada encontra-se abolida. A terra cultivada segundo um sistema de turnos pelos habitantes que esto todos adestrados na agricultura e se substituem nos campos uns aos outros, de dois em dois anos. O ouro e a prata no tm
qualquer valor e so utilizados nos mais humildes utenslios. Todos tm alm disso o seu ofcio prprio e h uma categoria de magistrados denominados sifograntes que 93 velam por que ningum permanea ocioso e por que todos exeram com diligncia a sua arte. Os cidados da ilha trabalham apenas seis horas e dedicam o resto do tempo s letras ou aos divertimentos. A cultura daquele povo inteiramente dirigida para a utilidade comum qual os utopes subordinam todos os interesses particulares. Preocupam-se pouco com a lgica mas cultivam as cincias positivas e a filosofia; completam os conhecimentos racionais com os princpios da religio pois reconhecem que a razo humana no pode, por si s, conduzir o homem verdadeira felicidade. Os princpios que reconhecem como prprios da religio so: a imortalidade da alma, destinada por Deus felicidade; o prmio e o castigo aps a morte, consoante o comportamento nesta vida. Embora tais princpios derivem da religio, os utopes. afirmam ser possvel crer nos mesmos com base em razes e fundamentos humanos. Reconhecem pois que o nico guia natural do homem o prazer e que sobre este guia que se baseia o sentimento da solidariedade humana. Na verdade, o homem no seria levado a ajudar os outros homens e a evitar-lhes o sofrimento se no pensasse que o prazer um bem para os outros; mas aquilo que um bem paira os outros igualmente um bem para ele prprio e na realidade o prazer o fim que a natureza atribuiu ao homem. Porm a caracterstica fundamental da Utopia a -tolerncia religiosa. Todos reconhecem a existncia de um Deus criador do Universo e autor da sua ordem providencial. Cada um, porm, o concebe e venera a seu modo. A f crist 94 coexiste com as outras e s condenada e rejeitada a intolerncia de quem condena ou ameaa os adeptos de uma outra confisso religiosa. A cada um lcito procurar convencer os outros sem violncia ou injria e a ningum permitido violar a liberdade religiosa de ou-trem. Os utopes crem que o culto variado e diverso agrada a Deus e por esse motivo consentem que cada um creia naquilo que lhe aprouver. Apenas est proibida a doutrina que nega a imortalidade da alma e a providncia divina; p"m, aqueles que a professam no so punidos mas somente impedidos de difundirem as suas opinies. A repblica dos utopes. por conseguinte um estado conforme razo e no qual os prprios princpios da religio so aqueles que a razo est apta a defender e a fazer valer, no havendo ali lugar para a intolerncia. Se Toms Moro idealizara no estado utope a estrutura de uma comunidade de acordo com a razo, Joo Bodin, pelo contrrio, coloca-se expressamente no plano da realidade poltica e analisa os princpios jurdicos dum estado racional. Bodin nasceu em Anvers em 1530 (ou 1529), foi jurista e advogado em ]Paris e teve muita influncia na corte do rei Henrique III. Faleceu em 1596 (ou 1597). Nos Six livres de Ia rpublique (1576) prope-se esclarecer a definio de estado que enuncia no comeo da sua obra: "A repblica o governo ntegro de muitas famlias e do que lhos comum, com poder soberano". ]Porm a
validade prpria do estado reside na ltima determinao, ou seja, na soberania, que concebida por Bodin como no tendo 95 fimitos, excepto os que derivam das leis de Deus ou da natureza. O poder absoluto e soberano do estado no consiste num arbtrio incondicional, pois tem a sua norma nas leis divina e natural, norma essa que deriva do seu fim intrnseco, a justia. No h poder soberano onde no houver independncia do poder estatal relativamente a todas as leis e capacidade para as fazer e desfazer. A soberania no um atributo puramente negativo, consistindo em ser dispensado e liberto das leis e costumes da repblica. Tal dispensa pode existir, como no caso de Pompeio, o Grande, em Roma, sem que haja soberania. Consiste, pelo contrrio, no poder positivo de ditar leis aos sbditos e de abolir as leis inteis, substituindo-as por outras, o que no pode ser feito por quem est sujeito s leis ou por quem recebe de outrem os poderes de que se acha investido (Rep., 1, 9.a ed., 1576, 131-132). O limite intrnseco do poder soberano, as leis natural, e divina, permitem o estabelecimento da regra seguindo a qual o prncipe soberano obrigado a cumprir os contratos que celebra, seja com os prprios sbditos, ,seja com o estrangeiro. ele quem garante aos sbditos o cumprimento das convenes e obrigaes mtuas, sendo obrigado a ,respeitar a justia .em, todos os seus actos. Um prncipe no pode ser ,perjuro (Ib., 148). De acordo com estes princpios, ,Bodin -afirma, por um lado, a indivisibilidade do -poder soberano, pela qual este no pode pertencer simultaneamente a um, a poucos ou a todos (aceita a antiga classificao das formas de governo em monarquia, aristocracia e democracia), mas por outro, 96 TOMAS MORO afirma energicamente os limites da soberania que no pode prescindir das leis divina e natural. "A diferena mais importante entre o rei e o tirano reside no facto de o rei se conformar com as leis da natureza, ao passo que o tirano as atropela; enquanto um cultiva a piedade, a justia e a f, o outro no conhece Deus, nem f , nem lei". (Ib., 11, 4, 246). Partidrio da monarquia francesa, Bodin afirma ser o governo monrquico o melhor de todos, contanto que seja temperado pelos governos aristocrtico o popular. Com efeito, prpria do governo aristocrtico a justia distributiva ou geomtrica, que distribui os bens segundo os mritos de cada um e prpria do governo popular a justia comutativa ou aritmtica que tende para a igualdade. A justia perfeita a harmnica que composta por ambas; tal justia prpria das monarquias reais (Ib., VI, 6, 727 e segs.). A repblica bem ordenada semelhante ao homem, no qual o intelecto representa a unidade indivisvel a que esto subordinadas a vida racional, a vida irascvel e a vida sensual. A repblica aristocrtica ou popular sem rei como um homem a quem a actividade intelectual falta ou escasseia. Poder ela viver, como vive o homem que no cuida da contemplao das coisas divinas e intelectuais, no possuir porm aquela unidade nem aquela harmonia intrnsecas que s um prncipe lhe
pode dar, o qual, tal como o intelecto dos homens, unifica e harmoniza as partes do todo (Ib., 756-57). Como Toms Moro, Bodin afirma como prprio de uma comunidade racionalmente organizada 97 O princpio da tolerncia religiosa. Dedicou defesa deste principio o Colloquium heptaplomeres (escrito por alturas de 1593), que consiste num dilogo em que aparecem a falar sete pessoas, representando sete confisses religiosas diferentes (e da o ttulo): um catlico, um luterano, um calvinista, um hebreu, um maometano, um pago e um partidrio da religio natural. Supe-se o dilogo como tendo lugar em Veneza, a qual, ainda antes de a Holanda se ter tornado a sede da liberdade religiosa, era conhecida como o estado mais liberal, como o provava o episdio de Sarpi. O personagem mais significativo do dilogo Toralba, adepto da religio natural. A tese de Torailba consiste em que, dada a oposio existente entre as religies positivas, a paz religiosa s ser possvel por meio dum regresso ao fundamento puramente natural (ou seja, racional) das vrias religies, o qual constitui a substncia comum a todas. Este regresso no exclui porm * persistncia das religies positivas, uma vez que * religio natural, francamente racional e filosfica no est apta a conseguir da plebe ou do vulgo o assentimento que s as cerimnias o ritos podero obter. Uma vez reconduzidas substncia comum que lhes; reconhecida pela razo filosfica, as religies positivas perdem os motivos de oposio e reconhecem-se solidrias, tornando possvel a paz religiosa no seio do gnero humano. Na verdade, esta paz que ora o ideal dos platnicos do Renascimento, de Cusano em diante, tambm o ideal de Bodin que escreve a sua obra no decurso do perodo das guerras religiosas em Frana. Porm a 98 preocupao de Bodin principalmente poltica. O que lhe interessa estabelecer o princpio da tolerncia religiosa como fundamento da ordem civil na melhor das repblicas. 348. O JUSNATURALISMO As doutrinas de Toms Moro e de Joo Bodin contm j o pressuposto jusnaturalismo: o regresso da organizao poltica sua substncia racional. Este pressuposto porm explicado e posto em evidncia pelos autnticos fundadores dos jusnaturalismo moderno, atravs da considerao do estado de guerra. A guerra suspende com efeito a validade das leis positivas e dos acordos entre os estados singulares; no pode todavia suspender a eficcia das normas baseadas na prpria natureza humana e por conseguinte inerentes comunidade humana em qualquer momento e mesmo nas relaes de guerra. A considerao do estado de guerra permito isolar no conjunto das normas jurdicas, aquelas que no dependem nem da vontade nem das convenes humanas e so antes ditadas pela prpria razo do homem. Assim se explica como foi precisamente da anlise do estado de guerra que se induziram as regras bsicas e a natureza do direito natural. Alberico Gentile nasceu no Castelo de S. Genesio em 1552, doutorou-se na
Universidade de Pergia e foi professor de direito em Oxford; faleceu em 1611. Na sua obra De jure belli (1588) chega a formular o conceito de direito natural, partindo do 99 problema de saber se a guerra ser ou no conforme quele direito. A sua resposta negativa. Todos os homens so membros de um grande e nico corpo que o mundo e esto por isso ligados entre si por um amor recproco. nesta sua unidade original que se radica o direito natural que um instinto imutvel baseado na natureza. O homem no pois por natureza inimigo dos outros homens nem h a lugar para a guerra. Esta nasce quando os homens se recusam a seguir a natureza. Guerra justa todavia a guerra defensiva, uma vez que o direito de defesa uma regra ~na que, embora no escrita, nasceu com os homens. Pelo contrrio, no so justas as guerras ofensivas nem as de religio, estas ltimas porque a religio de tal natureza que ningum pode ser obrigado a profess-la por meio de violncia, devendo por conseguinte ser reconhecida como livre (De jure belli, 1, 9). Mas a guerra, apenas possvel no mbito duma comunidade humana, no suspende as normas fundamentais de direito prprias de toda e qualquer comunidade e portanto naturais. O respeito pelos prisioneiros, pelas mulheres, pelas crianas e pelas cidades e o no servir-se de armas traioeiras, fazem parte destas normas que no so prprias deste ou daquele povo mas de toda a humanidade. O princpio da soberania popular foi pela primeira vez afirmado por Joo Altilsio (Althlis), nascido em 1557 numa aldeia do condado de Wittegenstein-Berleburg e que foi professor na Universidade de Herborn, tendo falecido em 12 de Agosto de 1638. Na sua Politica methodice digesta retoma 100 a doutrina de Bodin segundo a qual a validade do estado consiste na soberania que tambm reconhece como nica, indivisvel e intransmissvel. Porm, segundo Altsio, esta soberania reside no povo. Toda e qualquer comunidade humana (consociatio) se constitui atravs dum contrato, expresso ou tcito, que faz dela um corpus symbioticum, um organismo vivo. Este contrato baseia-se num sentimento natural e encontra-se regulado por leis (leges consociationis) que so em parte leges comunicationtis, quer dizer, respeitantes s relaes recprocas entre os membros, e noutra parte, leges directionis et gubernationis, respeitantes s relaes entre os vrios membros da comunidade e o governo. O estado definido como "uma comunidade pblica universal pela qual vrias cidades e provncias se obrigam a possuir, constituir, exercer e defender a soberania (jus regni) mediante a mtua comunicao de obras e coisas e com foras e despesas comuns" (Pol., 9, 1; ed. de 1617. 114). A soberania ou jus
majestatis pertence por conseguinte comunidade popular e inalienvel. O prncipe apenas um magistrado cujo poder deriva do contrato. Junto do prncipe ou "supremo magistrado", encontram-se os foros a quem compete exercer relativamente quele os direitos do povo. Se o povo faltar ao contrato, o prncipe considerar-se- liberto das suas obrigaes; porm, se for o prncipe a viol-lo, o povo poder proceder escolha dum novo prncipe ou duma nova constituio (Ib., 20, 19-21). Estas bases da doutrina de Altsio constituem o procedente histrico da doutrina de Rousseau ( 496). 101 Altsio permanece todavia firme no tocante negao da liberdade religiosa, Com o seu calvinismo intransigente, afirma que o estado deve ser tambm o promotor da religio e que deve portanto expulsar do seu seio tanto ateus como descrentes. Msio o primeiro representante da filosofia jurdica da Refonna. O mais destacado representante dessa filosofia Hugo Grcio (Groot, Grotius), nascido em DeM, na Holanda, em 10 de Abril de 1583. Jurista e homem poltico, tomou parte nas lutas religiosas no seu pas e foi encarcerado aps a derrota do partido dos Armnios (designao derivada do nome do telogo Aminio) cuja defesa tomara (1619). Tendo conseguido fugir dois anos depois por obra da astcia da mulher, viveu em Paris e faleceu em 1645 em Rostock. Numa srie de obras teolgicas (a principal das quais De veritate religionis christianae, 1627), visou superao das diferenas entre confisses religiosas por meio do reconhecimento do significado genuno do cristianismo. O seu propsito , tal como o de Boffin, a pa7 religiosa, a qual se pode conseguir pela reduo da religio aos seus princpios naturais: a existncia de um s Deus, esprito puro, a providncia e a criao. A sua obra fundamental De juri bell ac pacis (1625), composta por uma introduo e trs livros. O ponto de partida desta grande obra a identidade do natural com o racional, identidade esta, baseada no pressuposto de que a razo a verdadeira natureza do homem. Tanto aquela identidade como este pressuposto so teses directamente deri102 vadas da doutrina estica que alimentara durante tantos sculos todas as especulaes sobre a essncia do direito e da comunidade humana. Porm, aquilo em que consiste a originalidade da obra de Grcio e pode ser considerado como caracterstico da fase moderna do jusnaturismo, a libertao do conceito de razo de toda e qualquer implicao teolgica, lIbertao esta expressa por Grcio com a famosa afirmao (que provocou enorme escndalo) de que as normas da razo natural seriam vlidas ainda que Deus no existisse. A partir daqui, a obra de Grcio procura formular a teoria do direito e da poltica em geral como uma pura cincia racional dedutiva, semelhante s matemticas e constituda apenas por princpios evidentes e demonstraes necessrias. Este o nico ponto de vista pelo qual a -teoria do direito poder, segundo Grcio, ascender a uma autntica universalidade, abstraindo de todos os sistemas particulares de direito positivo. "Assim como os matemticos", diz, <trabalham com smbolos abstractos dos corpos, assim eu declaro querer tratar o direito,
prescindindo de todo e qualquer facto particular" (De jure b. ac p., proleg.). A me do direito natural a prpria natureza humana que conduziria os homens a procurarem a mtua associao, mesmo que no precisassem uns dos outros. Por isso, o direito que se baseia na natureza humana teria lugar ainda que se admitisse aquilo que se no pode admitir sem pecar, ou seja, que Deus no existe ou que no se preocupa com as coisas huma103 nas" (Ib., 11). Na medida em que provm por legtima deduo dos prprios princpios da natureza, o direito natural distingue-se do direito das gentes (jus gentium), o qual provm, no da natureza mas do consenso de todos os povos ou de alguns deles, tendo como objectivo a utilidade de todas as naes. Precisamente pela sua origem, o direito natural prprio do homem, que o nico ser racional, mesmo quando se refere a aces (como a criao dos filhos) comuns a todos os animais (Ib., 1, 1, 11). definido por Grcio como "o comando da recta razo que aponta a fealdade moral ou a necessidade moral inerente a uma aco qualquer, mediante o acordo ou o desacordo desta com a prpria natureza racional". As aces sobre as quais incide o comando so por si obrigatrias ou ilcitas e consideram-se portanto necessariamente prescritas ou proibidas por Deus. Neste ponto, o direito natural diferencia-se no s do direito humano mas tambm do direito voluntrio divino que no prescreve nem probe as aces que por si e por sua prpria natureza sejam obrigatrias ou ilcitas, mas antes as torna ilcitas ao proibi-las e obrigatrias ao prescrev-las. O direito natural portanto de tal maneira imutvel que nem mesmo por Deus pode ser mudado. "Assim, como Deus no pode fazer com que dois e dois no sejam quatro, tambm no pode fazer com que aquilo que pela sua razo intrnseca um mal, no o seja" (Ib., 1, 1, 10). Por conseguinte a verdadeira prova do direito natu104 ral aquela que se obtm a priori, mostrando o acordo ou o desacordo necessrio de uma aco com a natureza racional e social. A prova a posteriori, baseada naquilo que na opinio de todos os povos ou na dos mais civilizados de entre eles, se cr legtimo, consiste numa mera probabilidade e funda-se na presuno de que um efeito universal exige uma causa universal (Ib., 1, 1, 12). Do direito natural se distingue o direito voluntrio que no tem origem na natureza mas sim na vontade e pode ser humano ou divino (Ib., 1, 1, 13-15). Porm, s o direito natural fornece o critrio da justia ou da injustia: "Entende-se por injusto aquilo que repugna necessariamente, natureza racional e social> (Ib., 1, 2, 1). A guerra no , segundo Groio, contrria ao direito natural. O fim da guerra a conservao da vida dos membros do todo social ou a aquisio do que necessrio vida e este fim resulta da prpria natureza. Nem mesmo o uso da fora contrrio natureza, a qual dou a todos os animais a fora suficiente para se ajudarem ou se matarem reciprocamente. Grcio distingue trs espcies de
guerras: pblica, privada e mista. A pblica, a que feita por quem tem o poder de governar; a privada, a que feita por quem est privado do ,poder jurisdicional; a mista, aquela em que uma parte pblica e a outra privada (Ib., 1, 3, 1). Da considerao do direito de guerra, Grcio leva a sua anlise a incidir sobre a natureza do poder poltico. O supremo poder poltico (sunima potestas 105 civilis) aquele cuja aco no est sujeita. ao direito de outrem de modo a poder ser anulado pelo arbtrio doutra. vontade humana. Grcio ope-se tese de Alffisio, segundo a qual o poder supremo reside apenas no povo, sendo lcito a este coagir e castigar os reis que fazem mau uso do seu poder. Aceita som reservas a tese contratualista segundo a qual toda e qualquer comunidade humana se baseia num pacto original, mas no deixa tambm de admitir que esse pacto tenha precisamente transferido a soberania, do povo para o prncipe. "Assim como h vrios modos de vida, uns melhores, outros piores, podendo cada um escolher aquele que lhe agrada, tambm o povo pode escolher a forma de governo que deseja, **reguilando-se o direito, no pela excelncia desta ou daquela forma (no que variam as opinies) mas sim pela vontade do povo. Podm, com efeito, existir certas causas pelas quais o povo renuncie completamente ao direito de mandar, confiando-o a outrem: por exemplo, porque determinada lei o colocou em perigo de vida e no encontra quem o defenda, ou porque est oprimido pela misria e no pode obter doutro modo aquilo de que necessita para se manteu (Ib., 1, 3, 8). portanto possvel que a soberania seja integralmente transferida do povo para o prncipe. todavia igualmente possvel que essa transferncia se processe em determinadas condies e que o prncipe prometa aos sbditos e a Deus cumprir co~, regras que no cumpriria sem tal promessa e que por conseguinte no pertencem ao direito natural o divino 106 nem ao direito das gentes, a cujo cumprimento todos os reis so obrigados mesmo sem promessa. Esta limitao no implica o reconhecimento da soberania do poder popular por parte do prncipe e perfeitamente concilivel com o seu poder supremo (Ib., 1, 3, 16). Grcio no admite a existncia do direito de depor o prncipe, por parte do povo, mas aceita que este princpio possa sofrer excepes em caso de extrema necessidade ou em determinadas circunstncias, enumerando em seguida os casos em que se verificam estas circunstncias ou aquela necessidade. Podem elas resultar duma clusula do contrato atravs da qual a soberania deferida ao prncipe ou das condIes deste deferimento, sempre que o prprio prncipe viole tais clusulas ou condies (Ib., 1, 4, 8-14). Ao direito natural est, no pensamento de Grcio, ligada a religio natural a qual o , precisamente por se basear na razo. "A verdadeira religio", escreve (Ib., 11, 20, 45), "comum a todas as pocas, baseia-se essencialmente sobre quatro enunciados. O primeiro consiste em que Deus existe e uno.
O segundo, em que Deus no nenhuma das coisas que se vem e lhes muito superior. O terceiro, em que Deus se ocupa das coisas humanas, julgando-as com perfeita equidade. O quarto, em que o prprio Deus o artfice de todas as coisas exteriores". Estes princpios so to racionalmente slidos. e apresentam-se to reforados pela tradio, que no podem ser anulados pela dvida, donde a sua no aceitao deve constituir culpa pun107 vel. No podem porm ser punidos aqueles que no aceitem noes no igualmente evidentes, como, por exemplo, que impossvel a existncia de mais de um nico Deus, que Deus no nem o cu, nem a terra, nem o sol, nem o ar, nem nada daquilo que vemos, ou que o mundo no existe ab aeterno pois a prpria matria que o constitui foi criada por Deus. Estas noes tomaram-se obscuras em muitos povos sem que estes se possam considerar culpados de tal obscurecimento. No que se refere religio crist, um facto que acrescenta religio original muitas coisas em que se no pode acreditar com base em argumentos naturais mas unicamente atravs do fundamento histrico da ressurreio e dos milagres. Crer no cristianismo, s possvel com o auxlio misterioso de Deus e por conseguinte, pretender imp-lo pela fora das armas contrrio razo (Ib., 11, 20, 48-49). No igualmente possvel atribuir culpa aos cristos por aquelas opinies que se baseiam na ambiguidade da lei de Cristo; ser mais justo punir, pelo contrrio, aqueles que se mostram mpios ou irreverentes para com os seus deuses. (Ib., 11, 20, 50-51). A obra de Grcio no representa apenas uma tentativa grandiosa de fundamentar racionalmente o mundo da poltica e do direito. alm disso o primeiro acto de f na razo humana, a primeira manifestao do empenho, caracterstico da especulao moderna, em reconduzir razo, nela os baseando, todos os aspectos essenciais do homem e do seu mundo. 108 NOTA BIBLIOGRFICA 345. Das obras de Maquiavel, v. a edio de MAZZONI C CASELLA, Florena, 1929. - P. VILLARI, N. M. e o seu tempo, 3.1 ed., Milo, 1912; DE SANCTIS, Histria da Literatura Italiana, VOI. II, BARI, 1912, 67-112; MEINECEP, Die Idee der Staatraison in der neuren Geschichte, Munique Berlim, 1924. ALDERIGIO apresentou um Maquiavel moralizador: Maquiavel, Turim, 1930.-G. SASSO, N. M., histria do seu pensamento poltwo, Npoles, 1958. 346. As Memrias polticas e civis de GUICCIARDINI, em Obras inditas, ed. de CANESTRINI, Florena, 1857; Escritos raros e autobiogrficos, ed. de Palmarocchi, BARI, 1936. BOTERO, Da razo de estado e Das causas da grandeza da eidade, Veneza, 1589, Desta ltima obra h uma edio de M. De Bernardi, Turim, 1930. 347. TOMS MORO, De optimo reipublicae statu deque nova insulae Utopia, edio Lupton, Oxford, 1895.-E. DERMENGHEM, Th. Morus et les utopistes de Ia Renaissance, Paris, 1927. J. BODIN, Six livres de Ia rpublique, Paris, 1576; Colloquium heptaplomeres de abditi.&
rerum sublium arcani&, edio Noack, 1857.-BAUDRILLART, J. B. et son temps, Paris 1853; DILTHEY, Anlise do homem, j citada, passim. 348. H uma reproduo moderna da edio de 1612 do De jure belli de C. PHILLIPSON, Oxford, 1933.-Solmi, De Francisci, Del Vecchio, Giannini, Alberico Gentile, em "Publicaes do Instituto Italiano de direito internacional", Roma, 1933. ALT0SIO, Poltica methodice digesta et aexemplis sacris et profanis Mustrata, Herbon, 1603; Groningen, 1610.---OTTO VON GIERKE, J. Althusius und die En109 twick1ung der naturrechtlichen Staatsth-eorien, Breslau, 1880; trad. ital. de A. Giolitti, Turim, 1943. DE GRcio: Opera omnia theologica, An-isterdo, 1679 e Basileia, 1732. De jure belli ac pacis, Paris, 1625, 1632, 1646; Anisterdo, 1553. H a reproduo fotogrfica da edio de 1646, da Fundao Carnegie.-Dilthey, ob. cit., vol. II, pgs. 39 e segs.,-HAMILTON VEERLAND, H. G. the Father of the Modern Seience of International Law, Nova Iorque, 1917; SCHLCTER, Die Theologie des H. G., Gottingen, 1909; CORSANO, Hugo Grcio, Bari, 1948. lio HI RENASCIMENTO E PLATONISMO 349. NICOLAU DE CUSA: A DOUTA IGNORNCIA O platonismo e o aristotelismo, que tinham sido as duas correntes bsicas da Escolstica, reaparecem igualmente no Renascimento, mas agora j reconduzidas s suas fontes originais e aceites, na sua autenticidade histrica, como meios de renovao do homem e do seu mundo. As disputas em torno da superioridade de uma ou de outra orientao, pressupem a exigncia comum de restituir ambas ao seu sentido histrico original, libertando-as das deformaes e incrustaes sofridas por obra da Escolstica. O antagonismo entre Platnicos e Aristotlicos , no Renascimento o antagonismo de dois interesses culturais diferentes. Platnicos so aqueles que pem em primeiro plano a exigncia 111 da renascena religiosa e que vm por conseguinte, no regresso ao platonismo, considerado como sntese de todo o pensamento religioso da antiguidade, a condio desta renascena. Aristotlicos so aqueles que tendem sobretudo para a renascena da actividade especulativa e especialmente da filosofia natural; vem estes no regresso autntica cincia de Aristteles, a condio da renascena de uma livre e rigorosa investigao naturalista. Neste sentido, o renovador do platonismo Nicolau de Cusa, a mais completa personalidade filosfica de Quatrocentos. Nicolau Chrypffs ou Krebs nasceu em Cusa, perto de Trier, na Alemanha, em 1401. Recebeu a primeira instruo em Deventer, ministrada pelos "irmos da vida comum" que cultivavam o ideal da chamada devotio moderna e se inspiravam
principalmente na mstica alem ( 327-29). Estudou em Heidelberg, e seguidamente, de 1418 a 1423, em Pdua, onde se ligou por amizade a Paulo Toscanelli, mais tarde mdico e astrnomo de fama. Destinava-se ao estudo do direito mas, tendo perdido o seu primeiro processo, voltou-se para a teologia e fez-se padre em 1430. Em 1432 foi pelo cardeal-legado Julio Cesarini, seu antigo mestre em Pdua, chamado a participar no Conclio de Basileia, aps o Conclio, que devia entre outras coisas decidir da unio entre as igrejas latina e grega, foi enviado Grcia, de onde regressou a Itlia na companhia dos pensadores e telogos gregos mais -importantes da poca. Pde assim adquirir grande familiaridade com a lngua e com os clssicos gregos 112 e sobretudo conhecer directamente aquelas obras de Plato das quais extraiu a inspirao fundamental. Nomeado cardeal e bispo de Bressanone, entrou em conflito com Sigismundo, duque do Tiroi, por ordem do qual permaneceu encarcerado vrios anos. Morreu longe da sua diocese, em Tod, na mbria, em 11 de Agosto de 1464. Na sua viagem de regresso da Crcia, tivera a inspirao da sua doutrina fundamental, a da douta ignorncia (De docta ign., 111, 12) a qual vem exposta nas suas duas principais obras: De docta ignorantia e De conjecturis (1440). Seguiram-se depois muitas outras: De querendo Deum e De filiatione Dei (1445), De dato patris luminum (1446), De genesi (1447), Apologia doctae ignorantiae (1449), De idiota (1450), De novissimis diebus (1453), De visiona Dei (1453), Complementum theologicam (1454), De bery11o (1458), De possest (1460), De non aliud (1462), De venatione sapientiae (1463), De apice theoriae, De ludo globi (1464) e Compendium (1464). Nicolau de Cusa escreveu alm disso, vrias obras de geometria, matemtica e teologia. O ponto de partida de Nicolau de Cusa consste nu-ma determinao precisa da natureza do conhecimento, o qual, por ele modelado segundo o conhecimento matemtico. A possibilidade do conhecimento reside na proporo entre o conhecido e o desconhecido. S em relao ao j conhecido que pode avaliar o ainda desconhecido, isso s ser porm possvel se o ainda desconhecido possuir uma certa proporcionalidade (quer dizer, homogeneidade ou convenincia) relativa113 mente ao j conhecido. O conhecimento tanto mais fcil quanto mais prximo esto das que se conhecem, as coisas que se procuram; por exemplo, em matemtica, as proposies mais directamente derivadas dos primeiros princpios, j por si bem conhecidos, so as mais fceis e evidentes, ao passo que as que se afastam desses mesmos princpios so menos evidentes e mais difceis. Daqui resulta que quando procuramos algo de desconhecido e sem qualquer relao com os conhecimentos que possumos, o mesmo escapa a toda e qualquer possibilidade de conhecimento e s nos resta proclamar a esse respeito a nossa ignorncia. Este reconhecimento, da ignorncia, este saber que no se sabe e que Nicolau de Cusa filia na antiga sabedoria de Pitgoras, de Scrates e de Aristteles e tambm na sabedoria bblica de Salomo (Ecles, 1,
8), a douta ignorncia. A atitude da douta ignorncia a nica possvel perante o ser como tal, ou seja, perante Deus. Deus na verdade o grau mximo do ser e da perfeio em geral; "aquilo cuja grandeza no pode ser ultrapassada". Deus, como j o dissera Duns Escoto ( 306), o infinito e entre o infinito e o finito no existe relao. O homem pode aproximar-se indefinidamente da verdade por graus sucessivos de conhecimento, mas uma vez que estes graus sero sempre finitos e a verdade o ser em grau infinito, esta ltima escapar necessariamente ao esforo feito para a sua compreenso. Entre o conhecimento humano e a verdade existe a mesma relao que entre os pol114 gonos, inscritos ou circunscritos e a circunferncia: multiplicando indefinidamente os lados desses polgonos, estes aproximar-se-o indefinidamente da circunferncia com a qual porm jamais se identificaro. A verdade no seu carcter absoluto e necessrio permanecer sempre para alm do conhecimento, que a possibilidade pura de estabelecer relaes definidas (Da d. ign. 1, 3). E, tal como o mximo absoluto, assim tambm o mnimo absoluto escapa ao conhecimento. Este move-se no mbito do que susceptvel de mais ou de menos ao passo que o mnimo absoluto escapa ao mais e ao menos por ser aquilo de que no pode haver menor. O mximo absoluto e o mnimo absoluto coincidem por pertencerem ambos ao domnio da necessidade e da actualidade plenas, ao passo que * domnio do mais e do menos, no qual se move * conhecimento humano em todos os seus graus * da possibilidade e da potencialidade (Ib., 1, 4). Nestas teses fundamentais de Nicolau de Cusa convergem as duas ltimas manifestaes da filosofia medieval: o occamismo e o misticismo alemo. O occamismo declarara j impossvel ao homem o acesso realidade divina e o misticismo alemo tinha procurado este acesso fora do conhecimento, na f, recorrendo teologia negativa do falso Dionsio, o Areopagita. Tambm este ltimo trao, como veremos, se encontra em Nicolau de Cusa. Este no parte, porm, como Occam, do empirismo; o seu pressuposto metafsico e inspirado no platonismo original. Esse pressuposto a incomensurabilidade (a no-proporcionalidade) da relao existente entre 115 * ser como tal e o conhecimento humano, ou seja, * transcendncia absoluta do ser que permanece um valor ou uma norma ideal, no podendo jamais ser atingido nem possudo pelo homem. 350. NICOLAU DE CUSA: O MUNDO DA CONJECTURA Porm, aps ter ensinado a Nicolau de Cusa a transcendncia do ser relativamente ao inundo, Plato ensina-lhe tambm o regresso ao mundo. A diferente natureza do mundo e do homem com respeito ao ser, no implica a condenao total do mundo e do homem, a negao de todo o seu valor. Ao fazer reviver tambm este segundo aspecto do platonismo, Nicolau de Cusa aproximou-se do
espirito do filsofo antigo, tanto quanto se afastou do platonismo medieval. Aps ter desligado Deus, como mximo absoluto, do mundo, volta a encontr-lo no conhecimento humano, justamente por causa deste desligamento. O saber que no se conhece Deus o princpio do seu conhecimento e, em geral, a douta ignorncia, o saber que no se sabe, constitui o princpio e o fundamento de todo o conhecimento humano. Para designar este ltimo, Nicolau de Cusa adopta o termo conjectura que traduz a eikasia platnica (Rep., 511 e; 52), definindo-a como "a assero positiva que participa, por meio de diferente natureza, da verdade como W" (De conjecturis, 1, 13). A conjectura um modo de conhecer (por diferente natureza), ou seja, um conhecimento que remete fundamentalmente 116 para aquilo que distinto de si mesmo, para a verdade como tal mas que precisamente por essa razo est em relao com a prpria verdade, dela participando. Aqui, a diferente natureza do conhecimento relativamente verdade serve para fundamentar o valor do conhecimento que, precisamente pela sua diferente natureza se pe em contacto com a verdade. Contanto que reconhea os seus limites e neles se baseie, o conhecimento humano ser pois, vlido; deixar de o ser quando no for ignorncia douta, ou seja, quando esquecer a sua natureza diferente da verdade que a sua nica participao possvel na mesma verdade. Correlativamente, o mundo, considerado na sua natureza diferente de Deus, implica necessariamente uma relao com Deus e at mesmo a sua identidade com ele. O mundo, , segundo Nicolau de Cusa, um Deus contrado. As palavras contrado e contraco (Icontractio), so extradas de Duns Escoto ( 305) que as adoptara para designar a determinao e a concretizao no indivduo, da substncia comum. Nicolau de Cusa emprega-as com um significado semelhante. O universo o mximo, a unidade, e a infinidade tal como Deus, mas um mximo, uma unidade e uma infinidade que se contrai, isto , que se determina e se individualiza numa multiplicidade de coisas singulares. Deus, que a essncia absoluta do mundo, est no mundo, considerado na sua unidade, mas no rias coisas; o universo que a essncia contrada das coisas, est nestas de modo contrado, quer dizer. multiplicado e diferenciado pela sua multi117 plicidade e pela sua diferena. Resulta daqui que Deus a essncia (quidditas) do sol e da lua (como de todas as outras coisas) no est no sol nem na lua; porm, o universo que a essncia contrada, sol no sol e lua na lua; a sua identidade realiza-se na diversidade e a sua unidade na pluralidade; neste sentido que contrado. (De d. ign., 11, 4). Mas esta relao entre Deus e o mundo, que a prpria transcendncia de Deus relativamente ao mundo pressupe, significa que tudo quanto se pode encontrar no mundo existe, na sua necessidade e na sua verdade, em Deus. Neste sentido, Deus a complicao (complicatio) de todas as coisas. Deus , com efeito, identidade, igualdade, simplicidade; estas trs coisas so porm, a complicatio da diversidade, da desigualdade, da diviso. Por
outro lado, tambm a explicatio, ou seja, o desdobramento da identidade na diversidade, da igualdade na desigualdade, da simplicidade na divisibilidade. Pela sua explicao, Deus est em todas as coisas, embora permanea absolutamente para alm delas, pela sua unidade multiplicvel. A especulao ulterior de Nicolau de Cusa incidiu, ora sobre um, ora sobre outro aspecto desta relao entre Deus e o mundo. Em De conjecturais, De idiota e De visione Dei acentua a inatingibilidade da transcendncia divina, afirmando que a nica frmula capaz de a exprimir a da coincidncia dos contrrios: coincidncia do mximo e do mnimo, da compilao e da explicao, do todo e do nada, do criar e do criado. Esta coin118 cidncia no pode porm ser apreendida nem compreendida pelo homem e por isso, Deus permanece para alm do todo e qualquer conceito humano, como infinito absoluto, relativamente ao qual so nulos os passos de quem caminha na sua direco. Todavia, em De noit aliud (1462) reconhece essa expresso non aflud como a que melhor exprime a transcendncia divina. Significa ela, na verdade, que Deus no est nesta ou naquela coisa e que, portanto, no pode ser conhecido nem determinado mediante coisa alguma que dele seja distinta. Mas a frmula exprime tambm a ideia de que Deus determina tudo quanto distinto de si, abrindo assim caminho compreenso da essncia do mundo. Pe ela em evidncia, por conseguinte, no s o carcter distinto do mundo relativamente a Deus mas tambm a conexo do mundo com Deus; sobre esta conexo que insistem as outras obras de Nicolau de Cusa. Em De possest descobre tal conexo no conceito de possibilidade (posse). Tudo quanto , pode ser o que . Isto vlido mesmo para a realidade absoluta, isto , para Deus: tambm essa pode ser. Porm, nessa, o poder ser no precede o ser actual; o poder ser, a realidade absoluta e a relao entre um e outro, so na realidade absoluta igualmente eternos. Em De venatione sapientiae Nicolau de Cusa distingue o poder fazer (posse facere), o poder transformar-se (posse fieri) e o poder ser feito (posse factum). O poder transformar-se precede o poder ser feito, mas o poder fazer precede o poder transformar-se; por essa razo o poder fazer o principio e o termo 119 da possibilidade de tudo quanto se transforma ou criado. tudo o que pode ser e por conseguinte no pode ser nem maior nem menor, o mximo e o mnimo absolutos e no pode ser outra coisa. Por esse motivo a causa eficiente, a causa formal ou exemplar e a causa final de tudo, o princpio e o termo de todas as coisas criadas (De ven. sap. 39). O conceito da possibilidade serve aqui a Nicolau de Cusa para justificar e tambm para garantir a transcendncia de Deus como posse facere em face do criado e a sua imanncia nele como fundamento do posse fieri e do posse factum. Em De apice theoriae o mesmo conceito de possibilidade reconhecido como o caminho mais directo e imediato para um conhecimento de Deus nos limites da douta ignorncia. Sapientia clamat in plateis, dissera Nicolau de Cusa em De idiota (1, fi. 75 v. ): a verdade revela-,se nas expresses mais simples e
vulgares, empregadas por todos. At mesmo a criana ou o jovem sabem o que significa a possibilidade, quando falam em poder correr, poder falar ou poder comer. No h noo mais fcil nem mais certa do que a do posse, sem a qual no h realidade, nem bem; ela pois que abre caminho compreenso da misteriosa essncia da realidade absoluta. Assim, partindo da douta ignorncia, ou seja, dos limites que geralmente se aceitam e se reconhecem no saber humano, Nicolau de Cusa conseguiu de certo modo restabelecer sobre esses mesmos limites uma relao entre Deus, de um lado, e o 120 mundo e o homem, do outro, relao esta que lhe permite uma nova avaliao do homem. 351. NICOLAU DE CUSA: A DOUTRINA DO HOMEM A doutrina da douta ignorncia implica a ideia de que o homem no pode aventurar-se ao conhecimento de Deus sem ter em conta os seus limites. Implica todavia tambm a ideia de que nesses mesmos limites pode ele obter um conhecimento de Deus cuja. validade garantida pela ntima relao que subsiste entre o homem e Deus. A velha doutrina da semelhana entre a mente divina e a mente humana reafirmada por Nicolau de Cusa no sentido de que o homem pode descobrir nos limites da sua subjectividade a verdadeira face de Deus. E com efeito, a verdadeira face de Deus no se determina quantitativa nem qualitativamente, nem segundo o -tempo, nem segundo o espao; a forma absoluta, a face de todas as faces. Assemelha-se queles retratos que parecem fitar o observador, qualquer que seja a posio em que este se encontre. Quem olhar Deus com amor, ver o seu rosto olh-lo amorosamente. Quem o olhar com ira, ver tambm irado o seu rosto. E quem o olhar com alegria, v-lo,- irradiando alegria. A objectividade humana empresta a sua prpria cor ao semelhante divino, tal como uma lente colorida empresta a sua cor aos objectos observados. Mas precisamente nesta multiplicidade de rostos divinos, 121 nesta multiplicao dos semblantes de Deus consoante a atitude subjectiva de quem o procura, que se encontra a revelao de Deus na sua verdade, Deus no pode revelar-se seno atravs da subjectividade do homem e esta subjectividade no uni impedimento procura de Deus e sim condio dessa procura (De vis. Dei, 6). A subjectividade humana aqui reconhecida por Nicolau de Cusa em todo o seu valor; para se aproximar de Deus, o homem no deve neg-la nem aboli-Ia, mas antes refor-la e desenvolv-la. ela uma fora assimiladora que se transforma em sensibilidade diante das coisas sensveis e em razo diante das coisas racionais (De id., 111, 7). unia semente divina que com a sua fora rene em si (Complicans) os modelos de todas as coisas e foi lanada terra para que possa dar os seus frutos e produzir por si, conceptualmente, a totalidade das coisas (Ib., III, 5). A subjectividade humana actividade, capacidade de iniciativa e de
desenvolvimento e possibilidade de realizar sempre novas aquisies no domnio do saber. "A natureza intelectual do homem", diz Nicolau de Cusa (Excitationes, V), " capaz de Deus porque potencialmente infinita: pode, na verdade, compreender sempre cada vez mais". E ela tambm o princpio de toda e qualquer avaliao e at mesmo a prpria condio do valor. No quer isto dizer que seja o intelecto a criar o valor; todavia, sem o intelecto no haveria maneira de o apreciar e por conseguinte todas as coisas criadas careceriam de valor. Se Deus quis que sua obra fosse atribudo um valor, teve que criar 122 o intelecto humano que o nico a poder estim-lo (De ludo globi, 11). Por isso o homem no tem necessidade de romper os limites da sua subjectividade para se elevar at Deus. pergunta de como ser possvel alcanar Deus, de como poder o homem, atingir Deus, que todo no todo, em si, recebe aquele do prprio Deus a resposta: S teu e serei teu. Aqui reside a verdadeira liberdade do homem. O homem pode, se quiser, pertencer-se a si prprio e s se for de si prprio que Deus ser seu. Por essa razo, Deus, embora no o necessitando, espera que o homem escolha ser de si prprio (De vis. Dei, 7). Assim a ltima consequncia da douta ignorncia, ou seja, do reconhecimento da transcendncia absoluta de Deus, o apelo divino ao homem para que escolha livremente ser ele prprio, reconhecendo-se na prpria finitude, aceitando-a e realizando-a. Somente se no se negar a si prprio e livremente aceitar ser o que , se colocar o homem numa relao autntica com Deus e Deus ser seu, tal como ele de si prprio. Os limites que a douta ignorncia reconhece ao homem, constituem assim, no a negao mas antes o fundamento do valor do homem. A criatura um "Deus ocasionado" ou um "Deus criado", que no pode tender para outra coisa seno para ser aquilo que e s desse modo consegue de alguma maneira reproduzir a infinidade de Deus (De d. ign., 11, 2). O valor que a criatura tem em si, dentro da sua finitude, claramente patenteado pela encarnao do Verbo, o qual, ao assumir a natureza humana, que recolhe e unifica 123 em si todas as coisas, nobilitou e elevou, conjuntamente com o homem, todo o mundo natural Ub., 111, 2). O mistrio da encarnao assim para Nicolau de Cusa, expresso do vnculo que une a natureza finita do homem, justamente na medida em que finita, natureza infinita de Deus, ou seja, a demonstrao do valor da subjectividade humana baseada precisamente naqueles limites de que a douta ignorncia constitui o reconhecimento e a aceitao. 352. NICOLAU DE CUSA: A NOVA COSMOLOGIA O princpio da douta ignorncia leva Nicolau de Cusa a uma nova concepo do mundo fsico, a qual, por um lado se vai ligar s pesquisas dos ltimos
escolsticos, especialmente de Occam, e por outro preludia directamente a nova cincia de Kepler, Coprnico e galileu. Em primeiro lugar, o reconhecimento dos limites prprios da realidade e do valor do mundo conduz Nicolau de Cusa a negar que uma parte deste-a celeste-seja possuidora de uma absoluta perfeio e seja portanto ingnita e incorruptvel. A doutrina de Aristteles, que a filosofia medieval tinha feito sua, segundo a qual existe uma separao entre a substncia celeste ou etrea, dotada de movimento circular perfeito, e a substncia elementar dos corpos sublunares sujeitos ao nascimento e morte, doutrina essa j posta em dvida por Occam, acaba por ser definitivamente aniquilada por Nicolau de Cusa. No 124 reconhece ele, na verdade, a nenhuma parte do mundo o privilgio da perfeio absoluta: todas as partes do mundo tm o mesmo valor e todas se aproximam mais ou menos da perfeio, mas nenhuma a alcana pois esta pertence nica-mente a Deuis. O mundo no tem centro nem circunferncia como o supusera Aristteles. Se os tivesse e se por conseguinte tivesse dentro de si o seu princpio e o seu termo, haveria fora do mundo outro espao e outra realidade, ambos destitudos de qualquer verdade. S Deus centro e circunferncia do mundo; porm um centro e uma circunferncia no corpreos e antes ideais, significando apenas que todo o mundo nele se rene (complicans) e que ele est em todo o mundo (explicans). Da construo do mundo pode dizer-se unicamente que <tem o centro em toda a parte e a circunferncia em nenhum lugar, uma vez que circunferncia e centro so Deus que est em toda a parte e em nenhum lugar (De d. ign. 11, 12). Por isso, o mundo, no pode dizer-se infinito (infinito apenas Deus), to-pouco pode conceber-se finito, uma vez que destitudo de limites espaciais entre os quais se encerre (Ib., 11, 11). A terra no se encontra pois no centro do mundo e por essa razo no pode deixar de ter movimento. No esfrica, embora tenda para a esfericidade, uma vez que a esfericidade Perfeita no pode ser atingida pelas coisas criadas, assim como se no pode atingir o mximo absoluto: relativamente a cada coisa de forma esfrica, h sempre 125 outra cuja forma esfrica mais perfeita. O movimento que a anima circular, embora no seja, pela mesma razo perfeitamente circular. Mas isto no implica que ela seja a mais vil e baixa de todas as coisas criadas. uma nobre estrela, com luz, calor e influncia diferentes da das outras estrelas. A gerao e a corrupo que nela se verificam, verificam-se provavelmente tambm nos outros astros e, possivelmente, tambm esses astros so habitados por seres inteligentes, de uma espcie diferente da nossa. O sol no diferente da terra. Se nos fosse permitido penetrar nele, veramos, sob a
sua luz, uma terra central, rodeada de uma zona aquosa, seguidamente, de uma atmosfera mais pura do que a nossa e por fim, de uma zona gnea superficial; estas quatro esferas sucessivas comportar-se-iam como os quatro elementos terrestres. Por outro lado, se um homem se encontrasse no espao exterior terra, v-la-ia resplandecer como o sol. E se a lua no nos aparece to luminosa como o sol, pelo facto de estarmos demasiado perto dela, quase na sua zona aquosa (Ib., 11, 12). Os movimentos que se verificam na terra como em qualquer outra parte do mundo, tm por fim salvaguardar e garantir a ordem e a unidade do todo. De acordo com esse fim, os corpos pesados tendem para a terra, os corpos leves para o alto, a terra para a terra, a gua para a gua, o ar para o ar, o fogo para o fogo, o movimento do todo, tanto quanto possvel, para o movimento circular, e todas as formas para a forma esfrica, como se 126 v nas partes constituintes dos animais e das rvores e ainda no cu (Ib., 11, 12). Foi esta talvez a primeira formulao do princpio da gravidade. A concepo do mundo aparecia completamente renovada pela obra de Nicolau de Cusa. Retoma ele tambm a teoria do impetus que os filsofos da escola occamista ( 325) tinham formulado para explicar o movimento dos cus e dos projcteis, negando o princpio ari,stotlico, segundo o qual o motor deve acompanhar o mvel na sua trajectria e reconhecendo assim a existncia da lei da inrcia que constitui uma das bases da mecnica moderna. Todo e qualquer corpo, como a bola lanada pelo jogador, prossegue indefinidamente no seu movimento at que o poso ou outros obstculos o faam afrouxar ou parar (De ludo globi, 1). A mecnica de Leonardo da Vinci foi buscar a Nicolau de Cusa a sua inspirao. 353. O PLATONISMO ITALIANO Enquanto Nicolau de Cusa elaborava a sua filosofia que, ao renovar o platonismo, renovava igualmente a concepo do homem e do seu mundo, travava-se em Itlia a polmica sobre o platonismo e seu valor relativamente ao aristotelismo. Esta polmica fora iniciada por Jorge Gemisto Pletone, nascido em Constantinpla por alturas de 1355 e falecido em 1464. Tendo vindo a Itlia para participar no Conclio de Florena, que devia decidir a unio das igrejas grega e latina, foi dos que fomentaram 127 aqui o conhecimento da lngua grega e portanto o estudo directo das obras clssicas. Pletone ora partidrio de uma unificao total das crenas religiosas com base no platonismo. Via em Plato aquele em cujo nome a humanidade poderia encontrar a sua unidade religiosa e por conseguinte a paz; neste esprito escreveu o Confronto das filosofias de Plato e Aristteles (por volta de 1440) que deu origem a uma longa e acesa polmica durante a qual foram alternadamente. exaltadas as figuras dos dois filsofos. A esperana da unificao das religies no era um sonho exclusivo de Pletone. O prprio Nicolau de Cusa, alguns anos depois, manifestava em De pace fidei (1454) a mesma esperana e
suplicava a Deus que permitisse aos homens o vener-lo numa nica religio, ainda que tivesse de subsistir a diversidade de cerimnias e ritos. Nicolau de Cusa baseava especulativamente a sua esperana na doutrina que j expusemos ( 351), da diversidade dos rostos divinos. Pletone, baseia-a numa rovivescncia do platonismo no qual via porm, no j a doutrina original de Plato e sim a dos Neoplatnicos. e Neopitagricos da filosofia helenstica ( 117 e segs.) mesclada de elementos orientais aos quais o prprio Pletone se refere expressamente. Com efeito, h entre as suas obras um comentrio aos chamados Orculos caldaicos, por ele atribudos a Zoroastro, mas que na realidade so uma misturada de teses pertencentes ao neoplatonismo siraco ( 125). A obra de Pleitone importante apenas pelo facto de exprimir a convico, pr pria do Renascimento, de que a renovao do homem e da sua vida religiosa 128 e social s se poder atingir mediante um regresso s doutrinas filosfIcas dos antigos. As ideias religiosas de Gemsto foram combatidas por Gennadio, telogo da igreja oriental, tambm participante no conclio de Florena, por Teodoro Gaza e por Jorge de Trebizonda que escreveu contra ele uma obra intitulada Confronto das filosofias de Aristteles e Plato (sobre estes v. 360). Em defesa de Pletone interveio Baslio Bessarion (nascido em Trebizonda em 1403 e falecido em Ravena em 1472) com um escrito intitulado Contra um caluniador de Plato. A preocupao inicial de Bessarion a de no condenar Aristteles para defender Plato, demonstrando, pelo contrrio, na medida do possvel, a sua concordncia fundamental. A superioridade de Plato relativamente a Aristteles reside, segundo Bessarion, no facto de Plato, mais do que Aristteles, se ter aproximado da verdade revelada pelo cristianismo, embora sem a alcanar plenamente. Bessarion pretendo porm, expressamente, reconduzir as doutrinas, quer de Plato, quer de Aristteles, ao seu genuno significado; este igualmente o objectivo das suas inmeras tradues: da Metafsica de Aristteles, dos Memorveis de Xenofonte, dos fragmentos de Teofrasto. O interesse que estas discusses provocaram pela filosofia de Plato exprimiu-se pela fundao em Florena da Academia platnica. Ficou esta a dever-se iniciativa de Marclio. Ficino e Cosme de ,Mdicis, e reuniu um crculo de pessoas que viam num regresso s doutrinas autnticas do platonismo antigo a possibilidade de renovao do homem e 129 da vida religiosa e social. Os sequazes da Academia, especialmente Marclio Ficino e Cristvo Landino, viam no Platonismo a sntese de todo o pensamento religioso da antiguidade e portanto tambm do cristianismo que, por esse, motivo, seria a religio mais elevada e verdadeira possvel. A doutrina de Plato ora na verdade considerada por Ficino (Prohemium ad Merc. p. 1836) como a ltima e mais perfeita manifestao daquela teologia de que Mercrio Trismegisto fora o iniciador e que fra depois continuada e
desenvolvida por Orfeu e Pitgoras. A concordncia entre esta teologia e o cristianismo explicava-se atravs do reconhecimento de uma fonte comum das doutrinas de Plato e Moiss, fonte essa contida nos ensinamentos de Mercrio Trismegisto que teriam constitudo o ncleo de toda a teologia posterior. O regresso ao platonismo no significava pois para os sequazes da Academia platnica um regresso ao paganismo mas antes uma renovao do cristianismo, pela sua reconduo fonte original que teria sido precisamente o platonismo. A este regresso ao antigo est ligada outra faceta da Academia platnica, o anticuriailismo. Contra as pretenses de supremacia poltica do papado, a Academia platnica defendia o regresso s ideias imperiais de Roma pelo que o De monarchia de Dante ora frequentemente objecto de comentrios e discusses. Entre os membros da Academia e alm dos inmeros letrados e crudtos da poca que se congregavam em redor de Loureno, o Magnfico, e de Ficino, destaca-se Cristvo Landino que viveu entre 1424 e 1498. Nas Disputationes 130 camaldulenses e no De nobilitate atimae, dilogos em que falam os membros ilustres da Academia, encontram-se expostas e defendidas as doutrinas de Ficino. Porm a figura que constituiu o elemento animador da Academia, foi o prprio Marclio Ficino. 354. FICINO: A ALMA, CPULA DO MUNDO Marclio Ficino nasceu em Figline, no Valdarno em 19 de Outubro de 1433 o fez os seus estudos em Floren a e Pisa. Tendo entrado em contacto com Cosmo de Mdicis, deste recebeu encorajamonto e auxlio, bem como o encargo de traduzir Plato. Na villa Careggi oferta de Cosme, Ficino entregou-se durante muitos anos ao estudo e difuso do platonismo, reunindo sua volta aquele crculo de amigos e discpulos que constitua a Academia platnica. Tendo adoecido gravemente em 1474, em vo buscou alvio, como ele prprio conta (Ep., I, fis. 644), na filosofia e nos escritores profanos; s se curou depois de ter feito uma promessa a Maria. Resolveu ento pr a sua actividade filosfica ao servi o da religio e formulou por isso claramente o princpio directivo da sua especulaoa unidade intrnseca da filosofia e da religio. Nos ltimos anos da sua vida assistiu s contendas que afligiram Florena e tentativa de Savonarola a que foi hostil. Faleceu em 3 de Outubro de 1499 e foi sepultado em S. Maria del Fiore. Ficino, quando jovem, escrevera um tratado intitulado De voluptate 131 (1457). A primeira obra escrita aps a crise foi De christiana religione, em 1474, que escreveu primeiro em italiano e depois em latim. Em 1482 sau a TheoJogia platonica; em 1489 o De vita; em 1492 saram os 12 livros das Epstolas que na realidade consistem numa coleco de ensaios e opsculos. Importantes so os comentrios a Plato, especialmente o que incide sobre o Banquete. Ficino traduziu para latim os dilogos de Plato, as Enadas de Plotino e inmeras outras obras de escritores gregos (Atengoras, Jmblico, Proelo, Porfirio, Psofios, Xencrates, Sinsio, Spusipo, Pitgoras e Hermias). O objectivo declarado da especulao de Ficino o de renovar e promover a unio entre religio e filosofia. Esta unio existiu na antiguidade em todos aqueles povos entre os quais religio e filosofia tiveram amplo desenvolvimento. A sua separao provocou a decadncia tanto da religio que se tornou superstio ignorante como da filosofia que se tornou iniquidade e astcia. A renovao conjunta da religio e da filosofia s se pode atingir
atravs do restabelecimento da sua correlao e para tanto necessrio recorrer ao platonismo no qual mais estreito o nexo existente, entre religio e filosofia e que por conseguinte permite a revivescncia de tal nexo na sua fecundidade (De christ. rel., prom., II, Theol. plat., prom.; In Plotin., prom.). O prprio ttulo da principal obra de Ficino exprime-lhe a inteno: a Theologia platnica tem por objectivo renovar a especulao crist, ligando-a ao platonismo. Porm, uma especulao assim entendida deve necessriamente ter no homem o 132 seu centro. A teologia medieval tem por objecto nicamente Deus mas a teologia tal como Ficino a entende, tem realmente por objecto o homem,, uma vez que o nico fim de uma especulao religiosa ou de uma religio filosfica a renovao do homem. O significado que para Ficino contm a redeno confirma esta posio central do homem. A redeno uma reformatio, uma reforma ou uma renovao, pela qual no homem e atravs do homem, toda a natureza criada aparece restituda sua forma e reconduzida a Deus. Ficno observa que a reforma das coisas disformes para a divindade uma tarefa no menos importante do que a sua formao inicial. Pela redeno, Deus "declarou e fez com que nada existisse de disforme nem de desprezvel no mundo, uma vez que uniu as coisas terrenas ao rei do cu, adequando-as assim, de certo modo, s coisas celestes" (De christ. rel., 18). pois no homem que reside o centro e o ncleo de todo o ser. * Pode dizer-se que toda a especulao de Ficino incide sobre esta posio central do homem no mundo. Toda a realidade se diferencia em cinco graus: o corpo, a qualidade, a alma, o anjo e Deus. A alma encontra-se no meio e por isso a terceira essncia ou essncia mdia: quer ascendendo do corpo para Deus, quer descendo de Deus at ao corpo, encontra-se sempre no terceiro grau. Por conseguinte o ncleo vivo da realidade. Deus e o corpo so muitssimo diferentes um do outro e constituem os dois extremos do ser. O anjo no **hga ~s dois extremos pois est completamente 133 voltado para Deus, descurando os corpos. A qualidade tambm os no liga pois se inclina paira o corpo, descurando as coisas superiores. A alma prendo-se s coisas superiores sem deixar as inferiores; imvel como aquelas e mvel como estas; concorda com umas e deseja-as a ambas. Move-se em direco a um extremo sem abandonar o outro e por conseguinte a verdadeira cpula do mundo (Theol. plat, 111, 2). Introduz-se entre as coisas mortais sem ser mortal, pois introduz-se ntegra e no repartida e portanto retira-se ntegra e no dispersa. Enquanto rege os corpos adere ao divino e por isso no companheira e sim senhora dos corpos. simultaneamente todas as coisas porque traz em si a imagem das coisas divinas das quais depende, e os motivos ou modelos das coisas inferi que de certo modo produz. considerada por Ficino como o centro da natureza, a intermediria de todas as coisas, a cadeia do mundo, a face do todo, o noleo e cpula do mundo (Ib., 111, 2). Em virtude desta sua natureza, a alma necessria economia e ordem do mundo e por isso deve ser indestrutvel. Ficino retoma todos os argumentos
aduzidos por Plato e pelos Neoplatnicos em apoio de tal, indestrutibilidade; porm o principal argumento e o que mais intrinsecamente se prende com a natureza por ele atribuda alma o que se baseia na participao que esta tem no infinito, A alma capaz de medir e dividir o tempo, e ainda de remontar indefinidamente no curso deste em direco ao passado ou de o estender infinitamente em direco ao futuro. ela que descobre 134 e define a infinidade do tempo assim como tambm a verdadeira medida de tal infinidade. Mas a medida deve ser proporcional quilo que mede: a prpria alma deve ser portanto infinita, como medida do infinito (Ib., VIII, 16). E esta infinidade revela-se com efeito nas suas prprias aspiraes. A posse de corta coisa, a obteno de um certo prazer, bastam para satisfazer todos os restantes seres animais. S o homem jamais est contente com o que possui (Ib., XIV, 7). Ao lado desta caracterstica da infinidade, que distingue o homem das outras criaturas, h uma outra, igualmente distintiva do homem e que a liberdade. Ficino admite a existncia de uma trplice ordem divina do mundo: a providncia, que a ordem que governa os espritos, o destino que a ordem que governa os seres animados e a natureza, que governa os corpos. O homem porm livre porque, embora participando destas trs ordens, no determinado por nenhuma delas. A sua natureza mdia permte-lhe participar duma ou doutra, segundo a sua livre escolha, mas sem ficar submetido ao seu determinismo. Participa nestas trs ordens de modo activo e no passivo: participando na providncia, a exemplo do governo divino, governa-se a si prprio e governa a casa, o estado e os **am,*mais; participando no destino com a imaginao e a sensibilidade (que o ligam aos outros animais) governa o prprio destino; e participando na natureza, adquire o **d~io dos corpos. Por isso est liberto da necessidade e segue, livremente ora esta, ora aquela lei, servindo-se delas 135 como instrumento mas sem lhes sofrer os efeitos (lb., XIII). A sua verdadeira escolha portanto a escolha da liberdade. Retomando a frmula de Nicolau de Cusa, Ficino afirma que o homem, ao decidir-se pela aco, opta mais por pertencer a si prprio, do que por servir este ou aquele e por isso o acto verdadeiramente livre aquele que escolhe a Liberdade (lb., IX, 4). Tambm para Ficino, tal como para Nicolau de Cusa, o homem no deve procurar ser seno ele prprio. 355. FICINO: A DOUTRINA DO AMOR Ao carcter medianeiro da alma est ligado o amor que justamente a actividade pela qual a alma desempenha a sua funo medianeira. Ficino parte duma descrio mtica das origens do amor na qual se revela j a sua ideia dominante. Os trs
mundos criados por Deus, o da mente anglica, o da alma e o das coisas sensveis, provm todos do caos. Em primeiro lugar, Deus cria a substncia ou essncia da mente anglica a qual, nos primeiros momentos, obscura e informe. Porm, uma vez que nasceu de Deus, volta a Deus pelo desejo. Movida pelo desejo e iluminada pelo raio divino, determina-se e forma-se, e nela se determinam e formam as ideias modelos da criao. Este processa que vai do caos determinao consumada das ideias arqutipos da criao o processo do amor. 136 MARSILIO FICINO o primeiro regresso da mente a Deus o nascimento do amor; a infuso do raio divino a nutrio do amor, a inflamao da mente o incremento do amor, o aproximar-se a mente de Deus o arrebatamento do amor; a formao da mente a perfeio do amor. Assim pois, foi a criao guiada pelo amor, do caos at ao cosmos; e a caracterstica do cosmos como tal a beleza. Por via da beleza, o amor conduziu a mente primeiramente disforme at formao acabada (In Conv. Plat. de am. comm., 1, 3). Porm o que faz do amor a actividade medianeira do universo a natureza recproca das relaes que estabelece entre Deus e o mundo. No apenas o mundo que tende para Deus e se forma nesta sua tendncia, mas o prprio Deus que ama o mundo. O homem no poderia amar Deus se este mesmo o no amasse. Deus volta-se para o mundo num acto livre de amor, toma-o a seu cuidado e torna-o vivo e activo. O amor explica a liberdade de aco tanto divina como humana, uma vez que livre e nasce espontaneamente da livre vontade (lb., V, 8). Deus forma e governa livremente o mundo e livremente o homem se eleva at Deus. O amor o vnculo do mundo e ele que abole a indignidade da natureza corprea, a qual resgatada pela solicitude de Deus (Theol. plat., XVI, 7). "So trs", afirma Ficino, "os benefcios do amor: reconduzindo-nos integridade, de divididos que estvamos, reconduz-nos ao cu; coloca cada um no seu lugar e faz com que, nesta distribuio, todos ~ satisfeitos, extingue todos os aborreci137 mentos e acende na alma uma alegria continuamente nova, tornando-a feliz, com um doce o brando prazer" . (In Conv., IV, 6). Deste modo o amor , no s a condio da ascenso do homem para Deus, mas tambm o prprio acto da criao, ou seja, da descida de Deus at criatura. As duas doutrinas fundamentais de Ficino, a da alma medianeira e a do amor, constituem as facetas originais do platonismo do Renascimento. Repete ele incontestavelmente o esquema neoplatnico, servindo-se porm deste para acentuar a funo central do homem. O centro da especulao original o prprio Deus, unidade absoluta, da qual tudo deriva e qual tudo regressa. O centro da especulao platnica de Ficino, como de Nicolau de Cusa, o homem na sua funo medianeira e por conseguinte no amor como justificao e acto desta funo. O homem situado pelo platonismo de Nicolau de Cusa e de Ficino numa posio particularmente sua que faz dele um elemento indispensvel da ordem e da unidade dinmica do ser. Contnua este a ter a sua origem e a sua perfeio em Deus, encontrando porm a sua verdadeira unidade vivente e autojustificante no homem e no amor que o liga a Deus e que Deus lhe retribui. A noo dos limites do homem e da transcendncia do ser relativamente a esses limites parte essencial do platonismo
histrico original. Mas mesmo estes limites constituem, para Nicolau de Cusa e Ficino, a originalidade da natureza humana e o fundamento do seu valor e da sua liberdade. 138 356. LEO HEBREU A teoria ficiniana do amor foi retomada por Leo Hebreu, nascido em Lisboa entre 1460 e 1463 e falecido entre 1520 e 1535, provavelmente em Ferrara. Deixou escritos os Dilogos de **anwr, editados pela primeira vez em Roma em 1535 e que tiveram logo inmeras tradues e vastssima difuso. A doutrina ali exposta substancialmente a de Marclio Ficino. Descreve-se ali o amor como o duplo processo que vai de Deus s criaturas e do homem para Deus e que faz do homem o centro do universo, o ser sem o qual o mundo inferior estaria completamente separado de Deus. Atribui-se ao amor a circularidade do processo csmico que deriva de Deus e a Deus regressa. O intelecto humano, ao unir-se ao corpo, transporta a luz divina do mundo superior para o inferior e faz assim participar de Deus tudo quanto foi criado. O amor de Deus o desejo de que o mundo, que lhe inferior em perfeio, atinja o grau mximo de perfeio e beleza, o amor do homem, atravs do qual o prprio mundo ama Deus, tem como fim ltimo a plena e absoluta unio com Deus. Esta metafsica. do amor, que j se encontrava em Nicolau de Cusa e em Ficino, constitui um trao comum do platonismo do renascimento. Prestava-se ela, com efeito, no s a justificar a posio central do homem no mundo mas tambm e sobretudo, a exprimir o carcter religioso daquele platonismo que via na filosofia platnica a mais perfeita sn139 tese religiosa da antiguidade, reconhecendo nela a nica via para a renovao religiosa do homem. 357. PICO DE MIRNDOLA: A PAZ REGENERADORA O interesse religioso domina tambm a complexa figura de Pico. Joo Pico, conde de Mirndola, nasceu em Mirndola em 24 de Fevereiro de 1463. Aps haver estudado em Bolonha e Ferrara, foi a Pdua entre 1480 e 1482, onde entrou em contacto com o averrosmo ensinado na Universidade local. Pico no tinha a preveno dos humanistas contra os "brbaros" filsofos medievais. Numa carta de 1485 para Ermolao Brbaro ( 340), condena a atitude dos que sacrificam a aparncia substncia e se deixam derrotar pelas especulaes daqueles que pouco cuidam dos ornamentos do discurso. Precisamente pelo desejo de entrar em mais estreito contacto com os filsofos rabes e escolsticos, cuja doutrina predominava ainda na Universidade de Paris, dirigiu-se a esta cidade. Em 1485 voltou ali, com o fim de anunciar uma grande discusso entre eruditos convocados em Roma a expensas suas, sobre 900 teses; algumas destas revelaram-se herticas e foram condenadas. Pico defendeu-as na sua Apologia. Para fugir condenao, dirigiu-se a Frana e em seguida fixou-se em Florena, onde manteve relaes de amizade com Loureno, o Magnfico, Ficino, Polinizado e com o prprio Savonarola pelo qual se deixou, nos ltimos anos da sua
140 vida, converter ideia da necessidade de uma reforma moral da igreja. Morreu em Florena em 17 de Novembro de 1494, ao que parece, envenenado pelo secretrio. Entre as suas obras, alm da Apologia e da carta para Brbaro, cabe referir as seguintes: Heptalus**, comentrio aos primeiros captulos do Gnese, editado em 1489; De ente et uno (1492), tentativa de sntese entre aristotelismo e platonismo; e Oratio, de dignitate hominis. Aps a sua morte foram publicadas as Disputationes adversus astrologos, obra que uma crtica da astrologia, as Conclusiones que desenvolvem as 900 teses que tinha preparado para a discusso em Roma o Comentrio a uma cano de amor de Gerolamo Benivieni. De temperamento passional (viu-se implicado num clamoroso escndalo por causa do rapto de uma dama florentina), investigador incansvel e irrequieto, erudito excepcional, Joo Pico no alcanou na sua especulao, nem a profundidade de Nicolau de Cusa nem a clareza de Ficino. No seu pensamento convergem os mais diversos elementos, derivados do platonismo e do aristotelismo, da cabala e da magia, e ainda da escolstica medieval, rabe, hebraica e latina, sem chegarem a fundir-se numa unidade especulativa original. O que o liga principalmente ao platonismo o interesse religioso que domina a sua actividade especulativa. No discurso De hominis dignitate que preparou como introduo discusso sobre as 900 teses que deveria ter tido lugar em Roma e que tem sido justamente designado como o manifesto do Renascimento ita141 liano, expe Pico admirvelmente o e~ e o plano do seu filosofar, plano este, ao qual se mantm fiel em todo o resto da sua obra. O ponto de partida do discurso a superioridade do homem sobre as restantes criaturas, que era o tema favorito dos humanistas bem como de Nicolau de Cusa e de Ficino. Ao homem, ltimo produto da criao, no ficara disponvel nenhum dos bens j distribudos na totalidade s outras criaturas. Deus decretou ento que lhe fosse comum tudo o que individualmente destinara aos outras. "Por essa razo acolheu o homem como obra de natureza indefinida e aps t-lo colocado no corao do mundo, falou-lhe deste modo: No te dei, Ado, nem lugar determinado, nem aparncia prpria, nem qualquer prerrogativa especial, para que obtenhas e conserves o lugar, a aparncia e as prerrogativas que desejares, de acordo com a tua opinio e esse mesmo desejo. A natureza limitada dos outros est contida nas leis por mim prescritas. Determinars a tua, livre de qualquer obstculo e segundo o teu arbtrio a cujo poder te confiei. Coloquei-te no centro do mundo para que da pudesses avistar melhor tudo quanto h no mundo. No te fiz nem celestial nem terreno, nem mortal nem imortal, para que, sendo de ti prprio o quase livre o soberano artfice, te moldasses e esculpisses na forma da tua preferncia. Poders degenerar nas coisas inferiores, poders, segundo a tua vontade, regenerar-te nas coisas superiores que so divinas" (Or. de hom. dign., fis. 131 v. ). A indeterminao da natureza humana ofer~ ao 142 homem a livre escolha do seu ser e coloca-o face alternativa de degenerar ao nvel dos
animais irracionais ou de se regenerar em Deus. Mas este regenerar-se no seno a renascena do homem, ou seja, aquela renovao que o Renascimento, na sua totalidade, tende a realizar. Qual a via dessa renascena? precisamente aqui que se revela o aspecto religioso da filosofia de Pico. A renascena realizar-se- atravs de vrios graus de sabedoria, culminando no mais alto que o constitudo pela sabedoria teolgica. "Mas j que no podemos **dean-la", acrescenta Pico, "ns, que somos carne e temos o gosto das coisas terrenas, aproximemo-nos dos antigos padres, que destas coisas, para eles to familiares e to prximas, nos podero dar riqussimo e seguro testemunho," (lb., fis. 132 v. ). Por conseguiinte, a via da renascena consiste uma vez mais no regresso aos antigos. E nos antigos que Pico encontra o caminho da sabedoria purificante e libertadora. A cincia moral dominar o mpeto das paixes, a filosofia natural conduzir o homem de um grau a outro da natureza e a teologia aproxim-lo- de Deus. Mas a regenerao no ter lugar seno na paz e pela paz, este o fim ltimo do homem e um fim religioso. Aquela no podero conduzir, nem a dialctica, nem a cincia moral, nem a filosofia natural, as quais se limitaro a indicar o caminho, S a teologia indissolvel e a amizade harmnica, pela qual todos os homens no s se harmonizam naquela nica mente que est acima de todas as mentes, como, de modo inefvel, se 143 fundem num s" (Ib., fls. 133 v.'). Estas paz e amizade que para os Pictricos constituam o fim da filosofia, cifram-se na paz celeste que a mensagem crist anunciou aos homens de boa vontade, e que cada um de ns deseja para si prprio, aos seus amigos e a toda a sua poca. Esta paz regeneradora tambm aquela que Pico quer afirmar e estabelecer filosoficamente, mostrando o acordo fundamental de todas as principais manifestaes do pensamento, dos Pictricos a Plato e Aristteles, dos Neoplatnicos aos Escolsticos e dos averrostas cabala e magia. Aquilo que impele Pico tentativa de demonstrar o acordo fundamental entre as mais diversas doutrinas filosficas e religiosas da humanidade, no uma necessidade de quietude eclctica mas sim a convico de que s por meio da paz filosfica poder o homem regenerar-se e renascer para a sua verdadeira vida. Esta verdadeira vida que a felicidade e o sumo bem definida por Pico como o regresso ao princpio (De ente et uno, VH, prom.). Regresso ao principio pode significar para cada ser, regresso ao seu prprio princpio ou -regresso ao princpio absoluto que Deus. Mas o regresso ao seu prprio princpio na realidade um regresso a si prprio e desse modo, o homem poder obter apenas a beatitude terrena e no a eterna. Por conseguinte, s no regresso a Deus residem a vida eterna e a paz definitiva do homem. Se o platonismo e o aristotelismo do Renascimento representam respectivamente as exigncias opostas da vida religiosa e da investigao cientfica, a conciliao, entre Plato e Aristteles representa para Pico 144 a harmonia e a paz entre aquelas exigncias. A teologia no nega a filosofia natural, antes a completa assim como Plato completa Aristteles: o homem no pode renunciar nem a conhecer a natureza nem a transcend-la. A aspirao paz regeneradora sugere a Pico o nico tema original da sua especulao teolgica. Apresenta na verdade, para ilustrar a tradicional
semelhana entre a criatura e Deus, um esboo que, segundo ele prprio afirma, jamais foi apresentado por outros. V a unidade das criaturas diferenciada em trs formas: a primeira a unidade pela qual cada coisa una; a segunda aquela pela qual uma criatura se une a outra e todas se unem para formarem o mundo; a terceira aquela pela qual todo o universo forma, com o seu artfice, um todo uno, tal como o exrcito com o seu chefe. Esta trplice unidade que est presente em todas as coisas, faz de cada coisa a imagem da trindade divina. E portanto, aquilo que de semelhante a Deus h em cada criatura singular, aquilo que constitui o seu maior valor, a unidade, a paz ou a concrd,ia da sua constituio intrnseca, paz e concrdia que a ligam s outras criaturas e a Deus. 358. PICO DE MIRNDOLA: CABALA, MAGIA E ASTROLOGIA Todas as obras de Pico tendem a realizar o projecto de uma paz filosfica. A esta paz deveria conduzir a grande discusso de Roma e nela se 145 inspira fundamentalmente o discurso introdutrio De hominis dignitate. A obra De ente et uno destina-se demonstrao do acordo existente entre Plato e Aristteles. Por sua vez, o Heptalus destina-se demonstrao do acordo existente entro a filosofia antiga e a narrao bblica da criao. E a ltima obra de Pico, a que dirigida contra os astrlogos, destina-se tambm a ilustrar a concordncia existente entre as doutrinas mgicas e astrolgicas e o cristianismo. A narrao bblica da criao interpretada por Pico no Heptalus em sentido alegrico: v nela a descrio da formao dos trs mundos admitidos pelos filsofos antigos, ou sejam, o mundo inteligvel ou anglico, o mundo celestial e o mundo sublunar, aos quais se junta uni quarto que o homem como microcosmo, no qual converge todo o resto da realidade. A obra De enle et uno descobre a concordncia entre Plato e Aristteles na determinao das categorias fundamentais da realidade que so o ser, o uno, o verdadeiro e o bem, categorias estas que culminam e se unificam em Deus. Nas duas obras, como nas outras, Pico recorre continuamente a doutrinas orientais, mgicas e cabalsticas, na convico de que a origem de todo o saber humano seja uno e que esta unidade, reconstituindo-se, torne o prprio saber capaz da regenerao do homem. A magia, a cabala e a astrologia desempenham portanto um grande papel na especulao de Pico. A magia, para ele, no ms do que "a realizao completa da filosofia natural" (Or. de hom. 146 dign., fis. 136 v ). H tambm uma magia que opera, baseando-se exclusivamente na obra e na autoridade dos demnios; porm coisa execranda e monstruosa que nada tem a ver com a verdadeira magia, a qual se destina a fazer do homem o senhor das foras naturais. Esta, perscruta a ntima concrdia do universo a que os Gregos chamam simpatia e que, consiste nas mtuas relaes das coisas naturais. Os sortilgios dos magos no so mais que as iluses apropriadas, pelas quais se tornam visveis os milagres
ocultos nos penetrais do mundo e nos mistrios de Deus. E assim como o campons casa os olmos com as videiras, assim tambm o mago casa a terra com o cu, ou seja, as foras inferiores com os dotes e faculdades superiores (Ib., fis. 137). O mago no transgride, portanto, a ordem natural mas antes a submete, pondo em acto e ajustando as energias que jazem disseminadas e dispersas na natureza (Concl. mag., XI, XIII). Se a magia serve para penetrar os mistrios da natureza, a cabala serve para penetrar os mistrios divinos. Pico considera-a, na verdade, como o melhor guia para a interpretao das sagradas escrituras, sob o vu dos smbolos, no seu genuno significado. As doutrinas da cabala (ver 244) parecem pois a Pico estar em perfeito acordo, no s com a doutrina da igreja e com a filosofia crist mas tambm com as de Pitgoras e Plato (Or. de hom. dign., fis. 138 vo). A convico de que atravs da cabala as doutrinas bsicas do cristianismo remontam a uma tradio antiqussima, refora a vontade 147 de Pico em renovar a religiosidade do seu tempo mediante um regresso s suas fontes originais. A sua atitude porm diferente no que se refere astrologia. Em face do determinismo astrolgico que fora afirmado pela filosofia rabe da Idade Mdia e dominava ainda a filosofia natural do ocidente, Pico faz-se paladino da liberdade do homem. A astrologia pode ser entendida em dois sentidos. Em primeiro lugar astrologia matemtica ou especulativa, quer dizer, astronomia, a qual se preocupa unicamente com a determinao das leis matemticas do universo. Em segundo lugar astrologia judiciria ou divinatriz, preitendendo fazer provir do curso e da natureza dos astros os acontecimentos da vida terrena. Contra esta ltima se dirige a obra de Pico Disputationes in astrologiam. Converte ela, na sua opinio, os homens, de livres a escravos e f-los ainda desgraados, ansiosos, inquietos o infelizes em quase todos os seus actos (Ib., 1, prom.). absurdo supor que o nascimento de um homem como Aristteles seja devido influncia dos astros. Muitos outros nasceram ao mesmo tempo que ele e no possuram o seu talento. Este, recebeu-o ele de Deus e no do cu; o corpo apto a servi-lo, recebeu-o dos pais o to-pouco do cu. Escolheu a filosofia e essa escolha foi fruto da sua livre vontade; nada existe nele que se possa atribuir influncia dos astros (Ib., 111, 27). A aco dos cus, que Pico considera, tal como Aristteles, de natureza imutvel e incorruptvel, deveria ser uniforme e constante e no explicaria por essa razo, a variedade e a mutabilidade, dos acontecimentos. 148 terrenos (Ib., HI, 7). Ps e acima de tudo, a astrologia inverte a relao hierrquica que prpria, da realidade, pois subordina o superior ao inferior, visto que, se o cu sem dvida superior s coisas terrenas, o homem, como ~o e liame do universo inteiro superior ao pr prio cu. Atravs da investigao cientifica, o homem encontra-se em posio de compreender as leis naturais servindo-se disso para dominar a natureza. A
astrologia anularia esta liberdade e torn-lo-ia. escravo (Ib., IV, 8). Pico defendia, deste modo, contra uma das mais difundidas e arraigadas crenas do seu tempo, a dignidade do homem como responsabilidade em face do prprio destino. 359. FRANCISCO PATRIZZI O mesmo propsito de renovao religiosa, prprio do platonismo renascentista, domina a obra de Francisco Patrizzi. Nascido em Cherso, na Dalmcia, em 1529, estudou em Veneza e em Pdua. De 1576 a 1593 ensinou filosofia platnica, em Ferrara e seguidamente foi chamado para idnticas funes em Roma, onde faleceu= em 1597. As suas principais obras so as Discussiones peripateticae e a Philosophia nova. A primeira tem como assunto a aniquilao da filosofia aristotlica e a segunda, a construo de uma filosofia platnica que possa servir de base f crist. Patrizzi considera a filosofia aristot lica como inimiga da religio, uma vez que nega a omnipotncia divina e o governo divino do 149 mundo; afirma ainda que os Escolsticos no so verdadeiros filsofos na medida em que no fizeram seno reformar a filosofia aristotlica sem cuidarem de conhecer as coisas tal como so. A sua filosofia tem por objectivo a renovao e defesa da religio crist atravs do regresso s doutrinas pr-aristotlicas e particularmente s crenas orientais, pitagricas e platnicas. Ao dedicar a sua obra ao papa Gregrio XIV, convida-o a mandar ensinar a sua filosofia em todas as escolas crists, chegando a crer que tal provocaria o regresso dos protestantes ao seio da igreja. A Philosophia nova est dividida em quatro partes: a panaugia ou doutrina da luz, a panarchia ou doutrina do primeiro princpio de todas as coisas, a panpsichia ou doutrina da alma e a pancosmia ou doutrina do mundo. Patrizzi afirma, com os Neoplatnicos, como primeiro princpio, o Uno. O Uno a causa primeira, absoluta e incondicionada, e no pode ser qualificado seno como o bem. Do Uno se distingue a unidade, gerada a partir dele, e da unidade os outros graus do ser at aos menos perfeitos: a sabedoria, a vida, o intelecto, a alma, a natureza, a qualidade, a forma e o corpo. O conjunto destas nove ordens da realidade constitui o universo inteiro. O conhecimento humano um acto de amor que tende a regressar unidade original, suprimindo a separao entre os elementos do ser. definido por Patrizzi como "a unio com o objecto cognoscvel" (Panarch., XV) e consiste no acto de amor pelo qual o homem tende para o objecto, procurando suprimir a distncia que o separa deste ltimo. Mas 150 este identificar-se o intelecto cognoscitivo com o objecto, esta coitio, s possvel com base numa identidade de natureza entre sujeito e objecto. Se o sujeito alma e vida, tambm o objecto alma e vida; Patrizzi defende a animao universal das coisas, o panpsiquismo, como sendo o nico princpio capaz de explicar a sua conexo no mundo, a simpatia que as liga at formarem o todo e as torna penetrveis ao intelecto humano (Panpsich., IV). A fora natural que distribui vida e movimento a todos os corpos a luz; Patrizzi retoma assim a fsica da luz que j fora
defendida pelo platonismo medieval de Roberto Grossetesa e de S. Boaventura. NOTA BIBLIOGRFICA 349. A primeira ed. das obras de NICOLAU DE CUSA alem e intitula-se Opuscula varia; no traz indicao do ano nem do local da impresso mas foi provvelmente editada em Estrasburgo em 1488. Outras eds.: Paris, Basileia, 1565. O De non aliud foi descoberto e editado por Ubinger, Die Gotteslehre des N. C., Mnster, 1888, pgs. 138 e segs, Do De dacta ignorantia h uma nova edio de P. Rotta, J3ar@, 1913. A Universidade Heidelberga iniciou uma nova edio critica, das obras de Nicolau de Cusa: De idiota, De sapientia, De mente, a cargo de L. Baur, Leipzig, 1940; De concordantia catholica, a cargo de O. Kallen, Leipzig, 1940; etc. Sobre Nicolau de Cusa: Vanstenbeerghe, Le cardinal N. de Cues, Paris, 1930; CAssiRER, Indivduo e cosmos na filos. do ren., cap. 1; M. de GandUlac, La phil. de N. de C., Paris, 1941. 151 352. Sobre a fsica de Nicolau de Cusa: DuHEm, tudes sur Lonard de Vinci, vol. II, Paris, 1909, pags. 97 e segs.. 353. Algumas obras de Pletone, entre as quais o Confronto, encontram-se em P. G. de Migne, 160.1 Sobre ele: MESZKOWSKi, Estudos sobre o platonismo do renascimento, em Itlia, 1936, cap. U. O texto e a traduo latina de Ficino dos Orculos caldaicos em apndice a este, Jtimo volume. As obras de Bessarione em P. G., 161.,. Sobre ele: MOMER, Kardinal Bessarion aIs Theologe, Humanist und Staatsman, Paderborn, 1923. Sobre a Academia platnica: DELLA TORRF, HiStria da Academia platnica de Florena, Florena, 1902. De C. Landino, as Disputationes foram publicadas em Florena por volta de 1480, o De vera nobilitate indito e o De nobilitate animae foi publicado por GENTILE e PA0L1 nos "Anais das Universidades toscanas". Gentile, Estudos sobre o renascimento, pgs. 87 e segs. Trads. platnicas de Ficino. Florena, 1483-E-1; de PLOTINO, 1492; a Thealogia platonica, Florena, 1482. Edi. das obras completas: Basileia, 1561, 1567, 1576; Paris, 1641. Sobre Ficino: Saitta, A filosofia de M. P., Messina, 1923; BARON, Willensfreiheit und Astrologie bei F. und Pico d. M., Berlim, 1929; P. O. KRISTELLER, The Philosophy of M. P., Nova Iorque, 1943 (com bibl.). 356* Os Dilogos de, amor de Le Hebreu foram reeditados por C. GEBHARDT, Heidelberga, 1929 e por CARAMELLA, Bari, 1929. FONTANESI, O problema do amor na obra de Leo Hebreu, Veneza, 1934. 357. De Pico, foram as Conclusiones editadas em Roma em 1486 e em Colnia em 1619; a Apologia, em Roma em 1489; o Hoptalus em Florena em 1490; 152 as outras obras, em Boilonha, em 1496. A Oratio de hominis dignitate, o Heptalus, o De ente et uno e o Comentrio cano de G. BENIVIENI foram reeditados e traduzidos por Garin, Florena, 1942, assim como as Disputationes adversus astrologiam
dininatrirem, Florena 1946. Os trechos citados so tirados da trad. de Garin. Sobre Pico: GARIN, Jodo Pico de Mrndola, Fiorena, 1937; G. BARONE, J. Pico de Mirndota, Milo-Rorna, 1948-49. 359. As Di&cussiones peripateticae de PATRIZZI: Veneza, 1571; Basileja, 1581. A Nova philosaphia: Ferraxa, 1591; Veneza, 1593; Londres, 1611. T. GREGORY, em "Renasci~to", 1953, pgs. 89 e segs.. 153 IV RENASCIMENTO E ARISTOTELISMO 360. O PRIMEIRO ARISTOTELISMO Unidos, no campo da historicidade, pelo esforo de regressar s doutrinas autnticas de Plato e Aristteles, os Platnicos e Aristotlicos, do Renascimento opunham-se uns aos outros na defesa de interesses contrrios: religio e investigao naturalista. Os Platnicos viam no platonismo a sntese do pensamento religioso da antiguidade e por conseguinte no regresso ao platonismo a condio da renascena religiosa Os Aristotlicos viam no aristotelismo o modelo da cincia naturalista e por conseguinte no regresso ao naturalismo a renascena da pesquisa da natureza. A polmica entre Platnicos e Aristotlicos, portanto o choque de duas, exigncias de evidente e igual necessidade para 155 o homem; e as tentativas de conciao (como p. ex. a de Pico) tendem a harmonizar estas exigncias num conceito do mesmo homem mais prximo da perfeio. O regresso ao aristotelismo original foi iniciado em Itlia por aqueles eruditos, gregos que tomaram parto no Conclio de Florena para a reunio das duas igrejas ou que se refugiaram naquele pas aps a queda de Constantinopla nas mos dos Turcos (1453). O primeiro foi Jorge Scholario, chamado Gennadio, ~o em Constantinopla e falecido por volta de 1464. Adversrio de Genusto Pletone, condenou e combateu o seu escrito sobre as Leis. Num escrito Sobre as dvidas de Pletone relativamente a Aristteles defendeu Aristteles contra Pletone, aduzindo a sua maior conciliabil-idade com a doutrina crist. Baseava-se evidentemente na tradio escolstica que estudara o de que fora partidrio; traduzira mesmo para o grego, obras de S. T~ e de Gilberto Porrotano (o De sex principis). Parece ser-lhe tambm atribuvel a traduo para o grego das Summulae logicales de Pedro Hispano, ( 289) que foi mais tarde erradamente considerada obra original do filsofo bizantino Mguel Psollos. A polmica contra Pletone foi continuada por Jorge Trapezunzio, nascido provavelmente em Creta, em 1396 e falecido em 1484- Chegou este a Itlia por volta de 1430 e escreveu em 1464 a Comparatio Platonis et Aristotelis qual respondeu por volta de 1469 o caildeal Bessarion ( 353). A actividade de Trapezunzio dirige-se principalmente
156 explicao e comentrio das obras aristotlicas, nomeadamente da lgica, que expe em De re didectica, no sem utilizar elementos tirados da tradio escolstica. No tm mais interesse filosfico as obras de Teodoro Gaza, nascido por volta de 1400 em Tessalnica e falecido por volta de 1473. Tendo chegado a Itlia em 1440, permaneceu durante alguns anos na escola de Vitorino da Foltre e ensinou primeiro em Ferrara e depois em Roma. Travou polmica com Bessarion sobre questes aristotlicas e escreveu contra Pletone. Traduziu inmeras obras de Aristteles e o tratado Sobre as plantas de Teofrasto. Quem primeiro contraps o Aristteles original ao Aristteles da escolstica rabe e latina foi Ermelao Barbaro (1453-93) de Veneza, o qual compendiou a tica e a filosofia natural, e traduziu a Retrica de Aristteles e o Co~ntrio de Gemisto. Professa o mais absoluto desprezo pelos "filsofos brbaros"", incluindo entre estes, tanto Alberto e Toms como Averris. V na forma rude e inculta da sua linguagem a primeira e mais grave traio ao esprito original do classicismo que pretendeu encerrar os mais altos pensamentos na forma literria mais nobre. Os filsofos brbaros; foram pelo contrrio, defendidos por Pico de Mirndola na famosa carta dirigida a ErmelaO na qual o repreendia e simultneamente aconselhava * buscar neles, para alm da rude forma literra, * substncia do seu pensamento, do qual Pico julgava extrair ainda ensinamentos ~. Na ver157 dade, porm, a intolerncia de Erinolao pela barbrie da forma era intolerncia pelas superstruturas que o pensamento medieval acrescentara ao Aristteles original. 361. AVERROISTAS E ALEXANDRISTAS Mais um passo no sentido de um regresso ao autntico Aristteles foi o que deram aqueles aristotlicos que, polemicando contra o aristotelismo averroista, pretendem manter-se fiis aos textos de Aristteles e dos seus antigos comentadores, especialmente Alexandre de Afrodsia. O campo aristotlico apresentava-se a Marclio Ficino dividido em dois partidos: Alexandristas e averrostas. "Os primeiros", afirmava Ficino (In Plotin., prom.), "crem que o nosso intelecto mortal enquanto os outros sustentam que nico em todos os homens; tanto uns como os outros destroem os alicerces de toda e qualquer religio, principalmente porque negam a aco da providncia divina sobre os homens, e tanto uns como os outros so infiis ao seu prprio Aristteles". O grande centro Averrosta era, ao tempo, a Universidade de Pdua ( 312). O averrosmo dominou aquela Universidade desde a primeira metade do sculo XIV at meados do sculo XVII-, foi em Pdua que apareceu em 1472 a primeira edio em latim das obras de Averris a que se seguram posteriormente, no sculo XVI, numerosas outras. Notam-se todavia entre os partidrios do chamado averro srno, 158 diferenas importantssimas de doutrina e sobretudo frequentes atenuaes das teses que mais directamente se opem religio crist. por obra de Pedro Pomponazzi, nasce o alexandrismo que pretende regressar, em matria de interpretao de Arstteles, ao comentrio antigo de Alexandre, o prprio averrosmo sofre por isso modificaes tais que frequentemente
difcil classificar os pensadores aristotlicos nesta ou na outra corrente, Dum modo geral pode dizer-se que os Averrostas tendem para o pantesmo, na medida em que consideram o intelecto humano nico e idntico ao divino, ao passo que os Alexandristas afirmam a transcendncia de Deus relativamente ao mundo. Uns e outros tm em comum os temas da sua especulao que so a imortalidade da alma e a relao entre a liberdade e a ordem necessria do mundo. Uns e outros tm sobretudo em mira a afi-rmao da ordem necessria do mundo e por conseguinte negam o milagre e, dum modo geral, a interveno directa de Deus nos acontecimentos do mundo. O aristotelismo do Renascimento tende por isso a delinear uma concepo do mundo baseada numa ordem imutvel e necessria e com tal assenta as bases de uma cincia da natureza que tenha por objecto precisamente essa ordem. Tanto Alexandristas como Averrostas recorrem alm disso e com frequncia chamada "doutrina da dupla verdade" , entendida no sentido j explicado ( 283) de admisso da existncia de uma posio entre as concluses da filosofia e as crenas da religio, oposio essa que no julgam 159 possvel conciliar. Este ponto de vista nada tem que ver com o de Averris. ao afirmar que a religo tinha por objecto as mesmas verdades que a filosofia mas revestia-as de uma forma que as tornava mais aptas a servirem de guia e salvao das multides. antes, pelo menos na aparncia, o registo de um conflito entre filosofia e religio, entre razo e f; o uma vez que se exclui a possibilidado de soluo do conflito e se admite ora a verdade de um, ora a de outro, dos dois termos em contradio pode designar-se esta posio poi "doutrina da dupla verdade". bvio que nada sabemos da sinceridade em que cada pensador reconhecia a "verdade" da religio: as condenaes, as retrataes e os arrependimentos tornam impossvel qualquer investigao sobre este ponto que alis seria estranha a um estudo histrico da filosofia. Tudo o que nesta matria se pode fazer, consiste em precisar a posio explcita dos filsofos e em expor as bases tericas da mesma. A figura de Nicoletto Vernia. (1420-99), que ensinou em Pdua desde 1465 at morrer, pode ter-se como tpica do averrosmo paduano do sculo XV. Conhecido pelo seu feitio desabusado e faceto, Vernia sustentou as teses tpicas do averrosmo, provocando a interveno do bispo de Pdua que em 1489 proibiu as discusses sobre a unidade do intelecto sob pena de excomunho. Vemia pagou bem os seus erros. Enquanto que as suas obras se perderam, ficaram-nos dele alguns escritos menores, nos quais a sua orientao naturalista se torna evidente atravs da superioridade 160 que atribui filosofia natural relativamente metafsica e medicina em face da jurisprudncia; esta ltima est, segundo Vernia, ligada s aces particulares dos homens, ao passo que a medicina respeita natureza que o reino do universal e do necessrio. Discpulo de Vernia foi Agostinho Nifo, nascido em Sessa, na Campnia, em 1473, e falecido em 1546, o qual ensinou, primeiro em Pdua e seguidamente em Pisa, Bolonha, Salerno e Roma. Numa obra intitulada De intellectu et daemotbus afirma que no existem outras substncias espirituais e imortais para alm das inteligncias motoras dos cus. Publicou em 1495-97 as obras de Averris, por si anotadas, a seguir
escreveu uma obra em que atacava o De imortalitate animae de Pomponazzi, recorrendo frequentemente a argumentos tomistas. No campo da moral, Nifo mostra-se partidrio de uma espcie de sabedoria mundana, alcanada pelos escritores antigos em que tem como objectivo o prazer; e, a acreditarmos nos testemunhos (ou intrigas) dos escritores seus contemporneos, a sua conduta foi em tudo conforme quela orientao. Um misto de platonismo e aristotelismo resulta das doutrinas de Leonico Tomeo, nascido em Venexa em 1456 e falecido em Pdua, onde ensinava, em 1531. Afirma ele que a oposio entre Plato e Aristteles reside mais na linguagem do que no pensamento e que a diversidade das expresses se deve ao facto de Aristteles adoptar -mais do que 161 Plato -uma linguagem fsica. De acordo com este princpio, procura encontrar na prpria doutrina de Aristteles o fundamento da demonstrao da imortalidade da alma feita por Plato (De imortalitate animae, 1524). A demonstrao platnica baseia-se no princpio de que a alma se move por si; por conseguinte no pode ser destruda, nem por ela prpria, pois o movimento no pode falhar-lhe, nem por outra coisa, dado que o seu movimento no depende de outra coisa. Ora, segundo Torneo, Aristteles teria negado que a alma se movia por si mas umicamente no sentido do movimento espacial que nem o prprio Plato lhe atribua. Do mesmo modo se pode conciliar a doutrina platnica da reminiscncia com a aristotlica da alma como tabula rasa que recebe do exterior as sensaes: na verdade, a expresso aristotlica refere-se alma que no recebeu ainda sensaes ou que no recordou ainda os conhecimentos que j possui. Tomeo sustenta que existe uma alma do mundo que tudo anima e governa e constitui o principio do conhecimento humano. Assim o reconhecem tambm os peripatticos, os quais admitem que o nosso esprito sobre a influncia do exterior e no tem sentido diverso a doutrina averrosta da unidade do intelecto. Cognominado "o segundo Aristteles" pelo seu conhecimento da filosofia aristotlica, foi Alexandre Achillini, que nasceu em Bolonha em 1463 e ensinou medicina e filosofia, primeiro em Pdua e depois em Bolonha onde faleceu em 1512. A sua 162 obra principal constituda pelos Quodlibeta de intelligentis; foi todavia igualmente autor de obras de anatomia e de medicina. A maneira de proceder de Achillini um bom exemplo daquela "doutrina da dupla verdade" cujo significado especfico se esclareceu atravs do confronto entre os filsofos deste perodo. Achillini ilustra e defende com grande vigor todas as teses tpicas do averrosmo latino, mas no deixa de lhes opor e com pouco menos energia, as teses tradicionais da escolstica. Talvez (ou com certeza) o seu corao esteja com as primeiras; afirma todavia que, ao transmitir a palavra do "filsofo" (ou seja, Aristteles, na interpretao averrosta) no pretende fazer suas as concluses. este, muito provvelmente, apenas um subterfgio, para ter a possibilidade de defender e ilustrar sem perigo o averrosmo. Assim, enquanto por um lado afirma que, segundo Aristteles, Deus faz mover o mundo por necessidade e que o mundo eterno, por outro sustenta que Deus faz mover * mundo por um acto livre e que o prprio, mundo * as inteligncias motoras dos cus foram criadas por Deus.
Reconhece que Averris tinha razo ao afirmar que, de acordo com a doutrina de Aristteles, h um nico intelecto possvel em todos os homens; sustenta porm que Aristteles no tinha razo, uma vez que o intelecto a forma que confere a cada homem o seu ser individual. O intelecto activo , pelo contrrio, reconhecido por ele como sendo o prprio Deus; chama-lhe intellectus qui esi omnia facere e considera-o como a ac~ade 163 divina que determina a inteleco e por conseguinte tambm a felicidade, do homem. Posio semelhante, encontra-se nas obras de Marco Antnio Zimaira (14601523) que foi tambm professor em Pdua e que interpretava a unidade do intelecto, afirmada pelo averrosmo, como unidade dos princpios fundamentais do conhecimento. 362. POMPONAZZI: A ORDEM NATURAL DO MUNDO O fundador da escola dos Alexandrstas foi Pedro Pomponazzi (cognominado Pereto ou Peretto) o qual nasceu em Mntua em 16 de Setembro de 1462. Tendo obtido em 1487 o grau de doutor em medicina em Pdua, ensinou depois filosofia naquela Universidade, em concorrncia com Alexandre AchiIlini, segundo o costume ento em voga de contrapor um professor a outro no ensino da mesma matria. Encerrada a Universidade paduana aps a batalha da Ghiaradadda (1509), Pomponazzi foi leccionar para Ferrara e dali para Bolonha onde escreveu todas as suas obras e se suicidou em 18 de Maio de 1524. A sua obra mais famosa, De immortalitate animae de 1516. Acusado por muitos de impiedade, Pomponazzi no sofreu qualquer aborrecimento, principalmente por causa do apoio de Pedro, Bembo e dos magistrados bolonheses. Pde at, em 1518, responder s acusaes 164 */* numa Apologia, do que lhe resultou ser alvo de novos ataques, entre os quais o de Nifo (De immortalitate animae libellus, 1518). A este replicou Pomponazzi com o De Defensorium. As suas outras principais obras, De naturalium effectuum admirandorum causis sive de incantationibus e De fato, libero arbitrio et praedestinatione foram publicadas j depois da sua morte. O objectivo essencial da especulao de Pomponazzi consiste no reconhecimento e justificao da ordem racional do mundo. Pomponazzi levado a negar ou a rejeitar todo e qualquer facto ou elemento que contradiga o ideal de um mundo necessriamente ordenado com base em princpios imutveis. V em Aristtoles o filsofo que xejeitou a interveno directa de Deus ou de outros poderes sobrenaturais nas coisas do mundo e quis entender o mundo como puro sistema racional de factos. Pomponazzi remete para o domnio da f tudo quanto miraculoso e at a prpria crena nos milagres, pretendendo assim desimper o caminho da investigao racional de toda e qualquer ingerncia estranha e restitu-Ia sua liberdade. A doutrina averrosta da dupla verdade tambm o seu gua: a igreja ensina a verdade; ele limita-se modestamente a declarar a opinio de Aristteles. Na realidade, porm, a opinio de Arstteles para ele a procura racional que no pretende guiar-se seno por si prpria, ao passo que a f, ou seja a reverncia perante a autoridade, uma vez reconhocida como falha de toda e qualquer base racio165
nal ou moral, se esvazia de sentido e deixa de ser um obstculo investigao. Estes tragos do filosofar de Pomponazzi so evidentes sobretudo na obra De incaiuationibus. Aparentemente, esta obra encontra-se pejada de supersties medievais, tendo por objectivo a explicao de encantamentos, magias, bruxarias e efeitos miraculosos de plantas, pedras o outras coisas. Nem Pomponazzi nega a realidade de tais factos excepcionais ou miracuilosos os quais parecem comprovados pela experincia. Porm, o esprito novo da obra revela-se na recondugo dos supostos factos miraculosos a factos naturais e na sua explicao mediante causas que pertencem ordem necessria do mundo. Pomponazzi comea por criticar a explicao popular tradicional segundo a qual tais factos seriam produzidos pelos espritos ou pelos demnios. Nem os espritos, nem os demnios, poderiam sequer ter conhecimento das coisas naturais pelas quais se produzem aqueles efeitos miraculosos: no poderiam, com efeito, conhec-los, nem - como Deus atravs da sua prpria essncia, nem - com os homens -atravs das qualidades abstradas das coisas. No atravs da sua prpria essncia pois tal s poder-ia acontecer se esta fosse a causa das coisas, o que no sucede; no, tambm, atravs das qualidades abstradas das coisas como acontece com os homens pois aqueles no possuem, como estes, rgos de sentidos. portanto intil admitir a existncia de espritos ou demnios para explicar encantamentos e bruxarias. Na verdade, encantamentos e bruxarias no so milagres no sentido 166 de serem absolutamente contrrios natureza e estranhos ordem do mundo; dizem-se porm milagres apenas na medida em que so factos inslitos e rarssmos que no acontecem segundo o curso ordinrio da natureza e sim com longussimos intervalos (De ncant., 12). A via atravs da qual estes aparentes milagres reentram na ordem natural o deternnisrno astrolgico. Deus a causa universal das coisas mas no pode agir imediatamente sobre as coisas do mundo sublunar. Todas as suas aces relativamente a estas ltimas so apenas aces mediatas executadas por intermdio dos corpos celestes que so os rgos ou insitrumentos necessrios aco divina. A ordem csmica exige que o grau suiperior s possa agir sobre o inferior atravs do grau intermdio, o que implica que nenhum milagre seja possvel no sentido de uma aco sobrenatural directa de Deus sobre as coisas do mundo subluna-r. Orculos, encantanientos, ressurreies e outros efeitos miraculosos que tm lugar no mundo por obra de magos ou necromantes, so s efeitos naturais, devidos ao influxo dos corpos celestes (De incant, 10). Mas a parte mais tpica desta doutrina de Pomponazzi a que inclui na ordem natural do inundo, regulado pelo determinismo astrolgico, a prpria histria dos homens. Com deito, tudo o que acontece no mundo sublunar est sujeito gerao e corrupo, tem um princpio, uma
progresso, atravs da qual atinge o acabamento e um termo. A esta evoluo no se subtraem os estados, nem os povos, 167 nem as prprias insttuies religiosas. Todas as religies nascem, florescem e morrem. O nascimento de uma religio caracterizado por orculos, profecias e milagres cujo nmero diminui progressivamente medida que se aproxima a poca do seu termo. O cristianismo no se subtrai a esta lei. "Vemos", diz Pomponazzi (Ib., 12) "que as instituies religiosas e os seus milagres no principio so mais dbeis, depois aumentam at atingir o cume e em seguida vo enfraquecendo at desaparecerem por completo. por esse motivo que tambm na nossa f esto a acabar os milagres, excepto os fingidos ou simulados: o fim parece estar prximo". Assim, nada, absolutamente, se subtrai ordem necessria do mundo e lei que o governa. verdade que Pomponazzi se mantm fiel ao velho determinismo astrolgico que fora introduzido na ffi osofia ocidental pela especulao rabe ( 235) mas esse determinismo apenas o meio de que se serve para alargar a todos os fenmenos, incluindo os aparentemente miraculosos, a ordem necessria da natureza que o fundamento da investigao filosfica. Pomponazzi foi o primeiro a expor com grande clareza e extrema energia o pressuposto de toda e qualquer investigao naturalista: a afirmao de uma ordem regular que no sofre exepes. S a partir deste pressuposto possivel. o estudo do mundo natural. Mudar mais tarde a forma particular deste pressuposto e ser negado o determinismo astrolgico; no mudar, porm, o pressuposto em si. 168 363. POMPONAZZI: A NATURALIDADE DA ALMA O famoso tratado de Pomponazzi sobre a imortalidade da alma tem fundamentalmente o mesmo fim: fazer regressar o homem ordem das coisas naturais. A alma humana no pode de modo algum existir e obrar sem o corpo. A sua individualidade depende na verdade do corpo que, como queria S. Toms, a multiplica e divide nos homens individualmente considerados: a sua aco depende outrossim do corpo pois no pode compreender seno os objectos corprcos. As inteligncias celestes no necessitam do corpo, nem como sujeito, nem como objecto: o seu conhecimento no adquirido pelo corpo, que no tm, nem produzido pelos corpos pois das so motoras e no movidas. Pelo contrrio, a alma sensitiva necessita do corpo como sujeito, uma vez que no pode desempenhar as suas funes seno por intermdio de um rgo corpreo e nocessita dele tambm como objecto, uma vez que o seu conhecimento por ele produzido. A alma intelectual humana possui uma natureza intermdia entre a inteligncia celeste e a alma sensitiva. No necessita do corpo como sujeito porque no necessita de rgos corprcos como a alma sensitiva; necessita porm do corpo como objecto por no ser capaz de compreenso se no for movida pelos corpos exteriores. Este modo de funcionar do inteler-to humano no pode
transformar-se no funcionamento imaterial das intolgncias celestes. A experincia demonstra que o intelecto humano s pode 169 entender mediante imagens; ora uma vez que as imagens s pelo corpo lhe podem ser fornecidas, a prpria vida do intelecto encontra-se ligada ao corpo e sofre a mesma sorte deste (De imm. an., 91). S. Toms admitira a possibilidade de um outro funcionamento do intelecto, independentemente do corpo, ou seja, das imagens por este fornecidas, Pomponazzi observa que isso significaria transformar a natureza humana na divina e a alma humana tambm na divina, segundo uma daquelas transformaes fabulosas narradas por Ovdio nas Metamorfoses (Ib., 9). precisamente aqui que se revela plenamente o carcter naturalista da psicologia de Pomponazzi: a alma reconhecida na sua condio e no seu funcionamento naturais, que se apresentam E-ados ao corpo e experincia sensvel. Querer subtra-Ia a estas condies naturais ridculo; significa abandonar-se a uma <dbula" e no j investigar cientificamente a natureza da alma. Outro significado no tem igualmente a defesa da autonomia da moral que encerra a obra Sobre a imortalidade da alma. objeco segundo a qual o negar a imortalidade da alma significaria anular a vida moral do homem, pois faltaria o prmio ou o castigo na outra vida o que poria em dvida a prpria justia divina na medida em que o bem ficaria, sem prmio e o mal sem punio, responde Pomponazzi que a virtude e o vcio tm o seu premio ou o seu castigo em si prprios. Tanto o prmio como o castigo tm duipla natureza: uma essencial e inseparvel e a outra acidental e separ170 vel. O prmio essencial da virtude a prpria virtude, que torna o homem feliz. A natureza humana a nada mais pode aspirar, alm da virtude, pois s ela torna o homem seguro e tranquilo. Do mesmo modo, o castigo do vicio o prprio vcio, a mais desgraada e infeliz de todas as coisas. Num sentido absoluto, pois, no h virtude que fique sem prmio nem vcio que permanea impune. Podem porm faltar neste mundo o prmio e o castigo acidentais, quer dizer, aqueles bens ou aqueles males (como o dinheiro, os danos, etc.) que so separveis da virtude e do vcio como tais. Todavia, da falta destes elementos acidentais da vida moral no resulta qualquer inconveniente e uma tal falta at pelo contrrio, prefervel. A bondade parecer dim-inuir e tornar-se menos perfeita se for premiada de modo acidental, ao passo que quem agir sem qualquei esperan a de prmio, executa a mais virtuosa das aces. De modo anlogo, o castigo diminui a culpa e portanto , na verdade, mais castigaido, aquele que parece no ser, de todo, punido. Pomponazzi est contudo ciente de que so poucos os homens capazes de agir em virtude da pura exigncia moral e d-se conta de que os fundadores das religies se viram forados a anunciar para a outra vida, prmios e castigos eternos, com o fim de desviar do mal a maior parte dos homens a qual incapaz de agir autoriornamente. A prescrio de tais prmios e castigos vem pois ao encontro duma exigncia natural: a natureza humana, completamente imersa na
matria e participando pouco do intelecto melhor determinada por mbeis que apelem para o 171 seu lado material. A moiral humana natural por conseguinte aquela pela qual o homem escolhe a virtude pela felicidade que lhe anda inseparv01mente ligada. todavia igualmente natural a perspiccia dos legisladores que prescrevem prmios e castigos eternos. Pomponazzi quer reconhecer e compreender o homem na sua naturalidade, quer submet -4o a uma lei que o ligue ordem necessria do todo. 364. POMPONAZZI: LIBERDADE E NECESSIDADE A relao existente entxe esta lei necessria e a liberdade humana estudada na terceira das obras fundamentais de Pomponazzi, inttuilada De fato, libero arbitrio et praedestinatione. Ali se expem amplamente todas as dificuldades, dvidas e contradies que nascem do estudo da relao que existe entre a prescincia, a predeterminao e a omn,,potncia divinas, por um lado, e a liberdade huimana, por outro. A prescincia e a prodeterminao divinas no podem ser negadas sem que se prive a religio completamente, do seu fundamento; a liberdade no pode ser negada sem que se contradiga directamente a experincia humana. Pomponazzi examina longaniente todas as solues possveis e no chega a uma concluso precisa; pelo contrrio confessa-se torturado por este problema tal como o fabuloso Prometeu era torturado pelo abutre que lhe devorava o fgado para o punir por ter roubado o fogo divino (De facto, 111, 7). 172 O que se pode dizer que a prescincia divina no exclui em absoluto a liberdade humana. H uma dupla relao entre o conhecimento divino e a aco humana. Em primeiro lugar, Deus prev a aco humana com base na sua causa que a natureza humana, quer dizer, ele sabe que o homem pode atingir desta ou daquela maneira e que pode executar ou no determinaida aco e sabe-o em virtude do conhecimento que tem da natureza humana. Porm, esta prescincia divina nicamente previso da possibilidade de uma aco e no da sua efectiva execuo; no elimina portanto a liberdade de aco. Em segundo lugar, Deus conhece a aco futura, no na sua causa mas sim na sua efectiva realizao, isto , sabe com certeza qual das muitas aces possveis ser na verdade executada pelo homem. Todavia, Deus conhece isto na medida em que conhece tudo o que existe e por conseguinte at mesmo o futuro; to-pouco esta prescincia tolhe, pois, a liberdade humana e explica-&e pelo facto de que Deus, na sua eternidade, compreende todos os tempos (Ib., 111, 12). Consideraes semelhantes valem para a predestinao. Deus quer que todos os homens sejam felizes, com aquela beattude que se alcana por meios naturais e mediante a pura razo. Predestina porm, alguns homens beatitude eterna, a qual no alcmada por vias puramente naturais. Esses homens, se cooperarem com a graa divina, al=aro aquela beatitude, mas, se a recusarem, ~ero a prpria alma. A predestinao deixa pois subsistir a liber-
173 dade do homem para aceitar ou recusar a ajuda sobrenatural de Deus (Ib., V, 7). Onde, porm, a contradio nos surge irreme. divel na relao existente entre a omnipotncia divina e a liberdade do homem, Aqui, Pomponazzi recusa-se a uma concluso definitiva e limita-se a dizer que, atendendo a consideraes puramente naturais e a quanto pode consentir a razo humana, a opinio menos contraditria a dos Esticos que afirmaram o destino, isto , a necessidade absoluta da ordem csmica estabelecida por Deus. Contra esta soluo, mantm-se a dificuldade de ser Deus a causa no apenas do bem mas tambm do mal. Pode todavia responder-se que tanto o bem como o mal concorrem para o acabamento do universo e que neste, como num organismo vivo, devem existir no s partes puras e nobres mas tambm partes impuras e vis. Se no existissem tantos males, no haveria os correspondentes bens o se o mal fosse impossvel, o bem s-lo-ia tambm (lb., 11, 6). A preferncia de Pomponazzi por uma soluo to radicalmente determinista como a estica, revela-nos a essncia do seu pensamento. O imiportante salvar a todo o custo a ordem racional do mundo, ainda que esta ordem conduza negao do livre arbtrio do homem. O interesse de Pomponazzi incide totalmente sobre a investigao naturalista e esta investigao s possvel desde que se aceite a ordem necessria do mundo. Contra esta exigncia ergue-se a doutrina da igreja e Pomponazzi declara expressamente que preciso crer na igreja e por conseguinte negar o destino dos Esti174 cos (Ib., perorat.). Para elo, porm, a exigncia religiosa e a exigncia cientfica constituem sistemas distintos e que no se comipensam mtuamente. Reduzindo a exigncia religiosa a um puro acto de respeito pela autoridade da igreja, liberta a investigao cientfica de toda e qualquer interferncia, entendendo-a como pura indagao racional. 365. OUTROS ARISTOTLICOS Pomponazzi abre a srie dos peripatticos alexandrstas. Foi seu discpulo Simo Porta ou Porzio (1496-1554), autor de duas obras, intituladas respectivamente De rerum naturalibus principii o De anima et mente humana (1552), o qual se manteve estrietamente fiel s doutrinas do mestre. Pelo contrrio, no cardeal Gaspar Contarini, (1483-1542), patriarca de Veneza, tambm seu discpulo e autor de De immortalitate animae contra setentiam Pomponatii doctoris sui, encontrou Pomponazzi um adversario sobre a questo da imortalidade da alma. Um lugar parte devido a Andr Cesalpino, nawido em Arezzo em 1519; ensinou primeiro em Pisa e mais tarde em Roma, onde foi mdico de Clemente VII e faleceu em 1603. O interesse naturalista de Cesalpino toma-se evidente com a obra De plantis (Florena, 1583) na qual revelou um "sisterna natural" do mundo vegetal, inciando a nova cincia botnica. Nas suas duas obras filosficas, Quaestiones peripateticae e Daemonum investigatio, prope-se regressar ao estudo das obras aris175 totlicas, prescindindo de todos os intrpretes, com o objectivo de fazer
surgir o verdadeiro e genuno Arist teles (Quaest. perip., pref). Vai ainda mais longe do que Pomponazzi na afirmao da independncia da investigao filosfica relativamente ao ensinamento eclesistico, No nega que, nalguns pontos, as dou-trinas de Aristteles sejam contrrias k verdade revelada; declara porm, que no lhe cabe evidenciar esta oposio pelo que a deixa aos telogos competentes (Ib.). A doutrina. de Cesalpino essencialmente um pantesmo em moldes averrostas. Deus imanente no mundo, tal como a alma imanente no corpo. a alma do universo considerado na sua totalidade mas no a alma das partes singulares do universo. Assim como no organismo vivo a alma no se encontra em aco em todo o corpo e tem a sua sede no corao, de onde transmi,te a vida ao corpo inteiro, tambm a alma do universo tem a sua sede no cu e dali difunde a sua fora vivificadora por todas as partes do universo (lb., 1, q. 7). O rgo desta actividade vivificadora o esprito vital que actua por intermdio do calor celeste, o qual se encontra espalhado por toda a parte, coordena todas as pores e garante a unidade do universo ffiaem. invest. 3). O universo pois considerado como um corpo vivo e animado no qual todas as partes se encontram subordinadas ao conjunto. As inteligncias celestes, admitidas por Aristteles para explicar os movimentos dos cus, so aspectos da inteligncia divina nica. "Assim como", diz-nos (Quaest. per., 11, q. 6), "a alma sensvel toma a designao de vista nos olhos o de 176 ouvido nos ouvidos, tambm a inteligncia, na medida em que faz mover a lua, atribuda lua, na medida em que faz mover Saturno, atribuda a Saturno e assim por diante. Todas as inteligncias se contm numa s, do mesmo modo que as partes se contm no todo". So igualmente partes da inteligncia divina os intelectos humanos individuais, os quais se diferenciam das inteligncias motoras dos cus pelo facto da sua participao no intelecto divino no ser eterna mas sim corruptvel. Por mais que a individualidade dos intelectos humanos dependa da matria, no ser por isso que e~ intelectos perdero aps a morte essa indivdualidade: o facto de terem aderido a um corpo basta pam os distinguir uns dos outro; e para os distinguir a todos da inteligncia divina que jamais se encontra unida a qualquer corpo ffiaem. invest., 3). Mas esta afirmao da persistncia da individualidade da alma humana (e portanto da sua imorta-lidade) no impede a doutrina de Cesalpino de ser uni autntico pantesmo: Deus a alma do mundo e identifica-se com a fora que lhe comunica movimento e vida. Enquanto Cesalpino leccionava em Pisa o em Roma, Jaime Zabarella (1533-89) ensinava em Pdua uma doutrina mais prxima do alexandrismo. Tal como Cesalpino, Zabarefia declara limitar-se a expor a doutrina de Aristteles sem se preocupar com a relao existente entre esta e o cristianismo (De prim. rer. mat., HI, 2). Mas, ao contrrio de Cesalpino, Zabarefia afasta-se do pantesmo ao afirmar a separao entre Deus e o mundo. A relao exis177 tente entre Deus como primeiro motor e o cu que pe em movimento no semelhante que tem lugar no homem entre alma e corpo. Deus no * forma enformadora (inform~ do cu assim como * alma a forma enforniadora do corpo; apenas * forma assistente (assistens) do cu. Com efeito, ele no
d o ser ao cu, que eterno como ele prprio, mas apenas o movimento (De natura coeli, 1). Que Deus se limita a comunicar movimento ao cu o que se conclui da circunstncia de s se poder provar a existncia de Deus como primeiro motor se se admitir a eternidade do movimento celeste. Se se abstrair desta eternidade, poder admitir-se a existncia de um primeiro motor imvel e semelhante alma dos animais mas no a de um primeiro motor separado da matria, indivisvel, infatigvel e perptuo. Um tal primeiro motoir s poder ser demonstrado se se partir do principio da eternidade do movimento celeste. ou se admite portanto que o movimento celeste e por conseguinte * mundo so eternos ou no possvel demonstrar * existncia de um primeiro motQr distinto (De invent. aeterni motoris, 2). Mas uma vez admitida a existncia de um primeiro motor, este por sua natureza distinto dos cus e por conseguinte forma assistente. Quanto alma humana, esta ao mesmo tempo forma enformadora e forma assistente do corpo: como forma enformadora d o ser ao corpo e como forma assistente princpio motor. Neste ltimo aspecto a alma actividade intelectiva e portanto independente de todo e qualquer rgo corporal (De nwnte hum. 1, 13). O intelecto indi178 vidual, assim como a prpria alma, da qual constitui a fora. falsa a doutrina de Averris que o julgava numricamente idntico em todos os indivduos. Se assim fosse, no constituiria a forma essencial do homem, aqulo que o distingue de todas as outras coisas (Ib., 10). O intelecto humano porm o intelecto material. O intelecto actirvo no pertence na realidade ao homem. Aquele (o intelecto activo) est para o intelecto material assim como a luz est para a vista. Ao unir-se aos objoctos, a luz torna-os visveis e determina a viso em acto. Do mesmo modo, ao unir-se s imagens, o intelecto activo portanto o primeiro motor. Se este comunica ao homem a faculdade de entender apenas porque s o homern possui o intelecto possvel, ou seja, capaz de receber a luz do intetecto divino (De mente agente, 12). objeco segundo a qual o intelecto possvel, o nico que prprio do homem, mortal e que por conseguinte a doutrina aristotlica parece excluir a imortalidade, responde Zabarella com a enumerao das opinies dos Aristot licos a respeito deste argumento, considerando como a mais verosmil aquela segundo a qual o intelecto possvel mortal, no pela sua substncia mas pela sua imperfeio e natureza corprea (lb., 15). Alis a imortalidade oncontra-se firmemente estabelecida pela igreja e pela teologia e Zabarella recusa-se a demonstrar a existncia de qualquer relao entre filosofia e teologia (De invent. aet. nwt., 2). Na esteira de Zabarella segue Csar Cremonini, nascido em 1550 em Forrara e falecido em 1631 em 179 Pdua onde ocupara a ctedra daquele aps a sua morte. A separao entre Deus e o mundo igualmente salientada por Cremonini, o qual afirma que o mundo no pode ter sido criado por Deus. A aco criadora seria uma aco extrinseca. que no pode ser reconhecida em Deus. Deus no pode, tambm, ser a causa eficiente do movimento do mundo; ele d movimento apenas como objectivo, isto , como objecto de desejo: d
movimento porque amado e desejado. Mas precisamente por isto, aqulo que por elo movido deve ~r em posio de o amar e desejar: deve possuir uma alma. A alma dos cus portanto o princpio eficiente dos movimentos. Deus e as inteligncias celestes s podem mover os cus por intermdio desta alma enformadora que ama e deseja a Deus e assim move directamente os cus e indirectamente as coisas que lhes esto suibinetidas (De calore innato, dict. 2; dict. 9, p. 89). Tal como Zabarella, Cremonmi ope-se doutrina averrosta, da unidade do intelecto, e considera este como sendo a diferena especfica que distingue os homens entre si o relativamente aos animais. A conexo entre alma e corpo operada pelo calor inato que tem a sua sede central no corao, de onde irrada para todas as partes do corpo. Este calor inato no corporal; antes aquele calor dos temperamentos de que falava Galeno, o qual devido mistura dos elementos que compem o corpo, mistura esta causada pelo movimento dos cus (Ib., dict. 9, p. 89). A natureza da alma humana na sua singularidade depende portanto dos astros. 180 O afistotelismo do Renascimento contribuiu fortemente, com o regresso indagao centfica de Aristteles, para a renascena da investigao naturalsta. Elaborou, alm disso, a base necessria a tal investigao, ou seja, o conceito da ordem naluxal do mundo. Porm, o naturalismo, to poderosamente encaminhado, no podia j permanecer sujeito ao sistema do aristotelismo; devia tender a subtrair-se-lhe, tomando outras vias. A magia, por um lado, o o naturalsmo de Telesio, por outro, apontavam essas vias. O ocaso do aristotelismo averrosta marcado pela figura de Jlio Csar Vanini, nascido por alturas de 1585 no reino de Npoles, e queimado vivo como hertico em Tolosa, em 1619. Na sua principa] obra, intitu-lada De admirandis naturae reginae deaeque mortaflum arcards surgem novamente as teses tpicas do aristotelismo renascentista e outras de Nicolau de Cusa: a eternidade da matria, a homogencdade existente entre a substncia celeste e a sublunar, a identidade de Deus com a fora que governa o mundo e a fora natural dos seres. No apresonta qualquer originalidade e como um resumo com o qual se encerra um aspecto da investigao naturalista no Renascimento. NOTA BIBL1OGRFICA 360. As obras de GENNADIO em P. G., 160- A Comparatio de TRAPEZUNZIO foi editada em veneza em 1523 e a De re dia7_ectica em IAo em 1569 e posteriormente. O tratado De fato de TEODORO GAZA foi editado pela TayJor de Toronto em 1925. 181 Os Comentrios de ERMOLAO BARBARO foram objc-to dL vri edies em Veneza, Basiloia e Paris, a partir de 1544. 361. De VERNIA, foram editadas em Voneza, em 1504, as Quaestiones de pluralitate intellectuS contra falsam et ab omni veritate remotam apinionem Averroys. Outros escritos foram publicados por Ragnisco sob o ttulo Documentos inditos e raras relativos vida e obras de N. V., Pdua, 1891 e unia Quaestio sobre a nobreza da medicina foi publcada por Garin em "A ~uta das artes", Florena, 1947. B. NARDI, Ensaios sobre o aristotelismo paduano do scu.To XIV ao sculo XVI, Florena, 1958, caps. IV e V; GARIN, A cultura filosfica do renascimento italiano, Florena, 1961, pgs. 293 e segs. As obras de AGOSTINHo NiFO conheceram vrias edies nos sculos XV e XVI: coleces completas, Veneza, 1599; Opuscola moralia et politica, Paris, 1645. GARIN, ob. cit., pgs. 299 e segs.
De L. ToMEO aS obras De immortalitate animae, Pdua, 1524, e Opera, Paris, 1530. DE ACHILLINI: Opera Omnia, Veneza, 1508-45. B. NARDI, Sigieri de Brabante no pensamento da renascena italiana, Roma, 1945, 11 parte. Sobre M. A. ZIMARA, Nardi, ob. cit., cap. Xff. 362. Sobre o suicdio de Pomponazzi: CIAN, Yovos documentos sobre P. P., Veneza, 1887. Opera, Bastcia, 1567 (De incantationibus e De fato); inmeras edies anteriores das obras singulares. Sobre ele: FIORENTINO, P. P. Estudos histricos sobre as escolas bolonhesa e paduana do sculo XVI, Florena, 1868. O comentrio ao De anima de Arstteles foi publicado por L. FERRI em A psicologia de P. P., Roma, 1877; . H. DouGLAS, The Philo8. and Psychol. of P. P., Cambridge, 1910; B. NARDI, AS obras de P. em Dirio critIco da fil. it.", 1950; As obras inditas de P., ib., 1950 e 1951. 182 365. As obras de CESALPINO: Veneza, 1571 e 1593. As obras de ZABARELLA conheceram inmeras edies no sefflo XVI, sendo a ltima de Havenreuter e de 1623. Sobre ele: R.AGNIS00j. Z., o filsofo, Veneza, 1886; do mesmo, Pomponazzi e Z., Veneza, 1887; GARIN. O humanismo italiano, Florena, 1952, pgs. 191 e segs.; B. NARDI, Ensaios sobre o aristotelismo paduano do sculo XIV ao sculo XVI, Florena, 1958, passim. As obras de CREMONINI foram editadas separadamente nos sculos XVI e XVH. Sobre ele: MABILLEAU, Ptude historique sur Ia phil. de Ia renaiss, en Italie, Paris, 1881. A obra de VANINI Intitulada De admirandis naturae reginae, ete. foi publicada em Paris, em 1616. Trad. ital. das obras, por PORzio, Lecee, 1911. Sobre todo o arstotelismo, italiano do sculo XVI: CI-TARBONEL, La p~e italiene du XVI.e sicle et le courant libertin, Paris, 1919; J. RANDALL JR., The School of Padua and the Emergence of Modern Seience, 1961. 183 v RENASCIMENTO E REFORMA 366. O RETORNO S ORIGENS CRISTS O Renascimento, como retorno do homem s 9~ possibilMades originfias ~bm renovao da vida religiosa. O homem procura entrar de posse daquelas possibilidades que con,3hituam a fora e a va1idade do mundoanfigo: da que procure reconhec-las paral dia disperso e do enfraquecimento que elas tm sofrido ao longo dos sculos da Histria e de novo se firmar nelas para ~mar o caminho interrompido. Perante a decadncia da vida religiosa, o homem retorna s fontes da religiosidade: quer redescobri-las na sua pureza, entend~las no seu significado genuno, faz-las reviver na sua fecundidade espiritual. Viu-se j como o p~i~ procurava reconhecer e fazer revver a origffiria sabe185 doria religiosa da humanidade, sabedoria que via sintetizada em Plato, e na qual, segundo considerava, confluam igualmente a especulao oriental e o
pensamento greco-romano. Mas a religio dos Platnicos do Renascimento uma religio para. os doutos, quer dizer, no verdadeiramente uma religio mas um filosofia teolgica na qual o cristianismo originrio do Novo Testamento apenas entra como um elemento entre outros e nem =nio como o dominante. Marslio Ficino e Pico de Mirndola partilham este ponto de vista com Cusano e at mesmo, com Bruno: o retomo religiosidade originria para eles um ~mo aos "telogos" da Antiguidade: queles que elaboraram e exprimiram a vida religiosa em fecundas frmulas de pensamento. O platonismo no podia por isso tornar-se numa autntica. reforma da religiosidade: ele um momento da renovao filosfica renascentista A refrma da vida religiosa do ocidente cristo podia ser o resultado apenas de um retomo s fontes do crstianismo enquanto tal: isto , no aos jogos ou teologia greco-ofiental mas palavra mesma de Cristo, verdade revelada da Bblia. Aquele rena,_vimento espiritual, aquela reforma total do homem, que a pregao de Cristo havia onunciado e promovido s podia readquirir o seu sentido orT,,nrio e tomar-se ~ade mediante um regresso palavra divina, a que vem expressa nos Evangelhos e nosi outros li~s da Bblia. A palavra de Deus d~se no s aos deutos mas a todos os homens como tais e no pretende reformar a doutrina, mas sim a vida. Uma renoivao religiosa, segundo o 186 esprito do Renascimento, devia tender a fazer reviver directamente a palavra de Deus nas conscincias dos homens, dibertando-a dassuperstruturas tradicionais, restabelecendo-ana sua forma genuna e na sua potncia salvadora. Tal foi a tarefa da reforma religiosa, .qual se liga necessriamiente, tal como no Humam, %no, um momento filolgwo: restabelecer na sua pureza e genuidade o texto bblico. Mas, ~samente como no Humanismo,,o momento filolgico o instrumento de uma exigncia ms - profunda, a de regressar ao significado verdadeiro e originrio da palavra divina paira a fazer valer oomtoda a eficcia do seu poder de renovao. O momento folco-humanstico da Reforma representado por Erasmo. 367. ERASMO Desidrio Erasmo nasceu em Roterdo, em 1466. Foi educado num claustro agustinilano, onde pronunciou votos e, em 1492, se ordenou de padre. Fez-se no entanto dispensar das obrigaes do seu ofcio e deixou at de usar o hbito. Esprito independente e cioso da sua independncia, no quis aceitar nenhum encargo ou ensino e rejeitou, no perodo da sua mxima celebridade, a9 ofertas mais fisonjeiras. Vagabundeou por toda a Europa. Em 1506, na Unversidade de Turim, tomou-se mestre e doutor de teologia: mas a ~a que ele tomou a peito foi a de escritor e fllogo. [Pode oonsiderar-se o fundador da patrologia pelas suas edies de 187 S. Jeirnimo, SLO Hilrio, St.<> Ambrsio e SLO Agostinho. Alm disso,
elaborou um texto crtico do Novo Testamento, que traduziu do grego para o latim, Quando, desencadeada a Reforma, Lutero, que havia sido o precursor dela, se lhe drigiu, para obter o seu apoio, Erasmo recusou-se. No ~a ligar-se a nenhum partido e era totalmente alheio a todo o movimento que provocasse rebelio ou desordem. Por outro lado, no condenou a Reforma nem mesmo quando pronunciou contra a tese luterana sobre o livre-arbtrio. No choque entre o cristianismo da Igreja e o cristianismo luterano quis permanecer neutral e recusou a oferta do cardinaliato que lhe foi feita pelo papa Paulo RI em 1535. A luta religiosa obrigava-o a sair dos seus refgios: deLo,vaina, rigidamente cathica, foi obrigado a sair por haver sido con-qiderado amigo da Reforma; de Basfieia, onde se Tefugiara, abalou logo que a reforma se imps. Estabeleceu-se ento em Friburgo, onde transcorreram os seus ltimos anos; faleceu em 12 de Julho de 1536 em Basicia, ondese detivera na esperana de regressar Pbria. O primeiro escrito de Erasmo so os Adgios, uma rewlha de sentenas gregas e l~; mas a sua prini obra significativa a Enchyridion militis christiani que contm j os prncpios ideais e prticos da reforma protestante. A obra mais famosa o Elogio da loucura (Stultitix laus, 1509), a que so afins pelo conbeido os Colloqua familiaria, publicados em 1524. Ao mesmo ano pertence o escrito contra Lutero Diatribe de libero arbitrio. Ao De servo arbtrio de Lutero replcou ele com o Hyperaspistes. 188 So dmportantes tambm os prefcios ao Novo Testamento e os escritos pedaggicos, entre os quas o * mais notvel o De ratione studii 1(1511), o pro,"uma do humanismo alemo. Brasmo, foi chamado por Dilthey "gnio voltairiano" e, na realidade, ele serve-ge da stira e do sarca~ para pr a nu a decadncia moral do seu tempo e especialmente da Igreja. Porm, a crtica de Erasmo no negativa e destrutora, comoser a de Voltaire, mas positiva e evocadora, evisa a reconduzir a vida humana simplicidade e pureza do cristianismo primitivo. Significativo a este propsito, sobretudo o Elogio da loucura. A loucura para Erasmo o impulso vital,, a beata inconscinca, a iluso, a ~nca contente de si-numa, palavra. a mentira vital. Toda a vida humana, seja a individual, seja a social, funda-se em mentiras, em Anuses ou em imposturas, que velam a crua realdade e constituem o maior atractivo da prpria vk1a. E Erasmo, pondo a ffl- -ar a Loucura e entricheirando-se por detrs (de um ~to d@v@udo, pode rasgar o vu daquelas mentiras e mostrar a realidade que elas ocultam. Os interesses vitais que o seu sarcasmo defende pare= evidentes. Quando fala desses loucos, os quais confiam em ~, s pequenos sinais exteriores de devoo, em certo pala ~,o, em cortas oraezinhas inventadas por algum pio impostor para -seu divertimento ou interesse, julgam ter assegurado o gozo de uma inaltervel felicidade e um bom lugar no paraso"; ou de quem cr que "lhe basta deitar uma pequena moeda numa bandeja para que o mundo fique limpo de uni sem nmero 189 de rapinas como quando saiu da fonte baptismal" (EI., 40)-pronuncia evidentemente uma condenao das indulgncias e de toda a prtica de devoo formal, no que to terminante como o ser Lutero. E quando a Lioucura
atribui a Cristo estas palavras: "Abertamente e sem parbolas prometi em outros tempos a herana do meu Pai no aos frades, no s rezas, no abstinncia, mas sim observncia da caridade. No, no conheo aquelas pessoas que prezam demasiado as suas pretensas obras meritrias e que querem parecer mais santas do que eu prprio" (Ib., 54)- evidente a desvalorizao das obras e a exaltao da f que ser o prprio lema da reforma luterana. Em oposio s obras meritrias, religiosidadefo~, stica s regras nomstioas, exalta Erasmo a religiosidade verdadeira, que f e caridade segundo os ensinamentos dos Evangelhos. E este ensinamento contraposto ao prprio papado: "Os papas dizem-se vigrios de Jesus Cristo; mas se se conformassem vida de Deus, seu mestre, se praticassem a sua pobreza e a sua doutrina, se sofressem pacientemente os seus padecimentos e a sua cruz e mostrassem o seu desprezo pelo mundo; se reflectissem sriamente no bom nome do papa, isto , de pai, e no epteto de Santssimo com que so honrados: quem seria ento mais infeliz do que eles?" (Ib., 59). Todos os temas da polmica protestante contra ia Igreja se encontram j na obra de Erasmo. E se no Elogio da Loucura so expressos sob o vu da f~ satrica, na Enchyridion militis christiani so retomados e desenvolvidos positivamente. O escrito piolmicamente dirigido contra a cultura bico190 lgica que exercita as pessoas nas disputas doutoras mas nopromove, nem refora a f religiosa. Era~ prope-se formar o militante cristo, no o telogo ou o literato. Toda a fora da "filosofia de Crisi est na transfigurao que ela capaz de operar ws costumes e na vida do homem. "0 Modo MLs eficaz de converter os Turcos, diz ele (Lett. dedic. deIPEnch., ed. Holborn, 5), obter-se- se eles virem resplender em ns as palavras e o ensinamento de Cristo; se nos Jembirarmos de que ns no &wjamos osseus mprios, o ouro e os bens deles, seno que procuramos apenas a sua salvao e a glria de Cristo. Esta a teologia verdadeira, genuna, eficaz, que juma vez sujeitou a Cristo a soberba dois filsofos e os ceptros invictos dos prncipes. Se agirmos assim e s assim, o prprio Cristo estar em ns". A perfeio crist no est no gnero de vida mas nos sentimentos, est na alma, no nos vestidos e nos alimentos (Ib., 12). A arma principal dio militante cristo a deitura e ia interpretao da Bblia. Erasmo aconselha escolher para guia aqueles iintrpretes que mais se afastam da letra dos livros sagrados. Cumpre ir alm da letra para alcanar o esprito, j que sno esprito reside a verdade. Mias onde a exigncia da reforma se apresenta decididamente, onde o humanista aristocrtico e altivo se torna o porta-voz de uma tendncia que devia res 1~ numa rcb~ de povos, na necessidade expressa claramente, por Erasmo, de lodos lerem e entenderem a seumodo a Bblia. "Eu divirjo violentamente, diiz eile (Paraclesis in Nov Test, ed. Holborn, 191 142), daqueles que no quer= que as sagradas, escrituras sejam ldas pelos indoutOs, traduzidas na fingua dopovo, como se Cristo houvesse ensinado coisas to obscuras que a custo poucos filsofos as pudessem entender, ou como se a defesa da reli~ crist consistisse em serignorada. talvez meilhor ocultar .o mi,strio do rei, mas Cristo quer que os mi~os sejam dvulgados o mais poissvel. Desejaria que todas as mulheres pudessem ler o Evangelho e as
cartas de S. Paulo." precisamente deste re~o leitura e ao entendimento da Sagrada Escritura que Erasmo espera a renovao- do homem, aquela reforma ou renascimento que a restaurao da autnitica natureza humana. "FcIlmente entra na alma de todios o que mximiamente conformo natureza. Mas a filosofia de Cristo, que ele prprio chama de renascimento, que outra coisa seno a restaurao de uma bem construda na-tumw?" (Ib., 145). Esta conv~ oonstitui o mbdl e o fundamento da obra filolgica de Erasmo destinada a restabelecer o texto do Novo T~mento e a promover a difuso mediante nova traduo. O renascimento que s a palavra de Cristo pode determinar con. traposth por Erasmo sabedoria teolgica que toma as pessoas destras nas disputas mas no lhes d nem a f nem a caridade. "Quem deseje ser maIs instrudo na piedade do que na disputa, ocupe-se o mais que possa das fontes e daqueles escritores que directamente procedem das fontes" (Ratio verae theol., ed. Holbom, 305). POT isso Erasmo exerce a sua actividade de fillogo no is no domnio do 192
ERASMO Novo Testamento, mas tambm no dos Padres da Igreja, cuja doutrina lhe parcoe inspirar-se directa.mente nas flontes do cristianismo, enquanto que repudia e despreza a especulao ewoUstica, como sendo a que desvaneceu o sentido orig~ do cristianismo, entregando-se a questes ociosas. A tais q~es ociosas como s cerimnias, aos jejuns e obras meritrias, ope Erasmo os dois pontos basdilares do ensino de Cristo: a f e a caridade. (Desfolhe todo o N~ Testamento, diz de (Ib. 239), no encontrareig nenhum preceito que diga respeito s cerimias. Onde se faz meno dos alimentos e das ve~ Onde se referem os jejuns e semelhantes coisas? O preceito de Cristo invoca, apenas a caridade. Das cerimnias nascem os dissdios, da caridade a paz." Deste modo estabelece Erasmo os pressupostos tericos da Reforma e, o que mais conta, esclarece o conecUo fundamental desta: o de uma renovao radical da consoincia crist mediante o retorno s fontes do cristiani&mo. Mas a -sim tarefa devia deter-se aqui. Humanista habituado a mover-se no mundo dos dotitos, partcipe do ideal humanista de uma paz religiosa universal, na qual encontrassem concliao e concrdia as diversas experincias religiosas do gnero humano, ele no podia aperceber-se do alcance revolucionrio da sua doutrina; e quando tal alcance se revelou na obra de Lutero, ele desconheceu-o e fechou-se na sua neutralidade de estudioso. Erasmo formulara filosficamente os princpios da reforma crist, mas no podia reconhecer a sua prpria aco na obra de Lutero, que daqueles 193 princpios se valia para agitar foras polticas e sociais, todo um mundo, que parecia a Erasmo estranho e surdo vida da cultura. Por isso, quando a 28 de Maro de 1519 Lutero lhe enviou uma carta
pedindo-lhe que se pronunciasse pblicamente a favor da Reforma, Erasmo, embora aprovando os princpios de que Lutero partia, recusou-se a segu-lo e a encoraj-lo na obra revolucionria que em nome de tais princpios Lutero iniciara. Na luta que o movimento reformista desencadeou, Erasmo quispermanecer neutral; e tal permaneceu substancialmente, no obstante algumas oportunistas concesses Igreja. Sobre um nico ponto, todavia, atacou a Reforma: o problema do livre-arbitrio. Retomando o ensinamento de S. Paulo e de Santo Agostinho, Lutero afirmara decididamente a dependncia da vontade humana em relao a Deus. Esta afirmao que, como veremos, deriva de uma religiosidade resoluta e exasperada, no podia ser acolhida pelo filsofo humanista Erasmo. Na Diatribe de libero arbitrio (1524), Erasmo enumera os motivos que levam a admitir a liberdade, definida como ",a fora da vontade humana pela qual o homem se pode dirigir s coisas que conduzem salvao eterna ou se pode desviar dela. A liberdade humana para Erasmo liberdade de se salvar; e que o homem tem a capacidade de se salvar demonstrado pelo prprio relevo que nas Sagradas Escrituras tm os conceitos de mrito, de juzo e de punio. No teriam sentido ais punies, as amea as, as promessas diviinas se o homem no fosse livre. Mesmo a 194 concesso da graa, resolvendo-se numa ajuda divina vontade humana, pressupe a liberdade; e assim a pressupe a orao, que no teria sentido se ela prpria no fosse manifestao de uma vontade de salvao. Erasmo reconhece que se repetem na Bblia, esobretudo nas epstolas de S. Paulo, expresses que parecem negar o livre-arbtrio, mas nelas v o sentimento prprio dia conscincia rellilgiosa que faz denvar todos os mritos humanos de Deus. Quanto conciliao entre o livre-arbtrio e a omnipotncia divina, afirma a cooperao do homem, e de Deus "na obra indivisvel da regenerao": a graa causa principalis, a liberdade humana causa secundaria. Assim como o fogo tom uma fora interna graas qual arde e que pressupe Deus como causa principalis que !a criou e a mantm, asgim a salvao humana obra do homem ajudado e sustentado pela aco divina. Na realidade, esta soluo ecltica no salva coisa alguma, porque, atribuindo a salvao humana cooperao do esforo do homem com a graa divina, atribu a um e a outra o mesmo valor determinante e no resolve o problema. A atitude de Erasmo aquii ditada pela prevadncia que a exigncia filosfica humanista tem nele sobre a religiosa: ele quer salvar a dignidade e o valor do homem que so inconcebveis sem a liberdade e por llsso recalcitra tese extremista de Lutero que exprime todavia a essncia mesma da vida religiosa: a dependncia absoluta do homem para com Deus e o reconhecimento de que s a Deus ~nce a ciativa deterinnante da salvao195 368. LUTERO O retorno s fontes csts, como via de renovao da conscincia religiosa, encontra o defensor mais resoluto em Martinho Lutero (10 de Novembro de 1843 * 18 Fevereiro de 1546). A exigncia, que Erasmo apresentara mas quisera restringir ao mundo dos doutos, assumida por Lutero como o instrumento de uma revoluo
que devia desligar a Europa germnica da Igreja catlica. Partindo dk=tamente do Evangelho, Lutero impugna o valor de toda a tradiio eclesistica e chega negao da obra e da funo da Igreja. Na sua doutrina e nos ~, tados histricos que dela derivaram parece evidente o valor revolucionrio daquele retorno aos princpios que o Renascimento procurara realizar em todas as manifestaes da vida. No domnio reLgioso este princpio levava a negar o valor da tradio e portanto da Igreja, que durante os sculos acumulara o patrimnio das verdades fundamentais do catolicismo. O retomo aos princpios significava aqui o retomo ao ensinamento fundamental de Cristo, palavra do Evangelho, e por isso o repdio de tudo o que a tradio eclesistica acrescentar a a esta palavra. No seu escrito Contra Henrique VIII de Inglaterra (1522), Lutero contrape tradio eclesistica o Evangelho. Ele polenuiza contra os adversrios, que sua vontade de firmar-se na palavra de Cristo respondem com "glosas patrsticas, laboriosos e artificiais ritos depositrios dos sculos". E acrescenta: "Eu grito: Evangelho! Evangelho! e ces uniformemente respondem: Tradio, 196 Tradio! O acordo impo~ Eis aqui precisamente o centro especulativo e prfioo da refrma luterana; e por esse oentro ela -se religa ao Renascimento que pretende renovar o homem e o seu mundo me&ante,um reitorno, sabedoria originria. Deste Princpio dia Refrma brotam todos os seus aspectos doutrinais. , na verdade, graas tentativa an~osamente repetida de alcariar, para l dias tincrustaes seculares, o signikcado, originriiio da mensagem evanglica, que se acendeno espwito de Lutero a centelha daquela verdade que devia ser o enunciado basiIar dia Reforma: a justificao por meio da f. O prprib Lutero cora que soda a escritura se erguia diante de si como um muro, antes de entender o significado da frase de S. Paulo: o justo viver pela sua f. Por esta frase aprendeu que a justia de Deus reside na f, na misericrdia pela qual o prprio Deus nois j,usffica com a sua graa. De posse desta verdade fundarnental, pareceu a Lutero haver encontrado a chave dia iinterpretao genuna dos textos sagradois. A justia divina significou para ele a justia passiva com que Deus justifica o honiemrnediante a f, anlogamente, a obra de Deus significa aquilo que Deus opera em ns, a sabedoria de Deus o atributo pelo qual nos faz sapientes, etc.. De modo que todo, o significado, da mensagem crist foi condensado por Lutero no abandono total do homem iniciativa divina, graas ao qual o homem nada tem de prprio a no ser o que recebe de Deus como ddiva gratuita. Assim L~ reconheceu e determinou na sua nudez essenciail a atitude religiosa. A f para ele 197 a confiana pda qual o homem cr que os poeudos. lhe so rernidos gratuitamente por Cristo; e por isso a prpria justificao por parte de Deus. O homem que tem f o homem cujos ~os flor= remidos, o homern justificwdo, o homem, wdvo. A jushi~ pella f imphca arenncia atoda a tentativa por parte do homem, o confiante abandono a Deus, a certeza interior da salvao. evidente que, deste ponto de visita, o esforo, que dominara toda a filosofla escolstica, de justi,fkw pela razo a f, devia parcoer repugnante
e absurdo. "Tal como acontece a Abrao, a f vence, mata e sacrifica a razo que a mais encam~ e pesitfera inimiga de Dous". A razo, de facto, sigrfica a iniciativa por parte do homem, o esforo da pesquisa, a confiana nas possibldades humanas; ao passo que a f a iniciativa abandonada a Deus, a rmnoia a toda, a pesquisa, a confiana exdusiilva na graa justificadora de Deus. A doutrna de Oxam, que exclua pela irracionalidade e inveififica,bi,lidade da f e a tinha absolutamente excludo do mbito da indagao racional, saudada por Lutero como amiga e alliada. Occam, que Lu~ estudara no perlodo da sua formao acadmica, , pode dizer-se, o nico filsofo que ele salva da condenao. Todos os outros, desde Arstteles a S. Toms, chama-os de "sofistas" e ~seiia-os com os piores atributos. O oocanusmo assim um dos pressupostos da reforma luterana: afirmando a irracionalidade da f, permitiu ver nela a attude, oposta atitude activa da investigao: o confiante abandono a Deus. 198 O pTimeiro cor;olrio do regresso ao Evangelho a nova dou~, dos sacramentos. No De captivitate babylonica ecclesiae (1520), Lutero reduz os sacramentos a trs s: o baptismo, a penitncia e a euca~ pos s estes foram iinsttuidos por Cri~, como den~ o testernunho evang~ Mas ele Pretende ~r-se a ~ testemunho no que respeita ao PrPriO conceito dos sacramento que mais do que &~tos uns dos outros, so trs smbolos de um nico saemmento. O sacramento fundamental * baptismo, j--@eIo qual ohomem morre para a carne * para o mundo e revive a justificao dMna. O baptismo nunca perde a sua efi~ nem mesmo se o pecado S~Ivamente cometido: ele caincide com o niato da f no homem, e a prpria f a rMOvaO incessante do sacramentio baptismal, uma vez que merc dela o homem morre conCinuamente para a Carne e continuan~ renasce paira o esprito. A penitncia COrroboTa a confiana, na salvao, seMO O rec ~1imMUO colectivo dia justificao inteiror. E a eucaristiia renova a particiPao na vida de Cristo mediante o banqueti,fraterno do po e do vio . Assim os sacramentios perdem o car~ de uLmia jurisdio ~rdoU,1 e tornam-se a expresso daquela ri~ta relao entre o homem e Deus, que se realiza na f. A doutrina dos sacramentos limia toda a funo intermdia entre o homem e Deus, nega a possibilidade, da mediao ~~ e coloca d~amente o homem defronte de Deus em virtude de um acto Puramente inteoior, o da f, de que os prprios ~amentos so a realiizao e a garantia. A nega199 o da tradio eclesistica, operada merc do retomo ao Evangelho, toma-se assim a negao da funo sacerdotal e por isso da distino entre casta sacerdotal e mundo liaico. Esta consequncia tratada no outro escrito de Lutero nobreza crist da, nao alem (1520), que inioiou a rebelio da Alemanha contra a igreja de Roma. A justificao pior meio da f tira todo o valor s chamadas obras meritrias. Sem a f, estas obras no fazem seno redobrar os pecados: as boas obras no podem portanto ar ningum. Todavia no devem poT sso ser excludas: elas so de facto o fruto, e ao mesmo tempo o sinal seguro da justificao diviina. A, f verdadeira no ociosa mas operosa; e se as
obras no se seguem f, tal f no ser genuna. "Assim como as rvores existem antes dos frutos, diz Lutero no De libertate christiana (1520), e no, so os frutos que fazem as rvores boas ou msmas as rvores que fazem os frutos tais, assim o homem deve ser na sua pessoa pio ou mau, antes que possa fazerobras. boas, ou ms". Mas as obras levam o homem para fora da sua humanidade para aquela exterioridade em que o homem j no lvre, mas servo. Lutero faz valer em toda a sua fora a distino paulista entre o esprito e a carne. O homem que tem f nasceu para a vida do esprito, uma nova criatura independente de todo o mundo que o circunda, portanto absolutamente livre. Mas na sua carne, isto na sua natureza sensvel, o, efisto , pelo contrrio, o mais submisso, o mais dcil dos homens. O homem exterior que vive no mundo deve adaptar-se prtica 200 LUTERO do bem no para adquirir mrito, mas para contribuijr para o aperfeioamento da -vida social. O campo cuja vida cada um deve contribuir com todas as suas possibilidades. O sapateiro, o artfice, o campons tm, cada um deles, a prpria ittarefa oora a qual prestam servio aos outros e contribuem para uma obra de que o corpo e a alma beneficiam, de modo que o ofcio dois vrios membros beneficia avida total do corpo. Aquise revela outro corolrio dos mais notveis da doutrina de Lutero: a vida social, e a W, efa que cada um nela desempenha o nico servio divino, a nica obra, em que o cristianismo d testemunho da sua f interior. No so as prticas piedosas mas o exercciio, do -dever civil que a obra boa, fruto e sinal da f, garantia oerta da justificao dvina. Enquanto afasta os homens dias prticas do culto, Lutero procura lev---los a empenharem-se no exercioio do devor civiiI, vmdo neste apenas a obra em que exteriormente se manifesta e se realiza a f. Frente concepo luterana da f como absoluto abandono do homem a Deus, a tentativa de Erasmo de salvar de algum modo a liberdade humana fixando-se numa posio de semipelagianismo, devia parecer imposs vel. Ao De libero arbitrio de Erasmo, Lutero replicou em 1525 com o De servo arbitrio, cujo ttulo diz tudo. Seig-undo Lutero, no se pode adimir ao mesmo itiempo, a liberdade divina e a humana. O livire-arbtrio no mais que um nome vo; a prescincia e a omipotncia divina excluem-no. Deus prev, prope elevia a ei com vontade 201 e~ e infalvel -tudo o que sucede. A p~nede e a predeternnao dvina implicam que nada acontece que Deus no queiTa; e asso exclui que no homera ou em qualquer outra criatura haja livre-arbtrio. Cumpre portanto concluir que Deus opera igualmente nos homens o mal e o bem, assim com um artfice se serve por vezes de instrumentos maus ou deteriorados, e que ~to a &-vao, como a danao do homem, nicamente obra sua, bvia objeco de que em tal caso Deus o autor do mail, Lutero responde retomando a doutrina de Occam. Deus no obrigado a observar nenhuma regra ou norma: ele no deve querer uma coisa por ser justa, mas aquillo que ele quer por Isso me= justo
(De serv. arb., 152). Uma vez mais, a doutrina de Lutem encontra um preitexto na f~ia de Oecam: a ind,,derena da vontade ffivina que cria, querendo, a norma do bem e do mal afirmada por Lutero como defesa da predesbinao (que havia sido, tambm ela, alis, sustentada por Occam). Mas esta ito absoluta e apaixonada n~ da liberdade humana revela logo em Lutetro o seu mbil religioso. A doutrina da p~tnao no nele uma doutrina fidosfica; e as velhas t~ de Oco,un tm nele uma ress~cia muito diferente, Lutero pretende defender e realuzar plenamente a attudereligiosa da f, o abandono ~ do homem a Deus. Tal atitude exclui que o homem possa reivkdw,ar para si a liberdade, o, mrito, a iniciativa. Tudo deve ser atribudo a Deus e apenas a Deus. "0 sumo grau da f, &z Lutem (Ib., 42) consiste 202 em crer que Deus demente mesmo se Galvia poucos, mesmo se condena muitos; em julg-lo justo mesmo se por sua vontade nos torna necessriamente culpados, mesmo quando parea delatar-se com as dores e as misriais, e antes digno de dio que de amom. E, na realidade, o que conta, na disputa entre Erasmo e Lutero em torno da liberdade humana, no o valor das razes aduzidas em apoio de uma ou de outra ~, razes j gastas e velhais, mas a diversidade das afltudes que aquelas razes revelam. No obstante todo o seu ffiteresse pela renovao reFeiosa, Era~ permaneceu um filsofo humansta; em Lutero, pelo contrrio, o r~mo ao Evang~ determinou uma atude de roligiosidade absoluta e intransigente, para a qual a nica liberdade humana no podeser seno a sujeio a Deus * a nica iniciativa, como nico mrito, a renncia * toda a k ciativa e a todo o mrito. Essa atitude constitui a originalidade da doutrina * dia obra de Lutero. Indubitvelmente, todos os elementos de tal doutrina so medievais e no apresentam nenhurna ofiginalidade (excepto tailvez a dos sacramentos), mas a originalidade est em ter feito valer o retomo ao Evangelho como instrumento de uma palmgenesia religiosa e em ter fewto de t retorno uma fora de destruio e de renovao. A Reforma religasse ao Renascimento precisamente no seu motivo central, no seu esforo de se refazer nas orgens; e, tal c~ o Rienasoimento, tende a levar o homem a empenhar-se nas obras da vida, desviando-os das cerimnias e do culto ex~. 203 369. ZWINGLI O retorno s fontes religiosas concebido e posto em prtica do modo mais conforme ao ideal humanstico pelo reformador suo Ulrich Zwinglii, nascido no 1.O de Janeiro de 1484 e falecido a 11 de Outubro de 153 1. Zwingli faz sua a doutrina de Pico de Mirndola ( 357) de uma sabedoria refligiosa, na qual confluem e se harmonizam os textos das Sagradas Escrituras e os dos filsofo pagos. Por isso ede no restringe a revelao a um facto hist- ,rico determinado, nem mesmo ao cristianismo. A revelao universal: tudo o que se dIsse de verdadeiTo, por quem quer que tenha sido dito, procede da prpria boca de Deus, de contrrio no seria verdadeiro. A Plaito e a Sneca, no menos que a Maiss e a S. Paulo, o prprio Deus revelou, mediante a luz interior da conscincia, elemenitos essenciais da verdade. Oretorno s fontes da religio deve portanto significar o retorno a todas as vozes divinas atravs das quais Deus ise
mwlou e tem por fim renovar em ns mesmos a intimidade de directa adeso a Deus. Estas teses desenvolvidas no De vera et falsa religione commentarius (1525), conduzem Zwingli a enriquecer e generalizar o seu conceiito de Dous, no sentido elstico, aprpria natureza. No De prorejeita nenhuma dias determinaes filosficas da &rvi,n,d:ade. Deus o Ser, o suma Bem, a U ,,ade no senflido elstico, a prpria natureza. No De providentia (1530), ele identifica-o com a potncia que rege o mundo, com o sujeito nico e a nica fora 204 que rege as coisas. Neste sentido Deus identifica-se com a providncia, e Zwingli diz: "Se a providncia no existisse, Deus no existiria; excluda a Providncia, Deus tambm excludo". A salvao de todos os homens determinada pela aco providencial de Deus. Deus quis livremente todos os acontecimentos do mundo: deterniinoutanto o pemdo de Ado como ia encarnao do Verbo; e determina, em virtude de uma eleio gratuita, a salvao dos homens. Esta ltima devida a uma livre deciso de Deus, que a d ou a nega segundo o seu arbitrio, a coisa alguma estando obrigado, mas determinando s com a sua vontade tudo o que justo e injusto. E a eleio d&se ab aeterno, no se deve f, mas precede-a; os eleitos &ono ~s de crer. A f no ms que o abandono total vontade de Deus, abandono pelo qual o homem se torna independente de todas as coisas exteriores; e este abandono pode encontrar-se em pagos como Scrates e Sneca, que Zwingk no duvida hajam sido eleitos para a vida oterna. Para Zwingli, como para Lutero, a f a confiana inabalval na graa justificadora de Deus, a certeza absoluta de se estar totalmente nas mos de Deus e no poder (agir diversamente do modo por que se age: confiana e certeza que fizeram as grandes almas regiosas e activas da Reforma e transformaram o que parece primeira vista,um princpio de encorajamento e denncia, a negao da lib"ade humana, num elemento de fora e de exaltao. Mas para a universalizao da revelao e do prprio conceito de Deus, a f purif-ica-se e interioriza-se ao 205 mxinio na doutrina de Zwingli. Zwingli rejeita, bastante mais do que Lutero, toda a expresso ou subsdlio exterior da vidia religiosa. A f basta-se a si mesma: nada que venha do exterior pode aJud-la ou apoi-la. Ela move tudo, mas no movida por coisa alguma, porque a prpria, ~ de Deus; na consoincia. As cerimnias, os sinibolos, os pietextos exteriores da religiosidade so resoluhamente excludos. O prprio sacramento da Eucaristia, a que LuteTo atribua valor real, interpretando-O no sentido da consubstanciao - (j defendido por Oceam no seu tratado De corpore Christi et de sacramento altaris), isto , com a presena simultnca das duas substneias, a do po ou do minho e a do corpo ou do sangue de Cristo, por Zwiingli Teduzido a uma pura cerimnia simblica, na qual o corpo de Cristo j no est no seu corpo real mas na comunidade dos fiis que se torna verdadei- ,ramente o corpo de Cristo no acto de reevocar durante a cerimnia, o sacrifcio de Cristo. Foi precisamente esta interpretao da eucaristia que determinou a polmiica entre Zwinglii e LuteTo e tornou impossvel o acordo entre os dois inovadores. Num outro ponto de vista, o antagonismo entre Lutero e Z~gli resulta
evidente. Lutevo, negando o valor das prticas reEgilosas, tinha levado, o homem * empenhar-se na vida social e a considerar esta * nico domnio da opera buona reveladora da graa. Mas -neste domnio ham@a baprado o caminho a todas as foras inovadoras, reconhecendo e afirmando o valor absoluto do poder poltico e negando-se a toda a eirativa de reforma social. A doutrina de 206 Lutem leva assim a um revigoramento do conservantsmo poltico-social. Zwingli, que nascera e vivia numa wciedade democrtica, d-se conta do valor de renovao que o reto -mo s fontes religiosas, representa paria a sociedade do seu tempo. A vida ~ deve, segundo Zwingli, determinar activamente e transformar, moffiante um retorno sociediade crist originria, a vida poltica e gocial. Ele condena Lutem que encoraja os prncipes a perse- ~ @nuwnanamen1tc a forro e f os inocentes culpados apenas de terem f na verdade. Nega a obedincia passiva autoridade poltica; reconhece legtimo s,um governo que encaminhe para a vida crist e aprove a deposio dos tiranos, pela concorde vontade do, povo. A comunidade dos cristos deve tornar-se, no esprito da reforma de Zwingli, uma =unidade poltica que retorna s formas da sociedade cristoriginria. Zwingl consciente de que este retorno no integralmente possvel e reconhece, por e~pdo, que a comunho de bens, que poderia reallizar-se apenas entre santos, no possvel neste mundo, no qual se pode todavia avizinhar esse estado de perfeio mediante a beneficincia. Mas antes de tudo ele leva o princpio reformador ao plano social e dele faz um instrumento de renovao e a base de uma nova orga~ poltica. 370. CALVINO Se o retorno s fontes religiosas para Lutem ~ncialmente o regresso ao Evangelho e para ZwIngli o regresso revelao Originria concedida 207 a pagos e ia cristos, para Calvino , ao invs, o retorno religiosidade do Velho Testamento. joi Calvino, (10 de Julho de 1509-27 de Maio de 1564) nasceu em Frana, em Noyon, mas foi na Sua, em Genebra, que levou a caibo a sua obra de reformador; e desta obra se originaram as igrejas reformadias que no se organizaram sob a influncia do Estado, com na Alernanha, mas se desenvolveram livremente. Em 1553 Calvino mandava condenar foguoira, pelo Conselho de Genebra, o espanhol Miguel Serveto, que negava a encarnao, pois via na figura histrica de Cristo uma simples participao na substnda eterna do, Pai (Restitutio christianismi, 1553). Mais tarde, foram efectuadas perseguies econdenaes contra a chamada corrente libertina, que congregava os idefensores da imanncia de Deus em todio o universo. AintoIcrncia foi para Calvino uma arma de defesa dia nascente Igreja reformi enquanto vilveu, o poder poltico em Genebra foi completamente subordinado s exigncias esparitus da reforma religiosa. Num captulo dia sua obria fundamental Instituiio da religio cilsit (aparecida pela primeira vez em latim em 1536 e por ele traduzida pwteriormente para francs epublicada em 1541 ~a lngua, a qual constitui o primeiro documento literrio dia prosa francesa), Calvino prope-se mostrar a unidade do Velho e do Novo Testamento,
combatendo a tese de que o Velho Testamento tenha anunciado aos Hebreus uma feLcidade puramente terrena. Calvino insiste na impossibilidade de entender a douffina do Evangelho sem o Velho Testamento; e, 208 na lade, na sua interpretao da Bblia so os conceitos do Velho Testamento que prevalecem. Do Velho Testamento extrai o conceito axial dia sua concepo religiosa: Deus com absoluta soberania e potncia, perante o qual o homem nada . Na teoliogia de Calvno, Deus omnipotncia e impre~biLdade, mais do que amor. Da sua vontade depende o curso das coisas e o destino dos hori portanto tambm a sua salvao. " Conforme aquilo que a Escritura claramente demonstra, ns dizemos que o Senhor h muito decidiu, no seu conselho eterno e imutvel, que homens havia de destinar salvao e quais deixar na ru-na. Aqueles que ele chama salvao, dzemos ns que os recebe pala sua misericrdia gratuita, sem ter em conta a digmdde deles. Pelo con4~, o dngresso na vida est vedado a todos aqueles que ele quer v~ condenao; e isso ooorre devido a um seu juzo oculto e incompreensvel, embora justo e equniri (Inst7, 111, 62-63). A eleio diviina no se segue previso divina, seno que a precede. Calvino considera inconeffiveis estas duas afirmaes: a de que os fiis iobtm a sua santidadepela eleio e a de que so eleitos por esta santidade. A santidade origina-se hfficamente da eleio: no pode portanto ser causa dela. impossvel atribuir ao homem um mrito qualquer relativamente a Deus. O homem reconetifia-se com Deus apenas atravs da m~ de Cristo e da participao nas suas promessas. Mas a prpria obra mediadora de Cristo um decreito ~o de Deus, que faz parte da ordem providencial do mundo. "Ns temos, diz Cvino (Ib., 6, 11, 275) 209 ~ rogra breve mas geral e certssim-m: aquele que por completo se aniquilou e despojou, no digo da sua jusuia que nada , mas daquela sombra de justia que nos engana, est devotamente preparado para receber os frutos da misericrdia de Deus. Porque, quanto mais cada um repouse em si mesmo, tanto mais ser,um impedimento, graa de Deus". Alis, a graa de Deus no impele o homem do Inesmo modo que ns atiramos uma pedra. uma faculdade natural, reconhece Calvno., querer ou no querer e tanto faz querer o mal como no que= o bem, entregar-se ao pecado como resistir justia. O S~r serve-se da perversidade do homem como de um instrumento da sua ira; enquanto refreia e ~era a vontade dos que destina svao, dirige-a, forma-", condu-la segundo a regra da sua justia, e finalmente confirma-u e fortifica-a com a virtude do Espffito. Deus quer que tudo o que ele faz emns seja nosso, contanto que entendamos que nada depende de ns (Ib., 2; 11, 188-190). Esta doutrina da predestinao, precisamente no que possui de extremo e de paradoxal, consW! a fora da conscincia Calvino Quem conta, apenas com os mrisos humanos, permanece necessriamente em dvidia quanto ~cia de ts mritos, to imperfeitos e precrios, e poT sso quanto prpria salvao. Mas quem cr apenas m- ,tos de Cristo e se sente, em virtude de tais mtos, predestinado, adquire uma fora de convico que no recua perante as dificuldades e o leva at ao fanaksmo. Como Lutero e Zwingli, Calvino abria ao 0~ o campo de ~ da vida social e levava-o a
210 empenhar-se num trabalho activo dentro da sociedade e a &,ansform-la em conformidade com o seu ideal r~oso. O trabalho tomava-se assim um dever sagrado, e o xito nos negcios uma prova evidente do favor de Deus e, segundo os conoeitos do Velho Tostamento, um sinal da sua predileco. Pela tica caMnista se modelou o esprito da nascente burguesia capitalista: o esprito activo, agressivo, desdenhoso de os os sentimentos, continuamente dirigido para o xiito. signficativo que o prprio Calvino tenha reabilitado a usura e haja declarado, moralmente lcito receber juros de emprsfiLmo. ~ quer que seja, a verdade que o carcter religioso, atribudo ao xito, nos cios estabelece laos estrekos ~re a actividade mercantil e a o~ne@a religiosa e reveste de um carcter sagrado a prosperidade econmica. No plano prpriamente especulativo, a t~a de Ciadvino pe o homern perante um muro: a imprescrutabUidade dos desgnios dvinos que faz com que o homem nada possa entender da justia divina e deva limitar-se a sDfr64a. 371. TELOGOS E MSTICOS DA REFORMA O sistematizador teolgioo da reforma luterana foi Rfipe Meilanethon (16 de Fe~o dL- 1497-19 de Abril de 1565). Pola sua -incansvel activdade de defensor dos princpios luteranos, de professor, de autor de manuais didcticos (de diaJctica, de fsica, de tica) foi chamado Praeceptor Germaniae. Ten211 tou reportar os princpios da Reforina espe~ da Antiguidade c CS~Imente de Plato e de Aristtelesque interpretou atravs de Ccero. Defensor do nominalismo (nos conceitos universais v smente Os nomes comuns das coisas) identifica este ponto de ViSta com o de Plato, e de Aristteles. E, em geral, faz wu o princpio humanistico do acordo substancial entre os ensinamentos da antiguidade clssica e a revelao crist . - A primeira obra imPortantC de M~thon so os Loci ~munes rerum theologicarwn editados pela primeira vez em 1521 e ree@aborados e enriquecidos nas subsequentes edies. Estas reclaboraes mostram o desenvolvimento do pensamento de Melanethon, que, partindo da simples interp~ da doutrina de Lu~, proema em seguida Vincul4a ~o do pensa" mento antigo, atenuando-a em alguns pontos essenciais, especialmente na doubrina do livre-arbitrio. O princpio de que ede parte a presena no homem de um lumen naturale que o fundamonto ltimo de toda a actividade terica e prtica. So manifestaes deste lumen naturale os conhecimentos inatos, que Melanethon admite w~ os Esticos e Ccero. Tais conhecimentos so as verdades supremas, os princpios por si evidentes que so a base da cincia e da conduta humana. So princpios inatos prticos as leis do declogo, que Deus ~ou e sancionou com a sua autoridade, quando eles se obscureceram na conscincia do homem. Sobre os princpios naturais inatos deve ser fundada a ordem social: eles de~ ser por~ o guia do homem, que quer, segundo o ensinamento de Lutero, reafizar no mundo 212
a obra de Deus. A obra de MeUnetIon desfituda de eiriginaldade especuktiva: o seu valor consi= em haver conduzido ao terreno filosfico os princpios da reforma r ~,* sa que Lutero valer apenas no domnio religioso, excluindo e condenando toda a ~borao, filosfica dos mesmos. Sebastian Franck 1(1499-1542) enxerta as d~nas da mstica alem no tronco do panteIsmo, humanista. He o autor de uma histria un~ (Chronica) que foi impressa em Estrabuirgo (1531), de uma Cosmographia 1(1534) e de 280 Paradoxa (1534-35). Como XMan~, Franck con,&dera que h nos homens uma luz natural, fundamento da capacidade de juzo, qlue dIes possuem. TW lume, que Plato, Ccero, Senoa e os outros filsofos pagos denominam razo, chamam-lhe os cri~ Verbo ou Filho de Deus, Chsto invisvel. O Cri~ invisvel portanto a prpria razo, merc da quad o homem consegue vencer o seu egosmo carnal, renuncia a si mesmo e se fia em Deus. A obra de libertao e de renascimento espiritual, aquela justificao que Lutero atribua iniciativa divina e da qual o homem era sujeito passlivo, torna-se em Franck a obra mesma da razo humiana, em que actua e se identifica a aco justificadiora de Deus. NissO reside precisamente a importncia da doutrina de Franck, a qual pela primeira vez leva a ~ma P&ig"a ao torrem fdosfico, no j no sentido de retraar os pressupostos doutrinais (como fizera Melanethon), mas no sentido de traduzir numa afitude filosfica equivalente a atiltude religiosa que, ela defendia. Franck fiel doutrina da justificao de 213 Lutero; mas a justificao para ele obra e iiniciativa humana, em que todavia se manifesta e actua a obra e iniciativa divina. Dai a sua doutrina sobre o livre-ar, btrio (Padaroxa, 264-268). Em polmica com Lutero, Franck defende a liberdade humana, visto que mediante ela que se realiza a deciso justificadora de Deus. Da, tambm, a interpretao puramente alegrim da Sagrada Eserura, cujos factos -,ao por Franck considerados smbolos de verdade eternos. O sacrifcio de Cristo apenas o smbolo de ,um processo que se repete continuamenle na Histria: o processo - da libertao e da redeno do homem que, atravs da razo, se mune a Deus. Da, enfim, o conceito de uma igreja invisvel de que se faz parte, no por atributos externos, mas pela perseverante justificao interior, e da qual so membros tambm os pagos, com Scrates e Sneca, que viveram de acordo com os ditames da razo. A par desteradonalismo religioso, Franck apresenta uma vMo da histria dominada pela aco proVidencial de Deus. Desta aco o mal um instrumento e uma condio necessria, portanito impossvel de eliminar. Homens maus e loucos sempre exisfixam e existiro sempre em maior nmero do que os homens justos e piedosos. E haver sempre um papa no mundo, porque este tem. newssidade da f cega e de servir -algum; e oshornens, devido sua debMidade, dificilmente conhecem outro modo de servir Deus que no seja pelas cerimnias externas, pelos cantos, procisses, etc. Eleprprio, Franck, quer ser e permanecer estranho s seiitas religiosas e tomar o seu lugar entre aqueles poucoshomens de 214 todos os ~s que tm servido livremente Deus na interwridade do seu esprito. Mais prximo do misticismo de Me~ Eckhart est Valentino Weigel (1533-88),
autor de numerosas obras, entre as quais as mais notveis filosficamente so: A verdadeira resignao, Introduo teologia alem, A chave urea, As origens do mundo, Pequeno livro, Sobre a vida e a maneira de conhecer todas as coisas, Conhece-te a ti mesmo, O bem e o mal no homem, A vida santa. - W6gal parte do conceito de Deus prprio dos mistkos: Deus uma unidade inefvel superior a toda a essncia criada e incomparvel, com ela. Mas ao mesmo tempo Deus, imanente no homem e constitui o principio que conhece e opera nele. E, de facto, todo o oc>nhectimento humano encontra o seu princpio, no no objecto, mias no sujeito em que age Deus mesmo. O homem possui itrs formas de conhecimento: a sensibilidade, que item por objecto o mundo sensvel, a razo de que dependem as cincias e as artes, e a inteligncia que visa ao que invisvel e divino. Mas estas trs formas de conhecimento tm o seu principio, no no objecto que as produz, mas no sujedito cognoscente. No conhecimenito sensvel, de facho, a coisa externa solicita a percepo, mas no a produz, porque esta uma actividade do sujeo. E o mesmo acontece com o conhecimento sobrenatural: da que possamos, na verdade, entender a palavra divina consignada na Bblia, mas a~ na medida em que em ns prprios actue a luz divina. Na realidade, Deus e a sua palavra esto em ns: ele o nosso olho e a luz que o ilumin . Por isso knpos215 svel ent~ a Sagrada Escritura moffiante um corfi, ecimento puriamente natural: s a presena do p~ Santo em ns nos abre o entendimento. Donde se segue que a just, ~ do homem por parte de Deus no vem do exterior, seno que ua na illb~d@adie ! MCSIM do homem. Wegel une a doutrinal~ana da justif~ dioutrina de Ec~ do Deus no homem. Ohomem, deve morrer para si mesmo e o PTpro Deus deve fazer-se nede homem. O renascimento que se alcana atravs da f a afirmao da vida divina no homem, afirmao pela qual a vontade humana suplartada ntekwn~ pela vontade salvadora de Cri~. O mais ~,Icaltivorepresentante daleosofia alem luterana Jakob Bhmie na~ em 1575. De familia humd&, no sqguiu estudos regulares e exerceu o mester de sapateiro. As lutas entre vxias seitas protestantes turbavam a sua c<xwi ntensaniente ~osa e conduziram-no a uma m"tao desordenada e fantstica, da qual ffie ~ que poderia bwtar mraculosamente, um princpio de ela-reza e de omLao. A sua primeiwa obria foi A aurora nascente, ~posta em 1612. As autoridades Protestantes puseram-lhe a Proibio de escrever; mas sete anos depoils, retomou a sua achivdade e comps numerosos e"tos: os trs princpios da essncia divina (1619), A trplice vida d homem (1619-1620), Psicologia verdadeira (1620), A encarnao de Cristo (1620), Sex puncta theosophica (1620), Sex puncta mystica (1620), Mysterium pansophicum (1620), De signatura rerum (1622), Theocospia (1622), Mysterium magnum (1623), Cris216 tofia ou a via para Cristo (1622-24), 177 Questes teosficas (1623), Tbua dos trs princpios (1624), Clavis (1624). Bhme morreu em Kortz a 17 de Novembrio de 1624.
Gomo iodos os msticos, Blime considera a razo i~paz de chegar a um ver~o conhecimento de Deus. Um tal conhecmento obtm-se aperiais atravs de uma viso @media$a que possvel ao homem. porque h nele uma Oentelha dia luz dilvina. Tal como Franck e Weigel, Bhme ~te uma origiriria iluminao divina, devida ao facto de que a alma tem a sua origem na es~ mesma de Deus. (Aurora, pref. 96). Tal como os outros msticos alemes, Bhme coloca Deus acima de todas as as reais, de sodas as determinaes finitas, chegarido, a di= que se pode design-lo por lima spalavra: um nada eterno(Mist. ~, ., 1, 2). Deus o mysterium magnum, o eterno abismo do ser; este abismo item uma vontade; e esta vontade anela espelhar-se em si mesma. A -trindade divina determina-se assim: o Pai a Vontade (W111) do abismo oterno; o Fiffio o Sentimento (Gemth) e~ da v~e, o prazer que ela experimenta em contemplar-se; o Esprito, fmalmente, a, Resultante (Ausgang) da Vontade e do Sentimento na linguagem e na inspirao. Porm, no se tratava tanto de &s pessoas como detrs aspeotos dia dlivndade no sou nascimento eterno, pois que a divindade veridadeiramente uma via nica e um nico bem. (lb., 7, 9-12). Todavia, esta nica, vida iinclui em si a opo,~ de dois princpios. Se de facto fosse absolukv=te una, nera sequer poderia revelar-se a 217 mesma: a revelao supe uma dualida&, kW uma o~,- A opo~ entre ais trevas e a luz, entre o ffio e o arnor, ~ o coppo e a natureza, entre o corao e o sentim~ de Deus. "Se deve -haver a luz, tera de haver ita~ o fogo. O fogo gera a luz e a luz ~ cin si o fogo, ela compreende em si mesma o fogo, isto a naftm-ez-a, e habita no fogo" (Ib., 40, 3). O amor poder~se apenas atravs do Mio, o Mio atravs do amor, e astrevas esto estreitamente figadas luz. I)cus compreende Portanto em si a eterna natureza em OPOS@O ao eterno esprito, que o ~0 daqueda e~ naitureza. E nesta eterna natureza ex@stern sete formas fundamentais ou qualidades, nas quais encontram a sua raiz todos os aspectos da realidade criada. A primeira forma natural o Anelo, do qual nasce o e~ querer & Deus. A segunda o Movimento a que o Anelo d origeim, do qual nascem o esprito, a sensibddade e a vida. A terceira a Angstia, que deriva das precedentes. Estas trs primeiras formas nas quais se reflecte a aco do Padre, do Filho e do EsprUo Santo, so simblicamente Indicadas por Bhme com os nomes dos elementos deParacelso: sal, mercrio e enxofre (Clavis, 9, 46). Da angstia brota o Fogo, que o nasdmento da v@dia e a quarta forma natural: nela se revela autnticamente a trindade divina. Do fogo brota @a quiinta forma, a Luz, que o amor. A sexta forma o Som da palavra divina. A stima o Corpo que resulta da aco combinada de todas as formas precedentes e des;~, a como a natureza 218 de Deus, o cu incriado, o saltre dvno (Aurora, 11, 1). O mundo criado encoutra as suas razes ne~ sete formas da natureza divina. Ele no foi criado do nada: Deus tirou-o de si, e ele no seno a revelo@o e a explicao da essncia divina (De tr. pri.nc. 7, 23). O que em Deus a oposio dos dois princpios (ia natureza e o esprito), no mundo a
oposio entre o bem e o mal. Umavez que o mundo deriva de ambos os princpios divinos, deve reflectir em si a oposio desses princpios. Todas as coisas do mundo esto portanto em luta entre si e esta luta inelutvel porque, sem ela seria ,possvel a vida e todias as fbrmais da realidade (Myst. magn., 26, 37-38). O homem microcosmo a imagem da divindade. A sua alma compreende trs princpios: * alma do fogo, ia alma da luz e a alma do animal; * o seu corpo Compreende tambm trs princpios: * corpo celeste, o corpo sideral e o corpo elementar (Ib., 15, 15; 11, 20-25). Atravs da f, a imagem divina do homem restabelcoe-se e refaz-se tal como era no princpio, iantes da queda de Ado. Bhme interpreta a f, em conformidade com a doutrina luterana, como justificao total do homem, como um -retomo do homem, atravs de Cristo, luz e vida de Deus. O renascimento do homem verdadeiramente o renascimento de Deus no homem. Mas para B5hrne este renascimento fruto da liberdade. Whme nega ia predestinao dvina, mas nega-a, no j para fazer valer perante Deus os mritos do homem, mas para mostrar que a aco divina intrnseca vontade humana de salvao. 219 A queda do homem entra na ordem provadencW do mundo Porque sem ela o amor e a graa de Deus no teriam podido wvelar-se. Decerto que Deus no PrOdc~ Os homens nem to-pouco a sua Prescincia ~ ou viola a b~, e deles. Mas a queda, a salvao e alternativa que se prope Qivre escolha do homem enitmo bem e o mad, e~ radicadas na essncia divna, @sto , na duplicidade dosprincpios de tal, essnca: a naitur<za e o espirito. O fundamento ida salvao humana no s um dos PVnciPi05 d'MaOs, mas sim toda a essncia divina, que, compreendendo tambm a Natureza, i~ , as trevas e a possibilidade do~o,~possvel ao homem aimagem de Deus, a liberdade o a esccdha. O ml~ismo de Bohme conclui assim, com uma tentativa de @nterpretar a dependncia absoluta do homem Para cOM Deus num sentido que pode wlvax a liberdade humana. Mas esta t~tva 1im@ ou atenua a distnca ~e o homem e Deus, faz do homem uma Partcula da divindade e do problema da salvao humana -um problema c~, no qual ~ envolvidos -tambm,todos os aspectos do mundo, tanto o homem como a natureza, os anjos e os animais. O pressuposto pantestico destri o carc. ter original e especfico do destino humano. 372. O RACIONALISMO RELIGIOSO A necessidade de libe~ a originria doutrina crist das superstrutruras que a tradio catlica havia acumulado fez nascer na Alemanha o estudo 220 crtico dos textos bib @. De 1559 a 1573 Flacius (com outros) publicou 13 volumes das chamadas Centrias de Magdeburgo, em que se documentavam as numerosas mudanas que atravs dos sculos tinham wfrido a doutrina e o cerimonial da Igreja. Simultneamente, contra a tese da unsuficincia das Sagradas Escruras para constru*cni por si s um guia para a salvao, tese queimplicava a necessidade de uma interpretao autntica delas por parte da Igreja e era defendida pelos escritores
catlicos (especialmente por Belarmino), tentaram os p~tantes mo~ a suficincia e a intelgibildade da Sagrada Escritura. Denominaram eles clavis aurea o mtodo de que Flacius @se serviu para tal fim, e que ~sa pirincipalmente em explicar cada simples passo, mediante o sentido total da Escritura. No obstante a arbitrariedade dos resultados, este mtodo abriu o caminho exegese histrica da Bblia, cuja necessidade Erasmo hav@a sido o pri> zrwiro, a compreender. E um pa~ ulterior desta exegese representado pelo socinianismo. O fundador do socinianisma foi Lelio Socini nascido em Siena em 1525 e morto aos 37 anos, em 1562, em Zurique, depois de ter vividb na Alemanha, na Sua e na Polnia. O sobrinho Fausto, Socirai, tambm nascido em Siena em 1539 e falecido em 1604, na Polniia. (onde se estabelecera em 1579) prosseguiu e levou a efeito os estudos do tio, sendo o verdadeiro fundador do socinianismo. Fausto Socini defende, nas pisadas de Flacius, a veracidade e suficincia das Sagradas Escrituras, servindo-se, tam@bm ele, da clavis aurea para demonstrar a coernedia 221 delas. Mas o espr@t" racionalista da sua ~se sagradia reflecte-se nas suas d,out,@mw, que chegam a negar os dogmas fundamentas do cristianismo. J Miguel Serveto (1511--53) nepra o dogma trinitrio, admitindo um nico Deus, isto , o Pa, e recusando-se a rcoonhecer que a trindade se funda na Sagrada Escritura. A mesma negao se encontra em Socino. Deus, que uma essnda numricamente una, deve ser tambm uma pessoa numficamente una: pessoas diversas implicariam essncias, isto , substncias diversas. O que exclui que Cristo seja Deus. Alis, se fosse Deus, j no seria homem, pors uma nica substncia no pode ter em si duas formas. A pretensa dirvindade de Cristo contradiz ao mesmo tempo o testemunho do Evangelho e a razo humana. O pecado original deixa de subsistir, " uma fbulia judaica iiintroduzida na Igreja Pello Anti-Cristo," (Dial. de justif., Op. 1, 604 b). A culpa requer a vontade, e no pode haver culpa no homem que acaba de nascer. Fausto Socini defende, alm disso, a liberdade do homem e @nterpreta a doutrina luterana da justificao como uma espcie de Mmisso jurdica que Deus faz do pecado em virtude da f. Mas o homem no pode salvair-se ~o pela sua vontade, porquanto a escolha divina no ocorre sem ia livre aco da vontade humana. No racionaliismo religioso de Sooini o cristianismo tornou-se num puro iteismo filiosfico, no qual os caracteres h@strieos: do cristianismo se desvanecem de todo. Insiste, ao invs no carcter moral e prtico do cril,stirni,smo, entendido como religio da Uberdade e da caridade, G@acomo Aconcio que, nascido tialvez 222 em Trento (1520) viveu ~, s anos na Inglaterra, onde morreu em 1567. No seu Strata gemata Satanae (1565), v ele o nico meio que o homem tem de fugiT aos ardis de Satanaz, considerando como suprf,luos salvao, todos os
pontos de doutrina que noinf1uene@en a prtica da virtude crist. Tudo o que conduz eincita f, esperana e candade, verdadeiramente essencial; tudo o que divide os cristos e os lana na luta e na tintolorncia considerado oomo uma tentativa dwablica. - Num tra- ozinho @nttulado De methodo (1558), Aconco tambm prenunciou, conquanto de maneira vaga e genrica, a exigncia da renovao metodolgica baconiana. "Uma vez que a utilidade dias artes oonsisoe, no no seu cionhecimento mas no seu uso, e quie necessrio, se te queres servir de uma arte, que i~, mo os prewitos dela, como os elementos das letras a quem deseje escrever e ler, evidente que no ensino das artes se deve evitar toda a verbosidade" (De meth., 15). Aconcio insiste no fim prw das artes e no valor das experindas, ma retoma e ilustra velhas e gastas noes da lgica e da metafsica. escolstica. 373. A CONTRA-REFORMA Costurna-se dar o nome de Contra-Reforma reaco da Igreja catlica, reaco que se @nich com o Concilio de Trento (1545-63). Na realidade, a Contra-Mbrma a reforma que a igreja, sob o impulso das circunst"s lustvicas, faz de si 223 mesmia; o tal reforma mais unia vez um retorno aos princpios. A Igreja, de facto, retorna decididamente aos prIncpios fundamentas que havmm presidiido sua fonnao e reencontra nesses principios o seu vigor e a sua fora de expanso, que a impelem, ta difundir o seu ensino em odas as partes do mundo e a reconstituiir asua potncia uni~ que havia sdo, quebrada pela Reforma. GontTa a Reforma, que queria voltar ao Evangelho, anulando de golpe os resultados da tradio ecliesistica, a Igreja reafirma o valor de taltradio e por~ das doutrinas, das cerimnias e dos que se tinham acumulado e consolidado atravs dos tempos. Para -a Igreja, o retorno s origens no o retomo BbUa, mas o retorno ao primieiro pier~ da sua formao histrica, ou seja, o perWo pau~, no qual a palavra de Cisto comeou a tomar corpo e consistncia na organizao eclesistica, se fixairam. as interpretaes aut nticas dos pontos fundaments da f e nasceram os ritos e as h~quias. E, enfim, o x~o aoproseltsmo e capacidade difusora dos primeiros tempos, prietenso a um magistrio universal do qual no deve excluir-se nenhum,povo da terra. O C"nclio de Trento negou portanto que ia Sagrada Esffitura bastasse por si s salvao do homem; negou o princpio dia livre @nterpretao e reafirmou o direito da Igreja (j sustentado e difundido pelos Padres nos primeiros sculos) de dar, ela s , ia interpretao autntica dos textos bblicos. ~iirmou. assim o valor e a funo me~ora da Igreja, a necessidade da hierarqua, e portanto a validade dos sacramenOs e dos 224 ritos. Assim se restabelecia o vador das obras e a Igreja desenvolvia e ref)orava. a sua actividadie no mundo mediante a
criao de ordens religiosas que tinham como escopo fundamental a educao, a ~icinoia e, em geral, a actividade filantrpica. A seiumodo e em conformidade com a sua natureza, a Igreja fazia seu o princpio, afirmado pelo, Renaiscimento e pela Reforma, de que a rokgiosi;IIJ!ade deve aplicar-senci, mundo e pr-se, ao servio dos homens. A persionadade ms @mportante, dia Contra-Reforma o cardeal Roberto Beliarmino. Nascido em MentepuViano a 4 de Outubro de 1542, e fa-L-cido a 17 de, Setembro de 1621, Beilarmino fo@ jesuta, professor de teologia no Colgio romano, e consultor do Santo Ofcio: como ital tomou parte no processo contra Brum em 1559 e no primeiro processo contra Galileu em 1616. A sua obra princ@paI so as Dsputationes de centroversiis christianae fidei adversus huius temporis, nas quais as deoises do Conclio de Trentoso ilustradias e de&ndidas com grande clareza e enorgia. Belarmino afirmou tambm,a superioridade do Papa sobre a Igreja e sobre o conclio, e bem assim a sua idalibiUdiadt; e que o Papa, embora possuindo apenas o poder espiritual, goza, pela superioridade prpria deste poder, uma abscuta. supremaoia sobre todos os reis e prncip.,@s da terra,podendo por issso coro4os ou destron-los segundo o seu critrio ~vel. O ~mo da Igreja aos seus mais sLdo@s princpios devia significar, e significou de facto, tambm um retorno ao tomismo. O Wmismo representava 225 a mais bem sucedida sintese dia f e da razo e realizava a ipossibilidade daquela jusWicao rwionad do d,ogma cristo que a Igreja sempre pmmovera e que havia sido negada, pela Reforma, a qual seguira o exemplo da Escolstica na sua ltima fase. O representante principal do wtorno ao tomismo o espanhol Frawisco Suarez, que nasceu, em Granada em 1548, foi professor em vrias universidades espanholas e morreu emljisboa em 1617. A sua obra principal, as Disputationes metaphysicae, um manual ocimpleito e sl~co da metafsica escol~a em que se retomam todos os princpios basilares do tomismo, com algumas, conoesses ao nominalismo occamstico. A concesso diz respeito sobretudo ao reconheeim~ da individualidade do mal. " Toda a substncia singular singular por si mesma ou peda sua prpria reailidade" (entitas) e no tem necessidade de outro princpio de individuao alm da sua prpria realidade ou dos princpios intrnsecos em que tal realidade ~ste" (Met. disp., V, 61). ERte nheciiinento no leva no entanto Suarez a negar a ~ade do universal: ele admite a do~ de Escoto segundo a qual o indirviduo uma especificao ou contradio de uma natureza comum constkuda de matria e forma.-Quarito ao resto, a obra de Suarez no se afasta de S. Toms e no apresenta por isso nenhum in;tOr@sse:. todavia notvel a doutrina poltica exposta por Suarez no De legibus (1612). A ~ fundamental d~ obra a de que, enqu~ o poder si~ deriva imeN 226 diatamente de Deus, o poder temporal, deriva apenas do pwo. De facto, todos os homens nascem, livres e o corpo poltico resulta da livre reunio dos indivduos, os quais, explcita ou toitamente, reconhecern o dever de se ocuparem do bem comum. Da que a soberania resida apenas no povo, que superior ao rei, ao qual ele a confia e a quem pode retir-la desde que o red a exera de uma maneira impodifica, isto , no no @niteresse comum mas
tirnicamente, ou seja, no interesse prprio. Esta doutrina, que ;se apoia um pouco nas ~ias politicas da Idade Mdia e tamb6m. em S. Toms possui, um iintuito evidente. A Reforma afirmara o absolutismo do poder poltico dos prncipes, ao passo que negava o poder e a funomesma da Igreja. A Contra-Refrma, fazendo derivar o poder eclesstico directamente de Deus, pretende subtra-lo a toda a dvidia ou bimitao para reafirmar o carcter absoluto dele. Mas ao mesmo tempo, atribuindo ao poder poltico dos estados apenas o fundamento cont,ingente e rautvel da vontade popular, visa a rebaixar o valor de tal poder em ~o ao sistico e a fazer ressaltar assilim a supremacia absoluta deste. O reconhecimento, da origem popular do poder poltico no , portanto, em Suarez e nos o~ jesutas (camo o espanhol Juan Maana, 1536-1623, autor & um De rege et regis institutione) mia tentativa. positiva de fundar asobemn@a poltica do ~o, mas antes a tentadva negativa de desvalorizar tal soberania em benefcio total do poder ecieslisfico. 227 Sobre ~a grande controvrs@a entre reformistas e catlicos, a dia liberdade humana, o ponto de visita dia Igreja sustentado, pelo jesuta espanhol Luis Molina (1535-1600) na obra Uberi arbitrii cum gratia e donis, divina praesciencia, providenta, praedestinatione et reprobatione concordia. Como o ttulo, diz, o escrto, prope-se mostrar o acordo entre ia liberdade humana por um lado, a griaga, a prescincia, a providncia e a predestinao por outro lado; e a tentativa feka segundo o modelo das @solues torasticas. A graa no elinna, segundo Moilina, a liberdade humana mas ~rma-a o garante-a. Deus concedeu a todos os homens a possibilidade de se salvarem; e quiis que a salvao deles dependesse da sua prpria boa vontade. De modo que ia graa divina. coopera com o -Iivrk>arbtrio do homem, mas no o abole nem o suplanta. Nem o l,ivxe-iarbkrio abole a prescincia, a qual, pelo que mlslye@ha s aces humanas, no as precede mus se lhes segue. A ci4icia, de Deus necessiitante com respeito ordem dias causas naturais e aos acontedimentos que ele prprio determina mediante um acto livre da vontade. Mas h ainda uma cincia mdia, que concerne s aces humanas, pela qual Deus sabe infalivelmente que aco entre as mltiplas possibilidades o homem realizar efectivamente, embora deixando o homem livre para realizar a aco oposita. Trata-se, como se v, de uma ~posio das teses, tonstas. Mas a obra de Molina devia ricacender no prprio seio da igreja catlica a disputa sobre a liberdade, visto que foi a essa tese 228 que Jansnio ( 420) buscar o ponto, de ~ida polmico para uma defesa resoluta da predest~ d@vinia e da servido humana. A atitude do homem da Contra-Reforma no mundo ilustrada pelas obras do jesuta espanhol Bal~ Graciano (6 de Janeiro de 1601-6 de Dezembro de 1658), autor de vrios escifitos (0 heri, O poltico, D. Fernando o catlico, O Discreto), o maiis famoso dos quais o Orculo manual e arte de prudncia, publicado em 1647. As mximas de Graciano insipiram-se num realismo, lcido e cru que recorda o de
Maquiavel e and:a mais Guicoiardni. Graciano, cr na perfectibilidade do homem, na sua progresisiva formao. "No, se nasce perfeito, diz ele: o homem vai-se aperfeioando todos os dias na suiapessoa e na prtica dia vida at chegar a ser um exemplo perfeito,, a personificao da virtude e do valor. Revela-se ento na fineza do gosto, na segurana do esp~,-, na maturidade do juzo, e na fora de viontade" (Or., 6). Mas esta formao no um facto apenas espiritual e ntimo: itambm capacidade de triunfar na vida, arte do x@to. Graciano insiste igualmente nos dotes essenciais da personalidade humana como o saber, a fkmeza, a coragem e a destreza prtica que consiste em se desembaraar nas circunstnclas da vida prtica e em prevale= sobre os outros. Exta o homem deuma s pea que "julga tralo a d-issimu~, que se giorifica mais da sua tenacidade que da asituesa e se enoontra sempre onde se encontra a verdade" (Ib., 29). Mas iao mesmo lempio, 229 ensina a arte de governar a vontade dos ~os ~ecendo a debilidade ou a p~ dorninante de cada um: "A ast cia consiste em intuir os idolos dos o~ para se insinuar: conhecer o impulso de cada um e possuir a chave da vontade dos outros. Deve-se avanar ao pnmeffo movimento, que nem sempre o mais alto, e o maiis das vezes o mais baiixo: porquie so mais numerosos no mundo os desregrados do que os que se sujeitam s regras (Ib., 26). Aqui a "arte da prudncia" que avalia, os actos humanos pelo juzo, que os homens fazom deles e d uma dmp(>rtncia es~ aparw@a, porque "as coisas no se estimam por aqu@lo que so mas por o que parecem. Wer e sab-lo mostrar valer duas vezes" (Ib., 130). As obras de Graciano alcanaram grande sucesso na Europa nos ltimos decnos do sculo XVII: talve7 porque ofereciam aos espritos da @poca um quadro imparcial dos meios paria se obter xito e se inseria naquela concepo arisftw~ da autoridade que era partilhada por muitos. Matis tarde, Schoperihaueir viu em Grac@ano um precursor do ,,,eu pessimismo e traduziu o Orculo em ale~. Na realidade, no se trata de pessimismo, mas, de uma observao realista e crua da natureza humana, uma reflexo que se impe como premissa de toda a aco entre os homens que queiram assegurar o sucesso de qualquer empreend=ento. As mximas deste jesuta so um outro sinal da mundanizao do esprito religioso que a Contra-Reforma wem em comum com a Re~. 230 NOTA BIBLIOGRFICA 366. Sobre o Renascimento e a Reforma: BURDAci-i, Deut8che Renaissance, Berlim, 1920; M., Riforma, rinascimento e umanesimo, Florena, 1935; HAUSER e RENAUDET, Les dbuts de Pge moderne. La Renaissance et Ia Rforme, Paris, 1929; e bem assim, as obras sobre o Rena-scimento cit~ na nota bibliogrfica do cap. I, e especialmente a de DILTHEY. 367. Noticias e documentos sobre a vida de Erasmo em E. MAJOR, Erasmus von Rotterdam, Basileia, s. d.; as obras de Erasmo foram impressas em Basleia, em 1540-41 e em Leida em 1703-06; as cartas ao cuidado de Allen, Opus epistolarum, em Oxford, 1906 e segs. O De libero arbitrio teve uma nova ed. ao cuidado de Walker, Leipzig, 1910; o Enchyridion militis christiani e os prefcios ao Novo
Testamento (In Novum Testamentum praefationes, Batio seu methodus compendio, perveniendi ad veram theologiam) tiveram edies criticas ao cuidado de H. Holborn, M~, 1933, com o ttulo Ausge-whlte Werke. -Elogio da Loucura e Dilogos, trad. ita@I., Bari, 1914. Sobre Erasmo: HuyzINGA, Erasmus, LeIpzig, 1928; MEYER, tude critique sur les relations d'Erasme et Rotterdam. Milo, 1935; A. RENAUDET, tudes era-&miennes (1521-29), Paris, 1939; E. e Utalie, Genebra, 1955. Sobre as relaes entre Erasmo e Lutero: A. M=R, tude critique sur les relations d'Erasme et de Luther, Paris, 1909. 368. Uma primeira ed. completa das obras de Lutero fa dada estampa em Wittenberg, 1539-58. A ltima a ed. ertica em 60 vol. publicada em Weimar, de 1883 em diante. O testemunho autobiogrfico de Lutero -nos dado em KROKER, Luther8 Tischreden in der Matheig231 chen SammIung, n.o 590. -E. TROELSTSCH; Prote@stantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit, in "Die Kultur des Gegenwart", I, IV, 1; ID., DiBedeutung des Protestantismus fr die Entstehung der modernen Welt, Relim, 1925; GRISAR, Luther, 3 vol., Friburgo, 1,912-1913; BUONAIUTi, Lutero e Ia riforma in Germania, Bolonha, 1926. Veja tambm a obra cit.%da de Dilthey, trad. itali., I p. 70 segs. 369. As obras de Zwlngli no Corpus reformatorum, Berlim, 1904 e segs., DILTHEY; L'analisi del Uomo, ete., trad. ital, I, p. 83 segs.; 285 segs. 370. As obras de Calvino no Corpus Reformatorum, Braunschve@g, 1863-84. Institution de Ia religio chrtienne, ed. crtica ao cuidado de J. Pannier (na "Oollection des Universits de France"), Paris, 1936, 4 vol. (cit. no texto).-CAREW HUNT, Calvino, trad. ital. de A. Prospero, Bari, 1939.-MAX WEBER, Die protestanti-sche Ethik und der ~ des Kapitalismus, Tubinga, 1905; DiLTHEY, op. cit., 1, p. 291 segs.; A. OMODEO, G. Calvino e Ia rifornw in Ginebra, Bari, 1947. 371. As obras de Medancithone tiveram a primeira ed. completa em 5 vols. em Basileia em 1541. Foram republicadas em 28 vol. no Corpus reformatorum, 1834 segs. Uma revalorizao da obra de Melanethone foi feita por DILTREY, em L'analisis del uomo, etc., I, p. 207 segs. De S. FRANCK: Chronica, Estraburgo, 1531; Cosmographia, Uinia, 1534; 280, Paradoxa, 2.1 ed., 1542. As obras de V. Weigel foram publicadas isoladamente nos princpios do Sculo XVU-STOCKL, Gesch. der Phil. des Mittelat, III, Mogncia, 1866, p. 559 segs. As obras de Bhme foram editadas nos sculos XVII e XVIH por vrias vezes em Amsterdo; nova ed. ao cuidado de Schiebler, Leipzig, 1831-47; 2.1 ed., 232 1861 e segs.; Aurora, os trs princpios da essncia divina, A trplice vida do homem, Quarenta questes sobre a alma, foram traduz~ em francs por St. Martin, Paris, 1800.-K. LEESE, Von J. Bhme zu Schelling, Erfurt@ 1927; E. NOBILE, Jakob Bhme e i? suo dualismo essencial, Roma, 1928. 372. Sobre os Socini e Serveto: DILTHEY, L'analisi dell'uomo, etc., I. p. 175 segs. As obras de Fausto Socini foram publicadas em 2 vol. em 1656 na "13ibliorteca Fratrum Poloniae". G. Aconcio, De methodo e Opuscoli re7igiosi e filosofici, ao cuidado de G. Radetti, Florena, 1944; Id., Stratagematum Satanae Libri VIII ao cuidado de G. Radetti, Florena,
1946. 373. Sobre a Contra-Reforma: E. GOTHEIN, Reformation und Gegenreformation, Mnaco, 1924 (trad. ital.). -As Disputaciones de Belarmino foram editadas em Ingolstadt, 3 vols., 1586, 1588, 1592; nova ed., Mognci,a, 1848.-As Disputationes metaphysicae de Suarez foram editadas em Salamanca em 1597 e em Mogncia por vrias vezes no sculo VII: o De legibus em Coimbra, em 1612. Edies completas das obras: Lio, 1632 segs.; Veneza, 1740-51; Paris, 1856-61. -A obra de Luigi Molma sobre o livre-arbtrio foi editada em Anturpia em 1535.-B. SPAVENTA, La politica dei gesuiti nel secolo XVI e nei XVII, Milo, 1911. As obras de Graciano foram editadas em Anturpia em 1669. O Orculo foi traduzido em todas as linguas, sendo o maior nmero de tradues em italiano. Ver a trad. de G. Marone com introduo e bibliografia, T-jaxwano, 1930. 233 vi RENASCIMENTO E NATURALISMO 374. RENASCIMENTO E NATURALISMO: MAGIA, FILOSOFIA NATURAL; CINCIA O renascer do homem, que o anncio o a esperana do Renascimento, o renascer do homem no mundo. A -relao com o mundo reconhecida como parte integrante, constitutiva do homem. A elareza que o homem alcana no Renascimento no que respeita natureza prpria tambm ao mesmo tempo clareza no que Tespeita solidariedade que o lga ao mundo: o homem compreende-se como parte do mundo, distingue-se dele por reivindicax a originalidade prpria, mas ao mesmo tempo radica-se nele e reconhece-o como o seu prprio domnio. O tema do homem como natureza mdia, tema comum aos humanistas, platnicos, aristot235 licos e magos, exprime precisamente a consc~ com que o homem se reconhece essencialmente inserido no mundo e a sua deciso de se servir da sua posio privilegiada, semelhante de Deus, para fazer do prprio mundo o seu reino. Revela-se portanto indispensvel uma investigao que vise a realizar este domnio. O estudo do mundonatural j no se apresenta no Renascimento como a fuga do homem interioridade prpria ou como intil distraco da meditao sobre o destino da pessoa. A investigao natural comea a aparecer como um instrumento indispensvel para a realizao dos fins humanos no mundo, j que s por ela o homem pode obter os meios de tal realizao. A invesitigao natural de facto a parte primeira e fundamental da filosofia do Renascimento. Podem dist@nguir-se nela trs aspectos ou fases, que so a magia, a filosofia da natureza e a cincia; mas estes trs aspectos, que caracterizam a investigao especulativa ou positiva da natureza no sculo XVI, so preparados pelo humanismo e pelo aristotelismo do sculo XV. Pelo humanismo na medida em que no s tornou. possvel a disponibilidade dos testes da cincia antiga mas tambm insistiu na naturalidade do homem e por isso no seu vital interesse em conhecer o mundo natural. Pelo aristotelismo, que pretendeu explicitamente promover o renascimento da investigao natural, como havia sido praticada por Aristteles, e que veio pr a claro o fundamento que a tornou possvel: o conceito da ordem necessria do mundo. A magia renascentista caracterizada por dois pressupostos: 1) a universal animao da natureza,
236 que se verifica ser movida por foras intrinsecamente semelhantes s que actuam no homem, coordenadas e harmonizadas por uma simpatia universal; 2) a possibilidade que assim se oferece ao homem de penetrar de golpe, com meios ambguos ou volentos, nos mais ocultos recessos da natureza e de lhes conseguir dominar as foras com lisonjas e encantamentos, isto , com os mesmos meios com que se atrai a si um ser animado. Com estes dois pressupostos, a magia vai procuxa de frmulas ou processos miraculosos que sirvam de chave para os mais impenetrveis mistrios naturais e ponham o homem de golpe na posse de um poder ilimitado em relao natureza. A filosofia natural, que j se havia manifestado nalguns dos prprios defensores da magia, mas se afirmara pela primeira vez em Telsio, abandona este ltimo pressuposto. A natureza no entanto sempre considerada como uma totalidade viva, mas considera-se regida por princpios prprios; e a doscoberta destes princpios torna-se a tarefa da filosofia. Renuncia-se quimrica pretenso de penetrar violentamente nos mistrios naturais, e at se negam tais mistrios; as foras naturais esto patentes e revelam-se na experincia, s necessrio reconhec-las e secund-las. A filosofia da natureza destri as pontes, seja pela magia, seja pelo aristotelismo: pretende penetrar na natureza por intermdio da prpria natureza, prescindindo de hipteses e de doutrinas fictcias. E assim abre o caminho verdadeira e prpria investigao cientfica. 237 A cincia o ltimo o mais maduro resultado do naturalismo do Renascimento. A reduo naturalstica conduzida ao seu ponto extremo: a natureza nada tem a ver com o homem, nem com a alma nem com a vida; um conjunto de coisas que se movem mecnicamente; e as leis que regulam * mecanismoso as da matemtica. A cincia reduz * natureza pura objectividade mensufrvel, separa-se do homem e torna-a estranha sua constituio o aos seus interesses: e s assim a abre verdadeiramente e dela faz o regnum hominis. 375. RENASCIMENTO E NATURALISMO: A MAGIA A primeira figura de mago a de Johann Reuch,lin ou Capnion (assim grecizou ele o seu nome), que veio a dedicar-se magia atravs da Cabala. Nascido a 22 de Fevereiro de 1455 em Pforzheim, morto em Tubinga em 1522, ReuchIm viajou em Itlia, onde conheceu Pico de Mirndola pelo qual foi provvelmente dirigido para os estudos cabalsticos. Em seguida ensinou lngua hebraica e grega em Tubinga. As suas obras principais so Capnion sive de verbo mirifico e De arte cabalistica. -0 homem est situado entre dois mundos, o mundo sensvel e o suipra-sensvel; o como participa com o corpo do mundo sensvel, e com a alma do mundo supra-sensvel, assim o seu conhecimento se dirige ao mesmo tempo a um e a outro. O conhecimento do mundo sensvel atinge-o ele atravs dos sentidos, da fantasia, do juzo e da razo. o conheci238
mento do mundo supra-sensvei a~ elo ~ da mente (mens). A mente portanto superior razo; o olho da alma para o mundo supra-sens. vel; mas Como o Olho corpreo v o sol e as coisas iluminadas pelo sol s por meio das luzes do sol, assim a mente v o divino s atravs da luz divina, que ela encontra imediatamente em si mesma (De arte cab., III, fol. 52). Esta imediata revelao de Deus mente a f, a qual, portanto, indispensvel para o conhecimento do mundo sobrenatural e divino (De verbo mir., I, fol. 11 b). A razo intil para tal fim e o procedimento silogstico, do qual se serve, insidioso e contrrio, e de modo nenhum uma ajuda, ao conhecimento divino (De arte cab., 1, fol. 24). Por isso Reuchlin v na Cabala, entendida como uma imediata revelao divina, a nica cincia possvel da divindade e a nica via para aceder a ela. "A Cabala, diz Reuchlin, uma teologia simbfica na qual no s as letras e os nomes, mas as prprias coisas so sinais das coisa,,s" (lb., M, fol. 51 b). A arte cabalstica o meio para chegar ao conhecimento desses smbolos. Esta arte eleva o homem do mundo sensvel ao supra-sensvel: e pela subordinao em que o primeiro se encontra em relao ao segundo, capacita-o a operar efeitos miraculo que espantam o vulgo. O cabalsta tambm um taumaturgo; e especialmente o nome de Jesus torna-o capaz de realizar milagres (De verbo mir., III, fol. 52). A condio necessria apenas uma intensssima f, pois que no o cabalista que opera poir si o milagre, mas sim Deus que o real= 239 atravs dele pela fora desse nome miraculoso (Ib., I, foi. 22). O carcter prtico da magia acentuado por Cornlio Agripa de Nettesheim, nado em Colnia em 1486, e falecido em Grenoble em 1535. Na sua obra fundamental De oculta philosophia, Agripa, tal como Pico de Mirndola e Reuchlin, conformemente Cabala, admite trs mundos: o mundo dos elementos, o mundo celeste e o mundo inteligvel. Estes trs mundos esto ligados entre si de tal modo que a virtude do mundo superior flui at aos ltimos graus do mundo inferior, dissipando a pouco e pouco os seus raios, e pelo canto deles os seres inferiores chegam atravs da via dos seres superiores at ao mundo supremo. Tal como uma corda tensa que, tocada num ponto, logo vibra toda, assim o universo, quando tocado num ponto dos seus extremos, ressoa tambm no extremo oposto (De oec. phil., 1, 1 e 37). A via deste influxo que liga o universo o garante a aco recproca das suas partes o esprito atravs do qual a alma do mundo opera em todas as partes do universo visvel (Ib., 1, 14). Ora, o homem est situado no ponto central dos trs mundos e recolhe em si, como um inicrocosmo, tudo o que est dsseminado nas coisas (lb., 1, 33). Esta situao permite-lhe conhecer a fora espiritual que mantm coeso o mundo e servir-se deJa para operar aces miraculosas. Assim nasce a magia, que a cincia mais alta e completa porque a que submete ao homem todas as potncias omitas da natureza (lb., 1, 1, 2). A cincia e a arte do mago incidem sobre estes trs mundos: h aqui uma magia 240 natural, uma magia celeste e uma magia refigiomsa ou cerimonial. A primeira
ensina a servir-se das coisas corpreas para efectuar aces miracul~; a segunda vale-se das frmulas da astronoinia e dos influxos dos astros para operar milagres; finalmente, a terceira, com o mesmo fim, estrema as substncias celestes e os demnios. -Nos ltimos anos da sua vida, Agripa acentuou o carcter mstico da sua especulao; e no De vanitate et incertitudine scientiarum (1527), condenou em bloco a cincia, considerando-a uma verdadeira peste da alma e apontando a f como a nica via de salvao. Mas, na r"-idade, permaneceu fiel magia, que havia exaltado primoiro, defendendo ainda a utilidade dela para a sabedoria; e voltou a publicar, em 1533, isto , dois anos antes de morrer, o De oculta philosophia. Uma das mais famosas figuras de magos foi Teofrasto Paracelso. O seu nome ora Filipe Bombast de Hoenheim, que mudou para Filipe Aurlio Teofrasto Paracelso. Nasceu a 10 de Novembro de 1493 em Einsiodeln, na Sua, foi mdico e cirurgio, ou antes reformador da medicina em sentido mgico. Morreu em Salisburgo, a 24 de Setembro de 1541. Teofrasto um mago; mas algumas exigncias que ele apontou fazem dele um precursor do mtodo cientfico. O homem foi criado para conhecer as aces miraculosas de Deus e para operar aces semelhantes: a sua tarefa portanto a pesquisa. Mas a pesquisa deve aliar a experincia cincia para chegar a um conhecimento verdadeiro e seguro. Teoria e prtica devem proceder paralelamente e de acordo, pois que a teoria no mais que prtica espe241 culativa e a prtica no seno a teoria apE cada (De nwrb. caduc., 1, p. 616). No se pode fazer f num experimento desprovido de carcter cientfico; mas quem possui a cincia, alm da prtica, sabe tambm porque um fenmeno se deve verificar de um modo ou de outro e pode evitar as suas consequncias (Labyr., 6). A investigao, entendida como unidade da teoria e da experincia, ser a palavra da nova cincia- Mas tal pesquisa tem em Teofrasto um carcter mgico. O princpio que deve gui-la a correspondncia entre o macrocosmo e microscosmo. Se queremos conhecer o homem, isto , o microcosmo, devemos voltar-nos para o macrocosmo, isto , para o mundo. A modicina que tem como escopo conhecer o homem, para lhe conservar a sade e libert-lo das doenas, deve fundar-se em todas as cincias que estudam a natuireza do universo. Esta a reforma da medicina que Teofrasto tentou o que se, por um lado, lhe proporcionou o dio e as perseguies dos colegas mdicos, o capacitou, ao que se conta, a operar curas milagrosas. A medicina assenta em quatro colunas, que so a teologia, a filosofia, a astronomia e a alquimia. Todas estas cincias possuem carktor mgico. A teologia serve ao mdico para utilizar o influxo divino, do qual tudo depende; a astrologia serve-lhe para utilizar os influxos celestes, dos quais dependem as entermidades e por conseguinte as curas respectivas; a alquima serve-lhe para conhecer a quinta-essncia das coisas e para a a@Plicar nos tratamentos. O mago, com a fora da sua f e da sua imaginao, exerce sobre o
242 esprito dos homens, ou sobre o esprito da natureza, um influxo que suscita potncias desconhecidas e ocultas e chega assim a operar coisas consideradas impossveis (De phil. occ., 11, p. 289). Pelo fiat divino nasceu em primeiro lugar a matria originria (yliaster ou hyaster) constituda por trs princpios materiais (trs como a trindade divina): o enxofre, o sal e o mercrio. Estes princpios so as specie pringenie da matria e poi eles so constitudos os quatro elementos do mundo e em geral todos os corpos da natureza (Meteor., p. 72). A fora que move os elementos o esprito animador ou Archeus. Assim como todas as coisas so compostas por trs elementos, assim as foras que os animam so constitudas pelos seus arcanos, isto , pela actividade inconsciente e instintiva do Archeus (Ib., p. 79 segs.). A quinta-essncia o estrato corpreo de uma coisa obtido mediante a anlise artificial da coisa mesma e separando o elemento dominante dos outros elementos que estilo m@;&turados a ela. A quinta-essncia no um quinto elemento, como o nome diz, mas um dos quatro elementos e precisamente aquele que domina a constituio da coisa e exprime a sua natureza fundamental. Nela esto ocultos os arcanos, isto , a fora operante de um minera@ de uma pedra preeiosa ou de uma planta; e dela, portanto, se deve servir a medicina (que pela alquimia toma conhecimento dela) para operar as curas (De myster. nat., 1, 4). Em Itlia, o tema da simpatia univem1 das coisas, que o fundamento da magia, foi tratado 243 por Jernilmo Fracastoro (1478-1533) que foi mdico, astrnomo e poeta. Na sua obra De sympathia et antipathia, explica o universal influxo recproco das coisas servindo-se da doutrina empedocleana da atraco entre os semelhantes e da repugnncia entre os dissemelhantes. Mas para explicar a modalidade deste influxo, Fracastoro recorre doutrina atomstica e aos fluxos dos tomos. Ele firma-se no pri@ncpio aristotlico de que nenhuma aco pode ocorrer seno por contacto; assim, quando os semelhantes no se tocam e no se movem por natureza um para o outro, necessrio, para explicar a sua simpatia, que de um ao outro se verifique um fluxo de corpsculos, que transmita a aco (lb., 5). Uma figura de mdico mago que se assemelha de Paracolso Jornimo Cardano, nascido em Pavia em 1501 e professor de medicina em Pdua e Milo; morreu em Roma em 1576. Na sua autobiografia De vita propria, apresenta-se a si mesmo como uma personalidade excepcional e demonaca e relaciona os casos da sua vida com foras arcanas e prodigiosas. As suas obras mais notveis so o De subtilitate (1552), o De varietate rerum (1556) e os Arcana aeternitatis (pstumo). Trata-se de escritos desconexos e ricos de digresses; uma espcie de encielop6dia sem nenhum plano unitrio. Ele admite apenas trs elementos: o ar, a gua e a terra, e nega que o fogo seja um elemento. Os princpios da gerao so o
calor celeste e a humida,de terrestre; o seco e o frio so apenas privaes. O calor celeste o nico princpio vital uni244 versaL Ele a alma que d vida a todas as coisas do mundo e a via daquela simpatia universal que liga todas as coisas naturais, desde os corpos celestes at ao mais baixo grau do mundo corpreo (De rer. variet., 1, 1-2). O homem o grau mais alto das coisas terrestres. Ele no uma espcie de animal, assim como os animais no so uma espcie de plantas. Foi criado para um triplo fim: conhecer Deus e as coisas divinas; servir de mediador entre o divino e o terreno; e, enfim, dominar as coisas terrestres e servir-se delas para sua utilidade (De subtil., X1, fol. 302). Para atingir estes fins, foram-lhe dadas trs faculdades: a mente para o conhecimento do divino, a razo para conhecer as coisas mortais e a mo paira utilizar as coisas corpreas. A mente est acima das potncias sensveis, independente da matria e portanto imortal (De rer. variet., VIII, 40 segs.). A mente, todavia, no individual mas nica em todos os homens: Cardano aceita neste ponto o averrosmo Ub., VUI, 42). Um mago que dava grande importncia observao da natureza foi Giovan Battista Della Porta, nascido em Npoles em 1535, falecido ern 1615, autor de comdias e cultor de ptica, a ponto de ter disputado a Galileu a descoberta do telescpio. Na sua obra principal Magia naturalis sive de miraculis rerum naturalium (1558), distingue da magia diablica, que se vale das aces dos espritos imundos, a magia natural, que , ao invs, o pice do saber humano, o coroamento da filosofia natural. Esta no ultrapassa os limites das 245 causas naturais, e as opera~ que efectua parecem maravilhosas s porque as suas causas permanecem ocultas (Mag. nat. 1, 1). A obra , W11 real-idade, uma recolha desordenada de factos e transmutaes miraculosas, que Porta se recusa a submeter a exame com o pretexto de que "aqueles que no fazem f nos milagres da natureza tendem a destruir toda a filosofia" (Ib., pref.). O mesmo amor do maravilhoso leva Porta a fundar em Npoles uma "Academia dos segrodos" na qual se podia entrar sob a condio de comunicar algum maravilhoso arcano, superior inteligncia do vulgo. Lirni@ta-se, portanto, a reagrupar os fenmenos e os casos miraculosos segundo tipos gerais como a si,mpatia e a antipatia, as aces e as reaces dos quatro elementos e as influncias astrais, sem tentar dar uma explicao deles: da que Campanella (Del senso delle cose, IV, 1), embora inspirando-se nele, lhe reprove o haver tratado a magia apenas do ponto de vista histrico ou descritivo e queira encontrar (como veremos, 384) um fundamento dela na universal animao das coisas. Est ligado a Paracelso, Jean Baptiste Helmont, nascido em Bruxelas em 1577 e falecido em 1644. Helmont admite como elementos fundamentais apenas a gua e o ar, excluindo o fogo e a terra: a gua constitui as coisas terrestres, o ar a matria dos cus. A gua constituda de trs espcies primignias que so o sal, o enxofre e o mercrio. O esprito vital ou aura vital a fora animada que move, anima e ordena os elementos. Ele no age cegamente, mas em virtude de uma ideia ou modelo, 246 em conforraidade com o qual plasma os grnw6 ou os desenvolve para constituir as coisas. H pois uma causa externa (causa excitans) que dispe a matria para a gerao e facilita a aco da aura vital.-A magia , segundo Helmont, a arte de operar milagres mediante a aura vital. Todas as coisas exercem
entre si uma simpatia natural que condiciona, a sua aco recproca. A natureza inteira mgica e age mgicamente. No de admirar que o homem, que a imagem de Deus, soja, tambm ele, dotado de fora mgica. Ma se se aceita a magia, Hehnont refuta a astrologia. Os astros no exercem nenhuma influncia sobre a formao, sobre os costumes e os destinos dos homens: no determinam nem predestinam (De vita longa, 15, 12). So antes os sinais dos acontecinientos que se verificam no futuro, no mundo sublunar; todavia, nenhuma predio certa se pode tirar deles, dado que no influem sobre tais acontecimentos. Concepes semelhantes s que acabamos de expor encontram-se na Philosophia mosalca do mdico ingls Robert Fludd (1574-1637), que estudou em Oxford, mas viajou longamente em Frana, 1.lia e Alemanha. Como j indica o ttulo da obra, a sua doutrina de inspirao cabalstica (fazia-se remontar a Cabala a Moiss). Fludd interpreta a criao do nada como criao de uma matria originria, que a prpria essncia de Deus, de modo que eni Deus as coisas so ab aeterno, no na sua idealidade, mas na sua realidade indistinta e indeterminada (complicada, no sentido de Cusano). 247 A potncia e a sabedoria de Deus relacionam-se entre si como a luz com as trovas. A sabedoria de Deus Cristo, que o princpio operante de todas as coisas o a nica causa eficiente do mundo. A luta entre a luz e as trevas determina a simpatia e a antipatia de todas os coisas naturais, porque ela se encontra em todas, e tambm no homem, microcosmo que reproduz a natureza do macrocosmo e est em reciprocidade de aco com ele. Tal como os outros magos e cabalistas, Fludd admite trs partes da alma huniana, a mente, a alma e o esprito: a mente a imagem da Palavra divina; a alma a imagem da mente; o esprito a imagem da alma, e o corpo a imagem do esprito (Phil. mos. 11, 1, 5). 376. A FILOSOFIA NATURAL: TELSIO A figura de Telsio marca uma viragem decisiva na filosofia do Renascimento. Pela primeira vez nasce, por obra dela, um naturalismo rigoroso, igualmente alheio s velhas concepes aristotIJeas e s quimricas pretenses da magia, uma concepo que no v na natureza seno foras naturais e pretende explic-la com os seus prprios princpios. Bernardino Telsio nasceu em Cosena em 1509, estudou em Pdua e em 1535 doutorou-se. Em 1565 publicava em Npoles os primeiros dois livros da obra De rerum naturam juxta propila 248 principia; mas s em 1585, trs anos antes de morrer, publicava a obra completa em 9 livros na qual tambm eram desenvolvidos e refeitos os dois primeiros livros. Faleceu, em Cosena em Outubro de 1588. Dedicara-se tambm a investigaes parti. culares, destinadas a explicar fenmenos naturais, como o atestam certo nmero de breves escritos, alguns dos quais publicados aps a sua morte (De terraemotibus, De colorum generatione, De mari, De cometis, De iride, Quod animal universum ab unica animae substantia gubernatur contra Galenum, De usu respirationis, De saporibus, De somnio, De fulmino, Quae et quomodo febres faciunt, Solutiones Thylesii). Estes escritos menores so importantes porque demonstram que o interesse dominante de Telsio incidiu exclusivamente nos problemas naturais. Ele prprio consciente de que a sua investigao deveria ser conduzida muito ms para l do ponto a que pde chegar "a fim de que os homens possam no s saber tudo, mas tambm exercerem o seu poder sobre tudo" (De rer. nat., 1,
17), e desculpa-se aduzindo no ter podido fazer mais, obrigado como foi a filosofar apenas nos ltimos tempos da vida e em meio de muitos impedimentos (que, ao que sabemos, foram de natureza econmica). Telsio conseguiu contudo estabelecer com grande evidncia os princpios de um novo naturalismo empirista. A natureza um mundo em si, que se rege pelos seus princpios intrnsecos e exclui toda a fora metafsica. Ela completamente independente de tudo o que o 249 homem pode -imaginar e desejar, subtrai-se a todo o arbtrio e deve ser reconhecida como aquilo que . Telsio no teiri. outra pretenso seno a de reconhecer a nua objectividade da natureza; assegura que as prprias coisas, quando so rectamente observadas, manifestam a sua natureza e os seus caracteres (Ib., proem.). Esta autonomia da natureza o fundamento do seu mtodo, que se pode chamar o da reduo naturalstica, porque tende a encontrar por toda a parte o principio explicativo natural, excluindo todos os outros. pr"amente deste mtodo que resulta o seu omipirismo. O homem paxa conhecer a natureza tem apenas de fazer falax, por assim dizer, a prpria natureza, fiandose na revelao que ela lhe faz de si na medida em que ele parte dela. O homem pode conhecer a natureza s na medida em que ele prprio natureza. Daqui deriva a preeminncia que a sensibilidade possui como meio de conl=imento: o homem como natureza sensibilidade. Portanto, "aquilo que a natureza revela" e "aquilo que os sentidos testemunham" coincidem perfeitamente. A sensibilidade no mais do que a autorevelao da natureza quela parte de si que o homem. Perante esta atitude fundamental de Telsio, os resultados da sua filosofia passam para segundo plano. O hilozoismo que Telsio va buscar aos primeiros fsicos gregos j um limite da sua posio. Ele impede-lhe de realizar at ao fundo aquela autonomia do mundo natural, que apenas a cincia de Galileu consegulir estabelecer de 250 modo definitivo. Mas se a cincia galficica se afa~ por completo da orientao animista que Telsio tem em comum com as doutrinas mgicas do seu ten , parte todavia do mesmo pressuposto de autonornk do mundo natural e, portanto, utiliza a grande afirmao de Telsio. 377. TELSIO: OS PRINCIPIOS GERAIS DA NATUREZA Para determinar os princpios gerais da natureza, Tesio parte de uma observao assaz simples: o sol quente, luminoso, tnue e mvel; a terra fria, obscura, densa e imvel. O sol e a terra so, portanto, as sedes de dois princpios agentes, o calor e o frio: o calor dilata, de facto, as coisas e torna-as mais leves e adaptadas ao movimento, o frio condensa-as, torna-as mais pesadas e, portanto, imvetis. O calor e o frio so princpios incorproos; tm, portanto, necessidade de uma massa corprea que possa sofrer a aco de iun ou do outro; esta massa corprea, provida de inrcia, o terceiro principio natural. Todos os fenmenos do mundo so determinados pelas aces opostas do calar e do frio na massa corprea. Mas a fim de que esta aco possa verificar-se necessrio que os dois
princpios agentes sejam providos de sensibilidade. De facto, se se combatem entre si, necessrio que pere@opoionem as ilmpre~ prprias e as aces do outro, e precisamente que cada 251 um percepcione com prazer as impresses e as aces pelas quais beneficiado e mantido, e com dor as que possam prejudic-lo ou destru-lo. Todas as coisas da natureza so, portanto, dotadas de sensibilidade. No necessrio, todavia, que todas sejam providas dos rgos de sentido que so prprios dos animais. Tais rgos so apenas vias e aberturas atravs das quais as aces das coisas extern,as chegam mais fcilmente substncia sentiente; e se so necessrias aos animais, que so compostos de diversas partes, no o so para os outros entes, que no esto revestidos de partes protectoras (De rer. nat., 1, 6). Dos dois princpios agentes, o calor o verdadeiro princpio activo: a terra, na qual actua o frio, antes a matria originria dos entes produzidos. Alm do sol e da torra, no existem outros elementos originrios; Telsio nega que o sejam a gua e o ar (Ib., 1, 12). As duas naturezas agentes bastam, segundo Telsio, para explicar os movimentos dos corpos, a vida e a sensibilidade de todos os seres naturais. Seria necessria uma indagao quantitativa para determinar a quantidade de calor suficiente para produzir determinados efeitos. Telsio manifesta o desejo de que outros possam, empreend-la para tomar os homens no s sapientes, mas tambm poderosos (Ib., 1, 17); e significativo que tenha exprimido tal exigncia, embora declarando que a no podia satisfazer ele prprio. Decerto que a sua fsica quantitativa e animista tornava impossvel satisfaz-la. Mas ela constituiria a base da cincia de Galilou. 252 Telsio entrelaa na exposio dos princpios da sua fsica a crtica fsica aristotlica. Esta cTtica investe todos os pontos da sua exposio, mesmo os funda-mentais. Aristteles considerava Deus como o motor imvel do cu. Telsio sustenta que a aco de Deus no se pode limitar a explicar um facto determinado ou um determinado aspecto do universo. Deve ser, pelo contrrio, reconhecida como absolutamente universal e presente em todos os aspzctos do universo como fundamento ou garantia daquela oTdem que assegura a conservao de todas as coisas. Nenhuma raa humana, nenhuma esp6cie animal, nenhum ente natural poderia conservar-se por muito tempo sem a aco de uma potncia superior, visto que os homens, animais e os ventos naturais se destruiriam mtuamente pela luta contnua a que se abandonariam sem remdio, se no fossem governados por um nico ente que provisse sua salvao; por isso a conservao deles supe o governo de um ser omnipotente e perfeito (Ib., IV, 25). Deus, portanto, no pode ser invocado como causa directa e imediata de um qualquer evento natural; simplesmente o garante da ordem do universo. E, como tal, a sua aco idontifica-se com a das foras autnomas da natureza. Telsio, por um lado, mantm firmemente o princpio da autonomia da natureza contra a doutrina aristotlica do primeiro motor, na qual v uma negao de tal princpio; por outro lado, como far Descartes, v na aco divina a garantia da prpria ordem natural.
253 378. TELSIO: O HOMEM COMO NATUREZA E COMO ALMA IMORTAL Telsio tentou a -reduo naturalistica da vida intelectual e moral do homem e fez desta reduo o fundamento e a justifica@@o do valor de uma e de outra. Precisamente na medida em que o homem parte ou elemento da natureza, a natureza reveIa-se ao homem e o conhecimento humano garantido na sua validade. Precisamente na medida em que o homem parte da natureza, a sua conduta moral reporta-se a um princpio autnomo e assim a vida moral justificada no seu valor. J se disse como todo o conhecimento se reduz, segundo Telsio, sensibilidade. E, de facto, a alma humana no seno um produto natural, como a de todos os outros animais; o esprito produzido pelo grmen. Veremos ento que o homem tambm provido, segundo Telsio, de uma alma imortal e infundida directamente por Deus; mas esta alma, que o sujeito da vida religiosa, no tem nenhum papel na viida natural do homem. A parte predominante que pertence sensibifidade devida ao facto de que, atravs dela, o homem se figa natureza e por ela , ele prprio, natureza. Na verdade, atravs da sensibilidade, a aco das coisas atinge o homem. Esta aco verifica-se por contacto; e, portanto, o tacto tem a prioridade sobre todos os outros sentidos, po@s. que o nico modo por que se pode verificar uma modificao do mprito, em consequncia da aco das coisas externas (De 254 rer. nat., VII, 8). Todavia, a sensao no se reduz nem aco das coisas externas nem modificao que ela produz no esprito: implica tambm a percepo (perceptio) que o esprito tem de uma e de outra. Que o esprito seja modificado pelas coisas no facto que determine a sensao, se de -tal modificao no se tiver conscincia. O sensualismo de Telsio no de modo algum um matenalismo. A percepo conscincia, provocada decerto pela aco da coisa e pela modificao que ela produz, mas no redutivel a tais faotores materiais. (Ib., VII, 3). sensibilidade assim entendida se reduz a inteligncia. Esta integra e substitui a sensibilidade, que tem sempre um campo de aco limitado. Uma vez que nem sempre todas as qualidades de uma coisa so presentes sensibilidade, e que, pelo contrrio, muitas ~es alguma delas p=anece, oculta ou desconhecida, o perceber esta ltima, afirmando a sua presena, embora no momento ela no se revele, o acto especfico da inteligncia (lb., VII, 3). Este acto um acto de valorao ou de remeinorao e por isso, tambm ele, sensibilidade, embora imperfe;ta e analgica. A inteligncia no , segundo Telsio, seno o substituto mais ou menos adequado da sensiNlidade. Todos os pnncpios da cincia no so mais do que generailizaes de percepes sensveis. Definindo o circulo o o tringulo, a geometria no faz seno atribuir-lhes, a eles e sua esp cie, aquilo que o sentido percebe como prprio do crculo, do tringulo e da espcie a que p ~em. Outras 255 qualdades so, a3 invs, postuladas porque no so diversas das que se percepcionam nem lhes repugnam e so, pelo contrrio, similares e quase idnticas a elas. Outros princpios, os axiomas, derivam, pois, directamente dos sentidos, os quais, por exemplo, nos testemunham que o todo maior do
que qualquer das partes e que duas coisas iguais a uma terceira so iguais entre si (Ib., VIII, 4). A validade das matemticas assim inteiramente fundada na experincia sensvel. Telsio afirma, todavia, a superioridade das cincias que mais directamente se ligam experincia. A matemtica procede por meio de sinais e indcios, mas, por exemplo, a evaporao da gua pela aco do calor no se faz notar por um sinal qualquer mas pela prpria natureza, isto , pelo calor e pela gua percebidos e reconhecidos pelos sentidos (Ib., VIII, 5). No porque as matemticas sejam menos certas; tambm elas extraem os seus princpios dos sentidos ou da analogia com as coisas percebidas pelos sentidos Ub., VIII, 5). Assim, a vida natural do homem reconduzida por Telsio a princpios puramente -naturais. O bem supremo a conservao do esprito no mundo. S na medida em que se podem realizar os movimentos necessrios sua conservao, o homem experimenta prazer: o prazer o sentido da conservao, a dor o sentido da destruio. Isto no implica que prazer e dor devam ser assumidos como mbiles da aco moral. Faz parte da ordem do mundo, estabelecido e garantido por Deus, que todo o ser tenda sua conservao. A conservao 256 prpria portanto o fim moral supremo para homem; e uma aco que seja necessria para ck deve ser tambm realizada, mesmo que seja m~ incmoda, e deve ser considerada boa at que sirva a tal fim (Ib., IX, 4). A valorao das ac~ respeitantos ao fim da conservao o fundamento da virtude. A medida que o homem impe s paixes deriva precisamente da exigncia de evitar os excessos que possam debiEit-lo e destru-lo: a virtude mesma no portanto outra coisa do que a condio necessria para a conservao do homem no mundo (Ib., IX, 4). Virtude e vcio no so, portanto, como queria Aristteles, hbitos, mas faculdades naturais que o exerccio refora apenas porque os concentra o os torna mais puros (Ib., lX, 3 1). Telsio realizou assim a reduo naturalstica de toda a vida intelectual e moral do homem. Viu-se como a pr pria divindade no para Telsio um factor extranatural. S-lo-ia no caso em que interviesse na natureza determinando um facto qualquer que pudesse explicar,se nicamente em virtude da sua interveno. Mas tal no acontece. Opondo-se a Apistteles, exclui at a directa aco motora de Deus. Deus no faz s isso; Deus faz tudo. Mas precisamente porque faz tudo, a sua aco no presente num lugar mais do que em outro e apenas a condio suprema da aco uniforrne e normal dos princpios naturais. Em Deus, Telsio v apenas (como far Descartes) o garante da ordem e da uniformidade da natureza. H, todavia, um elemento que est na natureza mas no per257 tence natureza: e a vida religiosa da alma, a aspirao do homem ao transcendente. O sujeito dela no pode ser o esprito produzido pelo grmen, a alma que o homem tem em C(YMUM com os outros animais e que nele se diferencia apenas por uma pureza maior, e por isso por uma maior eficincia operativa. O sujeito da vida religiosa uma alma directamente criada e infundida por Deus. A existncia dela no apenas
um dado religioso, mas pode ser reconhecida com razes puramente humanas. O homem, de facto, aspira a conhecer no s as coisas que servem para a sua conservao, mas tambm a substncia e as operaes dos entes divinos e de Deus. Aspira, alm disso, a um bem que est para l de todo o bem presente e cr numa vida futura mais feliz do que esta. Julga infelizes os maus, mesmo se dispem em abundncia dos bens do mundo e considera felizes apenas os homens bons. E, enfim, cr que no alm ser restabelecido aquele equilbrio moral, que muitas vezes no se realiza no mundo, onde os melhores talvez sofram e os piores abundam de todos os bens Ub., V, 2). Esta alma divina chamada por Telsio forma superaddita.- ela contribui indubitvelmente para dar alma humana aquela grande pureza e facilidade de movimento que a sua caracterstica em relao alma dos animais (Ib., VII, 15). Mas nenhuma funo especfica lhe atribui Tel sio na vida intelectual e moral do homem. No homem, ela no pode agir seno atravs do esprito pelo grmen, sem o qual no poderia conhecer os movimentos das coisas percebidas e, 258 atravs deles, da prpria natureza das coisas. E a prpria vida moral em nada depende dela: at um leo no se subtrai ao perigo pela fuga mas vai voluntriamen,te ao encontro da morte, para no se mostrar tmido ou degenerar (Ib., V, 40). A forma "superaddita" d no entanto ao homem a liberdade que lhe prpria: a escolha entre o bem natural e o bem sobrenatural; e, portanto, constitui a caracterstica original do homem perante todos os outros seres da natureza. Aqui se v que o reconhecimento da alma imortal como forma "superaddita" no em Telsio uma concesso s crenas religiosas, mas o reconhecimento da originalidade da existncia humana relativamente ao resto da natureza: s ela torna, de facto o homem irredutvel aos outros entes naturais, o subtrai ao determinismo e o dispensa da escolha entre o tempora@l e o eterno. Este limite da reduo naturalstica no consti- tui uma ruptura no naturalismo de Telsio. Na realidade, o seu sistema desenvolveu-se de modo a no requerer continuaes ou integraes de ordem metafsica. As continuaes e integraes que Telsio expressamente requereu e desejou, lamentando-se de no as ter fornecido ele prprio, so todas de ordem fsica. O interesse de Telsio mais cientfico do que filosfico. O seu continuador natural Galileu. Bruno e Campanella representam por isso um desvio do rumo tomado por Telsio, pois tentam o enxerto do seu naturalismo no velho tronco da metaisica neoplatnica e mgica. 259 379. BRUNO: O AMOR DA VIDA Giordano Bruno retorna de facto ao neoplatonismo e magia. Nasceu em 1548 em Nola. Aos 15 anos entrou para o convento dominicano de Npoles, onde, graas s suas excepcionais qualidades de memria e de engenho, foi considerado um menino
prodgio. Mas aos 18 anos as primeiras dvidas acerca da verdade da religio crist levaram-no a chocar-se com o ambiente eclesistico, e, alguns anos depois (1576), foi obrigado a refugiar-se em Genebra, depois em Toulouse e em Paris. Nesta cidade publicou, em 1582, a sua comdia Candelaio e o seu primeiro escrito filosfico De umbri sidearum, que dedicou ao rei Henrique 111. AE obteve os primeiros xitos, no como filsofo, mas como mostre da arte luliana 1 da memria, em que precisamente se inspira De umbtis. De Paris passou-se em 1583 para Inglaterra, onde ensinou em Oxford e travou relaes com a corte da rainha Elisabeth. A este perodo pertencem os dilogos italianos e tambm alguns dos poemas latinos (o De immenso) que terminou em seguida. Regressado a Paris, foi obrigado a ir-se de l depressa por causa da hostilidade dos ambientes aristotlicos, que speramente atacara. Foi ento para a Alemanha (1586) e a ensinou em Marburgo, Wittenberg e Francoforto do Meno, onde 1 Relativa a Raimundo Llio, escritor e alquimista espanhol. (N. do T.) 260 terminou os seus poemas latinos. Depois aceitou o convite do patrcio, veneziano Giovanni Mocenigo, que desejava ser instrudo por ele na arte mgica, e dirigiu,se para Veneza, julgando-se a salvo sob a proteco da Repblica. Mas, denunciado por Mocenigo, foi preso a 23 de Maio de 1592 pela Inquisio de Veneza. Bruno submeiteu-se. Reconhecia a legitimidade da religio como guia da conduta prtica, sobretudo daqueles que no podem ou no sabem elevar-se filosofia. A doutrina da dupla verdade, prpria do averrosmo, que durante o Renascimento, se apoiava no sentido aristocrtico da verdade, considerada patrimnio dos doutos, valeu-lhe como justificao para si mesmo. Mas em 1593 Bruno foi transferido para a Inquisio de Roma, onde permaneceu no crcere sete anos. Aos repetidos convites para se retractar, ops sempre uma recusa, afirmando no ter nada que retractar o a 17 de Fevereiro era queimado vivo no Campo das Flores em Roma, sem se ter reconciliado com o Crucifixo, do qual, nos derradeiros momentos, desviou o olhar. Os escritos de Bruno podem ser classificados do seguinte modo: l.'-A corndia Candelaio (1582); 2.'-Escritos lulianos: De compendiosa architectura et complemento artis Lullii (1582); De lampade combinatoria lulliana (1587); De progresso et lampada venatorum logicorum (1587); Artificium perorandi (1587); Animadversiones circa lampadem 261 lullianam (1587); De specierum scrutinio (1588); Lampas triginta statuarum (1590 ou 91). 3.-Escritos nmernotcnkos: De umbris idea- rum (1582); Ars memoriae (1582); Cantus circaeus (1582); Triginta sigillorum explicatio (1583); Sigillus sigillorum (1583); De imaginum compositione (1591). 4.'-Escritos didcticos que expem as doutrinas de outros pensadores: Figuratio Aristotelici physici auditus (1586); Acrotismus camoeracensis (1586); Dialogi duo de F. Mordentis prope divina adinventione (1586); CLX articuli adversus huius temporis mathematicos atque philosophos (1588). 5.'-Escritos mgicos: De magia et theses de magia; De magia malhematica; De princips rerum, elementis et causis; Medicina lulliana; De vinculis (comipostos todos eles entre 1589 e 1591). 6'.-Escritos de filosofia natural: La cena de le ceneri (1584); De la causa, principio et uno (1584); De Vinfinito, universo e mondi (1584); Summa
terminorum methaphysicorum (1591); De minimo (1591); De monade (1591); De iminenso et innumerabilis (1591). 7. -Escritos morais: Lo spacio delia bestia trionfante (1584); Cabala del Cavallo Pegaseo con l'aggiunta dell'Asino cillenico (1585), Degli eroici furori (1585). 8.'-Escritos de eIrcunstncia: Oratio valedictoria, pronunciada em Wittenberg em 1588; Oratio consolatoria, pronunciada em Hehnstedt em 1589. J neste prospecto, que no compreende os ttulos das obras que se perderam (entre as quais um tra262 tado intitulado Das sete artes liberais), se evidencia a multiplicidade dos interesses que agitaram a mente de Bruno. Mas tambm evidente, a quem ler estas obras, que todos os seus mltiplos interesses tm uma nota fundamental comum: o amor da vida na sua potncia dionisaca, na sua infinita expanso. Este amor da vida to rnou-lhe insuportvel o convento, que ele denominou num soneto "priso estreita e negra" (Opp. it., 1, 285) e fez-lhe nutrir um dio inextinguvel por todos os pedantes, gramticos, acadmicos, aristotlicos que faziam da cultura um puro exerccio livresco o desviavam os olhos da natureza e da vida. O prprio amor da vida o levou a representar em Candelaio com realismo cru o ambiente napolitano onde transcorrera a sua juventude; e, assim, fustigou na comdia os pedantes, os crdulos e os intrujes, mas sem humorismo nem desprendimento, antes com uma exasperada complacncia pelo espectculo da trivialidade e da raisria, que apenas se explica pelo apego realidade viva, qualquer que ela seja. Do amor da vida nasce, enfim, o seu interesse pela natureza, que no arrefeceu nele, como em Telsio, num pacato naturalismo; pelo contrrio, exaltou-se num mpeto lrico e religioso que amide encontrou expresso na forma potica. Bruno viu e quis a natureza bem viva, plenamente animada, e o sustentar esta universal animao, o projectar a vida na infinidade do universo, constituiu o alvo mais alto do seu filosofar. Daqui a sua predileco pela magia que se funda precisamente no pressuposto do pampsiquismo universal e quer conquistar pela fora a natureza 263 como ise conquista um ser animado; da a renncia paciente e laboriosa investigao naturalstica que Telsio prospectara. Da, ainda, a sua predileco pela mnemotctca ou arte luliana, que tem a pretenso de tomar de assalto o saber e a cincia, de se assenhorear do saber com artifcios ranemnicos e de fazer progredir a cincia com uma tcnica inventiva rpida o miraculosa que se adiante a passos largos metdica e lenta investigao cientfica. O naturalismo de Bruno , na r~ ade, uma religio da natureza: mipeto lrico, raptus nrentis, contractio mentis, exaltao e furor herico. Por isso se d melhor com o simbolismo numrico dos N"itagricos do que com a matemtica cientifica, e melhor com as invenes miraculosas e charlatanescas de um Fabrcio Mordente do que com as frmulas rigorosas de Coprnico. A obra de Bruno marca uma paragem no desenvolvimento do naturalismo cientfico, mas exprime, na forma mais apaixonada e potente, aquele amor da natureza que foi, indubitvelmente, um dos aspectos fundamentai,s do Renascimento.
Isto toma possvel entender a posio de Bruno relativamente religio: uma posio que , substancialmente, a de Averris, mas sem o respeito que a de Averris implicava relativamente religio. Como sistema de crenas, esta aparece de facto a Bruno como repugnante e absurda. Ele no reconhece a sua utilidade "para a instituio de povos rudes que devem ser governados" (De 1'inf., in Opp. it., 1, 302), mas nega-lhe todo o valor. Ela um conjunto de supersties direotamente contrrias 264 GIORDANO BRUNO razo e natureza; Pois Pretende fazer crer que vil o insensato o que razo parece excelente, que a lei natural uma ignominia, que a natureza e a divindade tm fins diferentes; que a justia natuTal e a dMna so contrrias; que a filosofia e a magia so loucuras; que todo o acto herico velhacaria e que a ignorncia a mais bela cincia do mundo (Spaccio in Opp. it., H, 207-208). Spaccio della bestia ttionfante, La cabala del Cavallo Pegaseo, L'asino cillenico so obras que se entretocem numa feroz stira anticrist que nem sequer poupa o mistrio da encarnao do Verbo. Nem o cristianismo reformado, que Bruno directamente conhecera em Genebra, em Inglaterra e na Alemanha, se salva da sua condenao, que lhe parece mesmo pior do que o catolicismo, porque nega a liberdade e o valor das obras boas e introduz o cisma e a discrdia entre os povos (Ib., 11, 89 e 95). Mas alm desta religiosidade, de que Bruno zomba considorando-a como "santa burrice" e que directamente contrria natureza e razo, h a outra religiosidade, a dos "te@@logos", isto , os doutos que em todos os tempos e quase em todas as naes tm procurado uma via para chegar a Deus. Esta religiosidade o prprio filosofar, tal como Bruno o entende e pratica. Quanto ao seu conceito e ao seu contedo, esto de acordo, segundo Bruno, os filsofos orientais e cristos. Bruno faz sua a ideia dominante no Renascimento, expressa na forma mais rigorosa por Pico de Mirndola ( 357), de uma sabedoria originria que, transmitida por Moiss, foi desenvolvida, acrescida e aclarada por 265 filsofos, magos, telogos do mundo oriental, do mundo clssico e do mundo cristo. Ele admite, contudo, a possibilidade de que aquela sabedoria originria. possa, em alguns pontos, ser revista, porquanto "ns somos mais velhos e temos idade mais avanada do que os nossos predecessores" e atravs do tempo o juizo amadurece, a no ser que se renuncie a viver nos anos em que se deve viver e se viva como mortos (Cena, in Opp. it., 1, 31-32). Mas considera que este desenvolvimento histrico da verdade , na realidade, um renascimento e um regerminar da verdade antiga ("so, amputadas razes que tornam a germinar, so coisas antigas que voltam, so verdades ocultas que se descobrem" (De 1'inf., em Opp. it., 1, 388); e vai inspirar-se de preferncia, para l de
Aristteles e de Plato, nos Pr-socrticos, aqueles em que pode encontrar um mais puro e imediato interesse pela natureza. E, na realidade, a natureza, o termo da religiosidade e do filosofar de Bruno, o objecto do seu mpeto lrico, do seu "furor". 380. BRUNO: A RELIGIO DA NATUREZA Bruno, desde o princpio toma o mundo natural como objecto da sua investigao e renuncia a toda a especulao teolgica. "No, se requer do filsofo natural, diz ele (Della causa, 11, Opp it., 1, 175), que busque todas as causas e princpios, mas s as fsicas, e destas as principais e prprias". 266 utilizando o princpio neoplatnico da transcendncia e incognoscibilidade de Deus, rejeita a divindade como tal para fora do campo da sua investigao. A Deus no se pode ascender a partir dos seus efeitos, como no se pode conhecer Apeles pelas suas esttuas. Deus est "acima da esfera da nossa inteligncia"; e mais meritrio chegar a ele pela revelao do que tentar coiihec-lo. Por isso "consideramos princpio e causa aquilo de que haja indcio ou seja a natureza mesma, ou reluza no mbito ou sseio dela" (Ib., 177). Deus, enquanto objecto de filosofia, no a substncia transwndente de que fala a revelao mas a prpria natureza, no seu principio imanente. Neste sentido, isto , apenas como natureza, ele a causa e o princpio do mundo: causa, no sentido de determinar as :coisas que constituem o mundo, permanecendo distinto delas; princpio, no sentido de constituir o prprio ser das coisas naturais. Mas em qualquer caso no se distingue da natureza: "A natureza ou Deus ou a virtude divina que se manifesta nas coisas mesmas" (Summa term. met. in Opp. lat., IV, 101). Como princpio do mundo, Deus o intelecto universal "que a primeira e principal faculdade da alma do mundo, a qual forma universal daquele". Ele o artfice interno da natureza e causa no s intrnseca, mas extrnseca dela, porquanto, embora opere na matria, no se multiplica com o multiplicar-se das coisas produzidas. Deus no s anima e informa o inundo, como tambm o dirige e governa. Bruno pode afirmar assim a universal ani267 mao das coisas e retomar as antigas doutrinas que fazem da natureza um gigantesco animal. E uma vez que a alma forma, serve-se dos conceitos de matria e forma para justificar o seu pampsiquismo. Tais conceitos so assumidos na elaborao de Avcebro ( 247): h uma nica forma e uma nica matria; a nica forma Deus como alma do mundo, a matria o receptculo das formas, o substracto informe, que o intelecto divino anima e Plasma. A matria no aipenas corprea mas tambm incorprea (como o dissera Avicebro) e no subsiste separadamente da forma, como a forma no subsiste separadamente dela. Mas esta conexo em Bruno (que nisto se ope explicitamente a Aristteles) torna-se unidade, ou antes
identidade. As formas particulares das coisas nascem do seio da matria que continuamente as suscka e destri; de modo que a matria princpio activo, como j havia sido reconhecido por David de Dinant ( 219), o qual o havia identificado como Deus. Por ltimo, matria e forma resultam idnticas e constituem uma nica identidade, que forma e matria, alma e corpo, acto e potncia. Esta unidade o universo. Bruno retoma esta concluso de Parinnides: o todo uma substncia nica e imvel, que, como tal, j no nem matria nem forma, porque tudo, o supremo, o uno, o universo (De Ia causa, III e V, in Opp. it., 1, 223, 247;Sign. sigil., in Opp. lat., 11, 180). Os conceitos de matria e de forma no servem portanto seno para justificar e fundar a identidade mesma, de que Bruno partiu, da natureza com Deus. 268 Reconthecida tal identidade, pode ele utilizar a especulao teolgica de Cusano transferindo para o universo os caracteres que Cusano atribura a Deus. Para Cusano ( 350) o universo decerto unidade e infinidade; mas unidade e infinidade cotarada, isto , determiriando-se e individualizando-se numa multiplicidade de coisas. Esta diferena esbate-se e anula-se em Bruno, que rejeitou desde o princpio Deus como substncia transcendente para fora do campo da sua especulao e se limitou a considerar ~, nicamente como natureza, isto , como princpio imanente. Pode ento recorrer especulao de Cusano para determinar a natureza do Uno cronolgico de Parmnides; e, em primeiro lugar, tira a este uma das suas caractersticas que era, no obstante, fundamental, isto , a finitude, e afirma, tal como Cusano, a infinidade. Nela distingue ento a coincidentia oppositorum, que era a frmula resluva de Cusano. No universo coinci,dem o mximo e o mnimo, o ponto indivisvel e o corpo divisvel, o centro e a circunferncia; e dele se pode dizer que o centro est em toda a parte e a circunferncia em parte alguma ou que a circunferncia est em toda a parte e o centro em nenhum lugar (De Ia causa, V, in Opp. it., 1, 249-50). Todavia, o atributo fundamental do universo, o que acende e exalta o mpeto lrico de Bruno e constitui o tema preferido da sua especulao, a infinidade. A esta consagrou as suas obras Cena delle cener, De 1'iiifitto, utverso e mondi e, entre os poemas latinos, o De immenso, que Bruno considera o cume e a concluso da sua trilogia latina (Opp. 269 lat., 11, 196-97). A defesa de Bruno faz, na Cena, do sistema copernicano, , toda ela, determinada pela possibilidade que este sistema oferece de ent-nder e afirmar a infinidade do mundo. Bruno totalmente indiferente s vantagens cientficas da hiptese copernicana e bastante duvidoso que haja entendido verdadeiramente o projecto geomtrico de Coprnico, do qual ele faz na quinta parte do dilogo uma exposio sobremaneira confusa. Os argumentos em favor do infinito que ele aduz em De 17nfinito no so novos: remontam a Occam ( 320), a quem pertence aquele argumento fundamental, amplamente desenvolvido por Bruno: o de que infinita potncia da Causa deve corresponder a infinidade do efeito. predileco pelo infinito deve-se * desprezo de Bruno por Aristteles, que fra decerto * mais decidido e rigoroso adversrio do infinito real. Paira Aristteles, a infinidade significa essencialmente incompletude e, por conseguinte, ausncia de determinaes precisas e de ordem: e Bruno detm-se longa,mente a responder aos argumentos aristotlicos. A negao de um centro do mundo tira todo o fundamento
observao aristotlica de que no infinito no haveria uma ordem espacial, isto , um centro, um alto e um baixo absolutos; como vira Occam e Cusano definitivamente estabelecera, isso no vale como argumento contra a realidade do infinito, que caracterizado precisamente pela impossibilidade de determinaes espac;ais absolutas. Fm De immenso Bruno detm-so a analisar o pressuposto de toda a doutrina aristotlica, isto , a impossibilidade de entender a perfeio do mundo seno como finitude. 270 Perfeito, diz ele (De inunenso, in Opp. lat., 1, 1, 309), no aquilo que completo e fechado em propores determinadas (certis numeris), mas sim o que compreendo inmeros mundos e por isso todos os gneros e todas as espcies, todas as medidas, todas as ordens e todos os poderes. Em De l'ffifinito (lb., 298) distingui,ra uma dupla infinidade: a de Deus que tudo em tudo, mas no em cada parte. Correspondentemente, distingue em De immenso um dupla perfeio, uma na essncia, a outra em imagem A primeira a de Deus como intelecto do mundo * que pertence a primeira infinidade; a segunda * do imenso simulacro corl)reo de Deus que o mundo, ao qual pertence a segunda infinidade (Opp. lat., 1, 1, 312). De modo que a mais alta perfeio a infinidade do intelecto, isto , da alma e da vida, a qual Bruno afirma que se estende para l de todos os limites definildos, em todos os inumerveis mundos. Aqui est, sem dvida, o acento novo que transforma a infinita grandeza espacial numa infinita potncia de vida e de inteligncia: e aqui est o fundamento daquela religio do infinito em que vm a fundir-se para Bruno o amor da vida e o interesse pela natureza. 381. Bruno: A TEORIA DO MNIMO E DA MNADA A esta conscincia rigidamente monstica, para a qual tudo se reduz a um Deus-Natureza, que tem em comum os atributos do ser de Parrnnides e do 271 Deus de Cusano, apresenta-se todavia um pro~a c;rucial: como se concilia a unidade imutvel do todo com a multiplicidade mutvel das coisas? Em De Ia causa (Opp. it., 1, 251) Bruno distinguira o ser, que o todo, dos modos de ser, que so as coisas: o universo compreende todo o ser e todos os modos de ser, cada coisa singular tem todo o ser, mas no todos os mo-dos do ser. Tal distino prope um outro aspecto do problema: como so possveis tantos modos de ser, se o ser uno e imutvel? "Profunda magia, diz Bruno no mesmo dilogo (Ib., 264), saber tirar o contrrio depois de ter encontrado o ponto de unio". O ponto de unio , indubitvelmente, o Deus-Natureza: mas que magia poder tirar daqui a diversidade e a oposio dos modos singulares? resoluo do problema dedica Bruno dois poemas latinos, o De triplice minimo et mensura e o De monade numero e figura. A relao reciproca entre estes dois poemas, que so apresentados como a preparao do De immenso esclarecida por Bruno no sentido de que o primeiro se vale do mtodo matemtico, o segundo do mtodo (ut licet) divino (Opp. lat., 1, 1, 197). E, na realidade, o primeiro prope o problema da conexo entre a unidade do todo e a multiplicidade das coisas, do ponto de vista humano: o segundo prope o mesmo problema do ponto de vista divino. O primeiro pretende mostrar a via atravs da qual o homem mediante a prpria considerao
das coisas mltiplas pode alcanar a unidade; o segundo pretende mostrar o processo mediante o qual da unidade &vina procede 272 a multiplicidade das coisas. Assim, os dois poemas se integram reciiprocamente e proparam a exaltao lrica da infinidade do todo, que o tema do De immenso. H que notar, desde j, que a via matemtica proposta por Bruno no De mitnw no tem nada que ver com a matemtica cientfica. O pressuposto animstico e mgico impede Bruno de apreciar no seu justo valor a anlise quantitativa, de que o prprio Telsio, apesar de tudo, adverte a exigncia. A matemtica de que ele se serve uma matemtica qualitativa e fantstica, uma matemtica mgica, que exclui a medida numrica e nega que se possa chegar a uma precisa determinao quantitativa dos fenmenos naturais. Trata-se antes da busca do nnimo, que para Bruno a substncia das coisas consideradas na sua grandeza qualitativa. "0 objecto e escopo da natureza e da arte, isto , a composio e a resoluo a que elas visam no agir e no contemplar, nascem do mnimo, consistem no mnimo e reduzern-se ao mnimo" (De min. 1, 22, in Opp. Lat., 1, 111, 140). O mnimo a matria ou elemento de tudo: ao mesmo tempo a causa eficiente, o fim e a totalidade; o ponto de uma ou duas dimenses, o tomo nos corpos, a mnada dos nmeros. No h uma nica espcie de mnimo qualitativamente idntica em todos os aspectos da natureza. Existem tantos gneros de mnimo quantos so tais aspectos: h uma superfcie mnima, um ngulo mnimo, um corpo mnimo, uma razo mnima, uma cincia mnima e assim por diante. E todos estes mnimos tm nomes diversos, podem unirse e 273 separar-se, mas no se penetraim nem se misturam, tocam-se apenas (Ib., 176). Assim, o ponto o mnimo da superfcie, o tomo o mnimo do corpo, o sol o mnimo do sistema planetrio, a terra o mnimo da oitava esfera em que est situada (Ib., 173-174). O mnimo , portanto, para Bruno, a cnidade ltima e real, qualitativamente diferenciada, que permite entender em primeiro lug a constituio das coisas particulares, as quais tendem, cada uma, a conservar o prprio mnimo e assim conspi,ram para um mesmo fim; e em segundo lugar, permite o unificar-se das coisas particulares de modo a formarem espcies e gneros sempre cada vez mais vastos at ao ltimo generahssimo e comunssimo ser, que o do universo (Ib., 271). O mnimo e, assim, o princpio que consiste em entender a unidade das coisas na sua inultiplicidade e a multiplicidade na unidade; e responde, na forma fantstica e aproximativa que prpria de Bruno, ao problema crucial da sua especulao cosmolgica. Na ltima parte do De minimo, dedicda construo e medida das figuras geomtricas, Bruno vale-se da matemtica concreta do salerniano Fabrcio Mordente, que ele conhecera durante a sua segunda estada em Paris (1585-86) e que era o inventor de um compasso e de uma regra de clculo. Mas nem a inveno de Mordente nem as especulaes de Bruno possuem, na verdade, o mnimo valor cientfico. O mnimo bruniano, caracterizado, como , pela diferena qualitativa, no susceptvel de tratamento matemtico e no tem significado seno como tentativa para resolver, do ponto de vista da inves274
tigao humana, o problema da relao entre a unidade da natureza e a multiplicidade das coisas. Se o De minimo expe a vida humana para chegar a entender a relao entre o todo e as partes, o De monade expe, ao invs, o processo divino atravs do qual tal relao se constituiu. O poema inteiramente fundado neste significado simbdico dos nmeros e das figuras geomtricas que havia sido o tema preferido dos NeopitagTicos, e tinha depois passado para os filosofemas da magia renascentista. Elo tende a fazer derivar todo o mundo natural da dcada, isto , dos primeiros dez nmeros, que, por seu turno, provm das m6nadas, ou seja, da unidade. Conformemente ao pressuposto fundamental do neoplatonismo, o Uno ou Mnada concebido como o princpio de tudo. Uno o infinito, uma a primeira essncia, uno o ~p@o o a causa prima, uno o mnimo indivisvel do qual fluem as espcies naturais; uno o sol do macrocosmo e uno o corao do microcosmo. O uno representado pelo crculo. Do uno brotam as dades como do fluxo do ponto brota a linha. E a dade constitui a estrutura de outros aspeotos fundamentais do universo. A bondade, ao difundir-se. cria o bem, a verdade, ao explicar-se, cria o verdadeiro, do modo que se determina a dade da essncia e do ser composto. Matria e forma consti,tuem uma dade; dade a potncia que pode ser activa ou passiva, o acto que pode ser primo@ro ou segundo. So duas as almas do homem, a intelectiva e a sensvel: e, em geral, a dade constitui todas as oposies que se encontram no domnio 275 rnetafsico, fsico e humano. A trade, representada pelo tringulo, constitui os trs princpios da unidade, da verdade e da bondade, de que procede a outra trade da essncia, da vida e do intelecto, qual se seguem inmeras trades no mundo fsico e no mundo humano. A ttrada, que era sagrada para os Pitagricos, constitui o bem, o intelecto, o amor e a beleza: as quatro formas do conhecimento que Plato distinguia na Repblica: o inteligvel, o pensvel, o sensvel e o umbroso; os quatro elementos da geometria, ponto, linha, superfcie e profundidade, assim como os quatro elementos que Bruno encontra no cu, no mundo intelectual, no mundo espiritual e no mundo sublunar. Anlogamente, Bruno mostra-nos a presena e a aco da pntada, da hxada, da hptada, da ctada, da enada e, por fim, da dcada, estabelecendo correspondncias simblicas entre estes nmeros e os aspectos fundamentais do mundo na sua estrutura metafsica, fsica e humana. Trata-se de correspondncias fantsticas, nas quais os elementos do universo metafsico ou fsico so ordenados e numerados mais ou menos arbitrriamente para os tornar susceptveis de entrar no sinal mgico de um ou de outro nmero. O que importa, porm, o intento geral do poema: reduzir o universo estrutura numrica para mostrar que a sua gnese depende da mnada, que a origem de todos os nmeros. Bruno quis demonstrar, com a sua matemtica simblica, a derivao do mundo do uno: e quis mostrar em acto esta derivao, fazendo ver o multiplicar-se do uno e o articular-se das figuras 276 correspondentes, nos sucessivos graus da realidade correspondente. O carcter arbitrrio e fantstico desta derivao evidente, mas tambm evidente que Bruno quis com ela responder ao problema que a sua filosofia da natureza suscitava: conciliar a unidade do universo com a multiplicidade dos seus
modos de ser. 382. BRUNO: O INFINITO E O HOMEM O carcter fantstico destes desenvolvimentos da especulao de Bruno, que deviam e pretendiam ser tcnicos e responder a um preciso problema especulativo, confirma a natureza de toda a especulao bruniana, que tem as suas raws na necessidade de expanso dionisaca, na vontade de abrir ao homem perspectivas mais amplas o projectar, para l de todos os horizontes fechados, a vitalidade que o filsofo sente em si mesmo. Bruno no elaborou uma forma de filosofar sria e crtica, apesar de se ter dado conta de tal exigncia: filosofar significa para ele lutar contra os limites e as angstias que dilaceram o homem por toda a ,parte e, por consequncia, possuir uma viso do mundo mediante a qual o prprio mundo j no seja um limite para o homem, mas o domnio da sua livre expanso. A gnoseologia de Bruno obedece mesma exigncia. Tomando como ponto de partida o neoplatonismo, Bruno integra-o e modifica-o conforniemente a essa divinizao da natu277 reza que o termo ltimo do seu pensamento. significativo que, enumerando no De umbtis idearum (Opp. lat. 11, 1, 48-49) os graus da ascese mstica segundo Plotino, lhe acrescente dois por sua conta: a transformao de si mesmo na realidade e a transformao da realidade em si mesmo. O ltimo grau do homem , por consequncia, no a identificao com Deus, ruas com a res, isto , com a realidade ou a natureza. No Sigillus sigillorum (Ib., 11, 11, 180), pe como grau mais alto, acima da sensibilidade, da imaginao, da razo e do intelecto, a contractio mentis, pela qual as actividades humanas se concentram e se unificam, tornando-se aptas a compreender a unidade do todo. E esta tambm a tarefa da mens, ltimo grau. de conhecimento, na Summa terminorum metaphysicarum, (Ib., 1, IV, 32). Tudo isto sugere que, para Bruno, o termo final do conhecimento humano a unio mais ntima possvel com a natureza da sua substancial unidade. E este , de facto, o significado do mito de Acteon, exposto em De gli eroici furori. Acteon, que chegou a contemplar Diana nua e fo@ transformado em veado, passando de caador a caa, o smbolo da alma humana que, andando em busca da natureza e chegando finalmente a v-la, se torna ela mesma natureza. E, de facto, a natureza a unidade a que todas as coisas se reduzem na sua substncia. Aquele que, como Acteon, v "a fonte de todos os nmeros, de todas as espoies, de todas as razes, que a mriada, verdadeira essncia do ser de todos; e se no a v na sua essncia, em absoluta luz, v-a 278 na sua gonitura que lhe semelhante, que a sua magem: porque da mnada, que divindade, provm essa mnada que a natureza, o universo, o mundo, onde se contempla e espelha, como o sol na lua, mediante a qual ilumina, encontrando-se aquele no hemisfrio das substncias intelectuais" (De glier. fur., in Opp. it., 11, 743). O termo mais alto da especulao filosfica no , portanto, o xtase mstico de Plotino, a juno com Deus, mas a viso mgica da natureza na sua unidade. O que expresso tambm por Bruno no mesmo dilogo, na
alegoria dos cegos, os quaits simbolizam a incapacidade humana de alcanar a verdade e que readquirem a vista e se consideram recompensados quando podem, finalmente, contemplar "a imagem do sumo bem na terra" (Ib., 515). Ora, este identificar-se do homem com a natureza, este fazer-se natureza, o termo ltimo no s da vida teortica, mas tambm da vida prtica. A natureza, isto , Deus, age com necessidade inelutvel. Uma intrnseca necessidade regula a aco de Deus-Natureza, o qual s pode querer em todos os casos o ptimo e, por consequncia, no conhece a indeciso e a escolha (De 1'inf., in Opp. it., 1, 293, De imm., in Opp. lat., 1, 1, 246). Mas isto no quer dizer que Deus no actue livremente; significa antes que nele necessidade e liberdade se identificam e que, na verdade, ele no agiria livremente se porventura agisse diversamente do modo que exige a necessidade da natureza (De imm., Ib., 243). No se pode confrontar a liberdade perfeita de Deus com a imperfeita do homem nem 279 iaz-la consistir na escolha indiferente entre possibifidades diversas e contingentes. Isto acontece ao homem devido ao estado de ignorncia e de imperfeio em que se encontra, estado que lhe impede de conhecer o melhor ou de perseverar nesse conhecimento. Se a liberdade humana f~ perfeita, seria como a de Deus: coincidiria com a necessidade da natureza (De imm., Ib., 246-47). Um aprofundamento deste conceito efectuado por Bruno no Spaccio. Perguntando-se como as preces de Jove podem influir nos decretos do fado, que inexorvel, responde que o prprio fado quer que se lhe pea aquilo que ele determinou fazer. "Tambm quer o fado que, conquanto saiba o prprio Jove que ele imutvel, e que no pode ser outro do que o que deve ser e ser, no deixe de incorrer por tais meios o seu destino." (Opp. it., 1, 3 1). A verdadeira liberdade humana identifica-se, portanto, com a necessidade natural (com o "fado") e consiste aperias no reconhecimento e na aceitao do prprio fado. A prece muitas vezes um sinal de futuros efeitos favorveis e como que a condio de tais efeitos, dado que o fado manifesta a sua necessidade na prpria vontade dos homens e no fora dela Ub., 40-41). A verdadeira liberdade humana , portanto, como a divina, idntica necessidade. A liberdade que contingncia e escolha arbitrria no um prmio mas apenas uma consequncia do estado de imperfeio em que o homem se encontra relativamente a Deus. A tnica da especulao de Bruno recai todavia naquilo que assimila o homem a Deus, no no 280 que o ffistingue de Deus. Bruno apprecia e exalta na condio humana tudo o que leva o homem a adequar-se natureza de Deus. Na idade de oiro, quando o homem viviia no cio, j no era virtuoso como os animais e talvez fosse mais estpido do que muitos deles. A pobreza, a necessidade, as dificuldades aguaram-lhe engenho, fizeram-no inventar as indstrias e descobrir as artes; e, ainda hoje, fazem nascer das profundidades do intelecto ,humano novas e maravilhosas invenes. E s assim o homem verdadeiramente e se mantm "Deus da natureza" (Spaccio, III, in Opp. it., II, 152). Mas o que sobretudo exalta e diviniza o homem o herico furor: o
mpeto racional pelo qual o homem, que aprendeu o bem e o belo, se desinteressa daquilo que antes o atraa e no tende seno a Deus. O poder intelectivo do homem no se satisfaz com uma coisa finita e tende fonte mesma da sua substncia, que o infinito da ,natureza e de Deus. Nisto reside a mais alta dignidde do homem que no absorvido e nulificado pelo infinito natural mas pode compreend-lo, faz-lo seu e reconhec-lo como o sinal mais certo da sua natureza divina. 383. CAMPANELLA: VIDA E ESCRITOS Se o naturalismo de Bruno uma religio dionisaca do infinito, o naturalismo de Campanella o fundamento de uma teologia poltica ou 281 de uma poltica teolgica. Toms Campanella nasceu em Stil, o, na Calbria, a 5 de Setembro de 1568. Entrou em 1582 para a ordem dorninic^; mas a sua actividade de escritor atraiu sobre si perseguies e condenaes. Nos fins de 1591 foi aprisionado em Npoles devido s opinies contidas em Philosophia sensibus demonstrata, que publicara meses antes. Era nesta poca um fervoroso sequaz de Tel sio; e ele prprio contou em seguida (Syntagma de libris Propriis, 1) ter deposto uma elegia no atade de Telsio, com quem nunca pudera falar. Aps alguns meses de encarceramento, foi libertado (1592) e deveria voltar dentro de seis dias para a sua provncia, mas transgrediu a ordem e d@rigiu-se para Roma e em seguida para Florena e Pdua, onde se inscreveu na Universidade, e foi de novo preso em 1593 por heresia. Transportado para Roma e torturado, foi em 1595 solto e confinado em S. Sabina, onde continuou a sua actividade de escritor, que nem mesmo no crcere interrompera. Depois de uma nova priso e de um novo processo (1597), Camipanolla voltou em 1598 para sua terra. A urdiu a conjura que deveria conduzir realizao do seu ideal poltico-re,liigi',oso: uma repblica teocrtica de que ele prprio seria o legislador e o chefe. Mas em 1599 a conjura foi descoberta. Campanella foi conduzido a Npoles para lhe ser instaurado um processo; para fugir condenao capital, fingiu-so louco e sustentou a sua fico mesmo sob a mais dolorosa das torturas (1601); foi assim condenado a priso perptua e irremissvel (1602). Permaneceu no cr282 cere cerca de vinte e sete anos. O seu esprito ndmi,to temperou-se nesta terrvel prova. Do fundo da sua cela, lancava apelos e conselhos a todos os reis e prncipes da terra, vaticinando a iminente renovao do mundo mediante o retomo a uma nica religio e a um nico estado. Por convico ou por oportunismo, converteu-se tese de que s a monarquia de Espanha poderia realizar a unificao poltica do gnero humano e consagrou defesa desta tese a sua actividade de escritor. Nunca mais abandonou esta actividade, nem mesmo na "hrrida fossa" de Castel Sant'FAmo, nem na priso mais branda de Castel dell'Ovo ou de Castel Nuovo. Vu repetidas vezes sequestrarem-lhe ou destrurem-lhe os manuscritos e outras vezes perderem-nos por os haver confiado, na esperana de que fossem publicados, a pessoas que o visitavam na priso. Mas reescreveu as obras perdidas, conseguiu manter correspondnoia com vrios letrados curopeus e publicar na Alemanha algumas das suas obras. Em 1626, libertado pelo governo espanhol e transfeido para o Santo Ofcio de Roma. A o papa Urbano VIII autoriza-o a dispor de todo o palcio do Santo
Ofcio como loco carceris (1628); e Campanella comea a orientar as suas esperanas de renovao poltica, j no para a Espanha, mas para Frana. De modo que, quando em 1633, descoberta em Npoles uma conjura contra o vice-rei organizada por Toms Pignatelli, discipulo de Campanella, e este j no se sente seguro em Roma, o embaixador francs favorece a fuga de Campanella, que se refugia em 283 Fiana (1634). Acolhido b(-,ne-vola-mente pelo rei Lus XIII e provido de uma Penso, Camipanella pde passar tranquilamente Os ltifinos anos da sua vida, preparando a publicao das suas obras. j havia algum tempo que as estrelas lhe t@~ anuinciado que o eclipse do 1.o de Junho lhe seria funesto; quando adoeceu, no lhe valeram os ritos mgicos em cuja eficcia sempre acreditara, e a 21 de Maio desse ano morria. O interesse dominante de Campanella um s, e te0lgicO@P0ltico. Pode-se, todavia, dividir as suas obras em duas partes: uma, filosfico-teolgica, a outra, pc>ltica. o prprio Canpanella deixou-nos no Syntagma d, librds proprus et recta ratiOne studendi (uma espcie de guia para o estudo da filosofia ditado em 1632 ao francs Gabriel Naud) um ndice das suas obras que indica a Ocasio e a poca aproximativa da composio. Estudos recentes vieram ordenar e comipleta!r estas indicaes, permitindo que se siga um rumo no emaranhado dos escritos de Camipanella, que foram, quase todos, refeitos vrias vezes pelo autor. Escritos filosficos: Philosophia sensibus demonstrata, composta em 1589 e publicada em 1591. Compendium de rerum natura, composto em 1591 e publicado em 1617. Del senso delle cose e della magia, composto em 1604 e depois traduzido para latim e publicado nesta lngua em Francoforte em 1620. Apologia pro Galileo, composta em 1616 e publicada em 1622. Philosophia realis, publicada em Francoforte em 1623, e compreendendo: escritos de fsica, entre os quais notvel sobretudo o Epilogo 284 magno, composto, na sua feitura defintiva, entre 1604 e 1609; os Afotismi politici, compostos antes de 1606; a Citt del sole, composta cerca de 1602, e em seguida revista e depois traduzida em latim e as Quaestiones fisiolgicas, morais e polticas compostas antes de 1613. Astrologicorum libri VII, compostos em 1613 e publicados em 1629. Atheismus triumphatus, composto em 1605 e publicado em 1631. De medicina, composta em 1609 e publica em 1635. De gentifismo non retinendo, composto em 1609-10 e publicado em 1636. De praedestinatione, composto em 1628 e publicado em 1636. Philosophia rationalis, publicado em 1638, compreendendo a Poetica, a Rethorica e a Dialectica, escritos vrias vezes refundidos. Metaphysica, um dos escritos fundamentais, concludo depois de uma longa elaborao em 1623 e publicado em 1638. Quod remniscentur, composto cerca de 1615. Theologia, obra vastssima em 30 livros comeada a compor em 1613 e que permaneceu indita. Escritos polticos: Discorsi sui Pesi Bassi, compostos em 1594-95 e publicados em 1617. Monarchia di Spagna, composta em 1600 e publicada em 1620 em traduo alem. Aforismi politici, j citados. Citt del sole, j citada. Monarchia del Messia, composta em 1605 e publicada em 1633 na traduo latina. Discorsi della libert e della felice sugestione allo stato ecelesiastico, compostos em 1627 e publicados em 1633. Discorsi ai principi d'Italia, compostos em 1607. Antiveneti, compostos em 1606.
285 Campanella tambm autor de Poesias (compostas na juventude e nos primeiros anos da permanncia no crcere) que no so poesia filosfica no sentido de serem (como as de Bruno) a expresso versificada da sua filosofia, mas poesia autntica, isto , expresso de uma sua atitude fundamental. Nelas Campanella atinge a conscincia da sua tarefa, da sua misso no mundo. Dirigindo-se a Deus para que o liberte da priso, (Poesie, ed. Gentile, p. 135), faz o seguinte voto: Se mi sciogli, io, far seuola ti prometto Di tutte nazioni A Dio libertador, verace e vivo, S'a cotando pensier non disdetto E fine a cui mi sproni: G11 Idoli abbater, far di culto privo Ogni Dio putativo E chi di Dio si serve, ea Dio non serve; Por di ragione il seggio e lo stendardo Contra il vizi-o codardo; A libert chiamar ranime serve, Umiliar le proterve. N a tetti ch'avilisce Fulmine o belva, dir canzon. novelle, Por cui Sion languisce; Ma tempio f-ar il ciolo, altar de stelle. 1 Se me Ubertares, prometo-te / Fazer devotaz,, todas as naes / A Deus libertador, veraz e vivo, / So- a to grande pensamento no recusas / O f im a que me inicitas: / Os Idolos abater, privar do culto / Todo o Deus suposto / E que de Deus se serve, e Deus no serve; / Pr pela razo o trono e o estan286 A realizao da unidade religiosa do gnero humano apresenta-se a Campanella como o fim fundamental da sua vida e a promessa que ele faz a Deus como voto para a sua libertao. Num soneto, esclarece a natureza poltica deste fim e V~, -0 estreitamente aos princpios fundamentais da sua filosofia (Poes., p. 18): lo nacqui a debellar tre maLi estremi Tiranniffie, soctismi, lpocrisia: On'dor m'aoeorgo con quanta armonia Possanza, senno, amor m'insegn Temi. Questi principi ssou ver! e supremi Della scoverta gran filosofia, Rimedio contra Ia trina bugia, ~to cui piangendo, mondo, fremi. Carestie, guarre, plesti, invida. inganni, In~tizia, lussuria, accidia, sdegno, Tutti a que tre gran mali sottostanno, Che nel eleco amor proprio, figlio degno D'Ignoranza, radice e fomento hanno. Dunque a divelIer Vignoranza io vegno, darbe / Contra o vcio cobarde; / A liberdade chamar almas escravas, / Humilhar a soberba. / Nem mesmo aos lares sobre que cal / Fera um raio, direi canes novas, / Que a Sio enIanguesce; / Mas do cu ~ um templo, e das estrelas altar. 1 Eu nasci para debelar trs grandes males: Tiranias, sofismas, hipocrisia: / E agora vejo com quanto harmonia / Fora, senso, amor me ensinou Temi. / Estes princpios so veros e supremos / Da d~berta gr filosofia, / Remdio contra a trina 287 Fora, senso e amor so como veremos, Os trs primados, isto , os princpios metafsicos do ser: a sua descoberta equivale para Campanella destruio das tiranias, dos sofismas e da hipocrisia e, por conseguinte, de todos os males que destes nascem no mundo. O poder de libertao e de elevao poltica da sua filosofia assim clarainente afirmado. A filosofia, para
Campanella, devia ser a alavanca para a realizao de uma reforma poltica que eliminasse os males do mundo e o restitusse justia e paz. E foi esse, na realidade, o interesse dominante de toda a obra de Campanella, a qual se desenvolve gradualmente da fsica matemtica, da motafsica teologia, para constituir a teologia base da unidade religiosa do gnero humano e da sua unificao poltica. 384. CAMPANELLA: FSICA E MAGIA O ponto de partida de Campanella a fsica de Telsio., Mas--- emb ora confirmando os princpios .fundamentais desta fsica com uma grande massa mentira / Sobre a qual, chorando, mundo, tremes. / Carestias, guerras, pestes, inveja, enganos, / Injus- ,tia, luxria, preguia, desdm, / Todos a estes trs males subjazem, / Que no cego amor prprio, filho digno / Da ignorncia, ra:,,i e alimento tm. Por isso, eu venho arrancar a ignorncia. 288 CAMPANELLA de observaes particulares e desordenadas, Campanella no tarda em afastar-se para procurar integraes mgicas e metafsicas que so completamente estranhas ao esprito do seu fundador. Assim o Del senso delle cose e della magia retoma os (princpios da fsica telesiana s com o objectivo de demonstrar aquela universal animao das coisas que o fundamento da teoria e da prtica da magia. E o Epilogo magno refaz toda a trama do De rerum natura de Telsio transformando-se numa espcie de cosmogonia teolgica, que j no tem como escopo pr a claro os princpios autnomos da natureza, mas sim o de roportar tais princpios a proposies teolgicas. A despeito do seu juvenil entusiasmo por Telsio e da sua constante fidelidade letra da fsica deste ltimo, Campanella move-se numa esfera de interesses que j no tm relao com os que animavam a obra de Telsio. Telsio repele toda a fora mgica, metafsica e teolgica nas suas explicaes naturalsticas: o seu objectivo o de entender a natureza na ordem que lhe prpria, e em Deus s v o garante desta ordem. Campanella v na natureza a esttua e a imagem de Deus e nas foras que a agitam o campo de aco dos encantamentos e dos milagres dos magos. O seu interesse cientfico nulo. Ele no quer compreender a natureza, mas tom-la de assalto e subjug-la. Cr na astrologia qual dedica uma obra e da qual tira a confirmao do seu vaticnio do iminente retorno do mundo unidade religiosa e poltica (Ath. triumph., 14, 27; Quod, remin., 1, 2, a. 3). E se defende a otwa de C ~, 289 (na Apologia pro Galileu) defende-a apenas do ponto de vista teolgico e visa a demonstrar que a doutrina de Galileu mais conforme Sagrada Escritura do que a contrria. Dos princpios do naturalismo telesiano, deduz Campanefia imediatamente a universal sensibilidade das coisas. Uma vez que todos os seres, mesmo os animais e os homens, so formados pelas duas natui"ezas agentes, o calor e o frio, e pela massa corporea, e uma vez que os animais e os homens so dotados de sensibilidade, faz-se mister que as prprias naturezas agentes o a massa corprea sejam sentientes. O efeito deve encontrar-se na
causa de que procede: se os animais sentem, isso sinal de que sentem os elementos ou princpios por que so constitudos (Del senso, 1, 1). Campanel,la sustenta, por conseguinte, que coisa alguma privada de sensibilidade: nem a matria, nem o cu e as estrelas, nem as plantas, nem as pedras e os metais e nem mesmo os outros elementos constitutivos do mundo. A sensibilidade que todos estes entes possuem devida a um esprito quente e subtil que anima a massa corprea e ele mesmo corprco (lb., 11, 4). Mas como o homem, alm da alma corp rea, possui tambm uma alma infundida por Deus e pela qual efectua as operaes mais excelentes, seja embora servindo-se, como de um eficaz instrumento, do esprito corpreo (lb., H, 27; Epil., 111, 14), assim o mundo tem, na sua totalidade, uma alma que o instrumento directo de Deus e que dirige todas as operaes (Ib., II, 32). A alma do mundo determina o con3enso que 290 as coisas naturais tm entre si, porque as dispe todas para um nico fim e assim as liga todas umas s outras no obstante a dissemelhana delas. (Ib., RI, 14). Por isso Campanella no s no nega a causa final como lhe reconhece a supremacia sobre as outras e considera a causa finalcomo o quente, o frio a matria, o lugar-como simples meios para chegax ao fim (Epil., 111, 1, av. a). Deste consenso se vale a magia para efectuar as suas operaes miraculosas. Ela a sabedoria * um tempo prtica e especulativa porque "aplica * que compreende em obras teis ao gnero humano" (Del senso, IV, 1). Campanella distingue: uma magia divina, que opera em virtude da graa divina, como foi a de Moiss e de outros profetas inspirados por Deus; uma magia natural, que a das estrelas, da medicina e da fsica, e que adquire, atravs da religio, a confiana prpria de quem espera o favor desta cincia, e uma magia diablica, que opera pela aco do demnio e logra fazer coisas que parecem miraculosas a quem no as entende. A magia dirvina no exige muita cinda porque se funda no amor e na f em Deus. A magia natural, pelo contrrio, faz uso de todas as cincias e artes, e Campanella assegura que para ela raras coisas lhe so impossveis. Mas para ele tambm magia o agir sobre os homens e as suas paixes; da que sejam "segundos magos os oradores e os poetas" (Ib., IV, 12); mas o maior mago o legislador porque "a maior aco mgica do homem dar leis aos hornens" (lb., IV, 19). 291 A mxima expresso da fidelidade de CampaneMa fsica de Telsio a supremacia do conhecimento sensvel, supremacia que Campanella afirmou constantemente da primeira ltima das suas obras. "A sabedoria, diz ele (Ib., 11. 30), o conhecimento corto de todas as coisas, internamente, sem dvidas". Ora, o prprio nome de sabe doria deriva dos sabores do gosto, que o nico dos sentidos que no se limita a colher as qualidades extrnsecas da coisa, mas, trturando-a e assimilando-a, lhe colhe a intrnseca natureza fsica. Sabedoria, por excelncia, , portanto, a sabedoria fundada nos sentidos, sem os quais no se podem verificar, corrigir ou refutar os conhecimentos incertos. Assim, os antipodas, negados por Santo Agostinho e por outros Antigos, vieram a ser
atestados como seres reais por Cristvo Colombo, mediante a experincia sensvel. "0 sentido certo e no requer prova, porque ele prprio prova; mas a razo conhedimento incerto, o por isso exige prova; e quando se aduz a prova e a causa, vai-se busc-las a uma sensao certa" (Ib., H, 30). Tal como Telsio, Campanella sustenta que mesmo o intelecto sensibilidade. "0 compreender em universal senso amortecido e longnquo, e a memria senso adormecido, e o discurso senso estranho e em smile" (Ib., H, 30). O universal, que o objecto do intelecto, a semelhana que as coisas particulares tm entre si; e, assim, o conhecimento indistinto e confuso que se certifica e concretiza com o aguar-se do conhecimento sensvel. (Ib., H, 22). 292 Porm, esta reduo de todo o conhecimento sensibilidade levanta o problema que determina a passagem da fsica m~,sica. A sensiWidade , de facto, sempre conhocimento das c~ exteriores; como pode a alma, se todo o conhecimento sensibilidado, conhecer-se a si mesma? "0 que me surpreendia, diz Campanefia (Ib., 11, 30), (era) que a alma se ignorasse a si mesma e ao que fazia". E, na realdade, a alma no pode ignorar-se a si mesma: nisiter, portanto, que a sensibilidade externa se funde na sensibilidade que a alma tem em relao a si mesma, tal o problerna que Campanelia defronta na Metafsica. 385. CAMPANELLA: O CONCEITO DE SI Campanella divide a sua Metafsica em trs partes: a primeira, dodlicada aos princpios do sa@ber, a segunda aos princpios do ser, a ~ira aos priric~ do operar. Ele inicia o seu tratado, reproduzindo o movimento de pensamento de Sto. Agostinho no Contra Acadmicos ( 160): a prpria dvida supe uma verdade que est para l de quaisquer dvidas. "Sapiente, diz elo (Met., 1, 2, a. 1), aquele a quem as coisas sabem (sapiunt) tais como so, e saber perceber a coisa tal como ela ". O cptico que sabe que no sabe nada, reconhece pelo menos essa verdade e assim pressupe que existem um sabor e uma corteza fundados em princ~ universais que esto paira alm de qual293 quer dvida. Tais principios, ou noes comuns, derivam uns do interior da alma, de uma faculdade inata, outros do exterior, por universal consenso de todos os entes ou de todos os homens. O mais seguro princpio da primeira espcie aquele pelo qual somos e podemos, sabemos e queremos. O mais seguro princpio da segunda eq3cie aquele pelo qual somos alguma coisa e no tudo, podemos, sabemos, queremos alguma coisa e no tudo ou de todas as maneiras. Por isso, quando tratamos das coisas particulares e simples, e passamos do conhecimento da nossa presena a ns mesmos ao conhecimento objectivo, comea a incerteza: a alma distrai-se do conhecimento de si para considerar os objectos que nunca se lhe manifestam total e distintamente, mas apenas parcial e confusamente. "Ns podemos, sabemos e queremos coisas diversas de ns, porque podemos, sabemos e queremos o que ns prprios somos: de modo que posso solevar um peso de 50 sestrcios porque posso solevar-me a mim prprio, que o carrego, assim como sinto calor porque me sinto afogueado e gosto da luz porque gosto de ser iluminado pela luz" (Ib., 1, 2, a. 5). Por outros termos, o conhecimento das coisas externas pressupe o conhecimento que a alma tem de si mesma. Deve haver um conhecimento inato de si (notitia sui ipsius innata, Ib., VI, 8, a. 1), uma consci ncia
originria, em que reside a possibilidade do conhecimento de todas as outras coisas. Dado que a sensao se efectiva atravs da assimilao do sujeito cognoscente coisa conhecida e , como tal, uma paixo da alma, isto , 294 uma mdfficao que a alma sofre do exterior, esta modificao permaneceria estranha alma se a conscincia dela no fosse essencial alma e no constitusse o seu ser. "Ns dizemos, diz Campanella (Ib., VI, 8, a. 4), que a alma e todos os outros entes se conhecem originria e essencialmente a si mesmos; ao passo que conhecem secundria e acidentalmente todas as outras coisas na medida em que se conhecem a si mesmos transformados e assimilados s coisas pelas quais, so transformados. O esprito sentiente no sente, portanto, o calor, mas sente-se em primeiro lugar a si mesmo: sente o calor atravs de si mesmo na medida em que transformado pelo calor, sente o corpo na medida em que o substracto do calor o seu objecto". Esta doutrina reproduz e amplifica a de T~io. Telsilo exclura, de facto, que a sensao se reduzisse. aco das coisas ou modificao produzida no esprito das coisas; e tinha-a, pelo contrrio, identificado com a percepo que o esprito tem da aco das coisas e da modificao produzida em si por tal aco. "Resta, portanto, dizia ele, concluindo (De rer. nat., VH, 3), que o sentido a percepo das aces das coisas, dos impulsos do ar, assim como das prprias paixes, das prprias modificaes e dos prprios movimentos; e sobretudo destes. O sentido, de facto, percebe estas aces s na medida em que percebe ser influenciado, modificado e comovido por elas". Mas esta doutrina, que havia sido mantida por Telsio ao nvel de uma pura anlise naturalstica do conhe295 cimento, elevada por Campanella ao plano metafisico. A autoconscincia no prpria apenas da alma mas de todos os entes naturais enquanto dotados de sensibilidade. "H uma drupla sapincia nas coisas, diz Campanedla na Theologia (1, 11, a. 1): uma, inata, pela qual elas sabem ser e pela qual o ser lhes agrada e o no ser lhes desagrada, e esta sabedoria essencia@ de modo que no se pode perder sem perder o ser. A outra, adquirida (illata), pela qual elas sentem as coisas externas porque -so por elas modificadas e a elas tornadas semelhantes. Assim, cada coisa se sente a si mesma por si, e, como si, dizer-se, essenei alte, enquanto que sente as outras acidentalmente, isto , na medida em que se toma semelhante s coisas pelas quais modificada, quer no sentido de ser colrrompida, como acontece quando afastada do prprio ser e sente dor, quer no sentido de ser aperfeioada, como quando conservada e restituda sua integridade atravs da sensao de coisas afins e favorveis, e experimenta prazer". A primeira espcie de sabedona, o conhecimento inato, pr. prio de todas as coisas: mas nas coisas e nos homens diminuda ou impedida pelos conheci. mentos adquiridos. Em Deus, que privado de todo o conhecimento adquirido, conserva, pelo contrrio, toda a sua potncia (Theol., ib.). A Metafsica de Campanella foi publicada em Paxis, em 1638, mas s foi completaida, aps uma longa elaborao, em 1623. Em 1637 Descartes publicara
o seu Discurso do Mtodo. Tem-se estabelecido com frequncia o confronto entre a nottia sui 296 de Campanella e o cogito de Doscartes. Na reakdade, os traos salientes da tcwia de Campanella ind"m claramente o alcance e os limites desta. Ela serve nicamente para fundar a possibilidade do conhecimento sensvel e privada do significado idealstico que intrpretes modernos tm pretendido ver nela. estranha a Campanefia. a problematicidade da realidade que constitui o trao fundamental da teoria de Descartes. A realidade e a cognoscibilidade das coisas eternas no so um problema para Cam~,a, como o sero para Descartes; a realidade pressuposta, de tal modo que a autocons~a atribuda no s ao homem mas a todas as coisas naturais, como seu elemento constitu~. Por isso, no pensamento (como o para Dese ~,), mas senso, sensus sui. No caracteriza a existncia especfica do homem como sujeito pensante, que se pe o problema de uma realidade divem de si, mas exprime a constituio de cada ente natural como tal, o qual no pode agir sensivelmente ou sensivelmente sofrer a aco dos outros sem se sentir a si prprio. Para Descartes, a autoconscincia o homem como tal, para Campanella * autoconscincia tanto o homem como Deus, como * ser mais nfimo da natureza. Alm disso, a autoconsc~a perdeu em Canipanella o ca~ de interiordade espiritual que tivera em Sto. Agostinho, para o qual ela ora o princpio da investigao que a alma diTigo a si mesma. Pode dizer-se que em Sto. Agostinho a autoconscincia o princpio de uma metafsica espiritualista; em Campaneija o princpio de uma metafsica naturalstica; em Des297 cartes ser o princpio de um idealismo problemtico. Mas s na forma que assume em Descartes, a autoconscincia podia tornar-se o princpio da filosofia moderna como investigao directa do homem, em que se manifesta o carcter especfico da sua existncia no mundo. 386. CAMPANELLA: A Metafsica Dissemos que a autoconscincia para Campanella o princpio de uma m~sica naturalistica. Nela, de facto, se fundam as determinaes essenciais da realidade natural. Tais determinaes so reveladas precisamente pela autoconscincia: ns somos conscientes de poder, de saber e de amar e d~mos admitir que a essncia de todas as coisas constituda precisamente por estes trs priinados: o poder (potentia), o saber (sapenlia) e o amor (anwr) (Met., VI, proem.). Cada coisa , na medida em que pode, porquanto s na medida em que pode ser. O poder ser , portanto, a condio do ser e da aco de todas as coisas (Ib., VI, 5, a. 1.). O segundo primado, o saber (saber de si ou saber do outro) constitui igualmente a essncia de todas as coisas. De facto, no s os animais e as plantas, mas tambm as coisas inanimadas, como se viu, sentem; e nesta sensibilidade se funda o consenso universal das coisas, a harmonia que rege o mundo (Ib., VI, 7, a. 1). Quanto ao terceiro primado, claro que ele pertence a 298
todos os entes, porque todos amam o seu ser e o desejam conservar (Ib., VI, 10, a. 1). Em cada um destes o primado da relao do ser consigo mesmo precede a sua relao com o outro: podemos exercer uma fora sobre o outro ser s na medida em que a exercemos sobre ns, como podemos conhecer e amar o outro ser na medida em que nos conhecemos e amamos a ns mesmos (Ib., H, 5, 1 a. 13). Mas todas as coisas que conhecemos so finitas e limitamos e, como talis, compostas no s de ser mas tambm de no-ser (Ib., IV, 3, a. 1). Assim como existem trs primados do ser, assim existem trs primados do no-ser: a impotncia, a incipincia e o dio. So estes trs primados que constituem a essncia das coisas finitas, que portanto no podem tudo o que possvel, no conhecem tudo o que cognoscvel e no amam apenas, mas odeiam tambm: e precisamente por isso so finitas (lb., VI, proem.). Mas a finidade das coisas compostas de ser e no-ser pressupem a infinidade de um ser que exclua o no-ser e seja puro ser. Aquilo que se restringe a uma essncia limitada e determinada e exclui todos os outros seres dos seus limites, no o ser primo, mas antes depende do ser primo. Primo o ser que exclui toda a limitao, que ilimitado e infinito e no conhece nem princpio nem fim. Tal ser Deus Ub., VI, 2, a. 1). A Deus no se chega apenas atravs das consideraes demonstrativas deste gnero. Ele tambm imediatamente testemunhado por aquele conhe299 cimento i-nato e oculto ~a el abdita) pelo qual cada ente sabe ser e ama o seu ser e o seu autor. Se Deus no de per si conhecido pelo conhecimento adquirido, todavia sempre conhecido e amado em virtude do conhecimento inato. O conhecimento adquirido s pode chegar a Deus atravs do raciocnio, partindo das coisas sensveis, mas o conhecimento inato testemunha-o imediatamente e para l de toda a dvida (Theo., 1, 2, a. 1). Testemunha-o outrossim na sua essncia, dado que, assim =o revela os trs primados das coisas, tambm revela os trs primados de Deus. Como qualquer outro ente, Deus potncia, sabedoria e amor (Met., 11, a. 4). Mas nele a potncia no implca nenhuma impotncia, a sabedora nenhuma incipincia e o arnor nenhum desvio do bem. Os trs primados so nele infinitos como infinito o ser pelo qual constitudo (Ib., VI, ptroem.). Nem em Deus nem n&,,, criaturas eles permanecem separados e diversos nem topouco se confundem ou se unificam. Can"neUa admite em relao a eles aquela distino formal de que falava Duns Escoto ( 305) que no distino de razo nem distino real, exclui a pluralidade numrica e garante a unidade do ser (Theol., 1, 3, a. 12). Deus cria as coisas do nada o o nada passa a constituir as coisas no por obra efectiva de Deus, mas em virtude da autor@zao de Deus. Criando o homem, Deus no lhe nega positivamente o ser da pedra ou do burro, mas permite ou consente que ele no seja contemporneamente pedra -burro e assim permite de certo modo que o no 300
ser o consttua. Na sua sabedoria Deus serve-se do prprio no-ser como do ser porque sujeita a limitao prpria das criaturas sua ordenada disposio no universo (Met., VI, 3, a. 2). Atravs dos trs primados, Deus cria o mundo o tambm o sustm e governa. Deles, de facto, derivam trs grandes influxos, que so a necessidade, o facto e a harmonia. A necessidade deriva da absoluta potnc@a de Deus, e devido a ela nenhuma coisa pode ser ou agir diversamente do modo como o prescreive a sua natureza. O facto deriva da absoluta sabedoria de Deus o por isso as coisas tendem, cada tuna, ao seu prprio fim e todas ao fim supremo (Met., IX, 1, Theol., 1, 17, a. 1). O oposto da necessidade a contingncia, o oposto do facto o acaso, o oposto da harmonia a fortuna; e estes opostos derivam no j do ser, mas do no-ser que compe as coisas finitas (Met., IX, 1). 387. CAMPANELLA: A POLITICA RELIGIOSA A filosofia especulativa de Campanela, seja fsica, seja j metafsica, no fim para si mesma. Tem como escopo apenas constituir o fundamento teortico de uma reforma refigbsa que deveiria reuffir (todo o gnero humano numa nica comunidade. Campanella , por temperan-wnto e vocao, um profeta religioso, para o qual a filosofia vale como instrumento de renovao da conscincia relil&isa do homem. -No se limba apenas a sonhar 301 o dcal desta renovao nem o restringe ao mundo dos doutos, como se fizera no Renascimento, mas Pretende PrOmov-40 prticamente e por toda a parte, reencontrando e indicando o rgo eficaz da sua,realizao imediata. Quando, na Cidade do sol, delineou o ideal! Perfeito com que a sua mente sonhava, empenhou-se em traar as vias que podiam, conduzir realizao desse ideal e no hesitou perante os compromissos inev@tveis. Recluso no crcere do governo espanhol e condenado a priso perptua, apontou precisamente a monarquia de Espanha como o brao secular que devia levar o governo unificao religiosa. E ento d@rigiu-se aos prncipes de Itlia para os convidar a favorecer aquola monarquia (Discurso aos prncipes de Itlia, 1606-07): a sua exortao apoiama-se no princpio de que " mister ligar-se ao partido que seja melhor, ou que pelo menos o fado nos apresenta" (ed. Ancona, p. 46). Sado da priso e definitivamente desiludido dias esperanas que pusera em Espanha, dirigiu-se Frana e esperou ento da monarquia francesa aquela realizao da unidade religiosa dos homens que era o primeiro dos seus pensamentos. Campanella cons@derava possvel que a sua reforma religiosa se tornasse realidade e at estava seguro do prximo advento dela. Aceitava de antemo os compromissos que aquela reallizao teria custado no tocante ao Weal descrito na Cidade do Sol, preciisamente porque se considerava mais legislador e 1 feta do que filsofo. Mas se, no;terreno poltico,isto , no que res~ escolha do brao secular que devia traduzir em rea302 lidade a reforma rligiosa, se disps a transigir, no parece que tenha sido fruto de transigncia a aceitao e a defesa do catolicismo, a que permaneceu fiel desde o princpio at ao fim da sua actividade. Com efeito, viu sempre no catolicismo, que sempre defendeu, a religio autntica, a religio natural, a nica religiosidade conforme razo e por @sso comum a todos os povos e
universal. E, na realidade, neste ponto, a transigncia no teria sido possvel, se o intento de Campanella fosse o de conduzir os homens religio aiutnifica e assim os reunir numa uni,~ comunidade. Aceitaruma forma de religio imperfoita, ou mesmo parcialmente falaz, teria sido uma traio fatal sua misso de profeta. Esta misso impunha-lhe, todavia, defender e preconizar uma reforma do catolicismo: uma reforma pela qual o catolicismo deveria ser reconduzido sua natureza, assumindo-se a si mesmo como norma da sua prpria renovao. E assim. Campanella se vale do c,onceito axial do Renascimento, o retorno aos princpios, para profetizar por um lado o retorno de todos os povos da terra, quaisquer que sejam as suas crenas, ao catolic@smo e, por outro, o retorno do prprio catolicismo ;sua verdadeira natureza. O fundamento deste duplo retorno a religio natural. A prim&ra formulao do conceito de religio natural est na Cidade do Sol. Est aqui delineada a estrutura de um estado idealmente perfeito, governado por um prncipe sacerdote, chamado Sol ou Metafisico, assistido portrs prncipes colaterais, Pon, Sin e Mor, isto Potessado, Sapincia e Amor, 303 que so os trs primados da metafsica campanelliana. As caractersticas deste estado, no qual tudo mmmosamente ordenado e predisposto por homens de cincia, so a comunho dosbens e das mulheres (segundo o modelo de Plato) e a relligio na~. Os habitantes do estado ~ vivem exclusivamente segundo a razo, isto , segundo os dita@nos da m&afsiica de Camp~: a sua refi, gio identifica-se com esita metafsica e dlistingue-se do crisfiariwno peda ausncia& da @revelao, e, por conseguinte, da ntegrao sobrenaturaf1 que o ensino da razo requer e ex@ge. "Aqui, adm-iras-te de que adorem Deus em Trindade, dizendo que suma Potncia, da qual procede a Suma Sapincia, e de ambas, o Sumo Amor. Mas no conhecem as pessoas distintas * no as nomeiam como ns, porque no conheceram * revelao, mas sabem que em Deus h proowso * relao de si para: si;_ e assim todas as coisas se cccnpem de potnc@a, sapinc@a e arax, eNuanto tm ser; de impotncia, incipincia e desamor, enquanto dependem do no-wm (edio Bobbio, p. 106). Que a pura pesquisa filosfica conduzia ao reconhecimento da Trindade, era pensan~o bastante anfigo, que se encontra, por exemplo, em Abelardo ( 209). Em CampancHa, este pensam~ leva a concluir que o crisfianismo "nada acrescenta lei natur alm dos sacramentos" e que por isso "a verdadeira lei a crist e que, eliminados todos os abusos, ser senhora do mundo" (Ib., p. 108). A esta concluso se manteve fiel ao longo de toda a srie das obras posteriores. Defendendo nas Questioni sull'ottima republica (ed. D'Ancona, p. 289) 304 os conceitos da Cidade do Sol, afirma que pretendeu nesta obra apresentar uma repblica, no fundada por Deus trnas pda filosofia e pela razo humana, para demonstrar que a verdade do Evan- ~ conforme Natureza. A ~io natural po~o fundada sobre a razo e descoberta pela ~fia. Mas uma refigio paria os doutos, que no seria capaz de promoveir a unidade espritual do gnero humano. ~bm imperfeita, porque carece de @ntegrao sobrenatural e, por
conseguinte, do testemunhodas profecias, dos milagres, das graas que do fora difus@va e ~r @naba1veI religio revelada. A religio natural poderia bastar no CampaneU a filsofo, mas nunca poderia satisLzer o Carn~ pr~a. E este, na rea& ,, no v@u na religio natural seno a norma que permite pr prova o valor das re@ligies histricas, escolher entre elas a verdadeira, justific-la na sua verdade e reconduzi4a ao seu verdadeiro princpio, eliminando os abusos. Porisso Campanella afirma que a re,o natural, que a indita ou inata, sempre verdadeira, enquanto que a adquirfida ou adicionadia (addita) imperfeita o pode por vezes ser falsa (Met., XVI, 3, a.1); mas considera ser impossvel que a religio inata possa existir sem a adquirida ou adicionada. A religio inata prpria de todos os seres que, tendo a sua origem em Deus, tendem a retornar a ele, a religio adquirida prpria s dos homens e por isso a nica que implica mrito c valor moral (Met., XVI, 2. a. 1; Theol., VHI, Ia. 2). Como uma norma no vale seno em referncia quilo de que norma, assim a reEgio indita s vale em 305 relao com a religio addita, de que constitui o fundamento. Camipanella devia por isso mostrar que a religio indita era o fundamento e a norma de todas as ,religies pos@vas para promover o retomo do gnero humano, dividdo em seitas relgiosas diversas, nica religio verdadeira; mas ao mesmo tempo devia reconhecer esta religio verdadeixa como sendo uma das prprias religies positivas e, precisamente, aquela que melhor se adequasse religio natural. Tal foi de facto, a tarefa de que se incumbiu no Atheismus triumphatus o no Quod reminiscentur. Na primeira obra, quetraz o subttulo Recognitio religionis universalis, pretende de facto demonstrar que a roligio universal a racional "infundlida em ns por Deus, comprovada pelos filsofos e pelas naes, reveladas pelos profetas e em seguida tornada pblica sobrenaturalmente por Deus e ilustrada ,pelas graas, pelos verdadeiros milagres, pela profecia e pela santidade" (Pref.). Esta religio uni,versal funda-se na razo, qual julgam conformar-se todos os povos da terra e qual se conformam tambm todos os seres inferiores da natureza, seja sob uma forma expressiva seja de uma maneira implcita (Ath., 3, p. 23). Porque, entre todas as religies positivas, cumpre escolher a que no s no repugna natureza, comotambm lhe agrada e a aperfeioa (Ib., 10, P. 105); e tal s a religio crist. "Toda a lei (listo , toda a religio) razo ou regra de razo; portanto, toda a lei participe ou esplendor da primeira Razo, da Sapincia de Deus, que o Salvador, uma vez que a Razo a prpria Sabedoria que governa e salva todos os entes segundo o 306 modo prprio de cada qluad" (Ib., 10, p. 107). Aquii, Campianella retoma o antigo conceiso, da patrstcia que identifica Cristo com a razo unwersal, e da extrai o argumento para identificar a religio natural com o cristianismo. As leis poisitivas so especificaes, explicaes e aplicaes da mesma prima lei natural, A variedade destas no irracional e no afliena de Deus os povos (Ib., p. 109). Basta, portanto, queos povos tomem conscincia do nico verdadeiro fundamento da sua religio, qualquer que ela seja, para, que se convertam ao cristianismo
e ponham ~o diiverWade das rekgi-os e dois estados (lb., p. 1051). o Quod reminiscentur um, apelo a todos os povos da terra para que se decidam a tal retorno. O ttulo tomado do Salmo 22: quod reminiscentur et convertentur ad Dominum universi fines terrae e inspira-se no princpio fundamental de que todas as coisas retornam ao seu principio. Campanella declara iminente o retorno de todos os povos da terra ao seu princpio, isto , reIiigio autntica, ao crisuiani-smo genuno do catolicismo. Por isso se dirige aos cristos e aos no cristos, nofificando-lhes os signos astrolgicos e as profeciais que indicam o iminente retorno, para os convidar a agix em confoTmidade. E em primeiro lugar dirige-se ao sumo Pontfice e a todos os -cristos. "Eu peo-vos pelo reino dos santos, pela redeno de Cristo, pela esperana da glria futura, a fim de que nos recordemos da nossa origem; e assim faremos com que sodas as naes se convertam a Deus" (Quod rm., 1, 4. a. 1). 307 E ukca os Temdios prtico-polticos, que devem provocar ou favorecer este retomo e eliminar, pela reforma dos costumes e prticas do catolicismo, todas as possibilidades de abuso e reconduzu-lo sua verdadeira natureza. assim partidrio de uma reforma moral do catolicismo, que, deixando interados os dogmas e a estrutura hierrquica da Igreja, a restitui ordem e s~,*cidade do perodo patrshico e, por consequncia, sua capacidade de proselitsmo e de difuso unversal. Assim Campanella se inscr@a nos planos grandiosos da @greja da Chntra-Refornia e acabava -por justificar e defender arenovada fora de expanso da prpria Igreja. Mas com tudo isto enganar-nos-amos se supusssemos a posio de Carapanella caracteriza @, por um conformisno ortodoxo. O plano proftico de Campanella vk@a de^ a coincidir com o plano e as exigncias da greja da Contra-Reforma mas o mb e a justificao deste plano no eram nem podiam ser os da Igreja. Campanella aceta o catolicismo porque, o,identifica com a religio natural: aceita a revek-4o porque, sem as pr~as, e os milagres da religio, eJe no possui fora persuasiva nem capacidade de difuso universaL O ltimo fundamento da posio de Campanella filosfico e naturalistico, no religioso. Ele profeta de uma rel@gio quetem as suas raizes na natureza e na razo crtica; no entanto, se aceita o catolicismo, visa, para alm dele, a um fundamento natural, e racional, no tradi<ona,1 nem revelado, que s a tr~ e a Tevedao podem justifikar a seus ~s. 308 NOTA BIBLIOGRMCA 375. Obras de Reuchlin: Capnion sive de verbo mirifico, Basilea, 1494; CoMniJa, 1532; Lio, 1552; De arte cabalistica, Spiro, 1494; Tubinga, 1514; Hagenau, 1517. GEIGER J. R., Sein Leben, und 8cine Werke, Leipzig, 1871.
Obras de Agripa: De oculta phiZosophia, Colnia, 1510, 1531-33; De incertitudine et vanitate s~tiarum. Colnia, 1527, 1534; Paris, 1529; obras completas, Lio, 1550, 1600. Obras de Paraoelso: Opecra, Basileira, 1589-91; Estraburgo, 1616-18; ~., 1658; Leipzig, 1903.STRUNTz, T. P., Leipzig, 1903; STILLMANN, T. P.,, 1922; 1. BETsKART, T. P., Zurdque, 1947, K. GOLDAMMER, P., Tubdnga, 1952. Obras de Fraciasboro: De sympathia et antipathia rerum, Lio, 1545; Opera omnia, Veneza, 1555, 1574; Lio, 1591. LASSWITZ; Gesch. der Atomistik, I, Mamburgo, 1890, p. 306 segs.; CASsiRER, Gesch. des Erkenntnisproblems, 1, Berlim, 1906, p. 208 segs.; PAULO Rossi, in "Riv. critica di storia della fil.", 1954. Obras de Cardano: ed. -completa, Lio, 1663, 10 vol. A autobiografia De vita propria foi traduzida paira italiano por Mantovani e foi dada estampa vrias vezes. Obra,9 de Della Porta: Magia naturalis, Npoles, 1558; 2.1 -ed., 1589; De humana physiognomia, Vico Equense, 1586; De refractione, Npoles, 1593.-FioRENTINo, Giovani Battista della Porta, in Studi e ritratti della rinwcenza, Bari, 1911, p. 235 segs. Obras de Helmont: ed. completa de Lio, 1667. Obras de Fludd: Philosophia mosaica, Gudae, 1638; ed. completa, 1638. 376. Sobre a vida da Telsio: BARTELLI, Note biografiche, Cosena, 1906. Ed., De rerum natura: Npoles, 1586, 1587; Gnebra, 1588; Colnia, 1646; 309 nova ed. ao cuidado de Spampanato, vol. 1, Modena, 1910, vol. II, GnGva, 1913; vol. 111, ~a, 1923. 377. FioRENTINO, B. T., ossia studi storioi su Pi~ della natura nel rinascimento italiano; 2 vol,, Florena, 1872-74; GENTILE; B. T., in Il ~stero italiano nel rinascimento, Florena, 1940, p. 175 segs.; ABBAGNANO, Telsio, Milo, 1941, com bibliografia. 379. Obras de Bruno: Opere italiane; ed. Wagner, 2 vol., Leipzig, 1829; edio de Lagarde, Gottingen, vol. 1, 1888; vol. 11, 1889; ied. Gentil-e, vol. I, Dia@oghi metafisici, Bari, 1907; 2.a ed., 1925; vol. II, Dialoghi morali, Bari, 1908; 2.1 ed., 1927; vol. IIII, Candelaio, Bari, 1907-09; 2." ed., 1923, Opere ltine: ed. n;acional, parte@s 1 e II ao cuidado de Fiorentino, 1880-86; partes 111 e IV ao cuidado -de Tocco e Vitelli, Florena, 1889-91. No texto citada a 2., ed. GentIle das obras italianas e a ed. nacional das obras latinas. Sobre a vida de Bruno: SPAMPANATO, V#a di G. B., 2 vol, Messina, 1921. Um Bruno profeta religioso apresentado por CORSANO, 11 pensiero di ~dano Bruno nel suo svolgimento storico, Florena, 1940. O ensaio de OLSCHKi, Giordano Bruno, Bar!, 1927 uma spera crtica ao pensamento de Bruno reportado, nas suas caractersticas fun~entais, s deficincias psiquicas e por isso reduzido a notaes puramente psicolgicas. A exposio de Guzzo, 1 dialghi del Bruno, Turim, 1932, uma subentendida polmica, com ~hki; L. FIRPO, II proceso di G. B., Npoles, 1949; D. WALEY SINGER, G. B., His Life and Thought, Nova lorque, 1950. Sobre o conceito da verdade como filia te~oris (desenvolvido no entantode modo
unilateral): GENTILE, G. B. e il pensiero del rinascimento, Florena, 1920. 380. Que a exposio bruniana das doutrinas de Coprnico confusa e incompreensvel por defeito de informao cientfica notou-o Schiapparelii. 310 381. Sobre a obras latinas: TOCeo; Le opere latine di G. B. esposte e confrontate con le italiane, Florena, 1889; LASSWITZ; Gesch. der Atomistik, p. 395; CASSIRER, Gesch. des Erkenntnisproblems, I, p. 368 segs. 382. Sobre as doutrinas gnoseolgicas e morais: D1LTREY; Analisi dell'uomo, trad. itali., p. 66 segs.; CASSIRER; Individuo e cosmo, passim. 383. Sobre a vida de Campanella: AMABILE, Fra T. C., Ia sua congiura, e suoi processi e Ia sua pazzia, 3 vols. Nipoles, 1882; Id... Fra T:,C. nel Castelli di Napol, in Roma ed in Parigi, 2 vdl., Npoles, 1887. Sobre os escritos: FiRpo, Bibliografia degli seritti di T. C., Turim, 1940; ID., Ricerche campanelliane, Florena, 1947. Edies: Philosophia sensibus demonstrata, Npoles, 1591; Compendium da rerum natura, Francoforte, 1617; Del senso delle cose e della magia, Franeoforte, 1620; Paris, 1636; Paris, 1637 (todas ra trad. lat.); @ed. do texto italiano ao cuidado de Bruers, Bari, 1925; Philosophia realis, Francoforte, 1623; Paris, 1637; Epilogo magno (texto ital.), ao cuidado de Ottaviano, Roma, 1939; Citt del sole (texto itaL e lat.), ao cuidado de Bobbio, Turini, 1941; Astrologicorum libri VII, Lio, 1629-30; Francoforte, 1630, Atheismus triumphatus, Roma, 1631; Paris, 1636; De gentilismo non retinendo, De praedestinatione, em vol. com o escrito precedente; Philosophia rationalis, Paris, 1638; Poetica (texto itali. e lat.), ao cuidado de Firpo, Roma, 1944; Metaphysica, Paris, 1638;Quod reminiscentur (as primeiras duais das quatro partes), ao cuidado de Amerio, Pdua, 1939; TheoZogia, ao cuidado de Amerlo, livro 1, Milo, 1936, livros XXVIIXXVIH, Roma, 1955: Discorso sui paesi bassi, Lio, 1617, 1626 (texto lat.); texto it&. ao cuidado de Firpo, Turim, 1945; Monarchia di Spagna, Amsterdo, 1640, 1641, 153, texto ital. In Opere di T. C., ao cuidado de D'Ancona, Turim, 1854, vol. II, p. 77 s@egs.; Aforismi politici, ao cuidado de 311 Firpo, Turim, 1941; Monarchia del messia, Iesia, 1633 ,(t~ lat.); Discorso della libert e della felice suggest"e dello stato ecelesiastico, Iesi, 1633; Discorsi a principi d'Italia, ed. Firpo, Turim, 1945; Antivenefi, ao cuidado de Firpo, Florena, 1945; Apoloffla pro Galileo, Franeoforte, 1622; Poesie, ed. Gentile, ed. Vindguerra, Bari, 1938; Lettere, ao cuidado de Spampanato, Bari, 1927; Syntagma di libris propriis, ed. Spampanato, Florena, 1937. 384. Sobre as doutrinas filosficas: FELICI; Le dotrine filosofico-religioso di T. Campanella, Lanciano, 1895; CORSANO, T. Campanella, Milo, 1944; 2., ed. Bari, 1961. 385. A interpretao idealstica do princpio da autoconscincia foi apresentada por GENTILE, Studi sul rinascimento, Florena, 1936, p. 189 segs.; ID:, Il pensiero italiano del r@nwcimento, Florena, 1940, p. 357 segs.; e validada como nico critrio hist6rico-critico por DENTICE di ACCADIA, T. C., Florena, 1921. 386. Sobre a metafsica especialmente: BLANCHET, Campanella. Paris, 1920, parte IV.
387. AmABiLE, na citada biografia de Campanella, sustenta a tese de que o filsofo Intimamente convicto da verdade da religio natural, privada de toda a estrutura revelada, simulou aderi-r ao catolicismo nunia atitude oportunista. Esta tese apresenta-se atenuada nas monografias citadas de BLANCHET e de DENTICE, segundo os quais a adeso de Campanella ao catolcismo seria fruto de uma transigncia considerada necessria pelo filsofo, para conseguir a realizao prtica de sua reforma filosfica, embora no seu Intimo permaneicesse fiel ao racionalismo. T~ aailoga sustentada por TREVES, La filosolia politica di T. C., Bari, 1930, ao passo que BOBBio, no prefcio sua ed. da Citt del sole (p. 42), retonia, na sua crueza a tese de AmABiLE. A. CORSANO, T. Campanella, Milo, 1944, 312 inclna-se ainda@ embora com mais equilbrio, para a tese de AmABILE. Em contrapartida. R. AMERIO, em numerosos artigos, entre os quais so particularmente notveis Di alcune aporie dell'interpretazione deisUca campanelliana al lume degli inediti, in "Riv. di fil. neoaool.", 1934, p. 605 segs., sus@tentou a perfeita ortodoxia de Campanella, negando quer a tese da simulao, quer a da transigncia oportunstica. r@, difcil impugnar as concluses de AMERIO, fundadas em textos inditos de Theologia, pelo que respeita adeso convicta de Campanella ao ca!tolicismo, que ele reconhecia indubitvelmente como a religio natural. A no-ortodoxia de Campanella consiste apenas (como resulta no t-e>.@to) do mbil daquela adwo que no a f na revelao mas o naturalismo metafisico. Este mbjl exclui todavia qualquer simulao ou transigncia oportunstica e implica a ntima unidade da posio filGsfi@ca de CampaneUa. 313 ND1CE QUARTA PARTE A FILOSOFIA DO RENASCIMENTO I-RENASCIMENTO E HUM-ANISMO
...
332. O problenia histrico ... ... ... 9 333. O Humanismo ... ... ... ... ... 12 334. O Renascimento ... ... 21 335. @@oi@gens d& -* 25, 336. Dante . .. ... ... ... ... ... ... 31 337. Petrarca ... ... ... ... ... ... 34 338- Humanistas italianos: Salutati, Bruni, Raimondi, nlelfo ... ... 38 .339. Loureno Valla ... ... ... ... 43 340. Humanistas, italianos: Fazio, Man,etti, Alberti, Palmieri, Sacchi, Nizolio .. . ... ... ... ... ... 47 341. Bovilo ... ... ... ... ... ... ... 50 342. Humanistas franceses, espanhis e aJemes ... ... ... ... ... ... 54 343. Montaigne ... ... ... ... ... 57 344. Charron, Sanchez, Lipsio ... 66 ... ...
Nota bibliogrfica 315
... ... ... ...
71
II - RENASCIMEMTO E POLITICA
...
77
345. Maquiavel ... ... ... ... ... 77 346. Guicoiardini, Botero ... ... ... 86 347. T. Moro, G. Bodin . .. --- ... ... 92 348. O Jusnaturalismo ... ... ... ... 99 Nota bibliogrfica ... ... ... ... ios ... 111
UI - RENASCIMENTO E PLATONISMO
349. Ncolau de Cusa a douta ignorncia ... ... ... ... ... ... ... 111 350. Nicolau de Cusa: o mundo da conjectura ... ... ... ... ... ... 116 351. Nicolau de Cusa: a doutxIna do homem ... ... ... ... ... ... 121 352. Nicollau de Cusa: a nova cosmologia ... ... ... ... ... ... ... 124 353. O Platonismo italiano ... ... ... 127 354. Ficino: a alma, cpula do mundo 131 355. Ficino: a doutrina doamor ... ... 136 316 356. Leo Hebreu ... ... ... ... ... 139 357. Pico de Mirndola: a paz regeneradora ... ... ... ... ... ... 140 358. Pico de Mirndola: Cabala, Magia e Astrologia ... ... ... ... ... ... ... ... ... 145 359. Francisco Patrizzi 149 ... ... ... ... 151 155
Nota bibliogrfica
IV-RENASCIMENTO E ARISTOTELISMO
360. O primeiro aristotelismo ... ... 155 361. Averroistas e Alexandristas ... 158 362. Pomponazzi: a ordem natural do mundo ... ... ... ... ... ... 164 363. Pomponazzi: a naturalidade da ama ... ... ... ... ... ... ... 169 .364. Pomponazzi: liberdade e necessdade ... ... ... ... ... ... ... 172 365. Outros aristotlicos ... ... ... ... 175 Nota bibliogrf . ... ... ... ... 317 V - RENASCIMENTO E REFORMA ... ... 185 181
366. O retorno s origens crists ... 185 367. Erasmo ... ... ... ... ... ... 187 368. Lutero ... ... ... ... ... ... 196 369. Zwingli ... ... ... ... ... ... 204 370. Calvino ... ... ... ... ... ... 207 371. Telogos e msticos da reforma ... 211 372. O racionl@ismo religioso ... ... 220 373. A contra-reforma ... ... ... ... 223 Nota bibliogrfica ... ... ... ... 230 235
VI-RENASCIMENTO E NATURALISMO ...
374. Magia, Fil~fia, natura11; Cincia, 235 375. A Magia ... ... ... ... ... ... 238 376. A Filosofia natural; TeIsio ... 248 377. Telsio: os princpios gerais da natureza 318 378. Teloio: o homem como natureza e como alma imortal ... ... ... 254 379. Bruno: o amor da vida ... ... 260 380. Bruno: a relgio da natureza ... 266 381. A teoria do mnimo e da mnada 271 382. Bruno: o infinito e o homem ... 277 383. Campan&,Ia: Vida e Escritos ... 281 384. Campanella: Fsica e Magia ... 288 385. Campanella: o conhecimento de si 293 386. C~anella: a metafsica ... ... 298 387. Campanella: a poltica religiosa 301 Nota bibliogrfica 319 Conlposto e impTe'3s0 para a EDITORIAL PRESENA na Tipografia Nunes Porto ... ... ... ... 309 ... ... ... ... ... ... 251
HistrIa da Filosofia Volume sete Nicola Abbagnano DIGITALIZAO E ARRANJOS: ngelo Miguel Abrantes (segunda-feira, 30 de Dezembro de 2002) HISTRIA DA FILOSOFIA VOLUME VII TRADUO DE: ANTNIO RAMOS ROSA ANTNIO BORGES COELHO CAPA DE: J. C. COMPOSIO E IMPRESSO TIPOGRAFIA NUNES R. Jos Falco, 57-Porto EDITORIAL PRESENA * Lisboa 1970 TITULO ORiGINAL STORIA DELLA FILOSOFIA Copyright by NICOLA ABBAGNANO Reservados todos os direitos para a lngua portuguesa EDITORIAL PRESENA, LDA. R. Augusto Gil, 2 cIE. - Lisboa vi
LEIBNIZ 436. LEIBNIZ: VIDA E ESCRITOS Se a filosofia de Espinosa uma doutrina da ordem necessria do mundo, a filosofia de Leibniz pode ser descrita como sendo uma doutrina da ordem livre do mundo. A diferena entre as duas filosofias tem o seu fundamento na diferena entre dois conceitos de razo: a razo para Espinosa a faculdade que estabelece ou reconhece relaes necessrias, ao passo que para Leibniz a simples possibilidade de estabelecer relaes. Gotfried Wilhelm Leibniz nasceu a 21 de Junho de 1646 em Leibniz. Foi um garoto precoce: aprendeu sozinho o latim e muito cedo conseguiu dar solues pessoais aos problemas que se debatiam nas escolas. Estudou jurisprudncia em Leipzig e em Altdorf (perto de Nuremberga), onde se licenciou em 1666. Os seus primeiros escritos so precisamente teses para a obteno de ttulos acadmicos: uma discusso intitulada De principio individui, vrios escritos jurdicos e a Ars combnatoria em que se anuncia j a sua ideia de um "alfabeto dos pensamentos humanos" e de uma lgica organizada matematicamente. Em Nuremberga, Leibniz trava conhecimento com o baro de Boineburgo, um dos mais eminentes homens polticos alemes da poca, que o levou a Francoforte e o apresentou ao Eleitor de Mogncia. Leibniz escreve ento o Novo nwthodus discende docendaeque jurisprudentiae (1667), que o mais importante dos seus ensaios jurdicos. Em Mogncia obtm o cargo de conselheiro do Eleitor e desempenha vrios cargos cientficos e polticos. Comeava assim a actividade poltica, que ocupou grande parte, da sua vida e que, embora sendo inspirada por circunstncias ocasionais e pelo interesse das pessoas que se valeram dele, obedece no seu conjunto a um grandioso desgnio: o de uma organizao poltica universal ao servio da civiliza o e da cincia. Entretanto, a sua actividade filosfica incide sobre problemas de ordem teolgica, lgica e sobretudo fsica. Em 1671 compe a Hypothesis physica nova. Inicia tambm neste perodo a correspondncia com os maiores cientistas do tempo, na qual se encontra consignada boa parte da sua actividade de escritor. Em 1762, Leibniz foi enviado a Paris com uma misso diplomtica destinada a dissuadir Lus XIV da sua projectada invaso da Holanda inspirando-lhe o desejo de conquistar o Egipto. O projecto gorou-se e foi declarada guerra Holanda. Leibniz foi autorizado a permanecer em Paris, onde estreitou relaes com os homens mais importantes da poca. A permaneceu quatro anos que foram decisivos para a sua formao cientfica. Em Frana dominava ento o cartesianismo, mas Leibniz interessou-se sobretudo pelas descobertas matemticas e fsicas. Em 1676, descobriu o clculo integral que no entanto s tornou pblico em 1684 nos "Acta cruditorum". O clculo integral havia sido descoberto por Newton uma dezena de anos antes; mas Leibniz fez a sua descoberta independentemente e formulou-a de modo a torn-la mais fecunda, possibilitando uma mais rpida e cmoda aplicao. Em 1676, regressou Alemanha, onde aceitou o
cargo de bibliotecrio junto do duque de Hannover, Joo Federico de BraunchweigLuneburg. Na viagem de Paris a Hannover, travou conhecimento com Espinosa em Haia e com ele teve longas conversaes. Espinosa havia ento j terminado a sua tica e por isso, provavelmente, nada lhe trouxe o conhecimento de Leibniz. Mas Leibniz viu-se, neste encontro com ele, perante uma doutrina que era directa e simtricamente oposta sua. E esta doutrina tornou-se, nos seus escritos filosficos e especialmente na Teodiceia, o seu ponto de referncia polmico constante. Leibniz acabou por ver nela a expresso tpica do atesmo, do naturalismo e especialmente daquela necessidade cega que nega a liberdade humana e a providncia divina. Leibniz permaneceu durante a vida inteira ao servio dos Duques de Hannover. Primeiro bibliotecrio, depois historigrafo da casa, foi incumbido pelos prncipes de Hannover dos mais variados encargos e foi o defensor terico da sua poltica. Numerosos escritos polticos foram com esse intuito compostos por ele. A sua obra maior neste campo a pesquisa histrica que empreendeu sobre as origens da casa de Braunschweig, que pretendia descender do prprio tronco dos Estc.,di. A fim de demonstrar com documentos a exactido desta genealogia, Leibniz viajou durante trs anos (1687-90) pela Alemanha e Itlia para consultar arquivos e descobrir documentos; mas essa viagem proporcionou-lhe tambm o ensejo de abordar cientistas e homens vrios e de nutrir a sua insacivel curiosidade cientfica. Mais conforme aos seus ideais foi o projecto, em que trabalhou longamente, de reunir a Igreja catlica protestante. Tambm este projecto lhe foi sugerido pelo interesse dos Duques de Hannover que, sendo catlicos, governavam no entanto um pas protestante. Leibniz manteve numerosa correspondncia com muitos homens da poca, e especialmente com Bossuet, que defendia o ponto de vista catlico. O projecto falhou, mas as tentativas feitas por Leibniz nesta ocasio revelavam o aspecto fundamental do seu pensamento, que o de tender a uma ordem universal na qual encontrem lugar e se harmonizem espontneamente os mais diversos pontos de vista. Esta mesma tendncia se revela nas suas tentativas de organizar na Europa uma espcie de 10 Repblica das cincias em que participassem, atravs das academias nacionais, os homens de cincia de toda a Europa. Em 1700, fundou em Berlim, segundo o modelo da sociedade de Paris e de Londres, uma sociedade das cincias que se tornou depois a Academia Prussiana. Em seguida, tendo sabido, atravs de padres missionrios e especialmente Grimaldi, do grande interesse que o imperador chins mostrava pelas cincias, bem como das tentativas realizadas por cientistas chineses, pensou tambm estabelecer contactos culturais com a China. Quando Pedro o Grande empreendeu a renovao cultural da Rssia, Leibniz tornou-se seu conselheiro e fez projectos para as instituies que deviam levar a Rssia a participar daquela organizao universal das cincias que Leibniz patrocinava. A pesquisa cientfica e filosfica constitua a actividade privada de Leibniz. Ela est quase toda consignada na sua vastssima correspondncia e em breves ensaios publicados nas revistas do tempo. Em 1684 publicava nos "Acta cruditorum" o Nova methodus pro maximis et minimis em que tornava conhecida a sua descoberta do clculo integral. Entretanto perseguia o seu ideal de uma cincia que contivesse os princpios e os fundamentos de todas as outras e determinasse os caracteres fundamentais comuns a todas as cincias e as regras da combinao delas. Os resultados que Leibniz alcanou restas tentativas encontram-se em vrios manuscritos, tais como
Mathesis universalis, Iitia mathenwtica, etc. Quase todos os escritos de Leibniz tm carcter circunstancial. Em 1681 comps o Discurso de metafsica, um breve ensaio, que todavia um documento importante do seu pensamento. Seguiram-se-lhe o Novo sistema da natureza e da comunicao das substncias (1695); os Princpios da natureza e da graa fundados na razo (1714); a Monadologia (1714), dedicada ao Prncipe Eugnio de Sabia, que ele conhecera em Viena; os Novos ensaios sobre o intelecto humano (1705), que uma crtica da obra de Locke. O nico livro publicado (em 1710) por Leibniz foi o Ensaio de teodiceia que teve o seu ponto de partida nas crticas expostas por Bayle no artigo Rorarius do seu Dicionrio histrico e crtico da filosofia. Leibniz nunca escreveu uma exposio completa e sistemtica do seu pensamento. Os seus ltimos anos foram os mais infelizes. Acumulara uma quantidade de cargos que lhe valiam lautas prebendas mas o distraam do trabalho de historigrafo a que o prncipe gostaria de o ver dedicar-se. Quando morreram as suas protectoras (a Rainha Sofia Carlota e sua me Sofia), impediram-no de sair de Hannover e procuraram humilh-lo de todos os modos. Quando morreu, a 14 de Novembro de 1716, era j uma figura esquecida. E no entanto conhece-se o local onde foi sepultado, Embora Leibniz tenha sido um filsofo de profisso, demonstrou nas mltiplas manifestaes da sua actividade um esprito sistemtico e universalista, que de natureza genuinamente filosfica. 12 Qualquer que fosse o problema particular considerado, logo ele o reconduzia a um princpio geral e reconhecido corno o elemento ou a expresso de um sistema universal. A sua filosofia no mais do que a tentativa de fundar e justificar a possibilidade de um tal sistema. 437. LEIBNIZ: A ORDEM CONTINGENTE E A RAZO ]PROBLEMTICA Todas as manifestaes da personalidade de Leibniz, tanto as cientficas e filosficas como as polticas e religiosas, deixam-se reconduzir a um nico pensamento central: o de uma ordem, no geometricamente determinada e por isso necessria, mas espontaneamente organizada e portanto livre. A ordem universal que Leibniz quer reconhecer e fazer valer em todos os campos no necessria (como a que constitua o ideal de Espinosa), mas susceptvel de se organizar e desenvolver-se do melhor modo, segundo uma regra no necessria. E, todavia, , como a de Espinosa, uma ordem matemtica ou geomtrica cujo contedo Leibniz exprimiu com toda a clareza no Discurso de metafsica ( 6): "Nada ocorre no mundo que seja absolutamente irregular nem se pode imaginar nada de semelhante. Suponhamos que algum marque por acaso num mapa uma quantidade de pontos: digo que possvel encontrar uma linha geomtrica cuja noo seja constante e uniforme segundo uma regra determinada e tal que passe por todos estes
13 pontos precisamente na ordem em que a mo a traou. E se algum traar um linha contnua, ora recta, ora circular, ora de outra natureza, possvel encontrar uma noo ou regra ou equao comum a todos os pontos desta linha, em virtude da qual as mutaes mesmas da linha vm a ser explicadas... Assim se pode dizer que fosse de que forma Deus tivesse criado o mundo, o mundo seria sempre regular e provido de uma ordem geral". Um conceito de ordem assim formulado exclui toda a rigidez e necessidade e inclui a possibilidade da liberdade, isto , da escolha entre vrias ordens possveis. Mas escolha no significa arbtrio, segundo Leibniz. Entre as vrias ordens possveis, Deus escolheu a mais perfeita, isto , a que ao mesmo tempo a mais simples e a mais rica de fenmenos. A escolha, portanto, regulada pelo princpio do melhor, isto , por uma regra moral e finalstica. Uma ordem que inclua a possibilidade de uma escolha livre e que seja susceptvel de ser determinada pela melhor escolha a ordem que Leibniz procurou reconhecer e realizar em todos os campos da realidade. As suas tentativas de criar uma organizao universal das cincias, como as de conciliar protestantismo e catolicismo, obedecem exigncia de tal ordem. A sua busca de uma cincia geral, de uma espcie de clculo que servisse para descobrir a verdade em todos os ramos do saber, nasce da exigncia de criar um rgo, um instrumento que permita descobrir e estabelecer aquela ordem em todos os campos. A prpria realidade fsica deve revelar tal ordem. "So precisos, diz Leibniz, fil14 sofos naturais que no s introduzam a geometria no campo das cincias fsicas (dado que a geometria carece de causas finais) mas tornem tambm manifesta nas cincias naturais uma organizao por assim dizer civil" (Lett. al Thonjasius, in Gerhadt, 1, p. 33). A prpria realidade fsica uma "grande repblica" organizada e nascida de um princpio de liberdade. A ordem, a razo do mundo, liberdade, segundo Leibniz. Deste ponto de vista evidente que para Leibniz a categoria fundamental para a interpretao Ja realidade no a necessidade, mas a possibilidade. Tudo o que existe uma possibilidade que se realizou: e realizou-se no em virtude de uma regra necessria ou sem qualquer regra, mas em virtude de uma regra no necessria e livremente aceite. O que quer dizer que nem tudo o que possvel se realizou ou se realiza e que o mundo dos possveis bastante mais vasto do que o mundo do real. Deus podia realizar uma infinidade de mundos possveis; realizou o melhor atravs de uma escolha livre, isto , segundo uma regra que ele prprio se imps pela sua sabedoria. O que existe no , portanto, como na doutrina de Espinosa, uma necessria manifestao da essncia de Deus, que deriva ,geometricamente de tal essncia, mas apenas o produto de uma escolha livre de Deus. Esta escolha, todavia, no arbitrria mas racional: tem a sua razo no facto de que a escolha melhor entre todas as possveis. Toda a filosofia de Leibniz tende a justificar estes princpios fundamentais. Ela portanto a pri15 meira grande tentativa para definir a razo como
razo problemtica e estabelecer como norma da razo, no a necessidade geomtrica, mas a obrigao moral. S no mbito da razo problemtica e da categoria da possibilidade se pode resolver o contraste que a crtica moderna ps em relevo na obra de Leibniz. Leibniz, por um lado, contraps o princpio de razo suficiente como princpio da ordem real livre ao princpio, de identidade que regula a ordem necessria das verdades eternas; por outro lado, efectuou repetidas vezes a tentativa de reconduzir o prprio princpio de razo suficiente ao princpio de identidade. Esta ltima tentativa parece primeira vista negar a aspirao fundamental de Leibniz, porquanto visa aparentemente a concluir que a ordem contingente e livre urna manifestao provisria e incompleta da ordem necessria. Leibniz seria assim, mau grado seu, reconduzido a Espinosa. Mas, na realidade, quando Leibniz diz que nas proposies idnticas o predicado imediatamente inerente ao sujeito ao passo que nas verdades contingentes esta inferncia s pode ser alcanada e demonstrada com uma anlise continuada at ao infinito (Couturat, p. 16), ele no pretende dizer outra coisa seno que a anlise das proposies contingentes (que concernem ordem real) pode ser prosseguida at ao infinito sem alcanar jamais a identidade. Como em geometria duas rectas se dizem paralelas quando se encontram no infinito, porque podem ser indefinidamente prolongadas sem nunca se encontrarem, assim as verdades contingentes dizem-se idnticas no infinito, porque 16 podem ser indefinidamente analisadas sem que se possa alguma vez demonstr-las -idnticas. O endereamento teolgico da sua doutrina conduzir Leibniz a sustentar que em Deus tal possibilidade se actualizou e que por isso lhe dado compreender a identidade analtica das verdades contingentes E, na verdade, a razo problemtica no pode ser seno humana, e no atribuvel a Deus. Uma das suas menos despiciendas vantagens , pelo contrrio, a de estabelecer uma diferena radical entre o conhecimento humano e o conhecimento divino; o esta diferena firmemente fundamentada pela filosofia de Leibniz 438. LEIBNIZ: VERDADE DE RAZO E VERDADE DE FACTO A obra de Leibniz visa portanto a justificar a possibilidade de uma ordem espontnea e de regras no necessitantes. O primeiro aspecto desta justificao a demonstrao de que ordem no significa necessidade. A necessidade, segundo Leibniz encontra-se no mundo da lgica, no no mundo da realidade. Uma ordem real nunca necessria. Tal o significado da distino leibniziana entre verdade de razo e verdade de facto. As verdades de razo so necessrias, mas no respeitam realidade. So idnticas, no sentido de que no fazem seno repetir a mesma coisa sem dizer nada de novo. Quando so afirmativas fundam-se no princpio de identidade (cada coisa aquilo que );
17 quando so negativas fundam-se no princpio de contradio (uma proposio verdadeira ou falsa). Este ltimo, por seu turno, implica duas enunciaes: a primeira que uma proposio no pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa; a segunda, que impossvel que uma proposio no seja nem verdadeira nem falsa (princpio do terceiro excludo). O prprio princpio de contradio rege, segundo Leibniz, as proposies disjuntas, as quais dizem que o objecto de uma ideia no o objecto de outra ideia (,por exemplo, homem e animal no so a mesma coisa). Todas as verdades fundadas nestes princpios so necessrias e infalveis mas nada dizem acerca da realidade existente de facto (Novos ensaios, IV, 2). Estas verdades no podem derivar da experincia e so portanto inatas. Leibniz ope-se negao total de todas as ideias ou princpios inatos, como o faz Locke ( 454). Decerto que as ideias inatas no so ideias claras e distintas, isto , plenamente conscientes: so antes ideias confusas e obscuras, pequenas percepes, possibilidades ou tendncias. So semelhantes aos veios que num bloco de mrmore delineiam, por exemplo, a figura de Hrcules, de modo que bastam algumas marteladas para arrancar o mrmore suprfluo e fazer surgir a esttua. A experincia realiza precisamente a funo de martelo: torna actuais, isto , plenamente claras e distintas, as ideias que na alma eram simples possibilidades ou tendncias. Mas as ideias inatas no puderam derivar da experincia porque tm uma necessidade absoluta que os conhecimentos 18 empricos no possuem. As verdades de razo delineiam o mundo da pura possibilidade que bastante mais vasto e extenso do que o da realidade. Por exemplo, muitos mundos seriam em geral possveis desde que a sua noo no implique nenhuma contradio: mas s um mundo real. E, evidentemente, nem todas as coisas possveis se realizam: se assim fosse, no haveria seno a necessidade e no haveria escolha nem providncia (Gerhardt. IV, p. 341). As verdades de facto so, ao invs, contingentes e concernem realidade efectiva. Elas delimitam, no vastssimo domnio do possvel, o campo bastante mais restrito da realidade em acto. Tais verdades no se fundam no princpio de contradio: o que quer dizer que o contrrio delas possvel. Fundam-se, ao invs, no princpio de razo suficiente. Este princpio significa que "nada se verifica sem uma razo suficiente, isto , sem que seja possvel, quele que conhece suficientemente as coisas, dar uma razo que baste para determinar que assim e no de outro modo" (Gerhardt, VI, p. 602). Mas tal razo no uma causa necessria: um princpio de ordem ou de concatenao pelo qual as coisas que ocorrem se ligam umas s outras sem todavia formarem uma cadeia necessria. um princpio de inteligibilidade que garante a liberdade ou contingncia das coisas reais. o princpio prprio daquela ordem que Leibniz se esforou constantemente por encontrar em todos os aspectos do universo: uma ordem que torne possvel a liberdade
de escolha. 19 Este princpio postula imediatamente uma causa livre do universo. De facto, convida-nos a formular esta pergunta: porque que h algo em vez de nada? Desde o momento em que as coisas contingentes no encontram em si prprias a sua razo de ser, necessrio que tal razo esteja fora delas e se encontre numa substncia que no seja, por sua vez, contingente mas necessria, isto , que tenha em si mesma a razo da sua existncia. E tal substncia Deus. Mas se alm disso se pergunta por que que Deus criou, entre todos os mundos possveis, este que assim e assim determinado, necessrio encontrar a razo suficiente da realidade do mundo na escolha que Deus fez dele e a razo de tal escolha ser que elo o melhor de todos os mundos possveis e que Deus devia escolh-lo. Mas este devia no significa aqui uma necessidade absoluta, mas o prprio acto da vontade de Deus que livremente escolheu em conformidade com a sua natureza perfeita. A razo suficiente, diz Leibniz, inclina, sem obrigar: ela explica o que acontece de modo infalvel e certo e todavia sem necessidade, porque o contrrio daquilo que acontece sempre possvel. O princpio de razo suficiente implica a causa final; e sobre este ponto Leibniz afasta-se decisivamente de Descartes e de Espinosa para se voltar para a metafsica aristotlico-escolstica. Se Deus criou este mundo por ser o melhor, agiu em vista de um fim e este fim a verdadeira causa da sua escolha. E se a ordem do universo uma ordem contingente e livre, deve fundar-se no fim que as 20 actividades contingentes e livros tendem a realizar. Mesmo o mecanismo da natureza deve por fim resolver-se no finalismo. 439. LEIBNIZ: A SUBSTNCIA INDIVIDUAL O princpio e razo suficiente conduz Leibniz a formular o conceito central da sua metafsica, o de substncia individual. Uma verdade de razo aquela em que o sujeito e o predicado so em realidade idnticos, onde no se pode negar o predicado sem contradio. No se pode dizer, por exemplo, que um tringulo no tenha trs lados e no tenha os ngulos internos iguais a dois rectos: tais proposies so contraditrias, portanto impossveis. Mas nas verdades de facto o predicado no idntico ao sujeito e pode mesmo ser negado sem contradio. O contrrio de uma verdade de facto no por isso contraditrio, nem impossvel. O sujeito dela deve portanto conter a razo suficiente do seu predicado. Ora um sujeito deste gnero sempre um sujeito real, uma substncia (desde o momento que se trate de verdades de facto). Ele aquilo que Leibniz denomina uma substncia individual. "A natureza de uma substncia individual ou de um ser completo tal que a sua noo to completa que basta para compreender e fazer deduzir dela todos os predicados do sujeito a que ela atribuda" (Disc. de met., 8). A noo individual de Alexandre Magno, inclui, por exemplo, a razo suficiente de todos
21 os predicados que se lhe possam atribuir com verdade, por exemplo, que venceu Dario e Poro, e at o conhecer a priori se ele morreu de morte natural ou envenenado. Naturalmente, o homem no pode ter uma noo to completa da substncia individual e por isso deduz da histria ou da experincia os atributos que se lhe referem. Mas Deus, cujo conhecimento perfeito, tem a capacidade de descobrir na noo de uma qualquer substncia individual a razo suficiente de todos os seus predicados, e por isso pode descobrir na alma de Alexandre os resduos de tudo o que lhe aconteceu, os sinais de tudo o que lhe acontecer e tambm os vestgios de tudo o que acontece no universo. Isto no quer dizer que uma substncia individual seja obrigada a agir de um certo modo, que por exemplo, Alexandre no possa deixar de vencer Dario e Poro; Csar, de passar o Rubico, etc. Estas aces podiam no acontecer, porque o contrrio delas no implica contradio. Mas era na realidade certssimo que teriam acontecido, dada a natureza das substncias individuais que as realizaram, porquanto tal natureza a razo suficiente delas. E, por seu turno, a natureza dessas substncias individuais tem a sua razo suficiente na ordem geral do universo querido por Deus. Tanto a escolha por parte de Deus daquela particular ordem do universo que requer substncias como Alexandre ou Csar, como as aces ou as escolhas de Alexandre, so livres: mas a escolha por parte de Deus de que as substncias individuais tenham em si mesmas a sua razo suficiente que as explica 22 e as torna inteligveis. Deus poderia ter escolhido um mundo diferente e Csar poderia no ter cometido aquela aco, mas a perfeio do universo teria sido afectada; e assim as coisas deviam passar-se tal como se passaram. Toda a doutrina de Leibniz sobre este ponto se apoia sobre a diversidade e contraste entre a conexo necessria que tem lugar nas verdades de razo (como as geomtricas), e a conexo contingente que estabelecida pelo princpio de razo suficiente e implica uma necessidade que s ex hypotesis (segundo a expresso de Leibniz), isto , puramente problemtica. "Se bem que seguramente Deus faa sempre a melhor escolha, isso no impede que algo menos perfeito seja e se mantenha possvel em si mesmo, embora no se verifique; porque no a sua impossibilidade mas a sua imperfeio que o faz ser rejeitado. Ora nada de que seja possvel o oposto, necessrio (Ib., 13). E no entanto evidente que esta doutrina, se justifica plenamente a liberdade da escolha de Deus, no justifica de igual modo a liberdade do homem. No Ensaio de teodiceia e em numerosas cartas, Leibniz defendeu longamente o seu conceito da liberdade negando que ele ponha termo necessidade. Decerto que ele exclui aquela liberdade de indiferena que poria o homem em equilbrio frente a possibilidades diversas e opostas. A ordem do universo exige que toda a substncia tenha uma natureza determinada e que esta natureza determinada seja a razo suficiente de todas as aces. E, na realidade, para Leibniz, a substncia indivi23 dual no mais que a razo suficiente na sua realidade. Mas o que torna incerta ou duvidosa a liberdade humana a certeza e a infalibilidade da previso divina. Por que razo, pergunta-se Leibniz, tal homem cometer necessariamente tal pecado? A resposta fcil: que, de contrrio, no seria o
homem que . Assim Deus prev infalivelmente a traio de Judas porque v, desde toda a eternidade, que haver um certo Judas cuja noo ou ideia contm aquela aco futura livre. Subsiste, portanto, o problema seguinte: porque que Deus criou o universo de cuja ordem faz parte integrante aquela determinada substncia, problema este que, segundo Leibniz, se deve resolver sustentando que o universo criado , apesar disso, o melhor possvel (Ib., 30). Ele remete assim o problema para o terreno puramente teolgico; e a um dos seus correspondentes, Jaquelot, que apertava com ele sobre este ponto, acabou por responder que as suas objeces eram dirigidas a todos os telogos, "j que o decreto de Deus no s para mim a causa eficaz e antecedente das aces, mas para todos eles". E acrescentava: "Tal como eu, todos responderam que a criao das substncias e o concurso de Deus para a realidade da aco humana, que so os efeitos do seu decreto, no constituem uma determinao necessria" (Gerhadt, VI, p. 568). Na realidade, sobre este ponto Leibniz fazia uma clara distino entre o ponto de vista de Deus e o ponto de vista dos homens. Do ponto de vista de Deus, certo e infalvel que todas as escolhas e aces humanas procedem da substncia individual, 24 LEibniz mas do ponto de vista do homem no existe tal certeza. As determinaes de Deus nesta matria so imprevisveis e nenhuma alma sabe que determinada a pecar seno quando peca efectivamente. As queixas post factum, diz Leibniz, so injustas, ao passo que teriam sido justas ante factum. "Talvez esteja fixado desde toda a eternidade que eu peque? Respondeis vs: talvez no. E sem pensar no que no podeis conhecer e que no pode darvos nenhuma luz, agis segundo o vosso dever, que conheceis" (Disc. de met., 30). Por outros termos, o homem no possui a noo suficiente e completa da sua prpria substncia individual e portanto no pode descobrir nela a razo suficiente das suas aces seno depois de as ter praticado; de sorte que ele no pode ter qualquer certeza antecipada sobre elas. Para Deus que v plenamente a substncia individual, as aces futuras desta so certas, mas certas apenas em virtude de um decreto seu, portanto no necessrias. A garantia da liberdade humana est, segundo Leibniz, na diversidade e incomunicabilidade do ponto de vista humano com o ponto de vista divino; e, conquanto Leibniz queira ser ao mesmo tempo filsofo e telogo e parta da filosofia para chegar teologia, a soluo que ele apresenta no oferece teologicamente nada de novo relativamente por exemplo ao tomismo, mas nova a sua interpretao do princpio de razo suficiente. Em virtude deste princpio, a escolha que o homem faz de uma aco qualquer no arbitrria porque tem a sua razo na natureza mesma do homem, mas no determinada, porque essa razo no neces25
sria. A fora da soluo de Leibniz reside na energia com que contraps ordem geomtrica a ordem moral e ao determinismo da razo cartesiana e espinosana a problematicidade e a obrigatoriedade moral da razo suficiente. 440. LEIBNIZ: FORA E NONISMO A natureza no constitui para Leibniz uma excepo ao carcter contingente e livre da ordem universal. Esta convico que dominou sempre o esprito de Leibniz levou-o a modificar pouco a pouco as doutrinas fsicas que expusera no seu escrito juvenil intitulado Hypothesis physica nova. Neste escrito ainda admitia a diferena que Descartes estabelecera entre a extenso e o movimento e bem assim, tal como Gassendi, a constituio atmica da matria quando chegou a formular uma das suas grandes mximas, como ele lhe chama, ou seja, a lei de continuidade, o princpio de que "a natureza nunca d saltos". Segundo este princpio, deve admitir-se que, para passar do pequeno ao grande ou vice-versa, necessrio passar atravs de infinitos graus intermdios e que, por consequncia, o processo de diviso da matria no pode deter-se em elementos indivisveis, como seriam os tomos, mas tem de progredir at ao infinito. Em seguida, deixou de ver na extenso e no movimento, que eram os elementos da fsica cartesiana, os elementos originrios do mundo fsico e viu, ao invs, o elemento originrio na fora. Aconteceu isto quando se con26 venceu de que o princpio cartesiano da imutabilidade da quantidade de movimento era falso e que era necessrio substitu-lo pelo princpio da conservao da fora ou aco motora. Aquilo que permanece constante nos corpos que se encontram num sistema fechado no a quantidade de movimento mas a quantidade de aco motora que igual ao produto da massa pelo quadrado da velocidade. A aco motora ou fora viva representa a possibilidade de produzir um determinado efeito, por exemplo levantar um peso, e isso implica uma actividade ou produtividade, a qual se exclui do movimento que a simples translaco no espao. Leibniz considera por isso a fora como bastante mais real do que o movimento. O movimento no real por si mesmo, como no so por si mesmos reais o espao e o tempo, que devem antes ser considerados entes de razo. O movimento relativo aos fenmenos uma simples relao, a fora a realidade deles (Specimen dynamicum, Escritos matemticos, VII, p. 247). Nos seres corpreos, diz Leibniz, h algo para alm da extenso, e mesmo anterior extenso: a fora da natureza, colocada em toda a parte pelo autor supremo, e que no consiste apenas numa simples faculdade, como diziam os escolsticos, mas tambm num conatus ou esforo, o qual ter o seu pleno efeito se no for impedido por um conatus contrrio... O agir o carcter essencial das substncias, e a extenso no determina a substncia mesma, seno que indica a continuao ou difuso de uma substncia j dada, a qual tende e se ope, ou seja, resiste" (Ib., VI, p. 325). 77 Deste modo, o nico elemento real do mundo natural a fora. A extenso e o movimento, que eram os princpios fundamentais da fsica cartesiana so por Leibniz, se no negados, reduzidos a um princpio ltimo que ao mesmo tempo fsico e metafsico: a fora. Leibniz aceita o mecanismo cartesiano apenas como explicao provisria, que necessita ser integrada por uma explicao fsico-metafsica mais alta. "Devo declarar inicialmente, diz ele (Gerhardt, IV, p. 472), que, em meu parecer, tudo acontece mecanicamente na natureza e que para dar uma explicao exacta e completa de qualquer fenmeno particular (como por exemplo do peso ou da elasticidade), bastam as noes de figura ou de movimento. Mas os princpios fundamentais da mecnica e as leis do movimento nascem, a meu
ver, de algo de superior, que depende mais da metafsica do que da geometria e que no se pode atingir com a imaginao, se bem que o esprito o possa conceber perfeitamente". A fora precisamente aquele superior princpio metafsico que funda as prprias leis do mecanismo. Leibniz distingue a fora passiva que constitui a massa de um corpo e a resistncia que o corpo ope penetrao e ao movimento, e a fora activa, a verdadeira e genuna fora, que conatus ou tendncia para a aco. Esta fora activa compara-a Leibniz entelquia aristotlica. Mas evidente que a prpria massa material, reduzida a fora passiva, j no nada de corpreo. De modo que o ltimo resultado das indagaes fsicas de Leibniz a resoluo do mundo fsico num princpio que nada tem de 28 corpreo. A interpretao leibniziana do mecanismo anula o prprio mecanismo. O elemento constitutivo do mecanismo, reconhecido na fora, revela-se-lhe de natureza espiritual. O dualismo cartesiano de substncia extensa e de substncia pensante negado e o universo totalmente interpretado em termos de substncia espiritual. No h verdadeiramente extenso, corporeidade, matria no universo: tudo esprito e vida, porque tudo fora. Assim, para Leibniz, o mundo da fsica, embora reconhecido nas suas leis mecnicas, transforma-se num mundo espiritual, e, portanto, numa ordem contingente e livre. 441. LEIBNIZ: A MNADA Leibniz devia portanto chegar a reconhecer que o nico o elemento ltimo que entra na composio tanto do mundo do esprito como do mundo da extenso. No Discurso de metafsica de 1686 elaborara o conceito de substncia individual referindo-se sobretudo individualidade humana. Como se disse, a substncia individual o prprio princpio lgico da razo suficiente elevado a entidade metafsica, ou seja, a elemento constitutivo de uma ordem contingente e livre. Nesse escrito ( 12) Leibniz tinha, na verdade, atentado na exigncia de que tambm os corpos fsicos possuam em si mesmos uma "forma substancial" que correspondia substncia individual humana, mas no tinha levado mais longe a sua analogia. Cerca de 1696, comea a introduzir a palavra e conceito de mnada. A aqui29 sio deste termo assinala o momento em que Leibniz teve a possibilidade de estender ao mundo fsico o seu conceito de ordem contingente e unificar portanto o mundo fsico com o mundo espiritual numa ordem universal livre A mnada um tomo universal, uma substncia simples, sem partes, e por isso privada de extenso e de figura, e indivisvel. Como tal, no se pode desagregar e eterna; s Deus pode cri-la ou anul-la. Todas as mnadas so diferentes entre si: no h na natureza dois seres perfeitamente iguais que no sejam caracterizados por uma diferena interior. Leibniz insiste neste princpio que ele denomina da identidade dos indiscernveis. Duas coisas no podem diferir s local ou temporalmente, mas necessrio que exista entre elas uma diferena interna. Dois cubos iguais s existem em matemtica, no na realidade. Os
seres reais diversificam-se pelas qualidades interiores; e mesmo que a diversidade deles consistisse apenas nas diferentes posies que ocupam no espao, esta diversidade de posio transformar-se-ia imediatamente numa diferena de qualidades internas e portanto deixaria de haver uma simples diferena extrnseca (Couturat, p. 8-10). Na sua individualidade irredutvel, a mnada implica tambm a mxima universalidade. Toda a mnada constitui de facto um ponto de vista sobre o mundo e por isso todo o mundo de um determinado ponto de vista. Este carcter de universalidade que no Discurso de metafsica ( 14) foi j 30 esclarecido pelo que respeita substncia individual humana, agora extensivo a todas as mnadas. Nenhuma mnada todavia comunica directamente com as outras: ela no tem janelas atravs das quais qualquer coisa possa sair ou entrar. As mutaes naturais das mnadas derivam apenas de um princpio interno. E uma vez que todas as mutaes se do gradualmente, na mnada qualquer coisa muda e qualquer coisa permanece. H portanto nela uma pluralidade de estados ou de relaes, embora no haja partes. Cada um destes estados, que representa uma multiplicidade como unidade, uma percepo, termo que Leibniz distingue da apercepo ou conscincia que prpria da alma racional. O princpio interno que opera a passagem de uma percepo a outra a apetio (Mon., 11-15). Os graus de perfeio das mnadas so determinados pelos graus das suas percepes. H uma diferena fundamental entre Deus (que tambm uma mnada) e os mundos criados, pois estes representam o mundo apenas de um determinado ponto de vista, enquanto que Deus o representa de todos os possveis pontos de vista e neste sentido a mnada das mnadas. Mas entre Deus e as mnadas criadas, que o so pela sua natureza finita, h uma diferena ulterior e que as mnadas criadas no concebem a totalidade do universo com o mesmo grau de clareza. As percepes das mnadas so sempre de algum modo confusas, semelhantes s que se tm quando se cai num estado de delquio ou de sono. As mnadas puras e simples so as 31 que possuem apenas percepes confusas deste gnero, ao passo que as mnadas dotadas de memria so as que constituem as almas dos animais e as providas de razo constituem os espritos humanos. Leibniz admite por isso, ao contrrio de Descartes e dos cartesianistas, que os animais tm uma alma, se bem que no idntica dos homens e capaz apenas de estabelecer entre as percepes uma conCatenao que imita a razo, mas que permanece distinta dela. (Ib., 26). Mas tambm a matria constituda de mnadas. Ela no verdadeiramente nem substncia corprea nem substncia espiritual mas antes um agregado de substncias espirituais, como um rebanho de ovelhas ou um monte de vermes. Precisamente por isso infinitamente divisvel. Mas os seus elementos ltimos nada tm de corpreo, so tomos de substncia ou pontos metafsicos, como se poderiam chamar as mnadas (Gerhardt, IV, p. 483). "Cada poro de matria pode ser concebida como um jardim de plantas ou como um lago cheio de peixes. Mas cada ramo de planta, cada membro de animal e todas as gotas dos seus humores so ainda um jardim ou um lago do mesmo gnero" (Mon., 67).
Leibniz chama Matria segunda matria entendida deste modo, como agregado de mnadas, enquanto que chama matria prima potncia passiva (fora de inrcia ou de resistncia) que existe nas mnadas e que constitui a mnada juntamente com a potncia activa ou entelquia (Gerhardt, 111, p. 260-61). Nas mnadas superiores, 32 que so os espritos ou almas humanas, a potncia passiva ou matria prima o conjunto das percepes confusas, que constituem aquilo que h de propriamente finito, isto de imperfeito, nas mnadas espirituais criadas. Leibniz observa a propsito que, de um ponto de vista rigorosamente metafsico, considerando como aco o que sucede substncia espontaneamente e a partir do seu prprio fundo, cada substncia no faz seno agir, dado que nela tudo provm de si mesma depois de se ter originado em Deus e ela na realidade no sofre a aco de nenhuma outra substncia. Mas acrescenta que, considerando como aco um exerccio de perfeio e como paixo o contrrio, no h aco nas substncias seno quando a percepo delas se desenvolve e se torna. mais distinta; e no h paixo se no quando se torna mais confusa (Novos Ensaios, 11, 21). De sorte que nas mnadas espirituais as percepes confusas correspondem ao que inrcia ou impenetrabilidade das mnadas corpreas, isto , aquilo que Leibniz chama matria prima. As percepes confusas indicam, diz Leibniz, a nossa imperfeio, as nossas afeces, a nossa dependncia para com o conjunto das coisas externas ou da matria, enquanto a perfeio, a fora, o domnio, a liberdade e a aco da alma consistem nos nossos pensamentos distintos. Todavia, no fundo, os pensamentos confusos no mais que uma so
multiplicidade de pensamentos em si mesmos iguais e distintos, mas to pequenos que cada um separadamente no excita a nossa ateno nem dis33 tinguvel (Gehrardt., IV, p. 574). Assim as percepes confusas so reconduzidas quelas pequenas percepes de que Leibniz se servira para justificar a presena inata no esprito de verdade daquilo de que ele no plenamente consciente. O corpo dos homens e dos animais , segundo Leibniz, matria segunda, isto , agregado de mnadas. Este agregado mantido e dominado por uma mnada superior e que a verdadeira alma (mnada dominante.) Mas, no obstante no haver entre o corpo, que agregado de mnadas, e a alma, que a mnada dominante, diversidade substancial ou metafsica porque entre umas e as outras existe apenas uma diferena nos graus de distino das respectivas percepes, Leibniz admite todavia que o corpo e a alma seguem leis independentes. Os corpos, diz Leibniz, actuam entre si segundo leis mecnicas, ao passo que as almas actuam segundo as leis da finalidade. E no h modo de conceber a aco da alma sobre o corpo ou do corpo sobre a alma, uma vez que no se pode explicar de nenhum modo como as variaes corpreas, isto , as leis mecnicas, fazem nascer uma percepo ou como da percepo pode derivar uma
mudana de velocidade ou de direco dos corpos. Cumpre concluir, portanto, que a alma e o corpo seguem cada um as suas leis separadamente, sem que as leis corporais sejam perturbadas pelas aces da alma ou que os corpos encontrem janelas para introduzir na alma o influxo deles (Gerhardt, HI, p. 340-41. Surge ento o problema de entender o acordo da alma com o corpo. 34 442. LEIBNIZ: A HARMONIA PREESTABELECIDA Neste problema se resolve o problema mais geral da comunicao recproca entre as mnadas que constituem o universo. Todas as mnadas, de facto, so perfeitamente fechadas em si mesmas, sem janelas, isto , sem possibilidade de comunicarem directamente umas com as outras. Ao mesmo tempo cada uma est ligada outra, pois cada uma um aspecto do mundo, isto , uma representao mais ou menos clara de todas as outras mnadas. As mnadas so como diversas vistas de uma mesma cidade e como tais se conjugam para constituir a vista total e complexa do universo, que plenamente expressa e reassumida na mnada suprema que Deus. Mas, embora cada mnada represente o universo inteiro, ainda representa mais distintamente o corpo que se lhe refere particularmente e de que constitui a entelquia, e visto que tal corpo, constitudo por mnadas, exprime todo o universo, assim alma, ao representar-se-lhe o corpo que lhe pertence, se lhe representa ao mesmo tempo o universo inteiro (Mon., 62). Deste modo, * problema da comunicao entre os mundos vem * configurar-se na forma particular que ela tinha assumido na filosofia cartesiana, como problema da relao entre a alma e o corpo. Leibniz distingue trs possveis solues para tal problema. Se se compara a alma e o corpo a dois relgios, o primeiro modo de explicar o acordo entre eles o de admitir a influncia recproca de um sobre 35 o outro. esta a doutrina da filosofia vulgar que se choca contra a incomunicabilidade das mnadas e a impossibilidade de admitir um influxo entre duas substncias cujas aces obedeam a leis heterogneas. A segunda maneira de explicar o acordo a que Leibniz chama assistncia, e que prpria do sistema das causas ocasionais: dois relgios mesmo maus, podem manter-se em harmonia um com o outro desde que um hbil operrio cuide deles a cada instante. Segundo Leibniz, este sistema incorre no erro de introduzir um Deux ex machina num facto natural e ordinrio, no qual Deus no deve intervir seno do mesmo modo em que concorre para todos os outros factos da natureza. Resta ento s a terceira maneira, que supor que os dois relgios tenham sido construdos com tanta arte e perfeio que trabalhem de acordo para todo o sempre. Esta a doutrina da harmonia preestabelecida sustentada por Leibniz. Segundo ela, a alma e o corpo seguem cada um as suas prprias leis mas o acordo estabelecido previamente por Deus no acto de estabelecer tais leis. O corpo seguindo as leis mecnicas e a alma seguindo a sua
prpria espontaneidade interna esto a cada instante em harmonia, e esta harmonia foi preestabelecida por Deus no acto da criao (Gerhardt, IV, p. 500-501). A doutrina da harmonia preestabelecida o desfecho e a concluso derradeira da filosofia de Leibniz, se bem que no seja (como muitas vezes se sustentou) o seu pensamento central e aninia36 dor. Para tal doutrina o corpo orgnico (dos animais ou do homem) uma espcie de mquina divina ou de autmato espiritual cujas manifestaes no sofrem qualquer influncia dos actos espirituais. s pela harmonia preestabelecida, diz Leibniz, que na alma do co entra e dor quando o seu corpo atingido (lb., IV, p. 531). Por outro lado, a vida da alma desenvolve-se com perfeita espontaneidade desde o seu interior. Ela uma espcie de sonho bem arquitectado no qual as percepes se sucedem em virtude de uma lei que est inscrita na prpria natureza da mnada e que Deus estabeleceu no acto da sua criao. Leibniz chega mesmo a dizer que at a alma uma espcie de autmato imaterial (Ib., IV, p. 548). Ele tem, portanto, de defender um inatismo total: a mnada ,inteiramente inata em si mesma, j que nada pode receber do exterior. No s as verdades de razo e os princpios lgicos em que ela assenta so inatos, mas tambm as verdades de facto e mesmo as sensaes nascem somente do fundo das mnadas: do seu fundo obscuro, constitudo pelas pequenas percepes que se tornam gradualmente, pelo menos em parte, distintas (1b., V. p. 16). A mnada sai assim das mos de Deus completa na sua natureza e determinada, posto que no necessariamente, em todos os seus pensamentos e em todas as suas aces. Leibniz chama s mnadas fulguraes contnuas da divindade, limitadas, a cada momento, pela receptividade da criatura, qual essencial o ser limitada. 37 443. LEIBNIZ: DEUS E OS PROBLEMAS DA TEODICEIA A filosofia de Leibniz, rematando no sistema da harmonia preestabelecida, torna-se neste ponto especulao teolgica. E em tal especulao, Leibniz acolhe os temas tradicionais da teologia, a comear pelas provas da existncia de Deus, que ele elabora a seu modo, e concluindo com um estudo dos problemas inerentes a toda a teologia: o problema da liberdade e da prodeterminao, e o problema do mal. Em primeiro lugar, Leibniz elabora uma das provas tradicionais da experincia de Deus, prova que ele define a posteriori. Ela a terceira entre as enumeradas por Toms de Aquino na Summa theologica e precisamente deduzida da razo entre o possvel e o necessrio. Leibniz formula esta prova recorrendo ao princpio de razo suficiente. Deus, diz ele, a primeira razo das coisas, visto que as coisas limitadas, como so todas as que vemos e experimentamos, so contingentes e no tm em si nada que torne necessria a sua existncia. Cumpre portanto procurar a razo da existncia do mundo; e h que procur-la na substncia que traz em si a razo da sua existncia e que por isso necessria e eterna. Se existe s um mundo entre inmeros mundos todos igualmente possveis e todos com uma pretenso existncia, a razo suficiente de tal no pode ser seno um intelecto que tem as ideias de todos os mundos possveis e uma vontade que
escolhe um deles; o intelecto 38 e a vontade de Deus. A potncia da substncia divina torna portanto eficaz a vontade (Teod., 1, 7*, Mon. 37-39). Deus ao mesmo tempo a razo suficiente do mundo que existe de facto e a razo suficiente de todos os mundos possveis. Mesmo as puras possibilidades devem de algum modo assentar em algo de real ou de actual: assentam na existncia do ser necessrio, cuja essncia implica a existncia ou a que basta ser possvel para ser actual. Deus deste modo no s a fonte de toda a realidade, mas tambm a das essncias e das verdades eternas (Mon., 43-44). Estas ltimas todavia no dependem da vontade divina, como Descartes sustentara, mas apenas do intelecto divino de que so o objecto interno. As verdades de facto, que concernem s existncias reais, dependem pelo contrrio da vontade divina (lb., 46). Em segundo lugar, Leibniz elaborou o argumento ontolgico de Sto. Anselmo, utilizando o seu conceito de possvel. forma cartesiana do argumento ontolgico, Leibniz ope que possvel deduzir a existncia (como perfeio) do conceito de um ser que possua todas as perfeies, s depois que se demonstrou que o conceito deste ser possvel (isto , privado de contradies internas) (Gerhardt, IV, p. 274 segs.). De sorte que, na realidade, aquele argumento no pode inferir da perfeio de Deus a sua existncia mas deve inferir da possibilidade de Deus a sua existncia. E esta a forma verdadeira do argumento, segundo Leibniz. "S Deus, ou o ser necessrio, tem este privilgio: que, se possvel, necessrio que exista. 39 E, visto que nada pode impedir a possibilidade daquilo que no implique algum limite, alguma negao, portanto alguma contradio, isso s basta para reconhecer a priori a existncia de Deus" (Mon., 45). Em Deus portanto possibilidade e realidade coincidem: tal , segundo Leibniz, o significado da necessidade da sua natureza. Desde que seja reconhecido possvel, deve ser reconhecido existente; e no h dvida de que pode e deve ser reconhecido possvel, dada a total ausncia de limitaes intrnsecas que o caracterizam. Os problemas da teodiceia so considerados por Leibniz luz daquela regra do melhor que ele considera como a norma fundamental da aco divina e por isso da ordem do mundo. Leibniz distingue em Deus uma vontade antecedente que quer o bem em si e uma vontade consequente que quer o melhor. Como efeito desta vontade consequente, Deus quer aquilo que em si no bem nem mal, e at o mal fsico como meio para alcanar o melhor, e permite o pecado com o mesmo fim. A vontade permissiva de Deus com respeito ao pecado por conseguinte uma consequncia da sua vontade consequente, quer dizer da sua escolha do melhor. Por outros termos, Deus escolheu o melhor entre todos os mundos possveis, o que contm a mnima parte de mal. A sua vontade a causa positiva das perfeies que este mundo contm, mas no quer positivamente o pecado. Desde o momento em que o pecado faz parte da ordem do mundo, ele permite-o; mas esta vontade 40
permissiva no o torna responsvel por ele (Teod., 1, 25). Viu-se j como Leibniz no sustenta que a predeterminao divina, e a prescincia que condio dela, anulem a liberdade humana. Os motivos tradicionais que por tal razo retoma, assumem ressonncias novas s em virtude do princpio fundamental que inspira toda a sua especulao: o de que a ordem do universo contingente e livre. Criada por um acto livre da divindade, a ordem do universo conservada e desenvolvida pela liberdade das mnadas espirituais nas quais melhor se ,reflecte e reconhece a substncia divina. O princpio de razo suficiente, sobre o qual assenta a ordem do mundo, conduz Leibniz a ver esta ordem orientada segundo o melhor, que o fim da vontade divina e da humana. A prodeterminao divina, agindo por meio da vontade que tende para o melhor, no por isso necessitante mas propendente; e a escolha do melhor por parte das criaturas permanece livre e responsvel. So sem dvida reais as dificuldades que Bayle, Jaquelot e outros contemporneos, e depois deles inmeros crticos, encontraram na teologia de Leibniz. Mas a teologia, se ponto de chegada da especulao de Leibniz, no toda a sua filosofia. E, indubitavelmente, o princpio inspirador da sua filosofia, como de toda a sua obra poltica, histrica, jurdica e de toda a sua vida, a liberdade da ordem universal. Leibniz procurou realizar na sua filosofia a justificao da atitude que assumiu constantemente frente aos problemas de todo o 41 gnero que teve de defrontar no curso da sua vida: a atitude de quem quer promover e fundar no mundo humano, semelhana do que reconhece em todo o universo, um conjunto de actividades que livremente se encontrem, se limitem e acabem por encontrar uma pacfica coordenao. NOTA BIBLIOGRFICA 436. A primeira grande edio das obras de Leibniz a Opera omnia ao cuidado de L. Dutens, 6 vol., Genebra, 1768.-So fundamentais: Die philosophische Schriften, editados por G. J. Gerhardt, 7 vol., Berlim, 1875 (cit. no texto: Gerhardt) e Die mathematische Schrifen, ao cuidado do mesmo Gerhardt, 7 vol., Berlim e Halle, 1848-63 (cit. no texto: Escritos matemticos). So notveis os fragmentos publicados por L. COUTURAT, Opuscules et fragments indits, Paris, 1903 (Cit. no texto: Couturat). Obras polticas: Historisch-politische und staatswissenschaftlichen Schrifen, ao cuidado de O. Mopp, 11 vol., Hannover, 1864-84. A Academia Prussiana das Cincias iniciara a publicao completa dos escritos de Leibniz; saram seis vol. desta edio, os quais compreendem: o epistolrio geral at 1680 (Srie I, vol. 1.1-3.1): o epistol&rlo filosfico at 1685 (S5,rie II, vol. 1.o); os escritos polticos at 1685 (Srie IV, vol. l.,); parte dos escritos filosficos at 1672 (Srie VI, vol. 1.o).
Entre as edi. parciais, so notveis: La Monadologie, ao cuidado de E. Boutroux, 13.a ed., Paris, 1930; Discours de mthaphysique, ao cuidado de IL Lestienne, Paris, 1929. trad. it. da Monad. por E. Colorni, Florena, 1935 (contm tambm uma boa antologia leibniziana); Lettres de L. a Arnauld, ed. 42 G. Lewis, 1952; Correspondance L.-Clarke, ed. R<>binet, Paris, 1957. Outras trad. italianas: Nuovi Saggi, de E. Cecchi, 2 vol., Bari, 1910-11; Discorso di metafisica, de G. E. Bari, 1938; Scritti poltici e di diritto naturale, de V. Mathieu, Turim, 1951; Saggi filosofici e jettere, de V. Mathicu, Bari, 1963. 437. Sobre a formao de Leibniz: W. Y.ABITZ, Die philosophie des jungen L., Heide51berg, 1909. Sobre a actividade poltico-religiosa de Leibniz: BARUzi, L. e rorganization religieuse de Ia terre, Paris, 1.907. Sobre a obra histrica: DAVILL. L. historien, Paris, 1909; W. CONZE, L. aIs historiker, Berlim, 1951. Sobre as relaes com Espinosa: STEIN, L. und Spinoza, Berlim, 1830; G. FRIEDMANN, L. et Spinoza, Paris, 1946. Sobre as relaes com Malebranche: A. RoBINET, L. et Malebranche. Relations personnelles, Paris, 1955. Monografias fundamentais: G. E. GUMANER, G. W. Freiherr von L., 2.1 ed., Breslvia, 1846; K. nsCHER, Gesc. der neuren Phil., IU, L. ed., Heidelberg, 1920; B. Rij.SSFL, A critical exposition of the Phil. of L., Cambridge, 1900, 1937; Cagsirer, L. s System in seinen ~senschaftlichen GrundIagen, Marburg, 1902; COUTURAT, La logique de L., Paris, 1901; 1. PAPE, L., Stocearda, 1949; R. M. YOST, L. and Philosophical AnaIysis, Berkeley and Los Angeles, 1954. Entre os escritos italianos: CARLOTT, Il sistema di L., Messina, 1923; OLGIATI, Il significato storico di L., 1929; BARIR, La spiritualit dellIessere e L., Pdua, 1933; DEL BoCA, Finalismo e necessit in L., Morena, 1936; GALIMBERTI, L., Contro Spinoza, Benevagienna, 1941, G. GALLI, Studi sulla fi7. di L., Pdua, 1948; A. CORSANo, L., Npoles, 1952, G. PRETI, 11 cristianosimo universale di L., Milo, 1953. 440. Sobr.- as relaes entre matemtica e filosofia; MOHNKE; Leibnizens Synthese von Universalmathematik und Individualmetaphysic, Halle, 1925. 43 VIII VICO 444. VICO: VIDA E OBRA Depois de Leibniz, Vico representa a segunda grande afirmao da razo problemtica no
mundo moderno. Leibniz explicara e interpretara em termos de razo problemtica toda a realidade fsica e metafsica; Vico interpreta em termos de razo problemtica o mundo da histria. As personalidades e as doutrinas dos dois filsofos so diferentes e independentes uma da outra, mas a inspirao fundamental delas comum e as obras de ambos so complementares, de modo que se torna historicamente significante a sua vizinhana cronolgica. Joo Baptista Vico nasceu em Npoles a 24 de Junho de 1668. Estudou filosofia escolstica e direito. Durante nove anos (1689-95) foi preceptor dos filhos do marqus Rocca no castelo de Vatolla 45 no Cilento, onde, utilizando a rica biblioteca do marqus, adquiriu a maior parte da sua cultura. Regressado a Npoles em 1699, obtm a cadeira de retrica naquela universidade; mas em seguida (1723) aspirou debalde a obter uma ctedra de jurisprudncia, que teria melhorado muito a sua situao e teria sido mais consoante com a natureza dos seus estudos. Viveu assim uma vida pobre e obscura entre as restries financeiras e o ambiente familiar, pouco propcio ao recolhimento e ao estudo. Assente em 1720 a primeira ideia da sua obra fundamental nela trabalhou tenazmente at morte, fazendo-lhe incessantemente correces e acrescentos. Teve, durante a sua vida, escassos e raros reconhecimentos; a originalidade e complexidade do seu pensamento em relao cultura italiana do seu tempo, a pesada e catica erudio com que sobrecarregou a sua obra, fizeram que s numa poca relativamente recente lhe fosse conferido o lugar que lhe est reservado na histria do pensamento. Morreu em Npoles a 23 de Janeiro de 1744. Com o seu ensino se prendem as cinco Oraes inaugurais, das quais a mais importante a intitulada De nostri temporis studiorum ratione de 1708. Em 1710 prepara-se para dar expresso sistemtica ao seu pensamento numa obra intitulada De antiquissima Italorum sap@*entia ex finguae latinae originibus eruenda. Esta obra que devia resultar de trs livros, respectivamente dedicados metafsica, fsica e moral, resultou de facto apenas do primeiro porque os outros no chegaram a ser escritos. Nela Vico 46 procura remontar, atravs da histria de algumas palavras latinas, s doutrinas dos primeiros povos itlicos (os Jnios e os Etruscos), povos estes que transmitiram essas palavras lngua latina. E apresenta por isso a sua metafsica como a verdadeira metafsica daquelas antiqussimas populaes itlicas. A um artigo crtico aparecido no "Giornale dei letterati", Vico responde com um opsculo polmico intitulado Risposta al giornale dei letterati (1711); e resposta do jornal replicou com uma Seconda risposta (1712). Em 1716 Vico publicou uma obra histrica De rebus gestis Antonii Caraphei, escrita a pedido do duque Adriano Carafa. E em 1720 deu estampa o escrito que a primeira formulao das ideias da cincia nova: De uno universi juris principio et fine uno, qual fez seguir De constantia jurisprudentis. Em 1725 publicava a primeira
edio da sua obra fundamental Principi di una scienza nuova intorno alla comune natura dele nazioni e a Autobiografia. Em seguida reescrevia inteiramente a Cincia Nova (1730) e desta segunda edio no difere substancialmente a outra que viu a luz em 1744, alguns meses depois da sua morte. 445. VICO ENTRE OS SCULOS XVII E XVIII O ponto de partida explcito de Vico a crtica da filosofia cartesiana; mas, na realidade, a obra de Vico encontra as suas razes na cultura filosfica do sculo XVII, que ele conheceu atravs das 47 derivaes e discusses que suscitava no ambiente napolitano do seu tempo. Na Autobiografia, Vico indicava os quatro grandes autores que inspiraram o seu pensamento. Em primeiro lugar, Plato e Tcito porque "com uma mente metafsica incomparvel, Tcito contempla o homem tal qual como , Plato tal qual deve sem, de modo que ambos lhe deram a primeira ideia de uma "histria ideal eterna de acordo com a qual decorresse a histria universal de todos os tempos". Depois, Francisco Bacon que lhe teria dado a ideia da complexidade e riqueza do universo cultural e da exigncia de descobrir as leis deste universo. E enfim Grcio, que o levara a compreender as leis desse mundo dos homens que permanecera estranho a Bacon. Mas estes quatro autores constituem sobretudo pontos de referncia simtrica do quadro da filosofia de Vico na sua plena maturidade, nada dizem sobre as fontes que inspiraram os traos caractersticos desta filosofia ou que contriburam para os formar. Ora precisamente por estes traos que a obra de Vico se liga cultura filosfica do sculo XVII. O conceito de uma razo experimentadora e problemtica cujo domnio seja o provvel e no s o necessrio encontrava-se em Gassendi ( 417) e encontrou a sua codificao na obra de Locke. A contraposio do engenho, como faculdade inventiva, lgica um tema humanstico renascentista vivssimo no sculo XVII e que se pode reencontrar nos prprios pensadores de Port-Royal. A identidade do verdadeiro e do facto como critrio do conhecimento autntico uma noo 48 extrada de Hobbes ( 405), que, por sua vez, a tinha provavelmente extrado de Gassendi. A metafsica de De antiquissima, que Vico refere a Zeno de Eleia, inspira-se em certas formas do neoplatonismo do sculo XV11; e a noo de Deus como motor da mente humana, que surge repetidas vezes na mesma obra, claramente extrada de Malebranche. Por outro lado, embora imerso na cultura do sculo XVII, Vico chega a alguns resultados fundamentais que o ligam ao sculo seguinte. Ele no tem decerto nada da audcia inovadora dos iluministas. O seu pensamento poltico-religioso est ancorado no passado e apresenta-se com um intento declaradamente conservador. A mesma caracterstica teortica da sua filosofia que quer o certo, isto , o peso da autoridade da tradio, mostra-nos que nele h a busca de um equilbrio que estranho ao pensamento iluminista. Mas liga-o todavia a este pensamento em primeiro lugar o
carcter limitativo da sua gnoseologia, e a prpria polmica contra a razo cartesiana, que recusava ou parecia recusar toda a limitao, um tema fundamental do iluminismo. A reconduo da poesia o do mito esfera das emoes; a declarada irredutibilidade desta esfera do pensamento, a importncia dela na determinao dos caracteres humanos e das formas do costume, so elementos de doutrina que, no sculo XVII, por obra dos iluministas, deviam levar ao reconhecimento do sentimento como forma autnoma da vida espiritual 49 e do gosto como critrio de juzo dos objectos inerentes a esta forma. Finalmente, o conceito da histria de Vico, como curso progressivo de eventos que conduz, ou deve conduzir, "razo completamente esclarecida", liga-se estreitamente concepo histrica do iluminismo, se bem que Vico, diversamente deste, no renuncie linguagem teolgica. 446. VICO: O VERDADEIRO E O FALSO O ponto de partida de Vico a polmica contra Descartes. Descartes tinha a pretenso de reduzir todo o conhecimento evidncia racional, isto , razo necessria ou geomtrica. Vico considera tal pretenso impossvel. H certezas humanas fundamentais que no se deixam reconduzir evidncia e demonstrao. Descartes resolve todas as certezas vlidas na necessidade da razo geomtrica. Vico defende a autonomia e a validez do certo frente ao verdadeiro. E, de facto, manifestaes humanas fundamentais como a retrica, a poesia, a histria e a prpria prudncia que rege a vida, no se fundam nas verdades geomtricas, mas s no verosmil. O verosmil a verdade problemtica, aquilo que est no meio entre o verdadeiro e o falso: o mais das vezes verdadeiro, excepcionalmente falso: mas a sua caracterstica que no implica uma garantia infalvel de verdade (De nostri temp., 3). Esta problematicidade faz do verosmil a verdade 50 humana por excelncia. Ser um vo empreendimento querer introduzir mediante o mtodo geomtrico uma garantia infalvel de verdade no domnio dos conhecimentos respeitantes ao homem. Afora os nmeros e as medidas, diz Vico, todas as outras matrias so insusceptveis de mtodo geomtrico. O prprio pedantismo do mtodo que, quando aplicado no seu domnio particular, opera sem se fazer sentir, demonstra a sua ineficincia. Conhecer clara e distintamente mais vcio do que virtude do intelecto humano quando se passa do campo das matemticas para o campo da metafsica (Prima risp. al Giorn. dei Lett., 3). O fundamento desta ltima o provvel. Porque a filosofia nunca serviu seno para fazer as naes "geis, vigilantes, capazes, agudas e reflexivas, onde os homens fossem nas aces dceis, pontos, magnnimos, engenhosos e avisados"; e isto no o pode ela conseguir se no se valer do provvel, que o fundamento "de todas as artes e disciplinas
do honesto, do cmodo e do prazer humano". Por isso o "apangio dos filsofos" o provvel, como o dos matemticos o verdadeiro; e o ter querido inverter esta obra e reconduzir a filosofia verdade demonstrativa das matemticas foi s causa de dvida e de desordem (Seconda risp. al Giorn. dei Lett., 4). razo cartesiana, rgo da verdade demonstrativa, contraps Vico o engenho, que a faculdade de descobrir o novo; e crtica, a nova arte cartesiana fundada na razo, contrape Vico a tpica, que a arte que disciplina e dirige o procedimento inventivo do 51 engenho. O engenho tem tanto mais fora produtiva e inventiva em relao razo quanto menos capacidade demonstrativa e certeza apodctica possui relativamente a ela (De ratione, 5; De antiquissiina, 4). A exposio da gnoseologia no De antiquissima assenta inteiramente na anttese entre conhecimento divino e conhecimento humano. A Deus pertence o entender (intelligere) que o conhecimento perfeito de todos os elementos que constituem o objecto. Ao homem pertence o pensar (cogitare), o ir recolhendo fora de si alguns dos elementos constitutivos do objecto. A razo, que o rgo do entender, pertence verdadeiramente a Deus; o homem apenas participe dela. Deus e o homem s podem conhecer com verdade aquilo que fazem: porque as palavras verum e factum tm em latim o mesmo significado. Mas o fazer de Deus criao de um objecto real; o fazer humano criao de um objecto fictcio, que o homem engendra recolhendo do mundo, @por meio da abstraco, os elementos do seu conhecer. Em Deus as coisas vivem, no homem perecem (De antiq., 1, 1). O conhecimento humano nasce assim de um defeito da mente humana, isto , do facto de que ela no contm em si os elementos de que as coisas procedem e no os contm porque as coisas esto fora dela. Este defeito converte-se todavia em vantagem, pois o homem procura mediante a abstraco os elementos das coisas que originariamente no possui e dos quais depois se serve para reconstruir as prprias coisas em imagem. O princpio de que o verdadeiro e o facto se 52 identificam e que se pode conhecer tanto quanto se faz, portanto um princpio que, segundo Vico, restringe o conhecimento humano a Emites assaz estreitos. O homem no pode conhecer o mundo da natureza que, sendo criado por Deus, s pode ser objecto do conhecimento divino. Pode conhecer, pelo contrrio, com verdade o mundo da matemtica, que um mundo de abstraces por ele prprio criado. O homem nem sequer pode conhecer o seu prprio ser, a sua prpria realidade metafsica. O erro de Descartes est em t-lo considerado possvel. O cogito a conscincia do prprio ser, no a cincia dele. A conscincia pode tambm pertencer ao ignorante: a cincia o conhecimento verdadeiro fundado nas causas. Ora, o homem no conhece a causa do seu prprio ser porque ele prprio no essa causa: ele no se cria a si mesmo. O cogito cartesiano seria princpio de cincia s no caso em
que o meu pensamento fosse a causa da minha existncia: o que no , visto que eu sou composto de esprito e corpo e o pensamento no causa do corpo. E nem sequer causa da mente. Se eu fosse apenas corpo, no pensaria; se fosse apenas mente, tambm no pensaria porque teria, como Deus, a inteligncia: a unio do corpo e da mente portanto a causa do pensamento. E o pensamento apenas um sinal e no a causa do facto de que eu sou mente (lb., 1, 3). Descartes quis por outros termos erigir em verdade racional e em princpio de todas as outras verdades um puro facto de conscincia no susceptvel de ser transformado em verdade. O intuito que move Vico nesta crtica 53 negativo e limitativo: tende a restringir o conhecimento humano aos limites que lhe so prprios e a reconhecer-lhes aquela validez que em tais limites lhe cabe. Por isso Vico observa que Descartes deveria ter dito no j "eu penso, logo sou", mas "eu penso, logo existo 1". A existncia o modo de ser prprio da criatura: significa estar a ou ter surgido ou estar sobre e supe a substncia, isto , tudo o que a sustm e encerra a sua essncia (Prinia @isp. al Giorn. dei Lett., 3). Entre o conhecimento do homem e o conhecimento de Deus h portanto o mesmo desvio que entre a existncia e a substncia que a rege. 447. VICO: A NOVA CINCIA Reconduzida pelo princpio da identidade do verdadeiro e do real aos seus limites prprios, o conhecimento humano revela-se capaz de investigar uma certa ordem de realidade e incapaz frente a outras ordens. Ele impotente ante o mundo da natureza e ante o prprio homem como parte deste mundo, porque a natureza obra divina. Mas est-lhe aberto o mundo das criaes humanas. Em De antiquissinw Vico restringira o mundo da criao humana s abstraces da matemtica, apresentando 1 Uma vez que esta a traduo corrente do clebre Bilogismo cartesiano, a observao de Vico parece no ter sentido em portugus. O leitor no entanto restituir imediatamente esse sentido abstraindo dessa evidncia curiosa. (N. do T.). 54 uma tese j exposta por Hobbes no De homine (1658). Mas na Cincia nova ele reconhece como objecto prprio do conhecimento humano, enquanto obra humana, o mundo da histria. No mundo da histria o homem no substncia fsica e metafsica, mas produto e criao da sua prpria aco, de modo que este mundo o mundo humano por excelncia, aquele que decerto foi feito pelos homens e cujos princpios eles podem e devem procurar no prprio homem. Mas considerada a esta luz a histria no uma desligada sucesso de eventos: deve ter em si uma ordem fundamental, qual o desenrolar dos acontecimentos tende ou aponta como ao seu significado final. A tentativa que o homem tem visto sempre frustrar-se, a de descobrir a ordem e as leis da natureza, s pode ser efectuada com xito no mundo da
histria, uma vez que s este verdadeiramente obra humana. Vico quer ser o Bacon do mundo da histria e efectuar relativamente a este mundo a obra que Bacon realizara com respeito ao mundo da natureza. A cincia nova de Vico nova precisamente no sentido em que instaura uma indagao do mundo histrico que tem por objecto revelar a ordem e as leis deste mundo. Mas nova apenas como reflexo sobre a histria, visto que a reflexo nasce apenas de um certo ponto e um post factum relativamente histria. Num outro sentido, ela antiqussima e nasceu com o homem e com a sua vida social "As doutrinas, diz Vico (S. N., degn., 106) devem comear a partir do momento em que comeam as matrias de que tratam." Ela comeou 55 de facto a partir do momento em que os homens comearam a pensar humanamente, e no quando os filsofos comearam a reflectir sobre as ideias humanas (1b., p. 186). Como humano pensar, a cincia que Vico chamou nova a sabedoria originria da qual derivam todas as cincias e artes que formam a humanidade e o homem mesmo no prprio ser do homem. (lb., p. 198). Nesse sentido, acompanha ela toda a histria humana e constitui-a essencialmente: de sorte que se verifica nela do modo mais rigoroso a identidade do verdadeiro e do real: o prprio homem, que pensa a histria, que a faz. As fases da histria so intrinsecamente caracterizadas pela menor ou maior clareza daquele humano pensar que a acompanha e que passa a constituir as suas manifestaes mais salientes: os costumes e o direito, o governo, a lngua, etc. 448. VICO: A Histria IDEAL ETERNA O ponto de partida da histria e da meditao histrica de Vico a situao originria do homem: "0 homem desesperado de todos os socorros da natureza, deseja uma coisa superior que o venha salvar" (S. N., p. 182). Vico assume assim o ponto de partida do pensamento religioso. De superior natureza e ao homem s existe Deus. O homem tendo por isso a sair do seu estado de queda para s-. dirigir para uma ordem divina: ele efectua um conato, um esforo, para se subtrair desordem dos impulsos primitivos. Ora a filosofia deve aju56 d-lo neste esforo mostrando-lhe como ele deve ser: indicando-lhe como meta a "repblica. de Plato" e impedindo-o de cair na "degradao de Rmulo", isto , no estado bestial. Vico indicou assim o marco inicial e o marco final da existncia histrica do homem. Ao considerar o termo final, a cincia da histria surge a Vico como "teologia civil e racional da providncia divina", isto , a demonstrao de uma ordem providencial que vai actuando na sociedade humana medida que o homem se subtrai sua queda e sua misria primitiva. A histria move-se no tempo, mas tende a uma ordem que universal e eterna. Os homens deixam de ser movidos pelos seus impulsos primitivos para buscarem as suas convenincias particulares; mas mesmo sem o pretenderem explicitamente ou at contra a sua vontade, a "grande cidade do gnero humano" vai-se definindo como meta geral da
histria. A grande cidade do gnero humano a comunidade humana na sua ordem ideal, aquilo que a vida associada do homem deve ser na sua realizao final. luz dela a sucesso temporal adquire o seu verdadeiro significado. Ao mero reconhecimento do facto substitui-se a valorizao; ao foi, , ser sucede-se o devia, deve, dever; sucede-se a necessidade ideal pela qual, entre as muitas direces que o curso cronolgico dos factos podia assumir, uma s a que ele devia assumir para realizar a ordem da comunidade ideal. s uma, na srie dos possveis, a alternativa que deve verificar-se (1b., p. 185). Mas esta necessidade ideal no uma necessidade de facto que anule 57 a possibilidade das outras alternativas. A histria ideal eterna, que a ordem e o significado universal da histria, no se identifica nunca com a histria no tempo. Esta decorre segundo aquela. "Segundo a histria ideal eterna, diz Vico, decorrem no tempo as histrias de todas as naes nos seus surtos, progressos, estados, decadncias e fins". Ela a substncia que rege a histria temporal, a norma que permite ajuizar. Neste sentido o dever ser da histria no tempo; mas um dever ser que no anula a problematicidade de tal histria, a qual pode tambm no adequar-se a ela e no alcanar o termo que ela indica. Isto quer dizer que a histria ideal eterna transcendente relativamente histria particular das naes. Esta transcendncia no exclui a relao, antes a implica; mas tratase da relao entre a condio e o condicionado, entre o dever ser e o ser, entre a norma e aquilo que se deve erigir em norma. Por isso Vico reconhece o antecedente do seu pensamento na obra de Plato. A repblica platnica a norma para a constituio de um estado ideal, o termo final a que a histria deve tender. Vico exproba a Plato o ter ignorado o estado de queda dos homens e o "ter elevado as brbaras e rudes origens da humanidade pag ao estado perfeito das suas sublimes cogitaes". Reprova, assim, a Plato o ter fixado a sua ateno na meta final da histria humana, no seu trmino transcendente, e no j no seu ponto inicial, na realidade de facto da qual ela parte. Por isso pretende aliar o ensinamento de Plato ao de Tcito e pode considerar todo o 58 desenvolvimento ideal da histria como o projecto que vai da humanidade decada e dispersa humanidade restituda ordem da "razo inteiramente esclarecida". Pondo o vinho novo em velhas pipas, Vico descreve este curso progressivo valendo-se da velha ideia de uma sucesso de idades e fala de uma idade dos deuses, de uma idade dos heris e de uma idade dos homens. Vico atribui esta diviso das idades humanas ao erudito romano Marco Terncio Varro, que a teria exposto na sua grande obra Rerum divinarum et humanarum libri, que se perdeu; na realidade, porm, foi exposta pela primeira vez por Plato no Crtias (109 b segs.), que reduzira assim a diviso das cinco idades estabelecidas por Hesodo. Em Vico, todavia, este velho conceito apresenta-se com o sinal mudado: para os antigos a sucesso das idades constitua a ordem da decadncia ou do regresso, estando a perfeio no princpio; para Vico, essa sucesso uma ordem progressiva. Alm disso, a diferena entre as diversas idades no tem um fundamento histrico-mtico, como para os antigos, mas sim antropolgico: cada idade marcada, segundo Vico, pela prevalncia de uma particular faculdade humana sobre as outras. Neste sentido, a cincia nova, como doutrina da histria ideal eterna, considerada tambm por Vico como "uma histria das
ideias humanas sobre a qual parece haver de prosseguir a metafisica da mente humana": ela vem a ser a determinao do desenvolvimento intelectual humano desde as rudes origens at "razo inteiramente esclarecida" e, inclui uma 59 "crtica filosfica" que mostra a origem das ideias humanas e a sua sucesso. Este um dos pontos-chave da doutrina de Vico. De facto, a histria no tempo pode correr sobre a linha da histria ideal porque tem em si, como fundamento e norma de todas as suas fases, uma relao com ela: com a totalidade dela e no apenas com aquela parte que se refere ou corresponde fase em acto. Por isso, seja qual for a fase de desenvolvimento da histria temporal, seja a divina da humanidade rude e bestial, seja a herica, seja a humana da reflexo inteiramente esclarecida, o que impede a imobilidade, a disperso e a morte da comunidade humana a relao com a ordem total da histria eterna. Histria que, precisamente por ser eterna, no tem partes no se distribui na sucesso cronolgica de um modo tal que a um perodo desta sucesso corresponda uma fase s dela. Ela uma ordem transcendente, uma norma divina, que sustm o homem desde os primeiros passos incertos da sua vida temporal. O que constitui a diferena entre as vrias fases desta vida temporal portanto apenas a modalidade da relao, ou seja, a forma espiritual por que o homem se apercebe dela. E a este propsito Vico estabelece o seu aforismo fundamental: "Os homens primeiro sentem sem se aperceberem, depois apercebem-se com nimo conturbado e comovido, finalmente reflectem com a mente pura". De sorte que os homens comeam por se dar conta daquela histria ideal eterna, que a norma e o dever ser da sua histria, sob a forma de um obscuro sentir; tm, assim, um con60 fuso pressentimento dela e s por ltimo chegam a pens-la distintamente. 449. VICO: AS TRS IDADES DA HISTORIA E A SABEDORIA POTICA O que provocou a sada do homem do estado bestial e portanto o incio da vida civilizada e da histria o obscuro sentimento da ordem providencial da histria eterna. A sabedoria primitiva dos homens no tem nada de racional, no tem a clareza da verdade demonstrada: uma simples certeza obtida sem nenhuma reflexo. um juzo comummente sentido por toda uma ordem, por todo um povo, por toda uma nao ou por todo o gnero humano, juzo que o senso comum das naes (S. N., 12). Antes que a ordem providencial resplandecesse claramente como verdade na reflexo dos filsofos, ela foi uma certeza humana, testemunhada pelo senso comum e garantida pela autoridade. Assim a cincia nova tambm uma filosofia da autoridade, a qual esclarece a conscincia que o homem tem da ordem providencial antes de alcanar a cincia dela. Como filosofia da autoridade, a cincia nova no pode prescindir do auxlio da filologia, que precisamente a considerao
da autoridade e da cincia do certo (lb., 10). Reconhecido o senso comum como guia da existncia social anteriormente ao nascimento da reflexo filosfica, deve admitir-se que o que julgado justo por todos 61 ou pela maioria dos homens deve ser a regra da vida social. Este critrio vale como um limite s pretenses da reflexo filosfica, da filosofia em sentido estrito. Estes devem ser, adverte Vico (1b., p. 191-192), os confins da razo humana. "E quem queira fugir a eles, veja se no foge a toda a humanidade". A primitiva sabedoria do gnero humano foi uma sabedoria potica. Os homens que fundaram a sociedade humana eram "estpidos, insensatos e horrveis bichos" sem nenhum poder de reflexo, mas dotados de fortes sentidos e de robustssima fantasia. Eles imaginaram e sentiram nas foras naturais que os ameaavam divindades terrveis e punidoras, por temor das quais comearam a refrear os impulsos bestiais, criando as famlias e as primeiras disposies civis. Constituram-se assim as repblicas monsticas, como Vico lhes chama, dominadas pela potestade paterna e fundadas no temor de Deus. Foi esta a idade dos deuses. Iniciada a vida das cidades, as repblicas passaram a ser dominadas pela classe aristocrtica, que cultivava as virtudes hericas da Piedade, da prudncia, da temperana, da bravura e da magnanimidade. Os homens ainda faziam derivar a sua nobreza de Deus, a fantasia prevalecia ainda sobre a reflexo. esta a idade herica. Em seguida, da metafsica sentida ou fantasiada passa-se metafsica reflectida. A relao com a ordem providencial da histria eterna assume a forma da reflexo, que visa a buscar a ideia do bem que deve servir de base a um acordo entre todos os homens. a 62 fase em que nasce a filosofia platnica, empenhada em encontrar no mundo das ideias a conciliao dos interesses privados e o critrio de uma justia comum (lb., p. 949, 104243). A filosofia nasce assim na idade dos homens e a ltima e mais madura manifestao daquela sabedoria originria, daquele humano pensar, daquela metafsica natural que a estrutura mesma da existncia histrica. evidente que para Vico a histria ideal no um modelo que as comunidades humanas adoptam para todo o sempre, piorando-o, mas sim uma ordem que se revela na sua clareza medida que as prprias comunidades evoluem e cuja revelao antes a norma do seu desenvolvimento. Por isso as anlises de Vico no versam nem sobre a histria ideal eterna, nem sobre a histria no tempo, consideradas separadamente, mas sobre a relao entre uma e outra, visto que na relao apenas a primeira se revela e vale como ordem providencial e a segunda se afirma e realiza como histria propriamente humana. Vico deu a mxima extenso na Cincia Nova ao estudo da sabedoria potica, que o produto da sensibilidade e da fantasia dos homens primitivos. Ele afirmou a independncia da sabedoria potica em relao reflexo, isto , razo ou ao
intelecto. Visto ser a sua base a fantasia, a sabedoria potica essencialmente poesia: poesia divina porque o transcendente, visto atravs da fantasia, toma corpo em todas as coisas e em toda a parte faz ver a divindade. Poesia que criao, e criao sublime, porque perturbadora em excesso, e, por conse63 guinte, fonte de emoes violentas; mas criao de imagens corpreas, no como a divina, de coisas reais. Elemento primeiro e fundamental de tal criao a linguagem que nada tem de arbitrrio porque nasceu naturalmente da exigncia que tm os homens de se entenderem entre si: exigncia que primeiro se satisfaz com "actos mudos", isto , com gestos, depois com objectos simblicos, depois com sons, e, finalmente, com palavras articuladas. A poesia exprime portanto a natureza do primitivo mundo humano. Ela no "sabedoria restabelecida", no contm verdades intelectuais revestidas ou camufladas por imagens, uma vez que um modo primitivo, sim, mas autnomo, de entender a verdade, de testemunhar o transcendente. Ela procura entender a realidade dando vida e sentido s coisas inanimadas, procura testemunhar o transcendente escolhendo como matria prpria o "impossvel crvel" e cantando os prodgios e as magias; procura reportar-se ordem providencial "representando o verdadeiro na sua ideia ptima" e assim supondo completa aquela justia, que nem sempre a histria realiza, por obra de uma divindade que atribui prmios ou castigos segundo os mritos. Assim Vico reconheceu o valor autnomo da poesia e a sua independncia em relao a toda actividade intelectual ou raciocinante. Esta tese devia revelar-se fecunda com o desenvolvimento do pensamento esttico setecentista que a far sua. Na maior poesia de todos os tempos, a de Homero, viu Vico a obra annima e colectiva do povo grego na idade herica, quando todos os homens eram 64 poetas pela robustez da sua fantasia e exprimiam nos mitos e nos contos fabulosos as verdades que eram incapazes de pr a claro pela reflexo filosfica. Mas a poesia extinguese e decai, segundo Vico, medida que a reflexo prevalece nos homens, porquanto a fantasia, que lhe d origem, tanto mais robusta quanto mais dbil o raciocnio e os homens se afastam daquilo que sensvel e corpreo medida que se tornam capazes de formular conceitos universais. Isto acontece tanto no desenvolvimento do homem particular como na histria da humanidade. Dante, que criou a maior poesia da nao italiana, pertence, ele tambm a uma poca de barbrie e precisamente de "barbrie restabelecida", como o foi a Idade Mdia. Mas para Vico a sabedoria potica no seno um modo de testemunhar, embora de uma forma obscura e fantstica, aquela ordem providencial, aquela histria ideal eterna, que a norma da existncia histrica. A reflexo filosfica transforma o modo de testemunhar aquela ordem: f-lo resplandecer como verdade racional e com isso torna-o objecto de filosofia. Mas a filosofia no pode suplantar por completo a religio porque as suas mximas racionais sobre a virtude tm bastante menor eficcia sobre o homem do que a religio, a qual faz sentir imediatamente ao homem a realidade da ordem eterna e o
empenho em agir em conformidade com ela. "As religies, diz Vico, s o so verdadeiramente quando mediante elas os povos realizam obras virtuosas por meio dos sentidos, os quais eficazmente levam os homens a agir. 65 450. VICO: A Providncia O "primeiro princpio incontestado" da cincia nova o de que os homens apenas criaram o mundo das naes. Por outro lado, este mundo no se pode entender seno em relao ordem providencial, histria ideal eterna. Vico chama monsticos ou solitrios os filsofos que tornam impossvel entender o mundo da Histria. Tais so Epicuro, Hobbes e Maquiavel, segundo os quais as aces humanas se verificam ao acaso; e tais so os Esticos e Espinosa que admitem o facto. Tanto * acaso como o facto tornam impossvel a Histria: * acaso exclui a ordem, o facto a liberdade. A ordem providencial garante, segundo Vico, uma e outra coisa. O mundo das naes, diz ele, "saiu de uma mente amide diferente, por vezes totalmente contrria e sempre superior a esses fins particulares que esses homens se tinham proposto; * esses fins restritos, tornados meios para servirem * fins mais amplos, sempre os empregou para conservar a gerao humana nesta terra" (S. N., p. 1048). Assim, do impulso da libido nasceram os matrimnios e as famlias; da ambio imoderada dos chefes nasceram as cidades; do abuso da liberdade dos nobres para com os plebeus nasceram as leis e a liberdade popular. A providncia dirige para os fins da conservao e da justia da sociedade humana as aces e os impulsos aparentemente mais ruinosos. Mas a aco d providncia no uma interveno externa, com vista a corrigir miraculosamente as aberraes e os erros dos homens. Se 66 assim fosse, o nico verdadeiro agente da histria seria a providncia, isto , Deus mesmo, no o homem. A doutrina de Vico exclui decerto que a histria ideal com a sua ordem providencial seja transcendente relativamente histria temporal no sentido de lhe ser externa e estranha e de a dirigir de fora. Por outro lado, exclui igualmente, que a histria ideal eterna seja imanente histria temporal humana e que a ordem desta seja garantida em todos casos por aquela. Se assim fosse, o curso
dos acontecimentos humanos deveria necessariamente modelar-se pela sucesso ideal das idades; e uma vez mais, a nica verdadeira protagonista da histria humana seria a providncia divina. Tal providncia no pode pois ser entendida como uma necessidade racional intrnseca aos acontecimentos histricos, como uma razo impessoal que age em cada homem, promovendo as suas aces. Neste caso, o reproduzir-se da histria ideal eterna na histria particular de cada nao seria necessrio e uniforme; nenhuma histria particular poderia afastar-se de uma linha da sucesso providencial das idades que prpria daquela. O prprio Vico condenou tal hiptese: ela o facto racional dos Esticos e de Espinosa. Na realidade, se Vico negou a transcendncia como miraculosa interveno da providncia nos eventos histricos, afirmou e defendeu todavia a transcendncia no sentido em que o significado ltimo da histria (a sua substncia e a sua norma) est continuamente para alm dos eventos particulares, de que os homens so os autores. A providncia transcendente como substanciali67 dade de valores que sustm os eventos no seu curso ordenado, portanto como norma ideal a que o curso dos acontecimentos nunca se adequa perfeitamente. Mas a providncia transcendente todavia presente ao homem, que s pela relao com ela logra subtrair-se sua queda, fundar o mundo da Histria e conserv-lo. E presente ao homem primeiro sob a forma da sabedoria potica, isto , de um obscuro mas certeiro pressentimento, depois sob a forma da sabedoria reflexa, isto , da verdade racional e filosfica. Mas quer como sabedoria potica, quer como sabedoria reflexa, a sabedoria humana essencialmente religiosa, porque se refere a uma ordem transcendente e divina; e assim se explica a apaixonada defesa que, na concluso da Cincia nova, Vico faz da funo civil da religio. Se enquanto tem por objecto a transcendncia da ordem providencial, a cincia nova uma "teologia civil e racional da providncia divina", enquanto tem por objecto a presena normativa daquela ordem na histria humana, ela uma "histria das ideias humanas, atravs da qual parece dever prosseguir a metafsica da mente humana." 451. VICO: A PROBLEMATICIDADE DA Histria A doutrina de Vico da relao entre a histria ,ideal eterna e a histria temporal e a dos recursos so imediatos corolrios, do seu conceito de providncia. 68 A presena da ordem providencial na conscincia dos homens serve para dirigir esta conscincia mas no a determina. Os homens permanecem livres embora conhecendo, obscura ou claramente, o termo para que se dirige o devir da sua histria. Por isso a histria temporal de cada nao pode tambm no seguir o curso normal da histria ideal. E Vico admite que existem naes que se ficaram pela idade brbara, outras que pararam na herica, no alcanando nunca o seu desenvolvimento completo; e at no mundo do seu tempo, que, segundo ele afirma, atingira a sua completude, assinala a
existncia de naes brbaras ou precariamente, civilizadas, o que quer dizer que a humanidade se ficou aqui e ali nos seus estdios primitivos. Em compensao, a histria doutros povos chegou de golpe idade ltima, como sucedeu Amrica, pela descoberta que dela fez a Europa. S os Romanos "caminharam com justos passos, deixando-se regular pela Providncia" e tiveram todos os trs estdios segundo a sua ordem natural. Nem mesmo o refluxo da histria, isto , o voltar a um perodo anterior, necessrio. Atingido o estdio perfeito, a ameaa da decadncia impende s naes. Quando as filosofias caem no cepticismo e, em consequncia disso, os estados populares que neles esto assentes se corrompem, as guerras civis agitam as repblicas e lanam-nas numa desordem total. Para tal desordem h trs grandes remdios providenciais. O primeiro o estabelecer-se um monarca pelo qual a repblica se transforma em monarquia absoluta. O segundo 69 a sujeio a naes mais aptas. o terceiro, que intervm quando os dois primeiros se revelem ineficazes, ou seja, impossveis, o reasselvajar os homens, o seu retorno dureza da vida primitiva que os dispersa e ceifa at que o escasso nmero de homens que restam e a abundncia das coisas necessrias vida tornem possvel o renascimento de uma ordem civil, de novo fundada na religio e na justia (S. N., p. 1044-47). A histria recomea ento o seu ciclo. Mas evidente que a corrupo e a decadncia das naes, assim como a repetio dos acontecimentos histricos, so privadas de qualquer necessidade. Isso depende apenas dos homens; e, conquanto seja um risco sobre eles impendente, a possibilidade de ele se verificar puramente problemtica. evidente que, se a ordem providencial fosse imanente histria humana, se esta coincidisse e constitusse um todo com a histria eterna, a sucesso das trs idades, a decadncia das naes e o seu refluxo histrico, no poderiam faltar na histria de nenhuma nao particular. Alm disso, no prprio acine de uma nao dever-se-iam encontrar os elementos e as causas da sua decadncia necessria, enquanto que Vico sustenta que a Europa crist atingiu no seu tempo uma civilidade completa, que a sabedoria crist garante e que no inclui nenhuma ameaa de decadncia (1b., p. 1030). Alm disso, se assim no fosse, Vico teria considerado intil meditar e escrever a Cincia Nova. A obra pretende "auxiliar a prudncia humana, onde ela se verifique, para que as naes que esto 70 a decair, ou no se arruinem ou no se apressem para a sua runa" (1b., p. 1053). Ele quer pr os homens frente alternativa de serem a forma ou a matria da histria. A matria da histria constituda pelos homens que no tm nem conselho prprio nem virtude prpria, que buscam somente as suas convenincias e no so capazes de constncia. Eles
reduziriam o mundo das naes ao caos de que falam os poetas telogos, " vida bestial e insana quando esta terra era uma infame selva de animais". A forma e a mente do mundo das naes constituda pelos homens que podem aconselhar ou defender-se a si e aos outros, que se empenham na aco ou na tarefa que escolhem, e assim concorrem para a harmonia e beleza .Ias repblicas (1b., p. 1056-57). A estes poucos vem em auxlio a ordem providencial com a religio e as leis, assistidas pela fora das armas, fora que aceite e dirigida pelos fortes, sofrida pelos dbeis, que so contidos mau grado seu, para que no dissolvam a sociedade humana. Vico entende assim toda a sua obra como visando a tornar claro o que ele denomina o "a encruzilhada de Hrcules" frente qual as naes, uma vez ou outra, vm a encontrar-se: a alternativa da sua perda ou da sua conservao. Vico no podia nem devia portanto admitir a ideia do progresso necessrio. O progresso necessrio implica o enriquecimento contnuo da histria humana em virtude de uma sua racionalidade necessria: implica que na histria nada erro, decadncia, mal, mas tudo encontra o seu lugar e 71 o seu valor positivo: implica que ela seja justificadora, no justiceira. Mas para Vico a histria e deve ser justiceira. Para Vico h nela sempre a possibilidade da queda e do erro, porque tal possibilidade est na natureza do homem, que o protagonista da Histria. Por isso admite que na Histria possa haver e possam ter-se dado paragens temporneas ou definitivas, perdas irreparveis, decadncias sem renascimento. Toda a sua doutrina se recusa ao optimismo do progresso inevitvel e inspira-se no princpio de uma razo problemtica que, atravs do homem e pelo homem, abre caminho, na Histria. NOTA BIBLIOGRFICA 444. A primeira ed. completa das obras de Vico a de Giuseppe Ferrari, em 6 vol., Milo, 1835-37; 2.1 ed. 1852-54. A melhor -a publicada na coleco "Seritori d'Italia" do editor Laterza di Bari. Ela compreende, val. 1, 1914, Oraz. inaugurali, De studzorum, De antiquissima e polemica cal Giornale dei Letterati; vai. 11, 1936; Diritto universale, vol. IU, 1931; Scienza Nuava prima; vol. IV, 1928; Seienza Nuova seconda; vol. V, 1929, Autobiografia, Carteggi, Poesie varie; vol. VI, 1940, Scriti vari e pagine sparse. Da Scienza Nuova h a ed. comentada por F. Nicolini, em 3 vol., Bari, 1910-16, que a citada no texto. Outras ed.: Seienza nuava e opere scelte, ao cuidado de N. Abbagnano, Utet, 1952; Opere, ao cuidado de P. Nicolini, Milo-Npoles, 1953; Opere, ao cuidado de P. Rossi, Milo, 1959. Sobre a vida e o tempo de Vico: F. NiCOLINI, La giovinezza di G. B. Vico, Bari, 1932; Uomini di spada
72 di chiesa di toga di studio ai tempi di V., Milo, 1942; Saggi vichiani, Npoles, 1955; Commento storico alla seconda scienza nuov, vol., 2, Roma, 1940-50. 445. Sobre as relaes entre Vico e a cultura da poca: N. BADALONI, Introduzione a V., Milo, 1961. Estudos principais: MICHELET, Discours sur le systme et Ia vie de V., 1827; FERRARI, La mente di V., nova ed., Lanciano, 1916; CATTANEO, Sula Scienza Nuova di V., in "Politwnico", 1839; CANTONi, G. B. V., Turim, 1867; WERNER, G. B. V., aIs Philosoph und Gelehrter Forscher 'Viena, 1879; FLINT, V., Edimburgo, 1885; CROCE, La fil. di V., Bari, 1911, 3.a ed., 1933, GENTILE; Studi vichiani, Messina, 1914, 2.1 ed., Florena, 1927; B. DONATI, Nuovi studi sulla fiosofia civile di G. B. Wco, Florena 1936; A. CORSANo, G. B. V., Bari, 1956. A obra fundamental que subtraiu a filosofia de Vico alternativa das interpretaes ou positivistas ou catlicas a cit. de CROCE. Mas esta obra acaba por fazer de Vico um precursor do historicismo de Hegel e negligencia ou deixa na sombra aspectos fundamentais do seu pensamento. Um Vico aparentado aos cartesianos e sobretudo a Malebranche foi apresentado por Giusso, G. B. V. e Ia fil. delPet barocca, Roma, 1943. Um Vico aparentado ao neoplatonismo -nos proposto por A. R. CAPONIGRI, Time aind Idea. The Theory of History in G. B. V., Londres, 1953, Sobre o estilo de Vico e sobre Vico como literato: FUEINI, Stile e umanit di G. B. V., Bari, 1946. B. CROCE-F. NiCOLINI; Bibliografia vichiana, 2 vol., Npoles, 1947-48. 73 VIII LOCKE 452. LOCKE: VIDA E ESCRITOS No tronco secular do empirismo ingls, que vai de Rogrio Bacon e Ockarri a Bacon de Verulam e Hobbes, enxerta Joo Locke a exigncia problemtica do cartesianismo. Nascido a 29 de Agosto de 1632, Locke viveu a sua juventude no perodo tempestuoso da histria inglesa em que ocorreram a primeira revoluo e a decapitao de Carlos 1. Estudou na Universidade de Oxford, cujo chanceler John Owen. era defensor de uma poltica de tolerncia para com as diferentes religies: esta ideia no deixou de influir sobre o jovem Locke. Em 1658
obteve o grau de mestre das artes e foi chamado a ensinar na prpria universidade de Oxford. Comeou ento o perodo mais importante da sua formao espi75 ritual. A maior influncia exercida sobro ele foi a das obras de Descartes, mas estudou tambm Hobbes e provavelmente Gassendi. Em 1666 comeou a ocupar-se de estudos naturais e a estudar medicina; e, conquanto no tomasse nunca o ttulo de doutor, os amigos passaram a trat-lo de "doutor Locke". Ocupava-se tambm de problemas econmicos e polticos e entrou na poltica militante por volta dos trinta e cinco anos, quando se tornou secretrio de Lord Ashley, que foi em seguida conde de Shaftesbury. Em 1672 Lord Ashley foi elevado a Lord chanceler e Locke participou activamente na vida poltica, apesar da sua sade precria. Em 1675 Shaftesbury perdeu a proteco do rei Carlos 111 e Locke retirou-se para Frana, onde viveu cerca de quatro anos, dedicando-se preparao do Ensaio. Voltou a Londres pelos fins de 1679 para ser de novo vizinho de Shaftesbury que retornara ao poder. Mas este, inculpado de outra traio, foi obrigado a fugir para a Holanda, onde morreu, pouco depois (1682). No obstante a sua atitude prudente, Locke tornou-se suspeito e em 1683 exilou-se voluntariamente na Holanda, onde permaneceu por mais de cinco anos. A tomou parte activa nos preparativos da expedio de Guilherme d'Orange que se efectuou em Novembro de 1688. No squito da Princesa Maria, mulher de Guilherme, Locke retornou a Inglaterra em 1689. A sua autoridade tornou-se ento extraordinria: ele era o representante Intelectual e o defensor filosfico do novo regime liberal. 76 Comeou ento o perodo mais intenso da sua actividade literria. Em 1689 saa anonimamente a sua Epstola de tolerncia. Tambm anonimamente saram em 1690 os Dois Tratados sobre o governo. E em 1690 apareceu finalmente o Ensaio sobre o intelecto humano, que obteve logo um sucesso extraordinrio. Nos anos seguintes Locke ocupou-se de outras obras filosficas, entre as quais a polmica com Stillingfleet, o tratado publicado postumamente sobre a Conduta do intelecto e o Exame de Malebranche. Em 1693 publicou os Pensamentos sobre a educao; e, entre 1695 e 1697, publicava os ensaios sobre a Racionalidade do cristianismo. At 1691, Locke aceitara a hospitalidade de Sir Francis Masham no castelo de Oates (Essex), a cerca de vinte milhas de Londres, onde foi rodeado de amorosos cuidados por parte de Lady Masham, que era filha do filsofo Cudworth ( 419). Ali se extinguiu a 20 de Outubro de 1704. Um certo nmero de apontamentos ou esboos que Locke deixara inditos foram publicados recentemente. Entre eles, alm de algumas pginas do seu Dirio, avultam: o primeiro esboo do Ensaio (Draft A, 1671) publicado em 1936, o segundo esboo do Ensaio, bastante mais completo do que o primeiro (Draft B, 1671), publicado em 1931; os Ensaios sobre direito de natureza (1663-64) publicados em 1954 e dois escritos sobre a tolerncia (1660-62) que, juntamente com um Ensaio sobre a tolerncia (1667 mas publicado em 1876) e com a
Epstola, do a ideia completa do desenvolvimento do pensamento de Locke sobre este tema. 77 453. LOCKE: A RAZO FINITA E A EXPERINCIA O que em primeiro lugar distingue Locke de Descartes o seu conceito da razo. Para Descartes a razo uma fora nica, infalvel e omnipotente: nica, porque igual em todos os homens e possuda por todos na mesma medida; infalvel, porque no pode enganar se se seguir o seu mtodo, que nico em todos os campos das suas possveis aplicaes: omnipotente, porque extrai de si mesma o seu material e os seus princpios fundamentais, que lhe so "inatos", isto , constitutivos. Para Locke, que se inspira em Hobbes, a razo no possui nenhum destes caracteres. A unidade da razo no dada nem garantida mas h que form-la e garanti-la atravs de uma adequada disciplina. "H urna grande variedade visvel entre as inteligncias humanas, dizia Locke na Conduta do intelecto, e as suas constituies naturais estabelecem, a este respeito, uma diferena to grande entre os homens que a arte e o engenho nunca podero eliminar" (Conduct, 2). A infalibilidade da razo torna-se impossvel pela limitada disponibilidade das ideias, pela sua frequente obscuridade, pela falta de provas, e excluda pela presena na mente humana de falsos princpios e pelo carcter imperfeito da linguagem, da qual todavia a razo tem necessidade (Ensaio, IV, 17, 9-13). E quanto omnipotncia, at 1676 Locke exclua-a negando que a razo produzisse por si os princpios e o material de que se serve. "Nada, dizia ele, r)ode fazer a razo, essa poderosa 78 faculdade de argumentar, se alguma coisa no antes posta e concedida. A razo faz uso dos princpios do saber para construir alguma coisa de maior e de mais alto mas no pe esses princpios. Ela no pe o fundamento, conquanto frequentemente erija uma construo majestosa e erga at ao cu a sumidade do sabem (Essay on the Law of Nature, 11; ed. von Leyden, p. 125). Dadas estas limitaes constitutivas, a razo pode compreender no seu mbito a esfera do saber provvel, segundo uma exigncia que tinha sido j apresentada por Gassendi. Diz Locke: "Como a razo percebe a conexo necessria e indubitvel que todas as ideias ou provas tm umas com as outras, em cada grau de uma qualquer demonstrao que produza conhecimento, assim, analogamente, ela percebe a conexo provvel que une entre si todas as ideias ou provas de cada grau de uma demonstrao a cujos juzos seja devido o assentimento" (Ensaio, IV, 17, 2). Mas com esta extenso ao provvel, a razo torna-se o guia ou a disciplina de todo o saber, mesmo modesto, e fora dela permanecem (segundo as palavras de Locke) s as opinies humanas que so puros "efeitos do acaso , e da fortuna" isto , "de um esprito que flutua merc de qualquer aventura, sem tino e sem norte" (lb., IV, 17, 2). Nem mesmo a f se subtrai ento ao controlo da razo: e Locke, j muito antes da publicao do Ensaio, nas notas do seu dirio, atribui razo mesma a funo de orientao na
escolha da f ("Faith and Reason" in Essays on the Law of Nature, cit., p. 276). E como pertence 79 razo a disciplina do crer, assim lhe pertence a da convivncia humana, isto , da lei natural e do direito. Nos Ensaios sobre a lei de natureza ele j dizia: "Eu entendo por razo, no a faculdade do intelecto que forma o discurso e deduz os argumentos, mas alguns determinados princpios dos quais emanam as fontes de todas as virtudes assim como tudo o que necessrio para formar bem os costumes, j que o que destes princpios correctamente se deduz, a justo ttulo se diz conforme recta razo" (Essays, I, p. 111). No Ensaio sobre o intelecto humano estes princpios eram (em resultado da sequncia desta exposio) mantidos e reforados, e sobre eles assentavam as atitudes que Locke assumiu no domnio poltico e religioso, nas obras da sua maturidade. A reforma radical que Locke operou no conceito da razo tem como finalidade adapt-la sua funo de guia autnomo do homem num campo que no se restringe matemtica e cincia natural mas abraa todas as questes humanas. A prpria investigao gnoseolgica de Locke nasce num terreno que no o do conhecimento terico mas o dos problemas humanos. O prprio Locke nos informou desta origem na "Epstola ao leitom anteposta ao Ensaio. Numa reunio de cinco ou seis amigos (ocorrida provavelmente no Inverno de 1670), discutia-se sobre questes que nada tinham a ver com a que depois foi objecto da obra. Na discusso encontravam-se dificuldades por toda a parte e no se conseguia encontrar uma soluo para as dvidas. Veio ento mente de Locke que., 80 antes de se embrenhar em indagaes desta natureza, era necessrio examinar as capacidades prprias do homem e ver que objectos o seu intelecto seria ou no capaz de considerar. Desde ento, Locke iniciou o trabalho para o Ensaio. E a partir da, pode dizerse, nasceu a primeira investigao crtica da filosofia moderna, isto , a primeira investigao que tem por objecto o estabelecer as efectivas possibilidades humanas dentro dos limites que so prprios do homem. Tais limites so prprios do homem porque so prprios da sua razo; mas so prprios da sua razo porque ela no criadora ou omnipotente, mas tem de contar com a experincia. a aco condicionante da experincia que estabelece os limites dos poderes da razo e, portanto, em ltima anlise, do uso que o homem pode fazer dos seus poderes em todos os
campos das suas actividades. A experincia condiciona a razo em primeiro lugar fornecendo-lhe o material que ela incapaz de criar ou produzir por si: as ideias simples, isto , os elementos de qualquer saber humano. E em segundo lugar propondo prpria razo as regras ou os modelos ou, em geral, os limites, segundo os quais este material est ordenado ou pode ser utilizado. Locke tomava assim do cartesianismo e em particular da Lgica de Port Royal ( 416) o conceito da actividade racional como actividade sinttica ou ordenadora tanto das ideias como do material bruto de que esta actividade dispe. Mas corrigia o ponto de vista cartesiano no s considerando a expe81 rincia a fonte deste material, mas tambm atribuindo experincia mesma a funo de controlo de todas as construes que o esprito humano pode tirar de fora de si. Esta funo de controlo o limite fundamental que a experincia impe actividade da razo, impedindo-lhe de se aventurar em construes demasiado audazes ou em problemas cujas solues num sentido ou noutro no podem ser submetidas a prova. Desde os primeiros esboos do Ensaio Locke insistiu na derivao emprica de todo o material cognitivo, portanto na negao do inatismo (que seria para ele a omnipotncia da razo) e na reduo das capacidades cognitivas humanas esfera sensvel. Mas no Ensaio (e sobretudo na quarta parte da obra) a funo de controlo que a experincia chamada a exercer sobre a actividade racional em todos os seus graus, um controlo intrnseco que inerente a esta actividade e no lhe vem de fora, torna-se predominante e constitui aquilo que ainda hoje se pode considerar como o ensino fundamental que do empirismo lockiano passou para o iluminismo setecentista, para o racionalismo kantiano e para boa parte da filosofia moderna e contempornea. 454. LOCKE: OS FUNDAMENTOS DO "ENSAIO" No Ensaio sobre o intelecto humano, Locke declara pretender determinar "a origem, a certeza e a extenso o do conhecimento humano" nos seus 82 vrios graus, incluindo aqueles em que a certeza mnima ou em que se no vai alm da probabilidade. Declara tambm pretender conduzir esta investigao "corno mtodo ponderativo e histrico", isto , analtico o descritivo (o mtodo que Gassendi recomendara cincia em geral) evitando deter-se nos problemas metafsicos que podem nascer no decurso dela. Ele rejeita por isso a hiptese de Hobbes sobre a natureza material do esprito e das ideias e limita-se a considerar as ideias s como tais, isto , como objectos de conhecimento. Este o autntico pressuposto cartesiano da filosofia de Locke. Pensar e ter ideias so a mesma coisa. Logo, porm, Locke introduz a primeira limitao: as ideias derivam exclusivamente da experincia, isto , so o fruto, no de uma espontaneidade criadora do intelecto humano, mas da sua passividade frente realidade. E visto que para o homem a realidade ou realidade interna (o seu eu) ou realidade externa (as coisas naturais), assim as ideias podem derivar de uma ou de outra destas realidades e chamarem-se ideias de reflexo se derivam do senso interno, e ideias de sensao se derivam do senso externo. So ideias de sensao, ou mais simplesmente sensaes, o amarelo, o quente, o duro, o amargo, etc., e em geral todas as qualidades que atribumos s coisas. So ideias de reflexo a percepo, o pensamento, a dvida, o raciocnio, o conhecimento, a vontade e
em geral] todas as ideias que se referem a operaes do nosso esprito. Locke mantm-se fiel ao princpio cartesiano que ter uma ideia significa perceb-la, isto , ser cons83 ciente dela e deste princpio se vale na crtica das ideias inatas exposta no primeiro livro do Ensaio. Este primeiro livro como que uma introduo ao corpo da obra, visto que a doutrina das ideias inatas constitui uma instncia que, se fosse aceite, tornaria impossvel o empirismo como Locke o entende. Mediante as ideias inatas, o homem teria sua disposio possibilidades ilimitadas e incontrolveis de conhecimento e nenhuma definio precisa das suas efectivas possibilidades seria possvel. Locke no diz quais so os filsofos contra os quais se dirige a sua crtica do inatismo. Nomeia, certo, a propsito do inatismo dos princpios prticos, Herbert di Cherbury ( 419), mas no extrai dele as teses fundamentais que so objecto da sua crtica. certo tambm que os argumentos cartesianos no deviam ser-lhe desconhecidas; mas o inatismo de Descartes no tem o sentido explcito e actual que Locke confuta. Provavelmente, pretendeu fixar em forma tpica as teses fundamentais de todo e qualquer inatismo de modo que a sua crtica adquirisse a mxima universalidade e valesse contra todos os defensores do inatismo. Esta crtica reduz-se substancialmente a um nico argumento. As ideias inatas no existem porque no so pensadas: uma ideia no se no for pensada. As ideias inatas deviam de facto subsistir em todos os homens e por isso tambm nas crianas e nos idiotas; ma,; visto que no so pensadas por estas categorias de pessoas, no existem nelas e no podem considerar-se inatas. Diz-se que as crianas chegam conscincia das ideias inatas na idade da 84 razo; mas na idade da razo chega-se tambm ao conhecimento das que no so consideradas inatas: nada probe portanto que se possa chegar quelas que se consideram inatas. Como no existem ideias inatas, tambm no existem princpios inatos, nem especulativos nem prticos. Os princpios especulativos que se consideram inatos, por exemplo "tudo o que ", " impossvel para a mesma coisa ser e no sem no :so em verdade inatos porque no obtm o consenso universal; mas mesmo se o obtivessem, no poderiam dizerse inatos, j que pode demonstrar-se que os homens chegam a eles por outra via, isto , por outro meio de experincia (Ensaio, 1, 2, 3). Quanto aos princpios prticos e morais, Locke afirma que "no se pode propor nenhuma regra moral da qual no se possa legitimamente exigir a razo: o que seria perfeitamente ridculo e absurdo se as regras morais fossem inatas ou
to evidentes, como todo o princpio inato deve ser, que se no tivesse necessidade de nenhuma prova em apoio da verdade que se possui e de nenhuma razo para merecer a aprovao dela" (1b., 1, 2, 4). Toda a fora da argumentao de Locke est no princpio de que uma ideia ou noo qualquer para existir no esprito deve ser percebida: princpio estritamente cartesiano. Assim se explica que Leibniz ( 438), embora admitindo o mesmo princpio, tenha defendido o inatismo distinguindo graus de percepo. Se as ideias inatas no so percebidas claramente pelo esprito, podem, segundo Leibniz, ser percebido, Mas obscuramente e existir por isso no esprito sob a forma de pequenas percepes. esta 85 a tese sustentada por Leibniz contra Locke nos Novos ensaios sobre o intelecto humano. Leibniz admite por isso, como Locke, o princpio cartesiano da ideia como objecto de conscincia e chega confirmao do inatismo distinguindo apenas graus diversos de conscincia. Locke separa-se de Descartes e dos cartesianistas ao negar que "a alma pense sempre". "No h nenhuma razo para crer, diz ele (1b., 11, 1, 20), que a alma pense antes que os sentidos lhe tenham fornecido as ideias em torno dos quais ela pensa. medida que estas aumentam e so avaliadas em virtude do exerccio, aumenta a faculdade de pensar nas suas vrias manifestaes, isto , o compor as ideias e reflectir sobre as prprias operaes. Aumenta o seu patrimnio e ao mesmo tempo aumenta a sua faculdade de recordar, imaginar e raciocinar, e todos os outros modos do pensamento". A mesma possibilidade do pensamento portanto condicionada e limitada, segundo Locke, pela experincia. 455. LOCKE: AS IDEIAS SIMPLES E A PASSIVIDADE DO Esprito Se todo o nosso conhecimento resulta de ideias e se as ideias derivam todas da experincia, a anlise da nossa capacidade cognitiva dever em primeiro lugar fornecer uma classificao, isto , um inventrio sistemtico de todas as ideias que a experincia nos fornece. um tal inventrio que visa formular o H Livro do Ensaio. 86 Em primeiro lugar cumpre distinguir as ideias simples e as complexas. A experincia (isto , a sensao e a reflexo,) fornecem-nos apenas ideias simples; as ideias complexas so produzidas pelo nosso esprito mediante a reunio de vrias ideias simples. De facto, quando o intelecto provido pela sensao e pela reflexo de ideias simples, tem a capacidade de reproduzi-las, compar-las e uni-las de um modo infinitamente vrio. Mas nem o intelecto mais poderoso pode inventar ou construir uma ideia simples nova, isto , no derivada da experincia, nem pode destruir nenhuma das ideias adquiridas. Aqui temos o insupervel limite do intelecto humano. Ignorar ou desconhecer este limite significa, segundo Locke, abandonar-se a sonhos quimricos (Ensaio, 1, 2, 2). As ideias simples podem derivar ou de um s sentido (como as das cores derivam da vista,
as dos sons do ouvido, etc.); ou de mais sentidos (como as ideias de espao, extenso, figura, repouso o movimento); ou apenas de reflexo (percepo ou pensamento, volio ou vontade); ou ao mesmo tempo da percepo e da reflexo (prazer, dor, fora, existncia, unidade). Cumpro distinguir das ideias as qualidades do objecto que so modificaes da matria nos corpos que causam em ns aquelas percepes. Todavia, nem toda a ideia a cpia ou a imagem de uma qualidade objectiva. "Tudo o que o esprito percebe em si mesmo ou que o imediato objecto da percepo, do pensamento, do intelecto, chama-se ideia: a fora que produz em ns a ideia chama-se 87 qualidade do objecto qual a fora pertence" (1b., 11, 8, 8). Locke retoma a este propsito a distino entre qualidades objectivas e qualidades subjectivas, que j Galileu e Descartes haviam estabelecido, e que ele vai buscar ao fsico Boyle (Origem das formas e das qualidades, 1666), chamando qualidades primrias s objectivas, secundrias s outras. As qualidades primrias, que so originrias dos corpos e inseparveis deles, produzem em ns as ideias simples de solidez, extenso, figura, movimento, repouso e nmero. As qualidades secundrias, que no existem nos objectos mas so produzidas em ns pelas vrias combinaes das qualidades primrias, so as cores, os sons, os sabores e os odores. As qualidades secundrias em nada se assemelham aos corpos, enquanto as primrias so imagens dos corpos mesmos. Outras qualidades dos corpos so as foras, isto , a sua capacidade de produzir alteraes nas qualidades primrias dos outros corpos. Entre as ideias simples de reflexo, Locke considera fundamental a percepo, que o prprio pensamento, e ao mesmo tempo examina as que s-. referem s outras operaes do esprito: a memria, a capacidade de distinguir, de comparar, de compor as ideias e, enfim, a de abstrair, da qual nascem as ideias gerais. "Deste modo, conclui ele (lb., 11, 11, 15), tracei uma breve e verdadeira descrio do primordial incio do conhecimento humano, mostrando onde o esprito recebia os seus primeiros objectos e atravs de que passos efectuava os seus 88 LOCKE quais vem a ser constitudo todo o conhecimento , de que capaz". 456. LOCKE: AS IDEIAS COMPLEXAS E A ACTIVIDADE Do ESMITO Ao receber as ideias simples o esprito puramente Passivo. As ideias simples constituem os materiais e os fundamentos das suas construes. O esprito torna-se activo ao reordenar a seu modo este material e tambm ao variar e O
multiplicar indefinidamente os objectos do pensamento. A actividade do esprito explica-se de trs modos fundamentais: 1 - Combinando diversas ideias simples numa ideia composta de modo a formar as ideias complexas; 2.'-Reunindo duas ideias, seja simples, seja complexas, de modo a consider-las simultaneamente, sem no entanto as unir numa nica ideia, e formando assim ideias de relaes,3.'-Separando uma ideia das outras que a acompanham na realidade, operao que se chama abstrair e mediante a qual so produzidas as ideias gerais. Locke analisa separadamente cada uma destas trs manifestaes da actividade racional. As ideias complexas, conquanto infinitas em nmero, deixam-se reduzir a trs categorias fundamentais: modos, substncias e relaes. os modos so as ideias complexas que so consideradas no subsistentes por si mas apenas como manifestaes de uma substncia (ex. tringulo, gratido, 89 delito, etc.). Substncias so, pelo contrrio, ideias complexas que so consideradas como subsistentes por si mesmas (por ex. homem, pombo, ovelha, etc.). A relao o confronto de uma ideia com outra. De todos estes vrios tipos de ideias complexas Locke detm-se a considerar as formas principais. Pelo que respeita aos modos, comea por distinguir os modos simples, que so variaes ou combinaes diferentes da mesma ideia simples (por ex. uma vintena ou uma dzia, etc.) e os modos mistos, que so combinaes de ideias simples diversas (por ex. a beleza, o furto, etc.). Em seguida passa a examinar os principais modos simples como o espao, o tempo, o nmero, o pensamento, a fora. A propsito do espao e do tempo, examina tambm as ideias de finito e de infinito e nega a este propsito que o homem tenha a ideia do espao infinito ou do tempo infinito. A ideia do infinito nasce em virtude da possibilidade que temos de repetir indefinidamente a ideia de uma extenso espacial ou temporal; mas toda a ideia positiva de tempo ou de espao sempre finita (Ensaio, 11, 17, 13). A propsito da ideia de fora, examina o problema da liberdade humana que precisamente a fora ou o poder que o homem encontra em si mesmo para comear ou impedir, continuar ou interromper, as suas aces voluntrias. Locke reconhece no homem a liberdade de agir, no a de querer. O homem livre no sentido de poder fazer ou no fazer o que quer, mas no no sentido de poder querer ou no querer o que quer. "0 esprito, diz Locke (lb., H, 21, 24), no tem, com respeito vontade, o poder de agir ou de no 90 agir no qual consiste a liberdade. Ele no tem o poder de impedir a vontade; no pode evitar uma determinao sobre a aco prospectada, por muito breve que seja a considerao dela. O pensamento, por muito rpido que seja, ou deixa o homem no estado em que se encontrava antes de pensar ou o muda: ou continua a aco ou termina-a. por isso evidente que ele ordena e dirige o homem ao preferir uma alternativa ou ao negligenciar outra e que a continuao da aco ou a mudana tornam inevitavelmente voluntrias. Locke encontra-se com Hobbes ( 408) nesta negao da liberdade do querer humano; mas funda esta negao unicamente no mecanismo psicolgico da deciso e no j na relao entre a vontade e as coisas externas, na qual Hobbes a fundava.
Particularmente importante a anlise da ideia complexa de substncia. Considerando que vrias ideias simples so constantemente unidas entre si, o esprito levado inadvertidamente a consider-las como uma nica ideia simples; e j que no chega a imaginar como uma ideia simples pode subsistir por si, habitua-se a supor um qualquer substratum que seja o fundamento dela. Este substratum chama-se substncia. Locke afirma claramente o carcter arbitrrio do conceito de substncia, que supera o testemunho da experincia. "Se, diz ele (lb., II, 23, 2), algum perguntar que coisa o substracto a que a cor ou o peso aderem, responderse- que tal substracto so as prprias partes extensas e slidas; e se se perguntar a que coisa aderem a solidez e a extenso, no se poder responder, no melhor 91 dos casos, seno como aquele indiano, a quem, depois de haver afirmado que o mundo sustentado Por um grande elefante, )perguntaram sobre que se apoiava o elefante, ao que respondeu: sobre uma grande tartaruga. E, como lhe perguntassem ainda, que apoio tinha a tartaruga, respondeu: alguma coisa que eu no conheo, na verdade... A ideia a que ns damos o nome geral de substncia no seno tal suposto mas desconhecido sustentculo das qualidades efectivamente existentes". Essa crtica da substncia ficou famosa na tradio filosfica. Todavia, ela toca apenas um aspecto da substncia, aquele pela qual ela hypokeimenon ou subjectum ou, como diz Locke, substratum: que apenas um dos significados que a substncia tem na metafsica clssica, por exemplo, em Aristteles. Mas h em Locke tambm a crtica de um alto aspecto ou significado da substncia, bastante mais importante do ponto de vista metafsico; e o aspecto pelo qual a substncia razo de ser ou causa das prprias determinaes. Esta crtica encontra-se no terceiro livro do Ensaio a propsito dos nomes das substncias e assume a forma da crtica das essncias reais. Se estas essncias, raciocina Locke, fossem acessveis ao entendimento humano, este deveria ser capaz de deduzir delas, por via de raciocnio, todas as determinaes das coisas a que aquelas essncias pertencem; por exemplo, deveria ser capaz de deduzir da essncia real do ouro a sua fusibilidade ou a sua maleabilidade e as outras suas qualidades sem que tais qualidades fossem sequer conhecidas por experincia. Mas isto, segundo Locke, impossvel 92 ao homem. "No poderemos nunca saber, diz ele, qual seja o nmero preciso das propriedades que dependem da essncia real do ouro, e por consequncia o ouro no existiria a menos que conhecssemos a essncia real do ouro por si mesma e com base nesta determinssemos a espcie em questo." (1b., HI, 6, 19). Aquilo que sabemos do ouro um conjunto de qualidades e para explicar a coexistncia constante destas qualidades recorremos ao termo de substncia; mas a substncia autntica, se existisse ou fosse conhecida pelo homem, deveria ser conhecida independentemente das qualidades e constituir aquela razo de ser da qual elas deveriam
ser deduzidas sem recorrer experincia. este sem dvida o aspecto mais importante da crtica de Locke noo de substncia e a um dos princpios fundamentais da metafsica tradicional. A actividade do esprito, manifesta-se no s na produo das ideias complexas como no propor ou no reconhecer as relaes. O intelecto de facto no se limita nunca considerao de uma coisa no seu isolamento: progride sempre para l dela para reconhecer as relaes em que ela est com as outras. Nascem assim as relaes e os nomes relativos com que se indicam as coisas que so postas em relao. Entre elas, so fundamentais as de causa e efeito, de identidade e de diversidade, e a propsito destas ltimas Locke aborda o problema da identidade da pessoa humana. Ele percebe esta identidade na conscincia que acompanha os estados ou os pensamentos diversos que se sucedem no sentido interno. O homem no s percebe como tambm percebe o 93 perceber; todas as suas sensaes ou percepes so acompanhadas da conscincia que o seu eu a senti-las ou a perceb-las. Esta conscincia procede de modo a que as vrias sensaes ou percepes constituam um nico eu e por isso o fundamento da unidade da pessoa (1b., 11, 27, 10). A substncia espiritual no pode garantir a identidade se a conscincia no intervier: sem esta a substncia no pode ser uma pessoa, como o no pode ser uma carcaa (Ib., 11, 27, 23). Entre as relaes Locke coloca tambm as leis morais em virtude das quais julgamos o valor das aces. O bem e o mal moral consistem na conformidade ou no conformidade de uma aco lei que pode ser lei divina, ou lei jurdica, ou lei do costume. Mesmo as ideias de virtude e de vcio derivam por isso da experincia porque consistem numa coleco de ideias simples que o homem recebe da sensao ou da reflexo. 457. LOCKE: A LINGUAGEM E AS IDEIAS GERAIS A actividade do esprito manifesta-se, no s no formar ideias complexas de modos, de substncias e de relaes, mas tambm na abstraco que d origem s ideias gerais. Mas as ideias gerais so condicionadas pela linguagem; e linguagem e formao das ideias gerais Locke dedica a terceira parte do Ensaio. A linguagem, nascida da necessidade de comunicao entre os homens, constituda por palavras que so, segundo Locke, sinais 94 convencionais. Estes sinais referem-se originariamente s ideias existentes no esprito de quem fala; mas quem as emprega supe, no prprio acto, que eles sejam tambm sinais das ideias que existem no esprito dos outros homens com que comunica e que alm disso signifiquem a realidade das coisas. Ora, conquanto na realidade s existam coisas particulares, a maior parte das palavras so, em todas as lnguas, constitudas por termos gerais. As palavras tornam-se gerais quando se tornam sinais de ideias gerais; e as ideias tornam-se gerais quando se separam das circunstncias de tempo e lugar e de qualquer outra ideia que possa determinar esta ou aquela existncia particular. "Por
meio de tal abstraco, diz Locke, as ideias tornam-se capazes de representar mais indivduos em vez de um, como cada um deles possui em si uma conformidade com a ideia abstracta, chamado com o nome que indica a ideia mesma". O ponto de vista de Locke pois rigorosamente nominalstico. "0 geral e o universal no pertencem existncia real das coisas, mas so invenes e criaturas do intelecto, feitas para o seu prprio uso, e concernem s aos sinais, isto , s palavras ou ideias" (Ensaio, 111, 3, 11). A doutrina de que as palavras e as ideias gerais so sinais havia sido exposta por Guilherme de Ockam ( 316) no sculo XIV; a Summa totius logicae do franciscano ingls era ainda lida e estudada em Inglaterra nos tempos de Locke, que adopta a sua doutrina fundamental. Os nomes e as ideias gerais so sinais das coisas: isto , esto em lugar das coisas mesmas. Os nomes 95 gerais indicam as ideias gerais e as ideias gerais so produzidas pelo intelecto na medida em que este observa a semelhana que existe entre grupos de coisas particulares. Assim, s ideias gerais no corresponde em realidade seno a semelhana que existe entre as prprias coisas. Formada a ideia geral, o intelecto assume-a como modelo das coisas particulares s quais ela corresponde e que portanto so indicadas com um nico nome. Formada, por exemplo, a ideia geral do homem mediante a observao da semelhana que existe entre os homens, o intelecto emprega o nome homem para indicar todos os homens e atribui espcie homem todos os indivduos semelhantes (1b., 111, 3, 13). A imutabilidade das essncias, que so precisamente as ideias gerais, simplesmente a persistncia destas ideias no esprito, persistncia independente das mutaes que sofrem os objectos reais correspondentes. Mas a essncia no implica por si prpria nenhuma forma de universalidade real porque apenas um sinal criado pelo intelecto (Ib., 111, 4, 19): Locke reproduz assim o radical nominalismo de Ockam. 458. LOCKE: A REALIDADE DO CONHECIMENTO O IV livro do Ensaio aborda os problemas relativos validade do conhecimento e, por conseguinte, sua extenso e aos graus da sua certeza, e nele que se apresentam as concluses relativas ao escopo geral da obra. A experincia fornece o material 96 do conhecimento, mas no o prprio conhecimento. Este tem sempre que tratar de ideias porque a ideia o nico objecto possvel do intelecto; mas no se reduz s ideias porque consiste na percepo de um acordo ou de um desacordo das ideias entre si. Como tal, o conhecimento pode ser de duas espcies fundamentais. conhecimento intuitivo quando o acordo ou o desacordo de duas ideias visto imediatamente e em virtude das prprias ideias, sem a interveno de outras ideias. Assim se concebe imediatamente que o branco no negro, que trs so mais do que dois, etc. Este conhecimento o mais claro e o mais certo que o homem possa alcanar e por isso o fundamento da certeza e da evidncia de todos os outros conhecimentos. O conhecimento , ao invs, demonstrativo quando o acordo ou o
desacordo entre duas ideias no percebido imediatamente mas se torna evidente mediante o uso de ideias intermedirias que se chamam provas. O conhecimento demonstrativo funda-se evidentemente num certo nmero de conhecimentos intuitivos. De facto, cada passo de um raciocnio, que tenda a demonstrar a relao de duas ideias primeira vista afastadas entre si, feito mediante a relao intuitiva entre estas duas ideias com outras que, por seu turno, esto em relao intuitiva. A certeza da dimenso funda-se na da intuio. Mas especialmente nas longas demonstraes, quando as provas so muito numerosas, o erro torna-se possvel; de modo que o conhecimento demonstrativo bastante menos seguro do que o intuitivo. (Ensaio, IV, 2, 1-7). 97 Alm destas duas espcies de conhecimento, h um outro que o conhecimento das coisas existentes fora de ns. Locke consciente do problema que emerge da prpria orientao da sua doutrina. Se o esprito, em todos os seus pensamentos e raciocnios, no tem de tratar seno com ideias, se o conhecimento consiste na percepo do acordo ou do desacordo entre as ideias, de que modo se pode chegar a conhecer uma realidade diversa das ideias? Reduzido o conhecimento a ideias e relaes, no ficar reduzido a um puro castelo no ar, a uma fantasia no diferente do mais quimrico sonho? certo, segundo Locke, que o conhecimento s real se houver uma conformidade entre as ideias e a realidade das coisas. Mas como pode ser garantida tal conformidade se a realidade das coisas nos conhecida s atravs das ideias? A tais interrogaes, valorizadas em toda a fora do seu significado (lb., IV, 4, 1-3), Locke prepara a resposta com observaes preliminares. Pelo que toca s ideias simples, que o esprito no tem capacidade para produzir por si, necessrio admitir que elas devem ser o produto das coisas que actuam sobre o esprito de modo natural e produzem nele as percepes correspondentes. As ideias complexas, ao invs, exceptuando as de substncia, so construes do esprito, portanto no valem como imagens das coisas nem se referem realidade como ao seu original. As ideias de substncia devem, para ser verdadeiras, corresponder, elas tambm, aos seus arqutipos ou modelos externos. Isto vlido tambm para as proposies, que devem 98 consistir numa unio ou separao de sinais correspondentes ao acordo ou ao desacordo das coisas representadas pelos prprios sinais. Exceptuam-se apenas as proposies universais, cuja verdade consiste simplesmente na correspondncia entre a palavra e as ideias e no na correspondncia entre as palavras e as coisas; e exceptuam-se tambm as mximas que so proposies de imediata evidncia, no concernentes realidade existente. Estas consideraes preliininares (lb., IV, 4, 5-7) deixam todavia irresolvido o problema da justificao dos conhecimentos que implicam legitimamente uma referncia realidade externa. Este problema considerado por Locke sob trs aspectos, correspondentes a trs ordens diversas de realidade. Ele afirma que "ns temos o conhecimento da nossa prpria existncia por meio da intuio: da existncia de Deus por meio da demonstrao; e, das outras coisas por meio da sensao".
No que se refere existncia do eu, Locke serve-se do procedimento cartesiano. Eu penso, raciocino, duvido e assim percebo a minha prpria existncia, que a prpria dvida me reconfirma. Por conseguinte, a experincia convence-nos de que temos um conhecimento intuitivo da nossa prpria existncia e uma infalvel percepo interna da nossa realidade (lb., IV, 9, 3). No que respeita existncia de Deus, Locke adopta com algumas variantes a demonstrao causal. O nada no pode produzir nada; se alguma coisa existe (e alguma coisa existe seguramente porque eu existo) quer dizer que foi produzida por 99 outra coisa; e, no se Podendo ascender ao infinito, tem de se admitir que um ser eterno produziu todas as coisas. Este ser eterno produziu mediante o homem a inteligncia, deve ter portanto uma inteligncia infinitamente superior que foi por ele criada; e pelo mesmo motivo uma potncia superior de todas as foras criadas que actuam na natureza. Evidentemente, este ser eterno, inteligentssimo, potentssimo, Deus (lb., IV, 10). Quanto realidade das coisas, o homem no tem outro meio de a conhecer seno pela sensao e, precisamente, pela sensao actual. No h nenhuma relao necessria entre a ideia e a coisa: s o facto de recebermos num dado momento a ideia do exterior nos faz conhecer que algo existe nesse momento fora de ns e produz a ideia em ns. No a sensao mas a actualidade da sensao que permite afirmar a realidade do seu objecto. "Ter a ideia de uma coisa no nosso esprito, diz Locke (Ib., IV, 11, 1), no prova a existncia de uma coisa, assim como o retrato de um homem no prova que ele est no mundo ou, as vises de um sonho no constituem uma histria verdadeira" . Indubitavelmente, o conhecimento que temos da realidade das coisas exteriores no to certo como o conhecimento intuitivo de ns prprios ou o conhecimento demonstrativo de Deus; todavia, bastante certo para merecer o nome de conhecimento. Ningum to cptico que possa no estar certo da realidade das coisas que v e sente. E se pode duvidar delas, diz Locke, nunca poder ter uma discusso comigo, j que nunca estar seguro 100 de que eu diga alguma coisa contra sua opinio (1b., IV, 11, 3). No admissvel que as nossas faculdades nos enganem a tal ponto; indispensvel confiarmos nas nossas faculdades desde o momento em que s podermos conhec-las empregando-as. Assim, a certeza que a sensao actual nos d sobre a realidade da coisa que a produz suficiente a todos os objectivos humanos. Ademais, pode ser confirmada por razes concorrentes. Em primeiro lugar, de facto, as ideias vm a
faltar-nos quando nos falta o rgo de sentido adequado: o que uma prova de que as sensaes so produzidas por causas externas que impressionam os sentidos. Em segundo lugar, as ideias so produzidas no nosso esprito sem que ns as possamos evitar; o que quer dizer que no so produzidos por ns, mas por uma causa externa. Em terceiro lugar, muitas ideias so produzidas em ns com dor ou com prazer, ao passo que podemos record-las sem que sejam acompanhadas por estes sentimentos; o que quer dizer que s o objecto externo os produz em ns quando impressiona os sentidos. Em quarto lugar, os sentidos so testemunhas recprocas em relao s coisas externas e assim se confirmam mutuamente. Locke sustenta que a certeza obtida atravs da sensao actual e dos motivos que a confirmam suficiente ao homem para as necessidades da sua condio. Uma vez mais, ele reconhece que as faculdades humanas no esto adaptadas para se estenderem a todo o ser nem para alcanarem um conhecimento perfeito e livre de 101 escrpulos ou dvidas, mas ao mesmo tempo reconhece que, tais como so, alcanam uma evidncia suficiente aos objectivos da vida, isto , para nos orientarmos frente felicidade e misria; e "para l disso, nada nos concerne, seja do ser, seja do conhecer" (1b., IV, 11, 8). Por outro lado, aprova o princpio de que a certeza da realidade das coisas garantida apenas pela sensao actual e que para alm desta no h certeza. Mesmo que tenha visto h um minuto aquela coleco de ideias simples que um homem, no o vejo actualmente, no posso estar certo de que o mesmo homem continue a existir, uma vez que no existe conexo necessria entre a sua existncia de h um minuto e a sua existncia de agora. De mil modos ele pode ter cessado de existir desde o momento em que a sua existncia foi testemunhada pelos meus sentidos. certamente provvel que milhes de homens existam actualmente e compreensvel que as minhas aces sejam inspiradas pela confiana na existncia deles; mas tudo isto probabilidade, no certeza (1b., IV, li, 9). 459. LOCKE: A RAZO E OS SEUS L=ES Para alm do conhecimento certo estende-se o domnio do conhecimento provvel. O conhecimento certo muito restrito: consiste apenas na intuio do nosso eu, na demonstrao de Deus e na sensao actual das coisas externas. Dada esta 102 restrio, a vida humana seria impossvel se dependesse em todos os casos da posse de um conhecimento certo. Providencialmente, portanto, o homem dotado tambm de uma faculdade com a qual supre a falta de um conhecimento certo; e esta faculdade o juzo. O juzo consiste, como o conhecimento, no acordo ou no desacordo das ideias entre si. Mas, diversamente do conhecimento, este acordo no percebido, mas apenas presumido. No conhecimento a demonstrao consiste em mostrar o acordo ou o
desacordo de duas ideias mediante uma ou mais provas que tm uma conexo constante, imutvel e visvel, uma com a outra. O juzo, ao invs, no faz demonstraes, aponta apenas probabilidades, devidas interveno de provas cujo conhecimento no constante nem imutvel mas ou parece suficiente para induzir o esprito a aceit-las. A probabilidade, portanto, concerne a proposies que no so certas mas nos oferecem apenas um certo encorajamento a consider-las verdadeiras. Os fundamentos da probabilidade so dois: 1.* a conformidade de alguma coisa com o conhecimento, a observao e a experincia; 2.' o testemunho dos outros, atestando as suas observaes e as suas experincias. Nestes dois fundamentos se baseiam os graus diversos da probabilidade, e aos graus diversos da probabilidade devem corresponder graus diversos do consenso dado s proposies provveis. O primeiro grau de probabilidade o de uma proposio sobre a qual se obtm o consenso geral de todos os homens. Esta probabilidade to alta que vizinha do conheci103 mento. Obtm-se o segundo grau de probabilidade quando a nossa experincia coincide com o testemunho de muitas outras pessoas dignas de f. O terceiro grau da probabilidade respeita s coisas que ocorrem indiferentemente, quando so testemunhadas por pessoas dignas de f. Nesta ltima espcie de probabilidade se funda a histria, a qual, por conseguinte, exorbita do conhecimento certo e confinada por Locke no ltimo e mais baixo grau da probabilidade (Ensaio, IV, 16, 11). O conhecimento demonstrativo e o juzo provvel constituem, um e outro, a actividade prpria da razo. Evidentemente, o conhecimento intuitivo, que consiste na percepo de um acordo ou de um desacordo entre as ideias, e o conhecimento sensvel da realidade externa exorbitam da razo, a qual no tem com respeito a eles nenhum papel. Mas a intuio e os sentidos constituem um campo muito restrito de conhecimento. Este campo ampliado com seguridade pelo conhecimento demonstrativo no qual a razo intervm para encontrar as provas, isto , as ideias intermdias e para as ordenar entre si. Na demonstrao, a razo apresenta-se como sagacidade, isto , descoberta de provas e Naco, isto , ordenao das prprias provas. Mas no conhecimento provvel o papel da razo igualmente essencial porque lhe impede de encontrar, examinar e valorar os fundamentos da probabilidade. A faculdade que encontrou a necessria e indubitvel conexo das ideias na demonstrao e a conexo provvel das provas no juzo a razo. Abaixo da probabilidade subsistem apenas opinies, 104 que so efeitos do acaso e pelas quais o esprito oscila entre todas as aventuras, sem tino nem norte (lb., IV, 17, 2). Locke nega que a razo tenha o seu instrumento mais apropriado no silogismo da lgica aristotlico-escolstica. O silogismo no necessrio para raciocinar rectamente porque no serve nem para descobrir as ideias nem para estabelecer a conexo entre elas. O seu nico uso polmico: pode servir para defender os conhecimentos que supomos ter. Os limites, da razo so dados, como disse, pela limitada disponibilidade do material emprico e pela falibilidade da prpria razo. Em primeiro lugar, de facto, a razo nada pode fazer onde faltem as ideias. "Onde quer que careamos de ideias, diz Locke, o nosso raciocnio pra e estamos nos limites de toda a nossa reflexo" (lb., IV, 17, 9). Em segundo lugar, mesmo dispondo das ideias, a razo limitada ou impedida pela confuso ou imperfeio delas; e em
terceiro lugar, limitada ou impedida pela falta, de provas, isto , pela falta daquelas ideias que deveriam servir para demonstrar a concordncia certa ou provvel entre duas ideias. Mas a razo tambm falvel, podendo por isso partir de falsos princpios e, neste caso, em vez de ajudar o homem ainda o embrulhar mais; ou pode valer-se de palavras dbias e de sinais incertos nos discursos e na argumentao e deste modo ser conduzida a um ponto morto (lb., IV, 17, 10-13). Mas com todos os seus limites e as suas imperfeies, a razo , segundo Locke, o nico guia de 105 que o homem dispe em todas as circunstncias da vida. A prpria f no pode passar sem ela. Locke entende por f o assentimento dado a proposies que no so garantias pela razo mas apenas pelo crdito de quem as prope, enquanto inspirado por Deus por meio de uma comunicao extraordinria. A f funda-se portanto na revelao. Mas nem mesmo ela pode fazer com que os homens adquiram ideias simples que no recebam da sensao ou da reflexo. Nem pode provocar o assentimento a proposies que contradigam a evidncia da razo. De modo que a razo que estabelece de algum modo os limites da f; e, finalmente, s a razo pode decidir sobre a legitimidade e sobre o valor da revelao em que a f se funda (lb., IV, 19, 10). A uma f assim reconduzida ao controlo da razo, ope-se, segundo Locke, o entusiasmo, que o fanatismo de quem cr possuir a verdade absoluta e ser inspirado por Deus em todas as suas afirmaes. Locke mostra o crculo vicioso em que se envolve o entusiasmo: afirma-se que uma certa verdade revelada por se crer nela firmemente e crse nela firmemente porque se a julga revelada. Na realidade, a nica "luz do esprito" a evidncia racional de uma proposio; e Locke confirma a este propsito o princpio que dirigiu a sua obra: "A razo deve ser em tudo o nosso juiz e guia" (1b., IV, 19, 14). Uma vez que a razo limitada e falvel nas suas possibilidades, o erro liga-se de algum modo ao seu prprio funcionamento e no deriva, como Descartes afirmava, de uma prevalncia da von106 tade sobre o intelecto. O erro devido, segundo Locke, a quatro razes fundamentais: 1.a a falta de provas, entendendo-se por falta no s a ausncia absoluta de provas mas tambm a temporria ou relativa ausncia delas, por exemplo o no t-las ainda encontrado; 2 a a falta de capacidade para usar as provas; 3 a a falta de vontade de v-las; 4a finalmente, a errada medida da probabilidade. Esta ltima, por sua vez, pode ser devida assuno de princpios que se julgam certos, e que so por vezes dbios ou falsos; ou a ideias instiladas desde a infncia; ou a qualquer paixo dominante; ou, enfim, autoridade. Em tais casos, a primeira coisa a fazer suspender o assentimento; e o assentimento pode-se suspender, no quando estamos em presena de um conhecimento evidente, intuitivo ou demonstrativo ou de um conhecimento provvel, mas quando precisamente faltam as condies da probabilidade. Nos outros casos, s se pode suspender o assentimento detendo a investigao e recusando-se a empregar os instrumentos que ela requer. 460. LOCKE: O PROBLEMA POLITICO E A LIBERDADE
O Ensaio sobre o entendimento humano, de que expusemos os princpios fundamentais, certamente o produto mais maduro e feliz da investigao de Locke. Mas os resultados do Ensaio no tinham, segundo Locke, valor final mas instrumental: deviam servir para limitar e dirigir o uso que em todos os 107 campos da sua actividade o homem pode fazer da razo, seu nico guia. O prprio Locke, como se disse ( 453), foi levado a empreender as investigaes cujo resultado foi o Ensaio, porque se lhe punham problemas de uma natureza muito diferente. Sabemos que estes problemas eram de natureza poltica e moral; e a problemas desta natureza, que lhe foram impostos ou sugeridos pelas prprias circunstncias da sua vida, Locke mantm-se constantemente atento quer durante a preparao do Ensaio, quer aps a publicao dele. Sobre a moral, em sentido estrito, Locke no nos deixou escritos. Sabemos pelo Ensaio que era defensor do carcter racional ou demonstrativo da tica, na medida em que considerava que no se pode propor nenhuma regra moral de que se no deva dar a razo; que a razo de tais regras devia ser a sua utilidade para a conservao da sociedade e a felicidade pblica; que, para isso, dada a disparidade das regras morais seguidas nos diferentes grupos em que a humanidade se divide, seria necessrio isolar e recomendar aquelas que se revelem verdadeiramente eficientes nesse sentido. Mas uma investigao segundo estas directivas, no a empreendeu Locke. Pelo contrrio, no domnio do pensamento poltico e religioso, Locke deixou-nos contributos fundamentais. As obras por ele publicadas, a Epstola sobre a tolerncia, os Dois tratados sobre o governo civil, a Racionalidade do cristianismo so escritos que asseguram a Locke neste campo um lugar to importante como o que o Ensaio lhe assegura no campo mais estritamente filo108 sfico. Estas obras fazem de Locke um dos primeiros e mais eficazes defensores das liberdades dos cidados, do estado democrtico, da tolerncia religiosa e da liberdade das igrejas: ideais que lhe surgem como teoremas, demonstrados e demonstrveis por obra daquela razo finita sobre cuja natureza e regras de uso nos esclarece o Ensaio. Mas ns sabemos pelos escritos inditos que as concluses alcanadas nestas obras so o resultado de uma longa investigao, no isenta de oscilaes e contrastes; e que nessa investigao Locke exerceu a sua reflexo racional sobre os eventos e as exigncias do mundo poltico e religioso do seu tempo, isto , sobre a esfera de experincia prpria deste campo. Assim, no seu prprio procedimento, foi de algum modo fiel ao seu conceito de razo; ou, se se prefere, no seu conceito da razo exprimiu e codificou o modo como ele prprio a exerceu. A base de todas as discusses polticas de Locke (como, alis, das da Antiguidade e da Idade Mdia) o conceito de direito natural; e o desenvolvimento das suas ideias polticas acompanhado pelas interpretaes que ele deu deste conceito. Nos dois escritos juvenis sobre a tolerncia e nos Ensaios sobre direito natural, a lei de natureza identificada com a lei divina em conformidade com a tradio histrica e medieval que Locke via reproduzida em
numerosos escritos do seu tempo. Correspondentemente, a origem e o fundamento da autoridade e do poder poltico eram fundados na vontade divina. Mas j nos primeiros escritos Locke reservava aos homens a faculdade de escolher, mediante um con109 trato, o depositrio da investidura divina, que por si indirecta e impessoal. E nos Ensaios confiava razo a tarefa de revelar e interpretar a lei divina. "A lei de natureza, dizia ele, pode-se descrever como o mandamento que indica o que est ou no est de acordo com a natureza racional e desse modo mesmo manda ou probe... A razo no funda e dita tanto estas leis de natureza quanto a busca e a descobre como uma lei decretada por um poder superior e inato nos nossos coraes; de modo que ela no o autor, mas o intrprete daquela lei" (Essays on the Law of Nafure, 1, p. 110). Para Grcio e para Hobbes a razo mesma que "indica o que est ou no de acordo com a natureza racional"; passa o Locke dos Ensaios o mandamento de Deus, que a razo se limita a manifestar. O limite da razo para o seu exerccio no campo poltico , nestes primeiros escritos, no s um limite inferior, fornecido pelo material sobre que a razo deve operar, mas tambm um limite superior, constitudo pela vontade divina. Nos Tratados sobre o governo civil, isto , na obra que exprime o ponto de vista em que Locke se fixou na sua maturidade, o limite superior desapareceu: a lei de natureza adquire, aos olhos de Locke, a sua autonomia racional mas o seu limite inferior permanece porque ela recebe o seu contedo da experincia que neste caso a experincia da vida humana associada. O primeiro dos Dois tratados destina-se a refutar as teses contidas no Patriarca ou a potncia natural dos Reis (1680) de Robert Filmer (falec@do em 1653) segundo o qual o poder dos reis deriva lio por direito hereditrio de Ado, a quem Deus conferiu a autoridade sobre todos os seus descendentes e o domnio do mundo. O segundo dos Dois tratados contm a parte positiva da doutrina. Existe, segundo Locke, uma lei de natureza que a razo mesma na medida em que tem por objecto as,relaes entre os homens e prescreve a reciprocidade perfeita de tais relaes. Locke, como Hobbes, afirma que esta regra limita o direito natural de cada um mediante igual direito dos outros. Diz Locke: "0 estado de natureza governado pela lei de natureza, que liga todos: e a razo, que esta lei, ensina a todos os homens, contanto que a queiram consultar, que, sendo todos iguais e independentes, nenhum deve prejudicar os outros, na sua vida, na sua sade, liberdade ou prioridade" (Two Treatises of Government, 11, 26). Esta lei de natureza vale para todos os homens enquanto homens (sejam ou no cidados). No estado de natureza, isto , anteriormente constituio de um poder poltico, ela a nica lei vlida, de modo que a liberdade dos homens neste estado consiste no em vergar-se vontade ou autoridade de outro mas em respeitar apenas a norma natural. Nem mesmo neste estado a liberdade consiste para cada um "no viver como lhe apraz" Ub., 11, 4, 22). O direito natural do homem limitado prpria pessoa e , portanto, direito vida, liberdade e propriedade enquanto produzida pelo prprio trabalho. Este direito implica, indubitavelmente, tambm o de punir o ofensor e de ser o executor da lei da natureza; mas nem mesmo este segundo direito implica o uso de uma fora 111
absoluta ou arbitrria, mas apenas a reaco que a razo indique como proporcionada transgresso (lb., 11, 2, 8). O estado de natureza no por isso necessariamente, como queria Hobbes, um estado de guerra, mas pode tomar-se num estado de guerra quando uma ou mais pessoas recorrem fora, ou a uma inteno declarada de fora, para obter aquilo que a norma natural proibiria obter, isto , um controlo sobre a liberdade, sobre a vida e sobre os bens dos outros. precisamente para evitar este estado de guerra que os homens formam a sociedade e abandonam o estado de natureza: porque um poder a que se possa fazer apelo para obter socorro exclui a permanncia indefinida no estado de guerra. Mas a constituio de um poder civil no tira aos homens o direito de que gozavam no estado de natureza, excepto o de fazerem justia por si prprios, visto que, pelo contrrio, a justificao do poder consiste na sua eficcia para garantir aos homens, pacificamente, tais direitos. Se a liberdade natural consiste para o homem em ser limitado apenas pelas leis de natureza (que a razo mesma), a liberdade do homem na sociedade consiste " em no se sujeitar a outro poder legislativo seno o estabelecido pelo consenso nem ao domnio de outra vontade ou limitao de outra lei do que aquela que este poder legislativo estabelecer conformemente confiana depositada nele" (lb., H, 4, 22). Por outros termos, o consenso dos cidados de que se origina o poder civil faz deste poder um poder escolhido pelos prprios cidados e, portanto, ao mesmo 112 tempo um acto e uma garantia de liberdade dos cidados mesmos. No entanto, a lei de natureza no implica, como sustentava Hobbes, que o contacto que d origem a uma comunidade civ,1 forme um poder absoluto ou ilimitado, @seno que exclui este. O homem que no possui nenhum poder sobre a prpria vida (que pela lei da natureza tem o dever de conservar), no pode, mediante um contracto, tornar-se escravo de um outro e pr-se a si mesmo sob um poder absoluto que disponha da vida dele como lhe aprouver. S o consenso daqueles que participam numa comunidade estabelece o direito desta comunidade sobre os seus membros; mas este consenso, como um acto de liberdade, isto , de escolha, visa a manter ou garantir esta liberdade mesma no pode legitimar a sujeio do homem inconstante, incerta e arbitrria vontade de um outro homem. O primeiro fim de uma comunidade poltica o de determinar como a fora da comunidade deve ser empregue para se conservar a si mesma e aos seus membros. Este fim responde funo do poder legislativo, que por isso limitado pelas exigncias intrnsecas ao prprio fim. Em primeiro lugar, de facto, as leis promulgadas no devem variar nos casos particulares mas serem iguais para todos. Em segundo lugar, elas s podem visar ao bem do povo. Em terceiro lugar, no se podem impor taxas sem o consenso do prprio povo. Um dos fins fundamentais do governo civil a defesa da propriedade que direito natural do homem; e sem esta limita113 o do poder do governo o usufruto da propriedade torna-se ilusrio. Finalmente, o poder legislativo no pode transferir a outros a sua faculdade de fazer leis (1b., 11, 11, 134 segs.).
Alm do poder legislativo, que deve ser exercido por uma assembleia, e separado dele, deve haver um poder executivo ao qual entregue a execuo das leis formuladas pelo primeiro. Locke distingue do poder executivo um poder federativo que tem como tarefa representar a comunidade frente s outras comunidades ou a indivduos estranhos a ela e ao qual incumbem as decises sobre a guerra ou a paz, as alianas, as leis, etc. (lb., H, 12, 145-47). O poder executivo e o federativo devem estar nas mesmas mos, porque so praticamente inseparveis. Mesmo depois da constituio de uma sociedade poltica, o povo conserva o supremo poder de remover ou alterar o legislativo. Em caso algum a constituio de uma sociedade civil significa que os homens se fiem cegamente na vontade absoluta e no arbitrrio domnio de um outro homem. Por isso, cada um conserva o direito de se defender contra os prprios legisladores, quando eles so to loucos ou to maus que maltratam as liberdades e as propriedades dos sbditos. O mesmo direito possuem os cidados frente ao poder executivo, o qual, por sua prpria natureza, est j subordinado ao poder legislativo e deve dar-lhe conta das suas providncias (lb., 11, 13, 152). E mesmo que possua a prerrogativa de aplicar as leis com a largueza e a elasticidade que se requer nos casos particulares, 114 encontra sempre um limite desta prerrogativa nas exigncias do bem pblico. Um poder legtimo est, portanto, estreitamente vinculado. E a diferena entre a monarquia e a tirania, que uma usurpao de poder, consiste nisto: o rei faz das leis os limites do seu poder e do bem pblico o alvo do seu governo; o tirano subordina tudo sua vontade e ao seu apetite (lb., 11, 18, 199). Contra a tirania. como contra todo o poder poltico que exceda os seus limites e ponha o arbtrio no lugar da lei, o povo tem o direito de recorrer resistncia activa e fora. Neste caso, a resistncia no rebelio porque antes a resistncia contra a rebelio dos governos lei e prpria natureza da sociedade civil. O povo torna-se juiz dos governantes e de algum modo apela para o prprio juzo de Deus (lb., 11, 19, 241). 461. LOCKE: O PROBLEMA RELIGIOSO - Tolerncia A Epstola sobre a tolerncia publicada por Locke em 1689 um dos mais slidos monumentos elevados liberdade de conscincia. Como iremos ver, os argumentos aduzidos neste escrito em favor da liberdade religiosa e da no interveno do estado em matria religiosa conservam ainda hoje, distncia de sculos, a sua validade. Foi o nico escrito sobre este tema publicado por Locke, isto , o nico em que exprime as suas convices maduras e definitivas. Mas ele compusera anteriormente outros dois 115 escritos (1661-62) e um Ensaio sobre a tolerncia (1667) que deixara inditos. Os primeiros dois escritos so substancialmente contrrios tolerncia religiosa. O pressuposto desta
atitude que o que h de essencial ou " necessrio" na religio o culto interior de Deus; e nesta esfera a liberdade do homem coincide com o respeito da lei natural ou revelada, e est ao abrigo de toda a intromisso do poder porque est salvaguardada pela intimidade da conscincia. Os actos externos do culto so igualmente necessrios religio; mas no necessria esta ou aquela modalidade que eles possam assumir pela diversidade das gentes que os praticam, ou dos tempos, ou dos costumes. A variedade que o culto externo pode assumir torna indiferentes as suas modalidades particulares; e a tese de Locke a de que "o magistrado pode legitimamente determinar o uso de coisas indiferentes relacionadas com a religio" (Escritos editados e inditos sobre a tolerncia, p. 21). No Ensaio sobre a tolerncia, a perspectiva mudou. Locke j no se preocupa, como nos primeiros escritos, em reservar ao magistrado civil aquele direito de interveno que deveria, a seu ver, evitar discrdias e cises na sociedade civil; mas preocupa-se, ao invs, em estabelecer solidamente os limites do poder civil em matria religiosa. Ele divide as opinies e as aces dos homens em trs classes. Na primeira, inclui as "que no respeitam ao governo e sociedade" e como tais classifica as opinies puramente especulativas e o culto divino. Na segunda, inclui as que, embora no sendo nem boas nem ms, concernem 116 sociedade e s relaes entre os homens, e nesse grupo mete as que concernem ao trabalho, matrimnio, educao dos filhos, etc. Na terceira, inclui as que no s respeitam sociedade mas so tambm em si mesmas boas ou ms, como as virtudes e os vcios mortais. Para com a primeira classe de opinies e aces (que compreende tambm os ritos e os actos do culto externo), Locke defende uma tolerncia ilimitada; para com a segunda classe, sustenta uma tolerncia limitada pela exigncia de no enfraquecer o estado e de no causar danos comunidade; para com a terceira classe, exclui toda a tolerncia. Os papistas, segundo Locke, deveriam ser excludos do benefcio da tolerncia na medida em que se considerem obrigados a negar a tolerncia dos outros. Mas, na Epstola, o conceito de tolerncia estabelecido atravs de uma anlise comparativa do conceito de Estado e do conceito de Igreja e reconhecido como ponto de encontro dos deveres e interesses respectivos dessas instituies. O Estado, diz Locke, " uma sociedade de homens constituda para conservar e promover apenas os bens civis", entendendo-se por "bens civis" a vida, a liberdade, a integridade do corpo, a sua imunidade dor, a posse das coisas externas. Esta tarefa do Estado estabelece os limites da sua soberania; e a salvao da alma est claramente fora destes limites. O nico instrumento de que o magistrado civil na realidade dispe a coaco; mas a coaco incapaz de conduzir salvao porque ningum pode ser salvo mau grado seu. A salvao depende da f, e a f 117 no pode ser incutida nas almas fora: "Se algum quer acolher algum dogma, ou praticar algum culto para salvar a alma, deve crer com todo o nimo que esse dogma
verdadeiro e que o culto ser grato a Deus; mas de modo algum uma pena poder instilar na alma uma convico deste gnero". Por outro lado, nem os cidados nem a prpria Igreja podem pedir a interveno do magistrado em matria religiosa. A Igreja, diz Locke, "uma livre sociedade de homens que se renem espontaneamente para honrar publicamente a Deus de modo que julguem ser aceite pela divindade, para obter a salvao da alma". Como sociedade livre e voluntria, a Igreja no faz nem pode fazer coisa alguma que respeite propriedade dos bens civis ou terrenos, nem pode recorrer fora seja por que motivo for, desde o momento em que o uso da fora reservado ao magistrado civil. Alis, a fora, mesmo quando exercida pela Igreja, intil e nociva salvao. Certamente, a Igreja tem o direito de expulsar do seu seio aqueles cujas crenas considere incompatveis com os princpios que defende. Mas a excomunho no deve de modo algum transformar-se numa diminuio dos direitos civis do condenado. Referindo-se a este, diz Locke, que "devem ser inviolavelmente conservados todos os direitos que lhe cabem como homem e como cidado; estas coisas no pertencem religio. Um cristo, tal como um pago, deve ser poupado a toda a violncia, a toda a injustia". Nem a Igreja pode derivar nenhum direito do Estado, nem o Estado da Igreja. "A igreja, quer nela entre o magistrado ou 118 dela saia o magistrado, permanece sempre o que era, uma sociedade livre e voluntria; nem adquire o poder da espada por nela entrar o magistrado nem, se o magistrado sai dela, perde o direito que j tinha de ensinar e de excomungam. Embora nem mesmo na Epstola, apesar de tudo, a tolerncia encontre um reconhecimento radical porque Locke sustenta que "os que negam a existncia de Deus no podem ser tolerados de modo algum", o escrito de Locke representa, ainda hoje, a melhor justificao que a histria da filosofia nos deus da liberdade de conscincia. Por outro lado Locke no pretende negar ou diminuir o valor da religio, reduzindo-o pura f no sentido em que a f se contrape razo. Os escritores libertinos (que Locke conhecia) mostravam a tendncia para confinar no domnio da f as crenas absurdas ou repugnantes razo ( 418); Locke, que usa alguns dos argumentos de que eles se servira para negar o valor racional da religio, por exemplo a pluralidade e disparidade da f e dos cultos religiosos, afirma e defende todavia a possibilidade do carcter racional da religio o considera o cristianismo uma religio racional. A Racionalidade do cristianismo destina-se a pr em evidncia no cristianismo aquele ncleo essencial e limpo de supersties que o torna aceitvel pela razo e dele faz o melhor aliado da razo mesma pelo que toca vida moral do gnero humano. O ncleo essencial do cristianismo , segundo Locke, o reconhecimento de Cristo como Messias e o reconhecimento da verdadeira natureza de Deus. Estes so os nicos artigos de f neces119 srios ao cristianismo e constituem uma religio simples, adaptada compreenso dos literatos e dos trabalhadores, e livre da subtileza dos telogos. Naturalmente, a f em Cristo implica tambm a obedincia aos seus preceitos, conquanto ningum seja obrigado a conhecer todos estes preceitos, que cada qual deve procurar aprender e compreender por si prprio nas Sagradas Escrituras. A justificao do cristianismo reside, segundo Locke, na sua
racionalidade e utilidade. Sem ele, "a parte racional e pensante do gnero humano" poderia decerto ter descoberto "o nico, supremo e indivisvel Deus"; mas, para todo o resto da humanidade, esta descoberta teria permanecido invivel. A revelao crist difundiu-a em todo o mundo. E, alm disso, deu autoridade e fora a estes preceitos morais que de outro modo teriam sido apenas o patrimnio dos filsofos. Por outros termos, o cristianismo foi para Locke uma nova, mais vasta e eficaz promulgao da lei moral e das verdades fundamentais que regem a vida humana. A caracterstica desta posio de Locke que o cristianismo no estranho razo, de modo que no tem necessidade de ser expurgado do exterior, por obra dela, de uma parte supersticiosa e caduca. A razo de certo modo intrnseca ao prprio cristianismo, que nasceu como esforo de libertar a humanidade de antigos vnculos e tradies; porque a "racionalidade" lhe conatural e constitui um trao que lhe assegurou no passado e lhe assegura no presente a funo histrica. Uma vez mais, para Locke, a razo no uma fora estranha 120 experincia humana fazendo em redor de si o vazio e destruindo os campos especficos em que essa experincia se articula, mas antes uma fora que actua no interior destes campos e lhes assegura a vida e a validez. 462. LOCKE: A EDUCAO Neste sentido de "razo", a educao do homem uma educao pela razo. Os Pensamentos sobre a educao de Locke so uma obra circunstancial que tem como escopo declarado o delinear o projecto da educao de um jovem pertencente aristocracia inglesa. Mas este projecto no tem simplesmente em mira a formao das boas maneiras ou, em geral, de uma cultura que ponha o jovem sua vontade e lhe permita brilhar no ambiente a que destinado. Locke decididamente adverso a uma educao dessas e antes insiste no carcter subordinado da cultura. "Admito que o ler, o escrever e a cultura sejam necessrios, diz Locke, mas no que sejam a coisa ms importante. Creio que considerareis muito estpido quem no estimasse infinitamente mais um homem virtuoso e sage do que um grande erudito" (Pensamento, 147). Por outro lado, a educao deve antes ter por alvo o ambiente ou o grupo social a que o indivduo pertence: no pode ser, segundo Locke, a educao de um indivduo abstrado dos seus vnculos com a sociedade. Mas isto no quer dizer que ela no deva capacitar o indivduo a julgar e criticar as opinies, os costumes, as supersties do 121 ambiente a que pertence. Sob este aspecto, a tarefa fundamental da educao a de preparar o indivduo a fazer prevalecer, nos seus comportamentos, as exigncias da razo. As virtudes, o carcter, a sageza, so os aspectos com que se configura em
Locke o objectivo da educao; mas este objectivo pode ser reassumido na prevalncia da razo. "Parece-me evidente que o princpio de toda a virtude e de toda a excelncia consiste em nos privamos da satisfao dos nossos desejos quando estes no sejam autorizados pela razo" (1b., 38). Conformemente ao conceito que Locke tem da razo, a prevalncia desta no homem s se pode obter preparando o homem a exerc-la sobre os contedos particulares que a experincia lhe oferece. A razo no fecha o homem em si mesmo, mas abre-o ao mundo. Isto faz com que a educao possa formar, mediante o exerccio, um conjunto de habilitaes ou de capacidades inteligentes que permitem ao homem afrontar e dominar as mais diversas circunstncias da vida. Por outro lado, uma educao pela razo no concebida sem o reconhecimento e a formao do senso da dignidade humana. Desta exigncia procede a condenao das punies corporais como meio de educao. Estas punies reforam mais do que enfraquecem a propenso natural para o prazer porque a estimulam fortemente; tornam odiosas as coisas que querem inculcar; finalmente, produzem uma "disciplina de escravos". "0 pequerrucho, diz Locke, submetese e simula a obedincia enquanto se encontra dominado pelo temor do 122 aoite; mas assim que este desaparece como o facto de no ser visto lhe assegura a impunidade, ainda mais d vazo sua tendncia". Em casos extremos, isto , quando parece ter-se atingido o resultado desejado, tais punies fazem de um jovem desordenado "uma criatura estupidificada" (Ib., 35, 48, 52). s punies como instrumentos de educao Locke quer que se substitua o sentimento da honra, isto , o desejo de obter a aprovao dos outros e de evitar a sua reprovao ou desestima. Trata-se de um incentivo de natureza eminentemente social, que estimula fortemente as relaes do jovem educando com o grupo a que pertence; mas trata-se sobretudo, na mente de Locke, de um incentivo que no destri nem diminui a dignidade da pessoa racional. NOTA BIBLIOGRFICA 452. A primeira ed. completa das obras de Loeke foi publicada em Londres em 1714; outra ed.: Works, 9 vol., Londres, 1824, 1853. An Essay Concerning Human Understanding, edit. Campbell Fraser, 2 vol., Oxford, 1894; An Essay Concerning the Understanding, KnowIedge, Opinion and Assent (Draft B), edit. B. Rand, Harvard, 1931; An Eark Draft of Lockels Essay (Draft A), edit. R. I. Aaron e J. Gibb. Oxford, 1936; Essays on the Law of Nature, The Latin Text with a translation, introduction and notes, together with transcripts of Locke's shorthand in His Journal for 1676, edit. von Leyden. Oxford, 1954 (com importante introduo); Two Treatise8 Of Governement, edit. P. Laslett, Combridge@ 123
1960; Escritos editados e inditos sobre a tol--rncia, ao cuidado de C. A. Viano, Turim, 1961 (contm dois tratados inditos sobre os poderes reflgiosos, do magistrado civil, um em ingls (1660), o outro em latim (lC>60-62), com as suas tradues italianas; o texto ingls revisto e a traduo ital. de An Essay Concerning Toleration, e a trad. ital. da Epfstola). Trad. ital.: do Essay, de C. Pellizzi, Bari, 1951; dos Two Treatises, de L. Pareyson, Turim, 1948; do Draft B., de Car,11n1 in La conoscenza uInana, Bari, 1948; do Draft A, de V. Sainati em Apndice cit. trad. do Ensaio; dos Escritos sobre a tolerncia, de Viano (op. cit.). Sobre a vida: LORD KING, The Life of J. L. with Extracts from his Correspondance. Journal and Common-Place Book, Londres, 1829, 1853; M. CRANSTON, J. L., A Biography, London, 1957. 453. Sobre a vida e formao filosfica de Locke em relao com a cultura e os acontecimentos polticos do tempo, e bem assim sobre os tenias principais da filosofia de Locke fundamental: C. A. VIANO, J. L., Dal razionalismo all'Ul~nismo, Turim, 1960. Inltre: A. CAMPBELL FRAsER, L., Londres@ 1908; DMIER, J. L., Mancliester, 1933; R. I. AARON, J. L., Oxford, 1937. 460. S. P. LAMI3RECHT, The Moral and Political Theory of J. L., Nova Yorque, 1918. 461. E. E. WORCESTER, The Religious Opinions of J. L., Geneivra, Nova Yorque, 1889; H. I. MeLAcHLAN, The Religious Opinions of Milton, Locke and Newton, Manchester University Presa, 1941. Bibl.: H. O. Christophersen, A Bibliographical Introduction to the Study of J. L., Oslo, 1930; VIANO, op. cit. 124 Ix BERKELEY 463. BERKELEY: VIDA EESCRITOS A doutrina de Berkeley a escolstica do empirismo. O empirismo de Locke tomado por Berkeley como ponto de partida e fundamento de uma defesa dos valores morais e religiosos. Berkeley encontra-se, frente ao empirismo, na mesma posio em que Malebranche se encontra frente ao cartesianismo: ambos utilizam uma ou outra filosofia para uma defesa da espiritualidade religiosa, ainda que procurem complet-la com as doutrinas do neoplatonismo tradicional. Jorge Berkeley nasceu em Dysert na Irlanda a 12 de Maro de 1685. Licenciou-se em Dublin em 1707 e conseguiu rapidamente formular o princpio da sua filosofia, o imaterialismo, que desde o princpio concebeu como esforo dirigido a reforar 125
a conscincia religiosa e a defender os seus valores fundamentais. Aos 24 anos, em 1709, publicava o Ensaio de uma nova Teoria da Viso; e um ano depois (1710), o Tratado sobre os Princpios do Conhecimento Humano, cujo intento principal explicitado pelo subttulo: "onde se investigam as principais causas do erro e das dificuldades nas cincias com os fundamentos do cepticismo, do atesmo e da irreligio." Em 1713 Berkeley dirigiuse a Londres onde frequentou a brilhante sociedade do seu tempo e travou amizade com os personagens mais conhecidos da poltica e da literatura, entre outros com o seu conterrneo Jonathan Swift. Ali publicou os Trs Dilogos entre Hylas e Philonous (1713) onde reproduziu na forma dramtica do dilogo as teses do tratado. Nos anos seguintes, Berkeley viajou por Itlia (1714, 1716-20) e desta viagem deixou-nos uma narrao descritiva no Dirio em Itlia que s foi publicado em 1871. Regressado a Inglaterra, publicava em 1721 um escrito de filosofia natural De Motu e um Ensaio para Prevenir a Runa da Gr-Bretanha. Em 1723 formulou o grande projecto de evangelizar e civilizar os selvagens da Amrica. Julgando que o seu projecto havia chamado a ateno do pblico e do governo, partiu em 1728 para fundar um colgio nas ilhas Bermudas. Deteve-se em Rhode Island para esperar (inutilmente) os subsdios prometidos e permaneceu ali at fins de 1731. Nestes trs anos comps o Alcifrn, dilogo polmico contra os livres-pensadores do tempo, o qual foi publicado em 1732. Regressado a Londres, pediu e obteve a 126 sua nomeao como bispo de Cloyne na Irlanda e estabeleceu-se ali (1734), dedicando-se a numerosas obras filantrpicas e morais. Por ocasio das epidemias que assolaram a Irlanda em 1740, julgou ver na gua de alcatro um remdio miraculoso. Escreveu ento a Siris ou "Cadeia de Reflexes o investigaes filosficas em torno da virtude das guas de alcatro e outros diversos argumentos relacionados entre si e que derivam uns dos outros." Em 1752 estabeleceu-se em Oxford e ali morreu em 14 de Fevereiro de 1753. A preocupao dominante de Berkeley no a filosfica mas a religio; e a prpria religiosidade considerada por ele de um ponto de vista mais prtico do que especulativo, como fundamento necessrio da vida moral e poltica. A doutrina que lhe assegura um lugar eminente na histria da filosofia o seu espiritualismo imaterialstico- por si considerada simplesmente como. um instrumento de apologtica religiosa, no como fim em si prpria. Por outro lado, ela s ocupa a sua actividade juvenil, at 1713, isto at idade de 28 anos. Nas obras seguintes, aquela doutrina, mesmo sem ser expressamente contraditada ou negada, posta de lado e so procurados noutra parte, isto , no neoplatonismo tradicional, os elementos de uma apologtica religiosa. O Alcifrn e o Siris so as obras principais deste segundo perodo; mas escritos menores de Berkeley revelam igualmente a inteno da sua actividade filosfica. Assim, no Analista, "discurso dirigido a um matemtico incrdulo" (1734), 127 defende a tese de que os ltimos fundamentos da matemtica so to incompreensveis como as verdades do cristianismo e que, por isso, se se tem f nas matemticas, com maior razo se deve crer nas verdades religiosas, - tese que retoma na Defesa do livre Pensamento na Matemtica (1735), fazendo ressaltar a contradio em que caem alguns matemticos que " acreditara na doutrina das fluxes"
mas "pretendem, rejeitar a religio crist porque no podem crer aquilo que no compreendem ou porque no podem assentir sem evidncia ou porque no podem submeter a sua f autoridade" (Works, 111, p. 66). Vista no seu conjunto, a obra de Berkeley revela claramente o seu carcter apologtico e a natureza escolstica do seu aspecto mais propriamente filosfico. Nos escritos juvenis, Berkeley vale-se do empirismo para combater o materialismo e o cepticismo da gerao em que nasceu. A concluso apologtica naquelas obras o resultado de uma crtica filosfica negativa. Nas obras da maturidade, ilustra e defende positivamente os princpios da religiosidade, tal como os entende, recorrendo ao auxlio da literatura tradicional. A unidade da personalidade de Berkeley no est, pois, nem no empirismo dos primeiros escritos nem na metafsica neoplatnica dos escritos posteriores. a unidade de uma personalidade religiosa que se volta gradualmente da defesa negativa da religiosidade para um esclarecimento positivo das suas exigncias e do seu contedo doutrinal. 128 464. BERKELEY: O NOMINALISMO Numa colectnea juvenil' de pensamento (Commonplace book, publicado em 1871), Berkeley apresentava j sob a forma de apontamentos soltos os temas sobre que devia insistir a sua especulao. Estes temas aparecem claramente no seu primeiro escrito Ensaio de uma Teoria da Viso. A tese de Berkeley a de que a distncia dos objectos ao olho no se v, mas somente sugerida ao esprito pelas sensaes que derivam dos movimentos do globo ocular. Assim a grandeza dos objectos e a sua situao recproca no so vistas directamente: so apenas interpretaes do significado tctil das cores, as quais so na realidade as nicas coisas verdadeiramente vistas pelos olhos. A coincidncia das sensaes tcteis e das visuais no justificada por nada. Umas e outras sensaes so simplesmente sinais com os quais constituda a linguagem da natureza dirigida por Deus aos sentidos e inteligncia do homem. Esta linguagem tem por fim instruir o homem a regular as suas aces para obter aquilo que necessrio sua vida e evitar aquilo que pode destru-la (Teoria da Viso, 147). J nesta anlise da viso Berkeley prescinde de qualquer referncia a uma realidade externa e reduz as sensaes a sinais de uma linguagem natural que o meio de comunicao entre Deus e o homem. A negao da realidade externa torna-se um tema das obras seguintes. Na introduo do Tratado sobre os Princpios do Conhecimento Humano, Berkeley estabelece as 129 suas premissas gnoseolgicas. A causa principal dos erros e das incertezas que se encontram na filosofia a crena na capacidade do esprito em formar ideias abstractas. O esprito humano, quando reconheceu que todos os objectos extensos tm como tais
qualquer coisa em comum, isola este elemento comum dos outros elementos (grandeza, figura, cor ete.) que diferenciam os prprios objectos e forma a ideia abstracta de extenso que no linha, nem superfcie, nem slido e no tem figura nem grandeza, mas est completamente separada de todas estas coisas. Do mesmo modo forma a ideia abstracta de cor, que no nenhuma das cores particulares, e de homem que no possui nenhum dos caracteres particulares, prprios dos homens singulares. Ora Berkeley nega que o esprito humano ,tenha a faculdade de abstraco e que as ideias abstractas sejam legtimas. A ideia de um homem sempre a de um homem particular, branco ou negro, alto ou baixo, ete. A ideia da extenso sempre a de um objecto particular extenso com determinada figura e grandeza, e assim sucessivamente. No h a ideia de homem que no tenha caracteres particulares, como no h na realidade um homem de tal gnero. Estas consideraes servem a Berkeley para defender um nominalismo que ainda mais radical do que o de Locke e que deriva tambm directamente de Ockham. As ideias a que Locke chama gerais no so ideias abstractas, como sustenta, mas ideias particulares tomadas como sinais de um grupo de outras ideias particulares afins entre si. O carcter de universalidade que a 130 ideia particular adquire por este modo deriva apenas da sua relao com as outras ideias particulares em lugar das quais pode estar, e deve-se portanto sua funo de sinal. O tringulo que um gemetra tem presente para demonstrar um teorema qualquer sempre um tringulo particular, por exemplo issceles; mas dado que desses caracteres particulares no se faz meno no curso da demonstrao, o teorema demonstrado vale por todos os tringulos indistintamente, cada um dos quais pode tomar o lugar daquele considerado. Esta a nica universalidade que as nossas ideias podem ter. Quanto s ideias abstractas, a sua origem deve-se simplesmente ao mau uso das palavras e o melhor meio de nos libertarmos dele e de evitar as confuses e os problemas fictcios a que do origem, o de incidir a nossa ateno sobre as ideias e no sobre as palavras que as ideias exprimem. Desta maneira se conseguir facilmente a clareza e a distino que so os critrios da sua verdade. - Esta reduo das ideias gerais a sinais para Berkeley apenas o ponto de partida de um nominalismo radical cujas etapas seguintes sero: 1.a a reduo de toda a realidade sensvel a ideia; 2.11 a reduo da ideia a sinal de uma linguagem divina. 465. BERKELEY: O IMATERIALISMO Berkeley adopta o princpio cartesiano, j aceite por Locke, de que os nicos objectos do conhecimento humano so as ideias. Aquilo a que ns 131 chamamos coisa no mais do que uma coleco de ideias; por exemplo, uma ma conjunto de uma certa cor, de um aroma, de uma figura, de uma consistncia determinada. Ora, para existirem, as ideias tm necessidade de ser percebidas: o seu esse, diz Berkeley (Princpios, 3), consiste no
percipi, e no pois possvel que existam num modo qualquer fora dos espritos que os percebam. Comummente cr-se que as coisas naturais (os homens, as casas, as montanhas etc.) tm uma existncia real distinta que o intelecto tem delas: distingue-se o ser percebido de uma coisa do seu ser real. Mas esta distino no mais que uma das muitas abstraces que Berkeley condenou antecipadamente. Na realidade impossvel conceber uma coisa sensvel separada ou distinta da percepo relativa. O objecto e a percepo so a mesma coisa e no podem ser abstradas uma da outra. Isto quer dizer que no existe uma substncia corprea. ou matria, no sentido em que comummente se entende, isto , como objecto imediato do nosso conhecimento. Este objecto somente uma ideia e a ideia no existe se no for percebida. A nica substncia real , pois, o esprito que percebe as ideias (lb., 7). Mas alm desta primeira forma de materialismo, existe outra mais refinada pela qual se admite que os corpos materiais no so imediatamente percebidos, mas so os originais, os modelos das coisas ideias que seriam cpias suas ou imagens. Berkeley ,Tebate que se estes exemplares externos das nossas ideias so perceptveis so ideias; e se no so 132 perceptveis impossvel que possam assemelhar-se s ideias dado que uma cor, por exemplo, nunca ser semelhante a qualquer coisa invisvel. Assim este ponto de vista (que era o de Locke) eliminado. Entre as qualidades primeiras e segundas no h nenhuma diferena. Em primeiro lugar, as qualidades primeiras no existem sem as segundas; no h, por exemplo, uma extenso que no seja colorida. E em qualquer caso a forma, o movimento, a grandeza, etc., so ideias exactamente como as cores, os sons, etc. No podem, pois, subsistir fora de um esprito que as perceba, e no so mais objectivas que as chamadas segundas. O ltimo refgio do materialismo pode ser o de admitir a substncia material como um substracto das qualidades sensveis. Mas na medida em que este substracto material deve ser por definio diferente das ideias sensveis, no ter nenhuma relao com a nossa percepo e no ter maneira de demonstrar a sua existncia. To-pouco poderia ser considerado como a causa das ideias porque no se pode chegar a conceber como que um corpo age sobre o esprito ou pode produzir uma ideia. A matria, se existisse, seria inactiva e no poderia produzir nada; muito menos poderia produzir uma coisa no material como a ideia. A afirmao da realidade dos objectos sensveis fora do esprito , pois, para Berkeley, absolutamente privada de sentido. Ns podemos indubitavelmente pensar que h rvores num parque ou livros numa biblioteca sem que ningum os perceba; mas isto equivale a pens-los como no pensados, pre133 cisamente no momento em que se pensa neles, o que uma contradio evidente (lb., 23). As ideias devem indubitavelmente ter uma
causa, mas esta causa no pode ser, como se viu, a matria; e no podem ser tambm as prprias ideias. As ideias so essencialmente inactivas: esto absolutamente privadas de fora e de aco. Activo apenas o esprito que as possui. O nosso esprito pode, portanto, agir sobre as ideias e age de facto unindo-as e variando-as sua vontade. Mas no tem poder sobre as ideias percebidas actualmente, isto sobre aquelas a que ns chamamos habitualmente coisas naturais. Estas ideias so mais fortes, mais vivas e mais distintas do que as da imaginao. Tm tambm uma ordem e uma coerncia bastante superiores das ideias agrupadas pelos homens. Devem, pois, ser produzidas em ns por um esprito superior que Deus. Aquelas a que ns chamamos leis da natureza so as regras fixas e os mtodos constantes mediante os quais Deus produz em ns as ideias dos sentidos. Ns aprendemos essas regras da experincia, a qual nos ensina que uma ideia acompanhada por uma outra no curso ordinrio das coisas. Assim estamos em posio de nos regular nas necessidades da vida; e sabemos, por exemplo, que os alimentos nutrem, o fogo queima, etc. A ordem pela qual as ideias naturais se apresentam demonstra, portanto, a bondade e a sabedoria do esprito que nos governa (Ib., 29-32). Berkeley no pretende com isto retirar toda a realidade ao conhecimento e reduzi-lo a fantasia ou sonho. Considera ter estabelecido solidamente a dife134 rena entre sonho e fantasia, reconhecendo que as ideias a que ns chamamos coisas reais so produzidas nos nossos sentidos por Deus e que as outras, bastante menos regulares e vivas, a que ns chamamos propriamente ideias, so as imagens das primeiras (Ib., 33). Mas no contrrio ao uso do termo coisas para indicar as ideias reais provenientes de Deus. uma questo de palavras: o importante no atribuir s chamadas coisas uma realidade exterior ao esprito (Dial., 111; Works, 1, p. 471). To-pouco admite que as ideias no existam de facto nos intervalos em que no so percebidas por cada um de ns e que por isso as coisas seriam aniquiladas e criadas a todo o momento, quando no so percebidas por ns, so percebidas por outros espritos (Princ., 48). Neste sentido, as coisas podem dizer-se tambm externas com respeito sua origem, na medida em que no so geradas no prprio interior do esprito, mas impressas nele por um esprito diferente daquele que as percebe (1b., 90). Berkeley admite assim que Deus conhece tudo aquilo que objecto das nossas sensaes; mas nega que em Deus este conhecimento seja uma experincia sensvel semelhante nossa porque tal experincia incompatvel com a perfeio divina. Deus emprega antes as sensaes como sinais para exprimir ao esprito humano as suas prprias concepes (Dial., 111; Works, 1, p. 458-59). Berkeley faz ver imediatamente a vantagem que desta negao da matria deriva para a religio. Se se admite que a matria real, a existncia de 135 Deus torna-se intil porque a Prpria matria se torna a causa de todas as Coisas e das ideias que esto em ns. Nega-se assim todo o desgnio providencial, toda a liberdade e inteligncia na formao do mundo, a imortalidade da alma e a possibilidade da ressurreio. A existncia da matria * principal fundamento do atesmo e do fatalismo * o Prprio Princpio da idolatria depende dela. Uma vez banida a matria, s se Pode recorrer a Deus para explicar a origem, a ordem e a beleza das nossas ideias sensveis e a Prpria existncia das coisas sensveis se apresenta como a evidncia imediata da existncia de Deus. A Considerao e o estudo da natureza adquirem neste caso um imediato significado religioso j que dar-se conta das 'leis naturais significa interpretar a linguagem atravs da qual Deus nos descobre os seus atributos e nos guia para a felicidade
da vida. A cincia da natureza uma espcie de gramtica da linguagem divina: considera mais os sinais do que as causas reais. A filosofia a verdadeira leitura da lngua. linguagem divina da natureza Porque descobre o seu significado religioso (princ.@ 108-109). Por isso a cincia da natureza pra nos sinais desta linguagem e nas suas relaes; a filosofia eleva-se grandeza, sabedoria e benevolncia do criador (1b., 109). O imaterialismo torna alm disso indubitvel a imortalidade da alma. O esprito, isto a substncia que pensa, percebe e quer, no tem qualquer carcter comum com as ideias. As ideias so passivas, o esprito actividade; as ideias so passa136 geiras e mutveis, o esprito uma realidade permanente e simples, estranha a toda a composio. Como tal a alma do homem naturalmente imortal (1b., 141). O esprito e as ideias so to diferentes nem sequer podemos dizer que temos uma ideia do esprito. Conhecemo-lo, sim, e com absoluta certeza; mas este conhecimento deve chamar-se antes noo porque completamente diferente das ideias que constituem o mundo natural (lb., 142). Por sua vez, os espritos distintos do nosso s nos so conhecidos atravs das ideias que produzem em ns. O conhecimento deles no imediato como o que temos do nosso prprio esprito; mas mediato e indirecto, isto , atravs dos movimentos, das mudanas e das combinaes das ideias pelas quais somos informados da existncia de certos seres particulares semelhantes a ns. Sendo a maior parte das ideias aquilo a que ns chamamos "obras da natureza", elas revelam-nos directamente a aco de Deus como de um esprito nico, infinito e perfeito. A existncia de Deus bastante mais evidente do que a dos homens (Ib., 147). 466. BERKELEY: A METAMICA NEoPLATNICA Os fundamentos doutrinrios at agora expostos constituem as teses das obras juvenis de Berkeley. J nestas obras no so consideradas como fins em si mesmos mas s como meios aptos a defender e a reforar a religio nos homens. Este fim apologtico torna-se cada vez mais dominante nas obras seguintes. Estas no repudiam as teses tpicas do 137 imaterialismo e da reduo das coisas naturais a simples ideias; mas, de algum modo, pem-nas entre parntesis, insistindo cada vez mais numa metafsica religiosa tomada do neoplatonismo. A passagem da primeira para a segunda fase d,@ Berkeley pode-se descobrir no breve escrito latino De motu de 1721. A tese deste escrito a de que "aqueles que afirmam que h nos corpos uma fora activa, aco e princpio de movimento, no se fundam em nenhuma experincia, servem-se de termos gerais e obscuros e no compreendem o que querem. Pelo contrrio, aqueles que afirmam que o princpio do movimento a mente, sustentam uma doutrina que defendida pela experincia e aprovada pelo consenso dos homens mais doutos de todos os tempos" (De motu, 31). A mente de que aqui se fala o prprio Deus, "o qual move e contm toda esta mole corprea e a causa verdadeira, eficiente do movimento e da prpria comunicao do movimento". Berkeley reconhece, contudo, que na filosofia natural preciso buscar as causas dos fenmenos em princpios mecnicos enquanto que na metafsica se chega causa verdadeira e activa, isto ao prprio Deus (1b., 69-72). As obras seguintes, de Berkeley insistem cada vez mais nesta metafsica que v em Deus a mente e o princpio informador do universo.
O Alcifron , como diz o subttulo, uma "apologia da religio crist contra os chamados livres-pensadores." dirigido contra o desmo iluminista que separava da religio a moral e reduzia a prpria religio a princpios racionais independentes de 138 toda a revelao. Se bem que as primeiras obras de Berkeley dem um conceito da divindade bastante prximo do dos chamados livres-pensadores, porque fundado unicamente na razo natural e no na revelao, o Alcifron afirma decididamente a insuficincia da religio natural. Esta nunca chega a ser uma autntica e sentida f que se manifeste em oraes e actos externos de culto, nem mesmo naqueles que a professam, nem nunca se pode tornar a religio popular ou nacional de um pas (Ale., V, 9). A revelao necessria religio para que seja verdadeiramente operante no esprito e nas aces dos homens e exerce uma aco benfica sobre os seus costumes. No possvel moral sem religio; e dado que a religio se funda na f em Deus, o IV Dilogo da obra retoma os argumentos aduzidos na Nova Teoria da Viso que concluem mostrando no universo natural a linguagem que Deus fala aos homens. Os objectos prprios da vista, diz Berkeley (1b., IV, 10), "so luzes e cores com diferentes sombras e graus, as quais, infinitamente variadas e combinadas, formam uma linguagem maravilhosamente adaptada a sugerir-nos e a mostrar-nos as distncias, as figuras, as situaes, as diminuies e as vrias qualidades dos objectos tangveis no por semelhana nem por conexo necessria, mas pela arbitrria imposio da providncia, precisamente como as palavras sugerem as coisas que elas significam." Deste modo Deus fala aos nossos olhos e devemos aprender a linguagem divina e reconhecer atravs dela a sabedoria e a bondade de Deus. Os ltimos dilogos do Alcifron 139 so dirigidos a reivindicar a superioridade do cristianismo sobre as outras religies e a defender os milagres e os mistrios do mesmo cristianismo com o argumento de que eles no so mais incompreensveis do que os fundamentos das cincias naturais e, portanto, do que toda a experincia humana. Mais afastada ainda da gnoseologia das primeiras obras a Siris que todo um tecido de reminiscncias e de citaes tomadas da tradio religiosa neoplatnica. Depois de ter falado das virtudes medicamentosas da gua de alcatro, Berkeley passa a explicar o modo como ela age e chega a reconhecer que o princpio da sua aco o mesmo que age em todo o universo: um fogo invisvel, luz, ter ou esprito animado do universo. O ter anima todas as coisas comunicando a todos os seres uma centelha vital que, depois do fim do ser singular, torna a fundir-se com ele. Mas o ter apenas o meio universal de que Deus se serve para explicar a sua aco. A causa primeira no pode ser seno espiritual porque s o esprito activo. A cadeia dos fenmenos fsicos, aos quais permanece limitada a cincia natural, deve at um certo ponto fundamentar-se no entendimento divino como causa de todo o fenmeno e de todo o movimento (Siris, 237). E a propsito da essncia divina,
Berkeley reproduz as especulaes do neoplatonismo, reconhecendo nela trs hipstases: a Autoridade, a Luz e a Vida, as quais se integram mutuamente dado que no pode haver autoridade ou poder sem luz ou conhecimento e no pode haver nem uma nem outra coisa sem vida e aco (1b., 361). 140 Aqui no se faz j referncia irrealidade das coisas materiais e sua reduo s ideias. Todavia, esta metafsica substancialmente idntica pressuposta nas primeiras obras. As coisas so sempre e apenas manifestaes da aco divina, sinais naturais do entendimento activo; no tm realidade nem actividade por sua conta, mas nelas age e se revela o prprio Deus. Da primeira ltima das suas obras, Berkeley permaneceu fiel ao seu intento fundamental: o de justificar a vida religiosa como um dilogo entre Deus e o homem, dilogo no qual Deus fala ao homem mediante aqueles sinais ou palavras que so as coisas naturais e o homem pode, atravs destas palavras, chegar at Deus. O empirismo colocou Berkeley em condies de eliminar o obstculo ao dilogo representado pelo mundo material e descobrir nas coisas naturais as palavras de Deus, os sinais da sua imediata revelao. O carcter nitidamente religioso da obra de Berkeley por ltimo evidente no princpio por ele proposto como fundamento da moral poltica: a obedincia passiva ao poder constitudo. Num discurso publicado em 1712 sobre a Obedincia Passiva ou Princpios da Lei da Natureza, Berkeley afirma que o homem no pode alcanar a sua felicidade confiando-se ao seu juzo particular mas apenas conformando-se com leis determinadas e estabelecidas. Estas leis so impressas no seu esprito por Deus e a obedincia a elas portanto a prpria obedincia a Deus. Berkeley identifica estas leis naturais divinas com as leis da sociedade e, 141 portanto, afirma que "a fidelidade ou submisso autoridade suprema tem, quando praticada simultaneamente com as outras virtudes, uma conexo necessria com o bemestar de toda a humanidade; e que por consequncia um dever moral ou um ramo da religio natural" ( 16). Rejeita, portanto, a doutrina do contrato como origem da sociedade civil e a legitimidade moral da rebelio autoridade do governo. Os inconvenientes a que a obedincia passiva pode conduzir no so diferentes dos inconvenientes que podem resultar do cumprimento de qualquer outro dever moral: no podem, portanto, limitar aquela obedincia assim como no limitam estes outros deveres. A liberdade de crtica recuperada pelo indivduo no caso de mudanas ou flutuaes do governo; mas essa liberdade cessa quando a constituio clara e o objecto da submisso indubitvel. Em tal caso, nenhum pretexto de interesse, de amizade ou de bem pblico pode eximir da obrigao de obedincia passiva (lb., 54). Berkeley colocava como epgrafe do seu escrito o versculo de S. Paulo (Rom., XIII, 2): "Todo aquele que resiste ao Poder resiste ordem de Deus"; e considerava que esclarecia deste modo a prpria essncia da moral poltica do cristianismo. NOTA BIBLIOGRFICA 463. De Berkeley: Works, ed. Campbell Fraser, 4 vols., Landres, 1871; Oxford, 1901; ed.
T. E. Jessap e A. A. Luce, 9 vols., Londres, 1948-57. 142 Tradues italianas: Appunti (Commonplace Book), trad. M. M. Rossi, Bolonha, 1924, Saggio di una nuova teoria della visione, trad. G. AmendGla, Lanciano, 1923; Trattato e Dialoghi, trad. G. Papini, Bari, 1909; Alcifrone (os primeiros cinco dilogos), trad. L. Dl Boca, Torino, 1932. So-bre a vida de Berkeley: A. Campbe,11 Fraser no vol. IV da citada edio das obras. 448. A. CAMPBELL FRASER, B., Edimburgo, 1881; A. LEvI, La fi!osofia di Berkeley, Turim, 1922; R. METZ, G. B. Leben und Lehre, Stuttgart, 1925; JOHNSTON, The Development of Berkeley, Philosophy, Londres, 1923; G. DAWES HICKS, BerkeTey, Londres, 1932; M. WILD, G. B., A Study of his Life and Philosophy, Gambridge, 1936; M. BALADI, La Pense religicuse de Berkeley et Punit de sa philosophie, Cairo, 1945; M. M. Rossi, Saggio su Berkeley, Bari, 1955. Bibliogra,fia: JEssop e LUCE, A Bibliography, of Georgy Berkeley, Oxford, 1934; completada in. "Revue Internacional de Philosophie", 1953, n., 23-24 1. 1 Nota do Tradutor. Edies em lngua portuguesa: Jorge Berkeley, Trs Di7ogos entre Hilas e Filonous em oposi&o aos cpticos e Ateus, trad., pref. e notas de Antnio Srgio, Coimbra Editora, Coimbra, 2.a ed., 1965; J. B., Tratado do Conhecimento Humano, trad. e pref. de Vieira de Almeida, Coimbra Editora, Coimbra, 1958. 143 X HUME 467. HUME: VIDA E ESCRITOS Ao restringir o conhecimento humano nos limites da experincia, Locke no tinha inteno de diminuir o seu valor; antes lhe reconhecera, em tais limites, plena validade. Hume leva o empirismo a uma concluso cptica: a experincia no est em condies de fundamentar a validade plena do conhecimento, o qual, encerrado nos seus limites, no certo mas somente provvel. A posio de Hume renova assim, no esprito do empirismo, o probabilismo acadmico. David Hume nasceu em 26 de Abril de 1711 em Edimburgo. Estudou jurisprudncia naquela cidade; mas os seus interesses estavam voltados para a filosofia e a literatura.
Depois de uma dbil 145 e brevssima tentativa de advocacia em Bristol mudou-se para Frana onde permaneceu trs anos (1734-1737) a prosseguir os seus estudos. Estabeleceu ento aquele plano de vida que seguiu depois constantemente. "Resolvi suprir a minha fraca fortuna com uma frugalidade rgida, manter intacta a minha liberdade e considerar como desprezvel tudo o que estivesse fora da aplicao do meu engenho para as letras." Durante a permanncia em Frana, comps a sua primeira e fundamental obra, o Tratado sobre a Natureza Humana, que foi publicado em 1738 e no teve nenhum sucesso. Entretanto Hume voltara para Inglaterra e publicava aqui, em 1742, a primeira parte dos seus Ensaios Morais e Polticos que tiveram, em contrapartida, um acolhimento favorvel. Entre o ano de 1745 e o de 1748 desempenhou vrios cargos polticos, entre os quais o de secretrio do general St. Clair que o levou consigo nas suas embaixadas militares junto das cortes de Viena e de Turim. Encontrava-se precisamente em Turim quando, em 1748, saam em Londres as Investigaes sobre o Entendimento Humano que reelaboravam em forma mais simples e ch a primeira parte do Tratado. Em 1752 Hume obteve um lugar de bibliotecrio em Edimburgo e comeou a compor uma Histria de Inglaterra. No mesmo ano publicava as investigaes sobre os Princpios da Moral, reelaborao da segunda parte do Tratado, obra que ele considerava como o melhor dos seus escritos. De 1757 a Histria Natural da Religio. Mas tinha j escrito 146 antes os Dilogos sobre a Religio Natural que foram publicados postumamente (1779). Em 1763 Hume torna-se secretrio do conde de Hartford, embaixador da Inglaterra em Paris, e aqui permaneceu at 1766, frequentando, bastante bem acolhido, a sociedade intelectual da capital francesa. Regressado a Inglaterra, hospedou em sua casa Jean-Jacques Rousseau; mas o carcter sombrio do filsofo francs provocou uma ruptura entre os dois. De 1769 em diante, Hume, j rico, levou a vida tranquila do ingls acomodado e morreu em Edimburgo a 25 de Agosto de 1776. Numa breve Autobiografia, que foi composta poucos meses antes da morte (tem a data de 18 de Abril de 1776), Hume, depois de aludir doena de ventre de que sofria, acrescentava: "Agora conto com uma pronta dissoluo. Sofri pouqussimo por causa do meu mal; e o que mais estranho, no obstante a grande decadncia do meu organismo, o meu esprito nunca teve um momento de abatimento. Se tivesse que indicar o perodo da minha vida que queria escolher para voltar a viver, estaria tentado a indicar precisamente este ltimo. Tenho ainda o mesmo ardor que sempre tive no estudo e acompanha-me a mesma alegria." A obra principal de Hume continua a ser o Tratado sobre a Natureza Humana ainda que nas Investigaes sobre o Entendimento Humano e nas Investigaes sobre os Princpios da Moral tenha voltado a expor de modo muito mais rpido e claro os fundamentos essenciais daquela obra.
147 468. HUME: A NATUREZA HUMANA E O SEU LIMITE Hume quis ser e "o filsofo da natureza humana". "A natureza humana - diz ele (Treatise, 1, 4, 7) -, a nica cincia do homem; e contudo tem sido at agora a mais descurada. Terei feito bastante se contribuir para a pr um pouco mais em moda: esta esperana ajuda-me a dissipar o meu humor melanclico e a dar-me fora contra a indolncia que s vezes me domina." Na realidade todas as cincias se relacionam com a natureza humana, mesmo aquelas que parecem mais independentes como a matemtica, a fsica e a religio natural porque tambm estas fazem parte dos conhecimentos do homem e so julgadas pelos poderes e faculdades humanas. Na verdade, o nico meio de levar adiante a investigao filosfica dirigida directamente para o seu centro que a natureza humana, da qual se poder depois mover facilmente para a conquista das outras cincias que esto todas mais ou menos ligadas a ela (lb., intr.). Mas para ele a natureza humana , fundamentalmente, mais do que razo, sentimento e instinto. A prpria razo investigadora uma espcie de instinto que leva o homem a esclarecer aquilo que se aceita ou se cr. Quando a razo descobre que aquelas verdades que se consideram objectivas, isto fundadas sobre a prpria natureza das coisas, so, pelo contrrio, subjectivas e ditadas ao homem pelo instinto e pelo hbito, surge um inevitvel contraste entre a razo e o instinto. Mas o contraste resolve-se reconhe148 cendo que a prpria razo, que duvida a procura, uma manifestao da natureza instintiva do homem. Na concluso do primeiro livro do Tratado, perguntando Hume a si prprio se vale verdadeiramente a pena gastar tempo e fadiga para considerar problemas abstrusos e difceis que as impresses vivazes dos sentidos ou o curso ordinrio da vida eliminam de repente da mente, quaisquer que sejam as suas solues, consegue concluir que no pode agir de outro modo. Sente que a sua mente se recolhe em si prpria e tende naturalmente a tomar em considerao os problemas da filosofia. Sente-se descontente ao pensar que aprova uma coisa e desaprova outra, chama bela a uma coisa e feia a outra, decide do verdadeiro e do falso, da razo e da loucura, sem conhecer em que princpios se funda. A investigao filosfica germina naturalmente no seu esprito por uma espontaneidade que tambm um instinto. "Estes. sentimentos - diz -, nascem naturalmente na minha disposio presente; e se procurasse bani-los e aplicar-me a outros assuntos ou distraces, seno que perderia nisso prazer. Esta a origem da minha filosofia". (1b., 1, 4, 7). E esta , na realidade, para Hume a origem de toda a filosofia, de toda a investigao ou curiosidade humana. A filosofia que desmonta e destri as crenas fundadas sobre o instinto tambm um instinto. Como tal indestrutvel porque faz parte da natureza humana. Hume pretendeu assim radicar na prpria natureza humana o objectivo crtico e destrutivo que o 149 iluminismo considerou prprio da razo. Submeteu a crtica radical os dois conceitos
cardiais da metafsica tradicional: os de substncia e de causa. Procurou subtrair a tica e a poltica s suas imposies metafsicas reconduzindo a origem e a validade delas a necessidades ou exigncias humanas. Restringiu, sobretudo, a capacidade cognoscitiva da razo ao domnio do provvel. Admitiu, alm disso, que existe um campo do conhecimento no qual o homem pode alcanar a certeza da demonstrao, mas restringe esse campo " quantidade e ao nmero", isto ao domnio abstracto ou formal em que no se faz qualquer referncia s coisas reais. A pretenso de estender a demonstrao a outros domnios parece-lhe absurda e quimrica; e as suas investigaes sobre o Intelecto terminam com palavras que poderiam ser tomadas como o tema de toda a filosofia positiva: "Quando percorremos os livros de uma biblioteca, persuadidos destes princpios, o que que devemos destruir? Se nos vem s mos qualquer volume, por exemplo, de teologia ou de metafsica escolstica, perguntemo-nos: contm algum raciocnio abstracto sobre a quantidade ou os seus nmeros? No. Contm algum raciocnio experimental sobre questes de facto e de existncia? No. Agora podemos deit-la ao fogo porque no contm mais que sofismas e enganos." A posio de Hume no , todavia, simplesmente negativa e destrutiva. O carcter provvel das concluses que a razo pode alcanar nas questes de facto no consente passar, em tais ques150 tes, sem a ajuda da razo. Para Hume, como para Locke, como para todo o iluminismo, a razo o nico guia possvel do homem. Assim, juntamente com a ilustrao do carcter puramente emprico ou factual (isto , provvel) das conexes causais que se descobrem na natureza, encontra-se em Hume a excluso da possibilidade de admitir excepes a estas conexes como seriam os milagres. "Dado que uma experincia uniforme - diz ele -, equivale a uma prova, que uma prova directa e completa, produzida pela natureza do facto, contra a existncia de qualquer milagre, nenhuma semelhante prova pode ser destruda ou o milagre s pode tornar-se credvel por meio de uma prova oposta e que seja superior" (Inq. Conc. Underst., 10, 1). 469. HUME: Impresses E IDEIAS Todas as percepes do esprito humano se dividem, segundo Hume, em duas classes que se distinguem entre si pelo grau diferente de fora e de vivacidade com que impressionam o esprito. As percepes que penetram com maior fora e evidncia na conscincia chamam-se impresses; e so todas as sensaes, paixes e emoes no acto em que vemos ou sentimos, amamos ou odiamos, desejamos ou queremos. As imagens enfraquecidas destas impresses chamam-se ideias ou pensamentos. A diferena entre impresso e ideia , por exemplo, a que existe entre a dor de um calor 151
excessivo e a imagem dessa dor na memria. A ideia nunca pode alcanar a vivacidade e a fora da impresso e, mesmo nos casos excepcionais, quando a mente est desordenada pela doena ou pela loucura, a diferena permanece. Toda a ideia deriva da impresso correspondente e no existem ideias ou pensamentos de que se no tenha tido precedentemente a impresso. A liberdade ilimitada de que parece gozar o pensamento do homem encontra o seu limite invalidvel neste princpio. Sem dvida o homem pode compor as ideias entre si nos modos mais arbitrrios e fantsticos e lanar-se com o pensamento at aos limites extremos do universo; mas nunca dar um passo para l de si prprio, porque nunca ter na sua posse outra espcie de realidade seno a das suas impresses (Treat., 1, 2, 6). Hume mantm-se rigidamente fiel a este princpio fundamental do comeo ao fim da sua anlise. Locke, mesmo depois de ter admitido que o nico objecto do conhecimento humano a ideia, reconhecera, para l da ideia, a realidade do eu, de Deus e das coisas. Berkeley, embora negando a matria, tinha admitido a realidade dos espritos finitos e do esprito infinito de Deus, ambas realidades irredutveis s ideias. S Hume reduz totalmente a realidade multiplicidade das ideias actuais (isto das impresses sensveis e das suas cpias) e nada admite para l delas. Para explicar a realidade do mundo e do eu, no tem sua disposio mais do que as impresses, as ideias e suas relaes. Para ele toda a realidade deve reduzirse s 152 relaes com que se unem entre si as impresses e as ideias. Tal a tentativa de Hume. Mas uma tentativa que, pelo seu prprio ponto de partida, no pode conseguir fundar a realidade que examina, mas somente decomp-la nos seus elementos originrios. A concluso cptica inevitvel. Hume aceita e faz sua a negao da ideia abstracta, j defendida por Berkeley. No existem ideias abstractas, isto ideias que no tenham caracteres particulares e singulares (um tringulo que no seja equiltero nem issceles nem escaleno ou um homem que no seja este ou aquele homem, etc.); existem apenas ideias particulares tomadas como sinais de outras ideias particulares e semelhantes a elas. Mas para explicar a funo do sinal, isto a possibilidade de uma ideia evocar outras ideias semelhantes, Hume recorre a um princpio de que se servir largamente em todas as suas anlises: o hbito. Quando descobrimos uma certa semelhana entre ideias que por outros aspectos so diferentes (por exemplo, entre as ideias dos diferentes homens e dos diferentes tringulos), empregamos um nico nome (homem ou tringulo) para indicar. Forma-se assim em ns o hbito de considerar unidas de alguma maneira entre si as ideias designadas por Um nico nome; assim o prprio nome suscitar em ns no uma s daquelas ideias, nem todas, irias o hbito que temos de consider-las juntas e, por conseguinte, uma ou outra, segundo a ocasio. A palavra homem suscitar, por exemplo, o hbito de considerar conjuntamente todos os homens, 153
enquanto semelhantes entre si, e permitir-nos- evocar a ideia deste ou daquele homem singular (lb., 1, 1, 7). A funo puramente lgica do sinal conceptual que Locke e Berkeley tinham tomado de Ockham, converte-se em Hume num facto psicolgico, num hbito, privado por si de qualquer justificao. 470. HUME: AS CONEXES ENTRE AS IDEIAS As ideias que constituem o mundo da nossa experincia apresentam indubitavelmente ordem e regularidade. Tais caracteres so devidos aos princpios que as associam e unem entre si. Hume reconhece trs nicos princpios desta natureza: a semelhana, a contiguidade no tempo e no espao e a causalidade. Um retrato, por exemplo, conduz naturalmente os nossos pensamentos para o seu original (semelhana); a recordao dum quarto de uma casa leva a pensar nos outros compartimentos da mesma (contiguidade); uma ferida faz pensar seguidamente na dor que dela deriva (causa e efeito). A relao de semelhana, quando se refere a ideias simples e no a coisas reais, possui a mxima certeza e constitui o domnio do conhecimento verdadeiro, isto , da cincia. Sobre ela se fundam a geometria, a lgebra, a aritmtica cujos objectos so ideias simples que no aspiram a nenhuma rea1;dade de facto. As proposies destas cincias podem-se descobrir por uma pura operao do pensamento e a negao delas impossvel porque 154 implica contradio. "Ainda. que no existisse na natureza um crculo sequer ou um tringulo-diz Hume (Inq. Conc. Underst., 4, 1)-,as verdades demonstradas por Euclides conservariam sempre a sua certeza e a sua evidncia. "Na terminologia instaurada por Kant, proposies desta natureza so chamadas analticas porque nelas "a conexo do predicado com o sujeito pensada mediante a sua identidade" Pura, Se bem que Hume, insista na extenso e na dificuldade das operaes do pensamento que por vezes se tornam necessrias nas matemticas (Treat., 1, 3, 1; Inq. Conc. Underst., 12, 3), no h dvida de que para ele as matemticas so analticas precisamente nesse sentido. "Nas. cincias propriamente ditas diz -, toda a proposio que no verdadeira confusa e ininteligvel. Que a raiz cbica de 64 seja igual a metade de 10 uma proposio falsa que nunca pode ser concebida de modo distinto" (Inq. Conc. Underst., 112, 3). "Confusa e ininteligvel" significa contraditria: de facto, Hume contrape s proposies matemticas, cujo contrrio impossvel, as ,proposies que se relacionam com a existncia cujo contrrio sempre possvel porque "toda. a coisa que , pode no sem. A certeza das proposies que se relacionam com factos no , portanto, fundada sobre o princpio de contradio. O contrrio de um facto
sempre possvel. "0 sol no se levantar amanh" uma proposio no menos inteligvel nem mais contraditria do que a outra "o sol levantar-se- amanh". Por isso impossvel demonstrar a sua 155 falsidade. Todos os raciocnios que se referem a realidades ou factos fundam-se na relao de causa e efeito. Se se pergunta a uma pessoa por que cr rum facto qualquer, por exemplo, que um seu amigo est no campo ou noutra parte, aduzir um outro facto, por exemplo, que recebeu uma carta dele ou que conheceu precedentemente a sua inteno. Ora, a tese fundamental de Hume que a relao entre causa e efeito nunca Pode ser conhecida a priori, isto com o puro raciocnio, mas apenas por experincia. Ningum, posto frente a um objecto que para ele seja novo, pode descobrir as suas causas e os seus efeitos antes de os ter experimentado, e s raciocinando sobre eles. "Ado, ainda que as suas faculdades racionais se suponham desde o princpio perfeitas, nunca teria podido inferir, da fluidez e transparncia da gua, que esta podia afog-lo, ou da luz e do calor do fogo que podia consumi-lo Nenhum objecto descobre alguma vez, por meio das qualidades que aparecem aos sentidos, as causas que o produzem ou os efeitos que dele surgiro; nem pode a nossa razo, sem a ajuda da experincia, efectuar qualquer ilao que diga respeito a realidades ou factos" (Inq. Conc. Underst., IV, 1). Ora, isto significa que a conexo entre a causa e o efeito, mesmo depois de ter sido descoberta por experincia, permanece privada de qualquer necessidade objectiva. Causa e efeito so dois factos inteiramente diferentes, cada um dos quais nada tem em si que exija necessariamente o outro. Quando vemos uma bola de bilhar que corre em direco a outra, ainda supondo que nasa por causalidade em ns 156 o pensamento do movimento da segunda bola como resultado do seu encontro, podemos muito bem conceber outras possibilidades diferentes: por exemplo, que as duas bolas ficam paradas ou que a primeira volta para trs ou escapa por algum dos lados. Estas possibilidades no podem excluir-se porque no so contraditrias. A experincia diz-nos que s se verifica uma e que o choque da primeira pe em movimento a segunda; mas a experincia no nos ensina mais que sobro os factos que experimentmos no passado e nada nos diz acerca dos factos futuros. E dado que, mesmo depois de feita a experincia, a conexo entre a causa e o efeito permanece arbitrria, esta conexo no poderia ser tomada como fundamento em nenhuma previso, em nenhum raciocnio para o futuro. "0 po que dantes comia alimentava-me; isto , um corpo com certas qualidades sensveis estava ento dotado de foras secretas; mas segue-se da que um outro po deva alimentar-me tambm noutro tempo e que qualidades sensveis semelhantes devam ser sempre acompanhadas por iguais foras secretas? A consequncia no parece de facto necessria" (lb., IV, 2). Que o curso da natureza possa mudar, que os laos causais que a experincia nos testemunhou no passado possam no se verificar no futuro, hiptese que no implica contradio e que por isso permanece sempre possvel. Nem a contnua confirmao que a experincia faz na maior parte dos casos das conexes causais muda a questo: porque esta experincia diz sempre respeito ao passado, nunca ao futuro. Tudo aquilo que sabemos por experincia
157 que, de causas que nos parecem semelhantes, esperamos efeitos semelhantes. Mas precisamente esta suposio no justificada pela experincia: ela antes o pressuposto da experincia, um pressuposto injustificvel. Se houvesse qualquer suspeita de que o curso da natureza poderia mudar e de que o passado no serviria de regra para o futuro, toda a esperana se tornaria intil e no poderia dar origem a nenhuma inferncia ou concluso. impossvel, portanto, que argumentos tirados da experincia possam demonstrar a semelhana do passado com o futuro: todos estes argumentos esto fundados na suposio daquela semelhana. Estas consideraes de Hume excluem que o vnculo entre causa e efeito possa ser demonstrado como objectivamente necessrio, isto , absolutamente vlido. Todavia o homem julga-o necessrio e funda sobre ele todo o curso da sua vida. A sua necessidade , no entanto, puramente- subjectiva e deve procurar-se num princpio da natureza humana. Este princpio o hbito (ou costume). A repetio de um acto qualquer produz uma disposio para renovar o mesmo acto sem que intervenha o raciocnio: esta disposio o hbito. Quando vimos muitas vezes unidos dois factos ou objectos, por exemplo, a chama e o calor, o peso e a solidez, somos levados pelo hbito a esperar um quando o outro se mostra. o hbito que nos leva a crer que amanh o sol se levantar corno sempre se levantou; o hbito que nos faz prever os efeitos da gua ou do fogo ou de qualquer facto ou acontecimento natural ou humano; o hbito que guia 158 e sustm toda a nossa vida quotidiana, dando-nos a segurana de que o curso da natureza no muda mas se mantm igual e constante, donde possvel regular-se com vista ao futuro. Sem o hbito seramos inteiramente ignorantes de qualquer questo de facto, fora daquelas que nos esto imediatamente presentes na memria ou nos sentidos. No saberamos adaptar os meios aos fins nem empregar as nossas foras naturais a produzir um efeito qualquer. Cessaria toda a aco e assim tambm a parte principal da especulao (Ib., V, 1). Mas o hbito explica a conjuno que estabelecemos entre os factos, no a sua conexo necessria. Explica porque acreditamos na necessidade dos vnculos causais, no justifica essa necessidade. * verdadeiramente essa necessidade injustificvel. * hbito, como o instinto dos animais, um guia infalvel para a prtica da vida, mas no um princpio de justificao racional ou filosfico. Um princpio deste gnero no existe. 471. HUME: A CRENA Toda a crena em realidades ou factos, enquanto resultado de um hbito, um sentimento ou um instinto, no um acto de razo. Todo o conhecimento da realidade carece assim de necessidade racional e entra no domnio da probabilidade, no do conhecimento cientfico. Hume no pretende anular a diferena que existe entre a fico e a crena. A crena um sentimento natural, no submetido 159 ao poder do entendimento. Se dependesse do entendimento ou da razo, dado que esta faculdade tem autoridade sobre todas as ideias, poderia chegar a fazer-nos crer qualquer coisa que lhe agradasse: "Ns podemos - diz Hume (Inq. Cone. Underst., V, 2)-, em nossa
imaginao, juntar a cabea de um homem a um corpo de cavalo, mas no est no nosso poder crer, que um tal animal exista realmente". O sentimento da crena , portanto, um sentimento natural que, como todos os outros sentimentos, nasce de uma situao particular em que a mente se encontra. Precisamente como esse sentimento no pode ser definido; mas pode ser descrito como "uma concepo mais vivaz, mais intensa e potente do que a que acompanha as puras funes da imaginao, concepo que surge de uma conjuno habitual do seu objecto com qualquer coisa presente memria e aos sentidos". A crena , portanto, devida, em ltima anlise, maior vivacidade das impresses a' respeito das ideias: o sentimento da realidade identifica-se com a vivacidade e a intensidade prprias das impresses. Mas os homens acreditam habitualmente na existncia de um mundo externo que se considera tambm diverso e alheio s impresses que temos dele. E Hume detm-se longamente no Tratado (1, 4, 2) e brevemente nas Investigaes (XII, 1) a explicar a gnese natural desta crena. Hume comea a distinguir a este respeito a crena na existncia continuada e independente das coisas, que prpria de todos os homens e tambm dos animais, da crena na existncia externa das 160 prprias coisas, a qual supe a distino semifilosfica ou pseudofilosfica das coisas e das impresses sensveis. Pela coerncia e pela constncia de certas impresses, o homem levado a imaginar que existem coisas dotadas de uma existncia contnua e ininterrupta e, portanto, tais que existiriam mesmo que toda a criatura humana estivesse ausente ou fosse aniquilada. Noutros termos, a prpria coerncia e constncia de certos grupos de impresses faz-nos esquecer ou descurar que as nossas impresses so sempre interruptas e descontnuas e f-las considerar como objectos persistentes e estveis. Nesta fase cr-se que as prprias imagens dos sentidos so os objectos externos e no se tem qualquer suspeita de que sejam apenas representaes dos objectos. Cr-se, por exemplo, que esta mesa, que vemos de cor branca e sentimos dura, exista independentemente da nossa percepo e seja uma coisa exterior ao nosso esprito que a percebe. Esta crena que pertence parte irreflexiva e afilosfica. do gnero humano (e portanto a todos os homens num tempo ou noutro), , no entanto, rapidamente destruda pela reflexo filosfica, a qual ensina que aquilo que se apresenta mente apenas a imagem e a percepo do objecto e que os sentidos so apenas as portas atravs das quais estas imagens entram, sem que haja alguma vez uma relao imediata entre a prpria imagem e o objecto. A mesa que observamos parece diminuir quando nos afastamos, mas a mesa real, que existe independente de ns, no sofre alteraes; por isso, na nossa mente estava presente apenas a sua imagem. A reflexo 161 filosfica leva assim a distinguir as percepes, subjectivas, mutveis, e interruptas das coisas objectivas, externamente e continuamente existentes. Mas a favor desta distino no joga j o instinto natural que apoiava a primeira crena. Na verdade, trata-se de uma hiptese filosfica que no necessria razo nem imaginao e , portanto, insustentvel. A nica realidade de que estamos certos constituda pelas percepes; as nicas inferncias que podemos fazer so as fundadas na relao entre causa e efeito que s se verifica tambm entre as percepes. Uma realidade que seja distinta das percepes e exterior a elas no se pode afirmar na base das impresses dos sentidos nem na base da relao causal. A realidade externa , portanto, injustificvel; mas o instinto de acreditar nela no se pode eliminar. verdade que to-pouco a dvida filosfica em torno de tal realidade se pode desarreigar, mas a vida liberta-nos desta dvida e voltamos crena instintiva. "Aposto - conclui Hume (Treat.
1, 4, 2) que, qualquer que seja neste momento a opinio do leitor, daqui a uma hora estar convencido de que existe tanto um mundo externo quanto um mundo interno". Explicao anloga encontra nas anlises de Hume a crena da unidade e na identidade do eu. A identidade que ns atribumos ao esprito humano uma identidade fictcia, do mesmo gnero daquela que atribumos s coisas externas. No pode, portanto, ter uma origem diferente, mas o produto de uma operao semelhante da imaginao sobre objectos semelhantes. O esprito humano consti152 tudo por uma pluralidade de percepes ligadas juntamente pelas relaes de semelhana e de causalidade. Sobre as relaes de semelhana se funda a memria, dado que a imagem da memria se assemelha ao seu objecto. E ao apresentar-se percepes semelhantes fornece o primeiro ponto para produzir a ideia da identidade pessoal. A causalidade d o outro, o decisivo. As percepes diferentes ligam-se entre si pela relao de causa e efeito porque se geram, se destroem, se influenciam e se modificam reciprocamente. Hume compara a alma a uma repblica cujos diferentes membros esto unidos por um vnculo recproco de governo e de subordinao e do vida a outras pessoas, as quais continuam a mesma repblica na incessante mudana das suas partes. E como uma mesma repblica no s pode mudar os seus membros, mas tambm as suas leis e a sua constituio, assim uma mesma pessoa pode mudar caracteres e disposies e tambm as suas impresses e as suas ideias sem perder a sua identidade. Por muitas mudanas que experimente, as suas partes esto sempre ligadas pela- relao de causalidade (1b., 1, 4, 6). A crena na realidade independente e contnua do mundo externo e na identidade do eu explicam-se, portanto, como produes fictcias da imaginao, mas no se justificam na sua validade objectiva. Existe um contraste entre o instinto da vida por um lado, e a razo pelo outro que nos leva a analisar e a justificar as crenas que aquele instinto produz. Mas o contraste talvez s aparente: a prpria razo, a exigncia da investigao filos163 fica radica-se no instinto. Faz parte da natureza humana a curiosidade que leva a indagar, a necessidade de justificar aquilo que se cr. E Hume que quer esclarecer a natureza humana em todos os seus aspectos, no deixa de ter em conta tambm aquele pelo qual esta se torna problema para si prpria, e com a dvida e a investigao, tende quanto possvel a iluminar-se e a esclarecer-se. 472. HUME: OS PRINCPIOS DA MORAL Hume no toma partido na disputa que quer reconhecer apenas na razo ou apenas no sentimento o fundamento dos valores morais. Quer um quer outro princpio entram nestes valores, entra o sentimento pelo qual nascem todas as inclinaes para o bem e o desagrado e averso ao vcio; entra a razo que faz de rbitro em todas as questes que nascem da vida moral. Hume pretende antes analisar todos os elementos que constituem o mrito pessoal: as qualidades, os hbitos, os sentimentos, as faculdades que tornam um homem digno de estima ou de desprezo. Deste modo o problema moral torna-se uma pura questo de facto que pode ser analisada e decidida com o mtodo experimental (Inq. Conc. Mor., 1). Como fundamento das qualidades morais da pessoa est, segundo Hume, a sua utilidade para a vida social. A aprovao que atribuda a certos sentimentos ou aces funda-se no reconhecimento implcito ou explcito da sua utilidade social. Por exemplo, numa situao em 164
que fosse dada ao gnero humano a mais prdiga abundncia de todas as comodidades e de todos os bens materiais, em que o homem no tivesse de preocupar-se com nenhuma das suas necessidades materiais, a justia seria intil e nem alguma vez poderia nascer. Como ningum pode cometer injustia pelo uso e o gozo do ar, que dado ao homem em quantidade ilimitada, assim ningum poderia cometer injustia numa condio em que tambm os outros bens fossem fornecidos ao homem em qualidade ilimitada. Isto quer dizer que as regras da justia, as quais impem limites precisos na distribuio e no uso dos bens, dependem da condio particular em que o homem se encontra e devem a sua origem utilidade que apresentam para a vida da sociedade humana. Isto tanto mais verdadeiro quanto a obrigao de justia no se verifica nos confrontos de criaturas misturadas com os homens, mas incapazes de qualquer resistncia ou reaco contra eles. Tal o caso dos animais que Hume considera dotados de capacidades inferiores em grau mas no de natureza em relao s do homem. Ora ningum sente no confronto com os animais a obrigao da justia, portanto esta obrigao nasce unicamente da utilidade que a justia apresenta para a natureza humana. Nem esta obrigao nasceria se o homem se bastasse a si prprio e pudesse viver em completo isolamento dos outros homens. A necessidade da justia para manter com vida a sociedade humana o nico fundamento desta virtude. E tambm o fundamento do valor que atribumos s outras virtudes: humanidade 165 violncia, amizade, sociabilidade, fidelidade, sinceridade, etc. (1b., 111, 2). A utilidade social , ademais, o fundamento da mxima virtude poltica, a obedincia. Efectivamente, a obedincia que mantm os governos e os governos so indispensveis aos homens, que frequentemente no tm a sagacidade suficiente para se darem conta dos interesses que os ligam aos seus semelhantes ou fora espiritual suficiente para se manterem fiis ao interesse geral. As regras da justia so menos respeitadas entre as naes que entre os homens, dado que os homens no podem viver sem sociedade enquanto as naes podem existir sem estreitas relaes entre si (1b., IV). Todas as virtudes se radicam assim na natureza do homem que no pode ficar indiferente ao bemestar dos seus semelhantes nem julgar facilmente por si sem ulterior cuidado ou considerao de que um bem aquilo que promove a felicidade dos seus semelhantes, e mal aquilo que tende a provocar a sua misria (1b., V, 2). No verdade que o nico mbil do homem seja o egosmo: o bem-estar e a felicidade individual esto estreitamente ligados ao bem-estar e felicidade colectiva. Hume quer tirar moral o vestido de luto com que a tm vestido telogos e filsofos e quer mostr-la "gentil, humana, benfica, afvel e tambm, em certos momentos, jocosa, alegre e contente". A moral no fala de inteis austeridades e rigores, de sofrimentos e humilhaes; o seu nico fim tornar os homens contentes e felizes em cada instante da sua existncia. "A nica importunidade que impe a de calcular justamente e de preferir 166 constantemente a felicidade maior. E se se aproximam dela pretendentes austeros, inimigos da alegria e do prazer, vem-se rechaados como hipcritas ou enganadores; ou, se os admite no seu squito, pe-nos entre os menos favorecidos dos seus sequazes" (1b., IX, 2).
Estas palavras de Hume demonstram o esprito no apenas do filsofo moralista, mas do homem: um esprito aberto e humano que v nas mais rgidas exigncias da moral limitaes benficas a si prprio e aos outros, a que o homem pode de livre vontade submeter-se. 473. HUME: A RELIGIO A anlise a que Hume submete a religio decisiva para aquela corrente do desmo que dominou a filosofia inglesa do sculo XVIII e inspirou o pensamento religioso do iluminismo de todos os pases. anlise da religio dedicou os Dilogos sobre a Religio Natural, publicados postumamente em 1779, e a Histria Natural da Religio, publicada em 1757, mas posterior aos Dilogos. J nas Investigaes sobre o Entendimento Humano, num captulo sobre os milagres, (Sect., X), afirmara que s era de admitir o milagre no caso em que a falsidade do testemunho a seu favor fosse mais miraculosa do que o milagre testemunhado; e num captulo sobre a providncia (lb., XI) mostrara as dificuldades de toda a considerao teolgica. Alm disso, num ensaio publicado postumamente (1777) Sobre 167 a Imortalidade da Alma, criticara as razes metafsicas, morais e fsicas aduzidas para sustentar a imortalidade e reduzira a crena nesta ltima a puro objecto de f. Nos Dilogos sobre a Religio Natural, que se desenvolvem entre trs personagens, o cptico Flon faz de mediador entre Demeas que defende a mais rgida ortodoxia e Cleanto que representa um ponto de vista mais moderado. A crtica das provas da existncia de Deus que vem desenvolvida nestes dilogos preludia a estabelecida por Kant na Dialctica transcendental da Crtica da Razo Pura. Contra toda a espcie de prova, Hume ope um argumento que se liga aos princpios fundamentais da sua filosofia. "Nada demonstrvel sem que o seu contrrio implique contradio. Nada que seja distintamente concebvel implica contradio. Tudo aquilo que ns concebemos como existente podemos tambm concoblo como no existente. Por isso no existe um ser cuja no existncia implique contradio. Consequentemente, no existe um ser cuja existncia esteja demonstrada" (Dial., 11, p. 432). Este princpio, pelo qual a existncia sempre matria de facto, e portanto nunca matria de demonstrao ou de prova, exclui imediatamente a prova ontolgica que pretende demonstrar a existncia de Deus partindo do conceito de Deus. O argumento cosmolgico tenta fugir a esta dificuldade introduzindo a considerao da experincia. Mas Hume nega que os vnculos causais entre os fenmenos possam ser utilizados para demonstrar a existncia de uma causa primeira. Se se mostra a causa 168 de cada indivduo de uma srie que compreende vinte indivduos, absurdo perguntar depois a causa de toda a srie; esta est j dada quando so dadas as causas particulares (lb., II, p. 433). O mesmo vale para o mundo: se so dadas as causas particulares, intil e absurdo pedir a
causa total do conjunto: esta investigao conduziria a um processo ao infinito. Hume est disposto a reconhecer maior valor prova fsicoteolgica, a qual, considerando o universo como uma mquina, pretende chegar at ao autor desta mquina. A prova defronta com um prejuzo que inerente doutrina de Hume sobre a causalidade. O vnculo causal deriva, segundo Hume, do hbito que se formou observando a sucesso constante de dois factos. Mas como poderia formar-se este hbito a respeito do mundo e de Deus que so objectos singulares, individuais, sem semelhana especfica ou paralela, (1b., II, p. 398). Alm. disso, o argumento pode elevar-se apenas a uma causa proporcionada ao efeito; e dado que o efeito, isto , o mundo, imperfeito e finito, a causa deveria ser tambm imperfeita e finita. Mas se a divindade se reconhece imperfeita e finita, to-pouco h motivo para sup-la nica. Se uma cidade pode ser construda por muitos homens, porque no poder o universo ser criado por muitos deuses ou demnios? (1b., 11, p. 413). Tambm este gnero de prova no pode concluir outra coisa seno admitir uma causa do universo que tenha uma qualquer analogia longnqua com o homem. Mas ento a disputa entre testas e atestas torna-se puramente verbal. "0 169 testa admite que a inteligncia originria bastante diferente da razo humana; o atesta admite que o princpio originrio da ordem tem uma remota analogia com ela". (Ib., 11, p. 459). A diferena entre os dois pontos de vista que parecem to opostos revela-se por ltimo constituda apenas por palavras. Tudo isto demonstra que uma justificao terica da religio impossvel. Todavia, pode fazer-se a histria natural da religio, pode-se encontrar as suas razes na natureza humana, ainda que estas razes no nasam de um instinto, de uma impresso originria, mas dependam de princpios secundrios (St. nat. d. rel., intr.). As ideias religiosas no nascem da contemplao da natureza mas do interesse pelos acontecimentos da vida e portanto das esperanas e dos temores incessantes que agitam o homem. Suspensa entre a vida e a morte, entre a sade e a doena, entre a abundncia e a privao, o homem atribui a causas secretas e desconhecidas os bens de que goza e os males com que continuamente ameaado. A variedade e a disparidade dos sucessos f-lo pensar em causas diferentes e contrastantes do mundo: numa multiplicidade de divindades, umas vezes benignas e outras vingativas. O politesmo est, portanto, na origem de todas as religies. O primeiro conceito da divindade no implica de maneira nenhuma o poder ilimitado e a infinidade de natureza da prpria divindade. Ao conceber a divindade como infinita e, portanto, absolutamente perfeita, os homens so em seguida conduzidos, no pela reflexo filosfica. mas 170 pela necessidade de a adular para a tornar propcia Ub., 7). Tambm o conceito filosfico de Deus como ser infinito e perfeito tem, pois, o seu fundamento num instinto natural do homem. " medida - diz Hume - que o modo e a ansiedade se tornam mais prementes, os homens inventam novos
modos de adulao; e tambm quem superou o seu predecessor no acumular de ttulos para a sua divindade, certo que ser superado pelo sucessor na descoberta de novos e mais pomposos ttulos de louvor. Assim procedem os homens at chegar ao prprio infinito para l do qual no se pode proceder mais (lb., 6 in Essays, H, p. 330). A reflexo filosfica confirma e esclarece o monotesmo nascido deste modo, mas no impede as recadas no politesmo e no elimina o risco que as recadas arrastam consigo como o demonstra a tendncia de todas as religies para admitir seres intermdios entre Deus e o homem, seres que acabam por tornar-se os objectos principais do culto e que conduzem gradualmente idolatria que fora banida pelas pregaes ardentes e pelos panegricos dos mortais temerosos e indigentes (lb., 7, p. 335). O tesmo que desterra a idolatria sem dvida superior prpria idolatria; mas oferece, por sua vez, um gravssimo perigo que o da intolerncia. Reconhecido como nico objecto de devoo, o culto de outras divindades considerado absurdo e mpio e fornece o pretexto para perseguies e condenaes. Pelo contrrio, ao politesmo estranha a intolerncia. O final do ensaio oferece-nos a ltima convico de Hume em matria de religio, 171 "0 todo uma adivinha, um enigma, um mistrio inexplicvel. Dvida, incerteza, suspenso do juzo parecem os nicos resultados das nossas mais aturadas indagaes em torno deste argumento. Mas tal a fragilidade da razo humana e tal o irresistvel contgio da opinio que tambm esta dvida deliberada s dificilmente pode ser sustentada. No indaguemos mais e, opondo uma espcie de superstio a outra, abandonemo-las todas s suas querelas. Ns, enquanto dura a sua fria e a sua disputa, refugiemo-nos felizmente nas calmas, se bem que obscuras, regies da filosofia". 474. HUME: O GOSTO ARTSTICO O cepticismo de Hume a respeito dos poderes da razo pe-no em situao de abolir ou diminuir a distncia entre os produtos da razo e os do sentimento e a reconhecer a este ltimo, e especialmente arte, um novo valor. Com efeito, posto que a razo no seja to universal e infalvel nos seus juzos, como a filosofia muitas vezes acreditou, posto que ela em ltima anlise dependa do prprio sentimento, as valorizaes do sentimento, mesmo na sua multiplicidade e variedade, no constituem j a anttese da pretensa universalidade das valorizaes racionais, e um mesmo destino domina umas e outras. J nas Investigaes sobre o Entendimento Puniano (111), Hume eliminara a anttese, estabelecida por Aristteles na sua Potica (vol. II, 02), 172
entre a poesia e a histria. A unidade de aco que se pode encontrar na biografia ou na histria difere da poesia pica, no em espcie, mas em grau, Na poesia pica as conexes entre os acontecimentos mais estreita e sensvel dado que nela as imaginaes e as paixes tm uma parte maior. E as imaginaes e as paixes implicam que a representao seja mais particularizada e vivaz e fornea todos os pormenores que so prprios para acentuar o colorido passional da narrao. unicamente por este motivo, a poesia pica e dramtica escolhem como seu objecto acontecimentos mais restritos. e determinados, dado que a extenso da narrativa a tornaria necessariamente genrica e pouco adaptada para suscitar interesse e paixo. Mas prescindindo desta diferena, a poesia e a histria tm, ao contrrio do que considerava Aristteles, a mesma forma de unidade; e a diferena entre uma e outra no se pode assinalar exactamente e mais questo de gosto do que de razo. Assim Hume chegava a reconhecer o mesmo valor narrao verdica da histria e fantstica da poesia. O mesmo pressuposto anima o Ensaio sobre o Critrio do Gosto. Aqui ele considera legtimo inverter precisamente a relao que o racionalismo estabelece entre juzo e sentimento. "Todo o sentimento justo porque o sentimento no se refere a nada para l de si e sempre real posto que um homem no se d conta dele. Mas nem todas as determinaes do intelecto so justas; porque elas referem-se a qualquer coisa para l delas, isto , a um facto real; e nem sempre se conformam com este crit173 rio. Entre as mais diferentes opinies que os homens sustentam em torno do mesmo argumento, h uma e uma s que justa e verdadeira; a nica dificuldade fix-la e acertar nela. Pelo contrrio, os mil diferentes sentimentos excitados pelo mesmo objecto so todos justos porque nenhum sentimento representa aquele que existe realmente no objecto" (Essays, 1, p. 268). Ora a beleza precisamente um sentimento: existe apenas no esprito que a contempla, e cada esprito percebe uma beleza diferente. Mas isto no impede que haja um critrio do gosto porque existe certamente uma espcie de sentido comum que restringe o valor da tradicional expresso "gostos no se discutem". Mas este critrio no pode ser fixado mediante raciocnios a priori ou concluses abstractas do entendimento. Se se quisesse fixar o tipo da beleza reduzindo as suas variadas expresses verdade e exactido geomtrica, s se conseguiria produzir a obra mais inspida e desagradvel. S se pode determinar o critrio do gosto recorrendo experincia e observao dos sentimentos comuns da natureza humana, sem pretender que, em todas as ocasies, os sentimentos dos homens estejam conformes com aquele critrio. O critrio do gosto deve, pois, buscar-se em determinadas condies da natureza humana. "Em cada criatura h um estado so e um estado defeituoso; e s o primeiro nos d um verdadeiro critrio do gosto e do sentimento. Se no estado so do rgo existe uma completa ou considervel uniformidade de sentimento entre os homens, podemos derivar dela uma ideia da beleza perfeita, tal como a aparncia dos 174 objectos na luz do dia, aos olhos de um homem de boa sade, considerada como a verdadeira e real dos objectos, ainda que se admita que a cor apenas um fantasma dos sentidos" (Ib., p. 272). A condio humana que torna possvel a apreciao da beleza , segundo Hume, especialmente a delicadeza da imaginao. esta delicadeza que faz notar imediatamente no objecto esttico as qualidades que so mais aptas para produzir o prazer da beleza. Outras condies so a prtica e a ausncia de preconceitos. Hume reconheceu
assim o critrio do gosto em condies puramente subjectivas que, contudo, podem ser determinadas com suficiente exactido pelas anlises da experincia. 475. HUME: A POLTICA As ideias polticas de Hume so o resultado de uma anlise da vida social conduzida com o mesmo critrio das precedentes, isto , procurando encontrar na natureza humana os fundamentos da sociabilidade e da vida poltica. Num ensaio intitulado O Contrato Originrio, examina as duas teses opostas da origem divina do governo e do contrato social e afirma que ambas so justas se bem que no no sentido que elas pretendem. A teoria do direito divino justa em tese geral porque tudo aquilo que acontece no mundo entra nos planos da providncia, mas ela justifica ao mesmo tempo toda a espcie de autoridade, a de um soberano legtimo ou a de um usurpador, a de um magistrado ou a de 175 um pirata. A teoria do contrato social tambm justa enquanto afirma que o povo a origem de todo o poder e jurisdio e que os homens voluntariamente e com vistas paz e ordem abandonam a liberdade natural e aceitam leis dos seus iguais e companheiros. Mas esta doutrina no se encontra verificada por toda a parte nem nunca completamente. Os governos e os estados nascem o mais das vezes de revolues, conquistas e usurpaes. E a autoridade destes governos no se pode considerar fundamentada sobre o consentimento dos sbditos. Hume divide os deveres humanos em duas classes. H deveres aos quais o homem impulsionado por um instinto natural que opera nele independentemente de toda a obrigao e de toda a considerao de utilidade pblica ou privada. Tais so o amor dos filhos, a gratido para com os benfeitores e a piedade para com os desafortunados. E h deveres que derivam pelo contrrio unicamente de um sentido de obrigao, derivado da necessidade da sociedade humana que seria impossvel se eles fossem descurados. Tais so a justia ou respeito pela propriedade de outrem, a fidelidade ou observncia das promessas e tal tambm a obedincia poltica ou civil. Esta ltima deve nascer da reflexo de que a sociedade no pode manter-se sem a autoridade dos magistrados e que esta autoridade nula se no for seguida da obedincia dos cidados. O dever da obedincia civil no nasce, portanto, como sustenta a doutrina do contrato social, da obrigao de fidelidade ao pacto originrio dado que tambm 176 esta ltima obrigao no se entenderia sem a exigncia de manter viva a sociedade civil. A nica razo da obedincia civil est em que sem ela a sociedade no poderia subsistir (Essays, 1, p. 456).' Consequentemente, Hume assume uma posio intermdia entre a doutrina da resistncia tirania proclamada por Locke e a da obedincia passiva afirmada por Berkeley. Hume, que um Tory, refuta as consequncias que Locke tirou da sua doutrina do contrato social e que lhe parecem incitar rebelio. Mas, por outro lado,
considera que a doutrina da obedincia no deve ser levada ao extremo e que necessrio insistir nas excepes que ela comporta e defender os direitos da verdade e da liberdade ofendida (lb., p. 462). NOTA BIBLIOGRFICA 467. A primeira edio completa das obras filosficas de Hume foi publicada em Edimburgo em 1827; The Philosophkal Works of D. H., ed. T. H. Green e T. H. Grose, 4 vols., Londres, 1874; Treatise of Human Nature, ed. Selby-Bigge, Oxford, 1896; Enquiries Concerning Human Understanding and the Principles of Horals, ed. Selby-Bigge, Oxford, 1902; Dialogues Concerning Natural Religion, ed. N. Kemp Smith, Oxford, 1935; Writings ou Economics, ed. E. Rotwein, Londres, 1955. Tradues italianas: Trattato sul11 intelligenza umana, de A. Carlini, Bari, 1926;Trattato sulle passioni, di M. Dal Pra, Turim, 1949; Ricerche sulllinte17ecto umano e sui principi della morale, de G. Prezzolini, Bari, 1910; di M. Dal. Pra, Bari, 1957; Storia naturale della religione e saggio sul suieMio, de U. Porti, Bari, 177 1928; Dialoghi sulla religione naturale, de M. Dai Pra, Milo, 1947; La regola del gu-sto, de G. Preti, Milo, 1946. Sobre a vida: J. Y. T. GREIG, D. II., Londres, 1931; E. C. MOSSNER, The Life of D. H., Edimburgo, 1954. 468. A. RIEHL, Die philosophische Kritizismus, 1, 2.1 edio, Lipsia, 1908; J. DIDIER, H., Paris, 1912; HENDEL, Studies in the Philosophy of D. H., Princeton, 1925; R. METZ, D. H., Leben und Philosophie, Stuttgart, 1929; G. DELLA VOLPE, H. o il Genio delllempirismo, 1, Florena, 1939; KEMP SMITH, The Phil of D. H., Londres, 1941; DAL PRA, H., Milo, 1949; A. L. LEROY, D. H., Paris, 1953; F. ZABEM, H. Precursor of Modern Empiricism, Haia, 1960. 470. Sobre as matemticas na doutrina de Hume: MEYER, H.Is und. Berkeleys Philosophie der Mathematik, Halle, 1894; C. MAUND, H.Is Theory of KnowIedge, Londres, 1937. 471. H. H. PRICE, Ws Theory of the External World, Oxford, 1940; D. G. C. MACNABB, D. H., His Theory of KnoxArledge and Morality, Londres, 1951. 472. Sobre as doutrinas morais: INGEMAR HEDENIUS, Studie8 in H.Is Ethics, Upsala, 1937; R. M. KYDD, Reason and Condu-ct in Hume's Tr-,atise, Oxford, 1946. 473. Sobre as doutrinas religiosas: A. E. TAYLOR, D. H. and the Miraculous, Cambridge, 1927; A. LERoY, La critique et Ia religion chez D. H., Paris 1930. 475. Sobre as doutrinas poltioas: C. E. VAuGHAN, Studies in the History of Political Philosophy,
1, Manchester, 1925, cap. 6; L. BAGOLINI, Esperienza giuridica e politica nel pensiero di D. H., Siena, 1947. Bibl.: T. E. JFssop, A BibZiography of D. H. and of Scottish Philo&oph-y fro-in Hutcheson to Lord Balfour, Londres, 1938; DAL PRA, op. Cit. 178 XI O ILUMINISMO INGLS 476. ILUMINISMO INGLS: CARACTERSTICAS DO ILUMINISMO Com Grcio e Descartes, Hobbes, Espinosa e Leibniz, a razo celebrou no sculo XVII os seus mximos triunfos. Ela pretendeu estender o seu domnio a todos os aspectos da realidade e no fixou prticamente limites a tal domnio e s suas possibilidades de desenvolvimento. O sculo XVIII, o sculo do iluminismo, conserva intacta a confiana na razo e caracterizado pela deciso de se servir dela livremente. "O iluminismo, escreveu Kant (Was ist Aufklrung? in Opere, ed. Cassirer, IV, p. 169), consttuii a emancipao de uma menoridade que s aos homens se devia. Menoridade a incapacidade de se servir do seu prprio intelecto sem a orientao de um outro. S a eles 179 prprios se deve tal menoridade se a causa dela no for um defeito do intelecto mas a falta de deciso e de coragem de se servir dele sem guia. "Sapere aude! Tem a coragem de te servires do teu prprio intelecto!", tal a divisa do iluminismo. O exerccio autnomo e soberano da razo decerto o prprio lema do iluminismo. Mas de que razo? A razo cartesiana como fora nica, infalvel e omnipotente sofrera, por obra de Locke, uma transformao do seu mbito que a reconduzira aos limites do homem. Em virtude de tal transformao, a razo no pode desvincular-se da experincia, uma vez que a fora directiva e organizadora da experincia mesma. Por isso, no estende os seus poderes para alm dos limites da experincia, fora dos quais apenas subsistem problemas insolveis ou fictcios. O iluminismo faz sua esta lio de modstia e polemiza. contra o dogmatismo da razo cartesiana. Um dos aspectos desta polmica a condenao do "sistema" ou do "esprito de sistema", isto , das tentativas da razo para traar planos gerais do universo a que os fenmenos observados se ajustem de qualquer forma. A filosofia da natureza de Newton, como generalizao conceptual dos dados da observao e recusa de proceder para alm de tais generalizaes, admitindo <6ipteses" que valham corno explicao metafsica delas, , em geral, considerada pelos iluminIstas como o mais consumado produto da razo e contraposta aos "sistemas" da filosofia tradicional e do prprio Descartes. Portanto, problemas como o da essncia metafsica da natureza e do esprito, ou como os debatidos pela teologia 180 tradicional, cessam de ser, para o iluminismo, problemas filosficos; e as suas solues,
num sentido ou noutro, so consideradas equivalentes e reciprocamente destruidoras nas suas afirmaes contraditrias; ou so consideradas puras @supersties que nasceram e se mantiveram s devido a foras que no tm o mnimo fundamento na razo. O iluminismo , pois, caracterizado, em primeiro lugar, pela rigorosa autolimitao da razo nos limites da experincia. Em segundo lugar, caracterizado pela possibilidade, que se atribui razo, de investigar todo o aspecto ou domnio que se contenha dentro de tais limites. At por este segundo aspecto, o iluminismo se contrape ao cartesianismo que, se por um lado, se recusava a toda e qualquer ingerncia no domnio moral e poltico, por outro havia pretendido fundar racionalmente as prprias verdades religiosas. O iluminismo no aceita esta renncia cartesiana: o seu primeiro acto foi o de estender ao domnio da religio e da poltica a investigao racional. A esta investigao atribui o iluminismo, a defesa e a realizao da tolerncia religiosa e da liberdade poltica: ideais que condicionam e solicitam a revolta contra as estruturas feudais e os privilgios sociais e polticos. Sob este aspecto, a razo para os iluminIstas a fora a que se deve fazer apelo para a transformao do mundo humano, para encaminhar este mundo para a felicidade e a liberdade, libertando-o da servido e dos preconceitos. Porm, a razo no , segundo os iluminIstas, a nica fora que habita o mundo; nem uma fora absoluta, omnipotente 181 ou providencial. razo ope-se a tradio, que apresenta como verdadeiros os erros e os preconceitos e justos os privilgios e as injustias, que tm as suas razes no longnquo passado. O iluminismo , pois, essencialmente, ou constitucionalmente, antitradicionalismo: a recusa em aceitar a autoridade da tradio e em lhe reconhecer qualquer valor; o empenho em levar perante o tribunal da razo toda a crena ou pretenso, para que seja julgada, ou rejeitada se se provar ser contrria razo. A crtica da tradio , em primeiro lugar, uma crtica da revelao religiosa, da qual se faz o princpio e a justificao da tradio religiosa; e religio o revelada os iluminIstas contrapem, quando no se voltam para o atesmo ou o materialismo, a religio natural, que a religio reconduzida (como dir Kant) "aos limites da razo". A atitude critica em relao tradio, resolvendo-se na crtica de factos, de testemunhos e de documentos (a partir dos escritos bblicos), empenhada em determina: a sua autenticidade ou validez, estabelece, sobretudo por obra dos iluminIstas franceses, as primeiras bases da metodologia historiogrfica, tal como hoje entendida e empregada nas disciplinas histricas. Por outro lado, a obra iluminadora e transformadora da razo no seria possvel num mundo que lhe fosse impermevel e deve promover o progresso da razo no mundo. O conceito de uma histria em que o progresso possvel, isto , em que a razo, embora atravs de lutas e contrastes, pode afirmar-se ou prevalecer, 182 um dos resultados fundamentais da filosofia iluminista.
Esta filosofia afasta-se, pois, bastante do intelectualismo, porque no tem a mnima pretenso de reduzir razo a vida particular ou associada do homem. Tambm ela, enquanto se empenha na obra de crtica e de reconstruo racional da realidade humana, levada a reconhecer os limites que tal obra encontra no prprio esprito do homem, isto , no3 sentimentos ou nas paixes que muitas vezes apoiam ou reforam a tradio ou se opem obra libertadora da razo. A descoberta da categoria do sentimento e a anlise das paixes outro dos resultados fundamentais do iluminismo. 477. O ILUMINISMO INGLS: NEWTON, BOYLE O iluminismo encontrou indubitavelmente em Frana as manifestaes que lhe proporcionaram a mxima difuso na Europa, e teve na Enciclopdia o seu rgo principal. Mas a origem de todas as doutrinas que o enciclopedismo francs aceitou e difundiu deve procurar-se na filosofia inglesa a partir de Locke. A doutrina fsica do iluminismo substancialmente a de Newton. Isaac Newton (16421727) fizera nos Princpios matemticos da fil~ia natural (1687) a exposio completa de um sistema puramente mecnico de todo o mundo celeste e terreno. Tal exposio no sinttica e dedutiva, mas analtica 183 e indutiva. Newton encontra-se na via de Galileu, no na de Descartes. Ele no se prope partir de hipteses gerais sobre a natureza para chegar ao conhecimento particular dos factos, considerados como confirmaes ou manifestaes das prprias hipteses. Parte, pelo contrrio, dos factos dados pela experincia e procura chegar gradualmente s primeiras causas e aos elementos ltimos dos factos mesmos. A prpria histria da gravitao universal, que lhe permitiu exprimir por unia nica lei factos considerados at ento muito diversos (a queda dos graves, os movimentos celestes, as mars) no para ele um ponto de chegada definitivo, nem o fundamento de uma qualquer doutrina metafsica da realidade, mas a sistematizao matemtica de certos dados da experincia. Ele encontrou a frmula matemtica que permite descrever os fenmenos da experincia que dizem respeito gravidade, mas recusa-se a formular hipteses sobre a natureza da gravidade mesma porque considera isso estranho ao escopo da fsica, que a descrio dos fenmenos. A sua famosa afirmao hypotheses non fingo (que se encontra no fim do terceiro livro dos Princpios) exprime a orientao que ele pretende dar investigao fsica. Orientao que, noutro passo famoso da ptica (1704), contrape causa das qualidades ocultas a que se referia a fsica aristotlica. "Tais princpios, diz ele (aludindo fora de gravidade e s outras), no os considero como qualidades ocultas que resultem das formas especficas das coisas mas corno leis gerais da natureza em conformidade com as quais as coisas mesmas se formam. 184 A verdade delas manifesta-se-nos atravs dos fenmenos, embora as suas causas no tenham sido descobertas. De facto, estas qualidades so manifestas e s as suas causas esto ocultas; enquanto os aristotlicos deram o nome de qualidades ocultas no a qualidades manifestas mas s que supunham existirem nos corpos como causas desconhecidas dos seus efeitos manifestos, como seriam as causas da gravidade e da
atraco magntica e elctrica e das fermentaes, se supusssemos que tais foras ou aces nasceriam de qualidades que nos so desconhecidas e no seriam susceptveis de serem descobertas e tornadas manifestas. As qualidades ocultas poriam termo ao progresso da filosofia natural (Optiks, HI, 1, q. 31). Com estas afirmaes de Newton, a exigncia de uma descrio da natureza vem a tomar o lugar da explicao da natureza com que se preocupava a fsica antiga e medieval. Os iluminIstas insistiram, como veremos, nesta contraposio. O prprio Newton, nem sempre se mantm fiel ao esprito dela. No fim da ptica, insistindo na "maravilhosa uniformidade do sistema planetrio", afirma que ela deve ser "o efeito de uma escolha", como deve ser o efeito de uma escolha (entenda-se: de Deus) a uniformidade dos corpos animais e a sua constituio, sensibilidade e instinto. E como trmite da aco de Deus nas vrias partes do universo, Newton considera o espao que seria portanto "o infinito e uniforme sensrio" de Deus (Ib., HI, q. 31), aceitando uma doutrina que havia sido exposta pelo neoplatnico Moro ( 419). Com estas especulaes, 185 478. ILUMINISMO Ingls: A Polmica SOBRE O Desmo Uma boa parte da especulao filosfica do sculo XVIII em Inglaterra dedicada polmica em torno do valor respectivo da religio natural e da religio revelada. Por religio natural entende-se a que fundada unicamente na razo ou pela razo e que, por isso, se limita a ensinar apenas as verdades que a razo pode demonstrar ou, pelo menos, compreender. a religio do desmo, a qual se funda num conceito da divindade inteiramente acessvel s foras da razo e que, portanto, exclui toda a conotao "misteriosa" ou inconcebvel ou, de qualquer modo, no acessvel razo. As doutrinas de numerosos destas ou <livres-pensadores" (como tambm foram chamados ou se intitularam) prosseguem. na tentativa de "racionalizar a teologia" que os platnicos de Cambridge haviam efectuado recorrendo ao platonismo renascentista. Mas depois da obra de Locke, que constitui a enxertia do cartesianismo nesta tentativa, os livres-pensadores ingleses procuram racionalizar a religio recorrendo nova gnoseologia empirista, ou seja, fundando a certeza da **reUcrio sobre os procedimentos especficos que Locke reconhecera como prprios da razo. Os resultados mais importantes desta tendncia so as anlises de Hume sobre a religio, anlises que exerceram influncia decisiva sobre o desenvolvimento de doutrinas anlogas em Frana e noutros lados. J fizemos uma resenha destas an188 lises ( 473). Temos agora de nos referir s discusses que as precederam e as prepararam. John Toland (1670-1722) o autor da obra Cristianismo no misterioso (1696), o texto fundamental do desmo ingls. Nas Cartas a Serena (isto , rainha Sofia Carlota da Prssia, de quem foi hspede durante algum tempo), Toland defende uma forma de materialismo que teve muito xito entre os iluminIstas franceses. O movimento considerado como uma propriedade essencial da matria. A impenetrabilidade, a extenso e a aco no so trs coisas distintas mas sim trs modos distintos de considerar a nica e mesma matria. Na medida em que possui em si a capacidade de se mover, a matria pode explicar tambm a vida e o pensamento, os quais, portanto, no dependem de foras diversas da matria, mas so funes dela. O pensamento , precisamente, a funo do crebro, assim como o gosto a funo da lngua. Taisideias sero retomadas por pensadores franceses, mesmo no rigorosamente materialistas, como d'Alembert e Diderot.
O Cristianismo no misterioso revela j no ttulo o intento do autor. Como Newton, Toland declara: "Elim-ino da minha filosofia todas as hipteses" (p. 15). S a razo deve ser o fundamento da certeza. E por razo entende ele a razo definida por Locke, a qual procede mostrando o acordo ou o desacordo entre as ideias. Tal critrio exclui que possam fazer parte do conhecimento humano ideias misteriosas ou incompreensveis. "Poder julgar-se verdadeiramente de posse de um conhecimento, pergunta ele (p. 128), 189 quem, tendo a certeza infalvel de que alguma coisa chamada Blictri existe na natureza, no sabe de facto que coisa Blictri?". Tudo quanto entra no mbito do conhecimento deve ser inteligvel e claro. E inteligveis e claras so, na realidade, segundo Toland, as verdades do cristianismo, as quais no so mistrios se no no sentido de serem proposies conhecidas por ns apenas merc da revelao. Porm, a revelao nada nos diz que seja inconcebvel ou contraditrio; e ns devemos e podemos exigir a prova de todas as afirmaes histricas contidas nas Sagradas Escrituras. Toland est convencido de que as verdades do cristianismo podem sofrer sem danos o mais rigoroso exame da razo. Todavia, no estendeu a sua anlise quelas verdades que o cristianismo, nas suas vrias confisses, considera verdadeiros mistrios, como a Trindade e a Encarnao; afirma, contudo, que, no que respeita a Deus, "nada compreendemos melhor do que os seus atributos" (p. 86). Tem carcter geometrizante a especulao teolgica de Samuel Clark (1675-1729), autor de Uma demonstrao do ser e dos atributos de Deus (1705), dirigida polemicamente contra Hobbes e Espinosa. Valendo-se do mesmo mtodo geomtrico que Hobbes e Espinosa haviam adoptado para chegar a concluses contrastantes com o cristianismo, Clarke pretende, pelo contrrio, chegar a uma confirmao do cristianismo. O seu objectivo o de construir um edifcio teolgico que assente em bases de verdades intuitivas, cimentadas ao mesmo tempo com demonstraes rigorosas, e que seja essencialmente indepen190 dente de qualquer revelao externa. A demonstrao da existncia de Deus corroborada pela prova cosmolgica, isto , pela impossibilidade de admitir uma cadeia infinita de seres que dependam uns dos outros. No princpio desta cadeia haver um ser eterno cuja no existncia implicaria contradio. Clarke, deduz tambm os atributos de Deus e defende a liberdade deste que define como sendo o poder de se mover e de se determinar por si. No mesmo sentido, o homem livre; e Clarke contrape a sua tese da liberdade divina e humana tese espinosana da necessidade. Tambm a vida moral regida por leis que so eternas, e necessrias. Negar os deveres morais seda negar as verdades matemticas (Works, 11, p. 609). O cdigo moral o cdigo natural do homem. Onde est a utilidade da revelao? Em tornar mais claro e evidente ao homem o cdigo natural da moral. Existem bem fundados motivos para crer que Deus nem sempre deixa o homem privado de um auxlio to necessrio; mas, por outro lado, isto no quer dizer que Deus seja obrigado a fazer a todos uma revelao. Clarke conclui a sua obra afirmando que s o cristianismo pode ter a pretenso de ser uma revelao divina porque s ele encerra um ensinamento moral conforme a todas as exigncias da recta razo. Esta identidade entre o cristianismo e a religio natural posta em relevo por outra via, numa obra intitulada O cristianismo to velho como a criao (1730), da autoria de Matthew Tindal (1656-1733). Deus infinitamente sbio, bom, justo e imutvel. A natureza humana criada por ele , pois, igual191
mente imutvel; e os princpios racionais que ela traz inscritos em si no tm necessidade de correces ou modificaes. Uma revelao , portanto, suprflua, j que, na realidade, Deus se revela razo do homem a partir do momento da criao. A religio natural e a revelada no diferem entre si se no no modo da comunicao: "Uma. a revelao interna, a outra a revelao externa da vontade de um Ser que em todos os tempos igualmente bom e sbio" (lb., p. 2). O Evangelho foi apenas uma "nova publicao da lei de natureza". E a razo permanece em todos os casos o nico guia do homem. "A prpria tentativa de destruir a razo com a razo uma demonstrao de que os homens no podem fiar-se seno na razo" (1b., p. 1,8). O nico princpio de vida , assim, a obedincia lei natural e racional; e no h nenhuma diferena entre religio e moralidade, a no ser no sentido de que a moralidade consiste em agir conforme a razo das coisas considerada como lei de Deus. Deste ponto de vista, v-se que Tindal, como Toland, tenta excluir da religio qualquer elemento misterioso ou incompreensvel. Na mesma linha de consideraes se move o outro defensor do desmo Anth@ony Collins (1676-1792), que foi o discpulo favorito de Locke. O seu Discurso sobre o livre- pensamento, publicado em 1713, suscitou a reaco polmica de Jonathan Swift que lhe respondeu, sua maneira, num escrito intitulado O discurso sobre o livre-pensamento de Collins reduzido a palavras simples. O grande ironista no podia simpatizar com a pretenso dos livre-pensadores 192 que considera o homem como o nico guia da razo. "A grande maioria dos homens, dizia ele (Works, ed. 1819, 11, p. 197), capaz tanto de pensar quanto de roubar". Todos os homens so loucos, portanto o livre-pensamento uma absurdidade e reduz-se a atribuir a todo o homem ignorante e estpido a capacidade de resolver sem ajuda os maiores problemas. Os livres-pensadores so tambm loucos e velhacos e por isso as suas concluses so desprezveis. V-se que o discurso de Collins, reproduzido por Swift com uma espcie de fidelidade literal, como que reflectido num espelho deformante e reduzido a uma caricatura. "Os padres dizem-me, afirma Swift (1b., 11, p. 195), que eu devo crer na Bblia, mas o livre-pensador diz-me algo diferente em muitos pontos. A Bblia diz que os Hebreus foram uma nao favorecida por Deus; mas eu, que sou um livre-pensador, digo que no pode ser, porque os Hebreus viveram num canto da terra e o livrepensamento faz-me ver que os que vivem num canto da terra no podem ser favorecidos por Deus. S o Novo Testamento garante a verdade do cristianismo, mas o livrepensamento nega-o porque o cristianismo foi comunicado apenas a poucos e aquilo que comunicado a poucos no pode ser verdadeiro; porque como que um cochichar e o provrbio diz que onde se cochicha no pode haver verdade". Em 1724 Collins publicava o Discurso sobre os fundamentos e as razes da religio crist, no qual reconhecia como nico fundamento e razo do cristianismo a validade das profecias. A prova da misso 193
divina de Cristo e dos apstolos reside apenas no facto de que a sua obra vem realizar e cumprir a profecia contida no Velho Testamento. Mas as profecias, segundo Collins, j no se realizam literalmente; e por isso a nica maneira de salvar o valor do cristianismo a interpretao alegrica da prpria profecia. Ao optimismo sobre a natureza humana que domina os escritos dos livre-pensadores contrape-se a amarga diagnose que sobre tal natureza pronuncia Joseph Bufler (16921752). autor de dois livros: Quindici sermoni sulla natura umana, publicados em 1726, e A analogia da religio, natural e revelada, com a constituio e curso da natureza, publicada em 1736. Bufler, como Pascal, est convencido da misria e da corrupo da natureza humana. O homem vive continuamente sob o peso do pecado e da morte o aquilo a que ele pode aspirar no mais do que uma mitigao da infelicidade e da dor da sua condio (Serm ., VI, in Works, II, p. 82). Todavia, dotado de um instinto natural que lhe faz sentir a vergonha da sua misria e o faz tremer como um culpado em presena do seu criador. Este instinto a conscincia, que a prpria "voz de Deus dentro de ns". Bufler compara a natureza humana a uma constituio civil, em que a conscincia faz o papel de soberano (lb., HI, in Works, II, p. 34). Mas a conscincia distingue-se de todas as outras foras naturais do homem e revela a sua origem sobrenatural. " s por esta faculdade natural que o homem um agente moral, e lei para si prprio; porm, esta faculdade no apenas um 194 princpio do seu corao que tenha sobre ele a mesma influncia que os outros, mas , pela espcie e pela natureza, superior a todas as faculdades e faz sentir como tal a sua autoridade" (1b., 111, em Works, II, p. 27). Na outra obra, a Analogia, Butler prope-se estabelecer a identidade entre o Deus da Natureza e o Deus da revelao. Todas as ordens de Deus so ao mesmo tempo divinas e naturais. O governo civil , ele tambm, natural, e as punies que ele comina fazem parte da punio natural do pecado. Por outro lado, a punio na vida futura pode ser considerada no mesmo sentido em que o so as punies nesta vida. Mas, depois de ter admitido a identidade entre as leis de natureza e as leis de Deus, Bufler preocupa-se em estabelecer uma distino entre Deus e a Natureza. Deus o governador do mundo, como tal distinto do prprio mundo. E esta distino comprovada pelo plano moral do mundo. De tal plano, ns vemos apenas uma pequena parte. "0 curso das coisas, diz Bufler (Works, 1, p. 162), que a nossa viso abrange, est ligado a alguma coisa que est para alm dele, no passado, no presente e no futuro. De modo que ns estamos situados no meio de um esquema, que no fixo mas progressivo e, de qualquer modo, incompreensvel: incompreensvel por igual, seja a respeito do que foi, seja a respeito do que agora, seja a respeito do que ser. "0 que podemos dizer deste esquema, valendo-nos do princpio de que Deus o governador e o regulador dele, que ele dever progredir para um cada vez maior equilbrio moral. Se mesmo 195 hoje vemos que os homens so regidos por uma disciplina de vcio, mais do que por uma
disciplina de virtude, devemos admitir que tal condio no definitiva mas pode encontrar na outra vida, ou mesmo nesta, uma correco adequada. Em qualquer caso, a natureza no pode opor-se revelao: uma e outra conduzem mesma concluso, que a nica que cumpre ter bem presente: o governo moral do mundo. Graas a este princpio, que o caracteriza, conserva o cristianismo a sua validez contra os ataques que lhe desferem e representa a nica, alternativa para o atesmo, cujo princpio a negao do governo moral do universo. Como se v, a especulao de Butler, como a dos livres- ,pensadores, funda-se na identidade entre a natureza e Deus mediada pela identidade destes dois termos na razo. O seu trao caracterstico a f no progresso moral do mundo: uma f activa e operante que , sobretudo, empenho pela realizao desse progresso. 479. ILUMINISMO Ingls: SHAFTESBURY Aquele que deu a expresso mais apropriada aos temas mais populares e mais conhecidos do iluminismo europeu e formulou Q defendeu os seus instrumentos de luta, foi Anthony AshIey Cooper, terceiro conde de Shaftesbury, neto do primeiro conde de Shaftesbury (o amigo de Locke), nascido em Londres a 20 de Fevereiro de 1671 e falecido em Npoles a 15 de Fevereiro de 1713. O primeiro escrito de Shaftesbury, que participou na vida poltica 196 inglesa nas fileiras dos Whigs e viajou muito pela Europa, foi a Investigao sobre a virtude, publicada abusivamente por Toland em 1669. A esta obra seguiram-se: Carta sobre o entusiasmo (1708). Sensus communis (1709); Os moralistas (1709); Solilquio ou conselho a um autor (1710). Em 1711, Shaftesbury reunia estes cinco escritos, ajuntava-lhes as Reflexes diversas sobre os precedentes tratados e dava ao conjunto da obra o ttulo de Caractersticas de homens, maneiras, opinies, tempos. Os escritos de Shaftesbury, traduzidos inmeras vezes em francs e alemo, contriburam poderosamente para a formao do esprito iluminstico. O iluminismo, que sob este aspecto foi o herdeiro do libertinismo, valeu-se frequentemente, na crtica das crenas e das instituies tradicionais, da stira, da irriso, do sarcasmo e da ironia. Shaftesbury , em primeiro lugar, um bom defensor destes instrumentos polmicos e, ao mesmo tempo, um eficiente estudioso dos seus limites e do seu alcance. Segundo Shaftesbury, tais instrumentos polmicos fazem parte integrante da razo, cujo uso no se aprende nos tratados dos doutos ou nos discursos dos oradores mas apenas pelo livre exerccio da crtica e da discusso. "A liberdade de fazer ironia, diz, e de exprimir dvidas em relao a tudo com correco de linguagem, a possibilidade de examinar ou de refutar qualquer argumento sem ofender o adversrio, so os mtodos que se devem usar para tornar agradveis as conversaes filosficas. De facto, para dizer a verdade, elas tornaram-se enfadonhas pela estreiteza das leis que lhes so prescritas 197 e pela pedantaria e farisasmo daqueles que as consideram prerrogativas prprias e que se arrogam o direito de reinar como dspotas em tais provncias do sabem (Sensus communis, I, IV). Que as crticas e as discusses filosficas devem ser "agradveis", isto , interessantes para qualquer homem; que a ironia o melhor instrumento para tal fim, assim como para mortificar a arrogncia dos pedantes que supem ter o monoplio da verdade, so duas exigncias que se tornaram constitutivas do esprito iluminstico no sculo XVIII. ironia, como sua anttese e sua cabea-de-turco, ope-se o entusiasmo, ou seja, o fanatismo, que consiste em se crer directamente inspirado pela divindade em todas as atitudes, em poder falar em nome da verdade mesma e em poder condenar inapelavelmente todas as crenas
diferentes. Ao entusiasmo, que muitas vezes pnico, pois que tende a difundir-se por "contgio simptico", atribui Shaftesbury as manifestaes mais chocantes da superstio popular e da intolerncia religiosa. "Estou convencido, diz Shaftesbury, de que o nico mtodo para conservar o bom-senso dos homens e manter alerta o esprito no mundo, deix-lo livre. Mas o esprito nunca livre onde se suprime a livre ironia: contra as extravagncias melindradas e contra os humores melanclicos no existe de facto melhor remdio" (A Ietter Concerning Enthusiasm, 11). Mas a eficcia negativa da ironia em relao ao entusiasmo est no facto de que ela se situa, para o combater, no prprio terreno do entusiasmo, 198 isto , no terreno das emoes. A ironja , pode dizer-se, a emoo guiada ou apoiada pela razo, a emoo racional, que acompanha a livre crtica e lhe assegura a aceitao e a difuso, como o entusiasmo a emoo tornada instrumento de escravido intelectual, religiosa e poltica. A obra de Shaftesbury conduz, por conseguinte, ao reconhecimento (que uma das caractersticas fundamentais do iluminismo) da funo das emoes na vida individual e na vida social dos homens: reconhecimento que faz parte da razo, no j a substncia nica e total do mundo humano, mas uma fora finita, e no obstante eficaz, que d ordem e disciplina a este mundo. Esta , com efeito, a hiptese de que Shaftesbury parte nas suas anlises morais. A coincidncia que estas anlises tendem a mostrar entre a virtude e o interesse apresentada por Shaftesbury como o resultado das escolhas racionais, que o homem pode e deve efectuar no emaranhado das tendncias, das emoes e das paixes que constituem a sua vida. Entre estas tendncias, emoes e paixes, algumas so nocivas ao indivduo e comunidade; outras nocivas comunidade, no ao indivduo; outras, enfim, so teis a uma e a outra. Na escolha estas ltimas para guias da aco e na rejeio das outras que consiste a virtude. A virtude no pode, pois, pertencer a um ser que aja apenas base dos estmulos sensrios, pois uma prerrogativa s de quem, como o homem, pode reflectir sobre as prprias emoes para as reforar ou enfraquecer. A condio desta escolha a posse da noo de um interesse comum a todos 199 os homens. S tal noo, com efeito, permite esta. ~r o acordo entre interesse privado e interesse comum, o qual constitui o critrio das escolhas racionais. "As criaturas que esto sujeitas apenas a estmulos provenientes de objectos sensveis, diz Shaftesbury, so boas ou ms conforme as suas inclinaes sensveis. No sucede o mesmo com as criaturas capazes de forjarem conceitos racionais sobre o bem moral. Nelas, se as inclinaes dos sentidos, conquanto possam ser perversas, no levam a melhor graas quelas outras inclinaes racionais de que falmos, a ndole permanece boa no conjunto e a pessoa , a justo ttulo, considerada virtuosa por todos" (Inquiry Concerning Virtue, 1, 11, 4). Este conceito de moralidade conduz Shaftesbury a afirmar a autonomia da moral relativamente religio. "Uma criatura, antes de ter uma clara e precisa noo de Deus, pode possuir uma concepo ou um sentido do justo e do injusto e vrios graus de vcios ou
virtudes" (Ib., I, 111, 3). O prprio atesmo no um obstculo virtude: "Quem no compartilha plenamente uma hiptese testica pode reconhecer e apreciar as vantagens da virtude e formar na sua alma um alto conceito dela" Ub., 1, 111, 3). Por outro lado, uma conduta inspirada apenas pela esperana de um prmio ou pelo temor de um castigo futuro destituda de valor moral. "H tanta rectido, piedade e santidade numa criatura assim subjugada, diz Shaftesbury, quanta mansuctude e docilidade num tigre enjaulado ou quanta espontaneidade e correco num macaco submetido a disciplina do chicote" b., 1, 11, 3). Mesmo que 200 em alguns casos esta crena possa ser til, a religio deve, fundar-se antes no amor desinteressado por Deus que na solicitude pelo bem privado. "Enquanto Deus amado apenas como causa do bem privado, no amado seno como um qualquer instrumento ou meio de prazer por parte de uma criatura viciosa" (lb., 1, 111, 3). A religio autntica consiste, segundo Shaftesbury, em se dar conta da unidade e da harmonia do universo e em remontar desta considerao perfeio e benevolncia do Criador. Mesmo considerando um nico ser, por exemplo, o homem ou outro animal, v-se logo que, conquanto ele seja em si mesmo um sistema autnomo de partes, no pode ser considerado autnomo em relao a todo o resto: importa observar que est estreitamente ligado sua espcie. Por seu turno, o sistema da sua espcie est ligado ao sistema animal; este est ligado ao mundo, nossa terra; e esta, por sua voz, ao cosmo mais amplo, que o universo. Assim tudo est unido e harmonizado de tal modo que ordem, verdade, beleza, harmonia e proporo so termos sinnimos e caracterizam simultaneamente a conduta virtuosa do homem e a estrutura geral do universo. Shaftesbury repudia como blasfemas as afirmaes de um Deus que pune ou atemoriza ou que tem necessidade de suspender as leis por ele estabelecidas para demonstrar, mediante milagres, o seu poder. "Deus no podia testemunhar-se a si mesmo ou demonstrar aos homens a prpria existncia de outro modo que no fosse revelando-selhes atravs da razo, fazendo apelo ao esprito deles e submetendo as suas obras ao 201 exame e fria deliberao dos homens. A contemplao do universo, as suas leis e a sua ordenao so as nicas bases sobre as quais possvel fundar uma slida f na divindade" (MoraIis@s, 11,5). Pelo seu conceito do universo como "sistema geral", isto , como ordem, harmonia e racionalidade e pelos acentos optimistas que a sua filosofia por vezes assume ao formular ou defender esse conceito, foi Shaftesbury por vezes considerado como o precursor do romantismo. E no h dvida de que os romnticos beberam nos escritos dele algumas das suas inspiraes. Porm, os temas filosficos fundamentais de Shaftesbury constituem a trama mesma do pensamento iluminstico, que os desenvolveu e difundiu e os animou de modos vrios, respeitando-lhe todavia o esprito informador. A prpria tica de Kant devedora a Shaftesbury de muitos dos seus temas. Alm disso, a linguagem fluida e fantasiosa em que tais temas foram expressos constituiu para o iluminismo, e para as
suas exigncias de difuso, um modelo exemplar. 480. HUTCHINSON MANDEVILLE Os motivos fundamentais da filosofia de Shaftesbury vm a ter uma sistematizao escolstica na obra de Francis Hutchinson (1694-1747), que foi desde 1729 professor de filosofia moral na Universidade de Glasgow. o autor de uma Investigao sobre as ideias de beleza e de virtude (1725), de um Tratado sobre as paixes (1728), e de um Sistema de filosofia moral, publicado postumamente 202 em 1755, que a sua obra fundamental. Hutchinson acentua o optimismo de Shaftesbury. "A felicidade, diz ele (System, 1, p. 190), assaz superior misria, mesmo no mundo presente". Deus revela-se em toda a parte. As "estupendas. rbitas" dos cus, a harmonia da terra e do sistema solar, a estrutura dos animais, testemunham a bondade do criador. Os nossos sofrimentos so apenas avisos e exortaes do Pai universal, que no permite nenhum mal no mundo seno aquele que a constituio dele requer ou necessariamente traz consigo (lb., 1, p. 215). A filosofia moral de Hutchinson encontra o seu centro na elaborao do conceito de senso moral, como fundamento da vida moral e revelao no homem da harmonia universal. Hutchinson admite, para alm e antes dos sentidos que nos revelam o mundo exterior e nos fornecem o material do conhecimento, um certo nmero de percepes mais subtis que nos fazem advertir os valores interiores ou espirituais do homem. H o senso da beleza e da harmonia, que a imaginao, senso da simpatia, o senso que nos proporciona prazer na aco, o senso moral, o senso da convenincia e da dignidade, o senso familiar, o senso social e o senso religioso. Cada um deles uma determinao da vontade e tende felicidade. A unidade destes diversos sensos , pois, determinada exclusivamente pelo fim comum a que so dirigidos pelo criador. O senso moral considerado por Hutchinson uma faculdade independente porque no pode ser resolvida em elementos mais simples. No pode ser reduzida simpatia, porque ns aprovamos 203 tambm a virtude dos nossos inimigos; nem ao prazer que deriva da aco virtuosa, porque a raiz e no o fruto deste prazer; nem percepo da utilidade, porque tambm as ms aces podem ser teis. Alm disso, no pode ser derivado da conformidade de urna aco vontade divina, porque os atributos morais de Deus devem ser conhecidos antes do juzo que reconhece tal conformidade; nem da conformidade verdade das coisas, porque esta seria uma definio aparente (1b., 1, cap. 4). O senso moral percebe a virtude e o vcio como os olhos percebem a luz e a obscuridade. A variedade nos juzos morais no se deve a ele, que regular e imutvel, mas aos juzos que ns emitimos sobre as aces. O sou
objecto , de facto, apenas o sentimento interior: os juzos sobre as aces dos outros podem variar indefinidamente, uma vez que lhes cabe inferir o motivo que as sugeriu. Hutchinson identifica todavia o senso moral com a tendncia para o bem pblico. Primeiro, adopta a frmula " a mxima felicidade do maior nmero" para caracterizar a melhor aco possvel (Enquiry, 111, 8), frmula que se encontra em Beccaria e em Bentham. O senso moral no mais do que a aprovao, daqueles sentimentos e, portanto, daquelas aces que conduzem ao bem pblico. Como Hutchinson no encontra outros motivos que possam justificar a aprovao de tais sentimentos e aces, recorre ao senso moral com que Deus dotou o homem. Mais do que juiz supremo, Deus assim o garante da harmoniosa insero do homem no sistema do mundo. 204 Constitui uma contrapartida ao optimismo de HaWhinson o pessimismo de Bernard de Mandeville (1670-1733), autor de uma Fbula das abelhas publicada em 1705. Esta obra consta de um breve poema em que se narra como uma colmeia era prspera e viciosa e como, devido a uma reforma de costumes, perdeu a prosperidade ao perder o vcio. Ao poema seguem-se longas notas; e, em sucessivas edies, foram tambm acrescentados, um Ensaio sobre a caridade e sobre as escolas de caridade, uma Investigao sobre a natureza da sociedade, e alguns dilogos sobre a mesma Fbula. O paradoxo em que o livro assenta expresso no subttulo "Vcios privados, benefcios pblicos". Na concluso da Investigao sobre a natureza da sociedade, Mandeville afirma ter demonstrado que "nem as qualidades sociais, nem as disposies benvolas que so naturais ao homem, nem as virtudes reais que capaz de adquirir com a razo e com a abnegao, so o fundamento da sociedade; mas que aquilo que ns denominamos mal neste mundo, mal moral ou natural, o grande princpio que nos torna criaturas sociveis, a slida base, a vida e o suporte de todos os comrcios e empregos sem excepo"; por consequncia, se o mal cessasse, a sociedade encaminhar-se-ia para a dissoluo. O motivo que mais frequentemente se aduz em favor desta tese que a tendncia para o luxo aumenta os consumos e, portanto, leva ao incremento dos negcios, das indstrias e de todas as actividades humanas. Por luxo entende Mandeville tudo quanto no necessrio existncia de 205 um "nu selvagem". E uma vez que a virtude consiste essencialmente na renncia ao luxo, assim ela directamente contrria ao bem-estar e ao desenvolvimento da sociedade civil. Todas as argumentaes de Mandeville se baseiam no contraste entre o conceito rigoroso da virtude como mortificao de todas as necessidades naturais, e a observao de que a sociedade humana organizada essencialmente, para servir a tais necessidades. O conceito rigoroso da virtude leva-o a negar que haja verdadeira virtude no mundo. O que ns chamamos virtude , as mais das vezes, um egosmo mascarado.
Simplesmente, as interessadas adulaes dos legisladores, dos moralistas, dos filsofos, induzem os homens a crer nas prprias virtudes e a tornarem-se assim mais dceis e manejveis. A doutrina de Mandeville a anttese simtrica da de Shaftesbury. Para Shaftesbury, a virtude corresponde a uma harmonia que impregna todas as obras da natureza e reconhecvel pelo intelecto. Para Mandeville apenas uma moda que muda to rapidamente como o gosto no vestir ou na arquitectura (Fable, p. 209). Para Shaftesbury a natureza uma divina harmonia em que todas as coisas encontram o seu lugar e a sua beleza. Para Mandeville, a natureza uma fora inprescrutvel, um segredo impenetrvel que se furta a toda a pesquisa, mas que se manifesta de preferncia nos dolorosos, desagradveis ou desconcertantes aspectos da vida. A deciso de Mandeville de ter os olhos bem abertos a todos os aspectos obscuros ou desagradveis da existncia decerto estimvel; mas 206 esta deciso permanece inconcludente, porque se acompanha de uma espcie de cnica satisfao que impede de extrair dela as devidas consequncias. Cumpre todavia reconhecer que a atitude assumida por Mandeville bastante mais profcua para uma avaliao autntica do mundo humano. Enquanto Shaftesbury rejeita desdenhosamente a teoria da origem selvagem do homem por ser incompatvel com o desgnio providencial (Moralists, 11, 4). Mandeville descreve a luta pela existncia atravs da qual gradualmente o homem se eleva acima dos animais selvagens e forma a sociedade para a proteco comum. E assim reconhece a origem da religio no feiticismo natural merc do qual as crianas julgam que todas as coisas so animadas (Fable, p. 409); e observa que muitas das conquistas que so atribudas ao gnio do homem so, na realidade, o resultado dos esforos somados e prosseguidos no curso do tempo por muitas geraes de homens que tm inconscientemente contribudo para as alcanar Ub., p. 361). 481. HARTLEY, PRIESTLEY, SMITH Entro o ponto de vista de Hutchinson, que assenta o fundamento da vida moral numa inata tendncia altrustica (o chamado senso moral), e o de Mandeville, que v em todas as atitudes morais mscaras e disfarces do egosmo, uma espcie de mediao e de conciliao efectuada pela doutrina associacionista 207 de David Hartley (1705-57). Hartlcy foi mdico, mas comeou a dedicar-se investigao filosfica por influncia das obras de Newton e de Locke. Em 1479 publicou em dois volumes a sua obra fundamental Observaes sobre o homem, a sua constituio, o seu dever e as suas expectativas. Hartley um materialista: para ele o homem somente um, feixe de "vibraezinhas" produzidas por foras que lhe so exteriores. A lei que o domina a que domina todo o mundo natural: a necessidade. Deus comunicou ao mundo um certo impulso e este impulso transmite-se a todas as coisas em virtude de leis imutveis, e a todas as determina e produz com perfeita necessidade.
A esta necessidade no se subtraem as manifestaes propriamente humanas e espirituais; ea forma que a necessidade reveste no interior do homem a lei da associao. A associao para o homem o que a gravitao para os planetas: ela a fora que determina a organizao e o desenvolvimento de toda a vida espiritual do homem. De facto, as ideias, derivadas da sensao (Hartley reduz a sensao reflexo, que Locke distinguiria dela), so gradualmente transformadas pela associao em produtos mais complexos. O prazer e a dor da sensao so os factos ltimos e irredutveis; deles procedem os da imaginao; e de uns e de outros combinados nascem o prazer e a dor da ambio. Da ulterior combinao destes ltimos com os primeiros nascem os outros produtos da vida espiritual: a simpatia, a teopatia e o senso moral. No desenvolvimento deste processo, o prazer isola-se 208 e purifica-se pela dor; de modo que a prpria tendncia do homem para o prazer o conduz ao amor de Deus e vida moral que lhe garantem o mximo prazer possvel depurado pela dor. O amor a Deus (teopatia) o ponto mais alto deste processo; mas o sentido moral resume-o e compreende-o todo. Hartley resume a sua doutrina numa frmula matemtica. Se M, diz ele (Observations, H, 72, escol.), representa o amor do mundo, T o temor, e A o amor de Deus, podemos dizer que M:T = T:A, isto : M=T. No nosso estdio inicial tememos a Deus bastante mais do que o amamos; e amamos o mundo bastante mais do que tememos a Deus. No nosso estdio final, a relao invertida e o amor do mundo tragado pelo temor, e este, por sua vez, pelo amor a Deus. M aproximase indefinidamente de zero; e A deve por isso ser indefinidamente maior do que T. Hartley julga ter encerrado nesta simples frmula matemtica o segredo da vida moral. A mesma bizarra mistura de materialismo e de teologismo se encontra na obra de um discpulo de Hartley, Joseph Priestley (1733-1804), autor das Investigaes sobre a matria e o esprito (1777). O tom deste escrito dado pela esperana expressa de que se possa um dia observar o processo mecnico atravs do qual se geram as sensaes. "No impossvel, diz Priestley (Disquisitions, p. 153), que no curso do tempo, venhamos a saber como que a sensao resulta da organizao". A psicologia poder e dever tomar-se numa parte da fisiologia, numa espcie de fsica do sistema nervoso. 209 Priestley coloca-se assim decididamente no terreno do materialismo e do determinismo que ele defende polemicamente contra o platnico Richard Price (1723-91), contra o qual so dirigidas as suas Livres discusses das doutrinas do materialismo (1778). O que, alis, no lhe impede de admitir a origem divina do mundo e a imortalidade da alma, como j Hartley o fizera. O pressuposto optimista de Shaftesbury retomado na obra de Adam Smith (1723-90), que foi o sucessor de Hutchinson na cadeira de filosofia moral de Glasgow, e que ocupa um
lugar eminente na histria da economia poltica, dado que a sua Investigao sobre a natureza e as causas da riqueza das naes (1776) constitui a primeira exposio cientfica desta disciplina. A Teoria dos sentimentos morais (1759) destina-se a explicar o funcionamento da vida moral do homem mediante um princpio :simples de harmonia e de finalidade. Um Ser grande, benvolo e omnisciente, determinado pelas suas prprias perfeies a manter no universo, em todos os tempos, "a maior quantidade possvel de felicidade" (Theory, VI, 2, 3). Tal Ser deu ao homem um Guia infalvel que o dirige para o bem e a felicidade, e esse guia a simpatia. A simpatia o dom de nos vermos a ns prprios como os outros nos vem; a capacidade de sermos espectadores imparciais de ns mesmos e de aprovarmos ou desaprovarmos a nossa conduta conforme sentimos que os outros simpatizam ou no simpatizam com ela. "Quando examino a minha conduta e a quero julgar, diz Smith (1b., 111, 1), e procuro conden-la ou 210 aprov-la, evidente que me divido de qualquer modo em duas pessoas e que eu, apreciador e juiz, tenho uma tarefa diferente daquele outro eu de quem ele aprecia e julga a conduta. A primeira destas duas pessoas, reunidas em mim, o espectador de quem procuro assumir os sentimentos, pondo-me no seu lugar e considerando atravs dele a minha conduta. A segunda o prprio ser que agiu, aquele a que precisamente chamo eu e de que procuro julgar a conduta do ponto de vista do espectador". evidente que, se a simpatia deve servir como critrio de avaliao moral, importa pressupor o acordo entre aquele espectador que cada um traz em si e os outros espectadores, isto , as outras pessoas que julgam a nossa conduta. Tal acordo , de facto, pressuposto por Smith, que v na simpatia a manifestao de uma ordem ou harmonia providencial que Deus estabeleceu entre os homens. Smith, todavia, no nega que o acordo entre o espectador interior e os externos possa tambm, nalguns casos, no ocorrer, e que por isso a conscincia interior do indivduo, o seu tribunal interior, possa estar em contradio com o juizo que sobre ele pronunciam os outros. Nestes casos, o juzo da conscincia obscurecido e agitado pelo juzo dos outros, e o seu testemunho interior hesita em aprovar-nos ou em absolver-nos. Ele pode, todavia, permanecer firme e decidido, como pode tambm ser abalado e confundido pelo juzo dos outros. "Neste ltimo caso, diz Smith (lb., 111, 2), a nica consolao eficaz que resta ao homem abatido e desventurado invocar o supremo tribunal do juiz clarivi211 dente e incorruptvel dos mundos". O apelo a este tribunal inacessvel esconde a dificuldade em que vem a encontrar-se a doutrina moral de Smith perante a hiptese de um imperfeito funcionamento da ordem preestabelecida por Deus entre o juizo moral do indivduo e o dos espectadores. Mas, na realidade, este imperfeito funcionamento permanece na mente de Smith uma hiptese abstracta, uma vez que ele est profundamente convencido da infalibilidade da ordem preestabelecida. Esta convico domina tambm a sua doutrina econmica. A Riqueza das naes , de facto, fundada no pressuposto de uma ordem natural, de origem providencial, a qual garante em todos os casos a coincidncia do interesse particular com o interesse da colectividade. Todas as anlises econmicas de Smith tendem a demonstrar que se deve deixar ao indivduo a liberdade de perseguir o seu interesse para que os interesses
particulares se coordenem e se harmonizem espontaneamente com os objectivos do bemestar colectivo. O esforo natural de todo o indivduo para melhorar a sua condio o nico princpio apto a criar uma sociedade rica e prspera. Deste pressuposto extraa Smith a condenao de toda e qualquer interferncia, poltica na actividade econmica dos cidados e a confirmao do princpio, defendido pelos fisiocratas franceses, da ilegitimidade de toda a regulamentao estatal da actividade econmica. Com as doutrinas de Smith o princpio da harmonia universal era aplicado no domnio das doutrinas econmicas. Fundadas como esto neste princpio, tais doutrinas revelam a sua 212 insuficincia logo que se considera a outra face das coisas e se pe em dvida a estabilidade e a finalidade providenciais da ordem que as sociedades humanas apresentam. Viu-se j que outros filsofos ingleses (Butler, Mandeville, Hume) haviam posto em dvida o princpio mesmo da ordem providencial. Robert Malthus iria em breve pr em luz as mais clamorosas anomalias da ordem econmica. 482. A ESCOLA ESCOCESA DO SENSO COMUM As anlises gnoseolgicas e psicolgicas dos filsofos da escola escocesa so dominadas pela segurana de uma ordem providencial que j inspirara alguns dos pensadores examinados. O senso moral de Hutchinson, a simpatia de Smith, so manifestaes da ordem infalvel que estes filsofos reconhecem como a natureza mesma da realidade. Era fcil, obedecendo ao mesmo princpio, admitir uma manifestao desta ordem no domnio do conhecimento: tal o senso comum da escola escocesa. O fundador da escola escocesa foi Thomas, Reid (1710-96), que foi o sucessor de Smith na cadeira de filosofia moral de Glasgow. O primeiro escrito de Reid o Ensaio sobre a quantidade publicado em 1748 na Actas da Sociedade Real de Londres. Mas a sua obra principal a Investigao sobre o esprito humano segundo os princpios do senso comum (1764), a que se seguiram os Ensaios sobre as foras intelectuais do homem (1785), os Ensaio5 sobre as foras activas do homem (1788), e outros escritos menores. A filosofia de Reid. contrape-se 213 polemicamente ao cepticismo de Hume e tende a restabelecer e a garantir os princpios que Hume havia negado: a existncia da realidade externa e as leis da causalidade. Mas no as restabelece e garante mediante uma reinterpretao dos problemas relativos (como far Kant), mas sim apenas recorrendo ao testemunho do senso comum, isto , das crenas tradicionais da humanidade. Reid faz derivar o cepticismo de Hume de Berkeley, Berkeley de Locke, e Locke de Descartes. As concluses que Hume tornou explcitas estavam j implcitas na doutrina cartesiana das ideias (Enquiry, 1, 7). O erro fatal de Descartes foi o de admitir que o nico objecto do nosso conhecimento a ideia. Reid nega tal pressuposto. O objecto da percepo sensvel a coisa mesma, pois que percepo est ligada a convico irresistvel da existncia actual da coisa, A realidade do mundo exterior no reconhecida em virtude de um raciocnio, mas em virtude do acto imediato da percepo, e uma crena originria do esprito humano, estabelecida pelo
criador. Esta doutrina da percepo, apesar do seu carcter superficial, a parte mais notvel da filosofia de Reid. Quanto ao resto, Reid limita-se a contrapor s anlises de Berkeley e de Hume a pretensa testemunha do senso comum. Berkeley negara a existncia de um substracto material das sensaes, e negara, at, que a crena neste substracto estivesse implcita nas afirmaes do homem comum; Reid afirma que os homens crem nele e que esta crena um princpio eterno do senso comum. Hume afirmara que a substncia, seja material, seja espiritual, 214 apenas uma fico da imaginao. Reid replica que Deus no poderia induzir-nos a crer numa fico, Mas porque se cr em Deus? Evidentemente por causa do desgnio providencial que o universo mani. festa, segundo Reid. Hume pusera em luz a dificuldade de remontar deste desgnio existncia de Deus. Reid replica ento que a crena de que a ordem inteligvel implica um criador, um dos primeiros princpios da nossa natureza (Intelectual Powers, VI, 6). Reid aplica tambm este procedimento simplista vida moral, considerando os princpios ticos como outras tantas manifestaes de uma "fora intelectual e activa" que , evidentemente, o prprio senso comum aplicado s questes morais. A doutrina de Reid foi retomada em Inglaterra por William Hamilton e, fora de Inglaterra, por pensadores franceses e italianos. O mais notvel dos sequazes da escola escocesa foi Dugald Stewart (1753-1828), autor de uma obra intitulada Elementos da filosofia do esprito humano (em trs volumes, 1792, 1814, 1827). A primeira das crenas fundamentais que so as condies de todo o raciocnio , segundo Stewart, a crena na existncia do eu. Tal crena surge luz no acto da percepo mas no deriva dela. Naquele acto apreendemos ao mesmo tempo a existncia da sensao e a nossa prpria existncia de seres sensveis. A crena na existncia do eu originria e irredutvel e no pode ser ulteriormente explicada. A par dela coloca Stewart a crena na realidade do mundo material, a crena na uniformidade das leis de natureza, e alm disso, a confiana no testemunho da memria 215 e na identidade pessoal. Tais verdades so denominadas por Stewart leis fundamentais da crena que os primeiros elementos da razo humana. No so princpios no sentido de serem pontos de partida de raciocnios indutivos que conduzem a outras verdades. Tais verdades originrias no permitem que delas se deduzam quaisquer verdades ulteriores. De proposies como "eu. existo", ou "o mundo material existe independentemente de mim", no se pode extrair nenhuma verdade nova, por muito que o esprito as combine. Tais verdades so apenas as condies necessrias de todas as dedues e valem pois como os elementos essenciais da prpria razo. Devem ser, e so-no na realidade, reconhecidas por todos os homens, mesmo sem uma enunciao formal ou um acto reflexo da conscincia.
escola escocesa pertence tambm Thomas Brown (1778-1820). Porm, Brown apercebese da debilidade das posies de Reid e tende a defender as de Hume, embora sem partilhar o cepticismo deste ltimo. Na sua obra Sobre a natureza e a tendncia da doutrina de Hume (1804) nota que afirmar, como Reid faz, que se deve crer na realidade exterior sem que se possa dar uma prova da sua existncia, implica substancialmente partilhar a tese de Hume de que aquela crena injustificvel. So, pois, notveis os contributos de Brown para a psicologia da associao na obra publicada postumamente e intitulada Filosofia das foras activas e morais do homem (1828), contributos que foram utilizados pela psicologia posterior, de Stuart Mill e Spew@r a William James. 216 NOTA BIBLIOGRFICA 476. Sobre o iluminismo em geral: CASSIRER, Die Phi?<>sophie der Aufkldung, Tubinga, 1932; trad. ital., Ploreno, 1935; P. HAZARD, La crise de Ia conscience europenne (1680-1715), Paris, 1934; Trad. ital. Turim, 1946; La pense europenne au XVIII Wcle: de Montesqui--u Lessing, Paris, 1946; C. "ANKEL, The Faith of Reason, New York, 1948; R. V. SAMPSON, Progress in. the Age of Reason, Cambridge (Mass.), 1956. 477. De Newton: Opuscu27a mathematica, phitosophica et philologica, Lausana, 1744; Opera, 5 vol., Londres, 1779-85. Sobre a biografia: L. T. More, I. N., A Biography, Nova lorque, 1934. L. BLOCH, Lu philosaphie de N., Paris, 1890; J. SNOW, Matter and Gravity in Ns Philosophy, LGndres, 1927; P. BURETT, The Metaphysics of &ir I. N., Londres, 1930; S. 1. VAVILOV; I. N., Moskva-Leningrad, 1943, trad. ital., Turim, 1954; G. PRETI, N., Milo, 1950. De BoYLE: Works, esd- brit. Birch, 5 vol., Londres, 1744; 2., e@d., 6 vol., Londres, 1772; trad. ital., do Quiinico ceptico, de M. Borella, Turim, 1962. Sobre Boy!e: L. T. More, The Life and Works of the Han. R. B., Nova Iorque, 1944. Sobre as relaes com Locke: C. A. VIANO, John Locke. Dal razionalismo all i7!uTnii?,ismo, p. 42628; 438-45. Sobre a filos. inglesa de Setecentos fundamental a obra de LnSLIE STEPUEN, English in the Eighteenth, 3.1 ed., 2 vol., Londres, 1902. Clarke: WORS, 4 vol. in-foIio, Londres, 1896; 2,1 ed1910. 479. De Sliaftesbury, a nica ed. moderna da,9 Characteristics a J. M. ROBERTSON, Londres, 1900. Sobre os escritos de esttica: B. RAND, Second Characters, or the Language oi Forms, Cainbrid.-e, 1914.217 Saggo 6u11a virtu sul merito, trad. ital., Garin, Turim.,
1945; Saggi morali, trad. ital., T. Casini, Bar4 1962. Sobre Shaftesbury, alm. da cit. obra de Leslie Steph,en: GARIN, LIMuminismo inglese. Imoralisti, 3ffilo, 1941; L. BANDINI, S., Bar!, 1930; R. L. Brett, The Third Earl of Shaftesbury. A Study in Eighteenh-Century Literary Theory, Londres, 1951. 481. Smith: Collected Works, 5 vol. Edinburgo, 1811-12-. LiMENTANI, La morale della simpatia di A. Smith nella storia del pe"ero inglese Gnova, 1914; C. R. FAY, A. S. and the Scotland of His Day, Cambridge, 1956. 482. Reid: TIorks, ed. D. Stewart, Edinburg, 1804; ed. Hamilton, E-dinburg, 1846-63; trad. franc. Jouffroy, Paris, 1828-35.-M. F. SIACCA, La fil. di T. R., Npoles, 1935. Sobre a escola escocesa: A. SETH PRINGLE-PATINSON, Scottish Philosophy, Londres, 1885, 2.- ed-, 1890; H. LAURIE, Scottish Phil., Its National Dev~ment, Londres, 1902; F. H-"RiSON, The Phil. of Common Sense, Londres, 1907. 218 xii O ILUMINISMO FRANCS 483. ILUMINISMO FRANCS: TRADIO E HISTRIA: BAYLE Todos os temas especulativos do iluminismo francs foram tomados ao iluminismo ingls. Todos, excepto um: o da Histria. A elaborao do problema da Histria atravs da contraposio entre Histria e tradio o contributo mais notvel e original do iluminismo francs no mbito do pensamento filosfico do sculo XVIII. Sob este aspecto, a primeira grande figura do iluminismo francs Pedro BayLe. Pedro Bayle (1647-1706) nasceu no seio de uma famlia protestante e ao protestantismo voltou aps uma breve incurso juvenil no catolicismo. Professor, primeiro na Academia protestante de Sedan, depois na de Roterdo, desenvolveu uma intensa 219 actividade de publicista dando a lume cartas e opsculos sobre variados temas, defendendo sobretudo a tolerncia religiosa e a liberdade de pensamento. A tolerncia religiosa encontra o seu fundamento, segundo Bayle, na obrigao de cada um de seguir unicamente o juzo da sua prpria conscincia, obrigao que no pode ser contrariada ou Impedida com a violncia, mesmo quando se trata de uma conscincia "errante". Um dos escritos mais significativos de Bayle sobre este tema (o Comineniaire philosophique sur ces paroles de J. C.: Contrains-les d'entrer, 1686), abre com a afirmao "Tudo o que contm a obrigao de cometer delitos falso": afirmao que leva a ver na intolerncia religiosa um delito contra a prpria conscincia religiosa. Alm disso, segundo Bayle, uma multiplicidade de fs religiosas coexistentes numa mesma comunidade seria um contributo fundamental para o bem-estar e a vida moral dessa comunidade.
Em 1682, Bayle publicava os Pensamentos diversos sobre o cometa, que constituem a sua primeira tomada de posio contra o valor da tradio como critrio ou garantia de verdade. O pretexto do escrito a crtica da crena popular de que os cometas seriam pressgios de desventuras. O motivo fundamental aduzido para esta crtica que a aceitao de uma crena por parte da maioria dos homens ou a sua transmisso de gerao para gerao no constitui o mnimo sinal da sua validade. " uma pura e simples iluso, diz Bayle pretender que uma convico transmitida de sculo em sculo e de gerao em gerao no possa ser 220 inteiramente falsa "(Penses diverses sur la comte, 100). Mas o escrito de Bayle contm tambm outras teses que Bayle partilhava com a corrente libertina ( 418): a negao dos milagres, a negaco da identidade entre atesmo e imoralidade, a possibilidade de uma sociedade de ateus, a origem puramente convencional de muitos costumes ou prticas sociais. A crtica de Bayle ao sistema das crenas e das instituies tradicionais torna-se ainda mais radical no Dicionrio histrico e crtico (1697), que a sua obra fundamental. O prprio projecto desta revela a sua caracterstica princi@pal: foi concebida como uma " recolha dos erros cometidos tanto por aqueles que fizeram os dicionrios como por outros escritores, e que reproduzisse sob cada nome de homem ou de cidade os erros concernentes a esse homem e a essa cidade" (Lett. a Naud, 22 de Maio de 1692). Mas o modo como o dicionrio foi realizado revela opapel crtico e negativo que Bayle atribua razo. A razo incapaz de dirimir as disputas: dela afirma Bayle aquilo que os telogos diziam da economia mosaica, isto , que ela se destinava apenas a dar a conhecer ao homem as suas trovas e a sua impotncia. Todavia, esta concluso negativa no o nico ensinamento do dicionrio. H uma concluso positiva que Bayle exprime dizendo: "No h nada mais insensato do que raciocinar contra os factos" (Dict., art. Manichens, D. ). E ao modo de averiguar os factos, isto , metodologia histrica, Bayle d um contributo importante. Remontar s fontes de cada 221 testemunho, joeir-lo, criticamente, com vista ao intento explcito ou subentendido do seu autor, e rejeitar e pr de parte toda a afirmao que parea infundada ou suspeita, uma atitude que Bayle assumiu constantemente no curso da sua. obra. A justo ttulo, pois, se disse ser ele o verdadeiro fundador da crtica histrica. Um facto para ele um problema para cuja soluo se devem utilizar todos os possveis meios de verificao e de crtica de que dispe o historiador., Ele compara aos vendedores os historiadores que suprimem os factos (1b., art. Abdas), condena os panfletrios que "cortam as pernas aos factos histricos" (Discs. sur les libelles diffamatoires, in Dict., V, p. 661-62), e, numa pgina do Dicionrio (art. Usson, rem. F), resume assim os deveres do historiador: "Todos os que conhecem os deveres do historiador esto de acordo em que um historiador que queira cumprir fielmente as suas funes deve despojar-se do esprito de lisonja e do esprito de maledicncia e pr-se o mais possvel no estado de um estico que nenhuma paixo agita. Insensvel a todo o resto,
deve estar atento s aos interesses da verdade e deve sacrificar a esta o ressentimento provocado por qualquer injria, a recordao de quaisquer benefcios e o prprio amor da ptria. Deve esquecer que pertence a um determinado pas, que foi educado numa certa comunidade, que deve a sua fortuna a isto ou aquilo, e que estes e aqueloutros so os seus pais ou os seus amigos. Um historiador, enquanto tal, , como Melquisedeque, um ser sem pai, sem me, sem genealogia. Se se lhe perguntar: donde s? dever 222 responder: no sou nem francs, nem alemo, nem ingls, nem espanhol, etc.; sou habitante do mundo. No estou nem ao servio do imperador nem ao servio do rei de Frana, mas s ao servio da verdade. a minha nica rainha, e s a ela prestei o juramento de obedincia... Tudo o que o historiador d ao amor da ptria tira-o aos atributos da Histria, e torna-se um mau historiador na medida em que se mostre um bom sbdito". Esta atitude crtica para com a tradio investe tambm contra todo o arsenal da tradio filosfica, e pe a nu, sem complacncia, todas as contradies que se anicham nas diversas e contrastantes solues dos problemas tradicionais. Sobretudo o3 problemas do mal, da providncia, da liberdade e da graa, so por ele continuamente debatidos nos artigos do Dicionrio, e a sua concluso sempre a de que eles so radicalmente insolveis. Perante eles "eis, sem dvida, a justa opo e a verdadeira via para tirar as dvidas: Deus o disse, Deus o fez, Deus o permitiu; portanto, verdadeiro e justo, est sabiamente feito e sabiamente permitido" (Dict., art. Rufin, rem. 6). mais honesto reconhecer a incapacidade da razo e aceitar humildemente a palavra de Deus do que enganar-se a si mesmo com provas fictcias e demonstraes inconcludentes. Bayle considera desonesto o filsofo, ou o telogo, que feche os olhos perante as contradies da sua doutrina, pelo menos tanto quanto o o historiador que ignora ou altera os factos. O seu Dicionrio o cemitrio de todas as doutrinas tradicionais, implacavelmente, criticadas; mas ao 223 mesmo tempo o bero do mtodo histrico e a afirmao vigorosa do valor da histria perante a tradio. Bayle no se props todavia abordar o problema da ordem histrica. Tal problema no tinha sentido para ele, porque na histria no via mais do que "uma srie de delitos e de desventuras do gnero humano" (1b., art. Man@ichens, rem. D.). Mas tal problema tornase o tema especulativo dos filsofos franceses que, de algum modo, continuam a sua obra, iniciando e levando avante a investigao sobre o problema da ordem histrica ou sobre a ordem problemtica da histria. So eles Montesquieu, Voltaire, Condorcet, Turgot. 484. ILUMINISMO FRANCS: MONTESQUIEU
Charles de Scondat, baro de Montesquieu, nado em Brde, prximo de Bordus, a 18 de Janeiro de 1689, e falecido em Paris a 20 de Fevereiro de 1757, autor das Cartas Persas (1721), das Consideraes sobre as causas da grandeza e decadncia dos Romanos (1734) e do Esprito das leis (1748), sua obra fundamental. Nas Cartas Persas, sob a mscara de um jovem persa, Usb&.c, Montesquieu faz a stira da civilizao ocidental da poca, mostrando a sua incongruncia e superficialidade, e combatendo sobretudo o absolutismo religioso poltico. Na obra sobre a grandeza e a decadncia dos Romanos, Montesquieu afirma ser a causa da grandeza dos Romanos o amor liber224 MONTESQUIEU dade, ao trabalho e ptria, em que foram criados desde a infncia; e como causas da sua decadncia aponta o excessivo engrandecimento do estado, as guerras em territrios distantes, a extenso do direito de cidadania, a corrupo devida introduo do luxo asitico, a perda da liberdade sob o imprio. Mas a obra em que ele aborda o problema da Histria o Esprito das leis. Esta obra parte do pressuposto de que, sob a diversidade caprichosa dos eventos, a Histria possui uma ordem que se manifesta em leis constantes. "Eu estabeleci os princpios, diz Montesquieu no Prefcio, e vi que os casos particulares se amoldavam a eles por si prprios, que as histrias de todas as naes derivam deles como consequncias e cada lei particular se liga a uma outra lei ou depende de uma outra mais geral". Montesquieu. define a lei como "a relao necessria que deriva da natureza das coisas", e considera que cada ser tem a sua lei, e, por conseguinte, tambm o homem. Mas as leis a que o homem obedece na histria nada tm de obrigatrio. "0 homem, com(, ser fsico, , tal como os outros corpos, governado por leis imutveis, como ser inteligente viola incessantemente as leis que Deus estabeleceu e muda aquelas que ele prprio estabelece. Precisa de ser dirigido, pois, um ser limitado; est sujeito ignorncia e ao erro, como todas as inteligncias finitas; os fracos conhecimentos que possui, pode ainda perd-los; como criatura sensvel, est sujeito a mil paixes. Um tal ser pode a cada instante esquecer o seu criador; Deus 225 chama-o a si com as leis da religio. Um tal ser pode a cada instante esquecer-se de si prprio; os ,filsofos advertem-no com as leis da moral. Feito para viver em sociedade, pode esquecer os outros; os legisladores reconduzem-no aos seus deveres mediante as leis polticas e civis" (1, 1). Deste ponto de vista, evidente que a ordem na histria j no um facto, nem um simples ideal superior e estranho aos factos histricos: a lei de tais factos, a sua normatividade, o dever ser a que eles podem, mais ou menos, aproximar-se ou conformar-se. Quando Montesqueu fixou os tipos fundamentais de governo, a repblica, a monarquia e o despotismo, e reconheceu como princpio da repblica a virtude, entendida como virtude poltica, isto , como amor da ptria e da igualdade e como princpio do despotismo o temor, advertiu: "Tais so os princpios dos trs governos: isto no significa que numa certa repblica se seja virtuoso,
mas que se deve s-lo. Isto no prova, no entanto, que numa certa monarquia se tenham em conta a honra e que num estado desptico particular domine o temor; mas apenas que cumpriria que assim fosse, sem o que o governo ser imperfeito" (111, 11). Este dever ser, impondo-se incessantemente como uma exigncia intrnseca de todas as formas histricas do estado, recondu-las ao princpio que as rege e garante-lhes a conservao; mas pode ser negligenciado ou esquecido. A pesquisa de Montesquieu visa mostrar como cada tipo de governo se realiza e se articula num conjunto de leis especficas, referentes aos mais diversos aspectos da actividade humana e constituintes 226 da estrutura do prprio governo. Estas leis concernem educao, administrao da justia, luxo, matrimnio, e, em suma, a todos os costumes civis. Por outro lado, todo o tipo de governo se corrompe quando infringe o princpio que o rege (VIII, 1): e uma vez corrompido, as melhores leis tornam-se ms e voltam-se contra o prprio estado (VI11, 11). Assim os eventos da histria, o nascimento e decadncia das naes no so frutos do acaso ou do capricho, mas podem ser entendidos mediante as suas causas, que so as leis ou os princpios da prpria Histria; e, por outro lado, so destitudos de qualquer necessidade fatal e conservam aquele carcter problemtico em que se reflecte a liberdade do comportamento humano. Montesquieu foi um dos primeiros a pr em relevo a influncia das circunstncias fsicas e, especialmente, do clima sobre o temperamento, sobre os costumes, sobre as leis e sobre a vida poltica dos povos; mas est longe de crer que perante tais influncias o homem seja puramente passivo. Tudo depende da sua reaco influncia do clima. "Quanto mais as causas fsicas conduzem o homem ao repouso, tanto mais as causas morais o devem afastar dele" (XIV, 5). Quando o clima leva os homens a fugir ao trabalho da terra, as religies e as leis devem compeli-los a trabalham (XVI, 6). Assim, na luta com os prprios agentes fsicos vem a configurar-se a liberdade finita dos homens na Histria. Tal liberdade inspira tambm o objectivo prtico que Montesquieu tem em vista no Esprito das 227 leis. Esta obra, com efeito, prope-se expor e justificar historicamente as condies que garantem a liberdade poltica do cidado. Tal liberdade no inerente por natureza a nenhum tipo de governo, nem mesmo democracia; ela prpria apenas dos governos moderados, isto , dos governos em que todo o poder encontre limites que o impeam de prevaricar. " necessrio para a prpria ordem das coisas que o poder refreie o podem (XI, 4). A esta exigncia corresponde a diviso dos trs poderes, legislativo, executivo e judicirio, realizada na constituio inglesa. A reunio de dois destes poderes nas mesmas mos anula a liberdade do cidado, porque torna possvel o abuso dos poderes. Mas a liberdade do cidado deve ser tambm garantida pela natureza particular das leis que devem dar-lhe a segurana no exerccio dos seus direitos (XII, 1). Contribuem para isso, sobretudo, as leis que regulam a prtica do poder judicirio.
485. VOLTAIRE: VIDA E ESCRITOS Franois Marie Arouct, que adoptou o nome de Voltaire, nasceu em Paris a 21 de Novembro de 1694. Foi educado num colgio de jesutas e ingressou bastante jovem na vida da aristocracia cortes francesa. Mas uma disputa com um nobre, o cavaleiro de Rohan, f-lo ir parar Bastilha. Nos anos de 1727-29 viveu em Londres e assimilou a cultura inglesa da poca. Nas Cartas sobre os ingleses, 228 ou Cartas filosficas (1734), regista os vrios aspectos daquela cultura insistindo especialmente sobre os temas mais caractersticos da sua actividade filosfica, histrica, literria e poltica. Defende assim a religiosidade puramente interior e alheia a ritos e cerimnias dos Quacres (Lett., I-IV); pe em relevo a liberdade poltica e econmica do povo ingls (1b., lX, X); analisa a literatura inglesa e traduz poeticamente alguns trechos da mesma (1b., XVI11-XX111); e, na parte central, exalta a filosofia inglesa nas pessoas de Bacon, de Locke e de Newton (Ib., XII-XVII). Comparando Descartes a Newton, exalta os mritos de matemtico de Descartes, mas reconhece a superioridade da doutrina de Newton (Ib., XIV). Descartes "fez uma filosofia como se faz uni bom romance: tudo parece verosmil e nada verdadeiro". No mesmo ano de 1734, Voltaire publicou o seu Tratado de metafsica, no qual versa os temas filosficos que j abordara nas Cartas sobre os ingleses. Em 1734 foi viver para Cirey, em casa da sua amiga Madame de Chtelet, e foram esses os anos mais fecundos da sua actividade de escritor. Voltaire publicou ento numerosssimas obras literrias, filosficas e fsicas. Em 1738 apareceram os Elementos da filosofia de Newton, e em 1740 a Metafsica de Newton ou paralelo entre as opinies de Newton e Leibniz. Em 1750, aceitou a hospitalidade de Federico da Prssia em Sans-Soucie e a permaneceu cerca de trs anos. Aps o rompimento das suas relaes de amizade com Federico e vrias peregrinaes, estabeleceu-se na Sua, no castelo de Ferney (1760), onde pros229 seguiu a sua infatigvel actividade graas qual se tornou o chefe do iluminismo europeu, o defensor da tolerncia religiosa e dos direitos do homem. S aos 84 anos voltou a Paris para dirigir a representao da sua ltima tragdia Irene, tendo sido acolhido com honras triunfais. Faleceu a 30 de Maio de 1778. Voltaire escreveu poemas, tragdias, obras de histria, romances, alm de obras de filosofia e de fsica. Entre estas ltimas, alm das citadas, so importantes o Dicionrio filosfico porttil (1764), que nas edies subsequentes se tornou uma espcie de enciclopdia em vrios volumes, e O filsofo ignoranie (1766), o seu ltimo escrito filosfico. Mas tambm bastante notvel pelo seu conceito de histria o Ensaio sobre os costumes e o esprito das naes (1740), a que anteps mais tarde uma Filosofia da histria (1765) em que procura caracterizai os costumes e as crenas dos principais povos do mundo. Outros escritos menores de um certo relevo so citados adiante. Shaftesbury dissera que no h melhor remdio contra a superstio e a intolerncia do que o bom humor. Voltaire ps em prtica melhor do que ningum este princpio com todos os inexaurveis recursos de um esprito genial. O humorismo, a ironia, a stira, o sarcasmo, a irriso aberta ou velada, so por ele empregados de vez em quando contra a metafsica escolstica o as crenas religiosas tradicionais. Na novela Candide ou de
l'optimisme, Voltaire narra as incrveis peripcias e desditas que pem prova o optimismo de Cndido, o qual 230 encontra sempre maneira de concluir, com o seu mestre, o doutor Pangloss, que "tudo corre o melhor possvel no melhor dos mundos". Num outro romance, o Mcrmegas, do qual protagonista um habitante da estrela Srius, zomba da crena da velha metafsica segundo a qual o homem seria o centro e o fim do universo e, nas pisadas do Swift das Viagens de Gulliver, aborda o tema da relatividade dos poderes sensveis, relatividade que pode ser superada somente pelo clculo matemtico. Num Poema sobre o desastre de Lisboa (1755), escrito a propsito do terremoto de Lisboa do mesmo ano, combate a mxima de que "tudo est bem" considerando-a como um insulto s dores da vida, e contrape a esperana de um melhor futuro construdo pelo homem. "Muda a natureza que em vo interrogamos. ,k preciso um Deus que fale ao gnero humano. S a ele cabe sua obra explicar, Cons~ o dbiJ, o sbio iluminar... Nossa esperana que algum dia tudo esteja bem: Mera iluso que hoje tudo esteja bem. 486. VOLTAIRE: O MUNDO, O HOMEM E DEUS Diz-se habitualmente que Voltaire, no decurso de toda a sua vida, passou do optimismo ao pessimismo e que, sob este aspecto, os seus ltimos escritos marcam uma orientao diferente da dos primeiros. Na realidade, no possvel distinguir 231 Oscilaes dignas de relevo na atitude de Voltaire sobre este ponto. Ele sempre esteve convencido de que o mal do mundo uma realidade to inegvel como o bem; que uma realidade impossvel de explicar luz da razo humana e que Ba@4e tinha razo ao afirmar a insolubilidade do problema e criticar implacavelmente todas as possveis solues do mesmo. Mas, por outro lado, esteve tambm sempre convencido de que o homem deve reconhecer a sua condio no mundo tal qual ela , no j para se lamentar e para negar o prprio mundo, mas para alcanar uma serena aceitao da realidade. Nas Anotaes sobre os Pensamentos de Pascal (1728), que um escrito juvenil, no pretende refutar o diagnstico de Pascal sobre a condio humana, mas apenas extrair dela um ensinamento muito diferente. Pascal, com efeito, inferia desta situao a negao do mundo e a exigncia de se refugiar no transcendente. Voltaire reconhece que tal condio a nica condio possvel para o homem e que, portanto, o homem deve aceit-la e dela tirar todo o partido possvel. "Se o homem fosse perfeito, diz ele, seria Deus; e as pretensas contrariedades a que vs chamais contradies so os ingredientes necessrios de que se compe o homem, o qual , como o resto da natureza, aquilo que deve sem. intil desesperar por no ter quatro ps e duas asas. E as paixes que Pascal condenava, em primeiro lugar o amor prprio, no so no homem simples aberraes porque o movem a agir, visto que o homem feito para a aco. Quanto tendncia do homem para se.
divertir, Voltaire 232 VOLTAIRE observa: "A nossa condio Precisamente Pensar rn@-,cl'asOobinecetcGessserixaterno, com falso que-s quais temos unia se Possa desviar um homem de Pensar na condio humana, j que seja a que for a que ele aplique o seu esprito, o aplica * qualquer coisa que se prende com a condio humana. Pensar em si, abstraindo das coisas natu. rais, no pensar em nada: digo absolutamente em nada, note-se bem" (38). Pascal e Voltaire reconhecem ambos que O homem, pela sua condio, est ligado ao mundo; mas Pascal quer que ele se liberte e afaste do mundo, ao passo que Voltaire Pensa que ele o deve reconhecer e amar. A diferena est toda nisto; o pessimismo ou o Optimismo Pouco tm a ver com a questo. Voltaire toma os traos fundamentais da sua concepo do mundo dos empiristas e dos deistas ingleses- Decerto que Deus existe como autor do mundo; e, conquanto se encontrem nesta opinio muitas dificuldades, as dificuldades com, que depara a opinio contrria so ainda maiores. Voltaire repete a este propsito a argumentao de Clarke e dos destas (que reproduz o velho argumento cosMolgico): "Existe alguma coisa, Portanto existe alguma coisa de eterno j que nada se produz a partir do nada. Toda a obra que nos mostre meios e um fim revela um artifcio: portanto, este universo composto de meios, cada um dos quais tem o seu fim, revela uni artfice potentssimo e inteligentssimo" (Dict. phil., art. "Dieu"; Tra@t de Mt., 2). Voltaire repudia, portanto, a opinio de que a matria se tenha criado e organizado por si 233 mesma. Mas, por outro lado, recusa-se a determinar os atributos de Deus, considerando ambguo tambm o conceito de perfeio, que no pode decerto ser o mesmo para o homem e para Deus. E no quer admitir qualquer interveno de Deus no homem e no mundo humano. Deus apenas o autor da ordem do mundo fsico. O bem e o mal no so ordens divinas, mas atributos do que til ou nocivo sociedade. A aceitao do critrio utilitarista da verdade moral permite a Voltaire afirmar terminantemente que ela no interessa de modo algum divindade. "Deus ps os homens e os animais sobre a terra, e eles devem pensar em conduzir-se o melhor possvel". Tanto pior para os carneiros que se deixam devorar pelo lobo. "Mas se um carneiro fosse dizer a um lobo: tu desprezas o bem moral e Deus castigar-te-, o lobo responder-lhe ia: eu procedo de acordo com o meu bem fsico e, pelo visto, Deus pouco se importa que eu te coma ou no" (7aiit de Mt., 9). do interesse dos homens conduzirem-se de modo a tornar possvel a vida em sociedade; mas isto requer o sacrifcio das paixes pr6prias, que so indispensveis, como o sangue que lhes corre nas veias; e no se pode tirar o sangue a um homem, porque pode ser acometido de uma apoplexia (1b., 8). No que toca ao conhecimento, Voltaire considera, tal como Locke, que o seu ponto de partida so as sensaes e que de se desenvolve mantendo-as e dando-lhes forma. Voltaire repete os argumentos que Locke empregou sobre a existncia dos objectos exteriores; e
acrescenta um, por sua conta: o homem 234 essencialmente socivel e no poderia ser socivel se no houvesse uma sociedade e, por consequncia, outros homens fora de ns (Ib., 4). As actividades espirituais que se encontram no homem no permitem afirmar a existncia de uma substncia imaterial chamada alma. Ningum pode dizer, de facto, o que a alma; e a disparidade das opinies a este propsito muito significativa. Sabemos que algo de comum ao animal chamado homem e quilo que se chama animal. Este algo poder ser a prpria matria? Diz-se que impossvel que a matria pense. Mas Voltaire no admite tal impossibilidade. "Se o pensamento fosse um composto da matria, eu reconheceria que o pensamento deveria ser extenso e divisvel. Mas, se o pensamento um atributo de Deus dado matria, no vejo que seja necessrio que tal atributo seja extenso e divisvel. Vejo, de facto, que Deus comunicou matria outras propriedades que no tm nem extenso nem divisibilidade: o movimento, a gravitao, por exemplo, que actua sem corpo intermedirio na razo directa da massa o no da superfcie, e na inversa do quadrado das distncias, uma qualidade real demonstrada, cuja causa to oculta como a do pensamento" (lb., 5). Alm disso, absurdo sustentar que o homem pense sempre; sendo assim, absurdo admitir no homem uma substncia cuja essncia seja pensar. Ser mais verosmil admitir que Deus organizou os corpos tanto para pensar como para comer e para digerir. Posta em dvida a realidade de uma substncia pensante, a imortalidade da alma converte-se em pura mat235 ria de f. A sensibilidade e o intelecto do homem nada tm de imortal; como se poderia, pois, chegar a demonstrar a eternidade? No existem certamente demonstraes vlidas contra a espiritualidade e a imortalidade da alma; tais demonstraes so destitudas de toda a verosimilhana e injusto e despropositado pretender efectuar uma demonstrao onde somente so possveis conjecturas. Alm disso, a mortalidade da alma no contrria ao bem da sociedade, como o provaram os antigos hebreus que consideravam a alma material e mortal (1b., 6). O homem livre, mas dentro de limites bastante restritos. "A nossa liberdade dbil e limitada, como todas as nossas faculdades. Ns fortificamo-la habituando-nos a reflectir e este exerccio torna-a um pouco mais vigorosa. Mas, apesar de todos os esforos que faamos, nunca poderemos conseguir que a nossa razo impere como senhora de todos os nossos desejos; existiro sempre na nossa alma, como no nosso corpo, impulsos involuntrios. Se fssemos sempre livres, seramos o que o prprio Deus " (Ib. 5). Na sua ltima obra filosfica, Le philosophe ignorant (1766), Voltaire insiste na limitao da liberdade humana, que no consiste nunca na ausncia de qualquer motivo ou determinao. "Seria estranho que toda a natureza, todos os astros obedecessem a leis eternas, e que houvesse um pequeno animal com a altura de cinco ps que, a despeito destas leis, pudesse agir sempre como lhe aprouvesse, segundo o seu capricho. Agiria ao acaso, e sabe-se que o acaso no nada; ns inventmos 236 esta palavra para exprimir o efeito conhecido de toda a causa desconhecida" (Phil. ign., 13). 487. VOLTAIRE: A HISTRIA E O PROGRESSO
No decurso da sua actividade historiogrfica, Voltaire dilucidou sempre os conceitos em que ela se inspirava. como filsofo que ele pretende tratar a Histria, isto , colhendo, para l do amontoado dos factos, uma ordem progressiva que revele o significado permanente deles. A primeira exigncia a de depurar os factos de todas as superstruturas fantsticas de que o fanatismo, o esprito romanesco e a credulidade os revestiram. "Em quase todas as naes, a Histria desfigurada pela fbula at ao momento em que a filosofia vem iluminar os homens; e quando, por fim, a filosofia surge no meio destas trovas, encontra os espritos to obnubilados por sculos de erros que mal logra esclarec-4os; deparam-se-lhe cerimnias, factos, monumentos, estabelecidos para sustentar mentiras" (Essais sur les moeurs, cap. 197). A filosofia o esprito crtico que se ope tradio e separa o verdadeiro do falso. Voltaire manifesta aqui com idntica fora a exigncia histrica e antitradicionalista que Bayle representara. Mas a esta primeira exigncia junta-se uma segunda, a de escolher, entre os prprios factos, os mais importantes e significativos para delinear a "histria do esprito humano". Deste modo, cumpre escolher, na massa do material 237 bruto e informe, o que necessrio para construir um edifcio; mister eliminar os pormenores das guerras, to nocivos como falsos, as pequenas negociaes que so apenas velhacarias inteis, as aventuras particulares que abafam os grandes acontecimentos, o preciso conservar apenas os factos que, pintam os costumes e fazem nascer desse caos um quadro geral e bem articulado (Ib., fragmento). Voltaire seguiu este ideal, sobretudo no Ensaio sobre os costumes e o esprito das naes. em que d o mximo relevo precisamente ao nascimento e morte das instituies e das crenas fundamentais dos povos. Mas em toda a sua obra historiogrfica o que importa a Voltaire pr em luz o renascimento e o progresso do esprito humano, isto , as tentativas da razo humana para se libertar dos preconceitos e erigir-se em guia da vida social do homem. O progresso da histria consiste precisamente e apenas no xito progressivo de tais tentativas, j que a substncia do esprito humano permanece inalterada e imutvel. "Resulta d"e quadro, diz Voltaire (lb., cap. 197), que tudo o que concerne intimamente natureza humana se assemelha de um extremo ao outro do universo; que tudo o que pode depender dos costumes diferente e se assemelha apenas por acaso. O imprio do costume muito mais vasto do que o da natureza; estende-se aos hbitos e a todos os usos, e expande-se na sua variedade por todo o universo. A natureza manifesta assim a sua unidade: estabelece por toda a parte um pequeno nmero de princpios invariveis, de modo que o fundo em toda a parte 238 o mesmo, mas a cultura produz frutos diversos". Na verdade, o que susceptvel de progresso no o esprito humano nem a razo, que a essncia dele, mas sim o domnio que a razo exerce sobre as paixes em que se radicam os preconceitos e os erros. A Histria apresenta-se assim a Voltaire como histria do iluminismo, do esclarecimento progressivo que o homem faz de si mesmo, da progressiva descoberta do
princpio racional que o rege; e implica uma alternncia incessante de perodos sombrios e de renascimentos. o conceito voltairiano da Histria liga--se estreitamente ao iluminismo, porque, na realidade, no mais do que a historicizao do iluminismo, o seu reconhecimento no passado. Mas com isto no se pretendeu aniquilar a problematicidade da Histria, e Voltaire sente-se ele mesmo um instrumento daquela fora libertadora da razo, cuja histria pretende descrever. 488- ILUMINISMO FRANCS: A IDEIA DE PROGRESSO: TURGOT,CONDORCET A obra de Montesquieu esclarecera dois conceitos importantes: a presena na Histria de uma ordem, regida por leis; 2.' o carcter no determinante de tais leis, que condicionam os eventos histricos mas no os determinam numa nica direco. Voltaire, Turgot e Condorcet formularam e esclareceram outros dois conceitos que, juntamente com os precedentes, constituem o quadro que os 239 iluminIstas. franceses formaram da Histria ou seja: 3.' a ordem da Histria progressiva, embora no necessariamente; 4.' o progresso da Histria consiste na crescente prevalncia da razo como guia das actividades humanas. Robert Turgot (1727-81) foi economista e por breve tempo ministro reformador de Lus XVI. No Plano de dois discursos sobre a Histria universal (1751), Turgot define a histria universal como "o estudo dos progressos sucessivos do gnero humano e o exame particular das causas que contriburam para eles" (Plan de deux discours, ed. Schelle, 1, p. 2766). Dever, portanto, descobrir a aco recproca das causas gerais e necessrias, das causas particulares e das aces livres dos grandes homens, bem como a relao de todos estes elementos com a prpria constituio do homem. A histria universal , pois, o estudo dos progressos sucessivos do gnero humano, interrompidos por frequentes perodos de decadncia, o esmiuar das causas ou condies naturais e humanas que os produziram. uma histria do "esprito humano", ou seja, essencialmente da razo que se elevou por graus atravs da anlise e da combinao das primeiras ideias sensveis. Turgot considera, por isso, que o progresso consiste sobretudo no desenvolvimento das artes mecnicas, com as quais o homem controla a natureza, e na libertao do despotismo: isto , o progresso consiste na liberdade do homem, em relao natureza e aos outros homens. Este conceito de liberdade inspira tambm Turgot na sua obra de economista. Nas suas Reflexes sobre 240 a formao e a distribuio das riquezas (1766), que a melhor formulao das ideias dos fisiocratas, Turgot interpreta o mundo econmico nos mesmos termos em que interpretara o mundo histrico: uma ordem em que agem por igual as causas naturais e as aces livres dos homens e que s pode alcanar o seu equilbrio e realizar os seus progressos se for entregue ao livre jogo das suas
causas e das suas foras imanentes, e no coagido e violado por superstruturas artificiosas. A liberdade econmica, ou seja, o fim das restries feudais na economia, era o ensinamento que procedia desta perspectiva na ordem econmica. Jean Caritat, marqus de Condorcet (1743-94), o autor do Ensaio de um quadro histrico dos progressos do esprito humano (1794), no qual as ideias de Voltaire e Turgot sobre a histria so sistematicamente reformuladas. Condorcet, que escreve a sua obra depois da vitria da Revoluo Francesa, mais optimista do que os seus predecessores sobre as possibilidades de aperfeioamento indefinido do esprito humano. Segundo Turgot, "o gnero humano permanece sempre o mesmo como a gua do mar nas tempestades" (Plan, cit., p. 277): o que muda so as condies da sua existncia no mundo. Segundo Condorcet, o esprito humano capaz de aperfeioamento indefinido. "Ao aperfeioamento das faculdades humanas, diz ele, no fixado nenhum limite, e a perfectibilidade - doravante desvinculada de todo o poder que pretenda sust-la no tem outro termo seno a durao do planeta sobre o qual a natureza nos colocou" 241 (Esquisse d'un tableau historique, ed. 1289, p. 7-8). Sem dvida que este progresso poder ser mais ou menos rpido mas retroceder, a no ser que mudem as condies gerais do globo terrestre por uma transformao radical. Condorcet est certo de que aquilo que ele denomina "a marcha do esprito humano" conduzir inevitavelmente o homem mxima felicidade possvel, e, depois de ter delineado as etapas principais dessa marcha a partir da poca pr-histrica da humanidade, detm-se a determinar-lhe os progressos futuros. "0 nico fundamento da crena nas cincias naturais, diz Condorcet (Ib., p. 247), a ideia de que as leis gerais, conhecidas ou ignoradas, que regulam os fenmenos do universo, so necessrias e constantes. Porque razo tal princpio seria menos verdadeiro para o desenvolvimento das faculdades intelectuais e morais do homem do que para as demais operaes da natureza?". As esperanas quanto condio futura da espcie humana reduzem-se a trs pontos importantes: a destruio da desigualdade entre as naes, os progressos da igualdade no mesmo povo e, enfim, o aperfeioamento real do homem. Estes progressos realizam-se com o triunfo da razo, que ser reconhecida como nica senhora dos homens. Assim, Condorcet v as condies destes progressos no desenvolvimento indefinido do conhecimento cientfico, do qual extrai o ideal de progresso. A extenso e multiplicao dos factos conhecidos tomar do mesmo passo possvel classific-los, reduzilos a factos mais gerais, submet-los a relaes mais extensas e apresent4os em expresses mais simples. 242 "0 vigor, a dimenso real do esprito humano continuar sendo a mesma, mas os instrumentos que o mesmo poder empregar multiplicar-se-o e aperfeioar-se-o, a lngua que fixa e determina ideias adquirir maior preciso e generalidade" (lb., p. 265). Condorcet no hesita em retomar a esperana de Descartes de um prolongamento indefinido da vida orgnica do homem (lb., p. 285 segs). 489. ILUMINISMO FRANCS: A ENCICLOPDIA O instrumento mximo de difuso das doutrinas iluminIstas foi a Enciclopdia ou Dicionrio racional das cincias, das artes e dos misteres. Nasceu da ideia modesta do livreiro parisiense Le Breton que pretendia traduzir para francs o Dicionrio universal das
artes e das cincias do ingls Chambers, publicado em 1227. Diderot mudou o plano inicial tornando-o bastante mais ambicioso, rodeou-se de numerosos colaboradores e permaneceu at ao fim * director da obra. O primeiro volume apareceu * 1 de Julho de 1751. Depois do segundo volume (1752), a obra esteve suspensa por causa das oposies que suscitara nos ambientes religiosos; mas, graas ao apoio de Madame Pompadour, pde continuar a ser publicada, e em 1753 saiu o terceiro volume. Outros volumes at ao stimo sucederam-se, regularmente at 1757; nesse ano, a Enciclopdia sofreu uma crise, no s devido s oposies externas mas tambm devido s discrdias internas dos seus compiladores, entre os quais alguns dos mais 243 importantes, como d'Alembert, se retiraram da empresa. A partir de 1758, Diderot ficou sendo o nico a dirigi-la, e em 1772 terminou-a. Importa notar que alguns dos mais notveis representantes da filosofia iluminista. no figuram na Enciclopdia ou figuram com escassos e insignificantes contributos. Assim, Montesquieu escreveu um nico artigo sobre o gosto o qual versa sobre um tema inteiramente diferente dos temas das suas obras fundamentais. Turgot colaborou com dois artigos, um intitulado a Etimologia, o outro a Existncia, no qual desenvolveu os pontos de vista de Locke sobre a existncia do eu, do mundo exterior e de Debs. O famoso naturalista Buffon s figura nela com um ou outro artigo. Voltaire colaborou apenas nos primeiros volumes. O prprio d'Alembert, como se disse, abandona o empreendimento. Mas o esprito destes homens, assim como o de Locke, de Newton e dos filsofos ingleses da poca, domina igualmente a Enciclopdia, pois as doutrinas que eles no expunham pessoalmente inspiravam os artigos da obra atravs da pena de uma multido de colaboradores annimos. Alm disso, a Enciclopdia no propriamente um toque de clarim contra a tradio, como Comummente se julga; ela inclui numerosos artigos que deviam tranquilizar as almas piedosas e constituir um alibi para os seus colaboradores. Nem to-pouco est isenta, de incongruncias e de erros, mesmo relativamente cultura do tempo. Todavia, a sua eficcia foi imensa e a ela se deve, em 244 grande parte, uma das mais vastas e radicais revolues da cultura europeia. A Enciclopdia dominada pela figura de Diderot, em torno do qual se formou, sobretudo a partir de 1753, um grupo de escritores, de que faziam parte Rousseau, Grimm, d'Holba6 e Helvetius. 490. ILUMINISMO FRANCS: DIDEROT Denis DidErot (6 de Outubro de 1713-31 Julho de 1784) foi, como Voltaire, um esprito universal. Filsofo, poeta, romancista, matemtico, crtico de arte, consubstancia na sua pessoa a exigncia de renovao radical de todos os campos da
cultura e da vida que caracterstica do iluminismo. Comeou por traduzir em francs o escrito de Shaftesbury Sobre o mrito e a virtude (1745). No mesmo ano comeou a trabalhar para a Enciclopdia, o que, o ocupou vinte anos. Mas simultaneamente continuou a sua obra filosfica. Em 1754, apareceram os Pensamentos sobre a interpretao da natureza. Outros escritos filosficos notveis permaneceram inditos, como as Conversaes entre D'Alembert e Diderot e o O sonho de D'Alembert (compostos em 1769). As doutrinas de Diderot ilustram os temas fundamentais do iluminismo e, em primeiro lugar, a f na razo e o exerccio da dvida mais radical. A razo o nico guia do homem e cabe-lhe tambm ajuizar sobre os dados dos sentidos e sobre os factos. "Uma nica demonstrao exige-me mais 245 de cinquenta factos", afirma Diderot; e "quando o testemunho dos sentidos contradiz, ou no com. pensa, a autoridade da razo, no h nenhum problema de escolha: segundo uma lgica correcta, necessrio ater-se razo" (Penses philosophiques, 50 e 52). As dvidas que a razo aduz, mesmo em matria de religio, no podem por isso deixar de ser benficas e o cepticismo mais radical o nico mtodo a que a razo deve ater-se (1b., 31). Contudo, Diderot insiste com igual energia sobre os poderes da razo. "Quando se compara a multido infinita dos fenmenos da natureza com os limites do nosso intelecto e a debilidade dos nossos rgos, que podemos esperar da lentido dos nossos trabalhos, das suas longas e frequentes interrupes e da raridade dos gnios criadores, seno fragmentos separados da grande cadeia que liga todas as coisas?" (De 1'interprtation de la nature, 6). necessrio acrescentar que o homem nem sequer utilizou da melhor maneira as modestas possibilidades que possui. As cincias abstractas tm ocupado demasiado tempo e com muito pouco fruto os melhores espritos. No se estudou o que mais importava saber nem se tem usado mtodo nem escolha nos estudos; assim, as palavras multiplicaram-se infinitamente e o conhecimento das coisas sofreu um grande atraso. A filosofia deve doravante dedicar-se ao estudo dos factos, que so "a sua verdadeira riqueza" (lb., 20). Perante a exigncia de reconhecer e estudar os factos da experincia, a prpria matemtica insuficiente. Diderot diz que "a religio dos matemticos um mundo intelectual em 9t-i que o que se toma por verdade rigorosa perde absolutamente essa vantagem quando se aplica s coisas da torra" e afirma que, em vez de corrigir o clculo geomtrico com a experincia, mais rpido ater-se aos resultados desta ltima (Ib., 2). Profetiza que antes de cem anos no existiro sequer trs grandes gemetras na Europa: a moral, a literatura, a histria natural e a fsica experimental tomaro o lugar das matemticas (1b., 4). No domnio da natureza, Diderot no refuta todavia a possibilidade de formular hipteses gerais, mas considera tais formulaes inevitveis. "0 acto da generalizao para as hipteses do metafsico o que as observaes e as experincias so para as conjecturas do
fsico. So justas as conjecturas? Quanto mais experincias se fazem, tanto mais as conjecturas se verificam. So verdadeiras as hipteses? Quanto mais se estendem as consequncias, mais verdades elas abraam, mais evidncia e fora adquirem" (1b., 50). A generalizao para a qual Diderot progride uma espcie de espinosismo, ou melhor, o espinosismo interpretado por Bayle: o mundo um grande animal e Deus a alma deste animal (1b., 50). Diversamente de Espinosa, porm, Diderot considera que Deus, como alma do mundo, no um intelecto infinito mas uma sensibilidade difusa, que tem graus diversos e que pode tambm permanecer bastante obscura. No Rve de d'Alembert, compara Deus a uma aranha cuja teia o mundo e que, atravs dos fios da teia, percebe mais ou menos, conforme a distncia, tudo o que est em contacto com a prpria teia. 247 Deste ponto de vista, tambm os elementos do universo devem ser considerados como sendo animados, isto , providos de urna corta sensibilidade, por mnima que seja; sensibilidade que os impele a encontrar uma combinao ou coordenao que a mais apropriada sua forma e sua tranquilidade (De l'interprtation: de a nature, 51). base desta doutrina, torna-se bastante lgico admitir que os prprios organismos vivos se desenvolvem gradualmente e se transformam uns nos outros, hiptese de que Diderot admite a possibilidade, anunciando assim o evolucionismo biolgico (lb., 58). Mas trata-se ainda e sempre de hipteses, de que Diderot acentua o carcter problemtico e que os materialistas (contra os quais escreve Rfutation d'Helvetius, 17, 7, 3) transformam em doutrinas dogmticas. Diderot prefere manter nas hipteses que formula o carcter problemtico ou interrogativo. Se, no reino vegetal e animal, um indivduo nasce, cresce, e morre, porque no sucederia a mesma coisa espcie inteira? A matria viva sempre vivente? A matria morta verdadeiramente e sempre morta? E a matria viva no morre de facto? A matria morta no poder comear a viver? Diderot formula estas perguntas, mas sem lhes. dar respostas. So questes que abrem cincia novas possibilidades e que sobretudo demonstram como impossvel cincia fechar-se num determinado esquema ou sistema (lb., 58). "Guardai-vos, diz Diderot, no Sonho de d'Alembert, do sofisma do efmero" , isto , do preconceito de que o mundo deve 248 desnecessariamente ser aquilo que neste instante. O mundo nasce e perece sem cessar, e est a cada instante no seu princpio e no seu fim. No tocante ao conceito da divindade, o pensamento de Diderot oscilou entre o desmo e o pantesmo. Na sua obra Penses philosophiques, Diderot afirma que a existncia de Deus mais bem confirmada pela fsica experimental do que pelas meditaes sublimes de Malebranche e de Descartes. Graas aos trabalhos de Newton e de outros cientistas "o mundo j no um Deus mas uma mquina que tem as suas rodas, as suas cordas, as suas
roldanas, as suas molas e os seus pesos" @Penses, 18). Nos escritos seguintes, Deus aparece, conforme se viu, como a alma do mundo, a aranha de uma teia gigantesca. Seja como for, Deus age, segundo Diderot, no mbito da natureza e s no mbito dela. No homem, e no mundo dos homens, a natureza age atravs dos instintos e das paixes. "0 cmulo da loucura, diz Diderot, pretender debelar as paixes. No passa de um belo sonho a tentativa do devoto que se obstina furiosamente em no desejar nada, em no amar nada, em no sentir nada, pois acabaria por se tornar num verdadeiro monstro, se conseguisse o que pretende" (Penses phil., 5). O equilbrio moral consiste na justa harmonia entre as paixes: se a esperana fosse contrabalanada pelo temor, o ponto de honra pelo amor da vida, a tendncia ao prazer pelo interesse pela sade, no haveria nem libertinos, nem temerrios, nem velhacos (Ib., 4). Por isso, a tica de Diderot , substancialmente, um 249 retorno natureza. No Suplemento viagem de Bougainville, descreve uma ilha de fantasia em que a vida humana se abandona aos instintos primitivos, independentemente de qualquer prescrio moral e religiosa; e demonstra que tais instintos garantem a liberdade e a felicidade dos indivduos e da sua comunidade. No Tratado sobre o belo (1772), Diderot delinea a gae,se e o valor da noo do belo. O homem levado pelas suas prprias necessidades a formular as ideias de ordem e de simetria, de proposio e de unidade; ideias que so, como todas as ideias, puramente experimentais, que nasceriam no esprito do homem mesmo que Deus no existisse, e que precederam de muito a da sua existncia. De tais ideias nasce a noo do belo. "Eu chamo belo, diz Diderot, tudo aquilo que fora de mim contm em si algo capaz de despertar no meu entendimento a ideia de relao; belo, em relao a mim, tudo quanto desperta essa ideia". A distino entre "o que contm algo capaz de despertar" e "aquilo que desperta" a ideia da relao a distino entre as formas que os objectos possuem e a noo que eu tenho delas, j que, acrescenta Diderot, "o meu intelecto nada pe nas coisas nem lhes tira coisa alguma. A indeterminao prpria das relaes que constituem o belo, a facilidade de intu-las e o prazer que acompanha a percepo delas, fez supor que o belo fosse antes uma questo de sentimento do que de razo. Mas o juzo sobre o belo . segundo Diderot, um juizo intelectual, como resulta evidente quando se trata de objectos no familiares. 250 Conforme os objectos relacionados, haver uma beleza moral, uma beleza literria, uma beleza musical; ou ento uma beleza natural, uma beleza artificial. O belo real , pois, o que consiste nas relaes entre os elementos que constituem intrinsecamente um objecto, por exemplo, uma flor; o belo relativo o que resulta das relaes de um objecto com outros objectos. As relaes que constituem o belo distinguem-se todavia das que so
objecto da pura actividade intelectual. Estas ltimas so fictcias e criadas unicamente pelo prprio intelecto, ao passo que as relaes que constituem o belo so as reais, que o intelecto chega a conhecer somente por intermdio dos sentidos. 491. ILUMINISMO FRANCS: D'ALEMBERT A par de Diderot, a outra grande figura da Enciclopdia Jean le Rond d'Alembert (16 de Novembro de 1717-29 de Outubro de 1783), autor do Discurso preliminar da Enciclopdia e dos artigos matemticos. Em 1743 publicou o Tratado de Dinmica; e em 1759 o Ensaio sobre os elementos de filosofia: a pedido de Frederico da Prssia. O Discurso preliminar da Enciclopdia apresenta, como justificao do plano da obra, uma classificao das actividades espirituais e das disciplinas fundamentais. Depois de ter afirmado, de acordo com Locke, que todos os nossos conhecimentos derivam dos sentidos e que a passagem das sensaes aos objectos externos no fruto de um raciocnio, mas de "uma. espcie de instinto, mais seguro do que a 251 prpria razo", D'Alembert distingue, tal como Bacon, trs modos diversos de actuar sobre os objectos do pensamento: a memria, a razo e a imaginao. Enquanto a memria a conservao passiva e mecnica dos conhecimentos, a razo consiste no exerccio da reflexo em torno dos mesmos, e a imaginao na imitao livre e criadora desses conhecimentos. A estas trs faculdades correspondem os trs ramos fundamentais da cincia: a histria, que se funda na memria, a filosofia que o fruto da razo, e ais belasartes que nascem da imaginao. Tal como Diderot, d'Alembert considera que a cincia deve ater-se aos factos em todos os seus ramos. "A fsica limita-se unicamente s observaes e aos clculos; a medicina, histria do corpo humano, das suas enfermidades e dos remdios para elas; a histria natural, descrio pormenorizada dos vegetais, dos animais e dos minerais; a qumica, composio e decomposio experimental dos corpos; numa palavra, todas as cincias, tanto quanto possvel circunscritas aos factos e s consequncias que se possam extrair deles, no contemporizam com a opinio, a no ser que sejam foradas" (Disc. prl.). D'Alembert admite tambm, a exemplo da "filosofia prima" de Bacon, uma metafsica positiva que analise os conceitos comuns a todas as cincias e discuta a validez dos princpios em que se funda cada cincia. Diz ele: "Uma vez que os seres espirituais e os materiais tm em comum propriedades gerais, como a existncia, a possibilidade, a durao, justo que este ramo da filosofia, do qual todos 252 os outros ramos tomam em parte os seus princpios, se denomine ontologia, ou seja, a cincia do ser ou metafsica geral> (lb.). A esta disciplina pertence tambm o exame dos princpios de todas as cincias porquanto " no existe nenhuma cincia que no tenha a
sua metafsica, se por tal s@- entende os princpios gerais sobre que construda uma determinada doutrina e que so, por assim dizer, os germes de todas as verdades particulares" ( claircssemeni, 16). A esta metafsica. todavia completamente estranho o estudo dos problemas que se consideram prprios da metafsica tradicional e que d'Alembert declara insolveis. A natureza da alma, a unio da alma e do corpo e a prpria essncia dos corpos so questes sobre as quais, diz d'Alembert, a inteligncia suprema estendeu um vu que a nossa dbil vista no penetra e que debalde tentaramos rasgar. " um triste destino para a nossa curiosidade e para o nosso amor prprio, mas este o destino da humanidade. Devemos, ao menos, concluir que os sistemas, ou antes os sonhos dos filsofos sobre a maioria das questes metafsicas no merecem lugar algum numa obra destinada Unicamente a abranger os conhecimentos reais adquiridos pelo esprito, humano" (EI. de phil., 4). D'Alembert deista; mas para ele, como para Voltaire e para Diderot, Deus apenas o autor da ordem do universo e , por conseguinte, revelado pelas leis imutveis da natureza. Assim, Deus totalmente estranho ao homem e s relaes humanas. Por consequncia, a vida moral da humanidade no 253 depende de modo algum da religio. "0 que pertence essencial e unicamente razo e que, por isso uniforme em todos os povos, so os deveres que nos cabe assumir para com os nossos semelhantes... A moral uma consequncia necessria do estabelecimento da sociedade, j que tem por objecto o que devemos aos outros homens... A religio no desempenha papel algum na primeira formao das sociedades humanas e, embora se destine a estreitar os laos, pode dizer-se que principalmente folta para o homem considerado em si mesmo" (1b., 5). Ns sabemos pelos sentidos quais so as nossas relaes com os outros homens e as nossas necessidades reciprocas e, atravs das nossas necessidades recprocas, chegamos a conhecer o que devemos sociedade e o que ela nos deve. D'Alembert define a injustia ou mal moral como "o que tende a prejudicar a sociedade perturbando o bem-estar fsico dos seus membros" (lb., 5). 492. ILUMINISMO FRANCS: CONDILLAC A mais coerente e completa formulao da gnoseologia do iluminismo francs encontra-se na obra de Condillac. Etienne Bonnot, que foi abade de Condillac, nasceu em Grenoble a 30 de Setembro de 1714 e faleceu num castelo, perto de Be-augency, a 3 de Agosto de 1780. Viveu primeiro em Paris. onde travou relaes com os filsofos iluminIstas e publicou as suas obras fundamentais. Em 1746, apareceu o seu Ensaio sobre as origens dos conhe254 cimentos humanos, "obra em que se reduz a um s princpio tudo o que concerne ao entendimento". Em 1749, Condillac retomava no Tratado dos sistemas o estudo dos princpios metodolgicos indicados na introduo do Ensaio. A sua obra fundamental, o Tratado das sensaes, apareceu em 1754, e a esta seguiu-se cm 1755 um Tratado dos animais, escrito polmico contra Buffon. Seguiram-se dois breves escritos: uma Dissertao sobre a liberdade e o Extracto fundamentado do Tratado das sensaes. Em 1758 Condillac foi chamado a Parma para assumir o cargo de preceptor do infante D. Fernando e a permaneceu nove anos, at 1767. Este encargo permitiu-lhe redigir um
Curso de estudos, que compreende: a gramtica, a arte de escrever, a arte de raciocinar, a arte de pensar, a histria antiga e a histria moderna. Regressado a Frana, publicou este Curso (1775). Em seguida, escreveu uma obra de economia poltica (0 comrcio e o governo considerados relativamente um ao outro, 1776), uma Lgica (1780) e um estudo intitulado Lngua dos clculos, que ficou incompleto e s foi publicado depois da sua morte (1798). Dois autores sobretudo inspiraram Condillac: Locke e Newton. De Locke tomou o mtodo analtico e as teses fundamentais da sua gnoseologia. De Newton tomou a exigncia de reduzir unidade o mundo espiritual do homem, assim como Newton reduzira unidade, mediante as leis da gravitao, o mundo da natureza fsica. Na Introduo ao Ensaio, Condillac distingue duas espcies de meta255 fsica: "uma, ambiciosa, quer penetrar todos os mistrios: a natureza, a essncia dos seres, as causas mais ocultas, eis o que a lisonjeia e pretende descobrir; a outra, mais modesta, proporciona as suas investigaes debilidade do esprito humano e, preocupando-se pouco com o que por fora lhe escapa e vida ao mesmo tempo de tudo quanto pode alcanar, sabe conter-se nos limites que lhe so prprios". Conformemente a este princpio, Condillac distingue no Tratado dos sistemas trs espcies de sistemas, segundo os princpios que lhes servem de fundamento. H sistemas que tomam como princpios mximos gerais e abstractas; outros, que tomam como princpios suposies ou hipteses para explicar aquilo de que no se poderia dar outra explicao; e existem, enfim, sistemas que tm como princpios somente factos bem comprovados. Condillac critica na sua obra os sistemas da primeira e da segunda espcie, entre os quais inclui, juntamente com outros mais antigos, os de Descartes, Malebranche, Espinosa e Leibniz. Quer ater-se, por seu lado, a uma metafsica que tenha por princpio apenas "uma experincia constante cujas consequncias sejam, todas elas, confirmadas por novas experincias". No Ensaio Condillac afirma (1., 1, 8) que a alma distinta e diferente do corpo e que este talvez no seja seno a causa ocasional do que parece produzir nela. Parte do princpio de Locke de que todos os conhecimentos procedem da experincia e mantm a distino lockiana entre sensao e reflexo. O escopo que se prope mostrar que o 256 desenvolvimento integral das faculdades humanas deriva da experincia sensvel; e este objecto mantm-se inalterado no Tratado das sensaes. Mas nesta ltima obra persegue tal finalidade com maior rigor e prope-se fazer derivar da sensao, que um modo de ser da alma, o reconhecimento da realidade exterior e independente dos objectos. Abandona a distino entre sensao e reflexo e considera a sensao como o princpio que determina o desenvolvimento de todas as faculdades humanas, porque, sendo as sensaes necessariamente agradveis ou desagradveis, o homem est interessado em gozar das primeiras e libertar-se das outras (Trait, plano). E d como exemplo a esttua, do qual se havia j servido Buffon e Diderot (sendo por isso Condillac: acusado, mas
injustamente, de plgio), ou seja, um ser organizado interiormente como ns mas com o exterior inteiramente de mrmore de forma a que nela se possam estudar os efeitos devidos aquisio sucessiva dos vrios sentidos. Condillac comea por supor que a esttua adquiriu apenas o sentido do olfacto e que dela se aproxime uma rosa. A esttua reduzir-se- para si prpria ao cheiro da rosa porque toda a sua conscincia ficar ocupada por esta sensao, da qual no ter possibilidade de se distinguir. A concentrao da capacidade, de sentir da esttua no cheiro da rosa ser a ateno; e a impresso que o cheiro da rosa deixar na esttua ser a memria. Se o cheiro muda, a esttua recordar-se- de todos os cheiros percebidos 257 e desse modo poder compar-los, discerni-los e imagin-los; e assim adquirir, embora possua um nico sentido, todas as faculdades fundamentais. Poder formar tambm ideias abstractas como as de nmero e de durao; e nascero nela desejos, paixes, hbitos, etc. Por outros termos, nas sensaes de um nico sentido, esto contidas todas as faculdades da alma. A combinao do olfacto com os outros sentidos fornecer esttua o modo de enriquecer e de alargar o domnio dos seus conhecimentos, que permanecero no entanto, sempre encerrados no interior dela, j que a esttua nunca poder ter a noo de uma realidade diversa das sensaes que percebe. De onde lhe poderia vir tal ideia? Do sentido do tacto. Se se supuser a esttua privada dos outros sentidos mas provida de tacto, ela ter o sentimento da aco reciproca das partes do seu corpo, bem como dos seus movimentos. Condillac chama a este sentimento fundamental. Neste caso, o eu da esttua identificar-se- com o sentimento, fundamental e nascer para a prpria esttua no momento da sua primeira mudana. Mas, mesmo assim, a esttua no ter ideia alguma do prprio corpo nem dos corpos externos. Se, no entanto, movendo ao acaso a mo, tocar o corpo, a sua sensao imediatamente se desdobrar: por um lado, sentir, por outro, ser sentida; a parte do corpo e a mo sero imediatamente situadas uma fora da outra. E se tocar um corpo externo, o ou que se sente modificado 258 na mo, no se sente modificado no corpo: a esttua sentir, mas no ser sentida por si mesma (11, 5, 5). Ela dever, portanto, distinguir entre o seu prprio corpo, para o qual a sensao recorrente, e os corpos externos, em que a sensao no se reflectir nela. "Quando um grande nmero de sensaes distintas e co-existentes so circunscritas pelo tacto no mbito em que o eu responde a si mesmo, a esttua toma conscincia do seu corpo; quando um grande nmero de sensaes distintas e coexistentes so circunscritas pelo tacto nos limites em que o eu no responde a si mesmo, ela adquire a ideia de um corpo diferente do seu. No primeiro caso, as sensaes continuam a ser
qualidades prprias dela; no segundo caso, convertem-se nas qualidades de um objecto completamente distinto" (11, 5, 6). A sensao do tacto desdobra-se assim em sentimento e ideia. " sentimento pela relao que tem com a alma que ela modifica, ideia pela relao que tem com algo de extremo" (Extrait raisonn, IV). evidente, como acrescenta Condillac, que as ideias no nos fazem conhecer o que os seres so em si mesmos, seno que no-los, ,representam atravs das relaes que tm connosco; o isto demonstra quo suprfluos so os esforos dos filsofos que pretendem penetrar na natureza das coisas. O aspecto mais notvel da anlise de Condillac que a sensao no constitui para ele uma modificao esttica e passiva, seno que est afectada de um desequilbrio interno e de um dinamismo de 259 que derivam todos os seus desenvolvimentos subsequentes. "Se o homem, diz ele (1b., .), no tivesse qualquer interesse em se ocupar das suas sensaes, as impresses que os objectos produzem nele passariam como sombras sem deixar vestgios. Mesmo passados muitos anos, encontrar-se-ia como no primeiro instante, sem ter adquirido qualquer conhecimento e sem ter outra faculdade seno o sentimento. Mas a natureza das suas sensaes no lhe permite ficar imerso neste letargo. Uma vez que estas so necessariamente agradveis ou desagradveis, est interessado em procurar umas e em subtrair-se s outras; e quanto mais vivo o contraste dos prazeres e das penas, tanto mais sorve de estmulo actividade da alma. Por isso, a privao de um objecto que julgamos necessrio nossa felicidade nos causa mal-estar, aquela inquietao a que ns chamamos necessidade, e da qual nascem os desejos. Estas necessidades repetem-se segundo as circunstncias, criam amide novas necessidades, e isto que desenvolve os nossos conhecimentos e as nossas faculdades" (e f. Trait, 1, 3, 1; 1, 7, 3). Condillac reporta o princpio da inquietao a Locke (ef. Essays, 11, 21, segs.) ' e reprova-o por ter feito derivar a inquietao do desejo, quando se trata precisamente do contrrio. Mas o esprito das suas anlises, que consideram a necessidade o princpio do desenvolvimento humano. deve antes atribuir-se a Hume do que a Locke. Condillac , na verdade, o Hume do Iluminismo francs. 260 As suas ltimas obras, a Lgica e a Lngua dos clculos, constituem uma tentativa de reconhecer e formular em suas regras fundamentais o mtodo analtico que o prprio Condillac seguiu nas suas primeiras obras. Este mtodo consiste numa dupla operao: a decomposio pela qual se distinguem num conjunto os elementos que o constituem, e a recomposio pela qual se reencontra a ordem que concatena os elementos que se
separam. "Se pretender conhecer uma mquina, diz Condillac (Loguique, 1, 3), decompla-ei para estudar separadamente cada pea. Quando tiver adquirido de cada uma delas uma ideia exacta e puder rep-las na mesma ordem em que estavam, ento poderei perfeitamente conceber esta mquina, porque a terei decomposto e recomposto. "Mas este duplo processo requer uma linguagem, porque s se pode fazer a anlise mediante sinais. "As lnguas no so mais do que mtodos analticos mais ou menos perfeitos e, se fossem levadas mxima perfeio, as cincias perfeitamente analticas seriam conhecidas por aqueles que falassem perfeitamente a lngua delas". (Langue des calculs, 1, 16). Mediante a elaborao de uma linguagem universal, "cada cincia poderia reduzir-se a uma primeira verdade que, transformando-se de proposio idntica em proposio idntica, nos oferecia, numa srie de transformaes, todas as descobertas que se fizeram e todas as que esto por fazer." (Ib., 1, 12). o ideal da cincia universal como nica linguagem das cincias que Leibniz formulara e defendera. 261 493. ILUMINISMO FRANCS: OS NATURALISTAS As polmicas naturalistas do iluminismo francs so dominadas pelas doutrinas fsicas e metodolgicas de Newton. Tais doutrinas, a principio acolhidas com certa desconfiana por serem inconciliveis com as de Descartes, suplantaram rapidamente estas ltimas. Fontenelle, que, com o Elogio de Newton, de 1727, fora o primeiro a divulgar em Frana as doutrinas de Newton, pronunciou-se, no entanto, num escrito de 1752 (Teoria dos turbilhes cartesianos) em favor de Descartes, acusando Newton. de ser ainda fiel, na teoria da atraco, ao principio das qualidades ocultas. O primeiro a defender a fsica de Newton, foi Maupertuis num discurso apresentado na Academia francesa em 1732 intitulado Sobre as leis da atraco e noutros escritos subsequentes. Voltaire popularizava a fsica newtoniana a que dedicou um escrito de divulgao em 1738 (Elementos da fsica de Newton). Pier,re-Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759), que foi presidente da Academia prussiana de Berlim, tentou no seu Ensaio de cosmologia (1750) uma sntese da doutrina de Newton e da de Leibniz. Embora aceitando a fsica e a cosmologia de Newton, imprimiu-lhe uma feio espiritualista e finalista. Dado que seria absurdo explicar o aparecimento da conscincia pela reunio de tomos privados de qualquer qualidade psquica, resta somente atribuir aos prprios materiais um certo 262 grau de conscincia que depois, mediante a combinao desses materiais, se aperfeioa e se eleva. Estes tomos dotados de espiritualidade ou de conscincia no so, todavia, as mnadas Ioffinizianas. A mnada de Leibniz uma substncia espiritual; o tomo de Mauportuis matria a que se acrescenta a conscincia. Mauportuis. chega, todavia, a uma concepo finalista porque considera como lei fundamental do universo a mnima quantidade de aco. Todas as vezes que uma
mutao se verifica na natureza, necessria para tal mutao a mnima quantidade possvel de fora. A natureza tem, portanto, um fim, que exactamente o mnimo dispndio da sua fora, e em tal fim se manifesta a obra do seu criador. A par desta fsica de carcter metafsico, Maupertuis sustenta um nominalismo radical que deriva provavelmente dos ingleses. Reduz toda a realidade objectiva simples. percepo sensvel e v no predicado "h" ou "existe", que atribumos s coisas, apenas um simples sinal, isto , um nome colectivo de percepes sensveis repetidas. Assim, a frase "existe uma rvore" significa apenas que eu a vejo, a vi e poderei voltar a v-la; e por isso no mais do que o juzo abreviado de um complexo de percepes (10euvres, ed. 1782, 1, p. 178 segs.). Maupertuis distingue todavia nitidamente a coisa assim entendida, que o fenmeno ou a aparncia, da "coisa em si", isto , do objecto real a que as percepes se referem mas com a qual elas no tm nenhuma relao necessria de semelhana (Lttres, IV). Alm disso, este tema da "coisa em si", que 263 era j presente em Descartes, o qual usa tambm a expresso (Princ. de fil., 11, 3), constitui um dos temas mais comuns da filosofia do iluminismo, da qual o prprio Kant o toma. No Ensaio de filosofia moral (1749), Maupertus. estabelece um clculo do prazer e da dor para servir de guia ao homem para a felicidade da vida e funda-o na considerao da intensidade e da durao da dor, intensidade e durao que podem compensar-se reciprocamente, de modo a que um prazer mais intenso e de menor durao tenham o mesmo valor que outro menos intenso e de maior durao. Este clculo leva, porm, Maupertuis, a uma concluso pessimista: a soma dos males na vida tende a superar a dos bens. Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707-88), na ,sua Histria natural, geral e particular, publicada de 1749 a 1788, imprime novo rumo ao estudo do mundo animal e vegetal. Defende a necessidade de abandonar as velhas classificaes sistemticas, hierarquicamente organizadas, para se ater unicamente experincia na busca da unidade que liga na natureza todos os seres vivos. Buffon considera que, na realidade, no existem nem gneros nem espcies, mas apenas indivduos e que, portanto, o papc1 da filosofia natural o de determinar a srie ou a cadeia que rene os indivduos que apresentem maiores semelhanas entre si. Buffon partidrio da fixidez das espcies vivas, que, segundo ele, foram criadas uma por uma, medida que o esfriamento da terra tornava possveis as suas condies de vida (poques de Ia nature, 1779). 264 Todavia, as suas ideias inspiraram a Diderot os seus pressentimentos sobre a gnese evolucionista das espcies vivas. Ideias anlogas s de Buffon foram defendidas por Jean-Baptiste Robinot (1735-1820) numa obra intitulada Sobre a natureza (1761-66), conquanto admitisse a possibilidade de que a ordem serial dos seres vivos no fosse simples mas lanasse para um lado e outro ramificaes principais que, por seu turno, se dividiriam em ramificaes subordinadas.
O naturalista suo Carlos Bonnet (1720-93) serviu-se da ideia da srie ou da cadeia para determinar tambm o desenvolvimento das faculdades psquicas do homem, merc de um procedimento analtico que lembra o de Condillac. A sua obra mais notvel o Ensaio de psicologia ou consideraes sobre as operaes da alma (1755). Roger Joseph Boscovich (1711-87), que foi professor em Roma, Pavia, Flaris e Milo, numa obra redigida em latim Philosophiae naturalis theoria (1759), procurou, ele tambm, conciliar a fsica newtoniana com a hiptese leibniziana dos centros de fora. A matria constituda por pontos descontnuos entre si, cada um dos quais um centro de fora, no em si mesmo, mas apenas relativamente aos outros pontos que atrai ou repele do mesmo modo que atrado ou repelido pelos outros. O espao sempre descontnuo e limitado porque, na realidade, existe sempre um determinado limite e uni determinado nmero de pontos e intervalos. A infinidade do espao a pura possibilidade de 265 poder continuar at ao infinito o exame dos, modos de ser prprios dos pontos naturais; mas mesmo como pura possibilidade pode o espao ser reconhecido (como Newton fizera) como eterno e necessrio, uma vez que ab aeterno necessariamente verdadeiro que estes pontos possam existir em todos ,os seus modos infinitos. O que h de notvel nesta concepo que o espao mesmo no considerado riem como uma realidade em si, nem como puramente ideal; mas a sua objectividade reduzida a uma simples possibilidade metodolgica. 494. ILUMINISMO FRANCS: OS MATERIALISTAS Como se viu, nenhum dos grandes filsofos e sbios do iluminismo francs professa o materialismo. O ideal que domina o iluminismo o de uma descrio do mundo natural que se atenha aos factos e conceda o menos possvel s hipteses metafsicas. Os filsofos do iluminismo (Voltaire, Diderot, d'Alembert, Maupertuis) admitem geralmente, na esteira de Locke, a possibilidade de que a matria, cuja essncia nos desconhecida, tenha recebido de Deus, entre outras qualidades, tambm a de pensar; mas recusam-se a admitir a dependncia causal da actividade mental da matria. A medicina setecentista havia no entanto acumulado um grande nmero de observaes e de factos que mostravam essa dependncia; isto , mostravam que no s as sensaes e as emoes, mas tambm a imaginao, a memria e a inteligncia so condicio266 nadas por certos rgos corpreos e pelo estado em que os mesmos se encontram, ou, mais precisamente, pela sua estrutura analtica, assim como pela idade, pela sade, pela nutrio, etc. Em tais factos se apoia o materialismo, que a tese segundo a qual no homem e fora do homem, age, uma nica causalidade, que a da matria; esta tese adoptada pelos trs maiores representantes, do materialismo, La Mettrie, d'Holbach e Helvetius como instrumento de libertao, no s contra as concepes metafsicas e religiosas tradicionais, mas tambm, e sobretudo, contra as concepes morais e polticas. O materialismo setecentista no se apresenta portanto (como o sculo seguinte) como uma concepo do mundo fundada nos grandes princpios da cincia mas antes como um naturalismo que pretende colocar a conduta humana sob a alada da lei (ou da fora) que age em toda a natureza. Com tais caractersticas se apresenta o materialismo pela primeira, vez na obra de Julien Offray de Ia Mettrie (1709-51), que foi mdico e, medicina do seu tempo foi buscar
precisamente as bases da sua especulao. No seu primeiro escrito, Histria natural da alma (1745), faz ainda algumas concesses medicina tradicional, considerando como meios da causalidade corprea. as "formas substanciais"; mas, na sua obra principal O homem mquina (1748), a tese materialista de uma nica causalidade corprea. desenvolvida em toda a sua coerncia. Alm de numerosos escritos de medicina, La Mettrie comps durante a sua estadia na Corte de Frederico 11 da Prssia outros escritos filos267 fcos, entre os quais: O homem planta (1748); Discurso sobre a felicidade (1748); Os animais mais do que mquinas (1750); O sistema de Epicuro (1750)-, A arte de gozar (1751), Vnus metafsica ou ensaio sobre a origem da alma humana (1751). Na pgina final de L'homme machine, a tese do escrito apresentada como uma <hiptese" fundada na experincia: "0 homem uma mquina e no h em todo o universo seno uma nica substncia diversamente modificada. Isto no uma hiptese sustentada fora de peties e de suposies, no obra do preconceito, nem apenas da razo. Teria desdenhado um guia que considero pouco seguro se os meus sentidos que levam, por assim dizer, a bandeira, no me tivessem incitado a segui-lo, esclarecendo-o. A experincia induziu-me portanto a seguir a razo: por isso as juntei" (L'homme machine, ed. Vartanian, p. 197). Tal hiptese no contraditada pela presena, no homem, das faculdades superiores. "Ser mquina, sentir, pensar, saber distinguir o bem do mal, como o azul do amarelo, numa palavra ter nascido com a inteligncia e um instinto moral e no ser mais do que um animal, no so coisas mais contraditrias do que ser um macaco ou um papagaio e saber procurar o prazer prprio" Ub., p. 192). O homem uma mquina de tal modo composta que no lhe podemos descobrir a natureza seno analisando-a atravs dos rgos do corpo. Todas as suas actividades psquicas so produzidas e determinadas por movimentos corpreos, nos quais actuam e se reflectem os movimentos de todo o universo. "A alma no passa de urna 268 palavra intil de que se desconhece o sentido e de que um esprito justo no se deve servir seno para denominar a parte que em ns pensa. Dado o mnimo princpio de movimento, os corpos amados tero tudo quanto necessitam para se mover, sentir, pensar, arrependerem-se, em suma, dirigirem-se, tanto no domnio fsico como no moral, que depende deles" (lb., p. 180). O corpo no mais do que um relgio, cujos humores so o relojoeiro; a mquina que constitui o corpo humano a mais perfeita. A conduta do homem portanto guiada por uma lei que a prpria natureza deu sua organizao. "A natureza criou-nos a todos unicamente para sermos felizes: todos, desde o verme que se arrasta guia que se perde nas nuvens. Por conseguinte, ela deu a todos os animais uma parte da lei natural, parte mais ou menos requintada, conforme se comportam os rgos bem condicionados de cada animal" (1b., p. 165). A lei natural um sentimento ou um instinto que nos ensina o que no devemos fazer mediante o que no quereramos que nos fizessem; ela no supe nem a educao, nem a revelao, nem legisladores. Esta lei ensina ao homem a procura e a disciplina do prazer. Na carta-dedicatria (ao mdico Haller) de L'homme machine, L Mettrie exalta o "prazer do estudo" considerando-o o nico escopo da actividade cientfica. Mas noutros escritos, e especialmente em Vart de jouir ou cole de la volupt, o prazer exaltado em toda a sua plenitude muito para l dos limites em que o velho epicurismo o continha. Note-se que isto um aspecto fundamental 269
da obra de La Mettrie, que toda ela animada por uma espcie de esprito dionisaco, em violenta polmica com as formas restritivas da moral tradicional. A tese de La Mettrie, no mais do que uma extenso da de Descartes. Segundo Descartes, o corpo humano uma mquina a que espontneo o atributo do pensamento. Segundo l_a Mettrie, todas as actividades humanas so produtos desta mquina. Esta tese adoptada tambm pelos outros materialistas da poca. Cada um deles a assume, mas de um modo particular. Na obra de d'Holhach, tornase uma consequncia da frrea necessidade que liga o homem causalidade geral da natureza. Paul-Henri Dietrich d'Holbach, nasceu na Alemanha, no Palatinato, em 1723, mas viveu sempre em Paris e a faleceu a 21 de Fevereiro de 1789. autor (sob o pseudnimo de Mirabaud) do Sistema da natureza e de numerosos outros escritos (Ensaio sobre preconceitos, 1770; O Bom senso, 1772; Sistema social, 1773; A poltica natural, 1773; A moral universal, 1776; Etocracia ou governo na moral, 1776). A autenticidade de alguns destes escritos , porm, duvidosa. D'Hol-bach parte do princpio de que "o homem um ser puramente fsico; o homem moral este mesmo ser fsico considerado sob um certo ponto de vista, isto , relativamente a alguns dos seus modos de agir, devidos sua organizao particulam (Systme, 1, 1). Como ser fsico, o homem est submetido frrea necessidade que liga entre si todos os fenmenos naturais pela relao de causa e efeito. O 270 fogo queima necessariamente as matrias combustveis que se encontram na sua esfera de aco. o homem deseja necessariamente aquilo que ou lhe parece til ao seu bem-estar. A liberdade uma iluso (1b., 1, 4). Em todos os fenmenos que o homem apresenta, desde o nascimento at morte, no h seno uma srie de causas e efeitos necessrios conformes s leis comuns a todos os seres da natureza. "Tudo o que faz e tudo o que lhe acontece so efeitos da fora de inrcia, da gravitao, da virtude da atraco ou repulso, da tendncia para se conservar, em suma, da energia que tem em comum com todos os outros seres" (1b., 1, 6). Por conseguinte, todas as faculdades que se consideram intelectuais so modos de ser e de agir que resultam da organizao do corpo. Segundo tais teses, que, para d'Holbach, so ditadas pela razo e pela experincia e que mesmo os filsofos mais esclarecidos, como Locke, foram incapazes de reconhecer claramente, os princpios tradicionais da religio, como a existncia de Deus, a imaterialidade da alma, a vida futura, etc., so supersties estpidas, que apenas a m f de uma casta sacerdotal interessada pde manter vivas. D'Holbach vitupera os temores, as inibies, os preconceitos, que impedem o homem de seguir os impulsos da sua natureza fsica, impulsos que so o seu nico guia legtimo. O prazer um bem e prprio da nossa natureza am-lo; razovel quando nos torna grata a natureza e no prejudica os outros. As riquezas so o smbolo da maioria dos bens do mundo. O poder poltico o maior dos bens quando 271 aquele que o detm recebeu da natureza e da educao as qualidades necessrias para estender a sua influncia benfica sobre a nao inteira (1b., 1, 16). O vnculo social funda-se na coincidncia do interesse particular com o interesse colectivo. A conduta de cada um deve ser tal que granjeie a
benevolncia dos seres necessrios sua prpria felicidade e deve por isso visar ao interesse e utilidade do gnero humano. O escopo dos governos encorajar os indivduos por meio de recompensas ou sanes a seguir este plano ou afastar os que pretendem estorv-lo (Ib., 1, 17). Todos os erros do gnero humano derivam de se ter renunciado experincia, ao testemunho dos sentidos e recta razo, para se deixar guiar pela imaginao quase sempre enganadora e pela autoridade sempre suspeita. D'Holbach termina a sua obra com uma exaltao do atesmo. "0 ateu um homem que conhece a natureza e as suas leis, que conhece a sua prpria natureza e sabe o que ela lhe impe" (lb., 11, 12). E conclui com um apelo da natureza ao homem. " vs que, seguindo o impulso que vos dei, tendeis para a felicidade em todos os instantes da vossa vida, no resisti minha lei soberana. Trabalhai pela vossa felicidade; gozai sem temor, sede felizes; encontrareis os meios impressos no vosso corao. Debalde, supersticioso, procurars o teu bem-estar para l dos limites do universo em que a minha mo te colocou" (1b., H, 14). Esta exortao revela o esprito do materialismo de d'Holbach, que movido por um interesse tico poltico, como o de La Mettrie movido por um 272 interesse tico individualstico. Tambm o materialismo de Helvetius movido por um interesse tico-poltico. La Mettrie e d'Holbach so sensualistas e vem na origem sensvel de todas as faculdades humanas uma prova do materialismo. Na realidade, o sensualismo no se liga necessariamente ao materialismo, e um dos seus mais coerentes e firmes partidrios, Condillac, declaradamente espiritualista. Mas todas as consequncias que o sensualismo implicava para a vida moral do homem manifestam-se claramente na obra de um outro materialista, ClaudeAdrien Helvetius (1715-71), Do esprito (1758). Da tese que afirma que a sensibilidade fsica a nica origem das ideias e que mesmo julgar ou avaliar significa sentir, Helvetius deduz o seu princpio de que o nico mbil do homem o amor prprio. "Se o universo fsico est submetido s leis do movimento, o universo moral est, por sua vez, sujeito s do interesse. O interesse sobre a torra o poderoso mgico que muda, aos olhos de todas as criaturas, a forma de todos os objectos" (De l'esprit, 11, 2). O homem qualifica de honradez, nos outros, as aces habituais que lhe so teis; cada sociedade chama boas s aces que lhe so particularmente teis (1b., 11, 5). Amizade, amor, simpatia, estima, todas estas qualidades so reduzidas ao comum denominador do interesse. As naes mais fortes e mais virtuosas so aquelas cujos legisladores souberam aliar o interesse particular ao interesse pblico (1b., HI, 22). Nos pases 273 em que certas virtudes eram encorajadas com a esperana dos prazeres dos sentidos, tais virtudes foram mais comuns e atingiram um maior esplendor. Assim sucedeu em Esparta onde a virtude militar era premiada com o
amor das mulheres mais belas (1b., 111, 15). Em concluso: "0 homem virtuoso no o que sacrifica os seus prazeres, os seus hbitos, as suas mais fortes paixes ao interesse pblico, uma vez que um tal homem impossvel, mas sim aquele cuja paixo mais forte concorda de tal modo com o interesse geral que quase sempre compelido virtude" (1b., 111, 16). No fundo de toda esta anlise h um pressuposto nominalstico; para Helvetius a virtude um puro nome que designa uma nica realidade fundamental: o interesse ou o amor prprio. Das suas anlises Helvetius extrai a consequncia de que a moralidade dos povos depende da legislao e do costume e que, portanto, os que regem os estados podem, merc de uma educao oportuna, conduzir todos os homens virtude. Esta tese defendida especialmente na obra pstuma Do homem, das suas faculdades intelectuais e da sua educao (1774). Uma seco desta obra (a V), dedica4da crtica do Emlio de Rousseau. tese de Rousseau da bondade originria do homem, Helvetius contrape que a bondade do homem o produto de uma educao apropriada que faz coincidir o interesse privado com o interesse pblico. 274 495. ILUMINISMO FRANCS: OS MORALISTAS Atribui-se habitualmente ao iluminismo, como um dos seus rasgos fundamentais, o intelectualismo, isto , a tendncia para reduzir actividade intelectual os poderes fundamentais do homem e para desconhecer e ignorar todos os outros. Viu-se que esta tendncia no se pode detectar nos autores examinados, os quais, todos eles, de Voltaire a Condillac, de Diderot a Helvetius, reconhecem e esclarecem a funo e o valor da necessidade, do instinto, das paixes, na vida do homem. Com efeito, a razo no para o iluminismo uma realidade em si, cujo predomnio deva devorar e destruir todos os aspectos da vida humana, mas antes a ordem a que a vida intrinsecamente tende, e que no pode realizar-se seno atravs do concurso e da disciplina de todos os elementos sentimentais e prticos que constituem o homem. O iluminismo deu-se portanto conta da resistncia ou da ajuda que a tarefa da razo pode encontrar nas emoes do homem. E estas emoes foram submetidas pelo iluminismo a anlises famosas que corrigiram e actualizaram as velhas anlises de Aristteles e dos Esticos. Um dos resultados fundamentais destas anlises , precisamente, a descoberta, devida aos iluminIstas ingleses e franceses, do seguimento como categoria espiritual em si, irredutvel por um lado actividade cognitiva, por outro actividade prtica: Kant devia pois sandonar esta descoberta instituindo na Crtica do juzo a indagao crtica desta faculdade. Assim, os 275 iluminIstas franceses procuraram esclarecer o conceito de paixo, entendida no como simples emoo mas, segundo a expresso de Pascal, como emoo dominante, isto , emoo capaz de colorir a personalidade inteira de um homem e de lhe determinar as atitudes. Tal o objectivo dos moralistas do iluminismo francs, os analistas das paixes mais custicos, mais subtis e mais desprovidos de preconceitos. Como moralista se deve considerar a obra de Bernard Le Bovier de Fontenelle (1657-1757), que foi expositor e divulgador gil de teorias fsicas e cosmolgicas (Conversaes sobre a
pluralidade dos mundos, 1686-, Dvidas sobre o sistema fsico das causas ocasionais, 1686) e, como secretrio da Academia de Paris, autor de numerosos Elogios das personalidades cientficas mais eminentes da poca; mas o seu interesse incidiu sobretudo no estudo dos costumes humanos, aqueles que ele chama de gostos "que se sucedem insensivelmente uns aos outros, numa espcie de guerra que movem uns aos outros perseguindo-se e destruindo-se reciprocamente, numa revoluo eterna de opinies e de costumes" (Oeuvres, od. 1818, 11, p. 434). A este interesse particular se devem os seus escritos Histria, Origem das fbulas, Histria dos orculos. Fontenelle distingue duas partes na Histria: a histria fabulosa dos tempos primitivos, que completamente inventada pelos homens, e a histria verdadeira dos tempos mais prximos. Uma e outra revelam-nos "a alma dos factos"; para a primeira, esta alma consiste nos erros, para a segunda nas paixes (1b., 11, 431). 276 A Histria , portanto, o domnio das paixes humanas. "A fsica segue e revela os traos da inteligncia e da sabedoria infinita que produziu tudo, ao passo que a Histria tem por objecto os efeitos das paixes e dos caprichos dos homens" (1b., 1, 35). Assim, j em Fontenelle aparece nitidamente aquele princpio que se tornar caracterstico de todos os iluministas: Deus o autor da ordem do mundo mas nada tem a ver com o homem e com a sua histria. O predomnio das paixes examinado a uma luz crua nas Reflexes ou Sentenas e mximas morais (1665) de Franois de La Rouchefoucauld (1613-80), que visam, todas elas, a desmascarar o fundo passional das atitudes que parecem mais alheias s paixes. "Se resistimos s nossas paixes, diz La Rouchefoucauld (Maximes, 122), mais pela debilidade delas do que pela nossa fora". A paixo exerce sobre o homem um poder quase ilimitado: o prprio desprezo pela morte devido a ela. "No desprezo que os grandes homens nutrem pela morte, o amor glria que lhes nubla a vista dela; nas pessoas vulgares, tal desprezo um efeito da sua escassa inteligncia que as no deixa ver a profundidade do seu mal e as deixa livres para pensarem noutras coisas" (1b., 504). Os Caracteres de La Bruyre (1645-96) revelam um intuito anlogo. Com maior conscincia filosfica realizou o mesmo intento Luc de CUapiers de Vativenargues (171547), autor de uma Introduo ao conhecimento do esprito humano (1746), a que se seguiram as Reflexes crticas sobre alguns poetas e 277 as Reflexes e mximas. Vativenargues pretende reportar toda a vida interior do homem ao princpio que a rege e afirma que este princpio reside, na paixo. "As paixes, diz Vauvenargues. (Rfiexions, 154), ensinaram aos homens a razo". A origem das paixes consiste no prazer e na dor, que do ao homem a conscincia da sua imperfeio e da sua fora. "A conscincia das nossas misrias move-nos a sair de ns mesmos e a conscincia dos nossos recursos encoraja-nos e conduz-nos esperana. Aqueles que sentem apenas a misria prpria sem a fora que possuem, nunca
se apaixonam muito, j que nada se atrevem a esperar; e bem assim, os que sentem apenas a sua fora sem a impotncia, j que uns e outros tm pouco que desejar. necessrio, pois uma mistura de coragem e de fraqueza, de tristeza e de presuno" (introduction, 22). Por isso, a fora do esprito reside no corao, isto , na paixo; a razo mais iluminada no leva a agir e a querer. "Bastar porventura ter a vista boa para caminhar? No necessrio ter tambm os ps e a vontade com a capacidade de os mover?" A razo e o sentimento aconselham-se e suprem-se mutuamente. "Quem consulta apenas um dos dois e renuncia ao outro, priva-se inadvertidamente de uma parte do auxlio que nos concedido para nos dirigirmos". "Devemos qui s paixes os maiores benefcios do esprito" (Rflexions, 149-151). Tal como Hume, Vativenargues considera que a solidez dos nossos conhecimentos se deve mais ao instinto do que 278 razo. "0 esprito do homem, que s conhece imperfeitamente, no capaz de dar uma prova perfeita. Mas a imperfeio dos seus conhecimentos no mais clara do que a sua realidade, e se lhes falta alguma coisa para convencer por meio do raciocnio, o instinto supre-o com vantagem. Aquilo que * reflexo demasiado dNI no se atreve a decidir, * sentimento fora-nos a cr-lo". Nas anlises destes moralistas, no menos do que nas doutrinas dos filsofos, revela-se um aspecto fundamental do iluminismo. 496. ROUSSEAU: VIDA E ESCRITOS Rousseau merece um lugar parte no iluminismo. o iluminismo no considerava a razo a nica realidade humana, porquanto reconhecia os limites dela bem como a fora e o valor das necessidades, dos instintos e das paixes. No entanto, via na razo a verdadeira natureza do homem, isto , a ordem normativa a que a vida humana se reduz na multiplicidade dos seus elementos constitutivos. Rousseau parece infringir neste ponto o ideal iluminista. A natureza humana no razo, instinto, sentimento, impulso, espontaneidade. A razo mesma transvia-se e perde-se quando no tem por guia o instinto natural. Os seus produtos e criaes mais importantes no impedem o transvio do homem, se a razo no se firma no instinto e no se adequa espontaneidade natural. O iluminismo pretende 279 confiar o instinto razo, Rousseau a razo ao instinto. Porm, o resultado final o mesmo. Jean-Jacques Rousseau nasceu em Genebra a 28 de Junho de 1712. Filho de um relojoeiro, teve uma educao desordenada e caprichosa. Em 1728, fugiu de Genebra, onde era aprendiz na loja de um gravador, e, aps numerosas peripcias (entre outras, foi cado em Turim), encontrou um refgio em casa de Madame
Warens, que foi para ele ao mesmo tempo me, amiga e amante e exerceu uma influncia decisiva sobre a sua vida. Na sua estadia na casa desta senhora, Aux Charmettes, nas cercanias de Chambry, pde ler e instruir-se, passando a os nicos anos felizes da sua vida. Em 1741 domiciliou-se em Paris, onde travou alguns anos mais tarde relaes com os filsofos, especialmente com Diderot. Foi precisamente quando ia visitar Diderot, que fora arbitrariamente encarcerado, que Rousseau leu (1749), no "Mercure de France" o tema proposto pela Academia de Dijon para um concurso: "0 progresso das cincias e das artes ter contribudo para a melhoria. dos costumes?". Rousseau, mais tarde, descreveu, numa carta (11 Carta a Malesherbes, 12 de Janeiro de 1762) a luz que naquele momento se fez na sua mente e que decidiu da orientao da sua doutrina. O Discurso sobre as cincias e as artes, publicado no ano seguinte (1750), constituiu um grande xito. A brilhante sociedade de Paris estava pronto a acolh-lo, mas o temperamento tmido, taciturno e suspicaz do filsofo no era feito para as relaes sociais. Conhecera em 1745 unia mulher gross6ra e inculta, Teresa Levas280 seur, que mais tarde desposou e da qual no se separou at morte. Depois de ter regressado por algum tempo a Genebra, onde as suas extravagncias e o seu carcter misantrpico lhe valeram muitos inimigos, fixou-se de novo em Paris, numa casa que Madame d'Epinay pusera sua disposio, junto do bosque de Montmorency; posteriormente, foi hspede do Marechal de Luxemburgo, no seu castelo de Montmorency (1758-62). Neste perodo escreveu e publicou as suas obras fundamentais: Nova Helosa, Contracto Social e Em lio. Aps a publicao desta ltima obra, (1762), que foi condenada como impia, Rousseau foi, obrigado a fugir de Frana. Expulso de vrios lugares, aceitou em 1765 a hospitalidade que Hume lhe oferecia em Inglaterra; mas no tardou a incompatibilizar-se tambm com ele, a quem acusou de conspirar com os seus inimigos. Regressado a Paris, levou a a existncia inquieta e atormentada descrita nos Sonhos de um viandante solitrio. Foi, finalmente, acolhido em Ermenonville pelo Marqus de Girandin e ali veio a falecer a 2 de Julho de 1778. Na obra de Rousseau o entusiasmo e a oratria prevalecem em larga medida sobre o raciocnio e a demonstrao. E at lcito duvidar (e muitas vezes se tem duvidado) se os diversos aspectos do seu pensamento se deixam reduzir a uma coerncia que assegure a unidade da sua personalidade de filsofo. Por um 1a4o (nos Discursos e na Nova Helosa), Rousseau erige-se em defensor de um individualismo radical para o qual o homem no pode nem deve reconhecer outro guia do que o seu 281 sentimento interior. Por outro lado (no Contracto social), defende um absolutismo poltico radical pelo qual o indivduo inteiramente submetido vontade geral do corpo poltico. Naquelas obras, considera a sociedade humana como uma construo artificiosa que limita ou destri a espontaneidade da vida humana; na ltima, coloca o estado civil acima do estado natural e mostra as vantagens do ;primeiro. Este contraste, primeira vista insupervel, pode talvez ser eliminado ou resolvido por um esclarecimento das relaes existentes, segundo Rousseau, entre o estado natural e o estado actual do homem. 497. ROUSSEAU: O ESTADO NATURAL O motivo dominante da obra de Rousseau o contraste entre o homem natural e o homem artificial. "Tudo est bem, diz ele no incio de Emlio, quando sai das mos do Autor das coisas: tudo degenera entre as mos do homem". Desta degenerao, faz Rousseau uma anlise amarga e implacvel, que lembra a de Pascal. Os bens que a
humanidade cr ter adquirido, os tesouros do saber, da arte, da vida requintada no contribuam para * felicidade, para a virtude do homem, seno que * afastaram da sua origem e o extraviaram da sua natureza. As cincias e as artes devem a sua origem aos nossos vcios e contriburam para os reforar. "A astronomia nasceu da superstio; a eloquncia da ambio, do dio, da adulao, da mentira; a 282 geometria, da avareza; a fsica, de uma v curiosidade; todas, incluindo a moral, nasceram do orgulho humano" (Discours sur les sciences, 111). Alm disso, contriburam para estabelecer a desigualdade entre os homens, desigualdade de que nascem todos os males sociais. O lustro que a civilizao deu ao homem apenas aparncia e vaidade. O homem engana-se quando supe fugir sua pobreza interior refugiando-se no mundo; por isso, tem medo do repouso e no tolera estar s consigo mesmo. O egosmo, a vaidade e a necessidade de domnio governam as relaes entre os homens, de modo que a prpria vida social se rege mais pelos vcios do que pelas virtudes. Todavia, esta situao em que o homem se encontra no , como considerava Pascal, uma coisa intrnseca ao homem nem devida ao modo original. "A perfectibilidade, as virtudes sociais, as outras faculdades que o homem natural possui em potncia, no teriam podido desenvolver-se por si mesmas, porquanto necessitavam o concurso fortuito de mais causas estranhas que podiam nunca ter nascido e sem as quais o homem teria permanecido eternamente na sua condio primitiva". Foram, pois, causas estranhas e acidentais "que aperfeioaram a razo humana deteriorando a espcie, tornando o homem mau ao torn-lo socivel e conduzindo, enfim, o homem e o mundo ao ponto em que hoje o vemos" (Discours sur 1'ingalit, 1). As circunstncias acidentais que aperfeioaram a razo e arruinaram a natureza humana originria so, segundo Rousseau, o estabelecimento da pro 283 ~ade em primeiro lugar, depois a instituio da magistratura, finalmente, a mutao do poder legtimo em poder arbitrrio; primeira deve-se a condio de ricos e de pobres, segunda a de poderosos e de fracos, e terceira a de patres e de escravos, que o ltimo grau da desigualdade (1b., 11). evidente que o homem pode remontar do estado em que se encontra ao estado originrio, de facto, a decadncia devida a causas acidentais e estranhas sobre as quais a vontade humana pode agir. Por isso, Rousseau entende o progresso como um retomo s origens, isto , natureza; e detm-se a delinear com complacncia a meta e
o trmino ideal deste retorno: a condio natural do homem. Porm, no entende tal condio como um estado efectivo. "Esta condio, conforme diz no prefcio do Discurso sobre a desigualdade", um estado que j no existe, que talvez nunca tenha existido, que provavelmente jamais existir, mas de que necessrio todavia ter noes justas para julgar tambm * nosso estado presente". O estado de natureza ou * natureza humana primitiva , portanto, apenas uma norma de juizo, um critrio directivo para subtrair o homem desordem e injustia da sua condio presente e reconduzi-lo ordem e justia que devem ser-lhe prprias. O estado natural no , mas deve ser, no no sentido em que o homem infalivelmente dirigido para ele, mas apenas no sentido de que tem a possibilidade e a obrigao de tender para ele. 284 A Nova Helosa, o Contracto Social e o Emlio so as obras em que Rousseau estabelece as condies pelas quais a famlia, a sociedade e o indivduo podero retornar sua condio natural, saindo da degenerao artificial em que caram. 498. ROUSSEAU: O RETORNO NATUREZA A Nova Helosa, que narra as aventuras de dois jovens amantes a quem os pais e as convenes sociais impedem a realizao do seu amor, a afirmao da santidade do vnculo familiar fundado na livre escolha dos instintos naturais. Eis como Rousseau faz falar uma personagem (Milord Eduardo) que defende o jovem par: "0 vnculo conjugal no ser acaso o mais livre, bem como o mais sagrado, dos contractos? Sim, todas as leis que o coaretam so injustias, todos os pais que ousam form-lo ou romp-lo so tiranos. Este casto n da natureza no est submetido nem ao poder soberano nem autoridade paterna, mas apenas autoridade do Pai comum que sabe comandar os coraes e que, ordenando-lhes que se unam, os pode obrigar a amarem-se... A verdadeira ordem social aquela em que o nvel dado pelo mrito e a unio dos coraes determinada pela escolha; aqueles que atribuem o seu nvel ao nascimento e s riquezas so os verdadeiros perturbadores desta ordem e so eles que so condenados e punidos" (Nouv. Hl., II lett. 2.R). Para o vnculo conjugal, 285 o retomo conjugal significa pois a liberdade da escolha guiada pelo instinto. O Contracto Social pretende ser em relao sociedade poltica o que a Nova Helosa relativamente famlia: o reconhecimento das condies pelas quais a comunidade pode volver natureza, isto , a uma norma de justia fundamental. A obra , de facto, a descrio de uma comunidade tico-poltica na qual cada indivduo obedece, no a uma vontade estranha, mas a uma vontade geral que ele reconhece como sendo-lhe prpria e, portanto, em ltima anlise, a si mesmo que obedece. A ordem social no uma ordem natural (1, 1), nasce, todavia, de uma necessidade natural quando os indivduos j no se sentem capazes de vencer as foras que se opem conservao de si @prprios: neste ponto, o gnero humano pereceria se no modificasse a sua maneira de viver. O problema que ento se levanta o seguinte: "Encontrar urna forma de associao que defenda e proteja com toda a fora comum a
pessoa e os bens de cada associado, e pela qual cada um, unindo-se com todos, no obedea seno a si prprio e permanea to livre como dantes" (1, 6). Este problema resolvido com o pacto, que est na base da sociedade poltica. A clusula fundamental deste pacto a alienao total dos direitos de cada associado a favor de toda a comunidade. Em troca da sua pessoa privada, cada contraente recebe a nova qualidade de membro ou parte indivisvel do todo; e assim nasce um corpo moral e colectivo, composto de tantos membros quantos votos tem a assembleia, 286 corpo que tem a sua unidade, o seu eu comum, a sua vida e a sua vontade (1, 6). Com a passagem do estado natural ao estado civil, o homem substitui na sua conduta a justia ao instinto e d s suas aces a moralidade de que antes careciam. "S ento a voz do dever substitui o impulso fsico e o direito o apetite, e o homem, que at a s tivera em conta a sua pessoa, v-se obrigado a agir segundo outros princpios e a consultar a razo antes de escutar as suas tendncias" (1, 8). A passagem do estado natural ao estado civil no , pois, uma decadncia do homem, se o estado civil , como deve ser, a continuao e o aperfeioamento do estado natural. E toda a obra de Rousseau, dedicada a expor condies pelas quais este estado h-de manter-se tal qual . A vontade prpria do corpo social ou soberano a vontade geral que no a soma das vontades particulares, mas a vontade que tende sempre ao bem geral e que por isso no se pode enganar (11, 3). Desta vontade emanam as leis, que so os actos da vontade geral; e no so, por isso, as ordens de um homem ou de vrios homens, mas sim as condies paira a realizao do bem pblico (11, 6). O governo o intermedirio entre os sbditos e o corpo poltico; a ele se deve a execuo da liberdade civil e poltica (111, 1). Os governos tendem a degenerar quando se opem soberania do corpo poltico com uma vontade particular que se ope vontade geral. Mas os depositrios do poder executivo no exercem nenhuma autoridade legtima sobre o povo, que o verdadeiro 287 soberano. "Eles no so os senhores do povo, mas sim os seus empregados e o povo pode nome-los e destitu-los quando lhes aprouver. No lhes cabe contratar, mas obedecer; e, encarregando-se das funes que o estado impe, no fazem mais do que cumprir os seus deveres de cidados, sem terem de modo algum direito a discutir as condies" (111, 18). O pacto social estabelecido em tais condies assegura, segundo Rousseau, a liberdade dos cidados, pois constitui a garantia de que cada um dos seus membros s obedece a si prprio. De facto, a vontade geral no mais do que a vontade dirigida para o interesse de todos, ao obedecer vontade geral o indivduo no sofre nenhuma diminuio ou limitao. Assim, por um lado, Rousseau distingue a vontade geral das decises que, efectivamente, o povo toma, e bem assim da vontade de todos (11, 3); por outro lado, exige a completa subordinao do indivduo vontade geral, porque fora da vontade geral ele no pode ter seno interesses ou mbeis particulares e, portanto, injustos. Por outros termos, a verdadeira natureza do estado no consiste em dar aos indivduos um substituto
da liberdade natural, mas sim 'uma outra forma de liberdade que assegura ao indivduo o que a liberdade natural lhe garantia, enquanto lhe era " possvel, ou seja, a sua vida e a sua felicidade. Sob este ponto de vista, as teses do Contracto social no se opem s das outras obras. A natureza do homem a liberdade, porm, a comunidade poltica no pode assegurar ao indivduo a liberdade do instinto desordenado, mas s a de um instinto disciplinado e 288 ROUSSEAU pela razo, o que precisamente acontece moralizado coincidncia da vontade Particular com mediante a necessidade de uma a vontade geral. Admitida a n vida associada, o retorno natureza desta vida associada apresenta-se a Rousseau como a ordem e a disciplina racional do instinto espontn`-0* Tambm aqui a natureza s vale como norma, isto , como _m e de justiasoda], Rous- _Im critrio de ordP Contracto
Na Nova Helosa e no ado do retorno seau exps as condi5es. eo signif ic natureza no que respeita sociedade familiar e sociedade poltica. No Emlio formula as mesmas condies para o indivduo. Aqui tudo depende da io substituir a educao tradieducaO: necessr . . iiva cional, que oprime e destri a natureza primit com uma suporstrutura artificial, por unia educao que se proponha corno nico fim a conservao c O reforo de tal natureza.Eniffio a histria de um garoto educado precisamente Para esse fim. A obra do educador deve ser, pelo menos a princiPio, negar a virtude e a verdade mas tiva: no deve ensina orao e do erro a mente. A proteger do vcio O c nte dirigida no aco do educador deve ser nica, e espisentido de fazer que O desenvolvimento fsico ritual da criana 'Ira. de uni modo espontneo, isIo seja unia criao, que nada que cada nova aqu mas tudo do interior, isto , proceda do exterior, cando. Na dosdo sentimento e do instinto do edu irinento espontneo ROussCau crio deste desenvOlv disse-se com razo segue a, orientao sensualistadesenvolvimento de Emlio comparvel ao que o 289 dades, diz Rousseau (mile, 11), que se formam e se aperfeioam em ns so os sentidos, que por isso deveriam ser cultivados em primeiro lugar e que, ao invs, so esquecidos ou negligenciados. Exercitar os sentidos no quer dizer apenas us-los, mas comear a julgar bem. atravs deles, aprender, por assim dizer, a sentir, porque no sabemos tocar, ver ou ouvir, seno da maneira como tivermos aprendido." O impulso de aprender, isto , de transformar os dados sensveis em conhecimentos intelectuais, deve vir a Emlio da natureza; e o critrio que o deve orientar na escolha dos conhecimentos a adquirir a primeiras faculdP, famosa e@,,ttua de Condillac- "As
utilidade. "Logo que o nosso aluno adquira o conceito da palavra til, teremos um novo meio extremamente valioso para o guiar, porquanto tal palavra ter para ele o sentido de alguma coisa que interessa imediatamente ao seu bem-estar actual" Ub., 111). Emlio ter a primeira ideia da solidariedade social e das obrigaes que ela impe aprendendo um trabalho manual, e ser levado a amar os outros pelo amor prprio, que, quando no artificiosamente desviado ou exagerado, a fonte de todos os sentimentos benvolos. Quando na adolescncia as suas paixes comearem a despontar, convm deixar que se desenvolvam a fim de que tenham possibilidade e tempo de se equilibrarem pouco a pouco, e assira no ser o homem que as ordenar, mas a prpria natureza que modelar a sua obra (Ib., IV). Da prpria disciplina na-tuira,1 das paixes nascem em Emlio os valores morais. " Formar o homem da natureza no significa fazer dele um selvagem que haveria que abandonar no 290 meio dos bosques, mas uma criatura que, vivendo no turbilho da sociedade, no se deixa arrastar nem pelas paixes nem pelas opinies dos homens, uma criatura que v com os seus prprios olhos e sente com o seu corao, e que no reconhece outra autoridade seno a da prpria razo" (Ib., IV). O princpio de que tudo deve nascer com perfeita espontaneidade do foro ntimo do educando contrasta, na obra de Rousseau, com todo o conjunto de advertncias, de artifcios e de fidelidade que o preceptor urde por toda a parte em torno dele para lhe proporcionar o ensejo favorvel a determinados desenvolvimentos. O motivo de tal contraste que a educao no , segundo Rousseau, o resultado de uma liberdade desordenada e caprichosa, mas sim de uma <liberdade bem orientada". "No se deve educar uma criana quando no se sabe conduzi-la onde se deseja mediante as nicas leis do possvel e do impossvel, cujas esferas, sendo-lhe igualmente desconhecidas, se podem ampliar ou restringir em torno dele conforme se deseje. Pode-se encade-lo, impulsion-lo, refre-lo sem que ele se queixe, apenas atravs da voz da necessidade; e pode-se torn-lo manso e dcil apenas por meio da fora das coisas sem que nenhum vcio tenha ocasio de germinar no seu corao, porque nunca as paixes se acendem quando so vos os seus efeitos" (lb., II). Alm disso, segundo Rousseau, a verdadeira virtude s nasce no homem atravs do esforo contra os obstculos e as dificuldades exteriores. Quando, no fim do Emlio, se supe que o jovem se enamorou de Sofia, o preceptor impe-lhe 291 uma longa viagem e, portanto, a separao dela para o ensinar a dominar as paixes. "No h felicidade sem coragem, nem virtude sem luta: a palavra virtude deriva da palavra fora; a fora a base de todas as virtudes... Criei-te mais bondoso do que virtuoso, mas quem apenas bom conserva-se bom enquanto tem prazer em s-lo, enquanto a sua
bondade no anulada pela fria das paixes... At agora s tens sido livre na aparncia, fruste unicamente da liberdade precria de um escravo a que nada se lhe imps. Agora, tempo de seres realmente livre, mas hs-de saber ser senhor de ti mesmo, governa o teu corao: s com este pacto se adquire a virtude" (1b., V). Assim tambm no Emlio a natureza humana no o instinto ou a sua imediatez, mas antes a ordem racional e o equilbrio ideal do instinto e das paixes. Porm, no uma condio primitiva de que o homem esteja de posse, mas uma norma a reconhecer e a fazer valer; no um facto mas um dever ser. E assim se explica como Kant pde inspirar-se em Rousseau na sua doutrina moral e nele ver o Newton do mundo moral (Werke, Ed. Hartonstein, VIII, 630). 499. ROUSSEAU: A RELIGIO NATURAL A religio natural exposta na Profisso de f do Vigrio Saboiano (Emlio, IV), embora apelando para o instinto e o sentimento natural, dirige-se sobre292 tudo razo, a qual s pode iluminar e esclarecer o que o instinto e o sentimento obscuramente testemunham. A regra de que se serve o vigrio saboiano consiste de facto em interrogar a luz interior, em analisar as diversas opinies e em admitir apenas as que apresentem a maior verosimilhana. A luz interior, que a conscincia ou sentimento natural, no aqui seno a razo, como equilbrio ou harmonia das paixes e dos interesses espontneos da alma. O primeiro dogma da religio natural a existncia de Deus, que se deduz da necessidade de admitir uma causa do movimento que anima a matria bem como da necessidade de explicar a ordem e a finalidade do universo. O segundo dogma a espiritualidade, a actividade e a liberdade da alma. Rousseau ope-se ao princpio, cuja possibilidade fora admitida por quase todos os iluminIstas, de que a matria pode pensar. Tal como Condillac, defende a imaterialidade da alma, que nos assegura a imortalidade; a imortalidade justifica a providncia divina. "Se no houvesse outra prova da imaterialidade da alma seno o triunfo dos maus e a opresso dos justos neste mundo, isso me bastaria para no duvidar dela. Uma contradio to manifesta, uma dissonncia to discrepante na harmonia do universo faz-me pensar que nem tudo acaba para ns na vida, e que, ao invs, tudo com a morte entra na ordem". A religio natural apresentada no Emlio como uma aquisio ou uma descoberta que cada qual pode e deve fazer por si, mas que no se pode 293 ~r a ningum. "Agora cabe-vos julgar, diz no fim da sua Profisso o Vigrio ao seu interlocutor. Comeais a pr a vossa conscincia em estado de poder ser esclarecida; sede sincero convosco, Q das minhas ideias aceitai aquelas que vos persuadir era e rejeitai as outras, porque no estais ainda to corrompido pelo vcio que tenhais de recear escolher mal". Mas no Contracto social Rousseau. admite que haja "uma profisso de f puramente civil, cujos artigos cabe ao soberano fixar, no precisamente como dogmas de religio, mas como sentimentos de sociabilidade sem os quais impossvel ser bom cidado e sbdito fiel (IV, 8). O Estado no pode obrigar a crer nestes axugos, mas pode desterrar aquele que no acredita neles, no por ser mpio, mas
por ser insocivel. Os artigos deste credo civil so os mesmos da religio natural tendo a mais "a santidade do contracto social e das leis" e um dogma negativo, a intolerncia. Deve notar-se (como j o fizemos) o contraste entro a absoluta liberdade religiosa que parece o pressuposto do Emlio e a obrigatoriedade do credo civil no Contracto social. Mas convm notar que no Contracto social Rousseau. supe realizada com todas as suas consequncias a ordem racional da natureza humana, cujo rgo a vontade geral- A religio civil no faz seno tornar explcitas as condies de tal realizao que no podem deixar de ser reconhecidas pelos indivduos. Com efeito, infringir o credo civil, comportando-se como se no o admitisse, para Rousseau o crime mais grave porque significa ser 294 perjuro para com as leis (logo, para consigo mesmo) e isto pune-se com a morte (1b., IV, 8). Deste modo, Rousseau liga-se corrente principal do iluminismo e revela-se a voz mais apaixonada e mais profunda deste movimento. A sua polmica contra a razo , na realidade, a polmica contra uma razo que pretende anular os instintos e as paixes e substitu-las por uma superestrutura, artificial. Mas de semelhante razo, como se viu, * iluminismo no sabia que fazer. Rousseau deu * forma mais paradoxal e enrgica ao ~to do iluminismo francs: o ideal de uma razo como ordem e equilbrio de todos os aspectos o atitudes do homem e, portanto, como condio do retorno e da restituio do homem a si mesmo. NOTA BIBLIOGRFICA 483. Sobre o iluminismo francs, alm das 0~ citadas no 476: D. MORNET; I~ seiences e Ia nature en France au XVIU e sicle, Paris, 1911; J. P. BELIN, Le mouvement philosophique de 1748 1789, Paris, 1913; D. MORNET, Les origines intellectuelles de Ia rvolution franaise, Paris, 1933; A. VARTANIAN, Diderot and Descartes, Princeton, 1953, trad. ital. Milo, 1956; PIETRO ROSSI, Gli iNuministi francesi, Turim 1962 (p~ antologia com introidues e bibliografia). Bayle: Dictionnaire historique et ethique, 3.1 ed., 4 vol. Roterdo, 1715; nova ed. em 16 vol., Paris, 18920. Oeuvres, 4 vol., Roterdo, 1715; nova ed. em 16 vol., Paris, 1820; Oeuvres, 4 vol. Haia, 1737. 295 J. DEVOLV, Bligion, critique et philosophie positivo chez P. B., Paris, 1906; H. ROBINSON, B. the SCeptic, Nova Iorque, 1931; P. B. Le philosophe de Rotterdam, ao cuidado de P. Dibon, Paris, 1959. 484. Montesquieu: Oeuvres compltes, 7 vol., Paris, 1875-79; Oeuvres indites, Paris, 1892-1900; ed. crit. A. Marson, 3 vol., Paris, 1950-55; Lo 8pirito deIl leggi, trad. Ual. de S. Cotta, Turim, 1952.
J. DE SIEU, M., Paris, 1913; S. COTTA, M. e Ia scienza della societ, Turim, 1953; R. Shackeleton, M. (A Critical Biograph), Londres, 1961. 485. Voltaire: Oeuvres, ed. KehI, 92 voL, Paris, 1785-89; ed. Beuchot, 72 vol. Paris, 1929-34. G. LANSON, V., Paris, 1906; N. L. TORREY, V. and the English Deists, New Haven, 1930; A. NOYES, V., Londres, 1936; N. L. TORREY, The Spirit of V., Nova lorque, 1938; R. NAVES, Le got de V., Paris, 1938; J. R. CARR, Co~tance de V. le philosophe, Paris, 1938; C. LuPORINI, V. e Ie "Lettres philosophiques", Florena, 1955; R. PomEAu, La religion de V., Paris, 1956; F. DIAZ, V. storico, Turim, 1958. M. M. BARR, A Bibliography of Writing on V. (1825-1925), Nova Iorque e continuao n <ffiodern Language Notes", 1933 e 1941. 488. Turgot: Oueuvres, Paxis, 1809-11; ed. G. Schelle, 5 vol. Paris, 1913-23.-G. SCHELLE, T., Paris, 1909; D. DAKIN, T. and the "Ancien Regime" in France, Londres, 1939; P. VIGREux, T. Paris, 1947. Condorect: Oeuvres Compltes, 21 vol., Paris, 1S04; ed. 0'Connor e Arago, 12 vol., Paris, 1847-49. - F. ALENGRY, C. Guide de Ia rvolution franai-se, Paris, 1904; L. CAHEN, O. et Ia rvolution franaise, Paris, 1904; J. S. SIIAPIRO, C. and the Rise of Liberalism, Nova Iorque, 1934; A. CENTO, C. e Pidea del progresso, Florena, 1956. 296 489. Aos 28 vol. da Eneyelopdie, 1751-72, seguirain-se mais 5 vol. de Suplementos, Amsterdo, 1776-77 e uma Table analytique, 2v., Paris, 1870. DucRos, Les encyclopdi--s, Paris, 1900; CAZES, Grimm et les encyc@opdies, Paris, 1933; F. VENTURI, Le origini delllenciclopedia, Florena, 1946; P. GRos CLAUDE, Un audacieux message, VE., Paris, 1951. 490. Diderot: Oeuvres compltes, ed. Asszat, 20 vai., Paris, 1875-77; Correspondance avec Grimm, ed. Tourneux, Paris, 1877-82; Lettres Sophie Volland, ed. F. Bablon, Paris, 1930; Correspondance indite, ed. Babolon, Paris, 1931. Ed. parciais: Oeuvres philosophiques, ed. Vernires, Paris, 1956; Oeuvres esthtiques, ed. Vernire, Paris, 1959. H. GiLLOT, D. D. Paxis, 1937; J. TiiomAS, L1humanisme de D., Paris, 1932; F. VENTURI, La jeunesse de D., Paris, 1939; A. VARTANIAN, D. and Descartes, Prinecton, 1953; H. DIECKMANN, Cinq leons sur D., Paris, 1959. 491. D'Alembert: Oeuvres compltes, 5 vol., Paris, Oeuvres et correspondances indites, ed. Henry, Paris, 1887. M. MULLER, Essai sur ta philosophie de J. de A., Paris, 1926. 492. Condillac: Oeuvres compltes, 23 vol., Paris, 1796; ed. Thry, Paris, 1821-22, Oeuvres philosophiques, 3 vol., Paris, 1947-51 (in "Corpus gnral des Philosophes franais").
R. RENoiR, C. Paris, 1924; G. LE Roy, La psychologie de C., Paris, 1937; M. DAL PRA, C., Milo, 1942; G. SOLINAS, C. e Viluminismo, Cagliari, 1955. 493. Maupertuis: Oeuvres, Lyon, 1756 e 1758, 4 vol., Dresde, 1782. Buffon, Histoire naturelle, gnrale et particulire, Paris, 1749, sgs.; Nouveaux Extraits, ed Golin, Paris, 1905. Robinet, Oeuvres, 8 vol. Neufchtel, 1779-&3. Sobre Boscovich: D. NEDELKOVITC11, La phil. nat. et relativiste de R. T. B., Paris, 1922., e,.d. A. Vartaman, 297 Pr~ton, 1960, com Intr. e bibl.; L'hamme plante, ed. F. L. Rougier, Nova Iorque, 1936; L'uomo machina e altri scriti, tra& ital., G. Preti, Iffilo, 1955. BOUISSIER, L. M., Paris, 1931, P. LEmE J. O. de L. M. Mortain, 1954. Sobre as obras de d'Holbach: A. Rock, in "Archiv fr Geschichte der Philoso~.', >, 1917@ p. 270 sgs. M. P. CUSHING, Baron d'Holbach, Nova Iorque, 1914; R. HUBERT, D'Holbach et ses amis, intr. e textos, Paris, 1928. Hektius, Oeuvres, 7 vol., Deux Pontes, 1784; 5 vol., Paris, 1792-A. YEimH, Paris, 1907; M. GROSSMAN; The philosophy of H., Nova lorque, 1926; 1. CumMING; M. Loondres, 1955. Sobre o materialismo: LANGE, Geschichte des Materialismus, 2 voL, 8.1 ed. Lipsia, 1908, trad. frane. Pari.% 1910. - G. PLECHANOV; Beitrge zr Geschichte des Materialismus, 3.1 ed. Estugarda, 1921. Fontenelle, Oeuvres, 12 vI. DELBos; La phil. franc., Paris, 1919, p. 13 sgs. Os escritos de La Rouchefoucauld, La Bruyre e VauvenaT-gues foram recolhidos em Moralistes franais, Paris, (Firmin-Didot), 1841. Vauv~~, Oeuvres, ed. Varillon, 3 vl., Paris, 1929; Oeuvres choiMes, ed. 1-1. Gaillard de Champris, Paris, 1942. -A. BOREL, Essai sur V., Neuehtel, 1931; R. LENOIR, Les Historiens de 11 esprit humain, Paris, 1926. 496. Rousse-au, Oeuvres, ed. C. Lahure, 13 vol. Paxis, 1865; Corespondance gnerale, ed. T. Dufour, 20 vol., Paris, 1924-34; Table de Ia correspondance de J. J. R., de P. P. Plan, Genebra, 1953. H. HOFFDING, R. und Seine Philosophie, Estugarda, 1897; J. LEMAITRE; J. J. R., Paris, 1907; E. FAGUET, R. penseur, Paris, 1911; E.
CASSIRER; Da& Problem J. J. R., 1932; trad. ital. 1938; C. W. MNDEL, R. Moralist, 2 vol., Londres e Nova Iorque@, 1934; 1962; F. C. GREEN; J. J. R. Cambridge, 1955; R. DERAT.H, Le 298 rationaUs?n de J. J. R. Paris, 1948; B. GRoEnuysEN, J. J. R., Paris@ 1949; P. BURGELINY; La phil. de Ilexisteme de J. J. R., Paris, 1952; J. STAROBINSKI, J. J. R., Paris; H. RORRS, J. J. R., He~berga, 1957. 498. R. HUBERT, R. et Z'Encyclopdie, Paris, 1928. 449. W. CUENDET, La philosophie reJigie"e de J. J. R., Genlebr.4 1913; P. M. MASSON, La pmse religieuse de Rousseau et ses rcents interprtes, Paris, 1927. Bibl.: A. SCHINZ, tat prsent des travaux sur J. J. R., Paris, 1941. 299 ND1CE VI - LEMNIZ ... ... ... ... ... ... ... 7 436. Vida e Escritos ... ... ... ... 7 437. A ordem contingente e a razo problemtica, ... ... ... ... ... f acto ... ... ... ... ... ... 17 13 438. Verdade de razo e verdade de
349. A substncia individual . .. ... 21 440. Fora e mecanismo ... ... ... 26 441. A mnada, ... ... ... ... ... 29 442. A harmonia preestabelecda ... 35 443. Deus e os problemas da teociceia, 38 Nota bibliogrfica, VII - VICO ... ... ... 42 45
... ... ... ... ... ... ... ...
444. Vida e Obra ... ... ... ... ... 45 445. Vico entre os sculos XVII e XVIIII ... ... ... ... ... ... 47 446. O verdadeiro e o facto 301 447. A nova cincia ... ... ... ... 449. As trs idades da histria e a sabedoria potica ... ... ... ... probleanaticidade da hi~ria Nota bibliogrUica VIII - LOCKE 54 448. A hist6ria Ideal, eterna ... ... ... ... ... ... 56 50
61 4W. A Providncia 68
66 451. A
... ... ... 72 ... ... ... ... ... ... ... ... 75
452. Vida e Escritos ... ... ... ... 75 453. A razo finita e a experincia 78 454. Os fundamentos do "Ensino" ... 82 455. As Ideias simples e a ~vidade do esprito ... ... ... ... 86 456. As ideias complexas e a actividade do esprito ... ... ... ... 89 457. A linguagem e as ideias gerais 94 458. A realidade do conhecimento ... 96 459. A raz o e os seus limites ... ... 102 302 460. O proble= politico e a liberdade 107 461. o probleina religioso e a tolerncia ... ... ... ... ... ... 115 462. A Educao ... ... ... ... ... 121 Nota bibliogrfica IX - BERKELEY ... ... ... 123 ... ... ... ... ... ... 125
463. Vida e Escritos ., . ... ... ... 125 464. O nominalismo ... ... ... ... 129 465. O imaterialismo ... ... ... ... 131 466. A metaf"ca neoplatnica ... ... 137 Nota bibliogrfica X - J-JUXE ... ... ... 142
... ... ... ... ... ... ... ... 145
467. Vida e Escritos ... ... ... ... 145 468. A natureza humana e o seu lmite ... ... ... ... ... ... ... 148 469. Impresses e Ideias; ... ... ... 151 303 470. As conexes entre as ideias ... 154 471. A Crena ... ... ... ... ... 159 472. Os princpios da moral ... ... 164 473. A Religi o ... ... ... ... ... 167 474. O gosto artstico ... ... ... ... 172 475. A Poltica ... ... ... ... ... 175 Nota bibliogrfica XI-O ... ... ... 177 .. . ... ... 179 ... 179 477. O ilumnismo ingls: Newton,
ILUMINISMO INGLS
476. Caractersticas do iluminismo
Boyle ... ... .. . ... ... ... 183 478. A po'@n<@a sobre o deismo, .. . 188 479. Shaftesbury ... ... ... ... ... 196 480. Hutchinson Xandeville ... ... 202 481. Hartley, Priestley, Smith ... ... 207 482. A escola escocesa do ~o comum 304 XII - o iLUMI,-.@ISMO FRANC]@S 483. Tradio e histria: Bayle 485. Voltaire: Vida e Escritos ... ... ... 219 ... ... ... ... ... ... 213 Nota bibliogrfica ... ... ... 217
... 219 484. Montesquieu ... ... ... ... ... 224 ... ... 228 486. Voiltaire: O Mundo, o Homem e o Progresso ... ... ... ...
Deus ... ... ... ... ... ... ... 231 487. Voltaire: A Histria e ... ... 237 488. A ideia de progresso: Turgot,
Condorect ... ... ... ... ... 239 489. A Encielopdia ... ... ... ... 243 490. Diderot ... ... ... ... ... ... 245 491. D'Alembert ... ... ... ... ... 251 492. Condillae ... ... ... ... ... ... 254 493. Os naturalistas ... ... ... ... 261 494. Os materialistas ... ... ... ... 266 495. Os moralistas ... ... ... ... 274 496. Rousseau: Vida 305 497. Rousseau: O estado de natureza 282 498. Rousseau: O retorno natureza 284 499. Rousscau: A redigio naturai ... 292 Nota bibMogrfica ... ... ... 295 306 Composto e Impresso para a EDITORIAL PRESENA na Tipografia Nunes Porto e Escritos ... 279
Histria da Filosofia Volume oito Nicola Abbagnano Digitalizao e arranjos: ngelo Miguel Abrantes (quarta-feira, 1 de Janeiro de 2003)
HISTRIA DA FILOSOFIA VOLUME VIII TRADUO DE: ANTNIO RAMOS ROSA ANTNIo BORGES COELHO CAPA DE: J. C. COMPOSIO E IMPRESSO TIPOGRAFIA NUNES R. Jos Falco, 57-Porto EDITORIAL PRESENA . Lisboa 197o TITULO ORIGINAL STORIA DELLA FILoSOFIA Copyright by NICOLA ABBAGNANO Reservados todos os direitos para a lngua portuguesa EDITORIAL PRESENA, LDA. R. Augusto Gil, 2 cIE. - Lisboa X111 O ILUMINISMO ITALIANO 500. O ILUMINISMO EM NPOLES O que caracteriza o Iluminismo italiano, que est estreitamente ligado ao francs, prevalncia dos problemas morais, polticos e jurdicos. a
O seu principal contributo reside na obra de Csar Beccaria, Dos delitos e das penas, obra que incorpora no domnio do direito penal os princpios fundamentais da filosofia moral e poltica do iluminismo francs. No que se refere gnoseologia, o iluminismo italiano visou sobretudo moderar as teses extremistas do iluminismo francs, optando por um prudente celectismo, mediante o qual aquelas teses perdem grande parte da sua virulncia e da sua fora renovadora. Os dois centros do iluminismo italiano foram Npoles e Milo. Em Npoles, o esprito do iluminismo encontra a sua primeira realizao na Histria civil do Reino de Npoles (1723) de .Pedro Giannone (1676-1748), obra que pretendia mostrar como o poder eclesistico tinha, atravs de sucessivas usurpaes, limitado e enfraquecido o poder poltico, e quanto convinha a este confinar o poder eclesistico no puro mbito espiritual. Um dos fins da obra de Giannone era "o esclarecimento das nossas leis ptrias e das nossas instituies e costumes" (Histria, intr., ed. 1823, 1, p. 213).
Uma figura que pertence mais ao iluminismo francs do que ao italiano a do abade napolitano Fernando Galiani (1728-87) que foi durante dez anos (1759-69) secretrio da Embaixada do Reino de Npoles em Paris e dominou os sales da capital francesa com o seu esprito e o seu brio. Galiani foi especialmente economista. O ensejo do seu tratado Da moeda (1751) era o de criticar a tese do mercantilismo de que a riqueza de uma nao consistia na posse de metais preciosos. As suas ideias filosficas, no expostas de forma sistemtica, mas lanadas aqui e ali como ditos de esprito, esto contidas nas Cartas (escritas em francs) e so em tudo conformes s ideias dominantes no ambiente francs em que Galiani viveu. Os filsofos que afirmam que tudo vai bem no melhor dos mundos, considera-os Galiani verdadeiros ateus que, com receio de serem queimados, no chegam a concluir o seu silogismo. E eis aqui, segundo ele, o silogismo: "Se um Deus tivesse criado o mundo, este seria sem dvida o melhor de todos os mundos; mas no , nem de longe; portanto, Deus no existe". A estes ateus camuflados cumpre responder, segundo Galiani, da maneira seguinte: "No sabeis que Deus criou este mundo do nada? Pois bem, ns temos portanto Deus por pai e o nada por me". Decerto que o nosso pai unia grandssima coisa, mas a nossa me no vale nada. Temos algo do pai, mas recebemos tambm alguma coisa da nossa me. O que h de bom no mundo vem do pai e o que h de mau da senhora nada, nossa me, que no valia grande coisa (Carta ao Abade Mayeul, 14 de Dezembro de 1771). Contra os ateus e os materialistas, aduz o argumento dos dados chumbados. "Se dez ou doze lances de dados vos fizerem perder seis francos, credes firmemente que isso devido a uma manobra hbil, a uma combinao artificiosa, a uma artimanha bem urdida; mas vende neste universo um nmero to prodigioso de combinaes mil e mil vezes mais difceis e complicadas, mais elaboradas e teis, no supondes, de facto, que os dados da natureza estejam igualmente chumbados e que haja l em cima um grande trampolineiro que se diverte a enganar-vos". Galiani est convencido de que o mundo uma mquina que se move e caminha necessariamente e que, por consequncia, nele no h lugar para a liberdade dos homens. Todavia, o homem julga-se livre e a persuaso da liberdade constitui a prpria essncia do homem. Como resolver a contradio? "Se houvesse um nico ser livre no universo, no poderia haver Deus, no poderia haver laos entre os seres. O universo desintegrar-se-ia. E se o homem no estivesse ntima e essencialmente convencido de ser sempre livre, a moral humana no seria o que . A convico da liberdade suficiente para estabelecer uma conscincia, um remorso, uma justia, recompensas e castigos. Ela basta paira tudo, e eis assim o mundo explicado em duas palavras". Est demonstrado que ns no somos livres, mas agiremos sempre como se o fssemos do mesmo modo que veremos sempre quebrado um pau submerso na gua, conquanto o raciocnio nos diga que o no est (Carta, a Madame d'Epinay, 23 de Novembro de 177 1).
Do sensualismo francs extraiu o fundamento das suas doutrinas Antonio Genovesi (171269), que foi o primeiro na Europa a professar na universidade a nova cincia da economia. Leccionou, de facto, a partir de 1754 a disciplina de lies de comrcio na Universidade de Npoles. Genovesi considera como princpio motor, quer dos indivduos, quer dos corpos polticos, o desejo de evitar a dor que deriva da necessidade insatisfeita e chama a tal desejo interesse, considerando-o como o que incita o homem, no s sua actividade econmica, mas tambm criao das artes, das cincias e a todas as virtudes (Li. de Comrcio, ed. 1778, 1, 57). Genovesi tambm autor de obras filosficas: Meditaes filosficas sobre a religio e sobre a moral (1758); Lgica (1766), que um resumo italiano de um manual latino de lgica que Genovesi publicara em 1745 e que conheceu um grande xito na Europa; Cincias metafsicas (1766); Diceosina, ou seja, doutrina do justo e honesto (1776). Nas Meditaes retoma sua maneira o procedimento cartesiano, considerando, porm, que o primeiro princpio no o pensa10 mento mas o prazer de existir. "Eu existo, de facto. Este pensamento e o prazer que implica, enche-me por completo; e, visto que belo e grande, de hoje em diante esforar-me-ei tanto quanto puder por me deter nele e fazer, se possvel, por que se converta, tanto por reflexo como por natureza, na substncia de todos os meus pensamentos e dos outros prazeres meus" (Meditaes, 1). Deste modo, o prazer vem a ser para Genovesi o acto originrio do ou, o fundamento e a substncia de toda a sua vida. E a prpria razo toma-se numa "faculdade calculadora" de tudo o que existe ou possvel. Esta orientao, que parece proceder de Helvtius, no impede Genovesi de defender a tese do espiritualismo tradicional: a espiritualidade e a imortalidade da alma, o finalismo do mundo fsico e a existncia de Deus. Caetano Filangieri (1752-88) inspirou-se em Montesquieu ao escrever Cincia da legislao (1781-88), em que se vale da obra do filsofo francs para extrair dela o que se deve fazer para o futuro, ou seja, para tirar dela os princpios e as regras de uma reforma da legislao de todos os pases. Da reforma da legislao, espera Filangieri o progresso do gnero humano para a felicidade e a educao do cidado. <Faremos ver, diz ele no Plano da obra (ed. Vilari, 1864, p. 55), como uma sbia legislao servindo-se do grande mbil do corao humano e dando uma direco anloga ao estado presente das coisas, quela paixo principal da qual todas as outras dependem, quela paixo que ao mesmo tempo o germe fecundo de tantos bens e de tantos males, de tantas paixes benficas 11 de tantas paixes perniciosas, de tantos perigos e de tantos remdios, servindo-se, dizia eu, do amor prprio, poder introduzir a virtude entre as riquezas dos modernos, pelos mesmos meios com que as antigas legislaes a introduziram entre as legies dos antigos". Inspirado por esta confiana optimista na
funo formativa e criadora da lei, Filangieri delineia o seu plano de legislao, em que se deve salientar a defesa da educao pblica, defesa que parte do princpio de que s ela pode garantir a uniformidade das instituies, das mximas e dos sentimentos e que por isso s a menor parte possvel dos cidados s-- deixa educao privada. Mas em relao s ponderadas anlises de Montesquieu, o optimismo de Filangieri com respeito aco legislativa parece utpico. Mrio Pagano (1748-99), nos Ensaios polticos dos princpios, progressos e decadncia da sociedade (1783-85), retoma a doutrina de Vico sobre as trs idades e sobre os fluxos e refluxos histricos, dentro do esprito do iluminismo. Mas Pagasio completamente alheio problematicidade da histria que domina a obra de Vico. O fluxo e refluxo das naes para ele uma ordem fatal, que se deve mais a causas fsicas do que a causas morais. Pagano considera o mundo da histria como um mundo natural, cujas leis no so diferentes das do mundo fsico. "A natureza uma contnua e ininterrupta passagem da vida morte e da morte vida. A gerao o a destruio, com ritmo veloz, num perptuo circuito, sucedem-se sem interrupo. E os componentes que constituem a grande massa do 12 universo unem-se e dissolvem-se numa perene sucesso; o tudo perece, tudo se renova, por meio das diversas catstrofes que corrompem a ordem antiga das coisas e produzem novas formas, que se assemelham inteiramente s velhas, e assim repetem os mesmos tempos" (Ensaios, 1, 3). A decadncia e a morte das naes pois inevitvel depois de alcanarem o estdio do mximo florescimento. O maior triunfo da razo o princpio do fim Qb., i, 4). O homem no tem o poder de afastar as catstrofes que ameaam a sociedade pela fora das coisas. E o motivo que ele um ser sensvel e que, por isso, est ligado natureza e merc de todos os seus movimentos acidentais. "A funo natural da razo a de dirigir, e no extinguir o sentimento (isto , a sensibilidade), purific-lo, e no oprimi-lo. O homem vive tanto como sente. E, dado que as sensaes se produzem em ns pela impresso dos objectos exteriores, o homem, quando sente assim, um ser passivo e escravo das coisas externas de que est rodeado; a sua existncia precria e depende da existncia dos objectos exteriores. A cadeia dos acontecimentos acidentais envolve-o e arrasta-o como o torvelinho das ondas faz rodopiar os corpos que nelas flutuam" (1b., VI, 1). Somente pelas suas convices naturalistas e sensualsticas Pagano adere tese de Vico sobre o carcter primitivo da poesia. No seu Discurso sobre a origem e natureza da poesia, interpreta o nascimento da poesia a partir das paixes como o efeito da "impresso produzida na mquina pelo objecto" (Discurso, 2); na mquina, isto corpo hw 13 'mano. E atribui a causas puramente fsicas o ressurgir da poesia na idade da razo. "E agora que as
naes so cultas e educadas, e a razo acabou com o imprio da fantasia, se por uma fora de temperamento em ningum despertar e ressurgir aquele fantstico furor que experimentaram naturalmente as primeiras naes, teremos versificadores o no poetas, cpias e no originais" (lb., 12). 501. O ILUMINISMO EM MILO O outro centro do iluminismo italiano foi Milo, onde uma pliade de escritores, se reuniu em torno de um peridico, 11 caf, que teve vida breve e intensa (1764-65). O jornal, concebido segundo o modelo do Spectador ingls, foi dirigido pelos irmos Verri, Pedro e Alexandre, e nele colaborou, entre outros, Csar Beccaria. Alexandre Verri, (1741-1816) foi literato e historiador. Pedro Verri (1728-97) foi filsofo e economista. No seu Discurso sobre a ndole do prazer e da dor (1781), Podro Verri sustenta o princpio de que todas as sensaes, agradveis ou dolorosas, dependem, no s da aco imediata dos objectos sobre os rgos corpreos, mas tambm da esperana e do temor. A demonstrao desta tese comea por uma anlise do prazer e da dor moral reportados a um impulso da alma para o futuro. O prazer do matemtico que descobriu um teorema deriva, por exemplo, da esperana dos prazeres que colher no futuro, da estima e dos benefcios que a sua descoberta lhe trar. A dor causada por uma desgraa semelhante ao temor das 14 dores e das dificuldades futuras. Ora, como a esperana para o, homem a probabilidade de viver melhor rio futuro do que no presente, supe sempre a carncia de um bem e portanto o resultado de um efeito, de uma dor, de um mal (Disc. 3). O prazer moral no mais do que a rpida cessao da dor e tanto mais intenso quanto maior for a dor da privao ou da necessidade (lb., 4). Verri estende a sua doutrina tambm aos prazeres, mostrando que frequentemente o prazer fsico no mais do que a cessao o de uma privao natural ou artificial do homem (Ib., 7). objeco de que a tese se pode inverter, dado que parece tambm verosmil que toda a dor consista na rpida cessao do prazer, Verri responde que uma semelhante gerao recproca no pode dar-se, porque "o homem nunca poderia comear a sentir prazer nem dor; de contrrio, a primeira das duas sensaes deste gnero seria a primeira hiptese, o que absurdo" (1b., 6), Verri chega a confirmar a concluso que Maupertuis ( 493) extrara do seu clculo, e que a de que a soma total das dores superior dos prazeres. De facto, a quantidade do prazer nunca pode ser superior da dor porque o prazer no mais do que a cessao da dor. "Mas todas as dores que no terminam rapidamente so uma quantidade de mal que na sensibilidade humana no encontra compensao, e em todos os homens ocorrem sensaes dolorosas que cedem lentamente" (1b., 6). Tambm os prazeres que as belas artes proporcionam tm a mesma origem: o fundamento delas reside naquelas dores que Verri designa por dores inominadas. A
15 arte nada diz aos homens que teMam. de contentamento, mas, em contrapartida, fala aos que se deixam dominar pela dor ou pela tristeza. o magistrio da arte consiste sobretudo em "espalhar as belezas consoladoras da arte de modo que exista um intervalo suficiente entre, uma e outra para se poder voltar sensao do alguma dor inominada, ou em fazer nascer de quando em quando, propositadamente, sensaes dolorosas e em acrescentarlhes depois uma ideia risonha, que docemente surpreenda e rapidamente faa cessar a dor" (1b., 8). A concluso que "a dor o princpio motor de todo o gnero humano". E deste pressuposto parte a outra tese que Verri defende na sua obra Sobre a felicidade. Para o homem impossvel a felicidade pura e constante, e, ao invs, possvel a misria e a infelicidade. O excesso dos desejos relativamente s nossas capacidades, a medida da infelicidade. A ausncia dos desejos mais um indcio de simples vegetar, do que de viver, ao passo que a violncia dos desejos pode ser experimentada por todos e talvez um estado duradouro. A sabedoria consiste em proporcionar em todos os campos os desejos com as possibilidades, e por isso s pode ser feliz o homem esclarecido e virtuoso. 502. ILUMINISMO ITALIANO: BECCARIA A obra de Csar Beccaria. (15 de Maro de 1738-28 de Novembro 1794) Dos delitos e das penas (1764) o nico escrito do iluminismo italiano que teve uma repercusso europeia. Traduzido para fran16 cs pelo Abade Morellet e publicado em Paris em 1766, traduzido em seguida nas demais lnguas europeias, pode dizer-se que representa o ponto de vista do iluminismo no campo do direito penal. Os princpios de que a obra parte so os de Montesquieu. e de Rousseau. O escopo da vida social "a mxima felicidade repartida pelo maior nmero"; frmula ulteriormente adoptada por Bentham. O estado nasce de um contracto e a nica autoridade legitima a dos magistrados que representam a sociedade unida pelo contracto (Dos delitos, 3). As leis so as condies do pacto originrio e as penas so o motivo sensvel para reforar e garantir a aco das leis. Destes princpios deriva a consequncia fundamental, que inspira todo o ensaio. "As penas que ultrapassam a necessidade de manter a conservao da sade pblica, so injustas por sua natureza; e tanto mais justas so as penas quanto mais sagrado e inviolvel a segurana, e maior a liberdade que o soberano reserva para os sbditos" Qb., 2). Deste ponto de vista nascem os problemas debatidos por Beccaria. Ser a morte verdadeiramente uma pena til e necessria para a segurana o a boa ordem da sociedade? A tortura e os tormentos so justos e atingem o Em que as leis se propem? As mesmas penas sero igualmente teis em todos os tempos? Ora, o fim da pena no outro seno o de impedir que o ru cause novos danos aos seus concidados e evitar que outros pratiquem danos iguais. necessrio, pois, escolher aquelas penas e o modo de as infligir que, mantendo a proporo com o delito cometido, exeram uma impresso mais 17 c6caz e duradoura sobre a alma dos homens e sejam menos dolorosas para o corpo do ru (lb., 15). Mas o ru no tal antes da sentena do juiz, nem
a sociedade lhe pode tirar a proteco pblica antes que se tenha decidido que ele violou os pactos com os quais; ela lhe foi concedida. A tortura portanto, ilegtima: e tambm intil pois vo supor que "a dor se torne cadinho da verdade, como se o critrio dela residisse nos msculos e nas fibras de um miservel". A tortura o meio seguro de absolver os criminosos robustos e de condenar os fracos inocentes, uma questo de temperamento e de clculo que varia em cada homem consoante a sua robustez e sensibilidade. E coloca o inocente em piores condies do que o ru, que, se resiste tortura, declarado inocente, ao passo que ao inocente reconhecido como tal ningum lhe pode tirar o mal produzido pela tortura (lb., 12). Quanto pena de morte, Beccaria pergunta-se que direito esse que os homens se arrogam, de matar os seus semelhantes? Tal direito no pode provir do contrato social, porque absurdo que os homens tenham neste contrato conferido aos outros o poder de lhes tirar a prpria vida. A pena de morte no um direito, mas "uma guerra da nao com um cidado". Justificar-se-ia apenas no caso de ser o verdadeiro e nico freio para impedir os homens de praticarem delitos, mas precisamente isto que Beccaria nega. No a intensidade da pena que produz o efeito mais forte sobre a alma humana, mas a extenso dela, porque a nossa sensibilidade mais fcil e estavelmente movida por mnimas e 18 continuadas impresses do que por um forte mas passageiro impulso. As paixes violentas surpreendem os homens, mas no por muito tempo; por isso, num governo livro e tranquilo, as impresses devem ser mais frequentes do que fortes. "A pena de morte toma-se um espectculo para a maioria das pessoas e um objecto de compaixo e de desdm para alguns; ambos estes sentimentos dominam mais a alma dos espectadores do que o poder fazer o salutar terror que a lei pretendo inspirar. Mas nas penas moderadas o contnuas, o sentimento dominante este ltimo, porque o nico. O limite que o legislador deveria fixar ao rigor das penas parece consistir no sentimento de compaixo, quando este comea a prevalecer sobre qualquer outro na alma dos espectadores de um suplcio, mais feito para eles do que para o ru (lb., 16). Aquele que v perante si o grande nmero de anos que h-de passar na escravido, faz uma comparao til de tudo isso com a incerteza do xito dos seus delitos e com a brevidade do tempo que gozaria os frutos do seu crime. No necessrio que a pena seja terrvel; necessrio, isso sim, que ela seja certa e infalvel. "A certeza de um castigo, se bem que moderado, produzir sempre uma impresso mais forte do que um outro mais terrvel, aliado esperana da impunidade" (1b., 20). Seja como for, a verdadeira medida dos delitos o mal que causam sociedade. No se deve tomar em considerao o intuito, que diferente de indivduo para indivduo e no se presta a entrar nas normas gerais de um cdigo; e to-pouco a considerao do pecado. O pecado diz 19
respeito relao entre o homem e Deus, ao passo que a nica base da justia humana a utilidade comum (1b., 24). A exigncia geral da legislao penal indicada por Beccaria no fim da obra. "Para que toda a pena no seja uma violncia de um ou de muitos contra um cidado particular, deve ser essencialmente pblica, imediata, a mnima possvel nas circunstncias dadas, proporcionada aos delitos e ditada pelas leis" (Ib., 42). Em face do escrito agora examinado, as outras obras de Beccaria tm escasso relevo. Nas Investigaes em torno da natureza do estilo (1770) utiliza pressupostos sensualistas. Distingue as ideias principais ou necessrias que asseguram a verdade de um juizo, das ideias acessrias destinadas apenas a aumentar a fora e a impresso do mesmo juizo. O estilo consiste na escolha e no uso das ideias acessrias. Tal escolha deve considerar sobretudo o interesse ligado s ideias, isto , sua relao com o prazer e com a dor. Beccaria vale-se aqui dos elementos da psicologia de Condillac. 503. ILUMINISMO ITALIANO: ROMAGNOSI. GiOIA A influncia de Condillac tambm evidente nos escritores do iluminismo italiano que abordaram o problema gnoseolgico. Giovanni Domenico Romagnosi (1761-1835) foi sobretudo um jurista, que seguiu as pisadas de Filangieri e de Beccaria. As questes com que deparou na sua cincia conduziram-no aos problemas gnoseolgicos, que procurou resolver no 20 sentido de um empirismo revisto e corrigido (Que a mente s?, 1827; Pontos de vista fundamentais sobre a arte da lgica, 1832). Romagnosi no considera possvel extrair da sensao todas as faculdades e conhecimentos humanos, como o fez Condillac. Na sensao no v mais do que uma simples modificao passiva, em relao qual a percepo Representa j um progresso, porquanto consiste na apropriao activa de um modo determinado e discernvel de sentir (Vedute, 1. 6). Nas percepes, na memria e bem assim na dvida, no juzo e em todos os actos da inteligncia actua, segundo Romagnosi, um poder concreto, simples, uniforme, imutvel, universal, que ele chama de sentido racional o que constitui a unidade de desenvolvimento do esprito humano desde o sentido e o instinto at razo inteiramente desenvolvida ou "razo dominante". As funes do sentido racional no so criadas espontaneamente pela alma, mas so sempre estimuladas por uma intuio externa e a ela associadas. Constituem a reaco que o nosso eu pensante ope aco das coisas exteriores (Que a mente s?, 10). O sentido lgico pois um produto natural e as suas leis so leis naturais, semelhantes s que determinam a aco de um espelho reflector (1b., 10). A lei fundamental da inteligncia a que estabelece a relao entre a aco do objecto e a reaco analtica do sentido lgico, relao da qual nasce a percepo do ser e da aco das coisas (b., 12). fcil notar o carcter naturalista e determinista desta concepo gnoseolgica. Alis, naturalismo e 21
determinismo dominam, tambm as concepes morais e polticas de Romagnosi. A sociedade vive e desenvolve-se segundo leis naturais e atravs de fases constantes, precisamente como o indivduo. A moralidade o conjunto das condies necessrias para que o homem viva em sociedade e persiga de harmonia com a sociedade os seus fins naturais que so a conservao, a felicidade e o aperfeioamento. Conquanto Romagnosi tenha conhecido (e criticado mal) a doutrina de Kant, a sua doutrina ainda est ligada orientao sensualista do iluminismo francs. Uma variante anloga do sensualismo de Condillac patenteia-se nas obras filosficas (Elementos de filosofia, 1818; Ideologia, 1882) de Melchiorre Gioia (1767-1828), mais benemrito pelos seus estudos sobre estatstica o pela defesa que fez da utilidade desta cincia para fins sociais. Gioia combate a tese de que os fenmenos da conscincia dependam apenas da aco dos sentidos. Se assim fosse, a inteligncia deveria ser proporcionada intensidade das sensaes, ao passo que a experincia nos mostra que esta no aumenta, mas sim, diminui, a energia das faculdades intelectuais. Uma fora independente dos sentidos necessria, no s para decompor, isto , para considerar separadamente as qualidades dos corpos e descobrir as suas relaes, mas tambm para decompor, isto , para dar lugar a produtos que no existem na natureza. Da mesma forma que no se pode confundir a madeira com o machado que a corta, tambm no se pode confundir a fora 22 intelectual com o material que os sentidos oferecem ao hornem (Ideologia, ed. 1822, 11, p. 175 sgs.). Deve recordar-se, uma vez que os seus manuais introduziram nas escolas italianas a fil, osofia de Locke e de Condillac, o Padre Francisco Soave, (1743-1816), professor da Universidade de Parma, quepermaneceu sempre, fiel filosofia de Condillac, que elo conheceu durante a estadia do filsofo francs na corte de Parma. NOTA BIBLIOGRFICA 500. Giannone, opere, Milo (Clssicos italianos), 1823.-Nicohni, Gli scritti e Ia fortuna li P. G., Bari, ID., Le teorie politiche di P. G., Npoles, 1915. Gliani, Della moneta, ed. Nicolini, Bari, 1915; Correspondance, ed. Perey e Maugras, 2 vol., Paris 1881; 11 pen~ro dellIab. G., ant. -a cargo de Nicolini, Bari, 1909. Genovesi, Sul vero fine delle lettere e delle scienze, 1753; De jure et officiis, 1764 (alm das ob. ctt. no texto). Fil-angieri, Seienza della legislazione, ed. P. VillIari, 2 vol., Florena, 1864. - S. COTTA, G. F. e il problema della legge, Turim, 1954. Pagano, Saggi politici, reimp., Calpolago, 1837; ed. Colletti, Wonha, 1936. 501. Pietro Verri, Op. filos, e di econ. politica, 4 vol., Milo, 1818; Opere varie, ao cuidado de N. VaJeri, vol. I, Florena, 1947. -
OTTOLINI, P. V. e suoi tempi, Palermo, 1921; N. VALERI, P. V., Milo, 1937. 502. Beccaria, Opere, 2 vol,. Milo (Clssicos ital,ianos), 1821; Seritii e lettere inedite, Milo, 1910; Opere seelte, ed. Mondolfo, Wonha, 1924. DE RuGGIERO, Il pensiero poltico meridionale nei sec. XVIII e XIX, Bari, 1922. 23 503. Romagnosi, Opere, ed. Marzucchi, 19 vGI., Florena, 1832-39; ed. De Giorgi, 8 vol. Milo, 1841-52. -A. NORSA, II pens. filos, di G. D. R., Milo, 1930; CABOARA, La ftl. del diritto di G. D. R. Citt di Castello, 1930; SOLARI, in "Riv. di Filos". 1932. Gioia, Del merito e delle ricompenze, 1818; Esercizio logico sugli errori di ideologia e di zoologia, 1823; Filosofia della statistica, 1822. Soave, Elementi di filos.; Istruzioni di logica, metalisica ed etica, Milo, 1831. G. CAPONE BRAGA; La fil. franc. e it. del 700, cit.. 24 XIV O ILUMINISMO ALEMO 504. ILUMINISMO ALEMO: WOLFF o iluminismo alemo deve a sua originalidade, relativamente ao ingls e ao francs, mais do que a novos problemas ou temas especulativos, forma lgica com que apresenta e trata tais temas e problemas. O ideal de uma razo que tem o direito de atacar, com as suas dvidas e os seus problemas, o mundo inteiro da realidade, transformado pelo iluminismo alemo num mtodo de anlise racional, a um tempo cauteloso e decidido, que avana demonstrando a legitimidade de cada passo e a possibilidade intrnseca dos conceitos de que se serve, o seu fundamento (Grund). este o mtodo da fundamentao que devia ser caracterstico da filosofia alem posterior e que alcanou o seu grande triunfo na obra de Kant. O fundador deste mtodo 25 foi Wolff que, sob este aspecto, o mximo representante do Iluminismo alemo. As obras de Wolff, to escrupulosas e pedantes na sua construo sistemtica, contrastam de maneira estranha com o carcter inspirado, genial e divertido dos escritos dos maiores iluministas ingleses e franceses. Mas a exigncia iluminista concretiza-se e incorpora-se precisamente na forma dessas obras, pois se trata do objectivo de uma razo que pretende justificar-se por si e reencontrar em si prpria, isto , no prprio procedimento analtico, o fundamento da sua validez. Christian Wolff nasceu em Breslau a 24 de Janeiro de 1679. Nomeado professor em Halle em 1706, foi destitudo em 1723,pelo rei Frederico Guilherme 1 a pedido dos seus colegas pietistas, Francke e Lange. O pietismo era uma corrente protestante, fundada em
fins de 1600 por Ph. J. Spencer (1635-1705), que insistia no carcter prtico e mstico do cristianismo e combatia as tendncias intelectualistas e teolgicas. O que escandalizou especialmente os colegas de Wolff foi o seu Discurso sobre a filosofia prtica dos Chineses, na qual, maneira dos iluministas franceses, punha Confucio entre os profetas, ao lado de Cristo. Subido ao trono Frederico H, Wolff foi restabelecido na sua ctedra de Halle (1740), onde ensinou at sua morte (1754). A obra de Wolff exerceu sobre toda a cultura alem uma influncia extraordinria. Num primeiro perodo, escreveu em alemo; posteriormente, em latim, pois queria falar como "preceptor de todo o gnero humano". Na realidade, a sua eficcia mais durvel foi a que demonstrou no domnio da 26 linguagem filosfica. Grande parte da terminologia filosfica, dos sculos XVIII e XIX e da que ainda hoje est em uso sofreu a influncia das definies e das distines wolfianas. As obras alems de Wolff so as seguintes: Pensamentos racionais sobre as foras do entendimento humano (1712); Pensamentos racionais sobre Deus, o mundo e a alma dos homens (1719); Pensamentos racionais sobre a aco humana (1720); Pensamentos racionais sobre a vida social dos homens (1721); Pensamentos racionais sobre as operaes da natureZa1723); Pensamentos racionais sobre a finalidade das coisas naturais (1724); Pensamentos racionais sobre as partes dos animais, dos animais e das plantas (1725). As suas obras latinas so: Philosophia rationalis sive Logica (1728); Philosophia prima sive Ontologia (1729); Cosmologia generalis (1731); Psychologia empirica (1723); Psychologia racionalis (1734); Theologia naturalis (1736-37); Philosophia practica universalis (173839); Jus naturae (1740-48); lus gentium (1749); Philosophia moralis (1750-53). O objectivo final da filosofia , segundo Wolff, iluminar o esprito humano de modo a tornar possvel ao homem o uso da actividade intelectual na qual consiste a sua felicidade. A filosofia tem, portanto, uma finalidade prtica, que a felicidade humana; mas s se pode atingir esta finalidade atravs de um conhecimento claro e distinto. Tal objectivo no poder ser atingido se no existir a "liberdade filosfica" que consiste na possibilidade de manifestar publicamente o que se pensa sobre as questes filosficas (Lgica, 151). Sem liberdade filosfica, 27 no possvel o progresso do saber, j que ento "cada um obrigado a defender como verdadeiras as opinies comummente transmitidas, mesmo se lhes parecem falsas" (1b., 169). Wolff aceita e perfilha, a exigncia iluminista da liberdade e interpreta-a como libertao da tradio. A filosofia "a cincia das coisas possveis enquanto tais" assim como das "razes pelas quais as coisas possveis se realizam", entendendo-se por "possvel" o que no implica contradio. As regras do mtodo filosfico devem pois ser idnticas, segundo Wolff, s do mtodo matemtico. "No mtodo filosfico, diz Wolff, no h necessidade de fazer uso de termos que no se tenham tornado claros atravs de uma definio exacta, nem se pode admitir como verdadeiro algo que no tenha sido suficientemente demonstrado; nas proposies, cumpro determinar com igual cuidado o sujeito e o predicado e tudo deve ser ordenado de modo a que sejam premissas aquelas coisas em virtude das quais as seguintes so compreendidas e justificadas" (lb., 139).
Wolff divide a filosofia em conformidade com as actividades fundamentais do esprito humano e, uma vez que tais actividades so substancialmente duas, o conhecer e o querer, assim os dois ramos fundamentais da filosofia so a filosofia teortica ou metafsica e a filosofia prtica. Ambas pressupem a lgica como sua propedutica. A metafsica dividese, por sua vez, nos seguintes ramos: ontologia, que concerne a todos os objectos em geral, enquanto existem; psicologia, que tem por objecto a alma, cosmologia, que tem por objecto o 28 mundo e teologia racional, que tem por objecto a existncia e os atributos de Deus. Na lgica, Wolff considera como princpio supremo o princpio de contradio, que no apenas uma lei do pensamento mas tambm de todo o objecto possvel. Em conformidade com o princpio de contradio, os conceitos podem ser utilizados s nos limites do que contm e os juzos s so verdadeiros na medida em que fazem a anlise dos seus sujeitos. Wolff no exclui no entanto a experincia, que nas cincias naturais se deve aliar ao raciocnio e que mesmo nas cincias racionais deve ser utilizada para formar as definies empricas das coisas. Contudo, sobre tais definies podem-se fundamentar apenas demonstraes provveis, no necessrias; e tais demonstraes assumem na obra de Wolff uma grande importncia. A par das proposies necessrias, cujo contrrio impossvel, Wolff coloca as proposies contingentes (as verdades de facto de Leibniz) cuja negao no implica contradio. A ontologia, ou filosofia prima, a cincia do ser em geral, isto , do ente enquanto . O seu objecto o de demonstrar as determinaes que pertencem a todos os entes, seja absolutamente, seja sob determinadas condies (Ontologia, 8). Baseia-se em dois princpios fundamentais que so o princpio de contradio e o princpio de razo suficiente: por razo suficiente entende-se "aquilo que nos faz compreender a razo por que algo acontece" (1b., 56). Com algumas modificaes que a actualizam, encontra lugar no tratado de Wolff toda 29 a metafisica arstotlico-escolstica, que ele de facto declara querer resgatar do desprezo que se lhe votou depois de Descartes. Isto quer dizer que os conceitos; centrais da ontologia so para ele os de substncia e de causa. Todavia, pode notar-se a tentativa de apoi-los numa certa base emprica. Assim Wolff afirma que as determinaes de uma coisa que no resultam de outra e no derivam uma da outra constituem a essncia da coisa mesma (1b., 143, 144). A substncia o sujeito, duradouro e modificvel, dos atributos essenciais e dos modos variveis de tais atributos (lb., 770). Toda a substncia dotada de uma fora que produz as mudanas dela: mudanas que so as suas aces e tm o seu fundamento na essncia da substncia (1b., 776). Na cosmologia, Wolff considera o mundo como um relgio ou mquina em que nada
sucede por acaso e que por isso depende de uma ordem necessria. Dado que esta ordem necessria foi produzida por Deus e , portanto, perfeita, impossvel que Deus mesmo intervenha para a suspender ou mudar, assim o milagre posto de parte. Wolff divide a psicologia em emprica e racional. A primeira considera a alma tal como ela se manifesta no corpo e emprega o mtodo experimental das cincias naturais. A segunda considera a alma humana em geral, elimina, segundo o procedimento cartesiano do cogito, a dvida sobre a existncia da alma mesma e estuda as duas faculdades fundamentais, o conhecer e o agir. Wolff exclui a reduo da substncia corporal substncia espiritual, operada por Leibniz mediante o conceito de mnada. A alma 30 no est desde o princpio unida ao corpo, mas foi. lhe agregada de fora, ou seja, por Deus. Sobre as relaes entre alma e corpo, Wolff admite a doutrina da harmonia preestabelecida, mas torna-a independente da vontade de Deus admitindo que cada alma v o mundo apenas dentro dos limites dos seus rgos corporais e segundo as mutaes que se verificam na sua sensibilidade. Na teologia, que Wolff chama natural (ou racional, contrapondo-a fundada sobre a revelao sobrenatural, Wolff d o mximo valor ao argumento cosmolgico da existncia de Deus, aceita o ontolgico, e exclui o teolgico. Na realidade, a ordem do mundo para ele a ordem de uma mquina e a finalidade das coisas no intrnseca s coisas mesmas, mas sim extrnseca e devida aco de Deus. Wolff remonta aos atributos da essncia divina mediante uma reflexo sobre a alma humana. E quanto aos problemas da teodiceia, serve-se sistematicamente das solues de Leibniz. Na filosofia prtica mantm-se a diviso aristotlica de tica, economia e poltica. A sua tica, completamente diversa da de Leibniz, deduzida do seu racionalismo. As normas da tica teriam valor mesmo que Deus no existisse, porque o bem bem por si mesmo, e no pelo querer de Deus. Tais normas deduzem-se do Em mesmo do homem, que a perfeio, e reduzem-se a uma nica mxima: "Faz o que contribui para a tua perfeio, a da tua condio e do teu prximo, e no faas o contrrio". Para a perfeio do homem contribui tudo o que conforme sua natureza, e por isso tambm o 31 prazer que Wolff define como a percepo de uma real ou suposta perfeio. O conceito da perfeio funda-se no pressuposto da possibilidade do progresso do homem individual e da sociedade: progresso que Wolff de facto considera necessrio e que se realizar medida que a sociedade se organizar de modo a tornar possvel que cada um dos seus membros trabalhe para o aperfeioamento dos outros. . O sistema de Wolff costuma ser designado como leibniziano-wolffiano. Na realidade, apresenta caractersticas, bastante distintas do de Leibniz. Em primeiro lugar, nega o conceito de mnada, como substncia espiritual que constitui tanto a matria como o esprito; deste modo, abandona-se o conceito dominante de Leibniz, o de uma ordem universal e livre, fundada na 'escolha do melhor. A ordem do mundo para Wolff a de uma mquina, sendo por isso necessria e no admitindo liberdade de escolha. Da deriva ainda uma terceira diferena que a negao da finalidade interna das coisas: estas so, decerto, teis, porque se prestam a ser utilizadas para o aperfeioamento do homem, mas no esto intrinsecamente constitudas para tal fim. Neste ponto est bastante mais prximo de um
Diderot ou de um Voltaire do que de um Leibmiz. Mas tambm se afasta , de Leibniz pela renncia em estabelecer um acordo entre a filosofia e a religio revelada, acordo que Leibniz procurou por todos os meios realizar, conformemente ao seu princpio de harmonia universal. No sistema de Wolff s existem dois pontos verdadeiramente leibnizianos: 1.o a doutrina da harmonia universal, que, no entanto, se limita 32 WOLFF relao entre alma e corpo e interpretada naturalisticamente; 2.a as justificaes da teodiceia. O esprito do iluminismo prevalece na doutrina de Wolff sobre a inspirao leibniziana. 505. PRECURSORES DO ILUMINISMO ALEMO Podem considerar-se precursores do Iluminismo alguns pensadores contemporneos de Leibniz que preanunciam alguns dos temas desse movimento Assim o holands Walther de Tschirnhaus (1651 _1708), que foi matemtico e fsico, alm de autor de um livro de lgica intitulado Medicina mentis sive artis inveniendi praecepta generalia (1687). Este livro pretende ser uma espcie de introduo investigao cientfica e prescreve as regras que ela deve seguir. A origem de todos os conhecimentos a experincia, mas a experincia entendida no sentido caracterstico, como conscincia interior. Esta revela-nos quatro factos fundamentais que podem servir para a descoberta de todo o saber: 1.* Somos conscientes de ns mesmos como de uma realidade distinta, este, facto, que nos conduz ao conceito do esprito, o fundamento de todo o conhecimento. 2.' Temos conscincia de que somos movidos por algumas coisas que nos interessam e por outras que no nos interessam. Deste facto deduzimos os conceitos de vontade, conhecimento, bem e mal, e, por. conscincia de poder compreender algumas coisas e,. por consequncia, o fundamento da tica. 3.O Temos, 33 conscincia de poder compreender algumas coisas t no poder compreender outras. Mediante este facto alcanamos o conceito de entendimento, a distino entre o verdadeiro e o falso, e, portanto, o fundamento das cincias racionais. 4.' Sabemos que, atravs dos sentidos, a imaginao e o sentimento formam uma imagem dos objectos externos. Neste facto @c fundam o conceito dos corpos e as cincias naturais. Tschirnhaus est convencido de que estes factos da experincia interior, se forem adoptados como princpios gerais de deduo e desenvolvidos sistematicamente, podem conduzir aquisio de um mtodo til verdade em todas as cincias. Por outras palavras, partilha o ideal de uma cincia universal, tal como o entendia Leibniz, com o qual manteve relaes pessoais. No campo da filosofia do direito notvel a obra de Samuel Pufendorf (1632-94), De iure naturae et gentium libri octo (1672), que a justificao do absolutismo esclarecido. O direito natural nasce, segundo Pufendorf, em primeiro lugar do amor-prprio que compele o homem sua conservao e ao seu bemestar; e, segundo lugar, do estado de indigncia a que a natureza reduz o homem. Uma vez que o homem por natureza um ser racional, o direito natural a resposta que a razo
humana d ao problema posto ao homem pelo amor-prprio e pela inteligncia: e o seu princpio pode ser formulado da seguinte maneira. "Cada qual, na medida das suas possibilidades, deve promover e manter com os seus semelhantes um estado pacfico de socialismo, 34 conforme em geral ndole e finalidade do gnero humano (De iure, H, 3, 10). Consequentemente, devem considerar-se impostas pelo direito natural todas as aces necessrias para promover tal sociabilidade e proibidas as que a estorvam ou a dissolvam. Pela necessidade da sociabilidade o homem conduzido a estabelecer convenes o pactos de que nascem em primeiro, lugar a propriedade e o Estado e, em seguida, os sucessivos desenvolvimentos e as sucessivas determinaes destas duas instituies fundamentais. Nas ideias de Pufendorf se inspira outro jusnaturalista, Christian Thomas (Thomas ius) (1655-1728), autor dos Fundamenta iuris naturae et gentium ex sensu commun deducta (1705). Nesta obra Thomasius v os fundamentos da vida moral e social na prpria natureza humana e, precisamente, nas suas trs tendncias fundamentais; a de viver o maior nmero de anos o do modo mais feliz possvel, a de evitar a morte o a dor, e a tendncia propriedade e ao domnio. Sobre estas trs tendncias se fundam respectivamente o direito, a poltica e a tica. O direito, fundado na primeira tendncia, visa conservao de uma ordem pacfica entre os homem. A poltica, fundada na segunda tendncia, visa a promover esta ordem pacfica por meio de aces que visem esse fim. A tica, fundada na terceira tendncia, visa aquisio da paz interior dos indivduos. Em Thomasius patenteiam-se j as tendncias iluministas. Ele afirma resolutamente que a filosofia se funda na razo e tem como escopo Somente o 35 bem-estar terreno dos homens, enquanto a teologia, que se funda na revelao, visa ao bem-estar celeste. Ademais, v-se claramente no seu pensamento a independncia da esfera do direito em relao esfera teolgica. 506. O ILUMINISMO WOLFFIANO Depois de Wolf, os problemas filosficos foram tratados na Alemanha de uma maneira mais ou menos conforme com as solues que este filsofo lhe dera, mas sempre conformemente ao mtodo que elo empregara. A filosofia wolffiana dominou durante largo tempo nas universidades germnicas; mas no muitos dos seus representantes conservaram um autntico interesse histrico. Entre os menos servis adeptos de Wolff conta-se Martin Knutzen (1713-51) que foi professor em Conisberga e mestre de Kant. autor de um Systema causarum efficientium, no qual substitui a doutrina do influxo fsico entre os corpos pela da harmonia preestabelecida, clarificando e levando ao seu termo uma tendncia que era j evidente no sistema de Wolff. Entre os adversrios de Wolff, o mais notvel Christian August Crusius (1715-75). No seu Esquema das verdades de razes necessrias (1745) Crusius combate o optimismo e o determinismo. Nega que o mundo seja o melhor de todos os mundos possveis e que nele domine uma ordem necessria (como queria Wolff) ou uma harmonia preestabelecida
(como queria Leibniz). Crusius critica tambm, noutro 36 escrito, o princpio de razo suficiente, ao qual contrape como lei fundamental do pensamento que o que no pode ser pensado falso e o que no pode ser pensado como falso verdadeiro. Maior relevo tem a personalidade de Joo Henrique Lambert (1728-77), que manteve com Kant uma importante correspondncia e que, alm de filsofo, foi matemtico e astrnomo. A sua primeira obra filosfica o Novo rgo (1764), dividido em quatro partes. A primeira, Dianoiologia, estuda as leis formais do pensamento; a segunda, Aletiologia, estuda os elementos simples do conhecimento; a terceira, Semitica, aborda as relaes das expresses lingusticas com o pensamento; e a quarta, Fenomenologia, as fontes dos erros. Enquanto a dianoiologia reproduz substancialmente a lgica formal de Wolff, a aletiologia a parte mais original da obra de Lambert. Esta parte uma espcie de anlise dos conceitos, que tem por fim chegar aos conceitos mais simples e indefinveis. Os conceitos simples so por natureza no contraditrios, porquanto carecem de multiplicidade interna. A sua possibilidade consiste, portanto, na sua imediata "pensabilidade". S so conhecidos atravs da experincia, mas so independentes dela porque a sua possibilidade no emprica, e neste sentido so a priori. Aos conceitos simples pertencem: solidez, existncia, durao, extenso, fora, conscincia, vontade, mobilidade, unidade, e bem assim as qualidades sensveis, luzes, cores, sons, ete. O problema que nasce do reconhecimento dos conceitos simples o da sua possvel combinao. Assim como a geometria, combinando 37 os pontos, as linhas, as figuras, constitui todo o seu sistema, tambm deve ser possvel construir, mediante a combinao dos conceitos simples, todo e qualquer sistema de conhecimento. Bastar encontrar os princpios e os postulados que exprimem (como acontece na geometria) as relaes existentes entre os elementos simples. O conjunto destes postulados constituiria o que Lambert chama o "reino da verdade" a que pertenceriam a aritmtica, a geometria, a cronometra, a foronomia (doutrina das leis do movimento), e todas as cincias possveis. A Semitica, terceira parte do Novo rgo, a investigao das condies que tornam possvel exprimir por palavras e sinais o reino da verdade. A outra obra de Lambert, Arquitectnica ou teoria dos elementos simples e primitivos no conhecimento filosfico e matemtico (1771), apresenta um problema que foi na mesma altura tratado por Kant: o da passagem do mundo do possvel ao mundo real, do que simplesmente pensvel, enquanto isento de contradio, ao que existe. Lambert observa que se o problema da lgica o de distinguir o verdadeiro do falso, o problema da metafisica. o de distinguir a verdade do sonho. Ora, o que pensvel, no existe necessariamente. A metafisica deve juntar demonstrao da pensabilidade, a demonstrao da existncia real, sem a qual se reduz a um sonho (Arquit., 43). Ora, os elementos objectivos do saber s podem ser procurados, segundo Lambert, "nos slidos e nas foras" pois s eles constituem "algo categoricamente [real" e s eles, portanto, podem constituir a base de um juzo sobre a existncia 38 (1b., 297). Porm, as foras no se deixam alcanar e aprisionar pela pura lgica, mas to-s pela sensibilidade (1b., 374), de maneira que s a experincia pode conferir o
carcter de (realidade aos nossos conhecimentos. Ora, a experincia d-nos apenas confirmaes parciais dos sistemas cognitivos que constituem o reino da verdade. Isto no implica a garantia de uma correspondncia constante entre este reino e a realidade mesma. Tal garantia, segundo Lambert, s Deus a pode dar. "0 reino da verdade lgica, sem a verdade metafsica que se radica nas coisas mesmas, seria um puro sonho, e sem a existncia de um suppositum intelligens, no s seria um s,3nho, como no existiria de facto. Assim se chega ao princpio de que h uma verdade necessria, eterna e imutvel, do qual se infere que deve haver um terno e imutvel suppositum intelligens e que o objecto desta verdade, isto , o slido e a fora, tm uma necessria possibilidade de existir" (1b., 29). Deus , assim, a garantia de toda a verdade: s ele garante a relao entre o mundo lgico e o mundo real, e, por consequncia, a objectividade real do pensamento. Apesar da garantia metafsica a que Lambert recorre, a sua doutrina um claro apelo experincia como fundamento de todo o conhecimento vlido. E igualmente apelam para a experincia as investigaes psicolgicas de Joo Nicolau Tetens (1736-1807). A obra principal de Tetens intitula-se Investigao filosfica sobre a natureza humana e o seu desenvolvimento (1776-77), e dominada pela necessidade de conciliar o ponto de vista do empirismo 39 ingls, que reduzira a vida psquica ao conjunto dos elementos empricos, com o ponto de vista de Leibniz que insistira no seu carcter activo e dinmico. Esta preocupao condu-lo bastante prximo da soluo que Kant dar ao problema: o reconhecimento de funes a priori que dominam e formam a matria sensvel. Com efeito, Tetens considera as representaes originrias como a matria das representaes derivadas. A alma tem o poder de escolh-las, de as dividir e separar umas das outras para depois de novo misturar, punir e compor os fragmentos e as partes assim obtidas. Esta capacidade activa revela-se sobretudo no poder criativo da poesia, que semelhante fora criadora da natureza corprea que, embora no crie novos elementos, produz sempre novos corpos mediante a mistura das partculas elementares da matria mesma (Philow. Vers., 11, 1, 24). As anlises empricas daqueles que Tetens chama "novos investigadores", como Locke e Condillac, Bonnet e Hume, no podem explicar as funes do esprito, aquelas que do origem, por exemplo, poesia e geometria, nas quais h algo que transcende o puro dado da experincia. Os princpios da cincia natural, como o da inrcia, da igualdade entre aco e reaco, e todos os outros, tm uma certeza que no procede da observao dos factos empricos dos quais foram extrados. "Existem sem dvida sensaes que proporcionam a descoberta de tais princpios, mas estes s se alcanam atravs de um raciocnio, de uma actividade autnoma do entendimento, pela qual foi produzida cada (relao de ideias... Estes pensamentos universais so pensamen40 tos verdadeiros, anteriores a toda a experincia. No os apreendemos atravs da abstraco nem possvel que um exerccio repetido amide haja ocasionado tais conexes de ideias" (1b., 11, 1, p. 320 sgs.). Os empiristas ingleses e franceses consideraram sobretudo os produtos mais simples do esprito; Tetens considera, pelo contrrio, os mais elevados. A geometria, a ptica, a astronomia, estas obras do esprito humano, estas indubitveis provas da sua grandeza, so conhecimentos slidos e reais. Com que regra fundamental construiu a razo humana estes prodigiosos edifcios? Onde pode encontrar-
se o terreno o como podem sair de simples experincias, as ideias e os princpios fundamentais que constituem os fundamentos indestrutveis de obras to altas? precisamente aqui que se deve demonstrar na sua mxima energia a fora do pensamento (Ib., 11, 1, p. 427 sgs.). O problema aqui equacionado nos mesmos termos em que ser retomado por Kant na Crtica da razo pura. Tetens conduziu-o at ao ponto em que era possvel no plano da pura anlise empirista, no qual se movia. Kant, retomando-o, lev4o- ao plano da anlise transcendental. Mas j na anlise de Tetens comeam a delinear-se "o encontro e os Emites do entendimento humano". Poder ser o entendimento, humano a norma da realidade em geral? "Poderemos porventura afirmar que outras Maes universais objectivas no so pensveis por outros espritos, dos quais no temos ideia alguma como no a temos de um sexto sentido e da quarta dimenso?" (1b., 11, 1, p. 328 sgs.). A pergunta de Tetens implica j uma resposta negativa; e desta 41 resposta negativa parte Kant para estabelecer a sua distino entre fenmeno e nmeno. 507. ILUMINISMO ALEMO: BAUMGARTEN O mais notvel dos seguidores de Wolff foi Alexander Gottfried Baumgarten (1714-62), autor de uma Metaphysica (1739) que compendia. em 1.000 pargrafos a filosofia wolffiana e foi adoptado por Kant como manual para as suas lies universitrias. Mas a sua fama devida sobretudo Aesthetica (1750-58), que o converteu no fundador da esttica germnica e num dos mais eminentes representantes da esttica do sculo XVIII. O prprio termo de esttica foi introduzido por Baumgarten. A metafsica definida por Baumgarten como a "cincia das qualidades das coisas, cognoscveis sem a f". Antepe metafsica a teoria do conhecimento que ele foi o primeiro a designar pelo termo de gnoseologia. Esta divide-se em duas partes fundamentais: a esttica, que tem por objecto o conhecimento sensvel, e a lgica, que trata do conhecimento intelectual. A originalidade de Baumgarten reside no relevo que ele deu ao conhecimento sensvel, o qual no por ele considerado Somente como grau preparatrio e subordinado do conhecimento intelectual, mas tambm, e sobretudo, como dotado de um valor intrnseco, diverso e independente do do conhecimento lgico. Este valor intrnseco o valor potico. Os resultados fundamentais da esttica de Baumgarten so substancialmente dois: ].' O reconhecimento do 42 valor autnomo da poesia e, em geral, da actividade esttica, isto , de um valor que no se reduz verdade que prpria do conhecimento lgico. 2.' O reconhecimento do valor de uma atitude ou de uma actividade humana que era considerada inferior e, portanto, a possibilidade de uma mais completa valorao do homem na sua totalidade. Foi devido a este segundo ponto que Baumgarten se tomou num dos mais notveis representantes do esprito do Iluminismo. A esttica definida por Baumgarten como a "cincia do conhecimento sensvel" e tambm considerada como "teoria das artes
liberais, gnoseologia inferior, arte de bem pensar, arte do anlogo da razo, Aest., 1). O fim da esttica "a perfeio do conhecimento sensvel enquanto tal" e esta perfeio a beleza (Ib., 14). Por isso no pertencem ao domnio da esttica, quer aquelas perfeies do conhecimento sensvel que esto to ocultas que permanecem sempre obscuras para ns, quer as que no podemos conhecer seno por meio do entendimento. O domnio da esttica tem um limite inferior representado pelo conhecimento sensvel obscuro e um limite superior representado pelo conhecimento lgico distinto; a ele pertencem apenas as representaes claras mas confusas. A beleza, como perfeio do conhecimento sensvel, universal, mas de uma universalidade diversa do conhecimento lgico, porque abstrai da ordem e dos sinais e realiza uma forma de unificao puramente fenomnica. A beleza das coisas e dos pensamentos distinta da beleza da conscincia e da beleza dos objectos e da matria. As coisas feias podem ser pensadas 43 de uma maneira bela e as coisas belas podem ser pensadas de uma maneira feia (1b., 18). Baumgarten cr que a facndia, a grandeza, a verdade, a clareza, a certeza e, numa palavra, a vida do conhecimento, podem contribuir para formar a beleza desde que se reunam numa nica percepo fenomnica e sejam, por assim dizer, presentes e vivas no seu conjunto (1b., 22). Neste sentido, o conhecimento esttico um "anlogo da razo; assim, no devem ser-lhe necessariamente estranhos os caracteres que so prprios do conhecimento racional; mas, para constituir uma obra de beleza, estes caracteres devem estar presentes em sua vida total e serem, precisamente na sua totalidade, intudos como um fenmeno. Requer-se para isso uma disposio natural, com que se nasce, e que s pelo exerccio se pode desenvolver e manter, disposio que Baumgarten chama engenho beloconatural (ingetdum venustum connatum, 29). Requer-se outrossim, para se obter um feliz carcter esttico, o mpeto esttico, isto , a inspirao ou o entusiasmo (1b., 78); e, alm disso, a disciplina da investigao e do estudo (Ib., 97). Estas determinaes esclarecem * que Baumgarten pretende dizer quando define * beleza como o fim do conhecimento sensvel. Enquanto no domnio da investigao cientfica o elemento sensvel o ensejo ou o meio para atingir o conceito, na esttica o elemento sensvel ele mesmo o fim da investigao que tende a individu-lo e a aperfeio-lo no seu puro valor fenomnico. O principio de que a beleza determinada pela atitude mediante a qual a aparncia 44 se converte no verdadeiro fim de si prpria, iria inspirar e dirigir a Crtica do Juzo de Kant. Mas ao mesmo tempo este princpio permite conferir, conformemente ao esprito do iluminismo, uma nova dignidade a aspectos da vida humana que, na poca precedente, estavam condenados a uma irremedivel inferioridade. Alguns crticos da poca, e outros mais recentes, tinham chegado a acusar Baumgarten de ter relegado a faculdade do belo para o domnio das faculdades inferiores, pelo que quase no valia a pena desej-la; e um historiador da esttica alem, Lotze, afirmou que "a esttica alem comea com o manifesto desprezo pela sua prpria matria". Na realidade, porm, Baumgarten respondeu antecipadamente a tais objeces. No prefcio do seu primeiro ensaio, Meditaes filosficas sobre argumentos
concernentes poesia (1735), defendera a dignidade e o valor das suas investigaes sobre um tema "por muitos considerado ligeiro e muito pouco prprio do engenho de um filsofo". Mas nos "Prolegmenos" da Esttica a sua defesa converte-se na defesa de uma parte ou de um aspecto fundamental do homem ao afirmar decididamente que "o filsofo um homem entre os homens e no pode crer verdadeiramente que uma parte to grande do conhecimento humano lhe seja estranha" (1b., 6). objeco de que o conhecimento distinto (isto , racional) superior ao esttico, responde que " num esprito finito isso verdadeiro apenas nas coisas de maior importncia (lb., 8); e observao de que as faculdades inferiores devem ser antes dominadas que estimuladas e 45 fortalecidas, contrape ele que "se requer domnio sobre as faculdades, mas no a tirania" (Ib., 12). Desta maneira, a defesa da esttica como cincia autnoma coincide, na obra de Baumgarten, com a defesa da dignidade e do valor de uma atitude humana fundamental. 508. ILUMINISMO ALEMO: O ILUMINISMO RELIGIOSO O carcter peculiar do Iluminismo alemo, conforme se apresenta em Wolff e nos filsofos wolffianos (includo Baumgarten), para. os quais a razo se identifica com o mtodo analtico da fundamentao, explicado algumas vezes como resultante do carcter alemo. Esta uma explicao digna da metafsica escolstica, porquanto recorre a uma qualidade oculta. Ademais, uma explicao falsa no terreno dos factos, porque o iluminismo alemo encontrou tambm expresso numa literatura gil e popular, semelhante francesa. E esta literatura no tem menos valor do que a outra, dado que entre os seus cultores figura Lessing. Esta segunda corrente do iluminismo alemo discutiu principalmente o problema religioso e, tal corno as expresses anlogas do iluminismo ingls e francs, est dominada pelo desmo, que encontrou alguns dos seus defensores entre os prprios pietistas. O primeiro defensor declarado do desmo foi Hermann Samuel Reimarus (1694-1678), autor de um Tratado das principais verdades da religio natural (1754), cuja tese fundamental a de que 46 o nico milagre de Deus a criao. So impossveis ulteriores milagres porque seriam correces ou mutaes de uma obra que, por ter sado das mos de Deus, deve considerar-se perfeita. Deus no pode querer seno a imutvel conservao do mundo na sua totalidade. Se os milagres so impossveis, tambm impossvel uma revelao sobrenatural que seria ela mesma um milagre. E conquanto a religio no deva ser negada, deve fundar-se unicamente no conhecimento natural. A religio natural deve cortar as pontes com a religio revelada porque a verdade no deve contemporizar com o erro e a verdade est s do lado da religio natural. Na sua Defesa ou apologia de um racional adorador de Deus e noutros escritos e fragmentos publicados postumamente, Reimarus extraji e defende todas as consequncias do desmo com um vigor que nada fica a dever aos seus colegas ingleses e franceses e ainda com maior rigor lgico do que eles.
Afirma explicitamente a falsidade de toda a revelao, includa a do Velho e do Novo Testamento. "S a religio natural verdadeira, ora, a religio bblica est em contradio com a religio natural; portanto, falsa". Com este simples silogismo Reimarus rejeita em bloco to-do o ensino da tradio. "S o livro da natureza, criao de Deus, o espelho no qual todos os homens, cultos ou incultos, brbaros ou gregos, judeus ou cristos, de todos os lugares e de todos os tempos, podem reconhecer-se a si mesmos". Os temas filosficos e religiosos do iluminismo foram expostos e defendidos de uma maneira simples 47 e popular por Moiss Mendelssohn (1729-86), que foi amigo pessoal de Lessing e manteve correspond ncia com Kant. Os seus escritos principais so: Cartas sobre as sensaes (1755); Consideraes sobre, a origem e relaes das belas artes e das cincias (1757); Tratado sobre a evidncia das cincias metafsicas (1764); Fdon 'ou sobre a imortalidade da alma (1767); Jerusalm ou sobre o poder religioso e o judasmo (1783); Aurora ou sobre a existncia de Deus (1785). O pensamento de Mendelssohn rene' eclticamente a gnoseologia empirista de Locke, o ideal tico de perfeio de Wolff e o pantesmo de Espinosa. Assim como Reimarus condena em bloco toda a revelao, tambm Mendelssohn condena em bloco todas as igrejas e todo o poder eclesistico. A religiosidade existe, tal como a moral, nos sentimentos e pensamentos ntimos do homem, mas os pensamentos e sentimentos ntimos no se deixam coagir por forma alguma de poder jurdico. Toda a organizao jurdica supe uma imposio; e a religio escapa por natureza a qualquer imposio. A tese principal da obra Jerusalm ou sobre o poder religioso e o judasmo, a de que sobre os fundamentos da moral e da religio no se pode erguer nenhuma forma de direito eclesistico e que um tal direito existe apenas em detrimento da, religio. Da que o estado deva defender a mais absoluta, liberdade de conscincia, quer dizer, preciso que a igreja e a religio percam todo o poder poltico e sejam completamente separadas do estado. Mendelssohn tambm contrrio ao ideal da unificao religiosa propagado por Leibniz, j que a 48 LESSING unificao religiosa supe um smbolo ou uma frmula a que se reconhea validez jurdica e que por isso se impe com a fora do poder poltico. Ela conduziria limitao ou negao da liberdade de conscincia. Mendelssohn v realizado o seu ideal de religio natural na religio de Israel; nesta no h nenhum direito eclesistico, nenhum credo obrigatrio nem nenhuma revelao divina das crenas fundamentais, as quais pelo contrrio assentam no conhecimento natural. O nico objectivo da revelao judaica foi o de dar uma legislao prtica e normas de vida. No Fdon, Mendelssohn procura actualizar o dilogo platnico, desfiando a trama das demonstraes em favor da imortalidade que se encontram nessa obra e acrescentando-lhe uma sua; a alma tende por si ao aperfeioamento indefinido; Deus teve portanto de cri-la imortal, pois, de contrrio, tal tendncia, por ele prprio criada, no chegaria a realizar-se. Mas se Mendelssohn admite o progresso do homem para a perfeio, recusa-se a admitir o progresso de todo o gnero humano, em que o seu amigo Lessing insistia. "0 progresso, diz ele em Jerusalm, s para os homens individuais. Que tambm o todo, a humanidade
inteira deva no curso dos tempos progredir e aperfeioar-se, no me parece que tenha sido esse o escopo daprovidncia divina". Em Aurora, defende o pantesmo espinosano, considerando-o concilivel com a religio e a moral. Nas Cartas sobre as sensaes e nas Consideraes sobre as belas artes, aceita a dou49 de Bau~en e considera a beleza como ~manifestao confusa" ou "representao sensvel Perfeita". 509. ILUMINISMO ALEMO: LESSING A mais genial figura do Iluminismo alemo Gottfreid Efraim. Lessing (22 de Janeiro de 1729 - 15 de Fevereiro de 1781). Lessing representou poeticamente nos seus dramas o ideal de vida do iluminismo; estudou a natureza da poesia e da arte, especialmente a poesia e a arte clssica (Laocoonte, 1766; Dramaturgia de Hamburgo, 1767-69); debateu amplamente o problema religioso numa srie de escritos breves e fragmentrios, mas extremamente eficazes, o ltimo e mais importante dos quais A educao do gnero humano (1780). O seu pensamento, que a princpio girava em tomo das ideias wolfianas e do desmo, orientou-se, numa segunda fase, atravs da leitura de Shaftesbury, para Espinosa. Jacobi, nas suas Cartas sobre a doutrina de Espinosa a Moiss Mendelssohn (1785), referiu, depois da morte de Lessing, as palavras que, segundo consta, pronunciou pouco antes de morrer e que so provavelmente autnticas: "Os conceitos ortodoxos da divindade j no so para mim; no consigo gostar deles. En kai Pan! Nada mais sei." O Uno4odo, a imanncia de Deus no mundo como o esprito da sua harmonia, da sua unidade-tal foi a ltima convico de Lessing. Mas foi uma convico que para ele no se restringe, como Espinosa, s ao mundo natural: estende-se ao mundo 50 da histria, como o demonstra o seu escrito sobre a educao do gnero humano. Este escrito marca uma fase extraordinariamente significativa da elaborao que o conceito de histria sofreu no iluminismo. A ela chegou Lessing aps longas investigaes, cujas primeiras fontes se podem reencontrar em Wolff. O conceito de Wolff de que toda a actividade humana dirigida para a perfeio, permite ver em todos os aspectos do homem um aperfeioamento incessante que lhes d um novo significado. E assim Lessing, num escrito de 1778 (Eine Duplik), atribui o valor do homem, mais do que verdade alcanada, ao esforo paira alcan-la, esforo que pe em movimento todas as suas foras e revela toda a perfeio de que capaz. E nesta ocasio faz a clebre afirmao: "Se Deus tivesse na sua mo direita toda a verdade e na esquerda apenas a tendncia para a verdade com a condio de errar eternamente perdido e me dissesse: - Escolhe -, eu precipitar-me-ia com humildade para a sua mo esquerda e diria: Senhor, escolhi; a pura verdade s para ti". Em que consiste propriamente o valor desta tendncia eterna, que o quinho de cada homem e a lei da histria, foi o problema que ocupou longamente Lessing e que foi debatido em todos os seus
escritos teolgicos. Leibniz distingue as verdades de razo, universais e necessrias, das verdades de facto, particulares e contingentes. Lessing parte precisamente desta distino para se perguntar a qual das duas espcies de verdade pertencem as verdades religiosas. Estas assentam sempre em factos particulares como o milagre e a revelao; como podem tais factos particulares constituir o fundamento de verdades eternas e universais, como so as que a religio ensina? "Todos ns cremos, diz Lessing (Ueber den Beweis des Geistes und Kraft, Werke, ed. Matthias, H, p. 139), que tenha existido um Alexandre que em breve tempo conquistou toda a sia. Mas quem arriscaria nesta crena algo de grande e capital importncia, cuja perda no pudesse ser reparada? Quem abjuraria para sempre, para seguir tal crena, todo o conhecimento que a contradissesse? Eu no, decerto." Os milagres do cristianismo ocorridos h muitos sculos, so paira ns simples notcias que nada tm de miraculoso; mas ainda que admitssemos como verdadeiras tais notcias, ser que delas deriva a verdade eterna do cristianismo? Que relao tem a nossa incapacidade de rebater qualquer objeco fundada no testemunho bblico com a obrigao de crer nalguma coisa a que a razo repugna. Mesmo se se admite que Cristo tenha ressuscitado, dever-se- por isso admitir que o Cristo ressuscitado seja filho de Deus? Lessing considera impossvel "passar de uma verdade histrica para uma classe totalmente diferente de verdades e pretender que eu modifique por este preo todos os meus conceitos metafsicos e morais." Constitui de algum modo uma resposta a estas dvidas e interrogaes o escrito intitulado Educao do gnero humano. O conceito fundamental desta obra que a revelao educao. Com efeito, na educao, cada homem aprende dos outros o que a sua razo 52 ainda no capaz de entender. O que ele aprende no todavia contrrio razo, s que no pode ser captado e entendido plenamente pela sua razo ainda dbil e pueril. Ora, a histria da humanidade tem um desenvolvimento idntico ao do indivduo. A humanidade foi educada atravs da revelao, a qual lhe comunica aquelas verdades que ela ainda no capaz de entender, enquanto no se torne capaz de as alcanar e possuir de maneira autnoma, Deste ponto de vista, a prpria revelao historiciza-se, j que no incide num ponto nico da histria mas acompanha todo o curso dela, anunciando e antecipando os desenvolvimentos autnomos da razo. Assim como a natureza uma contnua criao, assim tambm a religio uma contnua revelao. Toda a religio positiva um grau desta revelao, que compreende em si mesma todas as religies e as unifica no curso da sua histria progressiva. A coincidncia total da revelao com a razo, da religio positiva com a religio natural, o ltimo termo a que a humanidade destinada pela divina providncia. Dado que a religio crist a mais elevada religio positiva, os seus dogmas - a encarnao, a trindade, a redeno- transformar-se-o finalmente em verdades de razo; e a "razo do cristianismo" dilucidar-se- por ltimo volvendo-se "o cristianismo da razo". ,Esta doutrina de Lessing que esclarece em sentido religioso e especulativo a ideia da histria como
53 imagem progressiva, que o iluminismo elaborou, iria ter a mais ampla ressonncia no perodo romntico. No domnio da esttica, Lessing permanece substancialmente fiel concepo aristotlica, cujas regras considera to infalveis como os elementos de Euclides (Hamburgische Dramartugie). No Laocoonte prope-se pr a claro a diferena entre pintura e poesia. A primeira emprega formas e cores no espao e pode exprimir apenas objectos que coexistem ou cujas partes coexistam. A poesia usa sons articulados no tempo e dessa maneira exprime objectos sucessivos ou cujas partes so sucessivas. Ora, os objectos que coexistem ou cujas partes so sucessivas chamam-se aces: os corpos e as suas qualidades visveis so, portanto, os objectos da pintura, enquanto as aces so os objectos prprios da poesia. Mas as regras fundamentais da poesia e da pintura so idnticas porque ambas so artes imitativas. "A pintura nas suas composies coexistentes pode utilizar apenas um nico momento da aco e deve por isso escolher o mais significativo, pelo qual se torna mais compreensvel o que o antecede e o que se lhe segue. De igual modo a poesia nas suas imitaes sucessivas pode utilizar apenas uma nica propriedade dos corpos e deve por isso escolher a que suscite a imagem mais sensvel do corpo segundo o ponto de vista por que o considera. Daqui se tira a regra da unidade dos adjectivos pictricos e da economia na representao dos objectos corpreos" (Laoc., ap., 4). A diviso entre poesia 54 e pintura no todavia absoluta. A pintura pode representar tambm movimentos indicando-os mediante corpos; e a poesia pode representar tambm corpos indicando-os mediante movimentos. A regra aristotlica da unidade domina a esttica de Lessing. NOTA BIBLIOGRFICA 504. Os escritos alemes de Wolff tiveram vrias edies, alm da primeira, cuja data vem indicada no texto. As obras latinas (ttulos e datas indicados no texto) constituem um "corpus" de 23 vol., in-4.1, Francofort, Leipzig, 17.36. Nova edio fotocopiada, Hildesheim, 1962, sgs.-M. CAmpo, C. W. e il razionalismo pre-critico, Milo, 1939, com bibl.; F. BARONE, Logica formale e logica trascendentale, I, Turim, 1957, pp. 83-119. K. FiSCHER, Geschichte der neuern PhiZosiphie, III, Leibniz, 4.1 ed., Heidelberg, 1902, p. 627 %gs. Sobre o Iluminismo alemo: E. ZELLER, Geschichte de-r deutschen Philos. seit Leibniz, 2.1 ed. Mnehen, 1875; Cassirer, Das ErkenntnissprobTem, cit., II, Berlim, 1922. 505. Sobre Tschirnhaus: G. RADETTI, Cartesianismo e spinozismo nel pensiero di E. W, v. T., Roma,
1939. Sobre Pufendorf: P. MEYER, S. P., Grinuna, 1895; E. WOLFF, Grosse Rechtsdenker der deutschen Geistesgeschichte, Tbingen, 1939. Sobre Thomasius A. NICOLADONI, C. T., Berlini, 1888. 506. Knutzen, Dissertatio metaphysica de aeternitate mundi imposstbili, Knigsberg, 1733; Commen5,5 tatio Philosophka de commercio mentis e corporis, Knigsberg, 1735; COmmentaU0 phi;osQVhica de hun~ae mentis ndividua natura sive immate@ialitate, Knigsberg, 1741, Elementa philosophiae rationaZis seu logicae cum generalis tUm sPecia7is mathematica methodo demonstrata. 56 XV KANT 510. KANT: A VIDA A orientao crtica que O empirismo ingls havia iniciado, reconhecendo e assinalando razo os limites do mundo humano, e que o iluminismo havia feito sua, torna-se na obra de Kant uma viragem decisiva da histria da filosofia. A construo de uma filosofia essencialmente crtica, na qual a razo humana, levada ante o tribunal de si prpria, delimita de modo autnomo os seus confins e as suas possibilidades efectivas, tal o objectivo prprio de Kant. Este objectivo por isso o de um racionalismo que se prope, em primeiro lugar, a elaborao do prprio conceito de razo. Kant identifica este racionalismo com o iluminismo; e na realidade o conceito da razo que ele alcana est na linha daquela elaborao que comeara com Hobbes e 57 que o iluminismo aceitara de Locke: isto , na linha que v na razo um rgo autnomo e eficaz para guia da conduta humana no mundo mas no uma actividade infinita e omnipotente que no tenha limites nem condies. Manuel Kant nasceu, de famlia originria da Esccia, em Knigsberg, a 12 de Abril de 1724. Foi educado no esprito religioso do pietismo, no Collegium Fridericianum, do qual era director Francisco Alberto Schultz, a mais notvel personalidade do pietismo naquele perodo. Ao sair do colgio (1740), Kant estudou filosofia, matemtica e teologia na Universidade de Knigsberg, onde teve como mestre Martin KnutZen. que o encaminhou para os estudos de matemtica, de filosofia e da fsica newtoniana. Depois dos estudos universitrios, foi perceptor nalgumas casas patrcias. Em 1755, com a dissertao Principiorum primorum cognltionis tnetaphysicae nova dilucidatio obteve a docncia livre na Universidade de Knigsberg e durante quinze anos desenvolveu na Unversidade os seus cursos livres sobre vrias disciplinas. Em 1766 tornou-se bibliotecrio de Schlssbibliothek de Knigsberg; e s em 1770 foi nomeado
professor ordinrio de lgica e metafsica naquela Universidade. Kant exerceu este cargo at sua morte, cumprindo com grande escrpulo todos os seus deveres 'acadmicos, mesmo quando devido debilidade senil se lhe tornaram extremamente penosos. Herder, que foi seu aluno nos anos 1762-1774, deixou-nos dele esta imagem (Briefe zur Mefrderung 'der Htmattt, 49): "Tive a felicidade de conhecer um 58 filsofo que foi meu mestre. Nos anos juvenis, tinha a alegre vivacidade de um jovem e esta creio eu que nunca o abandonou nem mesmo na mais avanada velhice. A sua fronte aberta, feita para o pensamento, ora a sede de uma imperturbvel serenidade e alegria; o discurso mais rico de pensamento fluia dos seus lbios; tinha sempre pronta a ironia, a argcia e o humorismo e a sua lio erudita oferecia o andamento mais divertido. Com o mesmo esprito com que examinava Leibniz, Wolff, Baumgarten, Crusius, Hume e seguia as leis naturais descobertas por Newton, por Kepler e pelos fsicos, acolhia tambm os escritos que ento a-pareceram de Rousseau, o seu Emlio e a sua Helosa, como qualquer outra descoberta natural que viesse a conhecer: valorizava tudo e reconduzia tudo a um conhecimento sem preconceitos da natureza e ao valor moral dos homens. A histria dos homens, dos povos e da natureza, a doutrina da natureza, a matemtica e a experincia eram as fontes que davam vida sua lio e sua conversao. Nada que fosse digno de ser conhecido lhe era indiferente; nenhuma cabala, nenhuma seita, nenhum preconceito, nenhum nome soberbo, tinha para ele o menor apreo frente ao incremento e ao esclarecimento da verdade. Encorajava e obrigava docemente a pensar por si; o despotismo era estranho ao seu esprito. Este homem, que nomeio com a mxima gratido e venerao, Manuel Kant: a sua imagem est sempre diante dos meus olhos." A vida de Kant carece de acontecimentos dramticos e de paixes, com poucos afectos e amizades 59 inteiramente concentrada num esforo contnuo de pensamento. Todavia Kant no foi alheio aos acontecimentos polticos do seu tempo. Simpatizou com os americanos na sua guerra da independncia e com os franceses na sua revoluo que considerava encaminhada para a realizao do ideal da liberdade poltica. O seu ideal poltico, tal qual o delineou na obra Pela Paz Perptua (1795), era uma constituio republicana " fundada, em primeiro lugar, no princpio de liberdade dos membros de uma sociedade, como homens; em segundo lugar, sobre o princpio de independncia de todos, como sbditos; em terceiro lugar, sobre a lei da igualdade como cidados." O nico episdio notvel da sua vida foi o conflito em que se encontrou com o governo prussiano depois da publicao da segunda edio (1794) da Religio nos Limites da Razo. O rei Frederico Guilherme 11, sucessor de Frederico o Grande, restringira em 1788 a liberdade de imprensa, submetendo a censura prvia as publicaes de carcter religioso. Apesar de a obra de Kant ter sido vista pela censura, a 14 de Outubro de 1794 o filsofo recebia uma carta do rei assinada pelo ministro WlIner na qual se afirmava que as ideias contidas naquele escrito estavam em contradio com pontos fundamentais da Bblia e do cristianismo e se proibia a Kant ensin-las ulteriormente sob pena de graves sanes. Na sua resposta, Kant, embora rejeitando a acusao, prometia ater-se proibio "como sbdito de Sua Majestade": frase com a qual entendia limitar a sua promessa durao da vida do rei.
60 E de facto, com a subida ao trono de Frederico Guilherme HI (1797) e a demisso do ministro Wllner, a liberdade de imprensa foi restaurada e Kant podia, no Conflito das Faculdades (1798), reivindicar a liberdade de pensamento e de palavra contra as arbitrariedades do despotismo, mesmo a respeito da religio. Todavia, no leccionou mais cursos sobre filosofia da religio. Nos ltimos anos Kant caiu numa debilidade senil que o privou gradualmente de todas as suas faculdades. Depois de 1798 no pde mais continuar os seus cursos universitrios. Nos ltimos meses perdia a memria e a palavra. E assim este homem que vivera para o pensamento, morreu mumificado a 12 de Fevereiro de 1804. 511. KANT: OS ESCRITOS DO PRIMEIRO PERIODO Na actividade literria de Kant podem distinguir-se trs perodos. No primeiro, que vai at 1760, prevalece o interesse pelas cincias naturais. No segundo perodo, que vai at, 1781 (ano em que, foi publicada a Crtica da Razo Pura), prevalece o interesse filosfico e determina-se a orientao para o empirismo ingls e o critiCismo. O terceiro perodo, de 1781 em diante, ' o da filosofia transcendental. O primeiro perodo comea com um escrito que Kant comps quando era ainda estudante e publicou em 1746, Pensamentos sobre o Verdadeiro Valor 61 das Foras Vivas. Seguidamente, publicou uma Investigao sobre a Questo da Causa da Variao da Terra no seu Movimento em torno do Eixo (1754) e um outro em torno da questo Se a Terra envelhece (1754). De 1755 a obra principal deste perodo Histria Natural Universal e Teoria dos Cus. O escrito, que apareceu annimo, descreve a formao de todo o sistema csmico a partir de uma nebulosa primitiva em conformidade com as leis da fsica newtoniana. Divide-se em trs partes: na primeira descreve-se a formao das estrelas fixas e explica-se a multiplicidade dos sistemas estelares. Na segunda, descreve-se o estado primitivo da natureza, a formao dos corpos celestes, a causa dos seus movimentos e das suas relaes sistemticas, tanto no que se refere constituio dos planetas como no que se refere a todo o universo. Na terceira parte estudam-se as analogias dos planetas para fazer um confronto entre os habitantes dos diferentes planetas. A hiptese desenvolve-se de modo puramente mecnico: a matria primitiva tem j em si mesma a lei que deve conduzi-la organizao dos mundos e revela portanto uma certa ordem que permite reconhecer a marca do seu criador. -0 escrito de Kant foi pouco conhecido. Em 1761 Lambert, nas suas Cartas Cosmolgicas, formulava uma doutrina anloga; e em 1796 Laplace, na
Exposio do Sistema do Mundo, chegava a uma hiptese semelhante kantiana relativamente formao do sistema solar. Estas analogias explicam-se observando que a hiptese fora sugerida, a Kant como aos outros, pela histria Natural de Buffon. 62 Em 1755 Kant publicava outra investigao fsica, De Igne; e no mesmo ano a dissertao para a docncia livre Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio, na qual se reconhece e se reduz tambm a este ltimo o princpio da razo suficiente que Kant com Crusius chama princpio de razo determinante. Em 1756 apareceram: trs escritos de Kant sobre os Terramotos, um sobre a Teoria dos Ventos e a Monadologia Fsica. Neste ltimo, em lugar das mnadas leibnizianas, Kant fala em mnadas fsicas, corpos simples que ocupam uma quantidade mnima de espao. O espao de mnada defendido pela sua esfera de actividade que impede as mnadas que a rodeiam de aproximar-se mais (Prop. 6). A impenetrabilidade dos corpos defendida pela fora de atraco e repulso (Ib., 10). Em 1757, Kant publicava o Projecto de uni Colgio de Geografia Fsica com outras observaes sobre os ventos. Em 1759, imprimia um ensaio sobre Movimento e Repouso e o escrito sobre o 0~ismo. Neste discute a questo que Voltaire havia tratado no Poema sobre o Terramoto de Lisboa, mas resolve-a a favor do optimismo radical. Pretende-se colocar-se no ponto de vista de quem considera o mundo na sua absoluta totalidade e, precisamente deste ponto de vista, afirma que Deus no teria podido escolher outro melhor. O pressuposto de uma viso total e exaustiva de todo o universo tal que se explica que Kant tenha repudiado seguidamente o, escrito 63 (como testemunha o seu contemporneo Borowski, Leben KantS, p. 58), o qual termina com uma espcie de canto lrico de exaltao do mundo e dos homens. 512. KANT: OS ESCRITOS DO SEGUNDO PERODO Neste perodo que assinala a preponderncia decisiva no pensamento de Kant dos interesses filosficos, comeam a delinear-se temas e movimentos que confluiro no criticismo. Num grupo de quatro escritos compostos entre 1762-1764, Kant chega a concluses que lhe serviro como ponto de partida e de referncia dos seus escritos crticos. No escrito A Falsa Subtileza das quatro Figuras Silogsticas (1726), critica o valor da lgica aristotlica-escolstica, comparando-a com um colosso "que tem a cabea nas nuvens da antiguidade e cujos ps so de argila". A lgica deveria ter como fim no complicar as coisas, mas aclar-las; no descobri-las, mas exp-las claramente. No nico Argumento Possvel para uma Demonstrao da Existncia de Deus (1763), Kant chama metafsica " um abismo sem fundo", um "oceano tenebroso sem margem e sem faris"; e diz que h ocasies em que se atreve a explicar tudo e a demonstrar tudo; e outras, pelo contrrio, s com temor e desconfiana se aventura em semelhantes empresas. "0 escrito parte da distino clara da existncia dos outros predicados ou determinaes
das coisas. Os predicados ou determinaes so 64 posies relativas de um quid, isto caracteres de uma coisa; a existncia a posio absoluta da coisa em si prpria. Por isso no existente no h mais qualidades ou caracteres que no simples possvel; aquilo que h a mais a posio absoluta. O princpio de contradio a condio formal da possibilidade; mas a possibilidade intrnseca das coisas supe sempre uma existncia qualquer porque, se no existisse nenhuma de facto, nada seria pensvel e possvel (1, 2). Desta, considerao tira Kant a sua demonstrao da existncia de Deus que uma reedio do velho argumento a contigentia mundi. Todas as outras demonstraes so reduzidas por Kant a esta, inclusive a prova ontolgica de Descartes. Numa Investigao sobre o Conceito das Grandezas Negativas (1763), na qual Kant procura utilizar na filosofia os conceitos e os processos da matemtica, refora-se a distino entre o domnio do pensamento lgico e o da realidade a propsito da diferena que h entre a contraposio lgica e a contraposio real. As Observaes sobre o Sentimento do Belo e do Sublime (1764) procuram distinguir do ponto de vista psicolgico o sublime do belo, na medida em que o primeiro comove e exalta e o segundo atrai e arrebata. A influncia de Shaftesbury evidente no escrito em que se estabelece como fundamento da moral "o sentimento da beleza e da dignidade da natureza humana". Na primavera de 1764 apareceu a investigao sobre a Clareza dos Princpios da Teologia Natural e da Moral em resposta ao tema de um concurso aberto pela Academia de Berlim: "Se as verdades 65 metafsicas podem ter a mesma evidncia que as das matemticas, e qual a natureza da sua certeza", A metafisica definida no escrito como "nada mais que uma filosofia sobre os primeiros fundamentos do nosso conhecimento". Kant um decidido defensor da aplicao do mtodo matemtico filosofia; mas v tambm as diferenas que existem entre uma e outra disciplina. As matemticas do definies, sintticas, a filosofia analticas; a matemtica considera O Universal em concreto, a filosofia em abstracto. Na matemtica existem poucos conceitos no expressos e princpios no demonstrados, na filosofia existem muitos. O objecto das matemticas fcil e simples, o da filosofia difcil e complexo. "A metafsica sem dvida o mais difcil de todos os conhecimentos humanos; por isso ela no foi ainda escrita". Contudo, a certeza da metafsica deve ser da mesma natureza da das matemticas; e a filosofia pode realizar esta certeza com o mesmo procedimento, isto com a anlise da experincia o com a reduo dos fenmenos a regras e a leis. S que, enquanto a matemtica parte das definies, a filosofia chega ao fim quando alcanou o
esclarecimento dos dados sensveis. Por outras palavras, a filosofia deve fazer seu, segundo Kant, o mtodo que Newton empregou nas cincias naturais. Deste mtodo, o prprio Kant deu uma amostra na ltima parte da obra, destinada a ilustrar os fundamentos da teologia natural e da moral. Dado que a existncia um conceito emprico, deve existir alguma coisa sem a qual nada possvel e nada pode ser pensado: isto um ser necessrio. Pelo que respeita moral, detm-se a 66 considerar sobretudo o conceito de obrigao. Este conceito no lhe parece provado pela doutrina de Wolff que estabelece como fim da aco moral a perfeio. O bem identifica-se com a necessidade moral, por isso o conhecimento nada diz sobre a sua natureza que , em contrapartida, revelada, pelo simples "sentimento moral". Kant alude explicitamente s anlises de Hutcheson; e assim o escrito demonstra uma nova orientao do seu pensamento que se dirige para as anlises do empirismo ingls. Esta orientao ainda mais clara na Notcia sobre a Orientao das suas Lies, de 1765. necessrio no j aprender filosofia, mas aprender a filosofar: o mtodo do ensino filosfico, deve ser o da investigao. As indagaes de Shaftesbury, Hutcheson e Hume, ainda que incompletas e defeituosas, mostram na realidade o verdadeiro mtodo que torna possvel aproximar-se da natureza dos homens e descobrir, no Somente o que so, mas o que devem ser. -0 afastamento do dogmatismo da escola wolfiana neste ponto decisivo; e coincide com a adeso ao esprito de investigao e ao empirismo dos filsofos ingleses. O documento mais significativo deste afastamento o escrito de 1765, Sonhos de um Visionrio Esclarecidos com os Sonhos da Metafsica. As razes que moldaram este escrito foram as vises msticas e espiritstas do sueco Manuel Swedenborg (1688-1772); e uma stira burlesca destas vises e das doutrinas que lhos servem de, fundamento. A metafsica de Wolff e de Crusius comparada s vises fantsticas de Swodenborg porque tambm aquele 67 1 se encerra no seu prprio mundo, que exclui o acordo com os demais homens. "Frente aos arquitectos dos diferentes mundos ideais que se movem no ar, dos quais cada um ocupa tranquilamente o seu, com excluso dos outros, situandose um deles na ordem das coisas que Wolff construiu com poucos materiais de experincia mas com muitos conceitos sub-reptcios, e o outro, que Crusius produziu do nada com a fora mgica de algumas palavras como "pensvel" e " impensvel", ns, ante o contraditrio das suas vises, aguardaremos pacientemente at que estes senhores hajam sado do seu sonho" (1, 3). Frente inutilidade deste sonhar acordado, Kant considera que a metafsica deve em primeiro lugar considerar as prprias foras e por isso "conhecer se o objectivo
est em proporo com aquilo que se pode saber e que relao tem esta questo com os conceitos da experincia, sobre os quais devem apoiar-se todos os nossos juzos". A metafsica a cincia dos limites da razo humana; para ela, como para um pequeno pas, importa mais conhecer bem e manter as suas prprias possesses que ir s cegas em busca de conquistas (H, 2). Os problemas que a metafisica. deve tratar so os que preocupam o homem e que portanto, se encerram nos confins da experincia. vo crer que a sabedoria e a vida moral dependem de certas metafsicas. No pode dizer-se honesto aquele que se abandona aos vcios se no for ameaado com um pena futura. portanto mais conforme com a natureza humana fundar a espera do mundo futuro no sentimento de 68 numa alma bem nascida, que fundar, pelo contrrio, o seu bem obrar sobre a esperana no outro mundo. Na sua simplicidade, a f moral a nica que se conforma com o homem em qualquer condio (H, 3). Nesta obra existem j os fundamentos da orientao crtica. No breve ensaio Sobre o Primeiro Fundamento da Distino das Regies do Espao (1768), Kant faz ver como as posies recprocas das partes da matria supem j as determinaes espaciais o que, por conseguinte, o conceito do espao algo originrio, se bem que no seja puramente ideal, mas tenha sempre em si uma realidade qualquer. Estas so as consideraes que levam Kant a formular a doutrina da Dissertao de 1770. Do ano 1769, que ocorre entro este escrito e a Dissertao, o prprio Kant disse: "0 ano de 69 trouxe-me uma grande luz". Efectivamente, a dissertao & mundi sensibilis atque intelligbilis forma et principUs, que Kant apresentou para a nomeao como professor titular de lgica e metafisica, em 1770, assinala a soluo crtica, do problema do espao e, do tempo. Kant comea por estabelecer a distino entre conhecimento sensvel e conhecimento intelectual. A primeira, que devida receptividade (ou passividade) do sujeito, tem como objecto o fenmeno, isto a coisa tal como aparece na sua relao com sujeito. A segunda, que uma faculdade do sujeito, tem como objecto as coisas tais como so, na sua natureza inteligvel, isto como nmeno ( 3). No conhecimento sensvel deve distinguir-se a matria da forma. A matria a sensao, que uma 69 modificao do rgo do sentido, e por isso testemunha. a presena do objecto pelo qual causada. A fornia a lei, independentemente da sensibilidade, que ordena a matria sensvel. O conhecimento sensvel, anterior ao uso do entendimento lgico, chama-se aparncia; e o conhecimento reflexivo que nasce da comparao, feita pelo entendimento, de mltiplas aparncias, chama-se experincia. Da aparncia experincia vai-se, portanto, atravs da reflexo que se serve do entendimento. Os objectos da experincia so os fenmenos ( 5). A forma, isto a lei; que contm o fundamento do nexo universal do mundo sensvel, constituda pelo
espao e pelo tempo. Tempo e espao no derivam da sensibilidade que os pressupe e no so to-pouco conceitos gerais e comuns que tenham as coisas singulares sob si. So, pois, intuies, mas intuies que precedem todo o conhecimento sensvel e so independentes dele, portanto puras ( 14, 3; 15, c). Por isso no so realidades objectivas, mas unicamente condies subjectivas e necessrias mente humana para coordenar por si, em virtude de uma lei, todos os dados sensveis. Com efeito, o tempo torna possvel intuir a sucesso e a contemporaneidade e coordenar, segundo estes dois modos--- todos os objectos sensveis. O espao permite intuir os fenmenos num nexo universal, isto , como partes de um todo cujas leis e princpios so os da geometria. - Estes esclarecimentos sobre o conhecimento sensvel permaneam quase imutveis na Crtica da Razo Pura Quanto ao conhecimento intelectual, Kant distingue nele um uso real e um 70 uso lgico. O uso real aquele pelo qual os conceitos das coisas e das suas relaes so dados; o uso lgico aquele pelo qual os conceitos dados so subordinados uns aos outros e unificados entre si segundo o princpio de contradio ( 5). Kant insiste no facto de que o uso lgico do entendimento no elimina o carcter sensvel dos conhecimentos que devido sua origem. Mesmo as leis mais gerais so sensveis e os princpios da geometria no saem dos limites da sensibilidade. Pelo contrrio, na metafsica, no se encontram princpios empricos, os seus princpios so inerentes prpria natureza do entendimento puro, porquanto no so inatos,' mas abstrados das leis inerentes mente e, por isso, adquiridos ( 8). O conhecimento intelectual no dispe de uma intuio apropriada pela qual a mente possa ver os seus objectos imediatamente, isto , singularmente. Este unicamente um conhecimento simblico e obtm-se por meio do raciocnio, isto por meio dos conceitos gerais. "0 conceito inteligvel, enquanto tal, carece de todos os dados da intuio humana. Com efeito, a intuio da nossa mente sempre passiva; e por isso possvel Somente enquanto algo pode excitar os nossos sentidos. A intuio divina, em contrapartida, que o princpio dos objectos, em vez de ser causada por eles, independente dos mesmos, o arqutipo dos objectos e , por isso, perfeitamente intelectual> ( 10)_ Pelo que respeita aos princpios a priori do conhecimento intelectual, Kant repete substancialmente, nesta dissertao, quanto tinha dito j na nica demonstrao. Uma totalidade de substn71 cias unidas entre si pela relao de causa e efeito uma totalidade de substncias contingentes porque o que necessrio no pode depender de nada. E uma totalidade de substncias contingentes deve a sua unidade dependncia comum de um nico ente necessrio ( 20). Todavia, tambm nesta parte ainda dogmtica do seu tratado, Kant introduz uma exigncia critica. Na metafisica, a diferena de todas as outras cincias, o mtodo no pode ser fornecido pelo uso, mas deve ser determinado independentemente e antes do prprio uso. Este mtodo deve assumir como sua regra fundamental esta: os princpios do conhecimento sensvel no devem transpor os seus limites e invadir o campo dos conceitos intelectuais ( 24).'Ura conceito sensvel a condio sem a qual no possvel o conhecimento sensvel do prprio conceito. No pode por isso estender-se para qualificar ou determinar uma realidade no sensvel. Assim no se pode dizer, por exemplo: "Tudo aquilo que existe, est em algum lugar", porque o conceito de lugar conceito sensvel que condiciona o conhecimento" sensvel, no o conhecimento intelectual que mais extenso. Pode-se dizer em contrapartida: "Tudo o que est era algum lugar
existe", porque o conceito de existncia um conceito intelectivo que condiciona quer o conhecimento sensvel quer o intelectual. Conformemente a este princpio, Kant aplica-se na ltima parte (a V) da Dissertao a esclarecer algumas falcias que nascem precisamente da extenso dos conceitos sensveis para l do seu campo. Mas imediatamente este princpio, que deveria servir-lhe para dar ao conheci72 mento intelectual liberdade de movimento frente ao conhecimento sensvel, usado por ele como princpio limitativo do prprio conhecimento intelectual. Diz ele: "Tudo aquilo que no pode ser conhecido por intuio no pode ser pensado absolutamente, portanto impossvel. E dado que no podemos, com nenhum esforo da mente nem mesmo com a imaginao, alcanar outra intuio seno aquela que se tem segundo a forma do espao e do tempo, resulta que consideramos impossvel toda a intuio que no esteja ligada a' estas regras (exceptuando aquela intuio pura e intelectual que no est submetida lei do tempo, como a intuio divina, a que Plato chama ideia) e, por isso, submetemos todos os possveis aos axiomas sensveis do espao o do tempo" ( 25). Assim a preocupao de - salvar de qualquer modo a metafsica dogmtica leva Kant a formular o prprio princpio que na Crtica da Razo Pura devia servir-lhe para destruir toda a metafsica dogmtica. 513. KANT: OS ESCRITOS DO PERIODO CRITICO Nos dez anos que se seguiram publicao da Dissertao, Kant andou lenta e intensamente elaborando a sua filosofia crtica. Neste tempo publicou muito poucas coisas e nada que dissesse respeito aos temas da sua meditao: uma recenso de uma obra de anatomia, (1711), um artigo sobre raas 73 humanas (1775), dois artigos pedaggicos sobre o "Philant.hropin" de Basodow (1777); nada mais. A Crtica da Razo Pura apareceu em 1781. Nesta obra Kant (como ele prprio escrevia a Moiss Mendelssohn a 16 de Agosto) levou a cabo "o fruto de uma meditao de doze anos em quatro ou cinco meses, quase em voo, pondo assim a mxima ateno no contedo mas com pouco cuidado na forma em tudo quanto necessrio para ser facilmente compreendido pelo leitor". As cartas a Marco Herz do algumas notcias sobre a gnese e os progressos da obra. A 7 de Junho de 1771 escrevia Kant: "Estou agora a trabalhar numa obra a qual, sob o ttulo de Os Limites da Sensibilidade e da Razo, no s deve tratar dos conceitos e das leis fundamentais que concernem ao mundo sensvel, mas deve ser tambm um esboo do que constitui a natureza da doutrina do gosto, da metafsica e da moral. "0 tema fundamental das trs Crticas estava assim j claro na mente de Kant, mas este tema devia depois cindirse e articular-se no decurso do trabalho. Numa carta de 21 de Fevereiro de 1772, Kant aponta o ttulo definitivo da sua obra. "Estou agora em condies de propor uma Crtica da Razo Pura que trata da natureza do conhecimento quer teortica quer prtica, enquanto
puramente intelectual. Da primeira parte que trata primeiramente das fontes da metafsica, do seu mtodo e dos seus limites, e depois dos princpios puros da moralidade, publicarei aquilo que se refere ao primeiro argumento em cerca de trs meses." A doutrina do gosto est j separada 74 na mente de Kant da metafsica e da moral que, no entanto, se mantinham ainda unidas. Todavia, Kant s cumpre a sua promessa cerca de nove anos depois. Cartas sucessivas a Herz justificam os seus atrasos com a dificuldade e a novidade do argumento e a necessidade de alcanar, antes de completar urna parte da sua obra, uma viso de conjunto de todo o sistema de que faz parte. E assim s no dia 1.* de Maio de 1781 Kant podia anunciar ao amigo a prxima publicao da Crtica da Razo pura que de facto apareceu naquele ano. A segunda edio surgiu em 1787 e contm importantes modificaes e adies com respeito primeira, sobretudo no que se refere parte central e mais difcil da obra, a deduo transcendental. As diferenas entre as duas edies e a preferncia outorgada primeira por estudiosos e historiadores (a comear por Schopenhauer) um dos motivos da diversidade das interpretaes que tm sido dadas ao kantismo. Por outra parte, o prprio valor das diferenas est sujeito a discusso, A Crtica da Razo Pura abre a srie das grandes obras de Kant. Em 1783 saam os Prolegmenos para toda a Metafsica Futura que se apresenta como Cincia, exposio mais breve e em forma popular da mesma doutrina da Crtica. Seguiram-se: Fundamentao da Metafisica dos Costumes (1785); Crtica do Juzo (1790); A Religio dentro dos Limites da Simples Razo (1793); A Metafsica dos Costumes (1797) que contm, na primeira parte, os "Fundamentos Metafsicos da Doutrina do Direito"; e na segunda parte os "Fundamentos Metafsicos da 75 Doutrina da Virtude"; Antropologia do Ponto de Vista Pragmtico (1798). No prefcio desta ltima obra, Kant distingue a antropologia pragmtica da fisiolgica: esta ltima destina-se a determinar qual a natureza do homem enquanto a antropologia pragmtica estuda o homem tal como ele mesmo se faz em virtude da sua vontade livre. Nos mesmos anos em que apareciam as suas obras fundamentais, Kant publicava artigos, opsculos, recenses crticas e esclarecimentos do seu pensamento em pontos particulares. Em 1782 publicava uma breve Notcia da edio de J. Bernoulli do Epistolrio de Lambert; e uma Notcia para os Mdicos que trata da epidemia da gripe. Em 1783 publicava uma Recenso da obra de SchuIz, Para a Doutrina Moral. Em 1784 publicava dois ensaios: Ideias para uma Histria Universal do Ponto de Vista Cosmopolita; e Resposta Pergunta: que o Iluminismo?
Em 1785 apareceram: uma Recenso do escrito de Herder, Ideias sobre a Filosofia da Histria para a Humanidade; e trs breves ensaios: sobre Vulces da Lua; sobre a Ilegitimidade da Falsificao de Imprensa; Caracteres do Conceito de uma Raa Humana. Em 1786 publicava Kant um ensaio Conjectura sobre o Comeo da Histria Humana; uma recenso da obra de Hufeland, Princpios do Direito Natural; um outro ensaio intitulado: Que significa orientar-se no Pensar? com que intervm na polmica sobre o pantesmo entre Jacobi e Mendelssohn; 76 algumas Observaes sobre o escrito de Jakob, Exame da Aurora de Mendelssohn; e uma obra mais importante, Princpios Metafsicos da Cincia Natural. Em 1788 apareceu o artigo Sobre o uso dos Princpios Teolgicos na Filosofia e um breve ensaio sobre um escrito de A. H. Urich, Eleuteriologia. Pertence provvelmente ao mesmo ano o discurso De medicina corporis quae philosophorum est. Em 1790 apareceu o pequeno escrito Sobre o Fanatismo,- um opsculo Sobre uma Descoberta segundo a qual toda a Nova Crtica da Razo deve ser feita atravs de uma Velha e no Necessria Crtica,- um artigo de resposta e, de recenso a trs escritos de Kstner. de 1791 um artigo Sobre a Falta de Toda a Investigao Filosfica em Teodiceia. Aos anos 1788-91 pertencem tambm sete pequenos escritos comunicados por Kant ao Prof. Kiesewetter (1.', Resposta pergunta: uma experincia que pensamos?; 2.', Sobre o milagre; 3.', Refutao do idealismo problemtico; 4.', Sobre a Providncia particular; 5.', Sobre a orao; 6.O, sobre o momento da velocidade no instante inicial da queda; 7.O, Sobre o significado formal e material de algumas palavras). Em 1793 Kant escreveu e deixou incompleta uma resposta ao tema do concurso da Academia de Berlim: "Quais so os progressos reais que a metafisica fez desde o tempo de Leibniz e Wolff?" (publicada por F. T. Rink em 1804). E publicou um artigo sobre o dito comum Aquilo que vale em Teoria no vale na Prtca. 77 Em 1794 publicou dois artigos Sob a Influncia da Lua sobre o Clima; O fim de todas as Coisas. Em 1795 apareceu o escrito Para a Paz Perptua que exprime o pensamento poltico de Kant. E no mesmo ano foram publicadas algumas observaes em apndice ao escrito de Soemmering, Sobre o rgo da Alma. Em 1796 Kant publicava alguns artigos polmicos: Sobre o tom nobre da Filosofia, recentemente exaltado, no qual a propsito de um escrito de J. G. Schlosser critica o apelo para a intuio intelectual e para o sentimento mstico; um artigo de resposta s crticas de J. A. H. Reimarus contra as afirmaes matemticas contidas no escrito precedente: Composio de uma Polmica
Matemtica Fundada num Malentendido, e um artigo de rplica resposta de SchIosser, Anncio da Prxima Concluso de um Tratado para a Paz Perptua em Filosofia. Em 1797 apareceu um artigo dirigido contra uma afirmao de Benjamim Constant: Sobre o Presumvel Direito de Mentir por Amor dos Homens. Em 1798 Kant escrevia um artigo Sobre o Poder do Sentimento, que voltou a publicar no mesmo ano, formando a terceira parte do Conflito das Faculdades. Ao mesmo ano pertencem tambm duas cartas Sobre a Impresso de Livros, dirigidas contra as crticas que F. Nicolai dirigira contra a sua filosofia. Em 1799, em resposta afirmao contida numa recenso da Doutrina da Cincia de Fichte, Kant publicava um Esclarecimento no qual definia a 78 doutrina de Fichte como "um sistema absolutamente insustentvel". Em 1800, no Prefcio a um escrito de R. B. Jachmann, polemizava de novo contra a mstica que pretende valer como experincia supra-sensvel. A estes escritos necessrio acrescentar aqueles que nos ltimos anos da vida de Kant foram publicados. pelos seus discpulos. Assim publicaram-se: por J. B. Jsche a Lgica, manual para lies (1800); por F. T. Rink, a Geografia Fsica (1802), lies dadas por Kant sobro este ponto; pelo mesmo Rink, a Pedagogia, tambm recolhida das lies de Kant. Depois da morte do filsofo, foram publicadas as suas lies sobre a Doutrina Filosfica da Religio (1817) e sobre Metafsica (1821). A obra em que Kant se ocupava nos ltimos anos da sua vida e que ficar fragmentria nos seus manuscritos (Opus postumum) foi publicada parcialmente por Reicke em 1882, por Krause, em 1888 com o ttulo Passo dos princpios Metafisicos da Cincia da Natureza Fsica, por Adickes em 1920; e finalmente, em forma completa e nos trs ltimos volumes da grande edio das obras de Kant da Academia de Berlim (1936, 1938, 1955). Esta edi o contm tambm o Epistolrio do filsofo. 514. KANT: A FILOSOFIA CRITICA A simples enumerao dos escritos de Kant mostra como a orientao crtica da sua filosofia se vinha determinando atravs da influncia, cada vez 79 mais decisiva, do empirismo ingls. Contudo, esta influncia integrava-se na orientao que constituiu a estrutura fundamental da filosofia kantiana, orientao que a do iluminismo wolfiano. Vimos j ( 504) como o ideal racionalista do iluminismo se concretiza, na obra de Wolff e dos seus numerosos seguidores alemes, no mtodo da razo fundamentadora, a qual procede mostrando a cada passo o fundamento dos seus conceitos na sua possibilidade. A coincidncia de fundamento e possibilidade a caracterstica deste mtodo, o qual portanto d como fundado (isto justificado) um conceito quando se possa demonstrar a possibilidade desse conceito, isto , a falta de contradies internas. No ideal deste mtodo incorporava-se sem dvida a filosofia leibniziana que procurara elaborar o princpio de uma razo problemtica, oposta razo geomtrica ou necessria dos cartesianos e de Espinosa; mas incorporava-se e vivia principalmente a
exigncia iluminstica de limitar e individualizar em cada campo as possibilidades autnticas do homem. Kant manteve-se sempre fiel a este princpio e a este mtodo. Que Kant se tenha servido constantemente para as suas lies da Metafsica de Baumgarten coisa que s para fazer esprito se pode explicar como explicava Schopenhauer: pela exigncia de ter separada e distinta a sua obra de filsofo da sua actividade docente, para evitar que esta ltima contaminasse a primeira. Na realidade a metafisica de Baumgarten, que tem a honra de ser um dos mais lcidos e concisos exemplos do mtodo da 80 fundamentao, realizava uma exigncia que Kant considerava essencial na filosofia, isto a de que deve buscar o fundamento dos seus objectos (quaisquer que sejam) na sua possibilidade. Todavia, o que faltava neste mtodo, Kant viu-o rapidamente: a possibilidade no pode ser compreendida no aspecto puramente lgico-formal, como simples ausncia de contradio. J no nico Argumento Possvel para a Existncia de Deus (1763), ele reconhece claramente que uma possibilidade no tal em virtude da simples, ausncia de contradio. "Toda a possibilidade cai, diz ele (1, 2), no s quando h uma contradio intrnseca, que o aspecto lgico da impossibilidade, mas tambm quando no h um material, um dado que se possa pensar." E acrescentava: "Que exista uma possibilidade e, contudo, no haja nada real, contraditrio, dado que se no existe nada no dado nada que seja pensvel, e existe contradio se todavia se pretende que qualquer coisa possvel." Aquilo que possvel deve conter, para ser verdadeiramente possvel, alm da pura formalidade lgica da no-contraditoriedade, uma existncia, uma realidade, um dado; e a existncia, a realidade, o dado, nunca se reduzem a simples predicados lgicos. So estas as proposies base da filosofia crtica kantiana. Kant, no escrito citado, dirigia-as a um objectivo tradicional, o da demonstrao da existncia de Deus, mas j naquele escrito tm uma importncia superior ao fim para que servem. Nos escritos posteriores o problema do real, do dado, a que a filosofia deve referir-se, ulteriormente debatido e 81 esclarecido. A analogia que Kant estabelece, na Investigao dos Princpios da Teologia Natural e da Moral (1764), entre a filosofia e a cincia natural de Newton, leva-o a ver precisamente na experincia, qual se dirige a cincia, a realidade de que a filosofia deve partir. O apreo positivo que no mesmo escrito e no de 1765, Notcia sobre a Orientao das suas lies, dedica ao empirismo ingls, demonstra como se vai reforando nele a orientao para considerar a experincia como o aspecto real de toda a possibilidade fundamentadora. As primeiras concluses desta orientao so tratadas nos Sonhos de um Visionrio (1765). O mtodo da razo fundamentadora no pode ser empregado no vazio e no abstracto, mas unicamente no terreno slido da experincia. A metafsica no aparece j a Kant, como a Wolff e a Baumgarten, como "a cincia de todos os objectos possveis enquanto possveis", mas antes como "a cincia dos limites da razo humana", pois que ela deve determinar em
primeiro lugar o Emite intrnseco do possvel que a experincia. "No tenho aqui determinado exactamente esses Emites, dizia ele (11, 2), mas indiquei-os quanto basta para que o leitor reflectindo verifique que pode dispensar-se de todas as investigaes inteis em torno de cada questo cujos dados se deveriam encontrar num mundo distinto do que ele sente". E reconhecia o mrito da sabedoria "no escolher, entre os inumerveis problemas que se apresentam, aqueles cujas solues preocupam o homem" (H, 3). 82 Kant aceitava assim plenamente o ponto de vista ingls, ponto de vista que se pode exprimir em que Locke tinha feito prevalecer no empirismo duas proposies fundamentais: LO, A razo no pode ir mais alm dos limites da experincia. 2.*, A experincia o mundo do homem, o mundo daqueles problemas que "preocupam" o homem. Mas este ponto de vista articulava-o e fundia-o ao mesmo tempo com o mtodo do iluminismo wolfiano: a razo deve fundamentar, precisamente nestes limites, a capacidade e os poderes do homem. Com o enxerto e a fuso destas duas exigncias nascia a filosofia crtica de Kant. 515. KANT: A ANLISE TRANSCENDENTAL Esta anlise encontrava-se assim frente ao problema da natureza e da extenso dos limites da razo humana. Donde pode vir a indicao desses limites? Qual a sua extenso efectiva? So tais estes limites que podem assegurar o valor do conhecimento e, em geral, de qualquer atitude humana que os reconhea explicitamente? So estas as perguntas em torno das quais se afadiga a meditao de Kant a partir da Dissertao de 1770. J nesta evidente a resposta de Kant terceira daquelas perguntas: o reconhecimento dos limites que a actividade humana encontra em qualquer campo no tira valor a essa actividade, mas antes a nica garantia possvel da sua validade. Noutros termos, uma "cincia dos limites da razo 83 humana" no apenas a certificao ou a verificao de tais limites, mas tambm e sobretudo a justificao, precisamente em virtude destes limites e sobre o seu fundamento, dos poderes d razo. este o aspecto fundamental da filosofia critica de Kant, aspecto pelo qual ela foi compreendida e praticada pelo seu autor como anlise transcendental. Acerca da primeira questo, um ponto ficou sempre firme na obra de Kant: os limites da razo humana. s- podem ser determinados pela prpria razo. Estes limites no lhe podem ser impostos de nenhuma maneira de fora porque a actividade da razo autnoma e no pode assumir do exterior a direco e guia do seu procedimento. Por isso Kant devia combater como fez incansavelmente, no s nas suas obras principais, mas tambm nos escritos menores - toda a tentativa para assinalar limites razo em nome da f ou de uma experincia mstica ou supra-sensvel qualquer. Elo foi sempre- o adversrio resoluto de toda espcie de fidesmo, misticismo e transcendentalismo: os limites da razo so para ele os limites do homem; e quer-los atravessar em nome de uma coisa superior razo, significa apenas aventurar-se em sonhos arbitrrios e fantsticos. No obstante, sobre o modo pelo qual a razo possa assinalar os seus prprios limites e
erigir-se em juiz de si prpria, Kant esteve evidentemente longo tempo indeciso. A Dissertao apresenta sobre este problema uma soluo diferente da que foi dada na Crtica da Razo Pura. Na carta a Lara84 bert (2 de Setembro de 1770), com a qual acompanhava o envio da Dissertao, Kant previa a necessidade de uma cincia especial, puramente negativa, dita Fenomenologia Geral que deveria determinar * valor e os limites da sensibilidade para evitar toda * confuso entre os objectos de prpria sensibilidade e os do entendimento. E na realidade, na Dissertao, Kant serviu-se da distino ntida entre, mundo sensvel e mundo inteligvel com o fim explcito de assinalar os limites da sensibilidade mas com o resultado involuntrio (que se toma depois voluntrio e explcito na Crtica) de estabelecer tambm limites razo. O resultado principal da Dissertao , por um lado, a delimitao exacta da extenso do conhecimento sensvel, o qual vem a compreender em si tambm a geometria que, embora derivada do uso lgico do entendimento, diz sempre, respeito aos fenmenos, isto , aos objectos da sensibilidade; e pelo outro, a contraposio ntida entre o conhecimento intelectual prprio do homem e uma intuio intelectual, como seria a de Deus, criadora dos prprios objectos. Kant diz efectivamente ( 10): "Toda a nossa intuio limitada originariamente a uma certa forma, a nica sob a qual a mente pode ver alguma coisa imediatamente, isto singularmente, e no apenas conceber discursivamente por meio dos conceitos gerais. Mas este princpio formal da nossa intuio (espao e tempo) a condio pela qual qualquer coisa pode ser objecto dos nossos sentidos, mas, como condio do conhecimento sensvel, no pode servir de intermedirio 85 para a intuio intelectual. Alm disso, toda a matria do nosso conhecimento dada unicamente pelos sentidos mas o nmeno como tal no concebvel por meio de representaes obtidas dos sentidos; de maneira que o conceito inteligvel, enquanto tal, privado de todos os dados, da intuio humana. A intuio da nossa mente sempre passiva; e por isso s possvel enquanto qualquer coisa pode excitar os nossos sentidos. Pelo contrrio, a intuio divina, que o princpio dos objectos e no deriva deles o seu principio, independente e arqutipo e por isso inteiramente intelectual." Estes pensamentos que retomam em forma quase idntica ao longo de toda a Crtica da Razo Pura constituem a directriz que inspirou o desenvolvimento ulterior da obra de Kant. Todavia, na Dissertao, o fim que Kant se prope explicitamente o de fazer que a certeza dos limites da sensibilidade sirvam no s para garantir o valor da prpria sensibilidade, mas tambm e principalmente para garantir a liberdade do conhecimento intelectual frente sensibilidade. Neste escrito Kant realizou pela primeira vez a anlise transcendental do mundo sensvel, mas no ainda a do mundo intelectual que permanece ligado no seu pensamento metafsica dogmtica e aos seus processos. Se se examinam, porm, os princpios que estabelece, na quarta parte do escrito, em tomo do mtodo da metafsica v-se imediatamente que estes princpios implicam tambm uma limitao essencial das possibilidades desta cincia. Com efeito, Kant' consegue admitir 86 como regra que tudo aquilo que no pode ser conhecido pela intuio no pode ser pensado absolutamente, e, portanto, impossvel" ( 2'@). E este, ser depois o princpio da crtica de toda a metafsica, instaurada na Crtica da Razo Pura. Esta obra assinala a deciso de Kant de estender a anlise transcendental a todo o domnio
das possibilidades humanas, a comear pelo conhecimento racional. Kant convenceu-se, nos dez anos que decorrem entre a Dissertao e a Crtica, que no s para a sensibilidade, mas tambm para o conhecimento racional, para a vida moral, para o gosto, vale o princpio da filosofia transcendental de que toda a faculdade ou atitude do homem pode encontrar a garantia da sua validade, o seu fundamento, unicamente no reconhecimento explcito dos seus prprios limites. O reconhecimento e a aceitao do limite torna-se em qualquer campo a norma que d validade e fundamento s faculdades humanas. A impossibilidade do conhecimento em transcender os limites da experincia torna-se agora base da validade efectiva do conhecimento; a impossibilidade da actividade prtica de alcanar a santidade (como identidade perfeita da vontade e da lei) torna-se a norma da moralidade que prpria do homem; a impossibilidade de subordinar a natureza ao homem torna-se a base do juizo esttico e teleolgico. Kant renunciou neste ponto a toda a vida de evaso dos limites do homem. Como ele prprio reconhece, deve esta renncia a Hume que o despertou do seu sono dogmtico, mas ao mesmo tempo afastou-se tambm de toda a 87 possibilidade de cepticismo. O reconhecimento dos limites no para ele, como para Hume, a renncia a fundamentar a validade do conhecimento e, em geral, das manifestaes do homem, mas antes a exigncia de fundamentar o seu valor nos prprios limites. o Podemos recapitular do seguinte modo o caminho seguido por Kant at alcanar completamente o ponto de vista transcendental da @sua filosofia. Nos estudos juvenis da filosofia natural, Kant foi-se familiarizando com a filosofia naturalstica do iluminismo inspirada por Newton. Esta filosofia, com o seu ideal de 'uma descrio dos fenmenos e com a renncia a admitir causas e foras que transcenderiam tal descrio, levantou-lhe a exigncia de uma metafsica que se constitusse como base dos prprios critrios limitativos. Tal metafisica poderia, sem embargo, valer-se .do mtodo da razo fundamentadora que dominava o ambiente filosfico em que Kant se formara. As consideraes dos empiristas ingleses, para as quais se orienta devido a essa exigncia, puseram ante os seus olhos pela primeira vez essa metafsica como cincia limitativa e negativa, portanto, como uma autocrtica da razo. Este ponto de vista j alcanado nos escritos publicados entre 1726 e 1765. Sucessivamente, e pela primeira vez na Dissertao (1770), o ponto de vista crtico esclarece-se como ponto de vista transcendental, limitadamente ao conhecimento sensvel: a validade deste conhecimento fundamentada nos seus prprios limites. Depois de 1781, o ponto de vista transcendental alargado a todo o mundo do homem. 88 516. KANT: A CRITICA DA RAZO PURA A concluso das anlises de Hume a de que o homem no pode alcanar, nem mesmo nos limites da experincia, a estabilidade e a segurana de um
saber autntico. O saber humano , no mximo, um saber provvel - mas mesmo este saber provvel vem a faltar quando homem transpe os limites da experincia e se aventura pelos caminhos da metafsica. Estas duas concluses do cepticismo de Hume so rebatidas por Kant. Em primeiro lugar, segundo Kant, existe um saber autntico e a nova cincia matemtica da natureza. Em segundo lugar, embora a metafsica seja quimrica, o esforo do homem para a metafsica real; e se real, deve ser de algum modo explicado. A prpria metafsica, mesmo na sua v pretenso de conhecimento, levanta um problema que resolvido procurando na constituio do homem o mbil ltimo da sua tendncia para transcender a experincia. A indagao crtica que nega a possibilidade de resolver certos problemas no pode descuidar a explicao da gnese destes problemas e a sua raiz no homem. Ela institui o tribunal que garante a razo nas suas pretenses legtimas e condena aquelas que no tm fundamento na base do limite que intrnseco prpria razo como lei imutvel. Tal tribunal a Crtica da Razo Pura, isto uma auto-crtica da razo em geral a respeito de todos os conhecimentos a que pode aspirar independentemente da experincia. A tal crtica cabe decidir sobre a possibilidade ou impossibilidade da metafsica como tambm sobre as suas 89 fontes, sobre a sua extenso e sobre os seus limites (K. r. V., pref. A XI). Que haja conhecimentos independentes da experincia um facto, segundo Kant. Todo o conhecimento universal e necessrio independente da experincia, dado que a experincia, como Hume e Leibniz haviam reconhecido em pontos de vista opostos, no pode dar valor universal e necessrio aos conhecimentos que derivam dela. Mas o conhecimento "independente da experincia" no significa conhecimento "que precede a experincia". Todo o nosso conhecimento comea com a experincia, mas pode acontecer que no derive todo da experincia e que seja um composto das impresses que derivam da experincia e daquilo que lhe acrescenta a nossa faculdade de conhecer, por ela estimulada: Em tal caso, necessrio distinguir no conhecimento uma matria, constituda pelas impresses sensveis, e uma forma, constituda pela ordem e unidade que a nossa faculdade cognoscitiva d a tal matria. A matemtica e a fsica pura (os princpios da fsica newtoniana) contm indubitavelmente verdades universais e necessrias, portanto independentes da experincia. Efectivamente contm juzos sintticos a priori: sintticos no sentido do que neles o predicado acrescenta algo de novo ao sujeito (o que no acontece nos juzos analticos); a prior!: porque tm uma validade necessria que a experincia no pode dar Ora o primeiro problema de uma crtica da razo pura ver como so possveis os juzos sintticos a priori - o que equivale ao problema de saber como possvel uma matemtica e uma fsica pura. A crtica da 1 90
razo pura deve alcanar e realizar a possibilidade fundamentadora da cincia, do autntico saber humano. evidente que esta possibilidade no pode ser reconhecida na matria do conhecimento, constituda pela multiplicidade desordenada e amorfa das impresses sensveis. Deve ser, pois, recomendada na forma do conhecimento, isto nos
elementos ou funes a priori que do ordem e unidade a essas impresses. O primeiro objectivo da crtica da razo ser o de descobrir, isolando-os, quais os elementos formais do conhecimento que Kant chama puros e a priori, no sentido de que esto privados de qualquer referncia experincia e no independentes dela. @@Deste modo, a investigao da razo, embora mantendo-se rigorosamente nos limites da experincia, estar em grau de justificar a prpria experincia na sua totalidade, portanto tambm os conhecimentos universais e necessrios que se encontram no seu mbito. O segundo objectivo da crtica da razo pura ser o de determinar o uso possvel dos elementos a priori do conhecimento, isto o mtodo do prprio conhecimento. Assim a crtica da razo pura dvidir-se- em duas partes principais (que so de facto as duas partes da obra homnima de Kant): a doutrina dos elementos e a doutrina do mtodo. E dado que. se chama transcendental todo o conhecimento enquanto concerne, "no j os objectos, mas o nosso modo de conhec-los enquanto deve ser possvel a priori", assim haver uma doutrina transcendental dos elementos e uma doutrina transcendental do mtodo. E chamar-se-o transcendentais tambm 91 as ulteriores divises destas duas divises fundamentais. Ora o primeiro resultado que nasce do conceito do conhecimento humano como composio ou sntese de dois elementos, um formal ou a priori, o outro material ou emprico, que o objecto do prprio conhecimento, no o ser em si, mas o fenmeno. Para o homem conhecer no significa criar: o entendimento humano no produz, conhecendo-a, a realidade que seu objecto. Neste sentido, no um entendimento intuitivo como talvez o entendimento divino para. o qual o acto de conhecer um acto criativo.- O entendimento humano no intui, mas pensa; no cria, mas unifica; deve ser-lhe dado, portanto, por outra fonte o objecto do pensar, o mltiplo a unificar. Esta fonte a sensibilidade. Mas a prpria sensibilidade substancialmente passividade; aquilo que ela possui recebe-o, e no pode receb-lo seno nos modos que lhe so prprios. Tudo isto significa que o objecto do conhecimento humano no a coisa em si, mas aquilo que da coisa pode aparecer ao homem: o fenmeno. Significa tambm que o conhecimento humano, enquanto sempre e apenas conhecimento de fenmenos, sempre e apenas experincia. Mas o fenmeno no aparncia ilusria; um objecto e um um objecto real apenas na relao com o sujeito cognoscente, *isto como o homem (K. r. V., 8, B 60, A 43). A investigao crtica investigao transcendental enquanto versa sobre a possibilidade condicionante de todo o conhecimento autntico e, portanto, sob as formas a priori da experincia. Estas formas so, 92 por um lado, sensveis (intuies puras, espao e tempo), pelo outro, intelectuais (conceitos puros, categorias). A experincia a totalidade concreta do conhecimento: ela constituda no apenas pela sensibilidade mas tambm pelo entendimento e condicionada igualmente pelas formas de uma e outra. Desta maneira, Kant efectuou a sua revoluo copernicana. @Como Coprnico, que no podendo explicar os movimentos celestes com a suposio de que todo o exrcito dos astros gira em redor do espectador, o conseguiu explicar melhor supondo que o observador
gira sobre si mesmo, do mesmo modo, Kant, em vez de admitir que a experincia humana se modela sobre os objectos, em cujo caso a sua validade seria impossvel, supe que os prprios objectos enquanto fenmenos se modelam sobre as condies transcendentais da experincia. 517. KANT: AS FORMAS DA SENSIBILIDADE Na Crtica da Razo Pura, a Esttica Transcendental dedicada determinao dos elementos a priori da sensibilidade, a Analtica Transcendental (primeira parte da Lgica Transcendental que compreende tambm a Dialctica Transcendental) dedicada determinao dos elementos a priori do entendimento e sua justificao. As formas a priori da sensibilidade ou intuies puras so o espao e o tempo, os quais no so, portanto, nem conceitos, nem qualidades das coisas, mas condies da nossa intuio delas. Ns no podemos perceber nada se no no espao e no tempo: todas 93 as coisas que percebemos existem, portanto, no espao e no tempo, se bem que estes sejam puros elementos subjectivos do conhecer sensvel. No espao, fundamentada a validade da geometria, a qual pode determinar as propriedades espaciais de todos os objectos possveis da experincia, precisamente porque no se fundamenta na considerao de alguns desses objectos, mas no da forma universal que os condiciona. O tempo , depois, a forma do sentido interno, isto a ordem da sucesso na qual ns percebemos os nossos estados internos e, portanto, ns prprios e, atravs dos estados internos, as coisas no espao. Por isso, espao e tempo no so nem conceitos empricos, isto retirados da experincia externa ou interna (como sustentava Locke, por exemplo); nem conceitos discursivos, isto universais, das relaes das coisas entre si (como sustentava Leibniz, por 1 exemplo); mas "representaes, necessrias a priori" que esto no fundamento de todas as intuies, Como tais so "subjectivos"; e, em tal sentido, Kant afirma a sua idealidade transcendental isto no dizem respeito s coisas tais como so em si prprias. So todavia reais de uma realidade emprica no sentido de que pertencem efectivamente s coisas tais como so percebidas por ns. As coisas percebidas so por isso enquanto tais j constitudas no espao e no tempo e os seus caracteres espaciais e temporais so nelas impressos pela forma subjectiva que a sua percepo consente. Esta doutrina limita, segundo Kant, de modo radical a pretenso do conhecimento sensvel. "Toda 94
a nossa intuio, diz ele, no mais que a representao de um fenmeno; as coisas que ns intuimos no so em si prprias como ns as intuimos nem as relaes entre elas so em si prprias tais como nos aparecem; e se tirssemos do centro o nosso sujeito ou mesmo s a constituio subjectiva da sensibilidade em geral, toda a constituio, todas as relaes dos objectos no espao e no tempo, bem corno o espao e o tempo desapareceriam porque como fenmenos no podem existir em si prprios mas apenas em ns" (K. r. V., 8). Quando Kant diz "em ns" no entende, todavia, os homens: pode acontecer, afirma ele, que cada ser pensante finito se encontre em idnticas condies do homem. Mas tambm neste caso a intuio sensvel, como intuio derivada, no diria nada sobre as coisas em si prprias, dado que sobre estas s poderia dizer qualquer coisa a intuio originria, isto no sensvel mas intelectual, de um Ser do qual as coisas dependeriam quanto sua prpria existncia (1b., B 72). 518. KANT: AS CATEGORIAS E A lgica FORMAL Todavia, o nosso conhecimento no se fixa na sensibilidade que passividade ou receptividade. tambm pensamento, isto actividade ou espontaneidade. "Todas as intuies, enquanto sensveis, repousam sobre as afeces; e tambm os conceitos sobre as funes", diz Kant (K. r. V., B 93). Mas nem tal espontaneidade criadora, no sentido de pro. duzir os objectos; , pelo contrrio, discursiva, no 95 sentido de acontecer por meio de conceitos. Ora a actividade discursiva aquela por meio da qual se julga: assim a actividade fundamental do entendimento, enquanto faculdade dos conceitos, juzo, Pensar significa julgar. Portanto, se se querem isolar as condies formais que presidem actividade intelectual, deve-se considerar os prprios produtos desta actividade, isto os juzos, mas prescindindo de todo o seu contedo particular e considerando-os na sua forma simples, como faz precisamente a lgica. Reconhecidas assim as classes dos juzos, pode-se fazer corresponder a cada uma delas uma determinada funo intelectual que ser a categoria. Kant d assim as seguintes tbuas dos juzos e das categorias: TBUAS DOS JUIZOS Quantidade Qualidade Relao Modalidade Particular Singular Universal Afirmativo Negativo Infinito Categrico Hipottico Dsjuntivo
Problemtico Assertrico Apodictico TBUA DAS CATEGORIAS Quantidade Qualidade Relao Modalidade Multiplicidade Realidade Substancialidade e inerncia Possibilidade e impossibilidade Unidade Negao Causalidade e dependncia Existncia e no Existncia Totalidade Limitao Comunidade ou reciprocidade de aco Necessidade e causalidade 96 O uso da palavra "juizo" para significar aquilo que na lgica tradicional, a que Kant faz referncia, se chamava "proposio", indica que Kant toma em considerao no a frmula lingustica em que um juizo se exprime, mas, segundo a orientao que a lgica de Port Royal ( 416) havia feito prevalecer, o acto mental que consiste no unir entre si duas representaes. Alm disso, Kant afasta-se da lgica tradicional em alguns pontos da sua classificao. Insere entre os juzos de quantidade um "juzo singular que, para a lgica tradicional, era idntico ao universal (de facto, para ela "o homem mortal" significa "todos os homens so mortais"). Distingue o juzo infinito, por exemplo, "a alma no-mortal" do juzo afirmativo. Insere nos juzos de relao, que so as proposies hipotticas da tradio estica, o "juizo categrico" que o oposto do hipottico; e entre as proposies modais o "juizo assertrico" que era tradicionalmente contraposto a este. Todavia, com estas modificaes, Kant aceitou substancialmente a
tradio da lgica formal e aceitou-a porque considerou que a lgica geral pura (isto no aplicada), dado que abstrai todo o contedo de conhecimento e toda a considerao psicolgica, tem apenas como objecto princpios a priori * , portanto, um cnon do entendimento e da razo * respeito de qualquer uso, tanto emprico como transcendental (K. r. V., B 78). No curso de Lgica (que foi publicado por um aluno), Kant afirma que a lgica tem como objecto as regras necessrias do entendimento, isto aquelas sem as quais a prpria funo do entendimento no seria possvel: no as 97 acidentais que dependem de um determinado objecto de conhecimento e so, por isso, tantas quantos so os objectos. "A cincia destas regras universais e necessrias, diz elo, , portanto, simplesmente a cincia da forma da nossa conscincia intelectual ou do nosso pensamento. Podemos fazer uma ideia da possibilidade de uma tal cincia do mesmo modo que fazemos a ideia de uma gramtica geral que no contenha seno a forma simples da linguagem em geral e no as palavras que pertencem matria da linguagem> (Logik, A 3-4). Desta maneira Kant pressupunha a validade da lgica formal como cincia a priori das funes do entendimento nas suas regras essenciais de funcionamento. Mas negava que tal cincia constitusse um rgo de conhecimento, isto um instrumento para produzir conhecimento autntico. Esta pretenso antes reconhecida por ele como o fundamento da dialctica, isto do uso imprprio ou arbitrrio do conhecimento a priori e, portanto, como arte puramente sofstica. Da lgica geral, distingue a lgica transcendental. Esta ltima refere-se apenas a objectos, a priori, enquanto a primeira pode referir-se indistintamente a qualquer tipo de conhecimento; e, mais especificamente, prope-se como seu problema especfico o da validade de tal conhecimento: o problema fundamental da Oltica. A parte da lgica transcendental destinada a este objectivo aquele que Kant chamou "deduo transcendental": e nela v Kant "o mais difcil problema da Crtica" (K. r. V., pref. A XVI). 98 519. KANT: A DEDUO TRANSCENDENTAL A deduo transcendental no foi "um problema difcil" apenas para Kant: foi-o e ainda para os historiadores e os expositores do seu pensamento dado que a sua interpretao comanda toda a interpretao da filosofia kantiana. A maior dificuldade deriva do facto de que, a partir de Fichte, o idealismo clssico alemo adoptou o termo "deduo" para indicar uma exigncia que bastante mais genrica e geral do que aquela que Kant compreendia com o mesmo termo -, isto a exigncia de que "todo o demonstrvel deve ser demonstrado, todas as proposies devem ser deduzidas, atravs do primeiro e supremo princpio fundamental" (FICHTE, WissenschaftsIehre, 1794, 7); ou que todas as determinaes do pensamento so para mostrar na sua necessidade, so essencialmente para deduzir" (HEGEL, Ene., 42). Este sentido genrico ou generalizado do termo, que pode encontrar a sua aplicao apenas no mbito
do idealismo segundo o qual tudo deriva do Eu ou da razo e, por isso, tudo pode ser deduzido de um ou de outra, completamente estranho filosofia de Kant na medida em que estranha a este tipo de idealismo. Kant afirma explicitamente assumir o termo no significado jurdico, segundo o qual significa a demonstrao da legitimidade da pretenso que se avana e respeita por isso ao quid jris no ao quid facti de uma questo. Noutros termos, provar que a pessoa X est na posse do objecto y no uma deduo; mas 99 uma deduo demonstrar que x tem sobre o objecto y um direito de propriedade. Kant ateve-se sempre a este significado restrito e especfico da palavra "deduo", embora com algumas oscilaes terminolgicas. Uma destas oscilaes est na contraposio da deduo emprica que consistiria em mostrar o modo como um conceito adquirido por meio da experincia ou da reflexo e diria respeito, portanto, o facto de posse, deduo transcendental: contraposio que est no 13 da Crtica da Razo Pura. Mas pouco mais adiante, no mesmo pargrafo, a propsito de Locke, Kant observa que, nesse caso, para falar com propriedade, no se pode usar o termo "deduo" porque se trata apenas de uma questo de facto. Por outra banda, Kant recorreu ao termo "deduo" todas as vezes que se tratava de justificar a legitimidade do uso de certos conceitos. Assim formulou a exigncia de uma "deduo" da lei moral como "justificao da validade objectiva e universal da lei", embora admitindo que, neste caso, ela no possvel (Crit. R. Prtica, 3, nota 2); formulou a exigncia da deduo dos princpios da faculdade do juizo como demonstrao da sua "necessidade lgica objectiva" (Crit. do Juzo, 31 e Intr. V); falou da deduo da diviso de um sistema" como "prova do seu acabamento e da sua continuidade" (Metaf, dos Costumes, 1, lntr., II, nota). Noutros termos, a exigncia da deduo apresenta-se na obra de Kant, sempre que se trata de justificar a validade de uma pretenso qualquer: a referncia objectiva das categorias, o valor universal e necessrio da lei moral, a validade 100 objectiva do juizo do gosto, o acabamento e continuidade de uma classificao sistemtica. Em todos estes casos, no se trata de deduzir (isto de fazer derivar logicamente) qualquer coisa de um princpio primeiro, absoluto e incondicionado, segundo a exigncia indicada por Fichte e acolhida pelo idealismo romntico, mas de encontrar o fundamento de uma pretenso, isto a condio ou o conjunto das condies que tomam possvel qualquer coisa; ou mais brevemente, a possibilidade real ou transcendental de qualquer coisa, enquanto distinta da sua simples possibilidade formal ou lgica. Deste ponto de vista, a deduo, no nico, significado legtimo do termo, sempre deduo transcendental, isto detem-Linao do fundamento e da possibilidade validificante. E no se pode chamar deduo a descoberta, a descrio e a classificao dos objectos a deduzir porquanto tais operaes podem s vezes, segundo Kant, chamarem-se "demonstraes". Efectivamente, Kant no chamou deduo formulao da tbua das categorias que ele considera consignada reflexo sobre a experincia cientfica e cuja demonstrao completa foi para elo obtida mediante consideraes de lgica formal. Nem chamou deduo a descoberta da lei moral que, para ele, um factum da razo; ou das formas do juizo do gosto descobertas mediante a reflexo sobre a actividade sentimental do homem. Pelo contrrio, compreende como deduo a demonstrao da validade das formas cognoscitivas, da lei moral e do juizo esttico teleolgico, demonstrao alcanada merc
da de101 monstrao do seu fundamento, isto das suas condies de possibilidade. Em segundo lugar, claro que no h uma nica deduo transcendental: isto , no h um nico processo dedutivo que constitua, no seu conjunto, o sistema inteiro da filosofia. Pelo contrrio, existem tantas dedues quantos so os campos a que pertencem os objectivos a deduzir e tais dedues so autnomas umas em relao s outras. Em qualquer campo, como no da moral, tambm se apresenta a exigncia da deduo, mas no pode ser satisfeita. Em terceiro lugar e consequentemente, o princpio da deduo, isto o fundamento, no nico ou absoluto, mas deve ser formulado, em cada campo, de modo especfico, ou seja em conformidade com a estrutura do campo e das pretenses que nele se apresentam. No existindo um nico fundamento, no surge to-pouco a questo de qual seja o fundamento: se Deus ou a natureza, o sujeito ou o objecto, o eu ou a razo etc. Efectivamente, a deduo transcendental no pe cabea um princpio absoluto e incondicionado deste gnero, mas apenas a possibilidade validificante da pretenso que se apresenta num territrio qualquer do saber humano: possibilidade que adquire caracteres reais ou transcendentais, segundo a natureza e os caracteres do prprio territrio. Prescindindo destes caracteres, isto na sua natureza pura e simples de fundamento em geral, o prprio fundamento no mais que a possibilidade de ordens vrias de condicionamento e reconduz por isso categoria do possvel que Kant 102 pretendeu esclarecer nos seus escritos pr-crticos. Portanto, o processo da deduo no pe cabea uma necessidade incondicionada em que se reflicta a necessidade incondicionada do seu princpio (como no caso da deduo idealstica), mas uma necessidade condicionada no sentido de que os objectos da deduo (categorias, leis, juzos) so esclarecidos necessariamente por si e na medida em que so relacionveis com a possibilidade que est no seu fundamento. O resultado mais importante da deduo por isso, em ltima anlise, o de limitar e regular o uso dos conceitos de que so possveis usos diversos: ou seja determinar, entre os vrios usos possveis, aquele realmente possvel no sentido de que assegura a eficcia e a validade do conceito. 520. KANT: A DEDUO TRANSCENDENTAL DAS CATEGORIAS A deduo transcendental das categorias, isto dos conceitos puros do entendimento, no , como se viu, a nica deduo transcendental, mas a primeira em que Kant defronta - e a mais difcil e em torno da qual trabalhou mais longamente. A segunda edio da Crtica da Razo Pura (1787) contm uma reelaborao radical da exposio kantiana deste ponto. Dado que esta exposio , pelo menos relativamente, a mais clara e completa, em todo o caso aquela na qual o prprio Kant considera mais autenticamente expresso o seu pensamento. no h motivo para descur-la a favor daquela con103 tida na primeira edio. A preferncia atribuda a esta ltima, sobretudo pelos idealistas ou pelos crticos idealistas de Kant, explica-se facilmente considerando que, pela sua ambiguidade, ela se presta a ser interpretada mais
facilmente como deduo idealstica. Kant comea por observar que o problema da deduo no se apresenta em relao s formas da sensibilidade espao e tempo. Estas no so susceptveis de usos diferentes, mas de um nico uso que o vlido. Efectivamente, um objecto no pode aparecer ao homem, isto ser percebido por ele seno atravs destas formas. A sua referncia necessria aos objectos de experincia est assim garantida: um objecto que no dado no espao e no tempo no um objecto para o homem porque no intudo. O problema da deduo subsiste, pelo contrrio, para aquilo que respeita s formas do entendimento porque os usos possveis destas formas s o diferentes e a deduo deve determinar qual o vlido. As categorias do entendimento, por exemplo a causalidade, poderiam tambm no condicionar os objectos da experincia e, por outro lado, podem ser usadas tambm em relao aos objectos que no fazem parte da experincia (por exemplo, Deus ou as coisas em si). A deduo transcendental deve mostrar-se, e quando estes objectos se referem experincia, deve pr a claro a legitimidade e os limites da s a pretenso e as regras do seu uso legtimo. Ora, para fazer isto, Kant comea por distinguir a conexo necessria, isto objectiva, dos objectos 104 de experincia, da ligao subjectiva que pode existir entre as percepes daqueles objectos. Que duas percepes estejam de qualquer modo ligadas, por exemplo, sejam dadas no mesmo espao ou tambm contemporaneamente ou sucessivamente no tempo, no implica de modo nenhum que os fenmenos correspondentes devam ter entre si uma relao necessria. Esta relao necessria , todavia, segundo Kant, a "forma lgica de todos os juzos". Por exemplo, o juzo "o corpo pesado" no significa que "todas as vezes que levo um corpo, sinta uma impresso de peso". O juzo exprime uma relao objectiva, independente da minha percepo, entre o corpo e o peso. Portanto, Kant considera inadequada a definio (introduzida pela Lgica de Port Royal) do juzo como relao entre duas representaes. Esta relao seria puramente subjectiva na medida em que a unidade prpria do juzo, expressa pela cpula "", uma unidade objectiva, inerente aos prprios objectos de que se trata (ou seja, no exemplo citado, ao corpo e ao peso) (K. r. V., 19). Toda a experincia (e Kant tem em mente principalmente a experincia cientfica) constituda por relaes objectivas desta natureza. Ora, segundo Kant, estas relaes tm o seu fundamento no eu penso ou "unidade sinttica originria da apercepo". Kant afirma: O "eu penso" deve poder acompanhar todas as minhas representaes, de outro modo seria necessrio imaginar alguma coisa que no poderia ser pensada; e, em tal caso, a representao ou seria impossvel ou, pelo menos para mim, no seria" (lb. 16). Isto quer dizer que, se existe uma 105 sntese objectiva, como a do juizo, deve existir uma possibilidade de sntese, ou seja uma funo unificante; e o "eu penso", que esta funo, deve poder acompanhar todas as representaes a unificar. O deve poder acompanhar (muss begleiten knnen) exprime uma possibilidade, ou antes a possibilidade fundamental da unificao. O deve refere-se ao modo por que se estabelece ou se reconhece tal possibilidade: ela deve existir, se existe (como existe no juzo) a unidade objectiva das representaes. Como possibilidade de
sntese, o eu penso pode juntar as representaes numa unidade que a estrutura objectiva da experincia; e no s da experincia externa. isto . dos fenmenos naturais, mas tambm da experincia interna, ou seja, desse fenmeno que o eu para si mesmo na conscincia. A sntese do eu penso , portanto, "o princpio supremo de todo o conhecimento humano" (1b., 16): expresso que se deve entender, no no sentido de que ela seja o nico princpio de que a conscincia humana, na sua totalidade, se pode deduzir, mas sim no sentido de que constitui a condi4o ou a possibilidade de validez objectiva de todo o conhecimento. De facto, a primeira caracterstica do "eu penso" ou, como tambm Kant diz, da "unidade da apercepo", que ela uma unidade objectiva: por outros termos, no mais do que a possibilidade da experincia como unidade. Nas notas fragmentrias em que Kant consignou as meditaes fatigantes dos seus ltimos anos e que deveriam explicar a passagem dos princpios transcendentais fsica e constituir ao mesmo tempo a ltima exposio da sua 106 doutrina filosfica, Kant insiste continuamente no carcter objectivo da apercepo transcendental. A experincia, como unidade necessria dos fenmenos, contrape-se continuamente, nestas notas, ao conjunto das representaes que podem ter entre si formas de unidade casuais e variveis. A subjectividade transcendental, o "eu penso", no mais do que a pura possibilidade da experincia (Opus Postumum, IX, 2. p. 280, 308, 418, 438, 469, etc.). Mas este mesmo aspecto da unidade transcendental em que Kant insistia nos ltimos anos da sua vida, encontra-se j suficientemente elucidado na exposio da primeira e da segunda edio da Crtica da Razo Pura. Pode-se exprimir sucintamente este aspecto da deduo transcendental dizendo que o "eu penso", como acto originrio do entendimento, a possibilidade de experincia como conexo necessria entre os fenmenos. Sobre a natureza subjectiva do "eu penso", h, pelo contrrio, uma diferena substancial entre a exposio da primeira e da segunda edio da Crtica. Na primeira edio, a apercepo pura definida como o eu estvel e permanente que constitui o correlato de todas as vossas representaes, com respeito simples possibilidade de ter conscincia delas"; de modo que "todo o conhecimento pertence a uma apercepo pura e omnicompreensiva, assim como toda a intuio sensvel, enquanto representao, pertence a uma intuio pura interna, isto , ao tempo" (K r. V., A 123-124). Na segunda edio, ao invs, o carcter subjectivo da unidade transcendental definido sobretudo em relao sua pura forma107 lidade, mediante o contraste, que se repete frequentemente (1b., 16, 17, 21), com o carcter intuitivo de uma problemtica inteligncia divina. Ora, o eu estvel e permanente, de que falava a primeira edio, uma realidade e, precisamente, uma realidade psicolgica; o eu formal da segunda edio no mais do que uma possibilidade, a possibilidade originria da unificao da experincia. Esta possibilidade de unificao pressupe o mltiplo da experincia, que por isso deve ser dado, de maneira que esta pode
agir e concretizar-se apenas nas modalidades particulares que o mltiplo pe sua disposio. Com isto define a condio, no de, todo o entendimento possvel, mas de um entendimento finito, isto , humano. "Este principio, diz Kant (1b., 17) no um principio para qualquer entendimento possvel em geral, mas apenas para aquele por cuja apercepo pura na representao eu sou no se d nenhuma multiplicidade. Ao invs, o entendimento por cuja autoconscincia fosse dado ao mesmo tempo o mltiplo da intuio, um entendimento para cuja representao j existissem ao mesmo tempo os objectos dessa representao, no teria necessidade de um particular acto de sntese do mltiplo na unidade da conscincia, do qual pelo contrrio, tem necessidade o entendimento humano, que apenas pensa e no intui. Mas este acto , inevitavelmente, o primeiro princpio do entendimento humano, de modo que ele no pode sequer fazer a mnima ideia de outro entendimento possvel que o intua por si mesmo ou possua uma intuio sensvel mas de natureza diferente daquela que cons108 titui fundamento do espao e do tempo". Nestas consideraes, frequentemente repetidas, Kant insiste no carcter finito do entendimento humano e do acto originrio em que ele se exprime. No pargrafo 25 encontram-se esclarecimentos conclusivos sobre este acto originrio. Kant explica no pargrafo precedente o paradoxo (de que no existe vestgios na primeira edio) que consiste em o homem se conhecer no como em si mesmo mas como aparece a si mesmo. Conhece-se a si mesmo, isto , tal como conhece todos os outros objectos, como um simples fenmeno. O paradoxo inevitvel, dada a natureza puramente formal do "eu penso", o qual, por si mesmo, no faz conhecer nada como to-pouco o poder fazer uma pura categoria que prescinda de toda a intuio sensvel. Para se conhecer a si mesmo, portanto, o homem tem necessidade no s do "eu. penso", que a possibilidade deste e de qualquer outro conhecimento, mas tambm da multiplicidade sensvel que lhe fornecida atravs da forma pura do sentido interno, o tempo. Conhece-se apenas como determinado pela multiplicidade do sentido interno, numa palavra como fenmeno. Posto isto, Kant acrescenta ( 25): "Na sntese transcendental do mltiplo das representaes em geral, e, portanto, na unidade sinttica originria da apercepo, eu tenho conscincia de mim mesmo, no como eu apareo a mim mesmo, nem como sou em mim mesmo, mas apenas de que eu sou. Esta representao um pensar, no um intuir. Ora, dado que para o conhecimento de ns mesmos se requer, alm da operao do pensamento 109 que reduza a multiplicidade de toda a possvel intuio unidade da apercepo, tambm um determinado modo de intuio atravs do qual o mltiplo seja dado, assim a minha prpria existncia no uma apario (o muito menos uma aparncia). Mas a determinao da minha existncia s pode efectuar-se segundo a forma do sentido interno, nesse modo particular em que o mltiplo, que eu unifico, pode ser dado na intuio interna; e por isso que eu no adquiro um conhecimento de mim tal qual sou, mas apenas como apareo a mim mesmo. A conscincia de si mesmo est, portanto, muito longe de ser um conhecimento de si mesmo, no obstante todas as categorias que constituem o pensamento de um objecto em geral mediante a unificao do mltiplo numa apercepo". A consequncia disto que, no acto da apercepo, "eu existo como inteligncia que consciente apenas da sua capacidade de unificao". E, numa nota, Kant
refora de modo explcito e definitivo o ltimo significado do "eu penso". "0 eu penso, diz Kant exprimo o acto de determinar a minha existncia (Dasein). A existncia j dada por ele, mas o modo por que eu a devo determinar, isto , pr em mim o mltiplo que lhe pertence, ainda no est dado. Para isso, necessria uma auto-intuio que tem por fundamento uma dada forma a priori, isto , o tempo, que sensvel e pertence receptividade do determinvel. Ora, se eu no tenho tambm outra auto-intuio, que d em mim o que determinante e da qual eu tenha conscincia s enquanto espontaneidade, de modo que este elemento determinante se d antes do acto lio de determinar, tal como o tempo existe antes do determinvel, eu no posso determinar a minha existncia como a de um ser espontneo; porm, ponho-me apenas como espontaneidade do meu pensamento, isto , do determinar, e a minha existncia permanece sempre determinvel. apenas de maneira sensvel, isto , como existncia de um fenmeno. Esta espontaneidade faz, todavia, que eu me chame inteligncia". A preocupao dominante de Kant nestes textos que representam a formulao mais clara que ele logrou fazer sobre a natureza do "eu penso" a de salvaguardar o carcter finito, isto , no criativo, da actividade intelectual do homem. O eu penso o acto da autodeterminao existencial do homem como ser pensante e finito. Esta autodeterminao apenas a possibilidade de determinar uma multiplicidade dada e por isso activa e concreta s no acto de aplicar-se a tal multiplicidade (que a da intuio interna) e unific-la de algum modo. Por isso, considerada em si mesma, no seu aspecto Somente subjectivo, esta possibilidade no seno a conscincia de uma espontaneidade (da capacidade de determinar) que tem o nome de inteligncia. Revela-se aqui o significado daquela possibilidade condicionante e fundamental que a investigao crtica de Kant, aprofundando e desenvolvendo a tendncia do iluminismo europeu, pretende pr a claro. O "princpio supremo de todo o conhecimento humano", a possibilidade ltima da experincia humana, uma possibilidade a um tempo subjectiva e objectiva; dado que ao mesmo tempo a possibilidade que o homem tem de se determinar como determinante 111 em relao a um material determinvel em geral, e a possibilidade que este material tem de se determinar em conformidade com a capacidade determinante do homem. O homem inteligncia (espontaneidade) em virtude da mesma possibilidade pela qual os fenmenos constituem uma totalidade organizada (experincia). Com o reconhecimento desta possibilidade, Kant fundava o valor do conhecimento humano precisamente sobre a natureza finita do homem, isto , sobre o carcter no criativo da sua actividade cognitiva. De facto, em virtude da sua natureza finita, o homem , subjectivamente, uma pura possibilidade de unificao, que s se torna concreta e activa perante uma multiplicidade sensvel que lhe seja dada; mas, por outro
lado, este ser-lhe dado da multiplicidade sensvel no mais do que a possibilidade de ele mesmo se organizar em unidade. A doutrina de Kant exclui assim toda a possibilidade de interpretar o "eu penso" ou apercepo transcendental como uma autoconscincia criadora, no sentido que se tornar prprio do idealismo ps-kantiano de Fichte em diante. No por acaso que a segunda edio da Crtica, que apresenta a exacta elucidao transcendental do "eu penso", alm dos apoios psicolgicos ("o eu estvel e permanente") que ainda se imiscuam na primeira edio, contm tambm, entre os seus mais significativos aditamentos, uma "Refutao do idealismo" que um corolrio directo da deduo transcendental. A refutao de Kant dirigida quer contra o idealismo problemtico de Descartes que s declara indubitvel o eu existo, quer contra o idealismo dogmtico de Ber112 keley, que reduz as coisas no espao a simples ideias. O teor desta refutao, o princpio a que obedece, pelo prprio Kant posto a claro numa nota ao prefcio da segunda edio da Crtica (K. r. V., B 274 sgs.). "Se conscincia intelectual da minha existncia na representao eu existo, que acompanha todos os meus juzos e as operaes do meu intelecto, pudesse aliar uma determinao da minha existncia atravs de uma intuio intelectual, a esta pertenceria necessariamente a conscincia de uma relao com qualquer coisa fora de mim. Mas, conquanto essa conscincia intelectual preceda verdadeiramente a intuio interna, a nica na qual se pode determinar a minha existncia, sensvel e est ligada condio do tempo; e esta determinao, e com ela a prpria experincia interna, depende de qualquer coisa de imutvel que no est em mim e, por consequncia, depende de alguma coisa fora de mim com que devo considerar-me em relao. De sorte que a realidade do sentido externo est necessariamente ligada do sentido interno pela possibilidade de uma experincia em geral: o que quer dizer que eu sou consciente de que existem coisas fora de mim e que esto em relao com os meus sentidos, com a mesma certeza com que sou consciente de que eu prprio existo determinado no tempo". Por outros termos, se o "eu. penso" fosse o acto de uma autoconscincia criadora, no teria nada fora de si e no haveria coisas que lhe fossem exteriores. Dado que, pelo contrrio, o acto existencial de um entendimento finito, implica sempre uma relao com qualquer coisa fora de si; e a realidade feno113 mnica das coisas externas to certa como a realidade da conscincia e do prprio "eu penso". Assim se delineia a caracterstica essencial do ser pensante finito: a sua relao com o exterior. A possibilidade originria que constitui este ser, leva-o para alm de si, para a exterioridade fenomnica, da qual o torna dependente: esta dependncia a sensibilidade. Mas a dependncia de algum modo recproca: a possibilidade originria transcendental sempre simultaneamente a possibilidade da espontaneidade subjectiva (,inteligncia) e da organizao objectiva dos fenmenos (natureza). A deduo transcendental permite a Kant justificar a ordem necessria dos fenmenos naturais, Esta ordem condicionada pela sntese originria do entendimento (eu penso) e pelas categorias em que esta sntese se determina o articula. De facto, como simples representaes, os fenmenos no podem sujeitar-se a outra lei que .no seja a que lhes prescreve a faculdade unificadora. Por isso, a natureza em geral, como ordem necessria dos fenmenos (natura formaliter spectata)
condicionada pelo eu penso e pelas categorias. e modela-se por elas em vez de constituir o seu modelo. O "eu penso" o as categorias no podem todavia revelar seno o que a natureza em geral, como regularidade dos fenmenos em geral, como regularidade dos fenmenos no espao e no tempo. As leis particulares, nas quais esta regularidade se exprime, no podem ser deduzidas das categorias, mas devem ser extradas da experincia. Esta no seno a prpria natureza no seu aspecto subjectivo, devendo-se entender por natureza a totalidade organizada dos fe114 nmenos e por experincia esses fenmenos mesmos tal como aparecem ao homem. A deduo transcendental elimina assim a dvida de Hume sobre a validez das proposies extradas da experincia. Hume considerava possvel que a experincia de um momento ao outro desmentisse aquelas verdades de facto, que ela mesma sugere. Kant julga que tal possibilidade no existe. A experincia, condicionada como pelas categorias do intelecto o pela apercepo transcendental, no pode desmentir aquelas verdades que se fundam precisamente nestes factores condicionantes. As leis da natureza so assim garantidas na sua validez. A experincia que as revela nunca poder desmenti-las, j que elas se fundam nas condies que tornam possvel toda a experincia. 521. KANT: A Analtica DOS PRINCIPIOS Determinadas as categorias que presidem constituio da experincia e justificadas tais categorias pela deduo transcendental, Kant passa a determinar "o cnone do seu uso objectivamente vlido", isto , as regras segundo as quais devem aplicar-se aos casos particulares. Esta a tarefa da Analtica dos princpios ou Doutrina transcendental do juzo. Esta ltima expresso exprime o facto de que o uso das categorias precisamente o juzo. A analtica transcendental compreende o esquematismo, dos conceitos puros e o sistema dos princpios do entendimento puro. 115 A doutrina. do esquematismo responde necessidade de encontrar um termo mdio entre as categorias e as intuies empricas. Categorias e intuies so entro si heterogneas; e precisamente esta heterogeneidade que faz nascer o problema da possibilidade da aplicao das categorias s intuies. Ora, segundo Kant, o termo intermdio, que homogneo por um lado categoria, por outro, intuio emprica ou fenmeno, o esquema transcendental; e o modo como o entendimento se comporta com os esquemas o esquematismo do entendimento puro. O esquema um produto da imaginao, mas no uma linguagem porque contm j em si algo do conceito puro. definido como "o procedimento geral pelo qual a imaginao fornece a um conceito a sua imagem" (K. r. V., B 179). Ao passo que a imagem um produto da imaginao, o esquema a pura possibilidade da imagem: por isso, esta s reduzida ao conceito atravs do esquema, mas em si mesma nunca coincide perfeitamente com ele. Kant. enumera os esquemas em relao com cada categoria. Assim o esquema das categorias de quantidade o nmero, o das categorias de qualidade a coisa, o das categorias de relao a permanncia ou a sucesso ou a simultaneidade; o das categorias de modalidade a existncia no tempo e precisamente num tempo qualquer (possibilidade), num tempo determinado (realidade) e em todos os tempos (necessidade). Em geral, os esquemas no so seno determinaes a priori do tempo segundo regras; e estas regras referem-se ou srie do tempo (esquema de quantidade) ou ao seu contedo (esquema de quali116 dade) ou sua ordem (esquema de relao) ou, enfim, ao conjunto do tempo (esquema da modalidade).
Reconhecido assim o esquematismo como a condio geral do uso das categorias, Kant passa a determinar os juzos a que este uso d lugar. Evidentemente, no se trata aqui de juzos analticos, cuja verdade suficientemente garantida pelo princpio de contradio, mas de juzos sintticos, a que indispensvel uma referncia experincia. O conhecimento humano, de facto, no que tem de positivo e construtivo, no se estende para l da experincia, porque sempre conhecimento de fenmenos. Porm, a experincia no apenas o limite do conhecimento, mas tambm o fundamento do seu valor. Um conhecimento que no se refira a uma experincia possvel no conhecimento, mas sim pensamento vazio que nada conhece, simples jogo de representaes. Por outro lado, sobre o fundamento da possibilidade da experincia, o conhecimento adquire a sua plena validez, porquanto as condies, que tomam possvel a experincia, tornam tambm possvel o objecto da experincia, o fenmeno. Ora a experincia no um simples agregado de percepes, mas sim a conexo necessria entre os fenmenos. A possibilidade da experincia reside, pois, nas regras fundamentais desta conexo, que Kant chama de princpios do entendimento puro. A funo de tais princpios consiste essencialmente em eliminar o carcter subjectivo da percepo dos fenmenos, reduzindo a percepo conexo necessria que prpria da experincia objectivamente vlida. Estes princpios substituem os simples liames das percepes no 117 tempo pelas relaes necessrias que conglobam a experincia num todo coerente. Kant, como de ordinrio, recorre sua tbua das categorias para dar a srie sistemtica dos princpios do entendimento puro, os quais, em ltima anlise, no so outros seno os pressupostos fundamentais da cincia newtoniana. Os axiomas da intuio (correspondentes s categorias da quantidade) transformam o facto subjectivo de podermos perceber a quantidade espacial ou temporal (por exemplo, uma linha ou durao) percebendo apenas as partes sucessivas, no princpio objectivamente vlido segundo o qual toda a quantidade composta de partes; e assim justificam a aplicao da matemtica ao domnio inteiro da experincia. As antecipaes da percepo (correspondentes s categorias da qualidade) transformam a intensidade subjectiva da percepo num grau da qualidade objectiva e garantem assim a continuidade dos fenmenos (porquanto todo o fenmeno pode ter infinitos graus). As analogias da experincia (correspondentes s categorias da relao) permitem reconhecer por sob a mutabilidade das percepes um substracto permanente que a substncia dos fenmenos; substituem a simples sucesso temporal das percepes pela relao necessria de causalidade entre os fenmenos, a qual explica e fundamenta aquela sucesso; e permitem justificar objectivamente, mediante a relao da aco recproca, a simultaneidade dos fenmenos, a qual no pode aparecer nas percepes que so sempre sucessivas. So precisamente estas trs ana118 logias da experincia que constituem a natureza, a qual a prpria conexo objectiva entre os fenmenos. os postulados do pensamento emprico em geral esclarecem, finalmente, os conceitos de possibilidade, de realidade e de necessidade das coisas, dando a tais conceitos o seu valor objectivo.
Os princpios do entendimento puro garantem a validez objectiva da experincia, subtraindo-a sua objectividade da percepo. Constituem a natureza mesma. A percepo que se lhes furta um puro jogo da imaginao e no tem outra realidade objectiva seno a de um sonho. Estes problemas da analtica transcendental so o tema constante das ltimas meditaes de Kant recolhidas no Opus postumum. Nestas meditaes, bastante pouco concludentes, pois Kant continuamente lhes interrompe o fio, e continuamente o retoma do princpio, na incapacidade de o desenvolver e de o conduzir at ao fundo, o velho filsofo propunha-se aplicar os princpios transcendentais da cincia da natureza fsica e, por conseguinte, justificar em particular as bases da fsica de Newton: um tempo absoluto que flui uniformemente sem relao com nada de exterior; um espao absoluto tambm, no relativo a qualquer coisa de exterior, mas permanente e imvel, uma matria nica e uniforme, animada por uma fora nica e simples na variedade das suas manifestaes. O princpio de que Kant pretendia valer-se nesta espcie de deduo da fsica newtoniana o da possibilidade da experincia como sistema total dos fenmenos. Assim, da unidade da experincia, de119 Ouzia a unidade a matria, que objecto da fsica. Assim, como h uma nica experincia de modo quando se fala de diversas experincias se alude na realidade a grupos de percepes, assim h um nico objecto da experincia, que a matria; e quando se fala de diversas matrias, aludese na realidade s substncias (Stoffen) diversas que constituem os elementos da matria (Op. post., VIII, 1, p. 235-538, etc.). Estas meditaes de Kant so importantes porque revelam a exigncia que sempre dominou a sua investigao crtico-transcendental: a de justificar a possibilidade, e portanto o valor, do saber positivo do homem (que para ele se identifica com a cincia newtoniana) precisamente sobre o fundamento dos limites de tal saber, isto , no mbito das possibilidades que constituem o entendimento finito do homem. 522. KANT: O NMENO Juntamente com a deduo transcendental e estreitamente vinculada a ela, a doutrina do nmeno constitui o fundamento da filosofia kantiana. No por acaso que tambm neste ponto Kant hesitou muito antes de chegar expresso definitiva do seu pensamento, e tambm sobre este ponto so particularmente significativas as diferenas entre a exposio da primeira edio e a da segunda edio da Crtica. A distino entre fenmeno e nmeno introduzida na Dissertao (1770) como distino entre mundo sensvel e mundo inteligvel. "0 que pensado de um modo sensvel, dizia ento Kant (Dissert., 4) a representao das coisas tal como aparecem, 120 o que pensado intelectualmente a representao das coisas, como so". A esta distino que Kant atribua metafsica tradicional, a Crtica da Razo Pura d um significado inteiramente novo. Esta obra havia j reconhecido e estabelecido solidamente que o conhecimento humano est encerrado dentro dos limites da experincia e que a experincia no se
refere a outra realidade que no seja o fenmeno. Este princpio exclui que as categorias tenham (segundo a terminologia de Kant um uso transcendental, pelo qual se referem s coisas em geral e em si mesmas, e implica que o seu uso possvel o emprico, pelo qual se referem s aos fenmenos, isto , aos objectos de urna experincia possvel. Mas este pressuposto, que fica definitivamente estabelecido para Kant a partir de 1781, d origem a um duplo problema. Em primeiro lugar, ao de explicar a iluso pela qual se propende a estender as categorias para l dos limites da experincia possvel, isto , s coisas em si mesmas; o em segundo lugar, ao de explicar a funo do nmeno relativamente prpria experincia, isto , ao conhecimento humano. Sobre o primeiro problema, a atitude de Kant clara e definida desde o princpio. Tal iluso nasce do facto de as formas a priori do entendimento no dependerem da sensibilidade, e isto f-las parecer aplacveis mesmo para alm da sensibilidade, como se o pensamento pudesse atingir o ser em si. Na realidade, as formas do entendimento so apenas a faculdade lgica de unificar o mltiplo da sensibilidade e, onde tal multiplicidade falte, a funo delas torna-se impossvel. J na primeira edio 121 Kant distinguia claramente a possibilidade transcendental ou real, constitutiva do conhecer autntico, da possibilidade lgica de um conhecimento puramente fictcio. "0 jogo de prestgio pelo qual a possibilidade lgica do conceito (que no se contradiz a si mesmo) se substitui possibilidade transcendental das coisas (pela qual ao conceito corresponde um objecto) pode iludir e satisfazer apenas os inexperientes" (A 244). E uma nota de segunda edio acrescenta: "Todos estes conceitos [as categorias] no podem ser justificados nem, portanto--- demonstrados na sua real possibilidade, quando se abstraia de toda a intuio sensvel, a nica que possumos" (B 303). Todavia, o nmeno no apenas uma iluso Reconhecer como fenmenos os objectos da experincia significa implicitamente contrapor-lhe. objectos no-fenmenos. Estes objectos so, pois, possveis. Mas sobre o significado da sua possibilidade e, por conseguinte, sobre a funo que tal possibilidade exerce nas relaes do conhecimento humano, as ideias de Kant s lentamente se foram aclarando. Numa primeira fase (1.a edio da Crtica e
Prolegmenos) Kant no atinge plenamente o significado da sua prpria distino entre possibilidade lgica e possibilidade transcendental. O nmeno, embora tenha sido reconhecido como uma simples possibilidade lgica, chamado a exercer uma funo positiva no conhecimento e tratado como uma realidade, embora desconhecida. "Todas as nossas representaes, dizia Kant na primeira edio da Crtica (A 251), so na realidade referidas pelo entendimento a um dado objecto, e, visto que os 122 fenmenos, no so seno representaes, o entendimento refere-os a algo que seja objecto da intuio sensvel; mas este algo, enquanto tal, no mais do que objecto transcendental. Este significa um algo =x, de que nada sabemos e de que (pela presente constituio do nosso entendimento) nada podemos absolutamente saber, mas que pode servir apenas como correlato da unidade da apercepo, com vista quela unidade do mltiplo na
intuio sensvel por meio da qual o entendimento unifica o mltiplo no conceito de um objecto". Aqui, o nmeno um x, uma realidade desconhecida, certo, mas em todo o caso uma realidade, que serve de correlato quele "eu estvel e duradouro" de que falava a deduo transcendental da primeira edio. A esta realidade desconhecida, que o nmeno, se atribui nos Prolegmenos (1, obs. 2 a) a funo de influir sobre a sensibilidade e de ser o substracto dos corpos materiais empiricamente percebidos. "Eu admito, diz aqui Kant, refutando o idealismo de Berleley, que fora de ns existam corpos, isto , coisas que, conquanto nos sejam completamente desconhecidas quanto ao que so em si mesmas, conhecemos por meio das representaes que o seu influxo sobre * nossa sensibilidade nos fornece e s quais damos * denominao de corpo; tal palavra significa, portanto, apenas o fenmeno daquele objecto que nos desconhecido mas que nem por isso menos real." O nmeno seria, deste ponto de vista, a substancia dos corpos materiais enquanto fenmenos. o conceito do nmeno aqui apresentado como resultado do processo que induz a considerar sub123 jectivas algumas qualidades dos corpos; at certo ponto, a prpria intuio de corpo se torna subjectiva, mas permanece a realidade desconhecida, o x que est por detrs dessa intuio e que no semelhante a ela, como no semelhante a sensao do vermelho propriedade do cinbrio que a produz. evidente que nestas consideraes o nmeno no apenas, como Kant todavia reconhecera explicitamente na primeira edio da Crtica, uma possibilidade lgica, mas uma realidade, isto uma possi-bilidade transcendental, de que Kant se serve positivamente para explicar a constituio e a origem do conhecimento. Esta incongruncia eliminada na segunda edio da Crtica. Aqui, assim como se eliminam os passos que fazem da apercepo transcendental uma realidade psicolgica, ou seja, um "eu estvel e duradouro", so tambm eliminadas as passagens que respeitam funo positiva do nmeno na constituio e na origem do conhecimento humano e desenvolvido coerentemente o conceito do nmeno como pura possibilidade negativa e limitativa. Esclarece-se ento explicitamente que, em sentido positivo, o nmeno no mais do que o objecto de uma intuio no-sensvel, isto , de uma intuio intelectual que no a nossa e "da qual no podemos compreender sequer a possibilidade" (K. r. V., B 309). Em sentido positivo, o nmeno , portanto, pelo menos para o homem, impossvel, e qualquer uso do conceito dele est fora de discusso. A concluso que "aquilo que chamamos nmeno deve entender-se apenas em sentido negativo,>, como aquilo que no objecto 124 da nossa intuio sensvel. Neste sentido negativo, assume um novo relevo a funo que j se atribua ao nmeno na primeira edio da Crtica: a de conceito Emite. "Enfim, diz Kant (13 311), nem sequer possvel reconhecer a possibilidade de tais nmenos, e o territrio para l da esfera dos fenmenos (para ns) vazio; isto , possumos um entendimento que se
estende para l dessa esfera problematicamente, mas no temos nenhuma intuio pela qual nos possam ser dados objectos para l do campo da sensibilidade nem o entendimento possa ser usado em relao a eles de modo assertivo. O conceito de nmeno , pois, apenas um conceito limite (Grenzbegriff) para circunscrever as pretenses da sensibilidade e, por isso, de uso puramente negativo. Todavia, no um conceito forjado arbitrariamente, uma vez que se liga limitao da sensibilidade, sem no entanto estabelecer nada de positivo fora do domnio dela". Aqui o nmero j no mais que um x, uma realidade desconhecida mas positiva, capaz de exercer uma funo positiva com respeito ao conhecimento humano. a pura possibilidade negativa e limitativa conexa aos limites deste conhecimento enquanto sempre experincia. Que o conhecimento humano seja conhecimento de fenmenos, e no de nmenos, no significa que os nmenos estejam atrs dele como aquilo que o suscita, o sustm e o justifica, mas Somente que no conhecimento divino, que no cria realidade, mas se move no mbito de possibilidades determinadas, empiricamente dadas, e que fora de tais possibilidades nada existe. Kant 125 foi-se libertando assim, lenta e exaustivamente, de todos os resduos ingenuamente realisticos do seu criticismo. A edio de 1787 marca verdadeiramente a sua vitria definitiva neste ponto. Mas a vitria sobre o realismo no significou, para Kant, idealismo. A dissoluo do nmeno como realidade positiva, a qual se foi operando gradualmente no seu pensamento, no implica de modo algum que ele tenha reduzido toda a realidade ao sujeito. O sujeito para ele a inteligncia Enita, isto , o homem, cujo acto de autodeterminao existencial (o eu penso) ao mesmo tempo uma relao possvel com a realidade objectiva da experincia. O ensinamento, que se extrai da deduo transcendental e da doutrina do nmeno, na forma definitiva que estes fundamentos assumiram na segunda edio da Crtica, que o acto originrio constitutivo da subjectividade pensante do homem ao mesmo tempo o acto instaurador de uma relao bem fundada entre o homem e a realidade objectiva do mundo da experincia. A subjectividade humana revela-se assim como uma relao com o objecto: com um objecto que no uma realidade desconhecida, mas sim a emprica multiplicidade do mundo em que o homem vive. significativo que os pensamentos dispersos do Opus postumum no modifiquem o ponto de vista que Kant defende na segunda edio da Crtica, antes aduzam alguns esclarecimentos notveis a esse respeito. De facto, a amide referido (Op. post. ed. cit., 11, p. 20, 27, 33, etc.) o conceito da coisa em si como correlato da unidade originria do 126 entendimento, e, portanto, como um x que no uni objecto particular, mas o puro princpio do conhecimento sinttico a priori. Esta ora a doutrina da primeira edio da Crtica. Mas esta doutrina est entretecida e misturada com a afirmao, que se repete continuamente (Ib., p. 4, 25, 31, 32, etc.), de que a coisa em si "um puro pensamento sem
realidade" (Gedankending ohne Wirklichkeit), um ens rationis. E esta afirmao defendida no sentido de que a coisa em si representa o aspecto negativo do objecto da intuio emprica, aquilo a que Kant chama (1b., p. 24) o negativo sinttico da intuio a priori. A coisa em si no um objecto diverso do objecto sensvel mas apenas no ponto de vista negativo pelo qual tal objecto pode ser considerado" (Ib., p. 42). De modo que a distino entre fenmeno e coisa em si no uma distino entre objectos, mas entre as relaes existentes entre o sujeito e o objectivo fenomnico. O objecto fenomnico tal em virtude da relao positiva que ele tem com o sujeito a que aparece, relao pela qual elo uma intuio e precisamente uma intuio emprica. Mas tem tambm com o sujeito uma relao negativa (no coisa em si) e precisamente em virtude desta relao negativa pode ser considerado como fenmeno e por isso submetido unidade da apercepo e das categorias (Ib., p. 44, 412). Kant afirma que somente: esta relao negativa toma possvel a filosofia transcendental: afirmao que exprime por outras palavras aquela que aparece continuamente na Crtica, e que, se os objectos do conhecimento fossem coisas em si, seria 127 impossvel aplicar-lhes as funes subjectivas do conhecer e tais funes no teriam significado. , portanto, evidente que a doutrina em que Kant insiste ao longo das pginas do Opus postumuni, a da coisa em si como ens rationis e relao negativa do sujeito com o objecto emprico, no mais do que uma reafirmao da coisa em si como conceito-limite que torna possvel o conhecimento emprico do homem o a filosofia transcendental que analisa as condies desse conhecimento. 523. KANT: A DIALCTICA TRANSCENDENTAL Com as duas seces da Analtica transcendental (Analtica dos conceitos e Analtica dos princpios) se conclui a parte positiva da Lgica transcendental. A segunda parte desta lgica, a Dialctica transcendental, negativa: tende a mostrar a impossibilidade daqueles conceitos que a razo humana levada a formular, prescindindo da experincia, mediante o uso transcendente das categorias. A dialctica transcendental , portanto, a crtica da dialctica, isto , da lgica assumida como rgo de conhecimento. Kant diz a este propsito: "Por muito que varie o significado que os antigos deram ao nome de cincia ou arte dialctica, pode-se todavia inferir do sentido em que o empregaram que a dialctica, para eles, no mais do que a lgica da aparncia. foi a arte sofstica de dar prpria ignorncia, e at s voluntrias iluses, a aparncia 128 - 11 KANT da verdade imitando o mtodo da fundamentao que a lgica em geral prescreve, e servindo-se da sua tpica para colorir todos os raciocnios ocos. Agora podemos fazer uma advertncia segura e lil: a lgica geral, considerada como rgo, sempre lgica da aparncia, isto , --
dialctica" (K. r. V., B 87). Isto acontece porque a lgica por si s, ou seja, sem a ajuda da experincia, no pode produzir conhecimentos: e produz apenas noes aparentes ou fictcias que se substituem aos conhecimentos. A dialctica transcendental, todavia, no se ocupa da crtica de todas estas noes, mas apenas das que nascem de uma "iluso natural e inevitvel da razo humana" e que, por consequncia, persistem mesmo depois de se ter provado o seu carcter ilusrio. Kant identifica estas noes com as de alma, de mundo e de Deus que eram o objecto da metafsica tradicional. A dialctica transcendental , substancialmente, a crtica desta metafsica. A crtica de Kant , no entanto, dirigida forma que aquelas noes assumiram na metafsica especial de Wolff, que ele considerava a mais ordenada o rigorosa exposio de tais noes. Mas importa notar que Wolff distinguira da metafsica especial, que compreende a psicologia, a cosmologia e a teolologia, uma metafsica geral ou ontologia, que Kant nunca pe em causa. que ele considera que os resultados fundamentais da ontologia de Wolff podem ser fundamentalmente aceites por aquela "metafsica crtica" ou "cientfica" que, segundo Kant, coincide com a crtica da razo pura (1b., B 870) e que, num escrito de 1793, em que versou 129 um tema proposto pela Academia de Berlim (Quais No os progressos reais que a metafsica fez desde o tempo de Leibniz e Wolff?, A 156), denominou pelo prprio nome de ontologia. Como se disse, as noes fictcias da metafsica so produzidas pelo uso natural, mas no disciplinado, da razo. Ora, assim como o acto do entendimento o juizo, assim a actividade da razo o silogismo; e do mesmo modo que Kant extrara das diferentes classes de juzo as categorias do entendimento, assim extraiu das diferentes classes de silogismo os conceitos da razo. Ora, o silogismo pode ser categrico, hipottico e disjuntivo (segundo a classificao aristotlica e estica que a lgica escolstica adoptou). Os conceitos da razo fundados sobre esta diviso contm, portanto, em primeiro lugar, a ideia do sujeito completo (substancial), que a da alma; em segundo lugar, a ideia da srie completa das condies, que a do mundo; em terceiro lugar, a ideia de um conjunto perfeito de todos os conceitos possveis, que a de Deus. Cada uma destas ideias representa sua maneira a totalidade absoluta da experincia, mas uma vez que a totalidade da experincia nunca uma experincia, nenhuma delas tem valor objectivo, e precisamente por isso ideia, e no realidade. A ideia da alma representa a totalidade da experincia em relao ao sujeito; a ideia do mundo representa esta totalidade em relao aos objectos fenomnicos; e a ideia de Deus representa-a em relao a todo o objecto possvel, fenomnico ou no A crtica destas trs ideias ao mesmo tempo a crtica das trs disciplinas que 130 constituam a metafsica especial de Wolff, ou seja, da psicologia racional, da cosmologia racional e da teologia racional. Kant considera que o fundamento da psicologia racional e, portanto, do conceito de alma em que ela assenta, um simples paralogismo, isto , um raciocnio falso. Este raciocnio consiste em aplicar ao eu penso a categoria da substncia e, consequentemente, em transformar este acto originrio do entendimento numa substncia
simples, imaterial e incorruptvel e por isso tambm espiritual e imortal. Mas a categoria de substncia, como todas as demais categorias, s se pode aplicar a objectos empricos, e o eu penso no um objecto emprico mas apenas, como se viu, a funo lgica do sujeito pensante em relao a um mltiplo emprico determinvel. A aplicao da categoria de substncia no pode por isso usar-se com respeito ao "eu penso": assim, todas as dificuldades da psicologia racional provm de um silogismo falso, porquanto se toma a palavra "sujeito" em dois sentidos diferentes. E, de facto, o eu que pensa , desde logo, sujeito, mais no substncia, quer dizer, ser subsistente por si. , sem dvida, um eu singular, uma vez que no pode ser resolvido numa pluralidade de sujeitos, mas nem por isso substncia simples, j que a simplicidade no pode predicar-se seno de substncias empricas. Isto garante a identidade do eu como funo sinttica, mas tal identidade nada diz sobre a entidade do eu fenomnico que o nico que objecto de conhecimento. Enfim, o eu penso estabelece a distino entre si e as coisas exteriores; 131 mas nada diz acerca da possibilidade de poder subsistir sem tais coisas. Confundindo estas duas afirmaes, a psicologia racional manifesta o seu carcter ilusrio e falaz. A ideia de mundo como totalidade absoluta de todos os fenmenos, que o objecto da cosmologia racional, revela a sua ilegitimidade ao motivar afirmaes antitticas que se apresentam revestidas de igual verosimilhana. Tais afirmaes so as antinomias da razo pura, verdadeiros conflitos da razo consigo mesma, dos quais ela no pode salvar-se seno abandonando o princpio de que nascem, a prpria ideia de mundo. Desta ideia (que nada tem a ver com natureza, que a conexo causal dos fenmenos) nascem de facto quatro antinomias. A primeira a que existe entre finitude e infinitude do mundo com respeito ao espao e ao tempo; com efeito, pode sustentar-se seja que o mundo tenha tido um incio no tempo e tenha um limito no espao, seja que no tem nem um nem outro e seja infinito. A segunda antinomia nasce da considerao da divisibilidade do mundo: pode sustentar-se seja que a divisibilidade se interrompe num certo limite e que, por isso, o mundo composto de partes simples, seja que a divisibilidade pode ser levada at ao infinito e que, portanto, nele nada existe de simples, isto , de indivisvel. A terceira antinomia diz respeito relao entre causalidade e liberdade: pode admitir-se uma causalidade livre alm da causalidade da natureza ou negar qualquer causalidade livre. A quarta antinomia concerne dependncia do mundo para com um ser 132 necessrio: pode admitir-se que exista um ser necessrio como causa do mundo, ou pode negar-se tal ser. Entro a tese e a anttese destas
antinomias impossvel decidir, porque ambas podem ser demonstradas. O defeito reside na prpria ideia do mundo, a qual, estando para l de toda a experincia possvel, no pode fornecer nenhum critrio para se decidir por uma ou por outra das teses opostas. As antinomias demonstram portanto a ilegitimidade da ideia de mundo. Tal legitimidade resulta evidente se se observa que as teses das ditas antinomias apresentam um conceito demasiado pequeno para o entendimento e as antteses um conceito demasiado grande para o prprio intelecto. Assim, se o mundo teve um princpio, regredindo empiricamente na srie dos tempos, seria preciso chegar a um ponto em que este regresso terminasse; e este um conceito do mundo demasiado pequeno para o entendimento. Se, ao invs, o mundo no teve um princpio na srie dos tempos j no @ pio, o regresso pode esgotar a eternidade; e este um conceito demasiado grande para o entendimento. O mesmo se pode dizer da finitude e da infinitude espacial, da divisibilidade, etc. Em qualquer caso se chega a um conceito de mundo que, ou reduz a limites apertados a possibilidade do homem de avanar de um termo a outro na srie dos eventos, ou estendo estes limites a tal ponto que torna insignificante esta mesma possibilidade. A terceira ideia da razo pura, a de Deus, denominada por Kant o ideal da razo pura. Com efeito, o conjunto e todas as @@s@b_iIQWS' isto 133 , o ser determinado por, pelo menos, um dos possveis predicados opostos das coisas. Este ideal o modelo das coisas que, como cpias imperfeitas daquele, dele extraem a matria da sua possibilidade. Por isso se chama o Ser originrio; e chama-se Ser supremo enquanto no tem nenhum ser sobre si e Ser dos seres enquanto qualquer outro ser condicionado por ele. Estas determinaes, no entanto, so puramente conceptuais e nada dizem sobre a essncia real do ser de que se trata. Kant analisa a este propsito as provas aduzidas sobre a existncia de Deus, e redulas a trs: a prova fsico-teolgica, a prova cosmolgica e a prova ontolgica. Comea a sua anlise por esta ltima, a qual pretende deduzir a existncia de Deus do conceito de Deus como ser perfeitssimo. Esta prova, segundo Kant, contraditria ou impossvel: contraditria se se cr que no conceito est j implcita a sua existncia, porque nesse caso j no se trata do simples conceito; e impossvel se no a considerarmos implcita porque nesse caso a existncia dever ser acrescentada ao, conceito sinteticamente, isto , por via da experincia, ao passo que Deus est para l de toda a experincia possvel. A prova cosmolgica que passa da contingncia do mundo necessidade do ser supremo funda-se na prova ontolgica, j que o ser necessrio precisamente o ser cujo conceito implica a sua existncia, de modo que a demonstrao da necessidade de Deus pressupe a prova ontolgica. Quanto prova fsico-teolgica que remonta da ordem do mundo ao seu ordenador, essa, segundo Kant, no conclui, .134 porque no dado ao homem estabelecer uma relao entre a ordem do mundo e o grau de
perfei. o divina que deveria explicar tal ordem. Tambm esta prova implica um salto, em que s a pode ajudar a prova cosmolgica e a prova ontolgica, de modo que sofre o mesmo triste destino que estas duas. Esta crtica basta, segundo Kant, para tirar todo o fundamento no s ao tesmo, que admite um Deus vivo, cujos atributos podem ser determinados por uma teologia natural, mas tambm ao simples desmo, que admite apenas um ser originrio ou uma causa suprema, furtando-se a determin-lo ulteriormente. 4, Todavia, as ideias da razo pura, ainda que negadas no seu valor objectivo, na sua realidade, apresentam-se incessantemente como problemas. Reconhecida a iluso a que o homem est sujeito no uso dialctico da razo, cumpre remontar raiz de tal iluso que se radica na prpria natureza do homem e dar a esta raiz um uso positivo e construtivo ao servio do prprio conhecimento emprico. Por outros termos, negada a soluo dogmtica do problema metafsico, cumpre propor uma soluo crtica, para que o problema mantenha e preserve a sua problematicidade. De que maneira? A tal pergunta responde o uso regulador das ideias transcendentais. Es titutivo, pois no servem para conhecer nenhum objecto possvel; mas podem e devem ter um uso regulador, orientando a busca intelectual para aquela unidade total que representam. Toda a ideia , para a razo, uma regra que a induz a dar ao 135 seu campo de investigao, que a experincia, no s a mxima extenso, mas tambm a mxima unidade sistemtica. Assim, a ideia psicolgica leva a procurar os nexos entre todos os fenmenos do sentido interno e a descobrir neles uma cada vez maior unidade como se eles fossem manifestaes de uma nica substncia simples. A ideia cosmolgica leva a passar incessantemente de um fenmeno natural a outro, do efeito causa e causa dessa causa e assim por diante at ao infinito, precisamente como se a totalidade dos fenmenos constitusse um nico mundo. A ideia teolgica, enfim, acrescenta experincia um ideal de perfeita organizao sistemtica, que ela nunca atingir, mas que perseguir sempre, precisamente como se tudo dependesse de um nico criador. As ideias, deixando de valer dogmaticamente como realidade, valero neste caso problematicamente, como condies que levam o homem a empenhar-se na investigao natural e o solicitam de acontecimento em acontecimento, de causa em causa, na tentativa incessante de estender o mais possvel o domnio da sua prpria existncia e de dar a este domnio a mxima unidade. No entanto tratar-se- sempre de uma unidade problemtica, que se' apresentar como um problema nos problemas concretos da investigao cientfica, mas que nunca poder ser substituda por uma realidade ou um objecto e afirmada como tal. A nica via para garantir unidade total da experincia o seu carcter problemtico e para evitar que ela pretenda erigir-se numa reali136 dade ilusria, considerla. segundo Kant, corno o guia e a regra da investigao que se move nos limites mesmos da experincia. 524. KANT: A DOUTRINA TRANSCENDENTAL DO MTODO
A Esttica e a Lgica transcendental (nas suas duas partes de Analtica e Dialctica) constituem no seu conjunto a Doutrina transcendental dos elementos, a qual , segundo a imagem de Kant, o clculo e a determinao dos materiais que constituem o edifcio do conhecimento humano. A Doutrina transcendental do mtodo deve, ao invs, dar os planos deste edifcio, planos que devem estar em relao com as possibilidades e os limites do material a utilizar. Kant define a doutrina transcendental do mtodo como "a demonstrao das condies formais de um sistema completo dia razo pura". E nela trata da disciplina, do cnone, da arquitectnica e da histria da razo pura. Na realidade, esta ltima parte da obra de Kant j havia sido quase toda exposta no curso do estudo dos elementos, de modo que ela assume o simples relevo de uma recapitulao ou repetio, do ponto de vista das aplicaes prticas, da primeira parte da Crtica. Na Disciplina da razo pura, Kant preocupa-se em primeiro lugar em estabelecer a diferena entre filosofia e matemtica. A filosofia, diz, conhecimento racional mediante conceitos, ao passo que 137 a matemtica um conhecimento racional mediante construo de conceitos. Para construir um conceito necessria uma intuio no emprica, e esta a intuio do espao-tempo de que o matemtico se vale nas suas construes. A filosofia, que no tem sua disposio nenhuma intuio pura adequada aos seus conceitos, no procede por construo mas por anlise. O seu mtodo deve por isso diferenciar-se do da matemtica. No pode partir de definies, como o faz a matemtica, mas sim da experincia, com a condio de demonstrar por fim a legitimidade desta; no conhece os axiomas, de que a matemtica extrai os seus fundamentos, no tem sequer verdadeiras demonstraes, porque no atinge nunca a certeza apodctica. O conhecimento filosfico pode, certo, denominar-se um sistema, mas somente como sistema de investigao e busca daquela unidade a que s a experincia pode fornecer a matria. Tudo isto concerne ao uso positivo da razo. Quanto ao seu uso negativo, isto , polmico, para a defesa das proposies contra as negaes dogmticas, Kant considera que a razo deve evitar igualmente o dogmatismo e o cepticismo e assumir em todos os casos uma atitude critica. O dogmatismo o primeiro passo na razo pura; o cepticismo o segundo. A crtica o passo definitivo com o qual se assinalam precisamente os limites do poder e da capacidade da razo e sobre estes limites se estabelecem firmemente esse poder e capacidade. A disciplina da razo compreende tambm as suas hipteses e as suas demonstraes. Os conceitos da razo so, como se viu, apenas 138 princpios reguladores, isto , fices heursticas, de que o entendimento se serve para estender e organizar a investigao emprica. No podem converter-se em hipteses que expliquem os factos empricos ou as coisas naturais, porque isso constituiria, na realidade, unia renncia a toda a explicao e um pretexto da razo preguiosa para desistir da investigao. Em geral, toda a hiptese
pode ser formulada apenas base da experincia possvel e, por conseguinte, no pode conter "outras coisas ou princpios fora daqueles que segundo as j conhecidas leis dos fenmenos esto em relao com os fenmenos dados" (K. r. V., B. 801). Ademais, uma hiptese deve bastar para determinar a priori as prprias consequncias sem hipteses subsidirias (1b., B 802). E nenhuma destas condies satisfeita por uma <hiptese transcendental" em que para a explicao das coisas naturais se empregasse uma simples ideia da razo. Na demonstrao, finalmente, a primeira regra examinar os princpios de que se pretende partir; a segunda, a de servir-se de uma nica demonstrao, e a terceira a de servir-se de demonstraes ostensivas ou directas, no indirectas ou apaggicas, isto , que remontam da verdade das consequncias verdade das premissas. O Cnone da razo pura entendido por Kant como o complexo dos princpios a priori que devem regular o uso das faculdades cognitivas. Este cnone deve orientar a razo ao seu ltimo fim que o conhecimento dos trs objectos fundamentais da vida moral: a liberdade do querer, a imortalidade da alma e a existncia de Deus. Kant antecipa aqui os 139 fundamentos da doutrina que desenvolver na Crtica da razo prtica. O cnone serve tambm para distinguir a opinio, a f e a cincia. Uma crena vlida para todos os que so providos de razo chama-se convico; uma crena que tem por fundamento a natureza particular do sujeito chama-se persuaso. A persuaso tem apenas uma validez privada e, por conseguinte, incomunicvel, porque uma atitude subjectiva. Assim, a opinio uma crena insuficiente tanto subjectivamente quanto objectivamente, quer dizer, no nem convico nem persuaso. Uma crena considerada subjectivamente suficiente mas objectivamente insuficiente, chama-se f. Enfim, a crena suficiente tanto subjectivamente como objectivamente, diz-se cincia. A suficincia subjectiva a convico, a objectiva a certeza. A f refere-se direco imprimida ao homem por uma certa ideia e influncia subjectiva que esta ideia exerce sobre os actos da razo. Kant emprega este conceito de f na Razo prtica. A Arquitectnica da razo pura a arte do sistema, entendendo por sistema a unidade de mltiplos conhecimentos englobados numa nica ideia. Como sistema, a filosofia apenas um ideal, nunca uma realidade. No se pode aprender a filosofia, mas pode-se aprender a filosofar, isto , a exercer a razo a aplicar-se considerao e crtica dos seus prprios princpios. Mas o conceito escolstico da filosofia como sistema pressupe o conceito csmico da filosofia como cincia da relao de todo o conhecimento com o fim essencial da razo humana e, neste sentido, o filsofo no um simples racio140 cinador (como so os outros homens de cincia) mas o <legislador da razo humana". Como legislao da razo humana, a filosofia tem dois objectos, a natureza e a liberdade: a filosofia da natureza dirige-se quilo que existe, a dos costumes quilo que deve ser. Estas duas partes correspondem ao uso especulativo e ao uso prtico da razo pura e constituem, no seu conjunto, a metafsica. A primeira parte da metafsica. da natureza a filosofia transcendental que estuda o entendimento e a razo nos seus conceitos e princpios enquanto se referem a objectos em geral, mas sem considerar quais so os objectos dados; uma segunda parte estuda a natureza, isto , precisamente, o conjunto dos objectos dados.
Na Histria da razo pura Kant esboa uma espcie de classificao das doutrinas filosficas, distinguindo-as no que respeita ao objecto em sensualistas, como as de Epicuro, e intelectualistas, como as de Plato; no que respeita s origens do conhecimento, em empricas, como as de Aristteles e de Locke, e neologsticas (inatistas) como as de Plato e Leibniz; no que respeita ao mtodo, em naturalistas (ou dogmticas), cpticas, e cientficas (isto , crticas). 525. KANT: ANALITICA DA RAZO PRTICA: MORALIDADE E SANTIDADE A doutrina moral de Kant parece primeira vista que elimina todos os limites que a razo encon141 tra no seu uso teortico e que, portanto, abre ao homem as portas proibidas do nmeno. A razo prtica confere realidade objectiva s ideias transcendentes que a razo terica devia considerar apenas como problemas. O homem como sujeito da v 'da moral coloca-se no domnio do nmeno; e a , conscincia que teorticamente o referia s a si mesmo apenas como fenmeno, pe-no aqui em presena da sua essncia numnica. O homem liberta-se, em virtude dia lei moral, do determinismo causal a que est sujeito como ente que vive na natureza e se considera positivamente livre, isto , capaz de iniciar uma nova srie causal, independente da causalidade da natureza. As ideias de alma e de Deus deixam de ser "transcendentes e reguladoras" para se tornarem "imanentes: e ~ti"vas" do objecto da razo prtica, o sumo bem. Parece, por isso, que a vida moral abole um por um os limites que a vida terica impe ao homem e dos quais extrai todos os valores possveis. Mas, por outro lado, este contraste entre a Crtica da razo pura e a Crtica da razo prtica esfuma-se ou assume outro significado quando se confrontam os ternas fundamentais das duas obras. Apercebemo-nos ento da unidade fundamental da sua inspirao. Na Razo pura o tema dominante constitudo pela polmica contra a arrogncia da razo que pretende ultrapassar os limites humanos. Na Razo prtica o tema dominante o da polmica contra o fanatismo moral como veleidade de transgredir os limites da conduta humana. A Razo pura ope o conhecimento humano, fundado na intuio 142 sensvel dos fenmenos a um conhecimento problemtico divino fundado na intuio intelectual da coisa em si. A Razo prtica ope a moralidade humana, que o respeito da lei moral, santidade divina, que a conformidade perfeita da vontade com a lei. Enfim, a Razo pura apresenta o nmeno como sendo a condio do agir do homem na investigao emprica; a Razo prtica apresenta o nmeno como condio do empreendimento moral. O conceito kantiano da vida moral do homem funda-se na tese da natureza finita do homem, isto , na falta de um acordo necessrio entro vontade e razo. Se a vontade do homem estivesse j em si mesma necessariamente de acordo com a lei da razo, tal lei no valeria para ele como um mandamento e no lhe imporia a constrio do dever. A aco executar-se-ia infalivelmente em conformidade com a razo. Mas a lei da razo um imperativo e obriga o homem ao dever. Portanto, o prprio princpio da moral implica um
limite prtico, constitudo pelos impulsos sensveis, o por isso a finitude de quem deve realiz-la. "Para um ser, diz Kant (K. p. V., V, A 37, p. 20), para quem o motivo determinante da vontade Somente a razo, a regra da razo um imperativo, isto , uma regra que caracterizada por um dever ser que exprime a necessidade objectiva da aco e significa que, se a razo determinasse inteiramente a vontade, a aco efectuar-se-ia infalivelmente segundo esta regra". A moralidade, por outros termos, no a racionalidade necessria de um ser infinito que se identifica com a razo, mas sim a racionalidade possvel 143 de um ser que tanto pode assumir, como no assumir, a razo como guia da sua conduta. Estes fundamentos so a base de toda a doutrina moral de Kant. Por eles, a moralidade est to afastada da pura sensibilidade como da racionalidade absoluta. Se o homem fosse apenas sensibilidade, as suas aces seriam determinadas pelos impulsos sensveis. Se fosse s racionalidade, seriam determinadas pela razo. Mas o homem ao mesmo tempo sensibilidade e razo, tanto pode seguir o impulso como pode seguir a razo: nesta possibilidade de escolha consiste a liberdade que dele faz uni ser moral. Para viver moralmente, o homem deve transcender a sensibilidade. Isto implica no s que ele se subtrai aos impulsos sensveis, mas tambm que evita assumir como regra de aco qualquer objecto de desejo. Como ser racional mas finito, o homem deseja a felicidade: mas precisamente, enquanto objecto de desejo, a felicidade no pode ser o fundamento de um imperativo moral. O desejo no um imperativo; tudo o que objecto de desejo pode dar lugar a mximas subjectivas, privadas de validez necessria, a imperativos hipotticos, que ordenam alguma coisa em vista de um fim, no a uma lei objectivamente necessria, isto que valha para todos os seres racionais finitos. Os imperativos hipotticos so os de qualquer tcnica ou mesmo os da prudncia, que indicam os meios para se ser feliz. A lei moral , ao invs, um imperativo categrico que no tem em vista nenhum objecto, nenhum escopo determinado, mas apenas a conformidade da aco lei. DevWo a esta. exclu144 so de qualquer objecto do desejo, isto , de qualquer escopo particular, o imperativo categrico puramente formal. Constitui, como lei, a prpria exigncia de uma lei: obriga a vontade no a aces particulares, mas a toda a aco que esteja conforme com a lei da razo. A lei moral no pode mandar outra coisa seno proceder de acordo com uma mxima que possa valer para todos. E, de facto, uma mxima que no possa valer para todos, destri-se a si mesma e introduz a ciso e o conflito entre os seres racionais. A frmula do imperativo categrico ento a seguinte: "Age de modo a que a mxima da tua vontade possa sempre valer como principio de uma legislao universal". Esta frmula a lei moral; vale para todos os seres racionais, quer sejam finitos ou infinitos; mas Somente para os homens um imperativo porque no homem no se pode supor uma vontade santa, isto , uma vontade que no seja capaz de uma mxima contrria lei moral. Para os seres finitos, a lei moral , pois, um imperativo e obriga categoricamente, porque a lei incondicionada. A relao de uma vontade fiai@a com esta lei uma relao de dependncia que se exprime numa obrigao, isto , em obrigar a uma aco conforme lei. Esta aco denomina-se dever; e a lei moral assim a origem e o fundamento do dever no homem.
A lei moral no procede do exterior. um facto da razo pura no sentido do que "somos consequentes dela a priori e que apodicticamente certa, mesmo se se supe que na experincia no se pode encontrar nenhum exemplo da sua exacta observn145 cia" (K. p. V. 7; A 56). Sendo um facto, exclui a deduo, que, como se disse ( 519), no se aplica questo de facto. Crtica da razo prtica no se apresenta por isso, como na Crtica da razo pura, o problema da deduo transcendental sob a forma de uma demonstrao da validez da lei moral; esta validez faz parte do facto racional em que a lei moral consiste. Mas uma deduo transcendental apresenta-se igualmente no mbito da Crtica da razo prtica num sentido que Kant denomina de paradoxal: a saber, no sentido de que "o prprio princpio moral serve de princpio na deduo de uma faculdade imprescrutvel, que nenhuma experincia pode provar mas que a razo especulativa deve admitir como possvel, ou seja, a faculdade da liberdade" (lb., A 56). Assim, na medida em que a lei moral, como facto da razo, no tem necessidade de nenhum fundamento que a justifique, demonstra que a liberdade no s possvel mas real nos seres que reconhecem a lei como obrigatria. A deduo transcendental, no domnio moral, assume, portanto, a forma da deduo da liberdade base da presena, no homem, da lei moral como facto de razo. Tu deves, portanto podes, a frmula que, segundo Kant, resume a deduo transcendental no domnio moral. A lei moral permite estabelecer quer a liberdade negativa do homem, isto , a sua dependncia para com a natureza, quer a sua liberdade positiva, ou seja, a sua legislao autnoma. No entanto, tem um carcter puramente formal, visto que, na realidade, apenas prescreve a renncia por parte do 146 homem aos impulsos da sensibilidade e o seu determinar-se em virtude da pura universalidade da razo. o carcter formal da lei, a qual no obriga seno conformidade com a lei, tem sido frequentemente considerado uma abstraco e valeu doutrina moral de Kant a censura de negar a humanidade da vida moral. Na realidade, esse carcter deriva precisamente da considerao de que a vida moral vida essencialmente humana e, portanto, supe a presena da sensibilidade e o perigo, para o homem, de se abandonar aos seus impulsos. Precisamente por isso Kant afirmou a necessidade de subtrair a lei moral a todo o contedo e de a reconhecer na sua forma. Um ser cujos desejos tivessem j a validez objectiva da lei, que no pudesse desejar seno aquilo que a razo impe, no teria ideia do carcter formal da lei moral, e nem sequer da prpria lei como imperativo. Mas, dado que o homem no s razo, mas tambm sensibilidade, a sua vida moral , em primeiro lugar, o abandono da sensibilidade como motivo de aco e o decidir-se em conformidade com a pura forma da lei. Isso explica a funo essencial que o carcter formal da lei exerce em toda a doutrina moral de Kant. Kant serve-se dele em primeiro lugar para a crtica de todas as doutrinas morais que se
fundam no princpio material, isto , que deduzem a lei moral de qualquer objecto do desejo. Kant estabelece a seguinte tbua dos 147 MOTIVOS MATERIAIS DETERMINANTES DA VIDA MORAL (dada a sua complexidade, dever ser compulsada pelo livro) Subjectivos OBJECTIVOS Externos Internos Internos Externos da edudo governo do sentido sentide perfeida vontade cao civil mento mento o (wolff de Deus (Mandepoltico moral e os esti(Crusius e ville) (Epicuro) (Hutebecos) os demais son) 1 telogos)
Os motivos subjectivos, quer exteriores quer internos, so todos empricos e no podem, por isso servir de fundamento a uma obrigao moral incondicional. Tal obrigao seria de facto condicionada por circunstncias externas (de educao ou de governo) ou ento por um sentimento e no se justificaria na sua validez universal. Tais motivos subjectivos poderiam, quando muito, explicar efectivamente a presena da moralidade em certos homens ou grupo de homens, mas no justificaria o carcter absolutamente obrigatrio da lei moral. Que a educao ou o governo ou um sentimento meu qualquer me determinem a agir de um modo determinado, isso nada me diz ainda acerca do valor deste modo de agir, isto , sobre a minha obrigao real para com ele. Mas o mesmo se pode dizer tambm dos movimentos objectivos. A perfeio ou a vontade de Deus s podem tomar-se como motivos de aco se as considerarmos como factores ou elementos da nossa felicidade. Dependem, portanto, do desejo da 148 felicidade e no justificam a validez de uma lei que obriga incondicionalmente. Em segundo lugar, o formalismo da lei moral permite a Kant estabelecer o princpio de que "o conceito do bem e do mal no deve ser determinado antes da lei moral, mas apenas depois dela e mediante ela". O homem um ser dotado de necessidades enquanto faz parte do mundo sensvel e a sua razo tem tambm o encargo, que no pode recusar, de converter-se em instrumento de tais necessidades e, por consequncia, de contribuir para a satisfao destas e para a sua felicidade. Mas a razo no apenas unia maneira particular de que a natureza se serve para orientar o homem para o mesmo fim para que encaminhou os animais, isto , o bem-esW, . O homem pode e deve servir-se da razo para um fim superior e, por conseguinte, considera o que bem em si mesmo, e no apenas relativamente s suas necessidades; neste caso, a razo usada para um juizo que, do ponto de vista sensvel, absolutamente desinteressado, e que o nico juizo verdadeiramente moral. Neste juizo sobre o bem e sobre o mal em si, a razo determina a vontade imediatamente, isto , no em vista dos objectos do desejo, e a vontade convertese em razo pura prtica. A vontade, cuja mxima est conforme com a lei moral, portanto boa absolutamente, a todos os respeitos, e condio suprema de todo o bem evidente, de facto, que todos os outros bens, at mesmo a habilidade ou o engenho humano, podem ser mal usados, e por isso no so bens em sentido absoluto; a vontade boa , ao invs, bem em sentido 149 absoluto e a nica coisa incondicionalmente boa. Mas para ser tal, no basta que se conforme com a lei, necessrio ainda que actue unicamente em vista da lei. Se a aco escolhida pela vontade, embora se conforme com a lei moral, no se executa em vista da lei mas por um outro fim sugerido pelo modo ou pela esperana, no uma aco moral porque no uma aco determinada imediatamente pela lei moral Isto leva a considerar os mbeis da aco moral. Kant distingue a este propsito a legalidade da moralidade: a legalidade a conformidade
com a lei de uma aco que todavia se faz por um outro motivo de natureza sensvel, por exemplo, a fim de evitar um dano ou obter uma vantagem. <A moralidade , pelo contrrio, a conformidade imediata da vontade com a lei, sem o concurso dos impulsos sensveis. Ora, dado que o conjunto dos impulsos, cuja satisfao constitui a felicidade, o amor de si (ou egosmo), a aco que realiza a moralidade e, por conseguinte, a liberdade, a eliminao do egosmo e, em primeiro lugar, da presuno que antepe o eu e os seus impulsos lei moral. Mas a aco negativa da liberdade sobre o sentimento tambm um sentimento, o nico sentimento moral: o respeito. E o respeito no apenas o mbil da moralidade, mas toda a moralidade considerada subjectivamente, j que s abatendo toda a pretenso do amor de si se confere autoridade lei e se lhe permite adquirir predomnio sobre o homem. Kant insiste no facto de que a moralidade como respeito uma condio prpria do homem como ser racional 150 finito. "0 respeito uma aco sobre o sentimento, logo sobre a sensibilidade, de um ser racional: supe, portanto, esta sensibilidade e, juntamente com ela, a finitude dos seres a quem a lei moral impe respeito. A um ser supremo ou, pelo =nos livre de toda a sensibilidade e ao qual por isso a sensibilidade no possa ser um obstculo para a razo prtica, no se pode atribuir respeito pela lei" (K. p. V., A, 134-35). Do conceito de mbil deriva o de interesse moral, que no mais do que a representao do mbil da vontade mediante a razo. No conceito de interesse se funda, ademais, o de mxima. E estes trs conceitos, o de mbil, o de interesse e o de mxima, s podem ser aplicados aos seres finitos. "Supem, de facto, uma limitao na natureza de um ser, no qual a natureza subjectiva do seu livre-arbtrio no est em si mesma de acordo com a lei objectiva de uma razo prtica; supem a necessidade de serem de algum modo estimulados actividade porque um obstculo interno se lhes ope. Por isso no se podem aplicar vontade divina" (K. p. V., A 142). Estes esclarecimentos fundamentais permitem entender o significado da afirmao kantiana da natureza numnica da vida moral. A vida moral a constituio de uma natureza supra-sensvel na qual a legislao moral sobreleva a legislao natural. A natureza sensvel dos seres racionais a sua existncia sob leis condicionadas empiricamente: por isso, esta natureza , para a razo, heteronomia. A natureza suprasensvel autonomia porque est 151 sob o domnio da pura razo. Ao passo que a natureza sensvel uma natureza a que a vontade racional est submetida, a natureza supra-sensvel est submetida vontade porque tem o seu fundamento na razo prtica. A natureza supra-sensvel , portanto, o produto da vontade livre, ou seja, da vontade conforme com a lei, e sob este aspecto a frmula do imperativo categrico pode-se tambm exprimir assim: "Age como se a mxima da tua aco se devesse tornar, por tua vontade, lei universal da natureza &. (Grund1. Zur Met. der Sitten, A 82-83). Das duas expresses do imperativo categrico, a primeira ("Age de modo a que a mxima da tua vontade possa sempre valer de lei universal", e esta ltima, do a forma do prprio imperativo, A matria deste imperativo, quer dizer, o
fim, dada pela subjectividade dos prprios seres racionais. @,, De facto, o imperativo categrico implica o reconhecimento dos outros sujeitos morais para as quais a lei deve poder valer, e, portanto, inclui, o respeito pela sua dignidade. De sorte que o imperativo categrico pode tambm. assumir esta segunda forma: "Procede de modo a tratar a humanidade, na tua pessoa como na dos outros, sempre como fim, nunca como simples meio". Esta segunda frmula supe que a universalidade da lei moral o acordo sobre um determinado objecto, nem a uniformidade da aco dos vrios sujeitos, mas apenas o reconhecimento da dignidade humana das demais pessoas como da prpria. Tal reconhecimento faz com que todos os homens como sujeitos morais constituam um reino dos fim, isto , 152 uma "unio !sistemtica de seres racionais", da qual todo o membro legislador e sbdito. Neste reino, nenhum ser racional finito pode aspirar ao lugar de soberano, porque nenhum perfeitamente independente, sem necessidade, e cujo poder no seja limitado. Mas todos participam nele, mediante o a~ da liberdade que os constitui em pessoas. Todavia, dado que cada membro do reino dos fins no s sbdito mas tambm legislador, o imperativo categrico pode exprimir-se por esta terceira frmula: "Age de modo a que a vontade possa considerar-se a si mesma, mediante a sua mxima, como legisladora universal" (lb., A 84), que a frmula que exprime da maneira mais completa a autonomia do homem como sujeito moral. As trs frmulas do imperativo categrico mostram como a actividade moral do homem tende realizao de um mundo que no o da natureza em~ e das suas leis necessrias. Todavia, este mundo no pode realizar-se se se opuser natureza sensvel e s leis que a regem: a sua prpria possibilidade no tem outro horizonte nem outra via para se afirmar seno a prpria natureza -sensvel. Aqui est a raiz da exigncia paradoxal de que o homem como sujeito da liberdade valha como nmeno. A moralidade supe o encontro de duas causalidades independentes, a da li@bertao e a do niccanisino natural; e este encontro verfica-se no homem. O homem deve ser, por um lado, relativamente liberdade, um ser em si, por outro, relativamente necessidade , natural, um fenmeno (K. p. V., A 6 e nota). Mas afirmando-se como nmeno, o homem no 153 anula a sua natureza sensvel. A sua numenalidade mobiliza a sua fenomenalidade; o mundo supra-sensvel que estabelece no acto da sua liberdade, a forma da prpria natureza sensvel. A causalidade livre, que d lugar natureza supra-sensvel , decerto, espontaneidade, mas no criao. A numenalidade do sujeito moral no significa o abandono da sensibilidade nem a ruptura de todos os laos com o mundo sensvel. o homem, como sujeito moral, no se identifica. com a razo, a moralidade nunca conformidade completa da vontade com a lei, nunca santidade. A oposio entre moralidade e santidade o tema dominante da Crtica da razo pura e o fundamento da sua ltima parte, a "Doutrina do mtodo". A santidade exclui a possibilidade de se subtrair lei e torna intil o imperativo e a coaco do dever. Mas a moralidade uma obrigao e implica uma violncia feita aos impulsos. Dever e obrigao so os nicos nomes apropriados relao do homem com a lei moral. "Ns somos, decerto, membros legisladores de um reino moral tornado possvel pela liberdade e representado pela razo prtica como objecto de respeito; mas somos os sbditos, no o
soberano desse reino, e assim o desconhecer a nossa condio inferior de criaturas, o recusar presunosamente a autoridade da lei, j uma infidelidade ao esprito da lei, mesmo quando se lhe observe a letra" (K. p. V. A 147). A santidade , pois, reservada a Deus e reconhecida, juntamente com a beatitude e a sabedoria, uma das propriedades que s lhe pertencem a Ele, porque supem a ausncia 154 de limites ( Ib., A 237, no-ta). Mas nem o homem nem nenhuma criatura racional pode atribuir-se a santidade seno por uma presuno ilusria. Tal presuno o fundamento do fanatismo moral. Este pretende cumprir a lei de bom grado, em virtude de uma inclinao natural, e assim substitui a virtude, que a inteno moral em luta com o mundo, pela santidade de uma suposta pureza' de intenes absoluta. O fanatismo moral incita os homens s aces mais nobres, mais sublimes, mais magnnimas, apresentando-as como puramente meritrias; e assim substitui o respeito por um mbil patolgico,, porque se funda no amor de si e determina uma maneira de pensar leviana, superficial e fantstica, pela qual o orgulho de uma bondade espontnea, que no necessita nem de esporas nem de freio, aniquila a humildade da simples submisso ao dever (K. p. V., A 15152). O preceito cristo que manda amar Deus e o prximo pretende, ao invs, subtrair este amor inclinao natural; e assim garante a pureza da moralidade e a sua proporo aos limites dos seres finitos; submete o homem disciplina de um dever que no o deixa vangloriar-se de perfeies morais imaginrias e lhe imps os limites da humildade, isto , da sinceridade consigo mesmo (lb., A 152). consequentemente , o mtodo da razo prtica, isto , a via para assegurar ao imperativo moral a mxima eficcia sobre o homem, visa fundamentalmente destruio do fanatismo moral. Deve promover, a "representao clara e severa do dever, mais conforme com a imperfeio humana e o Progresso do bem". 155 526. KANT: DIALCTICA DA RAZO PRTICA: POSTULADOS E F MORAL A aco moral do homem tem como objectivo ou termo final o sumo bem. O sumo bem para o homem, que um ser finito, consiste, no s na virtude, mas tambm, na unio da virtude e da felicidade. A virtude , de facto, o bem supremo, quer dizer, a condio de tudo o que desejvel; mas no o bem completo e perfeito para seres racionais finitos, que tm tambm necessidade de felicidade. "Ter necessidade da felicidade e ser digno dela, e todavia no participar dela, no compatvel com o querer perfeito de um ser racional que tivesse ao mesmo tempo a omnipotncia: somente, procuramos figurar um tal sem. Mas virtude e
felicidade no esto por si mesmas unidas. O esforo em ser-se virtuoso e a busca da felicidade so duas aces diferentes: uma no implica a outra. A identidade entre virtude e felicidade foi admitida pelos epicreos e pelos esticos, pois, que os primeiros consideram implcita a virtude na busca da felicidade e os segundos consideram a felicidade implcita na conscincia da virtude. Mas, na realidade, virtude e felicidade constituem uma antinomia, e a condio que toma possvel a primeira (o respeito pela lei moral) no @influi sobre a segunda, nem a condio que torna possvel esta (o adequar-se s leis e ao mecanismo causal do mundo sensvel) torna possvel a virtude. De certo modo, a felicidade deve ser uma consequncia da virtude, no no sentido de que esta pode produzir a felicidade segundo o mecanismo das 156 leis naturais, mas no sentido de que torna o homem digno dela e por isso justifica a esperana de a obter. Contudo, para ser propriamente digno da felw-1lade o homem deve,poider promover at ao infinito o seu aperfeioamento moral. S a santidade, isto , a conformidade completa da vontade lei, torna o homem digno da felicidade e constitui a condio do sumo bem, isto , da unio perfeita da virtude com a felicidade. Mas, diz Kant (K. p. V. 2 220), a santidade uma perfeio de que nenhum ser racional do mundo sensvel capaz em momento algum da sua existncia. S se pode alcanar tal perfeio mediante um progresso at ao infinito desde os graus inferiores at aos graus superiores da perfeio moral. Mas este progresso at ao infinito ,s possvel se se admitir a imortalidade da alma; a imortalidade , portanto, um postulado da razo prtica, isto , "uma. proposio terica, mas como tal indemonstrvel, enquanto est indissoluvelmente ,unida a uma lei prtica que vale incondicionalmente a priori". Ademais, dado que a unio da virtude com a felicidade no se verifica segundo as leis do mundo sensvel, s pode ser o fruto de uma vontade santa e omnipotente, isto de Deus. De sorte que, assim como a realizao da primeira condio do sumo bom, isto , da virtude, implica a imortalidade da alma, assim a realizao do segundo elemento do sumo bem, isto , da felicidade proporcionada moralidade, implica a existncia de Deus. Kant nota que no um dever crer na existncia de Deus, mas apenas uma necessidade; e que nem sequer a existncia de Deus necessria para o dever, uma 157 vez que este se funda na autoridade da razo. O postulado, como necessidade da razo prtica, antes urna f, e precisamente uma f racional porque sugerido por aquele conceito do sumo bem a que o homem tende como ser racional finito. Os postulados da razo prtica permitem reconhecer com segaridade o que razo especulativa parecia simplesmente problemtico: a realidade da alma como substncia indestrutvel, a do mundo como domnio da liberdade humana, e a de Deus como garante da ordem moral. O que ora transcendente para a razo especulativa, torna-se inwnente para a razo prtica. Todavia, esta extenso da razo pura ao plano prtico no implica uma similar extenso do conhecimento terico. Admitir os postulados no significa conhecer os
objectos nuMnicos a que se referem. "Com tais conceitos, diz Kant (K. p. V., A 240), ns no conhecemos nem a natureza da nossa alma, nem o mundo inteligvel, nem o ser supremo, no que em si mesmos so, mas conglobamos apenas os conceitos destas coisas no conceito prtico do sumo bem como objecto da nossa vontade completamente a priori, com a razo pura, e tambm fizemos isto apenas mediante a lei moral e s, relativamente a ela, em vista do objecto a que ela se refere". Chegmos aqui, certamente, a um ponto crucial da filosofia de Kant, um ponto que parece encerrar uma dificuldade insupervel. Por que que o homem - pode-se perguntar - uma vez certo, embora s no plano prtico, da realidade suprasensvel, no pode fazer valer tal certeza tambm no domnio terico? Se, 158 como diz Kant, esta certeza nada nos diz acerca do modo por que os seus objectos so possveis, acerca do modo, por exemplo, como se pode representar positivamente a aco causal da vontade livre, diz-nos todavia, dos objectos numnicos, que existem, e existem absolutamente. Assim, o limite da experincia superado e o homem adquire uma certeza positiva para l da experincia e parece ilegtimo encerrar o conhecimento nestes limites. O "primado da razo prtica parece contrastar de modo evidente com a limitao do conhecimento humano dentro das possibilidades, empricas, que o grande ensinamento da Crtica da razo pura4, No de admirar, deste ponto de vista, que os intrpretes e seguidores de Kant que tomaram letra a doutrina do primado da razo prtica, nunca tenham tomado letra as limitaes que Kant lhe imps, proibindo qualquer uso terico da mesma e recusando-se a consider-la, sob qualquer ponto de vista, como uma extenso do conhecimento. Todavia, as afirmaes de Kant so to instantes e repetidas a este propsito que fazem supor que os motivos que as sugeriram deviam decerto parecerlhe decisivos; e decisivos so na realidade, com respeito aos pressupostos fundamentais da filosofia de Kant. O postulado , na sua expresso, "uma proposio terica"; mas, no um acto terico da razo, isto , um acto que, do ponto de vista terico, tenha qualquer validade. Kant adverte que, mesmo depois de a razo haver dado um grande passo, admitindo a realidade dos objectos numncos, no lhe resta, com respeito a tais objectos, seno uma tarefa negativa, isto , 159 o impedir, por um lado, o antropomorfismo, que a origem da superstio, ou seja, da extenso aparente daqueles conceitos mediante uma pretensa experincia, e, por outro lado, o fanatismo que promete tal extenso mediante uma intuio supra-sensvel ou um sentimento do mesmo gnero (K. p. V., A 244-45).+A realidade atribuda s ideias numnicas unicamente "no que respeita ao exerccio da lei moral",4Ib., A 248). No possvel fazer nenhum uso delas para os fins de uma teologia naitura,1 ou da fsica. O postulado nada mais do que uma necessidade do ser moral finito; e a palavra "necessidade" revela o carcter prtico do mesmo.*4W-ma necessidade da razo pura ,prtica tem como fundamento o dever de fazer de algo (do sumo bem) o objecto da minha vontade, para o promover com todas as minhas foras: mas neste caso eu devo supor a possibilidade dele e, portanto, tambm as
suas condies, isto , Deus, a liberdade e a imortalidade, porque no as posso demonstrar mediante a minha razo especulativa, conquanto nem sequer as possa refutar., A 256). E tal necessidade no implica nenhuma certeza mas apenas uma f problemtica que a nica adequada condio do homem. No pargrafo final da Dialctica da razo prtica, intitulado "Da @proposio sabiamente conveniente das faculdades de conhecer do homem com respeito sua determinao prtica", pargrafo muitas vezes esquecido para a elucidao deste ponto de vista da doutrina kantiana, Kant mostra como qualquer certeza que o homem possa ter da realidade supra-sensvel destruiria a vida moral do ho160 mem. Neste caso, de facto, "Deus e a eternidade, perante os nossos ' olhos (j que o que podemos demonstrar perfeitamente equivale certamente ao que podemos descobrir mediante a vista). A transgresso da lei seria certamente impedida, tudo quanto se manda-se seria cumprido; mas como a inteno, que origina as aces, no nos pode ser imposta por um mandamento e o aguilho da actividade seria aqui sempre imediato e exterior, a razo nunca teria necessidade de esforar-se e de reunir as foras s inclinaes mediante a viva representao da dignidade da lei, assim a maior parte das aces conformes lei seriam feitas por temor, apenas umas tantas por esperana e nenhuma pelo dever; de modo que o valor moral das aces, o nico de que depende o valor da pessoa e do mundo aos olhos da sabedoria suprema, no existiria para nada. A conduta do homem (desde que a sua natureza permanecesse como ), transformar-se-ia num puro mecanismo, no qual, como no teatro de fantoches, todos gesticulariam sem que as figuras tivessem vida. Ora, as coisas passam-se de uma maneira muito diferente: apesar de todo o esforo da nossa razo, temos uma viso do mundo obscura e duvidosa, e aquele que rege o mundo deixanos apenas conjecturar, e no ver nem demonstrar claramente, a sua existncia e a sua majestade; a lei moral, sem nada de certo nos prometer e sem nos ameaar, exige de ns o respeito desinteressado; e s quando este respeito se torna activo e dominante, s ento, e s graas a ele, se, pode lanar um olhar, e, mesmo assim, com vista d bil, ao reino do supra-sensvel. 161 Deste modo pode ter lugar uma inteno verdadeiramente moral e consagrada imediatamente lei, e a criatura racional pode tornar-se digna de participar no sumo bem, que adequado ao valor moral da sua pessoa e no apenas as das suas aces" (1b., A 265-266). Estas palavras de Kant que lembram as de Pascal sobre o "Deus, que se esconde" ( 425) esclarecem com exactido o alcance do chamado primado da Razo prtica. Convertem os postulados da razo prtica no analogon exacto das ideias da razo pura; assim como estas ltimas so simplesmente as condies da investigao cientfica que em virtude delas pode progredir em extenso e em unidade at ao infinito, assim os postulados so as condies do empenho moral do homem e do seu indefinido aperfeioamento. E como condies do empenho moral, os postulados devem ter o mesmo carcter que as ideias da razo pura: devem valer problematicamente, quer dizer no podem dar uma certeza inabalvel que seja directamente contrria condio do homem e que tornaria
impossvel prpria vida moral. O postulado no autoriza a dizer eu existo mas apenas eu quero. "0 homem justo pode dizer: eu quero que haja um Deus; que a minha existncia neste mundo, mesmo para l da conexo natural, seja tambm uma existncia num mundo puro do entendimento e, enfim, que a minha durao no tenha fim; eu insisto nisto e no deixo roubarem-me esta f, sendo este o nico caso em que o meu interesse, j que nada posso descurar, determina inevitavelmente o meu juizo, sem ligar a sofismas, 162 mes~ que no seja capaz de os deixar ou de lhes contrapor outros mais especiosos" (lb., A 258). 527. KANT: O MUNDO DO DIREITO E DA HISTRIA Vimos que a simples conformidade de uma aco com a lei constitui a legalidade, ao passo que na moralidade a aco feita unicamente pelo respeito da lei legalidade falta, pois, para ser moralidade, a inteno moral: ela compatvel tambm com a conformidade lei por uma razo diferente do simples respeito da lei, isto , por uma inclinao natural de temor ou de esperana. O direito funde-se no conceito da legalidade. Kant expe a doutrina do direito na primeira parte da Metafsica dos costumes (1797), cuja segunda parte a "Doutrina da virtude", isto , uma anlise dos deveres do homem para consigo mesmo e para com os outros, assim como uma "metodologia moral" que comprende uma "didctica moral" e uma "Asctica moral". A segunda parte da Metafsica dos costumes uma minuciosa causstica da vida moral, construda de harmonia com as doutrinas ticas de Kant, e oferece pouco interesse. A doutrina do direito apresenta, ao invs, aspectos notveis que vamos examinar. Por legislao jurdica entende Kant a legislao que admite como motivo da aco um impulso diferente, da ideia de dever. Os deveres impostos pela legislao jurdica so, portanto, deveres exteriores, porquanto ela no exige que a 163 ideia interna do dever seja por si mesma um motivo determinante da vontade do agente. Ao passo que a legislao tica a que no pode ser externa, a legislao jurdica a que pode ser tambm externa e por isso se serve de uma imposio no puramente moral, mas de facto, e actua como fora obrigatria. O direito trata da relao externa de urna pessoa para com outra, enquanto as suas aces ,podem, de facto, exercer influncias umas sobre as outras. o conjunto das condies pelas quais a vontade de um concorda com a vontade do outro, segundo uma lei de liberdade; e a frmula desta lei a seguinte: "Age eternamente, de modo que o livre uso do teu arbtrio possa harmonizar-se com a liberdade de todos os outros, segundo uma lei universal".
Todavia, esta lei, no espera obter a sua realizao mediante a boa vontade dos indivduos particulares; implica a possibilidade de uma imposio exterior que intervm para impedir, ou pelo menos anular, o efeito de possveis violaes. Kant divide o direito em direito inato, dado a todos pela natureza, independentemente de qualquer acto jurdico, e em direito adquirido, que nasce apenas de um acto jurdico. O nico direito inato a liberdade, a liberdade de todos os outros. O direito adquirido , pois, o direito privado, que define a legitimidade e os limites da posse das coisas exteriores, ou direito pblico, que trata da vida social dos indivduos numa comunidade juridicamente ordenada. Esta comunidade o estado. Kant distingue, tal como Montesquieu, trs poderes do estado: o legislativo, 164 O executivo e o judicial, e atribui, tal como Rousseau, o poder legislativo vontade colectiva do povo. Este poder deve de facto ser tal que no possa praticar injustias contra ningum; e esta garantia s se obtm se cada um decidir o mesmo para todos e todos para cada um, mas s mediante a vontade colectiva do povo. Kant, no entanto, nega a legitimidade da rebelio do povo contra o soberano legtimo e condena as revolues inglesa e francesa que processaram e executaram os seus soberanos. notvel que Kant tenha extrado dos seus conceitos morais uma justificao da pena jurdica que se afasta muito da dos juristas do iluminismo. A punio jurdica (diferente do castigo natural do vcio que se pune a si mesmo) deve aplicar-se aoru, no como um meio para obter um bem, seja em proveito do criminoso, seja em proveito da sociedade civil, mas unicamente porque cometeu um delito. De facto, o homem nunca um meio mas sempre um fim; no pode ser, portanto, ser utilizado como exemplo pelos outros, mas deve ser considerado merecedor de punio antes ainda que se possa pensar em extrair de tal punio qualquer utilidade para ele prprio e para os seus concidados. Kant chega a dizer que, mesmo que a sociedade civil se dissolvesse com o consenso de todos os seus membros (no caso, por exemplo, de o povo de uma ilha decidir separar-se e dispersar-se pelo mundo), o ltimo assassino que se encontrasse preso deveria antes ser justiado; e isto a fim de que o sangue derramado no recaia sobre o povo que no aplicou 165 o castigo o que poderia ento ser considerado cmplice desta violao pblica da justia. Na ltima seco da doutrina do direito, Kant considera a possibilidade de um direito cosmopolta, fundado na ideia racional de uma perptua associao pacfica de todos os povos da terra. Kant observa que no se trata de ver se tal fim pode ser alguma vez atingido praticamente, mas antes de dar-se conta do seu carcter moralmente obrigatrio. A razo moralmente prtica, diz, ope em ns o seu veto irrevogvel: no deve haver guerra nem entre os indivduos nem entre os estados. No se trata, pois, de ver se a paz perptua real ou algo sem sentido; em qualquer caso, devemos agir como se ela fosse possvel (o que talvez no seja) e estabelecer as instituies que paream mais aptas a alcan-la. Pois, ainda que isto no passasse de um desejo Piedoso, nunca nos enganaramos impondo-nos a mxima de tender sua realizao a todo o custo, porque se trata de um dever. A este dever obedecera Kant, indubitavelmente, alguns anos antes
(1795) ao escrever o seu projecto Para a paz perptua, no qual reconhecia as condies da paz na constituio republicana dos estados particulares, na federao dos estados e, finalmente, no direito cosmopolita, isto , no direito de um estrangeiro a no ser tratado por inimigo no territrio de outro estado. Mas, acima de tudo, via a maior garantia da paz no respeito por parte dos governantes das mximas dos filsofos (segundo o ideal platn3co) e no acordo entre poltica e moral, efectuado mediante a mxima "a honestidade melhor do que toda a poltica". 166 O ideal racional de uma economia pacfica de todos os povos da terra , segundo Kant, o nico fio condutor que pode e deve orientar o homem atravs das vicissitudes da sua 1iistr@a. Kant no considera que a histria. dos homens se desenvolva segundo um plano preordenado e infalvel como a vida das abelhas ou dos castores. Nu-ma recenso (1785) sobre o escrito de Horder, Ideias sobre a filosofia da histria d humanidade, Kant nega a possibilidade de descobrir na histria uma ordem harmnica e progressiva, um desenvolvimento natural e contnuo de todas as potncias do esprito. O plano da histria humana no uma realidade, mas antes um ideal orientador em que os homens devem inspirar as suas aces e que o filsofo pode apenas aclarar na sua possibilidade, mostrando-a conforme ao destino natural dos homens. Tal precisamente o intuito de Kant nas Ideias para uma histria universal do ponto de vista cosmopolita (11784). Aqui prope-se Kant ver se o livre jogo das aces humanas torna possvel, no decurso da histria, um plano determinado, embora no necessrio, que sirva de escopo final do desenvolvimento histrico da humanidade. Comea por observar que todas as tendncias naturais dos seres criados tendem a desenvolver-se completamente em conformidade, com o seu corpo. Um rgo, por exemplo, que no deva ser usado, uma ordenao que no atinja a sua finalidade, so contrrias ordenao teleolgica da natureza. Ora, a tendncia natural do homem a de alcanar a felicidade ou a perfeio atravs do uso da razo, isto , atravs da liberdade: e o homem 167 s pode alcan-las verdadeiramente numa sociedade poltica universal, na qual a liberdade de cada um no encontre outro limite seno a liberdade dos outros. O plano natural da histria humana no pode ser, portanto, seno a realizao de uma sociedade poltica, universal que compreenda sob uma mesma legislao os estados diversos e garanta assim o desenvolvimento completo de todas as capacidades humanas. A natureza, para atingir os seus fins, vale-se do antagonismo que existe em todos os homens entre a sua tendncia para a sociabilidade e a tendncia para o isolamento, antagonismo que, sem que os homens o pretendam, os impele actividade e ao trabalho e, por consequncia, ao empenho de todas as suas foras. "As rvores num bosque - diz Kant a este propsito - procuram tirar umas s outras o ar e a luz e por isso crescem belas e direitas, ao passo que em liberdade e afastadas umas das outras estendem os seus ramos para todos os lados e crescem enroscadas e retorcidas. Da mesma maneira, a civilizao e a arte, que so os ornamentos da humanidade, e a ordem social evoluda, so fruto da insociabilidade que por si mesma compelida a disciplinar-se e a desenvolver plenamente, atravs da arte, o germe da natuireza". Estas consideraes exprimem de maneira caracterstica o procedimento fundamental de Kant. Precisamente no limite que a
tendncia para a sociabilidade encontra na tendncia oposta, Kant v a garantia de todo o possvel progresso da mesma sociabilidade e, assim, de um caminho da histria humana para uma organizao poltica universal em que se garante a cada indivduo 168 a mxima liberdade compatvel com igual liberdade dos outros. de notar que se trata de um progresso possvel, no necessrio e infalvel. Por isso, o nico uso que se pode fazer deste plano que o seu conceito torne possvel uma investigao filosfica que tenha por fim mostrar como a histria universal deve dirigir-se para a unificao poltica do gnero humano. 528. KANT: O Juzo ESTTICO Assim como a Crtica da razo pura analisa as condies do conhecimento terico e a Crtica da razo prtica a da conduta social, assim a Crtica do juzo analisa as condies da vida sentimental. Com a terceira obra de Kant faz o seu ingresso na filosofia esta nova categoria espiritual que era desconhecida na diviso tradicional das faculdades da alma, fundada na distino entre faculdade terica e faculdade prtica. Os pressupostos histricos desta insero so as anlises dos empiristas ingleses, e especialmente de Schaftesbury e de Hume, bem como dos moralistas franceses e especialmente de Rousseau. Kant afirma: "Todos os poderes ou faculdades da alma podem reduzir-se a trs, os quais no podem ser ulteriormente reduzidos a um princpio comum: o poder cognitivo, o sentimento do prazer ou da dor e o poder de desejar (K. d. U., Int., 111). Kant caracteriza o sentimento como o aspecto irredutivelmente subjectivo de toda a representao, e anlise dos sentimentos e das paixes dedicou depois inmeras pginas na sua Antropologia pragmtica. 169 Na Crtica do Juzo o seu primeiro escopo o de determinar a natureza do critrio ou do cnone dos juizos fundados no sentimento, isto , no gosto. Kant chama reflexivo ao juizo prprio da faculdade do sentimento. O homem que deve realizar a sua liberdade na natureza e sem se opor ao mecanismo dela, tem necessidade de que a prpria natureza esteja de acordo com a sua liberdade e de algum modo a torne possvel com as suas prprias leis. Mas o acordo entre a natureza e a liberdade, que , alm disso, a exigncia e o princpio fundamental da vida moral, no resulta de um juizo objectivo porque as exigncias da vida moral no constituem os objectos naturais que esto condicionados apenas pelas categorias do entendimento. Pode resultar, de uma reflexo sobre os objectos naturais que so j, como tais, determinados pelos princpios do entendimento. O juizo do sentimento no determina, como o do entendimento, a constituio dos objectos fenomnicos mas reflecte sobre estes objectos j constitudos para descobrir o seu acordo com as exigncias da vida moral. Kant chama determinante ao juizo do entendimento, e reflexivo ao juizo do sentimento. Ora, tal acordo pode ser
apreendido imediatamente sem o trmite de um conceito, e ento um juizo esttico; pode ser pensado, mediante o conceito de fim, e ento o juizo teleolgico. O juizo esttico e o juizo teleolgico so as duas formas, uma subjectiva, a outra objectiva, em que se realiza o juizo reflexivo: a primeira tem por objecto o prazer do belo e a faculdade com que se julga tal prazer, isto , o gosto. A segunda tem ZD 170 por objecto a finalidade da natureza, que exprime o acordo desta com as exigncias da liberdade, isto , da vida moral do homem. O juizo reflexivo no tem valor cognitivo porque contm apenas os princpios do sentimento de prazer e de desprazer, independentemente dos conceitos e das sensaes que determinam. a faculdade de desejar; tambm nada tem em comum com a razo, a qual determina o homem (mediante o imperativo categrico) independentemente de qualquer prazer. evidente que a faculdade do juizo pode ser prpria apenas de um ser finito como o homem. Radica-se, de facto, na necessidade de harmonizar o acordo da natureza com as exigncias da liberdade; e esta necessidade deriva da impossibilidade, em que a subjectividade humana se encontra, de constituir a natureza at ao ponto de a tornar dcil e pronta s necessidades fundamentais. Evidentemente, se o conhecimento pudesse criar ou constituir as coisas com v3sta, a essa liberdade que prpria do homem, as coisas estariam constitutivamente dispostas a dirigir-se para a liberdade como seu escopo final, e o acordo entre natureza e liberdade seria objectivo, isto , intrnseco e essencial s coisas mesmas: mas neste caso, o juizo reflexivo, que funda apenas subjectivamente o acordo, seria intil. O homem no teria necessidade de sentir ou de figurar subjectivamente "mediante o conceito de fim" a conformidade das coisas com as prprias necessidades, se conhecesse esta conformidade como lei objectiva da natureza. O limite do conhecimento, devido ao qual este no criao mas sntese da multiplicidade, impede 171 que entre na constituio dos seus objectos tudo quanto se refere estrutura moral do homem. E ento a conformidade entre os objectos com tal estrutura apenas uma necessidade do homem, necessidade que satisfeita, certo, pela funo reflexiva do juzo mas apenas subjectivamente e no d lugar ao conhecimento. A Crtica do juzo , por consequncia, desprovida daquele aspecto polmico que domina a Critica da razo pura e a Crtica da razo prtica, ambas dirigidas contra a arrogncia terica e o fanatismo moral. No mbito do seu objecto nem sequer possvel a ilusria veleidade de transpor os limites do homem; e este objecto funda-se inteiramente em tais limites. O juizo esttico, como imediata apreenso da conformidade da natureza com a liberdade, o prazer do belo. Este prazer puramente subjectivo: no d qualquer conhecimento, nem
claro nem confuso, do objecto que o provoca. Ao mesmo tempo, carece de interesse porque no est ligado realidade do objecto, mas apenas representao dele. O prazer sensvel interessado porque a satisfao de um desejo ou de uma necessidade, tornada possvel pela realidade do objecto a que o desejo ou a necessidade se refere. Mas no prazer esttico a realidade do objecto indiferente, porque o que satisfaz a pura representao do objecto mesmo. Ora, o rgo para julgar os objectos do sentimento o gosto. O gosto , portanto, a faculdade de julgar um objecto ou uma representao mediante um prazer ou um desprazer isento de interesse; e o objecto de, um prazer semelhante diz-se belo. A natureza subjec172 tiva do sentimento do belo no exclui a sua universalidade; s que esta universalidade no consiste na validez objectiva prpria do conhecimento intelectual, mas na comunicabilidade, isto , na possibilidade de ser partilhado por todos os homens. Kant define o belo como sendo "o que, agrada universalmente sem ZD conceito" (K. d. U., 9). E distingue a beleza livre (por exemplo das flores) que no pressupe nenhum conceito, e a beleza aderente (por exemplo, a de um homem ou de uma igreja), que pressupe o conceito daquilo que a coisa deve ser, isto , da sua perfeio. Evidentemente, a beleza aderente no um puro juizo de gosto, precisamente porque supe o conceito do fim a que a coisa julgada deve adequar-se; mas um conceito de gosto aplicado, e complicado com critrios intelectuais. Neste sentido, diz que "a beleza a forma da finalidade de um objecto na medida em que nele precedida sem a representao de uma finalidade" (1b., 17). O juizo do gosto, sendo puramente subjectivo, no tem a necessidade do juizo intelectual, sobre o qual todos esto de acordo, Se se quer admitir a sua necessidade necessrio admitir que existe um senso comum, em virtude do qual todos devem estar de acordo sobre o juizo de gosto. Mas este senso comum uma pura norma ideal, que no pode ter a pretenso de determinar de facto o acordo universal. Kant exprime a necessidade subjectiva do juizo de gosto dizendo que "o belo o que reconhecido sem conceito como objecto de um prazer necessrio" (1b., 18). O sentimento esttico como sentimento do belo tem, como se viu, a sua raiz na impotncia do ho173 mem como sujei-to moral, perante a natureza; o homem transforma esta impotncia, aceitando-a como tal, numa faculdade positiva: a que garante subjectivamente o acordo entre a natureza e a liberdade e a apreenso imediata da finalidade danatureza. Este carcter do sentimento esttico rei ainda mais clara-mente no sentimento do sublime. Este sentimento suscitado ou pela grandeza desmesurada da natureza (sublime matemtico) ou pela sua desmesurada potncia (sublime dinmico). A grandeza desmesurada da natureza determina no homem a conscincia da sua insuficincia para apreci-la mediante os sentidos e, por consequncia, um sentimento de pena. Mas o reconhecimento desta insuficincia, conformando-se com as ideias da razo, que estabelecem precisamente o limite da sensibilidade, transforma a pena no prazer do sentimento do sublime. "A qualidade ido sentimento do sublime, diz Kant (K. d. U., 27) a de ser, em relao a um
objecto, um sentimento de pena, que representado, ao mesmo tempo como final; isto possvel, porque a nossa prpria impotncia revela a conscincia de um poder ilimitado do prprio sujeito, e o sentimento pode julgar esteticamente esta ltima s por meio da primeira". Do mesmo modo, perante o desmesurado poder da natureza, o homem sente o seu poder reduzido a uma pequenez insignificante e tomado de temor. Mas ao reconhecer a impossibilidade de resistir ao poder da natureza e a prpria debilidade, descobre a sua superioridade e a independncia do seu destino em relao a esse poder desmesurado, dado que, ainda que tivesse de sucumbir, o seu valor pr174 priamente humano permaneceria intacto (K. d. U., 28). O sentimento do sublime dinmico transforma em poder humano, em superioridade de valor moral humano, a inferioridade fsica em que o homem se sente perante a natureza. O sublime, em geral, definido por Kant como "um objecto da natureza cuja representao leva a pensar a inacessibilidade da natureza como representao de ideias" (1b., 28, Observao). A Crtica do juzo adopta o procedimento e as divises da Crtica da razo pura: contm, portanto, uma Analtica e uma Dialctica do juizo esttico, e uma Analtica do juzo teleolgico. A analtica do juzo esttico contm tambm uma Deduo dos juzos estticos, deduo que no entanto se refere apenas aos juzos do belo porque a deduo sobre os juizos do sublime est j implcita, segundo Kant, na exposio do princpio que os rege. Com efeito, tais juzos, referem-se, no aos objectos mas s suas relaes de proporo ou de desproporo com as nossas faculdades cognitivas; de sorte que a referncia ao objecto, que a deduo deveria justificar, est j justificada pelo facto de que o objecto, como pura relao das faculdades cognitivas, interior a estas ltimas. O juizo do belo, pelo contrrio, refere-se aos objectos externos e por isso necessita de deduo. Esta deduo deve ter em conta o significado particular que a universalidade e a necessidade tm nos juizos de gosto, os quais so universais s no sentido de poderem ser comunicados aos outros e necessrios s como fundamento de um sentido comum a todos os outros homens. Assim, Kant 175 estabelece que o juzo do gosto pode pretender legitimamente universalidade porque se funda nas condies subjectivas da possibilidade de um conhecimento em geral e a proporo destas faculdades cognitivas, que o gosto requer, tambm a requer a inteligncia comum, a qual se pode supor em toda a gente. "Precisamente por isso aquele que julga em matria de gosto (sempre que tenha uma justa conscincia do seu juzo e no confunda a matria com a forma, a atraco com a beleza) pode exigir de todos os outros a finalidade subjectiva, ou seja, o prazer que nasce do objecto, e consMerar o seu sentimento como universalmente comunicvel, sem a interveno de conceitos" (K. d. U., 39). Quanto ao senso comum, que o fundamento da necessidade dos juzos de gosto, deve entender-se por tal "a ideia de um senso comunicvel, isto , de uma faculdade de julgar que na sua reflexo consMera a priori o modo de representao de todos os demais, a fim de manter o juzo nos limites da razo humana e
evitar a iluso de considerar como objectivas as condies subjectivas e particulares que possam facilmente ser confundidas com as objectivas (1b., 40). Kant, estabelece a este propsito, trs mximas que valem para o senso comum esttico como para senso comum em geral, ou seja, para o uso racional e fundamentado das faculdades humanas. A primeira mxima a de pensar por si e evitar a passividade da razo. A passividade da razo leva heteronimia da razo, ou seja, ao preconceito; e o pior de todos os preconceitos a superstio que con176 siste em supor que a natureza no est submetida s regras necessrias do entendimento. A libertao da superstio, e, em geral, dos preconceitos, o iluminismo; e assim o prprio Kant v na sua obra crtica uma expresso e uma exigncia prprias do ilumi*nismo. A segunda mxima a de pensar pondo-se no lugar dos outros e alargar o modo de pensar do homem elevando-o acima das suas condies particulares de juizo. A terceira mxima a de pensar de modo a estar sempre de acordo consigo mesmo; esta a mxima da coerncia. A doutrina do juzo esttico s se refere verdadeira beleza natural. Mas Kant identifica a beleza artstica com a natural, e chama arte bela a uma arte que tem a aparncia da natureza. "Perante um produto da arte bela - diz (K. d. U., 45), necessria ter conscincia de que se trata de arte e no de natureza; mas a finalidade da sua forma deve apresentar-se livre de toda e qualquer imposio de regras arbitrrias, precisamente como se fosse um produto da natureza. A natureza bela quando tem a aparncia da arte, e, por sua vez, a arte no pode ser considerada bela seno quando a consideramos como natureza, embora sendo cnscios de que arte. O mediador entre o belo natural e o belo artstico o gnero na medida em que a disposio inata (ingenium) por meio da qual a natureza fornece a regra da arte. Para julgar os objectos necessrio o gosto; mas para a produo de tais objectos necessrio o gnio. Este constitudo, segundo Kant, pela unio (numa determinada rela177 o) entre a imaginao e o entendimento; unio na qual o entendimento, como princpio do gosto, intervm para disciplinar a liberdade sem freio da imaginao. Da imaginao procede a riqueza e a espiritualidade da produo artstica; do entendimento ou do gosto derivam a ordem e a disciplina desta. As artes belas exigem, pois, imaginao, entendimento, esprito e gosto (1b., 50). A Dialctica do juizo esttico tropea na antinomia segundo a qual, por um lado, se afirma que o juizo de gosto se funda nos conceitos enquanto no pode ser provado mediante demonstraes e, por outro, se diz que deve fundar-se nos conceitos, pois, de contrrio, no poderia obter a necessria aprovao dos outros. A antinomia resolve-se facilmente observando que, se o juizo de gosto no se funda nos conceitos na medida em que no um juizo de conhecimento, se funda no entanto na faculdade do juzo que comum a todos os homens, e na medida em que constitui o acordo das representaes sensveis com um fim implcito desta faculdade. Kant pe a claro a este propsito a idealidade do finalismo que se revela na beleza, tal como ps em relevo na Crtica da razo pura a idealidade (a fenomenalidade) dos objectos dos sentidos. Assim como esta ltima torna possvel que eles sejam determinados pelas formas a priori da sensibilidade e do entendimento, assim a
primeira torna possvel a validez do juizo de gosto, que pode pretender universalidade, ainda quando no se funde nos conceitos. 178 529. KANT: O Juzo TELEOLGICO o acordo entre a natureza e a liberdade, alm de ser percebido imediatamente no juzo esttico, pode tambm ser pensado mediante o conceito de fim. Em virtude deste conceito, o escopo da natureza vem a ser o de tornar possvel a liberdade como vida do sujeito, ou soja, do homem: esta considerao forma o juzo teleolgico. Ora, o juzo teleolgico , como o esttico, um juzo reflexivo: no determina a constituio dos objectos mas prescreve apenas uma regra para a considerao subjectiva dos mesmos. No se pode descobrir e estabelecer dogmaticamente a finalidade da natureza; no s no se pode decidir se as coisas naturais exigem ou no, para a sua produo, uma causalidade inteligente, como to-pouco se pode pr o problema de tal causalidade porque a realidade objectiva do conceito de fim no demonstrvel (K. d. U., 74). Todavia, o homem deve admitir que, segundo a natureza particular da sua faculdade cognitiva, no pode conceber a possibilidade das coisas naturais, e especialmente dos seres vivos, se no admitirmos uma causa que actue segundo fins e, por isso, um ser com inteligncia. Desta maneira, toma-se legtimo como juzo, reflexivo o que ilegtimo como juzo intelectual, pois que, enquanto para o juizo intelectual a finalidade deveria ser determinante e constituir a ordem objectiva da natureza, para o juzo reflexivo, uma simples ideia que destituda de realidade e vale apenas como 179 norma de reflexo, a qual permanece todavia aberta explicao mecnica da natureza e no sa do mundo sensvel (1b., 71). Com o juzo intelectual o homem afirmaria o finalismo como sendo prprio do objecto e seria obrigado a demonstrar a realidade objectiva do conceito de fim. Mediante o juizo teleolgico no faz mais do que determinar o emprego das prprias faculdades cognitivas, conformemente sua natureza e s cond."- s essenciais do seu alcance e dos seus limites (1b., 75). O juzo teleolgico no constitui de modo algum um preconceito e um limite para a investigao do mecanismo natural. No pretendo substituir esta indagao, mas tosomente suprir sua deficincia com uma investigao diferente, que no proceda segundo leis mecnicas, mas segundo o conceito de fim (K. d. U., 68). Mas esta pesquisa no permite afirmar verdadeiramente seja o que for em sentido objectivo e terico. Nem mesmo a teleologia mais perfeita poderia demonstrar que existe um ser inteligente , causa da natureza. Se se quisesse exprimir de modo objectivo dogmtico o juzo teleolgico, dever-se-ia dizer: "H um Deus, mas a ns, homens, s nos permitido empregar esta frmula limitada: no podemos pensar e compreEnder a finalidade que deve estabelecer-se como fundamento da possibilidade intrnseca de muitas coisas naturais sem a fgurarmos e sem figurar o mundo em geral, como o produto de uma causa inteligente (Deus)". (1b., 75). Esta expresso satisfaz perfeItamente as exigncias especulativas e prticas da razo do ponTo de vista 180 humano e pouco importa que no seja possvel demonstrar a sua validade para seres
superiores, ou seja, de um ponto de vista objectivo (Ib). Tudo isto demonstra que a consMerao finalstich prpria unicamente do homem, isto , de um ser pensante finito. Uma faculdade de intuio perfeitamente espontnea (criadora), como poderia ser a de um entendimento divino, no veria nada que fosse causalidade mecnica, mesmo onde (como nos organismos v vos) o entendimento humano sente a necessidade de recorrer causalidade inteligente do fim. Um entendimento intuitivo determinaria necessariamente as coisas at nas suas ltimas particularidades e assim as subordinaria a si mesmo na sua constituio intrnseca. O entendimento humano, que procede discursivamente, no determina a constituio das coisas particulares mas s as condies gerais de qualquer objecto: a sua conformidade com as coisas particulares , por isso, no necessria, mas contingente, e enquanto tal representvel como um fim (K. d. U., 77). Disse-se j que a considerao finalstica deve coexistir com a explicao mecnica dos fenmenos da natureza. Devemos procurar explicar mecanicamente o que consideramos um fim da natureza (por exemplo, um ser vivo); mas no poderemos prescindir da considerao teleolgica porque "no h nenhuma razo humana (e nem mesmo nenhuma razo superior nossa em grau, mas semelhante em qualidade) que possa esperar compreender por causas mecnicas a produo, quer de um 181 solo, quer de uma erva" (K. d. U., 77). A explicao mecnica e a considerao teleolgica, na medida em que se opem, so entre si complementares. A considerao teleolgica no pode servir de explicao da natureza". Mesmo que se admitisse que um supremo arquitecto teria criado instantaneamente as formas da natureza, tais como existiram sempre, ou predeterminado as que no curso da natureza se realizam continuamente segundo o mesmo modelo, o nosso conhecimento da natureza no progrediria de modo algum, porquanto ns no conhecemos de facto o modo de agir daquele ser nem as suas ideias, as quais devem conter os princpios da possibilidade das coisas naturais e no poderamos por isso explicar por elas a priori a natureza em toda a sua amplitude" (1b., 78). E se se quisesse passar das coisas particulares aos seus fins e tomar estes como princpios de explicao, obter-se-ia apenas uma explicao tautolgica e verbal e o homem desvanecer-se-ia no transcendente, onde s pode fantasiar poeticamente mas no elaborar uma explicao qualquer (1b.). Por outro lado, querer a todo o custo uma explicao mecnica completa e excluir inteiramente o princpio teleolgico, significa abandonar a razo a divagaes to quimricas como
as que surgem nas tentativas de explicao teleolgica. O valor de tal explicao o de um princpio heurstico para a busca de leis particulares da natureza. Resta, pois, o dever de explicar mecanicamente, tanto quanto as nossas faculdades o permitem, todos os produtos e acontecimentos da natureza, mesmo os 182 que revelem a maior finalidade, sem que, no entanto, este dever exclua (dada a deficincia daquela explicao) a considerao teleolgica (1b., 78). Na Metodologia do juizo teleolgico, Kant determina o uso que se pode fazer de tais juizos relativamente quela f racional que j a Crtica da razo pura esclarecera do ponto de vista prtico. Comea por observar que a teleologia como cincia no pertence nem teleologia nem cincia da natureza, mas sim crtica, e crtica de uma faculdade particular do conhecer, isto , crtica do juizo. Com efeito, ela no doutrina positiva, mas antes cincia de limites ( K. d. U., 79). Contudo, permite reconhecer no homem o escopo final da criao: sem o homem, isto , sem um ser racional, a criao inteira seria um deserto intil (1b., 86). Mas o homem o fim da criao como ser moral, de modo que a considerao teleolgica serve para demonstrar que para o homem a consecuo dos fins, que ele se prope como sujeito moral no impossvel, dado que tais fins so os mesmos que os da natureza em que vive. Neste sentido, a teleologia torna possvel uma prova moral da existncia de Deus. A moralidade , sem dvida, possvel mesmo sem a f na existncia de Deus, porque fundada unicamente na razo, mas esta f garante tambm a possibilidade da sua realizao no mundo (1b., 9). No obstante, insiste, a este respeito, sobre a impossibilidade de utilizar teorticamente, isto , como um saber objectivo, o resultado da considerao teleolgica. 183 530. KANT: A NATUREZA DO HOMEM E O MAL RADICAL A anlise crtica de Kant reconheceu em todos os campos os limites do homem e fundou precisamente sobre estes limites as efectivas possibilidades humanas. Assim, o limite do conhecimento, restringido aos fenmenos, garante a validez do saber O intelectual e cientfico; o limite da vontade, que no atinge nunca a santidade do perfeito acordo com a razo, constitui o carcter imperativo da lei moral * faz da moralidade o respeito da lei mesma; enfim, * limite da espontaneidade subjectiva do homem, que no chega a determinar a constituio intrnseca das coisas, torna possvel a vida do sentimento e garante a validade do juizo esttico e teleolgico. Ora, o prprio problema do Ilimite constitutivo da natureza humana abordado por Kant na sua ltima obra fundamental, A religio nos limites da pura razo (1793), obra que resume e conclui a longa investigao de Kant e lana por isso a luz mais viva sobre os interesses que
constantemente a dominaram. Em primeiro lugar, em que sentido se pode falar de uma natureza do homem? No se pode decerto entender por este termo o contrrio da liberdade, isto , um impulso necessrio, como seria, por exemplo, um impulso natural; quer dizer, neste caso, a natureza humana no poderia receber a qualificao de boa ou m em sentido moral, porque tal qualificao s pertence propriamente a um ac0 livre o responsvel. Por natureza do homem deve, pois, entender-se apenas "o princpio subjectivo do uso da 184 liberdade" e tal princpio deve ser, por sua vez, entendido como um acto de liberdade. Se o no fosse, o uso da liberdade seria determinado e a prpria liberdade seria impossvel (Die Religion, B 7). Neste princpio deve, portanto, radicar-se a possibilidade do mal e a inclinao do homem para o mal. Ora, se tal princpio um acto de liberdade, esta inclinao no uma disposio fsica, que no poderia imputar-se ao homem, nem uma tendncia necessria qualquer. Portanto, no pode ser seno uma mxima contrria lei moral, mxima aceite pela liberdade mesma e, portanto, de per si continente. ,C A afirmao "o homem mau" significa apenas que o homem tem conscincia da lei moral e, no obstante, adoptou a mxima de por vezes, se afastar, dela. A afirmao o homem mau por natureza" significa que o que se disse vale para toda a espcie humana, o que no quer dizer que se trate de uma qualidade que possa ser deduzida do conceito da espcie humana (ou de homem, em geral), j que seria neste caso necessria, mas s que o homem, tal como se oonhece por experincia, no pode ser julgado diferentemente e, por isso, pode supor uma tendncia para o mal em todos os homens e mesmo no melhor dos homens. Dado que tal tendncia para o mal moralmente m e, portanto, livre e responsvel, enquanto consiste apenas em mximas de livre arbtrio, pode por isso ser chamada um mal radical e i~o na natureza humana, ma@J de que, todavia, o prprio homem a causa (1b., B. 72). O mal radical no pode ser destrudo 185 pelas foras humanas porque a destruio deveria ser obra das boas mximas, o que impossvel se o princpio subjectivo supremo de todas as mximas estiver corrompido; mas deve ser vencido, a fim de que o homem seja verdadeiramente livre nas suas aces. O mal radical devido fragilidade da natureza humana que no bastante forte para pr em prtica a lei moral; impureza que impede de separar uns dos outros os motivos das aces e de agir s por respeito lei; e, enfim, corrupo pela qual o homem se determina por mximas que subordinam o mbil moral a outros mbiles. O mal radical no se encontra, portanto, como se cr comummente, na sensibilidade do homem e nas inclinaes naturais que nela se fundam. O homem no responsvel pelo facto de haver uma sensibilidade e
de existirem inclinaes sensveis, ao passo que responsvel pela sua inclinao para o mal. Com efeito, esta inclinao um acto livre que se lhe deve imputar como um pecado de que culpado, conquanto tenha razes profundas na prpria liberdade, graas qual ela deve ser reconhecida como naturalmente intrnseca ao homem. O mal radical nem sequer uma perverso da razo, como legisladora moral. Tal perverso suporia que a razo poderia, ela prpria, destruir em si a autoridade da lei e renegar a obrigao que procede desta, mas isto impossvel. Como princpio do mal moral, a sensibilidade suficiente, uma vez que, eliminando-se o mbil da liberdade, reduzir-se-ia o homem pura a ~dade. A razo perversa, ou seja, liberta comPletarnente da lei, , ao invs, excessiva, porque 186 erigiria em motivo de aco a oposio lei moral e reduziria o homem a uma vontade diablica. Ora, o homem, diz Kant (1b., B 332) no nem besta nem diabo. Dado que est radicado na prpria natureza do homem, o mal no pode ser eliminado. Pouco importa que o homem tenha adoptado uma inteno boa e se lhe mantenha fiel; ele comeou pelo mal e este um dbito que no lhe possvel liquidar. Mesmo supondo que, aps a sua converso, no contraia novas dvidas, isto no o autoriza a crer que se encontre livre da dvida antiga. To-pouco pode com o seu bom comportamento adquirir uma reserva, fazendo mais do que obrigado a fazer de cada vez, j que o seu estrito dever fazer sempre tudo quanto pode fazer. Alm disso, trata-se de um dbito que no pode ser resgatado por outro, de uma dvida intransfervel, que a mais pessoal de todas as obrigaes; o homem contraiu-a com o pecado e mais ningum, a no ser ele prprio, pode carregar com o peso dela. Por isso, o resgate total da dvida originria no pode seu seno um acto de graa, que no devido ao homem, mas lhe concedido merc de um salvador: o Verbo, o filho de Deus, no qual se personifica a ideia da humanidade na sua perfeio moral. ideia do Filho de Deus como personificao da humanidade perfeita se ope a ideia do diabo, que a representao popular do mal radical. O sentido desta representao o de que a nica salvao para os homens consiste em aceitar intimamente os verdadeiros princpios morais; e que a esta aceitao se ope no a 187 sensibilidade, que to frequentemente se condena, mas uma certa perversidade, que , em si mesma culpada, e pode tambm chamar-se falsidade (o engano do demnio com o qual entrou o mal no mundo), perversidade inerente a todo o homem e que s pode ser vencida com a ideia do bem moral na sua perfeita pureza. A confiana nesta vitria, diz Kant, no pode ser suprida supersticiosamente por expiaes que no provenham de uma mutao interior; ou fanaticamente por iluminaes interiores, puramente passivas, que afastam (em vez de aproximarem) do bem fundado na actividade pessoal (Die Religon, B 116). E tambm intil a crena nos milagres. O homem pode de bom grado admitir que influncias celestes colaborem com ele na sua obra de aperfeioamento moral; mas, uma vez que no capaz de as distinguir das naturais nem de as atrair sobre si, nunca pode comprovar um milagre e deve por isso limitar-se a comportar-se como se toda a converso e todo o melhoramento dependessem apenas dos seus esforos (1b., B. 121). Quanto origem ltima do mal radical, Kant considera que incompreensvel. Uma vez que imputvel ao homem enquanto princpio fundamental de todas as mximas, deveria ser, por sua vez, o resultado da adopo @de uma mxima m; mas assim vemo-nos
evidentemente lanados num processo at ao infinito, de mxima em mxima, no se podendo encontrar um princpio de determinao do livre arbtrio que no seja uma mxima. Com o reconhecimento desta impenetrablidade termina a anlise kantiana da natureza humana originria. 188 531. KANT: RELIGIO, RAZO, LIBERDADE Os conceitos fundamentais de uma religio considerada nos limites da razo derivam todos do princpio do mal radical, enquanto constitutivo da natureza humana. Na verdade, tais conceitos no exprimem seno as condies que tomam possvel ao homem combater com xito o princpio do mal que nele existe. Se o homem se encontra na perigosa condio de ser exposto continuamente s agresses do princpio do mal e de dever salvaguardar a sua liberdade perante os contnuos ataques daquele deve-o a uma culpa prpria; deve, por isso, nos limites do possvel, empregar a fora de que dispe para sair de tal situao. Ora, uma vez que o homem sofre ,os mais perigosos assaltos do mal na vida social (Kant aqui faz sua a anlise de Rousseau), o triunfo do bem s possvel numa sociedade governada pelas leis da virtude e que tenha por fim estas mesmas leis. Evidentemente, esta no uma sociedade jurdico-civil mas uma sociedade tico-civil, ou melhor, uma repblica moral. A repblica moral - simples ideia de uma sociedade que compreenda todos os homens justos - uma igreja que, enquanto no objecto de experincia possvel, se chama igreja invisvel. A igreja visvel a unio efectiva dos homens num todo que concorda com este ideal (Die Religion, B 142). A igreja invisvel universal porque se funda na f religiosa pura, que uma pura f racional e por isso pode comunicar-se a todos com fora persuasiva. No tem necessidade de revelao. 189 Mas a debilidade particular da natureza humana impede de fundar uma igreja visvel unicamente sobre a f racional. Os homens no se persuadem facilmente de que esforarse por viver moralmente a nica coisa que Deus lhes pede para os considerar como sbditos do seu reino. S sabem conceber a sua obrigao sob a forma de um culto que necessrio prestar a Deus; culto em que no se trata do valor moral das aces, mas antes do seu cumprimento ao servio de Deus e para que Deus as aceite, mesmo que se tratem de aces moralmente indiferentes. Torna-se assim necessrio admitir que Deus estabeleceu outras leis, alm das puramente morais que ressoam claramente no corao do homem; e uma vez que tais leis no podem ser conhecidas pela pura razo, requer-se uma revelao que, enquanto feita a algum privadamente ou anunciada publicamente para ser difundida por tradio, sempre uma crena histrica e no uma pura crena racional. A f revelada pressupe, no entanto, a f racional pura e deve fundar-se nesta. "A f eclesistica, diz Kant (1b., B 174), como f
histrica, comea por causa da f na revelao, mas, uma vez que esta apenas o veculo da f religiosa pura (que o verdadeiro fim) necessrio que aquilo que nesta ltima, como crena prtica, a condio (ou seja, a mxima da aco) constitua o ponto de partida e que a mxima da cincia ou da crena especulativa actue apenas como confirmao e coroamento dela". Por outros termos, o critrio e o guia de toda a religio histrica a f racional pura, ou seja, o agir moral nas suas condies. S 190 esta se deve considerar a religio natural (Ib., B 23 7). Ademais, s esta uma f livremente adoptada por todos (fides elicita), ao passo que a religio revelada implica uma f comandada (fides imperata) (Ib., B 248). Quem admite apenas a religio natural um racionalista. Mas o racionalista deve, em virtude do seu prprio nome, encerrar-se nos limites das possibilidades humanas. Deve por isso evitar o naturalismo que exclui em absoluto a realidade do supra-sensvel e no contestar dogmaticamente a possibilidade intrnseca de qualquer revelao (racionalismo puro) (1b., B 230-31). Consequentemente, Kant afirma que considerar a f regulamentada (que em todos os casos se restringe a um povo s e no pode valer como religio universal) essencial a todos os cultos divinos e dela fazer a condio suprema da benignidade de Deus para com o homem urna loucura religiosa que d lugar a um falso culto, isto , a uma maneira de adorar a divindade directamente, contrria ao verdadeiro culto divino. Exceptuando um bom comportamento, tudo o que os homens julgam dever fazer para merecerem a benevolncia de Deus pura iluso religiosa e falso culto (Die Religion, B 255). A iluso de poder, com actos de culto, contribuir para uma justificao de si perante Deus a superstio religiosa. A iluso de poder atingir tal objectivo com a aspirao a um pretenso comrcio com Deus, a fantasmagoria religiosa. Kant no exclui nem condena as prticas do culto, mas tais prticas nunca devem tomar o lugar do verdadeiro culto, que a conduta moral. "0 verdadeiro iluminismo, diz Kant 191
(,b., B 276), est nesta distino; o culto de Deus torna-se graas a ele um culto divino e, portanto, um culto moral. Se, em lugar da liberdade dos filhos de Deus, se impe ao homem o jugo de uma lei positiva e a obrigao absoluta de crer em coisas que s podem ser conhecidas historicamente e que, por conseguinte, no podem convencer a todos, criase um jugo que para o homem consciencioso ainda mais pesado do que todo o fardo das prticas piedosas com que se sobrecarrega". A concluso da anlise kantiana da religio uma confirmao dos resultados da Crtica da razo pura e da Crtica da razo prtica. No se pode conceber outra forma de f que no seja a f racional, a f prtica, que reconhece a possibilidade do supra-sensvel unicamente enquanto tal possibilidade refora a aco moral do homem. Transformar esta possibilidade numa afirmao dogmtica significa
tornar impossvel ao homem, no s a sua vida teortica e moral, mas a prpria religio, que se converte em superstio. Neste empenho em manter ao mesmo tempo os limites da razo e a autonomia dos seus poderes, consiste o que Kant chamava o seu racionalismo. Os escritos dos seus ltimos anos so, na sua maioria, dirigidos contra as tentativas de evaso que escritores e filsofos contemporneos vinham efectuando para fugir aos limites da razo e para alcanar um domnio em que fosse possvel conhecer com exactido o que a razo no pode atingir. O domnio a que habitualmente recorriam era o da f ou da intuio mstica; contra tal recurso escreveu Kant. Que significa orientar-se no pensar, (1786), Sobre o 192 fanatismo, (1790), Sobre o tom nobre da filosofia, (1795), e o prefcio ao escrito de Jachmann, (1800). O mais importante destes escritos Orientar-se no pensamento, com o qual Kant, intervindo na polmica entre Mendelssohn e Jacobi, reivindica uma vez mais para a razo o papel de guia nico do homem na filosofia e na vida. Mendelssohn e Jacobi haviam travado polmica um com o outro, mas estavam de acordo, como veremos ( 535), em atribuir f o que negado razo, ou seja, a capacidade de um contacto directo, e absolutamente certo, com a realidade e sobretudo com a realidade suprema: com Deus. Ora, segundo Kant, mesmo que houvesse um rgo como o que Mendelssom e Jacobi denominavam de f, tal rgo seria incapaz de provar a existncia de um Ser cuja grandeza no comparvel com a de nenhuma experincia ou intuio humana; e esse rgo poderia apenas servir de estmulo razo para ver se pode chegar a provar a existncia de um ser dessa espcie. Em ltima anlise, porque s a razo permanece o rbitro da noo de Deus e da convico da sua existncia (Wass heisst: Sich im denken orientieren?, A 320-21). Em qualquer caso, segundo Kant, subtrair-se razo significa cair no fanatismo e o fanatismo a negao da liberdade. bem certo que a liberdade, se limitada esfera interna da conscincia, no coercvel por meios externos. Mas tambm verdade que tal liberdade interior pouco ou nada se se tira aos homens a de comunicarem abertamente entre si os seus pensamentos. Uma doutrina que faz apelo a uma revelao interior tende a tornar intil e a negar esta 193 Uberdade e tende, antes, a provocar uma inquisio nas conscincias que impea razo de se afastar da pretensa verdade revelada. Kant termina o seu escrito com um apelo pattico, que , por assim dizer, o resumo da sua filosofia: "Amigos da humanidade e do que h de mais santo para ela, aceitai tambm o que vos parecer mais digno de f aps um exame atento e sincero, quer se trate de factos, quer se trate de princpios racionais, mas no recuseis razo o que a torna o bem mais alto sobre a terra: o privilgio de ser a ltima pedra de toque da verdade" (lb., A 329).
NOTA BIBLIOGRFICA 510. Sobre a vida de Kant a obra fundamental continua a ser a do seu contemporneo L. E. BOROWSKI, Dar8telIung der Lebm und Charakter I. K. s, Conisbeorga, 1804. Alm desta: F. W. SCHUBERT, I. K. s. Biographie na ed. de Rosenkranz das obras de Kant, XI, 2. Leipzig, 1842: e todas as monografias citadas mais adiante. 511-513. As primeiras edies completas dos ~tos de Kan@t foram as de G. Haitenstein, 10 vol., Leipzig, 1838-39; e de K. Rosenkranz e F. W. Schubert, em 12 vol., Le@pzig, 183842. Entre as numerosas edies sucessivas, notv& a de E. Cassirer, 10 vol., Berlim, 1912,22, a que se seguiu outro volume. o 11.1 CASSIRER, Kants leben und L-ehre. Mas a mais completa edio crtica a publicada pela Academia das Cincas de Berlim, que compreende os seguintes volumes: vol. 1, Vorkritische Schriften (1747-56), 1910; vol II, Vorkritische Schriften (1757-77), 1912; vol Ul@ Kritik der "n--r Vernunft (2.@ ed., 1787), 1911; vol. rV, Kri194 tik der reinen Vernunft (1.1 ed., 1781), Prolegomena, GrundlL--gun zur Metaphysik der Sitten, Metaphysi&che Anfangsgrnde des Natu~senschaft, 1911, voL V, Kritik der pTaktischen Vernunft (1788), Kritik der Urteilskraft (1790), 1913; vol. VI, Die ReUgion inuerhalb der Grenzen der Blossen Vernunft (179,3), Die Metaphysik, der Sitten, (1797), 1915; vol. VII, Der Streit der P4kultten (1798), Anthropologie in pragnwtischer Hinsicht (1798), 1917; vol. VIII, AbhandIungen nach 1781, 1923; vol. IX, Logik, Physische Geographie und Pdagogik, 1923; vol. X, Briefwechsel (1747-88), 1922; vol. XI, Briefwechsel, (1789-194), 1922; vol. XIII, Briefwechsel (1795-1803), 1922; vod. XIII, BriefwechseZ, Anmerkungen und Register, 1922; voL XIV, Handscriftlicher Nachlass I, Math~tik, Physik und Chem@e, Physische Geographie, 1911, vod,. XV, Handschriftlicher Nachlass 11, AntropoZogie, 1913; vol. XVI, Handschriftlicher Nachlass III, Logik, 1924; vol. XVII, Handschriftlicher Nachl"s IV, Metaphysik, 1926; vol XVIII, Handschriftlicher Nachl"s V, Metaphysik, 1928; vol. XIX, Handschriftlicher NachIass VI, 1M4; voll. XX, Handschrftlieher Nachkss, VII, 193,5, vol. XX1, Handschriftlicehr NwhIass VIII, Opus postumum, 1936; HandschriftUcher NachIass IX, Opus postumum, 11, 1938; vol. XXIII, Vorbereiten und Nachtrge, 1955. Nas citaes do texto referem~ as p~ destas edies; as letras A e B referem-se respectivaniente 1.1 e 2.1 ed. dos ~tos de Kant. 514. Bibliografias: E. ADICHES; Bibliography of writings by and on K. which have appeared in Germany up to the end of 1877, in "Philoisophical P,eview", 1893-94, ed. em vol. Boston, 1896; Supplments in <Ph2o~cal Peview", 1895-96; UMERWEG, GrUndriss der Gesch. der Phil, 111, 12.1 ed., ao cuidado de M. Frischeison-Kbhler e W. Moog, Berlim, 1924, p. 709-49; desde 1896 os "Kantstudien" fundados por 195 Vaihinger tm dado notcias, cilticas de toda a literatura kantiam. MonografiaS principais: C. CANTONI, K., 3 vol. ~ 1833; F. PAULSEN, K., 8cin Leben und 8eine Lehre, Estugarda, 1898; T. RUYSSEN, K, Paris, 1909; CANTECOR, K., Paris, 1909; B. BAUCH, E., Leipzig, 1911; A. D. LINDSY, The Phil. of. K., London, 1913; 3. B. BAUCH, K., Leipzig, 1911; A. D. LiNDSAY, The Phil. of K., London, 1913; J. WARD, A Study of K.,
Cambridge, 1922; P. LAMANNA, K. Milo, 1925; E. ADICKES, H. aIs Naturforscher, 2 vol., Berlim, 1924-25; BouTROUX, La phil. de K., Paris, 1926; L. GOLDMANN, Mensch, Gemeinschaft und Welt in der Phil. I. K. s, Zurique, 1945; A BANFI, La filosofia critica di K., Milo, 1955. Entre monografias inspiradas no pensamento hegeliano: K. FISCHER, I. K. und seine Lehre, Heidelberga, 1860, que no entanto conserva o seu valor como exposio de conjunto da obra de Kant; E. CAIRD; The Critical Phil. of X., Londres, 1889. Monografias inspiradas no neocriti~o: H. COHEN, K. s Theorie der Erfahrung, Berlim, 1871; B. 'CAS:S@RER; E. s Leben und Lehre, Berlim, 1918. A monografia de P. CARABELLEsE, La fil. di K. Morena, parte do ponto de vista do ontologismo rosminiano; e a de A. RENDA; Il criticismo, fondamenti etico-religiosi, Palermo, 1927, tende a pra claro a inspirao tico-religiosa da filosofia teortica de Kant. O importante comentrio de HANS VAIHINGER; Kommentar zur Kritik der reinen Vernunft, 2 vol., Estugarda, 1881-92, parte do ponto de vista de um relativismo pragmatista (filosofia do como se). 515. Sobre o perodo precrtico: B. ERDMANN, Die Entwicklungsperioden von K.s theoretischer Phil., introduo sua ed. das K.s Reflexionen zur Kritik der reinen Vern., Leipzig, 1884; E. ADICKW, Die bewegenden Krafte in K.s Entwick1. und die beiden Pole seines Systems, in "Kanstudien", I;A- Guzzo, K. pre196 -critico;Turim, 1924; M. CAMPO, La genesi del critieis~ kantiano, 1953. Sobre a Opus Postumum: E. ADICKE.9; K.s. Opus Post. dargestellt und beurteilt, Berlim, 1920; N. KEMP SMITH, A Cammentary to K.& Critique of Pure Reason, Londres, 1918; V. MATHIEu, La filosofia trascendental e o "Opus postumum" di K., Turim, 1958. 516. Sobre a Crtica da razo pura: H. VAIHINGER, Koinmentar zur K. d. r. V., cit.; Th. GREEN, Lectures on the Philos. of K., in Works, Londres% 1893; H. HOFFDING, in "Archiv fur Gesebichte der Philw.", VII, 1894; E. BOUTROUX, ia "Revue de Cours et Confrences>, Julho, 1896; C. CANTOSI, in "P.iv~ Filos.", 1901; F. Tocoo, Studi Kant~ ' PalerMO, 1910; H. COHEN, Kommentar zur 1. K.s Kritik d. r. V., Leipzig, 1907; E. CASSIRER, Eant und dio moderne Mathematik, in "Ka71 tudien", XIr, 1907; H. CORNELIUS, Kommentar zur K. d. r. V., Erlangee, 1926. Sobro as duas edies da Crtim: B. ERDMANN, Kant Kritizismus in der er8ten und der zweiten Auflage der K. d. r. V., Leipzg, 1878; E DICHKES, Ueber die Abfassungzeit der K. d. r. V., in "Kanstudien", 1895. 518. Sobre a lgica: C. LuGARINI; La logica trascendentale di K., Iffilo, 1950; F. BARONE, Lgica formate e logica transcendentale Deduktion de Kategorien, HaJ@e, 1902; BIRDEN; Kants transzendentale Deduktio,n, Beillm, 1913; 1-1. S. VLEESCHAUWER, La dduction transcendentale dans Voeuvre de K., Paris, 1934; P. CHIODi, La deduzione nelllopera di K., Turim, 1960. 522. Sobre a c~ em si: W. WINDELBAND, in "Viert&jahrwchriften fur wissensschafUische Philosophie), 1, 1877; J. G. SCHURMAN, in " Archiv fr Geschichte der Philos.", 32, 1910.
523. Sobre a dialctica transeendenta: F. EVELLIN, La raison pure et les antinomies, Paris, 1907. 197 525. Sobre a filosofia moral: A. CRESSON, La morale de Kant, Paris, 1897; V. BRUNSCHVIGG, in "Revue de M~. et de Morale>, 1907; A. M.ESsER, Hommentar zur E.s ethischen und relgionsphisolopischen, Hauptschriften, Leipzig, 1929; O Estrada, La etica formal y los vaiores, La Plata, 1938. 527. Sobre a doutrina do direito e da Istria: E. SYDOM, Der Gendanke des IdealBeichs in der Idealist. Philos. von Kant bis Hegel, Leipzig, 1914; W. METUGER, GeseIsschaft, Recht und Staat in der Etnik des deuschen Idealismus, Heidielberga, 1917; K. BORRIEs, Kant aIs Politiker, Leipzig, 1928. 528. Sobre o juizo CSttiCO: H. COHEN, K.S. Regrndun der Aesthetik, Berlim, 1889; V. BASCI-1, Essai critique sur 1'esthtique de Kant, Paris,, 1897; ROSENTHAL, in "Kantstudien" 20, 1915; M. SouRiAu, Le jugen^t rflchi@ssant dans Ia phil". crit. de Kant, Paris, 1926. 529. Sobre o juizo tCl~giCO: A. PPANNKUCHE in "Kant;studicai", 5, 1901; E. -UNGERR; in "Abhandlungen zur theoretische Bilogie" , 14, 1922. 530. Sobre -a doutrina da religio: E. TROELSCH, in "Kantstudien", 9, 1904; C. SENTROUL, La phil. real de K., Bruxelas, 1912; C. J. WEBB, Kant's Philosophy of Religion, ~ord, 1926; W. REINIIARD; Ueber das Verhdltnis von Sittlichkeit und Religion bei K., Bern, 1927. 198 SEXTA PARTE A FILOSOFIA DO ROMANTISMO A POLMICA SOBRE O KANTISMO 532. POLMICA SOBRE O KANTISMO: REINHOLD A doutrina de Kant a grande protagonista da filosofia de oitocentos. Ela veio abrir uma nova problemtica que ser susceptvel de desenvolvimento nas mais diversas direces. No mbito desta mesma problemtica, surgiram doutrinas diferenciadas e at mesmo opostas. Verificaram-se afastamentos, desvios e regressos e isto, com a pretenso, frequente de se conseguir um retomo ao "verdadeiro" esprito do kantismo e de se avanar nas suas linhas fundamentais. Na Alemanha, a filosofia de Kant aparece como concluso definitiva de uma crise secular do pensamento humano e como incio de uma nova poca 201
na qual a filosofia alem iria assumir a funo de guia de todo o pensamento europeu. Reinhold levou o criticismo s consequncias ltimas do processo de libertao da razo, iniciado com o Renascimento e continuado com a Reforma protestante e defendia substancialmente a sua identificao com o cristianismo, com o protestantismo e com o iluminsmo (Briefe uber die kantische Philosophie, 1, p. 150 e segs.). Esta atitude foi aceite por grande parte da filosofia alem do sculo XVIII e deu origem a uma tradio historiogrfica que s nos ltimos tempos comeou a ser posta em dvida. O romantismo fez sua essa atitude, deu-lhe um mbito maior, insistindo sobretudo na nova importncia histrica que o kantismo conferia nao alem. Hlderlin podia afirmar: "Kant o Moiss da nossa Nao, porque do estado de abandono em que havia cado no Egipto, a conduz pelo deserto rido e solitrio da sua especulao at receber na Montanha Sagrada a lei eficaz e revivificante" (Carta ao irmo, de 1 de Janeiro de 1799). Karl Leonhard Reinhold (nascido em Viena em 1758 e falecido em Kiel em 1823) veio dar grande impulso difuso do criticismo na Alemanha, ao mesmo tempo que lanava bases para o estabelecimento de uma interpretao que deveria influenciar fortemente a histria posterior. Foi professor em Jena e comeou a fazer desta cidade o centro dos estudos kantianos, a que mais tarde vieram beber as doutrinas de Fichte, Schelling, Hegel, Fries, Herbart. Reinhold mais do que o simples autor das Cartas sobre a filosofia kantiana, aparecidas 202 entre 1786 e 1787 numa revista e mais tarde ampliadas e reelaboradas em dois volumes (1790-92). Foi tambm autor de uma vasta obra intitulada Nova teoria da faculdade representativa humana (1789). Segundo Reinhold, a filosofia de Kant assinala a passagem do progresso para a cincia ao progresso na cincia (Briefe, cit., 11, p. 117-18); por outras palavras, assinala o ponto em que a filosofia se transforma definitivamente em cincia para alm da qual, portanto, todo o progresso ulterior j no poder j conduzir a uma outra filosofia, mas a um simples desenvolvimento implcito no prprio kantismo. E isto acontece porque Kant baseou a filosofia num princpio nico, e sobre um princpio nico apenas se pode erguer um sistema nico. Esse princpio nico a conscincia. Na Nova Teoria da faculdade representativa humana, Reinhold identifica a conscincia com a faculdade representativa, por conseguinte, com a representao: assim o princpio nico e fundamental da filosofia como cincia surge expresso do modo seguinte: "A representao na conscincia distinta do representante e do representado e referida a ambos". Deste princpio Reinhold procura extrair toda a "filosofia dos elementos", que , no fim de contas, a anlise da conscincia. O representante e e representado so o sujeito e o objecto da conscincia; sem objecto e sujeito no existe representao, eles constituem portanto, as condies intrnsecas da prpria representao. A parte que na representao
se refere ao objecto a matria da representao, a que se refere ao 203 sujeito a fornia da representao. A forma produzida pelo sujeito, pela sua espontaneidade; a matria dada atravs da receptividade do prprio sujeito. Esta receptividade no mais que a capacidade de ter impresses sensveis que se aparecem referidas ao sujeito se chamam sensaes, mas se aparecem referidas ao objecto se chamam intuies. A primeira e essencial condio do conhecimento , portanto, a intuio. S em virtude do material por ela fornecido, pode a representao ser referida a qualquer coisa que no seja representao, a um objecto independente de toda a representao. Este objecto a coisa em si. Sem a coisa em si, deixa de existir a primeira e fundamental condio da imediata representao de um objecto. Por outro lado, a coisa em si irrepresentvel, por conseguinte, incognoscvel: uma vez que no existe representao sem uma forma subjectiva, tudo o que exterior e independente das formas subjectivas no pode ser representado. Como possvel ento falar-se na coisa em si e introduzi-la como elemento da investigao filosfica? Reinhold responde: a coisa em si representvel, no como coisa ou objecto, mas como puro conceito (Theorie, 11, 17). Com esta reduo da coisa em si a um simples conceito, Reinhold eliminou (sem querer) um dos pilares do criticismo e abriu caminho a uma interpretao idealista. A dependncia desta interpretao da primeira edio da Crtica, na qual a distino entre representao e fenmeno tinha sido insuficientemente estabeleci, aparece evidente. O objecto do conhecimento reduzido a um "representado" que 204 existe na conscincia aparece, a partir da Reinhold como um dos pontos menos discutidos na interpretao do kantismo: um ponto, no entanto que permanece estranho ao pensamento de Kant, tal como este nos surge do conjunto da sua obra. Atravs do Enesidemo a interpretao de Reinhold passou a ser geralmente aceite pelo ambiente filosfico do tempo e a ela se referem, positiva ou polemicamente, Fichte, Maimon, Schelling, Hegel e Schopenhauer. 533. Prenncio DO IDEALISMO Em 1792 surgia uma obra annima chamada Enesidemo ou sobre os fundamentos da filosofia elementar ensinada em Jena pelo prof. Reinhold, com um defesa do cepticismo contra a arrogncia da Crtica da razo. O autor da obra era, como mais tarde se veio a saber, GottIob Emst Schulze (1761-1833), professor da Universidade de Helmstdt e de Gottingen. O cepticismo de Schulze no dogmtico mas metodolgico porque assume como "lei eterna e imutvel do uso da nossa razo, no aceitar por verdade nada sem razo suficiente e levar a cabo todos os passos da especulao em conformidade com este critrio". Schulze ope-se s teses fundamentais do kantismo (tal como haviam sido interpretadas por Reinhold) baseando-se numa orientao radicalmente
empirista. O que ele reprovava em Kant era precisamente o no ter permanecido fiel ao esprito do empirismo e ter-se servido do mesmo raciocnio ontolgico dos escols205 ticos que Kant pretende ter refutado a propsito da existncia de Deus. Kant, segundo Schulze, pro _ cedeu da forma seguinte: o conhecimento pode ser pensado apenas como juzo a priori, da a existncia de um tal juzo; a necessidade e a universalidade devem ser pensadas como sinais das formas do conhecimento, da a existncia de tais sinais; a universalidade e a necessidade no podem pensar-se com outro fundamento que o da razo pura, da ser esta o fundamento do conhecimento. Este procedimento , segundo Schulze, idntico ao dos escolsticos: pois se uma coisa deve ser pensada assim e no de outro modo, ela assim e no de outro modo. Kant caiu assim numa gritante contradio. Com efeito, a valer o processo ontolgico (o que deve ser pensado ser) as coisas em si so cognoscveis. Mas Kant demonstra que no so cognoscveis. Ora a sua teoria do conhecimento baseia-se no pressuposto do qual se infere a cognoscibilidade da coisa em si. Por conseguinte, a incognoscibilidade da coisa em si surge demonstrada atravs de um princpio sobre que se baseia a cognoscibilidade da coisa em si. sobre esta contradio que gira toda a crtica kantiana e a ela vem Schulze contrapor o cepticismo de Hume, ou seja, a impossibilidade de se explicar, seja de que forma for, o carcter objectivo do conhecimento. Esta crtica afastava-se, evidentemente, do essencial da doutrina de Kant, mas abordava um conceito o da coisa em si, que iria polarizar sua volta os posteriores desenvolvimentos crticos do kantismo. Sobre esse desenvolvimento, teve enorme influncia 206 a obra de Salomon Maimon (1753-1800), um judeu polaco de vida aventurosa, narrada por ele prprio numa Autobiografia. Os seus principais trabalhos so: Investigao sobre a filosofia transcendental (1709); Dicionrio filosfico (1791); Incurses no campo da filosofia (1793); Investigao sobre unia nova lgica ou teoria do pensamento (1794); Investigao crtica sobre o esprito humano (1797). Maimon cedo chega concluso a que inevitavelmente levava a interpretao, dada ao kantismo por Renhold: a impossibilidade da coisa em si. Segundo a doutrina Kant-Reinhold, tudo o que representvel de um objecto, est contido na conscincia; mas a coisa em si est e deve estar fora da conscincia e independente dela: portanto, uma coisa no representvel nem pensvel, uma nocoisa. O conceito de coisa em si , segundo Maimon, o fundamento da metafsica dogmtica, s existe na medida em que ela existe. semelhante aos nmeros imaginrios da matemtica; aqueles nmeros que no so nem positivos nem negativos, como os radicais quadrados dos nmeros negativos. Assim como a Vida uma grandeza impossvel, tambm a coisa em si conceito impossvel, um nada (Kritische Untersuchungen, p. 158). Com esta negao da coisa em si, est dado o passo decisivo para o idealismo. Com efeito, Mamon afirma explicitamente que todos os princpios do conhecimento se devem buscar no interior da conscincia, at mesmo o elemento objectivo (ou matria) do prprio conhecimento. O que objectivo, o que dado na conscincia, no pode ter uma causa externa conscincia, pois fora da 207 conscincia nada existe. Mas tambm no pode ser um puro produto da conscincia, porque desse modo no teria as caractersticas do dado, que jamais produzido pela prpria conscincia. Todo o conhecimento objectivo uma conscincia determinada, mas
na sua base existe uma "conscincia indeterminada" que procura determinar-se num conhecimento, objectivo, tal como o X matemtico ao assumir os valores particulares de a, b, c, etc. O dado , por conseguinte, o que no resolvel s puras leis do pensamento e que o pensamento considera como algo de estranho, a si, mas algo que procura continuamente limitar e assumir de forma a poder gradualmente anular-lhe o carcter irracional. "0 dado, afirma Maimon (Transcendentaphil., p. 419 e segs.) apenas aquilo em cuja representao se conhece no s a causa mas tambm a essncia real; o que vale dizer que aquilo de que temos apenas uma conscincia incompleta. Mas esta conscincia incompleta pode ser pensada por uma conscincia determinada como um nada absoluto apenas atravs de uma srie infinita de graus; j que o puro dado (o que est presente sem qualquer conscincia de fora representativa) pura ideia do limite desta srie (tal como uma raiz irracional) de que nos podemos aproximar mas que nunca conseguimos atingir. O conhecimento dado um conhecimento incompleto; o conhecimento completo jamais pode ser dado, apenas produzido e a sua produo acontece segundo as leis universais do conhecimento. E isso possvel quando podemos produzir na conscincia um objecto real de conhecimento. Uma tal produo ser uma 208 actividade da conscincia ou um acto do pensamento a que Maimon chama "o pensamento real". O pensamento real o nico conhecimento completo. Tal conhecimento supe portanto um mltiplo (o dado) que no seno um determinvel, e que, no acto do pensamento real, surge determinado e reduzido unidade de uma sntese. O pensamento real age, por conseguinte, atravs do princpio da determinabilidade: o que d origem ao objecto do conhecimento atravs da sntese perfeita do mltiplo determinvel. O espao e o tempo so as condies da determinao; e uma vez que a faculdade da conscincia em reter objectos dados a sensibilidade, o espao e o tempo so as formas da sensibilidade e, por conseguinte, as condies de todo o pensamento real. - A caracterstica principal desta doutrina de Maimon que, para ela, o objecto no o antecedente do conhecimento mas antes o consequente, na medida em que o termo final do acto criador do pensamento. O prprio objecto da intuio sensvel no pressuposto do pensamento, pressupe-no, uma vez que um produto do prprio pensamento. Maimon admite, por outros termos, a faculdade da intuio intelectual (produtora ou criadora) que Kant, de forma tenaz, sempre exclura como sendo superior e estranha s faculdades humanas. Deste modo se abre a via ao idealismo; e nesta via se coloca decididamente Beck. Jakob Sigismund Beck (6 de Agosto de 1761 - 29 de Agosto de 1840) tinha sido aluno de Kant em Knisgsberg e foi professor em Rostock. Os seus principais trabalhos so: Compndio expli209
cativo dos textos crticos do Professor Kant, por sugesto do prprio (1793-96), cujo terceiro volume, o mais importante, tem o ttulo O nico ponto de vista possvel pelo qual a filosofia crtica pode ser
julgada (1796); Esboo de filosofia crtica (1796); Comentrio metafsica dos costumes de Kant (1798). O ponto de partida de Beck a interpretao de Reinhold. O problema que Beck levanta surge, com efeito, da interpretao do kantismo em termos de representao: como pode ser entendida a relao entre a representao e o objecto. Esta relao s possvel, segundo Beck, se o objecto ele prprio uma representao. E, como tal, deve existir um acordo entre a representao e o objecto de forma a que uma se refira ao outro como a imagem ao original; o prprio objecto deve ser representao originria, um produto do representar, isto , um representar originrio. Por conseguinte, o nico ponto de vista pelo qual a filosofia crtica deve ser julgada aquele a que BecI chama o ponto de vista transcendental, o ponto de vista de quem considera a pura actividade do representar, que produz originariamente o objecto. A pura actividade do representar identificada por Beck com a kantiana unidade transcendental da percepo, ou seja, do que eu penso. Beck afirma assim, por sua conta, o ponto de vista de Fichte, de que o seu transcendental produz, mediante a sua pura actividade, a totalidade do saber. O eu produz, atravs de um acto de sntese, essa conexo originria do mltiplo que o objecto ou a representao originria; e num segundo momento reconhece nesse objecto a sua representao. Este 210 N acto posterior , segundo a expresso de Beck, o reconhecimento da representao, ou seja, o reconhecimento de que h um objecto sob o conceito que o exprime ou que existe a representao de um objecto atravs de um conceito. Esta representao surge criada por dois actos que constituem a actividade originria do intelecto: o primeiro a sntese originria efectuada atravs das categorias; o segundo o reconhecimento originrio efectuado atravs do esquematismo das categorias (Einzig m<5glicher Standpunkt, 11, 3. Beck percorreu deste modo uma larga tirada do caminho que, contemporneamente, era percorrido tambm por Fichte. A interpretao do kantismo iniciada por Reinhold encontra neste ltimo o seu desfecho lgico e conclusivo. 534. POLMICA SOBRE O KANTISMO: A FILOSOFIA DA F A filosofia de Kant era racionalista e iluminista. Fazia da razo o nico guia possvel do homem em todos os campos da sua actividade; mas ao mesmo tempo impunha razo limites precisos e em tais ,limites baseava a legitimidade das suas pretenses. O racionalismo kantiano foi outro aspecto que levantou polmicas na Alemanha nos ltimos anos do sculo XVIIII. As exigncias a que se referiam estas polmicas foram em geral as da f e da tradio religiosa. A filosofia kantiana parecia muda ou hostil perante tais exigncias, uma vez que era uma filosofia da razo: razo se contrape ento, como rgo de 211
conhecimento, a f, a intuio mstica, o sentimento, ou em geral, qualquer faculdade postulada ad hoc e que se julgue capaz de actuar para l dos limites da razo, na direco dessa realidade superior que parece ser o objecto especfico da experincia mstica ou em geral da razo. Esta polmica obtm as suas armas conceptuais especialmente em Hume e em Shaftesbury; mas atribui-lhes um alcance que estava muito alm da esfera de experincia a que estes dois filsofos se haviam limitado, j que v neles os instrumentos de uma revelao sobrenatural ou divina. A filosofia da f, dentro deste desgnio, inicia-se com a obra de um conterrneo de Kant, Joham George Hamann. (1730-88), um funcionrio de alfndega que manteve relaes de amizade com Kant, Herder e Jacobi e foi chamado o "mago do Norte". Hamman desencadeia as suas invectivas contra as pretenses da razo. "0 que a celebrada razo com a sua universalidade, infalibilidade, exaltao, certeza e evidncia? Um ens rationis, um dolo, ao qual a superstio impudente e irracional assinala atributos divinos". No a razo mas a f que constitui o homem na sua totalidade. Hamman, ao dizer isto, pensava em Hume que tinha reconhecido na crena a nica base da conscincia. Mas a crena de Hume uma crena emprica que tem por objecto as coisas e as suas relaes causais. A crena de Hamman, ao invs, uma f mstica, uma experincia misteriosa na qual tm lugar no apenas os factos naturais e os testemunhos dos sentidos como tambm os factos histricos, os testemunhos da tra212 dio, e os factos divinos testemunhados pela revelao. A f de Hamman a revelao imediata da natureza e de Deus. E Hamman no faz nenhuma diviso ou distino entre o que sensvel e o que religioso, entre o que humano e o que divino. Tal como Bruno, reconhece na coincidentia oppositorum o mais alto princpio do saber. No homem coincidem todos os princpios opostos do mundo; e, por mais que busque com a filosofia entender e abarcar a sua unidade, jamais conseguir compreend-la atravs de conceitos ou alcan-la atravs da razo. S a f poder revelar-lha, na medida em que ela uma relao entre o homem e o Deus; uma relao que no tem :a mediao dos conceitos, porque se trata de uma relao individualizada e singular e em razo da qual eu, na minha individualidade, me encontro perante o meu Deus. Compreende-se como Hamman pretendia rejeitar em bloco as anlises kantianas que procuram introduzir distines sobre distines onde ele no via mais que a continuidade de uma vida ou de uma experincia vivida que concilia os extremos opostos. Na Metacrtica do purismo da razo (publicada postumamente em 1788), Hamman censurava Kant por ter separado a razo da sensibilidade. A prpria existncia da linguagem desmente a doutrina de Kant: na linguagem a razo encontra, na verdade, a sua existncia sensvel. Hamman entende a linguagem no como uma simples articulao de sons mas como revelao da prpria realidade, uma revelao da natureza e de Deus. A linguagem o Logos, o Verbum: a razo como auto-revelao do ser. Linguagem e 213
razo so assim identificadas e ambas se identificam com a f. Hamman v na I-Estria,
como na Natureza, a incessante revelao de Deus e nos ventos e nas personalidades da Histria, como nos factos da Natureza, outros tantos smbolos e manifestaes de um desgnio providencial. Podemos encontrar em Hamman motivos que tambm se encontram em Kierkgaard (excepto o pantesmo romntico): a f como totalidade da existncia individual, a sua irredutibilidade razo, o cristianismo como loucura e escndalo para a razo. Para ele, como viria a ser para Kierkgaard, a religio apoia-se na nossa existncia total, independentemente das foras do conhecimento. Sobre a mesma linha se move o pensamento de Johann Gottfried Herder (25 de Agosto de 1744 18 de Dezembro de 1803) que foi aluno de Kant e amigo de Hamman. Herder censurava a ICant (Metacrtica crtica da razo pura, 1799) o dualismo de matria e forma, de natureza e liberdade; e a este dualismo contrapunha a essencial unidade do esprito e da natureza que ele descobre na obra de Espinosa (a quem dedicou um dilogo intitulado Deus). Tal como Hamman, Herder sustenta que impossvel explicar a actividade racional do homem prescindindo da linguagem: nela, ele descobre a origem da prpria natureza humana, na medida em que surge de uma livre e desinteressada considerao das coisas. Mas enquanto para Hamman a linguagem a prpria razo, ou seja, o ser que se revela, para Herder ela um instrumento indispensvel, mas que no deixa de ser um instrumento 214 da razo. O homem, privado como est do instinto, que o guia seguro dos animais, supre a sua inferioridade atravs de uma fora positiva da alma que sagacidade ou reflexo (Besonnheit); e o livre uso da razo leva inveno da linguagem. A linguagem , portanto, "um rgo natural do intelecto", o sinal exterior distintivo do gnero humano, tal como a razo o sinal interior do mesmo (Werke, V, p. 47). Mas a mais notvel manifestao filosfica do fantstico esprito de Herder o seu conceito de cristianismo como a religio da humanidade, e da histria humana como um desenvolvimento progressivo no sentido da total realizao da prpria humanidade. Na sua obra, Ideias para uma filosofia da histria da Humanidade (1784-91), Herder afirma o princpio de que na histria, como na natureza, todo o desenvolvimento est submetido a determinadas condies naturais e a leis mutveis. A natureza um todo vivo, que se desenvolve segundo um plano total de organizao progressiva. Nela agem e lutam foras diferentes e opostas, O homem, como todos os outros animais, um seu produto: mas o homem est no cume da organizao, porque com ele nasce a actividade racional, e, por conseguinte, a arte e a linguagem que conduzem humanidade e religio. A histria humana no faz mais que seguir a prpria lei ido desenvolvimento da natureza que provm do mundo inorgnico e orgnico at ao homem para levar finalmente o homem sua verdadeira essncia. Natureza e histria actuam ambas no sentido de educarem o homem para a humanidade. E essa
educao fruto no da razo, mas da religio que 215
ligada histria humana desde os primrdios e revela ao homem o que h de divino na natureza. A este conceito de um progresso contnuo e necessrio do gnero humano na sua histria, Herder levado. por. analogia entre o mundo da natureza e o mundo da histria, analogia baseada na profunda unidade destes dois mundos que so ambos criao e manifestao de Deus. Deus, que ordenou da forma mais sbia o mundo da natureza, garantindo de maneira infalvel a sua conservao e desenvolvimento, poderia permitir que a histria do gnero humano se desenvolvesse sem um plano qualquer, independente da sua sabedoria e da sua bondade? A esta pergunta deve responder a filosofia da histria, a que deve demonstrar que o gnero humano no um rebanho sem pastor e que para ele valem as prprias leis que determinam a organizao progressiva do mundo natural. "Tal como existe um Deus na natureza, existe tambm um Deus na histria; o homem faz parte da natureza e deve seguir, mesmo nas suas intemperanas e paixes mais selvagens, as leis que no so menos belas e excelentes do que aquelas que regulam todos os cus e corpos terrestres". fcil distinguir nestas palavras o reflexo do pantesmo de Shaftesbury, O fim das leis da histria o de conduzirem o homem sua prpria humanidade. "Se considerarmos a humanidade, tal como a conhecemos atravs das leis que nela existem, no poderemos imaginar nada de mais elevado que a humanidade existente nos homens; pois mesmo quando pensamos em anjos ou deuses, pensamo-los como homens ideais ou superiores. Com este objectivo 216 foram dados aos homens sentidos e impulsos mais refinados, a razo e a liberdade, uma sade delicada e durvel, a linguagem, a arte e a religio. Em todas as condies e em todas as sociedades, o homem no pode ter outra coisa em vista que no seja a construo da humanidade, tal como em si prprio ele a pensa". No seu esforo de investigar a ordem e as leis do mundo da histria, a especulao de Herder faz lembrar a de Vico. Mas para Vico no existe um progresso contnuo e inevitvel do gnero humano, comparvel ao curso fatal da natureza. Para Vico, a histria verdadeiramente feita pelos homens e conserva todo o carcter problemtico que deriva da liberdade das aces humanas. A ordem providencial da histria para o filsofo italiano uma ordem transcendente a que a histria temporal pode mais ou menos adequar-se, sem jamais coincidir. Herder, pelo contrrio, considera a histria como um plano divino e necessrio no seu inevitvel progresso. A sua filosofia da histria , por conseguinte, a extenso ao mundo histrico do,pantesmo de Sohaftesbury e prenuncia o conceito da histria prprio do idealismo romntico. 535. FILOSOFIA DA F: JACOBI A filosofia da f, tal como tinha sido desenvolvida por Hamman e Herder, levava a uma concluso pantesta: parecia at tornar impossvel qualquer distino entre natureza e Deus e fazer sua a tese
217
clssica do pantesmo, distinguir em Bruno. Espinosa, a filosofia da f de Jacob@ pelo contrrio dentro de um rigoroso teismo: retira Deus da natureza de forma to decidida como os outros o tinham unido a ela. Friedrich Heirich Jacobi, nasceu em Dusseldrfia a 25 de Janeiro de 1743 e morreu a 10 de maro de 1819. Os seus trabalhos compreendem dois romances filosficos, Epistolrio de Allwill e Woldemar, as Cartas sobre a doutrina de Espinosa a Moiss Mendelssohn (1785) e nas quais Jacobi descreve os colquios que teve com Lessing a 7 e 8 de Julho de 1780, em que Lessing manifestava a sua adeso ao espinosismo; David Hume e a f (1787) na qual Jacobi se pronuncia tambm sobre o kantismo; Cartas a Fichte (1709); Tratado sobre o propsito do criticismo em conferir a razo ao intelecto (1802); J As coisas divinas (1811), contra Schelling, que Jacobi censurava por usar uma linguagem crist num sentido pantesta. O objectivo da especulao de Jacobi o de defender a validade da f como sentimento do incondicionado, ou seja, de Deus. Rejeita a especulao "desinteressada"; pretende defender no a verdade, mas "uma determinada verdade". "Quero tornar claro, atravs do entendimento, uma nica coisa, afirma - Cartas sobre Espinosa, trad. ital., p. 4), a minha devoo natural a um Deus incgnito". Mas a razo no serve este objectivo. Jacobi levanta a pergunta crucial: o homem quem possui a razo ou a razo que possui o homem? Para ele no existe 218 dvidas: a razo um instrumento, no a prpria existncia humana. Esta ltima resulta de duas representaes originrias: a do incondicionado, que a de Deus, e a do condicionado, que a de ns prprios. Mas esta ltima pressupe a primeira. Temos portanto uma certeza do incondicionado bastante maior do que a que temos do condicionado, ou seja, da nossa prpria existncia. Mas esta certeza no nos dada pela razo e no se baseia nas provas ou nas demonstraes que a mesma nos possa fornecer. uma certeza da f. Para demonstrar a existncia de uma divindade criadora, a razo j no pode ligar-se nem nunca poder ligar-se a uma filosofia que se arrogue de tal. Descartes pretendeu demonstrar a existncia de um criador do mundo; mas, na realidade, s conseguiu demonstrar a unidade de todas as coisas, a totalidade do mundo. Espinosa tornou claro o significado implcito da demonstrao cartesiana na expresso por ele utilizada "Deus sive Natura". E o que vale para a filosofia de Espinosa vale para qualquer sistema que faa apelo razo para compreender Deus: inclusive o de Leibniz. O prprio Lessing., o representante mximo do iluminismo, uma prova desta mesma tese: Jaoobi vale-se dos colquios que teve com ele para afirmar que Lessing era conscientemente adepto da doutrina de Espinosa e que a frmula em que acreditava era En kai Pan, o Todo-Uno, o Deus-Natureza. Este o argumento da polmica entre Jacobi e Mendelssohn sobre o espinosismo de Lessing, polmica em que intervm igualmente
Herder com a sua obra, Deus. A doutrina de Espinosa representa para 219 Jacobi a essncia de todas as doutrinas racionalistas, j que todas as doutrinas deste gnero, quando coerentemente desenvolvidas, se identificam com o espinosismo. E o espinosismo atesmo, na medida em que o atesmo no mais que a identificao de Deus com o mundo, do incondicionado com o condicionado. Cortar as ligaes com o atesmo significa cortar as ligaes com o racionalismo e fazer apelo f. S a f torna certa a existncia de ns prprios, das outras coisas e de Deus: "Todos ns nascemos na f, afirma Jacobi (Cartas sobre Espinosa, trad. ital. p. 123), e na f devemos permanecer, tal como nascemos na sociedade e na sociedade devemos permanecer". Mas a f significa revelao. "Afirmamos com absoluta convico que as coisas existem realmente fora de ns. E eu pergunto: em que se baseia esta nossa convico? Em verdade, apenas numa revelao a que verdadeiramente podemos chamar milagrosa" (Hume, uber den Glauben, em Werke, H, p. 165 e sgs.). Jacob mostra-se portanto de acordo, tal como Hamman, com Hume, ao afirmar que o conhecimento sensvel no outra coisa seno a f. Mas alm disso, para ele, a f na revelao, assumindo portanto um significado religioso. Uma existncia que se revela pressupe uma existncia que revela, uma fora criadora que s pode ser causa de toda a existncia, isto . Deus. A nossa f sensvel necessariamente uma f na revelao e esta necessariamente a f em Deus, portanto unia religio (1b., p. 274, 284 e sgs.). Esta f natural, no arbitrria; trata-se de uma 220 lei escrita no corao dos homens e que os homens seguem mesmo quando a negam. Ao negar a possibilidade de qualquer demonstrao da existncia de Deus e ao considerar Deus como objecto de f, Jacobi concorda evidentemente com Kant. Mas Kant fala de uma f racional, problemtica, fechada nos limites das possibilidades humanas, enquanto que Jacobi v na f uma revelao efectiva entre o homem e o mundo supra-sensvel. Se o homem no tivesse a percepo originria do supra-sensvel, no seria possvel nem a religio nem a liberdade e o homem seria um animal como todos os outros, uma coisa entre as outras coisas. Mas se no existisse nem religio, nem liberdade, nem f em Deus, nem conscincia de si, como poderia o prprio homem existir com uma existncia de tal modo mutilada? Jacobi segue, na sua especulao, um processo caracterstico: por um lado, afirma a coerncia e a fora dos sistemas racionalistas, defendendo-se contra os seus adversrios (com efeito assim procedera em relao a Espinosa, a Kant e tambm a Fichte), por outro lado pretende demonstrar como os mesmos se debatem com a impossibilidade de explicar a existncia e todos pressupem a f. A f incondicionada e original num ordenamento do mundo paternal e amorvel: tal , para Jacobi, o nico dado seguro de que o homem deve partir. "Assim sinto, afirma, e no posso sentir de outra maneira; se os sistemas de filosofia tivessem razo, o meu sentimento seria impossvel".
221
A filosofia da f constitui uma primeira tentativa para se fugir aos limites que Kant tinha assinalado s possibilidades humanas, tentativa que faz apelo a uma relao directa com o supra-sensvel. Contra esta tentativa reagiu o prprio Kant na sua obra O que significa orientar-se no pensar (1786), e, ao intervir na polmica MendelssohnJacobi-Herder, replicou enrgicamente que a f no pode basear-se seno num postulado da razo prtica e que a mesma no envolve uma certeza teortica, mas apenas uma verosimilhana que basta a todas as exigncias da conduta moral. 536. O "STURM UND DRANG". SCHILLER. GOETHE A filosofia da f pode considerar-se, na sua complexidade, como expresso filosfica do movimento literrio-polteo que se chamou STURM UND DRANG (ttulo de um drama de Maximiliano Minger, escrito em 1776), ou seja, "tempestade mpeto". A razo que sofre a crtica desta filosofia a razo finita, a razo cujos limites e competncia haviam sido determinados por Kant; qual contrape a f como rgo capaz de alcanar o que quele inacessvel. Nos ideais do Sturm und Drang comungaram, na sua juventude, Schiller e Goethe. Todavia, o conhecimento da filosofia kantiana tem neles uma influncia positiva, encaminhando-os para o reconhecimento da funo da razo e ainda para a com222 preenso e esclarecimento daquilo que a razo no abarca, a vida, o sentimento, a arte e a natureza. A actividade filosfica do poeta Friedrich Schiller (10 de Novembro de 1759 - 9 de Maio de 1805) inicia-se com a denominada Teosofia de Julius, includa nas Cartas filosficas de 1786. Podemos encontrar nesta obra os temas neoplatnicos caros aos poetas e aos filsofos do Sturm und Drang. O universo a manifestao ou revelao de Deus, o "hieroglifo de Deus", e a nica diferena entre Deus e a natureza que Deus a perfeio indivisa, enquanto que a natureza uma perfeio dividida. "A natureza um Deus dividido ao infinito", diz Schiller (Werke, X, p. 190). Em 1787, Schiller entra em contacto com as obras de Kant. e especialmente com a Crtica do juzo. Neste perodo, Schiller dedicava-se a pesquisas de natureza esttica que vieram a dar frutos nos seus escritos Sobre o fundamento do prazer produzido pelos objectos trgicos (1791), Sobre a arte trgica (1792), Sobre o sublime (1793). Mas os primeiros frutos amadurecidos da filosofia de Schiller so o inteligente ensaio Sobre a graa e a dignidade (1793), no qual a crena na unidade harmnica entre a natureza e o esprito leva Schiller a modificar substancialmente o ponto de vista kantiano que tinha contraposto a razo ao instinto. Afirma Schiller: "No tenho um bom conceito do homem que se fia to pouco na voz do instinto que a obriga a calar todas as vezes perante a lei moral; mas respeito e estimo aquele que se abandona com uma certa confiana ao instinto, sem recear que este o amesquinhe: porque assim parece demonstrar que
223 nele os dois princpios se encontram j em harmonia,,, o que sinal de uma humanidade completa e perfeita" (Werke, XI, p. 202). O homem no qual se realiza a harmonia da razo com o instinto e que, por esse motivo, age moralmente por instinto uma 11 alma bela, cu tural a graa, ou seja; ja expresso na a beleza em movimento. Numa nota segunda edio da Religio nos limites da razo (13 10-11), Kant, respondendo s observaes de Schiller, afirmava que se impossvel que a graa surja acompanhada do conceito de dever, em virtude da dignidade deste ltim03 no impossvel todavia que aquela surja acompanhada da virtude, ou seja: da inteno de cumprir fielmente o dever. A graa, segundo Kant, pode ser uma das felizes consequncias da virtude que transmite sobretudo a fora da razo e acaba at por arrastar no seu jogo a prpria. imaginao. - 1.O tema da unidade entre a natureza e o esprito encontra. a sua melhor expressa wo na obra-prima filosfica, de Schiller, as Cartas sobre a educao ,esttica (1793-95). Nesta obra, Schiller comea por discernir , no homem uma dualidade que aparece conciliada: a do homem fsico que vive sob o domnio das necessidades e se descobre em virtude da sua existncia na sociedade dos homens, e o homem moral,, que afirma a sua liberdade. Mas o homem fsico real, enquanto que o homem moral apenas problemtico. A razo tende a suprimir a natureza no homem e a furt-la aos vnculos sociais existentes para lhes, fornecer aquilo que ele poderia e deveria possuir, mas no pode substituir completamente a GOETHE 224 sua realidade fsica e social. Schiller ilustra os v. rios aspectos deste contraste. A razo exige a unidade, a natureza exige a variedade; e o homem chamado a obedecer a ambas as leis, uma sugerida pela conscincia e a outra pelo sentimento (Cartas, 4). No homem, o eu imutvel e permanente, mas os estados singulares sofrem mutaes. O eu fruto da liberdade, os estados singulares so produto da aco das coisas exteriores. Por isso existem no homem duas tendncias que constituem as duas leis fundamentais da sua dupla natureza racional e sensvel. A primeira exige a absoluta realidade.- o homem deve tomar sensvel tudo o que pura forma e manifestar exteriormente todas as suas atitudes. A segunda exige a absoluta formalidade: o homem deve extirpar tudo o que nele existe de exterior e criar a harmonia entre os seus sentimentos (1b., 11). Estas duas tendncias so tambm chamadas por Schiller instintos: o instinto sensvel deriva do seu ser fsico e liga o homem matria e ao tempo, o instinto da forma aparece no homem por virtude da sua existncia racional e procura torn-lo livre. Se o homem sacrifica o instinto racional ao sensvel, deixar de ser um eu, permanecendo disperso na matria e no tempo; se sacrifica o instinto sensvel ao formal ser uma pura forma sem realidade, ou seja: uni puro nada (lb., 13). Deve portanto conciliar os dois instintos de modo a um limitar o outro e dar lugar ao instinto do jogo que levar a forma matria e a realidade pura forma rwiOnal (1b., 14). Se o objecto do instinto sensvel a vida no sentido mais lato e o objecto do instinto
formal a 225 forma, o objecto do instinto do jogo ser a forma viva ou seja: a beleza (lb., 15). Por meio da beleza, o homem sensvel guiado para a forma e para o pensamento, o homem espiritual reconduzido matria e restitudo ao mundo dos sentidos. A presena dos dois instintos condio fundamental da liberdade. Enquanto o homem se mantiver submetido ao instinto sensvel que o primeiro a surgir, no existe liberdade; s quando o outro instinto se afirma, ambos acabam por perder a sua fora constritiva e a posio entre ambos dar origem liberdade (1b., 19). Para Schiller a liberdade no como para Kant o produto da pura razo; antes um estado de indeterminao no qual o homem no se sente constrangido nem fsica nem moralmente, se bera que possa ser actuante num modo como no outro. Ora se o estado de determinao sensvel se chama fsico e o de determinao racional, moral, o estado de determinabilidade real e activa deve chamar-se esttico (lb., 20). O estado esttico um estado de pura problematicidade, no qual o homem pode ser tudo o que quiser, embora nada sendo de determinado. Neste sentido se afirma que a beleza no oferece qualquer resultado, seja moral seja intelectual; no entanto, s atravs dela o homem aufere a possibilidade de fazer de si aquilo que quiser; a liberdade de ser aquilo que deve ser. Neste sentido a beleza uma segunda criao do homem (1b., 21). O estado esttico o ponto zero do homem fsico e do homem moral, mas ao mesmo tempo a possibilidade, a unidade e a harmonia de ambos. Com ele, o poder da sensao surge vencido e o homem fsico aparece 226 de tal modo notabilizado que o espiritual pode facilmente desenvolver-se nele segundo, a lei da liberdade. A passagem do estado esttico ao lgico ou moral, a passagem verdade ou ao dever infinitamente mais fcil do que a passagem do estado fsico ao estado esttico (lb., 23). No estado esttico o homem separa-se do mundo com o qual se encontrava confundido durante o estado fsico; e assim o mundo comea a existir para ele como objecto; objecto que, enquanto belo, faz ao mesmo tempo parte da sua subjectividade, sendo portanto simultaneamente um estado e um acto seus (lb., 25). Noutro ensaio fundamental, Sobre a poesia ingnua e sentimental(1795-96), Schifier interpretava a educao progressiva do gnero humano atravs da poesia como reconquista de uma perfeio perdida. O ensaio esboa uma histria da humanidade concebida como passagem de uma unidade harmnica e originria entre o ideal e o real para uma ciso entre estes dois aspectos e por fim a uma reconquista da unidade. A poesia ingnua aquela em que a unidade entre o real e o ideal imediatamente apreendida e vivida; a poesia sentimental a busca ou a reconquista dessa unidade. O poeta ingnuo no tem necessidade de ideal, imita a natureza real e com esta imitao encontra a sua perfeio; o poeta sentimental procura erguer a realidade at ao ideal (Wer.ke, XII, 126).
A filosofia de Schiller substancialmente a tentativa de interpretar o homem, o seu mundo e a sua histria nos termos de uma teoria da poesia. 227 A mesma ideia de um acordo intrnseco ou substancial entro a natureza e o esprito, o mundo e Deus, est contida na actividade filosfica de Wolfgang Coethe (1794-1832) que, diversamente de Schiller, parte no de uma teoria da poesia mas de pesquisas, observaes e hipteses naturalistas. No foi a arte, mas a prpria natureza que serviu de tema inspirador reflexo filosfica de Goethe. Goethe estava convencido de que a natureza e Deus se encontram intimamente ligados, constituindo um todo nico. "Tudo o que o homem pode ambicionar na vida que o Deus-natureza se lhe revele", afirma. A natureza no seno "a roupagem viva da divindade" . No se pode alcanar Deus seno atravs da natureza, como no se pode alcanar a alma seno atravs do corpo. Se Goethe contrrio aos materialistas que fazem da natureza um puro sistema de foras mecnicas, tambm contrrio a Jacobi que coloca Deus, de forma absoluta, para alm da natureza. "Quem quer o ser supremo deve querer o todo; quem se interessa pelo esprito deve pressupor * natureza, quem fala da natureza deve pressupor * esprito. O pensamento no se deixa separar daquilo que pensado, a vontade no se deixa separar de tudo o que movido. A existncia de Deus, como a de uma fora espiritual, de uma razo, que domina todo o universo, no precisa de demonstrao. A existncia de Deus o prprio Deus" afirma ele numa carta a Jacobi (datada de 9 de Junho de 1785). Deus uma fora impessoal e suprapessoal que actua 228 nos homens atravs da razo e determina o seu destino. A um tal destino, que ao mesmo tempo ordem providencial, no se furta nem mesmo Prometeu que, na sua titnica revolta contra o Olimpo, encontra na conscincia de si o auxilio e a fora para tal. - Nestas concepes pantestas se inspiram as investigaes e as hipteses naturalistas de Goethe, que pretendem investigar na natureza o fenmeno originrio (Urphnomenon) em que se manifesta e se concretiza, num determinado tipo ou forma, a fora divina que tudo rege. Flor isso Goethe no compartilha do ponto de vista de Kant, segundo o qual a finalidade da natureza pertence a uma considerao puramente subjectiva do mundo, e no tem valor objectivo. Para Goethe, a finalidade a prpria estrutura dos fenmenos naturais e as ideias que a exprimem so os smbolos dos mesmos. Arte e natureza distinguem-se apenas em grau e no em qualidade; o fim que a arte e o artista prosseguem, actua sobre o mundo de forma menos consciente, mas igualmente eficaz. - Uma outra expresso da unidade entre a natureza e esprito, que a f de Goethe, o equilbrio, que ele defende explicitamente e que constitui uma caracterstica da sua personalidade, entre sensibilidade e razo. A vida moral no para ele, como para, Kant, o predomnio da razo sobre os impulsos sensveis, mas a harmonia de todas as actividades humanas, a relao equilibrada entre as foras contrastantes que constituem o homem. neste equilbrio que Goethe reconhece a normalidade da natureza humana 229
537. HUMBOLDT No ideal humanstico de Schiller e Herder se inspira a obra de Wilhelra Humboldt (22 de Junho 1767 - 8 de Abril de 1835), que o criador da moderna cincia da linguagem. Os problemas que ocupam Humboldt dizem respeito histria, arte e linguagem, sem esquecer tambm os problemas polticos. Aos primeiros dedicou alguns ensaios e breves tratados que em parte se mantiveram inditos e em parte se encontram includos nos seus escritos de crtica literria e filolgica: Sobre a religio (1789); Sobre a lei de desenvolvimento das foras humanas (1791); Teoria da formao do homem (1793); Plano de lima antropologia comparada (1795); Sobre o esprito da humanidade (1797); Consideraes sobre a histria universal (1814); Consideraes sobre as causas eficientes da histria universal (1818); Sobre a tarefa dos historiadores (1821). As suas ideias sobre arte esto contidas nos ensaios literrios, especialmente no que se intitula Sobre o Armnio e Doroleia de Goethe (179798), enquanto que as suas ideias polticas se encontram expostas num vasto texto Ideia de uma investigao sobre os limites da aco do estado (1792). O princpio fundamental de Humboldt de que nos mesmos homens e na sua histria vive, age e se realiza gradualmente a forma ou o esprito da humanidade, que vale como ideal e critrio valorativo de toda a individualidade e de toda a manifestao humana. Como Schiller e Herder, Humboldt sustenta que o objectivo dos homens est nos prprios homens, na sua formao progressiva, 230 no desenvolvimento e na realizao da forma humana que lhes prpria. Sob este aspecto o estudo do homem deve ser objecto de uma cincia - a antropologia - que, embora interessada em determinar as condies naturais do homem (temperamento, sexo, nacionalidade, ete.,), porque tambm descobrir, atravs da mesma, o prprio ideal da humanidade, a forma incondicionada, a que nenhum indivduo jamais consegue adequar-se perfeitamente, mas que no deixa de ser o objectivo para que tendem todos os indivduos (Schriften, 1, p. 388 e sgs.). Esta cincia dever tratar o material emprico de modo especulativo, organizar filosoficamente o estudo histrico do homem e considerar a verdadeira condio do homem do ponto de vista dos seus possveis desenvolvimentos. Humboldt designa por esprito da humanidade a forma humana ideal que no se encontra nunca realizada empiricamente, ainda que seja o termo de toda a actividade humana; e reconhece neste esprito da humanidade a fora espiritual de que dependem todas as manifestaes do homem no mundo. Os grandes homens foram aqueles que, de forma mais vincada, afirmaram o esprito da humanidade, como aconteceu com Goethe, por exemplo; e os grandes povos os que mais se aproximaram no seu progresso da realizao integral daquele esprito, como foi o caso dos Gregos (M., 11, p. 332).
A investigao e a realizao da forma incondicionada da humanidade tambm o objectivo da arte. Esta transforma a realidade numa imagem da fantasia e por isso se desvincula da prpria realidade, dando lugar a um reino ideal; mas na medida em que 231 tal, acontece, a arte supera os limites da realidade, purifica-a e idealiza-a; representando-a atravs da fantasia faz dela uma totalidade, um mundo harmonioso e compsito. O carcter de totalidade , com o da fantasia transfiguradora, elemento essencial da arte (lb., 11, p. 133 e sgs.; p. 284). Sob este aspecto, a poesia tem unia verdade que no redutvel da histria ou da cincia. Essa mesma verdade consiste no seu acordo com o objecto da imaginao, ao passo que a verdade da histria consiste no acordo com o objecto da observao (1b., H, p. 285). 1 A histria - apresenta-se a Humboldt como "o esforo da ideia para conquistar a sua existncia na realidade" (Ib., IV, p. 56). A ideia manifesta-se na histria numa individualidade pessoal, numa nao, e em geral em todos os elementos necessrios e determinantes que os historiadores se encarregam de separar e de dar relevo dentro do conjunto dos aspectos insignificantes ou acidentais. Para o homem que no pode conhecer o plano total que governa o mundo, a ideia s se pode revelar atravs do curso dos acontecimentos, dos quais constitui, ao mesmo tempo, a fora produtiva e o objectivo final. "0 fim da histria pode ser apenas a realizao da ideia representada pela humanidade, em - todos os seus aspectos, c em todos os modos nos quais a forma finita possa ser ligada ideia; e o curso dos acontecimentos pode ser interrompido quando nem uma nem outra esto em situao de reciprocamente, se interpenetrarem" (lb., IV, p. 55). Com a ideia de humanidade se associa a linguagem. A linguagem a prpria actividade das foras 232 HUMBOLDT espirituais do homem. Como no existe nenhuma fora da alma que no seja activa, nada existe no ntimo do homem que no se transforme em linguagem ou no se reconhea nela (Schriften, VII, 1, p. 86). Em razo destas razes humanas comuns, todas as linguagens tm na sua organizao intelectual qualquer coisa de semelhante. A diversidade intervm no que respeita a essa organizao, quer pelo ,grau em que a fora criadora da linguagem se exerce, grau que diferente de povo para povo e em tempos diferentes, quer porque outras foras actuam na criao da linguagem alm do intelecto, como seja a fantasia e o sentimento. Fantasia e sentimento que, na medida em que determinam a diversidade dos caracteres individuais, tambm determinam a diversidade dos caracteres nacionais e por conseguinte a multiplicidade das linguagens. A linguagem o prprio sentido interno enquanto rene o conhecimento e a expresso, e por conseguinte est ligada ao mais ntimo do esprito nacional; e na diversificao deste esprito encontra a raiz ltima das suas divises (1b.,
V11, 1, p. 14). Alm disso. ela forma um organismo que vive apenas na totalidade e na conexo das suas partes: a primeira palavra de uma lngua prenuncia-a e pressupe-na na sua totalidade. Em virtude desta mesma ideia, Humbold-t conseguiu transformar o estudo da linguagem de pura actividade de recolha de elementos numa compreenso do fenmeno da linguagem na sua totalidade. A exigncia de garantir a livre realizao do esprito e da humanidade no homem leva Humboldt 233 a restringir os limites da aco do Estado. O seu escrito poltico (que s foi publicado em 1851) res- @tringe a funo positiva do Estado garantia da segurana interna e externa, mas exclui, como excedendo os limites do Estado, toda a aco positiva no sentido de promover o bem-estar e a vida moral e religiosa dos cidados. Tudo o que diga respeito directamente ao desenvolvimento fsico, intelectual, moral e religioso do homem cai fora dos limites do estado, tarefa prpria dos indivduos e das naes. O estado pode favorecer essa tarefa quando se limita a garantir as condies em que esse mesmo desenvolvimento se verifique com segurana, mas toda a sua interveno positiva prejudicial porque contrria s condies indispensveis a que se alcance o desenvolvimento completo dos indivduos singulares, ou seja: a liberdade. Esta doutrina a anttese antecipada da concepo tica do estado que ir ser defendida por Hegel. NOTA BIBLIOGRFICA 532. K. L. Reinho@d, Leben und literarischcs Wirken nebst ciner Aus~I von Briefen Kants, Fichtes, Jacobi8 und allen phil~phischen Zeitgenossen an ihn (ao cuidado do seu filho Emst), Jena, 1925. Sobre Reinhld: B. Kroner, Von Kant bis Hegel, Tbingen, 1821; Guroult, Llvolution et ta strwture de Ia Doetrine de Ia Se@ence chez Fichte, Paris, 1930, 1, pgs. 1, 153; V. Verra, Dopo Kant, Il criticisma ne,111~ pre-romantica, Turim, 1957 (para esta obra se, remete tanibni quanto aos autores seguintes). 234 533. Sobre o Enes~o: H, Wilegershausen, Aenes~-Schulze, Berlim, 1910. De Malmon: Versuch einer neuen Logik, Bei-ffim, 1912 (com bibl.) Sobre Maimon: P. Kuntze, De Phlosophe S. M.S, Heidolberg, 1912; M. Guroult, La philosophie transcendentale de S. M., Paris 1929; G. Durante, Gli epigoni di Kant, Florena, 1943. Sobre Beck: W. Withey, em "Archiv. fr Geschichte der Phiposophie", 2, p. 592-6,556; W. F>ottschel, J. S. B. und Kant, Bresiau, 1910.
534. Ramman, Werke, 42d. Roth, Berlim, 1821-1843; ed. Gildmeister, Gota, 1857-73; ed, NaMer, Viena, 1949-53. - Escritos e fragmentos de esttica, trad. itl., S, Lupi, Roma, 1938. Sobre Hamann: Burger, I. F. H.s Schpfung und ErIsung im Irrationalismus, Gttingen, 1929; Metzke, I. G. H.s Stellung in der Philosophie des 18. Jahrunderts Halle, 1934; Nadlier, I. G. H. Der zeuge des Corpus Mysticum, Salzburg, 1949; Schreiner, Die Menschwerdung Gottes in der Theologie I. G. H.s, Tbingen, 1950; J. C. O'FIaherty, Unity and Language: a Study in Philosophy of J. G. H., Chalml Hilil, 1952. De Herder: Werke, ed. B. Suphan, 32 vols. Beillim, 1877-99; Zur philosophie der Geschichte, ed. Harich, Berlim, 1952; Metakritik der reinen Vernunft, ed. Bassenge, Berlim, 1955; Werke, ed. Ger&d, 2 vdls., Munique,, 1953; Ancora una filosofia della storia per delFumanit, trad. ital., F. Ventur@, Tirum, 1951; Saggio sulllorigine del linguaggio, tra4. ital., G. Necco, Roma, 1954. Sobre Herder: R. Havin, H., nach seinen Leben u*d seinen Werken dargesteAlt, 2 voIs., Berrn, 1954; A. Bo~rt, H., sa vie et son oeuvre, Paris, 1916; E. KImemann, H., 3.a ed. Munique, 1927; M. Rouche, La philosophie de L'Histoire, de H., Paris, 1940; T. 235 Litt, Kant und H. al,& Deuter der geistigen Welt, H~Iberg, 1949; H. Salmony, Die Philosophi.- des jungen H., Zurique, 1949; W. Dobbe@k, J. GG. H.s Humanittsidec aIs Ausdruck seines WeltbiJdes und seiner Pers6nlichkeit, Braunschweig, 19,49: R. T. Clark, H.: His life and Thought, Berkeley - Los Angeles, 1955. 535. De Jacobi: Werke, 6 vols. Leipsig, 1812-25; Aus J.s NachIass, ed. Zoppritz, 2 vols., Leipzig, 1869. Lettere sulla dottrina di Spinoza, trad. itaj. F. Capra, Bari, 1914; Idealismo e realismo, trad. ita. N. Bobbio, Turim, 1948 (contm: David Humie e Ia fede Lettere a Fichte, Cose divine e outros escritos). Sobre Jacobi: L. Levy-Bruffi, La philosophie de J., Paris, 1894; F. A. Schmidt, F. H. J, Heidelberg, 1908. 536. De Schiller: Werke, ed. G. Kaxpeles, Leipzig, s.a. -;9., Philos. Schriften und Gedichte, antologia de E. Khnemann, Leipzig, 1909; Lettere sull'educazione estetica ed altri scritti, a cargo de G. Oal, 1937. Sobre Schiller: K. Fischer, S. al,& Philosoph, Heidelbarg, 1891; K. Engel, S. aIs Denker, Berlim, 1908; E. Khnemqjnn, S. sein Leben und seine Werke, Munique, 1911; K. Vorlander, Kant, Schiller, Goethe, Leipzig, 1922. Unia escolha dos textos filosficos de Goethe foi feita por M. Heynacher, G.s Phiplosophiea" seinem Werken, Leipzig, 1905. Em ita~: Teoria della natura, recolha de textos e traduo de M. Montinari, Turim, 1958. Sobre Goethe: H. Siebeck, G., aIs Denker, Stuttgarda, 1902; G. Sinunel, G., L~ig, 1913; P. Carus, G., Chicago, 1915; A. Schweitzer, G., 1952.
537. De Humboldt: Gesammelte Schiften, ed. a cargo da Academia de Berlim, 16 voda., Berlim, 1904 e sgs. -Em italiano: Seritti di estetica, escolha e trad. da G. Marcovaldi, Roma, 1934; Antologia degli scritti politici, a cargo de P. SerrN Bolonha, 1961. 236 Sobra Humboldt: E. Spranger, W. v. H. und die Humanitdt~e, Berlim, 1909; O. 1-la~k, W. V. H., Berliin, 1913; Bins-Wlanger, W. v. H., Le@pzig, 1937; E. Ho~d, W. v. H., ErlenbachZrich, 1944; F. Schaffs~, W. v. H., Frankfort, a. M., 1956. 237 H O ROMANTISMO 538. ORIGENS E CARACTERES DO ROMANTISMO Com o termo "romantismo", que na sua origem se referia ao romance de cavalaria, rico em aventuras e amores, pretende-se indicar o movimento filosfico, literrio e artstico que se iniciou na Alemanha nos ltimos anos do sculo XVIII, teve o seu perodo de florescimento mximo, em toda a Europa, nos primeiros decnios do sculo XIX, e que constitui o cunho prprio deste sculo. O significado corrente do termo "romntico" que significa "sentimental" deriva de um dos aspectos mais salientes do movimento romntico, ou seja, o reconhecimento do valor atribudo por ele ao sentimento: uma categoria espiritual que a antiguidade clssica havia ignorado ou desprezado, categoria que 239 o iluminismo de setecentos tinha reconhecido e que viria a adquirir com o romantismo um valor predominante. Este valor predominante a principal herana que o romantismo recebe do movimento do Sturm und Drang ( 536) que tinha contraposto o sentimento, e com ele a f, a intuio mstica ou aco, razo, considerada incapaz, nos limites que lhe haviam sido prescritos por Kant, de alcanar a substncia das coisas ou as coisas superiores e divinas. Mas propriamente neste sentido, a razo continuava a ser para os defensores do Sturin und Drang o que era para o iluminismo: uma fora humana finita capaz no entanto de transformar gradualmente o mundo, mas no absoluta nem omnipotente e por conseguinte sempre mais ou menos em contradio com o prprio mundo e em luta com a realidade que tinha como objectivo transformar. O romantismo, pelo contrrio, nasce quando este conceito de razo comea a ser abandonado e se passa a entender por razo uma fora infinita (omnipotente) que habita o mundo e o domina, e por conseguinte constitui a prpria substncia do mundo. Esta passagem surge com nitidez em Fichte que identificou a razo com o Eu infinito ou
Autoconscincia absoluta e que constitui a fora que deu origem ao mundo. A infinitude neste sentido uma infinitude de conscincia e de potncia, mais que de extenso e de durao. Ainda que diversamente designado pelos filsofos romnticos (Fichte chamou-lhe Eu, Schelling Absoluto, Hegel Ideia ou Razo Autoconsciente). o Princpio Infinito foi sempre enten240 dido como conscincia, actividade, liberdade, capacidade criadora incessante. Mas apesar de existir uma base comum quanto s caractersticas apontadas atrs, o Princpio Infinito interpretado pelos romnticos de dois modos diversos e fundamentais. A primeira interpretao, mais prxima da ideia do Stunn und Drang, considera - o infinito como sentimento, como actividade livre, isenta de determinaes ou para alm de qualquer determinao, revelando-se no homem naquelas actividades mais estritamente ligadas com o sentimento, como seja a religio e a arte. A segunda interpretao define o infinito como Razo Absoluta que se move com uma necessidade rigorosa de uma determinao para outra, de forma que todas as determinaes podem ser deduzidas umas das outras necessariamente e a priori. esta interpretao que prevalece nas grandes figuras do idealismo romntico, Fichte, Schelling e Hegel,ainda que Schelling tenha insistido na presena, no Princpio Infinito, de um aspecto inconsciente, anlogo ao que caracteriza a experincia esttica do homem. As duas interpretaes do infinito foram frequentemente contraditrias e Hegel especialmente orienta a pol mica contra o primado do sentimento. Mas at mesmo esse contraste e essas polmicas constituem um dos traos fundamentais do movimento romntico na sua complexidade. Ao romantismo do sentimento pertence corno trao fundamental a ironia. O conceito de ironia uma consequncia directa do princpio romntico de que o finito uma manifestao do infinito. Com 241 efeito, o infinito pode ter infinitas manifestaes e nenhuma delas, segundo os romnticos do sentimento, lhe verdadeiramente essencial. A ironia consiste em no tomar a srio e no deixar de refutar, como coisa limitada, as manifestaes particulares do infinito, (a natureza, a arte, o eu, o prprio Deus) na medida em que no passam de expresses provisrias do mesmo. Um outro trao do romantismo do sentimento o primado reconhecido poesia, em geral arte, sobre a cincia, a filosofia e, em geral, toda a actividade racional. Com efeito, a arte, segundo os romnticos, a expresso do sentimento; e se o infinito sentimento, a sua melhor expresso , portanto, a arte. Muitos romnticos fazem sua esta tese, a qual adere tambm Schelling que v no mundo a obra de arte do Absoluto e considera a experincia esttica a melhor via de acesso compreenso do prprio Absoluto. A outra interpretao fundamental do principio romntico, a que o considera como infinita Razo, v na filosofia a mais elevada revelao da mesma. Foi este o ponto de vista defendido pelas grandes figuras do idealismo romntico a que dedicaremos os prximos captulos. E foi este o ponto de vista que mais fortemente influenciou toda a filosofia de Oitocentos, mesmo quando o grande florescimento do primeiro romantismo perde
audincia e o pensamento europeu parece tomar outros caminhos. Com efeito, manter-seo dominantes os caracteres gerais e fundamentais do romantismo: o optimismo, o providencialismo, o tradicionalismo e o titanismo. 242 O optimismo a convico de que a realidade tudo aquilo que deve ser e , em qualquer momento, racionalidade e perfeio. Com esta sua caracterstica, o romantismo opunha-se polemicamente ao iluminismo, ou seja, pretenso de transformar a realidade, de dar lies aos factos. Para o romantismo, a realidade tudo aquilo que deve ser, e a razo no deixa de ser uma potncia s em virtude de no se realizar os factos. Foi por causa desta caracterstica que o romantismo teve a tendncia para exaltar a dor, a infelicidade e o mal como manifestaes parciais e necessrias de uma totalidade que, na sua complexidade, permanece pacfica e feliz. Com o optimismo metafsico se relaciona o providencialismo histrico do romantismo. Para os romnticos, a histria o processo necessrio no qual se manifesta ou realiza a prpria Razo infinita, nada havendo nela, por conseguinte, que seja irracional ou intil. Segundo este ponto de vista, a histria ou um progresso necessrio e incessante no qual todos os momentos superam os anteriores em perfeio e racionalidade; ou , na sua complexidade, uma totalidade perfeita cujos momentos so todos igualmente racionais e perfeitos. Hegel (como mais tarde Croce) elaborou esta segunda concepo; e contrape ao "falso infinito", que o infinito da durao ou da extenso ou do progresso, o "verdadeiro infinito", aquele que se realiza integralmente em todos os momentos finitos e que, por conseguinte, tm o mesmo valor do infinito. O outro conceito, o do progresso necessrio e inevitvel, surge pelo contrrio exterior ao idealismo em toda a filosofia oitocentis-ta; e um dos seus 243 reflexos aquele conceito de evoluo que, primeiramente elaborado pela cincia biolgica, se estendeu depois a toda a realidade, surgindo esta como um nico e ininterrupto desenvolvimento progressivo. Ao providencialismo se liga um outro aspecto do romantismo, o tradicionalismo. O iluminismo tinha sido uma filosofia crtica e revolucionria: pretendia libertar-se do passado porque no passado podamos descortinar, quase exclusivamente, o erro, o preconceito, a violncia e :a fraude. O romantismo, pelo contrrio, reconhecendo a bondade de todos os momentos da histria, regressa ao passado e exalta-o. O passado para o romantismo nada tem que deva ser abandonado ou perdido, contm sim, potencialmente, o presente e o futuro. Por isso as instituies que o passado criou e transmitiu (o Estado, a Igreja e tudo aquilo que com elas se relaciona) apaixonam os romnticos como se fossem dotadas de um valor absoluto e destinadas eternidade. Desta
mesma posio deriva a reabilitao da Idade Mdia que o Iluminismo (como o Humanismo) tinha considerado uma poca de decadncia e de barbrie, com a consequente literatura em que a Idade Mdia representada de forma idealizada e sentimental, bastante longe da realidade histrica. Um outro corolrio do tradicionalismo romntico o nacionalismo. Ainda que a noo setecentista de "povo" fosse definida em termos de vontade e de interesse comuns, a "nao" defendida em termos de elementos tradicionais como a raa, a lngua, os costumes e a religio. Por outras palavras, o povo consiste na coexistncia dos indivduos que querem viver em 244 conjunto; a nao refere-se coexistncia de indivduos que devem viver em conjunto, de tal modo que o no podem deixar de fazer sem renegarem ou trarem a sua prpria personalidade. Finalmente, entre os traos mais salientes do romantismo est ainda o titanismo. O culto e a exaltao do infinito tm como contrapartida o carcter insuportvel de tudo o que finito. E este carcter insuportvel est na base da rebelio perante tudo o que um limite ou uma regra e no des-ako incessante a tudo o que, pela sua finitude, surge como incompatvel ou inadequado em comparao com o infinito. Prometeu assumido pelos romnticos como o smbolo deste titanismo, atravs de uma interpretao que est muito afastada do esprito do antigo mito grego, uma vez que tende a exaltar uma rebelio que fim de si prpria. Os Gregos viam em Prometeu o tit que paga justamente o castigo de ter rompido com a ordem fatal do mundo, dando aos homens o uso do fogo e a possibilidade da sobrevivncia. O romantismo, pelo contrrio, exalta em Prometeu o rebelde vontade do destino. O titanismo no pretende que uma situao de facto seja ou possa ser superior ou prefervel a outra; empenha-se antes num protesto universal e genrico que no pode no entanto traduzir-se em qualquer deciso concreta. Todos os caracteres acima enumerados e que correspondem ao esprito romntico, excepto evidentemente aqueles que mais directamente se referem aos aspectos literrios do romantismo (como seja a ironia e o titanismo) se encontram no positivismo HDERLIN 245 quando sonha, um mendigo quando pensa", diz Hlderlin. S a beleza lhe revela o infinito; e a primeira filha da beleza a arte, a segunda filha a religio, que o amor da beleza. A filosofia nasce da poesia porque s atravs da beleza est em relao com o Uno infinito. "A poesia o princpio e o fim da filosofia. Assim como Minerva surge da cabea de Jpiter, tambm a filosofia surge da poesia de um ser infinito, divino". "Do simples intelecto no nasce nenhuma filosofia porque a filosofia mais do que o no limitado conhecimento do contingente. Da simples razo no nasce nenhuma filosofia, porque a filosofia mais do que a exigncia cega de um infinito progresso na sntese ou na anlise de uma dada matria". Nestas palavras o princpio do infinito de Fchte encontra j a sua crtica e a sua correco romntica. E em Hlderlin se encontra tambm a outra caracterstica do esprito romntico: a exaltao da dor. "No deve tudo sofrer? Quanto mais elevado o ser maior o sofrimento. No sofre a sagrada natureza?... A vontade que no sofre sono, e sem morte no h vida". Hiperion acaba por exaltar a sua prpria dor:
" alma, beleza do mundo, indestrutvel, enfeitiante! Com a tua eterna juventude existes; mas o que a morte e toda a dor do homem? Muitas palavras vs fizeram os homens estranhos. Tudo nasce portanto da alegria e tudo termina na paz". Esta conciliao do mundo que Hegel consegue atravs da dialctica da ideia, consegue-a Hlderlin com o sentimento da beleza infinita. 248 SCHLEGEL 540. SCHLEGEL A criao do romantismo literrio, na sua derivao fichtiana, pode-se distinguir claramente na obra de Friedrich SchIegel (1772-1829). Depois de uma srie de ensaios sobre a poesia antiga, SchIegel publicava em 1789 uma Histria da poesia dos gregos e dos romanos e dava incio, no mesmo ano, em colaborao com o irmo August WilheIra, publicao do "Atheneum" que foi o rgo da escola romntica e durou at 1800. Nesta revista foram publicados os escritos filosficamente mais significativos de Schlegel (Fragmentos, 1798; Ideias, 1800; Dilogo sobre a poesia, 1800). Outros Fragmentos de Schlegel haviam sido publicados no peridico "Lyceum" em 1797. Depois de 1795, nas cartas ao seu irmo Guilherme (Briefe, ed. Walzel, p. 236, 244), SchIegel pronuncia-se do modo mais entusistico sobre a doutrina de Fichte. E no final do ensaio Sobre o estudo da poesia grega (1795, mas publicado em 1797) depois de ter delineado trs perodos da teoria esttica, o primitivo, dominado pelo princpio da autoridade, o dogmtico da esttica racional e emprica, e o crtico, SchIegel reconhece em Fichte aquele que poder conduzir a bom termo a esttica crflica. "Depois de Fichte descobrir (afirma ele em Jugendschriften, ed. Minor, 1, p. 172-73) o fundamento da filosofia crtica, passou a existir um princpio seguro para rectifficar, completar e levar a cabo o Plano kantiano da filosofia prtica; e deixa de ter justificao a dvida sobre a possibifidade de um sistema objectivo das cincias estticas, prticas e 249 tericas". Na verdade, o conceito da poesia romntica, tal como foi definido por SchIegel, no mais que a transferncia para o campo da poesia, considerada como mundo em si, do princpio fiffitiano do infimito. A poesia romntica a poesia infinita. Ela universal e progressiva. "0 seu fim no o de reunir novamente os gneros poticos que se sopararam e de pr em contacto a poesia com a filosofia e com a retrica. A poesia quer e deve mesmo misturar, combinar poesia e prosa, genialidade e crtica, poesia de arte e poesia ingnua, tornando viva e social a poesia, potiica a vida e a sociedade, poetizando a argcia, preenchendo e saturando as formas de arte como o mais variado e puro material de cultura e animando-a com vibraes de humour". Identificada com o infinito, a poesia absorve em si o mundo todo e encarrega-se de tarefas que surgem fragmentadas e dispersas nos vilios aspectos da cultura. "S ela infinita, como s ela livre, reconhecenJo como sua primeir lei a seguinte: o arbtrio do poeta no suporta lei alguma" (Fragm., 116). A poesia transfigura o homem no infinito e no eterno; por isso a sua funo essencialmente religiosa. volta deste tema, o da religiosidade da poesia, se
debate o ensaio Ideias. "Toda a relao do homem com o infinito religio, acto do homem em toda a plenitude da sua humanidade". Se o matemtico calcula o infinitamente grande, no quer dizer que isso seja religio. S o infinito pensado com aquela plenitude a divindade" (Ideen, 81). Mas "s pode ser artista aquele que tem unia religio, uma intuio original do infinito" (1b., 13); por isso o 250 artista verdadeiro tambm o verdadeiro mediador religioso do gnero humano. "Mediador aquele que exorta em si o divino, sacrificando-se e apagando-se para anunciar esse mesmo divino, para o participar e representar a todos os homens por meio dos costumes e das aces, com palavras e com obras. Se este impulso no existe, ento porque o que foi exaltado no era divino ou no era particularmente forte. Ser mediador entre o humano e o divino tudo quanto de mais superior pode haver no homem; e todo o artista mediador entre o divino e todos os outros homens" (Ib., 44). A ideia de infinito rene a poesia, a filosofia e a religio de modo tal que nenhuma destas actividades pode subsistir sem a outra. "Poesia e filosofia so, conforme se entender, esferas e formas diferentes ou ainda factores da religio. Com efeito, tentai reuni-las verdadeiramente: no obtereis seno religio" (Ib., 46). No Dlogo sobre a poesia a prpria filosofia de Espinosa considerada como expresso de um sentimento verdadeiramente potico, o sentimento ida divindade do homem. A separao entre o que eterno e o que individual e simples, prpria do espinosismo, , segundo SchIegel, o ponto de partida da fantasia potica; e a nostalgia do divino, a grandeza calma da contemplao, que so os traos do sentimento espinosiano, constituem "a centelha de toda a poesia". No mesmo Dilogo, o romntico definido como "o que representa uma matria sentimental numa forma fantstica", definio em que se entende por sentimental sobretudo o movimento espiritual do 251 amor, que "uma substncia infinita" e perante a mesma, tudo o que o poeta pode abarcar " apenas um sinal do que mais alto, infinito e hieroglfico existe no nico e eterno amor: a sagrada plenitude de vida da natureza criadora". O sentimento implica, portanto, uma outra coisa que caracteriza a tendncia da poesia romntica: indistino entre aparn- cia e verdade, entre o srio e o jocoso. Numa palavra, implica e justifica a ironia. "A ironia, afirma SchIegel (Ideen, 69), a clara conscincia da agilidade eterna, do caos infinitamente pleno": palavras que implicam, nitidamente, o infinito como indefinido e como movimento no indefinido. "Uma ideia um conceito levado at ironia, uma sntese absoluta das snteses absolutas, a contnua alternncia auto-geradora de dois pensamentos em conflito entre si". A ideia no permanece confinada esfera do ideal, mas implica o facto. No entanto, isso implica tambm uma liberdade absoluta perante o facto, e esta absoluta liberdade a ironia. "Transferir-se arbitrariamente ora para esta, ora para aquela esfera, como para um outro mundo, no apenas com o intelecto e com a imaginao, mas com toda a alma; renunciar livremente ora a esta, ora quela parte do prprio ser, e limitar-se completamente a uma outra; aproximar-se e encontrar o prprio uno e o todo,
ora neste, ora naquele indivduo, e olvidar voluntariamente todos os outros: isto s pode ser conseguido por um esprito que contenha em si como que uma pluralidade de espritos e todo um sistema de pessoas, e em cujo ntimo o universo, que como se diz, est em germe em todas as mnadas, se desen252 volveu e alcanou toda a sua maturidade" (Fragm., 1211). Aquilo que em Fichte era a liberdade do princpio infinito em Schlegel o arbtrio absoluto do gnio potico. Face a todas as suas criaes, o gnio potico mantm a sua posio irnica e recusa-se a Tom-la a srio: porque sabe que elas so finitas, logo irreais, e que a realidade ele prprio, o gnio, ou a actividade infinita que se manifesta no seu arbtrio. O romantismo foi nestes termos a aspirao dos anos de juventude de SchIegel; depois da morte de Novalis, comeou a aproximar-se do catolicismo at acabar por fazer da sua filosofia uma defesa da revelao, da Igreja e do Estado. Nas Lies sobre a filosofia da vida (1828) e nas Lies sobre a filosofia da histria (1829), SchIegel reconhece como princpio do saber a revelao que Deus faz de si no mundo da natureza, no mundo da histria, e nas Sagradas Escrituras. A unidade do finito e do infinito aparecia em SchIegel, nesta ltima fase da sua especulao, entendida como revelao no infinito; e este conceito acabaria por adquirir, no posterior desenvolvimento do esprito romntico, uma importncia cada vez maior. 541. ROMANTISMO: NOVALIS Juntamente com Frederico Schlegel, Tieck e Novalis so os arautos do romantismo literrio. Ludwig Tieck (1773-1853) foi poeta e literato e representou nas personagens dos seus romances o esprito do romantismo. No seu William Loveel, a ironia encontra a sua mais perfeita incarnao. "Ns somos, 253 afirma, o destino que rege o mundo. Os seres existem porque ns os pensamos; a prpria virtude apenas um reflexo do meu sentimento interior (Werke, VI, p. 178). Esta concepo do homem como um mago invocador do mundo, criador e destruidor da realidade, encontra a sua melhor expresso na obra de Friedrich von Hardenberg, Novalis (1772-1801). Num romance, Heinrich von Hofterdingen, num outro romance incompleto, os discpulos de Sais, e nos Fragmentos, alguns publi- cados no "Atheneum", este sonhador que morreu tsico aos 29 anos celebra com palavras entusisticas o poder infinito do homem sobre o mundo. Como SchIegel, Novalis parte tambm de Fichte; mas recusa-se a reconhecer ao no-eu. qualquer poder sobre o eu. "Aos homens, afirma Novalis (Schriften, ed. Heiborn, 1, p. 385), nada impossvel: eu posso aquilo que quero". Na raiz do mundo existe a fora criadora da vontade divina, e o homem pode e deve coincidir com ela. Esta coincidncia a f. "Toda a crena maravilhosa e milagrosa. O prprio Deus existe no momento em que creio nele. Com a crena podemos em qualquer momento produzir, para ns e tambm para os outros, o milagre da criao" (lb., p. 571). Este milagre pode realizar-se atravs dos sentidos, que so apenas modificaes do rgo do pensamento, do elemento absoluto em que se origina a realidade. O pintor tem j, em certo grau, o seu poder no olhar, o msico no ouvido, o poeta na imaginao, o filsofo no pensamento. Mas estes gnios particulares devem unir-se: o gnio deve ser total e passar a
ser dono do prprio corpo 254 e tambm do mundo (1b., p. 176). Com efeito, para Novalis o mundo "um ndice enciclopdico e sistemtico do nosso esprito, uma metfora universal, uma imagem simblica daquele" (Ib., p. 142). O mundo tem, por conseguinte, uma capacidade originria de ser vivificado pelo esprito. "0 mundo vi,v~o por num a priori, faz comigo uma s coisa, e eu tenho uma capacidade originria para vivificai-lo" (lb., p. 315). Esta vivificao do mundo a transformao do sistema da natureza no sistema da moral, transformao que pertence ao homem. "0 sentimento moral, afirma Novalis (1b., 11, p. 375), em ns o sentimento do poder absoluto de criar, o da liberdade produtiva, da personalidade infinita do microcosmos, da divindade propriamente dita que em ns existe". Este dilatar-se do homem no sentido do infinito, este seu transformar-se em vontade divina criadora da natureza e omnipotente, o fundamento do idealismo mgico de Novalis. Mago pois aquele que sabe dominar a natureza at ao ponto de coloc-la ao servio dos seus fins arbitrrios. Este o ponto que o homem pode atingir, segundo Novalis, atravs da poesia. E que o pode atingir, demonstra-o a matemtica. Novalis v na matemtica a explicao do poder infinitamente criador do pensamento. Ela a prpria vida divina; portanto religio: Mas acima de tudo arte porque "a escola do gnio". Se a matemtica encontra limites ao seu poder, porque nela entra o saber, e a actividade criadora cessa com o saber. A poesia uma matemtica que no tem limites e por conseguinte uma arte infini255 tamente criadora. S ela, segundo a imagem dos Discpulos de Sais, consegue levantar o vu de Iside e penetrar no mistrio. A prpria filosofia no mais que a teoria da poesia: serve para demonstrar o que ela e como o uno e o todo (Ib., 11, p. 89-90). Tratar a histria do mundo corno, histria dos homens, descobrir por toda a parte e apenas factos e relaes humanas, uma ideia que deve estar presente; a prpria causalidade da natureza se liga quase de per si ideia da personalidade humana, e a natureza torna-se mais compreensvel quando considerada como um ser humano. Por isso x poesia foi sempre o instrumento favorito do verdadeiro amigo da natureza, e na poesia surge com maior clareza toda a espiritualidade da natureza (lb., 1, p. 215). Esta animizao da natureza , como se v, o princpio da magia; e o idealismo de Novalis na verdade um idealismo mgico, mas s no sentido de que a magia a prpria poesia. Nestas teses to ingenuamente extremistas, o princpio do infinito surge em toda a sua fora, se bem que arrancado necessidade dialctica que o limitava na expresso racional que tinha encontrado em Fichte. 542. ROMANTISMO: SCHLEIERMACHER O carcter religioso do romantismo revela-se de forma tpica na obra de Friedrich Daniel Ernst SchLeiermacher, que foi amigo de SchIegel e colaborador do "Atheneum". Schleiermacher nasceu em Breslavia a 21 de Novembro de 1768 e estu256 dou teologia em Hafi, e. Em BePlirn, onde era pregador, conheceu, no salo de Henriette Herz, mulher de Marcus Herz, o discpulo de Kant, Friedrich SchIegel, com quem se ligou de amizade e entrou para o grupo romntico. Em 1799, publicou o seu primeiro trabalho, Discursos sobre a religio, a que se seguiram em 1800, os Monlogos. No mesmo ano de 1800 publicava as Cartas Confidenciais sobre o
romance de SchIegel, Lucinda, em que sustentava de acordo com SchIegel, a unidade do elemento espiritual e do elemento sensvel no amor, e da o carcter sagrado e divino deste sentimento. Estas ideias, e talvez a relao, ainda que puramente espiritual, com a mulher de um colega, Eleanore Grunow, fizeram com que fosse obrigado (em 1802) a deixar Berlim. Em 1903 publicava a Crtica da doutrina moral; no ano seguinte foi designado professor de teologia e filosofia em Halle: neste perodo leva avante e termina a traduo dos dilogos de Plato e de alguns estudos platnicos. Em 1810, com a fundao da Universidade de Berlim, passa a ser professor de teologia nesta Universidade at morrer, em 12 de Fevereiro de 1834. Em 1821-22, publicava a sua maior obra teolgica, A f crist. Depois da sua morte foram publicados os cursos de filosofia que deu em Halle e em Berlim, cursos que comprendem uma Histria da filosofia, uma Dialctica, uma tica, uma Esttica, uma Doutrina do Estado e uma Doutrina da Educao. As investigaes de Dilthey sobre as cartas e manuscritos de juventude (inditos) de Schleiermacher vieram trazer luz sobre as primeiras orientaes 257 do seu pensamento. A primeira atitude de Schleiermacher foi a de um marahsmo crtico e circunspecto: mantinha o ponto de vista kantiano da limitao da conscincia ao mundo da experincia e da moralidade autnoma, mas recusava-se a aceitar as integraes metafsicas e religiosas que o prprio Kant tinha dado ao seu ponto de vista. Assim, sustentava ser impossvel qualquer acesso ao supra-sensvel, mesmo pela via da moralidade e contrria pureza da vida moral a crena numa recompensa extra-terrena. A leitura das Cartas sobre Espinosa de Jacobi, e em seguida, das obras de Espinosa, veio produzir uma alterao no seu pensamento encaminhando-o na direco desse princpio do infinito que viria a dominar depois a Doutrina da cincia de Fichte. De incio Schleiermacher ope-se ao racionalismo de Fichte; mas o princpio fichtiano do infinito foi por ele utilizado como fundamento de uma doutrina da religio, que exprime o mesmo ideal da escola romntica. Esta doutrina influenciou fortemente o protestantismo alemo e anglo-saxnico e constitui indubitavelmente uma das solues tpicas do problema religioso no mundo moderno. 543. ROMANTISMO: SCHLEIERMACHER: A DOUTRINA DA RELIGIO Schleiermacher preocupa-se, antes de mais, em estabelecer a autonomia da religio perante a filosofia. e a moral. A religio no aspira a conhecer e a explicar o universo na sua natureza, como faz a metafsica; no aspira a continuar o seu desenvolvimento e a aperfeio-lo mediante a liberdade e a vontade 258 do homem, como faz a moral. A sua essncia no nem o pensamento nem a aco, mas a intuio e o sentimento. A religio aspira a intuir o universo na forma do sentimento. A filosofia e a moral, do universo no vem seno o homem; a religio no homem, como em todas as outras coisas particulares e finitas, no v seno o infinito (Reden, 11, trad. ital., p.
36). A religio no mais que o sentimento do infinito. Segundo este ponto de vista, Schleiermacher v em Espinosa a mais elevada expresso da religiosidade. "0 sublime esprito do mundo penetrava nele, o infinito era o seu princpio e o seu fim, o universo o seu nico e eterno amor" (1b., p. 38-39). No entanto ele distingue-se de Espinosa ao sustentar que a expresso necessria do infinito apenas o sentimento. Resolver o finito no infinito, considerar todos os acontecimentos do mundo como aces de Deus, religio. Mas gastar-se o crebro procurando provas sobre a existncia de Deus, anterior e exterior ao mundo, coisa que est para l da religio. Esta est necessariamente conexa com a forma do sentimento porque s o sentimento nos pode revelar o infinito. A infinitude na religio a infinitude no sentimento. "A religio infinita no s porque as aces e as paixes, ainda que atravs da mesma matria finita e do esprito, mudam infinitamente, no s porque por demais indeterminvel no interior como a moral, mas tambm infinita e na sua forma, no seu ser, na viso e na cincia em todos os lados; um infinito na sua matria e na sua forma, no seu ser, na viso e na cincia que nela existem" (lb., p. 43). Por meio desta infi259 nitude, a religio descobre-se e reconhece-se na histria, mas na histria enquanto tende a progredir para alm da prpria humanidade, na direco do infinito. A humanidade tem com o universo a mesma relao que cada um dos homens tem com aquela: uma forma particular, uma modificao individual do todo. Como tal, apenas um anel intermdio entre o indivduo e o Uno, uma etapa na via que conduz ao infinito. Por isso todas as religies apontam para algo que est fora e acima da humanidade, para algo de incompreensvel e de inexprimvel. Segundo este ponto de vista, o milagre e a revelao perdem a sua importncia. Estas palavras apenas implicam uma referncia entre certo fenmeno e o infinito, so os nomes que as religies do quilo que, fora da religio, se chamam factos. Do ponto de vista da religio, tudo milagre e revelao; mas por isso nada o de forma especial. Schleiermacher combate no entanto o princpio de que "som Deus no h religio": de Deus e da sua existncia pode-se falar no mbito de uma particular intuio religiosa; mas todas as especiais intuies religiosas implicam a religio. "Deus no tudo na religio, uma parte, e o universo, representa nela mais que Deus". Assim a imortalidade individual no uma aspirao religiosa; h-de ser sempre uma aspirao ao infinito, a sair, por conseguinte, dos limites da individualidade finita e a renunciar a uma vida miservel. "Tornar-se- uma s coisa com o infinito, e estar no entanto no finito, ser eterno num momento do tempo, tal a imortalidade da religio" (1b., p. 86). 260 Da aspirao ao infinito, que constitui a religio, nasce a tendncia para a comunicao e da a existncia da organizao eclesistica. O sentimento do infinito toma o homem capaz de poder abarcar apenas uma pequena parte, e leva-a o perceber atravs da mediao dos outros aquilo que ele no pode perceber imediatamente. A organizao desta recproca comunicao a igreja, a sociedade religiosa, que nenhum indivduo pode abarcar na totalidade que, pela sua complexidade, tanto quanto a religio, a religio infinita, que nenhum indivduo pode abarcar na sua totalidade e na qual ningum pode ser educado ou criado (lb., IV, p. 125). A infinidade da religio explica e justifica a diversidade de religies. A religio infinita no pode existir seno na medida em que todas as infinitas intuies religiosas so reais, e reais na sua diversidade e na sua recproca independncia. Todo o indivduo tem a sua religio; e esta pode integrarse mais ou menos nas religies j estabelecidas. E ainda que permanea obscura a intuio de um indivduo, todavia sempre um elemento da infinita religiosidade universal (1b., V,
p. 173-74). Mas j no religio, a religio natural do iluminismo, que demasiado gendea e descarnada, e cuja substncia no passa da polmica contra o elemento positivo e caracterstico da religiosidade. Podemos ver como a lgica intrnseca do princpio do infinito leva Schleiermacher, no domnio da religio, a uma concluso anloga a que o mesmo princpio tinha levado Hegel no domnio da realidade em geral. A concluso a justificao do finito, 261 Do enquanto finito, mas enquanto , na sua substncia, infinito. Todas as manifestaes singulares igualmente se justificam porque exprimem todas o sentimento do infinito e constituem no seu conjunto a religio infinita. Mas enquanto que para Hegel o infinito razo, ainda que absorvendo e anulando a individualidade, para Schleiermacher o infinito sentimento e da exaltar a individualidade. O romantismo est destinado a oscilar entre a negao da individualidade e a sua exaltao, ignorando o equilbrio da fundao da prpria individualidade. Os Monlogos de Schleiermacher (como os Fragmentos de Novalis) constituem neste ponto a exaltao religiosa da individualidade. " Cada homem, afirma ele "Mon., II, trad. ital. p. 231), est destinado a representar a humanidade de um modo que lhe prprio, mediante uma combinao original dos seus elementos, de forma a que aquela se possa revelar de todas as maneiras e tudo o que pode derivar do seu seio possa realizar-se na plenitude de um tempo e de um espao ilimitados". A variedade dos indivduos necessria infinita vida da humanidade, porque a realizao da mesma. "Tornar-me cada vez mais naquilo que sou, esta a minha vontade". Mas tornar-me naquilo que sou significa ser infinitamente livre, e o poder tudo arrasta consigo uma consequncia: no se ser o prprio. "A nica impossibilidade de que tenho conscincia a de transcender os limites que ponho minha natureza com o primeiro acto da minha liberdade". Em razo deste limite intrnseco, determinado pela escolha originria de si prprio, o homem pode tudo. Aquilo 262 que a realidade lhe recusa, concede-lhe a fantasia. "Oh, se os homens soubessem usar esta divina faculdade da fantasia, que pode libertar o esprito e coloc-lo acima de todas as limitaes e de todas as coaces, e sem a qual a vida do homem to mesquinha e angustiante!" (1b., p. 268). E deste modo, o poder e a infinita liberdade do homem se transformam em evaso, tipicamente romntica, do mundo e da realidade, no mundo da fantasia, do romance e da fbula. Vimos como as diversas religies todas se justificam porque todas no seu conjunto constituem a religio infinita. Schleiermacher distingue trs tipos diferentes de religies, que so determinados por trs diversas intuies do mundo. A primeira aquela com que o mundo um caos e na qual portanto a divindade surge representada ou numa
forma pessoal como fetiche ou numa forma impessoal como um destino cego. A segunda aquela em que o mundo surge representado na multiplicidade dos seus elementos e das suas foras heterogneas, e a divindade concebida ou sob a forma de politesmo (religio greco-romana) ou como reconhecimento da necessidade natural (Lucrcio). A terceira forma aquela em que o ser surge representado como totalidade e unidade do mltiplo, e a conscincia da divindade assume a forma de monotesmo e de pantesmo. Esta ltima forma a mais elevada, e os homens tendem a alcan-la atravs da histria. O judasmo e o cristianismo so considerados por, Schleiermacher como manifestaes superiores de religiosidade. A ideia central do judasmo 263 a de "uma retribuio universal imediata, de urna reaco automtica do infinito contra qualquer facto particular finito que derive do livre arbtrio, por meio de um outro facto finito no considerado como derivando do livre arbtrio". A ideia central do cristianismo pelo contrrio "a intuio da oposio geral do finito contra a unidade do todo e do modo como a divindade trata esta oposio, do modo como reconcilia a inimizade contra si e pe ter-mo ao afastamento cada vez maior de si mediante pontos particulares, disseminados por toda a parte, e que so no seu conjunto algo de infinito e de finito, de humano e de divino". O cristianismo tende a intuir o infinito na religio e na sua histria, e por conseguinte, faz da prpria religio a matria da religio. Ele essencialmente porque impele continuamente os homens para o infinito e para o eterno. Jesus portanto o mediador da reconciliao do finito com o infinito. A unidade da natureza divina e da humana existente nele a prpria unidade que a religio realiza entre o finito e o infinito. Sendo superior a todas as outras religies, o cristianismo no est todavia, segundo Schleiermacher, destinado a observar as outras e a tornar-se a nica forma de religio. "Assim como no h nada de mais irreligioso que existir uniformidade na humanidade em geral, tambm nada existe de menos cristo que procurar uma uniformidade na religio". O desenvolvimento da vida religiosa exige liberdade, e por conseguinte, a separao da Igreja e do Estado. 264 SCHLEIERMACHER 544. ROMANTISMO: SCHLEIERMACHER: A DIALCTICA Do sistema filosfico que Schleiermacher expe nos seus cursos universitrios e que deixou indito, as partes mais vivas so a Dialctica e a tica. MEW Ir, 1=. MP-- a de 1822) mostra, por um lado, uma subentendida inteno polmica contra a lgica de Hegel, por outro uma tentativa de reconduzir esta disciplina ao seu originrio significado platnico. O estudo dedicado de Plato devia ter sugerido a Schleiermacher esta tentativa, cujos pontos principais so os da refutao do princpio hegeliano da identidade do pensamento e do ser. A dialctica surge definida por Schleiermacher como a "arte de conduzir um discurso de forma a suscitar representaes que sejam baseadas apenas na verdade" (Dialektik, od. Oderbrecht, p.
48). Neste sentido, a dialctica mais extensa que a filosofia porque as suas regras tm valor para qualquer objecto, independentemente do seu contedo filosfico. Mas por outro lado, a filosofia, na medida em que se ocupa imediatamente dos princpios e da coerncia do saber, necessria dialctica e condiciona-a em todos os campos. O carcter que assinala a dialctica moderna perante a antiga o da sua religiosidade. Para a dialctica moderna a unidade e a totalidade do saber s possvel em conexo com a conscincia religiosa de um ser absoluto (1b., p. 91). Uma tal conscincia pressuposto originrio da dialctica, que deve partir de uma situao de diversidade e de conflito das representaes entre si 265 e que deve alcanar a unidade e a coerncia das representaes. Mas para prosseguir do seu ponto de partida at ao seu ponto final, da multiplicidade unidade, do conflito coerncia, deve pressupor um saber originrio e regras de combinao originrias, que devem ser admitidas como interiores em todos os homens e que a prpria dialctica deve esclarecer e trazer luz. Com um tal fundamento a dialctica tem como fim a construo de todo o saber na sua coerncia. Neste objectivo est implcita a eliminao de todo o conflito e a unificao do saber fragmentrio num todo coerente. Schleiermacher divide por isso a dialctica em duas partes: a parte transcendental que diz respeito ao saber originrio que o guia e a norma da construo do saber, e a parte formal que diz respeito a esta mesma construo, ou seja, as operaes de diviso e de unificao do pensamento. O transcendental entendido como condio do processo dialctico, como saber originrio que o encaminha e constitui a norma. Mas o saber possui duas caractersticas, uma subjectiva, outra objectiva: produto comum da razo humana por um lado, e do organismo humano, por outro. A oposio entre estes dois plos (entre o material orgnico das impresses e a forma da razo) a oposio entre o real e o ideal. O ser como objecto do pensamento, enquanto est ou pode estar presente em ns atravs da funo orgnica, o real. O pensamento o prprio processo a - travs do qual o ser se torna interior no que pensa, o ideal. Ideal e real constituem a 266 unidade do ser (Id., p. 177). Tempo e espao esto entre si como ideal e real: o ser ideal o prprio conceito do tempo concreto, tal como o ser real o conceito do espao concreto. Como se disse, o saber originrio deve ser de qualquer modo a unidade destes dois plos. Esta unidade o sentimento (Gefhl) como autoconscincia imediata. Schleiermacher considera o sentimento como identidade do pensar e do querer. Todo o pensamento, considerado como um acto ' se relaciona com um querer porque sempre vontade de discurso e de comunicao com outros; e todo o querer, se claro e determinado, tem na sua base um claro e determinado pensamento (Ib., p. 126), Mas a identidade do pensar e do querer uma contnua passagem de um ao outro, e esta passagem a pura autoconscincia imediata ou sentimento (lb., p. 287). Enquanto imediatidade, o sentimento distingue-se do eu, que autoconscincia reflexa. Enquanto unidade ou coerncia e superao de oposies, o sentimento refere-se ao Ser absolutamente uno e coerente que est na base de todo o outro ser. Esta referncia particularmente clara no sentimento religioso, no qual o fundamento transcendente ou ser
supremo encontra a sua representao mais elevada. O sentimento religioso o sentimento de independncia do finito em relao ao infinito, do condicionado em relao ao incondicionado, ou seja. do ser dilacerado e eternamente em conflito em relao ao ser uno e perfeitamente coerente (1b., p. 298 sgs.). o sentimento religioso o reflexo do Ser. Schleiermacher recusa a tese hegeliana (sem 267 referir expressamente) de que a mais alta representao do fundamento transcendente do ser seja a filosofia. Mas, por outro lado, tambm se recusa a subordinar a actividade especulativa religio. As duas actividades so complementares, porque a autoconscincia ou sentimento imediato no existe por si, sempre condicionada pelas duas outras funes do pensar e do querer. A autoconscincia no subsiste na sua pureza, da a sua impossibilidade de realizar a pura representao do fundamento transcendente, porque sempre autoconscincia finita, deve encontrar o seu complemento nas funes finitas do pensar e do querer. A anlise da autoconscincia como tal a doutrina da f: mas dada a natureza da autoconscincia, esta doutrina jamais consegue alcanar o fundamento transcendente e acaba por cair sempre no antropomorfismo. "Em todas as doutrinas da f, sejam monotestas, sejam poilitestas, domina uma mescla inextrincvel do fundamento transcendente e de uma analogia com a conscincia humana. Este antropomorfismo tem o seu fundamento na conscincia do finito com o qual a autoconscincia se encontra misturada" (1b., p. 296-297). Quanto natureza do fundamento transcendente, este tem um valor duplo: um valor real enquanto ideia do mundo, totalidade do ser, que pode assumir ou a forma de conceito (fora absoluta e plenitude absoluta dos fenmenos) ou a forma de juizo (sujeito absoluto e absoluta multiplicidade dos predicados); e um valor aproximativo e simblico, enquanto exprime o prprio fundamento transcendente, ainda que nunca de forma adequada (sentimento ou autoconscincia). 268 Daqui resulta que o fundamento transcendente pode assumir ou a forma da ideia de Deus ou a forma da ideia do mundo: mas qual a relao entre estas duas ideias? Schleiermacher recusa-se a estabelecer uma relao de dependncia, que est implcita no conceito de criao. "No h Deus sem mundo, como no h mundo sem Deus", diz ele (1b., p. 303). Lgicamente poder-se-ia dizer que Deus "unidade com excluso de toda a oposio", mas esta frmula deixaria de fora o x porque o mundo no pode existir sem Deus e Deus sem o mundo. Com efeito, se Deus tivesse preeminncia sobre o mundo porque haveria nele algo que no concUdonaria o mundo; e se o mundo tivesse preeminncia sobre Deus porque haveria naquele algo que no estava condicionado por Deus. A concluso de que a ideia do mundo e a de Deus devem estar sempre conexas; e s nesta conexo valem como fundamento transcendente e por conseguinte como norma absoluta do saber. A ideia do mundo o terminus ad quem do saber que procura adequar-se quela no seu infinito processo. A ideia de Deus o terminus a quo do pensamento que deve reconhecer como fundamento toda a realidade temporal e espacial um
ser eterno. "0 fundamento transcendente permanece sempre fora do pensamento e do ser real, ainda que seja o fundamento transcendente de ambos. Por isso no pode existir outra representao desta ideia que no seja a da imediata autoconscincia: em ambas as formas da funo do pensamento, aquela jamais poder ser alcanada, nem como terminus ad quem nem como terminus a quo" (Ib., p. 307). 269 Nesta parte transcendental da dialctica, Schleiermacher pretendeu determinar a primeira condio do saber humano e reconheceu-a num fundamento transcendente que surge representado, na sua forma mais adequada, pelo sentimento. Depois de longa explanao, acaba por confirmar assim a tese fundamental dos Discursos e dos Monlogos; mas esta tese adquire tambm uma limitao importante. Se o sentimento religioso ou autoconscincia a unidade do finito com o infinito, ela s na forma do finito, e no do infinito. A polmica com Hegel levou-o provvelmente a esta limitao. A dialctica de Schleiermacher no conduz, corno a de Hegel, dissoluo do finito, mas antes determinao de uma representao finita, religiosa, do infinito. Da a definio do sentimento religioso como sentimento de dependncia. A parte formal da Dialctica considera o pensamento no seu devir, o pensamento em movimento, enquanto se socorre da ideia de mundo e de Deus como d-. um princpio construtivo do saber. Esta parte da Dialctica subdivide-se em duas outras partes que so: a construo de um pensamento em si e por si atravs de conceitos e juzos; a combinao de um pensamento com outros pensamentos, atravs da eurstica e da arquitectnica. A eurstica a combinao com o exterior de um pensamento dado com outros pensamentos dados; a arquitecitritica uma combinao com o interior, a reduo de uma multiplicidade unidade, a construo de uma ordem. Esta segunda parte da Dialctica de SchIeier270 macher teve uma influncia importante nas pesquisas lgicas e gnoseolgicas dos neokantianos. 545. ROMANTISMO: SCHLEIERMACHER: A TICA A tica de Schleiermacher de inspiTao kantiana: move-se no mbito do finito e precisamente na posio entre o ser espiritual e o ser natural, o primeiro interpretado como ser cognoscente, o segundo como ser conhecido (Ethik, ed. Schiele, p. 8). A actividade tica a que tende a superar esta <>p~o e a realizar a unidade. Consiste na aco da razo, no sentido de produzir a unidade da natureza e do esprito que sem esta aco no seria possvel; ela ao mesmo tempo uma aco da razo sobre a natureza e traduz-se numa naturalizao, sempre iniciada e nunca totalmente conseguida, da prpria razo. Daqui resulta que a pura razo e a vida puramente espiritual ou santa no entram no domnio da tica, que apenas diz respeito razo natural e vida que luta sobre a terra (1b., p. 15). Segundo este ponto de vista a anttese, recolhida em Kant, entre natureza e liberdade, atenua-se at desaparecer. "No domnio do ser, tudo ao mesmo tempo livre e necessrio: livre enquanto h identidade e unidade de foras e manifestaes; necessrio, enquanto foras e manifestaes se distinguem" (1b., p. 18). Esta conexo entre liberdade e necessidade veriflica-se no prprio campo da tica, que por isso no se ope
como domnio da liberdade ao domnio da necessidade natural. 271 Schleiermacher admite um paralelelismo perfeito entre a fsica e a tica. A tica a representao do ser finito sob o poder da razo, a fsica a representao do ser finito sob o poder da natureza: a oposio apenas relativa ao ser finito, mas absolutamente, ou seja, no completo desenvolvimento das duas cincias, a tica fsica e a fsica tica (1b., p. 6 1). Daqui no deriva no entanto uma anti-razo, um antideus, e a oposio entre o bem e o mal sempre relativa. "0 bem e o mal, afirma Schleiermacher (Ib., p. 63), no exprimem mais que os factores positivos e negativos no processo de unificao entre a natureza e a razo, e por isso no podem ser compreendidos seno atravs da pura e completa representao desse processo". Como j acontecera nos Monlogos, Schleiermacher defende na tica o valor da personalidade individual. A razo existe apenas na forma da personalidade; por isso "a razo que se encontra completamente unida personalidade a fora elementar de que resulta o processo tico em toda a sua totalidade" (Ib., p. 67). A tica pode ser considerada segundo trs pontos de vista que so tambm aqueles sob os quais ela sempre se apresentou historicamente, como doutrina, do bem, doutrina da virtude e doutrina do dever. O bem supremo a unificao total da natureza com a razo, e os bens particulares so os resultados desta unificao. A virtude a funo da natureza humana que se tornou fora racional. O dever o conceito da aco moral. A aco da razo sobre a natureza pode ser ou organizadora e formativa ou simblica. No primeiro 272 caso d lugar ao domnio das relaes comerciais e sociais, no segundo caso ao domnio do pensamento e do sentimento. Assim surgem as quatro ticas fundamentais: direito, sociabilidade, f e revelao; a que correspondem os quatro organismos ticos: estado, sociedade civil, escola e igreja, ~smos que tm na famlia o seu princpio comum. A tude aparece considerada em Schleiermacher o ponto de vista da inteno e o da e os deveres aparecem divididos em amor e deveres de direito. deveres .' Z~ e deveres de conscincia- Mas estas &~,a o" sificaes puramente escolstica de Schleiermacher no apresentam seno um escasso interesse. NOTA BIBLIOGRFICA 5,38. sobre o romantismo: R. Haym, Die romantische Schule, Berlim, 1870, 4.a ed. ao cuidado de
O. Walzei, 1920; J. H. Schlege@l, Die Neuc RonwntW in ihreM Entstehen und ihrem Beziehungen zur Fichtschen Philosophie, Rastatt, 1862-64; W. DiltheY, Die Erlebnis und die Dichtung. Lessing, Goethe, Novalis, H61derlin, Leipzig, 19(>6, trad. iW. N. Accolti Gil VItale, Milo, 1947; O. WaJzel, Deutsche Romantik, trad- ital. Sa,ntoli, Florena, s. d.; A. ParinClUi, II romant~O in Germania, Bari, 1911; M. Deutschboin, Das Wesen des Romantischen, Gothen, 1921; G. stefansky, Das Wesmi der deutschen Romantik, Stuttgart 1923; N. Hartn~, Di,e Philosophie des deutschen IrealiSMUS, Berlim, 19-23; A. Korff, in "Studi germanici", 1937, fase. 4.'. 539. H~lin, SmNiche Werke, ed. 1-101lingrath, Munique, 1913; ed. Zinkernagel, Leipsig, 1914; Hi~ne, trad. itaL Altero, Turim, 1931. 273 Dilthey, Die Erlebnis und die Dichtung, cit.; G. V. Amoretti H., Turim, 1926; E. Fischer, H., Berlm, 1938; i. Hoffmeister, H. und die Philosophie, ~ig, 1912. 540. F. Sehlegel, Smtliche Werke, 10 vols., Viena, 1822-25; 15 vols., Viena, 1864; Seine prosaischen Jug~chriften, ed. 1~r, Viena, 1822; Briefe, ed. Walzel, Berlim, 1890; Neue philos. Schiften, ed. Kurner, Frankfurt, 1935; Fragmenti critici e scritti di estetica, intr. e trad. Santoli, Floren a, 1937. F. Lede-rbogen, F. SeUs Geschichteph~op7@.ie, Leipzig, 1908; J. Rouge, F. SchI, et Ia gense du romantisme allemand, Bordeaux-Paris, 1905; H. Hrowitz, Das Ich-Problem der Romantik; die historische Ste"ng P. Sch1.s innerhalb der modernen G-eistgeschischte, Muniquo% 1916. 541. Novalis, Schriften, ed. Mnor, 4 vols., Jena, 1907; 1 discepol di Sais, trad. de Alfero, Lanciano, 1912; Fram77wnti, tra@d. Prezzolini, Laneiano, 1922; Frammmti, trad. Prezzolini, Lanciano, 1922; Frammenti, trad. integ. de E. Paci, Milo, 1948. - Dilthey, Die Erlebnis und die Dichtung, cit.; E. Spenl, Novalis, essai sur Vdalisme romantique en Allemagne, Paris, 1904. 542. SchIetermacher, Werke, Berlim, 1835-64, dividida em trs partes: Escritos teolgicos, Prdicas e Escritos filosficos, este ltinio compreendendo 9 vo!s.; Grun4riss der philosophischen Ethik, ed. Schiele, Leipzig, 1911; Dialektik, ed. Odebrecht, Leipzig, 1942; Discorsi sulla religione e monologhi, trad. Durante, Morena, 1947. Dilthey, Leben Schl.s Berlim, 1870; Sel., in "AlIge- ~e 1890. deutseh@ Biographie", XXXI,
543. Troeltseh, Titius, Natorp, Hensel, EcIr, Rade, Sch1. der Philosophe des Glaubens, Rerlim, 1910. 544. Weissenborn, Vorlesungen ber Sch.s Dialektik und Dogmatik, Leipzig, 1847-49; Lipsins in "Zeit- .<@ehirjt fr wissenschaftliche Theologie", 1869. 274 545. Heinrich, Sch.s ethische Grundgedanken,
1890; Ungem Stemberg, Frei7?,eit und Wirklichkeit, Schl.s Philosophie, 1931; Odebrer-ht, Sch1.s System der Aesthetik, 1931; Croce, Storia delllestetica per saggi, Paris, 1942. 275 ND1CE XM_O ILUI~MO ... ... ... ... ... ... 7 ... ... 20
500. o ihmibsmo em Np~ ... ... 7 501. O iLuminismo em mIo 14 502. Beccaria ... ... ... ... ... ... 16 503. Romagnosi, Giola ... ... ... ... Nota bibliogrfica ... ... ... ... XIV - O ILUM=SMO ALEMO 23 ... ... ... 25
504. WoafC ... ... ... ... ... ... 25 505. Precursores do iluminismo ... ... 33 506. o iluminismo Wolffiano ... ... 36 507. B=garten ... ... ... ... ... 42 508. O ilunnisino religioso ... ... ... 46 509. Lessing ... ... ... ... ... ... 50 Nota bibliogrfica ... ... ... ... xv - KA= 55 57 61
... ... ... ... ... ... ... ...
510. A Vida ... ... ... ... ... ... 57 511. os ~tos do primeiro perodo512. os egeritos do segundo perodo, 64 277 3. 4. 5. 6. Os escritos do perodo crItico@_ 73 . A filIDSOfia Critioa' ... ... ... ... 79 @'A anlise tranq~elta, ... ... 83 IA critica da raz o pura ... ... 89 r. As formas da s~bilidade
... ...
93
As categorias e a lgica, fornia@ 95 A de duo transaendental . ... ... 9 A deduo t@anscendeIItaJ das categorias ... ... ... ... ... ... 103 A analtica dos princpiGs ... ... 115 O nmeno ... ... ... ... ... 120 *-A,,' dialctica transcendental 128 A 6utrina. transcendentEW do m_@ todo ... ... ... ... ... ... 137 'Analtica, da razo prtica: moralidade e santidade ... ... ... 141 Diajctica da 'razo prtica: postulado e f moral ... ... ... ... 156 O mundo, do direito e da histria 163 O juz esttico ... ... ... ... 169 O juiz, tel@P_ol6gic0 ... ... .... ... 179 A natureza do homem e o mal radical ... ... ... ... ... ... 184 Relligio, Razo, Liberdade ... ... 189 Nota bibliogrfica ... ... ... ... 194 278 SEXTA PARTE A FILOSOFIA DO ROMANTISMO I_A POInmICA SOBRE O KANTISMO, 201
532. Reinhold ... ... ... ... ... ... 201 532. Prenncio do idealismo ... ... 205 534- A filosofia da f ... ... ... ... 211 535. Jacobi ... ... ... ... ... ... 217 536. O "Stunn und Drang". Schialer. Goethe ... ... ... ... ... ... 222 537. Humboldt ... .... ... ... ... ... 230
Nota bibliogrfica ... ... ... ... 234 II - O ROMANTISMO ... ... ... ... ... 239
538. Origens e caracteres do romantismo ... ... ... ... ... ... 239 539. Hlderlin ... ... ... ... ... ... 245 540. SchIegel ... ... ... ... ... ... 247 541. Novalis ... ... ... ... ... ... 251 542. Schleierniacher ... ... ... ... 254 543. Schleiermacher: a Doutrina da Religio ... ... ... ... ... ... 256 544. Schleiermacher: a Dialctica Schleiermacher: a ]@tica ... ... 269 Nota bibliogrfica ... ... ... ... 271 279 ... 263 545.
Histria da Filosofia Volume nove Nicola A bbagnano Digitalizao e Arranjos: ngelo Miguel Abrantes (quarta-feira, 1 de Janeiro de 2003) HISTRIA DA FILOSOFIA VOLUME IX TRADUO DE: ARMANDO DA SILVA CARVALHO CAPA DE: J. C. COMPOSIO E IMPRESSO
TIPOGRAFIA NUNES R. Jos Falco, 57-Porto EDITORIAL PRESENA . Lisboa t97o TITULO ORIGINAL STORIA DELLA FILDSOFIA Copyright by NICOLA ABBAGNANO Reservados todos os direitos para a lngua portuguesa EDITORIAL PRESENA, LDA. R. Augusto Gil, 2 cIE. Lisboa 111 FICHTE 546. FICHTE: A VIDA Johann Gottlieb Fichte nasceu em Rammenau a 19 de Maio, de uma famlia pauprrima. Concluiu os estudos de teologia em Jena e em Leipzig, lutando com a misria. Mais tarde, tornou-se perceptor em diversas casas particulares, tanto na Alemanha como em Zurich, onde conheceu Johanna Rahn que depois foi sua mulher (1793). Em 1790, Fichte regressou a Leipzig e nesta cidade tomou contacto pela primeira vez, com a filosofia de Kant que ir decidir da sua formao filosfica. "Vivo num mundo novo, escrevia entusiasmado numa carta, depois que li a Crtica da Razo Prtica. Os princpios que julgava inconfundveis foram desmentidos; as coisas em que no acreditava passaram a ser demonstradas; por exemplo, o conceito de liberdade absoluta, de dever, etc., foram demonstrados e por isso me sinto muito mais contente. inconcebvel o respeito pela humanidade, a fora, que existe neste sistema". Um ano depois, em 1791, Fichte dirige-se a Koenigsberg para dar a ler a Kant o manuscrito da sua primeira obra, Tentativa de uma crtica de toda a revelao. O trabalho foi escrito inteiramente dentro do esprito do kantismo, de, tal modo que, quando surgiu, annimo, em 1792, passou por ser um trabalho de Kant. Ento Kant intervm para revelar o verdadeiro nome do autor. Mas ainda em 1791, em Danzig, Fichte, que procurava defender as medidas do governo prussiano que limitavam a liberdade de imprensa e instituam a censura, teve a surpresa de ver recusado o imprimatur edio da sua obra: e meses mais tarde foi tambm proibida a publicao da segunda parte de A religio dentro dos limites da Razo de Kant. Indignado, Fichte passou imediatamente da defesa do regime paternalista defesa da liberdade; e publicava, annima, uma Reivindicao da liberdade de pensamento (1793). Em 1794, Fichte nomeado professor em Jena e a permanece at 1799. Pertencem a este perodo as obras a que se deve a importncia histrica da especulao de Fichte (Doutrina da Cincia, Doutrina da moral, Doutrina do direito). Em 1799, desencadeou-se a chamada "polmica sobre o atesmo" que iria provocar o afastamento de Fichte da ctedra. Na sequncia de um artigo publicado, no "Jornal filosfico" de Jena, Sobre o fundamento da nossa crena no governo divino do mundo (1798), que
identificava Deus com a ordem moral do mundo, Fichte foi acusado de atesmo num libelo annimo. O governo prussiano probe o jornal e encarrega o governo de Weimar de punir Fichte e o director do Jornal Forberg, com a ameaa de que, se no o g fizesse, proibiria os seus sbditos de frequentar a Universidade de Jena. O governo de Weimar pretendia que o Senado acadmico formulasse uma enrgica censura, pelo menos formal, contra o director do Jornal. Mas Fichte, tendo conhecimento deste projecto, escrevia a 22 de Maro uma carta inflamada * um membro do governo, advertindo-o de que se * censura fosse formulada ele se retiraria da Universidade acrescentando ainda que em tal caso tambm outros professores abandonariam com ele a Universidade. Depois desta carta o governo de Jena, com o parecer favorvel de Goethe (que, segundo se diz, teria afirmado: "quando um astro desaparece, um outro nasci convidou Fichte a pedir a sua demisso, no obstante o filsofo ter lanado entretanto um Apelo ao pblico e no obstante uma petio dos estudantes a seu favor. Os outros professores continuaram a ocupar os seus lugares. Saindo de Jena, Fichte dirigiu-se a Berlim onde estabeleceu relaes com os romnticos, Friedrich Schlegel, Schleiermacher, Tieck. Designado professor em Erlangen, em 1805, retirou-se para Koenigsberg no momento da invaso napolenica e da passou a Berlim onde pronunciou, apesar da cidade se encontrar ocupada pelas tropas francesas, os Discursos nao alem (1807-8) nos quais apresentava, como meio de a nao germnica sair da servido poltica, uma nova forma de educao e afirmava o primado do povo alemo. Em seguida, Fichte foi professor em Berlim e reitor daquela Universidade. Morreu em 29 de Fevereiro de 1814 com uma febre infecciosa que a mulher lhe transmitiu e que esta tinha contrado quando tratava dos soldados feridos. A caracterstica da personalidade de Fichte constituda pela fora com que ele sente a exigncia das aces morais: O prprio Fichte diz de si: "Tenho apenas uma nica paixo, uma s necessidade, um s sentimento cheio de mira mesmo: agir para alm de mim. Quanto mais ajo, mais me sinto feliz". O primado da razo prtica transforma-se em Fichte no primado da aco moral; e a justificar a aco moral como superao incessante do limite criado ao mundo sensvel, se dirige toda a primeira fase do seu pensamento. Na segunda fase, toda a exigncia da aco moral se substitui pela f religiosa; e a doutrina da cincia acaba por servir de justificao da f. Mas de uma ponta outra da sua especulao e na prpria fractura doutrinal que esta especulao apresenta nas suas fases principais, Fichte surge como uma personalidade tico-religiosa, no isenta de um certo fanatismo. "Fui designado, afirma em Werke, VI, p. 333, para dar testemunho da verdade... Sou um padre da verdade; estou ao seu servio, obriguei-me a fazer tudo, a arriscar tudo, a sofrer tudo por ela". Mas nessa aventura, Fichte no admite de forma alguma aquela humildade e aquela conscincia dos limites humanos que, segundo Kant, so indispensveis vida moral. Da o ter sido censurado (por exemplo, por Hegel,
10 Carta a Schelling de 3 de Jan. de 1807) de camuflar com palavras de um ideal moral incorruptvel, os prprios impulsos egostas e o desmesurado orgulho; e esta censura no deixa de ser merecida. O certo que o apelo ao ideal moral dificilmente consegue dissimular nele a deficincia de uma verdadeira compreenso humana e moral: como acontece quando, por ocasio de uma grave doena da mulher que ele havia abandonado com o filho em Berlim durante a invaso francesa, lhe aponta o facto de ela no ter cumprido o dever moral de se precaver contra a doena (Cai-ta a Johanna de 18 de Dez. 1806 em Briefwechsel, p. 477). 547. FICHTE: ESCRITOS A vocao filosfica de Fichte surgiu, como j foi dito, do contacto com os textos de Kant. Mas Fichte pouco seguiu os ensinamentos do mestre. Kant pretendera construir uma filosofia do finito; Fichte quer construir uma filosofia, do infinito: do infinito que existe no homem, que tambm o prprio homem. A influncia kantiana pode discernir-se apenas no primeiro perodo da sua actividade literria: perodo a que pertencem a Procura de uma crtica de todas as revelaes (1793), a Reivindicao da liberdade de pensamento aos Prncipes da Europa que at agora tm oprimido (1792), o Contributo para a rectificao do juzo do pblico sobre a revoluo francesa (1793), e poucos escritos menores. A Crtica de todas as revelaes foi escrita inteiramente dentro do esprito kantiano. A 11 revelao possvel, mas no demonstrvel, e por conseguinte s pode ser objecto de uma f, que no entanto no deve faltar a ningum. Mas a separao do kantismo j ntida na Recenso ao Enesidemo, de Schulze, que Fichte publicou em 1794. Nela afirma que a coisa em si "uma fantasia, um sonho, um no pensamento", e estabelece os princpios da sua doutrina da cincia. A esta recenso segue-se um longo ensaio Sobre o conceito da doutrina da cincia ou da chamada filosofia (1794) e a obra fundamental deste perodo Fundamentos de toda a doutrina da cincia, que Fichte publicou como "manuscrito para os seus auditores" no mesmo ano de 1794. Seguiram-se: Esboo sobre as propriedades da doutrina da cincia em relao s faculdades teorticas (1795); Primeira introduo doutrina da cincia (1797); Tentativa de uma nova representao da doutrina da cincia (1797); que so exposies e reelaboraes mais breves. Ao mesmo tempo Fichte estendia os seus princpios ao domnio da tica, do direito e da poltica; e publicava, em 1796, os Fundamentos do direito natural segundo os princpios da doutrina da cincia; em 1798 o Sistema da doutrina moral segundo os princpios da doutrina da cincia; em 1800 o Estado comercial fechado; e alguns escritos morais menores: Sobre a
dignidade dos homens (1794), Lies sobre a misso do sbio (1794). Entretanto Fichte ia alterando lentamente os pontos fundamentais da sua filosofia, o que se verificava atravs da exposio da doutrina da cincia que dava nos cursos universitrios de 1801, 1804, 12 1806, 1812, 1813; nos seus cursos sobre Os factos da conscincia (1810-11, 1813) e nas suas reelaboraes do Sistema da doutrina do direito (1812) e Sistema da doutrina moral (1812). Estes cursos e lies mantiveram-se inditos e foram publicados pelo filho (1. G. Fichte) depois da sua morte. No entanto, a orientao que os mesmos apresentavam semelhante das exposies populares da sua filosofia, que Fichte publicou ao mesmo tempo que as escreveu: A misso dos homens (1800), Introduo vida feliz (1806), Caractersticas fundamentais da poca actual (1806). 548. FICHTE: A INFINITUDE DO EU Kant tinha Reconhecido no eu penso o princpio supremo de todo o conhecimento. Mas o eu penso um acto de autodeterminao existencial, que supe j dada a existncia; , por conseguinte, actividade ("espontaneidade" afirma Kant), mas actividade limitada e o seu limite constitudo pela intuio sensvel. Na interpretao dada ao kantismo por Reinhold surge o problema da origem da matria sensvel. SchuIze, Maimon e Beck demonstraram ser impossvel a sua derivao da coisa em si e afirmaram ser quimrica a prpria coisa em si enquanto exterior conscincia e independente dela. Maimon e Beck tinham j tentado atribuir actividade subjectiva a produo do material sensvel e resolver no eu o mundo total do conhecimento. Fichte desenvolve pela primeira vez as Consequncias destas premissas. Se o eu o nico 13 princpio, no s formal como tambm material do conhecer, se sua actividade se deve no s o pensamento da realidade objectiva, mas a prpria realidade objectiva no seu contedo material, evidente que o eu no apenas finito mas tambm infinito. Se finito enquanto a ele se ope uma realidade exterior, infinito enquanto a nica ordem dessa mesma realidade. A sua infinita actividade o nico princpio que pode explicar a realidade exterior, o eu finito, e a contraposio entre um e outra. Tal o ponto de partida de Fichte, o filsofo da infinitude do eu, da sua absoluta actividade e espontaneidade, e por conseguinte, da sua absoluta liberdade. A deduo de Kant uma deduo transcendental, destinada a justificar a validade das condies subjectivas do conhecimento. A deduo de Fichte uma deduo metafsica, uma vez que faz derivar do eu quer o sujeito quer o objecto do conhecer. A deduo de Kant d origem a uma possibilidade transcendental (assim se explica o eu penso) que implica sempre uma relao entre o eu e o objecto fenomnico. A deduo de Fichte parte de um princpio absoluto que situa ou cria o sujeito e o objecto fenomnico por virtude de uma actividade criadora, de uma intuio intelectual. E assim a intuio intelectual, excluda por Kant como incompatvel com os limites constitutivos do intelecto humano, surge reconhecida por Fichte como princpio supremo do saber. A Doutrina da cincia tem como
objectivo deduzir deste princpio todo o mundo do saber e de o deduzir necessariamente, de forma a criar o sistema nico e completo do mesmo. No 14 entanto no deduz o prprio princpio da deduo, que o eu. E o problema com o qual choca o que se refere natureza do eu. As sucessivas elaboraes da Doutrina da cincia diferenciam-se substancialmente na relao que estabelecem entre o infInito e o homem. Na primeira Doutrina da cincia (1794) e nas obras que com ela se relacionam, o infinito o eu, a autoconscincia, o saber reflexo ou filosfico ou, numa palavra, o homem na pureza e no grau absoluto da sua essncia. Nas obras sucessivas, o infinito o Ser, o Absoluto Deus e o eu, a autoconscincia, o saber tornado imagens, cpias ou manifestaes do mesmo. Estas duas fases do pensamento de Fichte constituem as duas alternativas fundamentais que a filosofia romntica apresenta em todo o sculo XIX. Hegel sintetizou-as na sua doutrina; mas o mais frequente contraporem-se polemicamente na obra de um nico filsofo ou na obra de vrios filsofos. Fora da filosofia alem, a segunda alternativa que prevalece no desenvolvimento sofrido pelo pensamento romntico em Oitocentos. Mas quer uma quer a outra destas alternativas so dominadas pelo esprito da necessidade: tanto o Eu ou o Absoluto como as suas manifestaes ou aparncias, so necessrios. Fichte exprimiu este principio numa passagem que vale a pena recordar: "O que quer que seja que existe, existe por absoluta necessidade; e existe necessariamente na precisa forma em que existe. impossvel no existir ou existir de modo diverso daquele que " (Grundzuge des gegenwartigens Zeitalters, 9). 15 549. FICHTE: A DOUTRINA DA CINCIA E OS SEUS TRS PRINCIPIOS O conceito da Doutrina da cincia o de uma cincia da cincia, de uma cincia que evidencie o princpio em que se baseia a validade de toda a cincia e que por sua vez se baseie, quanto sua validade, sobre o mesmo princpio. E isso deve dar origem a um princpio que actua em toda a cincia e a condiciona, mas que na Doutrina da cincia surge como objecto de uma livre reflexo e encarado como nico princpio de que deve ser deduzido todo o saber. "Ns no somos legisladores, somos historiadores do esprito humano", diz Fichte (Ueber den Begriff der Wiss., Werke, 1, p. 77). O princpio da doutrina da cincia o eu ou autoconscincia. Na Segunda introduo doutrina da cincia (1797) Fichte introduz de forma mais clara este princpio. Daquilo que tem valor objectivo ns dizemos que ; o fundamento do ser portanto a inteligncia, desde que no se trate do ser em si, de que fala o dogmatismo, mas apenas do ser para ns, do ser que tem para ns valor objectivo. O que baseia e o que baseado, so duas coisas distintas. O fundamento do ser no o prprio ser, mas a actividade pela qual o ser baseado; e esta actividade no pode ter outra relao que no seja consigo prpria e no pode ser seno uma actividade que regressa a si prpria. Trata-se de uma actividade originria que no
seu conjunto o seu objecto imediato, e que se intui a si prpria. portanto uma autointuio ou autoconscincia. O ser para ns 16 (o objecto) s possvel sob a condio da conscincia (do sujeito) e esta apenas sob a condio {Li autoconscincia. A conscincia o fundamento d.) ser, a autoconscincia o fundamento da conscinc@1@ (Werke, 1, 1, p. 463). A primeira Doutrina da cincia a tentativa sistemtica de deduzir do princpio da autoconscincia a vida teortica e prtica do homem.. Fichte comea por estabelecer os trs princpios fundamentais desta deduo. O primeiro princpio '@ obtido da lei da identidade, prpria da lgica tradicional. A proposio A A certssima, apesar de nada nos dizer sobre a existncia de qualquercoisa. Isso significa apenas que um conceito idntico a si prprio ("o tringulo tringulo") e exprime uma relao absolutamente necessria entre o sujeito e o predicado. Ora esta relao funo do eu, pois, o eu que julga sobre tal. Mas o eu no pode estabelecer essa relao, se no se implicar a si prprio. ou seja, se no se colocar como existente. A existncia do eu tem por conseguinte a mesma necessidade da relao puramente lgica A = A. Isto quer dizer que o eu no pode afirmar nada sem afirmar em primeiro lugar a prpria existncia; e que autoconscincia o princpio de todo o conhecimento. Daqui extrai Fichte a explicao da palavra eu. enquanto designa o sujeito absoluto: "Aquilo eu, ser (essncia) consiste apenas em colocarse como existente, o eu como absoluto sujeito" (Wiss., 1, 1; Werke, 1, p. 97). O eu no mais que pura actividade autoprodutora ou autocriadora; e isso , identificado por Fichte com a Substncia de Espinosa. 17 a quem Fichte apenas censurava o ter colcado a conscincia pura para l da conscincia emprica, apesar de aquela ser colocada e reconhecida prpriamente nesta ltima (1b., p. 100-101). O eu de Fichte no seno uma actividade criadora e infinita, reconhecida como intrnseca prpria conscincia finita do homem. O segundo princpio o da oposio. O eu no s se coloca a si prprio como tambm ope a si prprio algo que, enquanto lhe oposto, no-eu (objecto, mundo, natureza). O noeu colocado pelo prprio eu e existe por conseguinte no eu. Mas isso no absorve totalmente o eu, mas s em parte, isto , limita-o. Uma parte do eu destruda pelo noeu; mas nunca o eu na sua totalidade. Assim surge o terceiro princpio: o eu ope, no eu, ao eu divisvel, um no-eu divisvel. Estes trs princpios delineiam os pontos fundamentais da doutrina de Fichte, uma vez que estabelecem: U-A existncia de um Eu infinito, actividade absolutamente livre e criadora. 2.'-A existncia de um eu finito (porque limitado pelo no-eu), a existncia de um sujeito emprico (o homem como inteligncia ou razo). 3.o A realidade de um no-eu, de um objecto (mundo ou natureza) que se ope ao eu finito, mas que integrado no Eu infinito, pelo qual colocado. Ora o Eu infinito no uma coisa diferente do eu finito: a sua substncia, a sua actividade ltima, a sua natureza absoluta. "O eu de cada um ele prprio a nica substncia suprema", diz Fiohte (lb., I, 3; p. 122) referindo-se doutrina de Espinosa. Reconhece-se e afirma-se 18 no sentimento de uma plena e absoluta liberdade e autonomia do sujeito humano.
Na Primeira introduo doutrina da cincia (1797), Fichte estabelece a diferena entre o dogmatismo pelo qual a coisa precede e condiciona o eu, * o crticismo pelo qual o eu precede e condiciona * coisa, como uma diferena de inclinao e de interesse que determina a diferena entre dois graus de humanidade. Existem homens que no se elevaram ainda ao sentimento da prpria liberdade absoluta e por isso se descobrem apenas nas coisas, determinando a prpria autoconscincia pelo reflexo dos objectos externos, como se se tratasse de um espelho; estes so dogmticos. Mas aquele que, pelo contrrio, toma conhecimento de si como sendo independente do que existe fora dele, no tem necessidade da f nas coisas porque a f em si prprio imediata. Este o idealista"A escolha de uma filosofia, observa a este propsito Fichte, depende do que se como homem, pois um sistema filosfico no uma coisa inerte que se pode pegar ou largar sempre que se quer, algo animado com o esprito do homem que o possui. Um carcter fraco de natureza ou enfraquecido pelo que superficial, pelo luxo refinado e pela escravido espiritual, jamais poder atingir o idealismo". Por outro lado, no entanto, o no-eu no uma mera suposio. O objecto uma realidade, ainda que seja tal em virtude do eu. <A doutrina da cincia, afirma Fichte (Wisse., 111, 5; p. 279-280) realista. Mostra que no se pode, de forma alguma, explicar a conscincia das naturezas finitas 19 (dos homens, por ex.) se no se admitir uma fora independente das mesmas, e a elas completamente oposta e da qual dependem no que se refere sua existncia emprica". Mas o homem no apenas existncia emprica, tambm sujeito absoluto: como tal, reflecte-se sobre a realidade do no-eu e reconhece-a como dependente do eu (uma vez que ela no seno sentida ou conhecida) e assim como o prprio produto. Em oposio ao eu emprico, O objecto (o no-eu) no est em oposio ao Eu absoluto que o integra em si prprio. O espirito finito deve necessariamente colocar fora de si algo de absoluto (uma coisa em si) e no entanto por outro lado deve reconhecer que este algo existe apenas por ele, que um nmeno necessrio. "O princpio ltimo de toda a conscincia uma reciprocidade de aco do eu consigo prprio, atravs de um no-eu, que deve considerar sob diversos aspectos. Este o crculo do qual o esprito finito no pode sair e no pode querer sair sem negar a razo e cair no prprio aniquilamento" Ub., p. 282). Sobre esta duplicidade de situaes do eu, que enquanto infinito tudo integra e "a origem de toda a realidade" e enquanto finito se acha perante o no-eu e em reciprocidade de aco com ele, se baseia todo o processo com que Fichte pretende explicar (deduzir, segundo ele) a totalidade dos aspectos do homem e do seu mundo. Pela aco recproca do eu e do no-eu nasce tanto o conhecimento (a representao) como a aco moral. O realismo dogmtico sustenta que a representao se produz pela aco de uma coisa externa 20 sobre o eu; e admite assim que a coisa seja independente do eu e anterior a ele. Fichte admite tambm que a representao o produto de uma actividade do no-eu mas uma vez que o no-eu por seu lado colocado ou produzido pelo eu, a actividade que exerce deriva, em ltima anlise, do eu, e uma actividade reflexa que do no-eu ressalta para o eu. A representao, e com ela o conhecimento, nasce de uma aco recproca que um transporte de actividade entre o eu e o no-eu (1b., 11, 4; p. 171). Neste sentido a representao , segundo Fichte, "a sntese dos opostos atravs de
uma determinao recproca": um conceito que se mantm fundamental na especulao romntica e que foi assumido por Hegel como determinao do carcter prprio da dialctica. Na representao, o prprio eu que se coloca como determinado por um no-eu; esta posio uma passividade ou limitao inerente actividade do no-eu. Com efeito, o eu determinado (por conseguinte finito e passivo perante o no-eu), precisamente enquanto finito: a sua infinitude consiste em determinar-se, em estabelecer um limite, e em proceder incessantemente para l desse limite. "Sem infinitude no existe limitao; sem limitao no existe infinitude; infinitude e limitao esto unificadas num nico e mesmo termo sinttico. Se a actividade do eu no procedesse para o infinito, o eu no poderia limitar esta sua actividade; no existiriam limites, como devem existir. A actividade do eu consiste num colocar-se ilimitadamente; e contra tal surge uma resistncia. Se cedesse a esta resistncia, ento aquela 21 actividade que ultrapassa os limites da resistncia seria aniquilada e destruda e o eu no poderia resistir. Mas isso deve certamente colocar-se para alm desta linha" (Ib., 11, 4; p. 214). Esta actividade atravs da qual o eu ao mesmo tempo finito e infinito, porque coloca um objecto e ao mesmo tempo procede paira l do mesmo na ~o de um outro objecto, ou seja na direco de uma limitao que de novo ir superar, e assim por diante, a imaginao produtiva pela qual nascem as coisas do mundo. "Toda a realidade - o que para ns significa o que significa num sistema de filosofia transcendental produzida apenas pela imaginao" (Ib., p. 227). O produto flutuante da imaginao surge fixado pelo intelecto e assim verdadeiramente intudo como real: por isso surge ao intelecto como qualquer coisa de dado. "Daqui, anota Fichte, deriva a nossa firme convico da realidade das coisas fora de ns e sem qualquer interveno nossa: com efeito, ns no somos conscientes de podermos produzi-las. Se na reflexo comum ns fssemos conscientes, como certamente podemos s-lo na reflexo filosfica, de que as coisas exteriores surgem no - intelecto apenas par intermdio da imaginao, ento pretenderamos explicar tudo como iluso" (1b., p. 234). Se a actividade do no-eu constitui a representao, isto , o conhecimento em geral, a actividade do eu sobre o no-eu constitui a aco moral. A aco moral , com efeito, a causalidade do eu, que prpria da sua infinitude. Enquanto o eu ope a si um no-eu, est a limitar-se, e torna-se finito e sujeito aco do no-eu que nele produz a 22 representao. Como tal, o eu inteligncia. Mas enquanto considerado na sua infinitude, nada existe fora do eu e tudo colocado por ele. Neste sentdo a sua actividade infinita: no coloca nenhum objecto, e regressa a si prprio (Ib., 111, 5; p. 256). Ora esta actividade livre e limitada do eu deve ela prpria reclamar a actividade finita e limitada que coloca o
objecto. Pois se a no reclamasse, elimin-la-ia do todo: com efeito eliminaria todo o limite e toda a passividade, e no existiria no eu qualquer oposio do no-eu. Mas isto s acontece com a conscincia de Deus (que impensvel) no com a do homem (1b., p. 253). Por conseguinte, a prpria infinitude do eu deve implicar a exigncia, da posio do noeu, de um objecto que o limite. O eu, para se realizar na suainfinitude, deve descobrir-se na resistncia que o objecto lhe ope e dar lugar assim a um esforo. Mas o esforo que tende a reconduzir o objecto (a natureza) pura actividade do eu, ao triunfo deste e afirmao do poder da razo, a actividade moral, a razo prtica de Kant. Da ser de natureza moral a ltima raiz da actividade absoluta do eu. O no-eu, o objecto, a natureza, so colocados pelo eu enquanto condio necessria da actividade absoluta do eu: ao passo que o eu no se pode colocar a si prprio na sua infinita actividade, seno vencendo-se e superando-se, colocando-se continuamente para l do limite que lhe imposto. O eu deve actuar assim em virtude da sua infinita actividade que lei para si prpria. Este dever o que Kant chamou o imperativo categrico: a exigncia de que o eu se determine 23 (, 3 forma absolutamente independente de qualquer (,bjecto, como actividade livre. O objecto do qual o eu se deve tornar independente, antes de ser objecto exterior, um elemento inconsciente do eu, impulso, inclinao, sentimento, pelo qual o eu impelido para fora de si pelo reconhecimento do objecto que condiciona. 550. FICHTE: INFINITO E FINITO: O PANTEISMO Fichte reconheceu na exigncia moral o verdadeiro significado da infinitude do eu. O eu infinito enquanto se torna tal, desvinculando-se dos prprios objectos que lhe so levantados; porque sem eles a sua liberdade infinita no seria possvel. Fichte sente-se profeta da vida moral e sustenta que conseguiu basear de modo mais slido o imperativo categrico descoberto por Kant. Na realidade, essncia da vida moral perdeu para ele um carcter especfico: identifica-se com o pensamento. A actividade moral a actividade pura do eu; a aco de que Fichte @_da , como ele explicitamente adverte (lb., 111, 1, p. 238), uma aco ideal, que no se distingue da especulao. No entanto, Fichte nesta primeira fase do seu pensamento quis permanecer no terreno da finitude, do homem. As suas advertncias a este respeito so repetidas e explcitas. A concepo kantiana de que a vida moral apenas vale para um ser racional i finito, est sempre presente na sua mente e inspira-lhe toda a prtica (a 111 parte) da Doutrina da cincia. 24 "Para a divindade, diz Fichte (1b., HI, 5, p. 253), ou seja, para uma conscincia na qual tudo fosse posto pela simples actividade do eu (mas o conceito de uma tal cincia para ns impensvel), a nossa doutrina da cincia no teria qualquer contedo porque numa tal conscincia no existiria outro poder alm do eu; mas isso teria mesmo para Deus a sua legitimidade formal porque a sua prpria forma a prpria forma da razo pura". Por outras palavras, a Deus no poderia pertencer a oposio do eu e do no-eu que implica a finitude do eu. "Em relao a um eu a que nada se opusesse, diz ainda Fichte, Ub., p. 254), que a ideia impensvel da
divindade uma tal contradio no teria lugar". E ainda: "Suponha-se, para esclarecimento, que se deva explicar a autoconscincia de Deus: isto s ser possvel com o pressuposto de que Deus reflecte o seu prprio ser. Mas porque em Deus aquilo sobre que se reflecte seria o todo no uno e o uno no todo, e aquilo que reflecte seria igualmente o todo no uno e o uno no todo, assim em Deus e por Deus no se poder distinguir aquilo sobre que se reflecte e o que reflecte, a conscincia e o objecto da mesma, e a autoconscincia de Deus no se explicaria como de resto permanecer eternamente inexplicvel e inconcebvel para qualquer razo finita, para qualquer razo que esteja ligada lei da determinao daquilo sobre que se reflecte" (1b., p. 285). Por outro lado, o prprio esforo em que se resolve a actividade moral do eu no tem nada a ver com uma causalidade absoluta. "No prprio conceito do esforo est compreendida a finitude, porque aquilo 25 que no sofre contraste no se pode chamar esforo. Se o eu fosse mais que um esforar-se, se tivesse uma infinita causalidade, no seria um eu, no se poderia colocar a si prprio e seria por conseguinte o nada" Qb., p. 270). Mas no obstante estes reconhecimentos explcitos, Fichte pretendeu reconduzir a finitude infinitude: no eu descobriu uma actividade infinita que se limita por uma exigncia interna que coloca e cria o seu limite. De tal modo que a finitude autntica, sobre a qual Kant tinha baseado todos os poderes do homem, para Fichte algo que se esquiva. Os ulteriores desenvolvimentos da Doutrina da cincia so disso uma demonstrao. evidente que, apesar de se manter agarrado posio expressa na Doutrina da cincia de 94, Fichte no podia ter da divindade seno um conceito pantesta-espinosiano. As referncias a Espinosa so nesta obra frequentes e tinham sido j previsveis no decorrer da exposio precedente. O Eu infinito a substncia do eu finito. Segundo este ponto de vista, a religio no podia ser entendida a no ser no sentido que Fichte esclarece no ensaio que deu origem polmica sobre o atesmo, Sobre o fundamento da nossa f no governo divino do mundo (1798), e num outro escrito, quase contemporneo, intitulado Reminiscncias, respostas, perguntas (1799). Neste ltimo (deixado incompleto) Fichte, depois de ter afirmado que, para explicar um objecto qualquer, necessrio colocar-se fora desse objecto j que "viver significa no filosofar e filosofar no vivem, reconhece que a deduo da religio consiste em demonstrar que a mesma pertence neces 26 sariamente ao eu, que a f no governo dmno do mundo faz parte da natureza absoluta do eu. Esta demonstrao dada num outro escrito. A doutrina da cincia demonstrou como o eu faz da liberdade o seu objectivo absoluto. Mas a liberdade, que o objectivo final do eu, deve ser possvel no mundo; o mundo deve possuir portanto qualquer ordenamento moral que a torne possvel e esse mesmo ordemento moral o objectivo final de toda a aco livre. A certeza da inseparabifidade entre o fim moral do eu e a ordem do mundo a f na ordem moral. Mas a ordem moral do mundo o prprio Deus: a verdadeira religio, aquela que vive no sentimento moral, revela-se na aco moral. "O ordena,mento vivo e operante o prprio Deus; no temos necessidade de um outro Deus e no podemos falar de outro Deus". Se Deus surge como distinto da ordem moral e considerado como sua causa, passa
* ser uma substncia particular, um ser igual a ns, * quem atribumos personalidade e conscincia e que se ~sforma, por conseguinte, em ns prprios. "O conceito de Deus como de uma particular substncia impossvel e contraditrio; seja-me concedido dizer isto claramente e cortar pela raiz esta questincula escolstica, para encarar assim a verdadeira religio no sentido da jubilosa aco mGral". 551. FICHTE: A DOUTRINA MORAL No Sistema da doutrina moral de 1798 Fichte alarga os princpios da cincia ao mundo moral. A obra verdadoiramente uma reelaborao de toda 27 a Doutrina da cincia de 94 e revela com esta uma estreUa unidade de inspirao. O princpio supremo e o fim supremo da actividade moral actividade infinita do eu puro. Quando a actividade no surge j considerada como finita (nesse caso contrape.se-lhe um objecto e actividade cognoscitiva), mas como infinita, toma o nome de vontade. Diz Fichte: "Descobri-me a mim prprio enquanto eu, apenas como ser volitivo" (Sittenlehre, 1; Werke, IV, p. 18). Mas decobrir-se como vontade significa tambm descobrir-se impelido para os objectos por tendncias que, ao nvel do eu emprico, so tendncias sensveis; e enquanto surgem independentes da livre vontade estas tendncias so "natureza"; da o princpio "Eu sou natureza e esta minha natureza uma tendncia" (1b., 8, p. 110). Como natureza, a tondncia um termo do mecanismo natural; e como tendncia o prprio homem um produto deste mecanismo e insere-se na sua totalidade como parte dela. "A natureza em geral um todo orgnico e surge colocada como tal" (1b., p. 115). Ora a tendncia sensvel dirige-se sempre a um objecto natural que, como tal, sempre espacial: por conseguinte o prprio eu, que pela tendncia atinge a natureza, deve assumir a forma de um corpo articulado, capaz de ser movido e utiliizado como instrumento da vontade. Com isto, Fichte pretendeu ter deduzido a natureza sensvel e corprea do eu finito. Mas sbitamente, do plano do eu finito e corpreo, regressa ao plano do Eu absoluto. O eu no s tem tendncias pelas quais alcan a necessariamente as coisas naturais, 28 mas tambm conscincia de tais tendncias: por isso, observa Fichte, se seguisse tambm sem excepes a tendncia natural, mas a seguisse com conscincia, seria livre igualmente porque "o fundamento ltimo do seu agir no seria a tendncia natural mas a sua conscincia da natureza" (1b., 10, p. 135). Parece por conseguinte que a liberdade consiste para o eu, no no destruir da cadeia da causalidade natural (cadeia que em ltima anlise tambm um produto do eu), mas apenas em tornar-se consciente, mediante a reflexo, da necessidade dessa cadeia. O homem tende assim a tornar-se independente dela, mas uma vez que a sua dependncia infinita, esta independncia s se pode realizar no infinito. "O eu no pode nunca tornarse independente com risco de se deixar de ser eu; o objecto final do ser racional encontrase necessariamente no infinito e tal que nunca pode ser alcanado, ainda que pretendamos aproximarmo-nos dele segundo a nossa natureza espiritual" (1b., 12, p. 149). O princpio da doutrina moral exprime-se do seguinte modo: "Cumpre de qualquer
modo o teu destino (Bestimmung)"; e o destino, ou seja o objectivo ou a misso a que o homem se deve dedicar, em qualquer caso determinado pelas circunstncias em que cada indivduo venha a encontrar-se e revela-se a cada indivduo com uma certeza imediata, ou seja como "um sentimento de certeza" que j no engana porque "est presente s quando existe pleno acordo entre o nosso eu emprico e o Eu puro; e este ltimo o nosso nico e verdadeiro ser e o nico ser 29 possvel e a nica verdade possvel" (1b., 14, p. 169). Segundo este ponto de vista, o mal consiste em recusar este sentimento e a conscincia reflexa que o faz nascer. O mal radical por conseguinte a inrcia em que o homem subjaz como ser natural e pela qual se adapta permanecendo num grau embrionrio de reflexo. Da inrcia ou preguia nasce a objeco, que a preguia em afirmar a prpria liberdade; e por fim nasce a no-sinceridade (insinceridade) pela qual o homem se engana a si prprio. No entanto, Fichte no explica de que modo o eu emprico, cuja essncia, natureza orgnica e a prpria situao no mundo so determinadas pelo Eu puro, pode no querer adequar-se ao Eu puro e recusar-se reflexo libertadora. Mas Fichte insiste na coincidncia da determinao e da liberdade. "Todas as aces livres, afirma, esto predestinadas pela eternidade, atravs da razo e independentemente de qualquer tempo; todo o indivduo livre, relativamente percepo, colocado em harmonia com estas aces... Mas a sucesso e o contedo temporal no so predestinados, pela razo suficiente de que o tempo no nada de eterno e de puro mas simplesmente uma forma de intuio dos seres finitos; no so por conseguinte predestinados o tempo no qual algo h-de acontecer, nem os actores. Assim se resolve, por si, desde que se preste um pouco de ateno, a pergunta que parecia insolvel: a predeterminao e a liberdade esto completamente unificadas" (1b., 18, p. 228). 30 muito significativo verificar no final da caracterizao da doutrina moral de Helite, como a mesma foi estabelecida e construda sem qualquer referncia s relaes existentes entre os homens. A actividade moral para Fichte esgota-se na relao entre o eu emprico e o Eu absoluto, na relao que o Eu absoluto tem consigo prprio atrs do eu emprico e da natureza que lhe prpria. Apenas na ltima ,parte da Doutrina moral quando desce a determinar o sistema dos deveres particulares, Fichte se preocupa em "deduzir a existncia dos outros eus e em estabelecer o princpio das suas
relaes. E preciso afirmar que nunca como neste caso a deduo de Fichte nos surge to fraca e to pouco convincente. O dever nico e fundamental para o eu o de realizar a prpria e absoluta actividade ou autodeterminao. Mas uma vez que esta autodeterminao apenas obra do eu, no existe nada antes do que tenha lanado mo a tal obra, a no ser como um conceito que contm uma exortao autodeterminao. S a necessidade de explicar esta exortao nos leva a admitir a existncia dos outros. "No posso conceber esta exortao auto-actividade, afirma Fichte (1b., p. 220-21), sem a atribuir a um ser real exterior a mim, que quer comunicar-me um conceito, e que portanto o da aco requerida; a um ser portanto que capaz do conceito de um conceito; ora um tal ser razovel, um ser que se coloca a si prprio como eu, portanto um eu. Esta a nica razo suficiente para concluir sobre a existncia de uma causa razovel exterior a ns". Por que que este 31 apelo deve ser atribudo a um real exterior, ainda que na prpria interioridade do eu emprico, o eu absoluto urge com toda a fora da sua absoluta exigncia de realizao, isso no nos diz Fichte. De qualquer modo, segundo Fichte, bastaria para explicar essa exortao a existncia de um s outro indivduo apenas; que exista, pode ser, se bem que no se possa demonstrar que assim deva ser. Todavia, ainda que admitida a sua simples cumplicidade, deriva da imediatamente um limite para a actividade do eu: a sua tendncia para a independncia no pode negar a liberdade dos outros eu. O reconhecimento destes limites originrios da liberdade fazem do eu um indivduo particular. por conseguinte necessrio que o eu seja em geral um indivduo, porque esta uma das condies da sua liberdade; mas que este indivduo seja determinado no espao e no tempo, coisa puramente casual, que tem apenas um significado emprico. necessrio pois que os diversos eu se limitem atravs do reconhecimento recproco da sua liberdade; portanto necessrio que esta liberdade se realize na reciprocidade das suas aces e que por isso sejam predeterminadas todas as aces livres. A reciprocidade de aces atravs das quais se realiza a liberdade dos indivduos e na qual cada indivduo tem o dever de entrar, chama-se igreja, isto : comunidade tica, e o conjunto de princpios comuns nos quais os indivduos inspiram as suas convices, o smbolo da igreja (1b., p. 236). O acordo sobre o modo em que os homens devem poder agir entre si no mundo sensvel, o acordo sobre os seus direitos comuns, o 32 contrato estadual e a comunidade que estabelece o contrato chama-se estado. Ao lado da igreja e do estado Fichte admite a comunidade dos sbios, caracterizada pela liberdade que existe nela de cada um reivi"car de frente, a si prprio e prpria conscincia a, de tudo pr em dvida e de investigar livremente. Nesta comunidade restrita, que nenhum estado pode excluir sem negar o prprio fim, deve ser admitida a absoluta liberdade de comunicao de pensamento que o estado e a igreja legitimamente limitam.
A ideia de uma misso social dos sbios, do seu dever de proteger e de solicitar o progresso da humanidade, foi sempre cara a Fichte. Em 1794, em Jena, pronunciou as suas Cinco Lies sobre a misso do sbio. Em 1805, em Erlangen, pronunciou outras Lies sobre a essncia do sbio e as suas manifestaes no campo da liberdade. Em 1811, em Berlim, tambm pronunciou Cinco Lies sobre a misso do sbio. E a mesma ideia existe nos Discursos nao alem e em vrios discursos acadmicos. O tom geral destes escritos que se torna cada vez mais religioso e teologizante, ressente-se do avano que Fichte tinha alcanado na sua doutrina da cincia. A ideia central continua no entanto a ser a mesma: o nico e verdadeiro fim da sociedade humana a realizao da perfeio moral, atravs de um progresso infinito. Sobre a via deste progresso, a sociedade pode ser guiada e iluminada pelos sbios. Nas lies de. 1794 (e precisamente na quinta), Fichte explica a condenao que Rousseau tinha pronunciado sobre as artes e as cincias 33 com iluso e ressentimento porque as mesmas at ento no tinham servido para o aperfeioamento moral a que esto intrinsecamente destinadas; e contrape ao pessimismo de Rousseau a f na possibilidade progressiva do gnero humano e na eficcia da aco dos sbios. 552. FICHTE: DIREITO E POLITICA A deduo da existncia do eu individual que surge apenas no fim da Doutrina moral, aparece no incio dos Fundamentos de direito natural segundo os princpios da doutrina da cincia (1796). Nesta obra, que precede em dois anos a Doutrina moral, a existncia dos outros eus surge justificada da mesma forma que nesta, ou seja, com a exigncia de uma exortao voltada para o eu pela realizao da sua absoluta liberdade. As coisas corpreas, afirma Fichte, constituem os limites ou condies do esforo moral, mas no implicam qualquer solicitao ao prprio esforo. Das coisas eu posso e devo servir-me para a vida corprea; mas da no me pode vir a solicitao e o convite ao dever. Uma tal solicitao s me pode surgir por seres exteriores a mim, que sejam como eu naturezas inteligentes; por outros eus, nos quais eu deva reconhecer e respeitar a mesma lei de liberdade que norma da minha. actividade (Rechtslehre, 4; Werke, 111, p. 44-45). Este reconhecimento recproco e abre assim a via de aco recproca dos eus entre si. A lei desta aco recproca a lei jurdica. Dife34 rentemente da moralidade, que apenas baseada na boa vontade, o direito vale tambm sem a boa vontade: diz respeito exclusivamente s manifestaes exteriores da liberdade no mundo sensvel, s aces, e implica, por isso, uma constrio exterior, que a moralidade exclui. Isso estabelece os limites e a extenso do direito. As relaes jurdicas intercedem apenas entre pessoas e o direito diz respeito s pessoas, e s atravs destas, s coisas; o direito considera por conseguinte, apenas, as aces que se verificam no mundo sensvel, e no as intenes (1b., p. 55). Em virtude das relaes de direito, o eu determina a si prprio uma esfera de liberdade que a esfera das suas possveis aces exteriores e distingue-se de todos os outros eus que tm cada um a sua prpria esfera. Neste acto de distino coloca-se como pessoa ou indivduo. O eu indivduo (ou pessoa) na medida em que exclui da esfera de liberdade, que reconhece como prpria, qualquer outra vontade. A limitao de uma esfera de liberdade
constitui portanto o carcter da individualidade como tal (1b., 11, 5, p. 56-57). Mas toda a limitao do eu , como se viu, uma oposio e toda a oposio a posio de um no-eu; e assim a determinao do eu na sua esfera de liberdade produz imediatamente um no-eu, e com aquela esfera que o eu se coloca como mundo ou parte do mundo. Como tal se institui e se acha como corpo. Na limitao da esfera da liberdade o eu coloca-se ao mesmo tempo como liberdade e corpo. O corpo no mais que o fenmeno da vontade, e como toda a aco 35 da vontade uma mudana, o corpo no qual a Vontade Surge C se exprime necessariamente mutvel. Por outro lado, deve ser de tal modo que se possa prestar a ser um instrumento ou um veculo do eu que nele se realiza; deve ser portanto um corpo orgnico, visvel e articulado, plasmve@l segundo as exigncias da liberdade. Assim , com efeito, segundo Fichte, o corpo humano, diferente do de todos os outros animais (1b., 6, p. 80 e segs.). Mas no basta que o eu tenha um corpo para entrar em relao recproca com os outros eus; ocorre tambm que este corpo seja dotado de sentidos a fim de que a aco dos eus seja percebida pelo eu. Por outro lado, necessrio que a sensibilidade corprea seja igual em todos os eus, que todos tenhamos a mesma inteno sensvel ou, por outras palavras, percebamos o mesmo mundo sensvel (Ib., p. 68-72). A existncia das pessoas, o seu carcter corpreo, orgnico e sensvel e as suas aces recprocas atravs da sensibilidade, so as condies exteriores do direito. A sua condio interna o seu carcter coactivo pelo qual se garante a cada um a sua esfera de liberdade e se impede as violaes. A realizao do direito no pode ser confiada ao arbtrio das pessoas; deve ser garantida por uma fora predominante, que deve estar estreitamente conexa com o prprio direito. Esta fora o Estado. O Estado , assim, segundo Fichte, a condio fundamental do direito. No existem portanto condies de direito sem uma fora coactiva; e uma vez que uma fora coactiva no pode ser exercida por pessoas singula36 res, mas apenas pelo seu. conjunto, isto , pela comunidade que constitui o Estado, o direito identifica-se com o Estado. No entanto, o Estado no se traduz na eliminao do direito natural, a sua realizao, o prprio direito natural realizado (1b., 15, p. 145 e segs.). No mbito do Estado, e em virtude dos seus poderes, so possveis os direitos originrios das pessoas. A pessoa individual no pode agir no mundo se o seu corpo no est livre de qualquer coaco, se no pode dispor de um certo nmero de coisas para os seus objectivos e se no est garantida a conservao da sua existncia corprea. OS direitos originrios e naturais do indivduo so trs: a liberdade, a propriedade e a conservao. A condio
fundamental do Estado a formao de uma vontade geral na qual estejam unificadas as vontades das pessoas singulares. Isto acontece mediante o contrato poltico, que d origem vontade geral mediante a legislao. Esta tem dois objectivos fundamentais: a determinao do direito e a determinao das punies contra a violao, do mesmo; * primeiro constitui a legislao poltica, o segundo * legislao penal. Mas as leis, uma vez estabelecidas, devem ter validade e ser executadas. Para este objectivo, servem os poderes do Estado que so trs: o poder de polcia que impede a violao do direito; o poder judicirio que determina se uma violao foi praticada; e o poder penal que pune a violao. O conjunto destes trs poderes constitui o poder executivo ou governo (1b., RI, 16, p. 153 e segs.). O poder executivo deve ser considerado 37 responsvel pelas suas aces; deve por conseguinte estar submetido vigilncia de um eforado, e no existe Estado de direito onde o executivo Q o eforado coincidem nas mesmas pessoas (lb., p. 158 e segs.). Apesar de Fichte se ter afastado de Rousseau e das ideias do iluminismo francs, admitindo que os direitos originrios do indivduo no tm valor quando no integrados pelo Estado, permanece no entanto fiel quelas ideias quando reivindica a relativa independncia do indivduo frente ao Estado. O indivduo no apenas um membro do Estado; ao Estado pertence apenas uma parte da sua esfera de liberdade, uma vez que s em relao aos servios que o Estado concede este tem perante o indivduo uma legitima pretenso. Fora destes limites, o indivduo livre e depende apenas de si prprio. Assim se estabelecem portanto os limites entre o homem e o cidado, entre a humanidade e a politicidade. O Estado tem o dever de ajudar cada uma das pessoas em todos as domnios da sua liberdade, mas a extenso desta liberdade no cai inteiramente no mbito do Estado. Estabelecidos estes princpios fundamentais, Fichte lana-se na deduo dos objectivos do direito pblico e privado. Mas no que se refere s funes e natureza do Estado, as ideias da Doutrina do direito so completadas pelas que foram expostas no escrito chamado O Estado comercial fechado (1800). Aqui, Fichte no limita os poderes do Estado realizao dos direitos originrios; pretende tambm que o mesmo acabe com a pobreza e garanta a todos os cidados trabalho e bem-estar. 38 Fichte prospecta, assim, um Estado socializado no qual a produo e a distribuio de mercadorias devem ser reguladas estadualmente, e que portanto constitua um sistema fechado, sem comrcio com o exterior. O isolamento comercial possvel quando o Estado tem dentro das suas fronteiras tudo o que necessrio para o fabrico dos produtos de que precisa; mas quando tal no possvel, o Estado pode chamar a si o comrcio externo e fazer dele um monoplio. O isolamento, segundo Fichte, necessrio para se regular, segundo a justia, a
distribuio dos rditos e dos produtos. 553. A CRISE DA ESPECULAO DE FICHTE A primeira Doutrina da cincia (e as obras que com ela se relacionam e a alargam ao campo do direito e da moral) pretende manter-se fiel ao esprito do criticismo. Assim, pe em evidncia um eu infinito, com autoconscincia absoluta; mas reconhece, todavia, que a infinitude do eu no se pode realizar seno atravs da colocao de um no-eu... O eu infinito sempre, por conseguinte, o homem: na sua verdadeira substncia espiritual e pensante. O conceito de uma "divindade na qual tudo fosse colocado pelo simples facto de o eu ser tambm colocado" considerado "impensvel". Como se viu ( 550), Fichte repete mais vezes estas declaraes na 39 primeira Doutrina da Cincia; e as obras que se lhe seguiram mantm-se fiis a princpio. Mas gradualmente, a partir da polmica sobre o atesmo (1798), Fichte volta-se para uma maior considerao da vida religiosa. O interesse moral que domina no seu primeiro perodo complica-se com motivos teosficos que acabam por prevalecer. Podem reconhecer-se e aduzir@se diversas circunstncias que explicam a crise que a especulao de Fichte sofreu a certa altura e que a encaminhou para uma via que devia lev-la muito alm das suas primeiras concluses. Entre esses motivos podemos enumerar: a hostilidade de grande parte do ambiente cultural alemo relativamente ao seu subjectivismo, hostilidade que ser manifestada abertamente durante a polmica sobre o atesmo e que muito o impressionou; a polmica com Schelling e com os romnticos, cuja influncia receava e combatia; o desejo de transformar a sua especulao numa "doutrina de vida" que fosse capaz de reacender o entusiasmo que a Doutrina da Cincia tinha suscitado quando surgira pela primeira vez e que comeava a extinguir-se. Estes motivos agiram indubitavelmente sobre Fichte e forneceram-lhe a ocasio para um ulterior desenvolvimento da sua especulao. Mas estes no so motivos filosficos. A pergunta que, segundo o ponto de vista da histria da filosofia, deve colocarse sobre este assunto * seguinte: existem razes filosficas que justifiquem * crise de Fichte e a nova direco da sua especulao? Fichte tinha em 1798 completado o seu sis40 tema em todos os aspectos: a Doutrina da cincia, a Doutrina do direito e a Doutrina moral constituem um bloco unitrio que no exige ulteriores determinaes. Por outro lado, o Ensaio sobre o fundamento da nossa crena no governo divino do mundo tinha esclarecido o seu pensamento nos confrontos da religio. Se, no entanto, subsistem motivos intrnsecos da crise de Fichte e da exigncia de uma viragem na sua especulao, estes motivos surgem relacionados com a posio fundamental de que Fichte linha partido e com o carcter de instabilidade dessa mesma posio. Nesse sentido devemos orientar a nossa investigao. Fichte volta a reelaborar incessantemente a doutrina da cincia a partir de 1801; e apesar de declarar explicitamente (por exemplo no prefcio Introduo vida feliz (Werke, IU, p. 399) que nada tinha a alterar nas suas primitivas afirmaes, as suas concluses
doutrinais vo-se afastando cada vez mais desses mesmos princpios. Evidentemente que o sentido destas declaraes o de que o prprio princpio da doutrina da cincia (a que so dedicadas quase exclusivamente as sucessivas reeilaboraes) apresentava, a seus olhos, um problema que ele sucessivamente procurou resolver. De que problema se trata? Poderse- reconhec-lo facilmente na relao existente entre o infinito e o finito. A primeira Doutrina da cincia identificou os dois termos quando colocou e recolheu o infinito no homem. Desse modo exclui qualquer considerao teolgica e declara impensvel o prprio conceito de Deus. Mas essa mesma identidade faz surgir o 41 problema da sua prpria extenso. Se o finito se identifica com o infinito, isto no quer necessariamente dizer que o infinito se identifique com odivino. Se o homem , em certa medida, participante da divindade e (em certos limites) a prpria divindade, isto no significa que a divindade se extinga no homem e viva apenas nele. Pode haver no infinito e no divino uma margem (por sua vez infinita) que est para alm daquela parte que se realiza ou se revela no homem. Fichte procura determinar e definir esta possibilidade de forma filosfica e atravs de diversas elaboraes que d doutrina da cincia a partir de 1801. evidente que se trata de uma possibilidade que pode ser determinada e definida apenas negativamente, porque se refere quela margem de no-coincidncia entre o infinito e o finito (entre o homem e Deus) que por definio est para alm do homem e da qual o homem nada sabe. Fichte encontrava-se perante a difcil posio de se servir do saber (e da doutrina da cincia que o exprime) para procurar alcanar aquilo que est para l de qualquer saber possvel e que, por conseguinte, no pode encontrar na doutrina da cincia uma expresso positiva. Esta dificuldade -lhe claramente levantada num colquio por Jean Paul Richter que, depois de ter escrito uma stira sobre a filosofia de Fichte (Clavis fichtiana, 1800), se ligou a ele de amizade. Eis como Jean. Paul Richter se referia, numa carta de Jacobi de Abril de 1801, a uma conversa que tivera com Fichte: "Fichte, com quem 42 me encontro nas melhores relaes, ainda que o nosso dilogo seja uma contradio perptua, dizia-me que admite, na sua ltima exposio, um Deus superior e exterior ao Eu absoluto (no qual at agora eu via o seu Deus). Mas ento, disse-lhe eu: Vs filosofais, no fim de contas fora da filosofia". No se poder exprimir melhor a tarefa assumida por Fichte nas numerosas reelaboraes da sua doutrina da cincia. Com efeito, o que ele faz filosofar fora da filosofia. Porque a filosofia a doutrina do saber e no pode superar os limites do saber possvel. Mas Deus, como ser absoluto, est fora e para l do saber; e para filosofar sobre ele necessrio verdadeiramente filosofar fora da filosofia. E tal no se pode fazer; a menos que se reconhea uma quebra na filosofia de Fichte entre a primeira e a segunda fase. Na primeira fase, esta filosofia uma doutrina do infinito no homem. Na segunda fase, uma doutrina do infinito fora do homem. Na primeira fase, o infinito (ou Absoluto, que o mesmo) surge identificado com o homem. Na segunda fase o infinito ou absoluto surge identificado com Deus. A quebra doutrinal portanto ,inegvel. Mas esta quebra indubitvelmente devida ao prprio interesse ticoreligioso que domina de uma ponta outra, a obra de Fichte. Precisamente para realizar e garantir cada vez mais o valor da vida tico-religiosa do homem, Fichte cindiu, sem ter plena conscincia disso, a unidade doutrinal do seu sistema.
43 554. FICHTE: O EU COMO IMAGEM DE DEUS A tentativa de se servir do saber para alcanar um Absoluto que est para alm do saber levada a cabo pela primeira vez por Fichte na Doutrina da cincia de 1801. Aqui, Fichte parte do princpio de que o saber no o Absoluto (Wiss., 1801, 5; Werke, 11, p. 12-13). "O absoluto absolutamente aquilo que , repousa sobre e em si mesmo absolutamente, sem mutao nem oscilao, firme, completo, e fechado em si prprio". Ele , por outro lado, "aquilo que absolutamente porque por si prprio, em razo de si prprio, sem qualquer influncia exterior estranha; porque ao lado do Absoluto nada permanece de estranho, uma vez que tudo quanto no absoluto desaparece" (1b., 8, p. 16). A doutrina da cincia, como doutrina do saber, no pode no entanto actuar para alm de qualquer saber possvel; por isso deve partir no do Absoluto mas do saber absoluto. Mas o saber, enquanto absoluto, tambm um saber da prpria origem; e a origem do saber, (a origem absoluta) no o saber mas o prprio Absoluto. Por conseguinte, enquanto o saber saber da prpria origem, tambm um saber da prpria origem do Absoluto, ou seja. da criao que o Absoluto faz do saber. No acto de alcanar a prpria origem o saber por conseguinte, e ao mesmo tempo, saber e mais que saber, conjuntamente saber e Absoluto. A unidade destes dois termos no indiferena porque os dois termos permanecem opostos (o absoluto no o saber e o 44 saber no absoluto). Fichte polemiza sobre este assunto com Schelling ainda que extraia dele, sem dvida, o princpio da identidade entre o saber e o Absoluto. "Se o subjectivo, (ou seja o saber), afirma, e o objectivo (o Absoluto) fossem originariamente indiferentes como poderiam ser diferentes no mundo?" Diferenciando-se, o Absoluto anular-se-ia a si prprio e daria lugar ao nada absoluto (lb., p. 66). E Fichte julga tambm aproximar-se, bastante melhor que Schelling, do esprito da doutrina de Espinosa. Esta era incapaz de explicar a passagem da substncia aos acidentes. Esta passagem no pode ser explicada seno pela forma fundamental do saber, pela reflexo. Esta acto de liberdade que divide o saber do ser absoluto e, no entanto, o faz derivar dele: "Se se pergunta, afirma Fichte (1b., p. 89), qual o carcter da doutrina da cincia nos confrontos do unitarismo (En kai Pan) e do dualismo, a resposta esta: o do unitarismo no sentido ideal porque sabe que, como fundamento de todo o saber, para alm de todo o saber, existe o eterno Uno; dualismo em sentido real, em relao ao saber na medida em que ele realmente colocado. Com efeito, existem dois princpios fundamentais: a absoluta liberdade e o absoluto ser; e sabese que o absoluto Uno no se pode alcanar em nenhum saber real ou de, facto, mas apenas pensando". Apesar do Absoluto e do saber surgirem assim contrapostos, o mundo, pelo contrrio, surge ligado ao saber e reduzido por Fichte a uma manifestao 45 ou cpia do mesmo. Como tal, para Fichte aparece privado de realidade prpria. "Se se fala do melhor mundo e dos caracteres da divindade que se encontram neste mundo, a resposta esta: o mundo o pior de todos os possveis porque ele, em si prprio, no tem qualquer
sentido (Ib., p. 157)". Desta nulidade intrnseca do mundo resulta a possibilidade de libertar-se dele. Uma vez que o mundo condicionado por um acto de liberdade que surge pela reflexo, pode tambm ser superado pela reflexo e encarado gradualmente como meio. Um ideal mstico e religioso, surge, agora, como ltima concluso de Fichte. "Elevar acima de todo o saber, afirma (Ib., p. 161), at ao puro pensamento do Ser absoluto e da acidentalidade do saber e enfrentar esse mesmo Ser, tal o ponto mais alto da Doutrina da cincia". A orientao mstica, que pretende negar qualquer valor ao mundo e ao prprio saber humano, acentua-se mais na Doutrina da cincia exposta em 1804. Se no escrito de 1801 o Absoluto o limite iniciai ou superior do saber, e por conseguinte este pode alcan-lo intuindo a sua prpria origem ou o no-ser de que emerge, no escrito de 1804 o Absoluto justificao do princpio de destruio de todo o saber possvel e como tal s pode ser alcanado com a negao do saber, da conscincia e do eu, na luz divina. Esta a tarefa que Fichte se prope levar a cabo: reconduzir todo o mltiplo, sem excepo, absoluta unidade (Wiss., 1804, 1; Werke, X, p. 93), e esta tarda implica a destruio total do 46 saber e, por conseguinte, o alcance da absoluta inconceptibilidade. A construo da doutrina da cincia surge, segundo este ponto de vista, como a anulao do conceito pela evidncia que a prpria luz divina. E Fichte repete aqui o movimento dialctico de que se tinha socorrido na primeira Doutrina da cincia a propsito do no-eu. Uma vez que o noeu deve ser colocado para que o eu possa servir-se dele como meio e triunfar sobre ele atravs da aco moral, tambm agora o saber conceptual deve ser colocado para que a evidncia da luz divina possa destru-lo e realizar-se por meio dessa destruio (1b., 4, p. 117). Essa operao envolve o eu, que o princpio do saber, mas no obra do eu, obra da prpria luz divina. "O ser possudo e arrebatado evidncia, afirma Fichte (1b., 8, p. 148), no obra minha, mas da prpria evWneia e a aparente imagem do meu ser anulado e dissolvido na pura luz". Fichte nega que o Absoluto seja a conscincia ou que a conscincia possa valer como fundamento do Absoluito. O fundamento da verdade no a conscincia, se bem que se revele atravs dela (lb., 14, p. 195). Em 1806, Hohte voltava novamente, e desta vez em polmica aberta com Schelling, a delinear os pontos fundamentais da sua doutrina da cincia num escrito intitulado Relao sobre o conceito da doutrina da cincia e sobre o destino que teve at agora. Fichte afirma nele a sua pretenso de no haver alterado o sistema e de se manter fiel, nos seus ltimos escritos, s suas primeiras especulaes. 47 E responde s acusaes movidas contra a Doutrina da cincia. Falou-se de subjectivismo porque o mesmo a demonstrao da nulidade de todos os produtos da reflexo. Mas esta precisamente a
tarefa da Doutrina da cincia, que deve pr em evidncia a falsidade daquilo que vulgarmente se tem como real e demonstrar que o Absoluto, como Kant havia ensinado, no pode ser determinado pelo pensamento e continua inconcebvel, para alm de qualquer pensamento. A teoria da cincia destri a pretensa realidade do conhecimento comum mas substitui-a pela verdadeira realidade que a vida do Absoluto ou de Deus (Bericht ber die Wiss.; Werke, VIII, p. 361 e segs.). afirmao de que a doutrina da cincia, ainda que tendo a pretenso de valer como uma doutrina da vida, no se apresenta seno um puro conceito do ser, um esquema morto e abstracto do Absoluto, Fichte responde que o Absoluto no pode viver e realizar-se seno na conscincia dos homens. Mas com este pacto deixa de ser uma pura projeco do pensamento e passa a ser verdadeiramente uma actividade produtiva. Das sucessivas elaboraes da Doutrina da cincia, a mais notvel a de 1810 intitulada: A Doutrina da cincia no seu esboo geral, da qual no se afastam substancialmente as reelaboraes de 1812-13. Nela o ser identificado com Deus, enquanto uno, imutvel, indivisvel. O saber, que substitui na unidade divina a separao entre sujeito e objecto, no Deus e existe fora de Deus. Mas uma vez que o ser divino tudo em tudo, o saber o ser de 48 Deus fora de Deus, ou seja, a exteriorizao de Deus. Tal no um efeito de Deus, mas a imediata consequncia do ser absoluto, ou seja a sua imagem ou esquema (Wiss., 1810, 1; Werke, 11, p. 693). Por sua vez, a autoconscincia a imagem ou sombra do saber, pelo que, em relao a Deus, passa a ser a sombra de uma sombra (1b., 14). Estamos muito longe, como se v, da tese da primeira Doutrina da cincia segundo a qual a autoconscincia o princpio de toda a realidade. Conceitos semelhantes a este surgem nos cursos que Fichte d em Berlim no Inverno de 1810 e 1811 e no Vero de 1813 sobre Os factos da conscincia. Os factos da conscincia so os graus de desenvolvimento atravs dos quais a conscincia se ergue das formas primitivas s mais elevadas. Mas a forma mais elevada da conscincia , segundo Fichte, aquela em que a conscincia reconhece a sua prpria nulidade perante Deus e se considera simples imagem ou aparncia de Deus. O objectivo da doutrina da cincia portanto o de tornar inteligvel esta aparncia; e no se trata de uma doutrina do ser mas da aparncia. "O compreender-se, diz Fichte, a forma de ser da aparncia". A doutrina da cincia a aparncia na sua totalidade. Assim afirma: "Eu sou o compreender-se da aparncia, perteno por isso aparncia" (Die Thatsachen, 1813; Werke, X, p. 563 e segs.). Por outro lado, tal aparncia sempre aparncia do ser, ou seja, do prprio Deus. Deus portanto o objecto do saber e ao mesmo tempo est para alm do saber. o objecto do saber na medida em que o saber a sua imagem,
49 a sua apario ou manifestao; est para alm do saber porque est para alm da mutao e da multiplicidade que so prprias da forma reflexiva do saber mas que no podem pertencer a Deus. Este ponto de vista repetido com energia no curso, sobre o sistema da doutrina do direito e no curso sobre o Sistema da doutrina moral dados em 1812. Estas duas novas exposies diferendara-se das de 1796 o de 1798 porque reconduzem respectivamente o direito moral e a moral religio. Enquanto que na Doutrina do direito de 1796 a esfera do direito surgia caracterizada independentemente da vida moral, no Sistema de direito de 1812 caracterizada como trao de unio que liga a natureza moral. O direito a condio preparatria da moral. Se esta fosse universalmente realizada, o direito seria suprfluo; mas uma vez que tal no acontece e para que possa acontecer, h necessidade de assegurar a cada pessoa as condies para a sua realizao atravs de uma disciplina obrigatria; esta disciplina o direito (System der Rechtsl., Werke, X, p. 508 e segs.). Analogamente, o Sistema da moral de 1812 reconduz a moral religio. A razo prtica passa a ser nesta obra a prpria expresso de Deus, a sua imagem viva, o instrumento da sua realizao no mundo; e a negao metafsica da realidade da natureza, a afirmao do regresso vida espiritual como nica vida verdadeira, surgem reconduzidas s exigncias religiosas da renncia ao mundo, da ressurreio e s excepes do evangelho de S. Joo (System der Sittenl., Werke, 11, p. 31 e sgs.). 50 555. FICHTE: AS Exposies POPULARES DA FILOSOFIA RELIGIOSA Excepto o escrito de 1810 (A Doutrina da cincia nos seus caracteres gerais) todas as outras exposies e reelaboraes que acabamos de examinar do sistema de Fichte permanecem inditas. preciso tambm dizer que so de leitura bastante ingrata e que nelas o processo de Fichte surge lento, tortuoso, e baseado frequentemente em puros artifcios verbais. Estes defeitos devero parecer evidentes ao prprio Fichte que, apesar de descurar a publicao desses escritos, publicava outros destinados a expor, em forma popular, o novo rumo do seu pensamento. Estes escritos populares so: A misso dos homens (1800), A introduo vida feliz ou doutrina da religio (1806), Sobre a essncia do sbio e as suas manifestaes no campo da liberdade (1805), Cinco lies sobre a misso do sbio (1811). Nestes escritos, a orientao religiosa e misticista das ltimas especulaes de Fichte encontra uma expresso livre e surge expressa em palavras apropriadas. O trabalho intitulado Misso do homem est dividido em trs partes: a dvida, a cincia e a f, e Fichte descreve a libertao do homem do domnio do mundo natural atravs da cincia e da passagem da cincia f. A f, afirma Fichte, (Werke, 11, p. 254) ao dar realidade s coisas, impede-as de serem iluses vs: nisso consiste a ratificao da cincia. Quase se podia dizer, ~o com propriedade, que no existe realmente cincia mas apenas certas determinaes da
51 vontade que se configuram como cincia porque a f as constitui como tal; e repete a palavra de Jacobi "Todos nascemos na f" (1b., p. 255). A f entendida aqui no sentido religioso como f em Deus, numa Vontade suprema na qual confluem as vontades dos seres finitos quando conformes com o dever. Mais explicitamente religioso ainda o tom do escrito (o mais importante entre os que nomemos) Introduo vida feliz. Fichte prope a beatitude na unio de Deus, mas adverte tambm que esta unio no transforma Deus no nosso ser; Deus permanece fora de ns e ns apenas abraamos a sua imagem. Chega-se religio atravs da negao do valor da realidade sensvel, vendo no mundo a simples imagem de Deus e sentindo agir e viver Deus em ns prprios. Na unio com Deus, Fichte preocupa-se em aprender o significado contemplativo que a mesma parece implicar. A religio no um sonho devoto; o ntimo que purifica o pensamento e a aco e por conseguinte moralidade operante (Anweisung, 5; Werke, V, p. 474). O pensamento alcana a existncia de Deus, pela sua revelao ou pela sua imagem: o ser de Deus permanece sempre alm. A existncia de Deus identifica-se com o saber ou autoconscincia do homem; mas a forma como a mesma deriva do ser de Deus permanece inconcebvel. "A existncia deve compreender-se por si como pura existncia, reconhecer-se e formar-se como tal, e, perante si prpria, deve colocar e formar um Ser absoluto, de que seja simples existncia: atravs 52 do prprio ser deve anular-se perante uma outra existncia absoluta: e tal atitude forma o carcter da pura imagem, da ideia ou da conscincia do ser" (lb., 3, p. 441). Fichte v no Evangelho de S. Joo a exposio de uma doutrina anloga e da deduz o acordo do seu idealismo com o cristianismo. Com efeito, no Evangelho afirma-se que ao princpio era a Palavra ou Logos; e na Palavra ou Logos, Fichte reconhece aquilo a que chamou existncia ou revelao de Deus: o saber, a imagem, de que a vida divina fundamento (1b., 6, p. 475 e segs.). Deste momo se completa o ciclo do desenvolvimento da doutrina de Fichte. Partindo do reconhecimento do infinito como princpio de deduo da natureza finita do homem, Fichte levado, por ltimo, a reconhecer o princpio infinito para alm do eu, no Ser ou Deus, concebido como o Uno de Plotino. Nesta passagem entre duas teses doutrinais contraditrias, a nica unidade constituda pelo interesse tico-!religioso que sempre dominou na especulao de Fichte. Este interesse assinala verdadeiramente a sua personalidade. A ele se deve a ,introduo o sinal caracterstico, do idealismo de Fichte e o distingue daquele (anlogo em muitos aspectos) que contemporaneamente era defendido por Beck. No h dvida que esta caracterstica determinou o sucesso da doutrina de Fichte. Mas foi tambm o mesmo que terminou a exigncia de uma progressiva acentuao do carcter religioso e teosfico desta doutrina e, por conseguinte, a transformao que veio a sofrer no final.
53 556. FICHTE: O INFINITO NA HISTRIA A obra publicada por Fichte em 1806, Caractersticas principais da poca presente, expe uma filosofia da histria que reproduz a seu modo e no sem intuitos polmicos (como frequentemente aconteceu nas ltimas obras do filsofo) as ideias expostas por Schelling no Sistema do idealismo transcendental (1800) e nas Lies sobre o ensino acadmico (1802). Fichte comea por declarar que "o objectivo da vida da humanidade neste mundo o de conformar-se livremente razo em todas as suas relaes" (Grunlzge des gegenw. Zeital., l; Werke, VII, p. 7). RADIativamente a este fim, distingue-se na histria da humanidade dois estdios fundamentais: um, em que a razo ainda inconsciente, instintiva, e a idade da inocncia; o outro, aquele em que a razo se assume e domina inteira e livremente, a idade da justificao e da santificao, o kantiano reino dos fins. O desenvolvimento integral da histria verifica-se entre estas duas pocas e o produto do esforo da razo em passar da determinao do instinto a uma liberdade plena. As pocas da histria so determinadas, num modo puramente a priori o independentemente do acontecer dos factos histricos, por este esforo. A primeira poca a poca do instinto, em que a razo governa a vida humana sem a participao da vontade. A segunda poca a poca da autoridade, em que o instinto se exprime em personalidades poderosas, em homens superiores, que impem, caoticamente, a razo a uma humanidade incapaz de segui-la por sua conta. A terceira poca 54 a da revolta contra a autoridade e da libertao do instinto, de que expresso a prpria autoridade. Sob o domnio da reflexo desperta no homem o livre arbtrio, mas a sua primeira manifestao uma crtica negativa de toda a verdade e de toda a regra, uma exaltao do indivduo para l de qualquer regra e de qualquer coaco. A quarta poca aquela em que a reflexo reconhece a prpria lei e o livre arbtrio aceita uma disciplina universal; a poca da moral. A quinta poca aquela em que a lei da razo deixa de ser um simples ideal para se tornar totalmente real num mundo justificado e santificado, no autntico reino de Deus (1b., p. 11 e segs.). As duas primeiras pocas so as do domnio cego da razo, as duas ltimas a do domnio vidente da razo. No meio, est a poca da libertao em que a razo deixa de ser cega mas no ainda consciente. A esta poca pertence a presente idade, segundo Fichte; nela existe o domnio cego da razo e ainda no se alcanou o domnio vidente da prpria razo. Perdeu-se o paraso, a autoridade foi violada, mas no domina ainda o conhecimento da razo. esta a idade do iluminismo que Fichte chama a do vulgar intelecto humano; a idade em que prevalecem os interesses individuais e pessoais e em que se faz continuamente apelo experincia porque s a experincia pode manifestar quais os interesses e quais os objectivos para que se tende (1b., 2, p. 21 e segs.). Como realizar-se progressivo da razo na sua liberdade, a histria consiste no desenvolvimento da conscincia ou do saber. Mas o saber a existncia,
55 a expresso, a imagem integral do poder divino. Considerado na totalidade e ria eternidade do seu desenvolvimento, o saber no tem outro objecto a no ser Deus. Mas para os simples graus deste desenvolvimento Deus inconcebvel e o saber divide-se pela multiplicidade dos - objectos empricos que constituem a natureza ou na multiplicidade de eventos temporais que constituem a histria. A existncia de facto no tempo surge como tal, podendo ser diferente e portanto acidental; mas esta aparncia deriva apenas da inconceptibilidade do Ser que o seu fundamento; inconceptibilidade que condiciona o infinito progresso da histria (lb., 9, 6. 131). Na realidade, nem na histria nem em outro lugar, existe algo de acidental pois tudo necessrio e a liberdade do homem consiste em reconhecer esta necessidade. Afirma Fichte: "Nada como porque Deus queira arbitrariamente assim, mas porque Deus no pode manifestar-se de outro modo seno assim. Reconhecer isto, submeter-se humildemente e ser feliz na conscincia desta nossa identidade com a fora divina, desgnio de todos os homens" (1b., 9). NOTA BIBLIOGRFICA 546. Sobre a vida de Fichte a obra principal a do filho, Immanuel Hermann Fichte, J. C., F.s Leben und literarischer Briefwechesel, 2 vols., Leipzig, 1862; todas as monografias abaixo indicadas tm partes ou captulos dedicados biografia do filsofo. Um ensaio psicanaltico sobre F. o de G. Kafka@ Erlebnis und Theorie in Fichtes Lehre vom Verhaltniss der Ges56 cILlechter, in "Zeitsehr. fr angewanclte Psyeh", 16.' 11920, p. 1-24. 547. "Smtliche Werke, a cargo do filho, I. H. Fichte, 8 vols., Berlim, 1845-46; Nachgelassen6 Werke, a. cargo do filho L H. F., 3 vols., Bonn, 1834-35 (ctados no texto como Werke, IX, X, XI); Werke, escolha em 6 v&.s., a -cargo de Fritz Medicus, Leipzig, 1908-12. Tradues italianas: Doutrina da Cincia (1791), trad. Tilgher, Bari, 1910; Doutrina da Cincia (1801), trad. Tjlgher, Pdua, 1939: Doutrina moral, trad. Ambrosi, Milo, 1918; Introduo vida feliz, trad. parcial Quilici, Lanclano, 1913; A misso do homem e do sbio, trad. Pertioone, Turim, 1928; Discurso nao a'em, trad. Burich, Palormo, 1927; Essncia do sbio (1805), trad. A. Cantoni, Florena, 1935; O estado segundo a razdo, trad. annima, Turim, 1909; Reivindicao da liberdade do pensamento, trad. Pareyson, Turim, 1945; Primeira introduo doutrina da cinciatrad. Pareyson, in "Riv. di Fil,", 1946, p. 175 e sgs.; Guia para a vida feliz, trad. A. Cntoni, Milo, 1956; O sistema da doutrina moral, trad. R. Cantoni, Miorena, 1957; Teoria da cincia de 1798, trad. A. Cantoni, Milo, 1959. 548. Xavier IAon, Fichte et son temps, tomo II, parte II, p. 297 e sgs. A obra de Lon a mais vasta monografia sobre Fichte. A amplitude das particularidad,es biogrficas no corresponde, nesta obra, amplitude da exposio das doutrinas filosficas referidas quase exclusivamente aos limites da polmica Fichte-Schelling. K. Fischer, F.s Leben, Werke und
Lehre, Heid&berg, 1868, 3.ed., 1900; X. Leson, La pholosophie de F., Paris, 1902; A. Rav, Introduo ao estudo da filosofia de F., Modena, 1909; F. Medcus, F., Leipzig, 1911; A. M~cr, F., Leipzig, 1920; N. Hartui =,, Die Phil. des deutschen Idealismus, vol. 1, Berlim, 1923, p. 43-123; H. Heimsoe@th, F. Munique, 1923; M. Wundt, FichteForschungen, Stuttgart, 1929; M. Gueiroult, L'voluti-on et structure de la doctrine de la sciwe, Paris, 57 1930; W. Doering, F. der mann und sein Werke, Hani burgo, 1948; L. Pareyson, F., Turim, 1950. 553. A carta de ~Paul, a que se alude existe em Ernest Reinhold, K. L. Reinhold Leben und literarisches Wirken, Jena, 1825, p. 265-66. 58 IV SCHELLING 557. SCHELLING: VIDA Friedrich Wilhehn Joseph Schelling nasce em Lomberg a 21 de Janeiro de 1775. Aos 16 anos entrou para o seminrio teolgico de Tubinga; e nesta cidade liga-se de amizade com Holderlin e Hegel, mais velhos que ele cinco anos. Em seguida estudou matemtica e cincias naturais em Leipzig e esteve durante certo tempo em Jena, onde assistiu s lies de Fichte. Em 1798 (com 23 anos), foi designado, com o apoio de Goethe, professor em Jena, onde vive os anos mais fecundos da sua vida e mantm estreitas relaes com os romnticos A. W. SchIegel, Tieck e Novalis. Nesta cidade casou com Caroline Schlegel (1803) depois desta se divorciar do marido, A. W. Schlegol. Em seguida, Schelling passou 59 a ensinar em Wilrzburg, (1803) onde permaneceu at 1806, ano em que, estando a cidade ocupada por um prncipe austraco, a estadia de professores protestantes na Universidade se torna impossvel. Dirige-se ento a Mnaco onde se faz secretrio da Academia das Belas Artes e em seguida secretrio da classe de filosofia da Academia das Gncias. Neste perodo, vive isolado e quase ignorado. Estabelece relaes de amizade com o naturalista tesofo Baader que chama a sua ateno para a obra de Jacob Bochme. Em 1809 morre-lhe a mulher Caroline e trs anos depois casa com a filha de uma amiga. Em 1820, Schelling regressa ao ensino em Erlangen e em 1827 passa a ensinar em Mnaco onde permanece at 1841. Neste ano chamado a suceder a Hegel na ctedra de Berlim e de certo modo passa a comandar o movimento contra o hegelianismo que tinha surgido na Alemanha. Em 1847 deixa de ensinar e a 20 de Agosto de 1854 morre em Ragaz na Sua, onde se encontrava para se tratar. O interesse dominante de Schelling diz respeito natureza e arte; e nos seus primeiros trabalhos, que se ressentem da influncia de Fichte, este interesse predomina. Situada entre o subjectivismo absoluto de Fichte e o racionalismo absoluto de Schelling, a
especulao de Schelling iria exprimir-se em duas frentes e, aceitando o mesmo princpio da infinitude que estava na base de um e de outro, iria procurar garantir a este princpio um carcter de objectividade ou de realidade que lhe permitisse explicar o mundo da natureza e da arte. Ligado de amizade 60 com Hegel nos anos de juventude, Schelling considerou esta amizade terminada quando Hegel no prefcio Fenomenologia do Esprito (1807) declarou o seu afastamento de Schelling. Hegel tinha colaborado no "Jornal crtico da filosofia" que Schelling tinha publicado em 1802-03. Mas o afastamento de Hege-l, e mais ainda o sucesso que o seu amigo e rval obtinha, fizeram com que se virasse contra Hegel, o que levou Heinfich. Heine a afirmar, depois de um colquio que teve com Schelling: "Se o sapateiro Jacob Bolieme falou como um filsofo, Schelling fala agora como um sapateiro" (Werke, ed., 1861, VI, p. 157). 558. SCHELLING: TEXTOS Esta situao contribui certamente para suster a pena de Schelling depois dos primeiros anos de intensa produo literria. O primeiro escrito de Schelling a dissertao Antiquissimi de prima malorum origine philosophematis explicandi tentamen criticum (1792), uma tentativa de interpretao alegrica do pecado original. Depois de um escrito sobre os Mitos do mundo antigo o um outro de crtica neo-testamentria, Schelling publicou o seu primeiro ensaio filosfico, inspirado em Fichte, Sobre a possibilidade de uma forma da filosofia em geral (1795). No mesmo ano segue-se o escrito O eu cotno princpio da filosofia ou o incondicionado no saber humano. Seguiram-se: Cartas filosficas sobre o dogmatismo e criticismo (1796), Perspectiva universal 61 da nova literatura filosfica (1797); Ideias sobre uma filosofia da natureza (1797); Em 1800 publicava um Sistema do idealismo transcendental que o seu trabalho mais completo e melhor organizado. Em 1800-01, Schellng publicou a "Revista de fsica especulativa" que contm a sua Exposio do meu sistema. Em 1902 publicou o dilogo Bruno e o princpio natural e divino das coisas; e em 1802-03 o "Jornal critico da filosofia", onde os seus escritos apareceram ao lado dos de Hegel. As Lies sobre o mtodo do estudo acadmico (1803) so uma exposio popular do seu sistema. A este, seguiram-se em 1804 o escrito Filosofia e religio, um ensaio Sobre as relaes do real e do ideal na natureza e um outro Sobre a verdadeira relao da filosofia da natureza com a doutrina de Fichte revista e corrigida (1806). Em 1807 o discurso Sobre as relaes das artes plsticas com a natureza. A orientao teosfica inicia-se com o escri-to Investigao filosfica sobre a essncia da liberdade humana, aparecido em 1809. Com ele pode dizer-se que se encerra a produo literria que Schelling pretende tornar pblica. Com efeito, alm de um escrito contra Jacobi (1812) e um Sobre a divindade de Samotracia (1815), Schelling no publicou nos ltimos dos Fragmentos filosficos de Cousin (1834) e sua lio introdutria em Berlim. Os cursos, que deu em Berlim e que representam a ltima fase, que ele chamou positiva, do seu pensamento, Filosofia da mitologia e Filosofia da revelao, foram publicados pelo filho, depois da sua morte, 62
559. CHELLING: O INFINITO E A NATUREZA O princpio que tinha assegurado o sucesso da filosofia de Fichte e, do infinito. a infinita actividade que actua na conscincia do homem e explica e determina todas as manifestaes, infinita actividade que, mesmo reconhecida por Fichte como transcendente conscincia, acaba sempre por encontrar no infinito progresso do sabor a sua imagem adequada. O reconhecimento e a afirmao do infinito determinam o entusiasmo que a doutrina de Fichte suscitou, porque exprimem a aspirao da poca. A filosofia de Kant uma filosofia do finito e por isso se move no mbito do iluminismo. A filosofia de Fichte uma filosofia do infinito dentro e fora do homem e abre a poca do romantismo. Schelling e os romnticos descobrem que a filosofia de Fichte abre um novo caminho ou, como eles dizem, uma nova era da especulao, e ainda que se mostrem depressa impacientes por darem ao princpio fichtiano novas interpretaes incompatveis com a doutrina de Fichte, no menos verdade que essas interpretaes partem todas desse mesmo princpio do infinito que, atravs da doutrina de Fichte, tinha feito a sua clamorosa apario na filosofia. No que diz respeito a Schelling, desde a primeira e entusistica aceitao dos princpios de Fichte, v-se uma procura da sua parte em fazer dele a ilustrao e a defesa dos interesses que lhe so mais caros, os naturalistas-estticos. Desde o incio que Schelling relaciona, com muito mais vigor ainda que Fichte, o Eu absoluto com a substncia de Espinosa: 63 a substncia de Espinosa o princpio da infinita objectividade. Schelling pretende unir as duas infinitudes no conceito de um Absoluto que no redutvel nem ao sujeito nem ao objecto, porque deve ser o fundamento de um e de outro. Bem cedo se d conta de que uma pura actividade subjectiva (o Eu de Fichte) no poder explicar o aparecimento do mundo cultural, e de que um princpio puramente objectivo (a substncia de Espinosa) no poder explicar a origem da inteligncia, da razo e do eu. O princpio supremo deve ser, por conseguinte, um Absoluto que soja ao mesmo tempo objecto e sujeito, razo e natureza; que seja a unidade, a identidade ou a Diferena de ambos. Na realidade, se Fichte recorria natureza apenas para obter o cenrio das aces morais ou para declar-la "um puro nada", Schelling recusa-se a sacrificar a realidade da natureza e com ela a da arte. A natureza, segundo Schelling, tem vida, racionalidade, e por conseguinte tem valor em si prpria. Deve ter em si um princpio autnomo que a explique em todos os seus aspectos. E este princpio deve ser idntico ao que explica o mundo da razo ou do eu, por conseguinte, a histria. O princpio nico deve ser conjuntamente sujeito e objecto, actividade racional e actividade insciente, idealidade e realidade. Tal , com efeito, o Absoluto para Schelling. Quando Hegel, levando aos seus limites a filosofia da natureza de Schelling, no v na natureza mais que uma manifestao imperfeita o provisria da razo subtraa filosofia da natureza aquilo que nela constitua o interesse de Schelling: a afirmao 64
da autonomia e da validade da natureza em si mesma. Nas mos de Hegel, a filosofia da natureza de Schelling volta-se contra o prprio Schelling. Mas como, por outro lado, a soluo hegeliana devia parecer aos olhos de Schelling consequncia inevitvel das premissas, que ele mesmo tinha reconhecido e feito valer, Schelling encontrou-se perante um beco sem sada e a sua actividade literria, iniciada de forma to brilhante, foi repentinamente truncada. No silncio, no isento de rancor, em que se encerra, Schelling vai examinando o princpio de que Hegel se serviu para chegar sua concluso, a identidade do real e do racional. Contra esta tese se dirige a ltima, fase da sua filosofia, por ele designada filosofia positiva, que obedece ao principio de que a essncia racional no alcana nunca a existncia e de que a razo, ainda que se desenvolva completamente em si prpria, no alcana nunca e em nenhum ponto a realidade positiva. Tratava-se da inverso exacta das teses de Hegel. Mas era ao mesmo tempo a representao da segunda das alternativas da filosofia romntica: aquela segundo a qual o homem e o seu saber, a natureza e a histria, so a manifestao ou a relao de Deus. 560. SCHELLING: O ABSOLUTO COMO IDENTIDADE Em 1794, logo aps a publicao do Conceito da doutrina da cincia de Fichte, Schelling publicava o escrito Sobre a possibilidade de uma forma da 65 ia em geral, no qual reconhecia no Eu infinito o princpio incondicionado de todo o saber. o incondicionado o Eu, tudo aquilo que condicionado no-eu e como o no-eu colocado pelo Eu, tudo o que condicionado determinado pelo incondicionado. Era esta, segundo Schelling, a forma absoluta de todo o saber. Em 1795, depois da publicao da Doutrina da cincia, Schelling publicava o seu segundo ensaio O eu como princpio da filosofia ou o incondicionamento no saber humano. A tese do ensaio de que o Eu absoluto deve ser pensado como Espinosa tinha pensado a sua substncia nica. O incondicionamento no pode ser objecto, no pode ser um sujeito condicionado, finito, mais deve ser um sujeito absoluto, que seja causa de si prprio. Um tal sujeito absoluto abarca toda a realidade na sua unidade e por isso o Uno - todo, de que falava Espinosa: no seu absoluto poder coincidem necessidade e liberdade. "Tornei-me espinosiano, escrevia na altura Schelling a Hegel; quer saber porqu? Porque para Espinosa o mundo tudo, para mim tudo Eu". Nas cartas filosficas sobre o dogmatismo e criticismo, Schelling acentua ainda o seu espinosismo que, nesta primeira fase do seu pensamento, constitui j uma primeira, ainda que subtil, barreira entre ele e Fichte. O problema que ele levanta neste escrito o da possibilidade da passagem do infinito ao finito, do sujeito ao objecto, ou noutros termos, da possibilidade da existncia do Mundo. o problema pode ser resolvido apenas com O reconhecimento da identidade ou unidade entre sujeito e objecto; mas esta identidade por sua vez 66
pensvel ou como objecto absoluto (coisa em si) ou como absoluto sujeito (sujeito em si). A primeira soluo d lugar ao dogmatismo (ou realismo), a segunda d lugar ao criticismo (ou idealismo). Os dois sistemas tm portanto o mesmo problema e o mesmo objectivo final, que a identidade entre sujeito e objecto. Mas enquanto o dogmatismo postula esta identidade como uma condio absoluta, o criticismo faz dela uma tarefa infinita; por isso enquanto aquele implica a ilimitada passividade do sujeito, este exige a ilimitada actvidade do mesmo. O primeiro afirma: anula-te, deixa de ser! O segundo afirma: s! (Werke, srie 1, vol. 1, p. 335). Os dois sistemas apesar de coincidirem. no reconhecimento da identidade, opem-se no da liberdade. Sobre este ponto, um nega o que o outro afirma. Estas afirmaes de Schelling esto j muito distantes das de Fichte em virtude do relevo que, quase involuntariamente, Schelling d ao objecto, ou seja, ao mundo natural. A distncia aumenta ainda nos ensaios que Schelling publicou em 1797 com o ttulo Perspectiva universal da nova literatura filosfica. Se a verdade consiste no acordo do conhecimento com o objecto, o conhecimento impossvel, diz Schelling, se o objecto uma coisa em si, a ele completamente estranho. O conhecimento possvel apenas como identidade da representao e do conceito; e por esta identidade o objecto no seno o prprio eu, ou seja, aquilo que faz e intui. Nada dado na conscincia, mas tudo se origina, e se origina no eu. A prpria matria nasce do esprito, (Werke, 1, 1, 67 p. 374). A conscincia comum v no conhecimento dois factores, o subjectivo e o objectivo, o conceito e a intuio, a representao e a coisa, que esto entre si, como a cpia e original. Mas a conscincia filosfica reconhece no prprio original, no objecto, um produto necessrio do esprito; e na cpia a repetio deste produto "O mundo infinito, afirma Schelling (1b., p. 360), no mais do que o nosso esprito criador, nas suas infinitas produes e reprodues." Segundo este ponto de vista, a natureza a histria do esprito; o qual, como auto-intuio ou autoproduo objecto e fim de si prprio. Mas a auto-intuio ou autoproduo da natureza um acto inconsciente que, por isso, surge ao prprio esprito como produto. Atravs da vida e da organizao, a natureza tende a produzir a conscincia e a liberdade. Os graus de desenvolvimento da natureza podem assim ser compreendidos apenas como criaes ou produtos do esprito. "A srie dos graus de organizao e a passagem da natureza viva revelam claramente uma fora produtiva que se desenvolve gradualmente at plena liberdade (lb., p. 387). Uma vez que inconsciente, a actividade produtiva do esprito no conhecimento mas vontade. Enquanto que o conhecimento depende da vontade, a vontade independente do conhecimento e no condicionada por ele. A vontade o princpio espiritual inconsciente de toda a produo e, por conseguinte, o fundamento da natureza e, em geral, de todas as manifestaes do esprito. Schelling julga reconhecer nela, aquele ponto fora do mundo de que Arquimedes necessi68
tava para poder erguer o mundo. "Fora do mundo" significa fora do conhecimento teortico, na conscincia pura da actividade, que o querer (1b., p. 396). Com o reconhecimento do querer como actividade inconsciente, Schelling tinha colocado o fundamento da sua filosofia da natureza. 561. SCHELLING: A FILOSOFIA DA NATUREZA Nos escritos examinados, Schelling vinha elaborando o conceito de infinito como absoluta identidade de sujeito e objecto, de esprito e de natureza. Nesta elaborao, a natureza espiritualiza-se e torna-se subjectividade ou eu: e nela Schelling segue as pisadas de Fichte. Mas, ao mesmo tempo, o esprito objectiva-se e passa a ser, no seu princpio criador ou produtivo, actividade inconsciente ou querer. Aos olhos de Schelling este segundo aspecto do Absoluto assume uma importncia que no tinha para Fichte j que Schelling no se prope, como Fichte, justificar a actividade da natureza. Os escritos posteriores levaramno a reconduzir as numerosas descobertas cientficas do tempo no campo da qumica, da electricidade, do magnetismo e da biologia, ao conceito de Absoluto como identidade e a construir, atravs de tais descobertas, uma viso nica e simples do mundo natural como realizao e revelao de um absoluto que ao mesmo tempo, natureza e esprito, actividade inconsciente e razo. As Ideias para uma filosofia da natureza (1797) partem do fenmeno da combusto no qual Lavoisier tinha descoberto (1783) um fenmeno de oxida69 o, destruindo a velha teoria logstica que se refere a uma matria especial que intervinha na produo do fenmeno. Schelling prope-se a observar qual a consequncia que a descoberta do oxignio tinha para a investigao natural e no apenas em relao qumica, mas no domnio integral da vida vegetativa e animal, qual o oxignio indispensvel (Ideen., 1, 1; Werke, 1, 11, p. 79). Unia vez que os fenmenos que acompanham a combusto so a luz e o calor, estreitamente unidos, Schelling sustenta poder reconduzi-los a um fluido elstico, que reconhece no ar, e que provvelmente o meio universal pelo qual a natureza actua sobre a matria morta. Deste modo, Schelling volta, sem reparar, a uma teoria do tipo flogstico. Mais afortunada a sua intuio da unidade da fora magntica e da fora elctrica, que no se mantm distintas entre si, mas so devidas a um princpio, reconhecendo ao mesmo tempo este princpio na fora de atraco e de repulsa dos corpos (1b., 1, 5, p. 156 e segs.). Atraco e repulsa so por eles consideradas como os princpios do sistema natural. Com efeito, todo o fenmeno, natural efeito de uma fora que como tal limitada e por isso condicionada pela aco de uma fora oposta; por conseguinte, todo o produto natural se origina numa aco e numa reaco e a natureza actua atravs da luta de foras opostas, Se estas foras se consideram j existentes nos corpos, a sua aco condicionada ou pela quantidade (massa) ou pela qualidade dos prprios corpos; no primeiro caso, as foras operam mecanicamente; no segundo, quimicamente; a atraco mecnica a 70 gravitao, a atraco qumica a afinidade (1b., p. 187). Se a luta entre as duas foras opostas considerada nas relaes do produto, so possveis trs casos: que as foras estejam em equilbrio e se faam ento corpos no-vivos; que o equilbrio surja desfeito e
seja restabelecido, e d-se ento o fenmeno qumico, que o equilbrio no surja restabelecido e que a luta das foras seja permanente e se produza ento a vida (Ib., p. 186-87). Desse modo, o mundo total e natural, desde a matria bruta aos orer surge reconduzido aco de duas mecanismos vivos, foras originrias. E estas mesmas foras so reconduzidas por Schelling aos prprios fundamentos do conhecer e, por conseguinte, da conscincia. A conscincia origina-se apenas no distinguir-se pela intuio, isto : pelo objecto intudo; e tudo o que se origina pela intuio surge ao intelecto como unidade, como um produto, que o prprio intelecto analisa e cujos factores surgem transformados em conceitos e representados como causas que actuam independentemente do intelecto e das condies subjectivas do conhecer, ou seja: como foras. Deste modo, os factores da intuio valem para o intelecto como foras fundamentais da natureza. Ora a intui"o origina-se atravs de uma actividade originria e em si ilimitada, que permanece privada de forma que no surge limitada, reflectida e repelida por uma outra actividade. A direco da primeira actividade centrfuga, a da segunda centrpeta; uma actua repulsivamente e gera o espao que tende a desenvolver-se de um ponto em todas as direces possveis, a outra atractiva e gera o 71 ponto que se desenvolve numa s direco, o tempo; uma e outra conjuntamente, geram a aco da fora que preenche o espao e o tempo. Este produto da intuio surge ao intelecto como objecto independente; e assim se origina a matria em cujos factores se apoia o intelecto constitudo por foras fundamentais de repulso e de atraco (1b., p. 213-27). Mas estas foras materiais no s esto, segundo Schelling radicadas na intuio, como tambm so, por seu lado, foras intuidoras. A prpria natureza deve ser, por outros termos, um processo de intuio e de conhecimento, e, por isso, no um puro objecto, mas um sujeito-objecto. Em todos os produtos naturais a subjectividade e a objectividade so colocadas e unificadas e os modos em que so colocadas e unificadas constituem um processo de contnuo fortalecimento atravs do qual a identidade do sujeito e do objecto se realiza de forma cada vez mais completa. Schelling conseguiu, neste ponto, ilustrar de forma bastante clara a sua doutrina do Absoluto como identidade, e conseguiu-o atravs da filosofia da natureza. O trabalho subsequente, Sobre a alma do inundo (1798), a que deu o subttulo de "hiptese da mais alta fsica para a explicao do organismo universal", destinava-se a demonstrar a continuidade do mundo orgnico e do mundo inorgnico num todo que ele prprio um organismo vivo; aquilo que segundo Schelling, os ant3gos entendiam com a expresso alma do inundo. Schelling admite que a alma do mundo constitua a unidade das duas foras opostas (atraco-repulsa) que actuam na natureza, 72 que o conflito destas foras constitua o dualismo, e a sua unificao a polaridade da natureza (Werke, 1, 11, p. 381). E avana a hiptese de que a alma do mundo se manifesta materialmente no fluido que os antigos chamavam ter, o dualismo na oposio entre a luz e o oxignio em que se divide o ter, e a polanidade na fora magntica. Mas a tese fundamental da obra a de que a natureza
um todo vivo e que toda a coisa dotada de vida. "As coisas, afirma Schelling (lb., p. 500), no so princpios do organismo, pelo contrrio, o organismo o princpio das coisas". E acrescenta: "O essencial de todas as coisas (que no so puras aparncias, antes se renem numa srie infinita de graus de individualidade) a vida; o acidental apenas a espcie de vida, e aquilo que est morto na natureza no est em si morto, apenas a vida extinta". A vida "a respirao universal da natureza". Existe uma nica vida e um nico esprito. O esprito distingue-se do esprito pelo seu princpio individualizante, a vida distingue-se da vida pelo modo do viver. A vida est para o indivduo como o universal para o particular, o positivo para o negativo. Todos os seres so idnticos no princpio positivo, distintos no negativo; e, segundo este mecanismo, se origina em toda a criao a unidade e a multiplicidade da vida (1b., p. 506-507). Estes conceitos inspiram a mais ordenada e completa exposio da filosofia da natureza de Schelling, o Primeiro projecto de um sistema da filosofia da natureza (1799). Aqui a natureza aparece explicitamente reconhecida como o incondicionado, o infinito, 73 a que pertence o ser, mas de que no se pode dizer que , porque s na manifestao singular da mesma se pode dizer que . O ser da natureza actividade e as manifestaes particulares da mesma so formas determinadas ou limitaes da sua actividade originria. O princpio e as leis que produzem tais determinaes ou limitaes surgem da investigao da prpria natureza. A natureza , por conseguinte, autnoma porque atribui a si prpria as suas leis; autrquica porque se basta a si prpria na medida em que tudo o que nela acontece pode ser explicado pelos seus prprios princpios imanentes (Werke, 1, 111, p. 17). A infinitude da natureza manifesta-se como impulso para um desenvolvimento infinito, como infinita produtividade; preciso defendermo-nos de considerar as suas aces como puros factos e, pelo contrrio, discernir na aco a prpria aco (1b., p. 13). Os pontos de paragem da infinita actividade da natureza so as qualidades originrias, que por isso so manifestaes negativas da actividade da natureza. Estas qualidades so aces de determinado grau e constituem as unidades indivisveis da natureza, unidades que, segundo um ponto de vista da mecnica atomista, surgem como tomos mas que, segundo um ponto de vista dinmico, devem ser reconhecidas como aces originrias que representam graus distintos de uma s e mesma -actividade. Os corpos naturais so combinaes destas aces; o conjunto destas aces constitui a coeso e os 'limites da mesma constituem a forma do corpo no espao; Coeso e forma so pois as duas primeiras condies dos corpos individuais: A organizao dos 74 corpos, enquanto organizao da sua forma, pressupe uma condio de informidade porque a passagem de uma forma a outra acontece sempre atravs da perda de uma forma. Ora a matria a matria fluida, por isso, todo o devir da natureza se reduz * uma luta entre o que fluido e o no fluido, entre * que est privado de forma e a forma (1b., p. 33). Todas as formas singulares so graus diversos do desenvolvimento de uma nica organizao absoluta; e esta organizao absoluta tende a realizar-se de forma cada vez mais completa atravs de uma unificao cada vez maior dos produtos e aces particulares. Todos os produtos, como graus determinados do desenvolvimento natural, so uma tentativa mal conseguida de unificao absoluta das aces naturais. Os produtos singulares (os indivduos singulares) so apenas meios, no que se refere a este objectivo para que tende intrinsecamente a natureza. "O indivduo, afirma Schelling, (1b., p. 51),
deve surgir como meio, e a espcie como fim da natureza o indivduo passa, a espcie fica a ser, verdade que os produtos singulares da natureza devam ser considerados como tentativas mal sucedidas de representar o absoluto". Por isso o momento mais alto da vida individual o acto de gerao, com o qual o indivduo se alia ao objectivo da espcie e, depois do qual, a natureza deixa de ter interesse em conserv-lo. Quanto mais elevada a organizao individual, maior a diferena dos sexos e, por conseguinte, a imperfeio dos seres individuais. Esta conexo pela qual o mundo da natureza orgnica e inorgnica constitui um todo em dever, um 75 organismo vivo que renova ao infinito, nos seus produtos individuais, a tentativa de se realizar infinitamente, acha-se perante a dificuldade de explicar a razo porque a natureza orgnica condicionada pela inorgnica. A resposta de Schelling de que a actividade orgnica no determinada necessariamente pelas condies fsicoqumicas (como defende o materialismo) nem inteiramente independente delas (como defende o vitalismo), mas antes estimulada por elas. A actividade orgnica imutabilidade, que sntese de receptividade e de actividade e, com efeito, a insensibilidade a todos os estmulos externos no seno a morte. O mundo inorgnico exterior condiciona assim a vida orgnica, mas apenas como um estmulo que suscita e limita a actividade produtiva do organismo (1b., p. 89). Por outro lado, a vida inorgnica no o verdadeiramente; segundo Schelling tambm ela prpria organizao e evoluo. A diferena entre o orgnico e o inorgnico consiste nisto: enquanto que o primeiro contm em si a prpria organizao ou a prpria forma de vida, o segundo est privado dela e faz parte de uma organizao que o compreende. Schelling aplica-se em estabelecer as leis da organizao ou evoluo do inorgnico. Os corpos da natureza inorgnica no so gerados pela reunio de elementos originariamente distintos, isto por composio, mas atravs da produo ou emanao de uma unidade originria, ou seja, por evoluo. Mas organizao e evoluo significam a mesma coisa. Deve-se por conseguinte afirmar que tambm os corpos celestes tm a sua genealogia e a 76 sua gerao; e que a gravitao, que a lei fundamental que regula a sua produo, efeito de um processo de diviso, de diferenciao pelo qual aqueles passam a constituir um sistema hierarquicamente ordenado, no qual existe uma massa central a que esto subordinadas as massas subalternas (1b., p. 106 e sgs.). Por outras palavras, a gnese dos corpos celestes fruto de um processo substancialmente anlogo gnese dos corpos vivos; e Schelling justifica-se com isso para afirmar a unidade das foras que actuam em todas as partes do mundo natural. Ora as foras universais da natureza so: o magnetismo, a electricidade e o processo qumico, e estas foras so anlogas s trs que actuam na natureza orgnica: sensibilidade, irritabilidade, reproduo. Do magnetismo universal brota a sensibilidade, do processo
elctrico a irritabilidade, do qumico a reproduo, que actividade formativa. A polaridade, definida por Schelling como "identidade na duplicidade e duplicidade na identidade", a causa do magnetismo e da sensibilidade e constitui a sua afinidade. Como tal, a origem universal e dinmica da actividade e por isso tambm "a origem da vida na natureza" (1b., p. 19). Num trabalho muito mais pequeno, Introduo ao projecto de um sistema da filosofia da natureza (1799), Schelling determina a relao entre a filosofia da natureza e a investigao experimental. Esta, por si, jamais pode atingir o valor de cincia. A natureza um a priori, no sentido de que as suas manifestaes singulares s o determinadas antecipadamente pela sua totalidade, ou seja, pela ideia de 77 uma natureza em geral (Werke, 1, IU, p. 279). "A experienciao, afirma Schelling, (1b., p. 176), uma pergunta feita natureza, qual a natureza obrigada a respondem. Mas tal no passar de dvida e de confuso se for no iluminada e orientada por uma concepo geral da natureza. Por isso s "a fsica especulativa, que a alma das verdadeiras experienciaes, foi e continua a ser a me de todas as grandes descobertas sobre a natureza" (1b., p. 280). Mas, deste modo, a filosofia da natureza tinha levado Schelling bastante longe da fichtiana doutrina da cincia sobre a qual se tinha baseado ou julgava ter-se baseado. Num trabalho de 1800, Dedues universais do processo dinmico, reivindica contra Fichte o valor autnomo da natureza. A natureza no um simples fenmeno mas uma realidade que tem o seu fundamento em si prpria e cujo desenvolvimento procede a conscincia e acondiciona (Werke, 1, IV, p. 76). Num outro escrito de 1801, Sobre o verdadeiro conceito de filosofia da natureza, Schelling afirma que a natureza como autoproduo ou autodesenvolvimento o puro sujeito-objecto e como tal surge e se manifesta na conscincia, que apenas um grau mais elevado da subjectividade-objectividade natural. "Para mim, afirma Schelling (Werke, 1, IV, p. 86), o prprio objectivo simultaneamente ideal e real; estas duas coisas no esto divididas, esto originariamente unidas tambm na natureza. O ideal-real torna-se objectivo s atravs da conscincia que por si se origina e na qual o subjectivo se eleva sua mais alta potncia". Final78 mente um trabalho de 1806, Exposio da verdadeira relao entre a filosofia da natureza e a doutrina de Fichte revista e corrigida, Schelling ataca a filosofia religiosa de Fichte na trilogia Sinais caractersticos do tempo presente, A essncia do sbio e Introduo vida feliz, trilogia que, ironicamente, designa por "inferno, purgatrio e paraso da filosofia de Fichte". Neste trabalho, Schelling censurava Fichte por considerar a natureza ou com o sentimento do mais rude e louco asceta, ou seja, como um puro nada, ou do ponto de vista puramente mecnico e utilitrio, ou seja, como um meio de que o eu se serve para realizar a sua liberdade. Fichte no procurou entender a vida dinmica da natureza e a beleza do mundo (Werke, 1, VH, p. 94, 193). E verdadeiramente sobre este ponto, a anttese entre Fichte e Schelling no podia ser mais radical, tendo-se em conta a enorme distncia entre os interesses espirituais que faziam mover um e outro. Schelling reconhecia na natureza, de forma cada vez mais clara, a realidade incondicionada, o prprio Deus. No apn. dce Introduo s ideias (1803) e mais ainda nos Aforismos (1805-07), Schelling reconhece o
carcter divino da natureza e identifica-a com Deus. Mas as ideias de Deus so tudo, por conseguinte Deus tudo, a totalidade do devir que se realiza em infinitas formas. "O Absoluto no apenas um querer em si. prprio, tambm um querer em infinitos modos, por conseguinte em todas as formas, em todos os graus e em todas as potncias da realidade. A expresso deste eterno e infinito querer o mundo" (Werke, 1, 11, p. 362). A relao entre o mundo das 79 ideias divinas e o mundo sensvel a relao entre o infinito e o finito. "A forma da objectivao do infinito no finito como forma da manifestao do em si ou da essncia, a corporeidade em geral. Na medida em que as ideias aparecem na objectivao do finito elas so necessariamente corpreas; mas na medida, e nesta relativa identidade apresentam-se, no entanto, como formas do todo, nas suas manifestaes so ideias e so corpos, e conjuntamente mundos, ou seja: corpos celestes. O sistema dos corpos celestes, ,portanto, no mais que o reino das ideias, visvel e cognoscvel pelo finito" (Werke, 1, 11, p. 187). 562. SCHELLING: A FILOSOFIA TRANSCENDENTAL O reconhecimento do valor autnomo da natureza e, por conseguinte, do Absoluto como identidade ou indiferena de natureza e esprito, leva Schelling a admitir duas direces possveis na investigao filosfica: uma, filosofia da natureza, destinada a demonstrar como a natureza se resolve no esprito, a outra, a segunda, a filosofia transcendental, destinada a demonstrar como o esprito se resolve na natureza. Uma vez que no existe uma natureza que seja puramente natureza (pura objectividade) e no existe um esprito que seja puramente esprito (pura subjectividade), assim uma investigao que se dirija apenas natureza acaba sempre por alcanar o esprito e uma investigao que se debruce sobre o esprito, alcana necessariamente a natureza. Schelling tinha-se ocupado do primeiro tipo de investi80 SCHELLING gao nos trabalhos at aqui examinados de filosofia da natureza, o segundo tipo de investigao tentado por ele na obra Sistema de idealismo transcendental publicada em 1800. Nesta obra, Schelling parte, como te, do Eu ou autoconscincia absoluta; mas reconhece rapidamente no eu unia dualidade de foras. Se o eu ao produzir (e por conseguinte ao limitar-se atravs do objecto produzido) fosse consciente de produzir, no existiria para ele um objecto que se ope porque esse objecto revelar-se-lhe-ia como sua prpria actividade. Mas o acto com que o eu produz o objecto, intuindo-o, e o acto que o torna consciente do objecto, reflectindo, so dois actos diferentes. O segundo acto encontra o objecto j produzido e por conseguinte reconhece-o como estranho a si. O primeiro acto, o da produo ou intuio, por isso inscielde. Schelling distingue no eu uma actividade real que produz o objecto e uma actividade ideal que o percebe ou conhece. Mas como a actividade real (imaginao produtiva) no ~WWVMM, a actividade ideal percebe o objecto como algo de estranho, de no colocado por si, de externo. A realidade identifica-se portanto com a produo inconsciente, a idealidade com o conhecimento do produto e com a conscincia (filosfica, no originria) do produzir. O carcter insciente da produo originria que o eu faz do objecto serve de fundamento, segundo Schelling, realidade do conhecimento. "Anularia a realidade do conhecer, afirma
ele (Werke, 1, 111, p. 408), apenas um idealismo que fizesse nascer a originria limitao livre e consciente, no ponto em que o idealismo 81 transcendental nos faz ser to pouco livres em relao s prprias limitaes quanto o prprio idealista poderia desejar". O eu sente, encontra em si algo de oposto, uma negao da sua actividade, uma real passividade. Mas no pode ter conscincia daquilo que sente, como de uma sensao que lhe prpria, seno atravs de uma sua actividade que proceda para alm do Emite constitudo pela prpria sensao. O empirismo, afirma Schelling, explica a passividade do eu, no a actividade atravs da qual ele se torna consciente de si e regressa a si prprio, referindo a si a prpria sensao exterior. Esta actividade apenas se pode explicar se, depois de ter reconhecido na prpria sensao a actividade limitada (pouco producente) do eu, se reconhece que a mesma procede idealmente para alm do limite, prprio no mesmo acto com que colocado. Deste modo, o eu real finito (porque limitado pelo objecto sentido) e o seu ideal infinito (porque procedente para alm do limite constitudo pelo objecto) se identificam constituindo um nico. Esta identificao no , no entanto, um acto imvel, mas um acontecimento que se reproduz infinitamente. "O eu como sujeito da actividade infinita dinamicamente (potencialmente) infinito; a prpria actividade, enquanto colocada como actividade do eu, passa a ser finita; mas enquanto se transforma em finita de novo alargada para alm do limite, e enquanto alargada novamente limitada e esta situao perdura indefinidamente" (1b., p. 432). Que o eu produza deste modo todas as coisas a concluso a que chega a reflexo filosfica livre82 mente conseguida, que no pertence no entanto ao acto originrio do eu: neste, a actividade inconsciente persiste mesmo quando a reflexo filosfica demonstra a total derivao das coisas do eu. O reconhecimento de uma coisa em si, estranha e oposta ao eu e como tal intervenha do exterior para limitar o eu e para determinar a passividade, pertence quela condio do eu em que ele ainda no se elevou reflexo filosfica. Para esta ltima, portanto, "a coisa em si no seno a sombra da actividade ideal, ultrapassando os limites, sombra que, mediante a intuio, reenviada ao eu, sendo por isso um produto do eu" (lb., p. 422). Mas se se considerar o eterno acontecer da realidade finita e da actividade ideal infinita, nos aspectos de produto desta actividade, verifica-se que este produto reflecte em si tanto uma como outra. O produto da actividade do eu a matria; e j vimos, atravs da exposio da filosofia da natureza, que na verdade os factores da matria, ou seja: as foras que a constituem, so os mesmos factores da intuio produtiva. Este postulado da filosofia da natureza surge agora justificado por Schelling. Tal como na actividade do eu pela qual o produto construdo - existe um aspecto que tende para o infinito, assim tambm um dos factores da matria uma fora expansiva infinita (atraco); e como a outra actividade do eu uma actividade ,limitada, que contrasta com a primeira, assim tambm existe na matria uma fora oposta negativa e inibitria (repulsa). A aco recproca destas foras explica (como se viu no pargrafo precedente) a 83
constituio de todas as foras fundamentais da natureza. Mas o que por ora Schelling pretende evidenciar o facto de a construo da matria proceder de pari passo com a construo que o eu faz de si prprio e que constitui com ela um todo. Como a matria paralela ao acto pelo qual o eu sente e intui como sensvel que se eleva inteligncia, tambm o mundo orgnico paralelo ao acto pelo qual o eu, como inteligncia, se intui a si prprio na variedade das suas manifestaes e procura integrar estas manifestaes num todo orgnico, num organismo. O mundo da organizao o produto de um acto de reflexo segunda potncia, do acto pelo qual a conscincia depois de ter reflectido sobre o objecto sentido (primeiro tempo) reflecte sobre si prpria, reconhecendo-se a si prpria na mesma organizao a que d lugar com este acto (segundo tempo). Neste segundo tempo, a inteligncia reconhece-se na mesma organizao que o seu produto, ponto mais elevado da mesma organizao. O terceiro tempo ser aquele em que a inteligncia se torna consciente da pura forma da sua actividade, separando-a, pela abstraco transcendental, de toda a matria. "Na medida em que o eu produz por si todas as coisas, e no apenas este ou aquele conceito ou forma de pensamento, mas todo o uno e indivisvel saber, existe a priori. Mas enquanto somos inscientes de tal se produzir, nada existe em ns a priori, tudo a posteriori". (lb., p. 528-29). Mas ns no podemos -tornarmo-nos conscientes de que tudo a priori se no separarmos o acto de produzir do produto. 84 Nesta separao (abstraco transcendental) desaparece todo o elemento material e no fica seno a pura forma que portanto o a priori. No entanto, o nico a priori verdadeiramente a actividade 1o consciente. " No so os conceitos, afirma Schelling, mas a nossa prpria natureza e todo o seu mecanismo que so inatos em ns. Esta natureza uma natureza determinada e opera de determinada maneira de modo completamente insciente, porque no mais que esse mesmo operar, o conceito deste operar no existe nela, porque de outro modo seria, desde a origem, algo de diferente desse operar; e se o alcana, isso acontece apenas merc de um novo acto que toma como seu objecto o primeiro" (1b., p. 529). O terceiro tempo portanto o tempo da filosofia. Ora a filosofia, que (como vimos) consiste no acto pelo qual a inteligncia se liberta de todo e qualquer objecto e se reconhece na sua pura forma, s possvel atravs da vontade. A vontade , com efeito, a autodeterminao da inteligncia, enquanto prescinde dos objectos (1b., p. 533). A vontade surge introduzida por Schelling apenas como princpio da reflexo filosfica. A mesma, todavia, exige a existncia de outros seres inteligentes. Com efeito, a autodeterminao da inteligncia, desvinculando a inteligncia de toda a limitao objectiva, passaria a ser uma actividade ilimitada (que como tal no poderia querer nada em particular) se no fosse tambm o reconhecimento de outras actividades livres, de outras inteligncias, que limitam a autodeterminao da prpria inteligncia (lb., p. 547). "Em virtude da originria auto-intuio da minha livre 85 actividade, esta livre actividade pode ser colocada apenas quantitativamente, dentro de limitaes, as
quais, uma vez que a actividade livre e consciente, so possveis apenas por obra de inteligncias existentes fora de mim; por isso eu, nas influncias das inteligncias existentes fora de mim no encontro seno os limites originrios da minha prpria individualidade, e deverei intu-la tambm como se efectivamente no existissem outras inteligncias para mim" (lb., p. 550). A existncia das outras inteligncias garante a realidade independente do mundo. "Para indivduo, as outras inteligncias so quase os eternos sustentculos do universo, outros tantos espelhos indestrutveis do mundo objectivo" (1b., p. 556). 563. SCHELLING: A HISTrIA E A ARTE O Absoluto ou Deus, como identidade ou indiferena de duas foras, uma subjectiva, espiritual ou ideal, consciente, a outra objectiva, natural e real, insciente, acha-se e manifesta-se no domnio que prprio da liberdade humana, no domnio da histria. O homem no livre enquanto se identifica com o Absoluto, que superior prpria liberdade, nem livre enquanto pura objectividade natural, porque como tal simplesmente determinado; livre apenas quando oscila entre a subjectividade e a objectividade e se reporta ao princpio absoluto de ambos. "Se reflectido sobre a actividade objectiva como tal, no eu existir apenas a necessidade natural; se reflectido sobre a actividade subjectiva, no eu existir apenas o absoluto querer que, pela sua natureza, no tem 86 por objecto seno a autodeterminao em si; mas se reflectido sobre a actividade que vai para alm de uma e de outra e que determina conjuntamente tanto a subjectiva como a objectiva, no eu existe arbtrio e com ele, a liberdade de querem (lb., p. 578-79). A liberdade humana portanto a sntese de necessidade e liberdade e o domnio em que esta sntese se manifesta e realiza o da histria. A histria para a filosofia prtica aquilo que a natureza para a filosofia, teortica. Existe nela o mesmo desenvolvimento orgnico, o mesmo incessante progresso que Schelling tinha descoberto no mundo natural: desenvolvimento orgnico e progresso que fazem da histria um plano providencial que se realiza gradualmente no tempo. A liberdade deve ser necessidade, a necessidade deve sei liberdade, afirma Schelling (1b., p. 594). Mas a necessidade que se ope liberdade no seno o inconsciente. Aquilo que em mim inconsciente, involuntrio; aquilo que em mim se relaciona com a conscincia em mim obra do meu querer. Na liberdade deve encontrar-se a necessidade; isto significa portanto que por meio da prpria liberdade e apesar de eu julgar que actuo livremente, deve surgir de forma inconsciente algo sem a minha cooperao, algo que eu no propunha a mim prprio. " Pelo jogo livre e aparentemente ordenado da vontade individual, delineia-se, progressivamente, atravs da histria, um plano ordenado e
harmnico, por obra da actividade inconsciente que, nela actua". Este eterno inconsciente que, semelhante ao eterno sol no reino dos espritos, se esconde na sua prpria luz serena, no se tor87 nando no entanto jamais objecto, imprime a sua identidade a todas as aces livres, o mesmo para todas as inteligncias, a raiz invisvel da qual todas as inteligncias so meras potncias e o eterno intermedirio entre o subjectivo, que se determina a si prprio em n s, e o objectivo ou o que intui como ainda o fundamento da conformidade com a lei na liberdade, e da liberdade na conformidade como lei prpria do objectivo (Ib., p. 600). A histria como um drama no qual todos declamam o seu papel em plena liberdade e segundo o capricho prprio e ao qual apenas o esprito do poeta d unidade no seu desenrolar. Mas o poeta da histria o Absoluto ou Deus no independente do seu drama: atravs da livre aco dos homens, ele prprio actua e se revela e assim os homens so colaboradores de toda a &ora e inventores da parte especial que declamam (1b., p. 602). Retomando nas Lies sobre o mtodo do estudo acadmico (1803) este conceito da histria, Schelling determinava-o consagrando respectivamente no Estado e na Igreja, a expresso real e ideal da harmonia perfeita da necessidade e da liberdade. No Estado perfeito o que necessrio ao mesmo tempo livre e reciprocamente; e o mesmo acontece subjectivamente ou idealmente na Igreja. A unidade do Estado e da Igreja constitui o Estado absoluto, que Schelling distingue na monarquia (Werke, 1, V, p. 314). Viu-se j como Schelling, quando quis explicar a identidade da liberdade e da necessidade na histria, recorreu imagem de Deus como poeta criador da histria. E, na realidade, para ele a poesia e, em 88 geral, a arte o nico meio que permite apreender esta identidade de sujeito e objecto, de ideal e real, de consciente e de inconsciente, de liberdade e de necessidade, que constitui o Absoluto. O artista levado sua criao por uma fora insciente que o inspira e entusiasma: fora que o impele a exprimir ou a descrever coisas que ele prprio no atinge inteiramente e cujo significado infinito (System, Werke, 1, 111, p. 617). Se a arte devida a duas actividades diferentes entre si, o gnio no nem uma nem outra, e est acima de ambas. Se se chama arte actividade consciente que na realidade apenas uma parte da actividade esttica, dever-se- reconhecer na poesia o elemento inconsciente que a outra parte essencial da mesma, aquele que no se pode obter pelo exerccio e no se pode aprender de forma alguma (Ib., p. 618). Em relao a este ltimo elemento, o carcter fundamental da obra de arte surge como uma infinidade inconsciente, sntese de natureza e liberdade. A mitologia grega, por exemplo, encerra em si um significado infinito e smbolos para todas as ideias, sem que se possa supor no povo que a criou uma inteno consciente dirigida nesse
sentido (1b., p. 619-20). O mesmo acontece com todas as obras de arte que conseguem a unificao do consciente e do inconsciente depois da sua separao, e nisso se distinguem do produto orgnico que apresenta estas duas foras ainda indivisas, antes da sua separao. O produto da natureza orgnica , por conseguinte, belo mas acidentalmente, no necessariamente; e Schelling inverte a regra artstica da imitao da natureza, afirmando que no a natureza bela 89 que oferece a regra em arte, mas vice-versa, a arte que produz na sua perfeio princpio e norma que permite a valorizao da beleza natural (1b., p. 622). A intuio esttica que actua na obra de gnio, que sempre gnio esttico ainda que se manifeste na cincia, o verdadeiro instrumento da filosofia. Trata-se de uma intuio intelectual tornada por sua vez objecto de intuio e que por isso tem uma validade universal que a intuio intelectual, prpria do filsofo, no possui. "A filosofia, ainda que atinja o seu ponto mais elevado, nunca consegue no entanto abarcar seno um fragmento do homem. Ao passo que a arte leva o homem na sua liberdade, tal como , ao conhecimento mais elevado e nisso consiste a eterna diversidade e o milagre da arte" (lb., p. 630). Com esta doutrina de Schelling, a arte passa a assumir pela primeira vez na histria da filosofia um significado universal e total. Kant tinha visto na arte uma atitude possvel do homem perante a natureza; Schiller, a forma original e suprema do homem. Schelling v nela a prpria vida do Absoluto e a raiz de toda a realidade. A exaltao romntica do valor da arte apodera-se desta ideia fundamental de Schelling que ser rapidamente retomada e desenvolvida por A. W. Schlgel. Entretanto, o prprio Schelling retomava e desenvolvia a sua doutrina num curso de Filosofia de arte dado em Jena em 1802-4, em Wrzburg em 1805 e que ficou indito. Nele, Schelling retoma e desenvolve, em forma de teoremas concatenados, o princpio de que "o universo est em Deus como abso90 luta obra de arte e como eterna beleza" (Werke, 1, V, p. 385). A arte apresenta as coisas tal como elas so em si, tal como so no absoluto as formas absolutas das coisas; e a imediata causa de toda a arte o prprio Deus. As formas das coisas que a arte descobre e nos apresenta so as ideias e estas ltimas, como imagens do divino, quando consideradas reais surgem como divindade. As ideias so o prprio Deus numa forma particular por isso toda a ideia Deus mas um Deus particular. E assim aquilo que para a filosofia so ideias, para a arte divindade, e reciprocamente (1b., 28, p. 390-91). Mas o mundo da divindade no objecto do intelecto ou da razo, mas da fantasia e constitui, na sua complexidade, a mitologia. A mitologia , por conseguinte, a condio necessria e a matria-prima de toda a arte (1b., 38, p. 405). Uma vez que o desenvolvimento csmico se cinde no domnio da natureza e no do esprito, tambm a mitologia e a
arte, que o exprimem na sua forma absoluta, se dividem numa corrente real e numa corrente ideal A mitologia realista alcana o seu mais alto cume com os Gregos, a mitologia idealista alcana a plenitude dos tempos com o cristianismo. A essncia da ~a consiste em ter interpretado de tal modo o infinito e o finito que tornou impossvel qualquer simbolizao de um por parte do outro e em ter alcanado a forma perfeita e absoluta da poesia (1b., p. 422). A essncia do cristianismo o conceito da histria do mundo como libertao do mundo, do filho de Deus como smbolo da eterna humanizao de Deus. Desta ideia brota o reino de Deus sobre 91 a terra, representado pela Igreja e simbolizado no culto. A Igreja e o seu culto surgem assim, aos olhos de Schelling, com uma "obra, de arte viva" (lb., p. 434). Tal como a mitologia, assim a arte se desenvolve numa direco real ou numa direco ideal Esse sentido realista constitudo pelas artes figurativas, o sentido idealista pela poesia. As artes figurativas so a msica, a pintura e a &stica. que compreende a arquitectura, o baixo-relevo e a escultura. A arte potica, distingue-se em lrica, pica e dramtica que comprende a comdia e a tragdia. A msica colocada entre as artes figurativas porque a sua essncia, que o ritmo, a primeira e mais pura forma do movimento do universo; e sob este aspecto Schelling v no sistema solar a expresso de todo o sistema da msica (lb., p. 503). 564. SCHELLING: A ORIENTAO RELIGIOSO-TEOSFICA Em 1801, Schelling publicava uma nova Exposio do meu sistema filosfico segundo o mtodo geomtrico de Espinosa. Nela, em lugar de partir do eu, como no Sistema do idealismo transcendental, Schelling parte da razo, definida desde o princpio (Darstellung meines Systems, 1) como "indiferenciao total entre o subjectivo e o objectivo". Esta indiferenciao surge pois esclarecida como identidade e a identidade reconhecida (Ib., 32), no como causa do universo, mas como o prprio universo. Em relao identidade absoluta que representava a infinitude autoconsciente da vida divina, os 92 fenmenos singulares constituem a diferena quantitativa entre o subjectivo e o objectivo (1b., 37). A matria a totalidade relativa, a primeira manifestao da identidade absoluta; e Schelling parte deste pressuposto para deduzir as foras singulares da matria. Em 1802 num dilogo intitulado Bruno ou o princpio divino e natural das coisas, Schelling expunha numa forma popular o seu conceito de divindade como artfice do mundo e do mundo como devir da revelao divina. O dilogo mostra j indcios do crescente interesse de Schelling pelo problema religioso, que debateu pouco depois no seu trabalho Filosofia e religio. A unidade entre a filosofia e a religio s possvel se existir um conhecimento imediato do Absoluto. Mas o conhecimento imediato do Absoluto no existe fora do Absoluto: o prprio absoluto no seu auto-objectivar-se e auto-intuir-se. Tal auto-objectivao do Absoluto o processo intemporal da sua revelao, "a verdadeira teogonia transcendental" o surgir de um mundo de ideias que a condio de todo o conhecer (Werke, 1, VI, p. 35). Mas como nasce, atravs deste mundo puramente espiritual, o mundo da matria? Se se considerar este mundo como dependente de Deus, no se far de Deus a causa das imperfeies e do mal que nele existe? (1b., p. 47).
No modo como so formadas estas perguntas se revela uma nova orientao da especulao de Schelling. At ento, ele vira na matria apenas vida, perfeio e beleza e por isso no tinha de forma alguma sentido a exigncia de separ-la da vida 93 divina, e sempre repetira a tentativa de deduzi-la da prpria natureza de Deus. Mas esta deduo declarada agora impossvel. Schelling admite que o mundo da matria seja fruto de uma queda, de um afastamento da vida divina; e refere-se explicitamente a Plato. Deus implica a possibilidade desta queda e implica-a no atravs da sua natureza absoluta, mas atravs da imagem original que lhe prpria enquanto se intui ou se objectiva, imagem que dotada, como ele prprio, de liberdade (1b., p. 39). A possibilidade da queda no significa a sua realidade, esta realidade fruto da liberdade da imagem em que Deus ao mesmo tempo se revela e se redobra, dando lugar natureza finita, ao mundo material. Por essa razo, depois do afastamento de Deus, o mundo material procura regressar e com este regresso justifica a sua queda e o seu afastamento. Deste modo, a histria se identifica com um epos representado poeticamente no esprito de Deus, a Ilada traduz o afastamento das coisas em relao a Deus, a Odisseia o seu regresso. Neste regresso reside a verdadeira imortalidade que no j uma imortalidade individual pois o indivduo como finitude por si prprio afastamento e unio; mas palingnese ou seja: dissoluo do mundo sensvel e sua resoluo total no mundo espiritual (Ib., p. 62-64). No esprito desta doutrina, que reproduz velhas especulaes da patrstica, se baseiam as Investigaes filosficas sobre a essncia da liberdade humana e dos objectos que existem conectos, publicadas por Schelling em 1809. Hegel, no prefcio Fenomeno94 logia do esprito (1807), tinha criticado rudemente o conceito schellinguiano do Absoluto como identidade ou indiferena, descobrindo nele um "abismo absoluto" em que se perdem todas as determinaes concretas da realidade, comparando-o noite "na qual todos os gatos so pardos". Em substncia, Hegel sustentava que o Absoluto de Schelling parecia privado de qualquer vida e consistncia interior e por conseguinte incapaz de valer como princpio explicativo da realidade. As Investigaes so uma resposta, ainda que parcial, de Schelling s objeces de Hegel. Schelling prope-se demonstrar nesta obra: 1 - que o Absoluto, ainda que entendido como identidade, no deixa de implicar uma articulao interior e portanto, vida e devir; 2.O-que o Absoluto assim entendido poder explicar a existncia humana como liberdade e como moralidade. Quanto ao primeiro ponto, Schelling faz suas algumas teses de Jacob Bhme ( 371). Em Deus existe no s o ser mas, com fundamento neste ser, um substracto ou natureza que distinto dele e se
traduz num desejo obscuro e inconsciente de ser, de sair da obscuridade e de alcanar a luz divina (Werke, 1, VII, p. 359). Em Deus, o ser e o fundamento, o intelecto e a vontade, esto unidos e harmonizados; no homem podem estar separados. "Se no esprito do homem, afirma Schelling, a identidade dos dois princpios fosse entretanto indissolvel como em Deus, no existiria qualquer distino e Deus, como esprito, no se revelaria. Esta mesma unidade que em Deus inseparvel, deve ser separvel no homem e da resulta a possibilidade do 95 bem e do mal" (1b., p. 364). O homem pode permanecer ligado ao querer obscuro que o individual e recusar-se a erguer a sua vontade luz do ser de Deus, tornando-a universal. esta a possibilidade do pecado e do mal. Esta possibilidade traduzida na realidade por uma solicitao ou tentao que surge no homem pelo prprio fundamento de Deus, que possui uma vontade diferente da de Deus. O querer do amor e o querer do fundamento so dois quereres diferentes e nenhum deles' existe por si; mas o querer do amor no pode contrastar com o querer do fundamento nem suprimi-lo, porque assim contrastaria consigo prprio. Com efeito, o fundamento deve actuar, para que se possa exercer o amor e deve actuar independentemente dele para que ele possa realmente existir (1b., p. 375). A prpria exigncia da revelao de Deus exige a aco independente e a aco contrastante do fundamento. Assim a possibilidade humana de pecar baseada sobre a prpria natureza de Deus, mas no no prprio Deus. E o homem decide-se pelo bem ou pelo mal no acto em que emerge, com a criao, por esta natureza. Ningum actua em conformidade com aquilo que ; mas em conformidade com aquilo que decidiu ser quando se formou no fundamento de Deus. Daqui resulta a inconscincia e a irresistvel inclinao para o mal que se manifesta em alguns homens; os quais, no entanto, so igualmente livres e responsveis pelo seu agir, em virtude da escolha que fizeram do seu ser no acto da criao. 96 Schelling coloca deste modo em Deus, como nas criaturas que dele derivam, dois princpios; e para alm e antes deles, como princpio originrio, reconhece ainda a indiferenciao de que se servira antes para definir a natureza de Deus. O princpio originrio a diferenciao entre o real e o ideal, as trevas e a luz, o inconsciente e o consciente, e na medida em que indiferenciao estranho s suas oposies e torna-as possveis (1b., p. 407). Sebelling procurou encher com uma vida concreta e articulada esse vazio da indiferenciao que Hegel lhe havia reprovado; mas s o conseguiu custa de fazer da mesma uma dualidade de princpios e de determinar essa dualidade pela oposio problemtica e puramente humana entre o bem e o mal. 565. SCHELLING: A FILOSOFIA POSITIVA As Investigaes (1809) interrompem a actividade literria de Schelling que se fecha num mutismo despeitado a partir da, assistindo ao triunfo de Hegel que identificava claramente a realidade com a razo e desenvolvia sobre este fundamento as vrias partes de um sistema organizado e completo. Schelling rompe o silncio s trs anos depois da morte de Hegel com uma publicao ocasional: um breve prefcio traduo alem dos Fragmentos filosficos de Cousin (1834). Mas j neste escrito se anuncia a nova direco tomada pela sua filosofia, a que ele chamou positiva e que expe nos cursos que permanecem inditos e dados na Universidade de Berlim.
97 Schelling jamais fora levado a identificar o real com o racional. Ainda que designando o Absoluto com o nome de eu ou de razo havia sempre includo nele uma referncia realidade, ao objecto, ao existente como tal e tinha-o sempre reconhecido como indiferenciao entre idealidade e realidade. A doutrina de Hegel surge-lhe, por conseguinte, como uma caricatura, um exagero unilateral do seu sistema. Hegel destruiu a distino entre racional e real, colocou o racional em lugar do real, reduziu tudo ao conceito, e teve a pretenso de derivar deste toda a realidade, a existncia do mundo e a de Deus. Este procedimento, segundo Schelling, impossvel. Pode-se, sem dvida, comear um sistema filosfico com um princpio puramente racional. " Mas do mesmo modo que todas as formas que se chamam a priori exprimem apenas o lado negativo do conhecimento, sem as quais o conhecimento no possvel, e no o lado positivo, aquilo porque ela surge, tambm o seu carcter de universalidade e necessidade apenas um carcter negativo; do mesmo modo, que o prius absoluto que, na sua universalidade e necessidade apenas o que no pode conceber-se, o ser em si, no seno o carcter universal negativo, sem o qual nada existe, mas no ele que faz com que qualquer coisa exista" (Werke, 1, X, p. 201 e sgs.). Esta distino entre as condies negativas sem as quais nada pode existir, e as condies positivas pelas quais qualquer coisa existe na realidade, constitui o princpio que anima os dois cursos de Schelling sobre a Filosofia da mitologia e sobre a Filo98 sofia da revelao. As condies negativas so as formas necessrias do ser e do pensamento. Se o ser (existe) no pode ser e no ser pensado seno assim: estas formas constituem uma necessidade do pensamento e exprimem aquilo sem o qual no se pode pensar; dizem respeito ao quid sit, essncia da realidade. Pelo contrrio, condio positiva, aquela pela qual o ser existe, a criao, a vontade de Deus em revelar-se e desta vontade completamente incondicionada e livre depende a existncia do que quer que seja: s ela diz respeito ao quod sit, existncia. A identidade entre pensamento e ser vale apenas em relao essncia, nunca em relao existncia (Werke, 1, 111, p. 57 e sgs.). A filosofia negativa ou racional consegue determinar as possibilidades ou potncias do ser que so trs: a primeira, puramente negativa, o simples poder ser, a segunda, positiva, o dever ser necessrio, (mssen), a terceira, que liga as duas primeiras, o dever ser obrigatrio (sollen). Schelling identifica estas trs potncias respectivamente com a causa material, a causa eficiente e a causa final de Aristteles (Werke, 11, 1, p. 286 e sgs., 317 e sgs.). O princpio que unifica estas trs potncias aquilo a que Aristteles chamou a substncia ou o fundamento, o quod quid erat esse. No mbito da prpria filosofia negatvo-racional se coloca todavia a distino entre possibilidade e realidade, entre essncia e existncia; e a realidade ou existncia surge introduzida com a considerao da razo activa autoconsciente, a que Aristteles tinha chamado nous e que Fichte chamou eu. O eu, primeiramente, quer ser seme99 lhante a Deus e rivalizar com Deus; daqui nasce o mito de Prometeu; depois, subordina-se a Deus e reconhece-se perante Deus como nada. Com este reconhecimento a filosofia racional alcana o seu
limite. Na auto-negao do eu se encontra o limite constitudo por uma realidade autntica: um Deus existente, real, pessoal, senhor do ser e acima do ser, por conseguinte, supraterreno (1b., p. 566). nesta altura impe-se a passagem da filosofia negativa filosofia positiva; mas esta passagem um trasbordamento da actividade, que deve deixar de ser teortica e especulativa para se tornar prtica e religiosa. A filosofia positiva leva a colocar-se no campo de uma religio filosfica que tem como objectivo reconhecer a religio natural, que a mitolgica e a revelada (1b., p. 571). A filosofia da mitologia e filosofia da revelao dividem entre si o terreno da filosofia positiva. A criao a progressiva revelao de Deus, mas no se identifica com a revelao no seu sentido prprio, que pressupe a conscincia humana de Deus (religio) e portanto a existncia do mundo espiritual e humano. Deus revela-se primeiramente na sua natureza e na sua necessidade, em seguida, ria sua absoluta personalidade e liberdade. A revelao da natureza de Deus acontece na religio natural ou mitologia, a revelao da absoluta personalidade e liberdade de Deus, acontece na religio revelada, na qual Deus se manifesta em toda a sua verdade. Por isso, a mitologia e a filosofia da revelao descrevem o desenvolvimento gradual atravs do qual a religio atinge de forma cada vez mais perfeita 100 a profundidade da vida divina (Werke, 1, VIII, p. 345 e sgs.). Segundo este ponto de vista, o ponto mais elevado que a filosofia pode alcanar a f porque atravs dela que alcana o repouso, e finalmente, repousa. A f no apenas o objectivo final da revelao: tambm o da filosofia da revelao; f filosfica ou religio filosfica. Assim Schelling, que tinha comeado por defender a autonomia da natureza perante o subjectivismo de Fichte, termina a sua actividade filosfica defendendo a autonomia da existncia real - tanto a de Deus como a do mundo - contra o racionalismo de Hegel. Nesta segunda posio, os pressupostos doutrinais de que tinha partido e que serviram para construir a filosofia da natureza e a filosofia transcendental so agora invertidos. O esprito que anima Schelling , nesta ltima fase da sua especulao, o que tinha animado Hamman e Jacobi, os filsofos da f. As imaginosas reconstrues da mitologia e as interpretaes bblicas e teolgicas de que se serve neste perodo, oferecem escasso interesse. O nico princpio que ainda permanece soldado e constitui a inspirao genrica das suas posies doutrinais o princpio prprio do romantismo: o reconhecimento do infinito, manifestando-se na ordem progressiva e necessria da natureza e da histria. E este princpio liga-o a Fichte e a Hegel numa s famlia. NOTA BIBLIOGRFICA 557. Sobre a vida de Schelling: X . F. A. Schellimg (filho do fil~o), Aus Schelhings Leben, In Briefen, Leipsig, 1869-70; e as monografias citadas 101 em baixo. W. Dilthey (com o pseudniino de Hoffner) em "Westernianns Monats,chefte",
1874-75. 558. SmmUiche Werke, a cargo do filho, duas srie@s: L, srie (obras editadas), 10 vols.; 11.1 Srie (obras inditas) 4 vols., Stuttgart und Augsburg, 1856 e sgs.; Werke, recolha em 3 vols., a cargo de A. Dr&ws, Leipsig, 1907. Tradu&es itlianas: Sist. do Ideal Transe. trad. Losaeco, Bari, 1908; Bruno, trad. Florenzi Waddington, Florena; Rec. Filos. sobre a Essncia da liberdade humana, trad. Losacco, Lanciano, 1910; 14 lies sobre o ~no acadmico, ;trad. Viscont, P@ernio, 1913; Exposio do meu sistema filosfico, trad. De Ferri, Bari, 1923; As artes figurativas e a natureza, trad. G. Preti, Milo. 559. K. Fischer, S.s Leben, Werke und Lehre, HeidOlberg, 1872, 3.1 ed., 1902; E. Von. Hartmann, 8.s philos. System, Leipsig, 1897; O Braun, S., Leipsig, 1911; Brffier, S., Paris, 1912; N. Hartmann, Die phi?os. des deutschen Ideal., vol. I, BerIlim, 1923, p. 123-86; KnIttermeyer, S. und die romantische Schule, Mnchen, 1929; S. Prago del Boes, A filosofia de S., Flovena, 1943; H. Zeltner, S., Stuttgart, 1954; H. FhuTmanns, 8.s Philosophie der Weltalter, Dsseldorf, 1954; K. Jaspers, S., Mnchen, 1955; E. Benz, S., Zurich-Stuttgart, 1955; A. Dempf-A Wenzel, S., M nchen, 1955; W. Wieland, S.s Lehre von der Zeit, Heidelberg, 1956; G. Semerari, Interpretao de S., I, Nples, 1958. 561 R. Kobeir, Die Grundprinzipien der Schellingschen Naturphilos., Berlim, 1881. 563. M. Adam, S.s Kunstphilos., Leipsig, 1907; G. Mehlis, S.s Geschichtephilos. in den Jahren 1799-1804, Heidelberg, 1907; A. Faggi, S. e a filosofia da arte, Modena, 1909. 565. DelbGs. De posteriore Schellingii philosophia hegelianae doctrinae adversatur, Paris, 1902; Croce, Do primeiro ao segundo S., in Crtica, 1909. 102 v HEGEL 566. HEGEL: A VIDA Georg Wilhem Friedrich HEGEl, -nasceu a 27 de Agosto de 1770 em Stuttgart. Seguiu os cursos de filosofia e de teologia da Universidade de Tubingen (1788-93), onde se ligou de amizade a Schelling e Hrderlin. Os acontecimentos da Revoluo Francesa suscitaram nele grande entusiasmo e exerceram sobre o seu pensamento uma influncia duradoura. Com os amigos de Tubingen, plantou uma rvore da liberdade e foi um dos oradores mais entusiastas na defesa dos princpios revolucionrios da liberdade e da igualdade. Quando Napoleo entrou em Jena (a 13 de Outubro de 1806), Hegel escreveu uma carta: "Vi o Imperador-essa alma do mundocavalgar atravs da cidade em misso de reconhecimento: deveras um sentimento maravilhoso con103 templar um tal indivduo que, concentrado em determinado ponto, sentado num cavalo, abarca e domina o mundo" (Werke, XIX, p. 68). E este entusiasmo no diminui quando Hegel d a sua adeso ao Estado prussiano e reconhece nele a incarnao da razo absoluta. Com efeito, comparava mais tarde a revoluo a "um nascer do sol esplendoroso, um sentimento sublime, um entusiasmo de esprito que fez estremecer o mundo de
emoo, como se s naquele momento tivesse sido conseguida a reconciliao entre o divino e o terreno" (Ib., lX, p. 441). Terminados os estudos Hegel tornou-se, como era costume, preceptor em casas particulares e permaneceu durante certo tempo em Berna (1793-96). As pginas de um dirio de viagens pelos Alpes (publicadas postumamente) revelam-no completamente insensvel ao espectculo da natureza. No encontra "nada de grande nem de pacfico" no aspecto dos picos nevados, e nas montanhas no v mais que "massas informes", onde o olhar no pode repousar pacificamente nem a imaginao encontrar objecto de interesse ou de divertimento. "O aspecto destas massas eternamente mortas, afirma, deram-me apenas uma impresso montona e, com o tempo, entediante" (Rosenkranz, H.s Leben, p. 482). Durante a sua estadia em Berna escreveu os primeiros trabalhos que permanecero inditos: uma Vida de Jesus (1795) e um ensaio Sobre a relao entre a religio racional e a religio positiva (1795-96). Depois de permanecer trs anos na Sua, Hegel voltou Alemanha e ocupou o lugar de preceptor particular 104 em Fraticoforte sobre o Meno (1797). Aqui escreveu em 1798 um pequeno trabalho que permaneceu indito Sobre as mais recentes relaes internas de Wrttenberg e no mesmo ano publicou, annima, a traduo comentada e reelaborada de um trabalho de J. J. Cart, surgido em Paris em 1793, sobre a antiga situao poltica em Berna, trabalho que uma crtica aristocracia sua e de que Hegel tinha experincia pessoal. Em 1798-99, Hegel escreve alguns trabalhos que ficaram inditos, de natureza teolgica; em 1800 o primeiro e breve esboo do seu sistema que tambm permaneceu indito. Entretanto, tendo-lhe morrido o pai, que lhe havia deixado um pequeno capital, voltou a Jena e aqui surge publicamente com a Diferena dos sistemas de filosofia de Fichte e de Schelling (1801). Ao mesmo tempo, escrevia e mantinha inditos outros escritos polticos. Em 1801 publicou a dissertao De orbitis planetarum e em 180203 colaborou com Schelling no "Jornal crtico de filosofia". Em 1805 torna-se professor em Jena e redactor-chefe de um jornal bvaro inspirado na poltica napolenica. Em 1808 nomeado director do Ginsio de Nuremberga e neste posto se mantm at 1816. Neste ano, foi nomeado professor de filosofia em Heidelberg; e em 1818 foi chamado para a Universidade de Berlim. Comeou ento o perodo do seu maior sucesso. Passa a ser o filsofo do estado prussiano e o ditador da cultura alem. Nas suas dissertaes em Berlim havia afirmado que existia uma "afinidade electiva" entre o seu sistema e o estado prussiano; por seu lado, este aceitou a aliana e no hesitou em 105 intervir energicamente, aps solicitao do prprio Hegel, para proteger contra todas as crticas a filosofia que tinha adoptado e o respectivo autor. Alm disso, Hegel no deixa de
formular o projecto de uma revista oficial que deveria levar os professores a ensinar "o saber realmente adquirido" e a defenderem-se "de uma falsa originalidade"; revista cuja comisso de redaco deveria ter a dignidade de rgo de governo (Werke, XVII, p. 383). Hegel morreu em Berlim, provvelmente de clera, a 14 de Novembro de 1831. 567. HEGEL: ESCRITOS Os escritos do perodo de juventude do a entender (como Dilthey alis salientou) um interesse dominante por questes religioso-polticas. Este interesse transforma-se nas grandes obras da maturidade num interesse histrico e poltico. A realidade que no deixa no entanto de estar continuamente presente em Hegel e em cujos confrontos ele formula as suas categorias interpretativas a da histria humana e da vida dos povos. O prprio filosofar de Hegel essencialmente histrico: procede mediante a assimilao das mais diversas doutrinas (que interpreta livremente) e mediante a incessante polmica com pensadores contemporneos (Kant, Jacobi, Schelling). Os escritos de juventude (redigidos entre 1793 e 1800) permanecero inditos e so quase todos de natureza teolgica: Religio do povo e cristianismo; 106 Vida de Jesus; A possibilidade da religio crist; O esprito do cristianismo e o seu destino. Inditos permanecero tambm um primeiro esboo do Sistema, escrito em Jena em 1800: uma Lgica e metafsica, uma Filosofia da natureza e um Sistema de moralidade. O primeiro escrito filosfico publicado por Hegel , como se disse, a Diferena dos sistemas de Filosofia de Fichte e Schelling (1801) no qual Hegel se pronuncia a favor do idealismo de Schelling que, apesar de ser subjectivo ao mesmo tempo, surge a seus olhos como o verdadeiro e absoluto idealismo. Do mesmo ano de 1801 a dissertao do concurso para professor livre, De orbitis planetarum. Com Schelling Hegel colaborou em dois anos sucessivos no "Jornal crtico da filosofia" e difcil distinguir os trabalhos que pertencem a um e a outro. So atribudos a Hegel os seguintes escritos: 1.11 Sobre a essncia da filosofia crtica em geral; 2.o Como encara a filosofia o intelecto comum; 3.o Relao do cepticismo com a filosofia; 4.o F e saber; 5.o Sobre o tratamento cientfico do direito natural. A primeira grande obra de Hegel a Fenomenologia do esprito (1807) em cujo prefcio (1806) Hegel afirmava o seu afastamento da doutrina de Schelling. Em Nuremberga, Hegel publicou a Cincia da lgica, cujas duas partes surgiram respectivamente em 1812 e em 1816. Em Heidelberg surge, em 1817, a Enciclopdia das cincias filosficas em compndio que a mais completa formulao do sistema de Hegel. Nas duas edies sucessivas de 1827 e de 1830, o prprio Hegel 107 aumentou bastante o projecto da obra; a ela os alunos que organizaram a primeira edio completa das obras de Hegel (1832-45) acrescentaram longas anotaes extradas dos apontamentos ou das lies dadas por ele.
Em Berlim, Hegel publicava a obra que, em certo sentido, a mais significativa, Traos Gerais de uma filosofia do direito ossia direito natural e cincia do estado em compndio (1821). Durante o perodo em que ensinou em Berlim, Hegel, alm desta obra, publicou bastante pouco: algumas breves recenses, o prefcio a um trabalho de um seu aluno e um artigo sobre a Reformbill inglesa (1831). Depois da sua morte os alunos recolheram, ordenaram e publicaram os seus cursos de Berlim: A filosofia da histria; A filosofia da arte; A filosofia da religio; A histria da filosofia. 568. HEGEL: A DISSOLUO DO FINITO E A IDENTIDADE ENTRE REAL E RACIONAL O tema fundamental da filosofia de Hegel, como em Fichte e em Schelling, o infinito, na sua unidade com o finito. Esta unidade, que nos escritos teolgicos da juventude surge reconhecida e celebrada na religio, nos escritos posteriores reconhecida na filosofia. Mas tanto nuns como noutros, entendida no sentido de que o infinito, como nica e exclusiva realidade das coisas, no existe para alm do finito, supera-o e anula-o em si pr108 prio. Assim se estabelece a. diferena essencial entre a doutrina de Hegel por um lado, e a de Fichte e Schelling por outro. O Eu de Fichte e o Absoluto de Schelling (ambos actividade infinita) colocam eles prprios o finito como tal e de certo modo justificam-no fazendo-o subsistir como finito; deste modo o finito, para se adequar ao infinito e unir-se a ele encontra-se projectado num progresso em direco ao infinito ( o mundo da natureza e da histria), que, como tal, jamais alcanar o seu termo. Este progresso em direco ao infinito , segundo Hegel, o falso infinito ou infinito negativo; no supera verdadeiramente o finito porque o faz continuamente ressurgir e exprime apenas a exigncia abstracta da sua superao (Enc., 94). O infinito no pode ser colocado ao lado do finito, pois nesse caso este ltimo seria obstculo e o limite do primeiro no seria verdadeiramente infinito mas finito. Aquilo que, segundo Hegel, "o conceito fundamental da filosofia", o verdadeiro infinito, deve por isso anular o finito, reconhecendo e realizando, atrs das aparncias deste, a sua prpria infinitude. "O infinito afirmativo e s o finito superado", afirma Hegel, que reconhece na idealidade, isto , na no realidade do finito 'a proposio fundamental da filosofia (lb., 95). A frmula que melhor exprime a total abolio do finito na filosofia hegeliana a que o prprio Hegel deu no prefcio Filosofia do direito: "Aquilo que racional real; e aquilo que real racional". Esta frmula no exprime a possibilidade da realidade ser atravessada ou entendida pela 109 razo, mas a necessria, total, e substancial identidade da realidade e da razo. A razo o princpio infinito autoconsciente; a identidade absoluta do finito no infinito. Por isso Hegel no leva a cabo a tentativa (que condena em Fichte) de deduzir toda a realidade dum nico princpio; pois em tal caso a prpria realidade seria de certo modo no idntica ao seu princpio racional. Nem a tentativa ( que condena em Schelling) de anular as determinaes da realidade num Absoluto indiferente. Hegel pretende conservar e garantir toda a riqueza da realidade e no reduzi-la a esquemas intelectuais pressupostos. Afirma o seu acordo com o empirismo no princpio de que aquilo que verdadeiro deve existir na
realidade e no pode reduzir-se a um puro dever ser, que consinta assumir situaes desprezveis para o que real e presente (Enc., 38). Mas a prpria realidade, na sua vida concreta , para Hegel, intrinsecamente razo; e como tal se revela ao sujeito que a investiga. Por seu lado, a razo no pura idealidade, abstraco, esquema, dever ser; aquilo que realmente e concretamente existe. Os resultados imediatos da dissoluo do finito ou identidade entre realidade e razo, so pois: 1.o o infinito no tem qualquer realidade como finito; 2.o enquanto real, o finito no tal, o prprio infinito. Atravs desta segunda proposio a realidade, tal como , surge inteiramente justificada e toda a pretenso em contrapor-lhe um dever ser cai no nada. O ser e o dever ser coincidem. . Da a tenaz oposio de Hegel a Kant. Kant ~a querido, como se viu, construir uma filosofia do finito, e anttese entre o dever ser e o ser (entre a razo e a realidade) faz parte integrante de uma tal filosofia. Para Kant, as ideias da razo so meras ideias, regras obrigacionais que dirigem a investigao cientfica para o infinito, para uma plenitude e uma sistematizao jamais alcanadas. Por outro lado, no domnio da moral, a vontade no coincide com a razo, e jamais alcana a santidade, que o termo de um progresso para o infinito, mas que na sua actualidade apenas pertena de Deus. Numa palavra, o ser jamais se adequa ao dever ser, a realidade racionalidade. Segundo Hegel, pelo contrrio, esta adequao, sempre necessria. Separar a realidade do racional significa, segundo Hegel, no ver nas ideias e nos ideais nada a no ser puras quimeras e na filosofia um sistema de fantasmas cerebrais; ou ento que as ideias e os ideais so algo demasiado excelente para ter realidade ou demasiado impotente para ser alcanado "A separao entre realidade e a ideia, diz Hegel (Enc., 6) especialmente cara ao intelecto, que assume os sonhos das suas abstraces como algo de verdico e sente-se orgulhoso pelo seu dever ser, que at no campo poltico vai predicando com satisfao: como se o mundo tivesse esperado tais ditames para aprender como deve ser e no ; mas onde estaria portanto a presuno desse dever ser, se o mundo fosse como deve ser?" A filosofia deve, por conseguinte, ocupar-se exclusivamente do ser: "nada sabe daquilo que apenas deve ser e que portanto no " (lb., 38). A razo no assim to impotente que no seja capaz de se realizar, afirma Hegel, a razo 111 a prpria realidade. "A razo a certeza da conscincia de ser toda a realidade: assim o idealismo exprime o conceito da razo" (Fen. do esprito, C V, 3). O dever ser, e o finito que com ele est intimamente ligado (Cincia d. Lg. trad. ital., I, p. 138 e segs.), acabam por cair fora do mbito da filosofia. Todas as obras de Hegel esto eivadas de observaes cheias de ironia e de escrnio a propsito do dever ser que no , do ideal que no real, da razo que se supe impotente para se realizar no mundo. "Entender aquilo que , tal o objectivo da filosofia, pois aquilo que , a razo", afirma Hegel na Filosofia do direito (Werke, VIII, p. 19). Para dizer como deve ser o mundo, a filosofia chega sempre tarde de mais; surge quando a realidade j completou o seu processo de formao e est j criada. Ela como o morcego de Minerva que inicia o seu voo ao anoitecer Qb., p. 21). E isto vale para toda a realidade, seja para a Natureza seja para o Estado. Se em relao natureza se admite que ela racional em si e que o saber deve procurar e compreender a razo presente na natureza real, o mesmo se deve admitir
para o mundo tico, isto , para o Estado. A verdade deixa de ser um problema (Ib.,). A filosofia deve portanto "manter-se em paz com a realidade", e renunciar pretenso absurda de determin-la e gui-la. Deve apenas integrar na forma de pensamento, elaborar em conceitos, o contedo real que a experincia lhe oferece, demonstrando atravs da reflexo a sua intrnseca racionalidade (Enc., 12). 112 Estes esclarecimentos esboam as caractersticas essenciais da filosofia e da personalidade de Hegel. O nico objectivo que Hegel entendeu atribuir filosofia (e pretendeu levar a cabo com a sua filosofia) foi o da justificao racional da realidade, da presencialidade, do facto, qualquer que seja. Este objectivo confronta-o Hegel com mais energia precisamente quando ele corre o risco de confinar-se com o cinismo: nos confrontos da realidade poltica, do Estado. "Sobre o direito, sobre a tica e sobre o Estado, a verdade tanto mais antiga quanto surge enunciada e reconhecida publicamente nas leis pblicas, na moral pblica e na religio pblica. De que mais necessita esta verdade, na medida em que o esprito pensante no capaz de possu-la de forma imediata, seno que a entendam conquistando-se a forma racional para o contedo j racional em si prprio, a fim de que este surja justificado pelo pensamento livre? Qi1. d. dir., p. 6). O objectivo do direito , por outras palavras, a simples justificao racional da realidade poltica em acto e a transformao em conceitos filosficos dessa racionalidade que j se realizou nas instituies vigentes. Tal a posio de Hegel perante a realidade poltica, como perante outra qualquer realidade. Nesta posio se concretiza a dissoluo do finito no infinito que o alfa e o mega da sua filosofia. "O finito apenas isto, afirma Hegel (Cien. d. lg., I, p. 147): tornar-se ele prprio infinito pela sua natureza. A infinitude o seu fim afirmativo, aquilo que ele verdadeiramente em si. Assim o finito se dissolve no infinito, e aquilo que , apenas o infinito". 113 569. HEGEL: A DIALCTICA Uma razo que a prpria realidade, que algumas vezes se acha alienada e estranha a si prpria e que portanto tem o objectivo, na filosofia, de reconhecer-se a si prpria e de unificar-se consigo prpria para alm de qualquer afastamento ou alienao, o tema fundamental da filosofia de Hegel. Precisamente neste sentido a razo designada por Hegel como Autoconscincia ou Ideia. Uma tal razo , obviamente, considerada sob o signo da necessidade. Se toda a coisa que , razo, toda a coisa necessariamente aquilo que ; e no pode ser entendida ou conhecida seno integrada nessa mesma necessidade. O saber portanto saber necessrio e do necessrio; e como tal cincia. Da a oposio de Hegel a toda a filosofia da f ou do sentimento, como a de Jacobi ou dos outros romnticos. Hegel partilha com estes o princpio da identidade do finito e do infinito; mas nega que a tal identidade possa ser dada a forma de intuio imediata ou sentimental: deve ser antes demonstrada na sua necessidade, deve ser por isso uma cincia. E como cincia dialctica. A dialctica no para Hegel apenas o mtodo do saber; nem apenas a lei do
desenvolvimento da realidade: uma e outra coisa ao mesmo tempo. , em primeiro lugar, o processo mediante o qual a razo se reconhece na realidade que surge como estranha ou oposta razo, suprimindo ou conciliando essa oposio; mas ainda o processo mediante o qual a realidade se concilia consigo prpria 114 e age na sua unidade racional, superando as diferenas, as divises, as oposies que constituem os aspectos particulares e apaziguando-se na unidade do Todo. Hegel faz derivar sem dvida de Fichte o conceito da dialctica como "sntese dos opostos" estabelecido na Doutrina da cincia de 1794. Mas desde os seus primeiros escritos que surge evidente a exigncia de um processo conciliador e sinttico, no qual as divises ou as oposies da realidade apaream ao mesmo tempo justificadas como tais e superadas na unidade de uma sntese. A superioridade do amor e da religio justificada nestes trabalhos pela capacidade que ambos tm de unificar o que est dividido, apesar de, de qualquer modo se conservar a variedade e a riqueza da diviso. Mais tarde, a partir do ensaio sobre a Diferena dos sistemas de filosofia de Fichte e de Schelling,,..o objectivo de justificar a variedade e a oposio e de concili-las atribudo filosofia; e da razo filosfica, que possui tal objectivo, se distingue o intelecto como faculdade que, ao contrrio, se mantm fechado s diferenas e s oposies inconciliadas.'"A filosofia, diz ainda Hegel, enquanto constitui a totalidade do saber originada pela reflexo, passa a ser um sistema, um conjunto orgnico de conceitos, cuja lei suprema , no o intelecto, mas a razo. O intelecto deve apresentar de forma correcta os opostos a que d lugar, o limite, o fundamento e a condio de todos os opostos; pelo contrrio a razo rene estes elementos em contradio, considera-os a ambos conjuntamente e resolve-os conjuntamente. (Erste Drukschriften, editor Lasson, p. 25-26). 115 Este ponto de vista mantm-se firme durante todo o desenvolvimento da filosofia de Hegel. Na Enciclopdia Hegel contrape ao conceito aristotlico-escolstico de dialctica, aceite por Kant, como "uma arte extrnseca que mediante o arbtrio leva confuso entre conceitos determinados e introduz neles uma simples aparncia de contradio", o seu conceito de dialctica como uma sntese necessria e racional de oposies simples e autnticas. "A dialctica, segundo ele, esta resoluo imanente, na qual a unilateralidade e a limitao das determinaes intelectuais se exprime como aquilo que , ou seja, como sua negao. Todo o finito consiste nisto, que se suprime a si prprio. O momento dialctico constitui, por conseguinte, a alma motriz do progresso cientfico e o princpio pelo qual s so introduzidas no contedo da cincia as conexes imanentes e a necessidade; nisso consiste a verdadeira, e no extrnseca, construo sobre o finito" (Encic. 8 1). A dialctica para Hegel a lei do mundo e da razo que o domina. Ela a transcrio filosfica do conceito religioso de providncia. Tem como objectivo o de unificar o mltiplo, conciliar as oposies, pacificar os conflitos, reduzir as coisas ordem e perfeio do todo. Multiplicidade, oposio, conflitos, so sem dvida reais, segundo Hegel, como formas ou aspectos da alienao em que a razo acaba por se encontrar perante si prpria; mas por isso, so apenas reais como instrumentos de passagem, formas de mediao do processo atravs do qual a razo se constitui na sua unidade 116 e identidade consigo prpria, como Autoconscincia absoluta. Portanto, a dialctica, tal
como a providncia, justifica tudo: a particularidade, a acidentalidade, a imperfeio, o mal, a doena, a morte, porque tudo acaba por se resolver na perfeio da Autoconscincia pacificada e feliz. Mas diferentemente do conceito religioso de providncia, para o qual esta justificao se mantm geral e abstracta no podendo descer ao pormenor das determinaes particulares, a dialctica tem a pretenso de efectivar os pormenores desta justificao de modo tal que nada deve permanecer fora dela e de demonstrar a forma precisa da sua realizao. 570. HEGEL: A FORMAO DO SISTEMA Os escritos de juventude de Hegel compreendem a sua produo literria entre 1793 e 1800, produo que deixou indita e cuja importncia para compreender a personalidade do filsofo s foi apreciada e esclarecida h muito pouco tempo. Estes trabalhos so de contedo teolgico ou poltico e revelam, com grande clareza, a natureza dos interesses que desde o incio dominaram a actividade filosfica de Hegel. O primeiro problema que neles se debate o da possibilidade de transio da originria religiosidade crist para uma religio do povo que seja a base de uma cultura religiosa e moral em vias de progresso. J nos fragmentos que pertencem ao perodo de Tubingen, Hegel se mostra insatisfeito com a oposio que o iluminismo tinha estabelecido 117 entre a f eclesistica e a religio racional. Hegel preocupa-se em estabelecer uma continuidade no desenvolvimento religioso da humanidade, que vai do fetichismo at religio racional; e v o estdio preparatrio desta ltima na religio do povo, que baseada no amor. Uma religio baseada no amor est com efeito em condies de constituir o fundamento de uma vida moral que permita a unidade de um povo; e por isso "a alma do Estado". O seu escrito seguinte, A Vida de Jesus, um contributo posterior para a determinao dessa religio do povo. A doutrina de Cristo surge identificada com a religio racional de Kant e os factos da vida de Cristo aparecem interpretados como a luta entre a religio racional, por uni lado, as crenas eclesisticas e o cerimonial farisaico por outro. No ensaio Sobre a religio racional como religio positiva, Hegel detm-se na forma como a religio de Cristo desembocou numa f positiva e histrica baseada na autoridade. A sua resposta a de que esta transformao aconteceu devido a exigncias prticas e polticas, que reconduziram o ensinamento de Cristo s formas do cerimonial e da vida nacional dos Judeus. Outros fragmentos sobre a religio do povo mostram a constante preocupao de Hegel neste perodo: fazer da religio racional, que se constitua pela primeira vez na doutrina de Cristo, uma religio do povo que seja o fundamento da vida poltica, sem que por isso recaia na religiosidade exterior da f eclesistica. Com a estadia em Francoforte (1797), o pensamento de Hegel orienta-se de forma mais ntida para 118 o pantesmo, sobretudo devido influncia que sobre ele exerceram os trabalhos de Fichte e de Schelling. Nos fragmentos deste perodo surge o que dever ser o tema de toda a filosofia, hegeliana: a unidade de Deus e do homem. Esta unidade est expressa no cristianismo atravs do amor. O amor a prpria vida de Deus no homem e na comunidade humana. O amor unifica Deus e o homem e unifica os homens na verdadeira igreja de Deus. A unidade do divino e do humano no se verificou uma vez s na pessoa de Jesus, verifica-se
no esprito humano sempre que ele assume a religio de Jesus, a religio do amor. Hegel obtm nestes fragmentos uma frmula que para ele ser definitiva: a religio a prpria unidade do esprito divino e do esprito humano. "Como poder reconhecer o Esprito o que no esprito? A relao de um esprito com um outro esprito um sentimento de harmonia e de unidade; como podero os heterogneos unificar-se? A f no divino s possvel na medida em que o prprio crente divino, encontrando-se a si prprio e a sua prpria natureza naquilo que cr, mesmo que no tenha conscincia de ter encontrado a sua prpria natureza". Hegel, no entanto, sustenta que esta unidade, real na forma do sentimento, no exprimvel na linguagem da reflexo. A linguagem objectiva da sensibilidade e do intelecto diferente da prpria vida: " Aquilo que no reino da morte contradio, no o no reino da vida". Num escrito sobre o Destino de Jesus deparamos com uma outra caracterstica fundamental da especulao de Hegel: a exigncia em unificar o ideal e o real portanto 119 a tendncia para considerar como "vazia" toda a idealidade que no se transforme em realidade. O destino de Jesus foi, segundo Hegel, o de separar a sua predicao do reino de Deus do destino do seu povo, da sua nao e do mundo, e portanto o de "encontrar no vazio a liberdade" de que andava procura. A existncia de Deus foi assim, em parte, a realizao do divino na luta pelo reino de Deus e em parte, a fuga do mundo em direco ao cu, ou seja, em direco a uma idealidade vazia e irreal. A exigncia de que o ideal no permanea como tal mas adquira o poder de realizar-se e passar a ser uma realidade actual, a que anima ainda os dois escritos polticos de Hegel sobre a Constituio de Wurttenberg e sobre a Constituio da Alemanha. Essa vida melhor de que os homens se serviram para conceberem o ideal deve tomar-se a partir de agora, segundo Hegel, uma realidade viva. O mundo interior deve produzir uma ordem jurdica externa, na qual se transforme em "universalidade dotada de fora". Nestes escritos polticos, como nos fragmentos que contm o primeiro esboo do sistema de Hegel (Systemfragment), o carcter fundamental da realidade reconhecido no conceito de vida. Vida aquilo que mais tarde Hegel vir a chamar Ideia; o ideal que se manifestou e actuou na realidade, a unidade que se realizou no mltiplo sem se dispersar e sem se dividir. A vida o infinito, o prprio Deus, a totalidade que tudo compreende. Ela mais que o esprito, que apenas a lei viva e imobilizada da unificao do mltiplo. mais que a natureza, que vida fixa e imobilizada pela reflexo. No 120 pode ser apreendida pelo pensamento pois este permanece marcado pela oposio entre sujeito e objecto, oposio que se mantm aqum da vida, enquanto absoluta unidade. A resoluo da vida finita do homem na vida infinita de Deus s pode ser efectuada pela religio. "A filosofia deve acabar com a religio porque ela o pensar e assume a oposio, por um lado, do no pensar, por outro, entre o pensante e o pensado; e tem por objectivo demonstrar em todo o finito a finitude e de alcanar um remate final atravs da razo, reconhecendo especialmente, atravs do infinito da sua competncia, os enganos, colocando assim o verdadeiro infinito para l da sua esfera". Este reconhecimento da superioridade da religio, que aproxima o pensamento do Hegel da juventude do de Schleiermacher ( 543), conclui, de forma caracterstica, o perodo de formao da filosofia hegeliana. Na religio, Hegel reconheceu a unidade do finito e do infinito e o princpio de realizao dessa unidade na vida associada.
No entanto, quando sobe ribalta com o seu primeiro trabalho, Diferena entre os sistemas de Fichte e de Schelling (1801), Hegel est convencido de que no a religio mas a filosofia o que deve ser e a expresso mais elevada do absoluto. " preciso que surja, segundo ele (Werke, 1. ed. Lasson, p. 34), a necessidade de se conseguir uma totalidade do saber, um sistema da cincia. S quando existir um tal pacto, a multiplicidade das relaes se pode libertar da acidentalidade, conseguindo o seu lugar no conjunto da totalidade objectiva do saber e atingindo a sua plenitude objectiva. O filosofar que 121 no se constitui em sistema uma contnua fuga s limitaes, mais uma luta da razo pela liberdade do que um puro autoconhecimento da mesma, um autoconhecimento que se tenha tornado seguro de si e esclarecido em torno de si prprio. A razo livre e o seu facto so uma nica coisa, e a sua actividade o seu puro representar-se". A exigncia de uma cincia absoluta que seja autoconhecimento da razo absoluta, isto , da realidade infinita, aqui colocada de forma ntida, precisamente no incio da actividade pblica e filosfica de Hegel. 571. HEGEL: A FENOMENOLOGIA DO ESPIRITO O princpio da dissoluo do finito no infinito ou da identidade entre racional e real foi ilustrado por Hegel por duas formas diferentes. Em primeiro lugar, Hegel empenhou-se em ilustrar a via a seguir pela conscincia humana para alcanar tal princpio; ou, o que o mesmo, a via que o referido princpio dever percorrer, atravs da conscincia humana, para se alcanar a si prprio. Em segundo lugar, Hegel ilustrou o princpio que surge em acto em todas as determinaes fundamentais da realidade. A primeira ilustrao a que Hegel nos oferece na Fenomenologia do esprito; a segunda a que nos oferece na Enciclopdia da cincia filosfica e nas obras que desenvolvem as vrias partes daquela (Cincia da Lgica, Filosofia da Arte, Filosofia da Religio, Filosofia do Direito, Filosofia da Histria). ev122 dente que a via que o esprito infinito dever seguir, para se reconhecer na sua infinitude atravs de manifestaes finitas, tambm faz parte da realidade, e, portanto, a fenomenologia do esprito deve representar-se como parte do sistema geral da realidade da filosofia do esprito. E como tal representada por Hegel na Enciclopdia. No entanto no deixa de ser evidente que, como parte da filosofia do esprito, a fenomenologia no j a mesma coisa; e isto porque se trata de um conjunto de determinaes imutveis, de categorias absolutas, nas quais o carcter dramtico da primeira ilustrao acabou por se perder. A filosofia do esprito encontra j o espirito pacificado consigo prprio na srie dos seus desenvolvimentos necessrios; a fenomenologia do esprito apresenta o esprito na sua luta dramtica para alcanar-se e conquistar-se na sua infinitude, e por conseguinte descreve tambm os seus erros e os seus contrastes. A confuso que o prprio Hegel provocou, ao incluir a fenomenologia do esprito como uma seco da filosofia do esprito, surge inesperadamente eliminada se tivermos em conta a inteno explcita de Hegel na Fenomenologia do esprito. Os factos do esprito nesta obra so os factos do princpio hegeliano do infinito nas suas primeiras aparies e indcios, nas manifestaes mais dispares da vida humana, no seu progressivo afirmar-se e desenvolver-se.
Com efeito, a Fenomenologia a histria romanceada da conscincia que, atravs de desaires, contrastes, cises, e por conseguinte, infelicidade e dor, se ergue da sua individualidade, para alcanar a 123 universalidade e reconhecer-se como razo que realidade e realidade que razo. Por isso o ciclo integral da fenomenologia pode ver-se resumido numa das suas figuras particulares que se tornou a mais popular: a da conscincia infeliz. A conscincia infeliz aquela que no consegue ser a realidade total e por conseguinte se encontra cindida em diferenas, oposies ou conflitos pelos quais internamente dilacerada e dos quais consegue sair quando alcana a conscincia do ser na sua totalidade, ou seja: a autoconscincia e a justificao absoluta da prpria totalidade interna. A fenomenologia tem portanto um objectivo protrptico e pedaggico. "O particular, afirma Hegel, (Fenomenologia, Pref., 28), deve tornar a percorrer os graus de formao do esprito universal, segundo o contedo, mas tambm como figuras do esprito j depostas, como graus de uma via j traada e nivelada. Tambm ns, observando como, no campo cognoscitivo, o que numa precedente poca mantinha precavido o esprito dos adultos passou agora a cognio, a exercitao e at a divertimento de rapazes, podemos reconhecer no progresso pedaggico, em projeco, a histria da civilizao. Tal existncia passada propriedade adquirida do esprito universal; propriedade que constitui a substncia do indivduo e que, surgindo-lhe exteriormente, constitui a sua natureza inorgnica. Encarada segundo este ngulo do indivduo, a cultura consiste na conquista daquilo que se acha sua frente, consiste em consumar a sua natureza inorgnica e em apropriar-se dela. Mas ela pode ser tambm considerada 124 segundo o ngulo do esprito universal, enquanto substncia; em tal caso, d-se a prpria autoconscincia que produz em si o prprio devir e a prpria reflexo". A fenomenologia portanto o Protreptikem de Hegel. Como no existe outra forma de se chegar filosofia como cincia a no ser atravs do devir, a fenomenologia, como devir da filosofia, prepara e introduz o singular na filosofia: tende a fazer com que aquele se reconhea e resolva no esprito universal. O ponto de partida da fenomenologia a certeza sensvel. Esta surge primeira vista como a certeza mais rica e mais segura; na realidade, a mais pobre. Apenas torna certa uma coisa individual, esta coisa, que pode ser um albergue, uma casa, etc., de que estamos certos, no enquanto albergue ou casa, mas na medida em que se trata deste albergue ou desta casa, ou seja: na medida em que esto presentes aqui e agora perante ns. Isto implica que a certeza sensvel no certeza da coisa particular, mas do este, a que a particularidade da coisa indiferente e por conseguinte um universal (um genrico este). Ora o este no depende da coisa mas do eu que a considera. Por isso, no fundo, a certeza sensvel no seno a certeza de um eu ainda que ele prprio universal, uma vez que tambm ele no seno este ou aquele eu, um eu em geral.
Se da certeza sensvel passarmos percepo verificamos o mesmo reenvio ao eu universal: um objecto no pode ser percebido como uno, na multiplicidade das suas qualidades (por exemplo branco, 125 cbico, saboroso), se o eu no assumir em si uma tal unidade, se no reconhecer que a unidade do objecto por ele prprio estabelecida. Se, finalmente, se passar da percepo ao intelecto, este reconhecer no objecto apenas uma fora que actua segundo uma lei determinada. levado por isso a ver no prprio objecto um simples fenmeno, a que se contrape a verdadeira essncia do objecto, que ultrasensvel. Uma vez que o fenmeno existe apenas na conscincia e aquilo que existe para l do fenmeno ou nada ou alguma coisa para a conscincia, nesta fase a conscincia integra todo o objecto dentro de si prpria e torna-se conscincia de si, autoconscincia. Os graus da conscincia-certeza sensvel, percepo, intelecto-so dileguati na autoconscincia. Mas, por sua vez, a autoconscincia, na medida em que considerada como objecto, ou seja: como algo alm de si, cinde-se em autoconscincias diversas e independentes; e daqui nasce a histria da autoconscincia do mundo humano. A primeira figura que ento surge a de senhor e escravo, prpria do mundo antigo. As autoconscincias diversas devem enfrentar a luta, porque s assim conseguem alcanar o pleno conhecimento do seu prprio ser. A luta implica um risco de vida e de morte; porm no se resolve com a morte das autoconscincias contendentes, mas sim com o subordinarse de uma outra nas relaes senhor-escravo. Nesta relao, a autoconscincia vencedora coloca-se como liberdade de iniciativa perante o escravo, que est ligado ao trabalho e matria. Isso acontece 126 at o servo alcanar ele prprio a conscincia da sua dignidade e independncia; ento o senhor sucumbe e a responsabilidade da histria mantm-se submetida conscincia servil. O estoicismo e o cepticismo representam os ulteriores movimentos de libertao da autoconscincia. Mas no estoicismo, a conscincia que pretende libertar-se do vnculo da natureza, desprezando-o, apenas consegue uma liberdade abstracta, uma vez que o vnculo permanece na medida em que a realidade da natureza no negada. O cepticismo nega esta realidade e coloca a realidade na prpria conscincia. Mas esta conscincia ainda a conscincia individual, que est em contradio com as outras conscincias individuais, negando o que elas afirmam afirmando o que elas negam. Assim, a autoconscincia (que em si uma) est em contradio consigo prpria; e atravs desta contradio, d lugar a uma nova figura, que a da conscincia infeliz. A conscincia infeliz interpreta a contradio como compresena de duas conscincias, uma imutvel, que a divina, a outra mutvel, que a humana. esta precisamente, a situao da conscincia religiosa medieval; a qual, mais que pensamento, devoo, isto : subordinao ou independncia da conscincia individual da conscincia divina, da qual a primeira reconhece receber todas as coisas como um dom gratuito. Esta conscincia devota culmina com o ascetismo, no qual a conscincia reconhece a infelicidade e a misria da carne e tende a libertar-se unindo-se com o intransmutvel (ou seja, com Deus). Mas, atravs desta unio, a conscincia reconhece ser
127 ela prpria a conscincia absoluta. E com este reconhecimento comea o ciclo do sujeito absoluto. Como sujeito absoluto a autoconscincia passa a ser razo e assume em si toda a realidade. Enquanto que nos momentos anteriores a realidade do mundo lhe surgia como algo de diferente e de oposto (como a negao de si), agora, pelo contrrio, pode suport-la: porque sabe que nenhuma realidade diferente de si. "A razo, afirma Hegel, a certeza de ser toda a realidade". No entanto, esta certeza para se tornar verdade tem de justificarse; e a primeira tentativa para justificar-se traduz-se num "procurar inquieto", que se dirige, a principio, ao mundo da natureza. esta a fase do naturalismo do Renascimento e do empirismo. Nesta fase, a conscincia julga aproximar-se da essncia das coisas, mas na verdade limita-se a aproximar-se de si prpria; e isso deriva de no ter feito ainda da razo o objecto da prpria procura. Assim se determina a observao da natureza que, partindo da simples descrio, se aprofunda com a pesquisa da lei e com a experimentao, que se transfere em seguida para o domnio do mundo orgnico, para passar por fim ao da conscincia com a psicologia. Hegel examina demoradamente, a este propsito, duas chamadas cincias que estavam em moda no seu tempo: a fisiognmica de J. K. Lavater (1741-1801) que tinha a pretenso de determinar o carcter do indivduo atravs dos traos da sua fisionomia e a frenologia de F. J. Gall (1758-1828) que pretendia conhecer o carcter pela forma e pelas protuberncias do crneo. Em todas estas pesquisas, a razo, ainda que procurando apa128 HEGEL rentemente outra coisa, na realidade procura-se a si prpria: procura reconhecer-se na realidade objectiva que tem sua frente. As deambulaes da razo chegam a seu termo quando alcana esse mesmo reconhecimento; e isso acontece na fase da tica. Hegel entende por tica a razo que se tomou consciente de si, na medida em que se realiza nas instituies histrico-polticas de um povo e sobretudo no Estado. O eticismo diferente da moralidade que contrape o dever ser (lei ou imperativo racional) ao ser, realidade, e tem a pretenso de reconduzir o real ao ideal. O eticismo a moralidade (ou seja, a razo) que se realiza em formas histricas e concretas e que , por conseguinte, substancial e plenamente, razo real ou realidade racional. Mas antes de alcanar o eticismo, a autoconscincia errante lana-se noutras aventuras. Desiludida da cincia e da investigao naturalista, tal como o Fausto de Goethe, entra decididamente na vida procura do prazer. "As sombras da cincia, das leis, dos princpios, que esto entre ela e a sua efectivao, desmoronam-se como nvoa inerte que no consegue sustentar a autoconscincia com a certeza da sua realidade. A autoconscincia colhe a vida como se colhe um fruto maduro" (Fen., V, B, a). Mas na procura do prazer, a autoconscincia encontra um destino estranho que a altera inexoravelmente. Procura ento apropriar-se desse destino apreendendo-o como uma lei do corao (e Hegel alude aqui aos romnticos). Mas a lei do corao colide com a lei de todos, que lhe surge como uma potncia supe129 rior e inimiga. Por isso procura vencer essa potncia com a virtude; e assim constitui uma terceira figura. Mas o contraste entre a virtude, que o bem abstractamente desejado pelo indivduo, e o movimento do mundo, que o bem realizado e concreto, no pode
conseguir-se seno pela derrota da prpria virtude. "O curso do mundo consegue uma vitria sobre aquilo que, em contraposio consigo, constitui a virtude ... ; mas esse triunfo no diz respeito a algo de real ... ; o seu triunfo recai sobre o pomposo discorrer do bem supremo da humanidade e da opresso desta, sobre o pomposo discorrer do sacrifcio pelo bem e pelo abuso dos bens... O indivduo que d a entender que age por to nobres objectivos e tem na boca frases to bombsticas, vale perante si como essncia excelente, mas, na verdade, tudo isso no passa de vaidade que lhe sobe cabea e cabea dos outros, enchendo-a de vento (1b., V., B, c). Por isso o movimento do mundo acaba por ter sempre razo; e o esforo da pessoa moral, na qual Kant colocava o ponto mais alto da dignidade humana, surge para Hegel vazio de sentido. conscincia nada mais resta que libertar-se definitivamente da individualidade, por quem, nesta figura, ainda dominada e oprimida. O primeiro passo o da aco atravs da qual a individualidade d lugar a uma obra que, de repente, lhe surge como exterior e se integra no crculo das relaes recprocas entre as diversas individualidades. A obra ou o objectivo do indivduo no depende, quanto aos resultados, do prprio indivduo; mantm-se, sim, na conscin130 cia da prpria honestidade, que lhe garante ter querido tal objectivo. Uma vez ainda no indivduo que se furta realidade, se descobre a presencialidade do seu ser. E esta realidade e presencialidade s as pode alcanar por meio do eticismo no qual a razo legisladora e examinadora das leis (que ainda pretender opor-se realidade destas leis) encontra a sua correco e a sua completa realizao. "A inteligente e essencial prtica do bem, afirma Hegel, (Fen., V, C, c) , na sua mais rica e importante figura, o inteligente e universal actuar do Estado actuar esse perante o qual o actuar do individual como individual surge como algo de mesquinho de que praticamente nem vale a pena falar. Esse actuar tem tanta fora que se o actuar individual quisesse opor-se-lhe e quisesse afirmar-se unicamente por si como causa ou enganar por amor de outrem o universal no que diz respeito ao direito e ao lugar que nele tem, este actuar individual seria de todo intil e acabaria por ser irredutivelmente destrudo". As leis ticas mais indubitveis: "dizer a verdade", "amar o prximo" no tm significado se no se conhecer o justo modo de as realizar. Mas no est nas mos do indivduo determinar este justo modo, ele existe j determinado na prpria substncia da vida associativa, no costume, nas instituies e no Estado. S com o reconhecer-se e colocar-se no Estado, a autoconscincia abandona, com a individualidade, todas as cises internas, toda a infelicidade e alcana a paz e a segurana de si prpria. E assim, os factos romanceados da autoconscincia chegam a seu termo; o ciclo da fenomenologia 131 est completo. Hegel acrescentou ainda sua obra trs seces (o esprito, a religio, o saber absoluto) que antecipam o contedo da filosofia do esprito e, em parte, da filosofia da histria. Mas este acrscimo (como ficou esclarecido em estudos recentes) foi-lhe sugerido por meras razes editoriais que constituem uma irnica intromisso do acidental e do contingente num domnio que, segundo Hegel, o da pura necessidade. O objectivo protrptico da obra foi no entanto atingido: as figuraes da autoconscincia contraditria e infeliz na sua individualidade, esto completas. A autoconscincia est, a partir de ento,
apta a considerar-se a si prpria no nas suas figuras errantes, mas nas suas determinaes imutveis e necessrias, nas suas categorias. 572. HEGEL: A lgica A diferena capital entre a Fenomenologia do esprito e as cincias da Enciclopdia pode facilmente ser determinada atravs desta mudana de terminologia: a primeira diz respeito s figuras, as outras dizem respeito aos conceitos ou categorias. Uma figura uma situao histrica ou espiritual, ou mesmo simplesmente fantstica ou potica, que constitui um acontecimento do processo atravs do qual a autoconscincia infinita alcana o reconhecimento de si prpria. Um conceito ou uma categoria um momento necessrio da realizao da conscincia infinita. Se a fenomenologia que considera as figuras um romance, as cincias filosficas que 132 consideram as categorias so a histria: a histria da autoconscincia infinita nos seus momentos imutveis universais e necessrios. Com efeito, assim concebeu Hegel o sistema da sua filosofia nas suas trs partes: lgica, filosofia da natureza e filosofia do esprito, Mas Hegel no desenvolveu com igual extenso estas trs partes. lgica dedicou a segunda das suas obras fundamentais, a Cincia da Lgica (1812-16) que depois recapitulou na primeira parte da Enciclopdia. filosofia da natureza dedicou apenas (alm do primeiro esboo de Jena) a segunda parte da Enciclopdia que os seus alunos enriqueceram com apontamentos das suas lies. filosofia do esprito se referem, pelo contrrio, alm da terceira parte da Enciclopdia e da Filosofia do Direito os cursos das suas lies de Berlim. Hegel indica a razo infinita com o nome de Ideia e distingue a histria ou devir da ideia em trs momentos que constituem a fragmentao da sua filosofia: 1.<> - A Lgica ou cincia da ideia em si e por si; ou seja, do seu primitivo ser implcito e do seu gradual explicar-se. 2.11-A Filosofia da Natureza, que a cincia da Ideia no seu ser outro, isto , no seu tornar-se estranha e exterior a si prpria no mundo natural. 3.o - A Filosofia do Esprito que a cincia da ideia que, aps o seu afastamento, regressa a si prpria, sua completa autoconscincia. Hegel obtm esta concepo tripartida no neoplatonismo antigo e especialmente em Procio. E do platonismo antigo Hegel faz derivar tambm a forma do seu sistema: o que consiste num processo 133 nico e continuador que actua e revela nos seus graus necessrios um princpio absoluto. Contudo, Hegel no coloca o absoluto fora do processo, como uma Unidade inalcansvel, antes o identifica com o prprio processo, e deste modo o torna imanente. Transformando o infinito progressivo de Fichte e de Schelling num infinito actual e concludo, Hegel referiu-o forma da metafsica escolstica e exprimiu nessa forma o pensamento fundamental da sua filosofia: que o prprio finito , na sua realidade, o infinito. A lgica definida por Hegel como "a cincia da ideia pura, isto , da ideia no elemento abstracto do pensamento" (Enc., 19). Mas no se trata de uma disciplina puramente formal: o seu contedo -lhe imanente e a absoluta verdade ou realidade, o prprio Deus.
O reino da lgica Deus antes da criao do mundo. "O reino do puro pensamento a verdade, tal como em si e por si, sem qualquer vu. S pode ser exprimido afirmando-se que ele a exposio de Deus, tal como ele na sua eterna essncia, antes da criao da natureza e de um esprito finito" (Cien. d. lg., p. 32). Portanto, os conceitos da lgica no so pensamentos subjectivos perante os quais a realidade se mantm exterior e contraposta mas... pensamentos objectivos que exprimem a prpria realidade na sua essncia necessria, na sua verdade absoluta (Enc. 24). A lgica a prpria metafsica; e tem um lugar predominante no sistema de Hegel, porque oferece, com os seus conceitos, a ossatura ou substncia de toda a realidade. O princpio da identidade do real e do 134 racional faz dois conceitos da razo os graus e as determinaes necessrias da prpria realidade. Mas evidente que a razo, neste sentido, no intelecto finito. Hegel chama intelecto ao "pensamento que produz apenas determinaes finitas e que se move nelas" e designa finitas as determinaes do pensamento que apenas so subjectivas e esto em contraste com o objectivo, que, alm disso, em razo do seu contedo limitado, esto em contraste entre si e, por maioria de razo, com o absoluto (1b., 25). O intelecto, deste modo entendido, apenas um aspecto parcial, o primeiro momento da razo. o momento intelectual, no qual o pensamento se confina s determinaes rgidas, limitando-se a consider-las nas suas diferenas recprocas. A ele deve seguir-se o momento dialctico, que nos mostra como aquelas determinaes so unilaterais e limitadas e exigem ser colocadas em relao com as determinaes opostas ou negativas. O terceiro momento, o especulativo ou positivo racional, d-nos a unidade das determinaes diversas precisamente nas suas oposies. A mola propulsora deste processo, atravs do qual a razo real ou a realidade racional se desenvolve e determina num contedo cada vez mais rico e concreto, o segundo momento, o dialctico, pelo qual todas as determinaes perdem a rigidez, passam a ser fluidas e a constituir momentos de uma Ideia nica e infinita. O momento dialctico representa a crise da dissoluo do finito. "Todo o finito tem isto que lhe prprio: suprimir-se a si mesmo (lb., 81). Atravs do momento dialctico, o finito nega-se e resolve-se no infinito. 135 O ponto de partida 6 lgica o conceito mais vazio e abstracto, o do ser, do ser absolutamente indeterminado, privado de qualquer contedo possvel. Nesta abstraco, o ser idntico ao nada; e o conceito desta identidade, a unidade do ser e do nada, o devir, que j os antigos definiam como a passagem do nada ao ser. Esta primeira trade hegeliana, ser, nada, devir, que tantas discusses fez nascer como termo de comparao da validade e da legitimidade de todo o processo dialctico, no apresenta na verdade qualquer interesse particular. O prprio Hegel definiu de forma bem clara o seu significado. Precisando de justificar o incio do seu sistema, Hegel comeou pelo prprio conceito de incio. "O incio no o puro nada, mas um nada de que deve sair qualquer coisa. Por isso no prprio incio est j contido o ser. O incio tem, portanto, um e outro, o ser e o nada; a unidade do ser com o nada" (Cien. d. Log., 1, p. 62). A mola da dialctica hegeliana no a relao ser-nada, que vale apenas para o ser absolutamente
indeterminado e no passa do esclarecimento puramente verbal de um pretenso incio absoluto, mas , como vimos j, a auto-dissoluo do finito que incessantemente se supera no infinito. O ser e o nada, como puras abstraces, so o oposto do ser determinado que, em virtude de tal oposio, surge em evidncia; e o ser determinado -o em razo da qualidade que o especifica e torna finito, da quantidade e finalmente da medida, determinante da quantidade da qualidade. Todas estas categorias consideram o ser no seu isolamento, fora, portanto, de qualquer relao. Do ser passa-se essncia 136 quando o ser, reflectindo sobre si prprio, distingue as relaes que lhe so prprias; reconhece-se idntico e diverso e descobre a prpria razo suficiente. As categorias fundamentais da essncia so: a essncia como razo da existncia, o fenmeno e * realidade em acto. Reconhecendo-se como idntica * si prpria e diferente das outras essncias, a essncia descobre a prpria razo de ser; e em virtude desta razo de ser torna-se existncia. O aparecimento da sua existncia traduzse no fenmeno, que, , segundo Hegel, no uma mera aparncia, mas a manifestao adequada e plena da essncia daquilo que existe. Aquilo que existe, a realidade em acto, , por conseguinte, a unidade da essncia e da existncia, ou seja, do interior e do exterior. As trs relaes que a caracterizam so a substancialidade, a causalidade, e a aco recproca (as categorias kantianas da relao). Assim determinado e enriquecido pela reflexo sobre si, o ser passa a conceito: que j no o conceito do intelecto, diferente da realidade e oposto a ela, mas o conceito da razo, isto , w esprito vivo da realidade" (Enc., 162). O conceito em primeiro lugar conceito subjectivo ou puramente formal; depois conceito objectivo que se manifesta nos aspectos fundamentais da natureza; finalmente Ideia, unidade do subjectivo e do objectivo, razo autoconsciente. O conceito subjectivo determina-se, em primeiro lugar, nos seus trs aspectos de universalidade, particularidade, individualidade; em seguida, exprime-se e articula-se no juzo e finalmente no silogismo que exprime, dum ponto de vista formal, 137 a racionalidade do todo. Todas as coisas so silogismos, porque todas as coisas so racionais; mas, desta racionalidade, o silogismo apenas exprime o aspecto formal e subjectivo, que se concretiza e actua dentro do conceito objectivo, que o da natureza. A passagem do conceito subjectivo ao conceito objectivo exemplificada por Hegel como passagem do conceito de Deus sua existncia; com a advertncia de que a existncia de Deus apenas se revela na sua obra, ou seja, na natureza (Cien. d. Log., III, p. 180 e sgs.). O conceito como objectividade constitui as categorias fundamentais da natureza: mecanismo, quimismo e teleologia, sendo esta categoria ltima a categoria fundamental da natureza orgnica. A ltima categoria da lgica a Ideia. "A ideia, afirma Hegel, pode ser concebida como razo (este o significado propriamente filosfico de razo); por outro lado, pode ser concebida como sujeito-objecto, como unidade do ideal e do real, do finito e do infinito, da alma e do corpo; como possibilidade que tem em si prpria a sua realidade; como aquilo atravs do qual a natureza pode ser concebida apenas como existente, etc., uma vez que
nela todas as relaes do intelecto esto contidas, mas no seu infinito regresso e identidade em si" (Enc., 214). A ideia , assim, a totalidade da realidade em toda a riqueza das suas determinaes e relaes internas. "O ser individual uma parte qualquer da ideia: atravs desta verificam-se ainda outras realidades que, por sua vez, surgem como existentes particularmente por si; e no conjunto de todas as coisas e das suas relaes que se realiza o conceito. O singular por 138 si no corresponde ao seu conceito: esta limitao da sua existncia constitui a finitude e a runa do individual" (lb., 213). A ideia no a substncia de Spinoza, ou melhor, encontra nessa substncia apenas um seu aspecto parcial; j que ela tambm subjectividade, espiritualidade, processo. Nela "o infinito excede o finito, o pensamento, o ser a subjectividade, a objectividade" (Ib., 215). Na sua forma imediata a ideia a vida, ou seja, uma alma realizada num corpo (Ib., 216); mas na sua forma mediata, e no entanto finita, o conhecer; neste, o subjectivo e o objectivo surgem distintos (uma vez que o conhecer se refere sempre a uma realidade diversa de si prpria) e no entanto unidos (uma vez que se refere sempre a essa realidade). O contraste entre o subjectivo e o objectivo constitui portanto a concluso do conhecer, que pode assumir ou a forma terica, na qual o impulso dado pela verdade, ou a forma prtica (o querer) em que o impulso dado pelo bem. Para alm da vida e do conhecer e como unidade de ambos est a Ideia absoluta, a ideia que se reconhece no sistema total da logicidade (1b., 237). Ela traduz-se na identidade da ideia terica e da ideia prtica e vida que por isso superou todas as imediatidades e todas as finitudes. "Todo o resto erro, confuso, opinio, esforo, arbtrio e caducidade, s a Ideia absoluta o ser, a vida que no passa, verdade consciente de si, a verdade total" (Cien. d. Log., 111, p. 335). Com ela d-se por concludo o desenvolvimento lgico da ideia. A ideia atinge ento a sua mxima determinao e concretizao, realmente o seu mtodo como sistema e de139 terminando a sua forma como contedo e o seu contedo como forma. Por outras palavras, a Ideia, na sua forma absoluta, no mais que a prpria lgica de Hegel na totalidade e na unidade das suas determinaes. 573. HEGEL: A FILOSOFIA DA NATUREZA O texto fundamental da filosofia da natureza de Hegel a segunda parte da Enciclopdia que, tal como as outras partes, foi enriquecida na edio a cargo dos seus alunos (Vol. VII, 1, 1847) por numerosos acrscimos provenientes das lies de Hegel. Um primeiro esboo desta filosofia da natureza a brevssima exposio (cerca de 7 pginas) do Curso propedutico (1808-11) que Hegel escreveu para os estudantes do liceu de Nuremberga. Nele Hegel dividia a filosofia da natureza em trs partes: matemtica, fsica e fsica do orgnico, diviso que aparece tambm na primeira edio (1817) da Enciclopdia. Hegel no tem pelo mundo natural nenhum interesse verdadeiro nem esttico, nem cientfico. J vimos ( 566) como o deixava indiferente e entediado um dos mais soberbos espectculos naturais, o dos Alpes. Tambm o dos cus no o comovia ou exaltava. As palavras de Kant que to bem exprimem os interesses fundamentais do filsofo de Knigsberg "Duas coisas me enchem a minha alma com uma admirao sempre nova e sempre crescente, o cu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de
140 mim" (K. p. V., concl.) no tm sentido para ele. A infinitude do cu pode interessar o sentimento, na medida em que acalma as paixes, mas nada diz razo; porque " exterior, vazia, negativa, infinita". Quanto aos astros, trata-se de uma exploso de luz, que no mais digna de admirao que a exploso que derrama pontos vermelhos na pele de um corpo orgnico, ou de um exame de moscas ou de um formigueiro (Enc., 267, 341; Werke, VII, LO, p. 92-93, 461). No que diz respeito ao aspecto cientfico da natureza, Hegel admite que a filosofia da natureza tenha por pressuposto e condio a fsica emprica; mas esta deve fornecer-lhe o material e fazer o trabalho preparatrio da qual depois se socorre livremente para mostrar a necessidade, com a qual as determinaes naturais se vo concatenando num organismo conceptual. Por seu lado, os resultados da indagao emprica no tm o mnimo significado. " Se a fsica, afirma Hegel (1b., 246, p. 12), devesse basear-se nas percepes e as percepes no fossem mais que os dados dos sentidos, o processo da fsica consistiria em ver, auscultar, cheirar, etc., e assim os animais poderiam ser tambm fsicos". Dadas estas premissas, no de admirar que a filosofia da natureza seja a parte mais fraca da obra de Hegel; nela se serve, de forma arbitrria e fantstica, dos resultados da cincia do seu tempo, interpretando-os e concatenando-os de tal modo que os mesmos perdem o seu valor cientfico sem que por isso adquiram qualquer significado filosfico. O conceito da natureza no entanto, tem na doutrina de Hegel uma funo importante e no poderia 141 ser eliminado ou alterado sem se eliminar ou alterar toda a doutrina. O prprio princpio da identidade entre realidade e razo coloca, com efeito, esta doutrina na obrigao de justificar e resolver na razo todos os aspectos da realidade. Hegel rejeita como exterior realidade, considerando como tal aparncia, aquilo que finito, acidental e contingente, ligado ao tempo e ao espao, e a prpria individualidade naquilo que ela tem de prprio e de irredutvel razo. Mas tudo isso deve no entanto encontrar um qualquer lugar, uma justificao qualquer, ainda que a mero ttulo de aparncia, se, pelo menos como aparncia, real, e encontra lugar e justificao justamente na natureza. A natureza "a ideia na forma do ser outro" e como tal essencialmente exterioridade. Considerada em si, na ideia, divina; mas no modo em que existe, o seu ser no corresponde ao conceito: por conseguinte a contradio insolvel. O seu carcter prprio o de ser negao, non ens. Ela a decadncia da ideia de si prpria, porque a ideia na forma da exterioridade inadequada a si prpria; e s conscincia sensvel, que antes de mais exterior, a natureza surge como algo de real. Portanto absurdo querer tentar conhecer Deus atravs das obras naturais; as mais baixas manifestaes do esprito servem melhor um tal objectivo. "Na natureza, no s o jogo das formas sofre o domnio de uma acidentalidade desregrada e desenfreada, mas as prprias formas esto privadas do conceito de si prprias. O ponto mais elevado que a natureza pretende atingir na sua existncia a vida; mas esta, como ideia apenas natural, est sob 142 o domnio do irracional, da exterioridade, e a vitalidade individual est, em qualquer
momento da sua existncia, sob o domnio de uma individualidade diversa da sua; sempre que em qualquer manifestao espiritual se trate do momento da relao livre e 1universal consigo prpria" (Enc., 248). Hegel fala de uma "impotncia da natureza" como se a natureza no fosse a prpria Ideia, que no pode ser impotente e reconhece que a filosofia encontra nesta impotncia um limite que impede uma explicao integral. "A impotncia da natureza impe limites filosofia; e o que se pode imaginar de mais inconveniente julgar que ela deva compreender conceptualmente a referida acidentalidade, e, como foi dito, constru-la, deduzi-la; parece portanto que o objectivo se torna tanto mais fcil quanto mais mesquinho e mais isolado o produto a construir. Caractersticas da determinao conceptual podem ser distinguidas certamente at nas coisas mais particulares; mas o particular no se extingue com essa determinao" (1b., 250). Poder parecer que na natureza se deve passar algo aqum ou alm da Ideia, da pura racionalidade; que coisa precisamente, e como descobri-la, isso no nos diz Hegel. As divises fundamentais da filosofia da natureza so: a mecnica, a fsica e a fsica orgnica. A mecnica considera a exterioridade que a essncia da natureza, ou na sua abstraco (espao e tempo), ou no isolamento (matria e movimento), ou na sua liberdade de movimento (mecnica absoluta). O espao "a universalidade abstracta da exterioridade", isto : a exterioridade considerada na sua forma uni143 versal e abstracta. O tempo "o ser que enquanto , no , enquanto no , : o devir intudo". A matria, considerada primeiramente na sua inrcia e depois no seu movimento (coliso e queda) a realidade fraccionada e isolada que determina e unifica entre si o espao e o tempo, que em si so abstraces. Finalmente, a mecnica alcana o verdadeiro e prprio conceito de matria que o da gravitao. A gravitao , segundo Hegel, um movimento livre e por isso os corpos nos quais se realiza, os corpos celestes, se movem livremente. "O movimento dos corpos celestes no algo que surja daqui e dali, o movimento livre; os corpos celestes surgem, como j afirmavam os antigos, como divindades sagradas. A corporeidade celeste no assim pelo facto de ter fora de si o princpio do repouso ou do movimento" (1b., p. 97). Por essa razo no semelhante dos corpos terrestres. A segunda diviso da filosofia da natureza, a fsica, compreende a fsica da individualidade universal, a dos elementos da matria, a fsica da individualidade particular, isto , das propriedades fundamentais da matria (peso especfico, coeso, som, calor) e a fsica da individualidade total, ou seja, das propriedades magnticas, elctricas e qumicas da matria. A terceira razo, fsica orgnica, compreende a natureza geolgica, a natureza vegetal e o organismo animal. Para Hegel tambm faz parte da fsica orgnica a particular conformao da terra, estudada pela geografia fsica. A distino entre velho e novo mundo no causal ou convencional, mas 144 racional e eg@encial. O mundo novo -o de forma absoluta devido sua configurao fsica e poltica. Ainda que seja geologicamente to antigo como o velho, o mar que o separa do antigo apresenta uma "imaturidade fsica". O velho mundo,
nas suas trs partes frica, sia e Europa um todo completo no qual a Europa, em cujo centro se encontra a Alemanha, constitui a parte racional da terra (lb., p. 242; Fil. d. Hist., trad. ital., 1, p. 220 e sgs.). Quanto ao organismo animal, interessante verificar o que Hegel diz da morte: "A inadequao do animal universalidade constitui a sua doena original; e nela se encontra o germe inato da morte. A negao desta inadequao traduzse, portanto, no cumprimento do seu destino. O indivduo nega-se na medida em que modela a sua singularidade sobre a universalidade; mas em virtude de esta ser abstracta e imediata, alcana apenas uma objectividade abstracta na qual a sua actividade se materializa, se ossifica, e a vida passa a ser um hbito privado de processo, e assim o indivduo se mata a si prprio" (Ene., 375). Por outras palavras, o indivduo morre porque a sua actividade limitada se solidifica em hbitos que tornam impossvel a universalizao da sua vida. Mas, na medida em que as suas actividades se universalizam verdadeiramente, os indivduos deixam-no de ser, deixam de ser natureza, so esprito, e o esprito eterno porque a prpria verdade (Werke, VII, LO, p. 693 e sgs.). A morte do indivduo constitui, deste modo, a passagem do domnio da natureza ao do esprito. 145 574. HEGEL: A FILOSOFIA DO ESPIRITO A filosofia do esprito foi exposta por Hegel, no s na terceira parte da Enciclopdia, como ainda na Filosofia do direito e nas lies, publicadas postumamente, de Esttica, de Filosofia da Religio e de Filosofia da Histria. O esprito a Idade que, depois de se afastar de si no mundo natural, acaba por regressar a si prpria. O pressuposto do esprito , por isso, a natureza que no esprito revela a sua finalidade ltima e nele desaparece como natureza, como exterioridade, para se tornar subjectividade e liberdade. A essncia do esprito a liberdade atravs da qual o esprito consegue abstrair de tudo o que exterior e da sua prpria existncia, podendo assim suportar a negao da sua individualidade e manifestar-se como esprito nas suas particulares determinaes que so outras tantas revelaes suas (Ene., 381-84). Os graus atravs dos quais o esprito se desenvolve no permanecem como realidades particulares para os graus superiores, como acontece na natureza; so reintegrados pelos graus superiores e, por sua vez, estes ltimos encontram-se presentes nos graus inferiores (1b., 380). O desenvolvimento do esprito d-se atravs de trs momentos principais: o esprito subjectivo, o esprito objectivo e o esprito absoluto. Esprito subjectivo e esprito objectivo constituem o esprito finito (individual), caracterizado pela inadequao entre o conceito e a realidade. Por outras palavras, no so ainda, explcita e totalmente, aquilo 146 que o esprito na sua essncia infinita. Pelo contrrio, o esprito absoluto constitui a total
e explcita revelao do esprito a si prprio. O esprito subjectivo o esprito enquanto cognoscitivo. a alma (e constitui objecto da antropologia) enquanto permanece sujeito individualidade e s condies naturais (geogrficas, fsicas, etc.). A alma desenvolve-se, como alma sensitiva, atravs do sentimento imediato, que o seu gnio particular, e o sentimento de si prpria, que surge mecanizado pelos hbitos; e alcana, como alma real, a prpria expresso exterior nas manifestaes corpreas e na linguagem. O esprito subjectivo conscincia (e constitui o objecto da fenomenologia do esprito) na medida em que reflecte sobre si prprio e consegue colocar-se como eu ou autoconscincia. Pela imediata certeza que a conscincia tem de si prpria na sua singularidade, passa a autoconscincia universal que, na medida em que universal, razo. Finalmente, o esprito subjectivo , em sentido estrito, esprito (e constitui o objecto da psicologia) enquanto considerado nas suas manifestaes universais que so o conhecer terico, a actividade prtica e o livre querer. O conhecer aparece entendido por Hegel como a totalidade de todas aquelas determinaes intuio, representao (que por sua vez pode ser recordao, imaginao ou memria), pensamento que constituem o processo concreto pelo qual a razo se encontra a si prpria no seu contedo. A actividade prtica entendida como unidade dessas manifestaes (sentimento prtico, impulsos, felicidade) atravs das quais o esprito alcana o domnio de si e passa 147 a ser livre. O esprito livre , com efeito, o momento culminante da espiritualidade subjectiva. Ele o querer racional que se determina independentemente das condies acidentais e limitativas em que vive o indivduo. O esprito livre a vontade de liberdade, tornada essencial e constitutiva do esprito. Esta vontade de liberdade s encontra no entanto a sua realizao na esfera do esprito objectivo. A liberdade realiza-se em instituies histricas concretas, caracterizadas pela unidade do querer racional com o querer individual: unidade, cujo valor necessrio o poder ou autoridade em que essas instituies esto investidas. Os momentos do esprito objectivo so: o direito, a moralidade, e a eticidade. No direito, o esprito pessoa, constitudo essencialmente pela posse de uma propriedade. Na moralidade, sujeito dotado de uma vontade particular, mas que deve pretender ser universal, uma vontade do bem. A moral caracterizada pela distino entre o interior e exterior, entre a pura inteno moral e a aco. Na esfera da eticidade esta distino superada. Nela o dever ser e o ser coincidem. "A substncia que se sabe livre, e na qual o dever ser absoluto igualmente ser, tem a sua realidade como esprito de um povo" (Enc., 514). A substncia tica realiza-se na famlia, na
sociedade civil e no Estado. A famlia implica um momento natural porque tem a sua base na diferena de sexos; ela , do ponto de vista do direito, uma s pessoa, A totalidade das pessoas (famlias ou indivduos) no sistema dos seus interesses particulares, constitui a sociedade civil. Esta realiza-se no sistema 148 de necessidades e de meios que a satisfazem, na administrao da justia e na poltica, que so as caractersticas fundamentais e comuns de todo o viver civil. O Estado a unidade da famlia e da sociedade civil porque possui a unidade que prpria da famlia e realiza e garante esta unidade nas formas que so prprias sociedade civil. No Estado preciso considerar: 1.o o direito interno, a sua constituio; 2.o o direito internacional, as suas relaes com os outros Estados; 3.o a histria do mundo ou histria universal, como sucessiva incarnao nos Estados singulares da Ideia absoluta. A constituio do Estado a prpria realidade da justia. O Estado com efeito "a realidade tica consciente de si" Ub., 535); e fora do Estado, liberdade, justia, igualdade, so abstraces que s em virtude da lei, e como lei, encontram a sua realidade. O Estado a realidade de um povo singular, determinado naturalmente por particulares condies geogrficas e histricas. As relaes entre os diversos Estados, segundo Hegel, esto sob o domnio da casustica e do arbtrio porque um direito universal dos Estados um dever ser sem realidade (1b., 545). Estas relaes de paz e de guerra do lugar, com os acontecimentos, histria universal, que tambm o juzo universal, porque de vez em quando d a vitria ao Estado que exprime e realiza em si o esprito do mundo (1b., 549). No esprito absoluto, o conceito do esprito, que no seu processo resolveu em si toda a realidade, encontra a sua realizao final. O esprito , nesta esfera, aquele que se realizou na forma da tica, o 149 esprito de um povo; e nas formas do esprito absoluto o esprito de um povo manifesta-se a si prprio e compreende-se na sua espiritualidade. Estas formas so: a arte, a religio e a filosofia. Mas estas no se diferenciam pelo seu contedo que idntico, mas pela forma em que cada uma representa, por si, o prprio contedo, que o Absoluto ou Deus. A arte conhece o absoluto na forma de intuio sensvel, a religio na forma de representao, a filosofia na forma do puro conceito. 575. HEGEL: A FILOSOFIA DA ARTE A arte tem em comum com a religio e a filosofia o seu objectivo final, que a expresso e a revelao do divino. Mas a arte d a esta expresso uma forma sensvel. Precisa, portanto, de uma matria externa constituda por imagens e representaes e precisa tambm de formas naturais, nas quais deve exprimir o seu contedo espiritual (Enc., 558). Mas o material externo e as formas naturais no valem na arte como tal, valem apenas como expresses e revelaes de um contedo; por isso a imitao da natureza, no exprime, de forma alguma, a essncia da arte. "A arte bela, afirma Hegel (1b., 562), tem por condio a autoconscincia do esprito livre; e, por conseguinte, a conscincia da dependncia do elemento sensvel e meramente natural do esprito: faz do elemento natural apenas uma expresso do esprito, que a forma interna pela qual ela prpria .se manifesta". O
aparecimento da arte anuncia o 150 fim de uma religio que est ainda ligada exterioridade sensvel. Ao mesmo tempo que parece dar religio a sua transfigurao, expresso e esplendor mximos, a arte eleva-a acima das suas limitaes furtando-a s formas a que a religio estava ainda ligada na aparncia sensvel. Perante estas aparncias, a beleza da arte infinitude e liberdade. A arte ergue-se para l do ponto de vista do intelecto e do finito que com ela est necessariamente conexo. Pelo intelecto, o sujeito e o objecto so igualmente finitos porque exteriores e opostos um ao outro, e por conseguinte limitando-se reciprocamente. Pela arte bela, o sujeito e o objecto compenetram-se e constituem um todo. O objecto deixa de ser uma realidade exterior e independente porque a manifestao do conceito, ou seja, da prpria subjectividade; o sujeito deixa de contrapor-se ao objecto e realiza-se nele constituindo com ele um todo. "Assim, afirma Hegel, (Werke, X, LO, p. 145), se suprime a referncia puramente finita do objecto, que fazia deste um meio til para fins exteriores, um meio que, ou se opunha s suas execues de forma privada de liberdade, ou era obrigado a assumir em si esses objectivos estranhos. E ao mesmo tempo suprimida a referncia no livre do sujeito, porque este renuncia distino entre as prprias intenes subjectivas e a matria e os meios exteriores, e, com a realizao das intenes subjectivas mediante os objectos, deixa de ater-se relao finita do simples dever ser, porque tem perante si o conceito e o fim perfeitamente realizados". 151 Hegel distingue trs formas fundamentais na arte., a arte simblica, a arte clssica e a arte romntica. A arte simblica caracterizada pelo equilbrio entre a Ideia infinita e a sua forma sensvel. A Ideia procura apropriar-se da forma; mas, como no encontrou ainda a verdadeira forma, esta apropriao tem o carcter de violncia. Na tentativa de tomar a matria sensvel adequada a si prpria, a Ideia maltrata-a, fragmenta-a, dispersa-a, dando lugar ao sublime, que representa tipicamente a forma de arte simblica, prpria dos povos orientais. Na arte clssica, pelo contrrio, existe uma plena e livre adequao entre a ideia e a sua manifestao sensvel. O ideal da arte encontra aqui a sua realizao integral. A forma sensvel foi transfigurada, subtrada finitude e tornada perfeitamente conforme com o conceito. Isto acontece porque a Ideia infinita encontrou finalmente a sua forma adequada: a figura humana. A figura humana a nica forma sensvel na qual o esprito pode representar-se e manifestar-se completamente. "A forma que tem em si prpria a ideia enquanto espiritual ou melhor a espiritualidade individualmente determinante, e deve exprimir-se na aparncia temporal, a forma humana. A personificao e a humanizao da mesma tem sido frequentemente caluniada como degradao do espiritual. Mas a arte, na medida em que integra o esprito nas formas sensveis para o tomar acessvel intuio, deve proceder a essa humanizao, porque s no
seu corpo o esprito se manifesta sensivelmente de forma adequada" (1b., p. 99). A fase sucessiva da arte, que a terceira, assinalada pela ruptura da 152 unidade entre contedo e forma, por um regresso ao simbolismo, mas um regresso que tambm um progresso. A arte clssica alcanou o seu desenvolvimento mais elevado enquanto arte; o seu defeito o de ser apenas arte, e nada mais que arte. Na sua terceira fase, pelo contrrio, a arte procura elevar-se a um nvel superior: torna-se arte romntica ou crist. A unidade da natureza divina e da natureza humana, que na arte clssica uma unidade directa e imediata, torna-se uma unidade consciente na arte romntica; atravs dela, o contedo deixa de ser dado pela forma humana e passa a ser dado mediante a interioridade consciente de si prpria. O cristianismo, ao conceber Deus como esprito, no individualizvel ou particular, mas absoluto, e pretendendo represent-lo em esprito e verdade, renunciou U representao puramente sensvel e corprea, a favor da expresso espiritualizada e interiorizada. A beleza, nesta fase da arte, no j a beleza corprea e exterioridade, mas a beleza puramente espiritual, a da interioridade como tal, da subjectividade infinita em si prpria. A arte romntica , por conseguinte, indiferente beleza do mundo sensvel; no o idealiza, como faz a arte grega, mas representa-o na sua realidade indiferente e banal e vale-se dela nos limites em que ela se presta a exprimir a interioridade como tal (Werke, X, 2.O, p. 133). Da a diferente situao da arte clssica e da arte romntica perante a morte. Esta para a arte clssica o mal supremo (Odiss. XI, v. 482491). "Na arte romntica, pelo contrrio, a morte representada 153 como um morrer da alma natural e da subjectividade finita, um morrer que negativo s em relao quilo que negativo em si e tem por objecto a superao daquilo que desprovido de valor, a libertao do esprito da sua finitude e do seu desdobramento e a conciliao espiritual do sujeito com o absoluto" (1b., p. 128). Indubitavelmente, tambm a arte romntica tem os seus limites; mas so os prprios limites da arte como tal. Esta est sempre ligada forma sensvel e a forma sensvel no a revelao adequada e completa da Ideia infinita, do esprito como tal. As trs formas de arte, simblica, clssica e romntica, so os trs graus atravs dos quais se realiza o ideal da arte, ou seja, a unidade do esprito e da natureza. A arte simblica ainda uma procura do ideal, ao passo que a arte clssica j o atingiu, e a arte romntica j o ultrapassou (Ib., X, LO, p. 103-04). Ora se este ideal surge considerado, no j nos graus do seu desenvolvimento, mas nas determinaes necessrias em que se realiza, encontramo-nos perante o reino da arte, constitudo pelo sistema das artes particulares. A primeira realizao da arte a arquitectura. Em razo dela, o mundo inorgnico externo sofre uma purificao, ordena-se segundo as regras da simetria, aproxima-se do esprito e passa a ser o templo de Deus, a casa da sua comunidade. Com a escultura, o prprio Deus introduz-se na objectividade do mundo exterior e torna-se imanente na imagem sensvel, num estado de calma imvel e de feliz serenidade. Arquitectura e escultura esto entre 154
si como a arte simblica e a arte clssica: a arquitectura arte clssica por excelncia. A arte romntica a unidade da arquitectura com a escultura, uma unidade que se serve de novos meios expressivos porque pretende seguir o movimento da pura espiritualidade em todas as suas particularidades e na diversidade das suas manifestaes. Esta arte tem sua disposio trs elementos: a luz e a cor, o som como tal e, finalmente, o som como signo da representao, ou seja, da palavra. A arte romntica manifesta-se por conseguinte na pintura, na msica e na poesia. Destas trs artes, a poesia a mais elevada. "A poesia a arte universal, a arte do esprito tomado livre em si, j no ligado pela sua realizao matria sensvel exterior; do esprito que se move apenas no espao interior e no tempo interior da representao e da sensao. No entanto, precisamente neste grau supremo, a arte ultrapassa-se tambm a si prpria, na medida em que abandona o elemento sensvel do esprito e, da poesia da representao, passa prosa do pensamento (Ib., X, LO, p. 112). Em todas as suas formas e em todas as suas determinaes, a arte no deixa, no entanto, de manter-se no domnio da aparncia. Como j vimos em relao lgica, a aparncia no algo de enganador, mas a manifestao necessria do ser e da realidade em si. A arte, no entanto, no a manifestao mais elevada da realidade, isto , da Ideia infinita. Os seus limites so os da intuio sensvel, da qual deduz a forma das suas manifestaes. Na sua realidade mais profunda, a Ideia infinita furta-se 155 expresso sensvel e manifesta-se de forma mais adequada na religio e na actividade racional da filosofia. Os bons tempos da arte grega e da idade de ouro da Idade Mdia passaram h muito. Hoje ningum pode ver nas obras de arte a expresso mais elevada da Ideia; respeita-se e admira-se a arte, mas a mesma submetida anlise do pensamento para se reconhecer a sua funo e o seu lugar. O prprio artista no pode subtrair-se influncia da cultura racional de que depende, em ltima anlise, o juizo que se faz sobre a sua obra. "Submetida a todas estas correlaes, afirma Hegel (lb., 1, LO, p. 15-16), a arte e continua a ser para ns, quanto ao seu destino supremo, uma coisa do passado. A arte perdeu para ns a sua verdade prpria, a sua vitalidade, foi relegada para a nossa representao, uma vez que j no exprime na realidade a sua necessidade e j no ocupa o lugar mais elevado". O "futuro da arte" est na religio (Enc., 563.). Mas isto no quer dizer, de forma alguma, (como j algum interpretou) que a arte esteja destinada a desaparecer do mundo espiritual dos homens. O que desapareceu e no pode mais voltar , segundo Hegel, o valor supremo da arte, a considerao que fazia dela a mais elevada e completa manifestao do absoluto. Por outras palavras, a forma clssica da arte essa, sim, desapareceu para sempre. Mas a arte e continua a ser uma categoria do esprito absoluto; e todas as categorias so necessrias e imutveis porque constituem na sua totalidade a autoconscincia viva de Deus. 156 576. HEGEL: A FILOSOFIA DA RELIGIO
A religio a segunda forma do esprito absoluto, aquela precisamente em que o absoluto se manifesta na forma de representao. As Lies de filosofia da religio abrem com a discusso do problema das relaes entre a filosofia da religio e a prpria religio. A soluo de Hegel a de que a filosofia da religio no deve criar a religio, deve simplesmente reconhecer a religio que j existe, a religio determinada, positiva, presente. A posio de Hegel perante a religio a mesma que assume perante qualquer outra realidade: reconhecer a realidade presente, tal como , e justific-la pela demonstrao nela da ideia infinita em acto. O objecto da religio Deus, o seu sujeito a conscincia humana dirigida a Deus, o seu fim ou objectivo a unificao da conscincia com Deus, ou seja: o da conscincia plena e penetrada por Deus. Os momentos da religio so por conseguinte Deus, a conscincia de Deus e o servio de Deus ou culto. A filosofia da religio o mais alto culto divino, pois que nela Deus se manifesta e revela na forma mais elevada que a do pensamento; e a revelao de Deus como pensamento o prprio Deus. Uma vez que a religio essencial aco entre Deus e a conscincia, a primeira forma da religio a da imediatidade desta relao, que prpria do sentimento. Mas o sentimento, ainda que nos d a certeza da existncia de Deus, no tem possibilidades de justificar esta certeza e de a transformar em verdade objectivamente vlida. Quando se afirma 157 que preciso ter-se Deus no corao exige-se algo mais do pensamento, porque o corao um pensamento que permanece e constitui o carcter ou forma universal da existncia (Werke, p. 129). O sentimento individual, acidental, e mutvel: por isso no a forma adequada para a revelao de Deus. Um passo mais sobre o sentimento j representado pela intuio de Deus que existe na arte, na qual Deus representado objectivamente sob a forma de intuio sensvel. Mas esta intuio caracterizada pelo dualismo entre o objecto intudo e o sujeito que intui. Pelo contrrio, a religio exige a unidade da conscincia religiosa e do seu objecto e, por conseguinte, a interiorizao do objecto e a espiritualizao da intuio, o que acontece na representao. prprio da representao apresentar as suas determinaes (que esto essencialmente conexas) como justapostas, como se fossem independentes uma da outra, e reuni-las de forma puramente acidental. Deste modo se obtm a representao dos atributos divinos considerados individualmente, das relaes entre Deus e o mundo na criao, das relaes entre Deus e a histria do mundo na providncia, etc. Todas estas representaes surgem unidas de modo puramente exterior, e assim se consegue alcanar a inconceptibilidade da essncia divina que as unifica. A exterioridade em que se mantm as determinaes da religio caracterstica da conscincia religiosa comum e contradiz a exigncia de espiritualizar a intuio religiosa e de unificar as representaes religiosas.
158 A contradio s pode ser resolvida medida em que a religio se transforma num verdadeiro e prprio saber. A este saber o homem deve no entanto elevar-se atravs da f, que o princpio da educao religiosa. O contedo da religio deve ser dado e no pode ser dado seno atravs do abandono da conscincia religiosa ao seu objecto, a Deus; este abandono a f. E s quando a f procura esclarecer-se e tornar-se ciente deve intervir a reflexo filosfica a justific-la (1b., p. 146 e sgs). Nesta fase, em que a f se transforma em saber e intervm a mediao, como em todo o saber, para justificar a imediatidade do sentimento, encontram a sua funo as provas da existncia de Deus. Hegel, que dedicou no vero de 1829 seis lies a estas provas (lb., MI., p. 357-553; ed. Lasson, vol. XIV), resgata-as, de certo modo, da condenao total que tinham sofrido pela pena de Kant. No entanto, no as considera como puros produtos da actividade racional, mas apenas como graus de desenvolvimento do saber religioso; elas traduzem a vida pela qual a conscincia humana se eleva a Deus. O ponto de partida da prova cosmolgica a conscincia da nossa existncia finita e acidental num mundo de coisas finitas e acidentais; a prova vem mostrar a via pela qual a conscincia humana pode elevar-se at ao ser infinito e necessrio, causa do mundo. O ponto de partida da prova teolgica a conscincia do nosso corpo situado num mundo inorgnico, do finalismo interno do nosso corpo, e do acordo finalista entre o mundo orgnico e o inorgnico; a prova demonstra a via pela qual a conscincia reli159 giosa se ergue ao ser infinito e necessrio, causa final e inteligente do mundo. O ponto de partida da prova ontolgica o conceito ou a conscincia de Deus como de um ser absolutamente perfeito e a prova apresenta a via pela qual a conscincia religiosa se ergue de forma a conceber a unidade do infinito e do finito, de Deus e do mundo, do saber divino e do saber humano de Deus. Esta ltima prova a mais profunda e significativa, segundo Hegel, que a ope crtica kantiana; pois se a unidade do pensamento e do ser no se verifica nas coisas finitas, e que por este motivo so finitas, ela constitui, no entanto, o prprio conceito de Deus. (Enc., 51). Na verdade a prova ontolgica exprime precisamente o princpio da filosofia hegeliana, a resoluo do finito no infinito. O conceito que o homem tem de Deus o prprio conceito que Deus tem de si. "O homem conhece Deus na medida em que Deus se conhece a si prprio nos homens. Este saber a autoconscincia de Deus, mas tambm o saber que Deus tem dos homens e o saber que os homens tm de Deus. O esprito dos homens, na medida em que conhecem Deus, e o esprito do prprio Deus" (Vorlesungen ber die Beiveise des Daseins Gottes, in Werke, ed. Lasson, XIV, p. 117). O desenvolvimento da religio o desenvolvimento da ideia de Deus na conscincia humana. No primeiro estdio de tal desenvolvimento, a ideia de Deus surge como o poder ou a substncia absoluta da natureza e a religio uma religio natural; assim acontece com as religies orientais (chinesa, indiana, budista). No segundo estdio, a ideia de 160 Deus surge com a passagem da substancialidade individualidade espiritual, e criam-se as
religies naturais que depois passam a religies da liberdade (religio persa, sria, egpcia). No terceiro estdio, a ideia de Deus surge como individualidade espiritual e constituem-se as religies da individualidade espiritual (judaica, grega, romana). O quarto estdio aquele em que a ideia de Deus aparece como esprito absoluto, e constitui a religio absoluta, a crist. A religio absoluta a religio perfeitamente objectiva, no sentido em que j realizou o seu conceito: o contedo deste conceito, a unidade do divino e do humano, isto , a conciliao de ambos, a incarnao de Deus, passaram a objecto e tema da conscincia religiosa. Deus, que esprito, revelou-se plenamente como tal nesta religio. Mas o esprito pensamento e, enquanto tal, distingue-se de si e coloca um outro por si, do qual, no entanto, no se mantm separado, assim como o pensamento nunca se mantm separado do objecto que reconhece e faz seu. O esprito no por conseguinte apenas uma unidade, tambm uma trindade, cujos momentos so os seguintes; 1.o o permanecer imutvel de Deus, que, ainda que revelando-se, continua eternamente senhor de si em tal revelao; 2.o a distino da manifestao de Deus pelo prprio Deus, atravs da qual essa manifestao passa a ser o mundo da aparncia (natureza e esprito finito); 3.o o regresso do mundo a Deus e a sua conciliao com ele. Estes trs momentos existem eternamente em Deus; mas a criao que Deus faz do mundo, distinguindo-se de si e colocando o seu outro como manifestao prpria, 161 eterna como esta mesma manifestao. Hegel reproduz aqui simplesmente a dialctica de Proclo (vol. I, 127), mas serve-se da terminologia crist e fala do reino do Pai, do reino do Filho e do reino do Esprito Santo. O reino do Pai Deus antes da criao do mundo, na sua eterna ideia em si e por si (Werke, XII, p. 233 e sgs.). O reino do Filho o mundo no espao e no tempo, a natureza e o esprito finito, em todo o desenvolvimento que vai da natureza ao esprito, do esprito finito ao estado, ao esprito do mundo, religio, e da religio finita religio absoluta ou crist. No ponto central deste mundo est Cristo como redentor, Homem-Deus ou Filho de Deus (1b., XII, p. 247 e sgs.). O reino do Esprito, a total conciliao em Cristo e atravs de Cristo de uma vez para sempre, mas que a religio desenvolve e vive pela presena de Deus na sua comunidade (1b., XII, p. 308 e sgs.). O reino de Deus realiza-se de forma completa e total neste mundo. A penetrao da religio crist no mundo a conscincia da liberdade que se realiza no domnio da eticidade e do Estado. "A verdadeira conciliao, pela qual o divino se realiza no campo da realidade, consiste na vida jurdica e tica do Estado... Na eticidade est a conciliao da religio com a realidade, o mundo presente e completo" (lb., p. 344). Mas a liberdade do esprito , antes de mais, liberdade da razo, consistindo o seu livre uso na filosofia; por isso da religio crist brota uma nova filosofia que no se deixa limitar ou circunscrever por nenhuma autoridade e por nenhum pressuposto. Esta filosofia o termo final do desenrolar 162 histrico da religio. "Tem-se reprovado filosofia o facto de se colocar acima da religio; mas isto falso porque a filosofia tem como contedo s a religio e no outra coisa. A filosofia exprime esse mesmo contedo na forma do pensamento e assim se coloca acima da forma da f; mas o contedo sempre o mesmo" (Ib., p. 355). 577. HEGEL: A HISTRIA DA FILOSOFIA
portanto na filosofia que culmina e desemboca o devir racional na realidade. Ela traduz a unidade entre a arte e a religio e o conceito de ambas, ou seja, o conhecimento daquilo que elas necessariamente so. Na filosofia, a Ideia pensa-se a si prpria como Ideia e alcana por essa razo a autoconscincia absoluta, a autoconscincia que razo e pensamento, e, como tal, absoluta infinitude. Como j se viu, a diferena entre religio e filosofia consiste apenas no modo de representar o absoluto, modo esse que para a filosofia especulativo e dialctico, e para a religio representativo e intelectual. Atravs desta diferena, a filosofia pode compreender e justificar a religio, mas a religio no pode compreender e justificar a filosofia. "A filosofia, afirma Hegel (Enc., 573), pode portanto reconhecer as suas prprias formas nas categorias do mundo religioso do representar, e assim reconhecer o seu contedo e render-lhe justia. Mas o inverso no se verifica, porque o modo religioso de representar no aplica a si prprio a crtica do pensamento 163 e no se compreende a si prprio, uma vez que na sua imediatidade exclui os outros modos". Ligada filosofia, a ideia voltou forma lgica do pensamento, concluindo o ciclo do seu devir; mas voltou enriquecida com todo o seu devir concreto e, por conseguinte, com toda a sua infinitude e necessidade. "Toda a filosofia que se explica est baseada em si prpria: uma ideia nica no todo e em todos os seus membros, algo de anlogo ao ser vivo, em cujos membros se agita uma vida nica e bate uma nica pulsao... A Ideia a um tempo o ponto central e a periferia, a fonte luminosa, que se expande sem jamais sair de si, permanecendo presente e imanente em si prpria. Ela , por conseguinte, o sistema da necessidade, da sua prpria necessidade, que ao mesmo tempo a sua liberdade (Li. sobre a hist. da fil. trad. ital. I, p. 39). Deste modo a ideia , alm de objecto da filosofia, objecto da histria da filosofia. A histria da filosofia no mais que a filosofia da filosofia. No , de forma alguma, a sucesso desordenada e acidental de opinies que mutuamente se destroem e excluem; o necessrio desenvolvimento da filosofia como tal. Tal como as formas histricas da arte e da religio se sucedem na ordem da sua necessidade especulativa, tambm os sistemas filosficos se sucedem na ordem das determinaes conceptuais da realidade. "O que eu digo, escreve Hegel (1b., p. 41), que a sucesso de sistemas filosficos, que se manifesta na histria, idntica sucesso que se verifica na deduo das determinaes conceptuais da ideia. O que eu afirmo que, se os conceitos fundamentais 164 dos sistemas surgidos na histria da filosofia forem despojados daquilo que diz respeito sua formao exterior, sua aplicao ao particular, se obtm precisamente os vrios graus da determinao da ideia no seu conceito lgico". Por conseguinte, o desenvolvimento dos sistemas na histria da filosofia determinado unicamente pelas exigncias da dialctica interna da ideia. "O finito no verdadeiro, no existe como dever ser; porque se existisse, logo ocorreria o determinado. Ainda que a ideia interna destrua as formaes finitas, uma filosofia cuja forma no seja absoluta e idntica ao contedo, acaba por desaparecer, porque a sua forma no a verdadeira" (Ib., p. 48). Pelo mesmo motivo, todas as filosofias so necessrias; nenhuma desaparece verdadeiramente porque todas se mantm positivamente como momentos de uma totalidade integral. Hegel entende portanto a historicidade da filosofia como tradio. A histria da filosofia
traduz-se no aumento de um patrimnio que se acumula incessantemente e que no de ningum. "Aquilo que cada gerao fez no campo da cincia, da produo espiritual, traduz-se numa herana para a qual contribuiu, com as suas poupanas, todo o mundo anterior... E este acto de herdar traduz-se ao mesmo tempo num receber e num fazer frutificar a herana. A herana plasma a alma de todas as geraes seguintes, forma a sua substncia espiritual sob a forma de hbitos, determina as suas mximas, os seus preconceitos, a sua riqueza; e, ao mesmo tempo, o patrimnio recebido torna-se por sua vez material disponvel que surge transformado pelo esprito. De 165 tal modo que aquilo que foi recebido acaba por ser modificado, e a matria elaborada, graas portanto ao trabalho de elaborao, enriquece-se sem no entanto deixar de se conservar como antes" (lb., p. 11-12). historicidade entendida num sentido iluminista que refuta e critica a tradio, Hegel substitui o ideal romntico da historicidade como uma herana, como um revi .ver, que , ao mesmo tempo, um renovar e um conservar todo o patrimnio espiritual j adquirido. Consequentemente, a sua histria da filosofia que comea com a filosofia grega (Hegel refere-se s filosofias orientais, chinesa, indiana, mas sustenta que deve exclu-las da verdadeira e prpria tradio filosfica), e termina com as de Fichte e de Schelling, acaba verdadeiramente na sua prpria filosofia. "A filosofia que a ltima no tempo, o resultado de todas as precedentes e deve conter os princpios de todas: ela por isso se se trata de uma verdadeira filosofia, evidentemente a mais desenvolvida, a mais rica e concreta" (Enc., 13). A ltima filosofia a de Hegel. "O actual ponto de vista da filosofia o de que a ideia deve ser conhecida na sua necessidade... Assim o exige o presente momento do esprito universal, e cada estdio tem, num verdadeiro sistema de filosofia, a sua forma especifica. Nada se perde, todos os princpios se conservam; a filosofia ltima , com efeito, a totalidade das formas. Esta ideia concreta a concluso dos esforos do esprito, durante quase dois milnios e meio de labor serissimo, a fim de que ele prprio se torne objectivo, e se conhea" (Li. de hist. da filos., trad. ital., 111, 11, p. 440-11). 166 578. HEGEL: A FILOSOFIA DO DIREITO J vrias vezes foi dito que o interesse dominante de Hegel estava relacionado com o mundo tico-poltico, com o mundo da histria. Neste mundo se realiza, de forma efectiva e total, a razo autoconsciente, a Ideia. As mesmas formas do esprito absoluto, arte, religio, filosofia, no passam de abstraces que esto fora da realidade tico-poltica, fora do esprito novo que lhes d existncia. A ltima obra publicada por Hegel, a Filosofia do Direito (1821), reafirma com deciso cortante o irnico desprezo de Hegel pelo ideal que no real, pelo dever ser que no ser, por todas as consideraes problemticas da realidade poltica e da histria. No domnio desta realidade no h lugar para o problema, segundo Hegel. Como todos admitem que a natureza deve ser reconhecida como aquela que , e ela intrin3ecamente racional, assim se deve admitir tambm que no mundo tico, no Estado, a razo est intimamente ligada ao facto como fora e potncia e que nele se mantm e habita.
No mundo tico (famlia, sociedade civil, Estado) a liberdade tornou-se realidade. "O sistema do direito o reino da liberdade realizada, o mundo do esprito expresso por si mesmo, como uma segunda natureza" (Fil. do direito, 4). Mas para que o direito como tal se realize e subsista, preciso que a vontade finita do indivduo se resolva numa vontade infinita e universal, que se tenha a si como objecto, que pretenda portanto livre a sua prpria vontade. Tal o 167 conceito, a ideia da vontade, a vontade na sua forma racional ou autoconsciente infinita. "A vontade que existe em si e por si verdadeiramente infinita, porque o seu objecto ela prpria; tal objecto no para ela coisa diferente, nem um limite, apenas a vontade que regressa a si. Mas ela no tambm simples possibilidade, disposio, poder (potentia) mas o realmente infinito (infinitum actu), uma vez que a existncia do conceito ou a sua objectiva exterioridade, a prpria interioridade" (Ib., 22). Por outras palavras, a vontade infinita aquela que realizou historicamente a sua liberdade e que assumiu uma existncia concreta. "Uma existncia em geral, que seja existncia da vontade livre, o direito. Ele , portanto, a liberdade enquanto ideia" (1b., 29). A cincia do direito deve partir, como qualquer outra cincia, da existncia do direito, uma vez que a existncia a ideia que se realizou e o objectivo da cincia dar-se conta do processo dessa mesma realizao (1b., 31). Hegel divide a sua filosofia do direito em trs partes: o direito abstracto, a moral, e a eticidade. O direito abstracto o da pessoa individual e exprime-se na propriedade que "a esfera exterior da sua liberdade" (1b., 41). A moralidade a esfera da vontade subjectiva, que se manifesta na aco. O valor que a aco possui para o sujeito que a realiza a inteno o fim que tem em vista o bem-estar. Quando a inteno e o bem-estar alcanam a universalidade, o fim absoluto da vontade transforma-se em bem. Mas o bem que ainda uma 168 ideia abstracta, que no existe por si, e espera passar existncia por obra da vontade subjectiva (1b., 131). E nesta relao entre o bem e a vontade subjectiva, ainda exterior e formal, consiste a possibilidade da prpria vontade em ser nefasta cedendo a um contedo no resolvel na universalidade do bem (Ib., 139). Por outras palavras, o domnio da moralidade caracterizado pela superao abstracta entre a subjectividade, que deve realizar o bem, e o bem, que deve ser realizado. Em razo desta separao, a vontade no uma vontade boa desde o incio, s poder s-lo atravs da sua actividade; por outro lado ainda, o bem no real sem a vontade subjectiva que pretende realiz-lo (1b., 131, Zusatz). Esta separao anulada e resolvida pela eticidade onde o bem se realiza de forma concreta e se torna existente. Ela a esfera da necessidade e os seus momentos so as foras ticas que regem a vida dos indivduos e constituem os seus deveres. Os deveres ticos so efectivamente
obrigatrias e surgem como unia limitao subjectividade indeterminada ou liberdade abstracta do indivduo, mas na realidade so a redeno do prprio indivduo, dos seus impulsos naturais e ainda da sua subjectividade abstracta ou individual (Ib., 149). A eticidade realiza-se primeiramente, como j vimos, na famlia e na sociedade civil; e s nesta ltima, ou seja do ponto de vista das necessidades, a pessoa jurdica ou sujeito moral passa a ser propriamente um homem, "a concretizao da representao" (Ib., 169 190). Por outras palavras, o homem , segundo Hegel, o indivduo tico integrado no sistema de necessidades, que constitui o aspecto fundamental da sociedade civil. Mas s no Estado que se realiza plenamente a substncia infinita e racional do esprito. "O Estado a realidade da liberdade concreta", afirma Hegel (1b., 260). Ele representa, por um lado, uma fora externa para o indivduo que reclama e a subordina a si, e por outro, o seu fim imanente, assim como o fim da famlia e da sociedade civil que, em relao a ele, so organismos particulares e imperfeitos e devem depender do Estado. "O Estado a vontade divina, enquanto esprito actual e explicativo da forma real e da organizao de um -mundo" (lb., 258). Hegel rejeita portanto a doutrina do contrato social que faz depender o Estado do arbtrio dos indivduos e v nela consequncias que destroem o divino em si e por si e a sua absoluta autoridade e majestade" (1b., 258). Pelo contrrio, o Estado est estreitamente ligado religio porque a suprema manifestao do divino no mundo, tal facto integra em si a religio, como as outras formas absolutas do esprito, a arte e a filosofia, fazendo-as valer como interesses prprios, defendendo-as e consolidando-as (lb., 270). Quanto soberania, o Estado no a obtm do povo, que externa e anteriormente a ele uma multido desorganizada, mas de si prprio, da sua prpria substancia. "O povo, afirma Hegel (lb., 279), considerado sem o seu monarca e sem a organizao necess4ria, e imediatamente integradora da totalidade, a 170 multido informe, no o Estado, qual no pertence j qualquer das determinaes que existem apenas na totalidade formada em si: soberania, jurisdio, magistratura, classes, ou qualquer outra". Hegel exclui portanto, e pelo mesmo motivo, o princpio democrtico da participao de todos nos negcios do Estado. Neste princpio, Hegel v o produto de uma abstraco pela qual o indivduo se afirma, simplesmente como tal, componente do Estado. Na realidade, segundo Hegel, o indivduo participa na formao do Estado s enquanto desenvolve uma actividade concreta num determinado crculo (classe, corporao, etc.) e portanto no subsiste uma sua participao directa no Estado fora desse mesmo crculo (lb., 308). Como vida divina que se realiza no mundo, o Estado no pode encontrar nas leis da moral um limite ou impedimento sua aco. O Estado tem exigncias diversas e superiores s da moral. "O bem-estar de um Estado tem um direito completamente diferente do bemestar do indivduo", afirma Hegel. O Estado, como substncia tica, "tem a sua
existncia, o seu direito, numa existncia no abstracta mas concreta, e essa existncia concreta, e no uma das muitas proposies gerais designadas por preceitos morais, que pode ser o princpio do seu agir e do seu comportamento" (1b., 337). Deste modo, o princpio do maquiavelismo aparece justificado. finalmente na histria que o Estado encontra o juizo (juzo universal) que decide do seu nascimento, do seu desenvolvimento e da sua morte. 171 579. HEGEL: A FILOSOFIA DA Histria O princpio fundamental, que ao mesmo tempo o ponto de partida e o termo final da filosofia hegeliana a resoluo do finito no infinito, a identidade entre o real e o racional -, levou Hegel a identificar em todos os domnios o desenvolvimento cronolgico da realidade com o devir absoluto da Ideia. Nos estdios sucessivos por onde passaram, na sua histria temporal, a arte, a religio e a filosofia, Hegel reconheceu as formas eternas, as categorias imutveis e necessrias do esprito absoluto. As Lies de Filosofia da Histria que se propem demonstrar em acto a plena e total racionalidade da histria, recapitulam, se assim se pode dizer, todo o pensamento de Hegel e revelam claramente o interesse que sempre o dominou. Hegel no nega que, de certo ponto de vista, a histria possa parecer um tecido de factos contingentes, insignificantes e mutveis e por conseguinte privada de qualquer plano racional ou divino e dominada pelo esprito da desordem, da destruio e do mal. Mas isso s acontece do ponto de vista de um intelecto finito, ou seja, do indivduo, que mede a histria pela bitola, ainda que respeitvel, dos ideais prprios, e no consegue erguer-se ao ponto de vista puramente especulativo da razo absoluta Na realidade, "o grande contedo da histria do mundo racional, e racional deve ser: uma vontade divina domina de forma poderosa o mundo e no to impotente que no saiba determinar o grande contedo" (Li. de filos. d. hist. trad. ital., I, p. 11). 172 A prpria f religiosa na providncia, ou seja, no governo divino do mundo, implica a racionalidade da histria; mas acontece que esta f genrica e desculpa-se frequentemente com a incapacidade humana em compreender os desgnios providenciais. Mas ela deve ser subtrada a essa limitao, segundo Hegel, e erguida a um saber que reconhea as vias da providncia divina e esteja em situao de determinar os seus fins, os meios e os modos da racionalidade da histria. O fim da histria do mundo consiste em "o espirito alcanar o saber daquilo que verdadeiramente , e objective esse saber, o realize tomando o mundo existente, manifestando-se objectivamente a si prprio" (Ib., 1, p. 61). Este esprito que se manifesta e se realiza num mundo existente - isto , na presencialidade, no facto, na realidade histrica o esprito do mundo que se incarna nos espritos dos povos que se sucedem na vanguarda da histria. "Os princpios dos espritos dos povos, numa necessria e gradual sucesso, no so eles mesmos seno momentos do nico esprito universal, que, atravs deles, na
histria, se eleva e determina numa totalidade autocompreensiva" (1b., p. 62). O fim da histria realiza-se, real, em todos os seus momentos individuais. Por isso as lamentaes sobre a no realizao do ideal dizem apenas respeito aos ideais do indivduo e no podem valer como lei para a realidade universal. So as imaginaes, as aspiraes e as esperanas dos indivduos que fornecem matria s iluses destrudas, aos sonhos desfeitos. "Por si prprias podem sonhar-se muitas coisas que 173 depois se reduzem a uma ideia exagerada do seu real valor. Pode tambm acontecer, certamente, que assim fiquem sacrificados os direitos do indivduo; mas isso no diz respeito histria do mundo, para a qual os indivduos apenas servem como meio para o seu progresso" Ub., 1, p. 63). A filosofia no deve preocupar-se com os sonhos dos indivduos, deve manter firme o seu pressuposto de que o ideal se realiza e s possui realidade quando est conforme com a ideia. A filosofia deve reconciliar o real, que parece injusto, com o racional e dar a entender que o seu fundamento reside na ideia e que portanto deve satisfazer a razo (Ib., p. 66). Os meios da histria do mundo so os indivduos e as suas paixes. Hegel est longe de condenar ou de excluir as paixes; e, deste modo, afirma que "nada de grande se alcanou no mundo sem paixo" (1b., p. 74) e reconhece na paixo o lado subjectivo ou formal da actividade do querer, quando o seu fim est ainda indeterminado. Mas as paixes so simples meios que na histria conduzem a fias diversos daqueles a que explicitamente se referem. "Os homens procuram transformar em acto aquilo que lhes interessa, e, ao faz-lo, algo surge tambm de diferente, algo que est implcito e que no existe nas suas conscincias ou intenes" (Ib., p. 77). O que est implcito nas paixes e nas vontades individuais dos homens tornado explcito e realizado pelo esprito do mundo. Mas como o esprito do mundo sempre o esprito de um povo determinado, a aco do indivduo ser tanto mais eficaz quanto mais conforme for com o esprito do povo a que o indivduo pertence. 174 "Todo o indivduo filho do seu povo, num momento determinado do desenvolvimento desse povo. Ningum pode ir para alm do esprito, assim como no pode sair da terra" (lb., p. 86). Hegel reconhece na tradio toda a fora necessitante de uma realidade absoluta. Mas a tradio no apenas conservao, tambm progresso; e como a tradio encontra os seus instrumentos nos indivduos conservadores, tambm o progresso encontra os seus instrumentos nos heris ou indivduos da histria do mundo. Estes so os videntes: atravs deles se conhece quer a verdade do seu mundo e do seu tempo, quer o conceito, o universal que est prestes a surgir; e os outros renem-se volta da sua bandeira, porque eles exprimem que a sua hora assome, "Os outros devem obedecer-lhe porque assim o sentem" (Ib. p. 98). S a esses indivduos reconhece Hegel o direito de enfrentar as condies das coisas presentes e de trabalhar para o futuro. O sinal do seu destino excepcional o sucesso: resistir-lhes tarefa v. Aparentemente tais indivduos (Alexandre, Csar, Napoleo) no fazem mais que seguir as suas
prprias paixes e ambies; mas trata-se, segundo afirma Hegel, de uma astcia da razo que se serve dos indivduos e das suas paixes como meios onde os seus fins actuam. O indivduo a certa altura acaba por soobrar ou levado runa pelo seu prprio sucesso: a ideia universal, que o tinha suscitado, alcanou j o seu fim. Em relao a um tal fim, indivduos e povos, so apenas meios. "As individualidades, afirma Hegel (1b., p. 44) separam-se de ns; atribumos-lhes valor na 175 medida em que elas traduzem na realidade aquilo que quer o esprito do povo". Mas tambm o esprito particular de um povo pode desaparecer; s o esprito universal no desaparece; e aquele apenas um elo deste ltimo: "Os espritos dos povos so os membros do processo atravs do qual o esprito alcana o livre conhecimento de si prprio" (1b., p. 49). O desgnio providencial da histria revela-se com a vitria que, de vez em quando, obtida pelo povo que concede o mais elevado conceito do esprito. "O esprito particular de um povo subjaz na transitoriedade, entra em ocaso, perde a sua importncia para a histria do mundo, deixa de ser o conceito supremo que o esprito obteve para si. O povo do momento, o dominador, de tempos a tempos aquele que concebeu o mais elevado conceito do esprito. Pode acontecer que os povos portadores de conceitos no to elevados continuem a existir. Na histria do mundo, surgem colocados margem" (1b., p. 55). Afirmou-se que o fim ltimo da histria do mundo a realizao da liberdade do esprito. Ora esta liberdade realiza-se, segundo Hegel, no Estado; o Estado , portanto, o fim supremo. O homem s tem existncia racional no Estado, e s atravs dele age segundo unia vontade universal. Por isso s no Estado podem existir a arte, a religio, e a filosofia. Estas formas do esprito absoluto exprimem o mesmo contedo racional que se realiza na existncia histrica do Estado; por conseguinte, s atravs de uma dada religio pode subsistir uma dada forma estatal e s num dado Estado pode subsistir uma dada filo176 sofia e uma dada arte (1b., p. 119). O Estado o objecto mais especificamente determinado da histria universal do mundo, "aquele onde a liberdade adquire a sua objectividade e vive na fruio da mesma" (1b., p. 109). A histria do mundo , segundo este ponto de vista, a sucesso de formas estatais que constituem momentos de um devir absoluto. Os trs momentos dessa sucesso, o mundo oriental, o mundo greco-romano, o mundo germnico, so os trs momentos da realizao da liberdade do esprito do mundo. No mundo oriental s um livre; no mundo greco-romano a liberdade de alguns; no mundo germnico todos os homens so seres livres, porque livre o homem enquanto homem. Hegel ilustra e determina em todos os particulares geogrficos e histricos esta diviso; mas o tratamento que lhes d , como j acontecera com a filosofia da natureza, uma manipulao arbitrria do material usado e uma contnua violao dos cnones cientficos que presidem respectiva recolha e utilizao nas disciplinas correspondentes. Na realidade, a investigao historiogrfica baseia-se no interesse pelo passado enquanto tal; e
Hegel no tem interesse pelo passado, como no tem interesse pelo futuro. A sua nica categoria historiogrfica a do presente, que portanto a eternidade. "Na ideia, mesmo aquilo que parece passado conservado eternamente. A ideia presente, o esprito imortal; no existe tempo algum em que ela no tenha existido ou deixar de existir, ela no nem passado nem presente, sempre agora. Assim se afirma que o mundo actual, a actual forma 177 e autoconscincia do esprito, compreende em si todos os graus que se manifestam como antecedentes na histria. Certamente que estes se desenvolveram independentemente uns dos outros; mas aquilo que o esprito , foi-no sempre em si, e a diferena reside apenas no desenvolvimento deste em si" (1b., I. p. 189). Hegel levou deste modo sua expresso mais crua e mais radical o conceito de histria que, surgindo fugazmente na fantasia de Lessing e Herder, tinha encontrado a sua formulao preparatria em Fichte e Schelling. o conceito de histria como profecia ao contrrio, como desenvolvimento necessrio de um todo completo e por conseguinte como uma totalidade imvel e privada de desenvolvimento, como um eterno presente, sem passado e sem futuro. NOTA BIBLIOGRFICA 566. Sobre a vida de Hegel K. Posenkram H. s Leben, Berlim, 1844; R. Hiaym, H. und sein Zeit, BerIlm, 1857; W. Dilthey, Die Jugendgeschichte Hegels, e outros trabalhos @em GesammeUc Schriften, IV, Leipzig, 1921. 567. As obras completas de Hegel surgem depois da morte do filsofo a cargo de um grupo de amigos: Marheineke, Schulze, Ganz, Hotho, Michelet, Forster, com o Utulo Werke, VolIstandige Ausgabe, em 19 vols., Berlim, 1832-45. Esta obra foi reeditada vri" vezes sem alteraes substanciais. Uma nova edio critica a de 26 vols., a cargo de G. Lasson e J. Hofimeister, Leipzig, 1920, e segs. Uma boa edio igualmente a de H. Glk>--kner em 20 vols., Stuttga^ 1931, de que fazem parte aInda uma monograflia 178 sobre Hegel do mesmo Glockner, em 2 vols., e um Hegel-Lexikon em 4 volumes. Tradues italianas: Enciclopedia das cincias filosficas, trad. Croce. Bari, 1907; Filosofia do direito, trad. Messinco, Bari, 1913; Cincia da lgica, trad. Mni, Ba^ 1925; Histria da filosofia, trad. Codignola e Sanna, Perugia-Veneza, 1930; Fenomewologia, do esprito, trad. De Negri, Florena, 1933; Filosofia da histria, trad. Calogero, e Fatta, Florena, 1941; Os Princpios de Hegel (Fragm. de juventude, escritos do perodo de Jena, prefcio Fenomenologia), trad. De Negri, Florena, 1919; Escritos de filosofia do direito, trad. A. Negri, Bari, 1962; Propedutica filosfica (vol. XVIIII da edio original), trad. Radetti, Florena, 1951; Escritos de filosofia do dii@eito, trad. A. Negri, Bari 1962; Esttica, trad. N. Merker e N. Vaccaro, Milo, 1963. 568. Bibliografia em Croce, O que est vivo e o que est morto na filosofia de Hegel, Bari, 1906. Para um @exame da mais recente literatura hegelinT, : N. Bobbio, em "Belfagor", 1950.
Haym, op. cit., J. H. Stirling, The secret of H., Londres, 1865; K. Rosenkranz, H. aIs deutscher Nationa?philosoph, Leipzig, 1870; E. Caird, H., Loondres, 1883, trad. itaJ., Palermo, 1912; K. Fischer, H. s Leben, Werke und Lehre, 2 vols. Heidelberg, 1901; Roques, H., sa vie et oeuvres, Paris, 1913; Croce, Ensaio sobre Hegel, Bari, 1913; B. R. Kroner, Von Kant bis H., Tubingen, 1921-24; T. Haring, H. sein Wollen und sein Werk, Ledpzig, 1929-38; E. De Negri, Interpretao de H., Florena 1943; 11. Niel, De Ia mediation dans Ia philoso,phie de H., Paris, 1945; T. Litt@ H., Heidelberg, 1953; ACresson, R. Serreau, H., Paris, 1955. 570. Os escritos de juventude de Ileged foram editados por H. Nobl, H. s Theologische Jugendschriften, Tubingen, 1907. Cfr. tambm Hoffnicister, Dokumente zur H.s Entwick1ung, Stuttgart, 1936. 179 Sobra os,escritos de Hegel e a formao do sistema hegeliano: DUthey, Jugendgeschichte H. 8, oit.; Delia VIpe, H. romntico e mstico, Florena, 1929; e especialmente: Haering, H., sein Wollen und sein Werke, 1, Leipzig, 1929, que um comentrio aos trabalhos de juventude; De Negri, O nascimento da dialctica hegeliana. Florena, 1930; G. Lukaes, Der junge H., Zurique, 1948; P. Asveld, La p"se religieuse du jeune H., Lovaina, 1953; A. T. Peperzak, Le jeune H. et Ia vision moral du monde, Ilaia, 1960; N. Merker, As origens da lgica hegeliana, Milo, 1961. 571. Sobre a fenomenologia do espirito: J. Walil, Le malheur de Ia conscience dans Ia philosophie de H., Paris, 1929; Th. Hacring, in Verhandlugen des dritten Hegelkongresses in Rom, Tubingon, 1934, p. 118 e segs; De Negri, Interpretao de H., Florena, 1943; A. Kojve, Introduction Ia lecture de H., Paris, 1947; J. Hyppolite, Genese et structure de Ia Fnomnologie de IlEsprit de Hegel, Paris, 1947. 572. Sobre a lgica: P. Janet, tudes sur Ia dialectique dans Platon et dans HegeZ, Paris, 1860; W. Wallace, Prolegomena to the Study of H.Is Philosophy and Especially of his Logic, Oxford, 1894; J. B. Baillie, The Origin and the Significance of H.Is Logic, Londres, 1901; Hibben, H. s Logic, Nova lorque, 1902; G. Mure, A Study of HegelIs Logic, Oxford, 1950; J. Ilyppolite, Logique et existence. Essais sur Ia logique de H., Paris, 1953; N. Merker, As origens da lgica hegeliana, Milo, 1961. 573. Sobre a filosofia da natureza: S. Alexander, in "Mind", 1866; E. Meywson, De rexplication dans les sciences, Paris, 1927, p. 343 e segs. 575. Sobre a esttica: Croce, t-TItimos ensaios, Bar!, 1935, p. 147-160. 576. Sobre a filosofia da religio: J. M. Steret, Studies in U.Is Philosophy of religion, Londres, 1891. 180 578. Sobre a Moaofia do direito: K. Maj@er-Moroau, H. s Socialphilosophie, Tubingen, 1907; S. Brie, Der Volkgeist bei H., in "Archiv. fur Rechts-und-Wdxtschaf,tsphilosophie", 1908-09; e especialmente: R,osenzweig, H. und der Staat, 2 vols. Berlim, 1920. 579. Sobre a filosofia da histria: G. Lasson, H. aIs Geschichtephilosoph., Leipzig, 1920; K. Leese, Die Geschichtephilo8ophie Ws, Berlim, 1922; Hyppolite, Introduction Ia Phil.
de Phistoire de Hegel, Paris, 1948; A. Plebe, H., Filsofo da Histria, Turim, 1952. 181 vi SCHOPENHAUER 580. SCHOPENHAUER: VIDA E ESCRITOS Adversrio do idealismo no campo do racionalismo optimista, Arthur Schopenhauer compartilha com ele o esprito romntico e a aspirao do infinito. Schopenhauer nasceu em Danzig a 22 de Fevereiro de 1788: o pai era banqueiro e a me, Joana, uma conhecida romancista. Viajou, na juventude, por Frana e Inglaterra; e depois da morte do pai, que pretendia destin-lo ao comrcio, frequentou a Universidade de Gottingen. onde teve como professor de filosofia o cptico Schulze. Influram na sua formao as doutrinas de Plato e de Kant; Kant foi sempre considerado por Schopenhauer como o filsofo mais original e mais importante que existiu na histria do pensamento. Em 1811, em Berlim, Schopenhauer ouvia as lies de Fichte; em 1813 for183 mava-se com a tese Sobre a qudrupla raiz do princpio da razo suficiente. Nos anos seguintes (1814-18) Schopenhauer vive em Dresda. Escreve ento um trabalho intitulado Sobre a viso e sobre as cores (1816) em defesa das doutrinas cientficas de Goethe, de quem ficara amigo depois de uma estadia em Weimar; e preparou a edio da sua obra principal, O inundo como vontade e representao, que foi publicada em 1819. Depois de uma viagem a Roma e a Npoles, candidatou-se em 1820 ao ensino livre na Universidade de Berlim; e at 1832 mantm os seus cursos livres, sem demasiado zelo e sem qualquer sucesso. Entre 1822 e 1825 encontra-se novamente em Itlia. A epidemia de clera de 1831 apanha-o em Berlim; estabelece-se depois em Francoforte sobre o Meno onde permanece at morrer, em 21 de Dezembro de 1861. E@m 1836 publicava a Vontade na natureza, e em 1841, Os dois problemas fundamentais da tica, A sua ltima obra Parerga e paralipomena, foi publicada em 1851, e um conjunto de dissertaes e ensaios, alguns dos quais pela sua forma popular e brilhante, contriburam para a difuso da sua filosofia. Compreendem entre outros: A filosofia da Universidade, Aforismos sobre a sabedoria da vida, Pensamentos sobre argumentos diversos. A obra de Schopenhauer no consegue sucesso imediato e mais de vinte anos separam a primeira da segunda edio de O mundo como vontade e representao. Esta segunda edio enriquecida com um segundo volume de notas e aditamentos. Estava-se 184 no perodo do mximo florescimento do idealismo, contra o qual Schopenhauer se irritava
e zangava, endereando a Fichte, Schelling e Hegel e aos seus sequazes, os mais violentos sarcasmos. O idealismo tratado por ele depreciativamente como uma "filosofia universitria", uma filosofia farisaica, que no est ao servio da verdade, mas de interesses vulgares, preocupando-se apenas em justificar sofisticamente as crenas e os preconceitos que servem a Igreja e o Estado. No entanto, Schopenhauer reconhece quer em Fichte quer em Schelling um certo talento, ainda que mal empregado; mas para ele, Hegel, no passa de um "charlato pesado e enfadonho" e a sua filosofia uma <@palhaada filosfica", "a ms vazia e insignificante tagarelice que saiu de uma cabea de madeira" expressa na "salganhada mais repugnante e insensata que faz lembrar o delrio dos loucos". Schopenhauer no poupa Schleiermacher, nem Herbart, nem Fries. Na linguagem florida e pitoresca em que exprime o seu pouco benvolo veredicto sobre a filosofia contempornea, manifesta-se no entanto a exigncia, nele bastante viva, de liberdade da filosofia, exigncia que o leva a indignar-se violentamente contra a divinizao do Estado feita por Hegel. "Haver melhor preparao para os futuros burocratas do Estado do que esta filosofia que ensina a dar vida ao Estado, pertencendolhe de corpo e alma como a abelha ao cortio, e a no ter outro objectivo que no seja o de tornar-se uma pea capaz de cooperar e manter de p a grande mquina do Estado? O amanuense e o homem so uma e a mesma coisa ... " 185 581. SCHOPENHAUER: A VONTADE INFINITA o ponto de partida da filosofia de Schopenhauer a distino kantiana entre fenmeno e nmeno. Mas esta distino entendida por Schopenhauer num sentido que nada tem de comum com o genuinamente kantiano. Para Kant o fenmeno a realidade, a nica realidade acessvel ao conhecimento humano; e o nmeno o limite intrnseco desse conhecimento. Para Schopenhauer o fenmeno aparncia, iluso, sonho, aquilo que na filosofia indiana designado pelo "Vu de Maia"; e o nmeno a realidade que se esconde por detrs do sonho e da iluso. Desde o incio que Schopenhauer faz reconduzir o conceito de fenmeno a um significado que era totalmente estranho ao esprito de Kant, e que extrado da filosofia indiana e budista, apreciada por Schopenhauer. E, nesta base, apresenta a sua filosofia como integrao necessria da de Kant: Schopenhauer descobria a via de acesso ao nmeno que Kant declarava inatingvel. Schopenhauer no d qualquer importncia doutrina moral de Kant, que indicava a f moral e as suas condies (postulados da razo prtica) como possibilidade de uma relao entre o homem e o mundo dos nmenos. Mas para ele, Kant o Kant da Crtica da razo pura, e apenas o da primeira edio dessa Crtica; A via de acesso ao nmeno descoberta por Schopenhauer a vontade; no a vontade finita, individual e ciente, mas a vontade nfinita e por isso una e indivisvel, independente de toda a individuao, Uma tal vontade, que vive no homem como em qualquer 186 outro ser da natureza, portanto um princpio infinito, de franca inspirao romntica. Schopenhauer pretende decantar a filosofia dos "aborrecidos idealistas"; no entanto a sua filosofia continua a manter estreitas relaes com o idealismo. Se para Hegel a realidade razo, para Schopenhauer vontade irracional; mas tanto para um como para outro s o infinito real, no sendo o
finito mais que aparncia. Hegel chega a um optimismo que justifica tudo aquilo que ; Schopenhauer desemboca num pessimismo que pretende negar e suprimir toda a realidade. Mas, tanto um como outro esto dominados pelo anseio de infinito, e tm o mesmo desinteresse pz-4a individualidade, que tambm para Schopenhauer mera aparncia. Se em Hegel a liberdade surge identificada com a necessidade dialctica, em Schopenhauer surge explicitamente negada porque contrria ao determinismo que reina no mundo dos fenmenos. A vontade infinita est internamente dividida e discordante e devoradora de si prpria: essencialmente infelicidade e dor. Schopenhauer faz-se arauto e profeta da libertao da vontade de viver e indica a via do ascetismo para tal libertao. No entanto, ele prprio no se sente muito empenhado num tal objectivo. No obstante o carcter proftico da sua filosofia, Schopenhauer na filosofia apenas v um somatrio de conceitos abstractos e genricos que no passam de "uma completa repetio e so como que um reflexo do mundo em conceitos abstractos" (Mundo, 1, 15). No entanto, o filsofo pode no estar interessado em pr em prtica os 187 princpios da sua filosofia. "Que o santo seja um filsofo to pouco importante, como pouco importante que o filsofo seja um santo: ou como importante que um homem belo seja um grande escultor ou que um grande escultor - seja um homem belo. Seria por outro lado uma coisa singular pretender que um moralista no deva recomendar seno a virtude que por ele praticada. Representar abstractamente, universalmente, limpidamente, em conceitos a essncia do mundo, e deste modo, qual imagem reflexa, coloc-la nos permanentes e sempre proporcionados conceitos da razo: isto sim a filosofia e no outra coisa" (1b., 1, 68). E assim Schopenhauer nem chegou a propor a si prprio a possibilidade de empreender a via da libertao asctica por ele to eloquentemente defendida como ltimo resultado da sua filosofia. Na verdade, mantm-se aferrado a essa mesma vontade de viver da qual afirmava a necessidade de se libertar. E quando, depois da morte de Hegel, decai a moda do hegelianismo a ateno do pblico comea a voltar-se para Schopenhauer, este no parece ficar satisfeito com isso. A sua personalidade mantm-se inteiramente fora da sua filosofia, que por isso mesmo se apresenta privada do melhor trunfo de qualquer filosofia: o testemunho vivo do filsofo que a elaborou. 582. SCHOPENHAUER: O MUNDO COMO REPRESENTAO "O mundo @ a minha representao": com esta afirmao se inicia a obra principal de Schopenhauer. Trata-se de um princpio semelhante aos axiomas de 188 Euclides: ningum reconhece a verdade, apenas a entende. A filosofia moderna, de Descartes a Berkeley, tem o mrito de generalizar este princpio. Tal princpio implica que a verdadeira filosofia deve sempre ser idealista. "Nada
mais certo, afirma Schopenhauer (Mundo, 11, c. 1): ningum poder jamais sair de si prprio para se identificar imediatamente com as coisas que so diferentes de si; tudo aquilo de que tem conhecimento seguro, portanto imediato, acha-se dentro da sua conscincia". A representao tem dois aspectos essenciais e inseparveis, cuja distino constitui a forma geral do conhecimento, seja abstracto ou concreto, puro ou emprico. Por um lado, existe o sujeito da representao, que o que tudo conhece e no conhecido por ningum, porque nunca poder ser objecto de conhecimento. Por outro lado, existe o objecto da representao, condicionado pelas formas a priori do espao e do tempo que produzem a multiplicidade. O sujeito est fora do espao e do tempo, uno e indiviso em todos os seres capazes de lerem representao. "Cada um destes seres integra com o objecto o mundo como representao e de forma perfeita em milhes de seres existentes. Mas se esse nico desaparecesse, deixaria de existir o mundo como representao" (lb., 1, 2). No pode existir objecto sem sujeito, nem sujeito sem objecto. O materialismo deve ser excludo porque nega o sujeito reduzindo-o ao objecto ( matria). O idealismo (o de Fichte) deve ser excludo porque desenvolve a tentativa oposta e igualmente impossvel de negar o objecto reduzindo-o ao sujeito. 189 Ora a realidade do objecto reduz-se sua aco. A ideia de que o objecto tem uma existncia exterior representao que dele faz o sujeito por conseguinte falha de sentido e contraditria. A aco causal do objecto sobre outros objectos constitui toda a realidade do prprio objecto. Por conseguinte, se chamarmos matria ao objecto do conhecimento, a realidade da matria extingue-se na sua causalidade. Deste reconhecimento, Schopenhauer obtm como primeira concluso a eliminao de qualquer diferena importante entre viglia e sonho. Aquilo que foi dito na antiqussima filosofia indiana, o que foi dito pelos poetas de todos os tempos, desde Pndaro a Calderon, encontra, segundo Schopenhauer, uma confirmao decisiva na concluso idealista da filosofia moderna: a vida sonho, e difere do sonho propriamente dito pela sua maior continuidade e conexo internas (Mundo, 1, 5). A segunda consequncia a de que a funo fundamental do intelecto a intuio imediata da relao causal intercedente entre os seus objectos: a realidade destes objectos consiste, como j se viu, exclusivamente na sua causalidade. O intelecto portanto essencialmente intuitivo nos confrontos da razo que , pelo contrrio, essencialmente discursiva e diz respeito apenas aos conceitos abstractos (lb., 1, 8). Os conceitos abstractos so irredutveis s intenes intelectuais, ainda que derivem delas e as pressuponham (lb., 1, 10). O saber propriamente humano conhecimento abstracto, feito mediante conceitos; mas tal saber no tem outro fundamento da sua certeza que a prpria intuio intelectual. Schopenhauer sus190 tenta que a prpria geometria deve ser inteiramente baseada na intuio que deste modo adquiria uma evidncia tanto maior se assumisse explicitamente como mtodo prprio o mtodo da intuio (1b., 1, 15). . Espao, tempo e causalidade constituem as formas a priori da representao, isto , as condies * que deve estar sujeito qualquer objecto Intudo. Da * importncia que Schopenhauer d ao princpio de causalidade, cujas vrias formas determinam as categorias dos objectos cognoscveis. No ensaio Sobre a
qudrupla raiz do princpio da razo suficiente, Schopenhauer tinha distinguido quatro formas do princpio da causalidade e, correspondentemente, quatro classes de objectos cognoscveis. 1.o O princpio da razo suficiente do devir regula as relaes entre as coisas naturais e determina a sucesso necessria causa-efeito. Esta forma abrange a classe das representaes intuitivas, completas e empricas: das coisas ou dos corpos naturais. Nos diferentes modos desta forma de causalidade se baseia a diferena entre o corpo inorgnico, a planta e o animal: o corpo inorgnico determinado nos seus momentos pelas causas (e no sentido estrito da palavra), a planta por estmulos, o animal por motivos. 2.' O princpio da razo suficiente do conhecer regula as relaes entre os juzos e faz depender a verdade das concluses da das premissas. Esta forma do princpio abrange a classe de conhecimentos que possuda apenas pelo homem, trata-se portanto de conhecimentos racionais verdadeiros e prprios. 3.' o prin191 cpio da razo suficiente do ser regula as relaes entre as partes do tempo e do espao e por isso determina a concatenao lgica dos aritmticos e geomtricos. Nela se baseia portanto a verdade dos conhecimentos matemticos, 4.' O princpio da razo suficiente do agir regula as relaes entre as aces e f-las depender dos seus motivos. A motivao deste modo uma espcie particular da causalidade e precisamente a causalidade vista do prprio interior do sujeito que actua. Estas quatro formas do princpio de causalidade constituem quatro formas de necessidade que dominam todo o mundo da representao: a necessidade lgica segundo o princpio da ratio cognoscendi; a necessidade fsica segundo a lei da causalidade; a necessidade matemtica segundo o princpio da ratio essendi; e a necessidade moral segundo a qual o homem, como o animal, deve praticar a aco sugerida pelo motivo, quando este motivo se lhe apresenta. Esta ltima forma de necessidade exclui evidentemente a liberdade da vontade humana que, segundo Schopenhauer, efectivamente no subsiste. O homem, como representao, apenas um fenmeno entre os outros fenmenos, e subjaz lei geral dos prprios fenmenos, a causalidade, na forma especfica que lhe prpria, a da motivao. Mas uma vez que a realidade no se reduz totalmente representao, que apenas um fenmeno, existe para o homem uma outra possibilidade de se reconhecer livre, possibilidade que est ligada essncia nomnica do mundo e de si prprio. 192 SCHOPENHAUER 583. SCHOPENHAUER: O MUNDO COMO VONTADE Se o mundo fosse apenas representao ficaria reduzido a uma viso fantstica ou a um sonho inconsciente. Mas o mundo no apenas representao; possui tambm um fenmeno, que a vontade. Com efeito, o homem como sujeito cognoscente est fora do mundo da representao e da sua causalidade; como corpo, est integrado no mundo e submetido sua aco causal. Mas o prprio corpo no dado ao homem apenas como fenmeno, no por ele intudo apenas como uma representao entre as outras representaes. No entanto -lhe dado numa forma mais intrnseca e imediata, como vontade. Em regra sustenta-se que os actos e movimentos do corpo so os efeitos da vontade; para Schopenhauer so a prpria vontade na sua manifestao objectiva, na sua
objectivao. O corpo no mais que a objectividade da vontade, a vontade tornada objecto de intuio, ou representao. A vontade portanto a coisa em si, a realidade interna cuja representao o fenmeno ou aparncia. "O fenmeno representao e nada mais: toda a representao, seja de que espcie for, todo o objecto, fenmeno. Pelo contrrio, coisa em si apenas a vontade: como tal no representao mas algo de gnero completamente diferente. Toda a representao, todo o objecto, fenmeno, extrinsecamente visvel, objectividade da vontade. Mas esta o ser ntimo, o ncleo de tudo o que singular, e tambm do todo. Manifesta-se em qualquer fora cega da natureza, manifesta-se igualmente na mediata con193 duta do homem. A diferena que separa a fora cega do proceder reflexo diz respeito ao grau da manifestao, no essncia da vontade que se manifesta". (Mundo, 1, 21). Como coisa em si, a vontade subtrai-se s formas prprias do fenmeno, ou seja: ao espao, ao tempo e causalidade. Estas formas constituem o principium individuationis, porque individualizam e multiplicam os seres naturais. A vontade que se subtrai a essas formas subtrai-se ao princpio de individuao: portanto nica em todos os seres. Por outro lado, uma vez que se subtrai causalidade, a vontade actua de modo absolutamente livre, sem motivao, e por conseguinte irracional e cega. Schopenhauer identifica-a com as foras que actuam na natureza; foras que assumem aspectos e nomes diversos (gravidade, magnetismo, electricidade, estmulo, motivo), nas suas manifestaes fenomnicas, mas que, em si, so uma e idntica fora, a vontade de viver. A objectivao da vontade na representao tem graus diversos. Cada grau unia ideia no sentido platnico: uma forma eterna ou um modelo, uma espcie, que surge depois indivduada e multiplicada no mundo da representao, como obra do tempo, do espao e da causalidade. A lei natural a relao entre a ideia e a forma do seu fenmeno. O grau mais baixo da objectivao da vontade constitudo pelas foras gerais da natureza. Os graus superiores so as plantas e os animais at ao homem, nos quais comea a surgir a individualidade verdadeira e prpria. Atravs destes graus, a vontade nica tende 194 para uma objectivao cada vez mais elevada. Cada @ u de objectivao da vontade contende com outro gra na matria, no espao e no tempo, e implica, por isso, luta, batalha e, alternadamente, vitria. Isto acontece quer na natureza inorgnica, quer no mundo vegetal e animal, quer entre os homens. Nos graus nfimos, a vontade surge como um impulso cego, uma surda agitao. Nos animais, torna-se representao intuitiva, e deixa de actuar como "pulso cego, uma surda agitao. Nos animais, torna-se razo que age em virtude dos motivos. Mas aquilo que a vontade adquire em clareza, perde em segurana: a razo est sujeita ao erro, e, como guia da vida, frequentemente falha no seu objectivo. Mas isso no impede que esteja ao servio da vontade e seja sua escrava (1b., 27). E desta escravido apenas se poder libertar atravs da arte e atravs da ascese. 584. SCHOPENHAUER: A LIBERTAO DA ARTE
A primeira e imediata objectivao da vontade a ideia, no sentido de espcie, de essncia universal e genrica. A ideia existe fora do espao e do tempo, fora do princpio de causalidade em todas as suas formas. , por conseguinte, exterior ao conhecimento comum e cientfico que est ligado ao espao, ao tempo e causalidade. Existe igualmente fora do indivduo como tal, aquele que conhece apenas os objectos singulares, objectos que so a objectivao mediata da vontade, e mediata tambm das ideias. Os objectos singulares as coisas e os seres exis195 tentes no espao e no tempo - pela sua multiplicidade e pela sua mutao, no constituem a objectivao plena e adequada da vontade. Esta objectivao adequada e plena apenas a ideia. E a ideia no o objecto do conhecimento, mas apenas da arte, que obra do gnio. Ora, enquanto o conhecimento, e por conseguinte a cincia, existe continuamente enredado nas formas do princpio da individuao e submetido s necessidades da vontade, a arte conhecimento livre e desinteressado. Quem contempla as ideias no j o indivduo natural, sujeito s exigncias da vontade, mas o puro sujeito do conhecer, o puro olho do mundo. O gnio a atitude de contemplao das ideias no seu grau mais elevado. "Enquanto para o homem comum, afirma Schopenhauer (Mundo, I, 36), o patrimnio cognoscitivo a luz que ilumina a estrada, para o homem genial ele mesmo quem revela o mundo". A contemplao esttica subtrai o homem cadeia infinita das necessidades e dos desejos com uma satisfao inamovvel e total. Esta satisfao no se consegue nunca de outro modo. ",Nenhum objecto da vontade, uma vez obtido, pode dar uma satisfao duradoura que no se altere; pelo contrrio, assemelha-se antes esmola dada ao mendigo, que lhe prolonga hoje a vida para continuar amanh o seu tormento" (1b., 38). Na contemplao esttica, pelo contrrio, a cadeia de necessidade interrompida porque o prprio indivduo de certo modo anulado. "A pura objectividade da intuio, pela qual a coisa singular no j conhecida como tal, mas sim a prpria ideia na sua espcie, determinada 196 por aquilo que consciente j no de si prprio, mas dos objectos intudos; por conseguinte, a conscincia mantm-se simplesmente como sustentculo da existncia objectiva desses objectos (1b., 11, cap. 30). Nisso consiste a analogia da arte com a anulao da vontade atravs do ascetismo. Quando o caminho no sentido da contemplao se faz s atravs de uma luta contra, os impulsos discordantes da vontade, tem-se ento o sentimento do sublime: - mas por esta luta no entanto que se distingue do sentimento do belo, onde ela no existe (Ib., 1 39). As diversas artes correspondem aos graus diversos da objectividade da vontade. Vo desde a arquitectura, que corresponde ao grau mais baixo da objectividade (ou seja, matria inorgnica), passam pela escultura, pela pintura, pela poesia at atingirem a tragdia que a arte mais elevada. A tragdia revela o dissdio intimo e a luta da vontade consigo prpria. "A dor sem nome, a angstia da humanidade, o triunfo da perfdia, o domnio discernvel do caso, e a fatal derrocada dos justos e dos inocentes, surgem, na tragdia, luz de uma verdade autntica e assim se obtm um indcio significativo da natureza do mundo e do sem (Ib., I, 51). Entre as artes, a msica merece um lugar parte. A msica no corresponde s ideias, como as outras artes, mas, tal como as prprias ideias, a imediata revelao da vontade to directamente como o mundo, ou antes, como as prprias ideias, cujo fenmeno multiplicado constitui o mundo dos objectos singulares" (lb., 1, 52). A msica assim a arte mais universal e profunda, a linguagem universal num
197 grau elevadssimo "que est para a universalidade dos conceitos quase como os conceitos esto para as coisas singulares". Todas as artes so libertadoras: o prazer que as Artes oferecem corresponde cessao da dor, da necessidade, cessao que se alcana quando o conhecimento se desvincula da vontade para se colocar como desinteressada contemplao. Mas a libertao pela arte sempre temporria e parcial. A arte no retira o homem da vida seno por breves instantes, e no um caminho para se sair da vida; apenas um consolo para a prpria vida. A vida da libertao total portanto diferente e independente da arte. 585. SCHOPENHAUER: A VIDA COMO DOR No limiar do estudo da tica, que deve indicar o caminho da libertao humana, Schopenhauer defronta-se com o problema da liberdade. Como pode o homem libertar-se da vontade, se no livre perante ela, se escravo da prpria vontade? No Ensaio sobre o livre arbtrio (1840) includo nos Dois problemas fundamentais da tica, Schopenhauer tinha-se j pronunciado, de forma breve, contra uma liberdade entendida como liberum arbitrium indifferenciae. Ao mesmo tempo tinha reconhecido, interpretando a seu modo a doutrina de Kant, a liberdade da essncia nomnica ou inteligvel do homem. E a esta soluo se mantm agarrado tambm na sua obra principal. O fenmeno, qualquer fenmeno, est submetido a 198 uma das formas do principio da razo; portanto necessidade. Mas o nmeno est fora dessas formas; portanto liberdade, e liberdade no sentido mais vasto, liberdade como omnipotncia. Omnipotente portanto a vontade em si, o nmeno de todas as coisas, por conseguinte tambm do homem. Mas o ,homem apenas um fenmeno da vontade, que em si una e indivisvel; como pode, portanto, ser livre? Schopenhauer distingue o carcter emprico do homem, que puro fenmeno e portanto necessrio e determinado, e o carcter inteligvel, que um acto de vontade fora do tempo e por conseguinte indivisvel e imutvel. O carcter inteligvel manifesta-se nas aces e determina a substncia do carcter emprico, mas isso no um poder humano, porque no o homem que o escolhe, a vontade que escolhe por ele. Ao carcter inteligvel, e ao carcter emprico vem juntar-se depois o carcter adquirido, que se
forma medida que se vive, em contacto com o mundo, e que consiste no conhecimento claro e abstracto do prprio carcter emprico. Em tudo isto, no encontramos ainda qualquer sinal de liberdade. E, contudo, a vontade em si prpria livre, e pode promover no homem e para o homem a sua prpria libertao. Isso s acontece no acto em que a vontade alcana "a plena conscincia de si, o claro e integral conhecimento do seu prprio ser e que se espelha no mundo" (Mundo, 1, 55). Mas como pode esta conscincia da vontade, este seu autoconhecimento ou auto- objectivao, que no passa de um produto da prpria vontade, anular ou bloquear 199 a vontade omnipotente, coisa que Schopenhauer no se esfora por explicar. A autonegao da vontade deve ser, portanto, o produto do claro lmpido conhecimento que a vontade tem em si prpria. O princpio deste conhecimento o de que a vida dor e de que a vontade de vida o princpio da dor. Querer significa desejar, e o desejo implica a ausncia daquilo que se deseja. Desejo privao, deficincia, indigncia, e por conseguinte, dor. A vida parece lanada num esforo incessante de afastar a dor, esforo que se mostra vo no preciso momento em que chega a seu termo. Com a satisfao do desejo e da necessidade surje um novo desejo e uma nova necessidade, e a satisfao jamais ter um carcter definitivo e positivo: o prazer a cessao da dor e tem portanto um carcter negativo e transitrio. Por outro lado, quando o aguilho dos desejos e das paixes se torna menos intenso, substitui-se o tMio, que ainda mais insuportvel que a dor. A vida portanto um contnuo oscilar entre a dor e o tdio; dos sete dias da semana, seis pertencem fadiga e necessidade, o stimo ao tdio i(Ib., 1, 57). Contra a tese de Leibniz, de que este o melhor dos mundos possveis, Schopenhauer afirma precisamente o princpio oposto, de que ele o pior dos mundos possveis. Possvel no aquilo que se pode fantasiar, mas aquilo que pode realmente existir; e se o mundo fosse apenas um pouco pior, no poderia mais existir. Portanto, uma vez que um mundo pior, no podendo existir, no possvel, este precisamente o pior dos mundos possveis. "O optimismo 200 no , afirma Schopenhauer, repetindo a seu modo uma tese de Hume, seno o auto-elogio injustificado do verdadeiro criador do mundo, isto , da vontade da vida que, complacentemente, se espelha na sua obra: portanto trata-se de uma doutrina no apenas falsa como ainda perniciosa" (Mundo, 11, cap. 46). Schopenhauer admite, no entanto, o finalismo na natureza e fala de uma
finalidade interna atravs da qual todas as partes de um organismo singular convergem na conservao dele e da sua espcie; e de uma finalidade externa que consiste na relao entre * natureza orgnica e a inorgnica que torna possvel * conservao de toda a natureza orgnica (1b., 1, 28). Como se concilia este finalismo com o pessimismo da tese de que este nosso mundo o pior dos mundos possveis, Schopenhauer no nos diz. Apenas observa que esse mesmo finalismo garante a conservao da espcie, no a dos indivduos de qualquer espcie, que so presa de incessantes guerras de extermnio que a vontade de viver conduz contra si prpria. Mas bvio que um certo nmero de indivduos deve no entanto salvar-se, caso a espcie deva ser conservada; e a salvao de tais indivduos deve, por conseguinte, fazer parte do finalismo ,geral. Pelo contrrio, no que diz respeito ao mundo da histria, o pessimismo de Schopenhauer mais coerente. Schopenhauer afirma que a verdadeira filosofia da histria no consiste em transformar os objectos temporais dos homens em objectivos eternos e absolutos e em construir artificiosamente o progresso; mas em saber que a histria, do princpio ao 201 fim do seu desenvolvimento, repete sempre o mesmo acontecimento, sob diversos nomes e diversas roupagens. Esse acontecimento nico o seu movimento, o agir, o sofrer numa palavra, o destino do gnero humano, que nasce das propriedades fundamentais do homem, muitas ms, poucas boas. Portanto, a nica utilidade que pode ter a histria a de dar ao gnero humano a conscincia de si e do seu prprio destino. Um povo que no conhea a sua histria vive como o animal; sem se dar conta do seu passado, limitado e submerso no presente. E o que a razo faz em relao ao indivduo, faz a histria em relao a uma totalidade de indivduos, refere o presente ao passado e antecipa o futuro. Por isso as lacunas da histria so como as lacunas na autoconscincia do homem; e perante um monumento da antiguidade que tenha sobrevivido sua histria, o homem mantm-se ignaro e estpido, como o animal perante as aces humanas ou como o sonmbulo que descobre de manh o que ele prprio fez durante o sono (Ib., 11, cap. 38). 586. SCHOPENHAUER: O ASCETISMO O fundamento da tica de Schopenhauer a contnua dilacerao que a vontade provoca em si prpria: d lacerao que, no indivduo, se traduz no contraste e na contnua rebelia das necessidades, e fora dele, no contraste e na rivalidade permanente entre os indivduos, na injustia. A injustia a condio da vontade de viver dividida e discor202 dante que existe nos diversos indivduos, Para ela s existe um remdio: o conhecimento da unidade fundamental da vontade = todos os seres, e por conseguinte, o reconhecimento dos outros por sua vez, como sujeitos. o homem mau no apenas o que atormenta, tambm o atormentado; s em virtude de qualquer sonho ilusrio ele se julga separado dos outros e da dor. O remorso temporrio ou a angstia duradoura, que acompanha a malvadez, so a obscura conscincia da unidade da vontade em todos os homens. Toda a
malvadez injustia, desconhecimento dessa unidade. Toda a bondade justia, reconhecimento dessa unidade, para l do vu de Maia, da ilusria multiplicidade do principium individuations. Mas a justia apenas o primeiro grau desse (reconhecimento; o grau superior a bondade, que o amor desinteressado pelos outros. Quando este amor perfeito, faz com que o outro e o seu destino sejam iguais a ns prprios e ao nosso destino: mais alm no se pode chegar, no existindo razo para preferir a outra individualidade nossa. Assim entendido, o amor no mais que compaixo; " apenas e sempre o conhecimento da dor de outrem tornada compreensvel atravs da dor prpria e colocadas lado a lado" (Mundo, 1, 67). Neste grau o indivduo v em todas as dores dos outros a sua prpria dor, porque reconhece em todos os outros seres o seu mais verdadeiro e intimo eu. Ento o vu de Maia acaba por ser completamente rasgado e ele est pronto para a libertao total. 203 Esta libertao, a ascese. Atravs dela, a vontade muda de direco, no se dirige j sua prpria existncia reflectindo-se no fenmeno; pelo contrrio, renega-a. A ascese "o horror do homem pelo ser de que expresso, o seu prprio fenmeno, pela vontade de viver, pelo ncleo e pela essncia de um mundo que se reconhece pleno de dom Qb, 1, 68). O asceta deixa de querer a vida, no prende a sua vontade ao que quer que seja, consolida em si prprio a mxima indiferena por tudo. O primeiro passo para a ascese a castidade perfeita. ela, com efeito, que o liberta da primeira e fundamental manifestao da vontade de vida, o impulso reprodutor. Segundo Schopenhauer, este impulso domina todas as formas do amor sexual. que, por mais etreo que possa parecer, est sempre dominado pelo choque de interesses e exigncias da reproduo. A escolha individual do amor no verdadeiramente individual, uma escolha da espcie e feita no interesse da espcie. A vontade de vida surge para Schopenhauer nesta funo como "gnio da espcie" que suscita e determina a escolha, o namoro, a paixo, com vista a garantir a continuidade e a prosperidade da prpria espcie. Em todas as relaes, mesmo as mais elevadas entre indivduos de sexo diferente, no existe seno "a meditao do gnio da espcie sobre o indivduo possvel, atravs dessas duas pessoas e da combinao das suas qualidades" (lb., II, cap. 44). Por conseguinte, entende-se como primeira exigncia da libertao asctica, da vontade de vida, a libertao total do impulso sexual, portanto a casti204 dade absoluta. A resignao, a pobreza, o sacrifcio e as outras manifestaes de ascetismo tm todas o mesmo objectivo: libertar a vontade de viver da prpria cadeia, extingui-la e anul-la. Se a vontade de viver fosse destruda totalmente num nico indivduo, ela desapareceria na sua totalidade, porque uma s. O homem tem como objectivo esta libertao radical da realidade da dor: e atravs do homem todo o mundo ser redimido. Schopenhauer procura a confirmao desta tese na filosofia indiana, no budismo e nos msticos cristos. E v na supresso da vontade de viver o nico e verdadeiro acto de liberdade que possvel ao homem. O suicdio no serve este objectivo. Porque no negao da vontade mas uma enrgica afirmao da mesma. Com efeito, o suicida quer a vida; est apenas descontente
com as condies que lhe couberam: por isso destri o fenmeno da vida, o seu corpo, mas no destri a vontade de viver, que no fica atingida ou diminuda com o seu gesto. (Ib., 1, 69). O homem , como fenmeno, um elo da cadeia causal: o que ele faz est necessariamente determinado pelo seu carcter e o seu verdadeiro carcter imutvel. Mas quando reconhece a vontade como coisa em si, subtrai-se determinao dos motivos que actuam sobre ele como fenmeno; esse conhecimento , no um motivo, mas um quietivo do seu querer e o carcter do homem pode ser assim eliminado e destrudo (lb., 1, 70). Atravs dele o homem torna-se livre, regenera-se e entra no estado a que os cristos chamam estado de graa. O termo, que pode 205
alcanar e onde pode repousar, o nada, o puro nada, a eliminao total de tudo aquilo que , enquanto vida e vontade de vida. "O que permanece aps a supresso completa da vontade, afirma Schopenhauer no fim da sua obra (Ib., 1, 71), certamente o nada para todos aqueles que esto ainda totalmente absorvidos pela vontade. Mas para os outros, nos quais a vontade destruda e renegada, este nosso universo to real, com todos os seus "s e as suas lcteas , ele prprio, o nada". Schopenhauer to decididamente contrrio ao pantesmo como ao atesmo. Se um Deus pessoal para ele "uma fbula judaica", o Todo-Uno do pantesmo um simples fenmeno acidental de um princpio mais vasto. "O mundo no encerra todas as possibilidades do ser, deixa fora de si tudo aquilo que indicamos de forma negativa, como renegao da vontade de vida" (Ib., II, cap. 50). O mundo do pantesmo o mundo do optimismo, precisamente onde o mundo de Schopenhauer existe apenas para tomar possvel a sua prpria negao. NOTA BIBLIOGRAFICA 580. Schopenhauer, S-mUiche Werke, editor F'rauen~dt, 6 vols., Leipzig, 1873-74; ed. Grisebach, 8 vols., Leipzig, 1891; ed. Steiner, 12 volg., Stuttgart, 1894 e segs.; ed. Prischeisen KhIer, 8 vols., Berlim, 1913; ied. Deussen, 14 vols., Berlim, 1911 e oegs. Esta ltima umia edio crftica e completa. 581. Th. Ribot, La philosophie de S., Paris, 1874; W. Wa~, S., Lon1891; E. G~bach, S., ncue Beitrage zur Lebens, Berlim, 1905; O. Siebert, A. S., 206 Stuttgart, 1906; A. Covotti, La vita e il pensicro di A. S., Turim, 1909; Th. Ruyssen, S., Paris, 1911; E. Seilliere, S., Paris, 19k12; M. Becr, S., Berlim, 1941; P. Martinetti, S., Milo, 1941; F. Copleston, A. S., Londres, 1946; A. Cresson, S., Paris, 1946; M, Gueroult, S. et Fichte., Paris, 1946. 582. L. Ducros, S., les origines d-sa metaphy.sique ou " transformations de Ia chose en
soi de Kant S., Paris, 1884; M. Mery, Essai sur Ia causalit phenomenale seZon S., Paris, 1948. 584. A. Fauonnet, L'esthetique de S., Paris, 1914. 585. Renouvier, S. et Ia metaphysique du. pessimisme, in "Llanno philosophique", 1893; K. Fischer, Die Philosophie des Pessi~mus, in "KlSchriften", I, Heidelherg, 1897. 586. E. Bergmann, Die Erlsungsl--hro, S. s, Munique, 1921. 207 Vil[ A POLMICA CONTRA O IDEALISMO 587. HERBERT: VIDA E OBRA Aos grandes sistemas idealistas e atitude romntica junta-se, na Alemanha, um movimento de reaco anti-idealista e, em certos aspectos, anti-romntico, que tem direces diversas; nenhuma delas, no entanto, retoma ou faz seu qualquer dos temas que o idealismo julgava ter superado e destrudo. evidente que para estes movimentos o idealismo, em ambas as suas formas, no existiu em vo: a prpria polmica oculta frequentemente uma maior ou menor afinidade de aspiraes, e portanto as posies que se contrapem ao idealismo mostram todas possuir, em graus diversos, algumas relaes com ele. 209 o tema polmico do realismo contra o idealismo desenvolvido por Friedrich Herbart. Nascido em Olderiburg a 4 de Maio de 1776, Herbart foi aluno de Fichte em Jena, mas assume desde logo uma posio extica perante as doutrinas do mestre. Um seu trabalho de 1794 dirigido contra o segundo princpio da Doutrina da cincia de Fichte, e um outro, escrito alguns anos mais tarde (e que a crtica a uma dissertao de Rist, Os ideais ticos e estticos), ainda que ilustrando o princpio da filosofia de Fichte, revela uma tentativa de lhe dar outra significao, afirmando que o eu de Fichte leva a um crculo infinito, no sentido em que se coloca sempre de novo como sujeito da sua subjectividade, e que este crculo faz do prprio eu uma unidade sinttica. Em 1796, numa crtica a Schelling, Herbart pronuncia-se claramente a favor do realismo; e repete a sua convico num trabalho seu escrito na Sua onde se encontrava como preceptor particular. Atravs da obra do pedagogo suo H. Pestalozzi (1746-1827), Herbart foi levado a considerar o problema educativo, a que dedicou em 1806 a Pedagogia geral e, mais tarde, o Esboo de lies de pedagogia (1835): obras que exerceram uma vasta e duradoura influncia sobre a teoria e a prtica da educao na Alemanha. Em 1805,
Herbart foi nomeado professor de filosofia e pedagogia em Knisgberg; e, em 1833, depois de ter em vo espera o sue er a eg na ctedra de Berlim, passou a ensinar em Gottingen onde permaneceu at morrer, em 14 de Agosto de 1841.-As suas principais obras so: Filosofia prtica universal, 1808; Introduo filosofia, 1813; 210 Manual de psicologia, 1816; Psicologia como cincia, 1824-25; Metafsica geral, 1828-29. A Introduo filosofia, por ele renovada e ampliada em quatro edies sucessivas, contm um resumo de todo o seu sistema. 588. HERBART: METAFSICA E lgica A tese fundamental de Herbart a oposio pura e simples da do idealismo: para o idealismo a realidade colocada pelo eu, para Herbart a realidade uma posio absoluta, isto , absolutamente independente do eu. No entanto, Herbart reconhece reflexo filosfica a capacidade de atingir e determinar a natureza e os caracteres gerais da realidade; e para isso no deve fazer mais que transformar em conceitos e depurar e libertar das contradies, os dados da experincia interna e externa. Deste modo, a filosofia no mais que a elaborao de conceitos. Como tal, dever em primeiro lugar dirigir-se directamente a todos os objectos quaisquer que sejam (a natureza ou o eu, a arte ou o estado), sem se preocupar em inclu-los no eu ou em qualquer outra misteriosa intuio; e em segundo lugar deve levar os conceitos forma de clareza e de distino que se torna explcita nos juzos e fornecer as regras de unificao dos prprios juzos dentro do esquema silogstico. Da filosofia faz parte integrante, portanto, a lgica, que estabelece os preceitos mais gerais, para separar, ordenar e unir os conceitos, e que a propedutica geral de qualquer cincia. A lgica de 211 Herbart a lgica tradicional, aristotlico-escolstica com certas influncias kantianas. A advertncia fundamental que a ela preside a de que nela os conceitos no valem nem como objectos reais, nem como actos de pensamento, mas simplesmente em relao quilo que mediante eles surge pensado, ou seja em relao sua referncia objectiva (Intr., 34-35). O ponto de partida de toda a filosofia, de toda a elaborao conceptual, a experincia; mas a experincia surge em Herbart, como j acontecia com os Eleatas e com Plato, enxameada de contradies e no podendo portanto ser assumida como a prpria realidade. Ela aparncia, mas aparncia de algo que . O prprio facto de alguma coisa aparecer demonstra que alguma
coisa existe; e ainda que no tenha os caracteres e as qualidades que se apresentam, , no entanto, na sua realidade, revelada pela aparncia. Que coisa possa ser esta realidade que a experincia pressupe e que revela ao manifestar-se, cabe filosofia determinar; e, neste aspecto, a filosofia metafsica. Atravs da reflexo sobre a experincia da eliminao das contradies, e da sua elaborao em conceitos, a metafsica deve alcanar a verdadeira realidade. A experincia contraditria porque contraditrias so as realidades que ela revela como experincia interna e externa: as coisas e o eu. Uma coisa uma unidade; mas se se pergunta que coisa possa ser, dever-se- responder enumerando as suas qualidades, que so muitas, e que, no entanto, devem ser inerentes sua unidade: essa coisa Portanto una e mltipla. O mesmo acontece com o 212 eu que, ainda que 'sendo um eu, possui uma pluralidade de determinaes originais; e, alm disso, multiplicado infinitamente pela prpria autoconscincia, j que a autoconscincia a representao de um eu que por sua vez um representar que reenvia para uma outra representao e para um outro representar e assim at ao infinito. Esta crtica do eu a crtica do idealismo: longe de constituir a slida base de todo o saber, o prprio eu um n de problemas que no se resolvem no seu mbito (Intr. 124). O espao, o tempo, a causalidade e sobretudo o carcter fundamental da experincia sensvel, a mutao, do lugar a contradies e aporias. Herbart distingue trs formas de mutao: aquela que no tem causa, ou seja, o devir absoluto; aquela que tem uma causa interna, ou seja, a autodeterminao; aquela que tem uma causa externa, ou seja, o mecanismo. Todas estas trs formas de mutao subjazem, prpria dificuldade fundamental. Toda a mutao supe um elemento ou um principio que muda (a causa, interna ou externa, ou o sujeito do devir absoluto); mas este elemento ou princpio, ao dar lugar mutao, alterase por sua vez internamente e cinde-se de novo num princpio de mutao e na mutao que da deriva; e assim at ao infinito. A considerao dessa mutao d lugar portanto a uma multiplicao infinita de termos sem que se consiga compreender a prpria mutao. A mutao essencialmente contraditria e por conseguinte irreal. Na condenao da mutao est implcita a condenao da liberdade moral entendida como autodeterminao e do idealismo 213 que resolve a realidade no devir absoluto do eu. So por isso igualmente impossveis, segundo Herbart, a liberdade transcendental de que fala Kant e a liberdade infinita de que fala Fichte. Estas consideraes excluem do ser toda a multiplicidade e toda a relao. A pluralidade e as relaes pertencem ao pensamento do ser, no ao prprio ser. Que algo, por exemplo A, exista, isso significa apenas que preciso contentarmo-nos com a simples situao, de A. Atribuir a A um complexo de anotaes e caractersticas, por exemplo a, b, etc., possvel, mas s com o compromisso de imediatamente se advertir que a, b, etc., traduzem conceptualmente A e que portanto devem desaparecer logo que se fale do ser de A. Neste sentido, o ser uma posio absoluta: e est absolutamente independente da multiplicidade de observaes conceptuais em que surje traduzido e expresso, sendo
tambm privado de negao e de relao. A concluso de que "existe efectivamente, fora de ns, unia quantidade de seres, cuja natureza simples e prpria desconhecida, mas que possuem condies internas sobre as quais ns podemos adquirir uma srie de conhecimentos que podem ir at ao infinito". Estes seres so considerados diferentes entre si e no relativos; todas as relaes que se possam estabelecer entre eles devem ser consideradas como uma viso acidental, que no qualifica e no modifica a sua natureza. Essas vises acidentais multiplicam o ser atravs do pensamento; mas como essas perspectivas so acidentais nos confrontos com o ser, no conseguem multiplicar o ser em si prprio. X 214
A doutrina das vises acidentais constitui o ponto central da filosofia de Herbart, que sem ela se acharia reduzida a um puro e simples eleatismo, a um simples reconhecimento da unidade e da imutabilidade do ser, sem qualquer possibilidade de explicar o mundo fenomnico. Essa mesma doutrina vem introduzir no entanto um certo contraste na prpria filosofia herbartiana, que por um lado se baseia na capacidade do pensamento em alcanar a natureza do real atravs dos conceitos, e por outro, considera os prprios conceitos como acidentais perante o real e, por isso, incapazes de implicar, com a sua multiplicidade, uma multiplicidade do prprio real. Ora se o real se revela no conceito, no se compreende que a multiplicidade interna do conceito no possa implicar a multiplicidade interna do real; ou, no caso desta implicao no subsistir, que se possa ainda interpretar o conceito como relacionado com o real. Alm da doutrina das perspectivas acidentais, outros conceitos subsidirios so necessrios para que o mundo fenomnico, possa ser explicado com a hiptese dos reais simples. Esses conceitos so o do espao inteligvel, o do tempo e o do movimento inteligvel. Estes conceitos nada tm a ver com as correspondentes determinaes empricas. Por exemplo, o movimento inteligvel, que o movimento originrio dos seres e n6 implica qualquer mutao no interior dos seres, pode produzir no entanto uma mutao quando pe em contacto seres de qualidades diferentes e que, em virtude do princpio de contradio, no podem coexistir num nico ponto. Em 215 tal caso a reaco de todos os seres afectados traduz-se num acto de autoconservao. No ser simples, como a alma, a autoconservao uma representao; nos outros seres, a autoconservao um estado interior do ser que deve ser pensado como anlogo e correspondente representao. Neste ponto, passa-se da metafsica psicologia e filosofia da natureza. Os conceitos subsidirios de que a metafsica se socorre para determinar a natureza dos seres simples encontram a sua explicao imediata nestas duas cincias. A primeira delas , por isso, a psicologia, porque s atravs das representaes desse ser
simples que a nossa alma se verificam as " autoconserva~" dos outros seres simples que fenomenicamente surgem como naturais. Psicologia e filosofia da natureza constituem o termo de comparao dos conceitos fundamentais da metafsica, assim determinados. 589. HERBART: PSICOLOGIA E FILOSOFIA DA NATUREZA Das teses fundamentais da metafsica resulta imediatamente que a representao no pode ser seno a autoconservao de um ser simples, chamado alma. Posto isto, a ideia capital da psicologia a seguinte: "as representaes, compenetrando-se alternadamente na alma, que una, lutam entre si enquanto opostas e unem-se numa fora comum quando no so opostos". Toda a vida da alma pode ser explicada, segundo Herbart, por esta ideia fundamental. Duas 216 HERBART representaes opostas tendem a desaparecer porque se enfrentam reciprocamente; mas quando unia delas cede ou se toma ineficiente por qualquer outra representao, logo surge a representao contrria. Por outras palavras, as representaes transformam-se, mediante uma recproca presso, numa tendncia para representar, e que toma o nome de apetite, vida, estmulo, actividade real, vontade, etc. Por conseguinte, no existem faculdades diferentes na alma. Nem o sentimento, nem a vontade, esto de forma alguma fora das representaes e ao lado delas. Um e outra consistem apenas em estados transitrios das representaes e so antes "conceitos de classe" segundo os quais se ordenam os fenmenos observados. Esta doutrina implica a ideia de que as representaes so foras e como foras actuam sobre o esprito humano. Com efeito, Herbart fala de uma esttica e de uma mecnica do comportamento das representaes, conseguindo alcanar a frmula que dever exprimir as leis gerais dos fenmenos psquicos. A introduo do clculo em psicologia deveria portanto ser admitida a partir dos ulteriores desenvolvimentos desta cincia. A mecnica das representaes explica todos os aspectos da vida espiritual. Dada a restrio imposta pela conscincia, nem todas as representaes podem estar presentes em todos os instantes da conscincia de um homem. As representaes, em virtude da sua aco, recproca, renem-se numa srie ou grupo, cujo comportamento determina todos os poderes do homem. Se estes grupos no actuam completamente, 217 e uma parte expulsa e a outra se rene de forma ilcita, acontece surgirem ento as conexes ininteligveis que se verificam no sonho e na iluso. Se, pelo contrrio, os grupos representativos se organizam completamente, se existe um intelecto, que pode ser definido como "a faculdade de conectar os pensamentos segundo a natureza do pensado", esse intelecto garante assim o acordo entre os pensamentos e
os factos da experincia. Se os grupos representativos aparecem, por outro lado, ligados e coordenados de forma a alcanarem uma completa unidade e cada uma das suas sries se encontra no respectivo lugar, ento estamos em presena da razo como "capacidade de reflexo e de compreenso de razes e contra-razes". Com a razo se ligam o sentido interno e o livre arbtrio. O sentido interno a relao com mais grupos de representaes, de tal modo que um grupo se pode apropriar de outro, da mesma forma que as novas percepes do sentido externo aparecem integradas e elaboradas pelas representaes homogneas mais velhas. Este fenmeno, pelo qual um grupo representativo acolhe em si uma nova representao homognea, designado por Herbart como apercepo. O sentido interno no mais que a prpria apercepo. Pelo mecanismo da representao se explica a liberdade. Ela apenas o domnio dos grupos representativos mais fortes sobre a excitao e sobre o movimento do, mecanismo psquico. As crianas no so livres porque no alcanaram ainda um carcter, ou seja, um grupo de representaes 218 dominantes. O prprio carcter, o eu, , por conseguinte, constitudo por um grupo compacto de representaes: o que nos pode dar a ideia de que possvel tambm ao eu destruir-se, cindir-se, como acontece na demncia. A filosofia da natureza de Herbart no mais que a traduo exacta, numa outra linguagem, destes conceitos fundamentais da psicologia. O pressuposto metafsico sempre o encontro acidental de seres simples com as autoconservaes imanentes. O encontro de dois seres opostos determina, a tendncia para a sua interpenetrao que a atraco: o encontro de dois seres cuja oposio no bastante forte para determinar a sua interpenetrao produz a repulsa. Atraco e repulsa (que no seu conjunto constituem a matria) so portanto o resultado do estado interno de um ser, da sua autoconservao, da sua reaco ao encontro causal com outro ser. Todas as foras da natureza se explicam pela oposio em que acabam por se descobrir os seres simples nos seus encontros casuais. Os graus e os modos diversos de oposio determinam a coeso, a elasticidade, a configurao, o calor, a electricidade. Herbart, no entanto, no considera suficiente a pura mecnica das foras - para explicar toda a vida orgnica. O desenvolvimento finalista desta vida e sobretudo a constituio dos organismos mais elevados, pressupe unia inteligncia divina que, sem ser ela prpria um Ser simples, deve ser fundamento das relaes que se verificam entre os seres.
219 590. HERBART: ESTTICA Sob o nome de esttica, Herbart compreende a teoria da arte bela e a moral. Belo tudo o que objecto de aprovao; a teoria do belo, a esttica, compreende portanto todas as disciplinas genericamente valoravas. O objecto da esttica o de individualizar e expor ordenadamente os conceitos-modelo ou ideias que devem ser depurados e todos os elementos subjectivos e transitrios, colocando-os acima das emoes e dos apetites. Por isso a ideia do belo no se identifica com o conceito de til ou de agradvel. A caracterstica do belo artstico a de que agrada espontaneamente e suscita imediatamente efeitos extremamente variados, mas passageiros, fixos ou permanentes no juzo esttico. No domnio moral, os conceitos-modelo ou ideias exprimem relaes entre vontades diversas, entendendo-se por vontade, j no a faculdade do esprito, mas os actos singulares e individualizados do querer. A primeira ideia moral a da liberdade interna que exprime a harmonia entre a vontade e o juzo que obre ela se forma, Esta harmonia o consenso entre o acto e a valorao do acto, consenso que "agrada absolutamente", e que a liberdade interna do sujeito agente. A segunda ideia moral a da perfeio: no existe uma medida absoluta da perfeio; a ideia que dela se pode ler no exprime seno uma referncia entre o mais e o menos. A terceira ideia moral a da benevolncia, que exprime a harmonia entre a vontade prpria e a vontade estranha: nela se baseia o pensamento capital da 220 moral crist, o amor. A quarta ideia a do direito que tem a origem na resoluo do conflito de vontades de diversas pessoas e cuja validade se baseia no facto de esse mesmo conflito <desagradar". Herbart descobre uma confirmao deste fundamento do direito na doutrina de Grocius que esboou o conceito de direito natural numa relao de oposio com o estado de guerra. A quinta e ltima ideia moral a retribuio ou equidade, que nasce do facto de uma aco no retribuda implicar uma perturbao que desaparece mediante a retribuio. - Estas cinco ideias morais fundamentais constituem o guia da conduta moral, porque exprimem a experincia moral, elaborada e purificada em conceitos. No tm, portanto, validade lgica absoluta. A este propsito, Herbart afirma que "a malevolncia to compreensvel como a benevolncia, o conflito tambm compreensvel, e, com maior razo, ainda mais compreensvel o conflito do direito, e assim por diante" (Intr. 94). Por outro lado, as ideias apenas valem no seu conjunto e nas suas conexes; isoladamente, no bastam para garantir uma direco a seguir na vida, uma vez que uma conduta pode ser perfeitamente racional por um lado, e irracional, por outro. A doutrina da virtude diz respeito conformidade da conduta humana, na sua unidade pessoal, com todo o conjunto de ideias morais. Mas s a
experincia permite estabelecer os limites e a modalidade de realizao das ideias morais nos mltiplos acontecimentos da vida. A doutrina da virtude depende por isso da psicologia, que lhe fornece o 221 conhecimento daquilo que o homem empiricamente; e na medida em que a psicologia depende da metafsica, ela depende tambm, indirectamente, desta. Os dois ramos principais da doutrina da virtude so a poltica e a pedagogia. A poltica assume como seu fundamento o ideal do direito, sem o qual no se pode conceber nenhuma estrutura social que esteja conforme com a razo. A pedagogia baseia-se em todas as ideias morais, mas d maior relevo ideia de perfeio, fazendo dela uma aplicao contnua. Ao lado da tica que, com as ideias morais, fornece psicologia os seus fins, para os quais deve ser dirigida a educao, Herbart coloca a psicologia como cincia dos meios da prpria educao. Precisamente da psicologia, Herbart extrai o princpio da possibilidade de educar, por ele reconhecido na relao dos grupos representativos do educando seja entre si, seja com o organismo fsico (,U. de ped., 33). Este princpio fornece o fim prximo da educao, cujo fim remoto a vida moral. O fim prximo o interesse, que nasce do acto com que os grupos representativos se desenvolvem e unificam, ou seja, da percepo. O interesse deve ser plurilateral, deve dirigir-se a todos os aspectos da experincia sem descurar nenhum. A pluralidade do interesse o Em daquilo a que Herbart chama a instruo educativa ou educao por meio da instruo. Com a doutrina da virtude tem estreitssima afinidade a religio. A prpria ideia de Deus no mais que o conjunto das ideias ticas simples. Mas a religio no implica apenas a ideia de Deus; implica, tambm, a f no governo providencial; e esta f pode 222 e deve ser baseada na metafsica, na medida em que leva a uma considerao teolgica da natureza. A f, segundo Herbart, vem ao encontro de uma necessidade essencial do homem, uma vez que o ajuda no seu aperfeioamento moral e que lhe concede uma confiana repousante nos acontecimentos do mundo. no entanto impossvel um sistema de teologia natural, para o qual faltam, ao homem, dados que lhe so sabiamente negados. Pelo contrrio, aquilo que se pode dizer de Deus em virtude das ideias prticas e da teologia natural, no lcito afirmar sobre o ser primeiro. Herbart ope-se especulao de Schelling, que pretende fixar de muito perto os contornos da divindade, e tese de Jacobi, que v no saber uma ameaa para a f. 591. PSICOLOGISMO: FRIES Herbart realizou uma precisa anttese do idealismo no campo do realismo. Fries pretende realizar a anttese do idealismo no campo do empirismo psicolgico. Jacob Friedrich Fries nasceu a 23 de Agosto de 1773 em Barby. Professor de Heidelberg, e depois de Jena, foi em 1819 suspenso das suas funes pelo governo prussiano. Mas em 1824 volta novamente a ser professor de fsica e matemtica e, em 1825, pode retomar tambm os seus cursos de
filosofia. Morre em Jena a 10 de Agosto de 1844. As suas obras principais so: Renhold, Fichte e Schelling @(1803; 2.a ed., com o ttulo Escritos polmicos, 1824); Sistema de filosofia como cincia evi223 dente (1804); Saber, f e pressentimento (1805), Nova crtica da razo 0818-32); Manual de antropologia psquica (1820); Sistema de metafsica (1824), Manual de doutrina da natureza (1826); Histria da filosofia (1837-40). A ideia mestra de Fries a de que o homem no possui outro meio de investigao filosfica que no seja a auto-observao (a introspeco), no havendo portanto outra via para basear qualquer verdade que no seja a que reconduz essa mesma verdade aos elementos subjectivos revelados pela auto-observao. Enquanto que para Herbart a experincia apenas o ponto de partida da elaborao de conceitos, para Fries a experincia a nica via de investigao filosfica, que no pode fazer seno torn-la transparente a si prpria mediante a auto-observao. A experincia de que fala Fries , por consegu@ntc, o objecto da observao interior, e portanto uma experincia puramente psicolgica. Compreende-se como, segundo este ponto de vista, a nica verdadeira cincia filosfica a psicologia, a descrio da experincia interior, psicologia a que Fries chama antropologia psquica, para a distinguir, por um lado, da antropologia pragmtica (de que se tinha ocupado Kant) e que diz respeito conduta do homem, e, por outro, da antropologia somtica (ou fisiologia) que diz respeito natureza corprea do prprio homem. Todavia, Fries no est de acordo com Herbart quanto possibilidade de um tratamento matemtico da psicologia. impossvel aplicar clculos vida espiritual, porque nesta falta sempre uma unidade de me224 FRIES dida; com efeito, trata-se de grandezas intensivas (e no extensivas como as espaciais) e quanto a elas no existe medida. Perante uma filosofia concebida como psicologia, as construes especulativas do idealismo romntico perdem todo o valor. Estas construes so, para Fres, um passo atrs em relao, a Kant que, pela :primeira vez, afirmou a exigncia de um autoconhecimento da razo como condio preliminar da aplicao da prpria razo a um objecto qualquer. Mas Kant, por seu lado, no desenvolveu em profundidade, at alcanar um psicologismo radical, a sua investigao. A sua crtica contm o erra de querer alcanar o fundamento transcendental da verdade, a verdade objectiva do conhecimento humano. Mas esta pesquisa est vedada ao homem, afirma Fries (Polem. Schrften, 11, p. 352-, Neue Krtik, 11, P. 179 e segs.). "A crtica da razo uma cincia de experincia baseada na autoobservao" (Metaph., p. 110); no seno psicologia, antropologia psquica. Esta "a cincia fundamental de toda a filosofia". O seu objectivo o de reconduzir os fenmenos internos do esprito humano s leis fundamentais da vida da razo" (Anthrop., 1, p. 4). A auto-observao revela imediatamente ao homem as suas trs actividades fundamentais: o conhecimento, o sentimento e a vontade. Mas revela-lhe tambm que ele prprio, como esprito, a causa desta actividade. Neste testemunho da experincia interior existe j, segundo Fries, a refutao de Fichte: o eu no um acto mas um agente, no actividade
mas a causa da actividade. Por isso 225 se torna impossvel negar, como fez Herbart, a faculdade da alma; esta negao o resultado de uma falsa doutrina metafsica (Ib., 5). Sobre as trs actividades que a experincia interna revela baseiam-se as trs faculdades fundamentais do esprito humano: o conhecimento, o corao e a fora de aco (lb., 14). O conhecimento humano inteiramente representao e a lei da verdade, que a regula, exige que ela represente os objectos e a sua existncia tal como so. Mas o nico fundamento desta lei um facto imediato na nossa vida espiritual: a autoconfiana na razo. A razo tem confiana por conter em si prpria a verdade: e neste testemunho psicolgico Fries baseia a validade objectiva de todo o conhecimento humano. A esta reconhece os mesmos limites reconhecidos por Kant: a viso humana das coisas, formada pela intuio sensvel e pelos conceitos, nada tem a ver com as ideias da essncia eterna das coisas. Esta essncia eterna antes o objecto da f. "Ns, afirma Fries (1b., 32), sabemos apenas aquilo que diz respeito s aparncias sensveis; acreditamos na verdadeira essncia das coisas, o sentimento da verdade que faz pressentir em ns o significado da f nas aparncias". Por isso todo o conhecimento do homem saber, f e pressentimento (Ahndung). A espacialidade e a temporalidade do mundo corpreo, a temporalidade dos fenmenos da vida espiritual, pertencem apenas aos fimitos subjectivos do esprito humano e, por conseguinte, razo humana, cuja observao limitada aparncia. A verdade eterna consiste nas ideias de absoluto, de liberdade e 226 de eternidade, ideias que no so dadas pelo saber, mas pela f (lb., 96). f se reduzem as prprias ideias estticas do sublime e do belo: o sublime , com efeito, o smbolo da verdade eterna e perfeita; o belo aparncia, o smbolo ou o anlogo da virtude (1b., 66). Fries unifica assim o ideal esttico com o ideal religioso, que, para ele, fazem igualmente apelo f. Quanto vida moral, o seu mais alto ideal o da dignidade do homem. A mxima fundamental da vida moral "o respeito pela dignidade pessoal do esprito humano" (Anthrop., 1, 58; Systent der Phil., 419). O absoluto valor da dignidade pessoal a raz de todos os deveres, porque impe vontade exigncias necessrias que no deixam escolha. No mesmo princpio se deve inspirar a doutrina do direito cuja mxima : "Trata os homens de modo a no ofenderes em nenhum a lei da igualdade da dignidade pessoal" (System der Phil., 431). O objectivo do estado o de fazer valer o direito baseado nesta mxima e o de garantir igualmente a mxima uniformidade do bem-estar, compatvel com a liberdade mxima possvel. Fries sustenta o ideal ,liberal da participao do povo na vida do Estado. "O governo coage os indivduos com o seu poder atravs da lei; o povo coage, com o receio das suas opinies claramente expressas, os governantes por meio da lei" (Ib., 466). A sua confiana no poder do povo em inspirar a aco do governo e em participar directamente nos negcios pblicos foi objecto de uma crtica bastante depreciativa por parte de Hegel, que (no prefcio Filosofia do Direito) (v nela a ten227
tativa de fazer ruir a rica constituio do ethos em si que o estado, a arquitectnica da sua racionalidade "na gua chilra do corao, da amizade e da inspirao". Hegel definia ainda como "vaidade a que se d o nome de filosofia" a doutrina do seu colega Fries; mas no h dvida que esta doutrina fez valer, e no sem eficcia, certas exigncias que a doutrina de Hegel deixava por resolver. Na realidade, a anttese entre Hegel e Fries era radical; e como tal se revela sobretudo no que diz respeito ao conceito que era o remate final da filosofia hegeliana, o conceito de histria. Neste domnio, Fries nega a possibilidade de qualquer concepo teleolgica e de qualquer progresso. "A histria dos homens est submetida lei de um desenvolvimento natural, no qual a fora vence sobre a fora ou a prudncia sobre a prudncia". Um progresso real s possvel no domnio intelectual a que se deve portanto restringir uma filosofia da histria. 592. PSICOLOGISMO: BENEKE Na mesma linha da reaco psicologstica ao idealismo especulativo, se desenvolve o pensamento de Friedrich Eduard BENEKE (17 de fevereiro de 1798 1.* maro de 1854). Dedicando-se ao ensino ,livre em Berlim, Beneke v-lhe retirada em 1822, depois da publicao do seu escrito Fundamentos da fsica de costumes, a autorizao para ensinar na Universidade. Acusou Hegel do sucedido, pois aquele era amigo do ministro prussiano Altenstein, e, ao 228 que parece, com razo. Hegel no gostava que na sua prpria Universidade se viesse ensinar doutrinas contrrias sua. Beneke passou a ensinar em Gottingen (1824-27), mas mais tarde pde regressar a Berlim, onde, depois da morte de Hegel, obteve uma ctedra (1832). Os seus principais trabalhos so: Doutrina do conhecimento (1820); Doutrina da experincia interna (1820), Novo fundamento da metafsica (1822); Fundamento da fsica dos costumes (1822); Rudimentos de psicologia (1825); Manual de psicologia como cincia natural (1833) A filosofia nas suas relaes com a experincia, a especulao e a vida (1833); Doutrina da educao e do ensino (1835-38); Sistema de metafsica e de filosofia da religio (1840); Sistema de lgica (1842); Psicologia pragmtica (1850). Como Fries, Beneke retoma as concepes de Kant, libertando essas concepes dos seus erros e desenvolvendo-as nos seus princpios fundamentais. O erro de Kant foi, segundo Bencke, o de instituir uma investigao independente da experincia, a fim de alcanar o conhecimento das formas a priori da intuio e das categorias. Pelo contrrio. a investigao dever basear-se exclusivamente na experincia e precisamente na experincia psicolgica. A psicologia a disciplina filosfica fundamental. Todos os conceitos filosficos aquilo que ou no logicamente vlido, o que moral ou imoral e assim por diante so apenas formas estruturais distintas da vida psquica. Por isso a lgica, a moral, a metafsica, a filosofia da religio, a filosofia do direito e a pedagogia, no passam de "psicologia" ou "psi229 cologia aplicada". "Atravs dos conceitos das disciplinas filosficas s pode ser pensado
aquilo que se formou na alma humana e segundo as leis do seu desenvolvimento; se essas leis forem reconhecidas com segurana e clareza, ento alcanar-se- um seguro e claro conhecimento dessas disciplinas" (Die Phil., p. XV). Mas a psicologia no pode basear-se na metafsica porque a precede; e, neste ponto, Beneke serve-se de Herbart. A psicologia dever seguir o mesmo mtodo das cincias naturais: deve portanto partir da experincia para isolar os ltimos elementos psquicos e determinar, mediante a induo, as leis da vida psquica. Deste modo a psicologia poder reconstruir a vida psquica do mesmo modo que a fsica reconstri o mundo natural com os elementos e as leis extrados da experincia. E assim Bencke se mostra defensor de uma psicologia construtiva e gentica, que tem por objecto todas as percepes internas da alma que, portanto, pode prescindir de qualquer relao dessas mesmas percepes com o mundo exterior. As prprias impresses dos sentidos externos podem ser consideradas pela psicologia na medida em que so ao mesmo @empo percepes internas. Como se disse, todas as disciplinas filosficas so partes ou aplicaes da psicologia. A lgica no ,mais que a considerao dos processos psquicos do pensamento, cujos elementos mais simples so os conceitos. Estes surgem como representaes comuns nas quais acabam por se formar os elementos semelhantes das representaes diversas que se encontram ao mesmo tempo na conscincia. Os princpios 230 lgicos so "as frmulas mais universais dos juzos analticos": exprimem a identidade das representaes conceptuais. A metafsica no mais que a relao existente entre as prprias representaes e a realidade exterior. Mas tambm este problema s pode ser colocado e resolvido no mbito da experincia interna. Mas esta no surge seno atravs de representaes: como se poder portanto falar de uma relao entre as prprias representaes e uma realidade independente? Beneke recorre ao testemunho da conscincia. Na percepo de ns prprios o ser -nos dado de forma imediata sem haver qualquer interveno de alguma forma estranha. Nas representaes dos sentidos, pelo contrrio, o objectivo e o subjectivo unemse de forma to estreita que impossvel distingui-los com segurana (Metaph., p. 534); por isso, ainda que no se possa negar que na sua base haja algo de real, tambm no possvel determinar qual a natureza desse real (1b., p. 252). No entanto, o devir deve ser uma forma essencial desta realidade em si Qb,, p. 261). A vida moral e a religio esto baseadas no sentimento. A religio origina-se no sentimento de dependncia do homem em relao a Deus, sentimento que justificado pela fragmentaridade da vida humana e pela exigncia de um remate final que s pode vir de
Deus. No o pantesmo. mas o tesmo o que poder satisfazer, segundo Beneke, um sentimento religioso desta natureza. O fundamento da tica um sentimento moral de natureza especifica. Beneke rejeita a moral universalista de Kant, em virtude da exigncia de todos 231 os indivduos deverem agir em conformidade com os princpios da prpria individualidade. A moral exige de homens diferentes aces diferentes. Essa a razo porque no pode determinar uma lei universal subjectiva da conduta moral, mas - pode e deve determinar a ordem dos valores que devem ser preferidos nas escolhas individuais; e os valores so determinados pelo sentimento. Com efeito, a apreciao dos valores obra dos confrontos e comparaes que so realizados pela alma em conformidade com as leis do seu desenvolvimento. Assim acaba por ser determinada a superioridade de certos valores em relao a outros; e os valores superiores surgem sentidos, e por conseguinte pensados, como obrigatrios, o que os torna obrigatrios e assim transformam em dever a aco que lhes conforme. O sentimento moral no , portanto, inato; antes uma formao psquica, o produto de um desenvolvimento devido s leis gerais da experincia interna. 593. A DIREITA HEGELIANA. ESCOLSTICA DO HEGELIANISMO data da sua morte, Hegel deixava um vasto nmero de discpulos que, durante os anos seguintes, formaram o clima filosfico e cultural da Alemanha. Mas esse vasto nmero de seguidores bem cedo sofreu uma ciso que determinou a formao de duas correntes antagnicas, em 1837, David Strauss (em Streitsehriften, 111, Tubingen, 1837) designava 232 BENEKE estas duas correntes com os termos que foi buscar aos hbitos do Parlamento francs, a direita e a esquerda hegeliana. A ciso devia-se s diferentes posies assumidas pelos discpulos no que se refere religio. Hegel tinha afirmado de forma enrgica que religio e filosofia tm o mesmo contedo; mas tinha proclamado tambm energicamente a distino entre uma e outra, afirmando que enquanto a primeira exprime o contedo na forma de representao, a segunda exprime-o na forma de conceito ( 576). verdade que Hegel no se tinha pronunciado sobre os problemas especificamente religiosos, como os de Deus, da encarnao e da imortalidade da alma; no entanto, preciso reconhecer que os princpios da sua doutrina no s no exigiam, como, de certo modo, no lhe permitiam que se pronunciasse sobre o assunto. Com efeito, por um lado Hegel reconhecia religio histrica plena validade no mbito da sua forma, portanto no campo da representao, por outro, sustentava que o contedo da religio devia ser retomado pela filosofia e integrado no plano dos conceitos, onde esses problemas deixam de ter o mesmo significado. Todavia, Hegel tinha apresentado a sua filosofia como justificao especulativa das realizaes histricas do esprito do povo: a Igreja e o Estado; assim se explica a posio de muitos discpulos em manterem-se fiis ao esprito, do mestre, utilizando a sua filosofia para justificarem as crenas religiosas tradicionais.
A direita hegeliana portanto a escolstica do hegelianismo. Utiliza a razo hegeliana (ou seja, a sistemtica da especulao hegeliana) do mesmo 233 modo que a escolstica medieval tinha utilizado a razo aristotlica: o seu fim o de justificar a verdade ireligiosa. Numerosssimos professores da Universidade alem @(e especialmente prussiana, dado que o governo prussiano considerava como filosofia oficial a filosofia de Hegel), telogos, pastores, dedicam-se tarefa de demonstrar a concordncia intrnseca do hegelianismo com as crenas fundamentais do cristianismo, socorrendo-se, para isso, de uma chamada justificao especulativa de tais crenas. Assim, Karl Friedrich Goschel (1781-1861), num escrito louvado pelo prprio Hegel, Aforismos sobre o no saber e sobre o absoluto saber (1829), tinha tentado demonstrar que uma justificao do sobrenatural s pode ser conseguida atravs de uma teologia especulativa no sentido hegeliano. Em seguida, no trabalho Sobre as provas da imortalidade da alma luz da filosofia especulativa (1835), Goschel desenvolve as trs provas da imortalidade, correspondentes s trs provas da existncia de Deus e aos trs graus do indivduo, do sujeito e do esprito. O tema da imortalidade volta a surgir com frequncia nas polmicas da escola hegeliana, sobretudo em relao radical negao da imortalidade feita por Feuerbach nos Pensamentos Sobre a morte e sobre a imortalidade. Na polmica intervieram Friedrich Ric@hter (nascido em 1802), com um escrito A nova imortalidade (1833), negando que se pudesse falar da imortalidade segundo o ponto de vista de Hegel, e Kasimir Conradi (17841849), que, pelo contrrio, defende a imortalidade (Imortalidade e vida eterna, 1837), como defende, em todas as cir234 cunstncias, o acordo entre o hegelianismo e o cristianismo. direita hegeliana pertence, numa primeira fase, Bruno Bauer (1809-1882) que, depois da publicao da Vida de Jesus (1835) de Strauss, fundou, em polmica com aquela obra, a Revista de teologia especulativa que se publicou durante trs anos (1836-38) e foi o rgo da direita hegeliana. Nela colaboraram Goschel, Conradi, Erdmann e Georg Andreas Gabler (1786-1853), um dos mais firmes defensores da intrnseca concordncia entre hegelianismo e cristianismo. Nos anos seguintes Bruno Bauer, juntamente com o irmo Edgard (1820-86), passou a defender a exigncia de unia crtica bblica radical e proclamou-se ateu (A doutrina hegeliana da arte e da religio, 1842; A crtica do Evangelho de S. Joo, 1840; A crtica dos evangelhos sinpticos, 1841-42). direita hegeliana pertence tambm o historiador da filosofia Johann Eduard Erdrnann (1805-92), autor das Lies sobre a f e o saber (1837), de um escrito sobre Corpo e alma (1837) e de um outro sobre Natureza ou criao? (1840) no qual o conceito de criao surge defendido e esclarecido de acordo com a especulao hegeliana. Erdmann escreve tambm uma obra de Psicologia (1840) que, segundo ele, foi escrita a simples ttulo de "entretenimento", alm dos Lineamentos de lgica e metafsica (1841) e outros escritos
tericos, cujas divergncias em relao ao hegelianismo so insignificantes. No desenrolar histrico da filosofia, Erdmann admite uma dupla necessidade; uma histrica, para a qual todo o sistema de filosofia a expresso do carcter 235 do tempo em que surge; a outra, filosfica, para a qual todo o sistema deve assumir como premissas as concluses do sistema anterior. No centro da escola hegeliana Strauss tinha colocado Kapl Friedrich Rosenkranz (1805-79) que replicou rapidamente a tal designao numa comdia intitulada precisamente O centro da especulao, (1840). Rosenkrans foi obigrafo entusiasta de Hegel (Vida de Hegel, 1844; Apologia de Hegel, 1858, contra a monografia publicada por Haym em 1857). Nas suas obras, numerosssimas, desenvolve os pontos fundamentais da especulao hegeliana,por ele reformadas quase exclusivamente na distribuio das partes do sistema. Assim, no Sistema da Cincia (1850), Rosenkranz divide a enciclopdia em trs partes: Dialctica, Fsica e tica; na Dialctica a ideia como razo coloca o ser como pensamento na universalidade dos conceitos ideais; na Fsica a ideia como natureza coloca o pensamento como ser na particularidade da realidade material; na tica a ideia como esprito coloca o ser como pensante e o pensamento como existente por si, na subjectividade que livremente se conhece a si prpria. Por sua vez, a Dialctica surge dividida por Rosenkranz (Cincia da ideia lgica, 1858-59) em trs Partes: Metafsica, Lgica e Doutrina da ideia, esta ltima unificadora do ser e do pensamento que nas duas partes anteriores so contrapostos. O resultado mais notvel a limitao da lgica doutrina do conceito, do juizo e do silogismo e, por conseguinte, a afirmao da sua relativa independncia da metafsica (que Ontologia, Eziologia e Teleologia). 236 Rosenkranz pretendeu, deste modo, levar a efeito um regresso parcial lgica e metafsica aristotlicas. A mesma redistribuio de contedo da especulao hegeliana nos apresentada no seu escrito sobre a Filosofia da Natureza de Hegel (1868), que um exame da reelaborao da filosofia da natureza de Hegel feita pelo italiano Augusto Vera na sua traduo francesa da Enciclopdia (P&ris, 1863-66). Tambm Kuno Fischer (1824-1907) se inspirou na filosofia hegeliana para a reconduzir quilo que ele considerava as obras primas de toda a filosofia, a lgica aristotlica e o cristianismo kantiano. Mas a obra mais importante de Fischer a histrica. A Histria da filosofia moderna (1854-77) uma srie de monografias imponentes que vo de Descartes a Hegel e que teve enorme influncia na cultura filosfica da poca No Sistema de lgica e metafsica ou Doutrina da cincia (1852), Fischer, depois de ter delineado numa Propedutica a histria da lgica at Hegel, esclarece, no sentido hegeliano, o mtodo da lgica entendido como desenvolvimento gentico das categorias. Este desenvolvimento dominado pela contradio que, continuamente, coloca ao pensamento problemas de cuja soluo nascem novos conceitos e novos problemas. Assim, da primeira pergunta: o que o ser?, nascem sempre novos problemas at se chegar ao do fundamento do ser; e do desenvolvimento deste ltimo
nasce por fim o do objectivo, que a auto-realizao da ideia. A lgica est por isso dividida em trs partes que dizem respeito ao ser, ao fundamento (ou essncia) e ao conceito (ou objectivo). 237 A maior personalidade da chamada escola de Tubingen de crtica teolgica e bblica foi Ferdinand Christian Bauer (1792-1860) que, nos seus trabalhos de crtica bblica e sobre as origens do cristianismo (Simblica e Mitologia ou a religio natural da antiguidade, 182425; A gnose crist, 1835; A doutrina crist da trindade, 1841), utiliza o princpio hegeliano do desenvolvimento histrico necessrio, no qual vm a colocar-se os graus de formao da conscincia religiosa. 594. A ESQUERDA HEGELIANA. STRAUSS Enquanto que a direita hegeliana , na sua tendncia fundamental, a elaborao de uma escolstica do hegelianismo, a esquerda hegeliana pretende, pelo contrrio, uma reforma radical do prprio hegelianismo, contrapondo-lhe aqueles traos e caracteres do homem que no hegelianismo no tinham encontrado um reconhecimento adequado. No plano religioso, esta tendncia d lugar a uma crtica radical aos textos bblicos e a uma tentativa de reduzir o significado da religio a exigncias e necessidades humanas (Strauss, Feuerbach); no plano histrico-poltico, tentativa para interpretar a histria em funo das necessidades humanas e negao da funo directiva da conscincia (Marx). David Friedrich Strauss,(27 de Janeiro de 1808 8 de Fevereiro de 1874) foi aluno de Ferdnand Bauer em Tubingen e teve estreitas relaes com a escola hegelliana. Em 1835 publicou a Vida de Jesus, obra 238 que em breve se torna famosa, suscitando violentas polmicas que cristalizaram a diviso da escola hegeliana. Esta obra a primeira tentativa radical, sistemtica e completa, de aplicar o conceito hegeliano da razo crtica dos textos bblicos. O resultado desta tentativa a reduo do contedo da f religiosa, ou filosofia ou histria, ou ento a um simples mito. "Se, como diz Strauss (Leben Jesus, 14), a religio d conscincia o mesmo fundo de verdade absoluta que a filosofia, mas sob a forma de imagens e no de conceitos, o mito pode surgir aqum ou alm do ponto de vista prprio da religio; no entanto, necessrio sua essncia". o mito uma ideia metafsica expressa na forma de um conto imaginado ou fantstico. Tem, por conseguinte, dois aspectos: um negativo, na medida em que no histria, o outro positivo, na medida em que uma fico produzida pela direco intelectual de uma dada sociedade (lb., 15). O mito diferente da lenda, que a transfigurao ou inveno, operada pela tradio, de um facto histrico, sem significado metafsico. Os mitos encontram-se em todas as religies e constituem a parte essencial da prpria religio; na verdade, aquilo que na religio no mito, ou histria ou filosofia. Um mito evanglico uma narrao que se refere, mediata ou imediatamente, a Jesus e que se deve considerar, no como expresso de um facto, mas como expresso de uma ideia feita pelos seus primitivos correligionrios. As duas fontes dos mitos evanglicos so: 1.* a espera do Messias em todas as suas formas, espera que existia no povo hebreu 239
anteriormente a Jesus e independentemente dele; 2.' a impresso particular produzida por Jesus em virtude da sua personalidade, da sua aco, do seu destino, @impresso que modificou a ideia que os seus compatriotas faziam do Messias. Partindo destas ideias principais, Strauss leva por diante a anlise filosfica e histrica dos textos evanglicos, rejeitando no mito e na lenda todos os elementos sobrenaturais e tudo o que no estivesse baseado no testemunho controlado e concorde com as fontes. O corpo da obra pretende demonstrar a diferena entre a religio crist, caracterizada pelos seus mitos, e a filosofia. Este contedo idntico constitudo pela unidade do finito com o infinito, de Deus com o homem. "A verdadeira e real existncia do esprito no nem Deus nem o homem em si, mas o Homem-Deus; no nem o finito, nem a natureza infinita, mas o movimento que vai de um para o outro, movimento que, por parte do divino, se traduz na revelao, e, por parte do humano, na religio" (1b., 147). A exigncia de que esta unidade saia do campo das simples possibilidades e se realize como uma certeza sensvel, a que nos leva ao princpio cristo da incarnao, ao DeusHomem. Mas a incarnao, entendida como um facto particular, na pessoa de um indivduo histrico e determinado, ela prpria um mito. S "a humanidade a reunio das duas naturezas, o Deus feito homem, isto , o esprito infinito que se alienou de si para encontrar a natureza finita, e a natureza finita que regressa sua infinitude" (lb., 148). Por isso Jesus no pode ser seno um desses indivduos csmicos nos quais 240 se realiza, segundo Hegel, a ideia substancial da histria. Jesus " aquele em quem a conscincia da unidade do divino e do humano desabrocha pela primeira vez com toda a energia e que, neste sentido, o nico inigualvel na histria do mundo, sem que a conscincia religiosa, conquistada e promulgada por ele pela primeira vez, possa subtrairse, no entanto, s ulteriores purificaes e extenses que ho-de resultar do desenvolvimento progressivo do esprito humano" (lb., 149). Num outro trabalho seu, A f crist no seu desenvolvimento e na luta com a cincia moderna (1841-42), Strauss contrape o pantesmo da filosofia moderna ao tesmo da religio crist. A histria do dogma cristo a crtica ao prprio dogma, j que revela o progressivo afirmar-se do pantesmo sobre o tesmo, e que, em Hegel, acaba por reconhecer, de forma ntida, no ser Deus seno o pensamento que pensa em tudo e os atributos de Deus, as leis da natureza, o todo imutvel e o absoluto o reflexo da eternidade nos espritos finitos. O carcter naturalista deste pantesmo acentua-se no ltimo trabalho significativo de Strauss, A antiga e a nova f (1872). Nele, Strauss levanta quatro perguntas: Seremos ainda cristos? Teremos ainda uma religio? Como concebemos o mundo? Como ordenamos a nossa vida? primeira pergunta responde negativamente, segunda afirmativamente. Tambm o pantesmo uma religio. "Exigimos para o nosso universo a mesma venerao que as pessoas mais velhas ainda exigem para o seu Deus. O nosso sentimento perante o Todo reage, em caso de ofensa, 241
de forma ainda religiosa" (Der alte und der neue Glaube, 44). Mas o Todo, o Universo, , nesta obra de Strauss, o mesmo que o dos materialistas ou, pelo menos, pode ser confundido com ele. A disputa entre materialismo e idealismo, afirma Strauss, sobretudo verbal. Ambos se opem ao dualismo tradicional alma-corpo, que o seu inimigo comum. E se um fala em termos de tomos e de foras mecnicas, e o outro em termos de representao e de foras espirituais, mantm-se o facto de que o aspecto espiritual e o aspecto fsico da natureza humana so uma e a mesma coisa considerada de formas diferentes (1b., 66). Strauss levado pela teoria evolucionista de Darwin a inclinar-se para a concepo materialista do desenvolvimento csmico que, nas suas primeiras obras, considerava como o devir da @razo. E tambm a sua moral se torna naturalista. "Toda a aco do homem consiste no determinar-se dos indivduos segundo a ideia da espcie. Realizar esta ideia em si prprio, construir-se e manter-se conforme o conceito e o destino da humanidade, o dever do homem para consigo prprio. Reconhecer e estimular praticamente em todos os outros a espcie humana, nosso dever para com eles" (1b., 74). Em conformidade com este ideal o homem deve dominar a sensibilidade, mas no deve mortific-la. O domnio sobro a natureza exterior s poder conseguir-se mediante a solidariedade entre os homens; e esta solidariedade realiza-se atravs da firme estruturao da famlia e do EStado. Strauss favorvel a uma poltica conserva242 dora e declara-se contrrio ao movimento socialista (1b., 84). 595. FEUERBACH: HUMANISMO Se a obra de Strauss, nos seus aspectos mais vivos, se acha ainda ligada ao hegelianismo, a obra de Feuerbach, pelo contrrio, combate energicamente ao hegelianismo e o seu oposto. Ludwig Feuerbach nasceu a 28 de Julho de 1804 em Landshut na Baviera e morreu em Rechenberg a 13 de Setembro de 1872. Aluno de Hegel em Berlim, professor livre em Erlangen, v a sua carreira universitria interrompida por causa da hostilidade s ideias religiosas expostas num dos seus primeiros trabalhos, Pensamentos sobre a morte e sobre a imortalidade (1830). Retirou-se ento e viveu solitariamente e para o estudo em Bruckberg. No inverno de 1848-49, a convite de alguns estudantes de Heidelberg, d, nesta cidade, as suas Lies sobre a essncia da religio. O convite fora possvel em razo dos acontecimentos de 48 e foi apenas um parnteses na vida de Feuerbach que passou os ltimos anos na misria. em Rechenberg. Primeiramente hegeliano convicto, Feuerbach veio depois a atacar o hegelianismo na sua obra Crtica da filosofia hegeliana (1839), seguindo-se no mesmo sentido as Teses provisrias para a reforma da filosofia (1843) e Princpios da filosofia do futuro (1844). Mas entretanto tinha publicado, em
1841, a sua obra fundamental, A essncia do cristianismo, qual se segue, em 1845, uma outra tambm importante, A essncia da religio. As obras 243 posteriores no fazem mais que retomar e desenvolver as teses contidas nestas duas obras e so: Lies sobre a essncia da religio (dadas em 1848-49, como se disse, mas publicadas em 1851); Teogonia segundo as fontes da antiguidade clssica judaico-crist (1857); Divindade, liberdade e imortalidade do ponto de vista da antropologia (1866); Espiritualismo e materialismo (1866); O eudemonismo (pstumo). Feuerbach comea por apresentar a sua filosofia ou "filosofia do futuro" como o inverso exacto da de Hegel. "O objectivo da verdadeira filosofia no o de reconhecer o infinito como finito, mas o de reconhecer o finito como no finito, como infinito; ou seja, o de colocar no o finito no infinito, mas o infinito do finito". A filosofia de Hegel , portanto, uma teologia porque considera o ser infinito; mas uma teologia sempre uma antropologia, e o objectivo da filosofia consiste em reconhec-la como tal. Com Hegel, Feuerbach admite a unidade do infinito e do finito, mas esta unidade para ele realiza-se, no em Deus ou na ideia absoluta, mas no homem. Mas - e reside aqui a principal caracterstica de Feuerbach - o homem, ainda que seja definido por essa unidade, no se reduz a ela; o homem um ser natural, real e sensvel e como tal deve ser considerado pela filosofia, que no pode reduzilo a puro pensamento; deve consider-lo, pelo contrrio, na sua totalidade "da cabea aos ps" (Nachlass, ed. Grun, 1, p. 93). Segundo este ponto de vista, as necessidades, a natureza, a materialidade do homem, no so exteriores s consideraes filosficas, devem ser por elas integradas; e, ao mesmo tempo, o 244 homem deve ser considerado na sua comunho com os outros homens, uma vez que s atravs dela encontra a liberdade e infinitude. "A verdadeira dialctica no um monlogo do pensador solitrio consigo prprio, mas um dilogo entre o eu e o tu" (Fil. do futuro, 62). Ora, s a religio teve sempre em conta o homem na sua totalidade e de forma concreta; da o interesse de Feuerbach. pela religio e a sua tentativa de criar uma filosofia que suplantasse a religio precisamente nas suas caractersticas essenciais. Neste sentido se dirige a crtica religiosa contida na Essncia do cristianismo e na Essncia da religio. O fundamento e o objecto da religio o ser do homem. "Mas a religio a conscincia do infinito: por isso no nem pode ser outra coisa seno a conscincia que o homem tem, no da sua limitao, mas da infinitude do, seu sem (Essenc. do crist., 1). A conscincia, em sentido prprio, sempre conscincia do infinito; e , por conseguinte, a conscincia que o homem tem na infinitude da sua natureza. Nesta tese fundamental est j implcita toda a filosofia de Feuerbach. "O ser absoluto, o Deus do homem, o prprio ser do homem". Toda e qualquer limitao da razo ou, em geral, da natureza humana, uma iluso. O homem individualmente poder sentir-se limitado, e nisto se distingue do animal; mas isso acontece apenas porque ele tem
o sentimento ou o pensamento da perfeio e da infinitude da sua espcie. Afirma Feuerbach: "Pensas o infinito? Ento pensas e afirmas a infinitude do 245 Poder do pensamento. Sentes o infinito? Ento sentes e afirmas a infinitude do poder do sentimento". Neste sentido, a conscincia que o homem tem de Deus a conscincia que tem de si prprio; a conscincia que tem do ser supremo a conscincia que tem do seu prprio ser. "A religio a primeira mas indirecta conscincia que o homem tem. de si prprio; por isso a religio procede a filosofia, no s na histria da humanidade como tambm na dos indivduos". A anlise que Feuerbach faz da religio em geral e do cristianismo em particular , por conseguinte, a reduo dos atributos 6vinos a atributos humanos da teologia antropologia. A razo como unidade, infinitude e necessidade do ser o primeiro atributo do homem que, referindo-o a Deus, toma, ele prprio, conscincia de si. Do mesmo modo, a ideia da perfeio divina no seno uma ideia directiva e constitutiva do homem, ela faz-lhe ver aquilo que ele deveria ser e no , coloca-o num estado de tenso e de desacordo consigo prprio e impele-o ao amor, atravs do qual Deus se reconcilia com o homem, ou seja: o homem com o homem. "Deus amor, esta a proposio mais sublime do cristianismo, pois exprime a certeza que o corao tem em si prprio, do seu poder como do poder legitimo, isto , divino... A expresso "Deus amor" significa que o corao o Deus dohomem, o ser absoluto. Deus o optativo do corao transformado num presente feliz" (1b., 13). Deste ponto de vista ter de ser entendido o mistrio da incarnao e da paixo. Que Deus tome a carne do homem e sofra por ele, isso s pode signi246 ficar a excelncia do homem e do amor humano, e no a natureza divina do sofrimento suportado pelo bem dos homens. Por isso a f em Deus o Deus do homem, e a Trindade crist, f, amor e esperana, tem o seu fundamento no desejo humano de ver realizados os seus prprios votos. Por conseguinte, o milagre um voto realizado sobrenaturalmente e fruto da fantasia que v realizados, sem obstculos, todos os desejos do homem. Cristo Deus conhecido pessoalmente, Deus na sua revelao, na sua manifestao sensvel. O cristianismo, unindo intimamente o homem a Deus, a religio ,perfeita. Quanto f na vida eterna, ela apenas f na vida terrestre que deveria existir; no diz respeito a uma vida desconhecida e diferente, mas verdade, infinitude e eternidade da vida humana. Todas as religies, e portanto tambm o cristianismo, contm, no entanto, um elemento de erro e de iluso. Se elas so o conjunto das relaes do homem com o seu prprio ser - e nisso consiste a sua fora e o seu poder moral consideram tambm esse ser como algo de diferente do homem e esta a sua fraqueza, a origem do erro e do fanatismo. Por isso Feuerbach dedica a segunda parte do seu trabalho sobre a Essncia do cristianismo s "contradies" implcitas na existncia de Deus e aos pontos fundamentais do cristianismo. No escrito sobre a Essncia da religio (1845), comea a delinear-se o sentido naturalista da filosofia de Feuerbach. Deus surje identificado com a natureza; e o sentimento de dependncia em que (como em Scbleermacher) surge reconhecida a essn247
cia da religio, entendido como dependncia do homem em relao natureza. A natureza o primeiro e originrio objecto da religio, como o demonstra a histria de todos os povos e de todas as religies (Ess. da relig., 2). Ora a dependncia da natureza sentida sobretudo na necessidade. A necessidade o sentimento e a expresso do no ser do homem sem a natureza; e a satisfao da necessidade o sentimento oposto da independncia da natureza e do domnio sobre ela. Da necessidade e da dificuldade em satisfaz-la nasce a religio que, em virtude disso, tem como pressuposto a oposio entre o querer e o poder, entre o desejo e a satisfao, entre a inteno e o efeito, entre a representao e a realidade, entre o pensamento e o ser. "No querer, no desejar, no representar, o homem ilimitado, livre, omnipotente Deus; mas no poder, na satisfao, na realidade, condicionado, dependente, limitado - homem, no sentido de um ser finito" (Ib., 30). Ora Deus o principio imaginado ou fantstico da realizao total de todas as vontades e de todos os desejos humanos. Deus o ser a quem nada impossvel; e por isso a representao imaginada de um absoluto domnio da vontade humana sobre a natureza, de uma completa realizao dos desejos 'humanos (1b., 42). A Deus se atribui a criao do mundo natural precisamente para se lhe atribuir o mais absoluto domnio da natureza e, por conseguinte, a capacidade de o colocar ao servio dos homens. "Deus a causa, o homem o objectivo do mundo; Deus o ser primeiro em teoria, mas o homem o ser primeiro na prtica" (1b., 53). 248 FELTERBACH Da o principio: "como o teu corao, assim o teu Deus". Como so os desejos dos homens, assim so as suas divindades. Os Gregos tinham divindades limitadas porque os seus desejos eram limitados. Os desejos dos cristos no tm limites; querem ser mais felizes que os deuses do Olimpo, querem que se realizem todos os desejos possveis, a eliminao de todos os limites e de todas as necessidades; por isso a divindade crist uma divindade infinita e omnipotente (1b., 55). Mas para todas as religies, indistintamente, verdadeiro o princpio de que "a divindade dos homens o fim principal da reli-'gio" (1b., 29). As @Lies sobre a essncia da religio (1848-49) retomam e fundamentam os trabalhos anteriores, mas no contm nada de novo. Os escritos subsequentes de Feuerbach insistem em expresses violentamente polmicas, algumas vezes paradoxais, sobre uma antropologia pela qual o corpo e a alma, o esprito e a carne, esto inseparve,1 e necessariamente conexos. A importncia que as necessidades, e com elas o aspecto material ou fsico do homem, tm nas suas consideraes antropolgicas faz com que Feuerbach . emita opinies paradoxais, como aquela que est contida no ttulo do seu trabalho de 62, O mistrio do sacrifcio ou o homem aquilo que come. Mas Feuerbach jamais chegou ao materialismo, reduo do esprito matria, da alma ao corpo. O que lhe interessa reivindicar, de forma mais enrgica, a
integralidade do homem, que no puro esprito ou pensamento, como tambm no pura matria. O aspecto fisiolgico do pensamento, afirma Feuer249 bach, s surge na conscincia nos momentos patolgicos quando o pensamento obstrudo e perturbado por necessidades no satisfeitas ou pela doena; mas "a alma onde ama, ama mais do que vive" (Espiritualismo ou materialismo, Werke, X, p. 163-164). Os ltimos escritos de Feuerbach, Espiritualismo e materialismo (1866), Eudemonismo (pstumo), contm a sua doutrina moral. A vontade no livre, porque se identifica com o impulso total do ser humano no sentido d felicidade pessoal. Mas a felicidade no se restringe apenas a uma pessoa, do mesmo modo que o indivduo no vivo no seu isolamento; a felicidade envolve o eu e o tu e tende a repartir-se numa pluralidade de pessoas. O princpio da moral portanto a felicidade bilateral ou multilateral. Feuerbach no justifica a coincidncia entre a felicidade pessoal e a felicidade dos outros, coincidncia em cujo mbito, como ele expressamente afirma, possvel a transformao da felicidade em virtude. Limita-se a reafirmar, mais num sentido poltico que filosfico, a estreita ligao do homem com os outros homens: e afirma de si que no "nem materialista nem idealista, nem filsofo da identidade. Que coisa ento? Ele com o pensamento aquilo que existe no facto; no esprito o que existe na carne, na essncia o que existe nos sentidos, homem; ou antes, uma vez que reconduz a essncia do homem sociedade, homem social, comunista" (Werke, VII, p. 310). A filosofia de Feuerbach a tentativa de transformar a teologia de Hegel numa antropologia basca250 da no mesmo princpio, a unidade do finito e o infinito. Mas este princpio no serve para basear uma antropologia autntica, que no pode ser mais do que a investigao do fundamento e da estrutura do finito como tal. Por isso a obra de Feuerbach, apesar de haver prospectado com fora e vivacidade polmica a exigncia de uma doutrina do homem, no pode dizerse que tenha contribudo em larga medida para a construo de tal doutrina. 596. STIRNER: O ANARQUISMO Uma oposio extrema ao universalismo de Hegel, que tinha pretendido negar e dissolver o indivduo, representada pelo individualismo anrquico de Stimer. Max Stirner, pseudnimo de Johann Kaspar Schmidt, nasceu em Bayreuth a 25 de Outubro de 1906 e morreu a 25 de Junho de 1856. Foi aluno de Hegel em Berlim. A sua obra O nico e a sua propriedade foi publicada em 1845 e o nico trabalho representativo. ainda autor de uma Histria da reaco (1852) e de outros escritos polmicos ocasionais publicados e recolhidos depois da sua morte. A tese fundamental de Stirner a de que o indivduo a nica realidade e o nico valor; a consequncia que Stirner tira desta tese o egosmo absoluto. O indivduo, na sua singularidade, pela qual nico e irrepetvel, precisamente a medida de tudo. Subordin-lo a Deus, humanidade, ao esprito, a um
ideal qualquer, seja mesmo ao do prprio homem, 251 impossvel, j que tudo o que diferente do eu singular, toda a realidade que se lhe contraponha e dele se distinga, no passa de um espectro, de que ele acaba por ser escravo. Stimer partilha a tese de Feuerbach de que Deus no existe fora do homem e que a prpria essncia do homem. Mas esta tese insuficiente, e simplesmente preparatria, em relao tese radical que dela deriva. A essncia do homem j algo de diferente do homem individual, j um ideal que pretende subordin-lo a si. Dessa forma o homem passa a ser ele prprio um fantasma, porque deixa de valer na sua singularidade para passar a valer como ideia, como esprito, como espcie, como qualquer coisa de superior a que deve subordinar-se. E Stirner recusa-se a reconhecer algo que seja superior ao prprio homem. Stirner no faz qualquer distino entre os ideais da moral, da religio e da poltica e as ideias fixas da loucura. O sacrifcio de si, o desinteresse, so formas de "obsesso, que se encontram tanto nas situaes morais como nas imorais". "O desinteresse pulula orgulhoso como a obsesso, tanto nas possesses do demnio como naquelas que possuem esprito benigno; tanto nos vcios e nas loucuras, como na humildade e no sacrifcio, etc". (O nico, trad. ital. p. 46). Que o homem deva viver e actuar subordinado a uma ideia , segundo Stimer, o mais Pernicioso preconceito que o homem pode cultivar, uma vez que o preconceito que o torna escravo de uma hierarquia. A igreja, o estado, a sociedade, os partidos, so hierarquias deste gnero que preten252 dem submeter o individual acrescentando-lhe qualquer coisa que est acima dele. O prprio socialismo, ainda que pretendendo subtrair o homem escravido da propriedade privada, pretende submet-lo sociedade. A liberdade que predica portanto ilusria. A verdadeira liberdade no pode ter outro centro e outro fim que no seja o eu singular. "Mas, uma vez que aspira liberdade por amor do eu, porque no fazer do eu o princpio, o centro, o fim de todas as coisas? No valho eu mais que a liberdade? No sou eu certamente que me fao livre a mim prprio, no sou eu certamente o primeiro?", (lb.,p. 121-122). A liberdade, por outro lado, uma condio puramente negativa para o eu; a condio positiva a propriedade: "Mas o que a minha propriedade? Aquilo que o meu poder. O direito -me conferido por mim ao tomar-me como minha propriedade e ao declarar-me, sem necessidade de outrem, proprietrio" (1b., p. 189). O fundamento da propriedade no mais que o poder do eu singular. Por isso a verdadeira propriedade a vontade. "No aquela rvore, mas a fora de dispor dela como me parecer, o que constitui a minha propriedade". Neste sentido, tambm os sentimentos constituem a propriedade do eu singular; constituem a propriedade no enquanto orientados ou idealizados, mas na medida em que so espontneos e intimamente conexos com o egosmo do eu. "Tambm, eu amo os homens, afirma Stirner (Ib., p. 215), mas amoos com a conscincia do egosta, amo-os porque o seu amor me torna feliz, porque o amor se encarna na minha natu.
253 reza, porque -isso me agrada. No reconheo nenhuma lei que me imponha o amar". Mas, segundo este ponto de vista, outro homem pelo qual eu tenha interesse ou amor, no uma pessoa, um objecto. "Ningum para mim uma pessoa que tenha direito ao meu respeito, cada um , como qualquer outro ser, um objecto pelo qual sinto simpatia, um objecto interessante ou no interessante, um objecto de que me posso ou no servir (Ib., p. 231). Por conseguinte, no possvel uma sociedade hierarquicamente ordenada e organizada, mas uma associao em que o indivduo se integra para multiplicar a sua fora e no vendo nela seno um meio. A associao s pode nascer com a dissoluo da sociedade, que representa para o homem o estado de natureza; e pode ser apenas o produto de uma insurreio que seja a revolta do indivduo e tenha em vista a abolio de todas as coaces polticas; isto no acontece com as revolues porque estas tm em vista substituir uma constituio por outra. As ideias de Stimer, ainda que na forma paradoxal e frequentemente chocante com que so formuladas, exprimem uma exigncia que se afirma sempre que a mesma negada ou iludida; a da unicidade, da insubstituibilidade, da singularidade do homem. E esta exigncia deu glria ao livro de Stirner (que est traduzido em todas as lnguas) dentro da cultura contempornea. Mas o prprio Stimer, esclarecendo o pressuposto ltimo das suas afirmaes, sublinhou o carcter abstracto e imperfeito que deu reivindicao dessa exigncia. Para ele o homem, o singular, um dado, uma realidade 254 inexprimvel, unia pura fora natural. No pode ser o mais ou menos homem, no pode transformar-se num verdadeiro homem, tal como a ovelha no se pode transformar numa verdadeira ovelha. "Julgais certamente que eu quero aconselhar-vos a imitar os animais. Mas no, - isso seria ainda um novo objectivo, um novo ideal> (1b., p. 245). No possvel qualquer distino, qualquer conflito entre o homem ideal e o homem real. "Eu, o nico, sou o homem. A pergunta "o que o homem?" transforma-se na pergunta "quem o homem?". Na primeira pergunta procurava-se o conceito, na segunda encontra-se a prpria resposta que dada pelo prprio que interroga" (1b., p. 270). O homem uma fora, uma fora natural que se expande: eis tudo. O problema no consiste em saber como que !deve conquistar a vida, mas como deve ele gast-la e goz-la; no consiste em saber como deve formar o seu, mas como deve esgot-lo e dissolv-lo (Ib., p. 237). Por isso Stirner fecha o seu livro com esta frase: "Repus a minha causa no nada" O nico faz de si prprio a sua propriedade e consome-se a si prprio: esta a ltima palavra de Stirner. NOTA BIBLIOGRFICA 587. Herbart: Samtliche Werke, ed. Hartenstein, 12 vols., Leipzig, 1850-52; editor Kehrbach, 19 vols., Langensaiza, 1887 e segs.; Philosophische Hauptschriften, ed. Flugel e Fritzseh, 3 vols., Leipzig, 1913-14. Tradues itaLanas: Introduzi"e alla filosofia trad. G. Vidossi, Bari, 1907; Pedagogia generale, trad.
255 Marpillero, Pailermo; Disegno di lezioni di pedagogia, trad. Marpillero, Palermo. 588. W. Kinkel, H., Glessen, 1903-, O. Flugel, H.s Leben und Lehre, Leipzig, 1921. 591. Th. Henke, FrieIs Leben aus seinem handschrifflichen NachIass dargestelIt, Leipzig, 1867. Sobre as relaes de Fries com Fichte, Schealing e Hiegel: K. Fischer, Akadmische Reden, Stuttgart, 1862. Sobre Fries ver alguns artigos publicados em <AbhandIungen der Frieschen Schule", 1912, M. Hasseblatt, J. F. Fries, Munique, 1922; K. Heinrich, Ueber d@e realistische Tendez in der Erkenntnislehre von J. P. F., Wurburg, 1931; J. H. Asenfuss, Die Religiomphilosophie bei J. F. F., Munique, 1934. 592. Para uma bibliografia das obras de Beneke: O. Graxnzow, F. E. Benekes Leben und Phlosophie, Bem, 1899; A. WandscImeider, Die Metaphisysik Benekes, Berlin-4 1903; A. Kempen, iem "Archiv fur Geschichte der Philosophie", 1914 (sobre a filosofia da religio). 593. Sobre a escola hegeliama as fontas so dadas pelas revistas do tempo e especialmente pela "Der Gedanke" a revista da Sociedade Filosfica de Berlim dirigida por C. L. Mich-elet, que, no.,g primeiros nmeros, contm uma bbliografia da escola a e&rgo de Rosenkranz. J. E. Erdmann, Gundriss der Geschichte der Philosophie, II, Berlim, 1894, p. 642 e segs.; W. Moog, Hegel und die HegeIsche Schule, Munique, 1930; M. Rossi, Introduzione alla storia delle interpretazioni di Hegel, I, Messina, 1953. Sobre F. C. Bauer: Zeller, Vortrge und AbhandIungen, Leipzig, 1865, p. 354 -e segs.; C. Fraedrich, P. C. B., Gotha, 1909. 594. Sobre a esquerda hegellana: v. a antologia de K. Lowith, A esquerda hegeliBa^ 1960, que compreende escritos de Hein,% Ruge, Hess, Stimer, 256 Bauer, Feuerbach, Mae Klerkegaard. Strauss, Gesammette Schriften, 12 vols., Bonn, 187681Sobre Strauss: A. Lvy, S., Pai*ls, 1910; K. Barth, D. F. S., Zurique, 1948. 595. Feuerbach: Smtliche Werrke, editado pelo prprio Feuerbach, 10 vols., Leipzig, 1841-1866; ed., W. Boln e F. Jodl, 10 vols. Stuttgart, 1903-11; Briefwechsel und NachZass, editor K. Grun, Leipzig, 1874. Tradues italianas: La morte e Llimortalit, trad. Galleti, Lenciano, 19i6; Principii di una filosofia de?Vavvenire (que compreende tambm dois outros ens.aios: La critica della filosofia hegeliana e le Tesi provisorie per una Riforma della filosofia), trad. Bobbio, Turim, 1946. P. Jodl, L. P., Stuttgart, 1904, 2., ed. 1921; A. Levy, La philosophie et son influence sur Ia littrature allemande, Paris, 1904; A Kohut, L. F., Leipzig, 1909; S. Rawidowiez, L. F. s Philosophie, Ursprung und Schicksal, Berlim, 1931; F. Lombard, L. P., seguida de uma escolha de passagens trad., Florena, 1935; K. Lowith, Da Hegel a Nietzsche, trad. Ital., Turim, 1949; G. Cesa, Il giovane P., B&rI, 1963.
596. Stirner, LIunico, trad. ital. E. Zoecoli, Milo, 4.1 ed. Sobre Stirner: Marx, IdeoZogia tedesca (1845-46), trad. !tal., p. 190 @e segs.; J. 11. Mackay, M. S. s Leben und seinen Werk, Berlim, 1898; V. Basch, Llindividuali.anarchiste de M. S., Paris, 1904; A. Ruest, M. H., Berlime Leipzig, 1906; Schultheiss M. S., 2., ed., Leipzig, 1922. 257 1ND1CE 111 FICHTE ... ... ... ... ... ... ... ... 7
546. A vida .. . ... ... ... ... ... 7 547. Escritos ... ... ... .. . ... ... 7 548. A infinidade do Eu ... ... ... 13 549. A doutrina da cineda e os seus trs prInc@pios ... ... ... ... ... 16 550. Infinitoe Finito: o Panteismo ... 24 551. A doutrina moral ... ... ... ... 27 552. Direito e POlitios, ... ... ... ... 34 553. A crise da especulao, de Fichte 39 554. O Eu ~o imagem de Deus ... 44 555. As exposies populare@s da filosofia religiosa ... ... ... ... ... 51 556. O infinito na histria ... ... ... 54 Nota bibliogrfica IV SCHELLING ... ... ... ... 56 59 ... ... ... ... ... ... 61 559. O
... ... ... ... ... ... ...
557. Vida ... ... ... ... ... ... ... 59 558. Textos infinito @e a natureza ... ... 63 259
560. O absoluto como ~tk ... 65 561. A filosofia da natureza 562. A filosofia transcendental ... ... 80 563. A HistSria e a Arte 564. A orientao religioso tewfica 92 565. A filosofia positiva Nota bibliogrfica V HEGEL ... ... ... ... 101
... ... 69 ... ... ... 86 ... ... ... 97
... ... ... ... ... ... ... ... 103
566. A vida ... ... ... ... ... ... 103 567. Escritos ... ... ... ... ... ... 106 568. A dissoluo, do finito e a identidade @entre real e racional ... ... ios 569. A dialctica ... ... ... ... ... 114 570. A formao do sistema ... ... 117 571. A fenomenol<>gia do espirito ... 122 572. A lglca ... ... ... ... ... ... 132 573. A filosofia da natureza ... ... 140 574. A filosofia do espirito ... ... ... 146 575. A filosofia da arte ... ... ... ... 150 576. A filosofia da religio ... ... ... 157 260 577. A histria da filosofia 579. A filosofia da histria Nota bibliogrfica ... ... ... 163 578. A filosofia do direito ... ... ... 172 ... ... ... 167
... ... ... ... 178
VI SCHOPENHAUER 580. Vida e escritos
... ... ... ... 183 ... ... ... ... 183 ...
581. A vontade infinita ... ... ... ... 186 582. O mundo como representao 188 583. O mundo como vonItade ... ... 193 584. A libertao da ax@te ... ... ... 195 585. A vida como dor ... ... ... ... 198 586. O asoetismo ... ... ... ... ... 202 Nota bibliogrfica ... ... ... ... 206 O IDEALISMO
VII-A POInMICA CONTRA
... ... ... ... ... ... ... ... 209 Metafisica e lgica ...
587. Herhart: Vida e obra ... ... ... 209 588. Herbart: 211 589. Herbart: Psicologia e filosofia da natureza 261 ... ... ... ... ... ... 216
590. Herbart: Esttica ... ... ... ... 220 591. Psicologismo: "es ... ... ... 223 592 Pistcologiusmo: Beneke. ... ... ... 228 593. A direita hegeaiana. Escolstica do hegel~mo ... ... ... ... ... 232 594. A esquerda hegeliana. Strauss 595. Feuerbach: Humanismo ... ... 243 596. Stimer: O anarqudsmo ... ... ... 251 Nota bibliogrfica 262 Composto e impresso para a EDITORIAL PRESENA na Tipografia Nunes Porto ... ... ... ... 255 ... 238
HISTRIA DA FILOSOFIA Dcimo volume Nicola Abbagnano Digitalizao e Arranjos: ngelo Miguel Abrantes (quarta-feira, 1 de Janeiro de 2003) HISTRIA DA FILOSOFIA
VOLUME X 3 Edio TRADUO DE: Armando da Silva Carvalho Antnio Ramos Rosa EDITORIAL PRESENA Titulo original STORIA DELLA. FILOSOFIA @ Copyright by Nicola Abbagnano Capa de F. C. Reservados todos os direitos para a lngua portuguesa Editorial Presena, Lda. Rua Augusto Gil, 35-A - 1000 LISBOA VIII KIERKEGAARD 597. KIERKEGAARD: VIDA E OBRA A obra de Kierkegaard no pode ser reduzida certamente a um momento da polmica contra o idealismo romntico. No entanto, muitos dos seus temas constituem uma anttese polmica exacta dos temas desse idealismo. A defesa da singularidade do homem contra a universalidade do espirito; da existncia contra a razo; das alternativas inconciliveis contra a sntese conciliadora da dialctica; da liberdade como possibilidade contra a liberdade como necessidade; e por fim da prpria categoria de possibilidade so pontos fundamentais da filosofia kierkegaardiana que, no seu conjunto, constituem uma alternativa radicalmente diversa daquela que o idealismo tinha apontado para a filosofia europeia. Trata-se, no entanto, de uma alternativa que permanece relativamente inoperante na filosofia de Oitocentos e que s no fim do sculo comeou a alcanar ressonncia primeiro no pensamento religioso e depois no filosfico. Sren Kierkegaard nasceu na Dinamarca, em Copenhaga, a 5 de Maio de 1813. Educado por um pai j velho no clima de uma religiosidade severa, inscreve-se na Faculdade de Teologia de Copenhaga, onde dominava, entre os jovens telogos, a inspirao hegeliana. Em 1840, dez anos depois do seu ingresso na Universidade, licenciava-se com uma dissertao Sobre o conceito de ironia especialmente em Scrates, que publicava no ano seguinte. Mas no inicia a carreira de pastor a que ficara habilitado. Em 1841-1842 foi a Berlim e ouviu as lies de Schelling, que aqui ensinava a sua filosofia positiva, baseada (como j vimos, 565) na radical distino entre realidade e razo. Entusiasmado, a principio, com Schelling, Kierkegaard em breve se mostra desiludido. A partir de ento passa a viver de um capital deixado pelo pai, absorvido em escrever os seus livros. Os incidentes exteriores da sua vida so escassos e aparentemente insignificantes: o noivado, que ele prprio frustrou, com Regina Olsen; o ataque de um jornal humorstico "0 corsrio"; a polmica, que ocupou os ltimos anos da sua vida, contra o ambiente teolgico de Copenhaga e especialmente contra o telogo hegeliano Martensen. Kierkegaard morreu a 11 de Outubro de 1855.
Mas estes episdios tiveram, quer na sua vida interior (como nos testemunha o seu Dirio), quer nas suas obras, uma profunda ressonncia, aparentemente desproporcionada com a sua real existncia. Kierkegaard fala no Dirio de um "grande terramoto" que em certa altura se produziu na sua vida e que o obrigou a mudar a sua posio perante o mundo (Tagebcher, II, A 805). S vagamente se refere causa desta alterao ("Uma culpa devia pesar sobre toda a famlia, um castigo de Deus descera sobre ela; por isso ela deveria desaparecer, banida como uma tentativa mal sucedida pela poderosa mo de Deus"); e apesar dos seus bigrafos haverem procurado, to indiscreta quanto inutilmente, descobrir essa culpa, ela continua a ser, mesmo em relao ao prprio Kierkegaard, uma ameaa simultaneamente vaga e terrvel. Kierkegaard fala no seu Dirio, e tambm no seu leito de morte, de um "um espinho cravado na carne" que ele fora destinado a suportar; e tambm neste caso, perante a ausncia de qualquer dado preciso, se pode descobrir o carcter grave e obsessivo do problema. Provavelmente seria esse espinho na carne que o impediu de levar a bom termo o noivado com Regina Olsen, com quem rompe, depois de alguns anos, por sua prpria iniciativa. Tambm neste caso nenhum motivo preciso, nenhuma causa determinada; apenas o sentimento de uma ameaa obscura e incompreensvel, mas paralisante. No entanto, Kierkegaard no segue a carreira de pastor nem qualquer outra; e mesmo em relao actividade de escritor sente perante ela uma "relao potica", uma relao longnqua e alheia: acentuada ainda pelo facto de haver publicado os seus livros sob pseudnimos diversos, impedindo assim qualquer relao entre o seu contedo e a sua prpria pessoa. Estes elementos biogrficos devem estar continuamente presentes para se compreender a posio filosfica de Kierkegaard. Eis as suas obras principais: O conceito de ironia (1841); Aut-Aut, de que faz parte o Dirio de um sedutor (1843); Temor e tremor (1843); A repetio (1843); Migalhas-filosficas (1844); O conceito de angstia (1844); Prefcio (1844); Estdios no caminho da vida (1845); Postilha conclusiva no cientfica (1846); O ponto de vista sobre a minha actividade de escritor (pstumo, mas escrito em 1846-47); A doena mortal (1849). Kierkegaard tambm autor de numerosos Discursos religiosos, e publicou em 1855 (Maio-Setembro) o peridico "0 momento" no qual dirigiu os seus ataques contra a Igreja dinamarquesa. 598. KIERKEGAARD: A EXISTNCIA COMO POSSIBILIDADE Aquilo que constitui sinal caracterstico da obra e da personalidade de Kierkegaard o facto de ele ter procurado reconduzir a compreenso de toda a existncia humana categoria de possibilidade e de ter evidenciado o carcter neRamente aparente da possibilidade como J Kant tinha reconhecido como fundamento de todo o poder humano uma possibilidade real ou transcendental; mas Kant, que tinha apenas destacado o aspecto positivo de tal possibilidade, faz dela uma efectiva capacidade humana, limitada sim, mas que encontra nos seus prprios limites a sua validade e a sua promessa de realizao. Kierkegaard descobre e acentua, com uma energia at ento nunca alcanada, o aspecto negativo de toda a possibilidade que entra na construo da existncia humana. Com efeito, todas as possibilida9 des alm de serem possibilidades-de-sim so tambm possibilidades-de-no: implicam a nulidade possvel daquilo que possvel, por conseguinte a ameaa do nada. Kierkegaard vive e escreve, sob o signo desta ameaa. Vimos j como todos os passos caractersticos da
sua vida se revestiram, para ele, de uma obscuridade problemtica. As relaes com a famlia, a promessa de noivado, a sua actividade de escritor, surgem-lhe carregadas de alternativas terrveis, que acabam por paralis-lo. Ele prprio viveu, em absoluto, a figura descrita de forma to impressionante nas pginas finais do conceito de angstia: a do discpulo da angstia, daquele que sente em si a possibilidade aniquiladora e terrvel, latente em qualquer alternativa da existncia. Perante qualquer alternativa, Kierkegaard sente-se paralisado. Ele prprio afirma ser "uma cobaia de experincias da existncia" e de reunir em si os pontos extremos de toda a oposio. "Aquilo que eu sou um nada; este procura em mim e no meu gnio a satisfao de conservar a minha existncia no ponto zero, entre o frio e o calor, entre a sabedoria e a estupidez, entre alguma coisa e o nada como um simples talvez" (Stadien auf dem Lebensweg, trad. Schrempf-Pfleiderer, pp. 2467). O ponto zero a indeterminao permanente, o equilbrio instvel entre as alternativas opostas que se abrem a qualquer possibilidade. E este foi sem dvida o espinho na carne de que Kierkegaard falava: a impossibilidade de reduzir a prpria vida a um objectivo preciso, de escolher entre as alternativas opostas, de reconhecer-se e actuar numa possibilidade -nica. Esta impossibilidade traduz-se, para ele, no conhecimento de que o prprio objectivo, a unidade da prpria personalidade, est precisamente nesta condio excepcional de indeciso e de instabilidade e de que o centro do seu eu est em no haver um centro. A sua actividade literria no teve outro fim que no fosse o de esclarecer as possibilidades fundamentais que se oferecem ao homem, os estdios ou momentos da vida que constituem as alternativas da existncia, entre as quais o homem geralmente levado a escolher, apesar de ele, Kierkegaard, no poder escolher. A sua actividade foi a de um contemplativo; afirmou e julgou ser, antes de tudo, um poeta. E multiplicou a sua personalidade com pseudnimos, de ]o forma a acentuar a distncia entre si e as formas de vida que ia descrevendo, para que desse a entender claramente que ele prprio no estava empenhado em escolher entre elas. S no cristianismo Kierkegaard vislumbra uma ncora de salvao: na medida em que o cristianismo lhe parecia encarnar a mesma doutrina da existncia que a seus olhos surgia como nica verdadeira e ao mesmo tempo oferecer, com a ajuda sobrenatural da f, um modo de se subtrair ao peso de uma escolha demasiado penosa. Por seu lado a filosofia hegeliana , para Kierkegaard, a anttese do ponto de vista sobre a existncia por ele vivido, e uma anttese ilusria. As alternativas possveis da existncia no se deixam reunir e conciliar na continuidade de um nico processo dialctico. Neste, a oposio das prprias alternativas apenas aparente, porque a verdadeira e nica realidade a unidade da razo consigo prpria. Mas o homem singular, concretamente existente, absorvido e dissolvido pela razo. Perante isto, Kierkegaard diz-nos que "A verdade, afirma ele (Tagebcher, 1, A 75), s verdade quando uma verdade para mim". A verdade no o objecto do pensamento, mas o processo pelo qual ele se apropria dela, fazendo-a sua e vivendo-a: a apropriao da verdade a verdade. reflexo objectiva, prpria da filosofia de Hegel,_Rirkegg4r ntrape ar fixa aoa existncia: a re exo ** -o. subject.ivg,-jiga @@_que.o homem singular st"Lrectamente envolvido qqqRIQ_@@@ destino e que n&Q @,obj@ctiva_.e desinteressada, mas apaixonada e paradoxaL Hegel fez do hornem um gnero animal, uma vez que s nos gneros animais o gnero superior ao singular. Mas o gnero humano tem como caracterstica o facto de o indivduo ser superior ao gnero. (Ib., X, A, 426). isto, segundo
Kierkegaard, o que nos ensina fundamentalmente o cristianismo; o ponto em que se deve travar a batalha contra a filosofia hegeliana e em geral contra toda a filosofia que se baseie na reflexo objectiva. Kierkegaard considera como aspecto essencial do objectivo a que se props a insero da pessoa singular, com todas as suas exigncias, no plano da investigao filosfica. No sem razo que ele teria mandado gravar no seu tmulo esta nica inscrio: "Um individuo" (Ib., 18). 11 599. KIERKEGAARD: ESTDIOS DA EXISTNCIA O primeiro livro de Kierkegaard intitula-se significativamente Ou... Ou... Trata-se de uma recolha de escritos com pseudnimos e que apresentam a alternativa de dois estdios fundamentais da vida: a vida esttica e a vida moral. O prprio titulo indica j como estes dois estdios no so dois graus de um desenvolvimento nico que passe de um ao outro e os concilie. Entre um estdio e o outro existe um abismo e um salto. Cada um deles forma uma vida em si que, pelas suas oposies internas, se apresenta ao homem como uma alternativa que exclui a outra. O estdio esttico a forma de vida que existe no tomo, furtivo e irrepetvel. O esteta aquele que vive poeticamente, que vive de imaginao e de reflexo. dotado da sensibilidade delicada que lhe permite descobrir na vida o que ela tem de interessante e sabe tratar os casos vividos como se fossem obra da imaginao potica. Assim o esteta forja um mundo luminoso, donde est ausente tudo o que a vida tem de banal, insignificante e mesquinho; e vive num estado de embriagus intelectual contnua. A vida esttica exclui a repetio, que implica a monotonia e exclui o interessante dos factos mais prometedores. A vida esttica concretamente representada por Kierkegaard na figura de Joo, o protagonista do Dirio de um sedutor, que sabe colocar o seu prazer, no na busca desenfreada e indiscriminada do gozo, mas na limitao e na intensidade da satisfao. Mas a vida esttica revela a sua insuficincia e a sua misria no aborrecimento. Todo o que vive esteticamente um desesperado, tenha ou no conscincia disso; o desespero o ltimo termo da concepo esttica da vida (Entweder-Oder, trad. Hirsch, 11, p. 206). o desejo de uma vida diferente que se projecta como uma outra alternativa possvel. Mas para alcanar essa alternativa, o esteta precisa de se lanar no desespero, optando por ele e entregando-se a ele com todo o empenho, para romper o invlucro da pura esteticidade e alcanar, num salto, a outra alternativa possvel, a vida tica. "Escolhe portanto o desespero, diz Kierkegaard; o prprio desespero uma escolha, pois pode duvidar-se sem se optar pela dvida, mas no se pode desesperar sem que haja uma 12 escolha. Quem desespera, escolhe de novo e escolhe-se a si prprio, no na sua imediatidade, como indivduo acidental, mas escolhe-se a si prprio dentro da prpria validade eterna" (Ib., p. 224). A vida tica nasce portanto com esta escolha. Ela implica uma estabilidade e uma continuidade que a vida esttica, como incessante busca da variedade, exclui por si. A vida tica o domnio da reafirmao de si, do dever e da fidelidade a si prprio: o domnio da liberdade pela qual o homem se forma ou se afirma por si. "0 elemento esttico aquele para o qual o homem imediatamente aquilo que ; o elemento tico aquele para o qual o homem se transforma no que transforma" (Ib., p. 190). Na vida tica, o homem singular sujeita-se a uma forma, adequa-se ao universal e renuncia a ser excepo. Tal como a vida esttica incarnada pelo sedutor, a vida tica incarnada pelo marido. O matrimnio a expresso tpica da eticidade, segundo Kierkegaard: um objectivo que pode ser comum a todos. Enquanto que na concepo
esttica do amor, duas pessoas excepcionais s podem ser felizes por fora da sua excepcionalidade, na concepo tica do matrimnio todos os esposos podem ser felizes. Alm disso, a pessoa tica vive do seu trabalho. O seu trabalho tambm a sua vocao porque trabalha com prazer: o trabalho pe-na em relao com outras pessoas, e ela ao realizar a sua tarefa realiza tudo aquilo que pode desejar no mundo (Ib., p. 312). A caracterstica da vida tica, neste sentido, a escolha que o homem faz de si prprio. A escolha de si prprio uma escolha absoluta porque no se trata da escolha de uma qualquer determinao finita mas a escolha da liberdade: ou seja, o fundo da prpria escolha (Ib., p. 228). Uma vez efectuada esta escolha, o indivduo descobre em si uma riqueza infinita, descobre que existe em si uma histria onde reconhece a identidade consigo prprio. Esta histria inclui as suas relaes com os outros, mesmo nos momentos em que o indivduo parece isolar-se mais, penetrando mais profundamente na raiz que o une a toda a humanidade. Pela sua escolha, o indivduo no poder renunciar a nada da sua histria, nem mesmo aos aspectos mais dolorosos e cruis; e ao reconhecer-se nesses aspectos, arrepende-se. O arrependimento a ltima palavra da escolha tica, e faz com que 13 essa mesma escolha parea insuficiente, entrando no domnio religioso. "0 arrependimento do indivduo, afirma Kierkegaard, envolve o indivduo, a famlia, o gnero humano, at se encontrar com Deus. S com esta condio ele poder escolher-se a si prprio; e tal condio para ele a nica indispensvel porque s atravs dela se pode escolher a si prprio num sentido absoluto" (Ib., p. 230). A escolha absoluta portanto arrependimento, reconhecimento da prpria culpa, da culpa de tudo aquilo de que se sente herdeiro. "Mas esse encontrar-se a si prprio no algo de ntimo, deve verificar-se fora do indivduo, deve ser conquistado; e o arrependimento o seu amor porque o escolhe, de forma absoluta, pela mo de Deus" Ob., p. 230). esta a jogada final da vida tica, a jogada que, pela sua prpria estrutura, tende a alcanar a vida religiosa. No entanto no existe continuidade entre a vida tica e a vida religiosa. Entre elas existe igualmente um abismo ainda mais profundo, uma oposio ainda mais radical do que a existente entre a esttica e a tica. Kierkegaard esclarece esta oposio em Temor e Tremor, concretizando a vida religiosa na pessoa de Abrao. Tendo vivido at aos setenta anos no respeito pela lei moral, Abrao recebe-de Deus ordem para matar o filho Isaac, infringindo assim a lei que at ento o tinha governado. O significado da figura de Abrao reside no facto de o sacrifcio do filho lhe ser sugerido no por uma qualquer exigncia moral (corno acontece, por exemplo, com o cnsul Brutus) mas por um puro comando divino que est em contraste com a lei moral e com o afecto natural e no encontra qualquer justificao, mesmo perante os familiares de Abrao. Por outras palavras, a afirmao do principio religioso suspende inteiramente a aco do princpio moral. Entre os dois princpios no existe possibilidade de conciliao ou de sntese. A sua oposio radical. Mas se assim, a escolha entre os dois princpios no pode ser facilitada por nenhuma considerao geral, nem decidida com base em qualquer regra. O homem que tem f como Abrao optar pelo principio religioso, seguir a ordem divina, ainda que custa de uma ruptura total com a generalidade dos homens e com a norma moral. Mas a f no um princpio geral; uma relao privada entre o ho14 mem e Deus, uma relao absoluta com o absoluto. Estamos no domnio da solido: nele no se entra "acompanhado", no se ouvem vozes humanas e no se distinguem regras. Dai
o carcter incerto e perigoso da vida religiosa. Como pode o homem estar certo de ser a excepo justificada? Como pode saber que ele o eleito, aquele a quem Deus encarregou de uma tarefa excepcional, que exige e justifica a suspenso da tica? Existe apenas um sinal indirecto: a fora angustiante com que se apresenta esta pergunta ao homem que foi verdadeiramente eleito por Deus. A angstia da incerteza a nica segurana possvel. A f por isso a certeza angustiante, a angstia que se torna certa de si e de uma relao oculta com Deus. O homem pode implorar a Deus que lhe conceda a f; mas a possibilidade de implorar no ela prpria um dom divino? Da a existncia, na f, de uma contradio no eliminvel. A f paradoxo e escndalo. Cristo o sinal desse paradoxo: aquele que sofre e morre como homem, apesar de falar e agir como Deus; -aquele que e deve ser reconhecido como Deus, ainda que sofra e morra como um msero homem. O homem colocado perante um dilema: crer ou no crer. Por um lado, ele quem deve escolher; por outro, toda a iniciativa fica excluda porque Deus tudo e dele deriva tambm a f. A vida religiosa encontra-se nas malhas desta contradio inexplicvel. Mas esta contradio tambm a da existncia humana. Kierkegaard v deste modo revelada, atravs do cristianismo, a prpria substncia da existncia. Paradoxo, escndalo, contradio, necessidade e ao mesmo tempo impossibilidade de decidir, dvida, angstia, so as caractersticas da existncia e so ao mesmo tempo os factores essenciais do cristianismo. Um cristianismo, todavia, de que Kierkegaard se apercebe (nos ltimos anos da sua vida) ser bastante diferente do cristianismo das religies oficiais. "Estou na posse de um livro, escreve ele, que neste pais se pode considerar desconhecido e cujo ttulo no posso deixar de enunciar: "0 Novo Testamento de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo". A polmica contra o pacifico e acomodado cristianismo da Igreja dinamarquesa, polmica onde Kierkegaard declarou descer a terreiro, mais pela sinceridade e honestidade do que pelo cristianismo, demonstra como, na verdade, 15 ele defendeu no cristianismo o significado da existncia que tinha reconhecido e feito seu. Mas este significado, ainda que se encontre expresso e, por assim dizer, incarnado historicamente no cristianismo, no est limitado ao domnio religioso mas ligado a todas as formas ou estdios da existncia. A religio integra-o, mas no o monopoliza: a vida esttica e a vida tica incluem-no igualmente, como se viu. E as obras mais significativas de Kierkegaard so as que o tratam de forma directa e o fixam no seu significado humano. 600. KIERKEGAARD: O SENTIMENTO DO POSSVEL: A ANGSTIA Kierkegaard comeou por pretender delinear os estdios fundamentais da vida, apresentando-os como alternativas que se excluem e como situaes dominadas por irremediveis contrastes internos. O aprofundamento da sua investigao leva-o ao ponto principal em que se enrazam as prprias alternativas da vida e os seus contrastes: a existncia como possibilidade. Kierkegaard enfrenta directamente, nas suas duas obras fundamentais, o Conceito de angstia e A doena mortal, a situao de radical incerteza, de instabilidade e de dvida, em que o homem se encontra constitucionalmente, pela natureza problemtica do modo de ser que lhe prprio. No conceito de angstia esta situao esclarecida nos confrontos das relaes do homem com o mundo; na Doena mortal, nos confrontos das relaes do homem consigo prprio, ou seja nas relaes constitutivas do eu. A angstia a condio gerada no homem pelo possvel que o constitui. Est estreitamente ligada ao pecado e na base do prprio pecado original. A inocncia de Ado ignorncia; mas uma ignorncia que contm um elemento que determinar a queda. Este elemento
no nem calma nem repouso; mas tambm no perturbao ou luta, porque nada existe contra que lutar. apenas um nada; mas mesmo este nada gerador de angstia. Diferentemente do temor e de outros estados anlogos que se referem sempre a algo de determinado, a angstia no se refere a nada de preciso. Ela 16 o puro sentimento da possibilidade. "A proibio divina, afirma Kierkegaard, torna Ado inquieto porque desperta nele a possibilidade da liberdade. Aquilo que se oferecia inocncia como o nada da angstia, penetra agora dentro dele, mas permanecendo ainda um nada: a angustiante possibilidade de poder. Em relao quilo que pode, Ado no tem ideia alguma, pois de outra forma seria um pressuposto tudo o que iria seguir-se, ou seja, a diferena entre o bem e o mal. Em Ado apenas existe a possibilidade de poder, uma forma superior de ignorncia, uma expresso superior de angstia, uma vez que neste grau mais elevado ela e no , e Ado ama-a e furta-se a ela". Na ignorncia daquilo que pode, Ado possui o seu poder na forma de pura possibilidade; e a experincia vivida desta possibilidade a angstia. A angstia no nem necessidade nem liberdade abstracta, livre-arbtrio; liberdade finita, limitada e manietada e deste modo se identifica como o sentimento da possibilidade. A conexo da angstia com o possvel revela-se na conexo do possvel como o futuro. O possvel corresponde completamente ao futuro. "Para a liberdade, o possvel o futuro, para o tempo o futuro o possvel. E assim tanto a um como ao outro, corresponde, na vida individual, a angstia". O passado s pode causar angstia na medida em que se representa como futuro, ou seja, como possibilidade de repetio. Deste modo, uma culpa passada faz nascer a angstia, mas s no caso de no ser verdadeiramente passada, pois se assim fosse poderia fazer nascer o arrependimento,; no a angstia. A angstia est ligada quilo que no mas poderia ser, ao nada que possvel ou possibilidade que origina o nada. Est intimamente ligada condio humana. Se o homem fosse um anjo ou um ser bruto, no conheceria a angstia; com efeito, ela desaparece ou diminui nos estdios que degradam ou levam bestialidade, e na espiritualidade atravs da qual o homem se sente extremamente feliz e privado de esprito. Mas tambm nestes estdios a angstia est sempre pronta a surgir: existe oculta e dissimulada, mas sempre pronta a retomar o seu domnio sobre o homem. " provvel que um devedor consiga libertar-se do seu credor e apazigu-lo com palavras, mas existe um credor que jamais se deixa enganar, esse credor o espirito". Com 17 efeito, a espiritualidade a reflexo do homem sobre si prprio, sobre a sua prpria condio humana, sobre a impossibilidade de adequar-se a uma vida puramente bestial. A conscincia da morte parte essencial da espiritualidade. "Quando a morte se apresenta com a sua face descarnada e truculenta, no h ningum que a no considere com receio. Mas quando ela, para se divertir com os homens que se gabam de se divertirem sua custa, avana camuflada, quando s a nossa meditao consegue desvendar que, sob os despojos de certa desconhecida, cuja doura nos encanta e cuja alegria fulgura no mpeto selvagem do prazer, existe a morte - ento somos tomados por um terror sem limites". As pginas conclusivas do Conceito de angstia exprimem, de modo poderosamente autobiogrfico, a natureza da angstia como sentimento do possvel. A palavra mais terrvel que foi pronunciada por Cristo no a que impressionava Lutero: Meu Deus porque me abandonaste? mas a outra, referindo-se a Judas: Aquilo que tens a fazer f-lo depressa! A primeira palavra exprime o sofrimento pelo que estava a acontecer, a segunda
a angstia por aquilo que podia acontecer; e s nesta ltima se revela verdadeiramente a humanidade de Cristo; porque humanidade significa angstia. A pobreza espiritual subtrai o homem angstia; mas o homem que se subtrai angstia escravo de todas as circunstncias que o impelem de um lado para o outro, sem parar. A angstia a mais terrvel de todas as categorias. Kierkegaard liga intimamente a angstia ao principio de infinidade ou de omnipotncia do possvel; principio que ele exprime mais frequentemente, afirmando: "No possvel tudo possvel." Segundo este principio, toda a possibilidade favorvel ao homem destruda pelo infinito nmero de possibilidades desfavorveis. " Geralmente, afirma Kierkegaard, diz-se que a possibilidade coisa-ligeira porque entendida como possibilidade de felicidade, de fortuna, etc. Mas tal no verdadeiramente possibilidade; uma inveno falaz que os homens, com a sua corrupo, embelezam para terem um pretexto de se lamentarem da vida e da providncia e de terem ocasio de se tornarem importantes a seus prprios olhos. No, na possibilidade tudo igualmente possvel e aquele que foi realmente educado pela possibili18 dade compreendeu tanto o lado terrvel como o lado agradvel da mesma. Quando se frequenta a sua escola sabe-se, melhor que a criana que aprende as suas lies, que da vida no se pode pretender nada e que o lado terrvel, a perdio, o aniquilamento habitam paredes meias com cada um de ns; e quando se aprendeu a fundo que qualquer das angstias que receamos pode tombar sobre ns, de um instante para o outro, ento somos obrigados a dar realidade uma outra explicao: somos obrigados a louvar a realidade ainda que ela se erga sobre ns como mo pesada e a recordar que ela de longe mais fcil que a prpria possibilidade (Der Begriff Angst, V). a infinitude ou indeterminao da possibilidade que torna insupervel a angstia e faz dela a situao fundamental do homem no mundo. "Quando a sagacidade fez todos os seus inumerveis clculos, quando os dados esto lanados, ento surge a angstia, ainda antes do jogo se considerar ganho ou perdido na realidade; porque a angstia faz uma cruz em frente do diabo, este j no pode avanar e a mais astuta das combinaes desaparece como um brinquedo, perante esse caso criado pela angstia atravs da omnipotncia da possibilidade" (Ib., V). E assim a omnipotncia da possibilidade liberta-se dessa sagacidade que se move entre as coisas finitas e vai ensinando o indivduo "a encontrar descanso na providncia". Do mesmo modo, faz surgir o sentimento de culpa que no pode ser apreciado atravs da finitude: "Se um homem culpado, infinitamente culpado" (Ib., V). 601. KIERKEGAARD: O POSSVEL COMO ESTRUTURA DO EU: O DESESPERO A angstia a condio em que o homem colocado pelo possvel que se refere ao mundo; o desespero a condio em que o homem colocado pelo possvel que se refere sua prpria interioridade, ao seu eu. A possibilidade que provoca a angstia inerente situao do homem no mundo: a possibilidade dos factos, das circunstncias, dos laos, que ligam o homem ao mundo. O desespero inerente personalidade do homem, relao do eu consigo prprio e 19 possibilidade desta relao. Desespero e angstia esto, por conseguinte, intimamente ligados, mas no so idnticos: ambos so todavia baseados na estrutura problemtica da existncia.
"0 eu, afirma Kierkegaard, uma relao que se relaciona consigo prpria; na relao, o sentido interno dessa mesma relao. O eu no relao, o regresso da relao a si prpria". Por isso o desespero est intimamente ligado natureza do eu. Com efeito, o eu pode querer, como pode no querer ser ele prprio. Se quer ser ele prprio, uma vez que finito, portanto insuficiente a si prprio, jamais alcanar o equilbrio e o repouso. Se no quer ser ele prprio, procura ento quebrar a relao que tem consigo, que constitutiva e debate-se igualmente com uma impossibilidade fundamental. O desespero caracterstica quer de uma quer de outra alternativas. Ele portanto a doena mortal, no porque conduza morte do eu mas porque consiste no viver da morte pelo eu: a tentativa impossvel para negar a possibilidade do eu, quer tornando-o auto-suficiente quer destruindo-o na sua natureza concreta. As duas formas de desespero apelam uma para a outra e identificam-se: desesperar de si, no sentido de querer desfazer-se de si, significa querer ser o eu que no se na verdade; querer ser o prprio a todo o custo significa ainda querer ser o eu que no se verdadeiramente, um eu auto-suficiente e completo. Num e noutro caso, o desespero a impossibilidade da tentativa. Por outro lado, o eu, segundo Kierkegaard, "a sntese da necessidade e da liberdade" e o desespero nasce dele ou da deficincia da necessidade ou da deficincia da liberdade. A deficincia da necessidade a fuga do eu para possibilidades que se multiplicam indefinidamente e que jamais se materializam. O indivduo passa a ser "uma miragem". Por fim, diz Kierkegaard, como se tudo fosse possvel, e precisamente este o momento em que o abismo devora o eu" (Die Krankheit zum Tode, I, C, A, b). O desespero aquilo a que hoje chamamos "evaso", ou seja, o refgio em possibilidades fantsticas, ilimitadas, que no tomam forma, nem se radicam em nada. "Na possibilidade tudo possvel. Por isso a possibilidade se pode subdividir em todos os modos possveis, mas essencialmente em dois. Uma destas for20 mas a do desejo, da aspirao, a outra a melanclico-fantstica (a esperana, o temor ou angstia)" (Ib., 1, C, A, b). O desespero portanto devido deficincia do possvel. Neste caso, a possibilidade a nica coisa que salva. Quando algum desmaia pede-se gua, gua de Colnia, gotas de Hoffmann; mas quando algum quer desesperar-se ento haver que pedir: "Descobri uma possibilidade, descobri-lhe uma possibilidade. A possibilidade o nico remdio; dai-lhe uma possibilidade e o desesperado retoma a respirao, reanimase, porque o homem que permanece sem possibilidade como se lhe faltasse o ar. s vezes a inveno da fantasia humana pode bastar para que se descubra uma possibilidade; mas no fim, quando se trata de acreditar, serve apenas isto: "que a Deus tudo possvel" (Ib.). Precisamente porque a Deus tudo possvel, o crente possui o antdoto seguro contra o desespero: "o facto da vontade de Deus ser possvel, faz com que eu possa rezar, mas se ela fosse necessria, o homem seria essencialmente mudo como o animal" (Ib.). Como oposto da f, o desespero o pecado: por isso o oposto do pecado a f, e no a virtude. A f consiste na eliminao total do desespero, a condio em que o homem, ainda que orientando-se para dentro de si prprio, deixa de iludir-se sobre a sua autosuficincia para reconhecer a sua dependncia em relao a Deus. Neste caso, a vontade de se ser o prprio no colide com a impossibilidade da auto-suficincia que determina o desespero, porque uma vontade que se socorre do poder em cujas mos o prprio homem se colocou, o poder de Deus. A f substitui o desespero pela esperana e pela crena em Deus. Transporta o homem para l da razo e de qualquer possibilidade de compreenso: ela o absurdo, o paradoxo, o escndalo. Que a realidade do homem seja a do indivduo isolado perante Deus, que todo o indivduo como tal, quer seja um poderoso da terra quer
um escravo, exista na presena de Deus, - este o escndalo fundamental do cristianismo, escndalo que nenhuma especulao poder destruir ou diminuir. Todas as categorias do pensamento religioso so impensveis. Impensvel transcendncia de Deus, que implica uma distncia entre Deus e o homem e assim exclui qualquer familiaridade entre 21 Deus e o homem, mesmo no acto da sua relao mais intima. Impensvel o pecado na sua natureza concreta, como existncia do indivduo que peca. A f cr, no obstante, em tudo, e assume todos os riscos. A f, para Kierkegaard, o inverso paradoxal da existncia; perante a radical instabilidade da existncia constituda pelo possvel, a f liga-se estabilidade do princpio de toda a possibilidade, a Deus - no qual tudo possvel. Deste modo, a f apenas se subtrai ameaa da possibilidade, transformando a negao implcita nessa ameaa numa afirmao de crena. 602. KIERKEGAARD: A NOO DE "POSSVEL" As caractersticas que Kierkegaard reconheceu como prprias da existncia humana no mundo, a angstia e o desespero, derivam da prpria estrutura de possibilidade que a constituem. Nas obras em que Kierkegaard descreveu dramaticamente essas caractersticas, e que so as mais famosas, no existe no entanto uma anlise da noo do possvel. Essa anlise feita por Kierkegaard no seu trabalho Migalhas de filosofia de 1844, ainda que, como veremos, os esclarecimentos que vem aduzindo nem sempre sejam coerentes com o uso que Kierkegaard fez da noo do possvel no Conceito da angstia e na Doena mortal. No Entremez daquele escrito ( 1) Kierkegaard observa correctamente que o erro de Aristteles quando trata do possvel (De interpretatione, 13, cfr. 85) foi o de considerar o prprio necessrio como possvel; e uma vez que o possvel pode no ser e o necessrio no pode no ser, Aristteles foi levado a admitir, alm do possvel "mutvel", que pode no ser, um possvel imutvel que significa simplesmente "no impossvel". Kierkegaard observa que Aristteles deveria ter simplesmente negado que o possvel possa incluir-se no necessrio ou que o necessrio se inclua no possvel. Portanto, tambm a tese de Hegel que afirma que a necessidade a sntese do possvel e do real , segundo Kierkegaard, fruto de uma confuso. Se o possvel e o real, diz ele, formassem na sua sntese o necessrio, passariam a constituir uma essncia absolutamente diferente e, tornando-se tal, excluiriam o devir 22 (o necessrio). Se os conceitos de possvel e de necessrio se mantm individualizados porque, segundo Kierkegaard, o "necessrio no devm" e o "devir no nunca necessrio". Com efeito, o necessrio no pode mudar porque se refere sempre a si prprio e sempre do mesmo modo. O necessrio por definio. Nada dele pode ser destrudo, ao passo que o devir sempre uma destruio parcial, no sentido em que o possvel que ele prprio projecta (no s o que excludo, como tambm o que recuperado) destrudo pela realidade que lhe d origem. Estas consideraes esto presentes na anlise de Kierkegaard sobre o conceito de histria. Mas nos seus dois trabalhos que j examinmos, o uso que Kierkegaard faz da noo de possvel no est perfeitamente coerente com ela. Na Doena mortal recorre, como exemplo, definio da realidade como "unidade da possibilidade e da necessidade": uma definio que combina duas categorias que, segundo As Migalhas, devem manter-se separadas. Alm disso, em ambas as obras se afirma a infinitude do possvel, no sentido em que se admite que as possibilidades so "infinitas" ou, por outras palavras, "a
omnipotncia da possibilidade". Com efeito a angstia nasce do nmero infinito das possibilidades e da sua radical negatividade; e o desespero nasce do excesso ou da deficincia de possibilidades do eu. Esta infinitude do possvel atribuda ao homem, esta "omnipotncia" do possvel parecem no entanto contrastar com a finitude que Kierkegaard reconhece ser prpria do homem. Provavelmente Kierkegaard pretende afirmar que todas (ou quase todas as possibilidades humanas esto destinadas ao fracasso, a no ser que estejam apoiadas na possibilidade de Deus ou garantidas por ela. Mas, em primeiro lugar, uma possibilidade destinada ao fracasso no possibilidade, como no uma possibilidade a que se destina ao sucesso. A forma da possibilidade a da alternativa, do Ou... Ou..., em que tanto insistiu Kierkegaard. Se para o homem as possibilidades no tm esta forma, ento o homem no vive na possibilidade mas na necessidade; na necessidade do fracasso. E se vive na necessidade, nem mesmo Deus pode salv-lo a no ser alterando a natureza e fazendo-o igual a si: uma vez que o necessrio aquilo que no pode ser diferente do 23 que . Por outro lado, que "a Deus tudo possvel" significa isto: por mais desastrosa ou desesperada que seja a situao em que o homem se encontre, Deus pode encontrar para ele, para esse homem singular, uma possibilidade que lhe d nimo e o salve. Mas Deus pode fazer isto porque tem sua disposio infinitas possibilidades. Se o homem se encontrasse na mesma situao no teria, obviamente, necessidade de Deus. A doutrina da infinitude e da omnipotncia do possvel de que Kierkegaard se serviu no Conceito de angstia e na Doena mortal no , portanto, muito coerente com a noo de possvel que Kierkegaard tinha estabelecido nas Migalhas da filosofia e pode considerar-se como uma espcie de contaminao conceptual entre esta doutrina e a noo romntica do infinito. 603. KIERKEGAARD: O INSTANTE E A HISTRIA Como se disse, as Migalhas da filosofia contm a noo kierkegaardiana de histria. Como domnio da realidade que devm, a histria , segundo Kierkegaard, o domnio do possvel. O devir pode incluir em si uma duplicao, ou seja, uma possibilidade de devir no interior do prprio devir: este segundo devir propriamente o lugar da histria. Verifica-se em virtude de uma liberdade de aco relativa, que por sua vez se liga a uma causa dotada de liberdade de aco absoluta. Na histria, o passado j no tem necessidade do futuro. Se o passado, pelo facto de se encontrar realizado, se tornasse necessrio, o prprio futuro seria necessrio quanto sua realizao posterior. Querer predizer o futuro (profetizar) e querer entender a necessidade do passado so uma e a mesma coisa; e apenas uma questo de moda o facto de uma gerao achar mais plausvel um que outro. O passado no necessrio no momento em que devm; no se torna necessrio, devindo (isto seria contraditrio) e ainda menos se torna no acto de ser compreendido e interpretado. Se se tornasse necessrio no acto de ser compreendido, ganharia aquilo que a sua compreenso perdia, uma vez que esta en24 tenderia coisa diferente daquilo que o passado , e seria uma m compreenso. Se o objecto entendido se transforma com o entendimento, este ltimo transforma-se em erro. A concluso de que a possibilidade, pela qual o possvel se torna realidade, acompanha sempre o prprio real e mantm-se ao lado do passado, mesmo que, entretanto, tenham
decorrido milnios. Portanto, a realidade do passado no mais que a sua prpria possibilidade. Daqui deriva que o meio de conhecimento da histria a f. A percepo imediata no pode enganar e no est sujeita dvida; mas o seu objecto sempre o que devm, no o devir, por conseguinte o presente, no a histria, que passado. A histria exige um meio que seja conforme sua natureza que inclui uma dupla incerteza, enquanto o nada do no ser ou a destruio da possibilidade que se realizou, e ao mesmo tempo a destruio de todas as outras possibilidades que foram excludas. Esta portanto a natureza da f, uma vez que a certeza da f implica sempre a abolio de uma incerteza anloga do devir. A f cr naquilo que no v; no cr que a estrela exista, porque a estrela v-se, mas cr que essa mesma estrela tenha sido criada. O mesmo acontece com qualquer outro acontecimento. Aquilo que aconteceu, imediatamente cognoscvel, mas no cognoscvel imediatamente o acto de acontecer. A duplicidade dos factos acontecidos consiste no terem acontecido e em serem o lugar de passagem do nada a uma possibilidade mltipla. A percepo e o conhecimento imediato ignoram a incerteza com que a f se dirige ao seu objecto, mas ignoram tambm a certeza que surge dessa incerteza. Kierkegaard conclui que a f uma deciso e que por isso exclui a dvida. F e dvida no so dois gneros de conhecimento, entre os quais existe continuidade, so antes duas paixes contrrias. A f o significado do devir, a dvida o protesto contra uma concluso que pretende ultrapassar o conhecimento imediato. Segundo este ponto de vista, no de forma alguma uma teofania a revelao e autorevelao de Deus. A relao entre o homem e Deus verifica-se no na histria, na continuidade do devir humano, mas antes no instante, entendido como sbita insero da verdade divina no homem. Neste sentido, o cristianismo paradoxo e escndalo. Se a relao 25 entre o homem e Deus se verifica no instante, isso quer dizer que o homem, por sua conta, vive na no-verdade; e o conhecimento desta condio o pecado. Kierkegaard contrape o cristianismo assim entendido ao socratismo, segundo o qual o homem, pelo contrrio, vive na verdade e o problema consiste apenas em torn-la explcita, em arrast-la para fora, maieuticamente. O mestre, para o socratismo, uma simples ocasio para o processo maiutico, uma vez que a verdade habita, desde o incio, no prprio discpulo. Por isso Scrates refutava a ideia de ser chamado mestre e declarava que nada ensinava. Mas, segundo o ponto de vista cristo, uma vez que o homem a no-verdade, trata-se de recriar o homem, de faz-lo renascer, para o tornar adaptado verdade que lhe vem de fora. Por isso o mestre um salvador, um redentor, aquele que determina o nascimento de um homem novo, capaz de captar no instante a verdade de Deus. A relao instantnea entre o homem e e Deus, na qual a iniciativa toda divina, porque o homem a no-verdade, exclui a hiptese do homem poder, com as suas foras, elevar-se at Deus, demonstrando a sua existncia. "Se Deus no existe - afirma Kierkegaard demonstr-lo absolutamente impossvel; mas se existe ser tambm empresa insensata. No instante em que a prova comea, j eu pressupus a sua existncia; e no como algo que se ponha em dvida, pois um pressuposto no pode ser tal, mas como algo que est fora de questo, seno no teria empreendido a prova, compreendendo a impossibilidade". Desde que se permanea no campo dos factos sensveis e palpveis ou no das ideias, nenhuma concluso poder alcanar a existncia, mas s a partir dai. No se prova, por exemplo, a existncia de uma pedra, prova-se apenas que esta coisa existente uma pedra; o tribunal no prova a existncia de um criminoso mas prova que o acusado, que certamente existe,
um criminoso. Se se quisesse alcanar Deus atravs dos seus actos concretos, ou seja, atravs daquilo que imediatamente se percebe na natureza e na histria, permanecer-se-ia sempre em suspenso no receio de que acontecesse qualquer coisa de to terrvel que lanasse pelos ares todas as provas. Mas se tal no se verifica, isso deve-se ao facto de no se considera26 rem as coisas imediatamente presentes, mas determinados conceitos das mesmas. E em tal caso a prova no parte dos actos concretos, apenas desenvolve um idealismo, que pressuposto; baseados na confiana em tal, podemos pretender ento desafiar as objeces futuras. Mas isto no uma prova, apenas o desenvolvimento de um pressuposto idealista. Deus permanece sempre para l de qualquer possvel ponto de chegada da investigao humana. A sua nica definio possvel, segundo Kierkegaard, aquela que o assinala como diferena absoluta,- mas uma definio aparente, porque uma diferena absoluta no pode ser pensada, e portanto essa diferena absoluta no significa seno que o homem no Deus, que o homem a no-verdade, o pecado. E neste caso a investigao sobre Deus no avanou um passo. O instante portanto a insero paradoxal e incompreensvel da eternidade no tempo, e realiza o paradoxo do cristianismo, que a vinda de Deus ao mundo. S neste sentido o cristianismo pode ser considerado um facto histrico; e se qualquer facto histrico faz apelo f, este particular facto histrico implica uma f segunda potncia porque exige uma deciso que supere a contradio implcita na eternidade que se faz tempo, na divindade que se faz homem. Mas este facto histrico no tem testemunhos privilegiados, uma vez que a sua historicidade se representa, no instante, sempre que o homem singular recebe o dom da f. Kierkegaard afirma a este propsito que no existe nenhuma diferena entre o "discpulo em primeira mo", e o "discpulo em segunda mo" de Cristo. O homem que vive muitos sculos depois da vinda de Cristo, cr na afirmao dos contemporneos de Cristo apenas em virtude de uma condio que ele prprio deriva directamente de Deus. Por conseguinte, para ele verifica-se originalmente a vinda de Deus ao mundo, e isso acontece por virtude da f. A divindade de Cristo no era mais evidente para a testemunha imediata, para o contemporneo de Jesus, do que para qualquer cristo que tenha recebido a f. Em qualquer caso, essa revelao s pode acontecer no instante, e pressupe um meio dado, a f, e um dado necessrio, a conscincia do pecado. Pressupe tam27 bm um conceito de mestre diferente do do socratismo: Deus no tempo. 604. KIERKEGAARD: BALANO DA OBRA KIERKEGAARDIANA A filosofia de Kierkegaard , na sua complexidade, uma apologtica religiosa e precisamente a tentativa para basear a validade da religio na estrutura da existncia humana como tal. Trata-se todavia de uma apologtica bastante distante da racionalizao da vida religiosa que tinha sido feita por Hegel e que, depois de Hegel, se havia tornado o principal objectivo da direita hegeliana. A religio no , para Kierkegaard, uma viso racional do mundo, nem a transcrio emotiva ou fantasia de tal viso; apenas a via da--.salvao, o nico modo de o homem se furtar angstia, ao desespero e ao fracasso, mediante a instaurao de uma relao imediata com Deus. O regresso a Kierkegaard na
filosofia contempornea foi iniciado pelo chamado "renascimento kierkegaardiano" que tem em vista precisamente este aspecto da filosofia de Kierkegaard. Por outro lado, Kierkegaard ofereceu investigao filosfica instrumentos que se revelaram eficazes; como seja, os conceitos de possibilidade, de escolha, de alternativa, e de existncia como modo de ser prprio do homem; e insistiu naquele aspecto da filosofia pelo qual ela no tanto um saber objectivo, mas antes um projectar-se total da existncia humana e por conseguinte o compromisso de tal projeco. Esta dimenso foi posteriormente assumida por todas as correntes do existencialismo contemporneo. A categoria de "singular", na qual Kierkegaard tanto insistiu em toda a sua obra, constitui um dos seus outros contributos para a problemtica do pensamento moderno. Em primeiro lugar, o singular contrape-se universalidade impessoal do Eu de Fichte, do Absoluto de Schelling e da Ideia de Hegel e exprime a irredutibilidade do homem, da sua natureza, dos seus interesses e da sua liberdade a qualquer entidade infinita, imanente ou transcendente, que o pretenda absorver. Em segundo lugar, o singular contrape-se "massa", ao "pblico", "multido", enquanto entidade 28 diferenciada e individualizada, que tem um valor em si, no redutvel da unidade indiferenciada do nmero. Neste sentido, Kierkegaard contrape a comunidade, na qual o singular , multido em que o singular um nada. "A multido, afirma Kierkegaard, um no-senso, um conjunto de unidades negativas, de unidades que no so unidades, que so unidades em razo do conjunto, quando o conjunto deveria ser e tornar-se conjunto em razo da unidade" (Tagebcher, X, A 390). Nestes dois contextos a categoria do singular serve a Kierkegaard para enfrentar problemas que passaram a ser, distncia de um sculo, ainda mais urgentes: e principalmente o da salvaguarda do indivduo contra o conformismo e a demisso na mentalidade das " massas". Mas a mesma categoria do singular surge tambm em Kierkegaard oposta a "povo" e em geral aos ideais igualitrios e democrticos que comeavam a surgir nas revolues e nos movimentos de h um sculo; e utilizada para defender a fora e os privilgios do estado e uma espcie de governo de "sacerdotes cristos" no muito bem identificados (Das eine was not tut (1847-487, trad. Ulrich, in Zeitwende, 1, p. 1 e sgs.). Neste aspecto, a categoria do singular serve a Kierkegaard para a defesa de posies politicamente conservadoras. Finalmente, essa categoria tem um significado sobretudo religioso. Kierkegaard no ignora certamente que do "singular" fazem parte as relaes com os outros e com o mundo que definem a esfera do seu "objectivo" ou do seu trabalho; mas o que lhe interessa a solido do indivduo perante Deus. A prpria definio que d do eu (ou seja, da personalidade humana): uma relao que se relaciona consigo prpria e que surge na Doena mortal, parece encerrar o indivduo na sua intimidade privada. Por isso as relaes com os outros e as relaes de trabalho em Kierkegaard esto limitadas ao estdio da tica que, no entanto, sempre um estdio provisrio da existncia; no estdio religioso, que o definitivo, o indivduo encontra-se isolado perante Deus. "Como singular, afirma Kierkegaard, o homem est s: s em todo o mundo, s na presena de Deus" (Tagebcher, VIII, A 482). Em contraste com este ltimo aspecto do pensamento de Kierkegaard, o marxismo e o existencialismo, ainda que assumindo a defesa do indivduo, pro29 curam integr-lo nas suas relaes com o mundo e com os outros e compreend-lo na sua historicidade.
NOTA BIBLIOGRFICA 597. Das obras de Kierkegaard existe a edio dinamarquesa Samiede Vaerker, a cargo de A. B. DRACHMANN, J. L. HEILBERG, H. O. LANGE, Kbenhavn, 1901-06, 2! ed., 192031; a traduo alem Gesammelte Werke, a cargo de H. GOTTSCHED e CHR. SCHREMPF, Jena, 1909-22 e sucessivas reedies; e uma outra traduo alem a cargo de E. HIRSCH, 36 vols., Dusseldrfia, 1956 e sgs. A uma e outra se faz referncia no texto. Tradues italianas: Il dirio dei seduttore, trad. REDAELLI, Turim, 1910; In vno veritas, trad. K. FERLOV, Lanciano, 1910; Lora. Atto accusa ai Cristianesimo dei regno di Dinamarca, 2 vols., Milo-Roma, 1931; Il concetto dell'angoscia, trad. M. CORSSEN, Florena, 1942; Don Giovanni, trad. K. M. GULDBRANSEN e R. CANTONI, Milo, 1945; La ripetizione, trad. E. VALENZANI, Milo, 1945; Diario, 3 vols., escolha e trad. de C. FABRO, Brescia, 1948-51; Timore e tremore, Milo, 1948; li concetto dell'angoscia, La Malatia mortale, trad. C. FABRO, Florena, 1953; Briciole difilosofia, Postilia non scientifica, trad. C. FABRO, 2 vol., Bolonha, 1962. Acerca das investigaes efectuadas nestes ltimos anos sobre alguns aspectos da biografia de Kierkegaard, especialmente sobre o seu modo de viver e sobre o uso prdigo do seu dinheiro, v. Alf Nyman, La vita di S. K. alia luce delia moderna ricerca, in " Sritti di sociologia e politica n onore di Luigi Sturzo", 11, Bolonha, 1953. 598. G. BRANDES, S. K., Leipsig, 1879; H. HOFFDING, S. K. ais Philosoph, Stuttgart, 1896; T. B0HUN, S. K., GtersIoh, 1925; E. L. ALLEN, S. K, His Life and Thought, Londres, 1925; E. GEISMAR, S. K.' Gottingen, 1929; W. RUTTENBECK, S. K., Berlim, 1929; J. A. BAIN, S. K., His Life and Religious Teaching, Londres, 1935; CHR. SCHREMPF, S. K., 2 vol., Jena, 1927-28; E. PRZYWARA Das Geheimnis, S. K., Mnchen, 1929; F. LOMBARD, K., com uma escolha de textos traduzidos, Florena, 1936; J. WAHL, tudes kierkegaardiennes, Paris, 1937; W. LowRIE, A Short Life of. K., Princeton, 1946; P. MESNARD, Le vrai visage de K., Paris, 1948; R. CANTONI, La coscienza inquieta (S. K.) Milo, 1949; C. FABRO, Tra K. e Marx, Florena, 1952; J. COLLINS The Mind of K., Chicago, 1954; J. HOHLENBERG, S. K, New York, 1954; Symposion Kierkegaardianum, a cargo de S. STEFFENSEN, e H. SORENZEN, Copenhaga, 1955; Kierkegaardiana, vol. colectivo a cargo de N. THULSTRUP, Copenhaga, 1955; T. H. CROXALL, K. COMMENTAR Y, New York, 1956; Studi Kierkegaardiani, volume colectivo a cargo de C. FABRO, Brescia, 1957. 30 IX MARX 605. MARX: FILOSOFIA E REVOLUO A filosofia de Marx , primeira vista, a ltima e a mais conseguida expresso do movimento da esquerda hegeliana que foi a primeira reaco ao idealismo romntico e que a este mesmo idealismo contrape uma reabilitao do homem e do seu mundo. Mas nos prprios confrontos da esquerda hegeliana a filosofia de Marx distingue-se pelo seu carcter antiterico e comprometido, empenhado como est em promover e dirigir o esforo de libertao da classe operria nos confrontos dessa sociedade burguesa que se
havia formado aps a revoluo industrial do sculo XVIII. Ao idealismo de Hegel que, partindo da ideia, entendia justificar toda a realidade post factum, Marx contrape uma filosofia que, partindo do homem, se disponha transformar, activamente, a prpria realidade. A aco, a "praxis" revolucionria faz parte integrante desta filosofia, que no se esgota com a elaborao de conceitos, ainda que (obviamente) no possa prescindir deles. A polmica de Marx contra a esquerda hegeliana ditada por esta exigncia, que Marx exprimiu uma vez de forma paradoxal ao afirmar: "A filosofia e o estudo do mundo real esto entre si em relao como 31 esto o onanismo e o amor sexual" (Ideologia tedesca, 111, trad. ital., p. 229). O "estudo do mundo real" no tem nada a ver como o "mundo das ideias puras": deve tomar em considerao a realidade efectiva ou, como afirma Marx, "emprica e material" do homem e do mundo em que ele vive. Marx prev (ou pressente) o tempo em que a "cincia natural compreender a cincia do homem como a cincia do homem compreender a cincia natural", e em que "no haver seno uma nica cincia" (Manoscritti economico-filosofici del 1844, 111, trad. ital., p. 266). Mas aquilo que poderemos chamar a sua "filosofia" constitudo substancialmente por uma antropologia, por uma teoria da histria e por uma teoria da sociedade; esta ltima partindo da reduo da prpria sociedade sua estrutura econmica no seno uma teoria econmica. Depois da publicao das obras de juventude (o que se verificou volta de 1930) e que tornou possvel um melhor conhecimento das primeiras duas partes da sua filosofia, a influncia desta filosofia comeou a ser cada vez mais extensa e profunda mesmo fora dos movimentos polticos que nela tiveram origem e que a consideraram frequentemente mais como um instrumento definitivo de luta do que uma via aberta para ulteriores desenvolvimentos. 606. MARX: VIDA E OBRAS Karl Marx nasceu em Treviri a 15 de Maio de 1818. Estudou na Universidade de Bona e depois em Berlim, onde se torna um hegeliano entusiasta; formou-se em filosofia em 1841 com uma tese sobre a Diferena entre a filosofia da natureza de Demcrito e a de Epicuro. Renunciando carreira universitria, Marx dedicou-se poltica e ao jornalismo. Colaborou na "Gazeta renana" que foi o rgo do movimento liberal alemo. Uma vez suprimido o jornal, Marx, cujas ideias haviam entretanto evoludo do liberalismo para o socialismo, colaborou numa revista, os "Anais franco-alemes", que foi tambm proibida. Em 1843 dirige-se a Paris onde permanece at 1845, colaborando no rgo dos refugiados alemes o "Avante". Obrigado a ausentar-se de 32 Paris, passa a viver em Bruxelas (de 1845 a 1848) e em 1848 publicava com Engels, a quem se tinha ligado de grande amizade em Paris, o Manifesto do partido comunista que assinalou o inicio do despertar poltico da classe operria e levou o socialismo do domnio utpico realizao histrica, dando classe operria o instrumento que deve promover e solicitar a evoluo da sociedade capitalista no Sentido da prpria negao. Os acontecimentos de 1848 levaram Marx a Colnia e a Paris; mas em 1849 estabelecia-se com a famlia em Londres, onde continuou a inspirar e a dirigir o movimento operrio internacional e onde faleceu a 14 de Maro de 1883. Os trabalhos filosoficamente mais significativos de Marx so os seguintes: Crtica da
filosofia do direito de Hegel, escrito em 1843 e cuja introduo foi publicada em Paris em 1844 nos "Anais franco-alemes", Economia e filosofia, escrito em 1844, mantido indito e s publicado postumamente; A sagrada famlia ou crtica da crtica crtica (1845), escrita em colaborao com Engels, e dirigida contra Bruno Bauer e os seus amigos hegelianos de esquerda que tinham erigido a guia da histria o "poder critico da razo"; Teses sobre Fuerbach, brevssimo, mas importante trabalho, escrito em 1845 e publicado postumamente por Engels; Ideologia alem, escrita em 1845-46, dirigida contra Feuerbach, Bruno Bauer e Stirner, mantido indito e publicado postumamente; A misria da filosofia (1847), contra a obra de Proudhon, A filosofia da misria; Crtica da economia poltica (1859); O Capital, vol. 1, 1867; vols. 11 e III, publicados postumamente por Engels (1885, 1895). 607. MARX: ANTROPOLOGIA O ponto de partida de Marx a reivindicao do homem, do homem existente, na totalidade dos seus aspectos, feita j por Feuerbach. Engels partilha do entusiasmo que a obra de Feuerbach tinha suscitado nele e em Marx, como em muitos dos jovens hegelianos alemes. "Quem foi que descobriu o mistrio do "sistema"? - Feuerbach. Quem negou a dialctica do conceito, essa guerra dos deuses que s os 33 filsofos conheciam? - Feuerbach. Quem foi que apresentou no "o significado dos homens" - como se o homem pudesse ter outro significado alm de ser homem - mas "os homens" no lugar do velho xaile com que se embrulhava a autoconscincia infinita? Feuerbach e s Feuerbach" (Sagrada famlia, Gesamtausgabe, 111, p. 265). Mas Marx no se agarra a este aspecto negativo da filosofia de Feuerbach, como tambm no se agarra ao aspecto positivo, que a valorizao das necessidades, da sensibilidade, da materialidade do homem. Feuerbach fechou-se numa posio terica ou contemplativa: ignorou o aspecto activo e prtico da natureza humana que se constitui e realiza apenas nas relaes sociais. S estas relaes, j no contempladas, mas realizadas e compreendidas na sua realizao histrica, abrem a via quilo que Marx chama o novo materialismo, que se ope ao velho materialismo especulativo ou contemplativo. "Os filsofos, afirma Marx (Teses sobre Feuerbach, I?) at agora limitaram-se a interpretar o mundo; de agora em diante preciso, pelo contrrio,'transform-lo". O ponto de vista do novo materialismo o de uma praxis revolucionria (Ib., 3?); o homem alcana a soluo dos seus problemas, no atravs da especulao da aco criticamente iluminada e dirigida. Aquilo que Marx pretendeu realizar, no apenas na sua obra de filosofia e de economista, como tambm na prpria actividade poltica, traduz-se numa interpretao do homem e do seu mundo que fosse simultaneamente compromisso de transformao e, neste sentido, actividade revolucionria. Ora esta interpretao s possvel se no homem deixar de se reconhecer uma essncia determinvel de uma vez por todas, em abstracto, essncia que surge das suas relaes privadas consigo prprio, na sua interioridade ou conscincia; pois s se descobre o ser do homem nas suas relaes exteriores com os outros homens e com a natureza que lhe fornece os meios de subsistncia. Ora estas relaes no so determinveis de uma vez para sempre porque so historicamente determinadas pelas formas de trabalho e de produo. Por outras palavras, a personalidade real e praticamente activa do homem apenas aquela que se resolve nas relaes de trabalho em que o homem se encontra. "Po34
demos distinguir os homens dos animais, afirma Marx, pela conscincia, pela religio, por tudo aquilo que se quiser; mas os homens comearam a distinguir-se dos animais quando comearam a produzir os seus meios de subsistncia, um progresso que foi condicionado pela sua organizao fsica. Produzindo os seus meios de subsistncia, os homens produzem indirectamente a sua prpria vida material" (Ideologia alem, trad. ital., p. 17). Por conseguinte, atravs do trabalho, como relao activa com a natureza, que o homem , de certo modo, criador de si prprio; e criador no apenas da sua "existncia material" mas tambm do seu modo de ser ou da sua existncia especfica, como capacidade de expresso ou de realizao de si. "Este modo de produo no se deve julgar apenas enquanto reproduo da existncia fsica dos indivduos; ele tambm um modo determinado da actividade de certo indivduo, um modo determinado de tornar extrnseca a sua vida, um modo de vida determinado. Como os indivduos exteriorizam a sua vida, assim so" (Ib.). O ser humano o que na sua exterioridade, na relao activa com a natureza e com a sociedade que o trabalho, ou a produo de bens materiais; no na sua interioridade ou conscincia. A produo e o trabalho no so, segundo Marx, uma condenao que recai sobre o homem: so o prprio homem, o seu modo especifico de ser ou de se fazer homem. Deste modo a natureza passa a ser "o corpo inorgnico do homem"; deste modo tambm, o homem pode referir-se a si como natureza universal ou gentica e assumir a conscincia de si, no tanto como indivduo, mas como "espcie ou natureza universal". Com efeito, enquanto o animal produz apenas imediatamente e sob o domnio da necessidade "o homem produz mesmo quando livre da necessidade fsica e s produz verdadeiramente quando se encontra livre de tal necessidade"; enquanto o animal "produz apenas segundo a medida e a necessidade da espcie a que pertence, o homem sabe produzir segundo a medida de todas as espcies e sobretudo sabe conferir ao objecto a medida inerente e criar tambm segundo as leis da beleza" (Manuscritos econmico-polticos de 1844, trad. ital., pp. 230-3 1). 35 O trabalho portanto, segundo Marx, uma manifestao, a nica manifestao da liberdade humana, da capacidade humana de criar a prpria forma de existncia especfica. No se trata, certamente, de uma liberdade infinita porque a produo est sempre relacionada com as condies materiais e com as necessidades j criadas; e estas condies actuam como factores limitativos em qualquer fase da histria. Mas trata-se de um condicionamento que no exterior mas interior aos prprios indivduos humanos. "As condies sob as quais os indivduos, at ao momento em que no surge ainda a contradio, tm relaes entre si, so condies que pertencem sua individualidade e no a qualquer coisa de exterior a eles prprios: so condies sob as quais apenas esses indivduos determinados, existentes em situaes determinadas, podem produzir a sua vida material e aquilo que com ela est ligado; essas so, por conseguinte, as condies das suas manifestaes pessoais e por estas so produzidas" (Ideol. alem, p. 70). Nas relaes de produo, que so relaes dos homens entre si e com a natureza, a actividade humana simultaneamente condicionada e condicionante e, por conseguinte, a iniciativa respeitante a tais relaes , em ltima anlise, autocondicionante. Cord efeito, quando a forma assumida pelas relaes de produo, forma que at certo ponto condicionou as manifestaes pessoais dos indivduos, surge como um obstculo a tais manifestaes, acaba por ser substituda por uma outra forma, que se presta melhor ao condicionamento dessas manifestaes mas que, por sua vez, poder tornar-se um obstculo e ser igualmente substituda. "Como em todos os estdios, segundo Marx, estas condies correspondem ao desenvolvimento contemporneo das foras produtivas, a sua histria portanto a histria das foras produtivas que se desenvolvem e que so retomadas por uma
nova gerao; portanto a histria do desenvolvimento das foras dos prprios indivduos" (Ib., pp. 70-71). Nas relaes produtivas, e, por conseguinte, na determinao da existncia historicamente condicionada, insere-se o homem na sua totalidade, com as suas necessidades e com a sua razo, com os seus interesses e a sua cincia; mas insere-se na sua situao prtica e activa, enquanto se manifesta ou actua no trabalho - na 36 sua posio de contemplativo terico como homem moral, religioso, filosfico, como "conscincia": uma vez que a conscincia (como veremos em breve) o reflexo da sua actividade produtiva. Marx entendeu de forma articulada, no rgida, a relao entre as foras produtivas dos indivduos e as formas, que elas determinam, das relaes sociais e da conscincia que as reflecte. O desenvolvimento das foras produtivas desenrola-se de modo diverso, de acordo com a diversidade dos povos ou grupos humanos; e s lentamente, e de modo bastante desigual, determina o desenvolvimento das formas institucionais correspondentes. Acontece que estas formas continuam por vezes a sobreviver mesmo quando se esboaram novas foras produtivas que tendem a destru-Ias e a suplant-las com novas formas; ou ento, no prprio interior do grupo, "haver indivduos com um desenvolvimento diverso do todo"; ou, em geral, a conscincia surgir mais avanada no que respeita situao emprica contempornea, de modo a que nas lutas de um perodo posterior possa haver apoio, como autoridade, em tericos anteriores" Ob., p. 71). Noutros casos, como na Amrica do Norte, o processo do desenvolvimento inicia-se "com os indivduos mais evoludos dos velhos pases e portanto como foras de relaes mais desenvolvidas, correspondentes a estes indivduos, mesmo antes dessas formas de relaes se haverem imposto aos outros pases" (Ib., p. 7 1). Isto quer dizer que a reduo, operada por Marx, do indivduo (ou seja, do ser do homem) s relaes sociais, no implica de forma alguma a dissoluo do prprio indivduo em formas j realizadas de tais relaes, nem o determinismo rigoroso de tais formas sobre a estrutura dos indivduos singulares. Tudo isto no serve seno para demonstrar, segundo Marx, o carcter social do homem. "Tal como a sociedade produz o homem enquanto homem, afirma Marx, tambm ela produzida por ele" (Manuscritos econmico-polticos de 1844, 111, trad. ital., p. 259). A prpria natureza, com a qual todo o homem, como ser vivo, est em relao, s se humaniza na sociabilidade tornando-se um elo entre cada homem e o fundamento da existncia comum. "A sociedade, afirma Marx, a total consubstanciao do homem com 37 a natureza, a verdadeira ressurreio da natureza, a realizao do naturalismo do homem, e a realizao do humanismo da natureza" Ob., p. 260). As mesmas actividades individuais (por exemplo, a actividade cientfica) no so menos sociais que as actividades colectivas pblicas: no s porque adoptam instrumentos, por exemplo a linguagem, que so produtos sociais, mas tambm porque o seu fim, o seu obj ectivo, a prpria sociedade. "0 indivduo um ser social. A sua manifestao de vida - ainda que no surja como forma de uma manifestao de vida comum, realizada em conjunto com as outras - uma manifestao e uma afirmao de vida social" Ob., p. 260). Aquilo que distingue o indivduo simplesmente o seu modo mais especifico ou mais particular de viver a vida do gnero humano. "A morte, afirma Marx, surge como uma dura vitria do gnero sobre o indivduo e uma contradio da sua unidade; mas o individuo determinado apenas um ser determinado e como tal mortal" (Ib., p. 261). Talvez possamos agora recapitular, da forma seguinte, os pontos principais da
antropologia de Marx: 1) No existe uma essncia ou natureza humana em geral. 2) O ser do homem sempre historicamente condicionado pelas relaes em que o homem entra com os outros homens e com a natureza, pelas exigncias do trabalho produtivo. 3) Estas relaes condicionam o indivduo, a pessoa humana existente; mas os indivduos por sua vez condicionam-se promovendo a sua transformao ou o seu desenvolvimento. 4) O indivduo humano um ser social. 608. MARX: O MATERIALISMO HISTRICO A terceira tese o fundamento da concepo marxista da histria, ou seja, do materialismo histrico. Marx insiste no carcter "emprico" do pressuposto em que se baseia. Este pressuposto o reconhecimento de que a histria feita por "seres humanos vivos" que se acham sempre em certas "condies materiais de vida" que j encontraram existentes ou produziram com a sua prpria aco (Ideologia alem, I, p. 17). Na base deste pressuposto Marx avana a 38 tese fundamental da sua doutrina da histria: o nico sujeito da histria a sociedade na sua estrutura econmica. Marx formulou esta tese em oposio polmica com a doutrina hegeliana segundo a qual o sujeito da histria , pelo contrrio, a Ideia, a conscincia ou esprito absoluto. Ele prprio afirma que, na reviso crtica da filosofia do direito de Hegel, chegou concluso de que "tanto as relaes jurdicas como as formas do estado no podem ser compreendidas nem por si prprias nem pela chamada evoluo geral do esprito humano, mas tm as suas razes nas relaes materiais da existncia, cuja complexidade Hegel assume, seguindo o exemplo dos ingleses e dos franceses do sculo XVIII, sob a designao de "sociedade civil"; e que a anatomia da sociedade civil deve ser procurada na economia poltica" (Para uma crtica da economia poltica, pref. trad. ital., p. 10). Mais precisamente, com base na antropologia, a tese surge apresentada da seguinte forma: "Na produo social da sua existncia, os homens entram em relaes determinadas, necessrias, independentes da sua vontade, em relaes de produo que correspondem a um determinado grau de desenvolvimento das suas foras positivas materiais. O conjunto destas relaes constitui a estrutura econmica da sociedade, ou seja, a base real sobre a qual se ergue uma superstrutura jurdica e poltica e qual correspondem formas determinadas da conscincia social. O modo de produo da vida material condiciona, em geral, o processo social, poltico e espiritual da vida. No a conscincia dos homens que determina o seu ser mas , pelo contrrio, o seu ser social que determina a sua conscincia" (Ib., pp. 10- 11). Segundo este ponto de vista, o nico elemento determinante da histria, e por isso tambm o nico elemento que se autodetermina, a estrutura econmica da sociedade; enquanto que a superstrutura, com tudo o que a constitui, uma espcie de sombra ou reflexo da estrutura e s de forma indirecta participa da sua historicidade. Por "superstrutura" Marx entende, alm das formas do direito e do estado, a moral, a religio, a metafsica, e todas as formas ideolgicas e as formas de conscincia correspondentes. Todas estas coisas, afirma, "no tm histria, no tm desenvolvimento, mas os homens que desenvolvem a sua produo mate39 rial e as suas relaes materiais, transformam, juntamente com esta sua realidade, o seu pensamento e os produtos do seu pensamento. No a conscincia que determina a vida, mas a vida que determina a conscincia" (Ideologia alem, 1, trad. ital., p. 23). Marx insiste
continuamente no facto de que "os prprios homens que estabelecem as relaes sociais de acordo com a sua produtividade material, produzem tambm os princpios, as ideias, as categorias, de acordo com as suas relaes sociais. Assim estas ideias, estas categorias, so to eternas como as relaes que exprimem. So produtos histricos e transitrios. Existe um movimento continuo de acrscimo nas foras produtivas, de destruio nas relaes sociais, de formao das ideias; de imutvel no existe seno a abstraco do movimento, mors immortalis" (Misria da filosofia, trad. ital., 11, 1, p. 89). Utilizar categorias, ideias ou "fantasmas" semelhantes da mente para explicar a histria significa inverter o seu processo efectivo, fazer da sombra a explicao das coisas, quando so as coisas a explicao da sombra. Uma verdadeira teoria da histria no explica a praxis partindo das ideias, mas, pelo contrrio, explica a formao das ideias partindo da praxis material e assim consegue chegar concluso de que "todas as formas e produtos da conscincia podem ser eliminados, no mediante a crtica intelectual, resolvendo-se na autoconscincia ou transformando-os em espritos, fantasmas ou espectros, etc., mas s atravs da transformao prtica das relaes sociais existentes, de que derivam essas mesmas fantasias idealistas"; e que, portanto, "No a critica mas a revoluo a fora motriz da histria, e tambm da histria, da religio, da filosofia e de qualquer outra teoria" (Ideologia alem, I, trad. ital., p. 34). Segundo este ponto de vista, as ideias que dominam numa poca histrica so as ideias da classe dominante: " A classe que tem o poder material dominante da sociedade ao mesmo tempo a que tem o poder espiritual dominante" (Ib., p. 43). Com efeito, tais ideias no so mais que "a expresso ideal das relaes materiais dominantes; as relaes materiais dominantes tomadas como ideias". A dependncia das ideias dominantes da classe dominante surge obliterada ou oculta; em primeiro lugar, devido ao facto de 40 essas prprias ideias serem elaboradas, no interior da classe, pelos "idelogos activos" cujo objectivo o de promoverem a iluso da classe sobre si prpria; e em segundo lugar ao facto de que toda a classe que assume o poder deve representar o seu interesse como interesse comum de todos os membros da sociedade, deve assim "dar s prprias ideias a forma da universalidade e represent-las como as nicas racionais e universalmente vlidas" (Ib., p. 44). Kant, por exemplo, no fez mais que transformar "os interesses materiais e a vontade condicionada e determinada por relaes materiais de produo" da burguesia contempornea em "autodeterminaes puras da livre vontade, da vontade em si e por si", isto : em "determinaes ideolgicas puramente conceptuais e em postulados morais" (Ib., trad. ital., III, pp. 189-190). Como se disse, s a estrutura econmica da sociedade tem, propriamente, histria. A moda desta histria, e portanto da histria geral, constituda pela relao entre as foras produtivas e as relaes de produo (as relaes de propriedade). Quando as foras produtivas alcanam um certo grau de desenvolvimento entram em contradio com as relaes de produo existentes, que deixam por isso de ser condies de desenvolvimento para se transformarem em condies de estagnao. Entra-se ento numa poca de revoluo social. No entanto, uma formao social s se extingue quando se tiverem desenvolvido todas as foras produtivas a que pode dar lugar; as novas relaes de produo entram em aco quando se encontram amadurecidas, no seio da velha sociedade, as condies materiais da sua existncia. Marx admite a este propsito o progresso incessante da histria: "Os modos de produo asitico, antigo, feudal e burgus moderno, podem ser designados como pocas que marcam o progresso da formao econmica da sociedade" (Para a crtica da economia poltica, Pref., trad. ital., p. 11). Marx admite no entanto que este progresso se encontra dirigido para uma forma final e
conclusiva: "As relaes de produo burguesas so a ltima forma antagnica do processo de produo social... Mas as foras produtivas que se desenvolvem no seio da sociedade burguesa criam ao mesmo tempo as condies materiais para a soluo deste 41 antagonismo. Com esta formao social encerra-se portanto a pr-histria da sociedade humana" (Ib., pp. 11-12). Mas na verdade, segundo este ponto de vista, depois da "prhistria" no ser a "histria" o progresso futuro: uma vez que deixa de existir a nica mola para tal: a contradio entre as foras produtivas e as relaes econmicas. 609. MARX: O COMUNISMO Se o homem, como ser social, constitudo por relaes de produo, a sua natureza e o seu desenvolvimento dependem das formas assumidas por tais relaes. evidente que, segundo este ponto de vista, o progresso da natureza humana no um problema puramente individual ou privado, resolvel por via de um aperfeioamento espiritual, atravs da moral, da religio ou da filosofia; mas um problema social, resolvel apenas atravs da transformao da estrutura econmica da sociedade. Marx acentuou com frequncia as caractersticas daquilo que hoje um dos teoremas mais estruturados no campo da psicologia social: a intima conexo da personalidade humana com o ambiente social. Um indivduo cujas circunstncias apenas permitem desenvolver uma qualidade custa de outras ter um desenvolvimento unilateral e mutilado. Um indivduo que vive num ambiente restrito e imvel apenas ser capaz - caso sinta a necessidade de pensar - de um pensamento abstracto que lhe servir de evaso ao seu desolado quotidiano. Um indivduo que tenha com o mundo relaes mltiplas e activas ser, pelo contrrio, capaz de um pensamento universal e vivo. Em qualquer caso, afirma Marx, as "prdicas moralizantes" no servem para nada (Ideologia alem, 111, trad, ital., p. 255 e segs.). O comunismo apresenta-se ento como a nica soluo para o problema do homem porque a nica soluo que faz depender a realizao de uma personalidade humana, unificada e livre, de uma transformao da estrutura social que condiciona a prpria personalidade. A sociedade capitalista, originada pela diviso do trabalho, que dividiu distintamente capital e trabalho, produz uma dilacerao interna na personalidade 42 humana. Com efeito, nesta sociedade as foras produtivas so completamente separadas dos indivduos e constituem um mundo independente, o da propriedade privada. A estas foras se contrape a maioria dos indivduos que, privados de qualquer contedo de vida, se tornaram indivduos abstractos, ainda que colocados na situao de se aliarem entre si. O trabalho, que o nico modo em que os indivduos podem ainda querer entrar em relao com as foras produtivas, deixou de lhes permitir a iluso de poderem manifestarse pessoalmente e limita-se a dar-lhes o sustento a troco de uma vida sem a menor alegria (Ib., 1, p. 65). O comunismo, conseguindo a supresso da propriedade privada, do capital, elimina a frustrao que este veio trazer estrutura social e personalidade dos indivduos. O trabalho passa ento a ser actividade autnoma, pessoal do homem, o instrumento da solidariedade humana. Por isso o comunismo surge como "o integral e consciente regresso do homem a si prprio, como homem social, como homem humano" (Manuscritos econmico-filosficos de 1844, 111, trad. ital., p. 258). Por um lado, suprime a oposio entre a natureza e o homem, resolvendo a favor desta toda a complexidade das foras naturais; por outro, suprime a oposio entre os homens, instituindo a solidariedade no trabalho comum. Assim realiza a naturalizao do homem e a humanizao da natureza
(Ib., p. 260). Esta realizao ser possvel de forma gradual. Numa primeira fase da sociedade comunista salda, aps um longo trabalho de parto, da sociedade capitalista, ser inevitvel uma certa desigualdade entre os homens, em particular uma desigual retribuio com base no trabalho prestado. S numa fase elevada da sociedade comunista, com o desaparecimento da diviso do trabalho e por conseguinte do contraste entre o trabalho intelectual e o trabalho manual e quando o trabalho se tornar no apenas um meio de vida, mas uma necessidade da vida e as foras produtivas tiverem alcanado o seu desenvolvimento, a sociedade, afirma Marx, "poder escrever na sua prpria bandeira: A cada um segundo a sua capacidade, e a cada um segundo as prprias necessidades" (Para a crtica do programa de Gotha, 1875). 43 antagonismo. Com esta formao social encerra-se portanto a pr-histria da sociedade humana" (ib., pp. 11-12). Mas na verdade, segundo este ponto de vista, depois da "prhistria" no ser a "histria" o progresso futuro: uma vez que deixa de existir a nica mola para tal: a contradio entre as foras produtivas e as relaes econmicas. 609. O COMUNISMO Se o homem, como ser social, constitudo por relaes de produo, a sua natureza e o seu desenvolvimento dependem das formas assumidas por tais relaes. evidente que, segundo este ponto de vista, o progresso da natureza humana no um problema puramente individual ou privado, resolvel por via de um aperfeioamento espiritual, atravs da moral, da religio ou da filosofia; mas um problema social, resolvel apenas atravs da transformao da estrutura econmica da sociedade. Marx acentuou com frequncia as caractersticas daquilo que hoje um dos teoremas mais estruturados no campo da psicologia social: a Intima conexo da personalidade humana com o ambiente social. Um indivduo cujas circunstncias apenas permitem desenvolver uma qualidade custa de outras ter um desenvolvimento unilateral e mutilado. Um indivduo que vive num ambiente restrito e imvel apenas ser capaz - caso sinta a necessidade de pensar - de um pensamento abstracto que lhe servir de evaso ao seu desolado quotidiano. Um indivduo que tenha com o mundo relaes mltiplas e activas ser, pelo contrrio, capaz de um pensamento universal e vivo. Em qualquer caso, afirma Marx, as "prdicas moralizantes" no servem para nada (Ideologia alem, III, trad, ital., p. 255 e segs.). O comunismo apresenta-se ento como a nica soluo para o problema do homem porque a nica soluo que faz depender a realizao de uma personalidade humana, unificada e livre, de uma transformao da estrutura social que condiciona a prpria personalidade. A sociedade capitalista, originada pela diviso do trabalho, que dividiu distintamente capital e trabalho, produz uma dilacerao interna na personalidade 42 humana. Com efeito, nesta sociedade as foras produtivas so completamente separadas dos indivduos e constituem um mundo independente, o da propriedade privada. A estas foras se contrape a maioria dos indivduos que, privados de qualquer contedo de vida, se tornaram indivduos abstractos, ainda que colocados na situao de se aliarem entre si. O trabalho, que o nico modo em que os indivduos podem ainda querer entrar em relao com as foras produtivas, deixou de lhes permitir a iluso de poderem manifestarse pessoalmente e limita-se a dar-lhes o sustento a troco de uma vida sem a menor alegria (Ib., 1, p. 65). O comunismo, conseguindo a supresso da propriedade privada, do capital, elimina a frustrao que este veio trazer estrutura social e personalidade dos
indivduos. O trabalho passa ento a ser actividade autnoma, pessoal do homem, o instrumento da solidariedade humana. Por isso o comunismo surge como "o integral e consciente regresso do homem a si prprio, como homem social, como homem humano" (Manuscritos econmico-filosficos de 1844, 111, trad. ital., p. 258). Por um lado, suprime a oposio entre a natureza e o homem, resolvendo a favor desta toda a complexidade das foras naturais; por outro, suprime a oposio entre os homens, instituindo a solidariedade no trabalho comum. Assim realiza a naturalizao do homem e a humanizao da natureza (Ib., p. 260). Esta realizao ser possvel de forma gradual. Numa primeira fase da sociedade comunista sada, aps um longo trabalho de parto, da sociedade capitalista, ser inevitvel uma certa desigualdade entre os homens, em particular uma desigual retribuio com base no trabalho prestado. S numa fase elevada da sociedade comunista, com o desaparecimento da diviso do trabalho e por conseguinte do contraste entre o trabalho intelectual e o trabalho manual e quando o trabalho se tornar no apenas um meio de vida, mas uma necessidade da vida e as foras produtivas tiverem alcanado o seu desenvolvimento, a sociedade, afirma Marx, "poder escrever na sua prpria bandeira: A cada um segundo a sua capacidade, e a cada um segundo as prprias necessidades" (Para a crtica do programa de Gotha, 1875). 43 Mas deste comunismo, o autntico, Marx distingue o comunismo grosseiro que no consiste na abolio da propriedade privada mas na atribuio da propriedade privada comunidade e na reduo de todos os homens a proletrios. Este comunismo , segundo Marx, "uma manifestao de inferioridade da propriedade privada que pretende colocar-se como comunidade positiva" (Manuscritos econmico-filosficos de 1844, 111, trad. ital., p. 257). Trata-se de uma expresso daquilo que hoje, depois de Nietzsche e Scheler, chamamos ressentimento. Afirma Marx: "Este comunismo na medida em que nega a personalidade do homem, apenas a expresso consequente da propriedade privada que a sua negao. A inveja geral, que se torna uma fora, apenas a forma oculta onde a cupidez se instala e se satisfaz duma outra forma: o pensamento de toda a propriedade privada como tal transforma-se, pelo menos em relao propriedade mais rica, em inveja e desejo ardente de nivelamento" (Ib., p. 256). Faz parte deste comunismo a substituio do matrimnio pela comunho de mulheres, uma vez que a mulher passa a ser propriedade comum; a este aspecto ilustra o carcter degradante desta forma de comunismo porque precisamente na relao entre o homem e a mulher que melhor se manifesta o grau em que o homem realizou a sua prpria humanidade (Ib., p. 257). Mas, como se disse, o aparecimento, a afirmao e a vitria do comunismo esto condicionados pelo desenvolvimento econmico. O comunismo no pode ser um dever ser, um ideal, uma utopia que se contraponha realidade histrica e pretenda dirigi-Ia no sentido que pretende. Marx afirmou energicamente que a classe operria "no tem que realizar qualquer ideal" (A guerra civil em Frana, trad. ital., Roma, 1907, p. 47). E no Manifesto do partido comunista escreveu: "Os enunciados tericos dos comunistas no se baseiam em ideias ou princpios que tenham sido inventados ou descobertos por este ou por aquele reformador do mundo. Eles no so mais que expresses gerais das relaes efectivas de uma luta de classes j existentes, de um movimento histrico que se vai desenvolvendo sob os nossos olhos". O fim da sociedade capitalista e o advento do comunismo dever-se-o ao desenvolvimento inevitvel da prpria 44 economia capitalista; a qual, sendo por um lado incapaz de assegurar a existncia dos trabalhadores assalariados, por outro rene esses mesmos trabalhadores na grande
indstria e com isso cria uma fora que est destinada a destru-Ia. a prpria burguesia que produz os seus coveiros. Esta eliminao total do elemento tico, este submeter a realizao da exigncia humana do comunismo apenas ao desenvolvimento da estrutura econmica da sociedade capitalista, a consequncia inevitvel do materialismo histrico; que seria totalmente negado quando se admitisse que uma qualquer ideologia (entre elas, o comunismo) pudesse nascer e realizar-se independentemente da estrutura econmica da sociedade ou contra ela. Mas, em razo dessa exigncia, toda a validade do comunismo como ideologia poltica depende da demonstrao da tese de que tal ser o desembocar inevitvel do desenvolvimento da sociedade capitalista; e compreende-se porque que Marx se sentia permanentemente empenhado na demonstrao desta tese, a que dedicou a sua obra principal, O Capital. Esta obra, na qual Marx reuniu e levou a cabo todas as suas investigaes no campo da economia, no pode ser compreendida isoladamente; pressupe a filosofia da histria de Marx, sem todavia ser dela dependente quanto sua estrutura e aos seus pontos principais. O materialismo histrico afirma que nenhuma mutao social se verifica por aco de uma ideologia ou de um ideal utpico porque a ideologia no faz mais que exprimir relaes sociais historicamente determinadas. O Capital pretende demonstrar que o comunismo exprime as relaes sociais que se vo formando na sociedade capitalista e que portanto ele ser o desembocar inevitvel do desenvolvimento dessa sociedade. Como evidente, Marx parte do principio de Adam Smith e de Ricardo de que o valor de um bem qualquer determinado pela quantidade de trabalho necessrio sua produo. Por essa razo, se o capitalista correspondesse ao assalariado com o produto total do seu trabalho, no teria para si qualquer margem de lucro. O que acontece que ele compra ao assalariado a fora de trabalho, pagando-a, como se paga outra qualquer mercadoria, com base na quantidade de trabalho que chega para produzi-Ia, ou seja, com 45 base naquilo que necessrio para o sustento do operrio e da sua famlia (que representa a fora de trabalho futura). Deste modo se torna possvel o fenmeno da mais-valia, que aquela parte do valor produzido pelo trabalho assalariado de que o capitalista se apropria. E a mais valia torna possvel a acumulao capitalista, a produo do dinheiro atravs do dinheiro, que o fenmeno fundamental da sociedade burguesa (0 Capital, 1, 3). Marx defende esta tese apresentando uma rica e minuciosa anlise do nascimento da moderna sociedade capitalista. E dirige esta anlise no senti- do de demonstrar as duas teses fundamentais que deveriam justificar o comunismo do ponto de vista do materialismo histrico: a lei da acumulao capitalista, pela qual a riqueza tenderia a concentrar-se em poucas mos; e a lei da misria progressiva do proletariado, pela qual, correspondentemente acumulao do capital, se verificaria o nivelamento na misria de todas as classes produtivas; as quais, em certa altura, estariam prontas e preparadas para a expropriao da exgua minoria capitalista e para assumir todas as funes e poderes sociais. Deste modo a produo capitalista, sendo negao daquela propriedade privada que corolrio do trabalho independente, a certa altura ter de produzir a sua prpria negao. A sociedade capitalista ser destruda pela sua prpria contradio interna: pela contradio das foras produtivas que, depois de haverem procurado desenvolver as suas mximas possibilidades e alcanar o mximo incremento do capital, entram em conflito com esse objectivo e rompem com o invlucro capitalista, levando expropriao dos expropriadores. "A produo capitalista, afirma Marx, (Cap. 1, 24, 7) gera a sua prpria negao, com a fatalidade que preside aos fenmenos da natureza".
A discusso destas teses econmicas, que foram contrariadas pelo ulterior desenvolvimento da economia politica, excede os limites da presente obra. Basta ter assinalado essa caracterstica para ficar esclarecida a relao entre a filosofia e a doutrina econmica marxista, relao que fundamental para a compreenso da personalidade histrica de Marx. 46 610. MARX: A ALIENAO A condio do homem na sociedade capitalista foi caracterizada por Marx, especialmente nas suas obras de juventude, como alienao. Marx fora buscar este conceito a Hegel que o tinha utilizado nas ltimas pginas da Fenomenologia para ilustrar o processo pelo qual a Autoconscincia coloca o objecto, ou seja, se coloca a si prpria como objecto e assim se aliena de si para em seguida regressar a si prpria. "A alienao da Autoconscincia, afirma Hegel, coloca, deste modo, a coisidade: dai que essa alienao tenha um significado no apenas negativo mas tambm positivo e isto no s para ns ou em si mas tambm para a Autoconscincia. Para esta, o negativo do objecto ou o auto-limitar-se deste ltimo tem um significado positivo, porque sabe qual a nulidade do objecto uma vez que, por um lado, se aliena a si prprio; com efeito, nesta alienao coloca-se a si prpria como objecto, ou, em razo da incindvel unidade do ser-por-si coloca o objecto como se fosse ela prpria. E por outro lado, existe tambm o outro momento pelo qual ela se limitou e chamou em si mesma essa alienao e objectividade, permanecendo portanto dominada por si no seu ser-outro como tal. Este o momento da conscincia que , por isso, a totalidade dos seus momentos" (Fenomenologia do esprito, VIII, ed. Glockner, pp. 602-03). Nas mos de Marx esta noo transforma-se completamente. Em primeiro lugar, o sujeito da alienao no a autoconscincia que, segundo Marx, um conceito abstracto e fictcio, mas o homem, o homem real ou existente; e a alienao no figura especulativa mas a condio histrica em que o homem acaba por se descobrir nos confrontos da propriedade privada e dos meios de produo. A propriedade privada, com efeito, transforma os meios de produo de simples instrumentos e materiais da actividade produtiva humana, em fins a que fica subordinado o prprio homem. "No o operrio que utiliza os meios de produo, afirma Marx, so os meios de produo que utilizam o operrio; em lugar de surgirem consumidos por ele como elementos materiais da sua actividade produtiva, so eles que o consomem como fermento do seu processo vital; e o processo vi47 tal do capital consiste no seu movimento de valor que se valoriza a si prprio" (Capital, 1, cap. lX, trad. ital., p. 339). Por outras palavras, a propriedade privada aliena o homem de si porque o transforma de fim em meio, de pessoa em instrumento de um processo impessoal que o domina sem olhar s suas exigncias e s suas necessidades. "A produo produz o homem no s como mercadoria, a mercadoria humana, o homem com o carcter de mercadoria, mas produ-lo, de acordo com este carcter, como um ser desumano quer espiritual quer fisicamente" (Manuscritos econmico-filosficos de 1844, trad. ital., p. 242). A caracterstica mais grave desta alienao, aquela em que Marx mais insistiu, especialmente nas obras de juventude, a ciso ou a dilacerao que ela produz no prprio ser humano. Como vimos, o homem constitudo por relaes de produo que so relaes com a natureza e com os outros homens; estas relaes, na forma que assumem por efeito da propriedade privada, tendem a cindir-se e deste modo a cindirem o homem da natureza e dos outros homens, a afast-lo das suas relaes com eles e, por conseguinte, consigo prprio. "A propriedade privada, afirma Marx, apenas a expresso sensvel do
facto de o homem se tornar objectivo em relao a si prprio, um objecto estranho e desumano, sendo a sua manifestao de vida a sua expropriao de vida e a sua realizao a sua privao, portanto uma realidade estranha" Ib., 111, trad. ital., p. 261). este o erro, segundo Marx, de toda a civilizao moderna: que "separa do homem o seu ser objectivo como se fosse um ser meramente exterior ou material; e no assumindo o contedo do homem como sua verdadeira realidade" (Crtica da filosofia hegeliana do direito, trad. ital., p. 114). Ao contrrio, o comunismo na medida em que "a efectiva supresso da propriedade privada como auto-alienao do homem", "a real apropriao da essncia humana por parte do homem e pelo homem" e portanto "a verdadeira soluo do contraste entre o homem e a natureza e os outros homens; a verdadeira soluo do conflito entre a existncia e a essncia, entre objectivao e afirmao objectiva, entre liberdade e necessidade, entre o indivduo e o gnero" (Ib., p. 258). 48 KIERKEGAARD MARX Assim entendida a alienao, como condio histrica do homem na sociedade capitalista, enfraquecendo e obliterando o sentido concreto da relao do homem com o objecto (natureza e sociedade), determina a noo de uma "essncia humana" universal e abstracta, privada de qualquer relao com o prprio objecto: a noo de autoconscincia, espirito ou conscincia, que Hegel colocou como nico sujeito da histria e que a crtica anti-hegeliana, segundo Marx, manteve intacta continuando a falar da essncia do homem e recusando-se a reconhecer o ser do homem nas relaes objectivas que o constituem. Esta consequncia da alienao por sua vez designada por Marx como "alienao religiosa" (Ib., p. 259); e na Introduo Crtica da filosofia do direito de Hegel, Marx considera, sob este aspecto, a religio como imagem de um'"mundo invertido": ou seja, de um mundo em que no lugar do homem real se colocou a essncia abstracta do homem. "A religio, afirma Marx, a teoria geral deste mundo s avessas, o seu compndio enciclopdico, a sua lgica na expresso popular,.o seu point-dhonneur espiritualista, o seu entusiasmo, a sua sano moral, o seu completamento solene, o fundamento universal da consolao e da justificao do mesmo". Sob este ltimo aspecto a religio "o pio do povo", "a felicidade ilusria do povo". Mas a alienao religiosa , segundo Marx, prpria de todas as filosofias idealistas porque nestas, como na religio, faz-se do "mundo emprico um mundo simplesmente pensado ou representado, que se contrape aos homens como coisa estranha" (Ideologia alem, 111, trad. ital., p. 151). tambm prpria do chamado "estado politico" no qual a essncia do homem como cidado contraposta sua vida material. No estado poltico o homem, afirma Marx, "leva uma dupla vida, uma vida no cu outra na terra, a vida da comunidade poltica onde ele se considera natureza social e a vida na sociedade civil onde ele actua como homem privado, considerando os outros homens como meios, degradando-se a si prprio at transformar.,se num instrumento e num joguete de foras que lhe so estranhas". Deste modo o homem " subtrado vida real e individual e surge transformado numa universalidade irreal": consequncia da prpria alienao (A questo judaica, 1). 49 Em qualquer caso, portanto, a alienao consiste para o homem na obliterao das suas relaes objectivas e no seu automistificar-se como uma essncia universal e espiritual. Segundo este ponto de vista, a alienao de que fala Hegel , se se pode dizer, uma alienao na alienao. Marx reconhece a Hegel o mrito de haver apreendido a essncia
do trabalho como processo de objectivao e de ter concebido o homem como "resultado do prprio trabalho" (Manuscritos econmico-polticos de 1844, 111, trad. ital., p. 289). Mas Hegel concebeu tambm o homem como autoconscincia, a alienao do homem como alienao da autoconscincia e a recuperao do ser alienado como uma incorporao na autoconscincia (Ib., pp. 299-300). Esta no mais que uma frmula mistificada para exprimir a alienao: mistificada a ponto de ela prpria pressupor a alienao que pressupe o afastamento do homem da sua natureza objectiva. "Parece de todo bvio, afirma Marx, que um ser vivo, natural, munido e dotado de foras essenciais objectivas, isto , materiais, se desaposse dos objectos naturais e reais do seu ser, como tambm que a sua autoalienao seja o colocar-se em um mundo real mas tendo a forma de exterioridade, portanto, no pertencente ao seu ser, e predominantemente o objectivo. No existe nisto nada de inconcebvel ou misterioso; o contrrio seria, sim, um mistrio. Mas igualmente claro que uma autoconscincia, ou seja, a sua alienao, possa apenas colocar a coisidade, ou seja, uma coisa abstracta, uma coisa de abstraco e nenhuma coisa real" (Ib., p. 301). Como a alienao autntica no uma figura de pensamento mas uma situao histrica, tambm a supresso da alienao o regresso do ser homem sua objectividade natural, ou melhor, a uma objectividade que ao mesmo tempo natural e humana (Ib., p. 303). 611. MARX: A DIALCTICA A necessidade da passagem da sociedade capitalista sociedade comunista , segundo Marx, de natureza dialctica: a prpria dialctica. A noo de dialctica , juntamente com a de alienao, a maior herana que Marx aceitou de 50 Hegel. Mas num e noutro caso o sentido das noes hegelianas foi por Marx modificado. No que se refere dialctica, o prefcio segunda edio (1873) de O Capital contm o reconhecimento explcito daquilo que Marx devia a Hegel e daquilo que no devia. "Para Hegel, o processo do pensamento, que ele transforma em sujeito independente com o nome de Ideia, o demiurgo do real, que constitui apenas o fenmeno externo da Ideia ou processo do pensamento. Para mim, pelo contrrio, o elemento ideal no mais que o elemento material transferido e traduzido no crebro dos homens... A mistificao a que est submetida a dialctica nas mos de Hegel no impede de forma alguma que seja ele o primeiro a expor de forma ampla e racional as formas gerais do movimento da prpria dialctica. Nele, encontra-se invertida. preciso coloc-la ao contrrio para se descobrir a substncia racional entre o que juzo mstico". Na sua forma racional, a dialctica inclui "dentro da compreenso positiva do estado de coisas existente, tambm a compreenso do mesmo, a compreenso do seu necessrio ocaso, porque concebe todas as formas que possam surgir no fluir do movimento e por conseguinte tambm o seu lado em transio, porque nada a pode deter e ela crtica e revolucionria por excelncia". Daqui resulta que para Marx: 1) a dialctica um mtodo para compreender o movimento real das coisas, no as abstraces intelectuais; 2) este modo consiste em compreender no apenas o estado das coisas "existentes" mas tambm a sua "negao"; 3) a concluso a que este mtodo chega, o seu resultado, a "necessidade", ou seja, a inevitabilidade, da negao, por conseguinte, a destruio do estado de coisas existente. Noutros textos, Marx reconhece a Hegel o mrito de "dar inicio oposio das determinaes" (Crtica da filosofia hegeliana do direito, trad. ital., p. 77); apesar de reivindicar para O Capital o mrito de ser a "primeira tentativa de aplicao do mtodo dialctico economia politica" e caracterizar este mtodo como o que mostra a "Intima
correlao das relaes sociais" (Id., pp. 45-46), Marx sustenta que o mtodo dialctico constitui a lei do desenvolvimento da realidade histrica, ou seja, da sociedade na sua estrutura eco51 nmica; e que esta lei exprime a inevitabilidade da passagem da sociedade capitalista sociedade comunista, por conseguinte, da alienao humana que inerente primeira supresso da alienao que se h-de verificar na segunda. Mas a Marx mantm-se estranho um dos pontos principais da dialctica hegeliana: aquele que nos diz que as suas fases, no sendo realidades empricas ou histricas, mas momentos de um processo externo que o da Autoconscincia, so eternas como essa mesma Autoconscincia. A sua "superao" no , para Hegel, a sua destruio emprica e histrica ou especulativa, mas antes a sua manuteno na unidade conciliada do conjunto. Dizia Hegel: "0 verdadeiro o devir de si prprio, o crculo que pressupe e tem desde o inicio o seu fim como fim prprio e que s mediante a actuao efectivo" (Fenomenologia, pref., ed. Glockner, p. 23); e neste sentido afirmava que "o verdadeiro o todo" e que "do Absoluto se deve afirmar que ele essencialmente resultado e que s no fim o que em verdade" (Ib., p. 24). No fim, no resultado, que no s se "superam" como tambm se conservam os momentos precedentes: que constituem "o todo" a mesmo ttulo, ou seja, com a mesma necessidade, que os fins. Na doutrina de Marx, obviamente, nada existe de semelhante: como nada existe que se assemelhe "unidade" ou "sntese" dos opostos em que Hegel distingue o terceiro e conclusivo momento da dialctica. Aquilo que verdadeiramente permanece da dialctica hegeliana na interpretao de Marx apenas a necessidade da passagem de uma certa fase sua negao; e no a exigncia genrica de compreender todas as fases ou determinaes na sua correlao com fases ou determinaes diversas e eventualmente negativas em relao a elas. Esta ltima uma exigncia metodolgica vlida qual dificilmente poder ser aplicado o termo "dialctica" que rico, em toda a sua longa histria, de muitas outras determinaes. A herana mais especfica que Marx recebeu de Hegel pode reconhecer-se no conceito de necessidade da histria, isto , na inevitabilidade do seu fim que nega a sociedade capitalista e se mostra desalienante. Trata-se de uma herana bastante forte e cujo peso no foi diminudo pelas 52 "alteraes" que Marx inseriu na dialctica hegeliana. Esta herana foi aceite voluntariamente pelos movimentos polticos que se inspiraram no marxismo porque se revelou dotada de notvel fora pragmtica como mito da inevitabilidade do comunismo. Segundo o ponto de vista conceptual, pode dizer-se, todavia, que de certo modo estranha proposio fundamental de Marx: que, como se viu, sempre sustentou que o homem e a histria so produto da liberdade com que o homem se constri a si prprio, e que no desaguar da histria viu a afirmao definitiva da liberdade humana. 612. ENGELS Marx tinha chamado sua filosofia "materialismo" para opor ao idealismo de Hegel, mas o termo no tinha qualquer referncia s correntes positivistas que comeavam a prevalecer na filosofia contempornea.
Foi Engels quem procurou relacionar o marxismo com o positivismo. Engels nasceu a 28 de Novembro de 1820 em Barmen na Alemanha e morreu em Londres a 5 de Agosto de 1895. Durante quarenta anos foi amigo e colaborador de Marx. A obra principal de Engels o Anti-Dhring (1878) dirigida contra o filsofo positivista Dhring. Mas ele tambm autor, alm de numerosos escritos histrico-polticos, de um livro sobre Fuerbach e o fim da filosofia clssica alem (1888) e de uma Dialctica da natureza, publicada postumamente em 1925. Para Marx a dialctica um mtodo para interpretar a sociedade e a histria; para Engels , em primeiro lugar, um mtodo para interpretar a natureza. A preocupao dominante de Engels a de enquadrar o marxismo nas concepes da cincia positivista do seu tempo. "A dialctica para a cincia natural moderna a forma de pensamento mais importante, porque s ela oferece as analogias e com isso os mtodos para compreender os processos do desenvolvimento que se verificam na natureza, os nexos gerais, as passagens de um campo de investigao a outro" (Dialctica da natureza, trad. ital., p. 39). No entanto as leis da dialctica 53 devem ser extradas "por abstraco" quer da histria, quer da natureza ou da sociedade humana. So fundamentalmente trs: 1) a lei da converso da quantidade em qualidade e vice-versa; 2) a lei da compenetrao dos opostos; 3) a lei da negao da negao. "Todas estas trs leis, afirma Engels, foram desenvolvidas por Hegel nas suas formas idealistas, como puras leis do pensamento: a primeira na primeira parte da lgica, na teoria do ser; a segunda ocupa toda a segunda, e de longe a mais importante parte da sua lgica, a teoria da essncia; a terceira, finalmente, figura como lei fundamental para a construo de todo o sistema" Ib., p. 56). Estas leis so ilustradas por Engels com exemplos tirados das cincias elementares; exemplos baseados em analogias ou imagens superficiais (por exemplo, a semente nega-se transformando-se em planta que por sua vez produz a semente, negao da negao). No que se refere interpretao dos opostos, um exemplo ser a relao entre atraco e repulsa pelas quais a dialctica cientfica poder demonstrar "que todas as oposies polares so condicionadas pelo jogo alternado dos dois plos opostos um sobre o outro, que a separao e a oposio dos plos subsiste apenas pelo recproco pertencer-se, na sua unio, e que vice-versa a sua unio pode existir apenas na sua separao, a sua relao na oposio" Ib., p. 66). E assim por diante. Engels partilha das previses de alguns cientistas quanto ao fim do universo; mas declara a sua certeza de que "a matria **o!m todas as suas mutaes" permanece eternamente a mesma, que nenhum dos seus atributos alguma vez poder perder-se, uma vez que ter sempre que criar, noutro tempo e noutro lugar,'"o seu mais alto fruto, o esprito pensante, em virtude dessa mesma necessidade frrea que levar ao seu desaparecimento da terra" Ib., p. 35) - uma certeza consoladora na verdade: mas mais "mstica" que "materialista" . Segundo o ponto de vista do materialismo de Engels, tambm o materialismo histrico muda de fisionomia. A formao das relaes de produo, das estruturas sociais e das superstruturas ideolgicas, que para Marx eram o produto da actividade humana autocondicionando-se, para Engels passam a ser produtos naturais, determinados por uma 54 dialctica materialista. E a insero do homem em tais relaes e a sua capacidade de transform-los activamente tornam-se um transbordar da "praxis" histrica, uma reaco da conscincia humana s condies materiais, inversa da aco desta sobre aquela.
evidente que este transbordar da praxis se torna necessrio para conceber as relaes econmicas como naturalisticamente determinadas e por conseguinte independentes do homem: a actividade do homem seria a correco ou a transformao de tais relaes. Mas para Marx as relaes de produo constituem o homem, a sua personalidade concreta, e exprimem assim (como se viu) a actividade autocondicionante do prprio homem. A sua transformao e o seu desenvolvimento no dependem desse transbordar da pracis mas da prpria praxis: inerente ao seu intrnseco autocondicionamento. A doutrina do materialismo histrico que, pelo escasso conhecimento dos escritos filosficos de Marx (que permanecem em parte inditos) foi apresentada habitualmente como obra colectiva de Marx e Engels, surge distinta na formulao que Marx lhe deu e na interpretao positivista que Engels procurou dar-lhe o que limita o seu significado originrio e a sua fora. NOTA BIBLIOGRFICA 605. A edio principal das obras de Marx a Historisch-kritische Gesamtausgabe do Marx-Engels-Institut de Moscovo, 1927 e segs. A traduo italiana completa est editada em "Clssici dei marxismo", Ed. Rinascita, Roma, 1950 e segs. e citada no texto. K. V0RI@NDER, K M., Leipzig, 1929 (trad. ital., Roma, 1946); A. CORNU, K. M., Paris, 1934; K. M. et Friedrich Engels, Paris, 1955; B. NICOLAJEVSKI e O. MAENcHENHELFEN, K. M., trad. franc., Paris, 1937; G. PISCHEL, M. Giovane, Milo, 1948; R. SCI---1LESINGER, M., Histime and Curs, Londres, 1950 (trad. ital., Milo, 1961); DELLA VOLPE, M. e lo stato moderno rappresentativo, Bolonha, 1947; ld., Rousseau e M., Roma, 1957; J. Y. CALVEZ, Lapense de K. M., Paris, 1956. 606. Sobre vrios aspectos do pensamento de Marx: H. MARCUSE, Reason and Revolution, New York, 194 1; Marxismusstudien, 1, 3, Tubingen,1954,1957. 608. H. LEFEBVRE, A Ia lumire du materialisme dialectique, Paris, 1947; Id., Le materialisme dialectique, Paris, 195 1. 55 609. J. ROBINSON, An Essay in Marxin Economics, Londres, 1942; Guilheneuf, La theorie marxiste de Ia valeur, Paris, 1949. 610. H. BARTOLI, La doctrine economique et sociale de K. M., Paris, 1950; M. Rossi, in "Societa", 1957, pp. 639-685; e in "Opinioni", 1957, pp. 17-42. 611. N. BOBBIO, in " Studi sulla dialetica", Turim, 195 8, pp. 218-238. 612. Os trabalhos de EngeIs foram publicados juntamente com os de Marx na citada Historisch-kritische Gesamtausgabe do Marx-Engels-Institut de Moscovo. M. ADLER, E. aIs Denker, Berlim, 182 1; G. MAYER, F. T., 2 vols., La Haye, 1934. 56 X
O REGRESSO ROMNTICO TRADIO 613. A SEGUNDA FASE DO ROMANTISMO: REVELAO E TRADIO A palavra de ordem do romantismo a identidade entre finito e infinito. Esta identidade aparece expressa nas filosofias romnticas de vrios modos: como identidade do Eu e do no eu, do Esprito e da natureza, do racional e do real, do ideal e do real, de Deus e do mundo: todos estes pares de termos tm praticamente o mesmo significado. Em virtude desta identidade, o finito (o no-eu, a natureza, o real, o mundo) surge como realidade ou existncia do Infinito (do Eu, do Esprito, do Racional, do Ideal, de Deus); por conseguinte, se por um lado o finito no tem realidade fora do infinito e nada sem ele, por outro, o prprio Infinito (a menos que no seja concebido como "falso" infinito) no tem realidade fora do finito. Do ponto de vista religioso essa concepo traduz-se num imanentismo rigoroso; ainda do ponto de vista religioso um pantesmo. Podemos ver tal posio no primeiro Fichte, nos Fragmentos de Schlegel, no primeiro Schelling e em Hegel, alm de Novalis, Sclileiermacher, etc. Mas as filosofias romnticas apresentam uma outra concepo da relao entre finito e infinito: uma concepo pe57 Ia qual o Infinito acaba de certa forma por distinguir-se do finito ainda que manifestandose ou revelando-se atravs dele. Neste caso, o finito (o mundo, a natureza, histria) no a realidade do infinito mas a sua revelao mais ou menos adequada. Hegel recusou-se constantemente a distinguir a Ideia da sua manifestao, por isso se mantm estranho a esta concepo da relao entre infinito e finito. No entanto, ela verifica-se no segundo Fichte, no segundo Schelling, e no segundo Schlegel; e inspirou as correntes romnticas da filosofia europeia de 800. Se o primeiro romantismo era imanentismo e pantesmo, o segundo romantismo, em que prevalece a distino entre o infinito e a sua manifestao, transcendentalismo e teismo; admite a transcendncia do Infinito em relao ao finito e considera o prprio Infinito como um Absoluto ou Deus que est para alm das suas manifestaes terrenas. Em alguns autores, como em Schlegel, esta segunda fase do romantismo acompanhada da aceitao do catolicismo; e nesta forma, com efeito, o romantismo est de acordo fundamentalmente com o pensamento religioso e presta-se para ser adaptado aos fins da apologtica religiosa. Como j foi dito, um dos aspectos fundamentais do romantismo a defesa da tradio. Enquanto que o Iluminismo opunha tradio e historicidade e via na historicidade a critica da tradio, o reconhecimento e a eliminao dos erros e dos preconceitos que a tradio transmite e faz aceitar sem discusso, o romantismo tende a considerar a prpria historicidade como tradio, como um processo onde no existem erros, preconceitos ou prejuzos e em razo do qual todos os valores e conquistas humanas se conservam e transmitem com o decorrer do tempo. Este aspecto do romantismo acentua-se no que designmos segunda concepo ou segunda fase do mesmo. Nesta, a histria concebida como manifestao progressiva do Infinito, ou seja, de Deus: por conseguinte no pode existir nela decadncia, imperfeio ou erro que no encontre resgate ou correco na totalidade do processo. 58
614. O TRADICIONALISMO FRANCS Com a interveno do romantismo na cultura francesa, dominada no sculo XVIII pelo antitradicionalismo iluminista, esboa-se um regresso tradio que, na sua manifestao mais bvia e combativa, consiste numa defesa explicita da tradio (tradicionalismo). Arautos da tradio so em Frana os primeiros romnticos: Madame de Stael (1766-1817) que, na sua obra sobre a Alemanha (1813), v na histria humana uma progressiva revelao religiosa, maneira de Schiller e de Fichte; e Ren de Chauteaubriand (17691848) que, no Gnio do Cristianismo (1802), divaga sobre a defesa da tradio ao servio do catolicismo, assumido como nico depositrio da tradio autntica da humanidade. No campo filosfico-poltico, a defesa da tradio obra dos chamados pensadores teocratas ou ultramontanistas, de Bonald, de Maistre e Lamennais. Louis de Bonald (1754- 1840) autor de uma Teoria do poder poltico e religioso na sociedade civilizada (1796) e de uma Legislao primitiva (1802), contrrio igualmente ao sensualismo e ao espiritualismo. Se a natureza do homem no pode ser compreendida a partir dos seus rgos dos sentidos, tambm no poder ser compreendida a partir da conscincia. O trabalho do pensamento sobre si prprio surge aos olhos de Bonald como "um trabalho ingrato" e improdutivo que ele lamenta ter escapado ateno de Tissot (autor de uma famosa obra sobre o Onanismo, 1760). O ponto de partida deve ser a linguagem primitiva que Deus deu ao homem no momento da criao. Esta linguagem, que a tradio conserva de uma gerao para outra, e que o trmite da revelao divina, desperta na mente dos homens a verdade original que Deus ai colocou. Como a linguagem o intermedirio entre a verdade e o homem, assim o estado o intermedirio entre o povo e Deus; e a sua origem tambm divina. De Deus deriva a soberania que atributo do estado; e de Bonald substitui a teoria iluminista dos direitos do homem pela teoria dos deveres do homem perante Deus e a autoridade que o representa. A funo mediadora da linguagem sugere a de Bonald uma espcie de frmula trinitria que ele aplica em to59 dos os campos; a de causa, meio e efeito. Na cosmologia a causa Deus, o movimento o meio, os corpos o efeito. Em poltica, os termos correspondentes so: rei, ministros, sbditos; na famlia: pai, me, filho. A aplicao desta frmula teologia traduz a necessidade de um mediador e portanto de incarnao: Deus est para o Verbo incarnado como o Verbo incarnado est para o homem. A mesma defesa da tradio e daquilo que nela se baseia, a autoridade da Igreja e do estado, encontra-se na obra de Joseph de Maistre (1753-1821). O trabalho mais significativo de de Maistre so os Seres de S. Petersburgo ou o governo temporal da providncia (publicado postumamente em 1821). E tambm autor de outros trabalhos histricos e filosficos quase todos pstumos (Consideraes sobre a histria de Frana, 1797; A Igreja gaulesa, 1821; Ensaio sobre a filosofia de Bacon, '1826; O Papa, 1829; Estudo sobre a soberania, 1870). De Maistre nega ao homem, irremediavelmente marcado pelo pecado original, qualquer capacidade de fazer de si o caminho na direco verdade e a uma vida associativa justa e ordenada. Todos os males que recaem sobre o homem so merecidos e justos, porque devidos ao pecado original. O dogma da reversibilidade exige e justifica que por sua vez o justo sofra em lugar do pecador, do mesmo modo que o rico deve pagar pelo pobre. A reversibilidade do pecado e a orao so os nicos meios pelos quais o homem poder resgatar-se da sua servido ao mal. Por outras palavras, o homem no pode fazer mais que inclinar-se perante os misteriosos desgnios da providncia divina, perante as instituies que s o instrumentos de tais desgnios: a Igreja e o Estado. Qualquer tentativa por parte do homem para levar
uma vida diversa da que lhe imposta pela autoridade -lhe ruinosa. De Maistre considera toda a filosofia do sculo XVIII uma aberrao culposa, e utiliza nos seus confrontos a mesma linguagem que os iluministas tinham adoptado para com a tradio e a poltica. As doutrinas destes escritores no tm valor seno como indcio de uma reafirmao daquele princpio da tradio que o iluminismo tinha impugnado de forma vlida. Ao conceito de tradio - que tinha sido criado pelo romantismo alemo - como revelao e realizao progressiva da 60 verdade divina no homem, se refere por sua vez Robert de Lamennais (1782-1854). Num Ensaio sobre a indiferena em matria religiosa (1817-23), Lamennais v na indiferena religiosa "a doena do sculo" e reconhece nela a origem da crena na infalibilidade da razo individual. A razo individual (que seria a de Descartes e da filosofia iluminista) Lamennais contrape a razo comum, uma espcie de intuio das verdades fundamentais, comum a todos os homens, e que seria o fundamento da prpria f catlica. Por outras palavras, para Lamennais, a razo comum uma tradio universal que tem origem numa revelao primitiva, de que a Igreja no seno a depositria. Lamennais julgava deste modo conseguir fundamentar de modo inegvel a tradio eclesistica; na realidade tinha retirado Igreja a prerrogativa de ser a nica depositria da tradio autntica e prpria tradio a possibilidade de se apoiar na razo humana. E com efeito, quando a Igreja em 1834 condenou a sua doutrina, Lamennais, nas Palavras de um crente (1834), fez apelo, em oposio Igreja, tradio autntica, revelando assim o carcter revolucionrio do seu princpio. E tornou-se a arauto do advento de uma sociedade religiosa livre, que deveria nascer da queda das tiranias polticas e dos privilgios sociais. Procurou ento aprofundar os princpios filosficos da sua doutrina no Ensaio de uma filosofia (1841-46), onde fez referncia ao ontologismo de Rosmini. A ideia suprema do intelecto humano a ideia do ser infinito e indeterminado, anterior a qualquer especificao. Esta ideia, que a prpria ideia de Deus, entra na formao de toda a realidade. Com efeito, toda a realidade se radica na trplice natureza, atravs da qual ela surge como potncia que realiza, uma forma que se imprime realidade criada e finalmente uma vida pela qual todas as coisas so reconduzidas unidade original. Fora, forma, vida, ou seja, poder, inteligncia e amor, so os trs elementos da essncia divina que se integram em todas as coisas criadas, ainda que de forma imperfeita e limitada, constituindo o seu fundamento real. Neste sentido, a verdade, a beleza e o bem s o a revelao, nas coisas sensveis e em graus e formas diversas, das potncias divinas que constituem a prpria natureza do ser. 61 615. A IDEOLOGIA O tradicionalismo constitui a primeira reaco violenta contra a filosofia do iluminismo francs. Mesmo nos primeiros decnios de oitocentos, esse tradicionalismo continuou a manifestar uma certa validade e adquiriu o nome de ideologia, que significava "a anlise das sensaes e das ideias", segundo o modelo de Condillac. No prprio seio da ideologia deveria, no entanto, manifestar-se o regresso tradio espiritualista. O fundador da ideologia Destut de Tracy (1754-1836), autor dos Elementos de ideologia, de que apareceram sucessivamente as vrias partes: Ideologia (1801); Gramtica geral (1803); Lgica (1805); Tratado sobre a vontade (1815); Comentrio ao esprito das leis (1819). O principio em que se baseia Tracy o mesmo de Condillac: a reduo de todo o poder espiritual sensibilidade. A diversidade dos poderes espirituais depende da
diversidade das impresses sensveis; e Tracy enumera quatro classes de impresses: 1! aquelas que resultam da aco presente dos objectos sobre os rgos dos sentidos; 2! as que resultam da aco passada dos objectos e consistem numa disposio particular que a mesma deixou nos rgos; 3! as dos objectos que esto em relao entre si e que podem ser comparadas; 4! as que nascem das necessidades e levam sua satisfao. Quando a sensibilidade recebe impresses do primeiro gnero diz-se que sente, simplesmente; quando recebe impresses do segundo gnero, diz-se que recorda; quando recebe impresses do terceiro gnero diz-se que julga; quando recebe impresses do quarto gnero diz-se que deseja ou quer. Deste modo, percepo, memria, juzo, vontade (ou seja, todas as faculdades humanas) ficam reduzidas pura e simples sensibilidade. Tracy destaca-se de Condillac apenas por afirmar que a ideia do mundo exterior nasce, j no das sensaes tcteis, mas das de movimento. o movimento que, fazendo com que se choque num obstculo exterior, faz com que se manifeste a existncia de objectos externos; e um ser que fosse privado de movimento ou de sensaes relativas, poderia conhecer-se a si prprio, mas no a matria. Como Condillac, Tracy sustenta que os sinais so indispensveis a qual62 quer processo de anlise e por isso inclui a gramtica, como estudo dos sinais verbais, na sua enciclopdia ideolgica. A tica e a poltica so ideologia aplicada: no fazem mais que demonstrar a derivao dos sentimentos morais e sociais (dio ou simpatia) das impresses sensveis, e portanto das condies do sistema nervoso. Sobre as relaes entre a actividade psquica e o organismo corpreo, Pierre Cabanis (17571808) escreveu uma obra intitulada Relaes entre o fsico e o moral do homem, que surge pela primeira vez nas Memrias do Instituto de Frana (1798-99) e foi depois reeditada em separado (1802). Admitido o pressuposto de Condillac da reduo sensibilidade de todo o poder psquico, Cabanis passa a considerar a dependncia da sensibilidade do sistema nervoso. No homem, como nos animais superiores, a sensibilidade est intimamente ligada ao aparelho nervoso; e no consiste apenas nas impresses produzidas pelos objectos externos mas tambm nas reaces dos rgos a essas impresses. Cabanis reconhece na sensibilidade dois momentos distintos, sendo o primeiro passivo e o segundo reactivo; o primeiro consiste numa corrente que vai da periferia ao centro do rgo, o segundo regressa do centro periferia. Cabanis apresenta tambm uma srie de observaes sobre a influncia que as condies fsicas (idade, sexo, temperamento, doena, clima) exercem sobre a vida intelectual e moral do homem. Estas observaes vm confirmar-lhe a intima dependncia da vida psquica da fsica, mas no o levam a admitir a reduo daquela a esta. Cabanis no materialista. A pstuma Carta sobre as causas primeiras (1824) apresenta-o como defensor de uma metafsica espiritualista. Nela, a alma concebida como uma substncia que imprime aos rgos os movimentos de que resultam as suas funes e rene as partes do corpo, que se decompem quando ela se separa dele. Nela se repetem tambm as razes que militam a favor de uma primeira causa inteligente do mundo e de uma interpretao finalista do prprio mundo. 63 616. REGRESSO AO ESPIRITUALISMO TRADICIONAL (ECLECTISMO) O caso da Carta pstuma de Cabanis vem demonstrar que a ideologia no torna impossvel um regresso s posies do espiritualismo tradicional. Este regresso, todavia, s poderia ser justificado desde que se verificasse um afastamento do rgido sensualismo de Condillac ou ento uma nova considerao de conscincia, que j Locke tinha admitido (sob o nome
de reflexo ou experincia interna) como fonte de conhecimento humano ao lado das sensaes e que se havia tornado o texto fundamental da chamada filosofia do senso comum de Reid e da escola escocesa ( 482). O gradual reaparecimento do princpio da conscincia pode ser observado claramente naquele grupo de pensadores franceses que constituram o clima filosfico do eclectismo e prepararam o desabrochar do espiritualismo contemporneo. Pierre Laromiguire (1756-1837) reconhecia j a reflexo ou conscincia como uma das formas fundamentais da sensibilidade (ao lado da sensao, do juzo sobre as relaes e dos sentimentos morais) e colocava o principio originrio da alma no j na sensao, mas antes na ateno, que a reaco activa da conscincia sensibilidade (Projecto de elementos de metafsica, 1793; Os paradoxos de Condillac, 1805; Lies de filosofia, 1815-18). Professor, como Laromiguire, na Universidade de Paris, Pierre-Paul Royer-Collard (17631843) inspirou o seu ensino na filosofia escocesa do senso comum; e o mesmo fez tambm Thodore Jouffroy (1796-1842), que traduz para francs as obras de Dugald Stewart (1826) e de Reid (1835). Em Jouffroy j evidente a influncia da metafsica espiritualista de Maine de Biran. Num Ensaio sobre a legitimidade da distino entre psicologia e fisiologia (1838), define a conscincia como o "sentimento que o eu tem de si prprio", definio que se relaciona com Biran e com a escola escocesa, ainda que supere o significado da reflexo lockiana que a simples advertncia que a conscincia tem das suas actividades. Jouffroy adverte explicitamente, na sequncia de Biran, que o homem no tem apenas conscincia das suas manifestaes, mas tambm das causas dessas ma64 MAINE DE BIRAN ROSMINI nifestaes, da sua Intima espiritualidade. Amigo pessoal de Biran foi o grande fsico Andr Marie Ampre (1775-1836). Na sua correspondncia com Biran (Saint-Hilaire, Philosophie des deux Ampres, 1866), Ampre insiste no carcter activo do conhecimento: as prprias impresses sensveis so integradas pela memria de impresses precedentes e constituem complexos a que Ampre chama concrees. O sujeito activo e tem conscincia de si prprio na sensao do esforo que, no entanto, no necessariamente (como sustentava Biran) uma sensao muscular. Ampre aceita a doutrina escocesa de que a sensao uma intuio imediata do objecto externo; mas para alm da realidade fenomnica destes objectos admite uma realidade nuinnica, que Ampre identifica com a que foi descoberta pela fsica e subjacente aos fenmenos que ela exprime nas suas frmulas matemticas. No Ensaio sobre a filosofia das cincias (1834-43), Ampre distingue duas classes fundamentais de cincias: a cosmolgica e a noolgica, que se dividem ambas em subclasses e famlias. O carcter espiritual do caminho seguido por este cientista revela-se na sua afirmao de que a religio tem o mesmo grau de certeza da cincia. A existncia da matria, da alma e de Deus so hipteses to legitimas como as cientficas. Mas a figura principal deste tradicionalismo Victor Cousin (1792-1867) que foi aluno de Laromiguire e professor em Paris na Escola Normal e na Sorbonne. Cousin representa em Frana um fenmeno anlogo quele que contemporaneamente era representado por Hegel no Estado prussiano. Par de Frana, conselheiro de Estado, e director da Escola Normal, reitor da Universidade e ministro da Instruo Pblica (por pouco tempo), Cousin
foi o representante filosfico oficial da monarquia de Luis Filipe e exerceu uma profunda influncia na filosofia do sculo XIX. O seu chamado eclectismo na realidade um espiritualismo tradicionalista ao servio das "boas causas"; e tem como principal objectivo justificar filosoficamente a autoridade religiosa e poltica. No entanto, Cousin possui mrito notvel como historiador da filosofia. Durante trs viagens Alemanha (1807, 1818, 1824-25), teve possibilidade de conhecer Jacobi, Schelling, Goethe e Hegel; e o seu Curso de 65 histria da filosofia moderna est impregnado de esprito. hegeliano. Publicou tambm estudos sobre a metafsica de Aristteles (1835) e sobre Pascal, e ainda sobre a filosofia antiga e medieval (Fragmentos de filosofia, 1826; Novos Fragmentos filosficos, 1829), traduziu para francs as obras de Plato e de Proclo e organizou uma edio das obras de Descartes e de alguns escritos inditos de Maine de Biran. A melhor exposio das ideias de Cousin o trabalho Do verdadeiro, do belo e do bem que, publicado pela primeira vez como segunda parte do Curso de histria da filosofia moderna, foi depois reelaborado e publicado separadamente em numerosas edies. Eis como Cousin esboa o intento da sua filosofia no prefcio edio de 1835: "A nossa verdadeira doutrina, a nossa verdadeira bandeira o espiritualismo, essa filosofia to slida quanto generosa, que comea em Scrates e Plato, que o Evangelho propagou pelo mundo, que Descartes integrou nas formas severas do gnio moderno, que foi no sculo XVII uma das glrias e das foras da ptria, que se perdeu com a grandeza nacional no sculo XVII e que no princpio deste sculo Royer-Collard veio a reabilitar no ensino pblico, enquanto Chauteaubriand e Madame de Stael a transportavam para os domnios da literatura e da arte... Esta filosofia ensina a espiritualidade da alma, a liberdade e a responsabilidade das aces humanas, as obrigaes morais, a virtude desinteressada, a dignidade da justia, a beleza da caridade; e para l dos limites deste mundo, d-nos a ver um Deus, autor e modelo da humanidade que, depois de a haver criado evidentemente com um desgnio excelente, no mais a abandonar durante o desenrolar misterioso do seu destino. Esta filosofia aliada natural de todas as boas causas. D vida ao sentimento religioso, secunda a verdadeira arte, a poesia digna deste nome, a grande literatura; o apoio do direito; repele igualmente a demagogia e a tirania; ensina a todos os homens a respeitarem-se e amarem-se e conduz, pouco a pouco, a sociedade humana para a verdadeira repblica, sonho de todas as almas generosas, e que nos nossos dias, na Europa, s pode ser conseguido pela monarquia constitucional". O mtodo desta filosofia , segundo Cousin, o da conscin66 cia, ou seja, da observao interior; por isso se identifica com a psicologia. Cousin aceita como verdades e princpios imutveis as confirmaes da conscincia, segundo o processo que j tinha sido utilizado pela escola escocesa do senso comum, a que ele faz referncia. E para justificar as confirmaes da conscincia recorre a Deus, identificado com o verdadeiro, com o belo, com o bem, e portanto com o princpio que estabelece na conscincia humana as verdades eternas, os princpios imutveis e os valores absolutos. "No posso conceber Deus seno pelas suas manifestaes e atravs dos sinais que ele me d da sua existncia, assim como no posso conceber um ser seno pelos seus atributos, uma causa seno pelos seus efeitos, como no posso conhecer-me a mim prprio seno mediante o exerccio das minhas faculdades. Retirai-me as minhas faculdades e a conscincia que mas confirma, deixarei de existir para mim. O mesmo acontece com Deus: retirai-lhe a natureza e a alma e todo o sinal de Deus desaparece. Portanto s na natureza e
na alma preciso procur-lo e s nelas pode ser encontrado" (Du vrai, du beau, et du bien, 1858, pp. 458-59). 617. MAINE DE BIRAN: O SENTIDO iNTIMO O fruto mais amadurecido desse regresso ao espiritualismo efectuado pelo eclectismo francs do sculo XIX a filosofia de Franois Pierre Maine de Biran (1766-1824). Nela os temas desse espiritualismo surgem tratados com uma maior profundidade terica e justificados pela sua fecundidade especulativa. Atravs de Maine de Biran, a filosofia francesa volta a unir-se tradio que vai de Montaigne e Descartes, a Pascal, a Malebranche, fechando o parntesis do pensamento iluminista. Maine de Biran s publicou uma obra sobre o hbito (Influncias do hbito sobre a faculdade de pensar, 1803) e dois escritos menores (Anlise das lies de filosofia de Laromiguire, 1817; Exposio da doutrina filosfica de Leibniz, 1819); mas deixou bastantes manuscritos dos quais Cousin, Naville e outros editores organizaram numerosos volumes. Os seus trabalhos fundamentais, alm daquele so67 bre o hbito, so os seguintes: Ensaio sobre os fundamentos da psicologia e sobre as suas relaes com o estudo da natureza (1812); Fundamentos da moral e da religio (1818); Exame crtico da filosofia de Bonald (1818); Novos ensaios de antropologia ou da cincia do homem interior (1823-24). A estes trabalhos preciso acrescentar um conjunto de fragmentos, cartas e discursos que constituem os 14 volumes da edio nacional; e alm disso o Dirio ntimo, que exprime tipicamente a personalidade filosfica do Biran debruada sobre a sua prpria interioridade. "Desde h muito, afirma Biran no seu ltimo escrito (Anthropologie, in Oeuvres, ed. Naville, 111, 1859, pp. 334-35), que me ocupo do estudo sobre o homem ou antes, do estudo sobre mim prprio; e no fim de uma vida j avanada posso dizer em verdade que nenhum outro homem se viu ou observou na sua caminhada como eu o fiz, ainda que estivesse mais ocupado corri assuntos que ordinariamente conduzem os homens para fora de si prprios. Durante a infncia, lembrome que me maravilhava por sentir-me existente; era j levado como que por instinto, a observar-me por dentro para saber como poderia viver e ser eu prprio. " O aspecto fundamental do filosofar de Biran surge aqui expresso com toda a clareza possvel. O mesmo acontece com o seu objectivo, nem sempre reconhecido pela critica. Este objectivo no deixa de ser, como acontece nos seus amigo; espiritualistas ou eclcticos, a justificao da tradio religiosa e poltica. Tem-se frequentemente limitado o interesse religioso da sua filosofia a uma ltima fase da sua obra, a que comearia a partir de 1818 (Naville, in Oeuvres de Biran, 1, 1859, p. CXXVII e segs.). Na realidade, o Dirio ntimo demonstra que a preocupao religiosa foi sempre a mola do filosofar de Biran. e que o sentido intimo (a reflexo interior) foi por ele entendido sempre como instrumento adequado para justificar a tradio religiosa. Em 1793 Biran escrevia: "Deixemos de errar na incerteza, abandonemos todas as opinies fteis, deixemos de parte todos os livros e ouamos apenas o sentido Intimo; ele nos dir que existe um Ser ordenador de todas as coisas... O sentido Intimo que nos faz ver Deus na ordem do universo. Deixemos desabrochar o seu impulso" (Jour. int., ed. De Ia Val68 let Monbrun, 1, pp. 13-14; Oeuvres, ed. Tisserand, 1, p. 15). Mais tarde, na critica s doutrinas de de Bonald e de Lamennais, Biran iria entender o sentido intimo como uma
"revelao interior", que no contradiz a exterior baseada na autoridade e que lhe serve de base e critrio. A conscincia, portanto, era para ele uma forma de revelao, a revelao original de Deus. Mas essa conscincia no deixava de ser tambm o fundamento da tradio poltica e, por conseguinte, das instituies histricas verdadeiramente vitais. No s nos escritos filosficos, mas tambm nos discursos e nas posies polticas, Biran (que participou activamente na poltica depois da restaurao da monarquia bourbnica em Frana), exprime a convico de que a autoridade poltica, que incarna nas instituies histricas, no se justifica seno com base na considerao do homem, ou seja do sentido Intimo. Tal como a religio, as instituies polticas assentam no sentimento do infinito que "idntico ao sentimento religioso ou est na sua base". Tudo o que o homem faz necessariamente finito. "Portanto o homem no tem o poder de fundar uma religio ou de criar uma instituio, a que possa ligar-se o mnimo sentimento religioso. Num sculo em que se raciocina sobre tudo ou se exige que tudo seja demonstrado, no pode viver nem religio, nem qualquer instituio propriamente dita; a anlise faz desaparecer o sentimento" (Journ., I, p. 228). No entanto, relativamente aos outros defensores do tradicionalismo espiritualista francs, a filosofia de Biran distingue-se vantajosamente pela riqueza e pela fecundidade das anlises que faz nascer no mbito da percepo interior. O ensaio sobre o Hbito e os Fundamentos da psicologia do-nos o desenvolvimento desta anlise no que diz respeito s relaes do homem com o mundo; os Novos Ensaios de antropologia (que no entanto retomam os resultados das duas obras precedentes) desenvolvem a anlise no confronto da relao do homem com Deus. As duas primeiras obras constituem uma tentativa simtrica e oposta de Condillac e dos ideologistas em fazer derivar toda a vida psquica do homem do facto primitivo que a sensao; nessas obras pretende-se deriv-la da conscin69 cia. "Sem o sentimento da existncia individual que ns chamamos, em psicologia, conscincia (conscius sui, compos sui) no h um facto que se possa dizer conhecido, nem conhecimento de qualquer espcie; j que um facto nada se no for conhecido, se no existe um sujeito individual permanente que conhece" (Fondements, in Oeuvres, ed. Naville, 1, p. 36). Deste princpio resulta que um ser puramente sensvel no teria conscincia, e portanto a tentativa do sensualismo parecer impossvel. Mas o facto primitivo da conscincia no revela, segundo Biran, uma substncia pensante, como queria Descartes, mas a existncia do eu como causa ou fora produtiva de certos efeitos. "Acausa ou fora actualmente aplicada na locomoo do corpo uma fora agente a que chamamos vontade. O eu identifica-se completamente com esta fora agente" (Ib., p. 47). Por outro lado, a fora s se actualiza na relao com o seu termo de aplicao, do mesmo modo que este se determina como resistente ou inerte em relao fora que o move ou que tende a imprimir-lhe o movimento. O facto desta tendncia o esforo ou volio e este esforo "o verdadeiro facto primitivo do sentido intimo". Biran faz sua, a este propsito, a doutrina de Destut de Tracy que via no movimento a condio de conhecer. "Se o indivduo no quisesse inteiramente ou no fosse determinado para comear a mover-se, nada conheceria. Se nada lhe resistisse, no conheceria nada igualmente, no suspeitaria de nenhuma existncia, nem havia portanto a ideia da prpria existncia" (De Lhabitude, in Oeuvres, ed. Tisserand, 11, p. 26). O esforo primitivo, como facto do sentido Intimo, constata-se por si, imediatamente, e ao fundamento desse princpio de causalidade, que Maine de Biran no se cansa de chamar o "pai da metafsica"
(Fondements, Ib., p. 53). O princpio cartesiano "Penso, logo sou urna substncia pensante", Biran substitui-o pelo princpio que melhor exprime a evidncia do sentido intimo: "Eu actuo, quero, ou penso em mim a aco, portanto, sou a minha causa, portanto sou, existo realmente a ttulo de causa ou de fora". A percepo primitiva prova imediatamente que o eu actual por si uma causa livre, uma fora que se distingue dos seus efeitos transitrios e de todos os seus modos passivos. O facto primiti70 vo do sentido Intimo identifica-se com o prprio principio de causalidade e a sua justificao absoluta (Anthr., in Oeuvres, ed. Naville, III, pp. 409-410). Verdadeiramente o ponto principal da investigao de Maine de Biran a passagem da psicologia metafsica. Maine de Biran identifica imediatamente um dado da experincia interna, o esforo, com um princpio metafsico, a causalidade, e assume esta identificao com uma justificao absoluta do princpio metafsico. A sua psicologia por isso metafsica; mas uma metafsica que se move no mbito do testemunho interior e, por essa razo, no tem outro fundamento que no seja este ltimo. A identificao do dado imediato do esforo com o princpio metafsico de causalidade consente-lhe no entanto apresentar a derivao das outras ideias do esforo como uma sua justificao metafsica. Assim as ideias de fora e de substncia so por ele derivadas do esforo que, considerado exterior conscincia, se transforma em fora; e, considerado como tal, assim se mantm idntico nas mutaes da conscincia passando a ser substncia (Fondements, Ib., p. 249 e segs.). O esforo como sentimento do eu a prpria liberdade, que, no horizonte do eu, deixa de ser um problema. " A liberdade ou ideia de liberdade, encarada na sua origem real, no mais que o prprio sentimento da nossa actividade ou do poder de agir, de criar o esforo constitutivo do eu. A necessidade o sentimento da nossa passividade; e no um sentimento primitivo ou imediato; uma vez que para sentir-se ou reconhecer-se como passivo precisa, em primeiro lugar, de ser-se reconhecido com a conscincia de um poder" (Ib., p. 284). Sobre este ponto de partida, Biran baseia a anlise de todas as faculdades humanas (sistema afectivo, sistema perceptivo, sistema reflexivo), e tambm o raciocnio. Esta anlise a resoluo total da lgica na psicologia. " Todas as teorias lgicas, afirma Biran (Fond. de Ia psyh., Oeuvres, ed. Naville, II, p. 273), se reduzem anlise exacta das nossas faculdades intelectuais ou dos nossos verdadeiros meios de conhecer". Em todo o caso, preciso partir de facto primitivo, que permite a intuio dos princpios que esto na base de toda a cincia; e utilizar a memria intelectual para 71 deduzir destes princpios aquilo que no intudo imediatamente. Assim, da ideia do esforo e da resistncia que o mesmo implica, se deduz necessariamente a ideia de extenso como "continuidade de resistncia" que tem, como tal, um vnculo necessrio com um primeiro termo que no extenso. A ideia de extenso liga-se sinteticamente a este primeiro termo e do mesmo modo se ligam os de impenetrabilidade, de imobilidade, etc. A necessidade do raciocnio consiste em compreender que todos os atributos sucessivos, sinteticamente ligados ao termo originrio (o eu como esforo ou o no-eu como resistncia) dependem do primeiro termo ou so suas funes particulares. A relao das ideias com o facto primitivo ou a sua dependncia deste facto portanto a condio primeira do raciocnio; o qual, por conseguinte, no poder reduzir-se (como sustentavam
Condillac e os ideologistas) a uma simples traduo ou substituio de sinais Ib., p. 272). Biran define o raciocnio como "uma srie de juzos sintticos que tm todos um sujeito comum, simples, uno, universal e real, e esto ligados de modo a que o esprito perceba a sua dependncia necessariamente reciproca, sem recorrer a nenhuma ideia ou noo estranha essncia do sujeito ou aos atributos que dai possam derivar" (Ib., p. 263). Mas uma vez que o "sujeito comum, simples, uno, universal, real" no pode ser seno o eu (como esforo) ou a resistncia (como aquilo que se ope ao esforo), o raciocnio baseia-se directamente no sentido Intimo que revela, juntamente, o eu e a resistncia. 618. BIRAN: O SENTIDO iNTIMO COMO REVELAO Pela primeira vez na sua ltima obra, os Novos ensaios de antropologia (1823-1824), Biran levanta o problema do homem total, do homem que no apenas organismo e conscincia (e por conseguinte sensibilidade e raciocnio), mas tambm relao com Deus. Nas duas primeiras partes da obra (tal como as outras, deixada incompleta) Biran reassume e retoma os resultados por ele alcanados nos escritos precedentes sobre a vida orgnica e sobre a vida consciente 72 do homem. Na terceira parte, que mais importante, inicia a anlise da terceira vida do homem, a religiosa ou mstica. Sem dvida, esta terceira vida sempre se mantivera latente na anlise de Biran; que dada a sua prpria orientao, pretende justificar-se tanto a si como ao seu objectivo final. "A segunda vida do homem, afirma Biran (Anthr., in Oeuvres, ed. Naville, III, p. 5 19) parece ser-lhe dada apenas para ele poder erguer-se at terceira, na qual fica livre do jogo dos afectos e das paixes; ento o gnio ou demnio que dirige a alma e a explica como um reflexo da divindade, faz-se ouvir no silncio da natureza sensvel; na qual nada acontece nos sentidos ou na imaginao que no seja querido pelo eu e sugerido ou inspirado pela fora suprema na qual o eu se absorve e se confunde. Tal o estado primitivo de que provm a alma humana e ao qual aspira voltar a unir-se". A vida do esprito comea a dar sinais de si com o primeiro esforo voluntrio: o eu manifesta-se interiormente, o homem conhece-se; compreende aquilo que lhe prprio e distingue-se daquilo que pertence ao corpo. Mas o homem exterior prevalece e acaba por reinar exclusivamente; o hbito de agir oculta e quase anula o sentimento da actividade. Mas o homem interior acaba por levar a melhor sobre o exterior, merc de um processo de renovao que no espontneo mas deriva de uma aco inteiramente livre, absolutamente estranha s disposies sensveis e a qualquer impulso externo; processo esse que se consegue sobretudo atravs de uma firme meditao que emprega toda a energia da actividade intelectual e se encaminha depois pela via da orao, atravs da qual a alma humana se ergue at origem da vida, a ela se unindo intimamente, identificandose com o amor. A meditao e a orao so as duas vias pelas quais a Intima espiritualidade do homem se ergue sua absoluta liberdade, vida religiosa. "Parece-me, afirma Biran (Ib., p. 541), que tendo por ponto de partida o facto psicolgico, sem o qual o esprito humano se perde nas excurses ontolgicas na direco do absoluto, se poder afirmar que a alma, fora absoluta que sem se manifestar, tem dois modos de manifestao essenciais: a razo (logos) e o amor. A actividade pela qual a alma se manifesta a si prpria como pessoa ou eu est na base da razo; a vida prpria da alma, 73 uma vez que toda a vida manifestao de uma fora. O amor, origem de todas as faculdades afectivas, a vida comunicada alma como condio da sua prpria vida, a vida
que lhe vem do exterior e de cima, do espirito do amor, que sopra onde quer". Nesse sentido, Deus est para a alma como a alma para o corpo. O corpo, alm de ter funes e movimentos prprios, dirigido pela alma que quer, pensa ou sabe aquilo que faz; do mesmo modo a alma, ainda que possuindo faculdades prprias, possui tambm intuies, aspiraes, movimentos sobrenaturais, pelos quais se encontra sob a aco de Deus e como que absorvida por ele. A graa de Deus para a alma aquilo que a vontade da alma para o corpo (Fond., de ta morale et de Ia refigion, in Oeuvres, ed. Naville, III, p. 53). Deste modo, o sentido intimo, a conscincia, surge a Biran como a prpria revelao de Deus. Em polmica com de Bonald, que tinha reduzido todas as revelaes revelao exterior e tinha feito da prpria linguagem a imediata criao de Deus, Biran afirma a superioridade da revelao interior, que s vale como critrio. "A conscincia, afirma Biran (Opinions de M. de Bonald, in Oeuvres, ed. Naville, 111, p. 93), pode ser considerada como uma espcie de manifestao interna, de revelao divina; e a revelao ou palavra de Deus pode exprimir-se na prpria voz da conscincia". A revelao no apenas a que provm externamente da tradio oral e escrita, tambm a que surge no intimo da conscincia. Uma e outra tm a sua origem em Deus e uma e outra tm o seu fundamento fora da razo e excluem da sua esfera o cepticismo religioso e filosfico (M., p. 96). Esto entre si como a letra e o espirito, e o seu acordo garantido pela origem comum que Deus (Ib., p. 217). "Sem uma revelao imediata feita a cada povo, ou antes, sem a aco da graa que actua sobre os coraes de modo diferente das palavras, qual poderia ser o critrio pblico e social que distinguisse a verdade do erro, quando todas as naes pretendessem possuir para si, com uma linguagem inspirada, o tesouro das verdades intelectuais e morais? " (Ib., p. 24 1). No seu ponto culminante, a anlise de Maine de Biran revela a sua preocupao fundamental: a justificao da tradio. "As instituies morais e religiosas, afirma, (Fond. 74 de Ia mor. et de Ia rei., Ib., pp. 63-64), podero ser desnaturadas, prevertidas ou separadas da sua origem para no serem mais que instituies polticas e convenes humanas relativas civilizao da sociedade, natureza do governo, ao solo, ao clima, etc.: variveis segundo essas relaes tanto na forma como no fundamento. Mas segundo a tendncia oposta, as instituies polticas de todos os lugares e de todos os tempos estaro sempre mais prximas do absoluto, atravs de uma moral e de uma religio divinas; e o destino da sociedade e dos indivduos estar completamente realizado quando essas leis do absoluto, derramando-se sobre todo o mundo poltico, lhe imprimirem todas as direces possveis, regulando-lhe todos os movimentos e determinando a forma constante e invarivel da sua rbita". Estas palavras revelam o centro da personalidade de Maine de Biran e a natureza dos seus interesses no apenas filosficos, mas tambm polticos e religiosos. Maine de Biran entendeu o sentido ntimo como instrumento de justificao da tradio. Isto faz com que esteja ligado intimamente ao espiritualismo eclctico dos seus contemporneos, dos quais se distingue apenas pela perfeio que soube dar a esse instrumento. E o prprio interesse fundamental faz dele o mestre e o exemplo do espiritualismo contemporneo. 619. O REGRESSO TRADIO EM ITLIA. GALLUPPI O espiritualismo italiano da primeira metade do sculo XVIII um movimento de pensamento anlogo e paralelo filosofia francesa do perodo contemporneo. Das quatro figuras deste movimento - Galluppi, Rosmini, Gioberti, Mazzini -, Galluppi retoma a
tentativa (j levada a cabo por Laromiguire, Royer-Collard e Cousin) de se servir da ideologia para defender o espiritualismo tradicional; Rosmini e Gioberti esto mais prximos do tradicionalismo de de Bonald e Lamennais; Mazzini inspira-se no humanitarismo de Lamennais da segunda fase e no socialismo de Saint-Simon. 75 Pasquale Galluppi nasceu em Tropca na Calbria, a 2 de Abril de 1770 e morreu em Npoles (onde foi professor na Universidade) a 1 de Dezembro de 1846. Servia a cultura filosfica italiana ao ter feito conhecer, com exposies precisas e lcidas, a filosofia europeia do sculo XVII, quer atravs de trabalhos dedicados a esse fim (Cartas filosficas, 1827; Consideraes filosficas sobre o idealismo transcendental e sobre o racionalismo absoluto, 1841) quer atravs de trabalhos de carcter especulativo (Sobre a anlise e a sntese, 1807; Ensaio filosfico sobre a crtica do conhecimento, 1819-32; Lies de lgica e de metafsica, 1832-36; Filosofia da vontade, 1832-40). De Condillac e dos ideologistas, Galluppi extrai o principio de que a anlise a actividade fundamental do espirito e, por conseguinte, o nico mtodo possvel em filosofia. O ponto de partida desta anlise para ele o da conscincia, que j o grupo dos eclcticos franceses tinha valorizado contra o sensualismo iluminista, ligando-se, por sua vez, filosofia escocesa do senso comum: O facto primitivo da conscincia , segundo Galluppi, a existncia do eu cognoscente, que est presente de forma imediata na conscincia em todos os seus actos e existe como "verdade primitiva e experimental". Esta verdade primitiva uma intuio imediata, no sentido de que se trata de uma imediata apreenso do seu sujeito, do eu existente (Ensaio, 1, 1, 16). Intuies neste sentido so tambm as sensaes enquanto se referem directamente aos objectos externos. Galluppi distingue o sentimento da sensao, como conscincia da sensao; o sentimento (que na terminologia de Locke denominado reflexo) tem por objecto a sensao; a sensao, no podendo estar privada de objectos, no pode ter por objecto imediato a prpria coisa Ib., II, 9). O testemunho da conscincia pode exprimir-se atravs da afirmao "eu sinto um eu, que sente qualquer coisa", o que implica uma distino entre o eu e o que est fora de mim e a realidade de ambos. "Os objectos da nossa percepo so o eu e o que est fora de mim. O eu aquilo que percebe o que est fora de si e o que se percebe a si prprio. O sentimento da conscincia a prpria conscincia, ou seja, a prpria conscincia do eu" (Ib., 11, p. 7, 119). 76 A existncia do eu e a realidade do mundo exterior so portanto, segundo Galhippi, directamente testemunhadas pela conscincia e, como tal, esto para alm de qualquer dvida. O testemunho da conscincia por ele entendido, segundo o exemplo da filosofia do senso comum, como "verdade primitiva", que a filosofia deve simplesmente aceitar, evitando submet-la a dvidas ou a anlises posteriores. Do mesmo modo procede para justificar a verdade dos conhecimentos universais, que tinham sido postos em dvida desde Berkeley a Hume. As ideias existem no esprito; so confirmadas pela "conscincia ntima". As verdades universais extraem-se do seu confronto e a conscincia que realiza esse confronto; sendo tambm elas verdades experimentais no sentido em que so reveladas pela experincia interna (Ib., 1, 2, 5 1). E a experincia interna o fundamento que torna certa a existncia de Deus, a propsito da qual Galhippi repete substancialmente a demonstrao de Locke: "Eu sou um ser mutvel: esta verdade um dado da experincia. Um ser mutvel no pode existir por si; esta verdade um resultado do raciocnio, que mostra a identidade entre a ideia do ser por si prprio e a ideia do ser imutvel. Destas duas verdades resulta esta consequncia: eu no existo por mim prprio, eu sou um efeito. Levado a este conhecimento por uma anlise indesmentvel, procuro saber se a causa que me produziu inteligente ou no; descubro que a minha razo pode alcanar a inteligncia
da primeira causa do meu ser" (Ib., 1, 4, 121). Esta demonstrao, mostrando em acto a eficincia do princpio de causalidade, serve tambm, segundo Galhippi, para justificar a validade deste princpio contra as dvidas que Hume tinha levantado sobre este assunto. Em razo desta demonstrao o principio de causalidade directamente testemunhado pela conscincia e, por conseguinte, vale como "uma verdade primitiva". "0 eu no pode existir independentemente de qualquer existncia externa; ele , portanto, um efeito que supe a causa eficiente. No sentimento do meu eu varivel -me dada a objectividade do princpio de causalidade e do absoluto" (Ib., 11, 4, 75). Sobre este ponto de partida Galhippi estabelece o seu sistema das faculdades do esprito. A experincia fornece ao 77 homem o material dos seus conhecimentos; e a experincia de duas espcies, experincia do eu e experincia do fora de mim. O material assim conseguido, conservado pela imaginao e iluminado pela ateno, surge decomposto pela anlise; a Vontade, guiada pelo desejo, rene-o de novo atravs da sntese. sntese abrem-se duas vias: ou recompor o material sensvel livremente, prescindindo da unidade desse material formada na experincia antecedente anlise; ou recompor o prprio material em conformidade com a unidade que ele prprio possua anteriormente anlise. No primeiro caso, obter-se-o snteses imaginativas, desprovidas de valor real: a sntese imaginativa civil de que o homem se serve para modificar a natureza segundo os seus ideais e as suas necessidades, e a sntese imaginativa potica de que se serve para criar obras de poesia. @ evidente que o conhecimento consiste apenas na sntese real. Para conhecer, o esprito deve reunir o material resultante da anlise prpria e apenas em conformidade com a unidade que o mesmo possua j na experincia primitiva. A verdade de qualquer sntese deriva unicamente da correspondncia da prpria sntese com a unidade objectiva que, no que se refere aos corpos, designado por Galluppi como unidade fsica e no que se refere ao sujeito, por unidade metafsica (Ib., 111, 9, 51-52). Segundo este ponto de vista, a doutrina kantiana devia surgir aos olhos de Galluppi como um mero "cepticismo"; e assim acontece. Galluppi pretende substituir os juzos sintticos a priori pelas "verdades primitivas" obtidas da experincia interior atravs da anlise. No obstante este processo o levar a considerar todas as entidades da metafsica tradicional, Galluppi mantm-se apegado a um certo agnosticismo iluminista. Ns ignoramos, afirma ele, a natureza das substncias particulares: ignoramos o modo como actuam as causas eficientes; ignoramos como actua o nosso prprio esprito (Ib., IV, 98-100). E desse agnosticismo se serve para admitir a criao, que, apesar de incompreensvel, no absurda. As doutrinas morais de Galluppi expostas na obra Filosofia da vontade tm o mesmo ponto de partida das suas doutrinas gnoseolgicas: o sentido ntimo ou conscincia. Gal78 luppi explicitamente reconhece nesta obra o seu parentesco com os eclcticos franceses, especialmente com Royer-Collard e Cousin (FU., vol. 6, 60); mas, como acontece com estes eclcticos, repete substancialmente o ponto de vista da escola escocesa. Testemunho da conscincia e, por conseguinte, verdade primitiva, a actividade do eu na vontade (Ib., 1, 6, 60); testemunho da conscincia, por conseguinte verdade primitiva, a prpria liberdade humana. "0 testemunho da conscincia deve encarar-se como sendo infalvel;
portanto necessrio admitir no nosso espirito o poder de no querer algo que se queira e de querer algo que no se queira. Neste poder consiste, portanto, a liberdade da necessidade da natureza" (Ib., 1, 9, 108). Testemunhos da conscincia e por isso verdades primitivas so tambm o mal e o bem. "A exigncia do bem e do mal morais e portanto de uma lei moral natural uma verdade primitiva confirmada pela nossa conscincia, tal como a existncia e a realidade do nosso conhecimento so uma verdade primitiva e indemonstrvel" (Ib., 11, 1, 1). A prpria noo de dever, que est implcita nessa verdade , por conseguinte, simples e no derivada. Galluppi fala de razo prtica, mas este termo no tem, na sua filosofia, qualquer significado Kantia~ no. A razo prtica no mais que a noo imediata do dever que se manifesta no sentido intimo (Ib., 11, 1, 6). No entanto, para Galluppi a moral independente da religio. Basta para seu fundamento a simples considerao da natureza humana, considerao que permite tambm estabelecer a sua independncia do principio do til e da felicidade, a que o empirismo pretende reduzi-Ia. A lei moral no entanto um mandamento de Deus. "Sendo a nossa natureza um efeito da divina vontade, sendo ns assim porque assim o quis Deus, este pretendeu que a nossa razo apresentasse os deveres que apresenta, manifestando assim os seus divinos preceitos atravs dela. esta a lei escrita por Deus nos nossos coraes" (Ib., 11, 2, 28). As verdades morais so necessrias; mas a sua necessidade indemonstrvel porque se trata de verdades primitivas. A diferena entre as verdades teorticas e as prticas reside no facto de que a necessidade das primeiras baseada na sua natureza idntica, ao passo 79 que a necessidade das segundas se baseia na sua natureza sinttica (Ib., 11, 29). 620. ROSMINI: O SER IDEAL COMO REVELAO Na defesa da tradio catlica e por conseguinte na construo de um sistema de filosofia que "possa ser recebido pela cincia teolgica como seu auxiliar", se orienta a obra de Antnio Rosmini Serbati, Tendo nascido em Rovereto a 24 de Maro de 1797, sacerdote catlico e fundador de uma congregao religiosa a que ele chamou Instituto de Caridade, Rosmini viveu quase sempre absorvido pelos seus estudos (teve uma breve interveno na vida pblica atravs de uma misso do governo piemonts ao papa Pio IX em 1848) e morreu em Stresa no dia 1 de Julho de 1855. Entre os seus numerosos escritos, os principais so os seguintes: Opsculos filosficos (1827-28); Novo ensaio sobre a origem das ideias (1830) que continuava a ser a sua obra fundamental; Princpios da cincia moral (1831); Antropologia (1838); Tratado de cincia moral (1839); Filosofia da poltica (1839; Filosofia do direito (1841-45); Teodiceia (1845); Psicologia (1850); Introduo filosofia (1850); Lgica (1854). A esta quantidade enorme de obras publicadas segue-se a no menor de obras pstumas: Do princpio supremo da mitologia (1857); Aristteles, exposio e anlise (1857); Teosofia (1859-74); Ensaio histrico-crtico sobre as categorias e a dialctica (1882); Antropologia sobrenatural (1884); alm de um grande nmero de escritos menores e de cartas. A preocupao fundamental de Rosmini a de defender a objectividade do conhecimento e em geral da vida espiritual do homem, contra o subjectivismo empirista dos iluministas e dos ideologistas e contra o subjectivismo absoluto de Kant e dos idealistas ps-kantianos. Esta preocupao coincide com uma outra, propriamente escolstica, de restabelecer o acordo intrnseco e substancial entre a especulao filosfica e a tradio religiosa crist, levando a primeira a basear-se no prprio principio que rege a segunda; Deus e a revelao divina. Em resposta a estas preocupaes fundamen-
80 tais, a posio filosfica de Rosmini a de todos os espiritualistas: a reflexo sobre a conscincia, ou seja, sobre dados do sentido Intimo. Rosmini explicitamente reduz todas as certezas extrnsecas, baseadas num sinal da verdade (por exemplo, a autoridade) certeza intrnseca que conhecimento intuitivo da prpria verdade. "0 principio ltimo da certeza reduz-se a um s, ou seja, verdade em que a mente acredita como intuio imediata, evidente por si, sem sinais, sem argumentos de mediao" (Novo ensaio, 1055). No entanto, a intuio imediata no pura subjectividade. a intuio da ideia do ser, isto , de um principio objectivo que constitui a prpria forma da subjectividade racional; e permite a Rosmini reconhecer o fundamento de toda a objectividade na prpria razo que, depois de Descartes, vinha sendo considerada como principio da subjectividade. Deste modo Rosmini acaba por ligar-se explicitamente tradio do agnosticismo medieval e especialmente a S. Boaventura Ib., 473). Como forma originria da mente humana, a ideia do ser inata e no-derivada. No deriva das sensaes, que so modificaes subjectivas do homem; pressuposta por todos os juzos que o homem formula sobre as coisas reais que so causa destas sensaes. De nada se pode afirmar que (ou existe) se se possui preventivamente a ideia do ser ou da existncia em geral. Por outro lado, esta ideia universalssima est implcita em todas as outras ideias; uma vez que, por exemplo, a ideia de um homem ou de um livro a ideia de um ser que existe determinado, que possui, alm do ser, um certo nmero de outras determinaes. A ideia de ser precede portanto no apenas as sensaes, mas tambm todas as outras ideias. E no pode ser fruto de uma operao do esprito humano, por exemplo, da abstraco, j que a abstraco no faz mais que limitar a uma ideia certas determinaes particulares, mas no a ideia do ser, que permanece assim pressuposta. pois necessrio que a ideia do ser seja inata e colocada no homem directamente por Deus. No se trata da ideia de Deus, mas apenas do ser possvel e indeterminado; a forma da razo, o principio que a guia, a prpria luz da inteligncia humana (Ib., 396). 81 Da ideia de ser assim entendida Rosmini pretende derivar todo o sistema do conhecimento. Com efeito, na ideia do ser se baseia todo o conhecimento humano, atravs daquilo a que Rosmini chama percepo intelectiva. Conhecer significa, de qualquer modo, determinar o ser possvel atravs da sntese do mesmo com uma ideia particular; ou, o que o mesmo, universalizar uma ideia particular atravs da sntese da mesma com a ideia do ser possvel Ib., 537, 492). Este acto de determinao ou universalizao a percepo intelectiva que supe trs elementos: I?, a ideia do ser; 2?, uma ideia emprica derivada da sensao (das coisas exteriores) ou do sentimento (que o eu tem de si); 3?, a sntese ou relao, expressa num juzo entre a ideia do ser, por um lado, e a sensao ou o sentimento por outro. Desta doutrina fundamental podem extrair-se vrias consequncias importantes: a primeira a de que o conhecimento que o eu tem de si no mais originrio e mais certo que o conhecimento que ele tem de uma qualquer realidade. Com efeito, para afirmar-se como existente, o eu tem necessidade no apenas do sentimento da sua prpria existncia como ainda da ideia de ser, exactamente como acontece para a afirmao das outras coisas Ib., 440). A segunda consequncia a de que a realidade dos corpos exteriores perde o carcter problemtico, que tinha assumido em Descartes, e surge como indubitvel e certa. Com efeito, da ideia do ser podemos extrair necessariamente no s os princpios lgicos da identidade e da contradio, como tambm o principio da causalidade, uma vez que na base da mesma no se pode admitir que exista uma mutao sem haver um ser que a produza; por isso, quando se produzem no homem as
manifestaes que so as sensaes, preciso admitir as causas destas sensaes, ou seja, os corpos. Tais corpos devero ser concebidos como substncias porque s a substncia uma energia operante (M., 677). Pelo mesmo motivo o sentimento fundamental, ou seja a sensao da prpria vida orgnica, implica a existncia de um corpo com o qual estamos unidos e pelo qual no prprio acto nos distinguimos Ib., 669). A terceira consequncia de que o erro possvel apenas como ausncia de um ou de outro elemento de percepo intelectiva, do elemento ideal (ideia do ser) ou do elemento real (sen82 timento ou sensao) Ib., 1359) e sempre um produto da vontade (Ib., 1356). Rosmini parece atribuir aqui vontade o poder de dissociar a razo da ideia do ser, ou seja, da sua prpria forma. A ideia do ser consente portanto, segundo Rosmini, a formao das ideias (ou seja, das noes universais) dos objectos, mediante o processo de universalizao. Este consiste, como se viu, em ligar sensao a ideia de um ser que seja a sua causa (percepo intelectiva); o que permite considerar este ser como possvel, logo universal. A universalizao obtm-se prescindindo, na percepo intelectiva, do ente particular que nela dado; portanto uma forma de abstraco, mas uma abstraco sui generis, que no obriga o ser a perder nenhuma das suas determinaes, e apenas se distingue pelo juzo de subsistncia pronunciado sobre tal Ib., 498). A universalizao vem, deste modo, evidenciar que as espcies so ideias no sentido platnico, ou seja, tipos perfeitos. A abstraco verdadeira e prpria, pelo contrrio, altera a forma e o modo de ser das ideias e d origem a gneros que empobrecem as prprias ideias, limitando-lhes algumas das determinaes que possuem Ib., 493). Estes pontos principais de doutrina so utilizados por Rosmini na criao de uma enciclopdia filosfica que compreende as cincias ideolgicas, as cincias metafsicas e as cincias deontolgicas. Enquanto que as cincias ideolgicas tm por objecto o ser ideal, as cincias metafsicas tm por objecto o ser real; mas se em relao a este ltimo se prescinde daquilo que nele diz respeito fsica, isto , o estudo emprico da natureza, a metafsica no poder ter por objecto seno o esprito finito ou o esprito infinito e ser, por conseguinte, ou psicologia ou teosofia (Psic., 26; Teos. 2). Por ltimo, as cincias deontolgicas tm por objecto a moral, o direito e a politica. A psicologia e a teosfia de Rosmini so substancialmente uma reposio e uma defesa da metafsica aristotlico-escolstica. A psicologia desenvolvida no sentido de demonstrar a natureza substancial, espiritual, simples e imortal da alma humana. A teosofia por ele dividida em trs partes, ontologia, cosmologia e teologia racional, que so trs especificaes de um todo. "Corno falar do ser na sua 83 essncia universal e em todas as suas possibilidades que se integram no domnio da Ontologia, sem ter em considerao a infinitude e o absoluto do ser, argumento da Teologia? Ou ento como formular uma doutrina filosfica do mundo, objectivo da Cosmologia, sem levar em conta a causa que lhe deu existncia, e a forma de actuar dessa causa, o que transporta o raciocnio para um campo teolgico? Portanto o centro e a substncia de todas as investigaes e ser sempre a doutrina de Deus, sem a qual no se chega a conhecer a doutrina do ser ou a explicar o mundo" (Teos., 30). No desenvolvimento das suas doutrinas metafsicas, Rosmini serve-se continuamente do principio do ser ideal: princpio que, apesar de no surgir enriquecido ou modificado com
tal desenvolvimento, aparece no entanto esclarecido no seu significado e revela melhor a posio fundamental do filsofo. Rosmini, desde as primeiras tentativas de juventude (ver, por exemplo, Epistol., 1, 96) at mais tarde s amadurecidas especulaes, teve sempre a inteno de basear a objectividade do conhecimento, e em geral a validade de todas as posies espirituais do homem, na revelao directa ou indirecta de Deus. A primeira e original revelao de Deus o ser ideal ou possvel que constitui a luz do intelecto humano e lhe permite alcanar a objectividade nos seus juzos e a validade nas suas valoraes prticas. O ser ideal limita subjectividade humana a autonomia e a capacidade de iniciativa que a filosofia moderna, de Descartes em diante, lhe vinha reconhecendo, e permite a Rosmini retomar a tradio ontolgica que se tinha desenvolvido na escolstica medieval. Da resulta a afinidade e a declarada simpatia de Rosmini pela doutrina de Malebranche que uma verdadeira e prpria escolstica cartesiana. Para Malebranche, todo o conhecimento "uma viso de Deus". Rosmini acentua a distncia entre o homem e Deus: o homem no consegue ver Deus na sua totalidade e em tudo, mas traz gravada em si, como luz da razo, a ideia do ser, que uma viso indeterminada e abstracta do tributo fundamental de Deus. O homem s intui de Deus aquilo que lhe basta para iluminar a actividade da sua razo; da a parte importante que Rosmini, em confronto com Malebranche, atribui 84 ao homem, que reconhece ser capaz de edificar, com tal auxlio, a sua vida espiritual. 621. ROSMINI: A PESSOA HUMANA, O DIREITO E O ESTADO A ideia do ser tambm o fundamento da moral, do direito e da poltica. A frmula mais geral da moral : "Quando agires segue a luz da razo". A luz da razo no a razo que apenas a faculdade do esprito humano de pr em prtica a ideia do ser; a prpria ideia do ser, que no est submetida limitao da inteligncia humana porque a prpria verdade na sua eternidade e necessidade (Princ. d. Cincia moral, ed. nac., p. 28). Tornam impossvel a lei moral, por um lado, aqueles sistemas (como o de Kant) que identificam a luz da razo com a prpria razo, autonomizando o homem e divinizando-o, por outro lado os sistemas (empiristas) que identificam a luz da razo com o homem e tornam assim varivel e contingente a prpria lei moral. O homem, afirma Rosmini, " meramente passivo em relao lei moral; recebe em si essa lei, no a cria; um sbdito a quem a lei se impe, no um legislador que a imponha" Ob., p. 35). A ideia de ser revela ao homem o bem, porque o bem (como pretendia a velha metafsica) o prprio ser. Como objecto da vontade, o ser revela uma ordem intrnseca que o guia objectivo da aco moral. A mxima desta aco pode formular-se do seguinte modo: "Querer e amar o ser onde quer que seja conhecido e segundo a ordem que ele apresente inteligncia" Ob., p. 78). Ora na ordem dos seres alguns tm razo de fim e so pessoas, outros tm razo de meio e so coisas. As prprias coisas portanto so bens que como tal reentram numa ordem objectiva, disposta no sentido da realizao humana, da sua felicidade. Mas bens superiores so as pessoas que tm sempre valor de fim; e a essas dever dirigir-se o acto moral, que deve ser acto de amor, enquanto que o intelecto no poder reconhecer nenhum ser superior a ele dotado de inteligncia. Mas uma vez que a dignidade das naturezas inteligentes deriva, em razo 85 da ideia do ser, de Deus, a Deus, em suma, que se dirige o acto moral do homem como seu fim ltimo e absoluto.
A doutrina rosminiana do livre-arbtrio baseia-se, tal como a do erro, inteiramente na distino entre conhecer e reconhecer. "0 homem quando percebe um objecto imediatamente o conhece tal qual ele : este o acto do simples conhecimento. Mas quando se detm mais sobre esse objecto j percebido e diz para si prprio: sim, este objecto assim, tem esta importncia; ento reconhece-o: ento reafirma-o perante si prprio, e reafirma com um acto voluntrio e activo aquilo que primeiramente conhecia atravs de um acto necessrio e passivo; este o acto da conscincia reflexa" (Fil. do direito, ed. 1865, 1, p. 64). No acto da conscincia reflexa se radica a valorao, a escolha, a liberdade; mas por isso tambm a possibilidade do erro. " a simples faculdade do conhecer imediato e primitivo aquela que conserva tambm no homem, desencaminhando entre mil enganos, a profunda cincia do verdadeiro; pois tal corno existem e agem no esprito, assim ele recebe os objectos; por outro lado, a faculdade do conhecer reflexo e sucessivo aquela que arrasta o homem pela via do sofisma, do erro, da iluso e que o induz obstinadamente a negar a si prprio a possibilidade de ver, de ouvir e de tocar aquilo que no entanto v, ouve e toca" (Ib., p. 64). caracterstica da tica rosminiana o relevo por ela conferido personalidade moral: e este ponto que a une tica de Kant. Mas a personalidade moral no , para Rosmini, subjectividade: o n em que objectividade e subjectividade se ligam para fazerem um todo. O bem da pessoa humana, que um sujeito inteligente, consiste em aderir entidade objectiva tomada na sua plenitude, por conseguinte na sua ordem. Por isso " no a pessoa humana que produz o objecto! antes o objecto que produz a pessoa humana e que a essa pessoa impe as suas leis no acto que a informa". A obrigao moral de que deriva a dignidade da pessoa surge imposta pessoa pela natureza do ser, por essa razo que s da natureza do ser objectivo deriva, para a pessoa, a necessidade moral de o reconhecer, e por conseguinte o mrito ou demrito prprios (Ib., p. 8 1). 86 Sobre o conceito de pessoa se apoia a filosofia do direito, que uma das partes mais vivas e interessantes do pensamento de Rosmini. Definido o direito como uma "autoridade moral" e precisamente como "uma faculdade de actuar segundo aquilo que agrada, e que est protegida pela lei moral que impe aos outros o respeito" (M., p. 130). Rosmini considerao ligado indissoluvelmente pessoa moral. Apesar do direito se referir fruio e ao uso (no no sentido grosseiro, mas humano) dos bens materiais, ele um atributo inseparvel da pessoa moral e tem a sua origem ltima no dever moral. Direito significa limitao e o dever que limita a actividade pessoal de cada um dentro das fronteiras que constituem a esfera do direito e torna obrigatrio, perante os outros, o respeito dessa mesma esfera (Ib., p. 153). Rosmini identifica direito e pessoa: a pessoa "o direito subsistente, a essncia do direito" Ob., p. 225). A liberdade da pessoa o principio formal de todos os direitos que se especificam e determinam atravs do conceito de propriedade. A propriedade, como "domnio que uma pessoa tem sobre uma coisa" constitui a esfera dos direitos de que a pessoa centro e, como tal, fundamento de todos os direitos que Rosmini chama conaturais, aqueles que esto conexos com a propriedade do homem sobre si prprio. Perante esta origem puramente moral do direito, a sociedade civil e o estado (que a sociedade civil existente de facto) no tm outro objectivo que o de regularem a modalidade dos prprios direitos, a fim de protegerem o seu exerccio harmnico, evitando as colises e garantindo a todos os indivduos a mxima liberdade possvel Ob., 11, p. 527). Rosmini sustenta que s a sociedade teocrtica (a Igreja) existe de pleno direito independentemente da vontade humana. A sociedade domstica (a famlia) e a sociedade civil no existem de direito, seno atravs de um acto de vontade humana que livremente as criam. Em particular, a sociedade civil, resultando de uma reunio de famlias, ou de
pais de famlia, obtm o seu principio, no da conscincia espontnea e natural, mas da livre reflexo; e o seu fim essencial o de regular a modalidade de direitos de que gozam naturalmente as pessoas que a constituem. De acordo com este fim, a sociedade civil deve, sem dvida, possuir uma fora dominan87 te sem a qual a regulamentao da modalidade dos direitos seria ineficaz. Deve tender para a igualdade; mas no para uma igualdade absoluta. Esta ltima pressupe que todos os indivduos possam colocar na sociedade o mesmo capital, o que contra a natureza; a desigualdade cai portanto na esfera do direito. A sociedade, pelo contrrio, deve igualizar a quota-parte de utilidade que da sua instituio e gesto deriva para os indivduos. Esta forma de igualdade o bem comum, para o qual deve tender toda a sociedade juridicamente organizada (Ib., 11, p. 549). Na prpria Filosofia do direito, como na obra precedente, Filosofia da poltica, Rosmini subordina a estrutura poltica da sociedade sua estrutura social, que deve tender para o bem comum (Ib., 11, p. 934). Ainda que no podendo propor, como vimos, a abolio da desigualdade de fortunas, a sociedade deve providenciar quanto aos males a que d origem antes de mais pela extrema misria de outra parte da escala social (Ib., 11, p. 947). Esta uma das condies fundamentais para o aperfeioamento da sociedade. Aperfeioamento que no pode ser entendido como um progresso necessrio e fatal que, a existir, tornaria intil a actividade dos homens e dos governos (Filosofia da pol., ed. 1837, p. 435), mas antes como perfectibilidade do homem e da sociedade no sentido do ideal cristo de uma comunidade livre e justa. 622. GIOBERTI: VIDA E OBRA A obra de Vincenzo Gioberti est dirigida no sentido da defesa da tradio espiritual italiana, reconhecida no catolicismo e no papado. Gioberti nasceu em Turim a 5 de Abril de 1801, foi sacerdote catlico de ideias liberais e republicanas e obrigado a exilar-se em 1833 quando a difuso da propaganda mazziniana tinha provocado uma violenta reaco policial em todo o reino sardo. Gioberti dirige-se a Paris onde permanece desde Outubro daquele ano at Dezembro de 1834. Neste ltimo ano vai para Bruxelas onde ensina filosofia e histria no Instituto Gaggia at Julho de 1845. Em 1837 publica a sua primeira obra Teoria do sobrenatural, a 88 que se seguia a Introduo ao estudo da filosofia (1840) que o seu trabalho filosfico fundamental. Depois um longo ensaio, Consideraes sobre as doutrinas filosficas de Victor Cousin (1840), uma Carta sobre as doutrinas filosficas e polticas de Lamennais, publicada em francs em 1841, um longo escrito Sobre os erros filosficos de Antnio Rosmini (1841-43), um escrito Acerca do Bem (1843) e o Primado moral e civil dos italianos (1842). Esta ltima obra exerceu uma profunda influncia no clima espiritual e politico no risorgimento italiano. Ao reedit-la em 1844, Gioberti escreveu um longo prefcio, Prolegmenos ao Primado, no qual acentuava numa forma liberal e progressiva as ideias do Primado. Em 1846-47, Gioberti, que entretanto se tinha estabelecido em Paris, publicou o Jesuta moderno: obra que estava destinada a fazer de contraponto ao Primado, pois enquanto este insistia em fazer da tradio alavanca para o progresso e para a liberdade em Itlia, o resulta destinava-se a eliminar da tradio o peso da inrcia, dos hbitos e preconceitos que Gioberti via concretizados nos resultas. Uma Apologia do
Jesuta moderno foi escrita por Gioberti defendendo a sua obra anterior. Entretanto os acontecimentos de 1848 em Itlia permitiram um regresso triunfal de Gioberti sua ptria, onde foi deputado, ministro e presidente do Conselho; mas o fracasso da politica neo-guelfa leva-o novamente ao exlio, em Paris, onde permanece at morrer, em 26 de Outubro de 1852. Nesta ltima parte da sua vida, Gioberti publicou o seu segundo trabalho politico, Sobre a renovao civil em Itlia (1851) que surge como precursor da obra politica que Cavour iria traar no decnio 1849-59. Alm desta obra no publicou seno alguns escritos de polmica violenta (ltima rplica aos municipais, 1852) e um Discurso preliminar Teoria do sobrenatural (1850), tambm polmico. Mas Gioberti continuou a trabalhar numa obra de filosofia, a Protologia. Dos seus manuscritos que ficaram inditos o seu amigo Massari traduz e publica as obras que constituem o seu ltimo trabalho de especulao: a Protologia (1857), a Filosofia da revelao (1856) e a Reforma catlica (1856). Em seguida foram publicados: uma Teoria da mente humana (1856), situada entre a Teoria do sobrenatural e a Introdu89 o; as primeiras tentativas filosficas (Pensamentos de V. C., 1859-60); Meditaes filosficas inditas de V. C., 1909); o Epistulrio (1927-37), til para se conhecer a histria interna e externa das suas obras; e um Curso de filosofia (1947) escrito em francs em 1841-42 durante o tempo em que ensinou no Instituto Gaggia. 623. GIOBERTI: A VERDADE COMO REVELAO E TRADIO J nos textos de juventude, publicados postumamente, vai abrindo caminho, entre incertezas e oscilaes, o princpio fundamental da filosofia giobertiana: a verdade tradio e revelao. "Para manter a verdadeira via o filsofo deve persuadir-se que no poder encontrar na cincia nada que no tenha j sido revelado por uma grande e infalvel autoridade", afirmava Gioberti (Med. fil. md., p. 60), que via na tradio no apenas a palavra de Deus que comunica a verdade de gerao em gerao, mas, em sentido lato, a prpria racionalidade humana, que um dom divino e uma tradio que se exprime e enriquece com os sculos, quer atravs da linguagem falada pelas cincias e pelas letras, quer pela linguagem muda das instituies e das artes, ou seja, da civilizao (Pensamentos, 1, p. 108). No por acaso que o seu primeiro escrito publicado se intitula Terica do sobrenatural, nele se podendo depreender a tese fundamental de de Bonald de que "a criao da linguagem primitiva foi uma revelao de ideias, divina, sendo o principio da civilizao humana absolutamente sobrenatural" (Cap. 45, p. 41). Compreende-se assim, segundo este ponto de vista, que Gioberti haja concebido a sua obra capital, a Introduo ao estudo da filosofia, como uma condenao total e sem apelo de toda a filosofia moderna. "Sei que Descartes e toda a filosofia moderna que dele procede, afirma Gioberti, (Intr., 1, pp. 9-10) tm a pretenso de introduzir a investigao e, por conseguinte, a livre eleio de princpios, mas demonstrarei, no desenrolar desta obra, quanto ridcula e irracional uma tal pretenso. Os princpios so fornecidos pela intuio que, no podendo transformar-se em cognio refle90 xiva sem a interveno da palavra, depende necessariamente dela no que respeita
filosofia. A palavra dupla, religiosa ou social; esta nasce daquela; porque em todos os lugares e tempos a sociedade foi criada, educada e civilizada pela religio. A palavra religiosa o dogma tradicional; por isso a filosofia, ao ir buscar os seus princpios tradio sagrada, serve-se da fonte mais legtima, mesmo que tenha sido alterada; porque a palavra social, derivando da primeira, jamais poder super-la em integridade e em pureza". A filosofia, que reflexo e se serve da palavra, pressupe portanto a revelao de que nasce a prpria palavra. Mas a filosofia reflexo sobre o acto original do conhecimento humano, que intudo. Neste, o esprito humano puramente passivo; o objecto do intudo, que Gioberti designa com o nome platnico de Ideia, manifesta-se ao homem na prpria criao do intudo, uma vez que, neste, subsistir e conhecer so inseparveis e a verdade absoluta e eterna se manifesta ao homem de forma imediata (Intr., 11, p. 46, 1). Deste modo, o acto originrio do conhecimento, a intuio, uma relao imediata, total e necessria da mente humana com a verdade absoluta, com a Ideia. Mas a Ideia enquanto objecto do intudo no pode reduzir-se, segundo Gioberti, ao ser possvel de Rosmini. A ideia rosminiana do ser sempre um dado subjectivo e portanto insuficiente para fundamentar a objectividade do conhecimento. A intuio deve ter por objecto no o ser ideal e possvel, mas o ser real e absoluto: o prprio Deus. Ao "cepticismo" de Rosmini, Gioberti contrape a doutrina de Santo Agostinho, de So Boaventura, de Malebranche, segundo a qual o homem uma relao directa e imediata com Deus (Dos erros fil. de A. Rosmini, ed. nacio. 1, p. 74). No entanto, a intuio no perfeita: apenas revela aos homens os elementos naturais e racionais da Ideia e no os sobrenaturais. Para os primeiros, a revelao s necessria na medida em que fornece a palavra que o instrumento indispensvel da sua explicao reflexa; mas para os segundos a revelao necessria na medida em que s atravs dela podem ser manifestados. As verdades sobrenaturais dependem apenas da palavra revelada; no so a sua prova, surgem por ela provadas, no se intuem, acredita-se nelas; o conceito que se obtm meramente ana91 lgico; e esta analogia no baseada na intuio ou no discurso, mas na simples autoridade da revelao" (Ib., p. 43). A filosofia explica os elementos racionais da Ideia, a teologia revelada ou positiva os elementos sobrenaturais. Filosofia e teologia reunidas formam a cincia ideal perfeita, representando uma a face iluminada da Ideia, a outra, a face naturalmente obscura mas parcialmente iluminada pela palavra divina. A intuio condio de todo o conhecimento mas no o prprio conhecimento, que s se inicia com a reflexo. A reflexo circunscreve e determina o objecto da intuio atravs da expresso sensvel, mediante a palavra. Dai a possibilidade de encerrar numa frmula a revelao que atravs da intuio o Ser absoluto faz de si prprio. Esta frmula a frmula ideal. trata-se de "uma proposio que exprime a Ideia de forma clara, simples e precisa, atravs de um juzo" (Ib., p. 147). Uma vez que o homem no pode pensar sem julgar, no lhe dado pensar a Ideia sem fazer um juzo, cuja expresso a frmula ideal. Eis o primeiro juzo contido nesta frmula: o Ser necessariamente. Uma vez que pela intuio o homem absolutamente passivo, o autor deste juzo o prprio Ser que, segundo Gioberti (Ib., p. 174) "se revela a si mesmo e exprime a prpria realidade ao nosso pensamento atravs da inteligibilidade co-natural sua essncia e que necessria ao exerccio da virtude cognitiva em todo o esprito criado". O Juzo, o Ser, um juzo reflexo formulado pela razo humana atravs da palavra, e exprime o Eu sou que o prprio Ser pronuncia de forma imediata intuio pelo homem. Por isso a filosofia parte de um juzo divino e objectivo, que ela repete atravs da reflexo e circunscreve por meio da palavra. Gioberti afirma que "Deus, no rigor da palavra, o primeiro filsofo e a filosofia humana a continuao e a repetio da filosofia divina"; e diz ainda que "o trabalho filosfico no
comea com o homem mas com Deus; no vai do esprito ao Ser, desce do Ser ao esprito" (Ib., p. 175). Isto implica a condenao do psicologismo que pretende seguir o processo oposto; dai a falsidade radical da filosofia moderna, e a verdade do ontologismo. 92 O juzo, o Ser, constitui apenas uma parte da frmula ideal porque na realidade constitui apenas um s termo, apesar de a frmula ideal ser a unidade orgnica e completa de trs termos, sujeito, cpula e predicado. O segundo termo da frmula o existente, isto , uma realidade que no por si e requer como sua causa o Ser absoluto. O existente no pode ser produzido seno pelo Ser: o Ser por necessidade criador, entendendo-se por criao "uma aco positiva e real mas livre, pela qual o Ser (ou seja, a substncia e causa primeira) cria as substncias e as causas segundas, ordena-as e contm-nas em si prprio, mantm-nas no tempo com a imanncia da aco causante que, em relao s coisas produzidas, uma continua criao" (Ib., p. 190). Na frmula que exprime adequadamente a intuio, o Ser cria o existente, existem trs realidades independentes da mente humana: uma substncia ou causa primeira, uma multiplicidade orgnica de substncias e de causas segundas, e um acto real e livre da substncia primeira e causante pelo qual o Ser nico se liga multiplicidade das existncias criadas. Com esta frmula surge evidente, segundo Gioberti, que o esprito humano " em todos os instantes da sua vida intelectiva espectador directo e imediato da criao" Ob., 11, p. 183). Todo o conhecimento racional do homem uma explicao da frmula ideal, que contm j em si, como se viu, os axiomas de substncia e de causa que dela extraem o seu valor apodctico. E em geral todo o raciocnio, toda a concatenao de uma ideia com outra, no mais que o conhecimento sucessivo que o homem tem do acto criador e do processo csmico. O processo psicolgico da mente, que se move no sentido da verdade, repete por conseguinte o processo ontolgico pelo qual o objecto desta verdade se constitui por virtude da aco directa de Deus. Segundo este ponto de vista, Gioberti afirma que a verdade e a cincia so, por natureza, catlicas, j que s o catolicismo unifica filosofia e teologia colocando entre ambas o acto criador de Deus. Dessa frmula ideal deriva portanto toda a enciclopdia das cincias. O seu sujeito, o Ser absoluto, d lugar filosofia e teologia; o seu predicado, o existente, d lugar s cincias fsicas que estudam a natureza sensvel, a existncia finita; a 93 cpula, o conceito de criao, forma a matria das matemticas, da lgica e da moral (Ib., pp. 3-5). Mas o homem no apenas espectador, tambm autor no ciclo criativo. Com efeito, este no termina com a criao do existente, pois o homem refere o existente a si prprio e f-lo participante da sua perfeio. Isto acontece por virtude da vida moral, atravs da qual o homem, livremente, se torna merecedor da santidade que o seu regresso ao Ser. O existente regressa ao Ente (ser), tal a segunda parte da frmula ideal que exprime a perfeio e o remate do ciclo criativo. Enquanto que na primeira parte o ciclo apenas divino, na segunda parte simultaneamente humano e divino, porque as foras criadas concorrem, como causas segundas, para o conseguirem, com a aco promotora e governante da causa primeira. "Sada de Deus e regresso a Deus, tal a filosofia e a natureza, a ordem universal das cognies e da existncia. A ontologia que a cincia dos princpios diz respeito principalmente ao primeiro ciclo e a tica ao segundo: uma a base, a outra o cume do saber. A religio, que a filosofia e a sabedoria levadas ao extremo, estende-se para ambas e envolve-as no mesmo abrao" Ob.,
111). O progresso do homem no sentido da perfeio por conseguinte um regresso no sentido da perfeio e da unidade primitiva. Mas este progresso no possvel seno com a ajuda da revelao que renova a verdade primitiva entre os homens. Gioberti defende explicitamente o sobrenatural entendendo-o como "o domnio da Ideia sobre o conceito e sobre o sentido e do Ser sobre as existncias materiais e espirituais" (M., III, p. 161). O milagre torna-se necessrio e inteligvel pelo predomnio da ordem moral sobre a ordem espiritual, predomnio que justifica a interveno directa e imediata de Deus. O progressivo aperfeioamento do homem, tendendo para um termo infinito e no atingvel no tempo, implica o conceito de supra-inteligvel. A supra-inteligncia no mais que "o sentimento da virtude intelectiva no explicvel no decurso do tempo e que surge no fim do segundo ciclo criativo" (Ib., IV, p. 10). Segundo este ponto de vista, a morte "a converso do supra-inteligvel em inteligvel e o remate da cognio ideal". O suprainteligvel s conhecido positivamente atravs de analogias re94 veladas. Fora da revelao, apenas se pode ter dele um conceito muito geral, formado pela noo abstracta do Ser e da sua relao negativa com o inteligvel. Ao supra-inteligvel corresponde, na ordem dos factos, o sobrenatural que Gioberti justifica com o "sentido especial dado pelo Ser ao existente de modo a reconduzir este quele como a um fim ltimo" Ob., IV, p. 33). O sobrenatural portanto um convite e uma solicitao continua ao homem para que regresse ao Ser que lhe d origem. S o homem, entre todos os seres existentes, consegue, pela sua liberdade, este regresso. Com efeito, se o primeiro cicio fatal e apenas ontolgico para o homem, como para todos os outros seres existentes, o segundo ciclo, o do regresso ao Ser, psicolgico, voluntrio, moral, e fruto de uma livre escolha. Se o homem, em vez de aspirar ao Ser, se afasta dele e se considera como fim, perturba a ordem moral do universo, coloca-se no mesmo piano da matria e aproxima-se do nada. O divrcio espontneo do Ser est na base da imoralidade, do mal e do regresso, do qual nasce a culpa, a dor e o castigo Ob., IV, p. 38). Com esta doutrina, Gioberti reproduziu os traos mais evidentes de um neoplatonismo cristo, que se encontra na patrstica oriental (por exemplo, em Gregrio de Nisa) e em Escoto Ergena. De original nesta doutrina neoplatnica apenas existe a concepo de intuio, ou seja, a pretenso de que o homem " espectador directo e imediato da criao". Mas esta pretenso chega a Gioberti atravs da prpria filosofia moderna que ele procura combater e eliminar; ela , com efeito, a transcrio objectiva do valor da subjectividade humana, que o princpio daquela filosofia. 624. GIOBERTI: A DIALCTICA DA MIMESIS E DA METHEXIS Os escritos pstumos e sobretudo a Protologia do origem ao problema da relao entre a doutrina de Gioberti e a de Hegel. No h dvida que as duas doutrinas se ligam uma outra em razo da unidade da sua inspirao histrica: ambas se reconduzem ao neoplatonismo alexandrino e 95 s suas revivescncias crists. evidente que as referncias polmicas a Hegel, pouco frequentes nas obras anteriores de Gioberti, passam a ser contnuas e incessantes nas obras pstumas, como se Gioberti sentisse a necessidade de diferenciar, a todo o passo, o seu pensamento de uma doutrina afim e fortemente sugestiva. Por outro lado, no menos certo que os pontos fundamentais do pensamento giobertiano expostos na Introduo se mantm defendidos com a mesma firmeza nas obras pstumas e que tambm nestas
podemos encontrar uma linha pantesta, que atribui um significado fundamental e central ao conceito de criao. Tudo o que se pode dizer a este propsito que Gioberti procurou exprimir na Protologia o seu pensamento fundamental atravs duma nova linguagem, tendo em considerao, sempre que possvel, as instncias fundamentais do hegelianismo. O primeiro ponto dessa nova expresso do pensamento giobertiano numa diferente linguagem o conceito de pensamento imanente, que vem substituir o de intuio. "0 Ser intudo no estado imanente do pensamento, afirma Gioberti (Prot., 1, p. 173), perfeitamente objectivo. A imanncia do pensamento consiste portanto no facto de ela excluir todas as propriedades subjectivas no objecto contemplado, e transferindo no prprio pensamento a imanncia (no digo eternidade) do objecto e excluindo a sucesso contempornea". As caractersticas do pensamento imanente so recapituladas por Gioberti da forma seguinte: "l? - o Ser inteligvel cria o pensamento humano por meio de uma aco imanente e cria-o dando-se-lhe a conhecer; 2? - esta criao continua como o pensamento; 3? - o Ser no existe fora ou dentro do esprito, mas sacia-o com a sua imensidade, de tal modo que se pode afirmar que o ser imanente existe no ser inteligvel" (Ib., p. 175). Gioberti reafirma assim o carcter puramente passivo do pensamento imanente, no qual no existe reaco por parte do homem aco do objecto inteligvel; e distingue-o de todas as formas de reflexo que, pelo contrrio, so uma actividade livre do homem, tm lugar no tempo e necessitam da palavra (ou seja, do elemento sensvel) para que possam ser possveis. Mas evidente que o pensamento imanente, como criao que Deus faz do esprito humano no acto de se manifestar, no idn96 tico ao prprio Ser, ou seja, a Deus; e Gioberti afirma explicitamente que o erro de Schelling, de Hegel e de outros filsofos alemes est em terem formulado tal identidade (Ib., p. 174). A criao-revelao portanto aquilo que distingue o pensamento imanente de Gioberti da Ideia hegeliana. Na Ideia hegeliana, o ser pensamento; no pensamento imanente giobertiano, o ser cria o pensamento e cria-o revelando-se-lhe como ser. Segundo este mesmo ponto de vista surge a nova verso de Gioberti da relao entre finito-infinito. A sntese do finito com o infinito uma sntese de criao, no de continncia ou identidade. "0 infinito no limitado pelo finito, dele distinto substancialmente, porque este ltimo foi criado do primeiro". (Ib., 1, p. 406). A infinitude de Deus consiste na unidade e na plenitude do acto criador. "0 infinito de Hegel, sendo indeterminado e consistindo numa mera potncia destituda de verdadeira fora criadora no pode ser um acto e, por conseguinte, no um infinito intensivo, que o verdadeiro infinito. Aquilo que se costuma designar por infinito determinado e pessoal o acto infinito: ora o acto infinito a criao substancial" (Ib., p. 437). Ao conceito da infinita potncia criadora liga-se o de cronotopo, o de espao e tempo puros, intudos no acto de pensamento imanente. O cronotopo infinito como o prprio Deus; mas a imaginao circunscreve-o necessariamente, e uma vez que no o pode representar seno num lugar e num tempo determinados, num centro, numa poca, etc., s poder represent-lo atravs do existente (Prot., 1, pp. 453-54). O cronotopo o prprio Deus; mas Deus como ideia ad extra, como possibilidade infinita da criao; porque no de natureza subjectiva e humana, mas objectiva e divina (Ib., pp. 526-27). Como possibilidade da criao, o cronotopo reside no pensamento divino, na mentalidade pura e portanto eterno enquanto condio do tempo. Uma vez mais, Gioberti contrape relao de identidade estabelecida pelos pantestas entre o eterno e o tempo, uma relao da derivao e subordinao tornada inteligvel pelo acto criativo (Ib., p. 545).
97 Estabelecido o ponto crucial da distino entre a sua doutrina e o idealismo absoluto, Gioberti pode reconhecer a exigncia e a validade de uma dialctica que exprima os dois momentos do ciclo criador (0 Ser cria o existente, o existente regressa ao Ser). No entanto, trata-se de uma dialctica do finito, do existente, do mundo criado como tal; e os termos que a exprimem so extrados, significativamente, do platonismo. O primeiro momento da dialctica a mimesis ou imitao; o aspecto pelo qual o mundo se afasta de Deus, ainda que imitando imperfeitamente a natureza, e atravs do qual se apresenta como multiplicidade, mutao, luta, temporalidade, contingncia, sensibilidade. O segundo momento, correspondente ao segundo ciclo criador, a methexis ou participao, pela qual o mundo regressa, em razo do homem, a Deus e reencontra a sua unidade, a sua harmonia e a sua paz, numa palavra, a sua plena inteligibilidade. A methexis representa o ciclo da palingnese que tem por objectivo final o reino de Deus. A dialctica da mimesis e da methexis permite a Gioberti reproduzir a diviso hegeliana dos trs mundos, lgica, natureza e esprito. "Trs mundos: pr-sensvel, sensvel, supra-sensvel. O primeiro a methexis inicial e virtual; o segundo a mimesis; o terceiro a methexis final e actual. A mimesis o esforo da methexis inicial para alcanar o final. Os dois mundos da methexis esto fora do tempo. O mundo pr-sensvel o gnero abstracto; o ultra-sensvel o gnero concreto e plenamente individualizado" (Prot., 11, p. 107). Sob a sugesto e exemplo de Hegel, Gioberti socorre-se dos conceitos dialcticos de mimesis e methexis para a soluo, muitas vezes arbitrria e verbal, dos mais diversos problemas. Assim, por exemplo, a civilizao "o progresso methexis do esprito humano", ao passo que o regresso corresponde mimesis (Ib., 11, pp. 273-75); o corpo a mimesis, a alma a methexis, a mulher mimesis, o homem methexis (Ib., p. 319); a gerao um acto metsico; o movimento prprio da masculinidade, a passividade pertence ao que feminino (Ib., pp. 396-97). As prprias raas humanas esto hierarquicamente ordenadas segundo o mesmo princpio (Ib., p. 557 e segs.), o que leva Gioberti a pronunciar a condenao da raa negra pela seguinte razo (Ib., p. 221): "0 negro a pri98 vao da luz, mimesis da inteligibilidade. A estirpe negra a mais degenerada das trs linhagens humanas, e a menos inteligvel e inteligente, a menos apta para a civilizao". Motivos anlogos e opostos levam-no a exaltar a raa branca e dentro dela sobretudo a chamada "estirpe pelgica", a italiana. A tendncia, j manifestada nas primeiras obras de Gioberti, para mitificar e para fornecer justificaes pseudo-filosficas das mais incrveis noes e preconceitos, encontrou um poderoso encorajamento no exemplo de Hegel. No que se refere palingnese, ao regresso final e perfeito da existncia ao Ser, Gioberti altera de certo modo a distncia que separa o mundo de Deus; mas aqui a sua distino do pantesmo est verdadeiramente suspensa por um fio. Gioberti afirma que a deificao do mundo, ainda que seja o termo final e absoluto do ciclo, jamais poder ser conseguida no tempo; mas reconhece ao mesmo tempo que "Deus, presumindo na sua actual infinitude a infinitude potencial do mundo, v tal infinitude realizada; e por isso verdadeiro afirmar que em relao a ele o mundo Deus e, por conseguinte, Deus no v no mundo outra coisa seno ele prprio" (Prot., 11, p. 665). Noutras palavras, o pantesmo, falso em relao ao homem, verdadeiro do ponto de vista de Deus. No segundo ciclo, o homem actua como um Deus inferior que imita o Deus supremo. "Os pantestas egostas (Fichte) so mais razoveis que os naturalistas porque, na verdade, o homem Deus; mas um Deus criado. Deus criador e incriado; o homem criador e criado. Deus infinito no presente; o homem -o potencialmente" (Ib., p. 670). As caractersticas neoplatnicas 'da doutrina
de Gioberti esto aqui ainda mais acentuadas: as prprias frases so de Escoto Erigena. Um ponto no entanto continua a separar a doutrina de Gioberti da de Hegel, tambm esta dominada pela inspirao neoplatnica: a contingncia do mundo em relao a Deus, contra a necessidade, afirmada por Hegel, da manifestao de Deus no mundo. Se se prescinde deste ponto, que em Gioberti deriva da inspirao catlica do seu pensamento, as duas doutrinas acabam praticamente por coincidir. Com efeito, Gioberti pode entoar um hino conscincia e ao pensamento que mais parece ter saldo da pena de Hegel. "Toda a realidade conscincia ou 99 inicial e potencial ou actual e completa. Com efeito, a realidade no realidade se no se possui a si prpria, se no se reflecte em si, se no idntica a si prpria. Esta identidade e reflexo intrnseca a conscincia. Da serem sinnimos conscincia e realidade. Deus e universo so ambos conscincia; uma infinita actualmente, outra potencialmente. Fora da conscincia nada existe, nem nada pode ser. Existncia, pensamento, conscincia, fazem um todo nico. Os vrios graus, estados e processos da realidade so os mesmos da conscincia. E a conscincia a alma; logo a alma tudo. Este psicologismo transcendente o verdadeiro ontologismo. A intuio a parte peregrina e profunda do sistema de Fichte. O resto antropomorfismo" (Ib., II, pp. 725-26). No entanto, o carcter contingente e livre da criao reveladora permite a Gioberti justificar tambm a outra revelao, a histrica, e de se professar catlico. A Filosofia da revelao coloca explicitamente uma ao lado da outra: a revelao criadora da intuio e a revelao histrica. "Duas revelaes: uma racional, imanente, universal, natural, imediata, interna, potencial, existente na intuio; a outra positiva, transitria, particular, sobrenatural, mediata, externa, actual, consistindo no ensino interno e sobrenatural feito por Deus a certos homens e por eles comunicado exteriormente aos outros homens... A revelao imanente idntica criao da mentalidade pura, assim como criar uma mente e revelar-lhe o criado e o criador e o acto que cri@ uma s coisa" (Fil. da revel., pp. 5455). Este conceito de revelao aproxima a doutrina giobertiana, por um lado, do espiritualismo eclctico francs e de Maine de Biran, por outro, do idealismo romntico alemo. Ele fornece-nos o ponto de convergncia e de unificao de todo o pensamento romntico de oitocentos: que, de uma forma ou de outra, pretende referir o finito ao infinito, o homem a Deus, e que nas suas ramificaes procura distinguir ou identificar os dois termos. 100 625. GIOBERTI: AS DOUTRINAS POLITICAS As primeiras obras de Gioberti, A terica do sobrenatural e a Introduo continham j os princpios polticos que ele iria demoradamente demonstrar no Primado. O Primado dos italianos deduzido por Gioberti da sua forma ideal, "o Ser cria o existente". Aplicada sociedade humana, esta frmula: "a religio cria a moral e a civilizao do gnero humano". Como o cristianismo a nica religio que mantm e conserva integra a revelao divina e como a Igreja catlica a nica depositria e intrprete da revelao divina, Gioberti v no catolicismo toda a civilizao do gnero humano e na histria do catolicismo a histria da humanidade como tal. Mas o catolicismo tem o seu centro na Itlia onde reside o seu chefe; a histria da Itlia est ligada mais que a de qualquer outro pais histria do catolicismo e por conseguinte da civilizao universal. Gioberti descobre os primrdios da histria do catolicismo na prpria civilizao da Grcia, ou seja, na "estirpe pelgica" que ele, como Vico, sustenta ser a primeira depositria da cincia itlica.
Nos outros pases da Europa, o principio da liberdade de investigao, afirmado por Descartes e por Lutero, rompeu com a unidade da tradio universal e constitui uma ameaa de anarquia e de guerra. Dai o interesse de toda a civilizao em regressar tradio catlica; e este regresso no pode ser seno um regresso Itlia, que o centro desta tradio. A Itlia dever portanto retomar a sua misso hiertica e civilizadora, conciliar tradio e progresso, unificar o elemento laico e o elemento sacerdotal que aparecem divididos e em oposio. Tal o objectivo que Gioberti atribui ao Risorgimento italiano por ele concebido como uma exigncia da civilizao universal que deve reencontrar na tradio autntica da humanidade os elementos da sua vida e do seu progresso. De acordo com estes conceitos, Gioberti apresentava o seu programa poltico concreto: o de uma federao de estados italianos que tivesse como chefe o papa e como instrumento secular a fora militar do Reino da Sardenha. Parece intil reafirmar o carcter utpico e arbitrrio de tais locubraes, que na mente de Gioberti se apresentavam como filosoficamente e politicamente realistas. Os entusias101 mos suscitados e, mais ainda, a funo histrica exercida pelo Primado nos anos do Risorgimento devem-se tese geral da obra; que, pela primeira vez, colocava o problema do Risorgimento italiano, j no em termos de insurreio ou de ruptura violenta com a tradio religiosa e poltica, mas precisamente nos termos dessa tradio, fazendo surgir uma soluo que no parecia lesiva dos interesses espirituais e polticos das classes dominantes e dos estados italianos. Fracassada em 1848-49 a poltica do neoguelfismo, Gioberti publicava em 1851 a Renovao poltica de Itlia que, deixando de p a estrutura filosfica das obras anteriores, vem modificar substancialmente as directrizes polticas. Enquanto que no Primado Gioberti limitava o seu apelo aos estados e s classes dirigentes, na Renovao volta-se para o povo e faz-se porta-estandarte de uma renovao democrtica da vida italiana e da Europa em geral. A soberania deve expandir-se at se identificar com o povo: mas isto exige a instruo das classes populares e a sua elevao econmica. Ao contrrio do principio comunista da abolio da propriedade privada, Gioberti afirma o carcter e a finalidade social e moral da mesma; e reconhece a exigncia de que o estado intervenha na transmisso e na distribuio da riqueza de forma a favorecer o bem-estar do gnero humano. Gioberti via essa renovao italiana no quadro da renovao europeia e reafirmava a espiritualidade do movimento histrico atravs do qual uma Nao pode reconhecer-se e afirmar-se como realidade. Reconhecida a impossibilidade de submeter o papado s exigncias da unificao nacional, Gioberti via no Piemonte o estado que deveria assumir o objectivo de levar a cabo essa mesma unificao. Ao mesmo tempo, nos aspectos que permaneciam inditos, Gioberti defendia uma reforma catlica, que deveria reconduzir o catolicismo pureza da revelao original, reunindo de certo modo a tradio interna com a externa, a palavra revelada com a pronunciada directamente por Deus no esprito do homem. Gioberti fala na Reforma catlica de uma poligonia do catolicismo, ou seja, na defesa da existncia da palavra revelada na individualidade de cada um, ainda que a mesma se mantenha na sua totalidade (que a Igreja) harmnica e una, tal um polgono de infinitas faces 102 (Ref. cat., ed. Balsamo-Crivelli, pp. 147-48). "Dir-se-, acrescenta Gioberti, que o Papa, os Bispos, etc., no entendem o catolicismo minha maneira. Mas os que levantam esta
objeco so os que no me compreendem; por isso respondo que se eles entendessem o catolicismo minha maneira, era eu quem estava errado. Com efeito, aqueles, como homens que so, pertencem a uma face mais ou menos larga do polgono, e no podem abra-lo na sua totalidade. Ningum o consegue, a no ser Deus. Mas medida que os graus se elevam, quem se coloca neles alcana um maior nmero de faces". Esta poligonia ou multilateralidade do catolicismo no anula no entanto o seu elemento subjectivo, imutvel e permanente. Os dogmas catlicos so imutveis, mas apenas como potencialidades, como capacidades de promover o progresso da tradio histrica. "Os dogmas catlicos so imutveis, mas apenas potenciais; no podem alterar-se porque so potncias. Nas foras criadas a potncia a nica coisa imutvel; o acto varia continuamente no tempo" (Ib., p. 32). A reforma catlica dever consistir em retirar a Igreja da sua rigidez medieval e fazer dela uma civilizao, uma fora propulsora do progresso civil (Ib., p. 37). Deste modo a defesa da tradio, da qual Gioberti tinha partido nas suas primeiras tentativas filosficas, passa a ser, por ltimo, a defesa do progresso civil que surge identificado com ela. "A ideia catlica passando do que fala para o que ouve, atravs da tradio, consistindo essa passagem no facto de o ouvinte excitado pela palavra fazer nascer a ideia, dever variar segundo os tempos, os lugares, os indivduos. E tal como o esprito humano existe em progresso, segundo a linha sucessiva do tempo, tambm a ideia ao transmitir-se se explica, e de um modo geral, o ouvinte sendo de uma gerao mais nova, recebe uma ideia mais ampliada. Portanto a tradio progressiva" (Ib., p. 56). Estas concluses de Gioberti evidenciam as afinidades fundamentais que se verificam sob os contrastes violentos e as acerbas polmicas da poca entre o pantesmo e os defensores do transcendentismo, entre o progresso e a tradio. O conceito romntico de uma revelao infinita que domine a realidade e a histria e constitua o valor de ambos est na 103 base destes contrastes. Segundo ele, a nica realidade o Infinito, o Absoluto, a Ideia, Deus, manifestando-se infinitamente ou revelando-se na histria. O conceito de progresso um dos corolrios dessa doutrina fundamental e um dos sinais pelos quais se reconhece o parentesco ou afinidade existente entre os pensadores em polmica. 626. MAZZINI As concepes de Rosmini e de Gioberti so dominadas pela ideia de tradio; o pensamento de Mazzini dominado pela ideia de progresso. Mas a aparente anttese das duas concepes, e a violenta polmica que entre elas se estabelece, no consegue fazer desaparecer a identidade de aspiraes existentes em ambas: o prprio progresso a tradio ininterrupta do gnero humano, assim como a tradio o seu progresso incessante. Acentuar no entanto, como faz Mazzini, o conceito de progresso, implica uma diferena importante do ponto de vista prtico-politico; uma vez que significa colocar a ideia de tradio ao servio da transformao da sociedade e das instituies. Giuseppe Mazzini (Gnova, 22 de Junho de 1805 - Pisa, 10 de Maro de 1872) foi o profeta e o apstolo da unidade do povo italiano, unidade entendida por ele no quadro da cooperao e da harmonia entre todos os povos do mundo. O mais prximo e directo inspirador de Mazzini Lamennais, de quem em 1839 traava um perfil entusistico (Escritos, ed. nacion. 17?, p. 345 e segs.). O mrito de Lamennais consiste, segundo Mazzini, em haver reconhecido, e desenvolvido na filosofia, o valor da tradio. "Restituiu os seus direitos tradio sem a qual no existe filosofia; insuflou na prpria filosofia um sopro de nova vida, integrando-a com as foras sociais das quais ela se
encontrava cada vez mais afastada. Perturbado ento por fortes tendncias polticas, Lamennais confundia a extenso e as consequncias dos princpios por ele enunciados e encarava a tradio de modo arbitrrio e limitado; mas reabria o caminho, e isso nos basta para darmos valor ao seu trabalho" (Ib., pp. 365-66). O factor que corrige o que de imvel e limitado possui 104 a tradio renovando-a e impelindo-a para a frente , segundo Mazzini, a conscincia individual. "Os dois nicos critrios que para ns conseguem atingir o verdadeiro (so) a conscincia e a tradio. Sendo progressiva a manifestao do Verdadeiro, os dois meios que possumos para descobri-lo devem transformar-se continuamente e aperfeioar-se, mas no podemos suprimi-los sem nos condenarmos s trevas eternas; tambm no podemos suprimir um ou submet-lo a outro, sem dividirmos irreparavelmente a nossa potncia. A individualidade, a conscincia, exercida isoladamente conduz anarquia; a sociedade, a tradio, quando no interpretadas e integradas nos caminhos do futuro da intuio da conscincia, geram o despotismo e a imobilidade. A verdade est no ponto de intercepo dos dois elementos" (Condies e futuro da Europa, 1872, ed. nac., vol. 6?). Conscincia e tradio constituem para Mazzini, na sua sntese, a "manifestao do Verdadeiro" , ou seja, a revelao da verdade no decurso da histria humana. Esta revelao aquela a que Mazzini chama tambm, com a famosa frase de Lessing, "educao progressiva da humanidade" (Deveres do homem, 1841-60, ed. nac. 69?, p. 88), que considera como lei fundamental da humanidade a lei pela qual a humanidade se traduz' na prpria manifestao de Deus. "Deus incarna-se sucessivamente na humanidade. A lei de Deus una tal como Deus; mas ns descobrimo-la artigo por artigo, linha por linha, na medida em que se vai acumulando a experincia educadora das geraes que nos precedem, e cresce em amplitude e em intensidade a associao entre as raas, entre os povos, entre os indivduos" (Ib., p. 46). O seu progresso a prpria revelao de Deus. "Deus Deus e a humanidade o seu profeta" (Esc. ind. e publ., XIV, p. 92). Por isso o conceito mais elevado a que o homem pode aspirar o da humanidade e do progresso, que a sua lei. Ele a nica via para o homem se elevar at Deus; e intil querer demonstrar Deus. "Deus existe porque ns existimos. Deus vive na nossa conscincia, na conscincia da humanidade, no universo que nos circunda" (Deveres do homem, ed. cit., p. 23). O conceito romntico da infinita revelao progressiva domina a concepo de Maz105 zini como dominava o positivismo e boa parte da filosofia de Oitocentos. Desse conceito, Mazzini deduzia todos os seus corolrios morais e polticos. A tradio, o progresso e a associao so para ele trs coisas sagradas. "Acredito na imensa voz de Deus que os sculos me oferecem atravs da tradio universal da humanidade; ela diz-me que a famlia, a nao, a humanidade so as trs esferas dentro das quais o indivduo deve trabalhar para o fim comum, no sentido do aperfeioamento moral de si prprio e dos outros, ou melhor, de si prprio atravs dos outros e pelos outros" (Ib., p. 142). Atravs da lei do progresso, todos os indivduos e todos os povos tm uma misso que d significado e valor s suas vidas. E como a vida uma misso, o dever a sua lei suprema. afirmao dos direitos, prpria da Revoluo francesa e da filosofia de Setecentos, Mazzini ope a afirmao do dever que deveria pertencer filosofia poltica e moral de Oitocentos. O direito f individual, o dever f comum e colectiva, positiva e operante. O direito promove a revolta do indivduo na defesa dos seus interesses; no o subordina a um fim mais elevado e no o torna capaz de sacrifcios. S um conceito religioso e moral, baseado
no dever de contribuir para o progresso da humanidade, poder permitir a renovao da sociedade humana, suscitando as energias dos povos e orientando-os nos caminhos da liberdade. Estes princpios deveriam conduzi-lo a uma posio oposta ao materialismo marxista e I! Internacional operria que nele se baseava. Num trabalho de 1871, Aos operrios italianos, Mazzini descrevia as caractersticas salientes desse materialismo em trs pontos: negao de Deus, negao da Ptria, negao da propriedade individual. Com a negao de Deus, a lei da humanidade e do progresso torna-se inconcebvel. "Excluda a existncia de uma primeira Causa inteligente, est excluda a existncia de uma lei moral suprema sobre todos os homens e constituindo para todos uma obrigao; est excluda a possibilidade de uma lei de progresso, de um desgnio inteligente regulador da vida da humanidade: progresso e moralidade passam a ser factos transitrios, sem outra origem que no seja a das tendncias, impulsos do organismo de cada homem, e sem outras funes que 106 no sejam o arbtrio do homem, dos interesses mutveis ou da fora" (Escritos ed. e md. XVII, p. 55). A negao da ptria significa portanto a negao "do ponto de apoio da alavanca com que podeis actuar a favor de vs e da humanidade; como se algum vos prometesse trabalho para depois vos negar qualquer partilha ou fechando-vos na cara a porta da oficina" (Ib., p. 57). A negao da propriedade individual significa a supresso de qualquer estmulo na produo, alm do que resulta da necessidade de viver. "A propriedade, quando consequncia do trabalho, representa a actividade do corpo, do organismo, tal como o pensamento representa a actividade da alma: o sinal visvel do nosso contributo na transformao do mundo material, tal como as nossas ideias, os nossos direitos de liberdade e de inviolabilidade da conscincia so o sinal do nosso contributo na transformao do mundo moral" (Ib., p. 59). Na realidade, no se deve confundir o nacionalismo da Europa feudal e dinstica com a nacionalidade que apenas "uma atitude especial, arreigada na tradio de um povo, para melhor realizar determinada funo no trabalho comum" (Nacionalismo e nacionalidade, 1871, Escritos ed. e ind_ XVIII, p. 161). Por isso no se pode confundir o capitalismo, que a chaga da sociedade econmica actual, com o princpio da propriedade que exigido pelo prprio progresso do gnero humano. "Assim como atravs da religio, da cincia, da liberdade, o indivduo chamado a transformar, a melhorar, a dominar o mundo moral e intelectual, tambm atravs do trabalho material chamado a transformar, a melhorar e a dominar o mundo fsico. E a propriedade o sinal, a representao do cumprimento dessa tarefa, da quantidade de trabalho empregue pelo indivduo na transformao, desenvolvimento, acrscimo das foras produtivas da natureza" (Deveres do homem, ed. cit., p. 121). A concluso a de que no preciso abolir a propriedade pelo facto dela actualmente pertencer a alguns, poucos, mas sim encontrar a via que permite que muitos possam conquist-la e exigi-Ia dentro do princpio que a torna legitima, fazendo com que s o trabalho a possa produzir Ob., p. 123). O pensamento de Mazzini exposto acidentalmente em proclamaes, artigos, cartas (s nos Deveres do homem ele 107 apresenta sinteticamente as suas ideias) surge perante a necessidade de aco e essencialmente dirigido no sentido de iluminar e dirigir a sua actividade de apstolo, de homem poltico e de agitador. A expresso "Pensamento e aco" exprime o carcter da sua personalidade de filsofo: uma personalidade religiosa, que em todas as ideias, ainda que
de carcter geral e abstracto, descobre um principio de aco e o dever de um testemunho factual. Mas a religiosidade de Mazzini no se mantm agarrada a uma determinada forma histrica de religio; faz apelo a essa mesma tradio universal to frequentemente proclamada pelo romantismo. Mazzini o profeta de uma religio laica, onde as ideias da humanidade e de progresso humano vm ocupar o lugar dos conceitos teolgicos. 627. EPGONOS ITALIANOS DO TRADICIONALISMO ESPIRITUALISTA Galluppi, Rosmini e Gioberti abrem caminho para uma longa srie de escritores tradicionalistas e espiritualistas que dominam o clima filosfico italiano da segunda metade de Oitocentos. Estes escritores no trazem qualquer inovao problemtica das teses que haviam j sido apresentadas pelos pensadores franceses e italianos, atrs expostos. Mas eles do a essas teses um carcter limitado, provinciano e dogmtico, pretendendo apresent-las como originais e na qualidade de continuadores de urna pretensa tradio filosfica italiana. Terncio Mamiani della Rovere (1799-1885) foi primeiramente um discpulo de Gallupi, cujas teses defende num trabalho intitulado Sobre a renovao da filosofia antiga italiana (1834). Nesta obra Rovere apresentava a sua filosofia como a "tradicional em Itlia, onde certos princpios de filosofia e de mtodo sempre alcanaram o crdito e a eficcia que lhe competem, correspondendo perfeitamente prpria ndole que se mantm no gnio italiano" (Renov., ed. 1836, p. 487). Assim como Galluppi tinha partido da certeza primitiva do mim e do fora de mim, tambm Mamiani nesta 108 obra distingue a certeza imediata do sentido ntimo e a certeza mediata da realidade exterior. A partir dai prope-se demonstrar, nas pisadas de Galluppi, a substancialidade do eu e da realidade (dentro e fora dos fenmenos) e a existncia de Deus. Depois do Exame crtico feito por Rosmini obra de Mamiani e a resposta deste ltimo (Seis cartas ao abade Antnio Rosmini, 1838) e depois da publicao da Terica do sobrenatural e da Introduo de Gioberti, o pensamento de Mamiani orientou-se para o ontologismo; e em 1841 publicou o trabalho Sobre a ontologia e o mtodo e em seguida os Dilogos da primeira cincia (1846) e as Confisses de um metafsico (1865) que resumem o seu pensamento. Mamiani admite uma intuio originria do Absoluto (no sentido giobertiano) e faz da ideia de Absoluto o fundamento do conhecimento humano, como da realidade fsica e da histria. No que se refere a esta ltima, Mamiani admite um progresso infinito e universal que se torna necessrio e garantido pela prpria bondade divina: j que Deus, querendo comunicar criatura finita o mximo bem possvel, no poderia faz-lo seno mediante um desenvolvimento indefinido do ser limitado e uma extenso sem fim da sua perfeio. Mamiani insiste na "unidade orgnica" da humanidade, unidade segundo a qual ela caminha, como um s homem, no sentido de uma perfeio irrecusvel. As ideias do romantismo filosfico assumem neste autor um optimismo vulgar. Aluno de Mamiani foi Luigi Ferri (1826-95) que deu s doutrinas do seu mestre um lugar importante no seu Ensaio sobre a histria da filosofia em Itlia no sculo XIX, publicado em Paris em 1869. Neste estudo, Ferri, que tinha vivido bastante tempo em Frana, abandona a tese cara ao seu mestre e a muitos escritores italianos, de uma filosofia italiana autctone, e pe em destaque as conexes que unem a filosofia italiana do tempo filosofia europeia. O ttulo da revista fundada por Marniani em 1870 e por ele dirigida at morrer, "Filosofia da escola italiana" (ou seja, da antiga escola itlica), foi por Ferri substitudo em 1870 pelo de "Revista italiana de filosofia". Em ensaios e estudos de natureza terica, Ferri desenvolveu depois uma metafsica psicolgica muito prxima da de Maine de Biran.
109 Angelo Conti (1822-1905) foi defensor de uma conciliao universal de todos os aspectos do tradicionalismo espiritualista no seio do tomismo. Conti foi autor de vrios livros cujos ttulos no deixam de ser significativos: 4 harmonia das coisas e a antropologia, cosmologia, teologia racional (1888); O belo no verdadeiro ou a esttica (1891); O verdadeiro na ordem ou ontologia e lgica (1891); Literatura e ptria, religio e arte (1892). Conti apresentava a sua filosofia como sendo a prpria "filosofia perene e progressiva"; mas na realidade no fazia mais que recolher os lugares-comuns do eclectismo contemporneo, sem qualquer aprofundamento dos problemas que nele se ocultavam. Um maior sentido crtico destes problemas existe em Giovanni Maria Bertini (1818-76). Num primeiro trabalho, Ideia de uma filosofia da vida (1852), Bertini apresenta-se como defensor de uma intuio intelectual do infinito, que o prprio intuito giobertiano. Mas a relao entre o infinito e o finito (do qual, tal como o prprio Gioberti, reconhecia a realidade) levou Bertini do "tesmo mstico" sustentado na obra mencionada a um "tesmo filosfico", onde o carcter religioso e tradicionalista da sua primeira doutrina menos frequente (A questo religiosa, dilogos, 1862; Histria crtica das provas metafsicas de uma realidade supra-sensvel, 1865-66 e outros ensaios menores). O tesmo mstico da Filosofia da vida um tesmo tradicionalista que se apoia na revelao, quer para explicar a relao entre o infinito e o finito mediante a criao, quer para compreender a vida divina como relao entre as pessoas divinas. Nos escritos posteriores, Bertini chega concluso de que o tesmo mstico insustentvel, uma vez que para ele "toda a essncia e a vida divinas consistem no conhecimento e no amor que Deus tem de si, ou seja, um conhecimento e um amor a que falta qualquer objecto sendo por isso inconcebvel" (Escritos filosficos, ed. Sciacca, p. 166). Passa ento a defender um simples tesmo filosfico, ou seja, um tesmo em que admite que o infinito se concretize e viva "numa multido de seres ou mnadas nas quais predomina uma mnada infinita, que compreenda na sua inteligncia essa pluralidade infinita". Por outras palavras, do espiritualismo tradicionalista Bertini passa a um espiritualismo monadolgico que encontra reHo percusso em numerosas formas do espiritualismo contemporneo, italiano e estrangeiro. 628. O TRADICIONALISMO ESPIRITUALISTA EMINGLATERRA O princpio romntico do Infinito (Absoluto, Ideia, Deus), que se revela progressivamente na natureza e na histria, encontra tambm na Inglaterra alguns representantes tpicos. Na prpria pessoa do mais eminente de entre eles, James Martineau (21 de Abril de 1805 - 11 de Janeiro de 1900) verifica-se a passagem (caracterstica da filosofia francesa do mesmo perodo) de um empirismo baseado na percepo externa a um espiritualismo baseado na reflexo interna ou conscincia, considerada como manifestao directa de Deus. Com efeito, Martineau foi primeiramente defensor do empirismo associacionista e passou depois a defender um espiritualismo tradicionalista que substancialmente afim da filosofia contempornea do continente. Significativamente, Martineau dedica um trabalho dos mais in- portantes que escreveu, O lugar da autoridade na religio (1890), onde a autoridade concebida como fora no exterior mas interior, intima da conscincia e sua co-natural. Os outros trabalhos de Martineau so os seguintes: A racionalidade da investigao religiosa (1836); Tentativas de vida crist (2 vols., 1843-47); Miscelneas (1852); Estudos sobre o cristianismo (1858);
Ensaios (2 vols., 1868); A religio contaminada pelo materialismo moderno (1874); O materialismo moderno e a sua posio perante a teologia (1876); Anlise dos substitutos ideais de Deus (1879); A relao entre a tica e a religio (1881); Horas de meditao sobre as coisas sagradas (2 vols., 1876); Estudo sobre Espinoza (1882); Tipos de teoria tica (2 vols., 1882); Estudos sobre a religio (2 vols., 1888); Ensaios, recenses e discursos (4 vols., 1890-9 1); A f como princpio, o abandono como realizao da vida espiritual (1897); Deveres nacionais e outros sermes (1903). Pelo carcter eminentemente religioso da sua vida e da sua obra, e pela orientao geral da sua filosofia, Martineau pode ser definido como o Rosmini britnico. Tal como Rosmini, Martineau sustenta que a validade do conhecimento consiste na sua objectividade e que tal objectividade se reporta em ltima anlise ao pensamento, no a uma realidade natural, mas a Deus. O acto do conhecimento sempre um objecto de juzo, mas um acto de juzo no qual est implcita a relao do pensamento com a realidade. A prpria realidade deve ser, portanto, acessvel ao pensamento e essa acessibilidade um pressuposto de todo o conhecimento. A f num mundo real, que encontre a sua expresso no mundo do pensamento, no se deixa esclarecer psicologicamente; conserva toda a sua validade de f e como tal um pressuposto originrio de toda a filosofia. Como Rosmini, e como todo o tradicionalismo espiritualista de Oitocentos, Martineau sustenta que a natureza e a histria so a progressiva revelao de Deus. O mundo natural com efeito o mundo da causalidade; uma causalidade que age no sentido de uma perfeio crescente, determinando a passagem do caos a um cosmos ordenado. Mas a nica noo que o homem possui acerca da causalidade a que deriva do exerccio da sua actividade voluntria; assim, todas as foras que actuam no mundo s podem ser representadas como um querer; e um querer que move o mundo na direco da ordem e da perfeio s pode ser um querer de Deus. " E assim, afirma Martineau (The Seat of Authority in Religion, 1905, p. 29), a ltima e mais aperfeioada generalizao da cincia justifica a f sublime em que a nica fora do universo fenomnico o intelecto e a vontade de Deus, que assume as fases das foras naturais como modos de manifestao e vias de progresso no sentido da beleza e do bem". Se a autoridade de Deus se manifesta na natureza (mas sempre por intermdio da conscincia) como fora, manifesta-se directamente na conscincia pelo dever moral. "0 sentido de autoridade que invade a nossa natureza moral e a suaviza com uma silenciosa reverncia coloca-se sob algo que est mais acima que ns, que afirma os seus direitos sobre a nossa personalidade, a orienta, mantendo-se a par dos seus problemas com a sua presena transcendente" (Ib., p. 79). Deus no existe 112 GIOBERTI COMTE fora da natureza e do homem, ainda que os transcenda infinitamente. Deus actua sobre a histria humana e determina o seu progresso. Deus que inspira ao homem os ideais que ele realiza ou procura realizar na histria. A histria a educao progressiva do gnero humano, na medida em que uma civilizao progressiva que tem os seus corifeus e os seus pesos mortos; e as Naes que so capazes de dar impulso ao progresso passam a ser depositrias da confiana divina (Ib., p. 125). O progresso da histria consiste, para Martineau, na sua progressiva moralizao. Na histria vence sempre o mais forte, mas no o mais forte fisicamente (de outra forma, a terra seria dominada pelo elefante ou pelo bfalo em vez de ser pelo homem) mas o mais forte moralmente; (A Study of Rel., 11, 1900, p. 112). Esta f no progresso por Martineau
ligada ao cristianismo e especialmente ao catolicismo pauliano que o estendeu a todos os homens, tornando-o verdadeiramente universal (Types of Ethical Theory, 1, 1901, pp. 49697). Da a exigncia do teismo, que o nico fundamento possivel para um governo divino do mundo. E o tesmo implica a transcendncia. Martineau exprime a caracteristica lgica da transcendncia, afirmando que, atravs dela, Deus a essncia do universo, mas a essncia do universo no Deus. A imanncia, prpria do panteismo, afirma os dois propsitos: Deus a essncia do universo e a essncia do universo Deus Ob., p. 22). Mas s a transcendncia torna possvel conceber Deus como sendo dotado daqueles atributos morais que fazem dele uma pessoa, tornando-a garante da ordem e do progresso moral do universo. Um ponto de vista semelhante ao de Martineau sustentado e defendido por um grupo numeroso de pensadores e telogos ingleses: Charles Upton (falecido em 1920); William Benjamin Carpenter (1813-85); Robert Flint (1838-1910); Alexander Campbell Fraser (1819-1914). Entre estes, de lembrar especialmente o famoso orientalista Max Mller (1823-1900) que em 1881 iniciava a coleco dos "Sacred Books of the East" onde estavam incluidas todas as tradues dos livros sagrados do oriente. Max Mller definia a religio como "percepo do infinito". Distinguia, no seu desenrolar histrico, trs estdios: o fsico, o antropo113 lgico e o teosfico (ou psicolgico); e explicava o carcter sagrado atribudo a certos objectos (como as montanhas, os cus, o crepsculo, etc.,) pela presena neles de algo que no se deixa completamente apreender pela percepo sensvel, e que a percepo do finito (Origem e desenvolvimento da religio, 1878; Cincia do pensamento, 1887; Religio natural, 1889; Religio fsica, 1890; Religio antropolgica, 189 1; Teosofia ou religio psicolgica, 1892). O grande movimento romntico do regresso tradio, que tinha encontrado no idealismo absoluto alemo a sua primeira e mais alta manifestao especulativa, polarizou durante os anos que vo de 1830 a 1890 a filosofia europeia em torno do principio da auto-revelao progressiva do Infinito. As reaces e as respostas que este princpio suscitou so, a princpio, prenncios e vislumbres e mais tarde manifestaes cada vez mais complexas e consistentes da filosofia contempornea. Mas contemporaneamente ao espiritualismo tradicionalista, em polmica com ele e at mesmo ligado a ele pelas mesmas exigncias e pela mesma estrutura, surgia um outro grande movimento romntico: o positivisMO. NOTA BIBLIOGRFICA 614. Sobre este perodo da filosofia francesa: CH. ADAM, La philosophie en France (Premire moiti du XIXme sicle) , Paris, 1894; E. FAGUET, Politiques et Moralistes au XIXme sicle, 3 vols., Paris, 1898-1900; Autores diversos: La tradition philosophique et Ia Pense franai.ses, Paris, 1922. Sobre de Bonald: A. FALCHI, Le Moderne dottrine teocratiche, Turini, 1908; H. MOULINI, D. B., Paris, 1916; A. ADAMS, Paris 1916; A. ADAMS,DiePhilosophieD. B.s, Munique, 1923. Sobre de Maistre: F. PAULHAN, J. de Maistre et sa phil., Paris, 1893; FALCHI, op. cit.; E. DERMENGHEEN, J. de M., mystique, Paris, 1923; A. OMODEO, La cultura francese nell'et della Restaurazione, Milo,
1946. Sobre Lainennais: CH. BOUTARD, L., sa vie et ses doetrines@ 2 vols., Paris, 1905-08; C. MARECHAL, La Metaph. sociale de L., in "Ann de phil. chret. ", 1906; L., La dispute de Pessai sur Pindiffrence, Paris, 1925; V. GIRAUD, La vie tragique de L., Paris, 1933; P. TREVEN, L., Milo, 1934; R. REMOND, L. et ta democratie, Paris, 1948. 114 615. Sobre a ideologia: F. PICAVET, Les Idologues, Paris, 1891; Capone-Braga, Le filosofie italiana e firancese dei Settecento, Arezzo, 1920; 3! ed., 1947; e as obras citadas no pargrafo anterior. 616. Sobre Cousin: J. SIMON, V. C., Paris, 1887, 4! ed. 1910; BARTHELEMY SAINT111LAIRE, V. C., 3 vols., Paris, 1885. 617. A edio nacional das obras de Maine de Biran compreende at agora 14 vols.: Oeuvres de M. de Biran, accompagnes de notes e d'appendices, Paris, 1920-55. Ver tambm: Journal intime, ed., La Vallette-Monbrun, 2 vols., Paris, 1927-31. - importante a precedente edio das obras fundamentais: Oeuvres indites, ed. Naville, 3 vols., Paris, 1859. 618. Sobre Maine de Biran: DELBOS, M. de B. et son oeuvre philosophique, Paris, 193 1; G. LE ROY, Lexperience de Peffort et de ta grace chez M. de B., Paris, 1937; R. VARCOURT, La thorie de ta connaissance chez M. de B., Paris 1944; M. GHIO, Biran e il Biranismo, Turim, 1947 (litografado, publicao do Instituto de Filosofia da Universidade). Neste ltimo trabalho, bibliografia . 619. Uma boa bibliografia de GaIluppi em Rocchi, P. G. storico della filosofia, Palermo, 1934: GENTILE, Storia delia filosofia italiana dai Genovesi ai G., 11, Florena, 1930; Vigorita, Genovesi, G., Spaventa, Npoles, 1938; G. di Napoli, Lafilosofia di P. G., Pdua, 1947 (com bibliografia). 620. Dos escritos de Rosmini, elenco completo em Caviglione, Bibliografia delle opere di A. R., Turim, 1925. - Das Obras est em vias de publicao a edio nacional, a cargo do Instituto de Estudos Filosficos de Itlia. Da Filosofia do direito citada no texto a 2! ed., Intra, 1865; e da Filosofia dapoltica, a ed. de Milo, 1837. Sobre a formao filosfica de Rosmini: G. SOLARI, Rosmini indito, em "Rivista di Filosofia", 1935, pp. 97-145. 621. TOMMASEO, A.R., 1855, ed. Curto, 1929; GIOBERTI, Degli errorifilosofici di A. R., 1841, 2! ed. 1843-44; GENTILE, R. e Gioberti, Pisa, 1898; CARABELLESE, La teoria delia percezione intellectiva in A.R., Bari, 1907; PALHORIES, R., Paris, 1908; CAVIGLIONE, Il R. vero: sagio d'interpretazione. Voghera, 1912; CAPONE-BRAGA, Saggio su Rosmini. li mondo delle idee, Milo, 1914; GALLI, Kant e R., Citt, di Castello, 1914; CHIAVACCI, 11 valore morale nel R., Florena, 1921; M. F. SCIACCA, La filosofia morale di A. R., Roma 1938; B. BRUNELLO, A. R., Milo, 1941; L. BULFERETTI, A. R. nelia Restaurazione, Florena, 1942; P. PRINI,ffitroduzione alia metafsica di A. R., Milo, 1953; A tti dei Congresso Internazionalle difilosofia A. R., 2 vols., Florena, 1957.
622. Sobre a bibliografia giobertiana: A. BRUERS, Gioberti, Roma, 1924. Das edies nacionais das Obras, a cargo do Instituto de Estudos Filosficos (Ital.), saram os seguintes volumes: Degli errori filosofici di A. Rosmini (Redano), 1939; Dei Bello (Castelli), 1939; Dei Btiono (id.), 1939; Primato (Redano), 1938-39; Gesuita moderno (M. F. Sciacca), 1940-42; Introduzzione alio studio della Filosofia (Calo), 1939-41; incomp.; Prolegomeni ai Primato (Castelli), 1938; Cours de Philosophie, 1841-42 (Battistini e Calo), 1947. Sobre o Rinnovamento, ed. a cargo de F. Nicolini, Bari, 1911-12. 115 As citaes do texto, quando no se referem edio nacional, referem-se s seguintes edies: Introduzione alio studio delia filosofia, 4 vols., Capolago, 1845-46; Considerazione sulle dottrine religiose di V. Cousin, em apndice ao vol. IV da Introduzzione, ed. cit.; Della Filosofia delia Rivelazione, ed. Massari, Turim-Paris, 1856; Della Protologia, ed. Massari, 2 vols., Turim-Paris, 1857; Delia Riforma cattolica e della libert catollica, ed. BalsamoCrivelli, Florena, 1924. Epistolario, ed. nac. a cargo de G. Gentile e G. Balsamo-Crivelli, 11 vols., Florena, 1927-37; Pensieri di V. C., Miscellane, 2 vols., Turim, 1869-60; Meditazioni filosofiche inedite di V. C., ed. Solmi, Florena, 1909; Teorica dei sobrannaturale, Venza, 1850; Teorica della mente umana, ed. Solmi, Turim, 1910; Apologia dei gesuita moderno, Bruxelas-Livorno, 1848; Discorso preliminare alia Teorica dei sovranaturale, in Teorica dei sovrannaturale, vol. I, Capolago e Turim, 1850; Operette morali, ed. Massari, 2 vols., 185 1. 623. Sobre a interpretao idealista do pensamento giobertiano: B. SPAVENTA, Lafilosofia di G., 1862; in Lafilosofia italiana nelle sue relazioni con Ia filosofia europea, ed. Gentile, Bari, 1908; La filosofia di G., Npoles, 1863; GENTILE, Mazzini e Gioberti, in "Annali dekka Scuola Normale di Pisa", XIII, 1898, 1 Proferi dei Risorgimento italiano, Florena, 1923; G. SAITTA. Ilpensiero di V. G., Messina, 1917; A. ANZILOTrI, G., Florena, 1922; S. CARAMELLA, Laformazione deltafilosofia giobertiana, Gnova, 1927. Mais circunscritas verdade histrica, as monografias de F. PRILHORIS, G., Paris, 1929; G. BONAFEDE, V. G., Palermo, 1941; e especialmente a de L. STEFANINI, G., Milo, 1947, a que remeto para quaisquer ulteriores dados bibliogrficos (pp. 410-18). 626. Os escritos de Mazzini foram primeiro recolhidos em Scritti editi ed inediti, cujos primeiros 8 volumes foram publicados com a sua participao (Milo, 1861-7 1), os outros 10 aps a sua morte (Roma, 1877-9 1); depois na edio nacional, Imola, 1905 sgs.. G. SALVEMINI, M., Catania, 1915; ALESS. LEVI, La filosofia politica de G. M., Bolonha, 1917; DE RuGGIERO, Storia dei liberalismo europeo, Bari, 1925; GWILYMO. GRIFFITH, M.: Prophet of Modern Europe, Londres, 1932; L. SALVATORELLI, li pensiero politico italiano dai 1700 a 1870, Turim, 1935; H. KOHN, Prophets and Peoples, Nova lorque, 1947 (trad. ital., Turim, 1949). 627. Sobre Mamiani, Ferri, Conti e Bertini: GENTILLE, Le origini della filosofia contemporanea in Italia, Messina, 1923; ALLINEY, I pensatori delia seconda met dei sec.
XIX, Milo, 1942, (com bibliografia). Uma seleco de Escritos fiosficos de Bertini foi editada por M. F. SCIACCA, Milo, 1942; com introduo e bibliografia. 628. Sobre Martineau: J. H. HERTZ; The Ethical System of J. M., Nova lorque, 1894; A. W. JACK5ON; J. M., Boston, 1901; J. DRUMMOND and C.B. UTON; The Life and Leters of J. M., 2 vols. Londres, 1902; H. SIDGWICIK; Lectures on the Ethics of Green, Spencer and M., Londres 1902; J. ESTILIN CARPENTER; J. M. Theologian and Teacher, Londres, 1905; H. JONES, The phil. of M., Londres, 1905; C. B. UPTON; M.sPhil., Londres, 1905. 116 XI O POSITIVISMO SOCIAL 629. CARACTERSTICAS DO POSITIVISMO O positivismo o romantismo da cincia. A tendncia prpria do romantismo para identificar o finito com o infinito, para considerar o finito como a revelao e a realizao progressiva do infinito transferida e realizada pelo positivismo no seio da cincia. Com o positivismo a cincia exalta-se, apresenta-se como a nica manifestao legitima do infinito e, assim, assume um carcter religioso, pretendendo suplantar as religies tradicionais. O positivismo parte integrante do movimento romntico do sculo XIX. Que o positivismo seja incapaz de fundar os valores morais e religiosos e, especialmente, o prprio princpio de que dependem, a liberdade humana, um ponto de vista polmico, que a reaco antipositivista, espiritualista e idealista da segunda metade do sculo XIX fez prevalecer na historiografia filosfica. Assim se pode considerar justificado, no todo ou em parte, este ponto de vista. Mas fora de dvida que, nos seus fundadores e nos seus epgonos, o positivismo se apresenta como a exaltao romntica da cincia, como infinitizao, como pretenso a valer de nica religio autntica e, por conseguinte, como 117 nico fundamento possvel da vida humana individual e social. O positivismo acompanha e promove o nascimento e a afirmao da organizao tcnico-industrial da sociedade, fundada e condicionada pela cincia. Exprime as esperanas, os ideais e a exaltao optimista que provocaram e acompanharam esta fase da sociedade moderna. O homem, nesta poca, julgou ter encontrado na cincia a garantia infalvel do seu prprio destino. Por isso rejeitou, considerando-a intil e supersticiosa, toda a a garantia sobrenatural e ps o infinito na cincia, encerrando nas formas desta a moral, a religio, a poltica, a totalidade da sua existncia. No positivismo podem distinguir-se duas formas histricas fundamentais: o positivismo social de Saint-Simon, Comte e Stuart Mill, nascido da exigncia de constituir a cincia como base de uma nova ordem social e religiosa unitria; e o positivismo evolucionista de Spencer, nascido da exigncia de justificar o valor religioso da cincia com uma misteriosa realidade infinita que seria o seu fundamento. Apesar das suas comuns pretenses antimetafisicas, estas formas do positivismo so metafsica e a sua metafsica ainda a do
romantismo. Nenhuma delas necessariamente materialista. O materialismo, que alguns epgonos deduzem do positivismo evolucionista, , ele prprio, uma metafsica romntica: a deificao da matria e o culto religioso da cincia. 630. A FILOSOFIA SOCIAL EM FRANA Os temas fundamentais do positivismo social so j evidentes na obra do conde Claude Henri de Saint-Simon (1760-1825). Industrial e homem de negcios, Saint-Simon conheceu os altos e baixos de um faustoso mecenato e de uma negra misria. O seu primeiro escrito, As cartas de um habitante de Genebra aos seus contemporneos, de 1802. Seguiram-se-lhe: Introduo aos trabalhos cientficos do sculo XIX (1807); Nova enciclopdia (18 10); Memria sobre a cincia do homem (1813, que permaneceu indita at 1853); Reorganizao da sociedade europeia (1914, em colaborao com Augustin Thierry). Os acontecimentos de 118 1814-15 deram a Saint-Simon o ensejo de escrever uma srie de obras poltico-econmicas. Em 1817 publicou A Indstria, que uma das suas obras principais, qual se seguiram: O Organizador, 1819-20; O sistema industrial, 1821-22; O Catecismo dos Industriais, 1823-24; O novo cristianismo, 1825. A ideia fundamental de Saint-Simon a da histria como um progresso necessrio e contnuo. "Todas as coisas que aconteceram e todas as que acontecero formam uma nica e mesma srie, cujos primeiros termos constituem o passado e os ltimos o futuro". A histria regida por uma lei geral que determina a sucesso de pocas crticas e pocas orgnicas. A poca orgnica a que repousa sobre um sistema de crenas bem estabelecido, se desenvolve em conformidade com ele e progride nos limites por ele estabelecidos. Num certo momento, este mesmo progresso faz mudar a ideia central em que a poca se firmava e determina assim o inicio de uma poca critica. Deste modo, a idade orgnica da Idade Mdia entrou em crise com a Reforma e sobretudo com o nascimento da cincia moderna. O progresso cientfico, ao destruir as doutrinas teolgicas e metafsicas, tirou o seu fundamento organizao social da Idade Mdia. A partir do sculo XV estabeleceu-se a tendncia para fundar todo o raciocnio sobre os factos observados e discutidos, e tal tendncia conduziu reorganizao da astronomia, da fsica e da qumica sobre uma base positiva. Tal tendncia iria estender-se a -todas as outras cincias e, por consequncia, cincia geral que a filosofia. H-de vir, portanto, uma poca em que a filosofia ser positiva e a filosofia positiva ser o fundamento de um novo sistema de religio, de poltica, de moral e de instruo pblica. S em virtude deste sistema o mundo social poder readquirir a sua unidade e a sua organizao que j no podem fundar-se em crenas teolgicas ou em teorias metafsicas. Saint-Simon faz-se anunciador e profeta desta organizao fundada sobre a filosofia positiva. Nela dominaro um novo poder espiritual e um novo poder temporal. O novo poder espiritual ser o dos cientistas, isto , dos homens "que podem predizer o maior nmero de coisas". A cincia, de facto, nasceu como capacidade de 119 previso, como o demonstra a histria da astronomia; e a verificao de uma predio o
que d a um homem a reputao de cientista. Por outro lado, a administrao dos negcios temporais ser confiada aos industriais, isto , aos "empreendedores de trabalhos pacficos que ocuparo o maior nmero de indivduos". Saint-Simon est persuadido de que "esta administrao, por efeito directo do interesse pessoal dos administradores, se ocupar, em primeiro lugar, de manter a paz entre as naes e, em segundo lugar, de diminuir o mais possvel os impostos, de modo a empregar os produtos da maneira mais vantajosa para a comunidade". E ele demonstra com urna parbola a necessidade de confiar classe tcnica e produtiva o poder poltico. Se a Frana perdesse imprevistamente os trs mil indivduos que desempenham os cargos polticos, administrativos e religiosos mais importantes, o estado no sofreria dano algum; ser fcil, de facto, substituir estes indivduos por outros tantos aspirantes, que nunca faltam. Mas se a Frana perdesse imprevistamente os trs mil cientistas mais hbeis e mais capazes, os artistas e artfices que possui, o dano para a nao seria irreparvel. Dado que estes homens so os cidados mais essencialmente produtores, os que oferecem os produtos mais necessrios, dirigem os trabalhos mais teis nao, a tornam produtiva nas cincias, nas artes e nos ofcios, a nao sem eles tornar-se-ia corpo sem alma: "cairia imediatamente num estado de inferioridade perante as naes de que ela agora a rival e continuaria a ser inferior em relao a elas enquanto no houvesse reparado a perda e no voltasse a ter uma cabea" (Organisateur, 18 19). A sociedade perfeitamente ordenada, justa e pacfica que Saint-Simon preconiza, no lhe parece um ideal regulador, como um dever ser que deve orientar e dirigir a aco humana, mas uma realidade futura inevitvel, o termo de um processo histrico necessrio. O seu projecto de Reorganizao da sociedade europeia (1814) difere precisamente nisto ( parte os meios particulares que indica) do opsculo de Kant Para a paz perptua (1716). O rgo da paz deve ser, segundo Saint-Simon, um parlamento geral que decida sobre os interesses comuns da Europa inteira e a que estejam subordinados os parlamentos nacionais que devem governar cada 120 nao. "H-de vir, sem dvida, um tempo em que todos os povos da Europa sentiro a necessidade de regular os pontos de interesse geral antes de descer aos interesses nacionais; ento, os males comearo a diminuir, as perturbaes a acalmar-se, as guerras a extinguir-se. Esta a meta para que tendemos sem descanso, para a qual nos arrasta o curso do esprito humano. Mas o que ser mais digno da prudncia humana: deixar-se arrastar para esta meta ou correr para ela?" A alternativa , portanto, entre deixar-se arrastar e correr, mas o curso dos acontecimentos fatal. E tal curso tem um significado essencialmente religioso. O ltimo escrito de Saint-Simon, o Novo cristianismo (1825), define o advento da sociedade futura como um retorno ao cristianismo primitivo. Depois de ter acusado de heresia catlicos e luteranos, porque uns e outros no observaram o preceito fundamental da moral evanglica, segundo o qual os homens devem considerar-se irmos e trabalhar pela melhoria da existncia moral e fsica da classe mais pobre, SaintSimon afirma que "os novos cristos devem desenvolver o mesmo carcter e seguir a mesma marcha que os cristos da igreja primitiva". S com a persuaso e a demonstrao devem trabalhar pela construo da nova sociedade crist, sem empregarem seja em que circunstncia for a violncia ou a fora fsica. "Eu creio, acrescenta Saint-Simon, que o cristianismo uma instituio divina e que Deus concede uma proteco especial aos que dirigem os seus esforos no sentido de submeter todas as instituies humanas ao princpio fundamental desta doutrina sublime". E assim, a ideia fundamental do romantismo, a da revelao progressiva, por ele mesmo claramente apresentada como a ltima inspirao do seu pensamento. A doutrina de Saint-Simon teve em Frana uma difuso notvel: contribuiu
poderosamente para formar a conscincia da importncia social e espiritual (portanto, religiosa) das conquistas que a cincia e a tcnica efectuaram. Esta conscincia determinou, por um lado, uma actividade profcua no desenvolvimento industrial (vias frreas, bancos, indstrias, e at a ideia dos canais de Suez e de Panam se devem doutrina de Saint-Simon); por outro lado, deu origem 121 a correntes socialistas tendentes a uma organizao mais harmnica e justa da vida social. Entre estas correntes, uma das mais significativas encabeada por Charles Fourier (17721835), autor de numerosos escritos, bizarros na forma e no contedo e ricos de sugestes utpicas como de agudas observaes morais e histricas (Teoria dos quatro movimentos e dos destinos gerais, 1808; Tratado de associao domstica e agrcola ou Teoria da unidade universal, 1822; O novo mundo industrial, 1829; Trapaa ou charlatanismo das duas seitas, Saint-Simon e Owen, 183 1; A falsa indstria, 1835). A ideia dominante de Fourier a de que existe no universo um plano providencial de que fazem parte o homem, o trabalho e a organizao social. A menos que se queira admitir que a providncia divina insuficiente, limitada e indiferente felicidade humana, necessrio supor que Deus comps para ns "um cdigo passional ou sistema de organizao domstica e social, aplicvel a toda a humanidade, cujas paixes so as mesmas em toda a parte", e que deve ter tambm fornecido ao homem um mtodo fixo e infalvel para a interpretao deste cdigo. "Este mtodo - acrescenta Fourier - no pode ser seno o clculo analtico e sinttico da atraco passional, j que a atraco o nico intrprete conhecido entre Deus e o Universo" (Oeuvres, 1841, 111, p. 112). Noutros termos, a organizao social deve tornar atraente o trabalho a que o homem chamado e, por conseguinte, o lugar que nele ocupa. Deve, portanto, no reprimir as paixes e a invencvel tendncia para o prazer, mas utiliz-las para d seu mximo rendimento. A organizao que se presta a este fim , segundo Fourier, a da falange, isto , a de uma sociedade de cerca de 1600 pessoas que vivem num falanstrio, em regime comunista, com liberdade de relaes sexuais e regulamentao da produo e do consumo de bens. Fourier ope-se ao carcter spero, rigorista e opressivo das tentativas deste gnero feitas em Inglaterra por Owen. Afirma que o seu " sistema de atraco industrial", uma vez organizado, tomar atraente o trabalho dos campos e das indstrias. " Proporcionar atractivos talvez mais sedutores do que os que abrilhantam agora as festas, os bailes e os espectculos; no estado societrio, o povo encontrar tanta satisfao e 122 estmulo nos seus trabalhos que no consentir em abandon-los, em troca de festas, bailes ou espectculos dados nas horas das sesses industriais" (Ib., III, pp. 14-15). 631. PROUDHON O pensamento social de Pedro Jos Proudhon (1809-1865) contrasta com as tendncias comunistas de Fourier. O primeiro escrito de Proudhon, Que a propriedade? (1840), contm a definio famosa: "a propriedade um roubo". Mas esta definio refere-se no origem da propriedade, mas ao facto de que ela torna possvel a apropriao do trabalho de outrem. Proudhon quer, portanto, no a abolio da propriedade capitalista, mas apenas a abolio do juro capitalista, isto , do crdito ilegtimo que a propriedade permite usufruir ao capitalista custa do trabalho alheio. A obra mais importante de Proudhon A justia na revoluo e na igreja (1858), em trs volumes. Outras obras notveis: A criao da ordem na
humanidade (1843); Sistema das contradies econmicas (1846); A revoluo social (1852); Filosofia do progresso (1853); A guerra e a paz (1861). Proudhon dirigiu tambm vrios peridicos em Paris: "0 representante do povo" (1847 e sgs.); "0 Povo" (1848 e segs.); "A voz do povo" (1848 e sgs.). O princpio de que parte Proudhon o mesmo de que partem todas as filosofias sociais da idade romntica: a histria do homem segue uma lei intrnseca de progresso, pela qual se dirige inevitavelmente para a perfeio. Tal lei a justia, segundo Proudhon. E a justia no deve sei s uma ideia, mas uma realidade, isto , uma fora da alma individual e da vida social, de maneira que possa aparecer "como a primeira e a ltima palavra do destino humano individual e colectivo, a sano inicial e final da nossa felicidade" (De Ia justice, 1, 1858, p. 73). Ora, a justia pode-se conceber de dois modos diversos: l? como presso do ser colectivo sobre o eu individual, presso pela qual o primeiro modifica o segundo sua imagem e dele faz um rgo; 2? como faculdade do eu individual que, sem sair do seu foro interior, sente a dignidade na pessoa do prximo com a mesma vivacidade 123 com que a sente na sua prpria pessoa e assim se encontra, embora conservando a sua individualidade, idntico e conforme ao ser colectivo. No primeiro caso, a justia externa e superior ao indivduo e posta ou na colectividade social considerada como um ser sui generis ou no ser transcendente de Deus. No segundo caso, a justia reside no interior ao eu, homognea sua dignidade, igual a esta mesma dignidade multiplicada pela soma das relaes que constituem a vida social. O primeiro sistema o da revelao, o segundo sistema o da revoluo. Todas as religies se fundam na transcendncia da justia, ou seja, na exterioridade em relao ao homem e sua vida social, da lei que os deve regular. O segundo sistema, o da revoluo, afirma a imanncia da justia na conscincia e na histria humana. Apenas este ltimo sistema pode fundar a teoria da justia inata e progressiva. "Dado que - diz Proudhon (Ib., p. 184) se a justia no inata na humanidade, se lhe superior, externa e estranha, segue-se da que a sociedade humana no tem leis prprias, que o sujeito colectivo no tem costume; que o estado social um estado contra-natural, a civilizao uma depravao, a palavra, as cincias e as artes efeitos do irracional da imortalidade: todas estas proposies so desmentidas pelo senso comum". A justia absoluta, imutvel, no susceptvel de mais nem de menos. Ela a "medida inviolvel de todos os actos humanos" (Ib., p. 195). , por outros termos, uma espcie de divindade imanente, ou de revelao interior da divindade, semelhante de que falam Lamennais e os demais romnticos. Mas esta revelao, em vez de se dar na razo individual, ocorre antes na que Proudhon chama razo pblica que diferente em qualidade e superior em potncia soma de todas as razes particulares, que a produzem com as suas contradies. "Vemos - diz Proudhon (Ib., 11, p. 396) - a razo colectiva destruir incessantemente com as suas equaes o sistema formado pela coligao das razes particulares: portanto, no apenas diferente, mas tambm superior a todas estas, e a sua superioridade deriva do facto de que o absoluto, que tem grande importncia nas razes particulares, se desvanece perante ela". O rgo da razo colectiva aquele mesmo em que reside a 124 fora colectiva: o grupo de trabalhadores ou de educadores, a companhia industrial, a dos cientistas e artistas, as academias, as escolas, os municpios, a assembleia nacional, o clube, o jri, numa palavra, qualquer reunio de homens com vista discusso de ideias e investigao do direito (Ib., 11, p. 398).
O progresso no mais do que a racionalizao da justia. S a histria universal o pode mostrar. Mas esta histria no , segundo Proudhon, uma necessidade de cunho hegeliano; o domnio da liberdade. "A liberdade, segundo a definio revolucionria, no a conscincia da necessidade, nem sequer a necessidade do esprito q@e se desenvolve de acordo com a necessidade da natureza. E uma fora colectiva que compreende a um tempo a natureza e o esprito e que se possui a si mesma; e, como tal, capaz de negar o esprito, de se opor natureza, de a submeter, de a desfazer e de se desfazer a si prpria. uma fora que rejeita por si todo o organismo: cria-se mediante o ideal da justia, uma existncia divina, cujo movimento , portanto, superior ao da natureza e do esprito e incomensurvel com um e com outro". A liberdade a origem do mal e do bem, da justia e da injustia. Todavia, o seu verdadeiro fim o de realizar a justia, porque s a justia o seu absoluto. Em virtude do livre-arbtrio, a alma busca a sua felicidade na justia e no ideal. Mas, devido imperfeio das suas noes, sucede que a sua frmula jurdica muitas vezes errnea e que, embora creia ter atingido a justia na sublimidade da sua essncia, no produziu mais do que uma divindade falsa, um !dolo. A identificao da justia e do ideal, que a mais nobre tendncia da alma humana, tambm a origem do pecado e do mal. Quando a noo de justia incompleta, o ideal que o homem forma tomado como absoluto. Eliminar o mal significa por isso rectificar a noo de justia (ou seja, do direito) e adequ-la ao ideal (Ib., 111, pp. 49-50). A revoluo francesa, segundo Proudhon, iniciou este processo de adequao, que mister continuar a levar a ter~ mo. E a obra de Proudhon tambm um conjunto de projectos em torno da organizao futura da sociedade. No Pequeno catecismo poltico publicado sob a forma de apndice ao volume de A justia, Proudhon v no estado "a reunio 125 de vrios grupos, diferentes pela natureza e pelo objectivo, formados cada um para o exerccio de uma funo especial e a criao de um produto particular, que se renem depois sob uma lei comum e um interesse (Ib., p. 48 1). O limite recproco do poder destes grupos garante ao mesmo tempo a justia e a liberdade. Alm disso, a ideia revolucionria da justia, renovando o direito civil como o direito poltico, v no trabalho, e apenas no trabalho, a justificao da propriedade. "Ela nega que seja legitima a propriedade fundada no arbtrio do homem e considerada como uma manifestao do eu. Por isso aboliu a propriedade eclesistica, que era fundada no trabalho, e converteu, at nova ordem, em salrio o benefcio dos padres. Ora, o que a propriedade, contrabalanada assim pelo trabalho e legitimada pelo direito? A realizao do poder individual. Mas o poder social compe-se de todos os poderes individuais: portanto, tambm ele exprime um sujeito" (Ib., 1, p. 501). Entre as manifestaes da filosofia social do sculo XIX, a doutrina de Proudhon. situa-se entre as que do maior relevo liberdade do homem na histria. Embora admitindo o progresso como realizao progressiva de uma ordem imutvel, Proudhon reconhece a essncia do direito revolucionrio na possibilidade que o homem tem de se opor a esta mesma ordem. O modo de conciliar esta possibilidade com a realidade admitida da justia, um problema que Proudhon no levanta. E, todavia, este o problema que devia, cerca dos fins do sculo passado, provocar a crise da prpria ideia do progresso. 632. COMTE: VIDA E OBRA na filosofia de Saint-Simon que se inspira o fundador do positivismo, Augusto Comte. Nascido em Mompilher a
19 de Janeiro de 1798, Comte estudou na Escola Politcnica de Paris e foi, primeiro, professor particular de matemtica. Amigo e colaborador de Saint-Simon, assumia em 1822 uma posio independente na sua obra Plano dos trabalhos cientficos necessrios para a organizao da sociedade. Alguns anos depois, interrompia a amizade com SaintSimon 126 (que durou cerca de seis anos, 1818-24) e procedia a uma elaborao independente da sua filosofia. Esta elaborao foi interrompida entre 1826 e 1827 por uma violenta crise cerebral que o levou ao manicmio e de que triunfou (como ele prprio diz, Phil. pos.,Ill, Pref. personnelle, ed. 1869, p. 10) graas ao "poder intrnseco da sua organizao". Em 1830 saa o primeiro volume do Curso de filosofia positiva e sucessivamente, at 1842, saram os outros cinco. A carreira acadmica de Comte foi infeliz. Aspirou inutilmente a uma cadeira de matemtica na Escola Politcnica de Paris. Em 1833 obteve o cargo de professor assistente de matemtica e de examinador dos candidatos ao ingresso naquela escola: um cargo precrio, que perdeu aps a publicao do ltimo volume do Curso pela hostilidade que as suas ideias haviam suscitado nos ambientes acadmicos. Desde ento, e at sua morte, Comte viveu de ajudas e subsdios de amigos e discpulos. No entanto, renunciou a todos os benefcios provenientes das suas obras. Separado da mulher, conheceu em 1845 Clotilde de Vaux, com quem viveu durante alguns anos em perfeita comunho espiritual e que, aps a sua morte em 1846, foi para ele o que Beatriz fora para Dante. Ele viu nesta mulher "o anjo incomparvel a quem o conjunto dos destinos humanos encarregara de lhe transmitir dignamente o resultado geral do gradual aperfeioamento da nossa natureza moral" (Pol., pos., 1, prefcio, ed. 1890, p. 8). A orientao religiosa do seu pensamento, j evidente na primeira obra, acentuou-se ainda at se tornar dominante na sua segunda obra capital, o Sistema de poltica positiva ou Tratado de sociologia que institui a religio da humanidade (4 vol., 1851-54). Esta segunda parte da sua carreira tem como escopo, como ele prprio diz (Ib., IV, conc. total, ed. 1912, p. 530), transformar a filosofia em religio, como a primeira parte transforma a cincia em filosofia. Nesta fase, Comte apresenta-se como o profeta de uma nova religio, de que formula um catecismo (Catecismo positivista, 1852) e cujo calendrio procura fixar (Calendrio positivista, 1849-60). Considerava-se o pontfice mximo desta nova religio que deveria completar e levar a termo a "revoluo ocidental", isto , o desenvolvimento positivista da civilizao ocidental. Comte morreu em Paris a 5 de Setembro de 127 1857. Outros escritos notveis alm dos j mencionados: Consideraes filosficas sobre as cincias e sobre os homens de cincia, 1825; Consideraes sobre o poder espiritual, 1826; Discurso sobre o esprito positivo, 1844; Discurso sobre o conjunto do positivismo, 1848; Apelo aos conservadores, 1855; Sntese subjectiva ou Sistema universal das concepes prprias da humanidade. Parte I, Sistema de Lgica positiva ou Tratado de Filosofia matemtica, 1856. Alm destas obras, foram tambm publicadas as Cartas de Comte a Valat e a Stuart Mill (1877) e o Testamento (1844). A parte da obra de Comte que teve maior ressonncia, directa ou polmica, a sua teoria de cincia. Mas o verdadeiro intento de Comte a construo de uma filosofia da histria, que se transforma, na segunda fase da sua vida, numa religio da humanidade, isto , numa divinizao da histria. Na filosofia da histria, Comte considera como seu directo
precursor Condorcet; mas elogia tambm o pregador Bossuet, a quem atribu o mrito de ter pela primeira vez concebido "os fenmenos polticos como estando realmente sujeitos, tanto na sua coexistncia corno na sua sucesso, a certas leis invariveis, cujo uso racional pode permitir, em diversos aspectos, determinar uns e outros" (Phil. pos., VI, p. 258). Por outro lado, Comte gaba-se de ter seguido uma severa "higiene cerebral" lendo o menos possvel, porque "a leitura prejudica muito a meditao, alterando ao mesmo tempo a sua originalidade e a sua homogeneidade". E declara candidamente: "Eu nunca li em nenhuma lngua nem Vico, nem Kant, nem Hegel, etc.; no conheo as suas obras salvo por alguma relao indirecta e alguns extractos muito insuficientes" (Ib., pref., pp. 34-35, n. 1). certo que esta declarao de 1842 e que ela acompanhada do propsito de aprender a lngua alem para se pr mais em contacto com os esforos sistemticos das escolas germnicas. Mas to-pouco as obras seguintes de Comte, especialmente a Poltica positiva, mostram influncias apreciveis de leituras de autores estrangeiros que se prendam directamente com a sua filosofia da histria. Esta filosofia move-se ainda, de um modo inconsciente, no ambiente do romantismo. O prprio Comte afirma que desde a idade de catorze anos, ou seja, apenas sado do liceu, sentira "a necessidade fundamen128 tal de uma nova regenerao universal, a um tempo poltica e filosfica" (Ib., p. 7); e esta necessidade foi, na realidade, a mola de toda a sua actividade de escritor, levando-o a considerar a cincia positiva como a soluo definitiva e ltima de todos os problemas do gnero humano. Desde o princpio, Comte votou-se cincia, no pelas caractersticas e limitadas finalidades da cincia mesma, mas porque via na cincia a regenerao total do homem e a realizao de tudo o que de mais alto e perfeito pode existir; quer dizer, para ele a cincia continha e revelava o infinito. 633. COMTE: A LEI DOS TRS ESTADOS E A CLASSIFICAO DAS CINCIAS O que aos olhos de Comte a sua descoberta fundamental e que, na realidade, o ponto de partida de toda a sua filosofia a lei dos trs estados. Segundo esta lei, que Comte declara ter extrado das suas reflexes histricas e no da observao do desenvolvimento orgnico do homem, cada um dos ramos do conhecimento humano passa sucessivamente pelos trs estados tericos: o estado teolgico ou fictcio, o estado metafsico ou abstracto, o estado cientfico ou positivo. H, portanto, trs mtodos diversos para conduzir a investigao humana e trs sistemas de concepes gerais. O primeiro o ponto de partida necessrio da inteligncia humana; o terceiro o seu estado fixo e definitivo; o segundo unicamente destinado a servir de transio. No estado teolgico, o esprito humano dirigindo essencialmente as suas investigaes para a natureza ntima dos seres e das causas primeiras e finais, isto , para os conhecimentos absolutos, v os fenmenos como produtos da aco directa e continua de agentes sobrenaturais, mais ou menos numerosos, cuja interveno arbitrria explica todas as anomalias aparentes do universo. No estado metafsico, que apenas uma modificao do primeiro, os agentes sobrenaturais so substitudos por foras abstractas, verdadeiras entidades ou abstraces personificadas, inerentes aos diversos entes do mundo e concebidas como capazes de gerar por si todos os fenmenos observados cuja explicao consistiria, 129 portanto, em atribuir a cada um a entidade correspondente. Finalmente, no estado positivo, o esprito humano, reconhecendo a impossibilidade de conceber noes
absolutas, renuncia a procurar a origem e o destino do universo e a conhecer as causas intimas dos fenmenos, e aplica-se unicamente a descobrir, mediante o uso bem combinado do raciocnio e da observao, as suas leis efectivas: isto , as suas relaes invariveis de sucesso e de semelhana. "A explicao dos factos, reduzida assim aos seus termos reais, no ento mais do que o elo estabelecido entre diversos fenmenos particulares e alguns factos gerais, cujo nmero o progresso da cincia tende cada vez mais a diminuir" (Phil. pos., I, P. M. Esta lei dos trs estados aparece a Comte imediatamente evidente por si mesma. Alm disso, julga-a confirmada pela experincia pessoal. "Quem no se recorda, contemplando a sua prpria histria, que foi sucessivamente, com respeito s noes mais importantes, telogo na sua infncia, metafsico na sua juventude e fsico na sua maturidade?" O exemplo mais admirvel da explicao positivista o da lei de Newton sobre a atraco. Todos os fenmenos gerais do universo so explicados, na medida em que o podem ser, pela lei da gravitao newtoniana, dado que esta lei permite considerar toda a imensa variedade dos factos astronmicos como um s e mesmo facto observado de pontos de vista diversos e permite unificar desse modo os fenmenos fsicos. Ora, conquanto vrios ramos do conhecimento humano tenham entrado na fase positiva, a totalidade da cultura intelectual humana e, por conseguinte, da organizao social que sobre ela repousa, no foram ainda permeadas pelo esprito positivo. Em primeiro lugar, Comte nota que alm da fsica celeste, da fsica terrestre, da mecnica, da qumica e da fsica orgnica, vegetal e animal, devia haver uma fsica social, isto , o estudo positivo dos fenmenos sociais. Em segundo lugar, a falta de penetrao do esprito positivo na totalidade da cultura intelectual produz um estado de anarquia intelectual e, da, a crise poltica e moral da sociedade contempornea. evidente que se uma das trs filosofias possveis, a teolgica, a metafsica ou a positiva, obtivesse em realidade uma preponderncia universal completa, have130 ria uma ordem social determinada. Mas uma vez que as trs filosofias opostas continuam a coexistir, resulta dai uma situao incompatvel com uma efectiva organizao social. Comte prope-se por isso levar a bom termo a obra iniciada por Bacon, Descartes e Galileu e construir o sistema das ideias gerais que deve definitivamente prevalecer na espcie humana, pondo fim deste modo crise revolucionria que atormenta os povos civilizados (Phil. 1. pos., 1, p. 43). Tal sistema de ideias gerais ou filosofia positiva pressupe, porm, que se determine o escopo particular de cada cincia, e a ordem total de todas as cincias: pressupe uma enciclopdia das cincias que, partindo de uma classificao sistemtica, fornea a perspectiva geral de todos os conhecimentos cientficos. Comte comea por excluir da sua considerao os conhecimentos aplicados da tcnica e das artes limitando-se aos conhecimentos especulativos; e mesmo nestes considera apenas os gerais e abstractos, excluindo os particulares e concretos. Seguidamente, procura determinar uma escala enciclopdica das cincias que corresponda histria das mesmas cincias. As cincias podem classificar-se considerando em primeiro lugar o seu grau de simplicidade ou, o que o mesmo, o grau de generalidade dos fenmenos que constituem o objecto delas. Os fenmenos mais simples so, de facto, os mais gerais; e os fenmenos simples e gerais so tambm os que se podem observar mais facilmente. Por conseguinte, graduando as cincias segundo a ordem da simplicidade e generalidade decrescentes, pode-se reproduzir, na hierarquia assim formada, a ordem da sucesso com que as cincias entraram na fase positiva. Seguindo este critrio podem-se distinguir em primeiro lugar os
fenmenos dos corpos brutos e os fenmenos dos corpos organizados como objectos de dois grupos principais de cincias. Os fenmenos dos corpos organizados so, evidentemente, mais complicados e mais particulares do que os outros. Dependem dos precedentes que, por seu turno, dependem deles. Daqui, a necessidade de estudar os fenmenos fisiolgicos depois dos corpos inorgnicos. A fsica acha-se, pois, dividida em fsica orgnica e fsica inorgnica. Por sua vez, a fsica inorgnica, segundo o mesmo critrio de simplicidade e de generalidade, ser primeiro fsica celeste (ou astro131 nomia, tanto geomtrica como mecnica) e depois fsica terrestre que, por sua vez, ser fsica propriamente dita e qumica. Dever fazer-se uma diviso anloga para a fsica orgnica. Todos os seres vivos apresentam duas ordens de fenmenos distintos, os relativos ao indivduo e os relativos espcie: haver, pois, uma fsica orgnica ou fisiolgica e uma fsica social fundada nela. A enciclopdia das cincias ser, pois, constituda por cinco cincias fundamentais: astronomia, fsica, qumica, biologia e sociologia. A sucesso destas cincias determinada por "uma subordinao" necessria e invarivel, fundada, independentemente de qualquer opinio hipottica, sobre a simples comparao aprofundada dos fenmenos correspondentes" (Phil. pos., 1, p. 75). No fazem parte da hierarquia das cincias, como se v, nem a matemtica nem a psicologia. Os motivos da excluso so diversos. As cincias matemticas no foram excludas pela sua importncia fundamental, porquanto so a base de todas as outras cincias. As matemticas dividem-se, segundo Comte, em dois ramos: a matemtica abstracta, isto , o clculo, e a matemtica concreta, constituda pela geometria geral e pela mecnica racional. Estas duas ltimas so verdadeiras cincias naturais, fundadas como todas as outras na observao, se bem que, pela extrema simplicidade dos seus fenmenos, sejam susceptveis de uma sistematizao mais perfeita do que qualquer outra cincia de observao. Quanto ao clculo, a parte puramente instrumental da matemtica, no sendo mais do que "uma imensa e admirvel extenso da lgica natural at a uma certa ordem de deduo" (Phil. pos., 1, p. 87). Mas a psicologia deve a sua excluso da enciclopdia das cincias ao facto de que no uma cincia nem susceptvel de vir a s-lo. A chamada "observao interior" que se props o estudo dos fenmenos intelectuais impossvel. Os fenmenos intelectuais no podem ser observados no prprio acto em que se verificam. " O indivduo pensante no pode dividir-se em dois, um dos quais raciocinaria enquanto o outro o veria raciocinar. Sendo o rgo observado e o rgo observador neste caso idnticos, como poderia a observao ter lugar?" (Ib., 1, p. 32). Somente a filosofia positiva, 132 considerando os resultados da actividade intelectual, permite iluminar as suas relaes estticas e dinmicas. Do ponto de vista esttico, o estudo destes fenmenos no pode consistir seno na determinao das condies orgnicas de que dependem e, por isso, forma parte essencial da anatomia e da fisiologia. Do ponto de vista dinmico, tudo se reduz a estudar o procedimento efectivo do esprito humano mediante o exame dos procedimentos empregados para obter os conhecimentos reais; mas este estudo prprio, evidentemente, da sociologia. Comte conclui que na enciclopdia das cincias no h lugar para uma ilusria psicologia, que no passaria da ltima transformao da teologia. 634. COMTE: A SOCIOLOGIA
A cincia a que todas as cincias esto subordinadas, como ao seu fim ltimo, a sociologia. O escopo desta cincia o de "perceber nitidamente o sistema geral das operaes sucessivas, filosficas e polticas, que devem libertar a sociedade da sua fatal tendncia para a dissoluo iminente e conduzi-Ia directamente para uma nova organizao, mais progressiva e mais slida do que a que repousava na filosofia teolgica" (Phil. pos., IV, p. 7). Para tal fim, a filosofia deve constituir-se da mesma forma que as demais disciplinas positivas e conceber os fenmenos sociais como sujeitos a leis naturais que tornem possvel a previso deles, pelo menos dentro dos limites compatveis com a sua complexidade superior. A sociologia, ou fsica social, dividida por Comte em esttica social e dinmica social, correspondentes aos dois conceitos fundamentais em que ela se funda, os de ordem e do progresso. A esttica social pe em luz a relao necessria, o "consenso universal", que existe entre as vrias partes do sistema social. Assim, entre o regime poltico e o estado correspondente da civilizao humana h uma relao necessria, pela qual um determinado regime, embora estando de acordo com a fase correspondente da civilizao, se torna inadequado para unia fase diversa e subsequente. 133 A ideia fundamental da dinmica social , pelo contrrio, a do progresso, isto , do desenvolvimento continuo e gradual da humanidade. Segundo a noo do progresso, cada um dos estados sociais consecutivos o "resultado necessrio do precedente e o motor indispensvel do seguinte, segundo o luminoso axioma do grande Leibniz: o presente est grvido do futuro" (Ib., IV, p. 292). A ideia do progresso tem para a sociologia uma importncia ainda maior do que a que tem a ideia da srie individual das idades para a biologia. Ela explica tambm a apario dos homens de gnio, desses homens a que Hegel chamava "indivduos da histria csmica"; e a explicao de Comte anloga de Hegel. Os homens de gnio no so mais que os rgos prprios do movimento predeterminado, o qual, se esses gnios porventura no surgissem, teria aberto outras vias (Ib., p. 298). O progresso realiza um aperfeioamento incessante, embora no ilimitado, do gnero humano; e este aperfeioamento assinala "a preponderncia crescente das tendncias mais nobres da nossa natureza" (Ib., p. 308). Mas este aperfeioamento no implica que uma qualquer fase da histria humana seja imperfeita ou inferior s outras. Para Comte, como para Hegel, a histria sempre, em todos os seus momentos, tudo o que deve ser. "Dado que o aperfeioamento efectivo resulta sobretudo do desenvolvimento da humanidade, como poderia isso no ser essencialmente, em cada poca, o que podia ser segundo o conjunto da situao (Phil. pos., IV, p. 311). Comte afirma (Ib., p. 310) que, sem esta plenitude de cada poca da histria com relao a si mesma, a histria seria incompreensvel. E to-pouco hesita em restabelecer na histria o conceito de causa final. Os eventos da histria so necessrios no duplo significado do termo: no sentido de que nela inevitvel o que se manifesta primeiro como impensvel, e reciprocamente. este um modo igualmente eficaz de exprimir a identidade hegeliana entre o racional e o real. E Comte cita a este propsito "o belo aforismo politico do ilustre de Mastre: tudo o que necessrio existe" (Ib., p. 394). fcil de ver como deste ponto de vista o futuro regime sociolgico parece a Comte inevitvel porque racionalmente necessrio. Neste regime, a liberdade de investigao e de 134 critica ser abolida. "Historicamente considerado, diz Comte (Ib., p. 39), o dogma do direito universal, absoluto e indefinido de exame apenas a consagrao, sob a forma
viciosamente abstracta, comum a todas as concepes metafsicas, do estado passageiro da liberdade ilimitada, no qual o esprito humano foi espontaneamente colocado por uma consequncia necessria da irrevogvel decadncia da filosofia teolgica e que deve durar naturalmente at ao advento social da filosofia positiva". Por outros termos, a liberdade de investigao justifica-se no perodo de trnsito do absolutismo teolgico ao absolutismo sociolgico; instaurado este ltimo, ser banida por ele, como o foi pelo primeiro. 635. COMTE: A TEORIA DA CINCIA A teoria da cincia a parte da obra de Comte que teve mais vasta e duradoura ressonncia na filosofia e maior eficcia sobre o prprio desenvolvimento da cincia. Como j Bacon e Descartes (aos quais se declara ligado), Comte concebe a essncia como tendo essencialmente por fim o estabelecer o domnio do homem sobre a natureza. No que a cincia seja, ela mesma, de natureza prtica ou tenha explicitamente em mira a aco. Comte, pelo contrrio, afirma energicamente o carcter especulativo dos conhecimentos cientficos e distingue-os claramente dos conhecimentos tcnico-prticos, atribuindo s a estes o escopo de uma enciclopdia das cincias. Todavia, considerado no seu conjunto, o estudo da natureza destinado a fornecer "a verdadeira base racional da aco do homem sobre a natureza"; j que s o conhecimento das leis dos fenmenos, cujo resultado constante o de torn-los previsveis, pode evidentemente conduzir-nos na vida activa a modific-los em nosso beneficio" (Phil. pos., 1, p. 5 1). O escopo da investigao cientfica a formulao das leis, porque a lei permite a previso; e a previso dirige e guia a aco do homem sobre a natureza. "Em suma, diz Comte, cincia, portanto previso; previso, portanto aco: tal a frmula extremamente simples que exprime de modo exacto a relao geral entre a 135 cincia e a arte, tomando estes dois termos na sua acepo total" (Ib., p. 5 1). A investigao da lei torna-se assim o termo ltimo e constante da investigao cientfica. A teoria de Comte no de forma alguma um empirismo. A lei, implicando o determinismo rigoroso dos fenmenos naturais e a sua possvel subordinao ao homem, tende a delinear a harmonia fundamental da natureza. Entre os dois elementos que constituem a cincia, o facto observado ou observvel a lei, a lei que prevalece sobre o facto. Toda a cincia, diz Comte, consiste na coordenao dos factos; e se as diversas observaes fossem de todo isoladas, no haveria cincia. "Pode-se pois tambm dizer, de um modo geral, que a cincia essencialmente destinada a prescindir, at ao ponto em que os diversos fenmenos o permitam, toda a observao directa, permitindo deduzir do mais pequeno nmero possvel de dados imediatos o maior nmero possvel de resultados" (Ib., 1, p. 99). O esprito positivo tende a dar racionalidade um lugar sempre crescente a expensas da empiricidade dos factos observados. "Ns reconhecemos, diz Comte, que a verdadeira cincia, avaliada segundo aquela previso racional que caracteriza a sua principal superioridade em relao pura erudio, consiste essencialmente em leis e no em factos, conquanto estes sejam indispensveis para que elas se estabeleam e sejam sancionadas" (Phil., pos. IV, p. 600). E acrescenta: "0 esprito positivo, sem desconhecer nunca a preponderncia necessria da realidade directamente experimentada, tende sempre a aumentar o mais possvel o domnio racional custa do domnio experimental, substituindo cada vez mais a previso dos fenmenos sua explorao imediata" (Ib., pp. 600-01). Com esta tendncia lgica da cincia se prende, segundo Comte, o seu essencial relativismo. Comte reconhece a Kant o mrito de ter tentado fugir ao absoluto filosfico
"com a sua clebre concepo da dupla realidade simultaneamente objectiva e subjectiva". Mas o esforo de Kant no foi coroado de sucesso e o absoluto permaneceu na filosofia. Somente "a s filosofia biolgica" permitiu verificar que tambm as operaes da inteligncia, na sua qualidade de fenmenos vitais, esto tambm, inevitavelmente, subordinadas relao fundamental entre o organismo e o ambiente, cujo 136 dualismo constitui, no conjunto dos seus aspectos, a vida. Por esta relao, todos os nossos conhecimentos reais so relativos, por um lado, ao ambiente, enquanto actua sobre ns, por outro lado ao organismo enquanto sensvel a esta aco. Todas as especulaes humanas so por isso profundamente influenciadas pela constituio externa do mundo que regula o modo de aco das coisas e da constituio interna do organismo, que determina o resultado pessoal; e impossvel estabelecer em cada caso a avaliao exacta da influncia prpria de cada um destes dois elementos inseparveis do nosso pensamento. Em virtude deste relativismo, deve-se admitir a evoluo intelectual da humanidade, e deve-se admitir tambm que tal evoluo est sujeita transformao gradual do organismo. Deste modo fica excluda definitivamente a imutabilidade das categorias intelectuais do homem; e Comte declara que, deste ponto de vista, as teorias sucessivas so "aproximaes crescentes de uma realidade que nunca poderia ser rigorosamente avaliada, sendo sempre a melhor teoria em cada poca a que melhor representa o conjunto das observaes correspondentes" (Ib., VI, pp. 622-23). Estas so as ideias que asseguram por largo tempo o sucesso da teoria da cincia de Comte. Mas estas ideias so tambm o fundamento de um conjunto de limitaes arbitrrias e dogmticas que Comte quis impor investigao cientfica. J no Curso de filosofia positiva se trava uma constante polmica contra a especializao cientfica, polmica que desejaria imobilizar a cincia nas suas posies mais gerais e abstractas e subtrair estas posies a qualquer dvida e investigao ulterior. Comte condena todos os trabalhos experimentais que lhe parecem produzir uma "verdadeira anarquia cientfica"; condena tambm o uso excessivo do clculo matemtico; e desejaria determinar para cada tipo de observao "o grau conveniente de preciso habitual, para alm do qual a explorao cientfica degenera, inevitavelmente, por uma anlise demasiado minuciosa, numa curiosidade sempre v e algumas vezes tambm gravemente perturbadora" (Ib., VI, p. 637). Faz parte do esprito da s filosofia reconhecer que "as leis naturais, verdadeiro objecto das nossas investigaes, no poderiam permanecer rigo137 rosamente compatveis, em nenhum caso, com uma investigao demasiado minuciosa"; e por isso nenhuma s teoria pode ultrapassar com xito "a exactido requerida pelas nossas necessidades prticas" (Ib., p. 638). E assim, embora afirme o carcter especulativo e desinteressado da investigao cientfica, Comte desejaria impor a tal investigao limites prprios das necessidades prticas reconhecidas. Por exemplo, a astronomia deveria cingir-se ao estudo do sistema solar e reduzir-se considerao das leis geomtricas e mecnicas dos corpos celestes, abandonando qualquer investigao de outro gnero. Comte justifica esta limitao afirmando que "existe, em todos os gneros de investigao e sob todas as grandes relaes, uma harmonia constante e necessria entre a extenso das nossas verdadeiras necessidades intelectuais e o alcance efectivo, actual ou futuro dos nossos conhecimentos reais. Esta harmonia... deriva simplesmente desta necessidade evidente: que ns temos necessidade de conhecer s o que pode influir sobre ns de modo mais ou menos directo; e, por outro lado, pelo prprio facto de que uma tal influncia existe, ela torna-se para ns, cedo ou tarde, um meio seguro de conhecimento" (Phil. pos.,
II, p. 8). Em outros termos, a investigao cientfica deve ir ao encontro das necessidades intelectuais do homem; e tudo o que parece exorbitar destas necessidades cai fora dela. Aqui Comte considera evidentemente as necessidades intelectuais do homem fixadas e determinadas de uma vez para sempre e pretende assim imp-las como guia cincia, a qual, na realidade, tem como escopo o defini-Ias e faz-las emergir dos problemas. Mas no Sistema de poltica positiva e nos escritos menores que se vinculam segunda fase do seu pensamento, esta dogmatizao da cincia ainda mais acentuada. Aqui, ela preconiza "uma inflexvel disciplina" do trabalho cientfico, disciplina que no futuro "regime sociocrtico" deveria corrigir e prevenir os desvios espontneos. "0 sacerdcio e o pblico devero sempre proscrever os estudos que no tendam a melhorar ou a determinar melhor as leis materiais e fsicas da existncia humana ou a caracterizar melhor as modificaes que comportam ou, pelo menos, a aperfeioar realmente o mtodo universal" (Pol. pos., 1, ed. 180, 138 p. 455). Comte faz valer com extrema energia o princpio que condena qualquer investigao cientfica cuja utilidade para o homem no resulte evidente. Assim, a astronomia reduzida ao estudo da terra. "Em lugar do vago estudo do cu, deve propor-se o conhecimento da terra, no considerando os outros astros seno segundo as suas relaes com o planeta humano" (Ib., p. 508). Os ramos da fsica so declarados irredutveis porque correspondem diviso dos sentidos humanos (Ib., p. 528). So condenados como inteis os estudos que concernem "as perptuas interferncias pticas ou os cruzamentos anlogos em acstica" (Ib., p. 531). Acusa-se de esprito metafsico Lavoisier (1b., p. 545) e condenam-se "os trabalhos dispersivos da qumica actual" (Ib., p. 548). Em suma, "a usurpao da fsica por parte dos gemetras, da qumica por parte dos fsicos, e da biologia por parte dos qumicos, so simples prolongamentos sucessivos de um regime vicioso" que esquece o princpio fundamental da enciclopdia cientfica, isto que "toda a cincia inferior no deve ser cultivada seno enquanto o esprito humano tem necessidade dela para se elevar solidamente cincia seguinte, at alcanar o estudo sistemtico da Humanidade, que a sua nica estao final" (Ib., 1, pp. 471-72). Cumpre, portanto, subtrair a cincia aos cientistas e confi-la antes aos verdadeiros filsofos "dignamente votados ao sacerdcio da Humanidade" (Ib., p. 473). quase intil deter-se a observar que o desenvolvimento ulterior da cincia desmentiu por completo a convenincia e a oportunidade destas prescries e proscries de Comte, que teriam imobilizado a prpria cincia e lhe teriam impedido de cumprir aquela mesma funo til humanidade, a que Comte a chamava. Especulaes astronmicas, ramos de clculo extremamente abstractos, investigaes fsicas aparentemente privadas de toda a possvel referncia prtica e cultivadas de incio a ttulo puramente especulativo, revelaram-se depois susceptveis de aplicaes utilssimas, e indispensveis prpria tcnica produtiva. As limitaes e os preconceitos de Comte teriam na realidade privado a cincia de toda a possibilidade de desenvolvimento terico e prtico. Afortunadamente, a cincia, embora utilizando amplamente o conceito fundamental de Comte da legalida139 de dos fenmenos naturais e da possibilidade de previso que oferece, depressa se desinteressou das restries que Comte preconizava e procedeu por conta prpria. Tais restries so todavia um aspecto essencial da obra de Comte, a qual explicitamente se prope estabelecer uma sociocracia, isto , um regime fundado sobre a sociologia, anlogo e correspondente teocracia fundada na teologia (Pol. pos., 1, p. 403). Comte teria querido
ser o chefe espiritual de um regime positivo, to absolutista como o regime teolgico que lhe cabia suplantar. Menos afortunado do que Hegel, que, com a ajuda do estado prussiano, conseguiu, pelo menos em parte, estabelecer praticamente o seu absolutismo doutrinal, Comte nunca conseguiu traduzir na prtica as suas aspiraes absolutistas. Mas a coincidncia de atitudes entre estas duas personalidades filosficas aparentemente to diversas, profundamente significativa: ambos se sentiam sacerdotes e profetas da nova divindade romntica: a humanidade ou a histria como tradio. 636. CONTE: A DIVINIZAO DA HISTRIA O Sistema de poltica positiva prope-se explicitamente transformar a filosofia positiva numa religio positiva. Quer isto dizer que tende a fundar a unidade dogmtica, cultural e prtica da humanidade, unidade que, rompida pela decadncia do regime teocrtico e pelo primeiro surto do esprito positivo, no foi ainda restabelecida. Esta unidade no apenas a unidade de uma doutrina, mas tambm a de um culto, de uma moral e de um costume. Comte, na obra citada, esclarece todos os aspectos desta unidade. O conceito fundamental o da Humanidade, que deve tomar o lugar do de Deus. A Humanidade o Grande Ser como "conjunto dos seres passados, futuros e presentes que concorrem livremente para aperfeioar a ordem universal" (Ib., IV, p. 30). Os seres passados e futuros so a "populao subjectiva"; os seres presentes, "a populao objectiva". A existncia do Grande Ser implica a subordinao da populao objectiva dupla populao subjectiva. "Esta, fornece, por um lado, a causa, por outro o escopo, da aco 140 que s a outra exerce directamente. Ns trabalhamos sempre para os nossos descendentes, mas sob o impulso dos nossos antepassados, dos quais derivam a um tempo os elementos e os procedimentos de todas as nossas aces. O principal privilgio da nossa natureza consiste em que toda a individualidade se perpetue indirectamente atravs da existncia subjectiva, se a sua obra objectiva deixou resultados dignos. Estabelece-se assim desde o principio a continuidade propriamente dita, que nos caracteriza mais do que a simples solidariedade, quando os nossos sucessores prosseguem a nossa tarefa como ns prosseguimos a dos nossos predecessores" (Ib., IV, pp. 34-35). Estas palavras de Comte demonstram claramente a inspirao ltima do seu pensamento. O conceito da humanidade no um conceito biolgico (embora o seja tambm), mas um conceito histrico, fundado na identificao romntica de tradio e historicidade. A Humanidade a tradio ininterrupta e contnua do gnero humano, tradio condicionada pela continuidade biolgica do seu desenvolvimento, mas que inclui todos os elementos da cultura e da civilizao do gnero humano. Comte pe em relevo continuamente a sageza e a providncia do Grande Ser, que soube de um modo maravilhoso e gradual desenvolver-se nas suas idades primitivas (teolgica e metafsica) para alcanar a idade positiva, que pranuncia a sua plena maturidade. "Ento, diz Comte (Ib., IV, p. 40), institui espontaneamente, primeiro os deuses antigos, depois o seu nico herdeiro (o Deus das religies monotestas) para guiar, respectivamente, a sua segunda infncia e a sua adolescncia. Os elogios sinceros dirigidos a estes tutores subjectivos so outras tantas imagens indirectas sabedoria instintiva da Humanidade... Quando a sua maturidade for completa, admirar-se- juntamente a sua providncia recta e sbia para com os seus verdadeiros servidores". A Humanidade no , pois, seno a tradio divinizada; unia tradio que compreende todos os elementos objectivos e subjectivos, naturais e espirituais, que constituem o homem.
Assim entendida, implica em primeiro lugar a ideia de progresso. O progresso , segundo Comte, "o desenvolvimento da ordem". O conceito de progresso foi estabelecido pela Revoluo Francesa, que o subtraiu teoria do "movi141 mento circular e oscilatrio" a que a humanidade parecia condenada. Mas este conceito no poderia ser completo se no se tivesse feito antes um juzo exacto da Idade Mdia, pela qual a idade antiga e a idade moderna esto ao mesmo tempo ligadas e separadas. E Comte reconhece a de Maistre o mrito de ter concorrido para preparar a verdadeira teoria do progresso revalorizando a Idade Mdia. Com efeito, s depois desta revalorizao a continuidade da tradio providencial foi restabelecida (Pol. pos., 1, p. 64). E esta continuidade deve ser estabelecida, segundo Comte, atravs de todas as geraes dos vivos, e mesmo para alm dos vivos, no mundo inorgnico. A tendncia final de toda a vida animal consiste em formar um Grande Ser mais ou menos anlogo Humanidade. Esta disposio comum no podia, contudo, prevalecer seno numa nica espcie animal (Ib., I, pp. 620-621); por isso que toda a espcie animal fora do homem "um Grande Ser mais ou menos abortado" (Cat. pos., ed. 1891, p. 198); e Comte prev no regime futuro da sociocracia um lugar para os animais, para esses "auxiliares do homem", que devem ser conduzidos o mais prximo possvel da condio humana. Mas a continuidade tradicional e progressiva do Grande Ser no se limita ao mundo animal. Comte no esconde as suas simpatias pelo feiticismo que considera animados os prprios seres inorgnicos. O erro do feiticismo foi o de confundir a vida propriamente dita com a actividade espontnea e atribuir, portanto, a vida a seres unicamente dotados desta ltima. Mas sob um certo aspecto, que o fundamental, feiticismo e positivismo so afins: ambos vem em todos os seres uma actividade que anloga ou semelhante humana e assim estabelecem aquela unidade fundamental e progressiva do mundo, expressa na teoria do Grande Ser (Pol. pos., III, p. 87 e segs.; IV, p. 44). Atravs desta revalorizao do feiticismo, o prprio mundo da natureza inorgnica aparece a Comte como parte integrante daquela histria universal, que v sintetizada e resumida no Grande Ser. A ideia romntica da realidade como revelao ou manifestao progressiva de um princpio infinito, que no termo do processo aparece na sua plena determinao, domina assim inteiramente a doutrina de Comte. Esta doutrina, no obstante a radical diversidade da lin142 guagera que emprega, no se diferencia no seu princpio da doutrina de Hegel. Ambas as doutrinas acabam por divinizar a histria, a que urna chama Humanidade ou Grande Ser, e a outra Ideia, mas que uma e outra consideram como tradio, conservao e progresso, ou seja, infinito e absoluto presente. Daqui deriva a outra afinidade, que j notmos, entre Hegel e Comte: a tendncia para o absolutismo doutrinal e poltico. A chamada sociocracia, de que Comte se faz defensor e profeta, um regime absolutista, que deveria ser dominado e dirigido por uma corporao de filsofos positivistas. "Esta, diz Comte (Ib., IV, p. 65), a constituio normal da sociocracia: sob a presidncia domstica dos representantes da sua natureza, a Humanidade coloca em primeiro lugar os intrpretes das suas leis, depois os ministros dos seus desgnios e, finalmente, os agentes do seu poder. Amar, saber, querer, poder, tornam-se os atributos respectivos de quatro servios necessrios, cuja separao e coordenao caracterizam a maturidade do Grande Ser. " Comte delineia com minuciosos pormenores o culto positivista da humanidade. Estabelece um "Calendrio positivista" em que os meses e os dias so dedicados s maiores figuras da religio, da arte, da poltica e da cincia. Prope por fim um novo "sinal", que deveria substituir o sinal da cruz dos cristos e que consiste em tocar sucessivamente "os
principais rgos que a teoria cerebral atribui aos seus trs elementos", ou seja, ao amor, ordem, ao progresso (Pol. pos., pp. 100-0 1). Por fim, no ltimo escrito, dedicado Filosofia da matemtica (1856), em que se prope associar a cincia da natureza com o sentimento, pretende estabelecer uma trindade positivista. Ao lado do Grande Ser, que a Humanidade, pe como objecto de adorao o Grande Feitio, isto , a terra e o Grande Meio, ou seja, o Espao. Este ltimo deve ser considerado como a representao da fatalidade em geral. A unidade final, que a sociocracia deve realizar, manifestar a nossa gratido para com tudo o que serve o Grande Ser: dever por isso dispor-se a vencer a fatalidade que domina a nossa existncia e conceb-la como algo que tem a sua sede imutvel no espao, o qual aparecer dotado de sentimento, ainda que no de actividade nem de inteligncia. E no Espao assim entendido devero aparecer-nos 143 impressos os conceitos, as imagens e tambm os diagramas geomtricos e os smbolos algbricos. Estas ltimas especulaes de Comte demonstram apenas uma desconcertante ausncia do sentido do ridculo. A moral do positivismo o altrusmo. Viver para os outros a sua mxima fundamental. Tal mxima no contrria a todos os instintos do homem, porque estes no so exclusivamente egostas. Alm dos instintos egostas, o homem possui instintos simpticos que a educao positivista pode desenvolver gradualmente at faz-los predominar sobre os outros. E, de facto, as relaes domsticas e civis tendem a conter os instintos pessoais, atravs dos prprios conflitos que eles suscitam entre os diversos indivduos. Favorecem, pelo contrrio, inclinaes benvolas que so susceptveis de um desenvolvimento simultneo em todos os indivduos (Cat. pos., p. 48). O positivismo, que mostra a essencial unidade do gnero humano na sua histria, pode facilitar e dirigir a formao e os instintos sociais e formar um sentimento social que se torne o guia espontneo da conduta dos indivduos. A futura sociocracia ser, sob este aspecto, mais dominada pelo sentimento do que pela razo e atribuir por isso um papel importante s mulheres que representam precisamente o elemento afectivo do gnero humano (Pol. pos., I, p. 204 e segs.). O elemento sentimental ou afectivo dever, pois, segundo Comte, estar presente no culto devido ao Grande Ser, o qual dever Ser objecto de um amor nobre e terno, inspirador de uma activa solicitude de aperfeioamento (Ib., p. 341). E dever inspirar sobretudo uma nova poesia, que se dedicar a cantar a Humanidade e a idealiz-la em formas embelezadas, termos ideais de novos progressos (Ib., p. 339). 637. DISCPULOS IMEDIATOS DE COMTE A "corporao de filsofos" a que Comte queria confiar a sorte futura da humanidade encontrou em Frana um principio de actuao por obra de um grupo de entusiastas admiradores do mestre, que, durante a vida de Comte, proveram ao seu sustento com contributos financeiros e, depois 144 da sua morte, procuraram manter viva e difundir a sua dou~ trina. Entre estes sequazes, s um merece ser recordado entre aqueles que permaneceram fiis ltima fase da especulao comtiana: Pierre Laffitte (1823-1903) que desde 1892 foi professor de histria geral das cincias no Colgio de Frana. Laffitte foi autor de obras volumosas, mas de escasso valor (Os grandes tipos da humanidade, 1875-76; Lies de moral positiva, 188 1; Curso de filosofia primria, 1889-90), e fundou em 1878 a "Revista ocidental", rgo do positivismo em Frana e no
Ocidente. Em Frana, o mais notvel discpulo de Comte foi Emile Littr (1801-81). Entre as obras de Littr devemos citar: Conservao, revoluo, positivismo, 1852; Fragmentos de filosofia positiva e de sociologia contempornea, 1876; A cincia do ponto de vista filosfico, 1873. Alm destes publicou outros escritos destinados exposio e difuso da doutrina de Comte. Em 1876, Littr fundou a "Revista de filosofia positiva", que continuou a publicarse at 1883. Littr rejeita, sem mais, a religio da humanidade e, portanto, toda a ltima fase do pensamento de Comte. A descoberta capital de Comte foi, segundo ele, o ter demonstrado que a filosofia pode submeter-se ao mtodo seguido pelas cincias positivas. Mas tal descoberta exclui toda a excurso no domnio da transcendncia e da metafsica e encerra o conhecimento humano nos limites do relativo. Littr rejeita por isso todas as hipteses inverificveis, quer materialistas, quer espiritualistas. A filosofia, como a cincia, deve eliminar do seu seio toda a concepo transcendente ou sobrenatural e descobrir na natureza como na histria apenas leis imanentes e empricas. Littr aceita o principio prprio do positivismo social, da estreita conexo entre a cincia e o desenvolvimento social; e v no positivismo a garantia de todo o progresso futuro. "Este inclina-nos para o trabalho, para a equidade social, para a paz internacional, mediante a indstria, mediante a difuso da cincia e das luzes, mediante o cultivo das belas-artes, mediante o melhoramento gradual da moral". Em Inglaterra, a doutrina de Comte foi difundida e defendida por Henriette Martineau (1802-76) que traduziu para ingls em 1853 o Curso de filosofia positiva e por Richard 145 Congreve, a quem se deve a traduo do Catecismo positivista e do Sistema de poltica positiva. Pode-se considerar um imediato seguidor de Comte George Lewes (1817-78), autor dos quatro volumes de Problemas da vida e do esprito (1874-79), embora se tenha afastado de Comte ao admitir a possibilidade de uma psicologia emprica e de uma metafsica igualmente emprica. O metemprico, como Lewes chama ao que est para l da experincia possvel, deve ser, por sua vez, tratado com mtodo positivo, de modo a que sejam eliminados dele todos os resduos supra-sensveis. Lewes toma de Spencer numerosos pontos doutrinais, embora se declare discpulo de Comte. Em geral, os evolucionistas ingleses criticaram e combateram a doutrina de Comte. 638. O POSITIVISMO UTILITARISTA O utilitarismo da primeira metade do sculo XIX pode ser considerado como a primeira manifestao do positivismo em Inglaterra. Trata-se de um positivismo social (anlogo e correspondente ao francs de ento) pelo qual as teses teorticas de filosofia ou de moral foram consideradas como instrumentos de renovao ou de reforma social. Com efeito, o utilitarismo estava estreitamente vinculado a uma actividade poltica, de carcter radical ou socialista, que teve os seus mximos expoentes precisamente nos trs tericos principais do utilitarismo, Benthan, James e Stuart Mill. Os utilitaristas mostraram-se algumas vezes favorveis e outras vezes desfavorveis s outras correntes reformadoras que se desenvolveram simultaneamente em Inglaterra. Foram desfavorveis ao socialismo do industrial filantropo e reformador Robert Owen (1771-1858). Owen estava convicto de que o "maquinismo morto" entrara em competio com o "mecanismo vivo" e que, portanto, a introduo das mquinas na indstria moderna teria como ltimo resultado a misria do trabalhador. Por isso quis criar comunidades que se mantivessem a si mesmas mediante o cultivo do solo com a enxada e nas quais cada
homem trabalhasse por todos. Contudo, a ideia de Owen de que todas as religies so essencialmente nocivas ao gnero humano e que o carcter 146 do homem formado pelas circunstncias, de tal modo que a imoralidade no exige sanes divinas nem humanas mas antes uma enfermidade que se cura com a modificao das circunstncias exteriores, vincula Owen aos utilitaristas. Com efeito, estes tiveram como ele a pretenso de conseguir um melhoramento das condies sociais atravs de um mtodo puramente cientfico e, como ele, justificaram as suas esperanas com a f nas possibilidades de modificar indefenidamente a natureza humana mediante as circunstncias exteriores. Os utilitaristas, habitualmente, destacavam, entre os seus maiores representantes e profetas, as duas grandes figuras da economia poltica do sculo XIX: Malthus e Ricardo. No seu primeiro surto, com os fisiocratas franceses e com Adam Smith, a economia poltica compartilhara a f optimista do iluminismo setecentista, criara o conceito de uma ordem dos factos econmicos pela qual chegam a coincidir providencialmente o interesse privado e o interesse pblico, de modo que basta ao indivduo seguir o seu prprio interesse para agir ao mesmo tempo como uma fora dirigida para o beneficio de todos. Malthus e Ricardo pem em relevo cruamente as anomalias fundamentais da ordem econmica e evidenciam, portanto, a necessidade de uma activa modificao desta ordem e, por conseguinte, de um progresso no j natural e mecnico, mas controlado e dirigido por foras morais. Tais foras, no entanto - e aqui reside o carcter positivista de toda esta corrente - s podem agir sobre factos e por meio de factos: por outros termos, a aco do homem sobre a realidade social deve seguir o mesmo mtodo que a cincia emprega com xito na sua aco sobre o mundo natural. Thomas Robert Malthus (1766-1834) publicou anonimamente em 1798 o seu Ensaio sobre a populao, de que em 1803 fez uma segunda edio aumentada e refundida. O seu ponto de partida uma considerao da relao entre o aumento da populao e o aumento dos meios de subsistncia. Tendo presente o desenvolvimento da Amrica do Norte inglesa, Malthus observou que a populao tende a crescer segundo uma progresso geomtrica (2-4-8, etc.), isto , duplicando-se de vinte e cinco em vinte e cinco anos, enquanto 147 os meios de subsistncia tendem a crescer segundo uma progresso aritmtica (1-2-3, etc.). O desequilbrio que assim se cria entre populao e meios de subsistncia pode ser, segundo Malthus, eliminado de duas maneiras: em primeiro lugar, atravs da misria e do vicio que diminuem e dizimam a populao; em segundo lugar, atravs do "controlo preventivo" dos nascimentos. Evidentemente, o progresso da sociedade humana consiste em substituir, tanto quanto possvel, o controlo repressivo pelo controlo preventivo: em impedir o aumento excessivo da populao mediante o que se chama "a abstraco moral", isto "com o abster-se do matrimnio por motivos de prudncia e com uma conduta estritamente moral durante o perodo desta abstinncia". Malthus no via outro remdio para os males sociais seno o de uma educao fundada em tais princpios. A sua doutrina ps, indubitavelmente, um problema que continua vivo e actual e que procurou resolver com esprito cientfico defrontando corajosamente os dados sua disposio. O outro economista, David Ricardo (1772-1823) autor dos Princpios de economia poltica e de impostos (1817), que se tornou a Bblia econmica dos utilitaristas. As anlises
de Ricardo movem-se na mesma linha que as de Malthus, mas referem-se sobretudo relao entre o salrio do trabalhador e o lucro do capitalista. Em primeiro lugar, ps em relevo o fenmeno da chamada "renda agrria". Dado que no mercado o mesmo produto deve ser vendido ao mesmo preo, os proprietrios dos terrenos mais frteis, que produzem a um custo inferior, tm um excedente de lucro, que constitui precisamente a renda da terra. evidente que este fenmeno gera um antagonismo entre o interesse dos proprietrios da terra e o interesse da colectividade, j que, medida que se verifica um aumento da populao ou, em geral, um estado de misria maior, a renda dos proprietrios de terras aumenta. A ordem econmica no actua aqui como ordem providencial ou benfica. Quanto ao salrio, Ricardo reconhece que o seu preo natural " o necessrio para os trabalhadores poderem viver e perpetuar a sua raa sem aumentar nem diminuir". V assim claramente o antagonismo entre lucro e salrio. E embora considere o capital apenas como "trabalho acumulado", no julga que o seu 148 rendimento adquirido seja sempre proporcionado ao trabalho pessoal. Merc da sua obra, a economia poltica saiu da fase de uma justificao da ordem social existente para entrar numa fase de critica dessa ordem e de preparao dos meios necessrios para a modificar. Devem considerar-se estritamente ligadas a estas doutrinas econmicas, as doutrinas filosficas dos utilitaristas. Jeremias Bentham (4 de Fevereiro de 1748 - 6 de Junho de 1832), foi um filantropo e um homem poltico, que dedicou a sua actividade a projectar e a promover uma reforma da legislao inglesa com vista a melhorar as condies do povo. O princpio de que parte o mesmo de que partiram muitos escritores do iluminismo e que encontrou a sua melhor frmula em Hutchinson e em Becearia ( 480, 502): a mxima felicidade possvel para o maior nmero possvel de pessoas. Bentham considerou sempre este principio como a nica medida legitima do bem e do mal. O seu primeiro escrito, Fragmentos sobre o governo, foi publicado em 1776. Seguiu-se a este um escrito de economia, Defesa da usura (1787), e depois a sua obra mais vasta, Introduo aos princpios da moral e da legislao (1789). Em 1802, um discpulo francs de Bentham, Dumont, publicou em Frana um Tratado da legislao civil e penal, que a traduo de parte da obra precedente e de outros escritos de Bentham que ainda no havia publicado na sua lngua original. Posteriormente, apareceram: Tbua dos mbiles da aco (1817); Ensaio sobre a tctica poltica (1816); Perspectiva introdutria das provas judiciais (1812); Crestomatia (1816); em que se recolhem fragmentos sobre vrios temas de natureza filosfica; Deontologia ou cincia da moralidade refundida e publicada postumamente em 1834. Bentham tambm autor de numerosssimos escritos polticos e jurdicos, alguns dos quais concernem a um novo sistema carcerrio, chamado Panopticum, de que foi defensor. O objectivo declarado de Bentham era o de converter a moralidade a uma cincia exacta. Ora, a cincia deve basear-se em factos, em coisas reais que tenham relaes definidas e impliquem uma medida comum. No domnio moral, os nicos factos em que nos pode apoiar so os prazeres e as dores. A conduta do homem determinada pela expectativa 149 do prazer ou da dor; e este o nico motivo possvel de aco. Sobre estas bases, a cincia da moral torna-se to exacta como a matemtica, embora seja bastante mais intrincada e extensa (Intr. to Mor. and Legisl., in Works, 1, p. v.). O juzo moral torna-se num caso particular do juzo sobre a felicidade. Um comportamento bom ou mau conforme favorvel ou no felicidade; e a aco legtima a que promove
a mxima felicidade do maior nmero. Como qualquer outro homem, o legislador actua legitimamente s enquanto guiado pelo principio de " maximizar" a felicidade. Os prazeres e as dores, como consequncias das aces, so denominadas por Bentham sanes. As sanes fsicas so os prazeres e as dores que se seguem a um certo modo de se conduzir independentemente da interferncia de um outro ser humano ou sobrenatural; as sanes polticas so as que derivam da aco do legislador; as sanes morais ou populares so as que derivam de outros indivduos que no actuam fisicamente; finalmente, as sanes religiosas so as que derivam de um "Ser superior, invisvel, legislador do universo". Os legisladores podem actuar sobre os homens como o prprio Deus o faz, isto , atravs das foras da natureza: mediante a aplicao de dores e de prazeres que podem tambm ser sanes naturais. O legislador deve estabelecer as suas aces de maneira a inclinar a balana do prazer e da dor no sentido mais favorvel ao princpio de pro- mover a mxima felicidade. A moralidade no determinada pelos motivos da aco mas unicamente pelas suas consequncias, porque, na realidade, o motivo da aco no mais cio que a expectativa das suas consequncias. Dizer que um comportamento bom ou mau significa inclinar a balana para o prazer ou para a dor. Fora deste clculo, no existem, segundo Bentham, seno conceitos fictcios ou "no entidades", como por exemplo, a conscincia ou sentido moral, de que falam alguns filsofos, e a obrigao moral. A afirmao de que um homem obrigado a executar uma aco significa somente que ele sofrer se no a executar. De modo que a objeco verdadeiramente uma entidade fictcia, e s o prazer e a dor so reais. "Tirai os prazeres e as dores, diz Bentham (Springs of A ction, in Works, 1, p. 206), e no s a felicidade mas tambm a justia, o dever, 150 a obrigao e a virtude se tornaro nomes vos". Bentham procura por isso estabelecer uma tbua completa dos mbiles da aco para servir de guia para qualquer legislao futura. Esta tbua compreende, em primeiro lugar, a determinao da medida da dor e do prazer em geral; em segundo lugar, uma classificao das diversas espcies de prazer e de dor; em terceiro lugar, uma classificao das diversas sensibilidades dos indivduos ao prazer e dor. Quanto ao primeiro aspecto, o prazer e a dor so considerados como entidades susceptveis de ser pesadas ou medidas; e o valor de um prazer depender, se for considerado em si mesmo, da intensidade, da durao, da certeza e da proximidade ou, se for considerado com respeito aos modos de o obter, da sua fecundidade (ou tendncia a produzir outros prazeres) e da sua pureza (ou ausncia de consequncias dolorosas). Muito menos interessantes e mais arbitrrias so as classificaes que Bentham deu dos prazeres e das dores, assim como das circunstncias que influem sobre a sensibilidade individual. J Stuart Mill notava que na classificao de Bentham se omitia por completo a conscincia, a rectido moral, o dever, a honra, etc. E quanto s circunstncias que determinam a sensibilidade, Bentham enumerava a constituio fsica, o carcter, o sexo, a raa, etc. Estabelecida assim a patologia, isto , a teoria da sensibilidade passiva, Bentham imediatamente passava a estabelecer a dinmica, ou seja, o uso possvel destes mbiles por parte do moralista e do legislador para determinar a conduta humana no sentido de se alcanar a mxima felicidade possvel. Bentham serve-se tambm do seu principio de utilidade na sua crtica poltica. Considera fictcios os direitos naturais do homem afirmados pela Revoluo Francesa. Se a liberdade fosse um direito absoluto, anularia a lei, pois toda a lei supe a coaco. O verdadeiro critrio o da utilidade que estabelece imediatamente os limites da liberdade e da coaco. Bentham considera que todo o governo, como toda a autoridade, um mal, que cumpre reduzir sua mnima expresso, isto , reduzir quele grau ou queles limites que o tornam efectivamente til.
O mais importante discpulo de Bentham foi James Mill (6 de Abril de 1773 - 23 de Junho de 1836), jornalista, ho151 mem poltico e funcionrio da Companhia das ndias de Londres. A sua obra filosfica fundamental a Anlise dos fenmenos do esprito humano (1829), mas o seu pensamento poltico exerceu uma aco eficaz em Inglaterra, atravs de alguns artigos que comps para a Enciclopdia Britnica e, especialmente, o que tem por tema o Governo (1820). Este artigo uma defesa do governo representativo, ou seja, da capacidade do povo para constituir por si mesmo uma classe dirigente que lhe defenda os interesses. Se a Reforma, notava Mill, tornou o povo juiz de si prprio em matria religiosa, no se v porque no haveramos de ter confiana no povo como juiz de si mesmo em matria poltica. O escopo de Mill na sua obra fundamental o de submeter a uma anlise completa os fenmenos mentais, quer dizer, reduzir estes fenmenos aos seus elementos primitivos semelhana do que faz a cincia com os fenmenos da natureza. Esta tentativa segue a linha do pensamento iluminista ingls, de Hume em diante, e o seu mais notvel antecessor Hartley, (II, 481). A sua novidade reside na orientao positivista; Mill quer fundar uma cincia do esprito que se baseie nos factos como as cincias da natureza. E o facto , para Mill, a sensao. Os ltimos componentes do esprito so as sensaes, de que as ideias so cpias. Como para Hume, o espirito para Mill uma corrente de sensaes, e as associaes das ideias entre si seguem a ordem das sensaes. Tal a "lei geral da associao das ideias" (Analysis, ed. 1869, 1, p. 78). As sensaes sincrnicas produzem ideias sincrnicas e, as sensaes sucessivas, ideias sucessivas. De modo que a continuidade no espao e no tempo a nica lei possvel da associao: quando duas coisas so percebidas em conjunto (simultaneamente no espao ou sucessivamente no tempo), no poderemos perceber ou pensar uma delas sem pensar a outra. Mill no estabelece qualquer diferena entre associaes verdadeiras e associaes falsas, isto , entre associaes conformes s conexes das coisas e associaes que no so. Em ambos os casos, de facto, reporta a fora da associao frequncia com que ela se repete e que a torna habitual, constituindo, como ele diz, uma "associao inseparvel" (Ib., 1, p. 363). A lei da associao invocada por Mill para explicar tambm a vida moral. "A ideia de um 152 prazer suscitar a ideia da aco que causa daquele; e quando a ideia existe, a aco deve seguir-se~lhe" (Ib., II, p. 351). Um fim no mais do que um prazer desejado e constitui o mbil da aco, mbil que exclui toda a liberdade do querer. A associao explica a passagem da conduta egosta altrusta. O nosso prazer privado est estreitamente ligado ao dos outros (pais, filhos, amigos) e esta associao constante acaba por fazer desejar o prazer dos outros como o prprio e por conduzir tambm ao sacrifcio. O desenvolvimento da vida moral seria assim devido ao aparecimento de novos fins devidos associao, fins que se sobreporiam aos outros, assumindo em si aquele carcter atraente que primitivamente no possuam. Mill declara que tal anlise no diminui a realidade dos sentimentos analisados. A gratido permanece gratido e a generosidade, generosidade, mesmo quando se reduzem aos seus originrios mbiles egostas: do mesmo modo que um raio de luz permanece branco a nossos olhos mesmo depois de Newton o ter decomposto em raios de diferentes cores. Esta observao revela o carcter positivista da obra de Mill: a moral deve tornar-se, segundo ele, uma cincia positiva como a cincia natural. E esta caracterstica distingue o seu associativismo dos seus predecessores. 639. STUART MILL: VIDA E OBRAS
O utilitarismo ingls, cujos traos fundamentais delinemos, , no seu conjunto, um positivismo da moral. Tende a fazer da moral uma cincia positiva, fundada nos factos e nas leis, para a utilizar como instrumento de aco no mundo social, do mesmo modo que as cincias naturais servem para actuar sobre o mundo natural. John Stuart Mill ps a claro os princpios filosficos implcitos neste positivismo tico e vinculou-o ao positivismo social francs. John Stuart Mill nasceu a 20 de Maio de 1806 em Londres. Seu pai, James, assumiu com muito cuidado, se bem que no com muita ternura, a tarefa da sua formao espiritual e promoveu o seu desenvolvimento intelectual, extremamente precoce. Aos dezassete anos, Stuart Mill empre153 gou-se na Companhia das ndias, onde alcanou uma elevada posio. A sua primeira actividade foi a de jornalista. O trato com o pai e com o seu grande amigo Jeremias Bentham haviam-no completamente imbudo dos ideais utilitaristas; e defesa destas ideias contra crticos e oposicionistas se deve a sua primeira actividade literria. Desde a primeira leitura de Bentham (1821) Stuart Mill sentiu-se "um reformador do mundo". No outono de 1826, o jovem Mill sofreu uma grave crise de desalento durante a qual se deu conta de que no poderia extrair nenhum benefcio da doutrina utilitarista de Bentham. e de seu pai. S conseguiu sair desta crise, como ele prprio conta na sua Autobiografia (cap. 5?), ao reconhecer que a felicidade no se obtm quando se faz dela o objectivo da vida, mas antes quando nos dedicamos a outra coisa, a uma tarefa que possa concentrar em si as energias interiores do homem. Vencida esta crise, Stuart Mill iniciou uma actividade incessante e profcua, que exerceu at ao fim da sua vida. Foi propagandista incansvel das suas ideias sociais e polticas, escritor fecundo e, por alguns anos, membro da Cmara dos Comuns. Durante sete anos e meio tambm o esposo feliz de uma mulher (Mrs. Taylor), de que tece, na sua autobiografia, os maiores elogios. Morreu em Avinho a 8 de Maio de 1873. As suas obras fundamentais so: Sistema de lgica dedutiva e indutiva, 1843; Ensaios sobre algumas questes incertas de economia poltica, 1848; Sobre a liberdade, 1849; Pensamentos sobre a reforma do Parlamento, 1859; Dissertaes e discusses, 1 e 11, 1859; 111, 1867; IV, 1874; Consideraes sobre o governo representativo, 1861; Utilitarismo, 1865: Exame da filosofia de Sir W. Hamilton, 1863; Discurso inaugural da Universidade de St. Andrews, 1867; Inglaterra e Irlanda, 1868; A servido das mulheres, 1869; Captulos e discursos sobre a questo irlandesa, 1870; Autobiografia, 1873. Foram, alm disso, publicados postumamente Trs ensaios sobre a religio (1874) e dois volumes de Cartas (191h). Desta longa srie de escritos, os fundamentais s o a Lgica e os Princpios de economia poltica. Entre os escritos menores, so particularmente significativos os estudos Liberdade e Servido das mulheres. O primeiro uma defesa da liberdade contra o possvel perigo que pode 154 provir do desenvolvimento da igualdade social; o segundo uma defesa dos plenos direitos morais, civis e polticos do sexo feminino. A Autobiografia de Stuart Mill torna explcito o testemunho da influncia que os escritos de Saint-Simon e dos seus sequazes exerceram sobre o seu pensamento. Stuart Mill considerou com muita simpatia os primeiros volumes da Filosofia positiva (A utob., cap. 5?), mas a sua correspondncia com Comte demonstra o gradual enfraquecimento da sua
simpatia pelo filsofo francs. Embora acentuando o principio de que a humanidade o fundamento e o fim de toda a actividade humana e admitindo que os filsofos devem, com o tempo, assumir o ascendente moral e intelectual outrora exercido pelos padres, Stuart Mill rejeitava claramente a sociologia mitolgica que Comte construra na Poltica positiva e nas obras colaterais. A Stuart Mill, defensor e apstolo da liberdade individual, repugnava o despotismo espiritual e temporal que Comte propugnava, e que lhe parecia to opressivo como o de Incio de Loiola. O estudo Augusto Comte e o positivismo, publicado por Stuart Mill em 1856, embora preste justia aos mritos filosficos do positivista francs, pe em relevo, sem piedade, os aspectos ridculos ou repugnantes da sua doutrina. 640. STUART MILL: A LGICA Na realidade, a diferena fundamental entre o positivismo de Comte e o positivismo de Stuart Mill est em que um um racionalismo radical, ao passo que o outro, nascido do tronco nacional da filosofia inglesa, um empirismo no menos radical. verdade que o positivismo de Comte pretende partir dos factos, mas para chegar lei, a qual, uma vez formulada, passa a fazer parte do sistema total das crenas da humanidade e* dogmatizada. Para o positivismo de Stuart Mill, ao invs, o recurso aos factos continuo e incessante, e no possvel qualquer dogmatizao dos resultados da cincia. A lgica de Stuart Mill tem como seu escopo principal abrir brecha em todo o absolutismo da crena e referir toda a verdade, princpio ou demonstrao, valida155 de das suas bases empricas. Por esta via, a pesquisa filosfica no perde o carcter social que adquirira nos escritos dos saint-simonistas e do prprio Comte; s que o fim social no o de estabelecer um nico sistema doutrinrio e politicamente opressivo, mas sim o de combater nas suas bases toda a forma possvel de dogmatismo absolutista e fundar a possibilidade de uma nova cincia educativa, libertadora, a que Stuart Mill chamou etologia (de ethos, carcter). Na introduo Lgica, Mill desembaraa-se de todos os problemas metafsicos que, segundo afirma, caem fora do domnio desta cincia, na medida em que esta sempre uma cincia da prova e da evidncia. "Admite-se geralmente, diz ele (System of Logic, ed. 1904, p. 5) que a existncia da matria ou do esprito, do espao ou do tempo no , por sua natureza, susceptvel de ser demonstrada, e que se h algum conhecimento dela, deve ser por intuio imediata". Mas uma "situao imediata" que caia fora de toda a possibilidade de investigao e de raciocnio , por consequncia, destituda de significado filosfico; e a separao que Stuart Mill estabelece entre lgica e metafsica , na realidade, a condenao e eliminao desta ltima. Alm da eliminao de toda a realidade metafsica, h a eliminao de todo o fundamento metafsico ou transcendente ou, pelo menos, no emprico das verdades e dos princpios universais. Todas as verdades so empricas: a nica justificao do "isto ser" o "isto foi". As chamadas proposies essenciais (do tipo "o homem racional") so puramente verbais; afirmam de uma coisa indicada com um nome s o que afirmado pelo facto de se lhe dar tal nome. Quer dizer, so fruto de uma pura conveno lingustica e no dizem absolutamente nada de real sobre a coisa mesma (Logic, 1, 6 4, p. 74). Os chamados axiomas so originariamente sugeridos pela observao. Ns nunca teramos sabido que duas linhas rectas no podem fechar um espao se nunca tivssemos visto uma linha recta. Tais axiomas no tm, portanto, uma origem diferente de todos os demais conhecimentos: a sua origem a experincia (Ib., 11, 5, 4, p. 152). Finalmente, o princpio de contradio no mais do que "uma das nossas
primeiras e mais familiares generalizaes da experincia". O seu fundamento originrio que o crer e 156 o no crer so dois estados mentais diversos que se excluem mutuamente. Isto -nos mostrado pela mais simples observao do nosso esprito. E se a tal observao se acrescentarem as que nos revelam a oposio e a excluso de luz e trevas, som e silncio, movimento e repouso, etc., v-se logo que o princpio de contradio no mais do que a generalizao destes factos. Anloga base tem o principio do terceiro excludo, contanto que o formulemos com exactido, isto , com a condio de que o predicado tenha um sentido inteligvel. "Abracadabra uma segunda inteno", uma proposio que no verdadeira nem falsa porque no tem sentido. Entre o verdadeiro e o falso existe uma terceira possibilidade, que o sem sentido (Logic, 11, 7, 5, p. 183). Stuart Mill no pretende, porm, tirar destas permissas a concluso cptica a que Hume chegara partindo de premissas anlogas. O que ele pretende garantir ao conhecimento humano o grau de validade que lhe corresponde em conformidade com os seus fundamentos empricos. Toda a proposio universal uma generalizao dos factos observados. Mas que significa tal generalizao, dado que nunca possvel observar todos os factos e que s vezes basta um facto s para justificar uma generalizao? Este o problema fundamental da induo, a que se reduz, em ltima anlise, todo o conhecimento verdadeiro. Stuart Mill v a soluo deste problema no principio da uniformidade da natureza. As uniformidades da natureza so as leis naturais: so reveladas pela experincia e confirmam-se e corrigem-se reciprocamente. Mas as uniformidades naturais, reveladas pela experincia, evidenciam entre si uma uniformidade fundamental, que , por sua vez, uma lei: a lei de causalidade. Esta lei, asseverando que todo o facto que tem um incio tem uma causa, estabelece que " uma lei o facto de todas as coisas terem uma lei". Como tal, a base de toda a induo e permite reconhecer na natureza uma ordem constante e necessria de fenmenos. "Ns cremos, diz Stuart Mill (Ib., 111, 5, 8, pp. 226-27), que o estado do universo a cada instante a consequncia do seu estado no instante precedente; de modo que algum que conhea todos os agentes que existem no momento presente, a sua situao no espao e todas as suas propriedades - por outras palavras, as leis 157 da sua aco - poderia predizer toda a histria subsequente do universo, a menos que sobreviesse uma nova deciso de uma fora capaz de controlar o universo inteiro. E se algum estado particular do universo se repetisse uma vez, todos os estados subsequentes se repetiriam igualmente assim como a histria inteira, como um decimal peridico de muitas cifras". Mas se as leis da natureza no so outra coisa seno uniformidades testemunhadas pela observao, o que que garante a lei de causalidade, a qual afirma que tais uniformidades devem existir? Stuart Mill considera que no difcil conceber que nalgum dos muitos fundamentos do universo sideral os eventos possam suceder-se sem nenhuma lei determinada. A lei de causalidade no por isso um instinto infalvel do gnero humano nem uma intuio imediata, nem mesmo uma verdade necessariamente vinculada natureza humana como tal. Temos, portanto, de admitir que a mesma lei que regula a induo uma induo. "Ns chegamos a esta lei geral mediante generalizaes de muitas leis de generalidade inferior. Nunca teramos tido a noo de causalidade (no sentido filosfico do termo) como condio de todos os fenmenos, se muitos casos de causao ou, por outras palavras, muitas parciais uniformidades de sucesso no se tivessem tornado familiares anteriormente. A mais bvia das uniformidades particulares sugere e
torna evidente a uniformidade geral, e a uniformidade geral, uma vez estabelecida, permite-nos demonstrar as demais uniformidades particulares, das quais procede" (Logic, 111, 21, 2, p. 372). A uniformidade da natureza no , portanto, mais do que uma simples induo per enumerationem simplicem, e Stuart Mill observa a este propsito que uma tal induo no s no , necessariamente, um processo lgico ilcito, mas tambm , na realidade, a nica espcie de induo possvel, uma vez que o processo mais elaborado depende, para ser vlido, de uma lei que obtida deste modo no artificial. Fazer depender a validade da induo da prpria induo pode parecer um caso bvio de circulo vicioso. Mas Stuart Mill observa que isso s seria assim se se admitisse a velha teoria do silogismo segundo a qual a verdade universal (ou premissa maior) de um raciocnio a demonstrao real das 158 verdades particulares que se deduzem dela. Stuart Mill, ao invs, expe (Ib., 11, 3, p. 119 segs.) a teoria oposta, ou seja, que a premissa maior no a prova da concluso, mas que ela prpria provada, juntamente com a concluso, por uma mesma evidncia. "Todos os homens so mortais" no a prova de que Lord Palmerston seja mortal; mas a nossa experincia pretrita da mortalidade autoriza-nos a inferir ao mesmo tempo a verdade geral e o facto particular, com o mesmo grau de certeza para uma e para outro. " 641. STUART MILL: A CINCIA DO HOMEM A investigao lgica de Stuart Mill no um fim em si mesma: tende a estabelecer um mtodo e uma disciplina para o estudo e orientao do homem. Os primeiros cinco livros do Sistema de lgica so, na mente de Mill, simplesmente preparatrios em relao ao sexto, dedicado lgica das cincias morais. Aqui, Mill comea por reafirmar de certo modo a liberdade do querer humano. A liberdade no contradiz o que ele chama "a necessidade filosfica", a qual implica que, todos os motivos presentes ao esprito de um indivduo e dados igualmente o carcter e as disposies do indivduo, se pode deduzir infalivelmente o seu comportamento futuro, de modo que "se conhecermos a pessoa a fundo e se conhecermos todos os mbiles que sobre ela actuam, podemos predizer-lhe o comportamento com a mesma certeza com que podemos predizer qualquer evento fsico" (Logic, IV, 2, 2, p. 547). Esta necessidade filosfica parece a Mill a interpretao de uma experincia universal e a expresso de uma convico comum a todos. Contudo, no deve confundir-se com a fatalidade, que suporia um elo mais ntimo, uma constrio misteriosa exercida pela causa da aco sobre a aco mesma. Uma tal constrio estaria, segundo Mill, em conflito com a nossa conscincia e repugnaria aos nossos sentimentos. "Ns sabemos, diz, que nas nossas volies no existe aquela misteriosa constrio. Sabemos que no somos compelidos, como por um mgico encanto, a obedecer a qualquer particular motivo. Sentimos que, se desejarmos mostrar que temos fora para resistir ao 159 motivo, podemos faz-lo (dado que o motivo mesmo se torna, como bvio, num novo antecedente); e seria humilhante para o nosso orgulho e (isto importa mais) paralisaria o nosso desejo de perfeio, pensar de outra maneira" (Ib., p. 548). Por outro lado, a fatalidade suporia uma espcie de conexo metafsica entre a volio e os seus mbiles, enquanto a necessidade no pode significar outra coisa seno a uniformidade da ordem e a possibilidade de predio. E precisamente sobre estas duas coisas se funda a cincia da natureza humana, cujo ideal consiste em poder predizer a conduta futura de um indivduo humano com a mesma certeza com que a astronomia prediz os movimentos dos astros (Ib., VI, 3, 2, p. 554). Tal cincia a psicologia, qual pertence o estudo das leis do esprito,
ou seja, as uniformidades de sucesso entre diferentes estados psquicos (ao passo que a uniformidade de sucesso entre um estado fsico e um estado espiritual uma lei fsica concernente fisiologia). Naturalmente, as leis do esprito, como todas as outras leis empricas, tm uma validade que se restringe aos limites da observao, mas no garantem nada para l de tais limites. Ora, sobre a psicologia e as suas leis se funda a etologia, que estuda as leis da formao do carcter. Tais leis derivam das leis gerais da psicologia mediante a considerao do que ser, em conformidade com as leis psicolgicas, a aco das circunstncias sobre a formao do carcter. A etologia , portanto, a cincia que corresponde ao acto da educao no seu sentido mais lato. Ao lado da cincia do carcter individual, Stuart Mill pe a cincia do carcter social e colectivo que a sociologia. Esta cincia deve fundar-se, como Comte viu, no princpio do progresso do gnero humano. O escopo da sociologia deve ser a descoberta de uma lei de progresso que, uma vez encontrada, torne possvel predizer os eventos futuros, tal como na lgebra, depois de alguns termos de uma srie infinita, possvel descobrir o princpio da regularidade da sua formao e predizer o resto da srie (Ib., VI, X, p. 596). Como Comte, Stuart Mill admite uma esttica social e uma dinmica social que deveriam explicar os factos da histria e determinar a direco do seu desenvolvimento progressivo. Ele reproduz nas ltimas pginas 160 da Lgica aquela concepo da histria que domina o esprito romntico do sculo XIX, tanto o positivista como o idealista, e se encontra tanto em Saint-Simon e em Comte como em Hegel. A histria uma tradio contnua que vai de gerao em gerao acumulando de cada vez uma srie de resultados. Stuart Mill admite tambm, como Hegel e Comte, a funo daqueles indivduos excepcionais que esto destinados a facilitar ou a promover os desenvolvimentos fundamentais e que surgem no momento preciso no curso providencial das circunstncias. 642. STUART MILL: A ECONOMIA POLITICA E A MORAL A economia poltica , segundo Stuart Mill, um ramo in- dependente da investigao sociolgica. A economia poltica estuda aqueles fenmenos que se verificam em consequncia da busca da riqueza e abstrai por completo de qualquer outra paixo ou mbil humano, salvo dos princpios antagonistas, como a averso ao trabalho e o desejo do gozo presente. A economia poltica delineia a partir deste pressuposto uma ordem uniforme e constante dos fenmenos, que torna possvel a previso das aces econmicas. O Sistema de economia poltica de Mill condensa e unifica os resultados que esta cincia alcanara atravs da obra de Smith, Malthus e Ricardo. Mill no cr, no entanto, que a ordem econmica seja automtica e fatal. As leis da produo so, segundo ele, "leis reais da natureza"; as da distribuio dependem, ao invs, da vontade humana, e, portanto, do direito e do costume (Pol. Ec., 11, 7, 1, p. 123). possvel modificar estas leis para obter uma melhor distribuio da riqueza. Mill afirma a este propsito que a escolha entre individualismo e socialismo "depender principalmente de uma nica considerao, isto , de saber qual dos dois sistemas se concilia com a mxima soma possvel de liberdade e espontaneidade humana" (Ib., II, 1, p. 129). E, na realidade o que impede Mill de aderir ao socialismo, com o qual partilha o reconhecimento e a condenao das injustias sociais, a exigncia de salvaguardar em todos os casos
161 a liberdade individual. A ltima parte do seu tratado , de facto, dedicada determinao dos limites da interveno do governo nas questes econmicas. Tais limites so, em ltima anlise, requeridos pela exigncia de que "haja na existncia humana um baluarte firme e sagrado, que escape intruso de qualquer autoridade" Ob., V, XI, 2, p. 569). Isto no o impede, no entanto, de defender toda uma srie de medidas, um sistema nacional de educao, um plano nacional de emigrao e colonizao, uma lei restritiva sobre os matrimnios, etc., que deveriam ter como escopo distribuir mais equitativamente a riqueza e melhorar as condies do povo. Relaciona-se com o Sistema de economia poltica um grupo de obras que desenvolvem problemas j tratados nesse livro: o ensaio Liberdade (1859), Governo representativo (1861), Servido das Mulheres (1869) e o Utilitarismo. Todos estes escritos tendem a delinear nos seus aspectos (moral, social, poltico e econmico) um individualismo radical, que no pode ter outro limite seno o da autoproteco do indivduo. Stuart Mill sustenta que a interveno de uma autoridade qualquer na conduta de um indivduo se no pode justificar seno na medida em que tal interveno justificada pela defesa dos prprios direitos individuais. A justificao moral deste individualismo baseia-a Stuart Mill no utilitarismo. No seu utilitarismo patente a influncia de Comte. O indivduo no pode ter outro guia para a sua conduta seno a sua prpria felicidade, isto , o prazer e a ausncia da dor. Mas a tendncia do indivduo para a prpria felicidade implica sempre, em maior ou menor grau, a tendncia para a felicidade dos outros. O progresso do esprito humano aumenta incessantemente o sentimento da unidade que liga o indivduo aos outros indivduos. Stuart Mill observa a este propsito que, apesar de todas as reservas que o sistema polticomoral de Comte impe, se deve reconhecer que ele "demonstrou a possibilidade de dar ao servio da humanidade, mesmo sem a ajuda da crena na providncia, a fora psicolgica e a eficcia social da religio" (Utilitarismo, 1871, p. 61). Este sentimento da unidade humana a ltima sano de toda a vida moral. Reconhecer este sentimento como o que no significa (como sustentam 162 os adversrios do utilitarismo) enfraquecer ou distinguir o impulso moral do homem. Mesmo uma sano desinteressada do dever (quer seja atribuda a Deus ou ao imperativo categrico kantiano) s pode actuar sobre o homem enquanto um sentimento subjectivo e no tem outra fora seno a intensidade desse sentimento. Mas todo o sentimento est relacionado com o prazer e com a dor e implica, portanto, o critrio da utilidade (Ib., p. 54). 643. STUART MILL: DOUTRINA DA SUBSTNCIA O Exame da filosofia de Hamilton um retorno de Mill ao problema da realidade, que ele exclura da Lgica. Hamilton, que procurava renovar a doutrina da escola escocesa da percepo imediata (isto , no mediada pela ideia) do mundo externo, apresentara esta doutrina com referncias crticas a Kant e aos filsofos do romantismo alemo. Stuart Mill, embora cite e discuta Kant, no parece ter compreendido o significado nem a importncia deste filsofo. Para ele, Kant supunha que o esprito no percebe mas "cria" as qualidades sensveis, e atribui-as logo, por uma iluso natural, s coisas exteriores (Examination, p. 456). De modo que o esprito no se limitaria a organizar os dados da experincia, ultrapassaria a experincia com as suas prprias criaes; e assim Kant parece a Stuart
Mill fundamentalmente infiel ao postulado bsico do empirismo. O problema que Stuart Mill se prope resolver o de mostrar de que maneira o esprito, no tendo sua disposio seno o material sensvel, pode organizar um mundo que tem, pelo menos, a aparncia de exterioridade. Para resolver tal problema, recorre, como j fizera Hume, s leis da associao. Quando dizemos, observa, que o objecto percebido exterior a ns, pretendemos dizer que h, nas nossas percepes, alguma coisa que existe tambm quando no pensamos nele, que existe antes de o pensarmos e que existir ainda mesmo que tenhamos deixado de existir e pretendemos dizer, outrossim, que existem coisas que nunca tnhamos visto, tocado, nem percebido, e que nenhum ho163 mem jamais percebeu. A estas determinaes se reduz a ideia da substncia exterior. Ora, todas elas so explicadas por aquilo que Stuart Mill chama "possibilidade de sensaes". A cada momento o mundo compreende, para ns, no s as sensaes actuais, mas tambm uma variedade infinita de possibilidades de situaes: isto , todas as que a observao passada nos diz que poderiam em determinadas circunstncias ser experimentadas neste momento, e, alm disso, uma multido indefinida e ilimitada de outras sensaes que poderiam ser experimentadas em circunstncias que nos so desconhecidas. Ora, enquanto as sensaes presentes so pouco importantes por serem fugitivas, as possibilidades de sensao so permanentes e possuem, por isso, o carcter principal da substncia exterior, constituem "uma, espcie de substracto permanente", ou grupos de permanentes possibilidades sugeridas pelas sensaes passadas. Neste sentido o mundo exterior no mais do que uma "permanente possibilidade de sensao". E a propsito da substncia espiritual procura Stuart Mill formular uma explicao anloga; mas aqui no esconde a dificuldade de uma srie de sensaes e de uma possibilidade de sensaes que se conhea a si mesma como tal. A concluso que a identidade pessoal inexplicvel e que o que h de mais prudente a fazer " aceitar o facto inexplicvel sem nenhuma teoria acerca da sua maneira de verificar-se" (Ib., p. 248). 644. STUART MILL: O DEMIURGO E A RELIGIO DA HUMANIDADE Nos trs ensaios pstumos sobre a religio, Natureza, Utilidade da religio e Tesmo, Stuart Mill-procura reconduzir a religio aos limites da experincia e apresentar, portanto, a cincia como fundamento da religio. O tesmo no inconcilivel com as verdades da cincia, contanto que se exclua o conceito de uma divindade que governe o mundo com actos de vontade arbitrrios e variveis! Isto no quer dizer que se possa admitir sem mais nem mais um criador que tenha querido que os acontecimentos se verificassem conforme leis fixas e imutveis. Uma evidncia deste gnero 164 no se pode obter com o argumento causal, conquanto este recorra explicitamente experincia. De facto, nenhuma causa necessria existncia do que no tem princpio; e nem a matria nem a fora tm um inicio qualquer. To-pouco valem os argumentos extrados do consensus gentium ou da conscincia. Stuart Mill considera decisivo o argumento finalista. A ordem da natureza, ou pelo menos algumas partes dela, tm as caractersticas das coisas produzidas por um esprito inteligente com vista a um fim. Tal argumento , segundo Stuart Mill, de carcter indutivo e possui, portanto, a mesma certeza que qualquer induo. A questo que ulteriormente se apresenta a de ver que espcie de divindade ser possvel inferir do plano finalista do mundo.
evidente que o criador do mundo deve ter um poder e uma inteligncia imensamente superiores aos do homem, mas nem por isso evidente que ele deva ser dotado de omnipotncia e omniscincia. Pelo contrrio, a prpria existncia de um plano parece excluir a omnipotncia do seu autor. Com efeito, o plano implica a adaptao dos meios ao fim e a necessidade de empregar meios implica uma limitao de fora. Um homem no usa mquinas para mover os braos. A teologia natural no pode, portanto, deixar de reconhecer que o autor do cosmos agiu com determinadas limitaes. Alm disso, no h motivo para supor que a matria, a fora ou as suas propriedades tenham sido criadas pelo Ser que as empregou no mundo. A prpria sabedoria com que empregou os meios sua disposio implica uma escolha entre possibilidades finitas e, por conseguinte, uma limitao de fora.- A omnipotncia no pode ser, portanto, atribuda ao criador. Poderia ser-lhe atribuda a omniscincia; mas nada o demonstra. O criador de que fala Stuart Mill antes um Demiurgo, cuja fora supe limitada qualidade do material empregado, pelas substncias ou as foras de que se compe o universo; ou pela incapacidade de realizar de um modo melhor os fins estabelecidos. A limitao do criador , pois, confirmada pelo facto de que no existe sombra de justia no movimento geral da natureza e porque a imperfeita realizao que a justia obtm na sociedade humana obra do prprio homem, que luta contra imensas dificuldades natu165 rais para alcanar a civilizao e fazer dela a sua segunda natureza (Three Essays on Religion, 1885, p. 194). Em concluso, Stuart Mill favorvel a uma "religio da humanidade" que no s ponha limites obrigatrios s pretenses egostas das criaturas humanas, mas lhes d o sentido de cooperarem com o Ser invisvel a que devem tudo quanto fruem. na vida. A religio da humanidade pode encontrar uma ajuda racional naquelas "esperanas sobrenaturais" que a doutrina do Demiurgo justifica. 645. POSITIVISTAS ITALIANOS O positivismo de fundo social encontrou na Itlia dois representantes que, embora no trouxessem contributos de grande originalidade, o defenderam com uma certa fora e lgica de pensamento. So eles dois milaneses Carlos Catta~ neo e Jos Ferrari, que seguem as teses fundamentais de Saint-Simon, corroborando-as com uma interpretao positivista da doutrina de Vico. Carlos Cattaneo (1801-69) participou no movimento de ressurgimento italiano como republicano federalista e, ao constituir-se o reino de Itlia, refugiou-se na Sua, onde, at ao fim da sua vida, ensinou no liceu de Lugano. Em Milo, fundara e dirigira uma revista, "Politecnico", ttulo que mostra a tendncia para a sntese cientfica prpria do positivismo. Os escritos de Cattaneo so ensaios breves e circunstanciais (Assunto primo della scienza del diritto, naturale de G. D. Romagnosi, 1822; Delle dottrine di Romagnosi, 1836; Un'opera postuma de G. D. Romagnosi, 1836; Sulla Scienza Nuova di Vico, 1839; Considerazioni sul principio della filosofia, 1844; Il Kosmos di A lexandro di Humboldt 1844; Framenti di sete prefazioni, 1846;Lapoliticadi Tom@aso Campanella, 1856; Un invito alli amatori dellafilosofia, 1857; La vita nell'universo di Paolo Lioy, 1861) entre os quais o mais notvel o que se intitula Psicologia delle menti associate, 1859-66. Foi tambm publicado postumamente o Curso de Filosofia que Cattaneo ministrou no liceu de Lugano, e que compreende trs partes: Psicologia, 166 Ideologia e Lgica: mas a parte original e interessante deste curso , na verdade, bastante
escassa. A inteno polmica de Cattaneo dirigida contra a teologia, a metafsica e, em geral, toda a filosofia que proceda a priori, prescindindo dos factos e das suas leis, tais como so estabelecidos pelas vrias cincias. Neste sentido, a filosofia deve ser "experimental", isto , deve ater-se ao mtodo e ao intuito prprios das cincias experimentais (Scritti filosofici, ed. Bobbio, 11, pp. 35-38; 111, p. 308). O seu carcter todavia, ao contrrio do das cincias, geral ou sinttico. Cattaneo exprime por vrias frmulas este carcter: mas as frmulas de que mais frequentemente se serve a filosofia "o estudo do pensamento" (1b., 1, p. 348) ou, mais precisamente, " o estudo do homem nas suas relaes mais gerais com os outros seres, tais como estes se apresentam no testemunho concorde de todas as cincias morais e fsicas (Ib., II, p. 43). Isto quer dizer que a filosofia s pode estudar o homem nas suas relaes com a natureza e com a sociedade: e, uma vez que a natureza e a sociedade so os objectos respectivos das cincias naturais e morais, no pode estudar o homem prescindindo dos resultados de tais cincias. Para Cattaneo, o conhecimento do homem no pode ser realizado pela conscincia, isto , pela reflexo do homem sobre si mesmo, mas apenas mediante a considerao das relaes objectivas que o ligam quele modo da natureza e da sociedade que o objectivo das cincias. Por outro lado, acrescenta Cattaneo, "as novas cincias no trazem filosofia apenas as suas descobertas: elas apresentam-lhe em si mesmas e nos seus procedimentos um novo e profundo problema (Ib., 1, p. 348). As cincias oferecem, de facto, na variedade, no rigor e na eficcia dos seus procedimentos (as anlises da qumica e da economia, as snteses da geologia, as classificaes da botnica e da geologia, as dedues da geometria, as indues da fsica, as analogias da medicina, etc.) o quadro das possibilidades efectivas de "que o homem dispe para conhecer e operar no mundo e transform-lo de harmonia com as suas prprias necessidades e ideais; e este quadro indispensvel compreenso do homem como indispensvel a este escopo a considerao da infinita variedade das 167 leis, das instituies, das lnguas, das artes, das opinies, que constituem o mundo social. mediante este vasto conjunto de dados que a inteligncia humana "pode contemplar as formas, os limites do seu prprio poder interno, que debalde tentaria explorar no germe fechado do jovem ou do selvagem, ou nas inseguras indues da conscincia intelectiva". E s tendo em conta estes dados "a filosofia ser o nexo comum de todas as cincias, a expresso mais geral de todas as variedades, a lente que, juntando os esparsos raios, ilumina a um tempo o homem e o universo" (Ib., 1, p. 170). Este conceito de filosofia tem decerto uma singular modernidade e validez. Nas mos de Cattaneo, no passa no entanto de pouco mais que um projecto. Uma nica vez tentou Cattaneo a realizao de tal projecto: na investigao sobre a Psicologia das mentes associadas (1859-64). A psicologia das mentes associadas , pouco mais ou menos, a cincia que Comte denominara "sociologia", isto , o estudo positivo dos factos humanos e das suas leis. J no seu estudo sobre a Scienza nuova de Vico (1839) Cattaneo atribura quele filsofo o mrito de ter fundado a ideologia social, como "estudo do indivduo no seio da humanidade" (Ib., 1, p. 103). O ltimo desenvolvimento da cincia de Vico , segundo Cattaneo, a doutrina de Saint-Simon, na qual se se puser de parte o que Cattaneo chama de "delrios" sobre a abolio da propriedade, da hereditariedade e da famlia, "se encontra uma resumida histria ideal, que reedifica o curso das naes de Vico, mas o arranca ao crculo perptuo e o vincula ao progresso" (Ib., 1, p. 128). E Cattaneo reconhece mritos comparveis ao de Saint-Simon, de Schelling (Ib., p. 126) e especialmente de Hegel, o qual, distncia de um sculo de Vico, "corrigiu a ideologia do homem-povo;
rompendo o crculo de Vico, substituiu-o pela moderna ideia do progresso; e, alm disso, logrou com a sua anlise distinguir as diferentes naes, tentando atribuir a cada uma a especial realizao de cada uma daquelas ideias, cuja srie constitui o progresso perptuo" (Ib., 1, p. 435). A psicologia das mentes associadas concebida por Cattaneo como "um necessrio nexo entre a ideologia do indivduo e a ideologia da sociedade", isto , como o estudo do mtuo condicionamento em virtude do qual o indivduo e a 168 sociedade formam os seus poderes e adquirem as suas caractersticas. Em substncia, Cattaneo pretende negar que o indivduo possa ser alguma coisa ou formar-se isolando-se da sociedade, e que a sociedade possa formar-se ou transformar-se sem o contributo do indivduo. Analisa trs aspectos deste condicionamento reciproco: a anttese, a sensao, a anlise. A anttese consiste na diversidade e na oposio das ideias humanas e, em geral, nas competies e nos contrastes que estimulam a vida social. A sensao das mentes associadas a observao organizada e repetida que tende a formar um "comum sensrio das gentes incivilizadas" (Ib., 1, p. 450). A anlise, isto , o acto com que se distinguem as partes de um todo, a operao que define as crenas fundamentais de um grupo social. Esta operao efectuada o mais das vezes de um modo "pr-ordenado e fatal", e o progresso desta operao, que condiciona o progresso da prpria sociedade humana, consiste antes em torn-la livre e autnoma porque s desta forma se torna instrumento de novas descobertas e conquistas. "A livre anlise, sustenta Cattaneo, um dos maiores interesses morais e materiais do gnero humano"; e deste ponto de vista a prpria filosofia deve ser "a anlise da livre anlise" (Ib., 1, p. 454). O outro positivista milans, Jos Ferrari (1812-76), foi o primeiro editor das obras completas de Vico (1835-37), s quais anteps um longo ensaio intitulado A mente de Joo Baptista Vico. Em seguida, Ferrari publicou em francs o Ensaio sobre o princpio e os limites da filosofia da histria (1843) e outros polmicos e polticos menos importantes, e em 1851 o seu escrito principal Filosofia da Revoluo. Na sua interpretao da obra e da figura de Vico, Ferrari parte do conceito de que um gnio no seno o representante de uma poca ou de uma nao, "a ideia que se faz homem" (A mente de Vico, ed. 1854, p. 5). Ferrari reconhece a Vico, embora tenha em conta a sua estreita conexo com a situao social e cultural da Itlia quinhentista, o mrito de ter pela primeira vez constitudo a histria como cincia. "Vico no viu nem grandes homens nem legisladores, nem climas, nem circunstncias acidentais; viu unicamente uma histria ideal eterna, isto , pocas, grandes castas, revolues inevitveis; e alguns indivduos que deram o seu nome a uma das 169 fases da histria ideal eterna" (Ib., p. 173). E por isso vincula Vico por um lado a SaintSimon (Ib., p. 210), por outro lado ao idealismo romntico de Fichte, Schelling e Hegel Q@., P. 219). Deste modo, refere a doutrina de Vico a um principio que lhe estranho, o da infalvel necessidade racional da histria; mas relegando-a assim ao esprito do romantismo, abre caminho s interpretaes idealistas da histria. A Filosofia da Revoluo baseia-se na anlise do que Ferrari chama "a revelao natural". lgica que promete uma evidncia e uma certeza que incapaz de dar, Ferrari contrape a revelao da natureza, a qual destri as contradies e as dvidas, a que a pura lgica d origem. "No podemos tolerar a lgica, quer dirija, quer contrarie a natureza; submetamo-
la natureza para que sirva de instrumento aos fenmenos; as dvidas, as contradies desvanecer-se-o, o absurdo achar-se- confinado numa esfera exterior da nossa aco... A experincia ensina-nos que a lgica no estava predestinada a mandar; ela no precede os fenmenos, surge depois deles" (Fil. della riv., I, pp. 226-27). A revelao da natureza substitui o capricho, o acaso das divagaes da lgica pela necessidade. Enquanto a lgica incapaz de esclarecer a origem da sociedade, a necessidade natural resolve o problema. "A lgica no d resposta; responde a fatalidade, subjugando-nos antes de sermos interrogados: ela faz-nos nascer no seio da famlia, compele-nos ao trabalho, sacrifica de contnuo uma gerao outra, os pais vivem para imolar-se a descendentes desconhecidos, que lhes sucedero no trabalho intrmino, e disciplina o gnero humano no prprio acto que o multiplica" (Ib., 1, p. 347). A sociedade no mais que a "razo de um povo subjugado a uma revelao, a lgica submetida a alguns dados, dirigida a uni objectivo com todas as foras da natureza e do homem" (Ib., p. 348). A histria esta mesma necessidade ou fatalidade que domina todos os eventos e indivduos humanos e determina o fim para que tende. "A histria ideal-eterna em que decorrem as histrias particulares de todas as naes unia; esta histria, em todos os pontos da terra, conduz humanidade, a diversidade dos cultos procede das pocas, no do clima, e no isola mas associa todos os vi170 vos" Ob., p. 362). A Hegel, Ferrari reprovava o ter ignorado a diferena entre o facto natural e a providncia das ideias. A identificao entre as duas coisas torna o prprio facto numa ordem providencial. Ferrari cr, ao invs, que tal identificao ocorrer no futuro, mas que, quanto ao passado, a unidade da humanidade no est na ordem providencial, mas apenas na histria ideal comum a todas as naes Ob., p. 382). A histria dirige-se, segundo Ferrari, para a associao universal da humanidade (que o ideal de SaintSimon), isto , uma associao em que cada homem, procurando o seu interesse, seja til a todos os homens. A prpria obrigao moral uma fatalidade, um facto primitivo sui gencris Ob., ll, p. 105). O predomnio da revelao sobrenatural e, portanto, da religio, por muito desejvel que seja , ele tambm, um produto da fatalidade (Ib., 11, p. 206). Por isso Ferrari considera que a prpria fatalidade completar a obra iniciada pela revoluo francesa, isto , estabelecer o reino da cincia e da igualdade. Os primeiros filsofos, e especialmente Scrates, foram os precursores da revoluo; mas a metafsica traiu-os e o seu ensino no frutificou. "Desde h meio sculo, diz Ferrari Ob., pp. 408-09), a metafsica arma a derradeira cilada revoluo. Transfere o problema da cincia para as antinomias do ser e o problema da igualdade para as antinomias do direito. Da que tenhamos da cincia tornada abstraco da verdade, o reino da liberdade tornada abstraco dos dogmas, o reino da igualdade tornada abstraco da partilha (isto , da justa distribuio dos benefcios), o reino da indstria tornada abstraco do capital". O curso ulterior da histria far abolir esta abstraco, recuperando-se a liberdade concreta, fundada na igualdade e na justa distribuio dos benefcios, condicionados por uma limitao da propriedade privada estabelecida por uma lei agrria universal Ob., II, p. 163). ? progresso da histria, assim como o curso da cincia, no e, portanto, mais do que a revelao progressiva, no homem e atravs do homem, dessa necessidade racional da natureza. 171 646. O POSITIVISMO SOCIAL NA ALEMANHA A orientao social do positivismo teve tambm um certo nmero de representantes na Alemanha onde, no entanto, se vinculou mais obra de Feuerbach do que a Saint-Simon ou a Comte. As figuras de maior relevo so Laas, Jodl e Dhring.
Ernest Laas (1837-85) o autor de uma obra intitulada Idealismo e Positivismo dividida em trs partes, sendo a primeira dedicada aos princpios do idealismo e do positivismo (1879), a segunda tica idealista e positivista (1882) e a terceira teoria da cincia idealista e positivista (1884). Laas considera toda a histria da filosofia como campo de batalha de dois nicos tipos de doutrina que caracteriza precisamente com os nomes de platonismo e positivismo. O platonismo (que se pode classificar tambm de idealismo) apresenta-se na lgica como realismo; na teoria do conhecimento como apriorismo, inatismo ou racionalismo, e na ontologia como espiritualismo e teleologia. O positivismo , ao invs, uma filosofia "que no reconhece nenhum outro fundamento que no seja o dos factos positivos, ou seja, as percepes externas e interiores, e exige a todas as opinies que mostrem os factos ou as experincias em que se baseiam" (Ideal, und Posit., 1, p. 183). Sob a rubrica do platonismo Laas coloca os filsofos mais diversos: Aristteles, Espinosa e Kant pelo carcter matematizante das suas doutrinas; Fichte, Schelling e Rousseau pelas suas tendncias ao absoluto; Leibniz e Herbart porque admitem uma norma moral que no deriva da sensibilidade; Descartes e Hegel porque afirmam uma actividade espiritual espontnea que no condicionada pelo mecanismo natural; e, finalmente, todos os que, de um modo ou de outro, reconhecem uma realidade ou principio transcendente, irredutvel vida terrestre do homem. O platonismo tem assim um primado indiscutvel na histria, j que, contra ele, o positivismo pode indicar apenas os nomes de Protgoras, que o seu fundador, de David Hume e Stuart Mifi. O prprio Comte, pela sua pretenso de fundar uma religio da humanidade, no considerado por Laas um verdadeiro positivista. A caracterstica gnoseolgica do positivismo o correlativismo, a estreita 172 conexo do sujeito e do objecto. Para ele, a natureza , de facto, uma aparncia, mas no no sentido do platonismo nem mesmo no sentido kantiano e herbartiano, como manifestao ou revelao de uma realidade transcendente, mas no sentido de que "ela tem um significado apenas relativo porque s pensvel como objecto de um eu que a percebe ou a representa, o qual por seu turno no pode existir sem um no-eu, isto , sem um objecto percebido" (Ib., p. 182). Laas opina que o platonismo, em todas as suas mltiplas formas e matizes, no capaz de ir ao encontro das necessidades teorticas da humanidade e de a ajudar a alcanar um universal bem-estar material e espiritual. A tica positivista , ao invs, "uma moral para esta vida, com motivos que tm neste mundo a sua raiz". Tais motivos tm o seu ltimo fundamento no prazer e na dor. Mas nem por isso so estreitamente egostas. A origem histrica dos deveres a que o homem est submetido deve procurar-se nas esperanas e nas pretenses do ambiente social. E os bens a que o homem deve tender so, eles tambm, de natureza social: a segurana do fruto do trabalho, a solidariedade social, as instituies e as leis, o processo da cultura. Laas decididamente optimista quanto aos efeitos de uma moral deste gnero. "A idade do ouro, diz ele, no est atrs de ns, mas diante de ns". Frederico Jodl (1848-1914) o autor de uma Histria da tica (1888-89), de um Manual de Psicologia (1897), de uma pstuma Crtica do Idealismo (1920) e de outros numerosos escritos sobre o problema moral e religioso. Jodl est bastante prximo de Comte, cujas ideias considera substancialmente afins das de Feuerbach e de Stuart Mill. No chega, porm, a aceitar a exigncia comtiana de um culto humanidade. "A ideia de Deus, na sua necessria oposio aos conceitos de movimento, de desenvolvimento, de progresso, no representa nenhuma realidade possvel. A Humanidade, como um ser capaz de aperfeioamento mas nunca perfeito, permanece sempre, necessariamente, abaixo da sua prpria ideia e no , portanto, um objecto possvel de adorao e de venerao. No a palavra culto, mas cultura, que abre as portas do futuro: no devemos adorar a
humanidade, mas form-la e desenvolv-la" (Gesch. der Eth., 173 1889, 11, p. 394). A religio da Humanidade deve ser uma f moral mais do que um culto religioso. Quanto mais a Humanidade se sentir como um s todo no seu passado e no seu futuro, tanto mais se tornar a sua prpria tarefa e finalidade, tanto mais o sentimento vivo desta conexo natural tomar o lugar dos mistrios religiosos. A f no aperfeioamento da cultura, que fornece os meios, e a religio da Humanidade, fundada na conexo ideal das geraes, devem estimular-se reciprocamente para contribuir para a construo do futuro. "0 ideal em ns e a f na sua progressiva realizao atravs de ns: tal a frmula da nova religio da Humanidade" (Ib., p. 494). Jodl , como Comte e Stuart Mill, adversrio declarado de toda a metafsica: mas, na realidade, a sua metafsica a do monismo materialista. Matria e esprito coincidem no tomo psquico, que a primeira origem do desenvolvimento espiritual e se manifesta igualmente na irritabilidade e nos tropismos das plantas e nas aces da natureza inorgnica. Este conceito do tomo espiritual ou do tomo de conscincia deveria, segundo Jodi, eliminar a anttese entre materialismo e espiritualismo. Entre a substncia orgnica e o pensamento que uma funo desta substncia no homem, medeia unicamente a histria da evoluo do mundo orgnico; e assim entre a substncia viva e a natureza inorgnica existe apenas uma soma contnua de efeitos (Lehr. der Psych., 1, 1908, p. 50). Carlos Eugnio Dhring (1833-192 1) foi um fecundo, brilhante e superficial escritor, que se considerou reformador da humanidade. Os seus escritos abarcam domnios muito diferentes: da literatura s cincias naturais (escreveu, entre outras obras, uma Histria crtica dos princpios universais da mecnica, 1873), economia poltica (Curso de economia poltica e social, 1873; Histria crtica da economia poltica e do socialismo, 1899), polmica racial contra os hebreus e filosofia. As suas principais obras filosficas so as seguintes: Dialctica natural, 1865; O valor da vida, 1865; Curso de filosofia, 1875; Lgica e teoria da cincia, 1878; e bem assim uma Histria crtica da filosofia que visa, como ele diz, "a emancipar-se da filosofia", isto , destruir as doutrinas dos outros filsofos. Dhring entende a filosofia, no como uma imvel intuio do mundo, ma@ como o 174 princpio activo da formao da vida. "A filosofia o desenvolvimento da mais alta forma da conscincia do mundo e da vida" (Cursus der Phil., p. 2). Como tal, compreende em si todos os princpios do conhecimento e da aco. O guia e fundamento dela so os factos naturais e as observaes dos factos, fora dos quais no existe nenhuma outra fonte de verdade e de legitimidade. Dhring chama sua filosofia uma filosofia da realidade, um sistema natural (Ib., p. 13). No exclui, todavia, a metafsica, mas redu-la considerao dos elementos reais da existncia e, portanto, daqueles conceitos fundamentais que permitem entender a constituio do mundo. A metafsica "o mais universal esquematismo de toda a realidade". Os dois objectos possveis da filosofia so a natureza e o mundo humano. O mundo humano ou mundo histrico-social um domnio particular distinto do sistema geral da natureza, mas no implica, de modo algum, uma fractura deste sistema ou qualquer negao das leis naturais (Ib., pp. 14-15). Dhring defensor de um rigoroso monismo gnoseolgico e metafsico. O pensamento e o ser correspondem-se exactamente nos seus elementos, de modo que no h aspecto ou forma da realidade que seja inconcebvel e os limites do pensamento so os mesmos que os da realidade (Ib., p. 48). Tal realidade sempre e apenas realidade natural. "A natureza, diz Dhring, o contedo intacto da realidade total e o fundamento de toda a possibilidade". Certamente,
todo o aparelho natural ficaria privado de sentido se no tendesse produo de uma multiplicidade de formas conscientes. Mas, por outro lado, o sistema mecnico e material da totalidade da natureza a condio e o fundamento de todo o fenmeno particular, incluindo a conscincia, de modo que o chamado idealismo apenas uma imaginao pueril ou uma loucura especulativa que ignora at a distino entre alucinao e realidade (Ib., p. 62). A existncia dos seres sensitivos no um pressuposto do universo, mas antes o resultado do seu desenvolvimento natural, determinado por leis necessrias. No existe uma alma no sentido de substncia ou realidade independente. A conscincia em si no mais que um conjunto de sensaes e representaes relativamente unificadas. A unificao devida ao facto de que para toda a conscincia 175 existe um nico modo objectivo, ao qual se refere a multiplicidade diversa das prprias sensaes. A estrutura unitria da conscincia no devida, portanto, a uma quimrica conscincia universal, mas apenas aco necessria do objecto material Ob., p. 131, segs.). Deste ponto de vista, a liberdade do querer e o prprio conceito de vontade, como fora independente dos impulsos e das paixes, impossvel. S existe uma liberdade psicolgica, que consiste na perceptibilidade dos motivos ou, por outras palavras, na capacidade de se ser determinado por motivos que so causas representadas (Ib., pp. 185186). Dhring defensor de uma tica social ou de um socialismo a que ele deu o nome de personalismo, fundado na limitao pessoal da fora da propriedade e do capital. Ao comunismo marxista, que ele considera como uma aberrao racial hebraica, que atribui de um modo simplista todos os males sociais propriedade e ao capital, Dhring contrape o socialismo personalista que se pode realizar ou na economia socializada das associaes produtivas (tipo Fourier) ou pela unificao das foras pessoais, e de uma maneira mais conveniente nesta ltima (Gesch. der National-Oekonomie, 1900, p. 639, segs.). NOTA BIBLIOGRFICA 629. Sobre o positivismo cfr. os escritos citados na Nota Bibliogrfica do 670. 630. SAINT-SIMON, Oeuvres, ed. Rodrigues, Paris, 1382; Oeuvres de S. -S. e dEnfantin, 47 vol., Paris, 1856-78; Textes choiss, ed. C. Bougl , Paris, 1925; La rioganizzazione della societ europea, trad. ital. de A. SAITTA, Roma, 1945 (com introduo e bibliografia). HUBBARD, sa vie et ses oeuvres, Paris, 1857; JANET, S.-S. et le saint-simonisme, Paris, 1879; FoURNIRE Les thories socialistes au XIXme sicle, de Babeuf Proudhon, Paris, 1905; U. LEROY, La vie de S. -S,, Paris, 1925; H. GOUHIER, A Comte et S. -S., Paris, 1941; G. SANTONASTASO, Il socialismo francese da S.-S. a Proudhon, Florena, 1954; F. E. MANUEL, New World ofH. de S. -S., Cambridge, 1956. FOURIER, Oeuvres compltes, 6 vol., Paris, 1840-45. CH. PELLERIN, Ch. F., Paris, 1843; A. BEBEL, Ch. F., Estugarda, 1907; A. LAFONTAINE, Ch. F., Paris, 1911; ARMAND et MAUBLANC, F., Paris, 1937; A. SAITTA, in "Belfagor", Florena, 1947, pp. 272-92. 176 631. PROUDHON, Oeuvres compltes, Paris, 1867-70; Correspondence, Paris, 1875; Oeuvres, nova edio, Paris, 1923, seg$. K. MARX, Misre de la phil. en rponse Ia Phil. de Ia misre, Bruxelles, 1847; SAINTE
BEUVE, P. J. P., Paris, 1872; K. DIEHL, P. J. P., Jena, 1888-96; A. DESJARDIN, P. J. P., 2 vol., Paris, 1896; BOURGIN, P., Paris, 1901; C. BouGL, La sociologie de P., Paris, 1911; ID e outros, P. et notre temps, Paris, 1920; A. MENZEL, P., Tubinga, 1933, SANTONASTASO, P., Bari, 1935; E. DOLLANS, P., Paris, 1948; G. GURVITCH, Les fondateursfranais de Ia sociologie contemporaine: Saint-Simon et P., Paris, 1955. 632. Sobre a vida de Comte: A. CROMPTON, Confessions and Testament ofA. C. and his Corresp. with Clotilde de Vaux, Liverpool, 1910; CH. DE ROUVRE, Lamoureuse histoire dA. C. et de Clotilde de Vaux, Paris, 1917. LITTR, A, C. et Ia phil. positive, Paris, 1863; H. SPENCER, Classification of the Sciences, Londres, 1864; STUART MILL, A. C. and Positivism, Londres, 1865; R. CONGREVE, Essays Political, Social and Religious, Londres, 1847; E. LAM, Idealismus and Positivismus, Berfim, 1879-84; E. CAIRD, The Social Phil. and Religion of C., Giasgow, 1855; H. MARTINEAU, La phil. dA. C,, Paris, 1895; LVY-BRHUL, La phil. dA. C. Paris, 1900; DUPUY, le Positivisme dA. C., Paris, 1911; W. OSTWALD, A. C., Leipsig, 1914; H. GOUHIER, Ia jeunese dA. C. et Ia formation da positivisme, 3 vol., Paris, 1933-41; F. S. MARVIN, C., Londres, 1936; J. PETER, A. C., Bild vom Menschen, Estugarda, 1936; A. CRESSON, A. C., sa vie, son oeuvre, Paris, 1941. 633. T. KOZARY, La loi des trois tats dA. C., Paris, 1895. 634. E. CAIRD, The Social Philosophy and Religion of. C., Glasgow, 1885 (trad. franc., Paris, 1907); A. ALENGAY, La sociologie chez A. C., Paris, 1900; L. DE MONTESQUIEU, Le systme politique dA. C., Paris, 1906. 635. C. H. LEWlS, La phil. des sciences dA. C., (trad. frane., Paris, 1910); E. MEYERSON, De Pexplication dans les sciences, Paris, 1927 (cap. XIII e passion); L. GEYMONAT, Rproblema della conoscenza nelpositivismo, Turim, 1931 (cap. 1). 636. A. BAUMANN, La religion positive, Paris, 1903. 637. Sobre Littr: A. POEY, L. e a. Comte, Paris, 1,879; CARO, L. etlepositivisme, Paris, 1883. 638. Sobre o utilitarismo: J. M. GUYAU, La morale anglaise contemporaine, Paris, 1879; LESLIE STEPHEN, The English Utilitarians, Londres, 1900; E. ALBEE, A History of English Utilitarism, Londres, 190 1, 1957; W. R. SORLEY, Recent Tendencies in Ethics, Edimburgo e Londres, 1904; W. L. DAVISON, Political Thought in England.- the Utilitariansfrom Bentham to J. S. MilI, Londres, 1945; S. W. LESLIE, Political Thought in England; The Utilitarians from Bentham to Mili, Londres-New York, 1947; J. PAMENATZ, The English Utilitarians, Londres, 1949. BENTHAM, Works, 11 vol., Edimburgo, 1938-43. Sobre Bentham, alm das obras respeitantes ao movimento utilitarista: L. A. SELBY BIGGE, British Moralists, Oxford, 1897; C. M. ATKINSON, J. B. Londres, 1905; GRAHAM WALLAS, J. B., Londres, 1922; D. BAUMGARDT, B. and the Ethics of Today, Princeton, 1952. 177 L'Analysis de James Mili foi reeditada em 1863 pelo filho de STIJART MILL - Sobre J. MilI, efr. op. cit. de LESLIE STEPHEN; A. BAIN, J. M., a Biography, Londres, 1882. 639. De Stuart MilI, o conjunto dos escritos em Bibliography of the Published Writings of
J. S. M., de N. MACMINN, J. R. HAINDS, J. Mc N. MCCRIMMON, Evaston, 1945. Sobre Stuart MilI, H. TAINE, Le positivisme anglais, Paris, 1869; LITTR, A. Comte et Stuart MilI, Paris, 1877; A. BAIN, J. S. M., Londres, 1822; CH. DOUGLAS, J. S. M., Edimburgo, 1895; E. THOUVEREZ, S. M., Paris, 1905; G. KENNEDY, The Psychological Empiricism of J. S. M., Amsterdo, 1928; M. A. HAMILTON, J. S. M., Londres, 1933; R. P. ANSCHUTZ, The Philosophy of J. S. M., Oxford, 1953; K. BRITTON, J. S. M., Londres, 1953; J. M. PACKE, The Life of J. S. M., Londres, 1953; M. J. PACKE, The Life of J. S. M., Nova lorque, 1953. 640. W. STEBBING, Analysis of Mill's Logic, 1867; T. H. GREEN, The Logic of J. S. M. in "Works", 11, Londres, 1886; G. A. TOWNEY, J. S. M. 's Theory of Inductive Logic, Cincirmati, 1909; R. JACKSON, Examination of the DeductiveLogic of J. S. M., Oxford, 1941. 641. J. WARD, Mill's Science of Ethology, in "Interna Journal of Ethics", 1, 1891. 642. JEAN RAY, La mthode de Pconom. politique d'aprs J. S. M., Paris, 1914. CH. DOUGLAS, Ethics of J. S. M., Edimburgo, 1897; G. ZUCCANTE, La morale utilitaria dello Stuart MilI, 1899. 643. W. L. COURTNEY, Metaphysics of J. S. M., Londres, 1879. 644. W. G. WARD, Essays on the Phil. of Theism, 1, Londres, 1884. 645. CATTANEO, Scritti di filosofia, 2 vol., Florena, 1892; Scritti filosofici, letterari e vari, ao cuidado de F. ALESSIO, Florena, 1957; Scrittifilosofici, ao cuidado de N. BOBBIO, 3 vol., Florena, 1960. Sobre Cattaneo: E. ZANONI, C. C. nella vita e nelle opere, Roma, 1898; B. BRUNELLO, c., Turim, 1925; DI). LEVI, li PoSitiViSMO poltico di C. C., Bari, 1929; ALLINEY, I pensatori della seconda met dei secolo XIX, Milo, 1942; L. AMBROSOLI, La formazione di C. C., Milo-Npoles, 1960; F. ALESSIO, "Cattaneo iliuminista", prefcio edio citada dos Scritti. Cf. tambm a introduo de N. BOBBIO na citada edio dos Scritti. Sobre Ferrari: L. FERRI, Essai sur Phistoire de Ia Phil. en Italie au XIX-e sicle, ii, Paris, 1869, p. 229 segs.; P. F. NICOLI, La mente di G. F., Pavia, 1902; G. GENTILE, op. cit., 1, Messina, 1917; R. MONDOLFO, Lafilosofia poltica in Italia nelsecolo XIX, Pdua, 1924; BRUNELLO, 11 pensiero di G. F., Milo, 1933; ALLINEY, op. cit. (Bibl.). . 646. Sobre Laas: DE NEGRI, La crisi delpositivismo nellafilosofia deli'immanenza, Florena, 1929. Sobre Jodi: o fasciculo do "Archiv fr Geschichte der Philosophie", 27?, 1914, que lhe dedicado. Sobre Dhring: E. Dlli, E. D., Leipzig, 1893. 178
NDICE VIII- KIERKEGAARI) ................................ 7
597. Vida e obra . ................. ............ 7 598- A existncia como possibilidade .............. 9 599. Estdios da existncia ......... . ,........... 12 600- O sentimento do possvel: a angstia ........... 16 601. O possvel como estrutura do eu: o desespero .... 19 602. A noo de "possvel" ...................... 22 603. O instante e a histria ...................... 24 604. Balano da obra Kierkegaardiana . . ........... 28 Nota bibliogrfica ...... . .................. 30 IX - MARX ........................................ 31
605. Filosofia e revoluo ....................... 31 606. Vida e obras ............................. 32 607. Antropologia ............................ 33 608. O materialismo histrico .................... 38 609. O comunismo ............................ 42 610. A alienao ............................... 47 611. A dialctica .............................. so 612. Engeis .................................. 53 Nota bibliogrfica ......................... 55 ........ 57
X - O REGRESSO ROMNTICO TRADIO. . 613. A segunda fase do romantismo: revelao e tradi-
o .................................... 57 614. O tradicionalismo francs ................... 59 615. A ideologia .............................. 62 616. Regresso ao espiritualismo tradicional (eclectismo) 64 617. Maine de Biran: o sentido intimo .............. 67 618. Biran: o sentido intimo como revelao, ........ 72 619. O regresso tradio em Itlia. GaIluppi ........ 75 620. Rosmini: o ser ideal como revelao ........... 80 621. Rosmini: a pessoa humana, o direito e o estado ... 85 622. Gioberti: vida e obra ....................... 88 623. GiQberti: a verdade como revelao e tradio .... 90 624. Gioberti: a dialctica da Mimesis e da Methexis. . . 95 625. Gioberti: as doutrinas polticas , .............. 101 626. Mazzini ....... . ......................... 104 627. Epigonos italianos do tradicionalismo espiritualista .................................... 108 628. Otradicionalismoespiritualistaem Inglaterra .... 11 1 Nota bibliogrfica ......................... X1 - O POSITIVISMO SOCIAL 1,4 ........................ 117
629. Caractersticas do positivismo ................ 117 630. A filosofia social em Frana ................. 118 631. Proudhon ............................... 123 632. Comte: vida e obra ........................ 126 633. Comte: a lei dos trs estados e a classificao das cincias .................................. 129 634. Comte: a sociologia ...... ... ............... 133 635. Comte: a teoria da cincia ................... 135 636. Comte: a divinizao da Histria ...... ........ 140 637. Discpulos imediatos de Cointe ........ . ...... 144 638. O positivismo utilitarista .................... 146 639. Stuart Mill: vida e
obras .......... . ......... 153 640. Stuart Mill: a lgica ........................ 155 641. Stuart Mill: a cincia do homem .............. 159 642. Stuart Mili: a economia poltica e a moral ....... 161 643. Stuart Mili: doutrina da substncia ............ 163 644. Stuart Mili: o derniurgo e a religio da humanidade 164 645. Positivistas italianos ....................... 166 646. O positivismo social na Alemanha ............. 172 Nota bibliogrfica ......................... Este livro foi fotocomposto por Navegrfica e acabou de se imprimir em 1985 para a EDITORIAL PRESENA, LDA. na Tipografia Nunes, Lda. - Porto 176
HISTRIA DA FILOSOFIA Dcimo primeiro volume NICOLA ABBAGNANO obra digitalizada por ngelo Miguel Abrantes. Se quiser possuir obras do mesmo tipo ou, por outro lado, tem livros que no se importa de ceder, por favor, contacte-me: ngelo Miguel Abrantes, R. das Aucenas, lote 7, Bairro Mata da Torre, 2785-291, S. Domingos de Rana. telef: 21.4442383. mvel: 91.9852117. Mail: angelo.abrantes@clix.pt Ampa8@hotmail.com. VOLUME XI EDITORIAL PRESENA
TITULO ORIGINAL STORIA DELLA FILDSOFIA Copyright by NICOLA ABBAGNANO Reservados todos os direitos para a lngua portuguesa EDITORIAL PRESENA, LDA. R. Augusto Gil, 2 clv.-E. - Lisboa XII O POSITIVISMO EVOLUCIONISTA 647. POSITIVISMO EVOLUCIONISTA: O PRESSUPOSTO ROMNTICO A outra orientao do positivismo a evolucionista. Esta orientao consiste em tomar o conceito de evoluo como o fundamento de uma teoria geral da realidade natural e como manifestao de uma realidade - sobrenatural ou metafsica - infinita e ignota. O ponto de partida desta orientao, ou seja, o conceito de evoluo, extrado da doutrina do transformismo biolgico, que foi elaborada por Lamarck e Darwin: ele apresenta-se, efectivamente, como a generalizao de tal doutrina. Mas tal generalizao condicionada pelo pressuposto romntico de que o finito a manifestao ou revelao do infinito, j que s em virtude deste pressuposto, os processos evolutivos singulares, que a cincia pode verificar fragmentariamente em alguns aspectos da natureza, se unem num processo nico, universal, contnuo e necessariamente progressivo. Sob este aspecto, o evolucionismo positivista a extenso ao mundo da natureza do conceito da histria elaborado pelo idealismo romntico. Tal como a histria na doutrina de Fichte ou de Schelling, a natureza, na teoria de Spencer, um processo de desenvolvimento necessrio, cuja lei o progresso. 648. HAMILTON E MANSEL A introduo da filosofia romntica na Inglaterra fez-se atravs da obra de Hamilton, que, com a doutrina da incognoscibilidade do absoluto, constitui tambm um precedente do positivismo de Spencer. William Hamilton (nascido em Glasgow a 8 de Maro de 1788, falecido em Edimburgo a 6 de Maio de 1856) foi uma figura notvel sobretudo pela sua vastssima erudio filosfica, que o levou a contactar directamente com a filosofia alem do romantismo. O seu primeiro escrito foi um estudo intitulado Filosofia de Cousin, aparecido na "Edinburgh Review" de 1829. Em 1836, foi nomeado professor de lgica e metafsica na Universidade de Edimburgo. As suas Lies de metafsica e de lgica, compostas no primeiro ano de ensino, foram depois repetidas por ele durante vinte anos sem qualquer alterao e publicadas postumamente por Mansel (4 vol., 1859-60). Em 1852, Hamilton publicou uma recolha de artigos com o ttulo Discusses de filosofia e literatura; e, em 1856, as Obras de Thomas Reid com notas e comentrios.
As Lies, de Lgica de Hamilton constituem um dos mais brilhantes tratados da lgica tradicional no sculo XIX. Foram to importantes as correces que fez lgica tradicional, que estas viriam a revelar-se fecundas no campo da lgica matemtica; nomeadamente, o princpio da quantificao do predicado, segundo o qual nas proposies se deve considerar a quantidade no s do sujeito mas tambm do predicado. Tal quantificao efectua-se, de facto, ou mediante o uso dos quantificadores (por exemplo, "Pedro, Joo, Jaime, etc., so todos apstolos") ou mediante modos indirectos como a limitao e a excepo ou, de uma maneira subentendida, como quando se diz: "Todos os homens so mortais", devendo entender-se: "Todos os homens so alguns mortais". As Lies de metafsica apresentam em primeiro lugar uma verso da teoria da percepo imediata prpria da escola escocesa, de que, sob certos aspectos, Hamilton um continuador. Hamilton, todavia, traz a esta teoria uma modificao importante, negando que a percepo imediata faa conhecer as coisas tais como so em si mesmas. "A teoria da percepo imediata, diz ele, no implica que ns percebamos a realidade material absolutamente e em si mesma, isto , fora da relao com os outros rgos e as nossas faculdades, pelo contrrio, o objecto total e real da percepo o objecto exterior em relao com os nossos sentidos e com a nossa faculdade cognitiva. Mas, embora relativo a ns, o objecto no representao, no uma modificao do eu. Ele o no-eu-o no-eu modificado e relativo, talvez, mas sempre no-eu" (Lectures on Metaphisics, 1, 1870, p. 129). A teoria da percepo imediata, no elimina, portanto, segundo Hamilton, o relativismo do conhecimento, o qual se baseia em trs razes: 1.o a existncia no cognoscvel absolutamente em si mesma mas s de modos especiais, 2.o estes modos s podem ser conhecidos em relao com as nossas faculdades, 3.o no podem estar em relao com as nossas faculdades seno como determinadas modificaes dessas mesmas faculdades (Ib., 1, p. 148). Decerto que nesta forma a doutrina da percepo imediata no tem o mesmo significado que a escola escocesa do senso comum lhe conferira: esta escola, de facto, entendia aquela doutrina no sentido de que os objectos so percebidos imediatamente e em si mesmos. Alm disso, entre um objecto condicionado e tornado relativo pela sua relao com as faculdades humanas e uma "ideia" no sentido de Descartes e de Berkeley a diferena puramente verbal. A relatividade do conhecimento permite a Hamilton afirmar a incognoscibilidade, e no a inconcebilidade, do Absoluto. Contra Cousin e Schelling, Hamilton afirma esta incognoscibilidade, ao passo que, de acordo com eles, defende a existncia do Absoluto, cuja realidade se revelaria na crena. "Pensar condicionar, afirma (Discussions, p. 13), e uma limitao condicional uma lei fundamental das possibilidades do pensamento. O Absoluto no concebvel seno como uma negao da possibili10
dade de ser concebido". Por outro lado, "a esfera da nossa crena muito mais extensa do que a esfera do nosso conhecimento; e, portanto quando nego que o Infinito possa ser conhecido por ns, estou bem longe de negar que ele possa e deva ser crido por ns" (Ib., II, p. 530-31). Esta superioridade da crena sobre o conhecimento vincula Hamilton escola escocesa; mas para Hamilton, a crena , romanticamente, a revelao imediata e primitiva que o prprio Infinito faz de si ao homem e que, por conseguinte, condiciona o prprio processo do conhecer. Falando da percepo da realidade externa, Hamilton reconhece que, propriamente falando, ns no sabemos se o objecto de tal percepo um no-eu, e no uma percepo do eu; s a reflexo faz crer que o seja "porque obedecemos f numa necessidade originria da nossa natureza que nos impe tal crena" (Reid's Works, p. 744-50). Ao nome de Hamilton est ligado o de Henry Longuevifie Mansel (1820-71) que foi o seu intrprete. Em dois livros, Os limites do pensamento religioso (1858) e Filosofia do condicionado (1866), Mansel construiu sobre as premissas de Hamilton uma teologia negativa. Deus como absoluto e infinito inconcebvel. Ele no pode no entanto ser concebido como causa primeira, j que a causa existe apenas em relao ao efeito e ao absoluto repugna toda a relao. Toda a tentativa de o conceber de algum modo d lugar a dilemas insolveis. "0 absoluto no pode ser concebido nem como consciente nem como inconsciente; nem como complexo nem como simples; no II pode ser definido nem mediante diferenas nem mediante a ausncia de diferenas: no pode ser identificado com o universo nem pode ser distinto dele" (Limits of Rel. Thought, p. 30). Do mesmo modo, o infinito que deveria ser concebido como todo em potncia e nada em acto revela precisamente nisto a sua impossibilidade de ser concebido, j que "se pode ser o que no , incompleto, e se todas as coisas, no tem nenhum sinal caracterstico que o possa distinguir de uma coisa qualquer" (Ib., p. 48). Esta incognoscibilidade do Infinito e do Absoluto , todavia, relativa ao homem, no pertence natureza do prprio Absoluto. "Ns somos obrigados, diz Mansel (1b., p. 45), pela prpria constituio do nosso esprito a crer na existncia de um Ser absoluto e infinito". Esta crena funda-se na nossa conscincia moral e intelectual, na estrutura e no curso da natureza e na revelao" (Phil. of the Conditioned. p. 245). Mas to-pouco estes fundamentos da crena permitem afirmar alguma coisa sobre os atributos de Deus. Subsiste uma diferena enorme entre a mais alta moralidade humana concebvel e a perfeio divina, distncia que pode ser de algum modo abolida pelo conceito escolstico de analogia. A doutrina de Hamilton e Mansel ao mesmo tempo um cepticismo da razo e um dogmatismo da f. O cepticismo da razo foi utilizado como fundamento do agnosticismo que caracterizava em boa parte o positivismo evolucionista. O dogmatismo da f iria ter a sua continuao histrica no espiritualismo ingls contemporneo. 12
649. A TEORIA DA EVOLUO Se o princpio romntico do infinito que se revela ou realiza no finito a categoria tacitamente pressuposta pela filosofia positivista da evoluo, a teoria biolgica da transformao da espcie , de facto, o seu ponto de partida. Com efeito, o evolucionismo uma generalizao desta doutrina biolgica, generalizao tacitamente fundada nesta categoria. Podem-se encontrar antecedentes imediatos da teoria do transformismo biolgico nalgumas intuies de Buffon (1707-88). O famoso autor da Histria natural (1749-88), embora declarando-se explicitamente partidrio da doutrina tradicional da fixidez das espcies vivas, admite hipoteticamente a possibilidade de que se tivessem desenvolvido a partir de um tipo comum, atravs de lentas variaes sucessivas, verificadas em todas as direces. Foi ainda em Buffon que Kant, provavelmente, se inspirou ao propor a hiptese (1790), no pargrafo 80 da Crtica do Juzo, de "um verdadeiro parentesco" das formas vivas e da sua derivao de uma "me comum", assim como a ideia de uma evoluo contnua da natureza da nebulosa primitiva at ao homem. Porm, tais hipteses eram apenas intuies genricas, no apoiadas num sistema coordenado de observaes. O primeiro a apresentar de um modo cientfico a doutrina do transformismo biolgico foi o naturalista francs Joo Baptista Lamarck (1744-1829). Na sua Filosofia zoolgica (1809) e na Histria natural dos animais sem vrtebras (1815-22), Lamarck enunciava quatro leis que deviam presidir formao dos organismos ani13 mais: 1.o a vida, pela sua prpria fora, tende continuamente a aumentar o volume de cada corpo vivo e a estender as suas partes; 2.1> a produo de um novo rgo animal resulta do aparecimento de uma nova necessidade e do novo movimento que esta necessidade suscita e encoraja; 3.o o desenvolvimento dos rgos e a sua fora de aco esto constantemente na razo directa do uso dos prprios rgos; 4.o tudo o que foi adquirido, perdido ou modificado na organizao dos indivduos conservado e transmitido mediante a gerao dos novos indivduos. Estas quatro leis so a primeira formulao cientfica do modo por que se verificaria a transformao dos organismos. Tal modo reportado substancialmente ao princpio de que o uso dos rgos, requerido pelas necessidades e, portanto, pelo ambiente exterior, pode modificar radicalmente os prprios rgos. As ideias de Lamarck no tiveram nenhuma ressonncia imediata devido sobretudo ao enorme apoio que a tese oposta da fixidez das espcies teve durante alguns decnios merc da autoridade de George Cuvier (1769-82), o fundador da paleontologia, ou seja, do estudo dos restos fsseis das espcies extintas. No seu Discurso sobre as revolues do globo (1812), Cuvier explicou a extino das espcies fossilizadas mediante catstrofes, gerais que periodicamente destruiriam as espcies vivas de cada poca geolgica, dando ensejo a que Deus criasse novas. O transformismo biolgico s pde afirmar-se quando esta teoria das catstrofes foi eliminada; e essa eliminao foi obra do gelogo ingls Charles Lye11 (1797-1875). Nos seus Princpios
de geologia 14 (1833), Lye11 exps a tese de que o estado actual da terra no devido a uma srie de cataclismos mas aco lenta, gradual e insensvel das mesmas causas que continuam a actuar sob os nossos olhos. Tal doutrina tornava impossvel explicar a gnese e a extino das espcies vivas mediante causas extraordinrias ou sobrenaturais e abria definitivamente a via ao transformismo biolgico. Este fez a sua entrada triunfal na cincia com a obra de Charles Darwin (12 de Fevereiro de 1809-19 -Abril de 1882). Sobrinho de um naturalista, chamado Erasmo, Darwin foi o tipo do cientista inteiramente dedicado s suas pesquisas. Depois de uma viagem por mar durante cinco anos, dedicou-se a recolher e a ordenar o material para a sua grande obra A origem das espcies, que apareceu em 1859. O livro teve um sucesso fulgurante e a primeira edio, de mais de 1.000 exemplares, esgotou-se no primeiro dia de venda. Seguidamente, Darwin publicou A variao dos animais e das plantas no estado domstico (1868) e Descendncia do homem (1871). O ltimo trabalho notvel de Darwin foi a Expresso das emoes no homem e nos animais (1872), a que se seguiram alguns trabalhos cientficos menores. Em 1887, o filho de Darwin, Francisco, publicou dois volumes intitulados A vida e a correspondncia de Charles Darwin, que contm tambm uma breve autobiografia do filsofo, e que so indispensveis para a compreenso da sua personalidade. O mrito de Darwin consiste em ter elaborado uma completa e sistemtica teoria cientfica do transformismo biolgico, fundando-a num nmero enorme 15 de observaes e de experincias, e em a ter apresentado precisamente no momento em que a ideia romntica do progresso, nascida no terreno da investigao histrica, alcanava a sua mxima universalidade e parecia indestrutvel. A teoria de Darwin assenta em duas ordens de factos: LO, a existncia de pequenas variaes orgnicas que se verificam nos seres vivos ao longo do curso do tempo e por influncia das condies ambientais, variaes que, em parte, pela lei das probabilidades so vantajosas aos indivduos que as apresentam: 2.O a luta pela vida, que se verifica necessariamente entre os indivduos vivos pela tendncia da cada espcie a multiplicar-se segundo uma progresso geomtrica. Este ltimo pressuposto evidentemente extrado da doutrina de Malthus ( 638). Destas duas ordens de factos se segue que os indivduos em que se manifestam mutaes orgnicas vantajosas tm mais probabilidades de sobreviver na luta pela vida; e em virtude do princpio de hereditariedade haver neles uma tendncia pronunciada para deixar em herana aos seus descendentes os caracteres acidentais adquiridos. Tal a lei da seleco natural, que "tende, diz Darwin (Origens das espcies, 4.O, 18), ao aperfeioamento de cada criatura viva em relao com as suas condies de vida orgnicas e inorgnicas, e, por conseguinte, na maior parte dos casos, com um progresso da organizao. Todavia, as formas simples inferiores podem perpetuar-se por muito tempo se forem convenientemente adaptadas s suas simples condies de vida. "A acumulao das pequenas variaes e a sua conservao por meio da hereditariedade produzem as
16 variaes dos organismos animais que, nos seus termos extremos, a passagem de uma espcie outra. O que o homem faz com as plantas e os animais domsticos produzindo gradualmente as variedades que so mais teis s suas necessidades, pode faz-lo a natureza numa escala muito mais vasta, pois "que limites se podem pr a esse poder que actua durante longas eras e perscruta rigorosamente a estrutura, a organizao inteira e os hbitos de cada criatura, para favorecer o que est bem e rejeitar o que est mal?" (1b., 14, 2). Desta teoria se segue que entre as vrias espcies devem ter existido inmeras variedades intermdias que ligavam estreitamente todas as espcies de um mesmo grupo; mas, evidentemente, a seleco natural exterminou estas formas intermdias de que, no entanto, se podem encontrar traos nos fsseis (Ib., 6.o, 2). Alm do estudo dos fsseis, o dos rgos rudimentares, das espcies chamadas aberrantes e da embriologia pode conduzir a determinar a ordem progressiva dos seres vivos. "Se ns, escreve Darwin, no possumos rvore genealgica, nem livro de oiro, nem brases hereditrios, temos, no entanto, a possibilidade de descobrir e seguir os traos das numerosas linhas divergentes das nossas genealogias naturais, mediante a herana, desde h muito conservada, dos caracteres de cada espcie" (Ib., 14.O, 5). A concluso de Darwin nitidamente optimista: cr ter estabelecido o inevitvel progresso biolgico do mesmo modo que o romantismo idealista e socialista acreditava no inevitvel progresso espiritual. "Ns podemos concluir com alguma confiana que nos ser 17 permitido contar com um futuro de durao incalculvel. E como a seleco natural actua apenas para o bem de cada indivduo, todo o dom fsico ou intelectual tender a progredir para a perfeio" (1b., 14.-, 6). A outra obra fundamental de Darwin, A descendncia do homem, tende, em primeiro lugar, a estabelecer que "no existe nenhuma diferena fundamental entre o homem e os mamferos mais elevados no que respeita s faculdades mentais". A nica diferena entre a inteligncia e a linguagem do homem e a dos outros animais uma diferena de grau que se explica pela lei da seleco natural e tambm, em parte, pela escolha sexual a que Darwin atribui, para a evoluo do homem, uma importncia bastante maior do que para a evoluo dos animais. Darwin no cr que o conhecimento da descendncia do homem de organismos inferiores diminua de algum modo a dignidade humana. "Quem visse um selvagem na sua terra natal, escreve em As origens do homem, (trad. ital., p. 579) no sentiria muita vergonha se se visse obrigado a reconhecer que o sangue de uma criatura mais humilde lhe corre nas veias. Quanto a mim, preferia muito mais ter descendido daquele herico macaco que enfrentou o seu terrvel inimigo para salvar a vida ao seu guardio ou daquele velho babuno que desceu da montanha para arrancar triunfante o seu jovem companheiro a uma furiosa matilha de ces, do que de um selvagem que se compraz em torturar os seus inimigos, oferece sacrifcios de sangue, pratica o infanticdio sem remorsos, trata as 18 suas mulheres como escravas, no conhece o que a
decncia e dominado por grosseiras supersties". Darwin, foi e quis ser exclusivamente um cientista. S raramente, e dir-se-ia contra vontade, se decidiu a exprimir as suas convices filosficas e religiosas; e sempre em privado, em cartas particulares no destinadas publicao. Contudo, estas convices, foram-lhe inspiradas pela sua doutrina da descendncia inferior do homem, descendncia que no pode autorizar uma grande f na capacidade do homem para resolver certos problemas fundamentais. "Per-unto a mim mesmo, escreve numa carta (Vida e corresp., trad. franc., p. 368), se as convices do homem, que se desenvolveu a partir do esprito de animais de ordem inferior, tm algum valor e se se pode ter alguma confiana nelas. Quem poderia confiar nas convices do esprito de um macaco, se que existem convices num esprito semelhante?" Noutra carta de 1789 (1b., p. 353-54) exprime-se assim: "Sejam quais forem as minhas convices sobre este tema, elas s podem ter importncia para MI prprio. Mas, j que mo perguntais, posso assegurar-vos que o meu juzo sofre amide flutuaes... Nas minhas maiores oscilaes, nunca cheguei ao atesmo no verdadeiro sentido da palavra, isto , nunca cheguei a negar a existncia de Deus. Eu penso que, em geral (e sobretudo medida que envelheo), a descrio mais exacta do meu estado de esprito a de agnstico". O termo agnosticismo fora criado em 1869 pelo naturalista Thomas Huxley (1825-956) que chegara, antes da publicao da Origem das espcies, a inferir por si prprio a transformao das espcies 19 biolgicas e que se tornou logo um dos mais entusiastas partidrios de Darwin. "0 termo, diz HuXley (Collected Essays, V, p. 237 e sgs.) veio-me mente como anttese de "gnstico" da histria da Igreja que pretendia saber muito sobre coisas que eu ignorava". Tal termo implica j, na mente de Huxley, uma referncia quela impossibilidade de conceber o Absoluto e o Infinito em que haviam insistido Hamilton e Mansel. Mas, para Darwin, este termo tem um sentido menos explcito, significando simplesmente a impossibilidade de encontrar no domnio da cincia quaisquer asseres que confirmem ou desmintam decisivamente as crenas religiosas tradicionais. Darwin, no entanto, supunha possvel negar decididamente qualquer "inteno" da natureza, isto , toda a causa final, e aduzia a este propsito a existncia do mal e da dor (Vida e corresp., trad. franc., 1, p. 361-62). Porm, estava convencido de que "o homem ser no futuro uma criatura bastante mais perfeita do que actualmente" (1b., p. 363); e, na realidade, as suas convices cientficas e toda a estrutura sistemtica da sua teoria da evoluo se fundam no pressuposto da ideia do progresso que dominava o clima romntico da poca. Atravs da obra de Darwin, a cincia inseriu o mundo inteiro dos organismos
vivos na histria progressiva do universo. 650. SPENCER: O INCOGNOSCVEL A poca era, pois, propcia a uma teoria do progresso que no o restringisse ao destino do homem no mundo, mas sim o estendesse ao mundo inteiro, na 20 totalidade dos seus aspectos. Elaborar a doutrina do progresso universal e pr em relevo o valor infinito e, portanto, religioso (mesmo quando s misteriosamente religioso) do progresso, tal foi o objectivo que Spencer se props ao difundir em Maro de 1860 o plano do seu Sistema de filosofia, de vastas propores. Herbert Spencer nasceu a 27 de Abril de 1820 em Derby, em Inglaterra e foi engenheiro dos caminhos de ferro em Londres. Publicou primeiramente alguns artigos de carcter poltico e econmico; em 1845, tendo recebido uma pequena herana, obedeceu sua vocao filosfica e abandonou a carreira de engenheiro para se dedicar sua actividade de escritor. De 1848 a 1853 pertenceu redaco do "Economist". O primeiro resultado da sua actividade foram os Princpios de psicologia, publicado em 1855. Em 1857, publicou um ensaio sobre o progresso (0 progresso, sua lei e sua causa), que muito significativo pela sua orientao fundamental. E em 1862 saa o primeiro volume do Sistema de filosofia sinttica projectado em 1860, Primeiros princpios que a sua obra filosfica fundamental, a que se seguiram os dois volumes dos Princpios de biologia (1864-67), e em seguida: Princpios de psicologia (2 vol., 1870-72), Princpios de sociologia (Parte 1, 1876; Instituies cerimoniais, 1879; Instituies polticas, 1882; Instituies eclesisticas, 1885), Princpios de moralidade (Parte I, As bases da tica, 1879); Parte IV, A justia, 1891-, Parte 11 e Parte 111, 1892; Parte V, 1893). A estas obras seguiram-se: A classificao das cincias (1864); A educao (1861); O estudo da 21 sociologia (1873); O homem contra o estado (1884); Os factores da evoluo orgnica (1887); Ensaios (2 vol., 1858-63); Esttica social (1892); A inadequao da seleco natural (1893); Fragmentos vrios, (1897); Factos e comentrios (1902); Autobiografia (2 vol.. 1904)-, Ensaios sobre a educao (1911). Estes ltimos dois escritos so pstumos. Spencer morreu a 8 de Dezembro de 1903 em Brigton. No artigo sobre o progresso de 1857 (recolhido mais tarde nos Ensaios) que o primeiro esboo do seu sistema, pode-se ver claramente qual a inspirao fundamental do evolucionismo de Spencer: devia este servir para justificar, mediante a sua lei e a sua causa fundamental, o progresso, entendido como facto universal e csmico. "Quer se trate, dizia Spencer, do desenvolvimento da terra, do desenvolvimento da vida sua superfcie, do desenvolvimento da sociedade, do governo, da indstria, do comrcio, da linguagem, da literatura, da cincia, da arte, sempre o
fundo de todo o progresso a mesma evoluo que vai do simples ao complexo atravs de diferenciaes sucessivas. Desde as mais antigas mutaes csmicas de que h sinais at aos ltimos resultados da civilizao, veremos que a transformao do homogneo em heterogneo a essncia mesma do progresso". No mesmo artigo considerava-se o carcter divino e, portanto, religioso da realidade velada, mais do que revelada, do progresso csmico. Este carcter o ponto de partida dos Primeiros princpios. A primeira parte desta obra intitula-se "0 incognoscvel". Tende a demonstrar a inacessibilidade da realidade ltima e absoluta, de acordo com o sen22 tido que Hamilton e Mansel deram a esta tese. Mas Spencer serve-se dela para demonstrar a possibilidade de um encontro e de uma conciliao entre a religio e a cincia. Religio e cincia, de facto, tm ambas a sua base na realidade do mistrio e no podem ser inconciliveis. Ora, a verdade ltima includa em todas as religies que "a existncia do mundo com tudo o que contm e com tudo o que o rodeia um mistrio que exige sempre ser interpretado" (First Princ., 14). Todas as religies falham ao dar esta interpretao, as diversas crenas em que se exprimem no so logicamente defensveis. Atravs do desenvolvimento da religio, o mistrio cada vez mais reconhecido como tal de modo que cumpre reconhecer a essncia da religio na convico de que a fora que se manifesta no universo completamente imperscrutvel. Por outro lado, tambm a cincia esbarra no mistrio que envolve a natureza ltima da realidade cujas manifestaes estuda. O que seja o tempo e o espao, a matria e a fora, o que a durao da conscincia finita ou infinita -e o que o sujeito do pensamento, so para a cincia enigmas impenetrveis. As ideias cientficas ltimas so todas representativas de realidades que no podem ser compreendidas. Isto deve-se ao facto de o nosso conhecimento, como Hamilton e Mansel puseram a claro, estar encerrado dentro dos limites do relativo. Decerto, por meio da cincia, o conhecimento progride e se estende incessantemente. Mas tal progresso consiste em incluir verdades gerais; e verdades gerais noutras mais gerais ainda de maneira que se segue daqui que a verdade mais geral, que 23 no admite incluses numa verdade ulterior, no compreensvel e est destinada a permanecer como mistrio (Ib., 123). Spencer admite, pois, integralmente, a tese de Hamilton e Mansel, segundo a qual o absoluto, o incondicionado, o infinito (ou como se queira chamar ao princpio supremo da realidade) inconcebvel para o homem, dada a relatividade constitutiva do seu conhecimento. Contudo, no se detm no conhecimento do absoluto, tal como tinha sido defendido por aqueles pensadores que haviam tomado como nica definio possvel do mesmo a sua prpria incognoscibilidade. Dado que o relativo no tal, observa Spencer,
seno em relao ao absoluto, o prprio relativo impensvel se impensvel a sua relao com o no relativo. "Sendo a nossa conscincia do incondicionado, em rigor, a conscincia incondicionada ou o material em bruto do pensamento, ao qual, pelo pensar damos formas definitivas, segue-se que o sentido sempre presente da existncia real a verdadeira base da nossa inteligncia" (First Princ., 26). Cumpre, pois, conceber o absoluto como a fora misteriosa que se manifesta em todos os fenmenos naturais e cuja aco sentida positivamente pelo homem. No possvel, todavia, definir ou conhecer ulteriormente tal fora. A tarefa da religio ser a de advertir o homem do mistrio da causa ltima, ao passo que o escopo da cincia ser o de estender incessantemente o conhecimento dos fenmenos. Religio e cincia so assim necessariamente correlativas. O reconhecimento da fora imperscrutvel o limite comum que as concilia e as toma solidrias. A cincia chega inevitavelmente. a 24 SPENCER este limite ao atingir os seus prprios limites, e bem assim a religio na medida em que irresistivelmente orientada pela crtica. O homem tentou sempre, e continuar a tentar, construir smbolos que lhe representam a fora desconhecida do universo. Mas continuamente e sempre se dar conta da inadequao de tais smbolos. De sorte que os seus contnuos esforos e os seus contnuos reveses podem servir para lhe dar o devido sentido da diferena incomensurvel que existe entre o condicionado e o incondicionado e encaminh-lo para a mais alta forma da sabedoria: o reconhecimento do incognoscvel como tal. O facto de a cincia estar confinada ao fenmeno no significa para Spencer que ela esteja confinada na aparncia. O fenmeno no a aparncia: antes a manifestao do incognoscvel. E a primeira manifestao do incognoscvel o agrupar-se dos prprios fenmenos em dois grupos principais que constituem respectivamente o eu e o no-eu, o sujeito e o objecto. Estes dois grupos formam-se espontaneamente merc da afinidade e da desigualdade dos prprios fenmenos. O eu e o no-eu so fenmenos, realidades relativas; mas o seu carcter persistente permite relacion-las de algum modo com o incognoscvel. Spencer admite o princpio de que "as impresses persistentes, sendo os resultados persistentes numa causa persistente, so praticamente idnticos para ns causa mesma e podem ser habitualmente tratados como seus equivalentes" (1b., 46). Em virtude deste princpio, o espao, o tempo, a matria, o movimento, a fora, noes estas persistentes e imu25 tveis, devem ser consideradas de certo modo como produtos do prprio incognoscvel. No so decerto idnticas ao incognoscvel, nem so modos dele: so "efeitos condicionados da causa incondicionada". Todavia, correspondem a um modo de ser ou de a-ir desconhecido por ns, desta causa; e neste sentido so reais. Spencer chama realismo transfigurado a
esta correspondncia hipottica entre o incognoscvel e o seu fenmeno. "0 nmeno e o fenmeno so aqui apresentados na sua relao primordial como os dois aspectos da mesma mutao, de que somos obrigados a considerar no s o primeiro como o segundo" (1b., 50). 651. SPENCER: A TEORIA DA EVOLUO Entre a religio, a que cabe o reconhecimento do incognoscvel, e a cincia, a que cabe todo o domnio do cognoscvel, que lugar tem a filosofia? Spencer definiu-a como o conhecimento no seu mais alto grau de generalidade (First Princ., 37). A cincia conhecimento parcialmente unificado; a filosofia, conhecimento completamente unificado. As verdades da filosofia so em relao s verdades cientficas mais altas o que estas so em relao s verdades cientficas mais baixas, de modo que as generalizaes da filosofia compreendem e consolidam as mais vastas generalizaes da cincia. A filosofia o produto final desse processo que comea com a recolha de observaes isoladas e termina com as proposies univer26 sais. Por isso, deve tomar como material prprio e ponto de partida os princpios mais vastos e mais gerais a que a cincia chegou. Tais princpios so: a indestrutibilidade da matria, a continuidade do movimento, a persistncia da fora-com todas as suas consequncias entre as quais se encontra a lei do ritmo, ou seja, da alternncia de elevao e queda no desenvolvimento de todos os fenmenos. A frmula sinttica que estes princpios gerais requerem uma lei que implica a contnua redistribuio da matria e da fora. Tal , segundo Spencer, a lei da evoluo, que significa que a matria passa de um estado de disperso a um estado de integrao (ou concentrao), enquanto a fora que operou a concentrao se dissipa. A filosofia , portanto, essencialmente uma teoria da evoluo. Os Primeiros princpios definem a natureza e os caracteres gerais da evoluo: as outras obras de Spencer estudam o processo evolutivo nos diversos domnios da realidade natural. A primeira determinao da evoluo que ela uma passagem de uma forma menos coerente a uma forma mais coerente. O sistema solar (que saiu de uma nebulosa), um organismo animal, uma nao, mostrando, no seu desenvolvimento, esta passagem de um estado de desagregao a um estado de coerncia e de harmonia crescentes. Mas a determinao fundamental do processo evolutivo o que o caracteriza como passagem do homogneo ao heterogneo. Esta caracterizao sugerida a Spencer pelos fenmenos biolgicos. Todo o organismo, planta ou animal, se desenvolve atravs 27 cia diferenciao das suas partes, que a princpio so, qumica ou biologicamente, indistintas, e logo se diferenciam para formar tecidos e rgos diversos. Spencer cr que este processo prprio de todo o desenvolvimento, em qualquer campo da realidade: na
linguagem, primeiro constituda por simples exclamaes e sons inarticulados e que logo se diferenciam em palavras diversas como na arte, que, a partir dos povos primitivos, cada vez mais se vai dividindo nos seus ramos (arquitectura, pintura, escultura, artes plsticas) e direces. Finalmente, a evoluo implica tambm urna passagem do indefinido ao definido: indefinida , por exemplo, a condio de uma tribo selvagem em que no existe especificao de tarefas e de funes; definida a de um povo civilizado, assente na diviso do trabalho e das classes sociais. Spencer usa, pois, esta frmula definitiva da evoluo (First Princ., 145): "A evoluo uma integrao de matria e uma concomitante dissipao do movimento, durante a qual a matria passa de uma homogeneidade indefinida e incoerente a uma heterogeneidade definida e coerente; e durante a qual o movimento conservado sofre uma transformao paralela". A evoluo um processo necessrio. A homogeneidade, que o seu ponto de partida, um estado instvel que no pode durar e deve passar ao estado de heterogeneidade para alcanar o equilbrio. Por isso, a evoluo deve comear; uma vez comeada, deve continuar porque as partes que permanecem homogneas tendem, por seu turno, para a sua instabilidade, para a heterogeneidade. O sentido deste processo necessrio e contnuo optimista. Spencer ad28 mite que, na lei do ritmo, a evoluo e a dissoluo, onde quer que se verifique, a premissa de uma evoluo ulterior. Pelo que respeita ao homem, a evoluo deve determinar uma crescente harmonia entre a sua natureza espiritual e as condies de vida. "E esta , diz Spencer (1b., 176), a garantia para crer que a evoluo s pode terminar com o estabelecimento da maior perfeio e da mais completa felicidade". Spencer nega que a sua doutrina possa ter um significado materialista ou espiritualista e considera a disputa entre estas duas orientaes como uma mera guerra de palavras. Quem esteja convencido de que o ltimo mistrio h-de permanecer sempre, est disposto a formular todos os fenmenos, seja em termos de matria, movimento e fora, seja noutros termos, mas sustentar firmemente que s numa doutrina que reconhea a causa desconhecida como coextensiva a todas as ordens dos fenmenos, pode haver uma religio coerente e uma coerente filosofia. Ver que a relao de sujeito e objecto torna necessrias as concepes antitticas de esprito e matria; mas considerar uma e outra como sinais da realidade desconhecida subjacente a ambas (Ib., 194). 652. SPENCER: BIOLOGIA E PSICOLOGIA As obras de Spencer dedicadas biologia, psicologia, sociologia e tica constituem a aplicao do princpio evolutivo ao campo destas cincias. 29
A biologia , para Spencer, o estudo da evoluo dos fenmenos orgnicos e da sua causa. A vida consiste na combinao de fenmenos diversos, contemporneos e sucessivos, a qual se encontra em correspondncia com mutaes simultneas ou sucessivas do ambiente exterior. Eis porque consiste essencialmente na funo da adaptao; e precisamente atravs desta funo que se formam e se diferenciam os rgos, a fim de corresponderem cada vez melhor s solicitaes do exterior. Spencer atribui assim o primeiro lugar, na transformao dos organismos vivos, ao princpio lamarckiano da funo que cria o rgo; reconhece, porm, a aco do princpio darwiniano da seleco natural (a que ele chama "sobrevivncia, do mais apto"), que, todavia, no pode actuar seno atravs da adaptao ao ambiente e, portanto, do desenvolvimento funcional dos rgos. Insiste, sobretudo, na conservao e na acumulao das mudanas orgnicas individuais por obra da hereditariedade; e concebe o progresso da vida orgnica como adaptao crescente dos organismos ao ambiente por acumulao das variaes funcionais que respondem melhor aos requisitos ambientais. A conscincia um estdio desta adaptao; e, mais, a sua fase decisiva. Spencer no admite a reduo integral da conscincia s impresses ou s ideias, segundo a doutrina tradicional do empirismo ingls. A conscincia pressupe uma unidade, uma fora originria; por conseguinte, uma substncia espiritual que seja a sede desta fora. Mas, tal como se verifica na substncia e na fora material, tambm a substncia e a fora espiritual so, na sua natureza 30 ltima, incognoscveis; e a psicologia deve limitar-se a estudar as suas manifestaes. Todavia, possvel uma psicologia como cincia autnoma; e Spencer afasta-se da tese de Comte, que a negara. H uma psicologia objectiva que estuda os fenmenos psquicos no seu substracto material; e h uma psicologia subjectiva, fundada na introspeco que " constitui uma cincia completamente parte, nica no seu gnero, independente de todas as outras cincias e C1,1 antiteticamente oposta a cada uma delas" (Princ. of Psych. 56). S a psicologia subjectiva pode servir de apoio lgica, isto , pode contribuir para determinar o desenvolvimento evolutivo dos processos do pensamento. Tal desenvolvimento explica-se, contudo, como qualquer outro desenvolvimento; um processo de adaptao gradual que vai da aco reflexa, que a primeira fase do psquico, atravs do instinto e da memria, at razo. No que respeita a esta ltima, Spencer admite que existem noes ou verdades priori no sentido de serem independentes da experincia pontual e temporal do indivduo; e nesse sentido reconhece a parcial legitimidade das doutrinas "apriorsticas", como as de Leibniz e Kant. Mas o que neste sentido priori para o indivduo, no o para a espcie humana, dado que resulta da experincia acumulada pela
espcie atravs de um longussimo perodo de desenvolvimento, e que se fixou e tomou hereditria na estrutura orgnica do sistema nervoso (1b., 426-33). evidente que aqui o a priori entendido no sentido da uniformidade e da constncia de certos procediinentos intelectuais, no no sentido da validez. 31 No se poderia, de facto, excluir a possibilidade de que as experincias acumuladas fixadas pela sucesso das geraes contenham, alm de verdades, erros, prejuzos e distores. Mas uma possibilidade deste gnero tacitamente excluda por Spencer devido ao significado optimista ou exaltante que o processo evolutivo reveste para ele em todos os campos. Uma evoluo intelectual , como tal, aquisio e incremento de verdade; mais ainda, a prpria verdade em progresso atravs da sucesso das geraes. 653. SPENCER: SOCIOLOGIA E TICA Embora utilizando alguns resultados da sociologia de Comte e aceitando o nome da cincia que Comte inventara, Spencer modifica radicalmente o conceito desta. Com efeito, para Comte, a sociologia a disciplina que, descobrindo as leis dos factos sociais, permite prevlos e orient-los, o fim da sociologia a sociocracia, a fase da sociedade em que o positivismo se tornar regime. Para Spencer, ao invs, a sociologia deve limitar-se a uma tarefa puramente descritiva do desenvolvimento da sociedade humana at ao ponto a que chegou hoje. certo que pode determinar as condies a que o desenvolvimento ulterior dever satisfazer; mas no as metas e os ideais a que ele tende. Determinar as metas, isto , estabelecer qual deve ser o homem ideal numa sociedade ideal, o objectivo da moral. A sociologia e a moral, que eram uma s coisa na obra de Comte, so assim distinguidas claramente por Spencer. 32 A sociologia determina as leis da evoluo super-orgnica e considera a prpria sociedade humana como um organismo, cujos elementos so, primeiro, as famlias, e depois os indivduos singulares. O organismo social distingue-se do organismo animal pelo facto de a conscincia pertencer apenas aos elementos que a compem. A sociedade no tem um sensrio como o animal: vive e sente s nos indivduos que a compem. A sociologia de Spencer est nitidamente orientada para o individualismo e, por conseguinte, para a defesa de todas as liberdades individuais, em contraste com a sociologia de Comte e, em geral, com a orientao social do positivismo. Um dos temas principais, tanto dos Princpios de sociologia, como das outras obras complementares (0 homem contra o estado, 1884-, Estatstica social, 1892), tema que domina de ponta a ponta a sociologia de Spencer, o princpio de que o desenvolvimento social deve ser abandonado fora espontnea que o dirige e o impulsiona para o progresso e que a interveno do estado nos factos sociais no faz seno perturbar e obstar esse desenvolvimento. objeco de que o estado deve fazer alguma coisa para extinguir ou diminuir a misria ou a injustia social, Spencer responde que o estado no o nico
agente que pode eliminar os males sociais, que existem outros agentes, os quais, deixados em liberdade, podem conseguir melhor esse objectivo. Ademais, nem todos os sofrimentos devem ser evitados, j que muitos so curativos, e elimin-los significa eliminar o remdio. Alm disso, quimrico supor que todos os males podem ser debelados; existem defeitos da natureza 33 humana que, se se lhes aplicar um pretenso remdio, voltam a surgir noutro ponto e se tomam ainda mais graves (Social Statics, ed. 1892). O homem contra o estado visa a combater "o grande preconceito da poca presente": o direito divino do Parlamento, que substituiu o grande preconceito da poca passada: o direito divino da monarquia. Um verdadeiro liberalismo deve negar a autoridade ilimitada do Parlamento, como o velho liberalismo negou o ilimitado poder do monarca (Man versus the State, ed. 1892, p. 292, 369). De resto, a crena na omnipotncia do governo gera as revolues que pretendem obter pela fora do estado toda a espcie de coisas impossveis. A ideia exorbitante do que o estado pode fazer, por um lado, e os insignificantes resultados a que o estado chega, geram sentimentos extremamente hostis ordem social (Social Statics, p. 131). O conceito de um desenvolvimento social lento, gradual e inevitvel, torna Spencer extremamente alheio s ideias de reforma social que haviam sido acariciadas pelo positivismo social, incluindo nestes os utilitaristas e Stuart Mill. "Da mesma maneira que no se pode abreviar a vida entre a infncia e a maturidade, evitando aquele montono processo de crescimento e de desenvolvimento que se opera insensivelmente com leves incrementos, tambm no possvel que as formas sociais inferiores se tornem mais elevadas, sem atravessarem pequenas modificaes sucessivas" (The Study of Soc., 16, Concl.). O processo da evoluo social de tal modo predeterminado que nenhum ensino ou disciplina pode fazer com que ultrapassem aquele limite de velocidade 34 que lhes imposto pela modificao dos seres humanos. Antes que se possam verificar nas instituies humanas transformaes duradouras, que constituam uma verdadeira herana da raa, necessrio que se repitam at ao infinito nos indivduos os sentimentos, os pensamentos e as aces que so o seu fundamento. Por isso, toda a tentativa de forar as etapas da evoluo histrica, todos os sonhos de visionrios ou de utopistas tm como nico resultado retardar ou subverter o processo natural da evoluo social. Isto no implica, segundo Spencer, que o indivduo deva passivamente abandonar-se ao curso natural dos eventos. O prprio desenvolvimento social determinou a passagem de uma fase de cooperao humana constritiva e imposta a uma fase de cooperao mais livre e espontnea. esta a passagem do regime militar caracterizado pela prevalncia do poder estatal sobre os indivduos, aos quais impe tarefas e funes, ao regime industrial, que fundado, pelo contrrio, na actividade independente dos indivduos, a quem leva a reforar as suas exigncias e a respeitar as exigncias dos outros, fortalecendo a conscincia dos direitos pessoais e decidindo-os a resistirem ao excesso do controlo estatal. Contudo, Spencer no julga definitivo o regime industrial (no qual, alis, a sociedade
actual ainda agora entrou). possvel antever-se a possibilidade de um terceiro tipo social, o qual, embora sendo fundado, como o industrial, na livre cooperao dos indivduos, imponha mbeis altrustas em vez dos egostas, que regem o regime industrial; ou, melhor ainda, concilie o al35 trusmo com o egosmo. Tal possibilidade porm, no pode ser prevista pela sociologia, mas unicamente pela tica. A tica de Spencer , substancialmente, uma tica biolgica, que tem por objecto a conduta do homem, isto , a adaptao progressiva do homem mesmo s suas condies de vida. Tal adaptao implica no s um prolongamento da vida mas a sua maior intensidade e riqueza. Entre a vida de um selvagem e a de um homem civilizado no existe s uma diferena de durao, mas tambm de extenso: a do homem civilizado implica a consecuo de fins muito mais variados e ricos, que a tornam mais intensa e extensa. Esta crescente intensidade aquilo que se deve entender por felicidade. Dado que bom todo o acto adequado ao seu fim, a vida que se apresenta, em conjunto, mais bem adaptada s suas condies tambm a vida mais feliz e agradvel. Por conseguinte, o bem identificase com o prazer; e a moral hedonstica ou utilitarista , sob um certo aspecto, a nica possvel. Spencer, contudo, no admite o utilitarismo na forma que ele assumira na obra de Bentham e dos dois Mill. O mbil declarado e consciente da aco moral do homem no nem pode ser a utilidade. A evoluo social, acumulando com a sua herana um nmero enorme de experincias morais que permanecem inscritas na estrutura orgnica do indivduo, fornece ao prprio indivduo um a priori moral, que o para ele embora o no seja para a espcie. Deve admitir-se que o homem individual age por dever, por um sentimento de obrigao moral; mas a tica evolutiva d conta do nascimento deste 36 sentimento, mostrando como ele nasce das experincias repetidas e acumuladas atravs da sucesso de inmeras geraes. Estas experincias produziram a conscincia de que o deixar-se guiar por sentimentos que se referem a resultados longnquos e gerais , habitualmente, mais til para se alcanar o bem-estar do que deixarse guiar por sentimentos que devem ser imediatamente satisfeitos, e transformaram a aco externa poltica, religiosa e social, num sentimento de coaco puramente interior e autnomo. Mas esta reflexo sobre a evoluo demonstra tambm que o sentido do dever e da educao moral transitrio e tende a diminuir com o aumento da moral. Ainda hoje acontece que o trabalho que deve ser imposto ao rapaz como uma obrigao se resolve numa manifestao espontnea do homem de negcios submerso nos seus assuntos. Assim, a manuteno e a proteco da mulher por parte do marido, a educao dos filhos por parte dos pais, no tm, o mais das vezes, nenhum elemento coactivo, mas so deveres que se cumprem com perfeita espontaneidade e prazer. Spencer prev, por isso, que "com a completa adaptao ao estado social, aquele elemento da conscincia moral que expresso
pela palavra obrigao, desaparea de todo, As aces mais elevadas, requeridas pelo desenvolvimento harmnico da vida, sero factos to comuns como o so agora as aces inferiores a que nos impele o simples desejo" (Data of Ethics, 46). Esta fase final da evoluo moral no implica a prevalncia absoluta do altrusmo a expensas do egosmo. A anttese entre egosmo e altrusmo natural na situao presente, que se ca37 racteriza pela prevalncia indevida das tendncias egostas e na qual, por isso, o altrusmo assume a forma de um sacrifcio destas tendncias. Mas a evoluo moral, fazendo coincidir cada vez mais a satisfao do indivduo com o bem-estar e a felicidade dos outros ( e nisto que consiste a simpatia), provocar o acordo final do altrusmo com o egosmo. "0 altrusmo que dever surgir no futuro, diz Spencer, no um altrusmo que esteja em oposio ao egosmo, mas vir, por fim, a coincidir com este em grande parte da vida, e exaltar as satisfaes que so egostas por constiturem prazeres frudos pelo indivduo, embora sejam altrustas pela origem de tais prazeres" (Data of Ethics, App.). 654. DESENVOLVIMENTO DO POSITIVISMO O positivismo de Comte e de Spencer determinou rapidamente a formao de um clima cultural que deu os seus frutos fora do campo da filosofia, na crtica histrica e literria, no teatro e na literatura narrativa. Em Inglaterra, o positivismo seguiu (salvo algumas excepes, 638 sgs.) a orientao evolucionista. Os seguidores de Spencer foram, nos ltimos decnios do sculo XIX, numerosos, e numerosssimas as obras que defenderam, difundiram e expuseram, em todos os aspectos positivos e polmicos, os pontos fundamentais do positivismo. Trata-se, porm, de uma produo mais divulgadora do que filosfica, dado que nela os elementos de investigao original so mnimos e raramente apresentam novos 38 problemas ou novas abordagens dos mesmos problemas. J nos referimos a Toms Huxley (1825-95), que foi o inventor do termo agnosticismo (0 lugar do homem na natureza, 1864; Sermes laicos, 1870; Crticas e orientaes, 1873-, Orientaes americanas, 1877; Hume, 1879; Cincia e cultura, 1881; Ensaios, 1892; Evoluo e tica, 1893; Ensaios recolhidos, 9 vol., 1893-1894; etc.). Nas obras de Huxley no se encontra o carcter religioso e romntico da especulao de Spencer. Matria e fora no so para ele manifestaes de um incognoscvel divino, mas apenas nomes diversos para determinar estados de conscincia; nem to-pouco corresponde lei natural uma realidade transcendente qualquer, porque apenas uma regra comprovada pela experincia e que se supe o seja no futuro. Explicam-se deste ponto de vista as simpatias de Huxley por Hume, ao qual dedicou uma monografia, reprovando-o contudo por no ter reconhecido, juntamente com as impresses e as
ideias, uma terceira ordem de impresses: "as impresses de relaes" ou "impresses de impresses", que correspondem ao nexo de semelhana entre as prprias impresses. William Clifford (1845-79) procurou elaborar uma doutrina da coisa em si do ponto de vista do evolucionismo (Lies e ensaios, 1879). O objecto fenomnico um grupo de sensaes que so mutaes na minha conscincia. As sensaes de um outro ser no podem, porm, tornar-se objectos da minha conscincia: so expulses (ejections), que consideramos como objectos possveis de outras conscincias e que nos do a convico da existncia da realidade exte39 rior. A teoria da evoluo, mostrando-nos uma ininterrupta srie de desenvolvimentos, desde os elementos inorgnicos aos mais altos produtos espirituais, torna verosmil admitir que todo o movimento da matria seja acompanhado por um acto expulsivo que pode constituir o objecto de uma conscincia. E dado que estes actos expulsivos no so outra coisa seno as prprias sensaes, a sensao a verdadeira coisa em si, o ser absoluto, que no exige relaes com nenhum outro, e nem sequer com a conscincia. Ela o tomo psquico, cujas combinaes constituem as conscincias mesmas. O pensamento no mais do que a imagem inadequada deste mundo de tomos originrios. A estas estranhas especulaes de Clifford se encontra ligado G. S. Romanes (1848-94), autor de Um cndido exame do tesmo (1878), que conclui negativamente acerca da possibilidade de conciliar o tesmo com o evolucionismo, e de outros escritos (Esprito, movimento e monismo, 1895; Pensamentos sobre a religio, 1896), nos quais se inclina para o monismo materialista de Haeckel. Outros pensadores desenvolveram o positivismo evolucionista em Inglaterra no campo da antropologia e da psicologia, como Francis Galton (1822-1911) e como Grant Allen. (184899), que estudou sobretudo a psicologia e a filosofia dos sentimentos estticos e foi tambm autor de uma obra intitulada a Evoluo da ideia de Deus (1879), que uma crtica do tesmo. Outros desenvolveram o evolucionismo no terreno das anlises morais, como Leslie e Stephen (1832-1904), autor de uma obra intitulada Cincia da tica (1882), assim como de meritrios estudos hist40 ricos sobre a filosofia inglesa do sculo XVIII e dos princpios do sculo XIX; e como Eduardo Westermarck, autor de uma vasta obra, Origem e desenvolvimento das ideias morais (1906-08). Exerceu uma influncia notabilissiraa sobre as investigaes psicolgicas do sculo XIX a obra de Alexandre Bain (1818-1903), que foi um rigoroso defensor do associacionismo psicolgico e admitiu, justamente com a associao por contiguidade e semelhana, uma terceira forma de associao, a "construtiva", que actuar na fantasia e na investigao cientfica. O sentido e o entendimento (1855), As emoes e a vontade (1859) so as principais obras psicolgicas de Bain, que se ocupou tambm de lgica, de tica e de educao (Cincia mental e cincia moral, 1868; Lgica, 1870; Esprito e corpo, 1873; A educao como cincia, 1878).
655. CLUDIO BERNARD No clima do positivismo, de que no entanto no partilhava todas as teses, se inscreve a obra do fisilogo francs Cludio Bernard (1813-78), autor de um dos mais importantes escritos oitocentistas de metodologia da cincia, a Introduo medicina experimental (1865). A filosofia e a cincia, segundo Bernard, devem unir-se, sem que uma pretenda dominar a outra. "A sua separao - afirma - seria nociva aos progressos do conhecimento humano. A filosofia que tende incessantemente a elevar-se, faz remontar a cincia causa ou origem das coisas. Mostra que fora da cincia 41 existem questes que atormentam a humanidade e que a cincia ainda no resolveu" (Intr. Ptude de Ia mdecine exprimentale, 111, IV, 4). Se o liame entre a filosofia e a cincia se rompe, a filosofia perde-se nas nuvens, e a cincia, ficando sem direco, pra ou procede ao acaso. Nesta relao, todavia, a cincia deve ter a liberdade de proceder segundo o seu mtodo e deve, sobretudo, evitar fixar em sistemas ou doutrinas as suas hipteses directivas. A cincia no tem necessidade de sistemas ou doutrinas, ruas sim de hipteses que possam ser submetidas verificao. " O mtodo experimental, enquanto mtodo cientfico, baseia-se inteiramente na verificao experimental de uma hiptese cientfica. Esta verificao pode obter-se tanto por meio de uma nova observao (cincia de observao) como por meio de uma experincia (cincia experimental). No mtodo experimental, a hiptese uma ideia cientfica que se tem de submeter experincia . A inveno cientfica reside na criao de uma hiptese feliz e fecunda, que dada pelo sentimento ou pelo gnio do cientista que a criou" (Ib., 11, IV, 4).O axioma fundamental do mtodo experimental o determinismo, isto , a concatenao necessria entre um facto e as suas condies. "Perante qualquer fenmeno dado, um experimentador no poder admitir nenhuma variao na expresso deste fenmeno sem admitir que ao mesmo tempo tenham sobrevindo condies novas, na sua manifestao; alm disso, ter a certeza a priori de que estas variaes so determinadas por relaes rigorosas e matemticas" (Ib., 1, 11, 7). Bernard distingue o determinismo como axioma experimental 42 do fatalismo como doutrina filosfica. "Demos o nome de determinismo causa prxima ou determinante dos fenmenos. No operamos
nunca sobre a essncia dos fenmenos da natureza mas apenas sobre o seu determinismo e pelo prprio facto de operarmos sobre ele, o determinismo difere do fatalismo sobre o qual no se poderia actuar. O fatalismo supe a manifestao necessria de um fenmeno independente das suas condies, ao passo que o determinismo a condio necessria de um fenmeno cuja manifestao no forada" (1b., 111, IV, 4). Trata-se, diremos ns, de um "determinismo metodolgico": do ponto de vista do qual, observa Bernard, "no h nem espiritualismo, nem matria bruta, nem matria viva; existem s fenmenos de que necessrio determinar as condies, isto , as circunstncias que constituem a causa prxima dos mesmos" (1b., HI, IV, 4). Deste ponto de vista, Cludio Bernard recusa-se a operar a reduo (to cara ao materialismo do seu tempo) dos fenmenos vitais aos fenmenos fsico-qumicos. Os fenmenos vitais podem ter, sem dvida, caracteres prprios e leis prprias, irredutveis aos da matria bruta. No obstante, o mtodo de que a biologia dispe o mtodo experimental das cincias fsico-qumicas. A unidade do mtodo no implica a reduo destes fenmenos s leis que os regem Qb., 11, 1, 6). Mais especificamente, os organismos vivos, embora podendo ser considerados como "mquinas", manifestam com respeito s mquinas no vivas um maior grau de independncia em relao s condies ambientais que lhes permitem o funcio43 namento. Aperfeioando-se, tomam-se pouco a pouco mais "livres" do ambiente csmico geral no sentido de que j no esto merc deste ambiente. O determinismo interno, todavia, no desaparece nunca, antes se torna tanto mais rigoroso quanto mais o organismo tende a subtrair-se ao determinismo do ambiente externo" (1b., 11, 1, 108). As ideias de Cludio Bernard conservam ainda hoje, nas linhas gerais que aqui lembramos, um equilbrio que as torna apreciveis, no apenas como fase histrica importante no desenvolvimento da metodologia das cincias, mas tambm como uma indicao ainda vlida para os desenvolvimentos das cincias biolgicas. Bernard partilha com o positivismo a averso metafsica e a f nas possibilidades da cincia: no partilha, porm, as tendncias reducionistas; recusa-se a reduzir a filosofia cincia, como se recusa a reduzir o esprito matria ou a vida aos fenmenos fsico-qumicos. As teses reducionistas do positivismo foram difundidas em Frana por Taine e Renan. 656. TAINE E RENAN Hiplito Taine (1828-93), j no seu Ensaio sobre as fbulas de La Fontaine (1853), exprimia nestes termos o seu conceito do homem: "Pode-se considerar o homem como um animal de espcie superior que produz filosofias e poemas, pouco mais ou menos como os bichos de seda fazem os seus casulos e as abelhas os seus alvolos". Em Os filsofos fran44 ceses do sculo XIX (1857), Taine condenava em bloco o movimento espiritualista e via o progresso da cincia na anlise dos factos positivos e na explicao de um facto pelo outro. Um passo da introduo da Histria da literatura inglesa (1836) tornou-se famoso como expresso caracterstica do mtodo que Taine pretende aplicar crtica literria e histria como aos problemas da filosofia. "0 vcio e a virtude, - escreve ele - so produtos corno o
cido sulfrico e o acar, e todo o dado complexo nasce do encontro de outros dados mais simples de que depende". Por consequncia, Taine cr que a raa, o ambiente exterior e as condies particulares do momento determinam necessariamente todos os produtos e os valores humanos, e bastam para os explicar. A Filosofia da arte (1856) obedece ao princpio de que a obra de arte o produto necessrio do conjunto das circunstncias que a condicionam e que, consequentemente, se pode extrair destas no s a lei que regula o desenvolvimento das formas gerais da imaginao humana, mas tambm a que explica as variaes do estilo, as diferenas das escolhas nacionais e at os caracteres originais das obras individuais. A obra Sobre a inteligncia (1870) talvez a mais rigorosa, e decerto a mais genial tentativa de reduzir toda a vida espiritual a um mecanismo sujeito a leis em tudo semelhantes, pela sua necessidade rigorosa, s naturais. Taine afirma que " preciso pr de lado as palavras razo, inteligncia, vontade, poder pessoal e, at o termo eu; como tambm se devem pr de parte as palavras fora vital, fora curativa, alma vegetativa. Trata-se de metforas literrias, cmodas, 45 quando muito, como expresses abreviativas e sumrias para exprimir estados gerais e efeitos de conjunto" . A observao psicolgica no descobre outra coisa mais do que sensaes e imagens de diversas espcies, primrias ou consecutivas, dotadas de certas tendncias e modificadas no seu desenvolvimento pelo concurso ou pelo antagonismo de outras imagens simultneas ou contguas (De Vnte11--- 1903, 1, p. 124). Por outros termos, toda a vida psquica se reduz ao movimento, ao choque, ao contraste e ao equilbrio das imagens, que, por seu turno, derivam totalmente das sensaes. "Chegados sensao, estamos no limite do mundo moral; daqui ao mundo fsico h um abismo, um mar profundo que nos impede de praticar as nossas sondagens ordinrias" (1b., p. 242). Mundo fsico e mundo psquico so duas faces da mesma realidade, uma das quais acessvel conscincia, a outra aos sentidos. Mas, ao passo que o ponto de vista da conscincia o imediato e directo, a percepo externa indirecta. "No nos informa dos caracteres prprios do objecto; informa-nos somente de uma certa classe dos seus efeitos. O objecto no nos mostrado directamente mas -nos indicado indirectamente pelo grupo de sensaes que ele desperta ou despertaria em ns" (1b., 1, p. 330). Taine apoia-se, neste ponto, na autoridade de Stuart Mill: mas acha possvel, contra Stuart Mill, "restituir aos corpos a sua existncia efectiva", reduzindo o testemunho da conscincia e a percepo sensvel externa (que so as nicas duas maneiras de conhecer) a um mnimo de determinao comum que seria a sua comum objectividade e, portanto, o seu objecto real. 46 Neste caso, sensao e conscincia reduzem-se ao movimento (porque o movimento a mnima objectividade comum que elas possuem), e podem, por isso, ser consideradas como duas tradues do texto originrio da natureza (Ib., 11, p. 117, n. 1). quanto aos
conceitos, so, para Taine, simplesmente "sons significativos", produzidos originariamente pelos objectos e empregados depois, independentemente deles, por razes de semelhanas ou analogias. O conhecimento racional constitudo por juzos gerais que so cpias de signos ou sons deste gnero. Assim como os ltimos elementos de uma catedral so rgos de areia ou de silex aglutinados em pedras e formas diversas, assim tambm os ltimos elementos do conhecimento humano se reduzem a sensaes infinitesimais, todas iguais, que com as suas diversas combinaes produzem as diferenas do conjunto (1b., 11, p. 463), Emesto Renan (1823-92) foi outro grande expoente do positivismo francs da segunda metade do sculo XIX. Na sua obra filolgica, histrica e crtica, Renan inspirou-se constantemente num positivismo que, embora no tendo a lucidez e a fora do de Taine, deixando-se arrastar s vezes por nostalgias espiritualistas e religiosas, no , em substncia, menos rigoroso. O futuro da cincia, escrito em 1848 mas publicado em 1890, o credo filosfico positivista de Renan e um verdadeiro hino de exaltao romntica cincia. A se pode ver, decerto, a influncia que exerceu sobre Renan o materialismo do qumico Marcelino Berthelot (1827-1907), seu companheiro de juventude; mas, conquanto Renan depressa tenha dei47 xado esmorecer o seu entusiasmo optimista pela cincia, as suas ideias permaneceram substancialmente imutveis. "A cincia, e s a cincia, pode dar humanidade aquilo que lhe indispensvel para viver, um smbolo e uma lei", escrevia Renan (Av. de la sc., 1894, p. 3 1) -, e via o fim ltimo da cincia na "organizao cientfica da humanidade". A religio do futuro ser o "humanismo, o culto de tudo o que pertence ao homem, a vida inteira santificada e elevada a um valor moral" (1b., p. 101). A prpria filosofia depende da cincia, pois que o seu escopo recolher e sintetizar os resultados gerais desta ltima. "A filosofia a cabea comum, a regio central do grande feixe do conhecimento humano, em que todos os raios se confundem numa luz idntica" (1b., p. 159). Ela no pode resolver os problemas do homem seno dirigindo-se s cincias particulares que lhe fornecem os elementos destes mesmos problemas. . Mas, dado que a humanidade est em permanente devir, a histria a verdadeira cincia da humanidade (1h., p, 149). E histria Renan dedicou boa parte da sua actividade. Os estudos sobre Averris e averrosmo (1852) tendem a demonstrar que a ortodoxia religiosa impediu entre os maometanos a evoluo do pensamento cientfico e filosfico. As origens do cristianismo, cujo primeiro volume a famosa Vida de Jesus (1863), baseiam-se inteiramente no pressuposto de que as doutrinas do cristianismo no podem ser valorizadas do ponto de vista do miraculoso ou do sobrenatural, mas apenas como a manifestao de um ideal moral em perfeito acordo com a paisagem e com as condies materiais em 48 TAINE que nasceu. A Histria do povo de Israel, que Renan comeou a compor aos sessenta anos, devia mostrar como se formou entre os profetas uma religio sem dogmas nem cultos. Os Dilogos e fragmentos filosficos (1876) e o Exame de conscincia
filosfico (1889, em Folhas soltas, 1892) confirmam substancialmente a atitude positivista de Renan. Nestas obras, a filosofia ainda concebida como "o resultado geral de todas as cincias"; e afirma-se que a filosofia decaiu e degenerou quando pretendeu ser uma disciplina parte, como aconteceu com a escolstica medieval, na poca do cartesianismo, e nas tentativas de Schelling e de Hegel. Nestes ltimos escritos de Renan acentua-se a nostalgia sentimental pela religio; contudo, no lhe reconhece outra utilidade seno a de uma hiptese capaz de sugerir determinadas atitudes morais. "A atitude mais lgica do pensador perante a religio, afirma Renan (Feuilles dtaches, 1892, p. 432), a de proceder como se ela fosse religiosa. preciso agir como se Deus e a alma existissem. A religio entra assim no nmero de muitas outras hipteses, como o ter, os diversos fludos, o elctrico, o luminoso, o calrico, o nervoso e o prprio tomo, os quais sabemos bem serem apenas smbolos, meios cmodos para explicar os fenmenos, e que, no entanto, conservamos". A psicologia positivista francesa parte de Taine e tem por fundador Teodoro Ribot (18391916), cujo primeiro trabalho precisamente um estudo intitulado A psicologia inglesa contempornea (1870) e que em seguida se dedicou, sobretudo, ao estudo psicolgico 49 da vida afectiva, reivindicando a independncia desta contra as teses clssicas do associacionismo. 657. POSITIVISMO: A SOCIOLOGIA O clima positivista foi particularmente favorvel ao desenvolvimento da sociologia no sentido que Spencer dera a esta disciplina, ou seja, como cincia descritiva das sociedades humanas na sua evoluo progressiva. Em Inglaterra John Lubbock (1834-1913) procurou mostrar, atravs do estudo e interpretao de um abundante material etnolgico, que existiram e existem povos que nunca conheceram qualquer forma de religio (Tempos pr-histricos, 1865). E. B. Taylor (1832-1917) viu, ao invs, no mito o precedente no s das religies mas tambm das filosofias espiritualistas modernas. Considera o animismo, isto , a crena difundida em todos os povos primitivos, de que todas as coisas esto animadas, a forma primitiva da religio e da metafsica (Investigaes sobre a histria primitiva da humanidade, 1865; A cultura primitiva, 1870; Antropologia, 1881; Ensaios, antropolgicos, 1907). Nos Estados Unidos da Amrica a sociologia spenceriana foi introduzida por William. G. Summer (1840-1910), cuja obra principal, Folkways (1906), considerada clssica como estudo comparativo dos modos de vida e dos costumes prprios de grupos sociais diversos. 50 Em Frana, a sociologia sofre a primeira viragem metodolgica importante por obra de Emilio Durkheim (1858-1917), cujo ensaio As regras do mtodo sociolgico (1895), ao mesmo tempo que pe em
crise a sociologia sistemtica de Comte e Spencer, que pretende ser o estudo do mundo social na sua totalidade, delineia as normas que devem guiar as investigaes sociolgicas particulares. A primeira destas regras prescreve que se devem considerar os factos como "coisas", isto , como entidades objectivas independentes das conscincias dos indivduos que esto envolvidos nelas e tambm da conscincia do observador que os estuda. Durkheim insistiu tambm no carcter non-nativo ou construtivo que os factos sociais assumem, sendo antes eles que determinam a vontade dos indivduos e, no esta que os determina, e constituindo portanto uniformidades de tipo cientfico, das quais possvel determinar as leis. Esta preeminncia do factor social sobre o individual conduz Durkheim a ver na religio o mito que a sociologia constri a partir de si mesma",, no sentido de que as realidades admitidas pelas religies seriam objectivaes ou personificaes do grupo social (Formes lmentaires de la vie rligieuse, 1912). A orientao iniciada por Durkheim foi depois continuada no perodo contemporneo por uma numerosa pliade de socilogos; e, mais directamente, por Lucien Lvy-Brhul (18571939) (A moral e a cincia dos costumes, 1903; As funes mentais nas sociedades inferiores, 1910; O sobrenatural e a natureza lia mentalidade primitiva, 1931). 51 Mas desde ento a sociologia cada vez mais se desligou das suas conexes sistemticas com o positivismo e, em geral, com todo o tipo de filosofia, reivindicando a sua natureza de cincia autnoma e definindo de um modo cada vez mais rigoroso os caracteres e o alcance dos seus instrumentos de investigao. A esta orientao veio dar um contributo fundamental a obra de Max Weber ( 743). 658. POSITIVISMO EVOLUCIONISTA: ARDIG O positivismo evolucionista teve na Itlia um vigoroso defensor em Roberto Ardig, que exerceu notvel influncia sobre o clima filosfico italiano dos ltimos decnios do sculo XIX. Nascido em Casteldidone (Cremona) a 28 de Janeiro de 1828, foi padre catlico e abandonou o hbito aos 43 anos (em 1871) quando considerou incompatveis com o mesmo as convices positivistas que tinham vindo a amadurecer lentamente no seu crebro. Em 1881, foi nomeado professor de histria da filosofia na Universidade de Pdua. Ardig ps termo vida a 15 de Setembro de 1920, quando o clima filosfico italiano se orientara j para o idealismo, que tenazmente combatera nos ltimos anos da sua vida. A sua primeira obra um ensaio intitulado Pedro Pomponazzi (1869), no qual v um precursor do positivismo. Seguiram-se: A psicologia como cincia positiva (1870); A formao natural no fenmeno do sistema solar (1877); * moral dos positivistas (1889); Sociologia (1879); * facto psicolgico da percepo (1882); O verda52 deiro (1891); Cincia da educao (1893); A razo (1894); A unidade da conscincia (1898), A doutrina spenceriana do incognoscvel (1899) e outros numerosos ensaios de carcter
doutrinrio ou polmico que expem, sem os alterar, os pontos fundamentais contidos nas principais obras citadas. A doutrina de Ardig anloga de Spencer: como Spencer, Ardig considera que a filosofia se reduz organizao lgica dos dados cientficos; como Spencer, admite que esta organizao se efectua em virtude do princpio de evoluo; como Spencer, finalmente, sustenta que os dados fundamentais da filosofia, o sujeito e o objecto, o eu e o mundo exterior, no so duas realidades opostas, mas sim duas organizaes diversas de um nico contedo psquico (segundo a doutrina que Hume fizera prevalecer no empirismo ingls). Sobre o primeiro ponto, Ardig reivindica para si uma certa originalidade em relao a Spencer e, em geral, concepo positivista da filosofia, urna vez que divide esta em cincias especiais, que seriam duas: a psicologia (compreendendo a lgica, a gnstica ou teoria do conhecimento, e a esttica) e a sociologia (incluindo a tica, a diceica ou cincia do justo e a econoraia); e numa cincia geral, que teria por objecto o que est para alm dos domnios particulares destas cincias e a que, por isso, d o estranho nome de peratologia (cincia do que est para alm). Mas, precisamente, a peratologia no tem outro objecto seno as noes mais gerais das disciplinas cientficas e filosficas, e por isso considerada por Ardig como a sn53 tese das noes gerais destas cincias, segundo o conceito habitual do positivismo. De Spencer, distingue-se Ardig em dois pontos: na gerao do incognoscvel e na determinao do conceito de evoluo; ambos os pontos se fundam na orientao emprico-psicolgica da sua doutrina. Acima de tudo, Ardig rejeita o raciocnio que ascende da relatividade do conhecimento humano necessidade do incondicionado que Spencer tomara de Hamilton. Todo o conhecimento particular relativo, mas isto no significa que o conhecimento seja relativo na sua totalidade. Os conhecimentos particulares acham-se, de facto, concatenados, de modo que uns so relativos aos outros; mas desta concatenao nenhuma ilao se pode extrair sobre a relatividade do conhecimento total. Por conseguinte, o incognoscvel no o absoluto ou o incondicionado que est para l do conhecimento huniano e o sustenta, mas antes o ignoto, ou seja, o que no se tornou ainda conhecimento distinto, Opere, 11, 1884, p. 350). Tais consideraes implicam j o conceito de um indistinto, isto , de um algo apercebido confusa ou genericamente, que, todavia, impele o pensamento para a anlise e, por conseguinte, para um conhecimento articulado e distinto. Ora, precisamente esta passagem do indistinto ao distinto o que constitui a evoluo ou, corno Ardig diz, a "formao natural" de todo o tipo ou forma da realidade. Enquanto Spencer extrara da biologia o seu conceito de evoluo como passagem do homogneo ao heterogneo, Ardig preferiu definir a evoluo em termos psicolgicos ou de conscincia. O indis54 tinto tal relativamente, isto , em relao a um
distinto que dele procede assim como todo o distinto , por sua vez, um indistinto para o distinto sucessivo, porque o que produz, impele e explica tal distinto. Toda a formao natural, no sistema solar como no esprito humano, uma passagem do indistinto ao distinto; tal passagem d-se necessria e incessantemente, segundo uma ordem imutvel, regulada por um ritmo constante, quer dizer, por uma alternncia harmnica de perodos. Mas o distinto nunca exaure o indistinto, que permanece por debaixo dele e ressurge para alm dele; e dado que o distinto o finito, necessrio admitir, para alm do finito, o infinito como indistinto. "Tal necessidade do infinito - diz Ardig - como fundo e razo do finito, no existe s na natureza mas tambm no pensamento. Mais ainda: existe no pensamento precisamente porque existe na natureza. Mesmo quando o pensamento o perde de vista, fixando-se no distinto finito, ele, oculto, assiste-o e constitui a prpria fora da lgica do seu discurso... Um pensamento isolado da mente de um homem aquele pensamento que existe com a evidncia que possui, pelo conjunto de toda a vida psquica do homem, no qual se formou; mais ainda: que existe pela vida de todos os outros homens desde o primeiro; e, portanto, pela participao com o todo, na actualidade e no passado" (Op., 11, p, 129). E Ardig defende este infinito, que um incessante desenvolvimento progressivo, contra todas as negaes que queiram interromp-lo com o recurso a uma causa ou a um fim ltimo transcendente. Toda a formao natural, incluindo o pensamento humano, um "me55
teoro" que, nascido do indistinto, acabar de novo por afundar-se no indistinto e perder-se nele (1b., p. 189). Uma atenuao do determinismo rigoroso que o positivismo admite em todos os processos naturais introduzida por Ardig com a doutrina do acaso. A ordem global do universo pressupe infinitas ordens possveis, e a actualizao de uma ou de outro devida ao acaso. Isto sucede porque um acontecimento , em geral, o produto da interseco num dado ponto do tempo, de sries causais diversas e divergentes; e, embora cada uma destas sries seja necessria e determinada, o encontro delas no o (1b., p. 258). O pensamento humano um destes produtos casuais da evoluo csmica. "0 pensamento que hoje encontramos na humanidade um pensamento que se formou pela continuao de acidentes infinitos, que se sucederam e se juntaram por acaso uns aos outros; por isso, a justo ttulo, se pode chamar ao pensamento global da humanidade uma formao acidental, tal qual como a forma bizarra de uma nuvenzinha, que no cu impelida, antes de se desvanecer, pelo vento e dourada pelo sol" (lb., p. 268). A aco do acaso determina a imprevisibilidade e a relativa indeterminao de todos os
acontecimentos naturais, incluindo as aces humanas. Mas a imprevisibilidade e indeterminao no significam liberdade para a vontade humana, do mesmo modo que no livre qualquer fenmeno natural. "A liberdade do homem, ou seja, a variedade das suas aces, afirma Ardig (Op., 111, p. 122), o efeito da pluralidade das sries psquicas, ou dos instintos, se assim os quisermos 56 chamar. E se ela imensamente maior do que nos outros animais, isso depende unicamente do facto de que a complexidade da sua constituio psquica, quer pela sua disposio intima, quer pelas suas relaes com o exterior, se presta a um nmero de combinaes imensamente maior". A liberdade humana , portanto, um efeito daquele acaso que se encontra em todas as ordens de fenmenos e que procede da variedade de combinaes das diversas sries causais. O eu e o no-eu, a conscincia humana e o mundo exterior so, eles tambm, combinaes causais e variveis, e so constitudos ambos pelas sensaes. As sensaes so a "nebulosa" em que se forma e se organiza a psique, o indistinto, subjacente aos distintos que se constituem, ligando-se, num nico organismo lgico. Mas so tambm a nebulosa e o indistinto de que se origina o mundo exterior na distino dos seus objectos. Ardig chama auto-sntese formao do eu e hetero-sntese formao do mundo objectivo; mas, salvo a do nome, no existe qualquer diferena entre os processos formativos. "Assim como no cosmo material os elementos que lhe pertencem, o hidrognio, o oxignio, o carbono, o azoto, so comuns e se convertem ou no indivduo orgnico ou nas coisas ambientais mediante os agrupamentos formativos que as fixam ou no indivduo ou nas coisas, assim no cosmo mental os elementos da sensao so de si comuns e se convertem ou no eu ou no no-eu mediante os agrupamentos formativos que os fixam ou na auto-sntese ou na hetero-sntese" (1b., V. p. 483-84). 57 Os escritos morais de Ardig so essencialmente uma polmica contra todas as formas de tica religiosa, espiritualista e racionalista e respeitam a tentativa, empreendida por Spencer, de reproduzir a formao das ideias morais do homem a factores naturais e sociais. Segundo Ardig, as idealidades e as mximas da moral nascem da reaco da sociedade aos actos que a prejudicam; reaco que, impressionando o indivduo, acaba por se fixar na sua conscincia como norma ou imperativo moral. Os caracteres intrnsecos do dever, a sua obrigatoriedade, a sua transcendncia, e a responsabilidade que lhe inerente, so devidos, pois, interiorizao progressiva, atravs das experincias constantemente repetidas, das sanes exteriores que o acto moral encontra na sociedade, enquanto acto anti-social (1b., 111, p. 425 sgs.; X, p. 279). Assim, Ardig entende a sociologia como "a teoria da formao natural da ideia de
justia". Por consequncia, a justia a lei natural da sociedade humana e, precisamente, regula o exerccio do poder jurdico, que se transforma, interiorizando-se, em exigncia moral. Assim a primeira forma da justia o direito, como a primeira forma do direito a prepotncia; mas ao direito positivo contrape-se em seguida o direito natural, que o ideal do direito, que se reforma nas conscincias sob o mesmo impulso que o direito positivo, mas se realiza imperfeitamente nas formas deste. O direito positivo est sempre atrasado em relao ao direito natural, que exprime as idealidades sociais mais avanadas; e a luta destas contra o direito positivo, para o reformar 58 sua imagem, constitui a incessante evoluo da justia (lb., IV, p. 165, sgs.). 659. O EVOLUCIONISMO MATERIALISTA (MONISMO) O positivismo evolucionista , na sua forma mais rigorosa, igualmente alheio ao materialismo e ao espiritualismo. Spencer afirma explicitamente (First Princ. 194) que o processo da evoluo pode ser interpretado em termos de matria e de movimento como em termos de espiritualidade e de conscincia; e, por outro lado, o Absoluto que este processo manifesta, enquanto incognoscvel, no pode ser definido como matria nem como esprito. Mas a insuprimvel tendncia romntica do positivismo dificilmente podia conservar-se nesta posio de equilbrio; e as tentativas para interpretar num sentido ou noutro o significado da evoluo foram tanto mais repetidas e enrgicas quanto, numa ou noutra das duas formas, a evoluo se prestava melhor a adquirir um significado, infinito e divino e a justificar uma exaltao religiosa ou pseudoreligiosa. Mais numerosas talvez, e decerto de maior ressonncia, foram as orientaes para o materialismo. Nos ltimos decnios do sculo XIX, uma pliade de cientistas, fsicos, bilogos e psiclogos de todos os pases, adoptaram o credo positivista, declarando ater-se rigorosamente ao estudo dos factos e das suas leis e repudiando qualquer explicao no mecnica dos mesmos. A resposta que o astrnomo Laplace 59
deu a Napoleo, que o interrogava sobre o lugar que reservava a Deus na sua doutrina astronmica: "No tenho necessidade dessa hiptese", torna-se o lema da poca. Combatem-se todas as formas de transcendncia religiosa e de "metafsica", entendendose por metafsica toda a explicao no mecnica do mundo mas cai-se amide, e sem se dar conta de tal, na metafsica: numa metafsica materialista. Na Alemanha o florescimento positivista teve incio com a descoberta que Robert Mayer (1847-78) fez do equivalente mecnico do calor, que permite formular o princpio da conservao da energia. Este principio e a tentativa de reduzir a vida a um conjunto de fenmenos fsico-qumicos, excluindo o que at ento se chamara "fora vital", constituem o ponto de partida da metafsica materialista. O zologo Carlos Vogt (1817-1895) afirmava, numa obra de 1854, A f do carbonrio e a cincia, que "o pensamento est para o crebro
na mesma relao em que a blis est para o fgado ou a urina para os rins". E esta tese era apresentada identicamente e condimentada com a mesma violenta polmica antireligiosa nas obras de Jacob Moleschott (1822-93), um alemo que foi, desde 1879, professor de filosofia em Roma, e numa obra famosa de Ludwig Bchner (1824-99), Fora e matria (1855). Outros naturalistas mantiveram, em compensao, uma atitude mais cauta e cingiram-se, como Darwin, a um rigoroso agnosticismo. O fisilogo alemo Emlio du Bois-Reymond (1818-96) publicou um escrito em 1880 intitulado Sete enigmas do mundo. Eis os enigmas: 1.11 a origem da matria e da fora; 2.O a 60 origem do movimento; 3.o o aparecimento da vida; 4.o a ordenao finalista da natureza; 5.O o aparecimento da sensibilidade e da conscincia; 6.o o pensamento racionalista e a origem da linguagem; 7.o a liberdade do querer. Perante estes enigmas, Du Bois-Reymond pensava que o homem devia pronunciar no s um ignoramus mas tambm um ignorabimus: a cincia nunca poder resolv-los. Ernesto Haeckel (1834-1919) teve, ao invs, a pretenso de os resolver com a doutrina do evolucionismo materialista. Haeckel foi professor de zoologia na Universidade de lena; e a sua actividade de cientista , indubitavelmente, notvel. Em 1866 publicou a Morfologia geral dos organismos, que aduzia um grande nmero de observaes e de factos em apoio da teoria darwiniana da evoluo, e era a primeira tentativa para estender esta tentativa a todas as formas orgnicas. Este ensaio antecipava-se, por conseguinte, segunda obra de Darwin, Descendncia do homem, que s apareceu em 1871. J nesta obra, porm, Haeckel concebia a teoria do transformismo biolgico como uma nova filosofia, destinada a suplantar inteiramente todas as outras filosofias e todas as religies. Dois anos depois expunha em forma popular as suas ideias na Histria da criao natural (1868), qual se seguiram: Antropogenia (1874), O monisino como elo entre a religio e a cincia (1893) e Os enigmas do mundo (1899). Esta obra, que a exposio mais completa e menos prolixa das ideias de Haeckel, teve uma difuso enorme. Venderam-se, ao todo, cerca de 400 000 exemplares, mas depois de 1920 a venda cessou e no se publicaram mais edies. Haeckel publicou ainda numerosas outras obras de polmica e de divulgao cientfica que, todavia, nada acrescentam ao contedo das obras citadas. O principal contributo que Haeckel trouxe teoria da evoluo a que ele chama "a lei biogentica fundamental", isto , o paralelismo entre o desenvolvimento do embrio e o desenvolvimento da espcie qual pertence. Pelo que respeita ao homem, "a ontognese, ou seja, o desenvolvimento do indivduo uma breve e rpida repetio (uma recapitulao) da filognese ou evoluo da estirpe a que pertence, isto , dos precursores que formam a cadeia dos progenitores do indivduo, repetio determinada pelas leis da herana e da adaptao" (Natur. Schpfungesch, 1892). Haeckel efectuou sobre esta lei uma srie de investigaes que ilustravam e confirmavam em vasta escala a hiptese da transformao da espcie. Mas a par desta que, segundo lhe parecia, demonstrava de
maneira indubitvel a continuidade e a unidade do desenvolvimento orgnico, Haeckel propunha uma outra lei fundamental que deveria demonstrar a unidade e a continuidade de todo o mundo real, isto , a chamada lei da substncia, cujos pressupostos seriam a lei da conservao da matria descoberta por Lavoisier (1789) e a lei da conservao da fora, descoberta por Mayer (1842). Esta lei, demonstrando a unidade e uniformidade do universo inteiro e concatenao causal de todos os fenmenos, leva concluso, segundo Haeckel, de que a matria e a fora no so mais que dois atributos inseparveis de uma nica substncia (Weltrtsel, trad. franc., 1902, P. 248). O monismo assim estabelecido 62 sobre estas duas leis e, em nome do monismo, Haeckel combate todas as formas de dualismo, isto , todas as formas de separao ou de distino do esprito da matria e, por conseguinte, toda a doutrina que, de qualquer modo, admita uma divindade separada do mundo, a espiritualidade da alma e a liberdade do querer. Assim, dos sete enigmas enumerados por Du Bois-Reymond, o ltimo, concernente precisamente liberdade do querer, , sem mais, eliminado como uma superstio antiquada. Quanto ao primeiro, respeitante natureza da matria e da fora, quanto ao segundo, que concerne origem do movimento e quanto ao quinto, que concerne origem da sensao e da conscincia, o monismo, resolve a coisa facilmente porque, na realidade, fora, movimento, matria, conscincia, no tiveram origem, mas foram sempre presentes desde as primeiras fases evolutivas da nica substncia csmica. Os outros trs enigmas (a vila, a finalidade e a razo) so, pois, resolvidos em sentido materialista: a vida e a razo so produtos da evoluo, a finalidade reduzida ao mecanismo. A evoluo comea, segundo Haeckel, com a condensao de uma matria primitiva em centros individuais ou picntomos dotados de movimento e de sensibilidade. Haeckel resume assim os pontos capitais da sua "religio monista": 1.o O espao infinitamente grande e ilimitado, nunca vazio e sempre preenchido pela substncia, 2.O o tempo igualmente infinito e ilimitado, no tem nem princpio nem fim, a eternidade, 3.O a substncia encontra-se em toda a parte e em todos os tempos num estado de movi63 inento ininterrupto: o repouso perfeito no existe; mas a quantidade infinita da matria permanece invarivel como a da energia eternamente mutvel, 4.o o movimento eterno da substncia no espao um crculo eterno, cujas fases evolutivas se repetem periodicamente, 5.o estas fases consistem na alternncia peridica das condies de agregao, sendo a principal a diferenciao primitiva da massa e do ter; 6.o esta diferenciao assenta numa condensao crescente da matria e na formao de inmeros pequenos centros de condensao (picntomos) cujas causas eficientes so as propriedades originrias imanentes substncia: a substncia e o esforo; 7.o enquanto numa parte do espao se produzem, pelo processo picntico - corpos celestes, primeiro pequenos, depois maiores, e aumenta entre eles a tenso do ter, na outra parte do espao produz-se simultaneamente o processo inverso: a destruio dos corpos celestes que se chocam uns com os outros; 8.O as enormes quantidades de calor produzidas neste processo mecnico pelo choque dos corpos celestes em rotao so representadas pelas novas foras vivas que produzem o movimento das massas de poeira csmica e, por
conseguinte, uma nova formao de esferas em rotao: o jogo eterno recomea desde o princpio" (Weltrtsel, p. 278-79). fcil dar-se conta do carcter arbitrrio e diletantista destas especulaes de Haeckel. Contudo, o seu enorme sucesso junto do pblico e o nmero extraordinrio de seguidores que tiveram em toda a europa, e especialmente na Alemanha, convertem-nas hum documento do esprito romntico da poca. To 64 significativo com a enorme difuso e o entusiasmo que haviam suscitado, algumas dcadas antes, as doutrinas do romantismo idealista. a tendncia romntica a procurar e a dar realidade ao infinito que conduz cientistas do tipo de Haeckel a revestir de um significado absoluto e religioso hipteses e factos da cincia, e efectivamente, a caracterstica fundamental do positivismo materialista uma espcie de exaltao anti-religiosa, que nem por isso menos religiosa e mstica, pois no faz mais do que pr a natureza no lugar de Deus, embora no vendo nela seno leis e factos necessrios, e pretender laicizar e tornar "cientficas" atitudes prprias da religio. O desenvolvimento da cincia superou decerto este fervor religioso que animava muitos dos seus cultores, mas devia acabar por destruir os entusiasmos romnticos e as construes metafsicas com que o positivismo se pavoneava, conduzindo gradualmente a reconhecer o essencial do procedimento cientfico precisamente no que tem de mais avesso e mais alheio a qualquer interpretao metafsica ou religiosa. Em Frana, um monismo materialista anlogo ao de Haeckel foi defendido por Felix le Dantec (1869-1917) numa numerosa srie de escritos (A matria viva, 1893; O atesmo, 1907; Elementos de filosofia biolgica, 1911, etc.). E em Itlia, o positivismo materialista manifestava-se de uma forma original na obra de Csar Lombroso (1863-1909), fundador da "Escola positiva do direito penal" segundo a qual "os criminosos no praticam delitos por um acto cons65 ciente e livre de m vontade, mas porque tm tendncias ms, tendncias cuja origem se encontra numa organizao fsica e psquica diversa da normal". Deste pressuposto, a escola positivista deduzia a consequncia de que o direito da sociedade a punir o delinquente no se funda na maldade ou na sua responsabilidade, mas apenas na sua perculosidade social. O estudo das caractersticas fsico-psquicas que determinam a delinquncia foi chamado por Lombroso "antropologia criminal". Lombroso distinguia, com respeito periculosidade social, quatro tipos de delinquentes: o delinquente antropolgico ou delinquente nato, cujos instintos, inscritos na constituio orgnica, so inalterveis; o delinquente ocasional, o delinquente louco, o delinquente por paixo ou por hbito (0 homem delinquente, 1876). A outra tese de Lombroso que suscitou tambm polmicas vivssimas a aproximao entre gnio e loucura (Gnio e degenerao, 1897). Lombroso partia da considerao dos chamados fenmenos regressivos da evoluo pelos quais um grau de desenvolvimento muito avanado numa determinada direco acompanhado, a
maior parte das vezes, por um atraso nas outras direces. Sendo assim, compreende-se como se "torna necessrio, quase fatal, que forma, em numerosas direces, mais evoluda do gnio, corresponda um atraso, um regresso, no s nas outras direces, mas amide tambm no rgo que a sede da mais importante evoluo", isto , no crebro; eis a razo por que existem formas mais ou menos atenuadas de loucura e de perverso nos indivduos geniais. 66 660. O EVOLUCIONISMO ESPIRITUALISTA A interpretao espiritualista da evoluo desenvolve-se paralelamente interpretao materialista e prope-se essencialmente adaptar o conceito evolutivo da realidade s exigncias morais e religiosas tradicionais. O principal expoente desta forma de positivismo Wundt, mas tem tambm os seus representantes em Inglaterra, em Frana e na Itlia. Guilherme Wundt (16 de Agosto de 1832-31 de Agosto de 1920) foi mdico e professor de fisiologia em Heidelberg. Em 1875 estabeleceu-se como professor de filosofia em Leipzig, onde fundou o primeiro "Instituto de filosofia experimental". A sua actividade orientou-se para investigaes de filosofia e de psicologia fisiolgica. A sua primeira obra importante foi os Princpios de psicologia fisiolgica (1874), a que se seguiram: Lgica (2 vol., 188083); En,,aios (1885)-, tica (1886); Sistema de filosofia (1889); Compndio de psicologia (1896), Psicologia dos povos: 1, A linguagem (1900), 11, Mito e religio (1904-09), obra que foi aumentada sempre nas edies seguintes, e que inclui na ltima volumes dedicados a vrias disciplinas, Direito (1918) e Civilizao e Cultura (1920); Introduo filosofia (1901); Elementos de psicologia dos povos (1912); Pequenos escritos (2 vol., 1910-11); Introduo psicologia (1911); A psicologia na luta pela vida (1913); Discursos e esboos (1913); Mundo sensvel e mundo supra-sensvel (1914). Wundt fundou tambm, em 1881, uma revista, "Estudos filosficos", em que foram publicados escritos seus e de 67 seus discpulos; e em 1905 uma outra revista, "Estudos psicolgicos",em que foram publicados os trabalhos dos Institutos de Psicologia de Leipzig. O maior mrito de Wundt consiste no impulso que deu psicologia experimental. Teodoro Fechner havia j abordado o problema de uma psicologia experimental de base matemtica. Partindo da doutrina do animismo universal aplicara-se a estudar a relao entre a alma e o corpo, chegando a estabelecer a chamada "lei psicofsica fundamental", que diz respeito relao quantitativa entre a intensidade do estmulo e a intensidade da sensao que este produz. A lei diz que se a intensidade do estmulo cresce em progresso geomtrica, a intensidade da sensao cresce em progresso aritmtica, de modo que a prpria sensao proporcional ao logaritmo do estmulo. Fechner chamara psicofsica psicologia que procura determinar as leis quantitativas dos fenmenos psquicos em relao com os seus correlatos fsicos. O clima do positivismo iria estimular poderosamente a tendncia da psicologia a constituir-se como cincia positiva e rigorosa, anloga s cincias naturais. Wundt o primeiro que faz seu este ideal e leva avante a sua realizao. Os seus Princpios de psicologia fisiolgica (publicados pela primeira vez em 1874 e continuamente aumentados em edies sucessivas) representam a primeira
sistematizao completa do que ele denominou "psicologia sem alma": isto , a psicologia que estuda os fenmenos psquicos prescindindo de qualquer pretensa substncia espiritual, considerando-os em estreita relao com os fen68 menos fisiolgicos e servindo-se da experincia como instrumento de investigao. No que se refere caracterizao dos fenmenos que podem e devem ser objecto da psicologia, Wundt no cr que a psicologia possa ser considerada como a cincia da experincia interna, enquanto as cincias naturais seriam as cincias da experincia externa. Experincia interna e experincia externa so apenas dois pontos de vista diversos pelos quais se podem considerar os fenmenos empricos; e no existe fenmeno natural que no possa, de um certo ponto de vista, tornar-se objecto de uma investigao psicolgica. Mas, dado que todos os fenmenos so, como tais, representaes, a psicologia pode ser caracterizada como a "cincia da experincia imediata". As representaes so consideradas pela psicologia na sua imediatez, isto , precisamente tais quais so. Para as outras cincias, valem, pelo contrrio, na sua relao mediata e objectiva, isto , como partes ou elementos de um mundo objectivo. A psicologia de Wundt inteiramente dominada pela ideia da evoluo; , essencialmente, uma psicologia gentica, que mostra a gradual e progressiva formao dos produtos psquicos mais complexos, a partir dos mais simples. A evoluo psquica tem, no entanto, para Wundt, um carcter original, que a distingue da evoluo fsica; isto , surgem no curso dela novas propriedades que no pertencem aos elementos que a determinaram. Este o princpio da sntese criadora e vale para todos os fenmenos psquicos, desde as percepes e os sentimentos sensveis at aos mais altos processos psquicos. Por exemplo, o espao e o 69 tempo, corno imagens psquicas, tm propriedades que no pertencem aos elementos sensoriais de que resultam. E, em geral, "no curso de todo o desenvolvimento individual ou social geram-se valores espirituais que no estavam originariamente presentes nas suas qualidades especificas e isto vale para todos os valores, lgicos, estticos e ticos" (Logik, 111, 1921, p. 274). O carcter espiritualista da posio de Wundt patenteia-se na superioridade que ele concede experincia imediata, isto , conscincia, superioridade pela qual a psicologia, que a cincia desta experincia, adquire um nvel privilegiado em relao a todas as outras disciplinas filosficas e cientficas. A filosofia de Wundt um positivismo evolucionista revisto e corrigido em conformidade com este pressuposto espiritualista. Wundt cr que o escopo da filosofia consiste na "recapitulao dos conhecimentos particulares numa intuio do mundo e da vida que satisfaa s exigncias do intelecto e s necessidades do corao" (Syst. der Phil., 1, 1919, p. 1; Ein leitung in die Phil., 1904, p. 5); e, por consequncia, define a filosofia como a "cincia universal que deve unificar num sistema coerente os conhecimentos universais fornecidos pelas cincias particulares". Este era o conceito positivista da filosofia, tal como o haviam estabelecido Comte e Spencer, incluindo a exigncia espiritualista segundo a qual a filosofia devia satisfazer "as necessidades do corao". A filosofia divide-se em duas partes: a gnoseologia que considera a origem do saber e a metafsica que considera os princpios gerais do saber. A
gnoseologia, por sua vez, 70 divide-se em lgica formal e teoria do conhecimento. A metafsica tem por misso reunir os resultados gerais das diversas cincias num sistema coerente. Quanto s cincias particulares, dividem-se em dois grandes grupos: cincias da natureza e cincias do esprito, sendo a psicologia a cincia fundamental destas ltimas. As matemticas tm lugar parte, e constituem uma cincia formal, isto , uma cincia que considera as propriedades formais dos objectos naturais. O paralelismo entre cincias naturais e cincias espirituais baseia-se no paralelismo prprio da realidade que Wundt considera, semelhana de Espinosa, como algo que se manifesta em duas sries infinitas e paralelas, a natureza e o esprito. Wundt confere a estas duas sries causais um significado evolutivo e progressivo conformemente orientao geral do positivismo; mas nega que interfira uma na outra e que os termos de uma possam de qualquer modo participar nos caracteres da outra. As duas sries paralelas no so, no entanto, duas realidades separadas, mas sim duas manifestaes necessariamente distintas da mesma realidade. A sua duplicidade nasce da reflexo, que divide o originrio objecto-representao em objecto e representao: fundam-se numa distino que existe apenas no nosso pensamento abstractivo, mas no na realidade mesma (Syst. I, p. 402). O que seja tal realidade, como dever ser concebida a nica distncia que subjaz s duas manifestaes paralelas, um problema que s pode ser resolvido, segundo Wundt, recorrendo experincia imediata que o fundamento da psicologia. Esta expresso diz71 -nos a condio de toda a percepo, a que Kant chamava "apercepo transcendental", a vontade. A vontade a nica actividade que nos dada imediatamente. Esta actividade no nunca pura actividade, o querer no nunca puro querer. Mas a passividade que prpria do nosso querer s pode ser explicada recorrendo a um outro querer e, portanto, aco recproca do agir e do sofrer que o fundamento de toda a actividade representativa. Atravs desta aco recproca, a vontade torna-se vontade real ou representativa, isto , d lugar ao mundo da representao. Wundt retoma assim ao conceito de Schopenhauer da vontade como nica substncia do mundo. Mas a vontade de que ele fala no uma realidade em si, um nmeno transcendente, como Schopenhauer a concebia, mas manifesta-se e realiza-se exclusivamente na aco recproca das vontades singulares e, portanto, no desenvolvimento evolutivo das comunidades a que do lugar. Este desenvolvimento tende ideia da unidade infinita da vontade ou de uma "comunidade de vontade" perfeita. A comunidade das vontades do gnero humano tambm o ltimo objectivo de toda a aco moral (Ib., 11, p. 237). Tambm sob este ponto Wundt permanece fiel tica positivista, que fez da humanidade o fim moral supremo. Mas a humanidade definida por ele como
concordncia e unidade das vontades individuais; e, uma vez que tal concordncia e unidade nunca se realizam perfeitamente, nasce a ideia de uma unidade absoluta, que a ideia mesma de Deus. Esta ideia no pode ser demonstrada, mas pode-se assumir como pressuposto ltimo a que chega o pensamento 72 quando passa da experincia do progresso a um fundamento do mesmo para alm de todos os seus limites reais (1b., 1, p. 430). A ideia de Deus assim, para Wundt, uma ideia-limite do progresso humano, ideia-limite que ao mesmo tempo considerada como fundamento da unidade que o progresso realiza. A histria para Wundt, tambm, uma teoria do progresso. Mas o progresso histrico no se realiza em virtude de uma providncia transcendente ou de uma finalidade intencional. As foras da histria so os motivos psicolgicos que actuam nos indivduos e nas comunidades humanas; e a cincia da histria no outra coisa mais do que "uma psicologia aplicada". Assim se torna operante na histria aquele princpio a que Wundt chama ,"princpio da heterognese dos fins", pelo qual os fins que a histria realiza no so os que os indivduos ou as comunidades se propem, mas antes a resultante da combinao, da relao e do contraste das vontades e das condies objectivas (1b., I, p. 326 sgs.; 11, p. 221 sgs.). Wundt dedicou a ltima fase da sua actividade preferentemente a amplas investigaes sobre "a psicologia dos povos". O nome novo, mas, na realidade, trata-se da sociologia, no sentido restrito e puramente descritivo que Spencer dera a esta disciplina. A psicologia dos povos uma cincia da histria referida s suas condies e s suas leis psicolgicas e, portanto, considerada sobretudo nas suas instituies e nos seus produtos espirituais. Nos diversos volumes que compem a grande Psicologia dos povos, Wundt considera separadamente a evo73 luo histrica da linguagem, do mito, do costume e do direito; enquanto nos Elementos de psicologia dos povos, considera o desenvolvimento progressivo da sociedade humana na sua totalidade e na conexo dos produtos espirituais a que d origem. Ambos os tratados se fundam no princpio de uma evoluo histrica gradual e constante. "A psicologia dos povos, diz Wundt (El. der Volkerpsych., 1912, p. 4), com a considerao dos diversos graus do desenvolvimento espiritual que a humanidade hoje apresenta, abre-nos o caminho a uma verdadeira psicognese. Mostra-nos as condies primitivas e fechadas em si mesmas, a partir das quais, atravs de uma srie ininterrupta de graus intermedirios, se pode lanar uma ponte at s civilizaes mais desenvolvidas e superiores. Por isso, a psicologia dos povos , no sentido mais eminente da palavra, uma psicologia do desenvolvimento". Wundt delineou esta evoluo, servindo-se de uma soma enorme de material filolgico e descritivo, sobretudo no que se refere linguagem, o
mito e os costumes, que tm a sua origem ltima nos trs momentos psicolgicos: a representao, o sentimento e a vontade. O positivismo espiritualista, de que Wundt decerto o maior representante, encontrou tambm fora da Alemanha manifestaes anlogas, quase simultneas. Tal positivismo caracterizado pela tentativa de se servir do princpio da evoluo como garantia da progressiva afirmao e consolidao dos valores espirituais e, portanto, da doutrina do paralelismo psicofsico, que permite eliminar (ou atenuar) aquela 74 subordinao do esprito matria que parecia um resultado inevitvel do evolucionismo positivista. Em Itlia, o positivismo espiritualista encontra o seu melhor representante em Filipe Masci (1884-1923) que foi durante muitos anos professor de filosofia na Universidade de Npoles e dedicou a sua actividade a artigos e ensaios acadmicos que tiveram uma escassa difuso (As formas da intuio, 1881; Sobre o sentido do tempo, 1890; Sobre o conceito do movimento, 1892; O materialismo psicofsico e a doutrina do paralelismo em psicologia, 1901; A lei da individuao progressiva, 1920). S nos ltimos anos da sua vida Masci pensou em recolher num volume global os resultados principais das suas investigaes (Pensamento e conscincia, 1922). Alguns cursos de lipes foram publicados postumamente (A sociedade, o direito e o Estado, 1925; Introduo geral psicologia, 1926). Situa-se geralmente Masei na corrente neocrtica e consideram-no mesmo o principal expoente desta corrente em Itlia. Mas nada justifica tal assero. Na introduo a Pensamento e conhecimento, o prprio Masci declarava que no admitia na doutrina kantiana, "a distino do nmeno e fenmeno", o a priori como anterior ao conhecimento, as antinomias, a coisa em si, as formas da intuio e das categorias como formas belas e factos da sensibilidade e do pensamento", assim como "a negao de toda a investigao psicolgica para a formao do conhecimento". difcil ver o que fica de Kant depois de se rejeitar isto tudo. Na verdade, prprio do neocriticismo contemporneo (como se ver no 722) a reduo da filosofia a reflexo crtica sobre 75 a cincia e a renncia metafsica. Masci, pelo contrrio, entende a filosofia (segundo o conceito do positivismo e de Wundt) como uma reelaborao dos resultados da cincia e cultivou uma metafsica evolucionista de carcter espiritualista. Como "cincia do pensamento", a filosofia deve, de facto, conhecer a realidade na sua universalidade e, portanto, elaborar a experincia para l dos limites do conhecimento cientfico, sem deixar de t-lo sempre presente como ponto de partida e de referncia (Penso e con., p. 93 sgs.). Tal como Spencer, Masci concebeu a inteligncia e as suas categorias como "um produto da evoluo que progride lentamente atravs da escala humana" (Ib., p. 386). Concebeu a realidade como uma substncia psicofsica, cuja lei fundamental a da individuao progressiva, isto , o nascimento e a afirmao progressiva da individualidade. Por isso, viu no esprito, que autoconscincia ou eu, a mais elevada manifestao da substncia psicofsica e, portanto, nas formas superiores da vida espiritual - arte, religio, filosofia - o grau supremo da evoluo csmica e a realizao da finalidade ltima que a substncia psicofsica persegue mesmo nas formas mais inferiores da natureza. Analogamente, Masci via na
evoluo social, e em particular na do direito, "o progresso da conscincia ou da liberdade" e, por conseguinte, a realizao gradual e progressiva de uma liberdade cada vez mais completa. Em Inglaterra, o positivismo adoptou uma forma anloga nos escritos de Hobhouse e de Morgan. L. T. Hobhouse (1864-1929) foi professor de sociologia em Londres e autor de escritos de gnoseologia 76 e de tica, em que domina o conceito de evoluo (Teoria do conhecimento, 1896; O esprito em evoluo, 1901; A moral em evoluo, 1906; Desenvolvimento e finalidade, 1913; A teoria metafsica do Estado, 1918; O bem racional, 1921; Elementos de justia social, 1923; O desenvolvimento social, a sua natureza e as suas condies, 1924). A orientao espiritualista de Hobhouse patenteia-se na sua tentativa de conciliar os resultados da cincia, com a exigncia da f. "A verdadeira funo de todo o mtodo no analisado, sobretudo o da f, no a de travar uma guerra desesperada contra a massa compacta da verdade cientfica, mas estender-se aqum e alm dos limites da cincia, adquirindo o direito de sentir o que no podemos ainda exprimir e esperar o que no podemos ainda concretizar" (Theory of Knowledge, p. 617-18). Para tal fim valer-se- de Lotze e de Hegel, assim como de Mill e de Spencer (1b., pref., p. IX); mas, na realidade, os resultados a que chega so substancialmente idnticos aos de Wundt e, em geral, aos do positivismo espiritualista. A recusa da subordinao do esprito matria condu-lo tambm a um paralelismo psicofsico. A relao entre o fsico e o mental a de uma concomitncia provavelmente constante, no a da conexo causal. O corpo no actua sobre a alma, nem a alma sobre o corpo, mas "as suas mutaes entrelaam-se como fases conexas na complexa constituio do grande todo de que so ambos elementos" (Ib., p. 572-73). "0 facto central da experincia o conceito da evoluo, o qual nos permite compreen77 der que a estrutura mental saiu de uma origem humilde e que os seus mtodos, a sua lgica e a sua filosofia se desenvolveram na tentativa contnua de apreender e organizar a sua experincia e assim dirigir e entender a sua vida. A evoluo natural tem a sua continuao e o seu cumprimento na evoluo intelectual e moral. A viragem decisiva da evoluo intelectual e moral d-se quando o esprito, que se dirige primeiro unicamente para os objectos, se volta depois para si mesmo, isto , para os mtodos e para os procedimentos que lhe permitem apreender e
dirigir os objectos. Esta viragem conduz a vida moral e a vida intelectual ao plano da racionalidade, e em particular para a vida moral, do plano do hbito ao de uma ordem racional da conduta (MoraIs in Evolution, II, p. 277 sgs.). O progresso espiritualista consiste no progressivo domnio da conscincia racional e tem por isso como objecto final a prpria humanidade. Hobhouse cr que necessrio admitir, como garantia deste progresso real, um Ser divino que preserve e mantenha as condies da efectiva realizao do mesmo. C. Lloyd Morgan (1852-1937) tambm defensor de um evolucionismo de matizes espiritualistas (Vida animal e inteligncia, 1890; Introduo psicologia comparada, 1894; Hbito distinto, 1896-, Interpretao da natureza, 1905; Comportamento animal, 1908; Instinto e experincia, 1912; Evoluo emergente, 1923; Vida, mente e esprito, 1926, A emergncia da novidade, 1933). Os factos psquicos e os factos fsicos no esto, segundo Morgan, ligados por uma relao causal, mas so inseparveis. Todo o facto 78 fsico tambm um facto psquico, e recIprocamente; de maneira que o mundo no nem um mundo fsico nem um mundo psquico, mas um mundo psicofsico. Deve-se admitir por isso um correlato psquico em todo o sistema fsico, seja o tomo, o cristal, ou o corpo orgnico. Morgan insiste no carcter no mecnico, mas criador, da evoluo natural em todos os seus graus, mas neste ponto no faz mais do que repetir uma das teses fundamentais da Evoluo criadora (1907) de Bergson. Fala-nos de uma evoluo emergente no sentido de que cada fase da evoluo no a mera resultante mecnica das fases precedentes, mas contm um elemento novo, que irredutvel quele. Este novo elemento que se junta resultante mecnica (a qual garante a continuidade do processo) o que torna a evoluo num progresso. A conscincia uma dessas qualidades emergentes no curso da evoluo csmica, como a vida uma qualidade emergente em relao resultante fsicoqumica. O carcter de criatividade espiritual que a evoluo toma neste sentido, postula, segundo Morgan, um Ser divino como garantia do progresso gradual e incessante do universo. Em Frana, esta posio ideolgica do pensamento, caracterizada pelo monismo psicolgico, e pela finalidade espiritual da evoluo, representada tipicamente por Alfredo Fouille (1838-1912), autor de numerosas obras histricas e de vrias escritos sistemticos (A liberdade e o determinismo, 1872-, A evoluo das ideias-foras, 1890; O movimento idealista e a reaco contra a cincia positiva, 1896; Os elementos, sociolgicos da moral, 1906; A moral das 79 ideias-foras, 1908-, Ensaio de interpretao do mudo, 1913). Fouille aceita o conceito positivista da filosofia, no sentido de Wundt. A cincia positiva no d a imagem global do todo; para ela, o mundo como um espelho quebrado. A filosofia, reagrupando os fragmentos, esfora-se por entrever a grande imagem (Le mouv. idal, p. XXXIX). No
pode, por isso, ser considerada, por seu turno, como uma cincia positiva no sentido da previso e da produo dos fenmenos; mas tambm, a seu modo, uma previso enquanto se esfora por conceber a marcha da humanidade e a do prprio mundo. Todavia, o que a filosofia tem a mais em relao cincia a sua atitude espiritualista, graas qual o seu olhar se dirige interioridade das coisas para descobrir nelas essa mesma vida interior que a conscincia nos permite apreender em ns mesmos (Esquisse d'une inter-' pretation du monde, p. XXV). Neste sentido, o seu postulado fundamental a unidade do fsico e do psquico; o monismo psicofsico. E o monismo psicofsico conduz Fouille a elaborar o seu conceito central, do qual se serve para interpretar os fenmenos mais dispares: a ideia-fora. "A ideia, diz (L'volutionisme, p. XV), com as representaes, os sentimentos e os desejos que implica, um encontro do interior e do exterior; uma forma que o interior toma mediante a aco do exterior e a reaco prpria da conscincia; implica, portanto, movimentos e no actua de fora, do alto de uma esfera espiritual, sobre o curso material das coisas; no obstante, actua. A ideiafora no , por conseguinte, mais do que a substncia psicofsica, a unidade individualizada, dos 80 factos fsicos e dos factos psquicos. A ideia-fora permite, segundo FouilIe, entender a aco finalista que, no mundo da natureza, como no do esprito, determina a evoluo e o progresso. A evoluo no uma lei, como Spencer a concebera, mas antes um resultado: o resultado do progresso apetitivo da ideia-fora, que constitui a existncia interior de ns mesmos, e provavelmente, a de todas as coisas (Ib., p. LIII). O conceito da ideia-fora empregado por Fouille como fundamento da psicologia e da sociologia. Mas, para ele, a prpria biologia uma psicologia, visto que a luta pela vida de que falam os darwinistas, no se pode entender seno entre seres que desejam alimentarse e reproduzir-se, isto , seres cujo dinamismo interior constitudo precisamente pela ideia-fora (Psychologie, 1, p. XIX). A ideia-fora permite tambm unir o determinismo dos processos naturais com a liberdade da conscincia. E de facto um evolucionismo que reconhea que as ideias e os sentimentos so factores da evoluo, introduz no determinismo um elemento de reaco sobre si mesmo: a influncia da ideia. Ideias-foras so, pois, as instituies e as formas da conscincia social, que apresentam, por seu turno, uma conciliao entre o determinismo do ambiente exterior e a livre reaco da conscincia individual. Joo Maria Guyau (1854-1888) o representante de um positivismo espiritualista orientado para os problemas morais. A moral sem obrigao nem sano (Esboo de uma moral sem obrigao nem sano, 1885), de que Guyau se faz apstolo, a mesma 81 moral evolutiva de Spencer, que tende incessantemente a uma crescente expanso e intensidade da vida, num tom de exaltao optimista e lrica. Esta moral indica como objectivo final uma humanidade concorde, pacifica e fraterna: o ideal sociolgico da
humanidade. Este ideal explica, segundo Guyau, o valor da arte, que "vincula o indivduo ao todo e cada parte do instante durao eterna" (L'Art au point de vue social., p. 80). A arte , por outros termos, a extenso progressiva natureza da sociabilidade humana. E este ideal constitui a religio ou, melhor, a irreligio do futuro (L'Irrligion de Favenir, 1887). A ideia fundamental da religio , de facto, a de um limite social entre o homem e as potncias superiores e a sociabilidade, o fundo duradouro do sentimento religioso, fundo que persistir e se enriquecer na irreligio do futuro. Esta tender para a sociabilidade universal da vida, para a solidariedade no s dos seres reais e viventes mas tambm para ' o dos possveis e ideais. As especulaes de Guyau representam uma amplificao lrica dos ideais morais do positivismo. Uma curiosa inverso do princpio positivista da evoluo em sentido espiritualista representada por Andr Lalande (1867) no seu escrito A ideia da dissoluo oposta da evoluo no mtodo das cincias fsicas e morais (1898, 2.a ed. com o ttulo As iluses evolucionistas, 1931). Spencer definira a evoluo como a passagem do homogneo ao heterogneo; Lalande faz ver que a passagem inversa do heterogneo ao homogneo (dissoluo ou involuo) aquela a que se deve o progresso da realidade em 82 todos os campos, e especialmente no espiritual. "Toda a aco, toda a palavra, todo o pensamento, quando tem por fim uma das trs grandes ideias directrizes da nossa natureza (o belo, o verdadeiro e o bem) faz progredir o mundo em sentido inverso evoluo, isto , diminui a diferenciao e a integrao individuais. As consequncias destas so tornar os homens menos diferentes uns dos outros para que cada qual tenda, no como os animais, a absorver o mundo na frmula da sua individualidade, mas a libertar-se do egotismo em que a natureza o encerra, identificando-se com os seus semelhantes" (p. 172-73). Na parte editada de um curso professado na Sorbonne, Razo constituinte e razo constituda (1925), Lalande distingue uma razo activa e crtica (a razo constituinte), e uma razo expressa em frmulas e materializada, (a razo constituda), atribuindo primeira o poder da crtica e da direco no conhecimento humano. mister, enfim, recordar que ele o autor de Leituras sobre * filosofia das cincias (1893) e que a ele se deve * iniciativa do Vocabulrio tcnico e crtico da filosofia (1926), editado pela Sociedade Francesa de Filosofia. NOTA BIBLIOGRFICA 648. Sobre Hamilton; J. STUART MILL, An examination of Sir W. H.s Philosophy, Londres, 1865; JOHN WE1M4, H., the Man and his Philosophy, Londres, 1884; J. MARTINEAU, Sir W. H.s Phil., in Essays, III, Londres, 1891; LEsLiE STEMEN, The English Utilitari~, cit. IU, cap. IV; F. Nanen, Die Erkenntnislehre, W. H.s, F_strasburgo, 1911; S. V. RAsmuSSENN, The Philosophy of. W. H., Copenhaga-Londres, 1927. 83
Sobre Mansel: J. MARTINEAU, A.L.M. in. Essays, III, Londres, 1891. Sobre a lgica de Hamilton e Mansei: T. H. GREEN, The logic of the FormaZ 1.o~ans, in Works, II, Londres, 1886. 649. Indicaes histricas e bibliogrficas sobre a teoria da evoluo; J. W. SPENGEL; Die Darwin8che Theorie, 2.1 ed., Berlim, 1872; Id.. Die Portschritte des Darwinismus, Leipzig, 1874; GEO SEIDLITz, Die darwinsche Theorie, 2.1 ed., Leipzig, 1875; V. CARUS, Histoire de Ia Zoologie, Paris, 1880; P. DELAGE e GoLsmiTH, Les Thories de Ilvolution, Paris, 1930; M. CAuLLERY, Les tapes de Ia biologie, Paris, 1941; W. ZIMMERMANN, Evolutian. Die Geschichte iher Probleme und Erkentnisse, Freiburg-Mnchen, 1953; E. GUYNOT, Les setences de Ia vie aux XVII e XVIII siMes, Llide Xvolution, 1957. Sobre Darwin e sobre o darwinismo: T. H. HUXLFY, CoUccted Essays, 11, Londres, 1894; JOHN nSK, Darwni8m and other Essays, Londres, 1879; GRANT ALLEN, Ch. D. Londres, 1886; G. J. ROMANESY, Darwin and after Darwin, 2. vol., Londres, 1892-95; J. H. STIRLING, Darwinism, Workmen and Work, Edimburgo, 1894; Science (ensaios publicados pelo centenrio do nascimento de D.) ao cuidado de A. C. SENVARD, Cambridge, 1909; J. JEANS, A. E. TAYLOR e outros, Evolution in the Light of Modern KnowIedge, Londres, 1925, L. C. EISELEY, Darwin's Century, Nova Iorque, 1959. 650. Sobre a vida de Spencer, alm da Autobiografia: D. DUNCAN, The Life and Letters of H.s., Londres, 1912. B. P. BRoWNE, The Phil. of. H.s, Nova lorque, 1874; RICRARD H. WEBER, Die Phil., von 11.s., Darinstadt, 1894; W. H. HUDSON, The Phil. of H.s., Nova IGrque, 1894; F. H. COLLINS, The Phil. of. H.s., Londres, 1897; OTTO GAVpP, H.s., Estugarda, 1897 (trad. ital., Palermo, 1911); E. THouVEREZ, H.s., Paris, 1905; J. TROMSON, H.s., Londres, 1907; W. H. HUDSON, H.s., Londres, 1909; 84 E. PARISOT, H.s., Paris, 1911; B. RusSELL, Scientific Method in Phil., Oxford, 1914. G. SANTANAYANA, The Unknowable, Oxford, 1923. 651. Sobre a teoria da evoluo: T. EI. GREEN, 11.s. and G. H. Lewes, in Works, I, Londres, 1886; MALCOLM GuTHRIE, Formula of Evolution, Londres, 1879; CESEA, Llevoluzionismo di H.s, Verona, 1883; J. WARD, Naturalis-yn and Agno-sticism, Londres, 1899. 652. G. ALLIEVO, La psicologia di H.s., Turim, 1898. 563. E. B. TY-LOR, S.s., Principles of Socio?ogy, in "Mind", 1877; A. COSTE, Les principes dIune sociologie objective, Paris, 1899. MALCoLm GoUTHRIE, On Sp.ls of Data of Ethics, LiondTes, 1884; J. DUBOIS S. et le principe de Ia morale, Pans, 1899; J. HALLEUx, Llvolutionisme en moral: tude sur Ia philosophie de H.s., Paris, 1901; E. JUYALTA, La dottrina delle due etiche di H.s., in "Riv. Fil.", 1904; A. STAMER, H.8.s. Ethik, Leipzig, 1913.
654. Sobre Huxley, Clifford, Romanes, etc., alm da,s obras cit. no 649: L. HUXLEY, T. H. Huxley, Londres, 1920; F. POLLOCK, Life of Clifford, in CLIFFORD, Lectures and Essays, Londres, 1879; G. I. ROMANES, Life and Letters, Londres, 1896. 655. De Bernard, alm da Introduo: La science experimentale, 1878, Penses. Notes dtaches, ed. Delhoume, Paris, 1937; Philosophie, Manuscrit indit, Ed. Chevalier, Paris, 1938; P. MAURIAC, C.B., Paris, 1941; H. COTARD, La pense de C.B., Grenoble, 1945. 656. Sobre Taine: STUART MiLL, Dissertations and Discussions, IV, Londres, 1874; G. BARZELLOT, H.T., Roma, 1895; V. GIRAUD, Essai sur T., 2.1 ed., Paris, 1903; ID., Bibliographie critique de T., Paris, 1904; P. LACOMBE, T., historien et sociologue, Paris, 1909; A. CRESSON, H.T., Paris, 1951. 85 Sobre Renan: BRUNSCHVIG, La phil. dIE.R. ia <@Revue de Mt. et de Morale", 1893; G. SAILLES, E.R.: Essai de biographie psychologique, Paris, 1894; R. AI,LIER, La philosophie, dIE.R., Paris; ID. tudes sur Ia phil. morale au sicle, Paris, 1904; W. BARRY, E.R., Nova Iorque, 1905; G. SOREL, Le systme historique de R., Paris, 1906; G. STRAUSS, La politique de R. Paris, 1909; H. PARIGOT, R., 1'goisme intellectuel, Paris, 1910; L. F. MOTT, E.R., Nova Iorque, 1921, A. CPESSON, E.R., Paris 1949; R. DuSSAUD Llocuvre scientifiq" "E.R., Paris, 1951. 658. ARDIG, Opere filosofiche, 12 vol., Pdua, 1882-1918; Scienza delVeducazione, Pdua, 1893; Scritti vari, ed. Marchesini, Florena, 1912. No 70.1 aniversrio de R.A., escritos vrios ae cuidado de G. MARCHESINI e A. GRoPPALI, Turim, 1898; BARTOLOMEI, Il principi fondamentali dellIetica di R.A., Roma, 1899; AL. ILEVI, Il diritto naturale nella f"ofia di R. A., Pdua, 1904; G. MARCHESINi, La vita e il pensiero di R.A., Milo, 1907; ID. Lo spirito evangelico di R.A., Bolonha, 1911; ID. R.A., l'uomo e l'umanista, Florena, 1922; E. TROILO, Il maestro del positivismo italiano, Roma, 1921; R. MONDOLFO, Il pensiero, di R.A., 1908; J. BLUWSTEIN, Die Weltanschauung R.A.s., Leipzig, 1911; E. TRomo, A. (perfil), Milo; F. AMERio, A. Milo, 1957. 1 659. Sobre o monismo: R. EISLER, Geschichte des Monismus, Leipzig, 1910. Sobre Haeckel: E. VM HARMANN, E. H., in. Ge-sammelte Studien und Aufstze, Berlim, 1876; W. BOLScHE, E. H., ein Lebensbild, Dresden, 1900; E. ADICKES, gant contra H. Berlim, 1901; F. PAULSEN, E. H., ats Philosaph, in Philosophia militans, Berlim, 1901; M. APELT, Die Weltanschauung, H.s., Berlim, 1908; K. HAUSER, E. H. Godesborg, 1920; H. SCHMIDT, E. H. Leben und Werke, 1908; K. HAusER, E.H., Godesborg, 1920; H. SCI1MIDT, E. H., Leben und Werke, Berlim, 1920, 86 660. Sobre Feclmer: K. LASSVITZ; G. Th. F., Estugarda, 1896, 3.a ed. 1910. Sobre Wundt: EDm. KNIG; W. W., seine Philosophie und Ps-ychologie, Estugarda, 1901, 3.1 ed. 1909; H. HOFFDING, Moderne Philosophen, Leipzig, 1906 - Sobre a teoria do conhecimento e a psicologia: G. LACHELIER, La thorie de Ia connaissance de W., in "Revue Philosophique", 1880, ID., Les lois psychologiques dans Vcole de W., ibid., 1885.
Sobre a metafisica: G. LACHELIER, La metaphisique de W. ibid., 1890. Sobre Hobhouse. TH. GREENWOOD, Le principe de Ilvolution emergente, in "Sigma", Roma, 1948. Sobre Fouille, H~DING, Op. Cit.; A. GuiAyu, La philosophie et Ia sociologie dIA.F., Paris, 1213; E. CANNE de BEAuCOUDREY, La Psychologie et Ia metaphysiqu-e des ides-forces chez A.F., Paris, 1933. Sobre Guyau: "uiLLE, La morale, Ilart et Ia religion d'aprs G., Paris, 1889; HOFFDING, Op. Cit.; J. ROYCE, in Stu4es of Good and Evil, Nova lorque, 1910; A. PASTORE, J.M.G. e Ia genewi delllidea di tempo, Lugano, 1910. 87 NIETZSCHE XIII NIETZSCHE 661. A FIGURA DE NIETZSCHE A doutrina de Nietzsche liga-se a correntes diversas, embora no se file em nenhuma: o evolucionismo, o irracionalismo, a filosofia da vida; e apesar de ser ainda dominada pela aspirao romntica ao infinito, ope-se ao idealismo e pretende estabelecer uma clara inverso dos valores tradicionais. A sua influncia exerceu-se, analogamente, em orientaes dispares; e as suas interpretaes mais populares so as mais alheias ao esprito autntico do filsofo. Uma destas interpretaes a de um estetismo hedonstico e decadente que foi representado pela obra e pela figura de D'Annunzio-, outros viram nela uma teoria da raa superior e no super-homem o expoente ou exemplar dessa raa. Mas a primeira destas interpretaes falsa, dado o carcter trgico e cruel 89 que Nietzsche, tal como Schopenhauer, atribui vida; carcter que exclui todo o comprazimento hedonstico ou estetizante; e a segundo igualmente falsa, uma vez que Meusche identificou o super-homem com o filsofo na acepo de profeta de uma nova humanidade e, deste ponto de vista, a noo de uma "raa, de super-homens" apresenta-se-nos absurda e pueril. Tais utilizaes da doutrina de Nietzsche tm relao com alguns aspectos mais aparentes dela, mas s o decerto estranhas sua orientao fundamental, que, como veremos, de natureza cosmolgica. No plano antropolgico e tico, o que Nietzsche quis propor foi uma nova tcnica de valores, os valores vitais, que, de facto, entraram de algum modo na considerao do pensamento filosfico e cientfico e constituem o contributo maior da sua doutrina para a problemtica da filosofia contempornea.
662. NIETZSCHE: VIDA E OBRA Frederico Nietzsche nasceu em Rcken perto de Lutzen a 15 de Outubro de 1844. Estudou filologia clssica em Bona e em Leipzig, sob a orientao de Frederico RistchI, e nestes estudos se foi desenvolvendo o seu entusiasmo romntico pela antiguidade grega. Em Leipzig leu pela primeira vez a obra de Schopenhauer O mundo como vontade e representao, que o entusiasmou. Num fragmento autobiogrfico de 1867, escreveu: "Nela cada linha denunciava renncia, negao, resignao; nela via o mundo como um espelho, a vida e a minha prpria alma, 90 cheias de horror; nela, semelhante ao sol, o grande olho da arte me fixava, separado de tudo; nela, via enfermidade e cura, desterro e refgio, inferno e cu". Os trabalhos do jovem fillogo atraram sobre ele a ateno dos ambientes cientficos; e em 1869, aos vinte e quatro anos, Nietzsche foi chamado ctedra de filologia clssica da Universidade sua de Basileia. A, Nietzsche travou amizade com Ricardo Wagner, que se retirara com Cosima Bullow para a vila de Triebschen, no lago dos Quatro Cantes, e se tornou um fervoroso admirador do msico. Em 1872, Meusche publicou o seu primeiro livro, O nascimento da tragdia, que suscitou a hostilidade dos fillogos e foi ignorado pelo grande pblico. No ano seguinte (1873), Meusche publicou as suas quatro Consideraes intempestivas. Entretanto, a amizade com Wagner ia esmorecendo: Nietzsche via cada vez mais nele o extremo representante do romantismo e parecia-lhe aperceber na ltima fase da sua obra, orientada nostalgicamente para o cristianismo, um abandono daqueles valores vitais que eram prprios da antiguidade clssica e um esprito de renncia e de resignao. Humano, demasiado humano, publicado em 1878, assinala a sua separao de Wagner e de Schopenhauer. Entretanto, a sade do filsofo ia-se debilitando. J em 1875 fora obrigado a interromper o seu ensino em Basileia e em 1879 renunciou definitivamente ctedra. Da em diante a sua vida foi a de um enfermo inquieto e nervoso; viveu quase sempre na Sua e na Itlia setentrional, ocupado inteiramente pela com91 posio dos seus livros e pela esperana, impaciente, mas sempre desiludida, de que suscitassem sua volta uma legio de discpulos e de sequazes. Em 1880 saiu a segunda parte de Humano, demasiado humano, que tem o ttulo O viajante e a
sua sombra, que um hino de esperana na morte. A morte, no entanto, no veio. Em 1881 Nietzsche publicou A aurora, livro em que se apresenta pela primeira vez abertamente as teses tpicas da doutrina nietzscheana. Seguiu-se A gaia cincia (1882) em que se firma, vitoriosamente a esperana do filsofo de poder conduzir a humanidade a um novo destino. Meusche cr que pode fugir solido e encontrar a compreenso e o xito. Mas sobrevm um incidente que o desilude. Em 1882 conheceu uma jovem finlandesa de 24 anos, Lou Salom, em quem julga ter encontrado um discpulo e uma companheira excepcionais. Mas ela recusou despos-lo, e casou-se algum tempo depois com o amigo e discpulo de Nietzsche, Paulo Re. Nietzsche sentiu-se abandonado e trado. Entre 1883 e 1884 comps o seu poema filosfico Assim falou Zaratustra; mas este livro foi publicado apenas em 1891 quando Nietzsche j se afundara nas trevas da loucura. Em 1885 publicou Para alm do bem e do mal, uma das suas obras mais significativas, mas que, como todas as outras, 'no teve xito imediato. Seguiram-se: A genealogia da moral (1887), e, a seguir, O caso Wagner, O crepsculo dos dolos. O anticristo, Ecce homo, Nietzsche contra Wagner, opsculos e libelos que Nietzsche comps em 1883. O Ecce Homo 92 uma espcie de autobiografia. Entretanto, Nietzsche estabelecera-se em Turim, "a cidade que se revelou, como a minha cidade". Ali continuou a trabalhar na sua ltima obra, a Vontade de poderio, que ficou incompleta. Mas em Fevereiro de 1889, num acesso de loucura, lanou-se ao pescoo de um cavalo maltratado pelo dono diante da habitao do filsofo, em Turim. Nietzsche permaneceu ainda durante dez anos imerso numa demncia mansa, em que afloravam de quando em quando as reminiscncias e as desiluses da sua vida atormentada. Num bilhete a Cosima Wagner escreveu: "Ariana, amo-te", e, numa outra carta, refere-se a Cosima-Ariana. Falou-se, por isso, num amor infeliz de Nietzsche por Cosima Wagner: mas na realidade, a vida e as obras do filsofo no mostram sinais (salvo o episdio isolado de Lou Salom) de um autntico amor. Os amigos que teve e em que tanto confiava foram-se afastando pouco a pouco da sua obra. E a sua fama comeou precisamente, quando, afundado na loucura, j no podia dar-se conta dela. Nietzsche morreu a 25 de Agosto de 1900; os livros que publicara a suas expensas corriam agora o mundo. A obra de Nietzsche choca com demasiadas e demasiado arraigadas convices e tradies para que no se tenha tentado atribu-Ia inteiramente sua loucura. Mas to-pouco seria lcito considerar o fim infeliz da sua vida como puramente acidental e insignificante para a compreenso da sua obra. Isto no lcito, porque Nietzsche entendeu e realizou a existencialidade da filosofia e, por isso, a
93 sua obra inscreve-se profundamente no ciclo da sua vida e dele deve receber a sua justa elucidao e o seu autntico significado. A investigao filosfica, como ele a concebeu e praticou, explicitamente subjectiva e autobiogrfica, e daqui extrai a sua fora e a sua validez. "0 desinteresse - diz Nietzsche (Die froeliche Wiss, 345) -no tem valor nem no cu nem na terra; todos os grandes problemas exigem um grande amor e s espritos rigorosos, claros e seguros, somente os espritos slidos, so capazes de tal. Uma coisa um pensador tomar pessoalmente posio frente aos seus problemas para encontrar neles o seu destino, o seu infortnio e tambm a sua maior felicidade, outra aproximar-se desses problemas de modo "impessoal", isto , abord-los e atingi-los s com fria curiosidade. Neste ltimo caso, nada pode resultar, j que uma coisa certa: que os grandes problemas, mesmo admitindo que se deixem alcanar, no se deixam apreender pelos dbeis e pelos seres de sangue de r". Alm disso (Will zur Macht, pref.), Nietzsche declara querer ser, na sua investigao, absolutamente pessoal, dizer as coisas mais abstractas da maneira mais corporal e sangunea, e considerar toda a histria como se a houvesse vivido e sofrido pessoalmente, No se pode deixar de ter em conta estas suas explcitas afirmaes que encontram correspondncia em toda a sua obra. O centro do filosofar de Meusche deve fornecer a chave no s das suas doutrinas fundamentais mas tambm do mosaico da sua vida e da dissoluo da sua personalidade. 94 663. NIETZSCHE: DIONISO OU A ACEITAO DA VIDA O encontro de Meusche com Schopenhauer no se repercutiu apenas na primeira fase da vida de Nietzsche. Na realidade, o diagnstico de Schopenhauer sobre o valor da vida foi o pressuposto constante da obra de Nietzsche, mesmo quando este rejeita o condena a atitude de renncia e de abandono que daquele diagnstico Schopenhauer extrara. A vida dor, luta, destruio, crueldade, incerteza, erro. a irracionalidade mesma: no tem, no seu desenvolvimento, nem ordem nem finalidade, o acaso domina-a, os valores humanos no encontram nela nenhuma raiz. Duas atitudes so ento possveis frente vida. A primeira a da renncia e da fuga, que d lugar ao ascetismo; esta a atitude que Schopenhauer extraiu da sua diagnose e , segundo Nietzsche, prpria da moral crist e da espiritualidade comum. A segunda a da aceitao da vida tal como , com as suas caractersticas originrias e irracionais, e conduz exaltao da vida e superao do homem. Esta a atitude de Nietzsche. Toda a obra de Meusche visa a esclarecer e a defender a aceitao total e entusistica da vida. Dioniso o smbolo divinizado desta aceitao, e Zaratustra o seu profeta. Dioniso "a afirmao religiosa da vida total, no renegada nem dilacerada". a exaltao entusistica do mundo tal como ele , sem diminuio, sem excepo e sem escolha: exaltao infinita da infinidade da vida. O esprito dionisaco diametral-
95 mente oposto aceitao resignada da vida, atitude de quem v nela a condio negativa destes valores de bondade, de perfeio, de humildade, que so a sua negao. a vontade orgistica da vida na totalidade da sua potncia infinita. Dioniso o deus da embriaguez e da alegria, o deus que canta, ri e dana; ele execra toda a renncia, toda a tentativa de fuga frente vida. Isto quer dizer, segundo Nietzsche, que a aceitao integral da vida transforma a dor em alegria, a luta em harmonia, a crueldade em justia, a destruio em criao. Renova profundamente a tbua dos valores morais. Nietzsche cr que todos os valores fundados na renncia e na diminuio da vida, todas as chamadas virtudes que tendem a mortificar a energia vital, e a destroar e a empobrecer a esperana e a vida, degradam o homem e, por conseguinte, so indignas dele. Nietzsche d virtude o significado amoral que ela teve no Renascimento italiano. virtude toda a paixo que diz sim vida e ao mundo: "0 orgulho, a alegria, a sade, o amor sexual, a inimizade e a guerra, a venerao, as atitudes belas, as boas maneiras, a vontade inquebrantvel, a disciplina da intelectualidade superior, a vontade do poder, a gratido terra e vida - tudo quanto rico e quer gratificar a vida, dour-la, eterniz-la e diviniz-la - todo o poder destas virtudes que transfiguram, tudo o que aprova, afirma e age por afirmao" (Wille zur Macht, 479). Estas paixes que j nada tm de primitivo, porque so o regresso consciente do homem s fontes originrias da vida, constituem a nova tbua dos valores fundada na aceitao infinita da vida. Nietzsche pe crua96 mente o dilema entre a moral tradicional e a que ele defende: mas, na realidade, este dilema est includo no outro, que o solo fundamental, entre a aceitao da vida e a renncia vida, entre o sim e o no frente ao mundo. Somente o acto da aceitao, a escolha livre e jovial do que a vida na sua fora primitiva, determina a transfigurao dos valores e orienta o homem para a exaltao de si mesmo, e no para o abandono e a rennciaO carcter romntico da atitude de Nietzsche evidente nesta infinitizao ou divinizao da vida. Dioniso ignora e desconhece todos os limites humanos. A vida , na verdade, essencialmente dor e toda a arte, como toda a filosofia, pode ser considerada como uma medicina e um auxilio vida que cresce e luta. Mas aqueles que sofrem de um empobrecimento da vida pedem arte e filosofia a calma e o silncio ou ento a embriaguez e o atordoamento, e esses vo ao encontro do que Nietzsche chama o romantismo filosfico e artstico, o romantismo de Schopenhauer e de Wagner. O homem dionisaco possui, ao invs, uma superabundncia de vida e tende para uma viso trgica da vida interior e exterior. Dioniso no s se compraz no espectculo terrvel e inquietante, seno que ama o fado terrvel em si mesmo e o luxo da destruio, da desagregao, da negao; a malvadez, a insnia, a brutalidade, parecemlhe, de qualquer modo, permitidas por uma superabundncia vital que capaz de converter num
pas frtil qualquer deserto (Die froeliche Wiss, 730). Por isso, nos males e horrores da vida, Dioniso no distingue um limite insupervel que encerre o homem 97 em confins bem definidos, mas antes o sinal de uma riqueza superior a todos os limites, a infinidade de uma fora que se expande para l de todos os obstculos e que fecunda e transfigura tudo. Pelo mesmo motivo, Dioniso rejeita e afasta a ideia da morte. Os homens imaginam que o passado no nada ou pouca coisa e que o futuro tudo. Cada qual quer ser o primeiro no futuro e, todavia, a morte e o silncio da morte so as nicas certezas que todos temos em comum. "Como estranho-nota Nietzsche (Ib., 278)que esta nica certeza, esta nica comunho seja incapaz de agir sobre os homens e que estes estejam to longe de sentir a fraternidade da morte". E, contudo, o prprio Nietzsche rejeita e anula esta fraternidade, rejeitando a ideia da morte. "Apraz-me verificar que os homens se recusam absolutamente a conceber a ideia da morte e quereria contribuir para tornar ainda mais digna de ser pensada a ideia da vida". Rejeitando a ideia da morte rejeita-se a marca mais evidente da finitude humana. Dioniso o smbolo da aceitao da vida e tambm o smbolo da negao de todos os limites humanos. 664. NIETZSCHE: A TRANSMUTAO DOS VALORES Na transmutao dos valores, Nietzsche v a sua misso, o seu destino. "A minha verdade -diz ele (Ecce Homo, 4) - assusta porque at agora se chamou verdade mentira. Inverso de todos o valores; eis a minha frmula para um acto de supremo reconhecimento de si, de toda a humanidade, acto que em 98 mim se tomou carne e gnio. O meu destino exige que eu seja o primeiro homem honesto, que eu me sinta em oposio s mentiras de vrios milnios". A inverso dos valores apresenta-se na obra de Nietzsche como uma crtica moral crist, reduzida por ele substancialmente moral da renncia e do ascetismo. A moral crist a revolta dos indivduos inferiores, das classes submetidas e escravas, casta superior e aristocrtica. O seu verdadeiro fundamento o ressentimento: o ressentimento daqueles a quem a verdadeira reaco, a da aco, interdita, e que encontram compensao numa vingana imaginria". Enquanto toda a moral aristocrtica nasce de uma afirmao triunfal de si, a moral dos escravos ope desde o princpio um no ao que no faz parte dela mesma, ao que diferente de si e constitui o seu no-eu; e este o seu acto criador. Esta inverso do olhar valorativo, este ponto de vista que se inspira necessariamente no exterior, em vez de se fundar em si mesmo, prprio do ressentimento (Genealogie der Moral, 1, 10). Os fundamentos da moral crist: o desinteresse, a abnegao, o sacrifcio de si, so fruto do ressentimento do homem dbil frente vida. a vida que se pe contra a vida, a fuga perante a vida. O ideal asctico um expediente para conservar a vida no estado de degenerao e decadncia a que o reduziu a frustrada aceitao da mesma. E os puros de corao, as almas belas que se vestem poeticamente da sua virtude, so, tambm, seres ressentidos,
que albergam dentro de si um subterrneo esprito de vingana contra os que encarnam a riqueza e a potncia da vida. A prpria cincia no est longe do 99 ideal asctico do cristianismo pela sua adorao verdade objectiva, pelo seu estoicismo intelectual que probe o sim e o no frente realidade, pelo seu respeito aos factos e a renncia interpretao deles. A crena na verdade objectiva a transformao ltima do ideal asctico. O homem verdico, verdico no sentido extremo e temerrio que a f na cincia pressupe, afirma assim a f num mundo diverso do da vida, da natureza e da histria, e na medida em que afirma este mundo diferente, deve negar o outro (Die froeliche Wiss, 344). O resultado tambm aqui o empobrecimento da energia vital: a dialctica torna o lugar do instinto, a gravidade imprime a sua marca no rosto e nos gestos como sinal infalvel de uma evoluo mais penosa da matria, e de um afrouxamento das funes vitais (Genealogie der Moral, 3, 25). O tipo ideal da moral corrente, o homem bom, existe apenas custa de uma mentira fundamental; j que fecha os olhos perante a realidade e no quer, de forma alguma, ver como ela feita: de facto, a realidade no de molde a estimular, a cada instante, os instintos de benevolncia nem sequer a permitir a cada momento uma interveno bem intencionada e estpida. O resultado ltimo da concepo do mundo fundada na no aceitao da vida o pessimismo, que, na sua expresso final, o niilismo. Nega-se a vida porque inclui a dor e o mundo desaprovado em benefcio de um mundo ideal em que se repem todos os valores antivitais. A estas noes do ascetismo, contrape Nietzsche as mais vigorosas e entusisticas afirmaes. Tudo o 100 que terrestre, corpreo, anti-espiritual, irracional, exaltado por Nietzsche com a mesma violncia com que a moral asctica o condena. "0 meu eu-diz Zaratustra - ensinou-me um novo orgulho e eu ensino-o aos homens: no enterreis a cabea na areia das coisas celestes, mas levantai-a altivamente, uma cabea terrestre que cria o sentido da terra. Eu ensino aos homens uma vontade nova: seguir voluntariamente a via que os homens seguiram cegamente, aprovar esta vida e no procurar fugir-lhe cegamente, como' os doentes e "os decrpitos". A existncia do homem uma existncia inteiramente terrestre: o homem nasceu para viver na terra e no h outro mundo para ele. A alma, que deveria ser o sujeito da existncia ultra-terrena, insubsistente: o homem apenas corpo. "Eu sou inteiramente corpo e nada mais, diz Zaratustra: a alma apenas uma palavra que indica uma partcula do corpo. O corpo um grande sistema de razo, uma multiplicidade com um nico sentido, uma guerra e uma paz, um rebanho e um pastor". O verdadeiro eu do homem o corpo, a que Nietzsche chama "a grande razo", em que o homem consubstancia o seu eu singular. A verdadeira subjectividade do homem no a que ele indica com o monosslabo eu, mas o si mesmo que a um
tempo corpo e razo. Encontra-se tambm em Nietzsche uma crtica do princpio cartesiano, que uma das mais radicais. "Dizer que quando se pensa mister que haja algo que pense, - diz Nietzsche simplesmente a formulao do hbito gramatical que aco junta um agente. Se se reduz a proposio a isto: "Pensa-se, logo existem pensamentos", ela re101 sultar numa simples tautologia e "a realidade do pensamento" fica excluda, o que leva a reconhecer apenas a aparncia do pensamento. Mas Descartes queria que o pensamento fosse, no uma realidade aparente, mas um em si" (Wille zur Macht, 260). A reivindicao da natureza terrestre do homem est implcita na aceitao total da vida que prpria do esprito dionisaco. Em virtude de tal aceitao, a terra e o corpo do homem transfiguram-se: a terra deixa de ser o deserto em que o homem se encontra desterrado e converte-se na sua residncia jubilosa; o corpo cessa de ser priso ou tmulo do homem e converte-se no seu verdadeiro eu, A transfigurao dos valores entendida por Nietzsche como a anulao dos limites, como a conquista de um domnio absoluto do homem sobre a terra e o seu corpo, como a eliminao do carcter problemtico da vida e de toda a perda ou transvio a que o homem possa estar sujeito. 665. NIETZSCHE: A ARTE Ao esprito dionisaco se vincula a arte, que assim se torna para Nietzsche a expresso mais elevada do homem. Na sua primeira obra, O nascimento da tragdia (1872), Nietzsche reconhecera como fundamento da arte a dualidade do esprito apolneo e do esprito dionisaco, o primeiro dos quais domina a arte plstica, que harmonia de formas, e o segundo a msica, que , ao invs, destituda de forma por ser embriaguez e exaltao entusistica. Foi graas 102 ao esprito dionisaco, afirma Nietzsche, que o povo grego logrou suportar a existncia. Sob a influncia ZD da verdade contemplada, o grego via por toda a parte o aspecto horrvel e absurdo da existncia. A arte veio em seu auxlio, transfigurando o horrvel e o absurdo em imagens ideais, em virtude das quais a vida se tomou aceitvel. Tais imagens so o sublime, com o qual a arte domina e sujeita o horrvel, e o cmico, que liberta da repugnncia do absurdo (Die Geburt der Trag, 7). A transfigurao foi realizada pelo esprito dionisaco, modulado e disciplinado pelo esprito apolneo, e deu lugar, respectivamente, tragdia e comdia. O pessimismo, transfigurado pela arte, obstou a que os Gregos fugissem perante a vida.
Isto acontecia na juventude do povo grego, depois, com o aparecimento de Scrates e do platonismo, o esprito dionisaco foi combatido e perseguido, e foi assim que comeou, com a renncia vida, a decadncia do povo grego. As subsequentes especulaes de Meusche sobre a arte confirmam a estreita conexo desta com o esprito dionisaco. A arte condicionada por um sentimento de fora e de plenitude, que se manifesta na embriaguez. No so estados artsticos os que dependem de um empobrecimento da vontade: a objectividade, a abstraco, o empobrecimento dos sentidos, as tendncias ascticas. O feio, que a negao da arte, est ligado a tais estados: "De cada vez que nasce a ideia de degenerao, de empobrecimento da vida, de impotncia, de decomposio, de dissoluo, o 103 homem esttico reage com um no" (Wille sur Macht, 357). A beleza a expresso de uma vontade vitoriosa, de uma coordenao mais intensa, de uma harmonia de todas as vontades violentas, de um equilbrio perpendicular infalvel. "A arte -diz Nietzsche - corresponde aos estados de vigor animal. Por um lado, o excesso de uma constituio florescente que se desentranha no mundo das imagens e dos desejos; por outro, a excitao das funes animais mediante as imagens e os desejos de uma vida intensificada, uma sobrevalorizao do sentimento da vida e um estimulante desta". essencial arte a perfeio do ser, o cumprimento e orientao do ser para a plenitude; a arte , essencialmente, a afirmao, a bno, a divinizao da existncia. O estado apolneo no mais do que o resultado extremo do inebriamento dionisaco; uma espcie de simplificao e concentrao da embriaguez mesma. O estilo clssico representa este repouso e a forma mais elevada do sentimento de poder. Isto no implica que na arte o homem se abandone sem freio aos seus instintos. Se o artista no quer ser inferior sua misso, deve dominar-se e adoptar um modo de vida sbrio e casto. precisamente o seu instinto dominante que exige isto dele e no lhe permite dispersar-se de maneira a permanecer inferior s exigncias da arte (Wille zur Macht, 367). Em geral, um certo ascetismo, uma renncia aceite de bom grado, dura e serena, faz parte das condies favorveis de uma espiritualidade superior (Genealogie der Moral, 3, 9). " Reconhece-se o 104 filsofo - diz Nietzsche (Ib., 3, 8) - por evitar trs coisas brilhantes e ruidosas: a glria, os princpios e as mulheres, o que no quer dizer que elas no venham ter com ele. Foge da luz demasiado viva: foge tambm do seu tempo e luz que ele irradia. Nisso assemelha-se sombra: quanto mais o sol baixa, mais a sombra cresce". Mas nada parece a Nietzsche to estril como a frmula da arte pela arte e o chamado desinteresse esttico. Recordo a frase de Stendhal que definiu a beleza como
"uma promessa de felicidade" (Ib., 3, 6). O pessimismo artstico a contrapartida exacta do pessimismo moral e religioso. Este sofre com a corrupo do homem e da vida. A arte, ao invs, considera belo tambm o que o instinto de impotncia considera como digno de dio, isto , feio. A arte aceita o que h de problemtico e de terrvel na vida, a mais total e entusistica afirmao da vida. "A profundidade do artista trgico consiste em que o seu instinto esttico abarca as consequncias longnquas e no se detm nas coisas mais prximas; afirma, a economia em grande, a economia que justifica o que terrvel, mau e problemtico e no se contenta apenas em justific-lo" (Will zur Macht, 374). Nietzsche repete aqui, a seu modo, a ide.-*a central da esttica de Kant: a arte transforma, com um acto de aceitao, a debilidade humana em fora, a impotncia em poder, a problematicidade em certeza. Mas para Kant a arte confirma e consolida assim a finitude do homem, da qual uma das manifestaes positivas fundamentais. Para Nietzsche, a arte abre ao homem o infinito do poder e da exaltao de si. 105 666. NIETZSCHE: O ETERNO RETORNO "Tu s profeta do eterno retomo, esse o teU destino", dizem a Zaratustra os seus animais. E, na realidade, o eterno retomo a frmula simples e completa que abarca e reduz unidade todos os aspectos da doutrina de Nietzsche, e exprime igualmente o destino do homem e o do mundo. O eterno retorno o sim que o mundo diz a si mesmo, a auto-aceitao do mundo. O eterno retorno a expresso csmica daquele esprito dionisaco que exalta e abenoa a vida. O mundo apresenta-se a Nietzsche desprovido de todo o carcter de racionalidade. "A condio geral do mundo , para toda a eternidade, o caos, no como ausncia de necessidade, mas como falta de ordem de estrutura, de forma, de beleza, de sabedoria e de todos os nossos esteticismos humanos" (Die frofiche Wiss, 109). O mundo no perfeito nem belo nem nobre e no admite nenhuma qualificao que possa referir-se de algum modo ao homem. Os nossos juzos estticos e morais no o concernem, nem tm qualquer finalidade. Se o devir do mundo devesse tender a um trmino definitivo, a uma condio final de estabilidade, ao ser ou ao nada, esse termo definitivo devia ter j sido alcanado; esta a nica certeza que temos acerca do mundo, segundo Nietzsche (Wille zur Macht, 384). Deste modo se exclui do mundo todo o carcter racional: o acaso domina-o. "Um pouco de razo, diz Zaratustra, um gro de sabedoria disperso de estrela em estrela, este fermento mistura-se a todas as coisas; mas s graas loucura a 106 sabedoria se mistura a todas as coisas. Um pouco de sabedoria possvel; mas eu encontrei em todas as coisas esta certeza feliz: elas preferem danar sobre os ps do acaso". Mas esta exploso de foras desordenadas, este "monstro de foras sem princpio nem fim", este mundo tem em si uma necessidade que a sua vontade de se reafirmar e, por isso, de retomar eternamente a si mesmo. Tal mundo "afirma-se a si mesmo, at na sua uniformidade que permanece a mesma no curso dos anos; bendiz-se a si mesmo, porque o que deve eternamente regressar, porque o devir que no conhece saciedade, nem
desgosto, nem fadiga" . Este mundo dionisaco da eterna criao de si e da eterna destruio de si, no tem outra finalidade seno a "finalidade do crculo"; no tem outra vontade se no a do crculo que tem a boa vontade de seguir o seu prprio caminho (Ib., 385). A necessidade de devir csmico no , portanto, mais do que a vontade de reafirmao. Desde a eternidade, o mundo aceita-se a si mesmo, e repete-se. O eterno retomo uma verdade terrvel que pode destruir o homem ou exalt-lo: frente a ele medese a fora do homem, a sua capacidade de se superar. O pensamento de que esta vida, tal como a vivemos, ter de ser revivida ainda outra vez e uma quantidade inmera de vezes, que no haver nada de novo e que tanto as coisas maiores como as mais pequenas voltaro, para ns, na mesma sucesso e na mesma ordem, este pensamento tal que pode lanar no desespero o homem aparentemente mais forte. E, contudo, no existe outra alternativa, a no ser que se feche os olhos 107 ante esta verdade sobrehumana: o homem deve conformar a sua vida ao enigma de Dioniso. Cumpre fazer muito mais do que suportar tal pensamento: mister, diz Nietzsche, entregar-se ao anel dos anis. Cumpre fazer o voto do regresso de si mesmo com o anelo da eterna bno de si mesmo e da eterna auto-afirmao; cumpre alcanar a vontade de querer que retorne tudo o que j aconteceu, de querer no futuro tudo o que acontecer (Ib., 385). preciso amarmos a vida e a ns mesmos para l de todos os limites, a fim de no podermos desejar outra coisa seno esta eterna e suprema confirmao (Die froeliche Wiss., 341). O mundo oferece ao homem o espelho em que deve mirar-se. O esprito dionisaco o esprito do universo inteiro, ainda antes de ser o que leva o homem superao de si. 667. NIETZSCHE: "AMOR FATI" "A frmula de grandeza do homem - diz Nicusche - amor fati; no querer nada de diverso daquilo que , nem no futuro, nem no passado, nem por toda a eternidade. No s suportar o que necessrio, mas am-lo". Este amor liberta o homem da servido do passado, uma vez que por ele o que foi se transforma no que eu queria que fosse. A vontade no pode fazer com que o tempo volte para trs: por isso, o passado se lhe impe e a faz prisioneira. Deste cativeiro expresso a doutrina de que tudo o que passou merecia passar e que o tempo exerce sobre as coisas uma justia punitiva infalvel. O esprito do ressentimento preside a estas doutrinas que sepa108 ram a existncia do tempo e vem neste o castigo e a maldio da existncia. Zaratustra afirma, ao invs, a criatividade da vontade com respeito ao tempo. "Tudo quanto foi fragmento, enigma, acaso terrvel, at que a vontade criadora afirme: eu quis que fosse assim, eu quero que assim seja, eu quererei que seja assim". Por esta aceitao o passado cessa de ser um vnculo da vontade e a vontade compreende o passado no ciclo do seu poder. Na segunda das Consideraes intempestivas ("Da utilidade e dos inconvenientes dos estudos histricos para a vida", 1873), Nietzsche estabelecera um antagonismo entre a vida
e a histria. Um fenmeno histrico, estudado de modo absoluto e completo, reduz-se a um fenmeno objectivo e morto para aquele que o estuda, porque este reconheceu a loucura, a injustia, a paixo cega e, em geral, todo o horizonte obscuro e terrestre do prprio fenmeno. Por outro lado, Nietzsche afirmara que a vida tem necessidade dos servios da histria. "A histria pertence ao ser vivente sob trs aspectos: pertence-lhe porque activo e aspira; porque conserva e venera; porque sofre e necessita de libertao. A esta trindade de relaes correspondem trs espcies de histria e podem-se distinguir no estudo da histria um ponto de vista monumental, um ponto de vista arqueolg*co e um ponto de vista crtico". Que os grandes momentos da luta dos indivduos formem uma s cadeia, que as manifestaes mais altas da humanidade se unam atravs dos milnios, que o que existe de mais elevado no passado possa ainda reviver e avultar, tal a ideia que serve de fundamento histria mo109 numental. Em virtude deste tipo de histria, o homem activo, o lutador, encontra no passado os mestres, os exemplos, os consoladores de que tem necessidade e que o presente lhe nega. Deste modo, conclui que a grandeza que aconteceu foi decerto possvel, e por isso ser tambm possvel no futuro. A histria arqueolgica nasce, ao invs, quando o homem se detm a considerar o que foi convencionado e admirado no passado, a mediocridade constitutiva da vida quotidiana. A histria arqueolgica d s concluses modestas, rudes e mesmo precrias da vida de um homem ou de um povo, um sentimento de satisfao, radicando-a no passado, mostrandoa como a herdeira de uma tradio que a justifica. Mas para poder viver, o homem tem tambm necessidade de romper com o passado, de o aniquilar, para se refazer e se renovar. para isso que serve a histria crtica que arrasta o passado ao tribunal, instrui severamente um juzo contra ele e, por fim, o condena. Todo o passado , de facto, merecedor de condenao porque, nas coisas humanas, a debilidade e a fora andam sempre unidas. Quem condena no verdadeiramente a justia, mas a vida; mas, o mais das vezes, a sentena seria a mesma se a justia em pessoa a tivesse pronunciado. Fora destes servios que a histria pode prestar vida, Nietzsche julgava o excesso dos estudos histricos nocivo vida e sobretudo ruinoso para as personalidades fracas, ou seja, no bastante vigorosas para valorizarem a histria em funo de si prprias e levadas por isso a modelarem-se sobre o passado. Com efeito, concebia ainda a vida como uma potncia no histrica, Ho qual a considerao histrica fosse estranha e subordinada. O eterno retorno e o amor lati mudaram implicitamente este ponto de vista. A aceitao total da vida implica, como se viu, a aceitao do passado, a vontade que ele seja tal como foi. No acto desta aceitao, a vida mesma se pe como historicidade, e se liga ao passado, assumindo-o voluntariamente. 668. NIETZSCHE: O SUPER - HOMEM Se a doutrina do eterno retorno a frmula central, csmica, do filosofar de Nietzsche, a do super-homem o seu termo final, a sua ltima palavra. A aceitao da vida no , para Nietszche, a aceitao do homem. Este o ponto posto a claro pela espera messinica do
super-homem defendida por Zaratustra. "0 homem deve ser superado, diz Zaratustra. O super-homem o sentido da terra... O homem uma corda tensa entre o animal e o homem, uma corda sobre o abismo. O que existe de grande no homem que ele uma ponte e no um termo. O que o toma digno de ser amado ele ser uma ponte e um pr-de-sol". O super-homem a expresso e a encarnao da vontade do poder. No subsiste, afirma Zaratustra contra Schopenhauer, uma vontade de vida. O que no vive no pode querer, mas aquilo que vive deseja algo mais que a vida, e na base de todas as suas manifestaes est a vontade de poder. A vontade de poder determina as novas valoraes, que so o fundamento da existncia sobrelmmana. 111 O homem deve ser superado: isto quer dizer que todos os valores da moral corrente, que uma moral de rebanho e tende ao nivelamento e igualdade, devem ser transmudados. A primeira caracterstica do super-homem a sua liberdade. Ele deve libertar-se dos limites habituais da vida e renunciar a tudo o que os outros prezam: deve pr todo o seu empenho em voar livremente, sem temor, por cima dos homens, dos costumes das leis e das apreciaes tradicionais (MenschUches, All zumenschUches, 34). O seu esprito deve abandonar toda a f , todo o desejo de certeza e habituar-se a firmar-se na corda bamba de todas as possibilidades (Die froeliche Wiss., 37). A sua mxima fundamental : torna-te no que s -no no sentido da concentrao numa escolha ou numa tarefa nica, mas no sentido da mxima diferenciao dos demais, de se encerrar na prpria excepcionalidade, na busca de uma solido inacessvel. A liberdade interior prpria do super-homem uma riqueza de possibilidades diversas, entre as quais ele no escolhe, porque as quer dominar e possuir todas. Daqui nasce a renncia certeza, que , pelo contrrio, limitao e renncia s diversas possibilidades do erro; da, tambm, a profundidade do super-homem, a impossibilidade de centrar a sua vida interior, de que nunca se atinge mais do que a mscara. "Tudo quando profundo diz Nietzsche (Jenseits von Gut und Bse, 40) gosta de encobrir-se; as coisas mais profundas odeiam a imagem e a semelhana". O superhomem tem "fundos e duplos fundos que ningum conseguiria percorrer at ao fim". Esta essncia misteriosa do 112 super-homem, este insondvel segredo da sua interioridade, em que Nietzsche v o signo da profundidade super-humana, no talvez o indcio da falta de um empenho e de uma misso que o liguem aos outros homens e o tornem portanto humanamente reconhecvel? O super-homem o filsofo do futuro. Os obreiros da filosofia, como Kant e Hegel, no so os verdadeiros filsofos; os verdadeiros filsofos so dominadores e legisladores: dizem
"como deve ser", preestabelecem a meta do homem e para isso utilizam os trabalhos preparatrios de todos os obreiros da filosofia e de todos os dominadores do passado. "Impulsionam para o futuro a mo criadora e tudo quanto existe e existiu se toma para eles um meio, um instrumento, um martelo. O seu conhecer equivale a criar, o seu criar a legiferar, o seu querer a verdade ao desejo de poder" (Jenseits, 211). As suas virtudes nada tm a ver com as dos outros, podem suportar a verdade, a inteira e cruel verdade sobre a vida e sobre o mundo; e assim podem aceitar verdadeiramente a vida e o mundo. 669. NIETZSCHE: A PERSONALIDADE IMPOSSVEL A filosofia de Nietzsche a filosofia de um grande romntico. A rede do infinito manifestase em todas as suas atitudes, em todos os elementos da sua doutrina, em cada pgina dos seus escritos. Mas Nietzsche quis atingir e realizar o infinito para o homem e no 113 homem. Quis que o homem reabsorvesse em si mesmo e dominasse o infinito poder da vida. Por isso a aceitao da vida e do mundo no para Nietszche a aceitao do homem como criatura finita: no pretende fundamentar as positivas capacidades humanas na sua prpria limitao, seno que procura transferir para o homem a infinidade e a limitao do seu poder. Tal a caracterstica do esprito dionisaco do qual derivam todas as caractersticas da atitude e da obra de Nietzsche. Em primeiro lugar, procede daqui a frmula csmica da aceitao de si: o eterno retorno. A reafirmao de si, de que nasce a transmutao dos valores e o super-homem, no , para Nietszche, algo especificamente humano. a necessidade que preside ao devir do mundo e em virtude da qual o prprio mundo retoma continuamente sobre os seus passos, repetindo eternamente os mesmos acontecimentos. Ao aceitar a vida, o homem no faz mais do que olhar-se no espelho do mundo que se reafirma, se exalta e se bendiz a si mesmo. Esta frmula generalizadora, que diminui o significado original da existncia humana e a responsabilidade da livre reafirmao do homem, tem um pressuposto cosmolgico: a crena (que chega a Nietzsche atravs de Schopenhauer) na identidade substancial do homem e do mundo, e, por conseguinte, na absoluta homogeneidade de todos os acontecimentos do mundo. A doutrina de Nietszche tem, por consequncia, um carcter cosmolgico, e no teolgico. O uso de smbolos ou de procedimentos religiosos, a polmica anticrist que condiciona de algum modo a orientao da sua doutrina e outros dispersos elementos desta doutrina que nos fazem pensar numa espcie de nostalgia religiosa de Nietzsche ou num seu novo anncio teolgico so, na realidade, os aspectos decorrentes de uni naturalismo cosmolgico, segundo o qual a iniciativa do nascimento e da destruio do inundo, na sua eterna mudana, devida ao prprio mundo; ou seja, vontade de poder que a natureza dele. Por outro lado, esta mesma orientao cosmolgica torna intil e insignificante a filosofia
como investigao. O filosofar no , para Nietzsche, um esforo paciente e metdico que se autodisciplina na razo, mas o fruto de uma vontade irracional, de uma exploso orgistica de entusiasmo. Em lugar de Scrates, o smbolo da filosofia como investigao, elege Dioniso, como smbolo da infinidade da vida. A sua obra mais significativa, Zaratustra, tudo menos um livro de investigao: poesia, profecia, esperana lrica e entusistica, e, como tal, revela j a inspirao do filsofo. A mxima torna-te no que s exclui a busca de si: prescreve somente um amor de si levado exasperao, Sendo assim, o acto de auto-afirmao renuncia a toda a justificao e fundamentao autnoma: torna-se num puro facto que se ope ao outro facto da no aceitao de si, sem que possa pretender a qualquer superioridade de valor. Mas sobre estes fundamentos, a unidade da pessoa impossvel. A unidade da pessoa a unidade, de uma misso que transcende o indivduo e na qual este encontra a razo da sua solidariedade com os outro homens, Toda a finalidade humana investigao e 115 trabalho metdico, autolimitao, reconhecimento do valor e da dignidade dos outros. Sem um fim determinado, em que o homem concentre e reconduza unidade a multiplicidade dos seus aspectos e das suas relaes com o mundo e com os outros, o indivduo, o eu, a pessoa, no so mais do que vazias generalidades, que no podem concretizar-se numa substncia vivente. Contra tal impossibilidade veio esbarrar o prprio Nietzsche. A tentativa de divinizar o homem, de o transformar, de criatura limitada e necessitada como , num ser autosuficiente no qual a vida realizasse o infinito do seu poder, sofreu um golpe decisivo na personalidade mesma daquele que a empreendeu. Durante toda a sua vida, Nietzsche procurou conquistar os valores que constituam para ele as caractersticas do superhomem: a boa sade e a fora fsica, a ligeireza do esprito, o entusiasmo vital, a riqueza e energia interna, a compreenso e amizade dos iguais, o xito do dominador. Tudo lhe foi negado, como lhe foi negado por ltimo a unidade e o equilbrio da sua prpria pessoa. A trgica concluso da sua vida um ensinamento no menos fecundo que as grandes palavras que ele soube encontrar para subtrair o homem existncia banal e restituir-lhe o sentido da excepcionalidade da grandeza e do risco. Mas a excepo, quando verdadeiramente tal, no quer mais do que referir-se regra, e todo o objectivo excepcional exige a humildade e a compreenso dos demais. Toda a grandeza tal no homem e pelo homem, no pretenso de uma impossvel superao do prprio ho116 inem. E o risco inevitvel na condio humana, mas em vez de ser desafiado e exaltado, h que ser reconhecido e enfrentado. NOTA BIBLIOGRFICA
662. A edio completa das obras de Nietszche foi publicada pela irm E. FOERSTERNIETZSCHE; W@-,rke, 15 vol., Leipzig, 1895-1N1. Uma reproduo desta edio em formato mais pequeno foi publicado em Leipzig, 1899-1912 ("Kleine Ausgabe"). Outra edio ainda mais manejvel foi publicada em Leipzig em 1906 em 10 vol. ("Taschenausgabe"), a que se seguiu o volume X1 (1913). Msta edio foi seguida por ns no texto. Outra edio "clssica" apareceueni Leipzig em 3 vol., 1919. -Outra edio em .19 vol. a "Musarion", Munique, 1923-29, e uma nova edio est em curso ao cuidado do Nietzsehe-Archiv de Weimar, 1933 sgs. Ge~melte Briefe, 5 vol., Berlim, 1900-09. Sobre a vida de Nietszche: E. FoERsTER-NIFTZSCHF,, D" Leben F.N., 3 vol, Leipzig, 1895-1904; 1d., Der junge N., Leipzig 1912; Der c@ns"me N., Leipsig, 1913; Lou AND~SALOM F.N., Viena, 1994 (trad. frane., Paris, M2); GEORGES WALTZ, La vie de P.N. dlaprs sa correspow~e, Paris, 1923; e as monografias citadas a seguIr. A monografia fundamental a de CH. ANDLER, N., sa vie et sa pemc, 6 vol., Paris, 192031. A obra de E. BERTRAm, N. Vermwh einer Mythologie, Berlim, 1919 (traduo frane., Paris, 1923) subtrai N. histria para o projectar no simbolo, e na lenda. A monogra.fa de K. JASPERS, N. Einfhrung in das Verstandnis sei?ws Phiiosophi~, Berlim, 1936, uma inteijwetaFio nos termos da filosofia da existncia de Jaspets. 117 A. RMIL, F.N. der Kunster und der Dc.,rker, Estugarda, 1897 E.; ZOCCOLI, N., Modena, 1898; H. LiGHTENBERG, La phil. de N., Paris, 1898; P. DEuSSEN, Erinnerugen an F.N., Leipzig, 1901; J. DE GAULTIER, N. et ta Rforme soc~ Paris, 1904; H. VAIHNGER, N. aIs Philosoph., Berlim, 1902; C. A. BERNOULILLI, Franz Overbeck mi-d F.N., 2 volumes, lena 1908; MENCKEN, The philosophy of F.N., Londres 1909; M. A. MUGGE, F.N. His Life and Work, Londres, 1909; M. A. FRIEMANDER, F.N., Leipzig, 1911; R. M. 3~, N., Munique, 1912; C. BRANDES, F.N., Londres, 1914; A. WOLF, The Philosophy of N., Londres, 1915; H. RMER, N., 2 vol. Leipzig 1921; F. KHLER, F.N., Leipzig; C. Sc~pF, N., Gottinga, 1922; A. VETTER, N., Munique, 1926; C. LESSING, N., Leipzig, 1931; G. BLANQuis, N., Paris, 1933; T. MAULMER, N., Paris, 1933; H. LEFBVEE, N., Paris, 1939; E. HEINTEL, N.s. System in seinem Grundbegriffe, Leipzig, 1940; K. LIEBMANN, F.N., Munique, 1943; W. A. KAUFMANN, N., Priweton, 1950-1956; A. GRESSON, N., Paris, 1953; R. BLUNcK, F.N., Basel, 1953; HEIDEGGER, N., 2 vol., Pfllingen, 1961. 663. Sobre Nietzsche e Schopenhaucr: G. SimMEL, Schope~er und N., Berlim, 1907. Sobre o romantismo de Nietzsche: K JOEL; N. und die Roma-ntik, Jena, 1950; ANDLER, op. Cit, I e VI. 664. P. MESS, N. aIs Gesetzgeher. Leipzig, 1931, E. M=, N.s. Wertphilosophie, Heidelberga, 1932.
665. J. ZEITLER, N.s. Aesthetic, Leipzig, 1900; E. SEILLRE, Les ides de N. s-ur Ia musique, Paris, 1910; H. ToPFER, Deutung und Wertung der Kunst bei Schopenhauer und N., Dresden, 1933. 666. A. FOUILLE, in "Revue philosophique", 1909. 668. A. FouILLE, N. et 1'imn@oralisme, Paris, 1902. 118 669. Sobre a doena de Nietzsche: E. F. PODACII, N.s Zusabmenbruch, Heidelberga, 1930 (trad. franc., Paris, 1931): ID., Gestalten um N., Berlim, 1932; P. COHN, Um N.s. Untergang, Hannover, 1931; G. VORBERG, Ueber N.s Krankheit und Zusamenbruch, Berlim, 1934. Sobre o carcter cosmolgico da doutrina de Nietzsche: K. LoWITII, N.s. Philosophie der Ewigen Wiederkehr des Gleichen, Estugarda, 1956; ID., in Pascal e Nietzsche, "Archivio di MIosofia", 1962, p. 107, Sg8. 119 STIMA PARTE A FILOSOFIA NO SCULO XXX E XX 1 O ESPIRITUALISMO 670. ESPIRITUALISMO: NATUREZA E CARACTERISTICAS DO ESPIRITUALISMO A identidade fundamental entre filosofia e cincia, que a palavra de ordem do positivismo, deu origem crise, a partir dos meados do sculo XIX, do prprio conceito de filosofia. Em virtude desta identidade a filosofia fica sem na-da que fazer se prescindir dos conhecimentos positivos que lhe so dados pela cincia e pelos problemas a que tais conhecimentos do origem. A metafsica tradicional com a sua teologia, a sua cosmologia e a sua psicologia, fundadas em noes e procedimentos que nada tm a ver com os objectos e os procedimentos da cincia, parecia definitivamente fora de jogo e suplantada por outras disciplinas positivas: a cosmologia pelas cincias naturais, a psicologia pela 123 psicofsica e a teologia por uma reflexo sobre as foras actuantes no mundo social; e a tcnica, a economia, o direito e a historiografia afirmavam a sua pretenso de se constiturem, por seu turno, como cincias positivas o autnomas, isto ,
fundadas nos factos e independentes da filosofia. No se pode dizer, no entanto, que o positivismo negligenciasse os problemas do "esprito" se por esprito se entende a esfera das actividades propriamente humanas em que se inserem a religio, a arte, a moral e a prpria cincia como actividades produtoras de conhecimentos. Mas negava que se pudesse aceder a essa esfera de modo diferente dos processos por que se chega ao resto da natureza, dado que tambm esta esfera fazia parte da natureza. Na sua vocao mais funda, o positivismo um naturalismo, ou antes um reducionismo naturalstico: nada existe ou pode existir, tanto no "esprito" como na "natureza externa", que no seja um fenmeno ou um conjunto de fenmenos sujeito a leis e determinado por estas leis. Sendo assim, a investigao directa que procura descobrir ou justificar aspectos ou determinaes que a indagao positiva ignorava ou at mesmo exclua, tais como o finalismo da natureza, a liberdade da vontade humana na histria, os fins ou os valores transcendentes prprios da esfera moral e religiosa, parecia que no podia efectuar-se se no utilizasse outras vias de acesso realidade, outros instrumentos considerados mais eficazes para tal fim, portanto mais prprios de uma filosofia que pretendesse distinguir-se da cincia e reivindicar, por sua vez, a sua autonomia em relao cincia. 124 O espiritualismo constitui, nesta direco, a primeira reaco ao positivismo: urna reaco sugerida por interesses fundamentalmente religiosos ou morais e que pretende utilizar, no trabalho filosfico, um instrumento que o positivismo desprezara por completo: a auscultao interior ou conscincia. Se o termo de espiritualismo como nome de uma corrente filosfica relativamente recente (remonta provavelmente a Cousin), a atitude prpria da filosofia espiritualista bastante antiga: o "retorno da alma a si" de Plotino, o "noli foras ire" de Santo Agostinho, o "cogito" de Descartes, a "autoconscincia" ou "a conscincia" dos romnticos, "a reflexo ou a experincia interior" de empiristas e psicologistas so tudo conceitos que se referem atitude pela qual o homem toma como objecto de investigao a sua prpria "interioridade". A partir da segunda metade do sculo XIX at aos nossos dias, unia corrente muito forte de pensadores retoma esta tradio apresentando a investigao que gira em torno da conscincia como uma alternativa fundamental da investigao que gira em torno da "natureza" ou da "exterioridade". Em polmica com a cincia e, sobretudo, com a cincia positivista, qual reconhece um valor simplesmente preparatrio, aproximativo ou prtico, esta corrente reconhece como tarefa prpria e especfica da filosofia a descriminao e a explicao dos dados da conscincia. Ao passo que para o positivismo o nico texto constitudo pelos fenmenos naturais, para o espiritualismo o nico texto constitudo pelos testemunhos da conscincia. Por tais testemunhos entende-se, as mais das vezes, no s os dados da "expe125 rincia interior" ou "reflexo", como Locke lhe chamava, mas tambm as exigncias do corao e do sentimento, os ideais morais ou religiosos tradicionais, como, por exemplo, a liberdade, a transcendncia dos valores e a manifestao do divino. Nalgumas destas exigncias, o espiritualismo mantm-se fiel a alguns aspectos do romantismo,
especialmente quele em que a conscincia considerada como a primeira manifestao originria ou privilegiada do divino. Viu-se j como este aspecto foi utilizado em todas as formas de tradicionalismo da primeira metade do sculo XIX (Cap. X) que, tambm so, por isso, em certo sentido, formas de espiritualismo. Mas sob outro aspecto, o espiritualismo da segunda metade do sculo XIX e da primeira metade do sculo XX contrape-se polemicamente ao idealismo romntico na medida em que se recusa a identificar o Infinito como o finito e insiste na transcendncia do Infinito (Absoluto ou Deus) em relao s suas manifestaes na conscincia. Do ponto de vista gnoseolgico, porm, o espiritualismo mantm em regra a atitude idealista e isso devido sua prpria orientao, dado que, fazendo da conscincia o seu ponto de partida, considera qualquer objecto como possvel s para a conscincia e s na conscincia. Deste ponto de vista, o problema principal, o obstculo maior que o espiritualismo encontra no seu caminho o da natureza ou da "exterioridade" em geral, sobretudo nos aspectos que a cincia ps em relevo, os mais inacessveis conscincia ou ao esprito tais como matria, mecanismo e necessidade causal. O modo 126 como esta necessidade em regra superada constitui a negao da matria como tal e a sua reduo ao esprito, com a consequente subordinao do mecanismo e de todo o sistema da necessidade causal a uma ordem providencial ou divina dominada pelo finalismo. O finalismo permite, de facto, reconhecer, em certa medida, a realidade do mecanismo e, ao mesmo tempo, consider-lo subordinado a um desgnio superior que leva concluso de que existe um principio ordenador do mundo. A exigncia que estabelece este princpio outro dos aspectos fundamentais do espiritualismo. 671. O ESPIRITUALISMO ALEMO: M. FICHTE Na Alemanha, o espiritualismo afirma-se numa polmica com o idealismo hegeliano e com o positivismo. A sua primeira manifestao, que s mais tarde se revelou significativa, obra do filho de Fichte, Manuel Hermann Fichte (1796-1879). Editor das obras impressas e manuscritas do pai, assumiu por sua conta a tarefa de delinear uma concepo espiritualista do mundo. Entre os numerosos escritos de Fichte jnior, os mais notveis so: Contributos para a caracterizao da filosofia moderna (1829); Esboos de um sistema de filosofia (3 vol., 19-33-46); Sistema de tica (2 vol., 1850-53); Antropologia (1856); Psicologia (2 vol., 1864-73); A intuio **teslca do mundo (1873); O espiritualismo moderno 127 (1878). Manuel Fichte foi tambm fundador de uma revista em que colaboraram muitos outros filsofos e telogos: a "Zeitchrift flir Philosophie und Spekulative Theologie", que comeou a publicar-se em 1873 e que se propunha defender os interesses da especulao crist e aprofundar
filosoficamente os problemas da dogmtica e da teologia prtica. A principal preocupao de Fichte consistiu em defender a concepo finalista do mundo. O mundo apresenta-se-lhe como "uma srie gradual do meios e fins": e esta ordenao pressupe um ordenador e um criador do mundo. "A cincia da natureza, segundo afirma, no em si nem testica nem antitestica: a questo do supremo princpio est para alm do seu campo de investigao. Mas tal questo, devidamente considerada, o mais firme ponto de apoio para uma concepo testica porquanto demonstra, na natureza inteira, e de um modo explcito e evidente no mundo orgnico e psquico, o facto universal de um finalismo interior e de uma completa ordenao total. "As chamadas leis da natureza no so mais do que a particular expresso e ao mesmo tempo a confirmao desse facto" (Anthrop., p. 293). Deste ponto de vista, a natureza no mais do que um meio que visa a tornar possvel a vida espiritual do homem. E no homem actua uma fora espiritual superior sua natureza finita, fora que se manifesta, na vida religiosa, na inspirao e no xtase e a cuja aco Fichte atribuiu tambm os fenmenos do espiritualismo, que estudou sobretudo nos ltimos anos da sua vida. 128 LOTZE 672. ESPIRITUALISMO ALEMO: LOTZE A doutrina do filho de Fichte foi muito pouco conhecida e apreciada antes que o espiritualismo conseguisse consolidar-se e chamar as atenes sobre si. Para tal consolidao muito contribuiu a obra de Rodolfo Hermann Lofte (Bautzen, 21 de Maio de 1817, Berlim, 1 de Julho de 1881) que foi mdico e professor de filosofia em Gotinga e em Berlim. A sua obra principal o Microcosmo, Ideias sobre a histria natural e sobre a histria da humanidade, em trs volumes, 1856-58, 1864. Mas esta obra havia sido precedida por uma Metafsica (1841) e uma Lgica (1843) como por outros escritos de medicina e de psicologia; em seguida foi publicada uma Histria da esttica alem (1868) e um Sistema de filosofia, que compreende uma Lgica (1874) e uma Metafsica (1879). Na Metafsica de 1841 (p. 329) Lotze definiu a sua doutrina como um "idealismo teleolgico", cuja tese fundamental a de que a substncia do mundo o bem. O Microcosmo revela as caractersticas tpicas da atitude espiritualista: as necessidades da alma, o sentimento, as aspiraes do corao, as esperanas humanas, so invocadas a cada momento como guia e objectivo da investigao. Lotze no considera, no entanto, que estas exigncias espirituais se encontrem em contradio efectiva com os resultados da cincia moderna, que o mecanismo propugna. Cr, pelo contrrio, que o mecanismo se estende a todos os campos da investigao cientfica e cada vez mais se refora; mas, segundo diz, a filosofia deve demonstrar que a "tarefa que compete ao mecanismo na ordenao do 129 universo universal sem excepes quanto sua ex-
tenso, mas ao mesmo tempo verdadeiramente secundria quanto sua importncia". Com efeito, o facto incontestvel de que a natureza obedece a leis necessrias, um facto incompreensvel; mas torna-se compreensvel se se admitir que no um facto ltimo mas apenas um meio que manifesta e revela, na sua prpria organizao, o objectivo ltimo que tendo a realizar: o bem. O mundo uma mquina, segundo Lotze, mas uma mquina que visa realizao do bem. A unidade, a ordem mesma desta mquina, demonstram a subordinao a um plano racional, a um princpio superior ao mecanismo. Porm, deste ponto de vista, o mecanismo e a prpria natureza, que parecia deverem ser mantidos na sua realidade, revelam-se como mera aparncia. De facto, nos tomos, que so os elementos primeiros do mecanismo, Lotze s v os pontos imateriais, centros de fora supra-sensveis, isto , mnadas no sentido leibniziano do termo (Microcosmo, 1, trad. ital., p. 50), Nestes elementos imateriais, as leis j no tm o seu carcter; ao juntarem-se, alternando com a sua aco recproca, a sua fora, alteram a lei reguladora dessa mesma fora, privando-a assim da sua imutabilidade necessria (1b., p. 59). Deste modo, a natureza material cessa de ser algo de estranho ao esprito, espiritualiza-se e torna-se parte de um sistema em que no existe outra realidade seno a do esprito. Com efeito, se se admite que a cincia chega a provar que toda a realidade se desenvolve por um contnuo processo evolutivo que culmina na vida espiritual do homem, isso demonstrar apenas que a vida 130 espiritual o fim intrnseco de todo o processo natural e que este tende a produzi-lo e a conserv-lo. Os resultados da cincia nunca podero eliminar o milagre da criao imediata, mas to-s faz-la recuar para uma poca mais remota, para o acto em que a sabedoria infinita conferia ao caos a faculdade incomensurvel de toda a evoluo ulterior (Ib., p. 382). O espiritualismo , por conseguinte, um tesmo. Deus a condio de todo o fenmeno natural, de todas as leis, de toda a ordem causal, porquanto a unidade que liga tudo. "Todas as actividades e todas as mutaes das coisas se sucedem com aparente necessidade intrnseca dentro do mbito daquelas leis em que o Uno eterno ordenou para sempre cada um dos seus efeitos" (Ib., p. 397). Toda a coisa finita uma criatura do infinito. "Todo o ser, tudo o que recebe o nome de forma ou de figura, de coisa ou de acontecimento, tudo aquilo, em suma, de cujo conjunto resulta a natureza, no pode considerar-se seno como uma condio preliminar para a realizao do bem, no pode existir tal como , seno porque assim e no de outro modo que se manifesta o valor eterno do bem" (1b., p. 404). Por outro lado, esta convico necessria para a aco do homem. "0 sustentculo da nossa esperana e a alegria da nossa existncia, afirma Lotze (Microcosmo, II), repousam sobre a f na unidade premeditada do sistema csmico, que nos preparou o nosso lugar e que, j nos cegos efeitos da natureza, infundiu o germe da evoluo que a vida espiritual deve acolher e continuar". A aco moral, tal como o conhecimento, supe a religio entendida como 131
conscincia da caducidade do mundo e, ao mesmo tempo, da misso eterna que Deus confiou ao mundo (1b., p. 415). E Lotze cr que se pode chegar a Deus atravs do testemunho interior da conscincia e da considerao das exigncias do corao. Neste sentido, renova o significado da prova ontolgica. "H uma certeza imediata, afirma (Microcosmo, 111 p. 557), de que o ser maior, mais belo e mais rico de valor no um puro pensamento, mas deve ser realidade. Seria, de facto, insuportvel crer num ideal que fosse uma representao produzida pela actividade do pensamento e que no tivesse, na realidade, nenhuma existncia, nenhum poder e nenhuma validez. Se o Ser mais perfeito no existisse, no seria o mais perfeito e isto impossvel, porque no seria ento o mais perfeito de tudo quanto pensvel". Deus personalidade porque a personalidade a mais alta forma da existncia. A ele se reduzem as verdades eternas, que no so arbitrariamente criadas por ele, seno que constituem os modos da sua aco. Lotze quis assim assinalar a anttese entre o mundo dos valores espirituais e o mundo da natureza, anttese que se lhe apresentava como o resultado da cincia positivista do seu tempo. Todavia, limitou-se em muitos pontos a um prudente agnosticismo. A unidade entre os valores e as formas naturais pode ser afirmada e crida, mas no verdadeiramente conhecida. A prpria liberdade humana possvel, mas no pode ser claramente afirmada como real (Microcosmo, 1, p. 405-407). E quando na Metafsica (que a segunda parte do seu Sistema de filosofia) ao reelaborar de forma sistemtica a trama dos pensamentos do Mi132 crocosmo, chega concluso de que a aco recproca das substncias finitas no universo s concebvel como aco do Absoluto sobre si mesmo, declara ainda impossvel esclarecer o modo por que o absoluto pode dar lugar s suas manifestaes finitas. A sua Lgica, que constitui a primeira parte do Sistema de filosofia possui um valor independente do seu espiritualismo. Foi elaborada fundamentalmente em polmica com o psicologismo. O acto psicolgico do pensar distinguido do contedo do pensamento: o primeiro apenas existe como um determinado fenmeno temporal; o segundo tem outro modo de ser, que Lotze designa por validade. O facto de uma proposio ou concluso serem vlidas exprime o facto de que so significativas: a validade identifica-se, portanto, com o significado dos tempos lgicos, sejam eles proposies, raciocnios ou conceitos. Lotze atribui esta doutrina a Plato, cujas ideias seriam existentes precisamente no sentido da validez. Esta doutrina encontrar continuadores e desenvolver-se- com o neocriticismo, sobretudo na escola de Marburgo. 673. ESPIRITUALISMO ALEMO: SPIR A tendncia, implcita em todo o espiritualismo, para contrapor o esprito natureza e para considerar esta ltima como aparncia, levada at s suas ltimas e paradoxais consequncias por Afrikan Spir (1837-90), um russo, ex-oficial de marinha, que viveu 133 muito tempo na Alemanha e morreu em Genebra. Spir cria que a sua doutrina
representava a mais alta expresso do sculo XIX e que inaugurava uma nova era da humanidade, a da sua completa maturidade espiritual. Esta esperana apocalptica liga-se ao tom proftico da sua filosofia, exposta em numerosos escritos, entre os quais se destacam: A verdade, 1867; Pensamento e realidade, 1873; Moralidade e religio, 1874; Experincia e filosofia, 1876; Quatro problemas fundamentais, 1880; Estudos, 1883; Ensaios de filosofia crtica, 1887. Spir parte da convico de que os dados da experincia no concordam com o princpio lgico da identidade. Enquanto este ltimo exige que todo o objecto na sua prpria essncia seja idntico a si mesmo, a experincia mostra, pelo contrrio, que nenhum objecto singular completamente idntico a si prprio. Deste ponto de vista, resultam imediatamente duas consequncias. Em primeiro lugar, o principio da identidade exprime um conceito acerca da essncia das coisas, o qual no pode derivar da experincia, mas deve ser, originariamente e a priori, imanente ao pensamento. Em segundo lugar, a experincia no nos mostra as coisas em si, na sua essncia incondicionada e conforme ao conceito a priori, seno que implica elementos que so estranhos a tal essncia. O princpio de identidade, ainda que os dados empricos no concordem com ele, vale, relativamente a tais dados, como princpio sinttico e, por conseguinte, como fundamento de todo o conhecimento. Spir reconhece (com Kant) que as duas leis fundanlcntais do conhecimento so a lei da permanncia 134 da substncia e a lei da causalidade. Ora, deste princpio decorre imediatamente: 1.o que a essncia incondicionada das coisas, isto , a sua substncia, imutvel em si, quer dizer, permanente; 2.O que toda a mudana condicionada, ou seja, depende das mutaes antecedentes. E estas so precisamente as duas leis fundamentais do conhecimento. Mas - e este o ponto mais original (e paradoxal) da doutrina de Spir - entre a substncia incondicionada e a realidade emprica no possvel nenhuma relao. A realidade emprica contm elementos que excluem absolutamente tal relao. Estes elementos so: a multiplicidade e a consequente relatividade das coisas, a mudana, o mal e a falsidade. "Toda a tentativa, afirma Spir, para fazer derivar estes elementos do absoluto constitui, do ponto de vista do pensamento, um absurdo, e do ponto de vista da religio, uma impiedade". Querer encontrar no incondicionado a razo suficiente da realidade emprica o erro fundamental, o erro originrio, que falseia todas as intuies religiosas e filosficas dos homens e implica consequncias funestas para as cincias naturais. Duas alternativas se oferecem a esta crena errada: ou o mundo o prprio incondicionado ou um efeito (ou uma consequncia) cuja razo suficiente reside no incondicionado. A primeira alternativa constitui as concepes pantestas e atestas; a segunda, as testas. Uma e outra so impossveis. Tem de se reconhecer, pelo contrrio, que o mundo condicionado e que, no entanto, no depende de nenhuma condio, de
qualquer razo suficiente, porque inclui elementos que so estranhos ao incondicio135 nado, essncia das coisas e que no podem derivar dele. Toda a coisa singular condicionada, tem, necessariamente, a sua condio, mas o condicionado em geral, como tal, no a tem nem a pode ter. Por outros termos, toda a mutao singular tem a sua condio ou a sua causa; mas quando se d em geral uma mutao, quando as coisas do mundo mudam em vez de permanecerem idnticas, no podem ter nenhuma condio nem nenhuma causa. Estas teses expostas em Pensamento e realidade (que a obra principal de Spir) so ilustradas, no que respeita ao domnio moral e religioso, pela sua outra obra, Moralidade e religio, e defendidas polemicamente nos escritos menores. A vida moral tambm dominada pelo princpio de identidade, ou seja, pelo esforo prprio da natureza interior do homem de ser idntica a si mesma; e, portanto, pela conscincia ou pelo pressentimento de uma natureza mais alta, no emprica, que seja tambm a unidade do todo. A este esforo so estranhos todos os impulsos sensveis do homem e a sua prpria individualidade. Por conseguinte, o fundamento da moralidade a no-coincidncia da natureza emprica do homem com o seu conceito a priori. Devido a esta no coincidncia, o conceito a priori (a identidade consigo mesmo) assume o valor de um imperativo, ao passo que seria uma pura lei de facto da conduta humana se a natureza emprica coincidisse com o conceito a priori. E deste ponto de vista, a liberdade no um poder, mas apenas uma condio, precisamente a condio da vontade pela qual ela est de acordo com a lei da sua verdadeira natureza. 136 Toda a doutrina de Spir essencialmente religiosa. O incondicionado de que nos fala Deus; e como ele prprio reconhece, a sua doutrina do conhecimento e a sua moral no so outra coisa seno teologia. "As provas da validez objectiva dos conceitos a priori so tambm provas da existncia de Deus. A teologia obedece, na verdade, ao mesmo princpio que a doutrina do conhecimento e a moral. A lei da identidade exprime a essncia de Deus" (Moralitt und Religion, p.114). Contudo, a religiosidade no se radica numa representao conceptual, mas no sentimento, e ela "o sentimento interno do parentesco com Deus". Se a relao do homem com Deus fosse uma relao externa, como a de um efeito com a sua causa, a religio seria pura teoria. Mas, na realidade, Deus no mais do que a verdadeira essncia do homem, e, por conseguinte, a religio no a considerao da relao entre o homem e Deus, mas essa mesma relao enquanto se faz valer na natureza subjectiva dos homens e, portanto, na forma do sentimento interior. Deus para o homem um facto da sua vida interior, de que ele imediatamente consciente. Mas Deus est em relao apenas com a verdadeira essncia do homem, no com a sua natureza emprica; por isso, no implica nenhum motivo de temor ou de esperana para o egosmo humano, no actua como causa eficiente e s pode ser objecto de amor. Mas no pode ser invocado, de forma alguma, para explicar o mundo da realidade emprica. Este mundo no tem fundamento, nem razo alguma; algo que no deveria existir, e por isso absolutamente inconcebvel e inexplicvel. evidente que,
deste ponto de 137 vista, a imortalidade pessoal cai fora da religio, O desejo de imortalidade tem o seu fundamento emprico, no instinto de conservao, e a individualidade a que ela se refere um elemento emprico, estranho natureza normal do homem. Alm disso, a durao efectiva da individualidade depois da morte indiferente ao homem que tem interesse apenas em crer nela; o homem no pode viver no futuro mas s no presente, portanto, s a f na imortalidade, no a imortalidade mesma, tem interesse para ele. A doutrina de Spir apresenta acentuados, por vezes at deformao, alguns traos salientes do espiritualismo contemporneo: a oposio entre a natureza e o esprito, a tendncia para considerar a natureza como mera aparncia, a tonalidade religiosa. Mas o lugar que nas formas mais frequentes do espiritualismo ocupado pelas "exigncias do corao" aqui tomado como uma exigncia puramente lgica. A conscincia que o princpio de todo o espiritualismo aqui essencialmente pensamento na sua exigncia geral e abstracta, exigncia de identidade. A esta forma de espiritualismo se vincula em parte o italiano, e, especialmente, a obra de Martinetti. 674. E. HARTMANN. EUCKEN metafsica espiritualista pertencem tambm duas filosofias cujas obras tiveram grande popularidade no perodo em que apareceram, mas que deixaram poucos traos na filosofia posterior: E. Hartmann e Eucken. 138 A actividade literria de Eduardo von Hartmann (1842-1906) (que permaneceu fora do ensino univertrio) foi muito grande e afortunada. A sua primeira obra e a mais notvel, Filosofia do inconsciente (1896), publicada aos vinte e seis anos, teve onze edies. Seguiram-se a esta numerosas obras, entre as quais se destacam as seguintes: Fenomenologia da conscincia moral (1879); Filosofia da religio (1881); Esttica (188687); O problema fundamental da teoria do conhecimento (1889); Doutrinas das, categorias (1896); Histria da metafsica (1899-1900); A psicologia moderna (1901); A intuio do mundo da fsica moderna (1902), Sistema de filosofia em oito partes (1. Teoria do conhecimento, 11; Filosofia da natureza; III. Psicologia; IV. Metafsica; V. Axiologia; VI. Princpios de tica; VII. Filosofia da religio; VIII. Esttica, 1906-09), Hartmann apresenta o princpio da sua filosofia como a sntese do esprito absoluto de Hegel, da vontade de Schopenhauer e do inconsciente de Schelling. Este principio , portanto, um Absoluto espiritual inconsciente que se revela no homem e nos seres finitos como vontade. Hartmann cr que pode chegar a ele por via indutiva, partindo do exame de determinados factos naturais e mostrando que eles no podem explicar-se seno mediante o recurso a
uma actividade espiritual inconsciente, a saber: o finalismo da natureza, que nunca toma o aspecto de um plano consciente, ou seja, a actividade organizadora do mundo orgnico, o acto reflexo, o instinto, as emoes humanas, incluindo nelas a simpatia e o amor. Tudo isto so manifestaes do inconsciente 139 e podem ser reconhecidas como tais pelo facto de que o seu mecanismo de aco no aparece nunca como um claro saber da conscincia. Mesmo a vida moral e a vida esttica so, segundo Hartmann, produtos do inconsciente, que nunca deixa de actuar no pensamento, uma vez que parte de ideias a priori de que no claramente consciente. A conscincia colhe apenas os resultados do funcionamento das ideias a priori: por isso, no pode deixar de reconhec-las a posteriori como um a priori inconsciente (Phil. des Unbe~sten, trad. franc., 1, p. 341). Sobre o princpio do inconsciente se funda tambm o que Hartman chama o seu "realismo transcendental", que um monismo do inconsciente e um dualismo da conscincia. Para a conscincia, a ideia e o ser no se identificam porque ela nasce precisamente da sua separao; para o inconsciente, ao invs, identificam-se porque ele o princpio de tudo quanto existe (System, 1, p. 124). Entendido assim, o inconsciente o Uno-Todo, Deus. Como esprito absoluto, ou seja, como substncia do mundo, Deus inconsciente; s se toma consciente nas zonas separadas e perifricas que no so as suas actividades especficas mas os produtos da sua coliso (1b., IV, p. 109). Pelo seu carcter inconsciente, Deus transcende as suas manifestaes parciais que so as conscincias individuais e no multiplicado ou cindido pela sua multiplicao e separao (1b., VII, p. 64-65). Hartmann admite o pessimismo de Schopenhauer e considera que o desenvolvimento da conscincia, reduzindo gradualmente ao nada a vontade (que o princpio incons140 ciente criador) anular deste modo a manifestao da vontade que o mundo. Mas, sem muita coerncia, admite tambm o progresso, interpreta como obra do inconsciente o plano providencial, que Hegel atribura Histria, e afirma que o nosso mundo " o melhor dos mundos possveis". A outra figura representativa do espiritualismo mais a de uni profeta do que a de um filsofo. Rodolfo Eucken (1846-1926), professor na Universidade de Iena (1874-1920), recebeu o prmio Novel da Literatura em 1908. Os temas habituais do espiritualismo foram por ele expostos, sem originalidade nem profundeza, mas com muita arte e convico, em numerosas obras abundantemente difundidas e traduzidas (A unidade da vida espiritual na conscincia da humanidade, 1888; A viso da vida nos grandes pensadores, 1890; A validez da religio, 1910; Delineamento de uma viso da vida, 1907; O sentido e o valor da vida, 1908; etc.). A convico fundamental de Eucken a de que a existncia do homem no tem significao alguma se for pura e simples existncia imediata, isto , existncia que se
preocupa apenas com os valores materiais e com as relaes exteriores entre os homens, e que s adquire um significado se se torna existncia espiritual, isto , existncia que aprofunda e desenvolve as relaes do homem com o Esprito do universo. A existncia imediata oferece ao homem a escolha entre dois rumos: o que conduz individualidade e o que leva colectividade. Mas ambas as orientaes so incapazes de encher a vida com um contedo de valores positivos e de a subtrair 141 insignificncia e ao vazio. Na vida espiritual, pelo contrrio, a existncia humana revela-se como um estado particular do mundo: um estado cujo fim no reside nas relaes eternas do homem mas no contnuo desenvolvimento de si prprio. Dado que a religio a forma de actividade que d maior relevo intimidade espiritual, Eucken defende o sentido religioso da vida e a validez da religio, sem no entanto se referir a nenhuma religio positiva. 675. O ESPIRITUALISMO EM FRANA. LEQUIER O espiritualismo constitui a tradio clssica da filosofia francesa. Montaigne foi em Frana o iniciador de uma forma de filosofia que consiste na investigao introspectiva, na pesquisa conduzida em torno da interioridade da conscincia. Atravs de Descartes, Malebranche e Pascal, esta forma de filosofia inseriu-se na filosofia moderna e contribuiu para a formar. O grande movimento iluminista do sculo XVIII representa um parntesis na tradio filosfica francesa: esse movimento actua sob a gide de Newton e constitui a irrupo e o triunfo do empirismo ingls. Na primeira metade do sculo XIX, Maine de Biran restabelecia a continuidade da tradio filosfica francesa representando, contra o iluminismo e os seus ltimos defensores, o mtodo e a finalidade do espiritualismo. No sem razo, por isso, que uma grande parte dos filsofos franceses v em Maine de Biran o seu imperador e o seu guia. 142 Uma figura singular que s nos ltimos tempos pde ser valorizada adequadamente a de Jlio Lequier (1814-62), cuja vida obscura e atormentada se encerra com um misterioso afogamento ao largo da costa bret. Lequier no publicou nenhuma obra porque nunca chegou a concluir nenhum dos numerosos escritos iniciados. Renouvier, que foi seu amigo, publicou alguns fragmentos pstumos com o ttulo Investigao de uma verdade primeira (1865). Em seguida foram publicados outros textos, mas s recentemente os escritos de Lequier foram recolhidos numa edio completa (1Oeuvres compltes, ao cuidado de J. Grenier, 1952). Lequier um pensador religioso, e o tema fundamental da sua filosofia a conscincia. "Eu remeto-me conscincia, - afirma ele - submeto tudo, no que me respeita, conscincia e submeto a prpria cincia s a ela... sempre Deus, o verdadeiro Deus que fala na conscincia" (Oeuvres compltes, p. 396-97). Mas o tema em torno do qual se desenvolvem as meditaes de Lequier o da relao entre necessidade e liberdade: um tema que, na mesma poca, inspirava as meditaes de um outro pensador solitrio: Kierkegaard. A necessidade , segundo Lequier, o postulado fundamental da cincia que tem como escopo mostrar a ordem ou uniformidade da natureza (1b., p. 385 sgs.). Mas, por outro lado, a
noo de necessidade dissipa-se logo que a examinamos mais de perto: e no s porque leva a confundir o bem com o mal, que seriam ambos frutos da mesma necessidade, mas tambm porque s pode ser reconhecida e afirmada pela prpria liberdade. "Aperce143 bo-me, - afirma Lequier - de que se tudo em ns est submetido necessidade, nem sequer posso afirmar que tudo est submetido necessidade, porque esta proposio ser necessria e, por consequncia, no poderei distingui-Ia de qualquer outra. Se tudo necessrio, a prpria cincia impotente, e no posso procurar distinguir a verdade do erro: nem sequer sei se verdade e erro existem porque no posso saber nada. Para poder distinguir a verdade do erro, deverei, ao que me parece, ser livre; mas esta liberdade contestada; uns negam-na, outros divergem sobre a maneira de a definir, nenhum a compreende" (1b., p. 314). Se, portanto, a necessidade um postulado (o postulado da cincia), a liberdade igualmente um postulado: o postulado da conscincia; portanto, da conscincia e da aco. Sem a- liberdade, nenhuma verdade possvel: o que quer dizer que a liberdade a condio da crena, e, portanto, do conhecimento que no mais do que crena (lb., p. 324). Sem a liberdade, o dever e a responsabilidade no seriam possveis. Ora, precisamente o elo liberdade-responsabilidade que coloca o homem, segundo Lequier, perante Deus: "Como pessoa responsvel s posso ser responsvel perante uma outra pessoa. Dirijo-me, com tudo o que constitui a minha pessoa, para esta outra pessoa que deve ser irresponsvel, porque deve ter em si mesma a sua razo de ser, deve ser absoluta. Eu s posso atribuir a esta outra pessoa irresponsvel as perfeies que descobri em mim mesmo, sem no entanto esquecer que tais perfeies, que so finitas em mim, pessoa responsvel, devem ser infinitas no ser a que chamarei Deus, pessoa irres144 EUCKEN ponsvel" (1b., p. 321). Ora, o homem livre porque, " senhor do possvel", e o possvel o "campo indefinido aberto actividade do homem" (lb., p. 38). "0 necessrio o limite do possvel. O que , na realidade, o possvel? O que pode existir, e necessrio o que no pode deixar de existir. Definem-se mutuamente, j que, na realidade se limitam um ao outro" (Ib., p. 390). Lequier serve-se da noo de possvel para definir a natureza da cincia divina, que cincia de possveis. "Deus, vendo, a cada instante da sua eternidade, toda a srie dos possveis, isto , uma infinidade de infinidades infinitamente repetidas, atinge com a sua vista as coisas nos mais nfimos pormenores, abarca todas as circunstncias, discerne as mais pequenas e todas as suas consequncias" (lb., p. 413). Isto quer dizer que Deus v no s o que o homem fez e realiza mas tambm o que ele no fez e poderia no entanto fazer em virtude da sua liberdade: de modo que, nesta viso, tm o seu fundamento objectivo as possibilidades que o homem. agindo ou realizando, afasta a cada passo, as possibilidades que no se realizaram ou no se realizaro mas que devem, todavia, considerar-se autnticas se o homem livre na escolha dos possveis. Deste modo, segundo Lequier, pode entrever-se uma soluo para o problema da relao entre prescincia (ou predeterminao) divina e liberdade humana que, de outro modo, permanece insolvel. A
chave deste problema a concepo de Deus como "criador e contemplador dos possveis" (Ib., p. 414). O espiritualismo, em todas as suas manifestaes, levado a considerar a liberdade como um dado l145 timo da conscincia, quer dizer. como algo testemunhado de modo directo e indubitvel pela observao introspectiva, Lequier nega esta noo da liberdade e considera-a antes como um simples postulado, justificado, em certa medida, pelas consequncias que dele se extraem (1b., p. 349, sgs.). O seu ponto de partida , portanto, menos dogmtico do que o que o espiritualismo habitualmente escolhe: e a conexo entre liberdade e possibilidade abre a Lequier (como acontecia na mesma altura com Kierkegaard) a via de uma anlise mais penetrante da condio humana no mundo e em relao a Deus. 676. AMIEL. SECRTAN A filosofia de Lequier, que se manteve quase desconhecida, no pde trazer nenhum contributo para a problemtica do espiritualismo francs. O tema deste , no entanto, como para Lequier, a liberdade; e , precisamente, a liberdade como energia ou fora criadora da conscincia humana. Uma obra que contribuiu para formar o tom intimista do espiritualismo francs foi a do genebrino Henrique Frederico Amiel (1821-81), autor de um Dirio ntimo (publicado postumamente em 1833-84, e numa edio mais completa em 1923). At a forma literria do dirio , a este propsito, significativa da atitude de Amiel, que ele prprio define dizendo: "A filosofia a conscincia que se compreende a si mesma com tudo o que contm em si" (Grains de mil., 1854, p. 194). 146 O tema da liberdade torna-se central na obra de Carlos Secrtan (1815-95), tambm nascido na Sua francesa, e autor de uma obra sobre Leibniz (1840), bem como de outras obras de interesse essencialmente moral (A filosofia da liberdade, 1849; A razo e o cristianismo, 1863; O princpio da moral, 1883; A civilizao e a crena, 1887; A sociedade e a moral, 1897). "A experincia sensvel-afirma Secrtan (Phil. de Ia libert, 11, 1879, p. 5) -, no sobrepassa o mltiplo, o contingente e o subjectivo; mas na conscincia encontramos o ser. Toda a nossa ideia do ser vem da". A conscincia d-nos o testemunho da liberdade, mas uma liberdade limitada na sua extenso pela natureza e determinada na sua direco pelo dever. Esta liberdade condicionada significa que o homem no existe por si e que a sua existncia depende de um ser incondicionado e absolutamente livre. Este ser no pode ser identificado, como faz o idealismo, com o eu do homem. Ele esprito, mas esprito infinito e incriado, ao passo que o homem esprito finito e criado. , portanto, Deus. E Deus para Secrtan absoluta liberdade; expresso pela frmula "Eu sou o que quero", pura actividade, que no encontra nenhum limite e cuja natureza , precisamente por isso, a liberdade (lb., 1, 1879, p. 364 sgs.). Mas esta absoluta liberdade para o homem incompreensvel. Ele pode saber onde ela se encontra, mas no possui qualquer ideia dela, pois no possui a intuio correspondente. Todavia, do reconhecimento de Deus como
absoluta liberdade decorre imediatamente que a vontade a essncia universal do mundo. "A,, 147 diversas ordens do ser so os graus da vontade. Existir significa ser querido (por Deus); ser substncia significa querer; viver significa querer-se; ser esprito significa produzir a prpria vontade, querer o prprio querem (1b., p. 373). O nome de pessoa designa um ser livre que se apresenta e se reconhece como tal. Neste sentido Deus pessoa e pessoa a criatura enquanto realiza a sua liberdade. Mas a realizao da liberdade , por isso mesmo, amor de Deus, que liberdade absoluta. "0 bem da criatura consiste em unir-se a Deus, A penetrao recproca das duas vontades pode fazer da vontade finita uma vontade plena e fecunda; separada por Deus, a criatura livre abisma-se no nada da contradio. Para ser, e para ser ela mesma, a criatura deve distinguir-se de Deus por um acto que a une a ele; o nome deste acto amor. A liberdade que requer a liberdade, tal a forma da criao: o sentido dela o amor que espera o amor" (Phil. de la libert, 1, 1879, p. 5). Deste ponto de vista, a histria a realizao da liberdade mediante a unidade; e o seu termo est, para l do tempo, na eternidade. Secrtan vincula intimamente a sua filosofia s concepes fundamentais do cristianismo e chega a defini-Ia como "uma apologia do cristianis mo" (lb., 1, p. IX). O esforo pela liberdade que constitui a vida histrico-temporal do homem , ao mesmo tempo, o esforo pela realizao de uma comunidade humana perfeita, fundada na solidariedade e no amor. No Princpio da moral (1893, p. 6) Secrtan formula do modo seguinte o preceito fundamental do dever: "Agir como membro livre de um todo solidrio, procurar a realizao do prprio ser verda148 deiro, do prprio bem e da prpria felicidade na realizao e no bem do todo de que se faz parte". Se antes do pecado original o homem possua apenas a unidade natural e depois do pecado, na histria, passou a possuir apenas uma unidade oculta e virtual, no fim dos tempos alcanar a unidade livre, a unidade moral: "Todos num, todos em cada um, frmula do bem supremo que procede imediatamente da frmula do dever: eu quero que ns sejamos" (Phil. de Ia libert, 11, p. 413). 677. RAVAISSON Vincula-se directamente a Maine de Biran a obra de Flix Ravaisson Mollien (1813-1900), notvel sobretudo pelas suas obras histricas (o Ensaio sobre * metafsica de Aristteles, 1837-46 e o Informe sobre * filosofia em Frana no sculo XIX, 1868), mas que tambm forneceu ao espiritualismo francs alguns dos seus temas preferidos em breves ensaios e artigos (Filosofia contempornea, 1840; A filosofia de Pascal, 1887, Metafsica e moral, 1893; Testamento filosfico, 1901) o mais importante dos quais a tese de doutorado O hbito (1838). O Ensaio sobre a metafsica de Aristteles tende a apresentar o aristotelismo como a doutrina originria e tpica do espiritualismo. O prprio Ravaisson, no seu Informe (p. 25), afirma que o escopo da sua
exposio consistia em mostrar "corno aquele que criou o prpria nome da cincia sobrenatural, e que foi o primeiro a constitu-Ia, lhe deu por princpio, 149 em lugar do nmero ou da ideia - entidades equvocas, abstraces erigidas em realidade a inteligncia, que numa experincia imediata apreende em si mesma a realidade absoluta, da qual todas as outras dependem. Por outros termos, Ravaisson viu no princpio da metafsica aristotlica o princpio mesmo do espiritualismo: a conscincia. Segundo ele, este princpio havia sido restitudo filosofia francesa por Maine de Biran. o qual ajudou a filosofia "a libertar-se da fsica, sob a qual Locke, Hume e o prprio Condillac a tinham quase oprimido" (Informe, p. 14). Maine de Biran assinalou "o facto capital que nos revela a ns mesmos, como uma existncia situada fora do curso da natureza e que nos faz compreender que toda a verdadeira existncia assim, e que o que ocupa o espao e o tempo , em comparao com ele, apenas aparncia" (1b., p. 15). Perante a experincia exterior a que se haviam apegado os iluministas e os seus epgonos, Ravaisson afirma a supremacia da "experincia. de conscincia", da apercepo interior. Quando se serve dela, a filosofia "a cincia por excelncia das causas e do esprito de todas as coisas, porque , acima de tudo, a cincia do Esprito interior na sua Causalidade vivente "(Phil. contemp., trad. ital., em Ensaios filosficos, p. 117). Mas se a conscincia, em que o esprito ao mesmo tempo espectador e actor, no revela outra coisa por toda a parte seno actividade espiritual, como se explica a aparncia da inrcia, do mecanismo, numa palavra, da natureza material? A esta pergunta procurou Ravaisson responder (nas pisadas de Maine de Biran) no seu ensaio 150 intitulado O hbito. Concebe o hbito como o termo mdio entre a natureza e o esprito, como o que permite entender a sua unidade. O hbito uma actividade espiritual, inicialmente livre e consciente, que, com a repetio dos seus actos, d lugar a movimentos nos quais o papel da vontade e da reflexo cada vez menor e que acabam, portanto, por se realizar automaticamente. No entanto, os movimentos habituais no provm da inteligncia, porque se dirigem sempre para um fim e o fim implica a inteligncia. Mas o fim acaba por se confundir com o movimento, e o movimento com uma tendncia instintiva que actua sem esforo e com segurana. Devido a esta presena do fim, diz Ravaisson que o hbito uma ideia substancial, isto , uma ideia que se transformou em substncia, em realidade, e que actua como tal. "A compreenso obscura, que advm do hbito da reflexo imediata em que o sujeito e o objecto se confundem, uma intuio real, em que se confundem o real e o ideal, o ser e o pensamento" (Do hbito, em Escritos fil., p. 39-40). O hbito no , portanto, um puro mecanismo, uma necessidade exterior, mas antes uma lei de graa, dado que indica o predomnio da causa final sobre a causa eficiente. Permite, por isso, compreender a natureza como esprito e actividade espiritual. Demonstra que o esprito pode volver-se natureza (degradando a
actividade livre em instinto), assim como a natureza pode tornar-se esprito. Permite, enfim, ordenar todos os seres numa srie, em que natureza e esprito representam os limites extremos. "0 limite inferior a necessidade, ou o destino, se se preferir, mas na 151 espontaneidade da natureza; o limite superior a liberdade do entendimento. O hbito desce de um ao outro, aproxima estes dois contrrios e, aproximando-os, revela-lhes a ntima essncia e a necessria conexo" (Do hbito, em Escritos fil., p. 55). Isto permite a Ravaisson consolidar a sua tese de que mecanicismo e necessidade so apenas aparncia; a realidade apenas espontaneidade e liberdade, revela em toda a parte a aco de Deus, que vontade e amor, e no qual vontade e amor se identIFicam (Rapport, p. 254.). No seu Testamento filosfico Ravaisson chama ao espiritualismo "a filosofia herica ou aristocrtica", em oposio "filosofia. plebeia", o materialismo ou o positivismo empirista. Segundo a filosofia aristocrtica, o mundo a revelao progressiva da divindade criadora e da alma, que a sua imagem e intrprete. "Separao de Deus, retomo a Deus, encerramento do crculo csmico, restituio do equilbrio universal, tal a histria do mundo. A filosofia herica no constri o mundo com unidades matemticas ou lgicas com abstraces separadas de realidade do entendimento, com o corao que ela atinge a realidade viva, alma em movimento, esprito de fogo e de luz" (Revue de Mt. et de Mor., 1901, p. 31). 678. LACHELIER. JAURS Menos retrica, mas no menos rica, a produo filosfica de Jlio Lachelier (18341918), autor de dois ensaios: O fundamento da induo (1817) c 152 BOUTROUX Psicologia e metafsica (1885), de Estudos sobre o silogismo (1907) e de alguns escritos menores. A influncia que Lachelier exerceu sobre os pensadores espiritualistas do seu tempo, devida sobretudo sua obra de professor da Escola Normal Superior de Paris. Os temas da sua filosofia nada tm de original. O ensaio sobre o fundamento da induo visa substancialmente a contrapor a realidade da ordem finalista da natureza aparncia da ordem mecnica. A natureza fundada na lei necessria das causas eficientes tem uma existncia puramente abstracta, idntica cincia de que o objecto; a natureza fundada na lei contingente das causas finais tem uma existncia concreta que se identifica com a prpria funo do pensamento. Mas a prpria existncia abstracta s concebvel tomando por base a existncia concreta: o retorno de uma causa natural a outra detm-se apenas quando se considera o fim; de modo que a verdadeira realidade da natureza a contingncia universal, a liberdade. Por isso, "a verdadeira filosofia da natureza um realismo espiritualista aos olhos do qual todo o ser uma forca e toda a fora um pensamento que tende a uma conscincia cada vez mais completa de si mesmo" (Du fond. de 1'ind., p. 102).
Em Psicologia e metafsica, a diferena entre estas duas tendncias funda-se na diversidade de atitudes interiores do homem. "0 homem interior dplice e no de admirar que seja objecto de duas cincias que se completam mutuamente. O domnio prprio da psicologia a conscincia sensvel: s conhece o pensamento pela luz que irradia sobre a sensao: a cincia do pensamento em si mesmo, da luz 153 na sua fonte, a metafsica" (Psych. el. Mt., P. 172-173). O que distingue o espiritualismo de Lachelier do de Ravaisson e de Maine de Biran que o princpio espiritual no entendido como vontade mas sim como pensamento, ou seja, como actividade que se objectiva na realidade existente para retornar a si mesma como conscincia. O pensamento que no pusesse espontaneamente o ser concreto seria abstracto e vazio; mas depois de ter posto o ser concreto, deve procurar no ser seno ele mesmo, isto , "pura conscincia e pura afirmao de si". Mas reportar tudo ao pensamento significa reportar tudo a Deus. O espiritualismo tem em Lachelier a mesma tonalidade religiosa que nos outros espiritualistas. Ns seus cursos inditos da Escola Normal, expressou claramente esta religiosidade: "A concluso da filosofia da natureza que a realidade do mundo Deus; a concluso da filosofia do homem que tudo o que h de real, de espiritual, de imortal no homem Deus" (in Sailles, La phil. de Lachelier, p. 115). No espiritualismo se inspira tambm um dos mais eminentes representantes do socialismo francs, Jean Jaurs (1859-1914), que na sua obra, A realidade do mundo sensvel (1891), sustentou a ntima unio entre Deus, por um lado, e o homem e o mundo, pelo outro. O nexo desta unio a conscincia, e Deus conscincia absoluta. "Chamo conscincia absoluta fora de unidade omnipotente, na qual todas as conscincias individuais participam necessariamente quando dizem eu" (p. 345). O eu particular do homem nunca se identifica, porm, com. o eu infinito de Deus. " O eu absoluto, perfeito, eterno 154 e divino -nos externo e superior, ao mesmo tempo que nos interior (p. 332). Jaurs procura conciliar este espiritualismo com o materialismo econmico de Marx. Admite, com Marx, que os ideais so o reflexo dos fenmenos econmicos no crebro humano, mas acrescenta que tambm existe o crebro humano e, portanto, a preformao cerebral da humanidade. Assim, a evoluo da humanidade para o socialismo ser, sem dvida, determinada pelas foras econmicas mas "com a condio de que existam j no crebro, juntamente com o senso esttico, a simpatia imaginativa e a necessidade de unidade, as foras fundamentais que intervm na vida econmica" (Pages choisies, 1922, p. 369). 679. BOUTROUX Exerceu uma grande influncia no espiritualismo francs contemporneo, quer com as suas obras quer atravs do seu ensino (na Sorbonne e na Escola Normal Superior), Emlio Boutroux (1845-1921), autor de dois ensaios: A contingncia das leis da natureza (1874) e A ideia de lei natural na cincia e na filosofia contempornea (1895), que tratam do mesmo tema, e de um livro, Cincia e religio na filosofia contempornea (1908), bem como de numerosos estudos histricos, alguns dos quais publicados depois da sua morte. Boutroux. capitaneou e conduziu em Frana uma
polmica contra o positivismo, travando a luta no prprio baluarte da cincia: o conceito de lei moral. 155 O seu primeiro escrito A contingncia das leis, da natureza toma em considerao as realidades sobre as quais versa a investigao cientfica: a matria e os corpos, o organismo e o homem. Todas estas realidades apresentam uma crescente riqueza de qualidade, de variedade, de individualidade, que no se deixa reduzir uniformidade de tipos e necessidade mecnica. Toda a ordem de realidades apresenta um certo grau de originalidade e de novidade com respeito ordem inferior e no pode por isso ser explicada por ela. Toda a ordem , portanto, contingente em relao s outras; e contingncia significa liberdade. O princpio de causalidade, com o qual se costuma exprimir a necessidade. -"Tudo o que sucede um efeito proporcionado causa"suporia uma uniformidade entre o efeito e a causa, uma, uniformidade que excluiria no efeito qualquer variao, qualquer aparecimento de novos caracteres. Mas isto no se verifica, porque o efeito apresenta sempre qualquer coisa de novo em relao sua causa. Alm disso, as vrias ordens de realidade no so redutveis uma outra; e tambm neste sentido so contingentes. Os corpos no se reduzem matria (isto , extenso e ao movimento), mas tm outras qualidades que so por isso contingentes em relao prpria matria. A vida, por seu turno, no se pode reduzir aos corpos e s leis fisicoqumicas que os governam. A vida humana, como vida espiritual, irredutvel vida puramente orgnica: a conscincia de si, a reflexo sobre os prprios modos de ser, a personalidade, no se podem reduzir a nenhum outro elemento da realidade. Na vida interior do homem, o 156 motivo no causa necessitante: a vontade d a sua preferncia a um motivo e no a outro, e o motivo mais forte no o independentemente da vontade, mas precisamente em virtude dela (p. 124). So estas as consideraes que inspiraro a primeira obra de Bergson, o Ensaio sobre os dados imediatos da conscincia. Deste ponto de vista, o universo apresenta-se como uma srie de mundos irredutveis uns aos outros, que constituem uma hierarquia que tem por cume Deus. "Nos mundos inferiores a lei tem um lugar to amplo, que quase se substitui ao ser; nos mundos superiores, pelo contrrio, o ser faz quase esquecer a lei. Assim, todo o facto depende no s do princpio de conservao, mas tambm, e desde o incio, de um princpio de criao" (1b., p. 139). As teses do espiritualismo encontram-se confirmadas: o mundo liberdade, harmonia, finalidade. "Deus no apenas o criador do mundo; tambm a providncia e vela tanto pelos pormenores como pelo conjunto" Qb., p. 150). O outro ensaio de Boutroux, A ideia da lei natural na cincia e na filosofia contempornea (1894) coloca-se mais directamente no terreno das cincias positivas, submetendo crtica o prprio conceito de lei. Examina os vrios grupos de leis (lgicas, matemticas, fsicas, qumicas, biolgicas, psicolgicas, sociolgicas) e mostra no s que todo o grupo de leis
irredutvel ao grupo inferior e, portanto, contingente em relao a ele, mas tambm que todas as leis so tanto mais necessrias quanto mais abstractas so e afastadas esto da realidade, e perdem o seu valor 157 necessrio medida que se aproximam da realidade concreta. A nica lei absolutamente necessria o princpio de identidade A = A; mas este princpio no diz absolutamente nada acerca da existncia e natureza de uma realidade qualquer. Ao passo que as outras leis da lgica, concernentes ao silogismo, no so necessrias e contm uma margem de contingncia; e esta margem aumenta nas ordens sucessivas de leis, at alcanar o mximo nas leis psicolgicas, que exprimem uniformidades sugeridas pela experincia, mas excluem toda e qualquer necessidade. Assim, o conceito de lei, tal como existe na cincia, no se ope ao testemunho da conscincia humana em favor da liberdade. "As leis que denominamos leis da natureza so o conjunto dos mtodos que encontrmos para assimilar as coisas nossa inteligncia e obrig-las ao cumprimento dos nossos desejos... Uma noo justa das leis naturais toma o homem senhor de si mesmo, e ao mesmo tempo mostra-lhe que a sua liberdade pode ser eficaz e pode dirigir os fenmenos" (De l'ide de loi natur., p. 142-43). Desmantelado o reduto do determinismo, Boutroux pode passar a defender a validez da religio. A conciliao entre o esprito cientfico e o esprito religioso s se pode obter colocando-se no ponto de vista da razo humana em geral. A cincia consiste em substituir as coisas por smbolos que exprimem um certo aspecto delas: o aspecto traduzvel em relaes relativamente precisas, inteligveis e utilizadas para fins humanos. Mas, para l destes aspectos, existe uma realidade irredutvel s representaes cientficas; e existem, alm das faculdades intelectuais que a 158 cincia utiliza, outras faculdades humanas que ela no utiliza. O significado da existncia individual e social, a arte, a moral, implicam valores que a cincia incompetente para julgar. O postulado da vida pode ser, segundo Boutroux, enunciado deste modo: "Agir como se entre a infinidade das combinaes, equivalentes do ponto de vista cientfico, que a natureza produz ou pode produzir, alumas possussem um valor singular e pudessem adquirir uma tendncia para serem e subsistirem" (Science et rligion, p. 362). Este postulado gera atitudes mentais que a cincia no justifica. A primeira destas atitudes a f, que pode ser guiada pela razo ou pelo instinto, mas que se move sempre no domnio do incerto, que est fora do campo da cincia. Mas a f gera novos objectos de pensamento, representaes intelectuais originais; e gera, outrossim, o amor e o entusiasmo por tais objectos ideais. Na f, a religio encontra o seu prprio terreno. A religio , em primeiro lugar, vida, aco, realizao; em segundo lugar, relao e comunho com Deus como pai do universo; em terceiro lugar, dever de amor. A sede prpria de uma religio purificada de supersties a conscincia; e nesta sede a cincia j no pode
afect-la. "0 escopo da religio difere do da cincia; ela no , ou antes, deixa de ser, a explicao dos fenmenos. No pode sentir-se afectada pelas descobertas da cincia relativas natureza e origem objectiva das coisas. Os fenmenos, observados do ponto de vista da religio, valem pelo seu significado moral, pelos sentimentos que sugerem, pela vida interior que exprimem e suscitam; e nenhuma explicao cientfica lhes pode 159 tirar tal carcter" (1b., p. 383). Fundada nos dois dogmas fundamentais, a existncia de um Deus vivo, perfeito e omnipotente, e a comunho entre Deus e o homem, a religio conserva o seu antigo carcter de gnio tutelar das sociedades humanas, na medida em que pretende a unio de todas as conscincias. E neste sentido, conservar precisamente os ritos exteriores que, "transmitidos por tantos sculos e povos, so os smbolos incomparveis da perpetuidade e da amplitude da famlia humana" (1b., p. 390). A filosofia de Boutroux caracteriza-se pela tentativa de chegar ao espiritualismo atravs da crtica intrnseca da cincia. A certa altura, porm, esta crtica torna-se extrnseca, porque desemboca no terreno da conscincia, que, como pura interioridade espiritual, toma incompreensvel a existncia mesma da cincia, voltada para a exterioridade natural, Deste ponto de vista, a conciliao entre esprito cientfico e esprito religioso torna-se ilusria: o esprito cientfico , inteiramente, absorvido e destrudo pelo outro. 680. HAMELIN A doutrina de Octvio Hamelin (1856-1907) foi apresentada pelo seu autor, e comummente considerada como "idealismo". Na realidade, no tem nenhuma das caractersticas histricas do idealismo pS-kantiano. , pelo contrrio, uma dialctica, mas uma dialctica do finito, que considera o desenvolvimento das determinaes finitas at conscincia humana como tal; no identifica este desenvolvimento com o 160 do infinito, isto , o da Razo absoluta; e termina com o reconhecimento de um Deus transcendente, isto , de um Deus que se encontra fora e para alm da evoluo concebido, maneira de Leibniz, como o centro de unificao das conscincias finitas. Estes traos so prprios do espiritualismo; e a doutrina de Hamelin distingue-se do restante espiritualismo francs apenas por uma maior sistematicidade e uma acentuao mais decididamente racionalista. Hamelin autor, alm de alguns estudos histricos (sobre Aristteles, Descartes e Renouvier) de um Ensaio sobre os elementos principais da representao (1907). O pressuposto desta obra que a representao no (como a palavra sugere) a reproduo ou a imagem da realidade, mas a realidade mesma. "A representao o ser e o ser a representao" (1b., p. 374). este o princpio que j os epgonos do kantismo, desde Reinhold a Schopenhauer, tinham admitido como indubitvel. Para Hamelin, trata-se de assumir a representao ou os seus "elementos principais" como princpio de explicao de todos os aspectos da realidade, e demonstrar a gnese lgica desses aspectos pela prpria representao. Para este fim, o mtodo analtico ineficaz, segundo Hamelin: no faz mais do que desenvolver o contedo j implcito nos conceitos, mas no conduz a nenhuma nova conquista. A deduo, que se serve deste mtodo e que, partindo de certos princpios fundamentais, pretende reconstruir a realidade, incapaz de manter o que promete. V-se
obrigada a admitir esses princpios sem os justificar, limitando arbitrariamente a actividade do pensamento. necessrio, portanto, um 161 mtodo sinttico, isto , construtivo, capaz de progredir de conquista em conquista. Este mtodo nasce da insuficincia das noes abstractas e, por isso, partindo delas procura enriquec-las gradualmente at alcanar o ser concreto na sua mxima expresso: a conscincia. Todavia, o mtodo sinttico no criar o mundo da representao, que j vive na conscincia que se serve do mtodo: reconstitu-lo- logicamente, mostrando que cada um dos seus elementos ter o lugar prprio no desenvolvimento dialctico em virtude de uma lei que o liga s precedentes. Assim, a ordem lgica das ideias, a sua concatenao racional, no coincide com a ordem cronolgica ou histrica em que se apresentaram conscincia. "0 facto de uma noo - diz Hamelin (1b., p. 402) - ter uma histria, o facto de se desenvolver to tarde, em nada diminui a sua aprioridade". Esta no-coincidncia entre a ordem lgica e a ordem histrica coloca Hamelin em ntida oposio a Hegel, que afirmava a identidade entre as duas ordens, e torna impossvel entroncar a sua doutrina no idealismo romntico. O mtodo sinttico o mtodo da relao: consiste em mostrar a conexo necessria das noes opostas. Hegel errou, segundo Hamelin, ao considerar a contradio a mola real da dialctica; a mola desta , ao invs, a correlao, pela qual os opostos se atraem e colaboram uns com os outros. Hamelin conserva a forma tridica da dialctica que procede mediante a tese, a anttese e a sntese, mas tira a esta fora aquilo que, segundo Hegel, era a alma dela e constitua a essncia da dialctica: a contradio. Atravs do movimento tridico, o universo revela-se 162 como "uma hierarquia de relaes cada vez mais concretas, at atingir um termo ltimo em que a relao acaba por se determinar, de modo que o absoluto ainda o relativo. o relativo porque o sistema das relaes e tambm porque no apenas o termo da progresso, mas tambm, por excelncia, o ponto de partida da regresso" (1b., p. 20). Partindo destes pressupostos, a dialctica de Hamelin procede reconstruo da realidade finita, da categoria mais geral e mais abstracta, a de relao, categoria mais concreta, a da conscincia. A primeira trade a da relao, do nmero e do tempo; a ela se seguem as outras (tempo, espao e movimento; movimento, qualidade, alterao; alterao, especificao, causalidade; causalidade, finalidade, personalidade), concatenadas de um modo que pretenderia ser rigoroso mas que, como sempre acontece nestas tentativas dialcticas, simplesmente arbitrrio e fantstico. A ltima trade marca, evidentemente, a passagem do mundo da natureza, caracterizado pela causalidade, ao mundo do esprito, caracterizado pela finalidade, que subordina a si a causalidade, porquanto "o que inarmnico est condenado a uma existncia precria e talvez tambm algumas vezes inexistncia" (Ib., p. 341). A personalidade constituda essencialmente pela liberdade, e a liberdade implica a passagem conscincia. A conscincia a
existncia para si. "0 facto de existir por si deriva do facto de que o ser actua, e actua no sentido mais forte da palavra. E esta aco verdadeira e originria, esta aco livre e contingente, a que d a conscincia" (1b., p. 410). A conscincia , essencialmente, 163 pensamento. " necessrio conhecer o pensamento como uma actividade criadora que produz a um tempo o objecto, o sujeito e a sua sntese: mais exactamente, uma vez que no preciso pr nada por debaixo da conscincia, o pensamento este processo bilateral mesmo, o desenvolvimento de uma realidade que a um tempo sujeito e objecto, ou seja, conscincia" (Ib., p. 373). Quando o objecto predomina, como sucede na actividade contemplativa, trata-se da representao terica; quando, ao invs, predomina o sujeito, como acontece na aco livre, trata-se da representao prtica. A primeira exprime-se no raciocnio, de que so abreviaes ou condensaes o conceito e o juzo. A segunda realizase na vontade livre, que escolhe entre os possveis e assim infunde vida ordem ideal e substitui a lgica pura pela histria (Ib., p. 443). A conscincia o cume da realidade, o ser concreto por excelncia, e fora dela nada existe. Com ela se cerra a marcha progressiva do pensamento e termina a construo sinttica do universo (1b., p. 480-81). Mas a concluso da dialctica no chega a calar a inquietao humana e, portanto, a exigncia de uma investigao ulterior. Contudo, esta, como no pode utilizar o mtodo sinttico, alcanar resultados simplesmente provveis. Neste plano, Hamelin admite uma Conscincia universal, centro e fundamento das conscincias inferiores: Deus. Exclui quer o materialismo, quer o pantesmo idealista: e inclina-se para o tesmo. "A existncia , de per si, quando a tomamos em sentido absoluto, o universo, com a sua organizao to extraordinariamente vasta e profunda, so 164 prodigiosos fardos: s Deus pode carregar com eles" (Ib., p. 494). No entanto, o mundo no pode ter sado das mos de Deus, que a bondade mesma; cumpre admitir, com Renouvier, que ele o produto de uma queda original. Poder, no entanto reerguer-se, para se converter no "teatro do triunfo e do reino integral e sim fim da justia" (1b., p. 504). 681. O ESPIRITUALISMO EM INGLATERRA A considerao da filosofia inglesa oferece vasta matria que desmente o carcter nacional da filosofia do sculo XIX e torna ilegtima qualquer tentativa para a dividir ou coordenar por naes. Com efeito, esta filosofia alimentou-se sempre da sua prpria tradio; e s de vez em quando se deixou penetrar e estimular pela filosofia que se pode considerar como a mais robusta, ou pelo menos, a mais poderosa filosofia: a germnica. Apesar disto, a
filosofia inglesa apresenta os mesmos traos tpicos que o resto da filosofia europeia e aparece, em todas as suas fases, solidria com esta. Vimos j que tiveram representantes em Inglaterra o tradicionalismo espiritualista, fundado na metafsica da revelao ( 628), e o positivismo espiritualista, fundado na metafsica da evoluo ( 660). Manifesta-se em Inglaterra com iguais caractersticas o espiritualismo contemporneo, fundado no princpio da conscincia e defensor da pessoa e da transcendncia dos valores. 165 Entre as mais eminentes manifestaes deste espiritualismo figura a obra filosfica de Atur James Balfour (1848-1930), homem poltico e autor de escritos filosficos destinados defesa da espiritualidade religiosa (Defesa da dvida filosfica, 1879; As bases. da f, 1895; Decadncia, 1908; Interrogaes sobre a crtica e sobre a beleza, 1909; Tesmo e humanismo, 1915; Tesmo e pensamento, 1923). Balfour polemiza contra o positivismo naturalista em nome dos direitos da conscincia, que v testemunhados e expressos pelas exigncias da vida moral. O ponto de vista e o fundamento da sua investigao "o sentido ntimo individual"; considera que toda a atitude humana e todo o saber, incluindo a cincia, deve admitir uma certa harmonia entre este senso ntimo e o universo de que o homem faz parte. Esta harmonia algo menos necessrio do que o liame que existe entre as premissas e a concluso, mas mais estvel e permanente do que a relao que existe entre uma necessidade e a sua satisfao. "Que no tenha a fora lgica do primeiro, coisa j admitida ou, melhor, concedida; que no possua o carcter acidental, flutuante e puramente subjectivo do segundo, algo que preciso antes reconhecer como verdadeiro. De facto, a harmonia requerida no se encontra entre as fugazes fantasias do indivduo nem entre as verdades imutveis do mundo invisvel, mas sim entre as caractersticas da nossa natureza, que reconhecemos em ns, se no corno algo necessariamente mais forte, decerto como algo mais elevado, e se nem sempre como a coisa mais universal, indubitavelmente como a mais nobre" (The Fundations of Belief, trad. ital., p. 209). 166 Em nome deste acordo, Balfour exclui a legitimidade do naturalismo que se ope ao sentido ntimo da conscincia. "Se o naturalismo fosse verdadeiro, ou, melhor, se contivesse toda a verdade, a moral reduzir-se-ia a um simples catlogo de prazeres utilitrios, a beleza, ao ensejo acidental de um prazer efmero, a razo, passagem obscura de uma srie de hbitos irreflectidos a outra srie. Tudo o que confere dignidade vida, o que toma estimveis os esforos, cairia, para desaparecer sob o esplendor cruel de uma teoria semelhante; e at a curiosidade, a mais intrpida das paixes mais nobres da alma, deveria perecer sob a convico de que, nem nesta gerao nem em nenhuma outra futura, nem nesta vida nem na outra, se romper inteiramente o vinculo pelo qual a razo, tal como o apetite, se mantm em dependncia hereditria em relao aos nossos desejos materiais" (1b., p. 58). Mas no se deve confundir o naturalismo, negador da conscincia, com a cincia, pois a misso desta no , de facto, negar a realidade de um mundo que no nos revelado pela percepo dos sentidos e a existncia de um Deus que pode ser conhecido, embora imperfeitamente, por aqueles que o buscam com ardor. A cincia diz unicamente, ou deveria dizer, que isto so coisas que esto fora da sua competncia, que devem ser levadas a outros tribunais e perante juzos que apliquem outras leis. Por outro lado, Balfour
polemiza igualmente contra o idealismo, o qual identifica o homem com Deus ou, pelo menos, faz dele uma manifestao necessria de Deus. Se assim fosse-observa ele (Ib., p. 115)-, no se ex167 plicaria o carcter contingente e finito do homem. No testemunho da conscincia assenta a f religiosa, a qual constitui um auxlio indispensvel da aco moral. E a f s pode assumir a forma do tesmo, uma vez que Deus no pode ser considerado como um longnquo arquitecto do universo, mas sim como partcipe dos sofrimentos humanos e como auxlio eficaz para os superar (The foundations of Belief, trad. ital., 1906, p. 271). A polmica contra o naturalismo domina em Tesmo e humanismo e em Tesmo e pensamento. Os valores espirituais no podem ser o produto acidental de uma evoluo mecnica; supem a aco de Deus, como a obra de arte supe o artista. Enquanto Balfour desenvolve o seu espiritualismo sobretudo em polmica com o naturalismo, Andrew Seth Pringle-Pattison. (1856-1931) elabora-o em oposio ao coetneo idealismo hegelianizante. A obra mais conhecida de Pringle-Pattison a que se intitula A ideia de Deus luz da recente filosofia (1917). Outros escritos notveis so: O desenvolvimento desde Kant a Hegel, 1882; A filosofia escocesa, 1885; Hegelianismo e personalidade, 1887; Duas conferncias sobre o tesmo, 1897, O lugar do homem nos cosmos, 1897; A ideia da imortalidade, 1922. Para Pringle-Pattinson, "a conscincia absoluta" de que falam Green e Bradley uma abstraco lgica hipostasiada. O erro dos idealistas o de confundir a ontologia com a gnoseologia: se na gnoseologia, que a cincia das representaes como smbolos ou sinais da realidade, todo o dualismo inconcebvel, na ontologia, ao invs, inevitvel o dualismo entre a conscincia indi168 vidual e o mundo trans-subjectivo. A psicologia distingue-se, portanto, da ontologia e da gnoseologia e precisamente dela que se exige o testemunho do Absoluto, que o fundamento da religio. Com efeito, a conscincia moral e religiosa d-nos, pelo menos, um conhecimento parcial da vida divina e bem assim a certeza de que as possibilidades do pensamento no podem exceder a realidade do ser. As nossas concepes do ideal no seu estdio superior revelam uma perfeio real na qual se encontra unificado tudo quanto existe no corao dos homens e tambm o que mais do que isso (The idea of God, p. 241). Mas a experincia interior que revela ao homem a realidade de Deus, revela tambm a sua transcendncia. A transcendncia no significa que Deus e o homem sejam duas realidades reciprocamente independentes. Deus no tem sentido para ns fora da relao com a nossa conscincia e com os espritos que nos so afins na busca dele. A transcendncia implica uma distino de valor e de qualidade, no uma separao ontolgica, e exprime apenas a infinita grandeza e riqueza da vida divina comparada com a das criaturas finitas. Pringle-Pattison cr que Deus pode ser concebido como "uma infinita experincia" que parcialmente se manifesta e se efectua na experincia finita dos homens, mas no se exaure nela. A divindade no preexiste ao mundo, mas vive s nele e para ele, como o fundo finito vive s para a divindade e na divindade. Deus vive na contnua ddiva de si mesmo (Ib., p. 411). Como
pode, pois, a realidade de Deus conciliar-se com a individualidade e independncia moral das pessoas finitas , segundo 169 Pringle-Pattison, o mistrio ltimo, oculto mas no explicado pela palavra criao. E um mistrio que dever necessariamente permanecer sempre um mistrio porque explic-lo significaria para o homem transcender as condies da sua individualidade e refazer efectivamente o processo da criao. (lb., p. 390). O interesse religioso dominante nos escritos de Clement C. J. Web (1865-1954): Os problemas, da relao entre o homem e Deus, 1911; Estudos de histria da teologia natural, 1915; Teoria global da religio e do indivduo, 1916; Deus personalidade, 1919; Personalidade divina e vida humana, 1920; A filosofia e a religio crist, 1920; Esboos de uma filosofia da religio, 1924. Webb cr que a filosofia da religio deve tomar como ponto de partida a experincia religiosa e que esta consiste na certeza de uma relao pessoal com Deus. Mas como objecto da conscincia religiosa, Deus no pode ser concebido como o Absoluto impessoal de que falam os idealistas; somente, a forma da personalidade espiritual justifica e satisfaz as exigncias do corao e a necessidade da humildade religiosa. Como pessoa, Deus ao mesmo tempo transcendente e imanente. imanente enquanto est presente na natureza e na histria; transcendente enquanto superior a uma e a outra e alimenta com foras sempre novas a vida religiosa do homem. Enquanto experimentado pelo homem na conscincia religiosa, Deus um ser distinto do homem; no entanto, esta mesma experincia inclui-se na vida divina como seu elemento constitutivo. 170 James Ward (1834-1923), autor de numerosos escritos de psicologia introspectiva e de um tratado de psicologia (Princpios psicolgicos, 1918) desenvolveu a sua concepo espiritualista do mundo, em oposio doutrina naturalista, em dois cursos de Gifford Lectures: Naturalismo e agnosticismo (1899) e O reino dos fins ou pluralismo e tesmo (1911). Segundo Ward, o naturalismo e o agnosticismo cometem o erro de reduzir a experincia ao seu contedo objectivo e de desprezar completamente o seu aspecto subjectivo e vivido. Sob este aspecto, a experincia, na sua totalidade, manifesta-se como vida, autoconservao, autorealizao, e apresenta a sua estrutura central no no conhecimento mas na vontade. "No o contedo dos objectos, que o sujeito no pode alterar, que lhes d o seu lugar na experincia, mas sim o seu valor positivo ou negativo, o seu carcter bom ou mau que deles faz fins ou meios para a vida" (Naturalism and Agnosticism, II, p. 134). O mesmo conceito da natureza como sistema de leis uniformes encontra o seu fundamento naquilo que ns somos
como indivduos autoconscientes e livres. A unidade da natureza a contrapartida ideal da unidade actual de cada experincia individual. um ideal para o qual damos o primeiro passo quando iniciamos as relaes intersubjectivas e o raciocnio, e do qual nos aproximamos cada vez mais medida que a cincia toma o lugar da mitologia e a filosofia da cincia Qb., p. 235). Ward tende, por isso, a identificar o conceito de natureza com o de histria. Tanto na natureza como na histria, devemos distinguir a aco de uma multiplicidade de seres psquicos, de mnadas, 171 em graus diversos de desenvolvimento, e todas dominadas pela tendncia autoconservao. A ordem e a regularidade do mundo no so um pressuposto desta multiplicidade de mnadas, mas antes o resultado da sua coordenao progressiva. As leis naturais so apenas a mecanizao da originria actividade finalista das mnadas. Este pluralismo monadolgico supe, como Leibniz vira, um tesmo. E o tesmo implica que Deus se limite a si mesmo na criao das mnadas, j que uma divindade que no concedesse a liberdade criatura no seria uma divindade criadora. Bem certo que a nica prova possvel da existncia de Deus , como Kant reconhecera, a que se funda na vida moral e por isso mesmo cai no mbito da f; no do saber. Mas entre f e saber no existe oposio nem dualidade. O que sabemos devemos tambm cr-lo, e sem f no se pode viver nem agir. A doutrina de Ward uma das mais lmpidas e equilibradas exposies dos temas fundamentais de todo o espiritualismo contemporneo. 682. O ESPIRITUALISMO EM ITLIA. MARTINETTI O espiritualismo foi, juntamente com o positivismo, um elemento constitutivo do clima filosfico italiano; mas, as mais das vezes tomou as formas tradicionais do espiritualismo catlico, sem dar lugar a elaboraes originais nem provocar, de algum modo, o aparecimento de novos problemas. As mais notveis manifestaes do espiritualismo italiano cri172 contram-se nas doutrinas de Martinetti, Varisco e Carabellese, as quais se opem tanto ao positivismo como ao idealismo e tm pontos de contacto com correntes anlogas do espiritualismo germnico, especialmente com Lotzo e Spir. O espiritualismo de Pedro Martinetti (Castellamonte, 1871-1943) possui uma tonalidade religiosa, mas caracteriza-se pela reduo da prpria religio e das demais atitudes humanas ao conhecimento. Os escritos de Martinetti so constitudos pela exposio e crtica de numerosas doutrinas filosficas modernas, principalmente das alems, a que se d amide um
relevo superior importncia que verdadeiramente tm. Mas, em troca, apresentam escassas referncias precisas filosofia antiga e medieval. Entre estes escritos, os mais importantes so a Introduo metafsica (1904) e A liberdade (1928), assim como as colectneas: Ensaios e discursos (1929), Razo e f (1942). Martinetti ocupou-se tambm de estudos religiosos que influram muito no seu pensamento (0 sistema Sankhya, 1897; Jesus Cristo e o cristian.`Smo, 1934). Martinetti pe a cincia e a filosofia no mesmo plano, mas considera as cincias como formas de conhecimento imperfeito e preparatrias em relao filosofia. A distino entre cincia e filosofia, assim como a que se deve estabelecer entre cincia e cincia, tornou-se necessria por causa da diviso do trabalho mas no alimenta a unidade fundamental. "A filosofia tem o seu fundamento nas cincias; as cincias tm como escopo a filosofia" (Intr., ed. 1929, p. 33). O terreno em que a filosofia se coloca e se deve 173 colocar o da conscincia: "A forma universal e fundamental do ser o ser para a conscincia, o ser na forma de acto consciente" (1b., p. 410). A conscincia constituda essencialmente pela relao entre uma multiplicidade dada, que o objecto, e uma unidade, que o sujeito. Mas tambm a multiplicidade objectiva constituda por uma unidade subjectiva inferior "que o sujeito, elevando-se a uma reflexo superior, contrape sua prpria unidade como multiplicidade objectiva". Isto no mais do que o monadologismo leibniziano renovado por Lotz; e conformemente lgica deste monadologismo, Martinetti admite uma multiplicidade de sujeitos particulares, unificados e sustentados por um Sujeito absoluto. "S um o sujeito, embora reflectido num nmero infinito de seres: todo o movimento, todas as vidas, toda a existncia mais elevada, no mais do que um tender para a Unidade suprema; e todo o conhecimento, no mais do que o desvanecer-se de uma iluso, o reconhecimento imperfeito do Sujeito universal que se v a si mesmo em todas as coisas. Ele o que conhece tudo e que por ningum conhecido, porque o que todo o ser consciente chama eu. Somente esta unidade das coisas pode explicar as relaes recprocas que na conscincia, na piedade e nas altas intuies da arte e da religio se estabelecem entre o que eu chamo o meu prprio eu e a alma secreta das coisas" (Ib., p. 158). O Sujeito absoluto, embora estando sempre presente nos sujeitos individuais no acto da "sntese aperceptiva suprema", no se identifica com eles, e com esta diversificao origina neles a distino entre sujeito e objecto. O progresso do conhecimento, desde 174 os seus graus sensveis ao racionais, um progresso para a unidade do Sujeito absoluto. A intuio desta unidade o nico elemento a priori, no sentido de uma virtualidade intrnseca que representa constantemente na vida psquica do homem o ideal intelectivo. O Sujeito absoluto est para alm do mltiplo, do tempo e de todo o processo, para alm dos esforos com que os seres particulares tendem a ele. E Martinetti, enquanto insiste no
valor destes esforos (que constituem as verdadeiras e prprias actividades humanas, o conhecimento, a arte, a moralidade, a religio) e coloca a unidade absoluta como termo deles, tambm levado a insistir na transcendncia da Unidade, em relao qual todo o resto aparncia insignificante. Assim, a vida moral , decerto, a comunho dos espritos, a qual se desenvolve historicamente no tempo, mas no mais do que o smbolo da realidade absoluta que o fundamento dela: "a comunho perfeita, eternamente presente dos espritos em Deus" (Razo e f, p. 402). Perante esta realidade transcendente, as prprias religies no so mais do que um conhecimento aproximativo e simblico, em relao s quais a filosofia exerce uma funo crtica e renovadora. Quando a religio degrada e se fixa nas formas dogmticas, a filosofia intervm para renovar o material teortico dos seus smbolos e assim a impele a mover-se e a renovar-se. Esta mesma funo por vezes exercida pelos msticos. A filosofia e a religio no so, portanto, duas foras estranhas: a sua luta a mesma luta que existe "entre as tendncias conservadoras e as inova175 doras, a qual em todos os campos da vida prepara o progresso para as formas superiores" (Ib., p. 493). A nica caracterizao possvel de Deus a que nele v uma Razo infinita, isto , "a unidade viva de uma multiplicidade infinita de relaes e de elementos essenciais mesma" (A liberdade, p. 490), Trata-se ainda, sem dvida, de um conceito simblico de Deus, mas o smbolo supremo e mais adequado. E o nico conceito que permite compreender a liberdade humana, a qual no pode pertencer ao homem como fenmeno mas s ao homem como personalidade divina, como pura razo (1b., p. 491). Mas, neste sentido, a liberdade no mais do que a espontaneidade da razo; e a espontaneidade da razo a necessidade mesma. Em todas as suas formas, segundo Martinetti, liberdade espontaneidade, e espontaneidade concatenao necessria (lb., p. 349). Aqui est, indubitavelmente, representado o conceito espinosano da liberdade como coincidncia com a necessidade; e neste conceito se cifra o ideal da vida moral. "Na realidade humana, esta liberdade imutvel, que se identifica com a necessidade da razo, somente um ideal: o homem deve lutar por ela cada dia e nesta libertao consiste a finalidade da sua vida" (lb., p. 403) A liberdade no , portanto, uma iniciativa humana, mas a aco que exerce no homem o princpio inteligvel que constitui a sua razo, ou seja, o Sujeito absoluto. uma espcie de graa iluminadora, que se realiza atravs do acto de conhecer (1b., p. 483). A doutrina de Martinetti tem todos os traos tpicos do espiritualismo oitocentista: a orientao mo176 nadolgica, a aceitao de algumas exigncias naturalistas (por ex. de causalidade) e da ideia do progresso, a afirmao do Sujeito absoluto. uma espcie de misticismo da razo, que tem o seu precedente na obra de Spir.
683. VARISCO. CARABELLESE A concepo monadolgica reaparece na filosofia de Bernardino Varisco (Chiari, 20 de Abril de 1850-21 de Outubro de 1933. Varisco atravessou uma fase positivista, que se manifesta sobretudo na sua obra Cincia e opinies (1901), em que, pretendendo explicar toda a realidade fsica e psquica mediante o atomismo, acaba por atribuir aos prprios tomos (como o fizera Haeckel) uma certa fora psquica. Mas j nesta obra, reconhecendo a f religiosa e a sua viso da vida como um facto, deixava aberta a possibilidade de opinies, isto , de crenas, que coexistiriam com a cincia e que portanto deveriam, em ltima anlise, reduzir-se unidade com esta ltima. Nas obras seguintes: Mximos problemas (1909) e Conhece-te a ti mesmo (1912), Varisco aceita explicitamente o espiritualismo monadolgico de Leibniz, completando-o com a doutrina do ser ideal de Rosmini. A realidade constituda por uma multiplicidade de sujeitos particulares, cada um dos quais um centro do universo fenomnico. Tais sujeitos so constitudos, no s pela conscincia clara ou actual, mas tambm por uma esfera muito mais vasta: a subconscincia. No existe nmeno ou coisa em 177 si. Cada sujeito varia segundo uma espontaneidade que lhe prpria; mas as suas variaes interferem com as de todos os outros sujeitos, e esta interferncia um fenmeno, ou seja, um facto objectivo. O aparecimento de um facto implica um factor algico (mas nem por isso irracional), que a actividade espontnea qual devida a variao dos sujeitos; e um factor lgico que a unidade dos sujeitos, unidade pela qual eles se ligam uns aos outros e que constitutiva de cada um deles. Nesta unidade repousa a ordem do universo, e, por conseguinte, a possibilidade das leis que o regulam. Para a explicar, Varisco recorre ideia rosminiana do Ser. O Ser unifica os sujeitos particulares porque , em primeiro lugar, o conceito comum a todo o ser pensante e, em segundo lugar, o elemento comum de todas as coisas ou objectos. o objecto pensado que, como tal, no se resolve no acto pensante, mas constitui a necessidade e a finalidade de todo o pensamento (Mass. prob., 2 a ed., p. 262 sgs.). Quando o Ser no pensado de forma explcita sempre pensado de forma implcita ou subconsciente. Mas o ser pensado do Ser por parte dos sujeitos particulares o pensar-se mesmo do Ser como Sujeito universal. De modo que "o existir dos sujeitos particulares, e, portanto, o existir do universo fenomnico, no so mais do que pensamentos do Sujeito universal: scientia Dei est causa rerum". H um sujeito universal na medida em que o Ser (do qual todo o fenmeno e toda a unidade secundria de fenmenos uma determinao) consciente de si, ou, antes, conscincia de si. O mundo fenom178 nico existe, na medida em que o Ser, consciente de si, realiza em si aquelas determinaes (Conhece-te a ti mesmo, 2.a ed., p. 280).
As duas obras citadas, que so tambm as mais notveis, deixam indeterminado o carcter do ser supremo e, por isso, indecisa a escolha entre pantesmo e tesmo. "Tais determinaes, que constituem o mundo fenomnico, diz Varisco (Conhece-te a ti mesmo, p. 323-24), so ou no so essenciais ao Ser. No primeiro caso, gratuito e vo supor outras determinaes no Ser: estamos no pantesmo. No segundo caso, inevitvel supor no Ser outras determinaes, que o constituam como pessoa: estamos no tesmo". Varisco admitia que, para reconhecer o finalismo do universo, e, portanto, a conservao providencial dos valores, cumpriria ver no Ser o conceito universal de Deus, mas considerava ainda "uma hiptese no justificada" a existncia de um Deus pessoal (Mass, proble., p. 305). Nas obras seguintes, Linhas de filosofia crtica (1921), Sumrio de filosofia (1928), e no escrito pstumo, Do homem a Deus (1939), Varisco resolve a alternativa no sentido do tesmo, isto , de um Ser pessoal, e d sua filosofia um tom puramente religioso. "Como consciente de si mesmo, e no simplesmente nos indivduos, mas em si mesmo, o esprito Deus" (Sumrio, p. 84). Varisco preocupa-se, no entanto, em garantir, frente a Deus, a espontaneidade do homem. Atribui a Deus uma autolimitao da sua prpria omniscincia e, portanto, uma prescincia limitada ao desenvolvimento global do mundo, a fim de que a actividade humana possa ser livre para agir por sua conta e 179 colaborar na obra da criao. Isto permite-lhe, finalmente, afirmar o finalismo e a providncia do mundo e justificar (na sua obra pstuma) as categorias fundamentais da religio e especialmente do cristianismo. Est relacionada com o pensamento de Varisco a obra de Pantaleo Carabellese (18771948), que se poderia definir como um espiritualismo objectivista. A melhor obra de Carabellese a que se intitula O problema teolgico como filosofia (1931). Tambm autor de numerosos escritos teorticos e histricos (Crtica do concreto, 1921; Filosofia de Kant, 1927; O problema da filosofia desde Kant a Fichte, 1929; O idealismo italiano, 1937; O que a filosofia, 1924), nos quais incessantemente exps um ponto de vista que apresenta como a verdadeira "revoluo copernicana" do pensamento moderno. Este ponto de vista , segundo Carabellese, o da conscincia comum: a nica realidade concreta a conscincia, e a conscincia a conscincia que o sujeito tem do ser. Mas - e este o ponto fundamental - o ser, que objecto da conscincia, no estranho conscincia. No , de modo algum, alheio a ela: o objecto da conscincia, absolutamente imanente nela, objecto que Carabellese chama em si unicamente para o distinguir, como puro ser universal, dos objectos empricos dotados de existncia particular. No se deve pensar que, dos dois termos da conscincia, um, o sujeito, seja conscincia, e o outro, o objecto, seja no conscincia. Deve-se pressupor antes o todo concreto que a conscincia racional: o sujeito consciente do objecto, o ser em si que est presente na conscincia. O ser em si, como objecto puro da 180 conscincia, no a coisa real que resulta da experincia, , antes, a coisa em si, que o fundamento daquela. A coisa real relativa; a coisa em si absoluta: a primeira a coisa na sua gnese, a segunda o princpio imanente deste gnese. Mas se a
alteridade no pertence objectividade da conscincia, que pura imanncia, pertence, em troca, subjectividade. O outro, que cada qual encontra no eu consciente como momento essencial da conscincia, o outro eu. A alteridade no estranheza e no implica a diversidade, mas a homogeneidade: o outro do sujeito , portanto, outro sujeito, outro eu; e a relao da alteridade a relao de que resulta a multiplicidade dos sujeitos. A conscincia concreta implica, portanto, no s a conscincia de ser em si, mas tambm a subjectividade multplice, que germina no ser e por ele constituda. A subjectividade sempre particular, individual, mltipla: a universalidade e a unidade esto no objecto. Isto indica que a experincia no constituda pela relao sujeito-objecto, mas pela dos sujeitos particulares entre si. A experincia implica uma multiplicidade de experimentantes; e este ser conjunto dos experimentantes forma as coisas experimentadas, cujo complexo e cuja compenetrao a natureza. Ora, a coisa em si, o objecto puro da conscincia, o prprio Deus. Com efeito, os seus caracteres, a unicidade, o carcter absoluto, a universalidade, so os caracteres de Deus. Mas, como objecto puro, Deus o ser, no o existente. A existncia prpria das coisas particulares e empricas em que se fragmenta, atravs da multiplicidade dos sujeitos, o objecto puro. Mas o objecto puro , no 181 existe. Nem existe sequer como sujeito, uma vez que em tal caso teria ainda uma forma de existncia. A afirmao de Deus a objectividade implcita em todo o acto de pensamento: o conceito do filsofo, a intuio do crente s tm valor graas a ela. O argumento ontolgico, que na tradicional forma existencial insustentvel, tomase inconcebvel se o exprimirmos dizendo: eu penso, portanto afirmo Deus, se negas Deus, no pensas. Pensar significa, de facto, pensar o ser ou o objecto em si, isto , Deus. Mas Deus no tem nenhuma das caractersticas que as religies lhe atribuem, porquanto toda a religio assenta na conscincia pontual e imperfeita do ser em si. Ele no eu, no sujeito, nem sequer conscincia, j que a conscincia como conhecimento do ser em si no pode nunca tomar-se objecto (Prob. teol., p. 137). Deus a ideia pura da razo, o em si do concreto e da conscincia: no a conscincia. Esta posio de Carabellese a inveno simtrica do idealismo actualista de Gentile. As caractersticas que este idealismo atribui ao sujeito atribui-as Carabellese ao objecto: no o eu, mas o objecto, que pura actividade, unidade, e universalidade. E, reciprocamente, as caractersticas que o idealismo atribui ao objecto, atribui-as Carabellese ao sujeito: os sujeitos opem-se ao objecto como o singular ao universal, o mltiplo ao nico, o relativo ao absoluto (1b., p. 55). A natureza, que para o idealismo objectividade, torna-se subjectividade. A objectividade Deus, a subjectividade coisa real, natureza. Os prprios sujeitos so pura e simplesmente constitudos pelo objecto (Probl. teol., p. 105), assim como 182
para o idealismo os objectos so constitudos pelo sujeito. Esta simetria esclarece o significado histrico da doutrina de Carabellese, que a transcrio do espiritualismo rosminiano nos termos do imanentismo actualista. Qual a misso da filosofia deste ponto de vista? Evidentemente, a de atingir e libertar a objectividade da conscincia na sua pureza. "0 verdadeiro e prprio saber filosfico, para que seja possvel na sua indispensabilidade, deve ser explicao da objectividade pura de conscincia e deve, por isso, ter as caractersticas de transcendentalidade, a qual o aparenta ao saber religioso, ou de problematicidade, a qual, ao invs, o distingue desta" (0 que a filosofia, p. 266). A filosofia o esforo para alcanar o princpio absoluto, o ser em si. No est subordinada vida, mas antes a vida que est subordinada filosofia, uma vez que, como toda a forma de existncia, supe o ser em si. Neste sentido a filosofia intil, "uma divina inutilidade" (Ib., p. 279). destituda de qualquer normatividade, porque tambm a normatividade, pondo-a ao servio da vida, a subjugaria a ela (lb., p. 300). Est para alm das vicissitudes humanas e recusa toda a historicidade: "o filsofo, mais do que qualquer outro homem que pensa, deve viver despreocupado do seu tempo, absorvido por tudo o que na conscincia superior vida" (lb., p. 287). H, indubitavelmente nesta posio de Carabellese o honesto propsito de garantir a autonomia e a dignidade da filosofia. Mas, -na forma que assume no seu pensamento, semelha aquele que, para se libertar da sujeio de respirar, quisesse viver fora do ar. 183 684. ESPIRITUALISMO EXISTENCIALISTA A partir da terceira dcada do nosso sculo o espiritualismo, embora mantendo-se fiel ao seu teor fundamental que a "conscincia" e os seus "dados imediatos", comea a abordar, nalgumas das suas formas, alguns temas existencialistas extrados primeiramente de Kierkegaard e depois de Heidegger e Jaspers. A crtica do conhecimento racional e "objectivo", a distino entre ser e existncia, a instabilidade (ou o sentido do risco) da relao entre o homem e o mundo, portanto a angstia (ou a inquietao) que caracteriza esta relao, so os mais importantes destes temas, aos quais, por vezes, se junta o emprego da noo caracterstica do existencialismo: a possibilidade. Estes temas so, no entanto, integrados no quadro do espiritualismo e servem, as mais das vezes, para ilustrar os seus aspectos mais especificamente religiosos. Na Frana, este tipo de espiritualismo tem o seu primeiro documento no Journal Mtaphysique (1927) de Gabriel Marcel e tomou o nome significativo de "filosofia, do esprito". Gabriel Marcel (nascido em 1889), dramaturgo e crtico literrio, autor das seguintes obras filosficas: Dirio metafisico (1927); Ser e Ter (1935); Da recusa invocao (1939); Homo viator (1944), O mistrio do ser (1952); O homem problemtico (1955). A tendncia intimista da filosofia de Marcel transparece j na preferncia que d no dirio exposio do seu pensamento (Dirio metafisico e 184
primeira parte de Ser e Ter); e , alm disso, evidente em todas as suas obras que tomam frequentemente a forma de uma confisso ntima do seu autor. O tom existencialista do Dirio metafisico consiste exclusivamente no facto de que nele Gabriel Marcel se recusa a considerar o problema do eu e o problema de Deus como resolveis no plano objecivo, isto , mediante anlises ou demonstraes racionais. Mas Gabriel Marcel chega at ao ponto de nem sequer os considerar como problemas: o ser, tanto o ser do eu humano, como o ser de Deus, no problema, mas mistrio. Em Ser e Ter define assim a distino entre problema e mistrio: "Um mistrio um problema que usurpa os seus prprios dados, que os invade e, portanto, os supera eliminando o problema". Assim, por exemplo, a unio da alma com o corpo (constitutiva do eu) um mistrio porque se situa para l da anlise e no pode ser reconstruda sistematicamente a partir de elementos logicamente anteriores: no s dada, mas tambm dante (donnante), no sentido de uma contnua presena do eu a si mesmo. Por outros termos, para Gabriel Marcel, um problema um conjunto de dados que se trata de unir e de conciliar sinteticamente. Dada esta noo to originria de problema, no de admirar que Gabriel Marcel negue que a existncia seja um problema. O problema domina a categoria do ter, prpria da considerao objectivante. Com efeito, nesta, os termos considerados so objectivos estranhos ao sujeito que os considera, e o acto de os reunir e descobrir o seu liame sinttico o que constitui o problema. A exterioridade dos termos 185 condiciona o ter na medida em que supe a exterioridade da coisa possuda e o domnio sobre ela. Mas a categoria do ter , na realidade, a categoria da sujeio do homem em relao ao mundo, uma vez que o domnio sobre a coisa possuda tende a inverter-se e a tornar-se o da coisa possuda sobre o possuidor. O homem que vive na categoria do ter o homem esquematizado na sua funo social ou vital, ligado vacuidade do mundo e dos seus problemas. Mas para l do ter e dos problemas que esto com ele relacionados, o ser revela-se no mistrio de que se rodeia; e a nica atitude possvel frente a ele , no j a da anlise e da problematizao, mas a do amor e da fidelidade, pela qual o homem se abre sua aco e se torna disponvel para ele. Com efeito, no amor e na fidelidade, o mistrio apresenta-se na forma de um Tu a que o eu pertence e ao qual no se pode recusar sob pena de se anular a si prprio (Du refus Finvocation, 1940, p. 135). O reconhecimento do mistrio a condio do amor entre os homens. "Os seres no podem unir-se seno na verdade, mas esta inseparvel do reconhecimento do grande mistrio que nos rodeia e no qual se
encontra o nosso sem (Ib., p. 197). A fidelidade, o amor, fazem o homem empenhar-se numa realidade que no se pode problematizar, e que por isso o funda na sua subjectividade. A filosofia deve conduzir o homem at ao ponto em que se torne possvel "a irradiao fecundante da revelao"; mas no leva o homem a aderir a uma religio determinada. No obstante, segundo Gabriel Marcel, a verdadeira 186 atitude metafsica a do santo que vive na adorao de Deus. As ltimas obras de Gabriel Marcel so dedicadas em especial crtica da sociedade contempornea e exaltam os valores da espiritualidade religiosa como remdios para os males desta. E com esta tendncia se relaciona tambm a obra do russo Nicolau Berdiaev (1874-1948) que viveu em Frana desde 1919 at sua morte. Nas suas obras: O sentido da histria (1923); Esprito e liberdade (1927); O homem e a mquina (1933); O destino do homem (1936); Cinco meditaes sobre a existncia (1936), Ensaio de uma metafsica escatolgica (1946), Berdiaev defende um espiritualismo de carcter proftico que anuncia a revivescncia de um cristianismo renovado de fundo social. O que o vincula ao existencialismo o reconhecimento da impossibilidade de objectivar e materializar a personalidade humana, que s pode viver e prosperar na atmosfera daquela liberdade que o cristianismo revelou aos homens. Este ponto de vista acompanhado dos habituais filosofemas sobre a decadncia que a tcnica e a mquina determinam no homem e na sociedade, filosofemas que constituem o patrimnio do espiritualismo vulgar. So dotadas de uma estrutura mais filosfica as obras dos "filsofos do esprito". Luis Lavelle (1883-1951) foi professor no Collge de France e autor dos seguintes livros: Dialctica do mundo sensvel (1921) O ser (1928); A conscincia de si (1933); A presena total (1934), O eu e o seu destino (1936); O acto (1937); O erro de Narciso (1939); O mal e o sofrimento (1940); A filosofia francesa entre as 187 ditas guerras (1942); O tempo e a eternidade (1945); Introduo ontologia (1947); As potncias do eu (1948)-, Da alma humana (1951); e o primeiro volume de um Tratado dos valores contendo a Teoria geral do valor (1951); O Ser, O Acto, O tempo e a eternidade constituem trs volumes de um nico ciclo intitulado Dialctica do eterno presente. uma caracterstica de Lavelle a interpretao da conscincia como relao entre o ser e o eu, ou melhor, como presena total do ser ao eu. O acto de autoconstituio do eu, que tem a sua prpria liberdade, o acto da sua participao no ser: um acto participado, o qual supe o acto participante que prprio do ser; e , por isso, em ltima anlise, um acto de autoparticipao do ser em si prprio. Este pressuposto leva-o a descobrir na prpria existncia humana a "dialctica do eterno presente": e toda a sua especulao visa, fundamentalmente, a reduzir presencialidade do ser a si mesmo as caractersticas mais salientes da existncia humana. Contudo, Lavelle atende
-sobretudo nas ltimas obras O tempo e a eternidade (1945), Introduo ontologia (1947), Os poderes, do eu (1948) - s exigncias do existencialismo. A sua anlise do tempo, por exemplo, assenta no princpio da existncia possvel. O tempo a "possibilidade do futuro e do passado" (Du temps et de l'eternit, p. 24) e constitui por isso a natureza mesma do eu, que pode ser definido como "uma possibilidade que se realiza" (1b., p. 38). Ora, uma vez que a possibilidade est ligada ao futuro, o futuro a primeira determinao do tempo na ordem da existncia, conquanto o passado seja o primeiro na ordem do co188 nhecimento. "Pelo passado - diz Lavelle (1b., p. 260) -aprendemos a viver no tempo, mas s o futuro nos faz viver no tempo". Este primado existencial do futuro no lhe confere, porm, aquele poder nulificador que Heidegger e Sartre lhe atriburam. A angstia surge quando se faz do futuro a nica experincia de vida, isto , quando se esquece que mesmo o futuro uma forma da anlise do presente e que a possibilidade j uma manifestao do ser. "0 futuro - afirma Lavelle (1b., p. 279) - determinar o nosso lugar no ser: mas a experincia mesma do ser, j * possumos. At que ponto nos ser permitido levar * nossa participao no ser e qual o nvel que ela nos permitir adquirir no ser, o que permanece incerto para ns e basta para gerar o sentimento que experimentamos perante o futuro, sentimento em que o temor e a esperana se encontram sempre misturados". Mas o futuro, enquanto possvel, existe j no ser, a ausncia que ele denuncia j uma presena. A conscincia no se pode identificar com uma possibilidade nica, que seria ento determinante em relao a ela; ela "a unidade de possibilidade de todas as possibilidades". E evidente que "se toda a possibilidade se destina a ser actualizada e s tem sentido em relao a esta actualizao, existe um intervalo que a separa da prpria actualizao, e este intervalo o tempo" (1b., p. 261). O tempo no nos faz, pois, sair da presena total, mas estabelece entre os modos desta uma sucesso que a condio de possibilidade da prpria participao (1b., p. 227). fcil compreender que "uma possibilidade des189 tinada a realizar-se" no , de forma alguma, uma possibilidade mas uma potencialidade no sentido de Aristteles e da metafsica clssica. Ela no pode por isso explicar o carcter problemtico da existncia humana no mundo, nem mesmo da distncia, que Lavelle quereria justificar, entre tal existncia e o ser. Lavelle faz valer a exigncia da liberdade na prpria relao com a liberdade. "A prpria eternidade - afirma (Du temps et de 1'ternit, p. 411) deve ser escolhida por um acto livre, deve ser sempre permitida ou recusada. Mas, alm disso, a eternidade que age no tempo e determina as caractersticas do mesmo (lb., p. 418 sgs.). De modo que a verdade do tempo a eternidade: e todas as determinaes do tempo devem ser directa ou indirectamente reconduzidas instantnea presencialidade do ser eterno. A filosofia de Lavelle pode ser definida como um espiritualismo ontolgico. Pode
considerar-se, por sua vez, um espiritualismo axiolgico a de Ren Le Senne (1882-1954) que foi professor na Sorbonne e autor dos seguintes escritos: Introduo filosofia (1925); O dever (1930); Obstculo e valor (1934); Tratado de caracteriologia (1945); O destino pessoal (1951); A descoberta de Deus (recolha pstuma de ensaios, 1955). Numa pgina de dirio, Le Senne escreveu: " essencial ao meu pensamento manter no centro de toda a vida intelectual e prtica a ideia da sua comunho com o Absoluto. A ontologia intelectualista clssica substitua a filosofia do Homem pela de Deus. O kantismo inaugurou a filosofia da huma190 nidade. Importa agora fazer a da relao do homem com Deus" (La dcouverte de Dieu, p. 20-21). A este tema da relao entre o homem e Deus, que constitui a conscienci .a mesma do homem, manteve-se Le Senne sempre fiel. Mas a qualificao fundamental que ele sempre atribuiu a Deus o Absoluto, o Ser, o Acto, a do Valor (Ib., p. 112); por isso, a obra mais importante aquela em que abordou mais directa e atentamente este tema: Obstculo e Valor. O mtodo que Le Senne considera apropriado para atingir o ponto nodal entre o homem e o Valor, o da intimizao (intimisation), que se manifesta primeiramente na experincia esttica que retoma ao passado e dele faz uma fonte de gozo. Para alm da experincia esttica, no plo oposto da cincia, est "o encontro misterioso da exigncia do incgnito e do retomo ao mais ntimo de si prprio". Neste ponto de intimizao, as relaes entre os elementos da experincia que de incio so puramente ideais acabam por se tornar emocionais, atravessando uma frase intermdia que Le Senne chama "ideo-existencial". "A fim de que a relao seja existencial -afirma ele-, necessrio que a continuidade entre as suas determinaes ou as suas relaes e a totalidade da conscincia no seja reduzida pura contiguidade; mas ela ideo-existencial, se, inversamente, esta continuidade no em toda a parte to intima que as determinaes se encontrem nela perfeitamente resolvidas" (1b., p. 51). Nesta fase, portanto, as determinaes apresentam-se conscincia como uma situao que a limita e para l da qual ela procura avanar. a fase em que se produz o desvio 191 entre o ser e o dever ser e em que aparece, portanto, o obstculo que , segundo Le Senne, a condio indispensvel para a realizao do eu. Na verdade, o obstculo interrompe bruscamente a espontaneidade primitiva da experincia, determina e delimita a experincia numa situao fctica. E do sentimento desta limitao nasce o mim, isto , o eu emprico, que se contrape ao objecto, fornecendo com esta contraposio "a essncia dramtica" do conhecimento terico. Mas, por outro lado, o reconhecimento do limite significa pressentir o que est para alm do limite, o que no determinado ou gerado na situao fctica a que pertence o mim. No prprio acto do reconhecimento do obstculo, o mim progride para alm de si, para algo de que procede todo o obstculo ou determinao, mas que no se exaure em nenhum obstculo e em nenhuma determinao. Este algo o valor que, enquanto ilimitado e primeiro, o prprio Deus. Deus o eu do valor (Ib., p. 151).
O eu , portanto, bifronte. "Ele -diz U Senne (Ib-, p. 152) - mim e Deus; mas, uma vez que, como unidade da experincia, eminentemente indivisvel no seu princpio, implica e ope um ao outro os seus dois aspectos ao torn-los solidrios. O eu, enquanto mim, experimenta a sua clausura; enquanto Deus, a sua abertura, que a inadequao definitiva entre o mim e a infinitude de Deus deve incessantemente propor-lhe. Nenhuma ruptura radical pode, portanto, intervir entre Deus e mim; e se a moralidade bipolar, isto , criao ou cobardia, ascenso ou queda, isso deve-se ao facto de o eu poder 192 ou opor-se a Deus como a um objecto em que no v mais do que uma natureza, ou unir-se a ele como a um amigo". Deste ponto de vista, o valor o "nada, da determinao" (Obstacle et valeur, p. 175); quer dizer, a negao do carcter determinante e necessrio da situao fctica em que o homem lanado e em que efectua a experincia do obstculo. O valor anular-se-ia se se reduzisse determinao; esta sua irredutibilidade a toda a determinao possvel constitui o seu carcter absoluto. A existncia humana, que vive na determinao e busca do valor, situa-se entre um e outro. A existncia apresenta-se no intervalo entre o valor infinito e o nada, tendo com eles em comum a essncia de negar a determinao" (Ib., p. 181). Ela , portanto, "um corte momentneo e parcial do valor", e dado que o valor Deus mesmo, "a encarnao de Deus em ns" (1b., p. 220). A relao entre o homem e Deus um duplo cogito. Une e ope, ao mesmo tempo, Deus, de quem o m::M experimenta alternativamente a vontade no obstculo e a graa no valor, e o mim que restringe a experincia do valor aos limites da sua natureza. Estes dois aspectos s existem e podem ser pensados na sua relao. Deus , portanto, um Deus-connosco. Deus-sem-ns apenas uma funo-limite que s tem significado enquanto faz do valor um meio de reconciliao ou urna razo para desesperar. No caso limite em que Deus fosse verdadeiramente perante mim um Deus-para-si, a prpria existncia de mim seria impossvel. Mas a ideia de Deus-sem-ns pode tambm ser estmulo e um contributo para uma mais 193 profunda comunicao com Deus. De qualquer modo, "Deus-sem-ns o mito transcendental que est relativamente existncia na mesma relao em que o mito transcendental do mundo da natureza est com a determinao". Como se v, a filosofia, do esprito de Le Senne e Lavelle tem uma inspirao e finalidade religiosa, centrando-se em torno do tema da conscincia como relao entre o eu e Deus. Ao contrrio do espiritualismo bergsoniano, no se fia na intuio mas pretende ser uma anlise da conscincia mesmo nos seus aspectos objectivos e objectivantes. Alm disso, procura ter em conta, nesta anlise, os elementos problemticos ou negativos em que se apoia o existencialismo: a temporalidade, a finitude do homem, as situaes limitadoras, o mal e o erro. Mas o seu ponto de partida, a presena na conscincia humana de Deus (como Ser ou como Valor) torna inoperante o reconhecimento destes elementos e reconduz ao xito providencialista do espiritualismo tradicional. 685. O PERSONALISMO
Depois da segunda guerra mundial foi-se acentuando, nas manifestaes do espiritualismo, o aspecto social; e o seu tema preferido tornou-se a pessoa, no seu valor transcendente, isto , na sua relao com Deus. Em Frana, a um espiritualismo semelhante foi dado o nome de personalismo, termo que o uso anglo-saxnico reservava ao espiritualismo em geral, e teve o seu profeta eloquente em Emmanuel Mounier (1905-50) que fundou em 1932 a revista 194 "Esprit" e publicou em 1936 um Manifesto ao servio do espiritualismo. A oportunidade do movimento foi proporcionada pelo crack de Wall Street em 1929; e os seus intentos de renovao social e a sua oposio soluo comunista e marxista favoreceram a sua difuso depois da segunda guerra mundial. As outras obras principais de Mounier so as seguintes: Revoluo personalista e comunitria (1936); O que personalismo (1946); Tratado do carcter (1946); O personalismo (1949). A filosofia de Mounier uma filosofia da pessoa, ou seja, do "esprito" na forma pessoal que lhe conatural e necessria. Contudo, a pessoa no est encerrada em si mesma, mas ligada atravs da conscincia, a um mundo de pessoas. "0 proceder essencial num mundo de pessoas-diz Mounier no a percepo isolada de si (cogito) nem a preocupao egocntrica consigo mas a comunicao das conscincias, ou melhor, a comunicao das existncias, existncia com outros" (Qu'est-ce que le personnalisme? trad. ital., p. 62). Aquilo que para todas as formas do espiritualismo o instrumento fundamental do conhecimento filosfico, isto , a consci ncia, no para Mounier encerramento na intimidade do eu mas abertura s outras conscincias e comunicao com elas. Esta tese , contudo, apresentada sob a forma de uma exigncia, mas no justificada por anlises precisas. Como a conscincia pode atingir, no seu mbito, outras conscincias, isto , conscincias que, por definio, no so ela mesma e no podem ser atingidas por ela com a imediatez com que ela se apreende a si prpria, um 195 problema que no se encontra resolvido nas obras de Mounier. O seu interesse pela caracteriologia, testemunhado pelo vasto tratado que dedicou a esta disciplina e que uma espcie de suma das suas vrias orientaes, poderia fazer supor que a comunicao entre as conscincias se verificaria, para ele, no mbito daquelas formas ou tipos comuns que so precisamente os caracteres. Mas, na realidade no assim, e no primeiro captulo do tratado insiste no "mistrio da pessoa". "A pessoa - diz ele - um foco de liberdade e por isso permanece obscura como o centro da chama. S recusando-se-me como sistema de noes claras se revela e se afirma como fonte de imprevisibilidade e de criao. S subtraindo-se ao conhecimento objectivo, me obriga-para comunicar com ela-a comportar-me como um turista e a ir, com ela, ao encontro de um destino aventuroso, cujos dados so obscuros, cujos caminhos so incertos e em que os encontros so desconcertantes" (Trait du caractre, 1, trad. tal., p. 64). Portanto, a caracteriologia com respeito ao conhecimento do homem o que a teologia em relao ao conhecimento de Deus, isto , uma cincia intermediria entre a experincia do mistrio e a elucidao racional; e h uma caracteriologia negativa, ou seja,
do no saber, como h uma teologia negativa. Todavia, Mounier insiste nos aspectos da pessoa que permitem a afirmao do seu valor absoluto. Em primeiro lugar, a pessoa liberdade, entendendo-se por liberdade a espontaneidade no sentido de Bergson (Le personizalisme, 1950, p. 79). Em segundo lugar, transcendncia; transcendncia seja para a "Existncia modelo 196 das existncias", seja como superao da pessoa mesma para as formas que devem ser, por sua vez, pessoais. O terceiro aspecto da pessoa o comprometimento no mundo, mediante o qual no espiritualidade pura ou isolada: um compromisso que o materialismo marxista reclamou de modo brutal mas no menos eficaz. Deste ponto de vista, os ideais ou os valores no so fins ltimos para o homem mas apenas meios para realizar uma vida pessoal mais ampla; isto , uma forma colectivista ou comunitria que poderia chamar-se "pessoa colectiva" ou "pessoa pessoal" (Rvolution personnaliste et communautaire, trad. ital., p, 244). Esta forma superior de vida, para a qual a pessoa deve livremente dirigir o seu empenho de superao, concebida por Mounier no esprito do cristianismo, como uma espcie de comunidade de santos, na qual os homens sero chamados a participar da mesma vida divina. A encarnao do Verbo, que a verdade fundamental do cristianismo, significa para Mounier o resgate do elemento corpreo e mundano e um convite para efectuar precisamente neste elemento, e no em oposio a ele, a aspirao divina do homem (La petite peur du XX sicle, p. 114). Por outros termos, a revoluo comunitria e personalista tem a misso de realizar na histria humana o reino de Deus; e poder-se-ia dizer, adaptando uma frase de Bergson (ao qual Mounier deve muitas das suas inspiraes) que a histria , deste ponto de vista, "uma mquina para fazer deuses". 197 NOTA BIBLIOGRFICA 670. A histria da filosofia dos ltimos cem anos dividida, a maior parte das vezes, por naes e sem ter em conta, a no ser ocasional e parcialmente, a unidade ou a concordncia das orientaes seguidas pelos pensadores das diversas naes. Dado que as naes no so, nem nunca foram, compartimentos estanques, pelo menos no que respeita circulao do pensamento filosfico, e dado que os pensadores que seguem uma orientao determinada manifestam maiores afinidades com os de outras naes que seguem a mesma orientao do que com os da mesma nao que seguem orientaes diferentes, no se v onde esteja a utilidade destes mtodos de estudo; o qual, por um lado parece autorizar uma espcie de nacionalismo filosfico e, por outro, parece sugerido pela preguia de pesquisar num material historiogrfico ainda catico ou pouco ordenado os files que permitem orden-lo e exp-lo nas suas conexes conceptuais. Desde a primeira edio desta obra se, ps de parte este mtodo e se reagruparam os pensadores segundo as afinidades existentes nas suas doutrinas ou nas derivaes histricas das suas doutrinas. Este segundo mtodo permite, alm disso, reconhecer e legitimar aqueles reagrupamentos nacionais ou locais (por exemplo, o espiritualismo francs, o idealismo italiano, o Crculo de Viena, ete.) que constituem escolas filosficas e se fundam, portanto, na unidade ou na continuidade das suas orientaes doutrinrias.
Sobre a filosofia dos ltimos cem anos: F. UEBERWEG, Grundriss der Gesch. der Phil., vol. IV: Die deutsche Phil. des XIX Jarhunderts und des Gegenwart, 12 ed., refundida por T. K. OESTERREICH; Berlim, 1923; ID., vol. V: Die Phil. de& Auslandes vom Beginn des XIX Jahrunderts bis auf die Gegenwart, 12 ed., Berlim, 1928; H. H~DING, Histria da filosofia moderna, vol. II, trad., M.ARTINETTI, 2.a ed., Turim, 1913; 198 W. WINDELBAND, Histria da filosofia moderna, trad. ital., Florena, 1925; G. D. RUGGIERO, La fil. contemporanea, Bari, 1912, 2 vol., 1920; ID.., Filosofi del Novecento, Bari, 1934, 1942; F. H. HEINEMAN, Neue Wege der Philosophie, Leipzig, 1929. O carcter nacional da filosofia contempornea explicitamente justificado por De RUGGIERO, La fil. cont. (intr.) na esteira de SPAVENTA, e no Gundriss de UEBERWEG ( 1) e implicitamente assumido nas divises por naes das outras histrias de filosofia. Sobre a fil. inglesa: W. R. SORLEY, -4 HiStory Of English Philosophy, Cambridge, 1920; A. K. Rogers, English and American Philosophy since 1800, Nova lorque, 1922; R. METZ, Die phiZosophische Strmungen der Gegenwart in Grossbritannien, 2 vol., Leipzig, 1935; I. H. MUIRHEAD, Filosofi inglesi contemporanei, trad. ital, Milo, 1939; L. PAUL, The English Philosophers, Londres, 1954; J. PASSMORE; A Hun dred Years of Philosophy, Londres, 1957. Sobre a fil. francesa: F. RAVAISSON, La phil. en France au XIX sicle, Paris, 1868; D. PARODI, La phil. contemporaine en France, Paris, 1919; J. BENRUBI, Les sources et les courants de Ia phil. contemporaine en France, 2 vol., Paris, 1933; Llacti vit phil. contemporaine en France et aux tats-Unis, ao cuidado de M. Farber, Paris, 1950, vol. 111; F. VALENTINi, La filosofia francesa contemporanea, Milo, 1958. Sobre a fil. italiana: E. GARIN, La filosofia, Vol. U: Dal Rinascimento al Risorgimento, Milo, 1947; M. F. SIACCA, o sculo XX, 2 vol, Milo, 1942. Sobre a fil. italiana: E. GARIN, La filosofia, Vol. Phil. in America from the Puritans to James, Nova Iorque, 1939; HERBERT W. SCHNEIDER, A HiStOry Of American Phil., Nova Iorque, 1946; Llactivit philos. contemp. en France et aux tats-Unis. tudes publies sous Ia direction de Marvin Farber, vol. I, Paris, 1950; M. H. FISCH, Clas8ic American PhiZosopher, Nova 199 lorque, 1951; MORRIS R. COHEN, American Thought, Glencoe, Il.I, 1954. 672- De Lotze, os dois primeiros volumes do Microcosmo foram traduzidos em italiano, Pavia, 1911-1914. Sobre Lotze: E. PFLEIDERER, Lotzes philosophische Weltanschauung, Berlim, 1882; H. JONES, A Critical Account of the Philosophy of L., Londres, 1895; L. AMBROsi, L. e Ia sua fiZ., Roma, 1912; M. WENTSCHER, H.L., Heidelberg, 1913. - Os seus aspectos particulares: H. SCHOEN, La mtaphysique de H.L., Paris, 1902; G. SANTAYANA Ws
Moral Idealism, in. "Mind", 1890; A. MATAGINS, Essai 8ur Ilesthtique de L., Paris, 1900; E. JAEGER, Kristiche Studien L.s WeZtbegriff, Wrzburg, 1937. 673. Sobre Spir: F. JEDL, in "Zeitschrift fur Phil.", 1891; Th. LESSING, A. S.s Erkenntnislehre, Erlangen, 1899; J. SEGOND, Llidalisme des valeurs et Ia doctrine de S., in "Revue Phil.", 1912; MARTINETTI, A.S., pref. ao Saggi di fil. critica di Spir, Milo, 1913; N. CLAPARDE-SPIR, Un prcurseur, A.S., Lausanne-Paris, 1920 (com bibliogr.); J. LAPCIIINE, A.S., Sa vie, sa doctrine, Praga, 1938. 674. Sobre Hartmann: J. VOLKELT, Das Unbewusste und der Pessimismus, Berlim, 1873; BONATELLI, La fil. dell'inconscio di Ex.H. esposta ed esaminata, Roma, 1876; OLGA PLOMACHER, Der Hampf ums Unbewusste, Berlim, 1881, 2.1 ed. 1891 (com bibl.); A. FAGGI, La filosofia delllinconsciente, Florena, 1891; Id., H.e Ilestetica, Florena, 1895; W. RAUNSCHEN BERGER, Ex.H., Heidelberga, 1942. Sobre Eucken: O. SIEBERT, R.E.s. Welt-und Lebenanschaung, LangensaIza, 1904, 4.1 ed, 1926; H~DING, Moderne Philosophen, cit., p. 176 sgs.; ROYCE GiBsoN, R.E.s. Philosophy of Life, Londres, 1906; O. BRAUN, R.E.s. Philosophie und Bildungs-probZem, Leipzig, 1909; W. T. JONES, An Interpretation of R.E.s. Philosophy, Londres, 1912; M, BooTH, R.E., his philosophy and In200 fluence, Londres, 1913; W. S. MC-GOWAN, The Religious Philosophy of. R.E., Londres, 1914. 675. Sobre Lequier: J. GRENIER, La philosophie de J.L., Paris, 1936 (com bibl.); J. WAHL, J.L., (Introduction et choix), Paris, 1948; Id., in "Deucalion", 4 de Outubro de 1952, p. 81-126; E. CALLOT, Propos sur J.L., Paris, 1962; X. TILLIETE, in "Rvue de mtaphysique et de morale" 1963, 1. 676. Sobre Secrtan: E. BOUTROUX, La phil. de S. in "Rvue de mtaphysique et de morale", 1895; S. PILLON, La phil. de S., Paris, 1898; J. DUPROIX, O.8. et Ia philosophie kantienne, Paris, 1900; L. SECRTAN, O.S., sa vie et son oeuvre, Lausanne, 1912; E. GRIN, Les origines et Fvolution de Ia pense de C.S., Lausanne, 1930; Id., Vinfluence de S. sur Ia tho?ogie moderne, Lausanne, 1942. 677. De Ravaisson, as memrias sobre Abitudine, os ensaios Fil. contemporanea e Fil. de Pascal foram recolhidos e traduzidos por A. TILGHER, COM O ttulo: Ensaios filosficos, Roma, 1917. A recolha contm sinais bibliogrficos. O Testament philosophique foi publicado na "Revue de mtaphysique et de niorale", 1901, e reeditado em Testament et fragments, ed, Devivaise, Paris, 1932. A. LEVI, LI indeterminismo nella fil. francesa contemporanea, Florena, 1904, p. 24-31, 219 SgS.; BERCSON, La vie et Iloeuvre de R., in La pense et le mouvant, Paris, 1934; J. Dopp, P.R., Lovaina, 1933 (com bibl.). 678. De Lachelier, Fundamento da induo, Psicologia e metafsica, e um ensaio menor, A observao de Platner, foram traduzidos por G. DE RuGGIERO sob o ttulo Psicologia e metafsica, Bari, 1915. G. SEAILLEs, La phil, de L., Paris, 1920; E. BouTROUX, J.L,, in "Revue de mt. et de
morale", 1921; V. AGOSTI, La filosofia de J.L., Turim, 1952. 679. Sobre Boutroux: P. JANET, La philosophie franaise contemporaine, Paris, 1879; LEVI, op. cit.,; 201 P. GONNELLE, E.B., Paris, 1908; P. ARCHAMBAULT, E.B., choix de textes avec une tude sur lIoeuvre, Paris, 1908; P. SERINi, E.B., na rev. "Logos", Npoles, 1922; L. S. CRAWFORD, The Philosophy of E.B., Nova lorque, 1924; M. ScHyNs, La philosophie de E.B., Paris, 1924. 680. De Hamelin: Le systme de Descarte&, Paris, 1910; Le systme dAristote, Paris, 1920; Le systme de Renouvier, Paris, 1927. A. DARBON, La mthode synthtique dafis Lles3ai dIO.H., in "Revue de mt. et de morale", 1929; A. ETCHVERRY, Llidalisme contemporain en France, Paris, 1934, p. 45 sgs.; L. J. BECK, La mthode synthtique de H., Paris, 1935. 681. Uma antologia dos textos filos. de, Balfour: A.J.B. as Philosopher and Thinker, ao cuidado de W. SHORT, Londres, 1912. Sobre Balfour. W. WALLACE, Lectures and Essays on Natural Theology and Ethics, Oxford, 1898; J. S. MACKENZIE, in "Mind", N.S., 1916; G. GALLOWAY, in "Hibbert Journal", 1925. Sobre Pringle-Pattinson: JONES, in "Philosophical Review", 1911; RASHDALL, in "Mind", N.S., 1918. Sobre Ward: A. E. TAYLOR, in "Mind", N.S., 1900; DAWES HICKS, in "Mind", N.S., 1921 e 1925; ID., in "Hibbet Journal", 1926; ID., in "Journal of Philosophical Studies", 1926; e ensaios de autores diversos em "The Monist", 1926; M. MURRAY, The Philosophy of J.W., Cambridge, 1937. 682. Sobre Martinetti: GENTILE, Saggi critici, 1, Npoles; A. LEVI, Llidealismo critico in Italia, in "Logos", Npoles, 1924; V. CAVALL, La libert umana nella fil. contemporanea, Npoles, 1934, p. 157 sgs.; P. CARABELLESE, Llidealismo italiano, Npoles, 1938, p. 211 sgs.; SCIACCA, (perfil), Brescia, 1943 (com bibl.); F. P. ALESSIO, LI idealismo di P.M., Brescia, 1950. 683. Bibl. completa dos escritos de Varsco, in G. ALLINEY, VaXiSCOC, MilO, 1943. 202 P. CARABmLESE, Llesser_- e il problema reZigioso, Bari, 1914; ID., 11 pensiero di B.V., in <@Giorn. critico della fil. ital.", 1926; ID., Il problema teologico come filosofia, Roma, 1931; ID., Llidealismo italiano, Npoles, 1938; E. CASTELLI, Il problema teologico in B.V., in Scritti filos. per le onoranze nazionali a B.V., Florena, 1925;A. PASTORE, Verit e valore nel pensiero fil. di B.V., ibid.; E. DE NEGRI, La metafisica di B.V., Florena, 1929; LIBRIZZI, La fil. di B.V., Pdua, 1941; ALLINEY, V. Milo, 1943; P. C. DRAGO, La fil. di B.V. Florena, 1944; G. CALOCERO, La filosofia di B.V., Messina, Florena, 1950. Sobre Carabellese: CROCE, in "Critica", 1922; N. VERRUA, Il pensiero di P.C., Bobbio,
1937; G. FANO, in "Giorn. critico della fil. ital.", 1937; E. PACI, Pensiero, esistenza, valore, Milo, 1940, p. 173 sgs.; P. C. DRAGO, La metafisica di P. C., in "Filosofi conternporane" (Inst. de Estudos filosficos di Turim), Milo, 1943; G. VICARELLI, Im pensiero di P.C., Roma, 1952. 684. Sobre Gabriel Marcel: J. WAHL, Ver& le concret, Paris, 1932; M. DE CORTE, La philosophie de G.M., Paris; G. OLIVIERI, La fil. di G.M., in Studi fil"ofici, Milo, 1940; L. PAREYSON, La fil. dell'esistenza e Carlo Jaspers, Npoles, 1940, passim; P. RiCOEUR, G.M. et K. Jaspers, Paris, 1948; P. PRINI, C.M. e Ia metodologia delllinverificabile, Roma, 1950; R. TRoiS-FONTAINEs, De l'existence Vtre. La philosophie de G.M., 2 vol., Lovaina, 1954 (com bibl.). Sobre Berdiaev: L. LAVELLE, Le moi et son destin, Paris, 1946 (p. 2.1, cap. III); F. TANGINI, Il personalismo di N. Derdiaev, in Filosofi contemporanei (Instituto de estudos filosficos de Turim), Milo, 1943, p. 57-158; O. F. CLARCKE, Introduction to B., Londres, 1950; E. PORRET, N. B., Heidelberga, 1950. Sobre Lavelle: M. DE PETRI, in "Aannalli della Scuola Normale Superiore di Pisa", 1938; A. DE WAELIIENS, in "Revue noscolastique de phil.", 1939-40; O. M. NOBILE, La fil. di L.L., Florena, 1943; E. CEN203 TINEO, IZ problema della persona nella filosofia di L., Palermo, 1954; R. LE SENNE, N. J. BALTRASAR; G. BERGER, ete. in "Giornale di metafisica", 1952, n. 4 Sobre Le Senne: J. PAUMEN, Le spiritualisme existentiel de R.L.S., Paris, 1949; A. Gumo e outros, R.L.S., Turim, 1951; E. CENTINEO, R.L.S., Palermo, 1953 (com bibL); F. P. ALESSIO, Studi sul neospiritualismo, Milo, 1953, p. 89-129; e os fascculos dos "ntudes philosophiques", 1955, n. 3 e do "Giornale di metafisica", 1955, n. 3, inteiramente dedicados a Le Senne. 685. Da obra de Mounier, esto traduzidos em italiano: Revoluo personalista e comunitria, Milo, 1949; O que o personalismo, Turim, 1948; Tratado do carcter, Alba, 1949; O personalismo, 1952. Em portugus: Manifesto ao servio do personalismo, Liv. Morais Ed.. Depois da morte de Mounier, foi publicada uma vasta documentao: M. et sa _qnration. Lettres, carnets, indits, Paris, 1956. Escritos de vrios autores em "Esprit", 1950, p. 721 SgS.; PAOLO ROSSI, in "I1 pensiero critico", 1951, p. 175-83; A. RIGOBELLO, Il contributo filosofico di E.M., Roma, 1955. 204 III A FILOSOFIA DA ACO 686. CARACTERISTICAS DA FILOSOFIA DA ACO A filosofia da aco uma das formas do espiritualismo moderno. Com efeito, tem de comum com o espiritualismo a seguinte caracterstica fundamental: o modo de praticar e entender a filosofia como auscultao interior ou concentrao na interioridade espiritual.
O tema da filosofia da aco , por conseguinte, como o do espiritualismo, a conscincia. Mas para os filsofos da aco a conscincia sobretudo, ou acima de tudo, vontade, actividade, aco: isto , mais actividade prtica ou criadora do mundo moral, religioso e social, do que faculdade contemplativa ou teortica. Tal como o espiritualismo, a filosofia da aco tem interesse e carcter religioso, e s com Sorel adquire carcter poltico. 205 O primeiro precedente histrico da filosofia da aco tem de ir buscar-se f moral exposta na Crtica da razo prtica de Kant. A f moral aparece a Kant como a condio e, ao mesmo tempo, o resultado da actividade prtica, e foi amide interpretada como um "primado da razo prtica" no sentido de uma capacidade da vontade moral do homem para fundar as verdades religiosas que a razo terica no pode alcanar por si prpria. Neste sentido, a corrente de que ora nos ocupamos afirma o primado da aco. Por outro lado, a aco de que ela nos fala no consiste em actos e operaes exteriores, mas a aco da conscincia e que conscincia mesma revela a sua natureza e as suas condies. 687. NEWMAN O iniciador da filosofia da aco, neste sentido que se lhe d, foi, sem dvida, o ingls John Henry Newman (1801-90) que, sendo anglicano, se converteu em 1845 ao catolicismo romano e em 1879 se tornou cardeal da Santa Igreja. O Cardeal Newrnan foi um escritor fecundo; autor de muitos volumes de sermes religiosos, de tratados teolgicos, de ensaios histricos, crticos e polmicos, assim como de obras literrias e de vida devota. Os escritos que interessam histria da filosofia so o Ensaio sobre o desenvolvimento da doutrina crist (1845) e o Ensaio de uma gramtica do assentimento (1870). Os dois escritos so ambos de contedo apologtico e partem do mesmo pressuposto: uma doutrina, 206 quando verdadeiramente viva e vital, no uma simples posio intelectual porquanto implica tambm a participao dia vontade e, em geral, da actividade prtica do homem. Este pressuposto torna-se objecto de justificao filosfica na segunda das duas obras acima citadas e explicitamente assumido como ponto de partida na primeira. "Quando uma ideia afirma Newman (Development, ed. 1909, p. 36) seja real ou no, de tal natureza que fixa e possui o esprito, pode considerar-se viva, isto , pode-se dizer que viva no esprito que o seu receptculo. Assim, as ideias matemticas, por muito reais que sejam, no podem propriamente ser consideradas vivas, pelo menos no sentido habitual. Mas quando um enundado geral, seja verdadeiro ou falso. acerca da natureza humana ou do bem, do governo, do dever ou da religio, se difunde numa multido de homens e lhes reclama a ateno, no apenas recebido passivamente,
desta ou daquela maneira, em muitos espritos, seno que se torna neles um princpio activo que os leva a uma contemplao sempre renovada de tal enunciado, a aplic-lo em vrias direces e a difundi-lo por toda a parte". , portanto, a vitalidade prtica das ideias religiosas que determina o seu desenvolvimento na Histria, dado que este desenvolvimento no se assemelha ao matemtico, que deduz uma proposio da outra, nem ao do fsico da natureza vegetal ou animal, seno que concerne totalidade dos aspectos da vida humana e pode ser poltico, intelectual, histrico ou moral. O cristianismo, como uma grande ideia que inspirou a vida da humanidade, teve um 207 desenvolvimento deste gnero: os seus aspectos mais profundos tm sido gradualmente esclarecidos no curso da sua histria, embora a sua verdade originria permanea inalterada. Deve admitir-se, segundo Newman, que tais desenvolvimentos participam no plano providencial do universo, recorrendo a um argumento anlogo quele pelo qual se deduz da ordem do mundo fsico uma inteligncia infinita (1b., p. 63): mas se assim, a providncia teve tambm de estabelecer uma autoridade imutvel para regular de uma maneira infalvel o curso desses desenvolvimentos e evitar os desvios e as corrupes, e, de facto, esta autoridade exercida pela Igreja. Newman enumera algumas caractersticas do desenvolvimento autntico de uma doutrina frente aos seus desvios e corrupes; estas caractersticas so a conservao do tipo primitivo, a continuidade, a fora de assimilao, a consequncia lgica, a antecipao do futuro, a conservao do passado e a durao que lhe garante o vigor. Baseando-se em tais caractersticas, v no catolicismo moderno o " resultado legtimo e o complemento, ou seja, o desenvolvimento natural e necessrio da doutrina da igreja primitiva" (lb., p. 169). Uma doutrina que se desenvolve , portanto, uma ideia viva, isto , praticamente operante, e em que a vontade pe o seu empenho. A Gramtica do assentimento o exame e a justificao das condies que conferem vitalidade a uma ideia. Newman comea por distinguir trs actos mentais: a dvida, a inferncia e o assentimento. Uma pergunta exprime uma dvida; uma concluso exprime um 208 acto de inferncia; uma assero exprime um acto de assentimento. Estes trs actos tm por objecto proposies: mas o assentimento que se d a proposies que exprimem coisas muito mais forte do que o que se d a proposies que exprimem noes: o assentimento real , por consequncia, bastante mais forte do que o assentimento nocional. O assentimento nocional aquele a que se chama profisso, opinio, especulao; o assentimento real a crena. Um assentimento real, por si s, no conduz aco, mas as imagens em que vive, representando o
concreto, tm a fora de excitar as afeies, os sentimentos e as paixes, e atravs destes tornam-se operantes (Grammar, ed. 1909, p. 89). O assentimento nocional a uma proposio dogmtica um acto teolgico; o assentimento real mesma proposio um acto religioso. O primeiro pode dar-se sem o segundo, mas o segundo no pode dar-se sem o primeiro. No existe, portanto, antagonismo entre o credo dogmtico e a religio vital; pelo contrrio, a religio infunde ao credo dogmtico os sentimentos e as imagens que condicionam a sua vitalidade operante (1b., p. 120). O assentimento , em todas as suas formas, incondicionado; e nisto se distingue da inferncia (ou raciocnio), que aceita uma proposio s quando ela se subordina a outras proposies, e , por isso, condicionada. A certeza um assentimento complexo, isto , dado deliberada e conscientemente, e , como tal, a superao definitiva de todas as dvidas ou temores acerca da verdade da proposio a que se 209 refere. A indefectibilidde da certeza -no , contudo, infalibilidade; e pode-se ter uma certeza, ainda que se esteja enganado (1b., p. 224). Apesar de considerar superior o assentimento real, Newrnan no v nele mais do que um acto intelectual que coloca a par dos outros, ao lado da dvida e da inferncia. Deste modo, o que constitui o seu carcter prprio, isto , a incondicionalidade e a certeza indefectvel, simplesmente pressuposto e no objecto de esclarecimento e de justificao. Este esclarecimento e justificao encontr-lo-emos na obra de Oll-Laprune, o qual atribui explicitamente o assentimento vontade. 688. OLL - LAPRUNE Lon OIl-Laprune (1830-99) vincula a doutrina do assentimento de Newman tradio cartesiana. E tambm autor de uma ampla monografia intitulada Filosofia de Malebranche (2 vol., 1870). A sua obra principal intitula-se A certeza moral (1880), qual se seguiram: A filosofia e o tempo presente ,(1890); As fontes da paz intelectual (1892); O valor da vida (1894); O que se vai procurar em Roma (1895); A virilidade intelectual (1896); e dois escritos publicados postumamente: A vitalidade crist (1901) e A razo e o racionalismo (1906). Oll-Laprune retoma a distino de Newman entre assentimento nocional e assentimento real, exprimindo-a como distino entre certeza abstracta, que se refere a noes, e certeza real, que se refere a coisas 210 (De Ia cert. mor., ed. 1908, p. 23). A certeza abstracta ou especulativa s pode existir verdadeiramente num
unio, caso: o das matemticas. Em todos os outros casos, a certeza reflexa e explcita sempre mais real e prtica do que lgica e especulativa. Isto depende da prpria natureza do esprito em que a vontade tem uma funo predominante. No mais abstracto pensamento, a vontade est presente como preferncia e escolha porque s ela determina a ateno e assim estimula e sustenta o pensamento. " a vontade que coloca ou fixa o esprito no terreno em que deve operar; a vontade que efectua a preparao indispensvel a esta operao; ela que primeiro conduz com ardor apaixonado ou com fria resoluo todas as foras intelectuais para o objecto que se procura conhecer; ela que mantm estas foras aplicadas e atentas. A vontade, a boa vontade, tem em toda a parte, mesmo na pura ordem cientfica, uma influncia que nada pode substituir Qb., p. 48). Oll-Laprune vale-se da anlise cartesiana do juzo para concluir que o juzo, como consentimento, sempre um acto livre de vontade. Se o assentimento (como queria Descartes) involuntrio, porque segue a apreenso de uma proposio evidente, o consenso, como aceitao da verdade, deve-se vontade que no afectada pela evidncia que determina o juzo do esprito (1b., p. 65). Isto estabelece a diferena entre o saber e o crer. Sabe-se que evidente; cr-se no que permanece de algum modo oculto e a que se d assentimento por uma razo que , de certo modo, extrnseca ao que se afirma (1b., p. 81). A f 211 superior crena: uma crena vital, sria e poderosa, designa a prpria mola e o fundamento do acto de crer, e , por consequncia, essencialmente, confiana, certeza, esperana. Tudo isto demonstra que s o uso prtico da razo o seu uso completo. A especulao fornece apenas meias verdades que s se tornam verdades completas no domnio prtico, isto , moral. H, indubitavelmente, uma nica razo, e entre o conhecimento e a crena, entre a cincia e a f, no existe desacordo; mas h uma ordem superior de verdades em que a crena se une ao conhecimento, e a f uma das condies da certeza. " Esta ordem superior no se eleva sobre as runas de todo o resto: domina tudo, mas supe aquilo mesmo que ela ultrapassa. O homem, para chegar a, necessita de unir todas as foras da sua alma, e a razo, para poder pronunciar-se, tem necessidade de uma preparao apropriada" (lb., p. 413). Esta ordem de verdades superiores constituda, -segundo OIl-Laprune. por quatro verdades: a lei moral, a liberdade, a existncia de Deus, a vida futura. Trata-se de verdades que a razo pode, de algum modo, demonstrar, mas que permanecem misteriosas e s adquirem um sentido concreto em virtude da f . Estas verdades demonstram, pois, efectivamente, o carcter prtico da razo, que a tese fundamental de Oll-Laprune. A filosofia mesma torna-se ento essencialmente prtica, no no ,sentido de que nela se verifique uma subordinao extrnseca da especulao aco, mas no sentido de que a especulao , ela tambm, prtica. " pr212 tica - diz OIl-Laprune (La phil. et le temps prsent, p. 261) -compete situar no centro, por assim dizer, o objectivo vivo que se trata de considerar, o facto vivo que cumprir experimentar e interpretar, a verdade viva cuja luz dever iluminar e guiar os passos do filsofo". Devido a esta funo imanente que o aspecto prtico tem na filosofia, esta nunca
pode dispensar a f. Isto no significa que a filosofia se tome num puro estado de alma subjectivo. A f , de certo, um acto pessoal, mas, do mesmo modo que o acto moral, embora sendo pessoal, consiste em aceitar uma lei que independente da pessoa ou superior pessoa; assim, o acto de f se dirige a um objecto que no criado pela f. A filosofia est sujeita s regras que sustentam e dominam a vida, e extrai a sua virtude e o seu valor do que d valor vida, isto , do objecto vivo e vivificante que a vida tem o destino e a honra de estimar, amar e realizar at onde possvel como deve (Ib., p. 347). Oll-Laprune utiliza estas teses para fazer a apologia do cristianismo catlico, que contrape como doutrina de esperana ao carcter triste e terrfico do cristianismo protestante (Le prix de la vie, p. 355). A vontade humana insuficiente mas no impotente e a graa divina sustenta-a e refora-a, levando-a salvao. Oll-Laprune manifesta deste modo pela primeira vez o trao mais saliente da filosofia da aco: o reconhecimento da funo essencial e dominante que a vontade exerce no seio mesmo da mais abstracta especulao racional. Esta tese o ponto de partida da obra de Blondel. 213 689. BLONDEL Maurcio Blondel (1861-1949) publicou em 1893) o escrito que continua a ser a sua melhor obra: A aco, ensaio de uma crtica da vida e de uma cincia da prtica; a esta obra seguiram-se uma Carta sobre as exigncias do pensamento contemporneo em matria de apologtica (1896) e Histria e dogma (1904). Durante estes anos, Blondel colaborou, com o pseudnimo de Bernard. de Sailly, nos "Anais de filosofia crist", de Laberthonnire, que foi o rgo do movimento modernista. Quando este movimento foi condenado pela Igreja na encclica Pascendi, de 8 de Setembro de 1907, Blondel encerrou-se num discreto silncio e nos anos seguintes publicou apenas artigos e ensaios de esclarecimento sobre a sua filosofia. S em 1934 publicou outra vasta obra em dois volumes intitulada O pensamento, qual se seguiram, em 1935, O ser e os seres e, em 1936-37, uma reedio em dois volumes de A aco. A sua ltima obra intitula-se A filosofia e o esprito cristo (em trs volumes, tendo os dois primeiros aparecido em 1944 e em 1946). As obras de Blondel so todas extremamente prolixas e dominadas por um explcito intuito apologtico que torna em muitos pontos incerta e oscilante a filosofia do autor. Cada uma delas tem a pretenso de estabelecer uma reconstruo total, necessria e exaustiva de toda a realidade finita e humana, at quele limite em que a realidade finita e humana encontra o seu complemento na realidade sobrenatural e transcendente. 214 A Aco uma tentativa de reconstruir a realidade total em todos os seus graus tomando como base um nico motivo dialctico; mas, ao contrrio de Hegel, Blondel considera que
a dialctica real a da vontade, no a da razo. A mola real do desenvolvimento no a contradio, mas o contraste entre a vontade que quer e o seu resultado efectivo. entre o acto do querer e a sua realizao. Este contraste constitui a insatisfao perene da vontade e a mola incessante da aco. "Os termos do problema -diz Blondel (L'action, 1893, p. X) so nitidamente opostos. De um lado, tudo o que domina e oprime a vontade; do outro, a vontade de dominar tudo ou de poder ratificar tudo; visto que no h ser onde existe apenas constrio". A filosofia da aco parte deste conflito, mostra as solues parciais que alcana pouco a pouco, o seu incessante ressurgir e o seu definitivo apaziguamento no sobrenatural. Mas assim entendida, a filosofia da aco no pode ter por objecto a ideia da aco: deve, plo contrrio, colocar-se no prprio corao da aco efectiva. A verdadeira cincia , de facto, a que no recebe nada do exterior, mas em que se capta o que nos faz ser; s com esta condio, de facto, a cincia adquire a infalvel segurana das premissas e a necessidade rigorosa das concluses (1b., p. 101). Conformemente a estes pontos basilares, a aco concebida por Blondel como um "iniciativa a priori", que cria, por si mesma as condies e os limites pelos quais aparece determinada a posteriori. "A aco voluntria provoca, de algum mOdo, a resposta e os ensinamentos do exterior, e estes ensina215 mentos, que se impem vontade, esto, no entanto, implcitos na prpria vontade" (L'action, p. 217). Deste ponto de vista, o mundo exterior e o prprio corpo do homem so manifestaes ou realizaes da sua vontade: de uma vontade que recebe, sob a forma de constries e de Emites, os prprios produtos do seu acto. A conscincia do esforo orgnico, a fadiga do trabalho, as dificuldades ou os reveses dolorosos da aco, devidos matria ou natureza, derivam todos da "necessidade de expanso de uma vontade dividida e contrastada em si mesma" (1b., p. 163). A aco forja o corpo e a alma do indivduo; mas, alm disso, abre o indivduo aos outros indivduos, criando a sociabilidade e, ao mesmo tempo, subordinando-se a ela e procurando realizar atravs dela uma unidade efectiva, uma comunidade de pensamentos, de vida e de operaes entre os diferentes indivduos. Este movimento de expanso social da vontade detm-se em trs termos progressivos que so a famlia, a ptria e a humanidade; mas depois prossegue na vida moral, na qual se produz, ainda e sempre, o contraste entre a vontade e a sua realizao, entre o dever e o facto. Perante a necessidade de adequar a aco vontade humana surgem as supersties, isto , as religies inferiores; a necessidade autntica mas a sua satisfao por esta forma ilusria. A aco chega assim ao seu ltimo contraste. No pode ficar satisfeita com o que realizou, o homem no pode querer o que j quis, se o que quis se identifica com as suas realizaes no mundo finito. necessrio, por isso, que de algum modo o homem 216 BLONDEL
possa querer querer ((Ib., p. 338), isto , alcanar um termo em que a vontade e a sua realizao se adequem perfeitamente. Para que aquele "esboo de ser" que existe no fundo da vontade humana se complete e tome forma, mister que o homem renuncie a si mesmo e se transcenda. "Querer tudo o que ns queremos na sinceridade plena do corao colocar em ns o ser e a aco de Deus" (1b., p. 491). A aco deve assim passar da ordem natural ordem sobrenatural e afirmar resolutamente esta ltima. A palavra que diz sim perante o sobrenatural , ela mesma, uma aco. Este mtodo apologtico, que consiste em atribuir natureza finita do homem a exigncia necessria do infinito e de Deus, foi denominado por Blondel mtodo da imanncia e defendido na Carta sobre as exigncias do pensamento contemporneo em matria de apologtica (1896). O liame necessrio entre o homem e Deus no implica, contudo, uma continuidade real entre * natural e o sobrenatural, mas significa apenas que * progresso da vontade e da aco, obrigando a reconhecer a insuficincia da ordem natural, confere ao homem a capacidade, no de o produzir ou definir, mas de o reconhecer e o receber. Se a nossa natureza no se encontra vontade no sobrenatural, o sobrenatural est vontade na nossa natureza (Lettre, etc., p. 39). A insuficincia da ordem natural tambm a insuficincia da histria: a conexo dos factos no explica o carcter sobrenatural do cristianismo, mas exige-o como seu complemento e justificao (Histria e dogma, 1904). 217 O pressuposto desta primeira fase da filosofia de Blondel que s a aco pode fornecer a chave do que o homem e deve ser e, ao mesmo tempo, o pode levar a compreender a sua natureza finita e a sua exigncia de infinito. "Trata-se do homem integral dizia ento Blondel (L'action, p. XXIII) - no , portanto, apenas no pensamento que se deve procur-lo. necessrio transferir para a aco o centro da filosofia, porque nela que se encontra tambm o centro da vida". A aco , na obra de 1893, a nica realidade concreta do homem e, por isso, inclui em si tanto o seu ser como o seu pensamento. Ao invs, nas obras que Blondel publicou a partir de 1934, esse pressuposto abandonado e o ser, o pensamento e a aco so considerados como trs aspectos, que, embora conexos, so diversos e independentes da realidade csmica, humana e divina. Para cada um destes trs aspectos, Blondel refaz o esquema de que se valera em A aco, isto , passa a descrever o desenvolvimento da realidade natural como o efeito de um contraste ou de uma deficincia que ela necessariamente implica, para demonstrar a necessidade de um complemento desse desenvolvimento mediante o recurso realidade sobrenatural. Deste modo, o esquema especulativo da primeira obra permanece idntico, sendo simplesmente multiplicado; e a perda de vigor e de fora que da resulta, supre-a Blondel com a verbosidade da sua exposio. Na sua obra La Pense (1934), a mola real do desenvolvimento reside no contraste entre o pensamento notico,,que o aspecto csmico do pensamento e constitui a sua unidade, e o pensamento 218
pneumtico, que "introduz por toda a parte a diversidade, a singularidade, os vnculos parciais, os centros de reaco, as perspectivas diferenciadas e concorrentes" (Pense, 1, p. 275). O pensamento notico, o que constitui o mundo fsico e o mundo orgnico, ao passo que a dualidade de pensamento notico e pensamento pneumtico a caracterstica do pensamento reflexo e constitui o seu poder de liberdade e de escolha. O pensamento reflexo no chega, em nenhuma das suas fases, a conciliar o aspecto notico com o aspecto pneumtico, ou seja, a unidade e a multiplicidade, a imutabilidade e o devir. A sua incompletude revela-se, enfim, como uma impossibilidade de ser completado; e tal impossibilidade natural exige necessariamente um completamento sobrenatural. Analogamente O ser e os seres (1935) parte do reconhecimento de uma "antinomia ontolgica" que a mola real do desenvolvimento dos seres finitos: por um lado, a antinomia entre "a certeza espontnea e confusa de uma presena, de um fundo slido, de uma subsistncia que funda todo o conhecimento, toda a conscincia, sem se esgotar nela"-, por outro lado, "um sentimento, se no de ausncia, pelo menos de um mistrio que, embora no nos faa duvidar da realidade profunda, faz dela um objecto, no de conhecimento definido, mas de investigao interminvel" (L'tre, p. 67). Esta antinomia encontra-se em todos os graus do ser, incluindo a pessoa humana, que, apesar da sua unidade, mais um dever-ser do que um ser. E esta antinomia mantm-se na comunho dos seres espirituais que tendem unidade perfeita, sem a poder alcanar. De modo 219 que a nica satisfao possvel daquele desejo a que Blondel chama desiderium naturale et inefficax ad infinitum a de nos reconhecermos na unidade transcendental de Deus. Finalmente, na nova edio de L'action (1936-37), Blondel repassa a trama da sua primeira obra, atenuando ou negando o carcter preeminente ou exclusivo que nela atribua aco. A ltima obra A filosofia e o esprito cristo (1944-46), tende a justificar o plano providencial do mundo pela liberdade que deixa aos homens e pelos riscos e recursos que lhes proporciona. Mas o interesse filosfico desta obra quase nulo. 690. O MODERNISMO O abade Luciano Laberthonnire (1860-1932), um dos Padres do Oratrio o maior representante do chamado modernismo, uma tentativa de reforma catlica que foi condenada pelo papa Pio X na encclica Pascendi, de 8 de Setembro de 1907. Laberthonnire foi o director dos "Anais de filosofia crist" (que foram editados de 1905 a 1913), e quase todos os seus escritos foram publicados neste peridico. Os mais notveis foram recolhidos nos Ensaios de filosofia religiosa (1903); merece ser citado tambm O realismo cristo e o idealismo grego (1904), em que Laberthonnire contrape filosofia grega que v em Deus uma ideia suprema e o arqutipo da natureza, o cristianismo que v em Deus a aco suprema, e uma aco imanente no esprito do homem. Em seguida, Laberthonnire publicou o ensaio Sobre a 220 via do catolicismo (1912) e em 1923 reeditava A teoria da educao O includa nos
Ensaios). Postumamente, foram publicados outros escritos que constituem esclarecimentos ou desenvolvimentos das suas ideias fundamentais (Estudos sobre Descartes, 1935, Estudos de filosofia cartesiana e primeiros escritos filosficos, 1937; Ensaios de uma filosofia personalisia, 1942; Crtica do laicismo, 1948). O pressuposto de que parte Laberthonnire o de que uma verdade qualquer s se toma nossa na medida em que nos esforamos por cri-la em ns prprios. Este pressuposto a base da doutrina que do ponto de vista filosfico, ele chama dogmatismo moral e, do ponto de vista religioso, mtodo da imanncia. Deste ponto de vista, a filosofia no uma cincia, mas sim o esforo consciente e reflexo que o esprito humano desenvolve para conhecer as razes ltimas e o verdadeiro sentido das coisas (Essais, p. 5). A filosofia mais aco do que conhecimento; e, na realidade, a prpria distino entre conhecer e agir viciosa. Uma vez adquirido um conhecimento, pode-se decerto consider-lo independente da aco, como uma coisa acabada e perfeita; mas, considerando-a assim, faz-se dela uma abstraco (1b., p. 138). Estas teses so propostas por Laberthonnire unicamente com vista vida religiosa. A verdade sobrenatural, a verdade da revelao, no possui valor algum para o homem, se ele no a recriar por sua conta. O sobrenatural a "unio ntima de Deus com o homem, o prolongamento da vida divina na vida humana" (1b., p. XXVI) O homem s existe nesta unio, enquanto v em Deus o seu 221 princpio e o seu fim. Este reconhecimento constitui a busca e o encontro de Deus. Deus continua a ser, decerto, o princpio do homem, mesmo que ele o no reconhea como seu fim; mas neste caso, suporta-o apenas. Reconhecendo-o como fim, aceita-o e quere-o; e deste modo aceita e quer tambm os outros seres espirituais que dependem de Deus. De modo que este acto "uma ratificao do acto criador, uma resposta de amor ao amor de Deus". A ordem sobrenatural revela-se e afirma-se, por conseguinte, na prpria intimidade da conscincia humana de tal modo que "se o homem deseja possuir Deus e ser Deus, Deus deu-se-lhe j. Eis como na natureza mesma se podem encontrar e se encontram as exigncias do sobrenatural" (1b., p. 171). Indubitavelmente, estas exigncias pertencem no natureza como tal, mas natureza penetrada e invadida pela graa; e, todavia, a graa inseparvel da aco humana e, portanto, toda a aco humana "postula o sobrenatural". Pode-se perguntar que funo tem a Igreja deste ponto de vista que torna intrnseca vida e aco do homem a vida e a aco do sobrenatural. A esta pergunta responde o ensaio Teoria da educao, em que educao e catolicismo se identificam, sendo o catolicismo considerado como "uma organizao social que, encarando a humanidade tal como ela na sua misria original, tem por objecto libert-la e salv-la" (Ib., p. 262). Esta organizao social tambm, indubitavelmente, o resultado de -uma especial interveno de Deus, mas no arbitrria nem "algo de suprfluo imposto humanidade por um capricho superior". 222 No campo da exegese bblica, o modernismo encontrou o seu melhor representante em
Alfredo Loisy (1857-1940), que foi durante muitos anos professor de Histria da Religio no Colgio de Frana. As obras mais conhecidas de Loisy so: O Evangelho e a Igreja (1902) e Em torno de um pequeno livro (1903), s quais pertencem muitas das proposies condenadas pelo papa Pio X na encclica Pascendi dominici gregis de 8 de Setembro de 1907. Loisy respondeu condenao com um escrito intitulado Simples reflexes sobre o decreto do Santo Ofcio "Lamentabili sane exitu" e sobre a encclica "Pascendi dominici gregis" (1908). So tambm notveis as obras de crtica bblica: A religio de Israel (1901); O quarto Evangelho (1903); Os evangelhos sinpticos (1907-08); Ensaio histrico sobre o sacrifcio (1920). Noutros livros, Loisy desenvolveu e consolidou a sua concepo filosfica: A religio (1917); A disciplina intelectual (1919); A moral humana (1923). Loisy concebeu e praticou a exegese bblica como uma exegese puramente crtica e histrica, segundo a qual a Bblia cifra no documento humano de um perodo da histria humana; e distingue, por conseguinte, esta forma de exegese da "teolgica e pastoral". que pretende tirar da bblia uma lio apropriada s necessidades actuais dos crentes. Admitiu, assim, que alguns escritos do Velho Testamento (por ex. o Pentateuco) foram pouco a pouco enriquecidos e transformados por vrias geraes sucessivas, e que os prprios evangelhos sinpticos sofreram esta transformao gradual que, enriquecendo-os com um valor religioso mais intenso, os afastou cada vez mais da 223 verdade histrica. Todavia, contra a crtica protestante, e especialmente a de A. Harnack (A essncia do cristianismo, 1900), afirmou que a essncia do cristianismo no pode encontrar-se s no Evangelho e no consiste na relao directa e privada que ele pode estabelecer entre a alma individual e Deus, seno que se realiza na tradio que toma corpo e substncia na Igreja. Este , certamente, o ponto de vista catlico. Mas, alm disso, Loisy pretende, de acordo com o mtodo da imanncia de Blondel e Laberthonnire, que o essencial da tradio no reside nas frmulas dogmticas mas na imediata experincia religiosa que encontra naquelas frmulas a sua expresso imperfeita e relativa. Deste ponto de vista, o dogma toma-se num smbolo e perde o seu valor absoluto. "Os smbolos e as definies dogmticas esto em relao com o estado geral dos conhecimentos humanos do tempo e do ambiente em que se constituram. Donde se segue que uma mutao considervel no estado da cincia pode tomar necessria uma nova interpretao das frmulas antigas que, concebidas noutra atmosfera intelectual, no bastam para dizer tudo o que seria necessrio ou no o dizem como conviria" (L'vangile et l'glise, p. 208). Loisy , por isso, levado a ver o essencial da vida religiosa na experincia moral; e os seus ltimos escritos defendem a estrita conexo entre moralidade e religio. A religio concebida como o esprito que anima a moral, e a moral como a prtica da religio. " a religio que comunica s regras da moralidade o carcter sagrado da obrigao e que incita a observ-las
224 na qualidade de deveres; e atravs da observncia do dever que a religio cumprida" (La rligion, p. 69). Estas ltimas especulaes de Loisy so significativas no que concerne ao significado do modernismo: procurando deslocar o eixo da vida religiosa do intelecto para a vontade e para a aco, tende a reduzi-Ia experincia moral e a diminuir ou a desprezar o seu carcter especfico. Ao modernismo e filosofia da aco est vinculada a obra do mais importante continuador de Bergson, Eduardo Le Roy (1870-1954), sucessor de Bergson no Colgio de Frana. As obras de Le Roy prestam grande ateno aos problemas gnoseolgicos e metafsicos; mas o interesse que as domina religioso, e religioso no sentido em que o o catolicismo modernista. Eis as suas principais obras: Cincia e filosofia 1899-1900); A cincia positiva e as filosofias da liberdade (1900); Um novo positivismo (1901) dedicado filosofia de Bergson: Dogma e crtica (1907); A exigncia idealista e o fenmeno da evoluo (1927)-, As origens humanas e a evoluo da inteligncia (1928); O pensamento intuitivo (2 vol., 1929-30); O problema de Deus (1929). Le Roy um dos crticos mais radicais da cincia contempornea; faz seus e leva s suas extremas consequncias os temas fundamentais da crtica da cincia, tal como esta se apresenta em Mach, Duhem, Poincar e noutros. Mas a crtica da cincia no para ele um fim em si mesma, isto , no tem como finalidade restringir o saber cientfico queles limites que lhe garantem eficcia e validez, mas sim o de desvalorizar 225 esse saber em benefcio do pensamento intuitivo e da f religiosa que ele pretende fundar sobre este. A crtica da cincia para ele, portanto, uma desvalorizao total do pensamento discursivo. Le Roy cr que o mrito de Bergson foi o de ter afirmado a subordinao da ideia realidade, e da realidade aco e, por conseguinte, o ter visto na aco o princpio e o fim das coisas e na inteligncia apenas uma luz que nos guia, e no j uma fora que se baste a si mesma. A viso comum do mundo tem os sinais da nossa interveno elaboradora, mediante a qual introduzimos na realidade percebida arranjos e simplificaes; de modo que nas coisas se reflecte principalmente a nossa prpria actividade. O pensamento discursivo substitui o dado primitivo, absolutamente heterogneo, fludo, contnuo e mvel, por uma construo ordenada em que as coisas se recortam com ntidos contornos no tempo e no espao. Trata-se de uma construo que o esprito humano produziu com vista s necessidades da aco, mas que fruto de abstraces e simplificaes arbitrrias. E ainda mais arbitrrias so as abstraces e as simplificaes da cincia, que constri, por si mesma, o chamado "facto cientfico". As pretensas confirmaes da experincia so, na realidade, crculos viciosos. Um mtodo, um aparelho, s so considerados bons quando nos do aqueles resultados que ns prprios arbitrariamente decretmos. O rigor e a necessidade dos resultados cientficos s existem na linguagem que a cincia emprega e so por isso fruto de uma pura conveno. Todos os corpos pesados cairo sempre segundo as leis de
226 Galileu, porque estas leis constituem a definio da queda livre. A definio da unidade de tempo supe a noo de movimento uniforme, e no se pode constituir esta noo se no se possui j uma unidade de tempo. Assente nestes crculos viciosos, a cincia no tem valor teortico, mas procura e encontra apenas constantes teis; e encontra-as porque a aco humana no comporta uma preciso absoluta, mas exige s que a realidade seja aproximadamente representada, nas suas relaes connosco, por um sistema de constantes simblicas chamadas leis. Assim entendida, a cincia um produto da liberdade do esprito, tal como um produto da liberdade do espirito o mundo rgido, morto e necessrio para o qual a cincia se dirige; mas a essncia mesma desta liberdade escapa cincia. Encontr-la, viv-Ia at ao fundo e faz-la progredir, tal a finalidade da filosofia, que, como tal, sempre espiritualista. A filosofia deve tentar explicar a evoluo que fez emergir da matria a vida, da vida o homem, e que designa a marcha para alm do homem, para uma realidade superior. Le Roy descreve, seguindo as pisadas de Bergson, as etapas principais desta evoluo nas suas obras principais: A exigncia idealista e o fenmeno da evoluo, As origens humanas. e a evoluo da inteligncia; o O pensamento intuitivo. A evoluo como movimento incessante, continuidade, progresso, explica-se apenas admitindo que o pensamento o ser mesmo, o princpio de toda a posio, o estofo de toda a realidade. Para entendei a vida, necessrio admitir que os indivduos vivos 227 so manifestaes de uma Biosfera que circunda a Terra e que tem com os indivduos a mesma relao que o pensamento tem com as ideias que sustenta e vivifica. Com o aparecimento do homem sobre a Terra, comea o reino da Noosfera, o reino do progresso espiritual que o homem realiza em todos os campos e que o cristianismo orienta para o advento de um novo grau, que ser a fase suprema da gnese vital. Este novo grau dever realizar-se atravs da aco do pensamento intuitivo, a que Le Roy atribui o poder da inveno criadora. Tambm necessrio, para alcanar a verdade religiosa, empregar o pensamento intuitivo ou, como Le Roy diz, o pensamento-aco, isto , a imediata experincia espiritual. As demonstraes habituais da existncia de Deus so inoperantes. O mundo fsico no tem realidade; e as suas leis tm, decerto, um criador, mas este criador o prprio homem, que as estabelece convencionalmente mediante os processos do seu pensamento discursivo. Deus, como qualquer outra realidade, no se pode demonstrar ou deduzir, mas apenas intuir; e a intuio de Deus a prpria experincia moral. "A afirmao de Deus - diz Le Roy (Problme de Dieu, p. 105), a afirmao da realidade moral, como realidade
autnoma, independente, irredutvel, e tambm, talvez, como realidade primeira". A afirmao de Deus consiste na afirmao do primado da realidade moral como esprito do nosso esprito, e neste sentido viver significa crer em Deus; e conhecer Deus, tomar conscincia do que est implcito na acto de viver. Deste ponto de vista, Le Roy declara igualmente falsas as concepes 228 da imanncia e da transcendncia de Deus. Decerto, ns s conhecemos Deus em ns mesmos no mundo, e nunca em si mesmo; e neste sentido, Deus imanente. Mas Deus revela-se no mundo e em ns "mediante um apelo de transcendncia, mediante um impulso para uma expanso ilimitada, mediante uma exigncia de realizao indefinidamente progressiva que ultrapassa toda a realidade finita"; e neste sentido transcendente. A transcendncia de Deus , na realidade, para ns "uma vocao de transcendncia"; e o verdadeiro problema no o da sua transcendncia, mas antes o da queda pela qual o homem passa a estar de algum modo separado dele (1b., p. 284). Deste ponto de vista, a personalidade de Deus tem um valor puramente pragmtico-, significa que ns nos comportmos em relao a Deus como perante uma pessoa, que buscamos nele a nossa personalidade e que, reencontrando deste modo esta personalidade, alcanamos a certeza de que nos encontramos na via da verdade (Ib., p. 280). O dogma tem tambm um valor pragmtico. Segundo Le Roy, a frmula de uma regra de conduta prtica; nisso consiste o seu significado positivo. Este significado no exclui, porm, a sua relao com o pensamento: em primeiro lugar, porque existem deveres que se referem tambm aco do pensamento e, em segundo lugar, porque o prprio dogma afirma implicitamente que a realidade contm, sob esta ou aquela forma, tudo o que justifica como razovel e salutar a conduta prescrita ffiogme et critique, p. 25). Assim, o dogma da Ressurreio de Jesus visa a prescrever 229 em relao a Jesus a atitude e a conduta que seriam requeridas frente a um contemporneo (1b., p. 255). A filosofia de Le Roy , certamente, a mais notvel manifestao do modernismo catlico, mas tambm ela acaba de reduzir a experincia religiosa moral e por ver nos objectivos da religio o smbolo das exigncias morais. O seu valor especulativo continua dependente do princpio bergsoniano do pensamento intuitivo, isto , de um pensamento que tem a imediatez, e por conseguinte, a certeza absoluta, da vida vivida. Escapa a estes filsofos que a vida vivida (a qual to pouco imediata que se entrelaa e se vincula em todos os seus momentos ao pensamento discursivo e de tal modo que no pode, passar sem este, sobretudo para se manter a si mesma, no tem nenhuma certeza e segurana, e que ao invs (e devido quela mesma mobilidade to exaltada pelos bergsonianos) extremamente incerta, instvel e pouco segura. O pensamento imediato outra forma do mito da estabilidade e da segurana do destino a que o homem-filsofo permanece ainda tenazmente ligado em grande parte da filosofia contempornea. 691. MODERNISMO: SOREL A filosofia da aco tem, em geral, carcter religioso; adquire, no entanto, carcter poltico
na obra de Georges Sorel (1847-1922), que declara inspirar-se em Bergson. "0 ensino de Bergson - segundo afirma - mostrou-nos que no s a religio que ocupa as regies da conscincia profunda; tambm os mitos 230 revolucionrios tm as suas razes" (Refl. sobre a violncia). Engenheiro e matemtico, Sorel criticou o conceito positivista da cincia insistindo no valor "metafsico das hipteses cientficas e na inexistncia do determinismo" (As preocupaes metafsicas dos fsicos modernos, 1905). Mas o seu escrito mais famoso so as Reflexes sobre a violncia, no qual, aceitando o princpio da luta de classes, de Marx, e a negao total da sociedade capitalista, procura fundar este princpio numa antropologia e numa filosofia da histria que so as da filosofia da aco. Segundo Sorel, a realidade humana e histrica devir incessante, movimento, aco: como tal, liberdade. Mas a liberdade s se realiza no acto de um contraste radical, violento e total com a realidade histrica. "Quando nos dispomos a agir-diz Sorel (Refl. sobre a violncia, p. 33)-crimos j um mundo fantstico, contraposto ao mundo histrico, e dependente da nossa actividade: a nossa liberdade torna-se deste modo perfeitamente inteligvel". A aco livre supe, portanto, "um mundo fantstico" que se contrape ao mundo histrico com a sua negao total. E quando um mundo fantstico deste gnero se torna num patrimnio de massas que se apaixonam por ele e dele extraem as normas da sua aco, converte-se num mito social. O mito social no um produto do intelecto mas uma experincia da vontade. A utopia, ao invs, um produto intelectual e delineia um modelo com o qual se comparam as sociedades existentes para valorizar o mal e o bem que contm. Por isso, os mitos levam os homens 231 a preparar-se para a destruio do que existe, ao passo que a utopia tem como efeito dirigir os espritos para reformas realizveis, que fazem em pedaos o sistema. Um mito irrefutvel porque idntico s convices de um grupo, expressas em termos de devir, e no se pode decompor em partes no plano de unia descrio histrica. A utopia, pelo contrrio, pode-se discutir como qualquer instituio social, e pode-se refutar. Sorel pretende deslocar o socialismo do plano da utopia para o plano do mito, libertando o marxismo dos seus elementos utpicos e reconduzindo-o ao princpio puro e simples da luta de classes, aberta, total e violenta. Tal o sindicalismo, que Sorel ope s diversas formas do socialismo contemporneo, que ele condena em bloco como acomodaes, compromissos e degeneraes destitudas de valor espiritual. O nico mito susceptvel de manter desperta a luta de classes e de a conduzir ao plano da guerra aberta e herica o da greve geral. Este mito faz conceber a passagem do capitalismo ao socialismo como uma catstrofe, cujo desenvolvimento escapa a qualquer descrio (Refl. sobre a violncia, p. 237). Isto tira todo o significado poltica de reformas sociais que aparecem sempre inclu das no mbito da
sociedade burguesa e apresenta a realizao do socialismo como uma obra "grave, temvel, sublime, mas, precisamente por isso, dotada de uma grande fora educativa e espiritualizadora. Pode acontecer que o mito nunca se realize (como aconteceu, por exemplo, com a catstrofe esperada pelos primeiros cristos) mas isto nada diz sobre o valor do mito, que no consiste 232 na sua concordncia com o curso da realidade, mas sim na sua capacidade de suscitar a aco negadora da realidade mesma (1b., p. 208). O mito desempenha, por outros termos a mesma funo que na cincia desempenha uma hiptese de trabalho, a qual sempre til e fecunda, mesmo quando os resultados a que conduz levem a abandon-la. "Aceitando a ideia da greve geral, embora sabendo que um mito, ns agimos como o fsico moderno, que tem plena confiana na sua cincia, embora sabendo que o futuro a considerar ultrapassada" (Ib., p. 239). Tudo isto implica a justificao da violncia; no da pequena violncia, espordica e destituda de grandeza, mas da violncia que guerra da classe operria contra a classe burguesa. A violncia, no seu verdadeiro conceito, exclui a fora que prpria da sociedade e do estado burgus. O socialismo no tende a assenhorear-se desta fora, mas a destru-Ia com a violncia e a criar uma sociedade de homens livres. Da o carcter moral da violncia, a qual no destri a moral mas a transforma e a conduz ao plano do entusiasmo e do herosmo. "0 socialismo deve violncia os altos valores morais com os quais traz a salvao ao mundo moderno" (lb., p. 365). As ideias de Sorel exerceram uma notvel influncia nos movimentos polticos do nosso sculo. O fascismo italiano e o comunismo russo extraram dele as suas teses caractersticas. As suas bases filosficas so frgeis: reduzem-se a um voluntarismo absoluto, segundo o qual a vontade humana s pode alimentar-se e sustentar-se em virtude de mitos impossveis. 233 A Sorel escapou-lhe o ensinamento fundamental do marxismo: a limitao e o condicionamento que a vontade encontra nas relaes sociais que a constituem. NOTA BIBLIOGRFICA 687. De Newman: Collected Works, 37 vol., Londres, 1870-79. Sobre Newman: P. THuREAu-DANGIN, La Renaissance catholique: IV. et le mouvement "Oxford, Paris, 1899; L. FLixFAuRE, N., sa vie et ses oeuvres, Paris, 1901; W. BARRY, N., Londres, 1903; W. WARD, The Life of J.H. Cardinal N., 2 vol., Londres 1912; C. F. HARROLD, J.H.N., Nova Iorque, 1945; R. SENCOURT, N., Londres, 1948; J. A. LuTz, Kardin41 J.H.N., Zurique, 1948.
688. Sobre OIl-Laprune. BOUTROUX, Vie et oeuvres de L.O.-L., in "1@vue de phil.", 1903; G. FoNSEGRIvE, L.O.-L., Ilhomme et le p~eur, Paris, 1912; M. BLONDEL, L.O.-L., L'achvement et Ilavenir de son oeuvre, Paris, 1962; R. CRIPPA, O.-L., Brescia, 1947. 689. Sobre Blondel: M. CREmER, Le problme religieux dans Ia philosophie de ZIaction, Paris, 1912; J. DE TONQUEEDEC, Immanence, Essai sur la, doctKne de M. B., Paris, 1913; E. CARPiTA, Educacione e religione in M.B., Florena, 1920; O. ARCUNo, La filosofia de111azione e il pragmatismo, Florena, 1942; P. ARCHANiBAULT, Lloeuvre phil. de M.B., Paris, 1928; LEFVRE, 1,'itinraire phil. de M.B., Paris, 1928; FEDERICI AIROLDI, Intrepretaziane del problema dellIessere in M. B., Florena, 1936; E. OGGIONI, La filosofia deZIlessere di M.B., Npoles, 1939; H. DUMMRY, B. et Ia religion, Paris 1954; R. CRiPPA, Il realismo integrale di M.B., Milo: 1954; ID., Profilo della critica blondeliana, Milo, 1962. 690. Sobre o modernismo: G. PREZZOLINI, Che cosl il modernismo, Milo, 1908; ID., II cattolicesimo 234 rosso Npoles, 1908; R. MUImI, La poltica clericale e Ia democracia, Roma, 1908; ID., I problerni dellIltalia contemporanea, Roma, 1908; ID., Della religione, della Chiesa e dello Stato, Milo, 3.910; ID., 11 Cristianesimo e Ia religione di domani, Roma, 1913; E. BU0NAlUTI, Il programa dei modernisti, Turim, 1908; ID., Lettere de un prete modernista, Roma, 1908; R. MURRI, La filosofia nuova e Venciclica contro il modernismo, Roma, 1908; G. GENTILE, II modernismo e i rapporti fra religione e filosofia, Bari, 1909; G. SOREL, La religioni dIoggi, Lanciano, 1911; E. ROSA, Il giuramento contra gli errori del modernismo, Roma, 1911; J. SCHNITZER, Der Katholiscke Moderni&mus, in "Zeitschrift fur PoIitik"@ 1912, p. 1-129; A. HOUTIN, Histoire du modernisme catholique, Paris, 1913; R. BERTHELOT, Un romantisme utilitaire, Le pragmatisme religieux chez W. James et chez les catholiques modernistes, Paris, 1922; E. BUONAIUTI, Histoire du modernisme catholique, Paris, 1927; J. RIVIRE, Le modernisme dans Ilglise, Paris, 1923. 691. De Sorel, as Reflexes sobre a violncia, trad. ital., A. Sarno, com prefcio de B. CROCE, Bari, 1926; Escritos polticos (Reflexes sobre a violncia, As iluses do progresso, A decomposido do marxismo) ao cuidado de R. Vivarelli, Turim, 1963 (citado no texto). A religi" de hoje, trad. Lanzillo, Lanciano, 1909, urna colectnea de ensaios criticos sobre algumas formas contemporneas de filosofia, da religio. Sorel tainbm autor de uni estudo intitulado Le sistme historique de Renan, Paris, 1906. Sobre Sorel: G. SANTONASTASO, G.S., Bari, 1932; P. ANGEL, Essais sur G.S., Paris, 1936; J. H. MEISEL, The Genesis of G.S., Ann Arbor, 1951; R. HuMPRHEY, G.S., Prophet Without Honor, Harwari:@ 1951; G. GoRiELY, Le plural~ dramatique de G.S., Paris, 1962. 235 NDICE
XIII - O POSITIVISMO EVOLUCIONISTA
...
647. O pressuposto romntico ... ... 7 648. Hamilton e Mansel ... ... ... 8 649. A teoria da evoluo ... ... ... 13 650. Spencer: o Incognoscvel ... ... 20 651. Spencer: a Teoria da Evoluo 26 652. Spencer: Biologia e Psicologia ... 29 653. Spencer: Sociologia e ]tica ... 32 654. Desenvolvimento ;do positivismo 38 655. Cludio Bernard ... ... ... ... 41 656. Taine e Renan. ... ... ... ... 44 657. A Sociologia ... ... .. . ... ... 50 658. Ardig ... ... ... ... ... ... 52 659. O evolucionismo materialismo (Monismo) ... ... ... ... ... 59 660. O evolucionismo espiritualist ... 67 Nota bibliogrfica ... ... ... ... XIII - NIETZSCHE 83
... ... ... ... ... ... ... 89 ... ... ... ... ... 90
661. A figura de Nieitzsche ... ... ... 89 662. Vida e Obra 663. Dioniso ou a aceitao da vida 95 237
664. A tranmutao dos valores ... 98 665. A Arte ... ... ... ... ... ... 102 666. O eterno retomo ... ... ... ... 106 667. "Amor-Fati> ... ... ... ... ... 108 668. O super-homem ... ... ... ... 111 669. A personalidade impossvel ... 113 Nota bibliogrfica ... ... ... ... 117 STIMA PARTE A FILOSOFIA NO SCULO XIX E XX O ESPIRITUALISMO ... ... ... ... 123 esM.
670. Natureza e caracterlgticas do piritualismo
... ... ... ... ... 123 671. O espiritualismo alemo:
Fichte ... ... ... ... ... ... 1.27 672. Lotze ... ... ... ... ... ... ... 129 673. Spir ... ... ... ... ... ... ... 133 674. E. Harimaim. Eucken ... ... ... 138 675. O espiritualismo [em Frana. Lequier 238 676- Amiel. Secrtan ... ... ... ... 146 677. Ravaisson ... ... ... ... ... 149 678. Lachelier. Jaur5 ... ... ... ... 1.52 679. Boutroux ... ... ... ... ... ... 155 680. Hamelin ... ... ... ... ... ... 160 681, O espiritualismo oem Inglaterra 165 682. O espiritualismo em Itlia. Martinetti ... ... ... ... ... ... 172 683. Varisco. Carabellese ... ... ... 177 684. Espiritualismo existencialista ... 184 685, O personalismo ... ... ... ... 194 Nota bibliogrfica ... ... ... ... 198 ... ... . ... ... 142
II-A FILOSOFIA DA ACO 686. Caracteristicm da filosofia
... ... ... 205 da
aco ... ... ... ... ... ... ... 205 687. Newman ... ... ... ... ... ... 206 688. OIlLaprune ... ... ... ... ... 210 689. Blondel ... ... ... ... ... ... 214 690. O modernismo ... ... ... ... 220 691. Sorel ... ... ... ... ... ... ... 230 Nota bibliogrfica ... ... ... ... 234 239 Composto e impresso para a EDITORIAL PRESENA na Tipografia Nunes Porto
Histria da Filosofia Volume doze Nicola Abbagnano obra digitalizada por ngelo Miguel Abrantes. Se quiser possuir obras do mesmo tipo ou, por outro lado, tem livros que no se importa de ceder, por favor, contacte-me: ngelo Miguel Abrantes, R. das Aucenas, lote 7, Bairro Mata da Torre, 2785-291, S. Domingos de Rana. telef: 21.4442383. mvel: 91.9852117. Mail: angelo.abrantes@clix.pt Ampa8@hotmail.com.
HISTRIA DA FILOSOFIA VOLUME XII TRADUO 'DE: ANTNIO RAMoS ROSA CONCEIO JARDIM EDUARDO LCl NOGUEIRA EDITORIAL PRESENA - Lisboa 1970
TITULO ORIGINAL STORIA DELLA FILOSOFIA Copyright by NICOLA ABBAGNANO III BERGSON 692. BERGSON: VIDA E OBRA
A obra de Bergson apresenta-se-nos, logo primeira vista, como a mxima expresso do espiritualismo francs, que principia com Maine de Biran e continua numa numerosa famlia de pensadores franceses contemporneos ( 675). No entanto, pode ser tambm legitimamente includa no quadro do evolucionismo espiritualista que teve representantes e defensores em todos os pases da Europa ( 660). Alm disso, interessa-se por alguns temas da critica da cincia e do pragmatismo. O seu trao mais caracterstico , no entanto, o espiritualismo. O tema fundamental, ou antes, o nico tema, da investigao bergsoniana, a conscincia; mas a originalidade desta investigao consiste no facto de no considerar a conscincia como uma energia infinita e infinitamente criadora, mas 4, @I, 01, energia finita, condicionada e limitada por situaes, circunstncias ou obstculos que podem tambm solidific-la, desagrad-la, bloque-la ou dispers-la. O prprio Bergson declarou sob este aspecto o carcter original do seu espiritualismo. "0 grande erro das doutrinas espiritualistas - disse ele (Evolution cratr., 1911, p. 291)-foi o de crer que isolando a vida espiritual de tudo o mais, suspendendo-a no espao mais alto possvel sobre a terra, a colocariam assim ao abrigo de qualquer ataque; como se assim no a tivessem exposto a ser confundida com o efeito de uma miragem". As doutrinas espiritualistas opuseram o testemunho da conscincia aos resultados da cincia sem ter em conta estes ltimos ou at ignorando-os. Bergson pretende, ao invs, aceitar e fazer seus os resultados da cincia, ter presente a exigncia do corpo e do universo material a fim de entender a vida da conscincia e assim reconduzir a conscincia mesma sua existncia concreta, que condicionada e problemtica. O espiritualismo adquire, por isso, na sua obra um sentido novo e tende a inserir a prpria problematicidade na vida espiritual. Henri Bergson nasceu em Paris a 18 de Outubro de 1859 e morreu a 4 de Janeiro de 1941. Foi durante muitos anos professor no Colgio de Frana. A primeira obra que publicou intitula-se o Ensaio sobre os dados imediatos da conscincia (1889), que logo no ttulo mostra o que ser o mtodo da filosofia bergsoniana: libertar das estruturas intelectuais fictcias a vida original da conscincia para a atingir na sua pureza. A segunda obra, Matria e memria (1896) dedicada ao estudo das relaes entre corpo e esprito. Reporta a essncia do esprito memria e atribui ao corpo a funo de limitar e escolher as recordaes para os fins da aco. A evoluo criadora (1907) a sua obra principal, em que apresenta a vida como uma corrente de conscincia (impulso vital) que se insinua na matria subjugando-a, mas mantendo-se ao mesmo tempo limitada e condicionada por ela. Em 1900, Bergson publicou os ensaios sobre o riso, (Le rire) que continham tambm a sua doutrina sobre a arte; constituem trs colectneas de ensaios os livros intitulados A energia espiritual (1919), Durao e simultaneidade (1922), a propsito da teoria de Einstein, e O pensamento e o movente (1934). Em As duas fontes da moral e da religio (1932), Bergson. mostrou o significado tico e religioso da sua doutrina. Aps a publicao destas obras, Bergson, que era de origem judaica, foi-se orientando cada vez mais para o catolicismo, no qual viu, segundo
declarou, o complemento do judasmo. Mas (como disse num passo do seu testamento [19371 revelado pela sua mulher), r-enunciou a uma expressa converso devido onda de anti-semitismo que se espalhara pelo mundo. "Quis-escreveu ele-permanecer entre os que amanh sero perseguidos". 693. BERGSON: A DURAO REAL O ponto de partida e o fundamento de toda a filosofia de Bergson a doutrina da durao real. O prprio Bergson indicou a fonte desta doutrina, ou pelo menos, o ponto de partida onde foi buscar a inspirao dela. Perante a impreciso de todas as doutrinas filosficas, "uma doutrina - segundo afirma (La Pense et le Mouvant, 1934, p. 8) - parecera-nos j fazer excepo e, provavelmente por isso, afeioaramo-nos a ela desde a nossa primeira juventude. A filosofia de Spencer visava seguir o rasto das prprias coisas e modelar-se pelos pormenores dois factos. Sem dvida que procurava ainda o seu ponto de apoio em vagas generalidades. Vamos bem a debilidade dos Primeiros princpios, mas tal debilidade parecia-rios que derivava do facto de que o autor, insuficientemente preparado, no pudera aprofundar as "ideias ltimas" da mecnica. Ganhou-nos o desejo de desenvolver esta parte da sua obra, complet-la e consolid-la. Foi ento que se nos deparou a ideia do tempo. E a aguardava-nos uma surpresa". A surpresa consistiu em verificar que o tempo real, que tem um papel fundamental na filosofia da evoluo escapa s cincias matemticas. Deste modo, a filosofia de Bergson, nascida da tentativa de aprofundamento de um captulo particular do evolucionismo de Spencer, apresenta-se na sua origem como a transformao do evolucionismo naturalista num evolucionismo espiritualista, que identifica o processo contnuo, incessante e progressivo da evoluo com o devir temporal da conscincia. A durao real , de facto, o dado da conscincia, despojado de toda a superestrutura intelectual ou simblica e reconhecido na sua simplicidade originria. A existncia espiritual uma mudana incessante, uma corrente contnua e ininterrupta que varia ]o permanentemente, no substituindo todo o estado de conscincia por outro, mas dissolvendo os prprios estados numa continuidade fluda. No existe um substracto imvel do eu sobre o qual se projectasse a sucesso dos estados conscientes. A durao o processo contnuo do passado que ri o futuro e cresce medida que avana. A memria no uma faculdade especial, mas o prprio devir espiritual que espontaneamente conserva tudo em si mesmo. Esta conservao total ao mesmo tempo uma criao total, uma vez que
nela cada momento, embora seja o resultado de todos os momentos anteriores, absolutamente novo em relao a eles. "Para um ser consciente - diz Bergson - existir significa mudar, mudar significa amadurecer, amadurecer significa criar-se indefinidamente a si mesmo" (Evol. crat., p. 8). A vida espiritual , essencialmente, autocriao e liberdade, No Ensaio sobre os dados imediatos da conscincia (1889), Bergson mostrou como toda a discusso entre deterministas e indeterministas nasce da tentativa de entender a vida da conscincia, que movimento e durao, servindo-se dos esquemas extrados do estudo da matria, que extenso e imobilidade. No possvel reduzir a durao da conscincia ao tempo homogneo de que fala a cincia, o qual constitudo por instantes iguais que se sucedem. O tempo da cincia um tempo especializado e que perdeu por isso o seu carcter original. Nem to-pouco possvel falar de uma multiplicidade de estados de conscincia anloga multiplicidade dos objectos espaciais que se separam e se excluem uns 11 os estados de conscincia se unificam. Todos ,, fluda corrente da conscincia, da qual no p em distinguir a no ser por um acto de abstraco, e o tempo , na conscincia, a corrente, da mudana, no uma sucesso regulada de instantes homogneos. S o labor abstracto do intelecto e o uso da linguagem, que se encontra intimamente ligado quele, transformam esta corrente contnua numa multiplicidade de estados de conscincia diversos, numerveis e imveis. Sendo assim, no se pode dizer (como faz o determinismo) que a alma determinada por uma simpatia, por um dio ou por qualquer outro sentimento, como por uma fora que actue sobre ela. Tais sentimentos, quando atingem uma certa profundidade, no so foras estranhas alma, mas cada um deles constitui a alma inteira; e dizer que a alma se determina sob a influncia de um deles significa reconhecer que se determina por si mesma e, que, portanto, livre. Alm disso, a liberdade no tem o carcter absoluto que o espiritualismo algumas vezes lhe atribui; pelo contrrio, admite graus. Sentimentos e ideias que provm de uma educao mal compreendida chegam a constituir um eu parasitrio que se sobrepe ao eu fundamental, diminuindo na mesma medida a sua liberdade. Muitos, afirma Bergson (Essai, p. 127), vivem assim e morrem sem ter conhecido a verdadeira liberdade. Em contrapartida, somos verdadeiramente livres quando os nossos actos emanam da nossa personalidade inteira, quando entre esta e aqueles existe aquela semelhana indefinvel que existe algumas vezes entre o artista e a sua obra (1b., p. 131). A relao entre o eu e os seus actos no 12 pode, portanto, ser explicada mediante o conceito de causalidade que serve para explicar os liames entre os fenmenos naturais e tom-los previsveis. Os actos livres nunca so previsveis e, propriamente falando, no se pode dizer que o eu seja a causa deles, dado que
o eu no se distingue deles, seno que vive e se constitui neles. A liberdade indefinvel, porque coincide com o prprio processo da vida consciente. Defini-Ia, isto , exprimi-Ia numa frmula de linguagem, significa transferi-Ia para o plano da considerao espacial e dos objectos fsicos, mas aqui no existe seno o determinismo, porque desapareceu precisamente o que constitui a conscincia: a durao real. 694. BERGSON: ESPRITO E CORPO O evolucionismo espiritualista caracteriza-se, no que concerne relao entre esprito e corpo, pela doutrina do paralelismo (ou monismo) psicofsico ( 660). Bergson considera, ao invs, que esta doutrina equivalente, nos seus resultados, da conscincia como epifenmeno dos dados fsicos, prpria do evolucionismo materialista. "Quer se considere-afirma ele (Matire et mmoire, p. 4)-o pensamento como uma simples funo cerebral e o estado de conscincia como um epifenmeno do estado cerebral, quer se encarem os estados do pensamento e os estados do crebro como tradues em duas lnguas diferentes do mesmo original, supe-se tanto num caso como noutro o mesmo princpio: se 13 pudssemos penetrar no interior de um crebro que trabalha e assistir ao entrecruzamento dos tomos de que feito o crtex cerebral ou se, por outro lado, possussemos a chave da psicofisiologia, saberamos pormenorizadamente tudo o que sucede na conscincia correspondente". Contra esta adequao ou equivalncia do psquico e do fsico dirigida a tese que Bergson expe em Matria e memria (1896). Bergson comea por rejeitar tanto o realismo como o idealismo, no que concerne realidade da matria, Apela para o "senso comum", o qual afirma, certo (como faz o realista) que o objecto existe independentemente da conscincia que o percebe, mas cr (como faz o idealista) que este objecto perfeitamente idntico ao dado sensvel. Por outros termos, para o senso comum o objecto no mais do que uma imagem, mas uma imagem existente. No sistema de imagens, a que o mundo se reduz, uma, no entanto, se apresenta com caractersticas especiais: o nosso corpo, que o nico meio para agir sobre as imagens. A percepo , precisamente, o acto da insero activa daquela imagem que o nosso corpo no sistema das outras imagens: aco, e no contemplao. H, portanto, uma diferena radical entre a percepo e a recordao. Considera-se, habitualmente, que a diferena entre estes dois elementos apenas de grau, e que a recordao uma percepo menos intensa ou mais tnue. Segundo Bergson, isto um erro comum psicologia materialista e espiritualista. Entre a percepo e a recordao existe, pelo contrrio, uma diferena de natureza. A percepo o 14 poder de aco do corpo vivo, que se insere activamente entre as outras imagens e provoca o abalo e a readaptao; a recordao, como sobrevivncia de imagens passadas, guia e inspira a percepo (j que se age sempre tendo por base as experincias passadas) mas s se torna verdadeiramente actual no acto da percepo mesma. Por consequncia, a funo do corpo, interposto entre os
objectos que actuam sobre ele e aqueles sobre os quais ele actua, a de um condutor, incumbido de recolher os movimentos e de os transmitir, quando no os detm, a certos mecanismos motores, determinados se a aco for reflexa, escolhidos se a aco for voluntria. "Tudo se passa, como se uma memria independente recolhesse as imagens ao longo do curso do tempo, medida que se produzem, e como se o nosso corpo, com tudo o que o circunda, no fosse mais do que uma dessas imagens, a ltima, a que obtemos a cada momento praticando um corte instantneo no devir em geral" (Matire et mmoire, p. 81). Bergson distingue trs termos: a recordao pura, a recordao-imagem e a percepo, termos estes que explicam a passagem da durao real, como puro processo espiritual, percepo, em que a durao se torna aco e reaco das imagens entre si. "As ideias, as puras recordaes, chamadas do fundo da memria, desenvolvem-se em recordaesimagens cada vez mais capazes de se inserirem no sistema motor. medida que estas recordaes tomam a forma de uma representao mais completa, mais concreta e mais consciente, tendem cada vez mais a confundir-se, com a percepo que as atrai e cujo 15 adoptam. Portanto, no h nem pode haver no crebro uma regio em que as recordaes se fixem e se acumulem. A pretensa destruio das recordaes por obra das leses cerebrais apenas a interrupo do progresso contnuo pelo qual a recordao se actualiza" (1b., p. 140). Donde se conclui que a recordao pura (a conscincia na sua durao real) no est ligada a nenhuma parte do corpo e , portanto, espiritualidade independente. "0 corpo - diz Bergson (1b., p. 199) -, sempre orientado para a aco, tem por funo essencial a de limitar, com vista aco, a vida do esprito". Esta funo exercida pelo corpo mediante a percepo que "a aco possvel do nosso corpo sobre os outros corpos". Quando se trata de corpos circunstantes, separados do nosso por um espao mais ou menos considervel, que mede a longinquidade no tempo das suas promessas ou das suas ameaas, a percepo no faz mais do que destroar aces possveis. Quando a distncia decresce, a aco possvel tende a transformar-se em aco real, e quando se torna nula, isto , quando o corpo se percebe a si mesmo, a percepo delineia, no j uma aco virtual, mas uma aco real. Surge ento a dor, o esforo actual da parte ofendida para repor as coisas no seu lugar; e nisto consiste a subjectividade da sensao efectiva (sentimento). A vida espiritual transcende, pois, por todos os lados, os limites do corpo e, por conseguinte, da percepo e da aco que esto ligadas ao corpo. O corpo representa somente o plano da aco, ao passo que a memria pura o plano em que o 16
esprito conserva o quadro de toda a vida passada e se identifica com a durao. Bergson. substituiu assim o dualismo de corpo e esprito pelo dualismo da aco (ou percepo) e memria. O escopo de L'volution cratrice a resoluo deste dualismo. 695. BERGSON: O IMPULSO VITAL A Evoluo criadora mostra-nos, de facto, como o prprio mundo da aco e da percepo, enquanto sistema de imagens exteriorizadas e espacializadas e, por conseguinte, objecto da inteligncia e da cincia, se constitui em virtude daquele mesmo movimento que o processo temporal da vida consciente. A obra tende a mostrar que, enquanto a inteligncia incapaz de compreender a natureza da vida, esta, como evoluo espiritual, torna possvel explicar a natureza e a origem da inteligncia e dos seus objectos. Em primeiro lugar, Bergson reporta a vida bio- lgica vida da conscincia, durao real. A vida sempre criao, imprevisibilidade e, ao mesmo tempo, conservao integral e automtica de todo o passado. Tal a vida do indivduo, assim como da natureza; mas as perspectivas de uma e de outra so distintas. Cada um de ns, considerando retrospectivamente a sua histria, verificar que a sua personalidade infantil, ainda que indivisvel, reunia em si pessoas diversas que podiam coexistir no estado nascente, mas que a pouco e pouco se foram tomando incompatveis, pondo-nos cada vez mais perante a necessi17 dde de uma escolha. "A via que percorremos no tempo-diz Bergson (volution cratr., p. 109)est salpicada de fragmentos de tudo o que comevamos a ser, de tudo o que poderamos ter chegado a ser. Ns no podemos viver seno uma nica vida; por isso devemos escolher. A vida da natureza, ao invs, no obrigada a semelhantes sacrifcios: conserva as tendncias que num certo ponto se bifurcaram e cria sries divergentes de espcies que evoluem separadamente. Por outros termos, a vida no segue uma linha de evoluo nica e simples. Desenvolve-se "corno um feixe de caules" criando, pelo simples facto do seu crescimento, direces divergentes entre as quais se divide o seu impulso originrio. As bifurcaes do seu desenvolvimento so por isso inmeras. Mas muitas so tambm as vias sem sada em relao aos poucos grandes caminhos que ela tem aberto. A unidade das vrias direces no uma unidade de coordenao, de convergncia, como se a vida realizasse um plano preestabelecido. O finalismo, neste sentido, excludo; a vida criao livre e imprevisvel. Trata-se, ao invs, de uma unidade que precede a bifurcao, isto , da unidade da vis a tergo, do impulso que a vai pouco a pouco realizando. O impulso da vida, conservando-se ao longo das linhas de evoluo nas quais se divide, a causa profunda das variaes, pelo menos das que se transmitem regularmente pela hereditariedade, que se adicionam e criam novas espcies. Tudo isto, se exclui o plano preestabelecido de qualquer teoria finalista, exclui tambm a hiptese de que a evoluo se 18
tenha dado mediante causas puramente mecnicas. O mecanismo no pode explicar a formao de rgos complicadssimos que tm, no entanto, uma funo bastante simples, como o caso do olho. Bergson serve-se da imagem de uma mo que atravessa a limalha de ferro que se comprime e resiste medida que a mo avana. A certa altura, o esforo da -mo esgotar-se- e, no mesmo preciso momento, as partculas da limalha ter-se-o justaposto e coordenado numa forma determinada: a da mo que se detm e de uma parte do brao. Se supusermos que a mo e o brao permaneceram invisveis, os espectadores procuraro nas partculas de limalha e nas foras internas da massa, a causa da sua disposio. Uns explicaro a posio de cada partcula mediante a aco que as partculas prximas exercem sobre ela: esses sero os mecanicistas. Outros pretendero que um plano de conjunto presidiu a cada uma destas aces elementares: esses sero os finalistas. A verdade que h um acto invisvel, o da mo que atravessou a linalha: os inexauriveis pormenores dos movimentos das partculas, como a sua ordem final, exprimem negativamente este movimento indiviso, porque a forma global da resistncia, e no uma sntese de aces positivas elementares ( vol. cratr., p. 102-03). A aco indivisvel da mo a do impulso vital; subdiviso do impulso vital em indivduos e espcie, em cada indivduo na variedade dos rgos que o compem e em cada rgo nos elementos que o constituem, devida resistncia da matria bruta (correspondente, no exemplo citado, limalha de ferro). 19 primeira bifurcao fundamental do impulso a que deu origem diviso entre a planta a o animal, O vegetal caracteriza-se pela capacidade de fabricar substncias orgnicas com substncias minerais (funo cloroflica). Os animais, obrigados a andar e a procurar alimento, evoluram no sentido da actividade locomotora, e, portanto, de uma conscincia cada vez mais desperta. As duas tendncias dissociaram-se ao crescerem, mas na forma rudimentar implicam-se reciprocamente; e o mesmo impulso que levou o animal a prover-se de nervos e centros nervosos, conduziu aquisio por parte da planta da funo cloroflica (Ib., p. 124). Por outro lado, nem mesmo a vida animal se desenvolveu ao longo de uma nica linha. Os Artrpodes e os Vertebrados so as linhas em que a evoluo da vida animal no sentido da mobilidade e da conscincia teve maior xito. As outras duas direces da vida animal, as indicadas pelos Equinodermes e pelos Moluscos, foram ter a um beco sem sada. A evoluo dos Artrpodes alcanou o seu ponto culminante nos insectos e, em particular, nos Himenpteros, a dos Vertebrados, no homem. Nestas duas direces, o progresso efectuou-se de forma diferente, pois que, na primeira direco se dirigiu para o instinto, na segunda para a inteligncia. 696. BERGSON: INSTINTO E INTELIGNCIA Instinto e inteligncia so tendncias diferentes mas conexas e nunca absolutamente separveis. No 20
existe inteligncia sem traos de instinto, nem instinto que no esteja rodeado por um halo de inteligncia. Contudo, na sua forma perfeita, o instinto pode ser definido como a faculdade de utilizar e construir instrumentos organizados, e a inteligncia como a faculdade de fabricar instrumentos artificiais e variar indefinidamente a sua fabricao. Originariamente, o homem no homo sapiens, mas homo faber (Ib., p. 151). A sua caracterstica a de suprir a deficincia dos rgos naturais de que dispe mediante instrumentos que lhe permitam defender-se contra os inimigos e contra a fome e o frio. Os instrumentos que o homem cria artificialmente correspondem, na outra direco da vida, aos rgos naturais -de que o instinto se serve; e por isso o instinto e a inteligncia representam duas solues divergentes, mas igualmente elegantes, de um s e mesmo problema (vol. cratr., p. 155). Mas enquanto a inteligncia se orienta para a conscincia, o instinto orienta-se para a inconscincia. Quando a natureza fornece ao ser o instrumento que deve em. pregar, o ponto em que tem de aplic-lo, o resultado que deve obter, a parte reservada escolha extremamente dbil, e por isso a conscincia ser tambm muito dbil e crepuscular. O instinto ser, portanto, consciente s na medida em que for deficiente, isto , s na medida das contrariedades e dos obstculos que encontrar na sua aco moral. Na inteligncia, pelo contrrio, o estado normal o deficit, isto , o desnvel entre a representao e a aco. A inteligncia deve, de facto, atravs de mil dificuldades, escolher para o seu trabalho o lugar 21 a forma e a matria. E nunca poder satisfazer-se inteiramente, uma vez que cada nova satisfao criar novas necessidades. Desta diferena fundamental derivam as outras: a inteligncia levada a considerar as relaes entre as coisas, ao passo que o instinto se dirige s prprias coisas; a inteligncia conhecimento de uma forma; o instinto, conhecimento de uma matria. Esta ltima caracterstica constitui, primeira vista, uma superioridade da inteligncia: uma forma, precisamente por estar vazia, pode ser preenchida da maneira que se quiser e por isso todo o conhecimento formal praticamente iliinitado e um poder inteligente "traz em si o que lhe permite ultrapassar-se a si prprio". Todavia, esta mesma caracterstica formal priva a inteligncia da capacidade de se deter na realidade de que teria necessidade. "H coisas -diz Bergson (1b., p. 165) que s a inteligncia capaz de procurar, mas que, por si s, nunca poder encontrar. Tais coisas s o instinto as encontraria; mas nunca as procurar". Tudo isto determina as capacidades e os limites da inteligncia humana. A inteligncia est virada, fundamentalmente, para os fins da vida, serve para construir instrumentos inorgnicos e s se encontra vontade quando tem que lidar com a matria inorgnica. Mas a matria inorgnica solidificao, imobilidade, descontinuidade: a inteligncia tende, portanto, a transformar tudo o que considera em elementos slidos, descontnuos e imveis. Por isso o devir se lhe apresenta como uma srie de dados, em que cada um permanece a si mesmo e, portanto, imutvel. Mesmo quando a sua ateno se fixa na mu22 dana interna de um destes estados, decompe-no numa srie de estados ulteriores que tero as mesmas caractersticas de fixidez e imobilidade. Assim, a inteligncia deixa fugir precisamente o que h de novo na evoluo da vida e caracteriza-se por uma natural incompreenso do movimento e da vida.
Bergson define o funcionamento da inteligncia como um mecanismo cinematogrfico. De facto, a inteligncia colhe instantneos imveis do devir e procura reproduzi-lo mediante a sucesso de tais instantes. Mas este mecanismo deixa escapar o que peculiar vida: a continuidade do devir, em que no se podem distinguir estados. Da que todas as tentativas da inteligncia para compreender o devir no consigam seno transform-lo numa srie de imobilidades sucessivas, que j nada tm da continuidade originria. Surgem ento as objeces de Zeno de Eleia contra o movimento: objeces irrefutveis do ponto de vista da inteligncia porque fundadas na espacializao do devir, na sua reduo a uma srie de imobilidades sucessivas. A incapacidade da inteligncia perante a vida a incapacidade da cincia, que se funda na inteligncia. A cincia obtm os maiores sucessos no mundo da natureza inorgnica, onde a durao real da conscincia substituda por um tempo homogneo e uniforme (constitudo por instantes iguais), que na realidade j no tempo, mas espao. A este tempo espacializado aplicvel a medida cientfica; ao invs, o tempo verdadeiro, a durao, no susceptvel de medida porque no apresenta nenhuma uniformidade e criao contnua. Todavia, este mtodo da 23
no uma inferioridade sua, mas a condio xito. A cincia visa aco; saber equivale a **Wo-,kr, isto , A partir de uma situao dada para **J@f **etiegar a uma situao futura. Avana por saltos, isto ., por intervalos, que podem ser to pequenos quanto se deseje, mas que nunca constituem uma continuidade. A cincia s revela os seus limites quando procura compreender a vida. Para compreender a vida necessrio um rgo completamente diferente da inteligncia cientfica. Existe tal rgo? 697. BERGSON: A INTUIO Vimos que a outra direco fundamental da vida o instinto. Mas a inteligncia nunca se separa completamente do instinto: possvel, portanto, um retorno consciente da inteligncia ao instinto: tal retorno a intuio. A intuio um instinto que se tomou desinteressado, consciente de si, capaz de reflectir sobre o seu objecto e de o estender indefinidamente (volut. Cratr., p. 192). Que um tal esforo possvel, prova-o a presena no homem da intuio esttica, que d lugar arte. A intuio esttica, na verdade, faz-nos captar a individualidade das coisas que escapa percepo comum, inclinada a reter dos objectos s as impresses teis para os fim da aco. Por outros termos, a intuio tira arte aquele vu que as exigncias da aco interpem entre ns e as coisas, vu sem o qual todos os hoIliens poderiam entrar em comunicao imediata com as coisas mesmas e ser naturalmente artistas. Dado 24
que, ao invs, as exigncias da aco obrigam o homem a ler as etiquetas que a necessidade da prtica impe s coisas mediante a linguagem, o artista surge de quando em quando e caracteriza-se pela capacidade de ver, escutar ou pensar sem se referir s necessidades da aco. Se fosse possvel um desprendimento completo de tais necessidades, ter-se-ia um artista excelente em todas as artes, Mas, na realidade, acontece que o vu se levanta acidental mente s de um lado, ou seja, na direco de um s dos sentidos humanos; e daqui deriva a diversidade das artes, a especialidade das predisposies (Le Rire, 1908, p. 160). A intuio esttica, no entanto, tende apenas ao individual e no pode ser o rgo de uma metafsica da vida. Mas pode-se conceber uma investigao orientada no mesmo sentido que a arte e que tenha por objecto a vida em geral. Uma investigao deste gnero ser propriamente filosfica, ou melhor, constituir o prprio rgo da metafsica. Enquanto a cincia tem o seu rgo na inteligncia e o seu objecto apropriado na matria imvel, a metafsica tem o seu rgo na intuio e o seu objecto apropriado na vida espiritual. Se a anlise o procedimento prprio do intelecto, o procedimento prprio da intuio ser a simpatia, "pela qual penetramos no interior de um objecto para coincidir com o que ele tem de nico e, portanto, de inexprimvel" (La Pense et le mouvant, p. 205). Se a anlise intelectual tem necessidade de smbolos, a metafsica intuitiva , ao invs, a cincia que pretende dispensar os smbolos. Com efeito, possui de um modo absoluto 25 e infinitamente a realidade, em vez de a conhecer; coloca-se directamente nela, em vez de adoptar pontos de vista em torno dela e por isso a atinge para l de toda a expresso, traduo ou representao simblica (Ib., p. 206). Bergson apela continuamente para a intuio ao longo de toda a sua investigao. A intuio revela-nos a durao da conscincia e pe-nos em guarda contra a espacializao da mesma operada pela inteligncia. a intuio que nos torna conscientes da nossa liberdade. tambm a intuio que nos permite recuperar o impulso vital que a fora criadora de toda a evoluo biolgica. Na realidade, o nico objecto da intuio o esprito. Ela "a viso directa do esprito por parte do esprito". Contudo, o universo material no se apresenta opaco intuio. Se o domnio prprio desta o esprito, "ela desejaria, no entanto, realizar nas coisas materiais a sua participao na espiritualidade - e diramos na espiritualidade, se no soubssemos tudo o que de humano ainda se mistura nossa conscincia, mesmo depurada e espiritualizada" (1b., p. 37). A intuio pode ter significados diversos e no se pode definir univocamente. Todavia, a sua caracterstica fundamental que pensa em termos de durao, isto , de espiritualidade ou de conscincia pura. E isto precisamente que faz dela o rgo especfico da metafsica. Entre a metafsica e a cincia, Bergson no pretende estabelecer uma diferena de valor, mas somente de objecto e de mtodo. cincia compete o conhecimento intelectual da matria; metafsica a intuio do esprito. Uma vez 26 que o esprito e a matria se tocam, tambm a cincia e a metafsica, ho-de ter uma
superfcie perifrica comum: podero assim agir uma sobre a outra e estimular-se mutuamente. Para exercer a sua funo, a filosofia dever deixar de ser uma mera anlise de conceitos implcitos nas formas da linguagem e dever tratar da prpria existncia real. Mas toda a existncia s pode ser dada numa experincia. Esta experincia chamar-se- viso ou contacto ou percepo externa em geral, se se trata de um objecto material; chamar-se- intuio se se trata do esprito. At onde pode chegar a intuio? S ela o pode dizer. "Ela diz Bergson (Ib., p. 61)-chega. a possuir um fio: ela prpria dever ver se este fio vai at ao cu ou se se detm a uma certa distncia da terra. No primeiro caso, a experincia metafsica relacionar-se- com a dos grandes msticos; e eu posso comprovar, pela minha parte, que esta a verdade. No segundo caso, as experincias metafsicas permanecero isoladas umas das outras, sem no entanto se oporem umas s outras. Em qualquer caso, a filosofia elevar-nos- acima da condio humana". 698. BERGSON: GNESE IDEAL DA MATRIA A recusa de Bergson em admitir qualquer diferena de valor entre a metafsica e a cincia e a sua afirmao de que a metafsica e a cincia se distinguem unicamente pela diversidade dos seus objec27
tos, poder fazer supor que tal diversidade seja de algum modo irredutvel, isto , que a matria e o esprito constituam duas realidades ltimas, ainda que em mtuo contacto e com mtuas possibilidades de aproximao e de insero. Porm, a Evoluo criadora tem, entre as suas partes mais significativas, uma "gnese ideal da matria" que uma tentativa para explicar a matria mesma por meio de unia deteno virtual ou possvel do impulso vital, que pura espiritualidade. A evoluo da vida surge primeira vista a Bergson como o resultado do encontro e da luta entre o esprito e a matria. "Tudo se passa como se uma ampla corrente de conscincia tivesse penetrado na matria, carregada, como toda a conscincia, de uma enorme, multiplicidade de virtualidades que se interpenetrassem. Ela impeliu a matria para a organizao, mas o seu movimento foi a um tempo infinitamente atrasado e infinitamente dividido" (vol. cratr., p. 197). Mas a intuio no tarda em compreender que a materialidade, como interrupo da tenso vital, como deteno virtual do impulso, como apario da extenso e da diviso dos entes e como inverso da ordem vital na ordem esttica da matria, , de algum modo, presente prpria conscincia humana. "Quanto mais tomamos conscincia do nosso progresso na pura durao - diz Bergson. (1b., p. 21920) -tanto mais sentimos as diversas partes do nosso ser entrarem umas nas outras e toda a nossa personalidade concentrar-se num ponto, ou melhor, numa ponta, que se insere no futuro, acutilando-o sem trguas. Nisto consistem a 28 vida e a aco livre. Deixamo-nos ir, ao invs; sonhamos em vez de agirmos. Neste mesmo acto, o
nosso eu se dispersa; o nosso passado, que at quele momento se recolhia em si mesmo no impulso indivisvel que nos comunicava, decompe-se em mil recordaes que se exteriorizam umas em relao s outras. Renunciam a interpenetrar-se medida que se solidificam. A nossa personalidade desce assim na direco do espao". A materialidade , portanto, um movimento, ou melhor, uma suspenso virtual do movimento ou um obstculo ao movimento que se encontra na prpria conscincia. Deste ponto de vista, a vida "um. esforo para ascender pela vertente pela qual a matria desce". Se a vida fosse pura conscincia, e, por maioria de razo, se fosse supraconscincia, seria pura actividade criadora (Evol. crat., p. 267). Mas o limite da sua criatividade -lhe intrnseco: o seu movimento para a frente complica-se com o seu movimento para trs, e este movimento para trs, a disperso da vida, a solidificao que procura deter o fluxo criador, a imaterialidade. "Na realidade, a vida um movimento, a materialidade o movimento inverso, e cada um destes dois movimentos simples, uma vez que a matria que forma um mundo um fluxo indiviso, como indivisa a vida que a atravessa, recortando nela os seres vivos, Destas duas correntes, a segunda ope-se primeira; no obstante, a primeira obtm alguma coisa da segunda: da resulta aquele modus vivendi que , precisamente, a organizao" (Ib., p 271). A organizao biolgica, toma, para os nossos, sentidos e para a nossa inteligncia, a forma de 29 partes extrnsecas umas s outras no tempo e no espao, porque fechamos os olhos unidade 1) impulso que, atravs das geraes, une os rgos aos rgos, os indivduos aos indivduos, as espcies s espcies, e faz de toda a srie dos vivos uma nica onda que corre atravs da matria. Mas assim que, mediante a intuio, estalamos o esquema solidificado da inteligncia, tudo se pe de novo em movimento e se resolve no movimento. Este movimento continuado na natureza unicamente pelo homem, j que, em toda a parte, salvo no homem, a conscincia se viu bloqueada e impedida de chegar sua forma. S o homem continua o movimento criador do impulso vital e o continua nas manifestaes que lhe so prprias: a moral e a religio. 699. BERGSON: SOCIEDADE FECHADA E SOCIEDADE ABERTA Nem mesmo no mundo humano, que o mundo social, a conscincia pura actividade criadora. O antagonismo de movimentos que a intuio descobre na conscincia do eu e que se volta a encontrar na vida como contraste entre impulso vital e materialidade, domina tambm o mundo social. As sociedades humanas que historicamente se formaram e se formam so sociedades fechadas, nas quais o indivduo actua unicamente como parte do todo, e que deixam uma margem mnima iniciativa e liberdade. A ordem social modela--se pela ordem fsica, conquanto as suas leis no tenham a necessidade absoluta das 30 leis fsicas. Mas o indivduo segue o caminho j traado pela sociedade: automaticamente obedece s regras desta e conforma-se aos seus ideais. A sociedade a fonte das obrigaes morais. Estas no so, como queria Kant, exigncias da pura razo, mas hbitos sociais que
garantem a vida e a solidez do corpo social. A razo entra nestas obrigaes s para ditar as modalidades do seu exerccio mas nada tem a ver com a origem delas. Na base da sociedade existe o costume de contrariar hbitos, e este o nico fundamento da obrigao moral. O que na outra grande linha da evoluo animal a natureza realizou mediante o instinto, dando origem colmeia e ao formigueiro, na linha da inteligncia realizou-o mediante o hbito. Nesta linha, deixou uma certa latitude escolha individual, e, portanto, todo o hbito moral tem uma certa contingncia- Mas o seu conjunto, isto , o hbito de contrair hbitos, tem a mesma intensidade e regularidade que o instinto (Deux sources, p. 21). Mas alm da moral da obrigao e do hbito, que prpria de uma sociedade fechada, existe a moral absoluta, a dos santos do cristianismo, dos sbios da Grcia, dos profetas de Israel, que a moral de uma sociedade aberta, Esta moral no corresponde a um grupo, mas a toda a humanidade. Tem por fundamento uma emoo original, e continua o esforo gerador da vida. A moral da obrigao imutvel e tende conservao; a moral absoluta est em movimento e tende ao progresso. A primeira exige a impersonalidade, porque a conformidade a hbitos adquiridos; a segunda corresponde ao apelo 31 de uma personalidade que pode ser a de um revelador da vida moral ou um dos seus imitadores, ou tambm a da prpria pessoa que age. A estas duas morais distintas correspondem dois tipos diversos de religio. 700. BERGSON: RELIGIO ESTTICA E RELIGIO DINMICA O nascimento das supersties religiosas explicado por Bergson. mediante a funo fabuladora. As supersties tm, de facto, um carcter fantstico, mas no podem ser reduzidas fantasia que actua nos inventos cientficos e nas realizaes artsticas. A funo fabuladora nasce no curso da evoluo por uma exigncia puramente vital. A inteligncia, que o instrumento principal da vida humana (a qual, como se viu, se rege somente enquanto capaz de fabricar instrumentos artificiais), ameaa voltar-se contra a prpria vida. O ser dotado de inteligncia levado, de facto, a pensar apenas em si mesmo e a desprezar os seus laos sociais. A religio a reaco defensiva da natureza contra o poder dissolvente da inteligncia: os seus mitos e supersties servem para impelir o homem para os seus semelhantes, subtraindo-o ao egosmo em que a inteligncia o faria cair. Alm disso, a inteligncia mostra claramente ao homem a sua natureza mortal, e isso representa para uma mentalidade primitiva um segundo perigo, contra o qual a religio reage com a crena na imortalidade e com o culto dos mortos. Em ter32 BERGSON ceiro lugar, a inteligncia faz perceber claramente ao homem a imprevisibilidade do futuro e, portanto, o carcter aleatrio de todos os seus empreendimentos. A religio exerce tambm aqui unia funo defensiva, dando ao homem o sentido de uma proteco sobrenatural, que o subtraia aos perigos e incerteza do futuro. Finalmente, a religio fornece mediante as
crenas e as prticas mgicas a possibilidade de crer numa influncia do homem sobre a natureza muito superior que o homem pode efectivamente alcanar mediante a tcnica. Uma religio assim constituda , segundo Bergson, infra-intelectual. , em geral, a reaco defensiva da natureza contra o que h de deprimente para o indivduo e de dissolvente para a sociedade no exerccio da inteligncia. , pois, uma religio natural no sentido de que um produto da evoluo natural. Mas a par desta religio esttica, a religio dinmica constitui a forma supra-intelectual da religio, que retoma e continua directamente o impulso vital originrio. Bergson identifica a religio dinmica com o nsticismo. O misticismo muito raro e pressupe um homem privilegiado e genial. Mas ele apela para algo que existe em todos os homens; e mesmo quando no chega a comunicar aos outros homens a sua fora criadora, tende a subtra-los ao formalismo da religio esttica e produz assim numerosas formas inter- .. ~..="0 resultado do misticismo - diz Bergson (Deux Sources, p. 235) - uma tomada de contacto e, por consequncia, uma coincidncia par33
com o esforo criador que a vida manifesta, de Deus, se no Deus mesmo". O misticismo antigo, tanto o platnico como o oriental, um misticismo da contemplao: no acreditou na eficcia da aco humana. o misticismo completo o dos grandes msticos cristos (5. Paulo, Sta. Teresa, S. Francisco, Joana de Are), para os quais o xtase no um ponto de chegada, mas o ponto de partida de uma aco eficaz no mundo. O amor do mstico pela humanidade o prprio amor de Deus: um amor que no conhece problemas nem mistrios, porque continua a obra da criao divina (Ib., p. 251). A experincia mstica fornece a nica prova possvel da existncia de Deus. O acordo entre os msticos no s cristos, mas tambm pertencentes a outras religies, "o sinal de uma identidade de intuio, que se pode explicar do modo mais simples pela existncia real do Ser com o qual crem estar em comunicao" (ib., p. 265). A experincia mstica leva a considerar o universo como o aspecto visvel e tangvel do amor e da necessidade de amar. "Deus amor e objecto de amor: aqui est todo o misticismo". (1h., p. 270). S o amor justifica a multiplicidade dos seres vivos e, portanto, a realidade do prprio universo, requerido pela existncia de seres distintos entre si e por Deus. Bergson aceita francamente uma concepo optimista do mundo". "Existe um optimismo emprico-diz ele (1b., p. 280) - que consiste simplesmente em verificar dois factos: em primeiro lugar, que a humanidade julga boa a vida no seu conjunto porque est ligada a ela, em segundo lugar, que existe uma alegria sem 34 mescla, situada para j do prazer e da dor, que o
estado de alma definitivo do mstico". Bergson aspira a que surja algum gnio mstico que venha corrigir os males sociais e morais de que sofre a humanidade. A tcnica moderna, estendendo, a esfera da aco do homem sobre a natureza, tem de certo modo engrandecido desmedidamente o corpo do homem. Este corpo engrandecido "espera um suplemento de alma, e a mecnica exigiria uma mstica" (Ib,, p. 355). Os problemas sociais e polticos internacionais que nascem desta desproporo poderiam ser eliminados por um renascimento do misticismo. Neste caso, a mecnica que curvou ainda mais a humanidade para a terra, poderia servir-lhe para se endireitar e olhar o cu. E a humanidade poderia ento retomar no nosso planeta "a funo essencial do universo, que uma mquina de fazer deuses" (1b., p. 343). A doutrina da religio dinmica que acabamos de expor a parte mais dbil de toda a obra de Bergson, e tambm aquela em que a elegncia imaginativa do estilo do filsofo se transforma abertamente em nfase e oratria. A identificao da religio autntica com o misticismo no poderia ser aceite por nenhuma das grandes religies ocidentais; e a prpria identidade, em que Bergson insiste, das experincias msticas procedentes de religies diversas fortemente suspeita. Na realidade, o misticismo, como o entende Bergson, tem um pressuposto pantesta: a identidade substancial do homem e de Deus. O homem, enquanto constitudo na sua essncia por um impulso vital super-individual e sobre-hu35 ~o que, como Bergson diz, " divino ou o prprio Deus", no , na sua natureza espiritual, seno um ou uma manifestao do divino ou de Deus. Mas a relao de ntima comunho entre o homem e Deus, a firmeza e a estabilidade da comunicao postulada pelo misticismo tal como Bergson o entende, elimina de um golpe a vida religiosa. Nenhuma religio, e muito menos o catolicismo para o qual iam as simpatias de Bergson nos ltimos anos, poderia considerar o universo como "uma mquina de fazer os deuses" e os homens iguais a estes deuses. Bergson repetiu na sua ltima obra as linhas de um pantesmo romntico para o qual o finito manifestao e revelao do infinito e a individualidade do homem se dissolve ou parece inconsistente e a sua liberdade se identifica com a espontaneidade criadora da fora csmica. 701. BERGSON: O POSSVEL E O VIRTUAL As categorias metafsicas que Bergson explicitamente elucidou e estabeleceu como base da sua investigao inspiram-se precisamente neste pantesmo romntico. Por isso se prestam a justificar a filosofia de Bergson s naqueles aspectos em que ela redutvel a um tal pensamento, mas no os outros, talvez mais vivos, pelos quais a filosofia bergsoniana se insere no crculo da filosofia contempornea. A categoria que preside durao real (na variedade das suas manifestaes) a prpria realidade, a criao. Bergson define esta categoria como "a 36 novidade imprevisvel" da evoluo universal, enquanto sempre evoluo espiritual e que, por isso, se revela directa e imediatamente na conscincia. A ideia de criao no mais do que a percepo imediata que cada um de ns tem da sua prpria actividade e das condies em que ela se exerce. "Dem-lhe o nome que quiserem - diz Bergson (Pense et
Mouv, p. 118-19 -, ela o sentimento que temos de ser criadores das nossas intenes, das nossas decises, dos nossos actos, e, por consequncia, dos nossos hbitos, dos nossos caracteres, de ns mesmos. Artfices da nossa vida, e tambm artistas, quando queremos s-,lo, trabalhamos continuamente com a matria que nos oferece o passado e o presente, a hereditariedade e as circunstncias, a fim de plasmarmos uma figura nica, nova, original, imprevisvel como a forma que o escultor imprime ao barro". Esta simples verificao imediata, elimina, segundo Bergson, todos os problemas da metafsica e da teoria do conhecimento, uma vez que elimina o problema do ser (e do nada) e o da ordem (e da desordem). O problema da metafsica consiste em perguntar-se porque que existe o ser, porque que Z, existe qualquer coisa ou algum em geral, quando, afinal, poderia no existir nada. Ora, este problema puramente fictcio, porque se baseia no uso arbitrrio do termo nada, que s tem sentido no seu terreno, precisamente o do homem: o da aco e da fabricao. "Nada" designa a ausncia do que buscamos, do que desejamos ou do que esperamos, mas no designa positivamente nada do que percebemos 37
ou pensamos. que sempre um "pleno", nunca um "vazio". Quando dizemos que no existe nada, pretendemos dizer que o que existe no nos interessa e que estamos interessados no que j no existe ou poderia ter existido. De modo que a ideia do nada est ligada de uma supresso real ou eventual e, por conseguinte, de uma substituio. Ora, a supresso, enquanto substituio, nunca pode ser total, uma vez que nesse caso no seria substituio. O mesmo se pode dizer do problema da ordem. A ordem torna-se um problema quando nos perguntamos porque que ela existe em lugar da desordem, e implica portanto, como problema, a legitimidade da ideia da desordem. Mas esta ideia significa simplesmente a ausncia da ordem procurada; e impossvel suprimir, mesmo mentalmente, uma ordem sem fazer surgir dela outra. O problema fundamental da gnoseologia revela-se, como o da metafsica, um problema fictcio derivado do uso arbitrrio das palavras. Estas anlises, que Bergson desenvolveu amplamente na Evoluo criadora e repetiu e confirmou depois, mais recentemente (Pense et Mouv., p. 122 sgs.), figuram entre as mais merecidamente famosas da filosofia contempornea, mas no serviam para o fim que ele pretende atingir, isto , a gerao do problema da metafsica ou da metafsica como problema. Com efeito, tais anlises no conduzem eliminao do nada e da desordem, mas somente definio destes como nulidade possvel do ser e da ordem, ainda que seja s no sentido da possvel substituio deles por um ser ou por uma ordem em que o homem no esteja interessado. Estas an38 lises deveriam, portanto, ser completadas com uma anlise da categoria do possvel; mas esta, infelizmente, no se encontra nas obras de
Bergson. De facto, Bergson entendeu sempre o possvel no sentido de "virtual", no sentido da potencialidade aristotlica e ignorou simplesmente ou passou em silncio o seu significado prprio de problemtico. O possvel, segundo Bergson, apenas "a miragem do presente no passado": medida que a realidade se cria a si mesma, sempre imprevisvel e nova, a sua imagem reflecte-se por detrs no passado indefinido. A realidade mesma passa deste -modo a ser possvel, mas precisamente no momento em que se torna realidade: a sua possibilidade no a precede verdadeiramente, mas segui-a (Ib., p. 128). Por outras palavras, o possvel , para Bergson, a sombra virtual que a realidade, autocriando-se, projecta no prprio passado. Esta sombra virtual no tem, evidentemente, nada a ver com o sentido concreto da possibilidade presente, mesmo emotivamente, em toda a experincia ou situao humana. Contudo, este sentido no estranho filosofia de Bergson que ps em luz na Evoluo criadora o bloqueamento e a disperso do impulso vital em muitas das suas direces e correntes, e exprimiu nas pginas finais das Deux sources as suas preocupaes pela sorte do homem no futuro. Isto implica, indubitavelmente, o reconhecimento de uma radical incerteza, instabilidade e insegurana de desenvolvimento da experincia humana, que alis se encontra ensombrada pelo carcter de "imprevisibilidade" que Bergson lhe atribui. Pode dizer-se que a experincia mstica subtrai o homem a esta condi39 o (e categoria da possibilidade que filosoficamente a exprime) para o vincular a uma certeza em que j no subsistem problemas nem dvidas sobre o futuro. Mas a consecuo e a consolidao da experincia mstica, que vem a ser para o homem seno uma possibilidade a que agarrar-se, um problema a resolver? A filosofia de Bergson rompe, nalguns pontos essenciais, o quadro da necessidade romntica em que, explicitamente, o autor quis mant-la. Sob este aspecto, encontra a sua continuao e o seu enriquecimento no pragmatismo contemporneo. NOTA BIBLIOGRFICA 692. Passagens do testamento de B. em A. BGUIN e P. THVENAZ, H.B., Neuchtel, 1941. Sobre a bibliografia: A Contribution to a Bibliography of H.B., Nova Iorque, 1913; e "Revue Internationale de Philosophie", 1949, n. 10. Alguns escritos menores de Bergson encontram-se recolhidos em crits et Paroles, ao cuidado de R. M. MOSS-BASTIDE, Paris, 1957. Sobre as relae:s de B. com Maine de Biran: H. GAUBIER, in tudes bergsoniennes, 1, 1948. J. BENDA, Le Bergsonisme ou une philosophie de Ia mobilit, Paris, 1912; R. BERTHELOT, Le pragmatisme chez Bergson, Paris, 1913; F. KOLGIATI, La filosofta di R., Turim, 1914; J. MARITAIN, La philosophie bergsonienne, Paris, 1914; LE ROY, Une philosophie nauvelle, Paris, 1914; H. H~DING, La philosophie de R., Paris,
1916; F. D'AMATO, 11 pensiero di E.B., Citt di Castello, 1921; THIBAUDET, Le Bergsonisme, Paris, 1923; J. CHEVALIER, B., Paris, 1929; JANNLVITC11, B., Paris, 1931; 40 A. METZ, Bergson et le Bergsonisme Paris, 1933; G. SANTAYANA, II pensiero americano e aZtri saggi, Milo, 1939, p. 191-248; E. LF, Roy, B. RoMEYER, P. KUCHARSKI, A. FOREST, P. D'AUREc, A. BRMOND, A. RICOEUR, Bergson et le Bergsonisme, in "Archives de philosophie", V. XVII, e. 1; V. MATI-IIEU, R., II profondo e Ia sua espressione, Turim, 1954 (com bibl.). 693. J. DELHOMME, Dure et vie dans Ia phitosophie de Bergson, in tudes ber98oniennes, 11, 1949; E. BRHIER, Images plotiniennes, images bergsoniennes, in tudes bergsoniennes, E, 1949, V. MATMEU, op. Cit. 696. L. HUSSON, L'intelectualisme de, Bergson, Paris, 1947. 697. J. SEGOND, L'intuition bergsonienne, Paris, 1923; R. M. Moss-BASTIDE, L'intuition bergsonienne, in "Revue philosophique", 1948, p. 195-206; F. DELATRIZE, Bergs,on et Proust, in tudes bergsoniennes, 1, -1948. 700. CARBONARA, in "Logos", Npoles, 1934; H. IVIAVIT, Lex mesisage de Bergson, in "Culture humaine,>, 1947, p. 491-501; H. SUNDIN, La thorie bergsonienne de Ia religion, Paris, 1948. 41 IV O IDEALISMO INGLS E NORTE-AMERICANO 702. CARACTERISTICAS DO IDEALISMO O termo "idealismo" empregado ordinariamente num sentido gnoseolgico e serve, portanto, para designar toda a doutrina que reduza a realidade a "ideia", isto , a sensao, a representao, a pensamento, a dado ou a elemento de conscincia. Neste sentido, o idealismo o aspecto comum de doutrinas diversas e dspares e pode servir igualmente para caracterizar, por exemplo, a doutrina de Berkeley ou de Hume e a de Schelling ou de Hegel. Alm disso, muitas correntes da filosofia contempornea so, neste sentido, igualmente idealistas: o espiritualismo e o neocriticismo, o transcendentalismo in- ,-ls e norte-americano, o idealismo italiano, a filosofia 43 da aco e grande parte da fenomenologia. Este idealismo gnoseolgico o dominador comum de todas as filosofias antipositivistas que caracterizaram os ltimos decnios do sculo passado e os primeiros do nosso; enquanto que o seu oposto, o realismo, foi, no mesmo perodo, uma excepo e s mais recentemente adquiriu uma certa importncia e significao. Neste sentido, portanto, a palavra idealismo no se presta para indicar nenhuma orientao histrica determinada mas apenas uma doutrina gnoseolgica que, sendo comum a orientaes diversas, no caracteriza historicamente nenhuma.
Neste estudo, empregaremos o termo de idealismo no seu sentido especificamente histrico, ou seja, no sentido de uma orientao que principia com a chamada "filosofia clssica alem" e pretende demonstrar a unidade ou a identidade de infinito e finito, de esprito e natureza, de razo e realidade, de Deus e mundo. Neste sentido, s podero ser compreendidos sob a rubrica "idealismo" aqueles movimentos que se vinculam estritamente s teses fundamentais do idealismo clssico alemo, isto , o idealismo ingls e norte-americano e o italiano. A caracterstica principal deste idealismo, tal como se verifica nas demais orientaes, reside na maneira como entende e pratica a filosofia: consiste essa maneira em mostrar a unidade entre o infinito e o finito, quer partindo do infinito, quer partindo do finito, mas, de qualquer modo, mediante procedimentos puramente "especulativos" ou "dialcticos". 44 703. AS ORIGENS DO IDEALISMO INGLS E NORTE-AMERICANO O idealismo ingls e norte-americano visa a mostrar a unidade entre o finito e o infinito partindo do primeiro; ou, como tambm se pode dizer, por via negativa, isto , mostrando que o infinito, pela sua intrnseca irracionalidade, no real ou real na medida em que revela e manifesta o infinito, que a verdadeira realidade, e postulando portanto a resoluo final do finito no infinito. As manifestaes tcnicas deste ltimo idealismo so precedidas por uma verdadeira florao romntica que se verifica na Inglaterra e na Amrica pouco antes dos meados do sculo XIX. Em Inglaterra, os poetas Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) e William Wordsworth (1770-1850) inspiraram-se, nas suas poesias (e o primeiro tambm em ensaios literrios e filosficos) no idealismo de Schelling. Simultaneamente, o idealismo encontrava na Inglaterra e na Amrica dois expositores e defensores que o revestiam de uma forma brilhante e popular, embora superficial e enftica: Carlyle e Emerson. Toms Carlyle (1795-1881), depois de alguns ensaios e estudos em que se preocupava em dar a conhecer ao pblico ingls a literatura romntica alem, publicou o Sartor resartus, que ao mesmo tempo uma stira alegrica da sociedade contempornea e a expresso dos seus princpios filosficos. Num trabalho histrico, A revoluo francesa (1837), exaltou liricamente as grandes figuras dessa revoluo; e na obra Os heris (1841) concebeu a histria como 45 o campo de aco das grandes personalidades e estudou diversas manifestaes do herosmo humano. Em numerosos ensaios posteriores dirigiu uma crtica mordaz sociedade mecnica exaltando liricamente, em oposio a ela, o ideal de uma vida espiritual domina-da pela vontade e pelos valores morais. Em Sartor resartus, o universo um vestido, isto , um
smbolo ou uma apario do poder divino que se manifesta e actua em graus diversos em todas as coisas. Carlyle exalta o mistrio que envolve "o mais estranho de todos os mundos possveis". O universo no um armazm ou um fantstico bazar, mas o mstico templo do esprito. A segurana de que a cincia tem de possuir a chave do mundo da natureza ilusria. O milagre que viola uma suposta lei da natureza no pode ser, em compensao, a aco de uma lei mais profunda, que vise pr a fora material ao servio da energia espiritual? Na realidade, todas as coisas visveis so sinais ou emblemas: a matria s existe para o esprito: no mais do que a encarnao ou a representao exterior de uma ideia. No mundo da histria, o poder divino manifesta-se naquelas grandes personalidades a que Carlyle chama heris. Os heris so "os indivduos da histria universal" de que falava Hegel, ou seja, os instrumentos da providncia divina que domina a histria, E tudo o que na histria humana encerra de grande e de duradouro devido sua aco. Quase ao mesmo tempo Relph Waldo Emerson (1803-82) arvorava-se na Amrica em defensor do "transcendentalismo", ou seja, de um idealismo pantesta de cunho hegeliano. Tal concepo surge pela 46 primeira vez num escrito intitulado Natura (1836) e foi depois defendida em numerosos Ensaios. A sua obra Homens representativos (1850) reduz (como os Heris de Carlyle) a histria biografia dos grandes homens. A convico fundamental de Emerson que em toda a realidade actua uma fora superior que ele denomina de Superalma ou Deus. A nica lei do homem consiste em conformar-se com esta fora. O prprio mundo um smbolo e um emblema. A natureza uma metfora do esprito humano e os axiomas da fsica no so mais do que a traduo das leis -da tica. Mas o esprito humano o prprio esprito de Deus. "0 inundo - diz Emerson (Nature, ed. 1883, p. 68), -procede do mesmo esprito de que procede o corpo do homem: uma inferior e mais remota encarnao de Deus, uma projeco de Deus no inconsciente. Mas difere do corpo num aspecto importante: no est como o corpo, sujeito vontade humana. A sua ordem serena inviolvel para ns. Ele , portanto, para ns, o testemunho presente do Esprito divino, um ponto fixo em referncia ao qual podemos medir os nossos erros. Assim que degeneramos, o contraste entre ns e a nossa casa torna-se mais evidente, e ns tornamo-nos estranhos na natureza ao afastarmonos de Deus". Emerson pode afirmar sobre esta base a identidade romntica entre filosofia e poesia: uma e outra descobrem no mundo a sua fora oculta, a Super-alma que o domina. A Super-alma o esprito de verdade que se revela no homem, como um olho que v atravs de uma janela aberta de par em par. o 47 fundamento da comunicao entre os homens, que s possvel sobre a base de uma natureza comum e impessoal, de Deus mesmo. , enfim, a fora, que actua no gnio e nos
homens a quem a humanidade deve os seus maiores progressos (Essays, ed. 1893, 1, p. 270). A liberdade humana no consiste, pois, em fugir ao mundo e necessidade que o domina, mas sim em reconhecer a racionalidade e a perfeio desta necessidade e em conformar-se a ela. A verdadeira especulao idealista inicia-se em Inglaterra com a obra de Jacob Hutchinson Stirling (1820-1909), O segredo de Hegel (1865), obra muito pouco original, dedicada exposio e defesa do sistema hegeliano. O segredo de Hegel , segundo Stirling, a estreita relao de Hegel com a de Kant, de que a primeira a legtima e necessria consequncia. Stirling via o ponto basilar do hegelianismo na reduo de toda a realidade ao pensamento infinito de Deus, de que o prprio homem um aspecto ou um elemento. A primeira manifestao original do idealismo ingls deve-se ao filsofo Toms Hill Green (1836-82). Green autor de duas longas Introdues s duas partes do Tratado da natureza humana de Hume (ed. 1874-1875) e dos Prolegmenos tica (1883), que a sua obra principal, e de outros ensaios menores. A Hume e, em geral, ao empirismo, Green objecta que impossvel reduzir a natureza a um conjunto de percepes ou ideias e que impossvel entender a conexo que tais percepes ou ideias apresentam entre si. Toda a percepo ou ideia s pode ser reconhecida na sua singularidade 48 por uma conscincia que no idntica a elas, porque delas se distingue no prprio acto do reconhecimento; e toda a conexo ou sucesso de ideias s o para uma conscincia, que no em si mesma conexo ou sucesso, mas compreende em si tais coisas. De facto, o sujeito que reconhece uma ideia ou a relao entre vrias ideias, no pode ser, por sua vez, uma ideia, porque isto implicaria que uma ideia fosse, ao mesmo tempo, todas as outras. E no pode ser um composto de sensaes ou de ideias porque as ideias na conscincia se sucedem umas s outras, e a sucesso no pode constituir um composto. necessrio, portanto, que o sujeito esteja fora das ideias para que perceba as ideias, e fora da sucesso para que perceba a sucesso. Por outros termos, deve ser um Sujeito nico, universal e eterno. Um sujeito desta espcie tambm o pressuposto tcito de todo o naturalismo mas torna impossvel o prprio naturalismo. Se o mundo uma srie de factos, a conscincia no pode ser um destes factos, porque um facto no pode compreender em si todos os outros. A natureza uma contnua mudana; mas uma mudana no pode produzir a conscincia de si mesma, porque esta deve estar igualmente presente em todos os estdios da mudana. As relaes entre os factos surgem mediante a aco de uma Conscincia unificante que no se reduz a um dos factos relativos. Assim, as relaes temporais s o so para uma conscincia eterna. Deste modo, Green deduz a necessidade de uma Conscincia absoluta (isto , infinita e eterna) da prpria considerao da realidade natural a que 49
o empirismo e o positivismo pretendiam reduzir a conscincia. Todavia, a conscincia humana tem uma histria no tempo, e Green no nos esconde a dificuldade que este facto fundamental e inigualvel apresenta para a sua teoria da conscincia absoluta. A sua soluo que a histria no pertence verdadeiramente conscincia, mas apenas ao processo atravs do qual o organismo animal se toma o veculo da conscincia mesma. A nossa conscincia, segundo afirma, pode significar duas coisas: ou a funo de um organismo animal, que se tornou, gradualmente e com interrupes, um veculo da eterna conscincia; ou esta mesma eterna conscincia, que faz do organismo animal o seu veculo e est por isso sujeita a certas limitaes, mas conserva as suas caractersticas essenciais de independncia em relao ao tempo e de determinante do devir. A conscincia, que varia a cada momento, que est em sucesso, e em cada um de cujo estados sucessivos depende de uma srie de eventos interiores e externos, conscincia no primeiro sentido. A nossa conscincia, com as suas relaes caractersticas em que o tempo no entra, que no devm mas so de uma vez por todas o que so, a conscincia no outro sentido (Prol. to Ethios, p. 73). Esta distino elimina toda a incompatibilidade entre a afirmao da conscincia absoluta e a admisso de que todos os processos do crebro, dos nervos e dos tecidos, todas as funes da vida e do sentido, tm uma histria estritamente natural. Tal incompatibilidade s existiria se estes processos e funes constitussem realmente o homem 50 capaz de conhecimento; a actividade humana, ao invs, s se pode explicar mediante a aco de uma conscincia eterna, que se serve dela como de um rgo prprio e se reproduz a si mesma atravs dela. Porque que esta repetio deve existir, porque que a eterna conscincia deve procurar e promover a sua repetio imperfeita atravs dos rgos e das funes do organismo humano, um enigma que Green considera insolvel. "Devemos contentar-nos em dizer que, por muito estranho que possa parecer, a coisa assim" (Ib., p. 86). Como quer que seja, Green considera que s o conceito de uma conscincia absoluta pode justificar a ideia de progresso, uma vez que os conhecimentos novos que o homem adquire no podem vir ao ser no momento em que so descobertos; so j reais na conscincia absoluta e o progresso no mais do que a adequao crescente da histria animal da conscincia conscincia absoluta (1b., p. 75). Estas consideraes estendem-se tambm vida moral do homem. O aperfeioamento do homem tende a um termo que j plenamente real e completo na conscincia absoluta. Quando se diz que o esprito humano tem a possibilidade de realizar alguma coisa que no se realizou ainda na experincia humana, pretende dizer-se que h uma conscincia na qual este algo j existe. A conscincia eterna, Deus, , pois, ab aeterno tudo o que o homem tem a possibilidade de chegar a ser. No s o Ser que nos fez, no sentido de que existimos como um objecto da sua conscincia, como a natureza, mas tambm o Ser em que existimos e ao qual somos idnticos na medida em que tudo o que o esprito humano capaz de chegar a ser (1b., p. 198). A vida moral impele o homem para o aperfeioamento individual e a satisfao das suas prprias exigncias; mas esta tendncia universaliza-se e racionaliza-se
imediatamente porque o seu termo a conscincia absoluta em que todos os homens esto igualmente presentes. Devido a isto o bem foi concebido como uma actividade espiritual de que todos podem e devem participar e, portanto, como uma vida social em que todos os homens devem cooperar livre e conscientemente e em que deve dominar a harmoniosa vontade de todos (Ib., p. 311.). Esta concepo de Green foi a base constante do idealismo ingls posterior. John Caird (1820-98) fez dele a base de uma filosofia da religio (Introduo filosofia da religio, 1880). O fundamento da religio , segundo Caird, a unidade do finito e do infinito: unidade que plenamente realizada e actual na vida divina, mas que o homem s pode alcanar atravs de um infinito progresso, que exactamente a sua vida religiosa. "A religio a elevao do finito para o infinito, o sacrifcio de todo o desejo, inclinao ou volio que me pertence como indivduo privado, a absoluta identificao do meu querer com o querer de Deus" (Intr., ed. 1889, p, 283). Eduard Caird (1835-1908) fazia de uma concepo anloga o critrio de uma crtica miinuciosa e pedante da doutrina kantiana (A filosofia crtica de Kant, 2 vol., 1889) e a base para entender A evoluo da religio (1893). Com efeito, delineia trs formas "teoricamente progressivas da conscincia religiosa. A Primeira a objectiva, segundo a qual Deus 52 concebido como um objecto entre os objectos (politegnio, enotesmo). A segunda a subjectiva, segundo a qual Deus concebido como uma vontade espiritual que se revela na autoconscincia dos homens (estoicismo, profetismo, puritanismo, Kant). A terceira a final e perfeita, em que Deus reconhecido na verdadeira forma da sua ideia, isto , como a unidade do sujeito e do objecto e, portanto, como principio comum da exterioridade csmica e da interioridade espiritual. 704. BRADLEY A maior figura do idealismo ingls Francisco Herberto Bradley (1846-1924) que elegeu para tema fundamental da sua especulao o antigo e sempre novo contraste entre aparncia e realidade, que d o ttulo sua obra principal (Aparncia e realidade, 1893). Bradley tambm autor de Estudos ticos, (1876), Princpios de lgica (1893), Ensaios sobre a verdade e a realidade (1914) e de muitos outros estudos de filosofia e psicologia. Segundo Bradley, todo o mundo da experincia humana aparncia, e s real a conscincia absoluta. O mundo da experincia , com efeito, inteiramente irracional, contraditrio e incompreensvel; e assim porque todos os aspectos dele se baseiam em relaes e as relaes so inconcebveis. Bradley examina a relao entre qualidades primrias e secundrias, entre a coisa e as suas qualidades, a relao espacial e temporal, a zausal, a que constitui o 53
sujeito ou eu. Bradley encontra em todas elas a mesma dificuldade fundamental: toda a relao tende a identificar o que diverso, e nisso contraditria. Toda a relao modifica os termos relativos, mas cada um destes termos cinde-se em duas partes: uma, modificada, e outra, que permanece inalterada: e estas duas partes no podem unir-se seno por uma nova relao, o que implica uma nova modificao e uma nova ciso; e assim at ao infinito. Deste modo, a relao que deveria tornar inteligvel a unidade dos termos relativos, no faz mais do que dividi-los e multiplic-los internamente at ao infinito: por isso contraditria. Todo o sistema da experincia humana, assente nas relaes, se pulveriza, mediante a reflexo filosfica, numa mirade de termos no interior de outros termos que no esto juntos de nenhuma maneira inteligvel. Nem mesmo o eu, segundo Bradley, escapa a esta dificuldade. , no entanto, verdade que a existncia do eu est de algum modo fora de qualquer dvida, mas s como unidade da experincia imediata, anterior reflexo racional. Esta unidade deveria ser entendida e justificada racionalmente; mas logo que se inicia esta tentativa introduzindo a distino entre eu e no eu, as dificuldades inerentes a toda a relao deparam-se-nos imediatamente e o eu torna-se inconcebvel. Nenhum aspecto do inundo finito se salva da contradio, e nenhum deles pode ser considerado real. Nem sequer o mundo da pura lgica se salva da contradio. Os Princpios de lgica de Bradley e os numerosos ensaios que dedicou a problemas de lgica pem em relevo as contradies que se ani54 nham no acto lgico fundamental. O juzo , segundo Bradley, a referncia de uma ideia realidade, a qualificao da realidade mediante um conceito que tomado como smbolo e significado dela. Por outros termos, todo o juzo implica uma ideia que no uma simples ideia, mas uma qualidade do real. Mas se assim, a multiplicidade e a variedade dos juzos implica que estes sejam incompatveis e contraditrios. bem certo que todo o juzo qualifica a realidade sob certas limitaes ou condies; mas, dado que estas limitaes ou condies qualificaria, por seu turno, a prpria realidade, a contradio no eliminada mas apenas multiplicada (Essays, p, 229). O facto de todo o mundo da experincia e do pensamento ser aparncia no significa que se possa admitir uma realidade em si para alm dele mesmo. Toda a realidade era si no poderia ser seno o termo de uma experincia ou de um acto lgico e cairia por isso nas mesmas dificuldades fundamentais. Todavia, esta mesma condenao radical implica, segundo Bradley, a posse de um critrio absoluto de verdade. Se rejeitarmos como aparente o que contraditrio, consideramos implicitamente como real o que isento de contradies e, portanto, absolutamente consistente e vlido. A ausncia de contradio implica um carcter positivo e no deve ser uma pura abstraco. As aparncias devem pertencer realidade porque o que parece de algum modo existe, quanto mais no seja como aparncia. A realidade que o critrio da
no contradio nos faz entrever deve portanto conter em si todo o mundo fenomnico de forma coerente e harmoniosa. Alm 55 disso, no pode ser outra coisa seno conscincia porque s a conscincia real. Ao mesmo tempo, esta conscincia universal, absoluta e perfeitamente coerente, no pode ser determinada mediante nenhum dos aspectos da conscincia finita (sensao, pensamento, vontade, etc.), porque tais aspectos so contraditrios. Por outro lado, no deve conter a diviso entre objecto e sujeito que prpria da conscincia finita. Todas estas determinaes negativas implicam a impossibilidade de um conhecimento pormenorizado da conscincia absoluta. Pode-se ter dela uma ideia abstracta e incompleta, embora verdadeira: mas no se pode reconstruir a experincia especifica em que ela realiza a sua perfeita harmonia. To-pouco a moralidade pode ser atribuda ao absoluto. Pode-se supor que neste cada coisa finita atinja a perfeio que busca; mas no que obtenha a perfeio que busca. No absoluto, o finito deve ser mais ou menos transmudado e, portanto, desaparecer como finito; e tal tambm o destino do bem. Os fins que a afirmao e o sacrifcio do eu podem atingir esto para l do eu e do significado dos actos morais. No absoluto, onde nada se pode perder, todas as coisas perdem o seu carcter mediante uma nova acomodao ou um complemento mais ou menos radical. Nem o bem nem o mal se subtraem a este destino (Appearance, p. 420). Assim entram, certamente, no absoluto o espao, o tempo, a individualidade, a natureza, o corpo, a alma; mas tudo entra nele, no com a sua constituio finita, mas com uma reconstituio radical, cujas caractersticas - impossvel determinar com preciso. No abso56 luto to-pouco pode subsistir a diversidade entre o sujeito e o objecto, que inerente a todo o pensamento finito, o qual sempre pensamento de algo ou acerca de algo, e implica portanto uma relao interna que o tome contraditrio. O absoluto no pode ser concebido como alma ou como complexo de almas, porque isto implicaria que os centros finitos de experincia se mantivessem e fossem respeitados dentro do absoluto: e esse no o destino final e ltimo das coisas. No conhece progressos nem retrocessos. Estes so aspectos parciais, prprios da aparncia temporal e tm apenas uma verdade relativa. "0 absoluto no tem histria, embora contenha inmeras histrias" (Ib., p. 500). Nem pessoa, uma vez que uma pessoa que no seja finita algo sem sentido (Ib., p. 532). Desta doutrina substancialmente negativa do absoluto no deduz Bradley que o conhecimento humano seja totalmente errneo. Se este conhecimento no alcana nunca a verdade, que seria a sua perfeita converso e total conformidade com o absoluto, pode no entanto atingir diversos graus de verdade. De duas aparncias, a mais vasta e mais harmoniosa a mais real, porque se aproxima mais da verdade omnicompreensiva e total. A verdade e o facto de requererem, para se converterem no absoluto, uma acomodao e uma adio menor, so mais verdadeiros e reais. O argumento ontolgico pode ser interpretado como uma ilustrao desta doutrina dos graus de verdade. Decerto que se deve reconhecer que desde o momento em que a realidade qualificada como pensamento, deve possuir todas as caractersticas im57
plcitas na essncia do pensamento. No entanto, a prova ontolgica vai alm deste princpio genrico quando afirma no s que a ideia deve ser real mas tambm que deve ser real como ideia. isto falso, segundo Bradley, dado que um predicado como tal nunca realmente verdadeiro: deve estar sujeito, para o ser, a adies e a acomodaes. Assim, toda a ideia existente na minha mente pode qualificar verdadeiramente a realidade absoluta; mas quando a falsa abstraco do meu particular ponto de vista for corrigida e ampliada, essa ideia pode ter desaparecido completamente. Por isso, nem toda a ideia ser verdadeiramente real; contudo, quanto maior a perfeio de um pensamento, a sua possibilidade e a sua interna necessidade, tanto maior ser a realidade que ele possui. A esta exigncia nem mesmo a ideia do absoluto se subtrai, j que toda a ideia, por muito verdadeira que seja, nunca inclui a totalidade das condies requeridas e por isso sempre abstracta, enquanto que a realidade concreta. Bradley renovou assim a tese hegeliana da identidade entre o finito e o infinito, mas renovou-a com o esprito de um cepticismo radical que se recusa a determinar, seja de que maneira for, as vias e as formas de uma tal identidade. O processo do pensamento que para Hegel uma dialctica que demonstra efectivamente tal identidade, , para Bradley ao invs, a confirmao da natureza contraditria do finito e, portanto, da exigncia da sua transmutao total no infinito. Bradley admite, na verdade, diversos graus de verdade e de realidade; mas, ao mesmo tempo entre os graus mais altos e o absoluto 58 abre um fosso intransponvel, uma vez que tudo no absoluto deve ser transformado e reajustado at nos seus mais ntimos elementos (Appearance, p. 529). A identidade do finito e do infinito, que levara Hegel a demonstrar a intrnseca racionalidade do finito e a aceit-la como infinito, levou Bradley a negar a realidade finita como tal e a exigir a sua transmutao no infinito. 705. DESENVOLVIMENTO DO IDEALISMO INGLS Creen e Bradley inspiraram numerosos pensadores ingleses que apresentam de maneira diversa a doutrina de uma conscincia infinita na qual encontra a sua ltima realidade o mundo finito. Alfredo Eduardo Taylor (1869-1945), to conhecido pelos seus estudos sobre Plato (1926) e sobre a filosofia grega, numa obra que obteve muito xito na Inglaterra, Elementos de metafsica (1903), tenta preencher com algum contedo concreto a ideia do absoluto que na doutrina de Bradley era uma pura forma vazia, indeterminvel. Entende o absoluto como uma sociedade de indivduos que estivessem teleologicamente ordenados unidade do conjunto. Uma sociedade humana, em sentido prprio, de facto uma unidade de estrutura finalista, que no o apenas para o observador socilogo, mas tambm para os seus membros, a cada um dos quais activamente atribui um lugar em relao a todos os outros. Embora o eu e a sociedade no sejam 59
n**xak'@b que aparncias finitais, Taylor cr que o predomnio da categoria da cooperao na vida humana tornar ~Ivel considerar o absoluto como uma sociedade espiritual. Frente a estas determinaes mais positivas da natureza est o ponto de vista negativo de H. H. Joachim, que se atm s teses de Bradley (A natureza da verdade, 1906; Estudos lgicos, 1948) e as utiliza como critrio para uma crtica da unida-de da substncia ---spinosiana (Estudo sobre a tica de Espinosa, 1911). Mais prximo do hegelianismo original encontra-se Bernardo Bosanquet (1848-1923), o qual, no entanto, renovou por sua conta os princpios da lgica de Bradley (Lgica ou morfologia do conhecimento, 2 vol., 1888) e autor de uma Histria da esttica (1892). No Princpio da individualidade e do valor (1911) viu na contradio lgica uma experincia vivida, anloga dor e insatisfao -e considerou-a como o motor de todo o progresso espiritual. Isto significa que a negatividade no uma imperfeio da experincia humana, destinada a desvanecer-se, mas uma caracterstica fundamental da realidade mesma. De facto, quando se resolve uma contradio, resta sempre a negatividade, a qual, impelindo continuamente todo o ser para alm de si mesmo, a prpria lei da vida. A contradio uma negao no conseguida ou obstruda; a negatividade uma contradio vitoriosa e resolvida. A exigncia necessria da negatividade leva Bosanquet a negar a identidade entre natureza e esprito. A funo da natureza a de ser um objecto para a subjectividade espiritual, o correlato exterior do esp60 rito finito. somente pela existncia da natureza que os espritos finitos adquirem a sua consistncia e se tornam a cpula viva entre a natureza e o absoluto. O reconhecimento da negatividade elimina, segundo Bosanquet, todas as dificuldades do conceito de absoluto. A prova positiva a seu favor apoia-se, logicamente, no principio de contradio, entendido do modo concreto a que nos referimos. Quando o processo pelo qual a contradio normalmente removida nas questes humanas considerado absolutamente vlido, podese ver nele uma unidade perfeita, na qual as contradies so completamente destrudas, embora permanea a diversidade ou o aspecto negativo. Com a soluo das contradies, a experincia humana transmuda-se radical. mente na vida quotidiana; pode-se entender portanto a sua total transmutao no absoluto. Neste est eternamente e perfeitamente realizado aquele processo de unificao lgica que na vida humana progressivo e gradual. 706. MCTAGGART A nova orientao do idealismo, devida aos pensadores que acabmos de examinar, implica uma diviso radical do significado e da importncia que Hegel atribura dialctica; e tal reviso obra de John McTaggart (1866-1925), autor de Estudos sobre a dialctica hegeliana (1896), de Estudos sobre a cosmologia hegeliana (1901), de um Comentrio lgica de Hegel (1910) e de uma obra em dois volumes, A natureza da existncia (1921-27). Na primeira das suas 61 ~s McTaggart mostrou que a lei da dialctica hegeliana no se mantm inalterada desde o princpio at ao fim do seu processo. Nas primeiras categorias da lgica (a do ser) a passagem da tese anttese no a transio a uma fase superior e complementar, e a sntese uma consequncia da tese e da anttese conjuntas. Mas nas categorias da essncia, a anttese , ao invs, complementar da tese, mais concreta e verdadeira do que ela e
representa um progresso; a anttese j no resulta do confronto entre tese e anttese mas procede unicamente desta ltima. Finalmente, nas categorias do conceito, os momentos j no se opem um ao outro, de maneira que a anttese no uma anttese real e cada termo um progresso em relao ao outro. Isto demonstra, segundo McTaggart, que a mola real do procedimento hegeliano no a contradio (como o prprio Hegel afirmou) mas a discrepncia entre a ideia perfeita e concreta que est implcita na conscincia e a ideia abstracta e imperfeita que se tornou explcita. A caracterstica do processo dialctico a busca, por parte do momento abstracto ou imperfeito da conscincia, no da sua negao como tal, mas do seu complemento. A dialctica no constitui a verdade, uma vez que o processo da verdade excluiria a dialctica mesma. Isto levou MeTaggart a impugnar o principio fundamental de Hegel: a racionalidade de real. A realidade, no se pode revelar ao homem na sua perfeita racionalidade, j que implica sempre, e no outra coisa, a contingncia dos dados sensVeis, sem os quais as categorias da razo ficam Vazias, e a insatisfao dos nossos desejos, que no 62 poderia existir num universo perfeito. O processo dialctico revela esta imperfeio porque, enquanto existe, no h perfeio, j que o processo tende a uma sntese que est longe de verificar-se. Mas se o processo dialctico pertence ao esprito finito que vive no tempo e se aproxima gradualmente do futuro, isso coloca o absoluto no futuro do prprio processo, isto , no ltimo estdio de uma srie em que os outros estdios se apresentam como temporais. A ideia eterna e infinita encontra-se, pois, no termo do processo temporal e qualificada, no pela determinao da contemporaneidade e do presente, mas pela do futuro. O absoluto no um eterno presente segundo a concepo clssica, que o hegelianismo primitivo e o prprio idealismo ingls haviam admitido, mas antes o termo do futuro. O tempo urge para a eternidade e cessa na eternidade. Isto torna possvel a esperana no triunfo final do bem no mundo. Alm disso, analogamente a Taylor, MeTaggart admite uma concepo pluralista e sociolgica do absoluto. Cr, de facto que o eu finito o elemento ltimo e irredutvel da realidade. A natureza do eu paradoxal: por um lado, nada existe fora do eu porque tudo objecto do seu conhecimento; por outro lado, o eu distingue-se enquanto conhece tudo o que conhece e pressupe por isso que tudo o que conhece est fora dele. Assim, o eu inclui e exclui ao mesmo tempo aquilo de que consciente (Studies in Hegelian Cosmology, p. 23). No existe outra explicao possvel desta natureza paradoxal seno a de que o eu a absoluta realidade, a necessria 63 diferenciao do Absoluto. Os eus so, portanto, eternos e o Absoluto no mais do que a unidade destes eus: uma unidade que to real como as suas diferenciaes e como a prpria unidade do ou finito, tal como este se manifesta -imperfeitamente neste mundo imperfeito. Como unidade de um sistema de eu, o absoluto no pode ser entendido como pessoa ou eu, e, portanto, no pode ser qualificado como Deus. Para entender em que consiste a sua unidade, McTaggart examina os vrios aspectos da experincia humana. Exclui que a unidade sistemtica do absoluto possa ser concebida como uma unidade de conhecimento: o conhecimento verdadeiro, sendo uniforme em todos os eus, no explica a sua diferenciao originria. Pelo mesmo motivo, o absoluto
no pode ser vontade porque a vontade perfeita, como satisfao perfeita, uniforme e no explica a diferenciao. Resta ento a emoo. Se o perfeito conhecimento e a perfeita satisfao so idnticos em todos os eus, no h razo para supor que o perfeito amor no seja, em troca, diferente em cada eu e no seja, portanto, a base -da diferenciao requerida pelo absoluto. O contedo da vida do absoluto no pode ser, portanto, seno o amor: no a benevolncia, nem o amor da verdade, da virtude ou da beleza, nem o desejo sexual, mas "o amor apaixonado que tudo absorve e tudo consome" (Ib., p. 260). S o amor supera a dualidade e estabelece um equilbrio completo entre o sujeito e o objecto. Enquanto o conhecimento deixa sempre fora de si o objecto conhecido e a volio nunca se satisfaz inteiramente porque o objecto da satisfao lhe estranho, o amor identifica 64 completamente objecto e sujeito. O amor no uni dever ou uma imposio, mas uma harmonia em que as duas partes tm iguais direitos. No se ama uma pessoa pelas suas qualidades, mas antes a atitude perante as suas qualidades que determinada pelo facto de elas lhe pertencerem. Ademais, o amor justifica-se por si mesmo. E o ponto mais prximo do absoluto que o homem pode alcanar precisamente um amor de que no se pode dar outra razo que no seja o facto de duas pessoas pertencerem uma outra (Ib., p. 278 sgs.). Na sua ltima obra, A natureza da existncia (1921-27) McTaggart exps de novo em forma sistemtica as concluses a que chegara atravs da crtica da doutrina de Hegel. O primeiro volume desta obra examina as caractersticas gerais da' existncia: no da existncia enquanto pensada, isto , do conhecimento ou do pensamento, mas de toda a existncia em geral, e, portanto tambm do conhecimento, do pensamento e da crena que, como tais, so igualmente existncias. McTaggart declara que deste modo se vincula a um idealismo ontolgico, cujos representantes so Berkeley, Leibniz e Hegel. O mtodo de que se serve na descrio da existncia em geral o a priori; mas em dois pontos McTaggart, apela para a experincia: para provar que algo existe e para provar que o que existe diferenciado. Fora destes dois pontos, o seu procedimento a priori, e dialctico no sentido que ele mesmo admitiu como prprio desta palavra, ou seja, no no sentido de negatividade e de contradio, mas no de um procedimento racional, necessrio e progressivo. A di65 ferenciao da existncia implica que ela tenha qualidades, as quais tero, por seu turno, outras qualidades e assim sucessivamente; no incio da srie dever haver algo existente que tenha qualidades sem ser qualidade: e isso ser a substncia. indubitvel que a substncia no nada fora das suas qualidades-, mas isto no quer dizer que ela no seja algo em conjuno com elas. A substncia diferenciada, isto , verdadeiramente unia pluralidade, de substncias,
entre as quais devem existir relaes. A relao uma determinao ltima e indefinvel, como a qualidade; e gera, por seu turno, qualidades, porque os termos relativos adquirem, como tais, novas qualidades. Cada substncia tem a sua prpria natureza e pode ser individualizada nesta natureza por uma descrio suficiente. Os grupos de substncias so infinitos, porque cada grupo pode ser assumido como membro de si prprio; e a substncia que compreende todas as outras como partes suas o universo. O universo caracterizado intrinsecamente pela posse de diversas substncias, de modo que, se uma destas fosse diferente, o prprio universo na sua totalidade seria diferente. Toda a substncia infinitamente divisvel, isto , tem partes dentro de partes at ao infinito. Para explicar a relao entre -uma substncia e as suas partes e entre as vrias substncias, MeTaggart introduz o conceito da correspondncia determinante. uma forma de correspondncia tal que, se se verifica entre uma substncia C e a parte de uma substncia B, uma descrio suficiente de C, que inclua a sua relao com a parte de B, determina intrinsecamente uma descrio suficiente desta 66 parte de B e de cada membro do grupo B-C, assim como de cada membro de uma parte de tais membros, e assim sucessivamente at ao infinito. A correspondncia determinante uma relao causal, que estabelece e funda a ordem do universo. A sua natureza esclarecida pela aplicao que MeTaggart faz Ma no segundo volume da sua obra: a percepo imediata que um eu tem de outro eu. De facto, depois de ter descrito as caractersticas da existncia, MeTaggart procede (no segundo volume) determinao dos aspectos do Universo que devem ser considerados reais. Declara irreais o tempo, a matria, a sensao e toda a forma de pensamento (includos o juzo e a imaginao) que no seja percepo. A razo disto est em que nenhum destes aspectos da realidade se presta a ser determinado pela correspondncia determinante e, portanto, todos devem ser considerados inconsistentes e contraditrios. A percepo, como conscincia imediata da substncia, ou seja, do eu, , em troca, perfeitamente definida pela correspondncia determinante. De facto, um eu que percebe o outro eu tem ao mesmo tempo a percepo de si prprio e do outro e a percepo destas percepes, e assim sucessivamente at ao infinito. De sorte que uma descrio suficiente da percepo de um deles implicar a suficiente descrio at ao infinito de partes desta percepo. Por outros termos, estabelecer-se- entre as duas substncias um sistema inexaurvel de relaes ao mesmo tempo racionalmente inteligveis e imediatamente vividas. E, de facto, a percepo de que fala McTaggart no nem volio nem pensamento, mas emoo e pre67 cisamente emoo de amor. O resultado das anlises deste filsofo, em que o princpio idealista se alia curiosamente a um mtodo de anlise que se assemelha muito ao da lgica' matemtica e ao critrio objectivista do realismo contemporneo, o reconhecimento de um universo formado de centros espirituais, de eus, que uma forma de experincia imediata (a percepo emotiva ou amor) unifica num sistema dialecticamente organizado. McTaggart conclui a sua obra com a esperana que j havia formulado nas suas anlises hegelianas, a saber: dado que se deve entender o absoluto no como presente mas como futuro, ele dever realizar-se como um bem infinito aps um perodo finito, embora longussimo, de tempo; e dever realizar-se como estado de amor perfeito, comparado com o qual at o mais alto arroubo mstico no mais do que uma tentativa aproximativa e longnqua. Para MeTaggart, o passado e o presente, so manifestaes imperfeitas e preparatrias do futuro. Isto , sem dvida, uma
repetio do conceito de Fichte e de Schelling do progresso necessrio da histria, com a diferena, porm, de que o progresso no at ao infinito, mas tende para um termo que ser alcanado aps um perodo muito longo, mas finito, de tempo. 707. ROYCE Na Amrica o primeiro representante do neo-idealismo William Torrey Harris (18351909), autor de uma exposio crtica da Lgica de Hegel 68 (1890), assim como de uma Introduo ao estudo da filosofia (1890) e de um ensaio sobre, Dante (0 sentido espiritual da "Divina Comdia", 1889), O interesse de Harris fundamentalmente religioso. Admite trs estdios do conhecimento: o que considera o objecto, o que considera as relaes entre os objectos e o, que considera as relaes infinitas e necessrias da existncia dos objectos. Este terceiro estdio preparatrio do conhecimento teolgico e, portanto, da religio, porque descobre a actividade autnoma e infinita que sustenta todas as coisas. A maior figura do (dranscendentalismo" americano e o que mais contribuiu para a difuso do idealismo de tipo anglo-saxnico foi Jostah Royce (1885-1916). Os escritos principais de Royce so os seguintes: O aspecto religioso da filosofia, 1885; O esprito da filosofia moderna, 1892; A concepo de Deus, 1895; Estudos sobre o bem e sobre o mal, 1898; O mundo e o indivduo, 2 vol., 1900-1901; A concepo da imortalidade, 1904; A posio actual do problema da religio natural, 1901-02; Apontamentos de psicologia, 1903; Herbert Spencer, 1904; A relao dos princpios da lgica como os fundamentos da geometria, 1905; A filosofia da fidelidade, 1908; W. James e outros ensaios de filosofia da vida, 1911; As fontes da intuio religiosa, 1912; Princpios da lgica, 1913; O problema do cristianismo, -1913; Conferncias sobre o idealismo moderno, 1919; Ensaios fugitivos, 1920. Entre estes escritos, O mundo e o indivduo e O problema do cristianismo so os que exprimem as fases principais do pensamento de Royce. ,69 O ponto de partida de Royce a distino entre o significado exterior e o significado interno da ideia. O significado externo da ideia a sua referncia a uma realidade exterior e diversa; o significado interno , ao invs, constitudo pelo fim que a ideia se prope, enquanto no apenas imagem de uma coisa, mas tambm a conscincia do modo como nos propomos actuar sobre a coisa que representa. -Royce procura reduzir o significado externo ao significado interno. Cr-se, de ordinrio, que a ideia verdadeira quando corresponde ao objecto real; mas o objecto real, que pode servir como medida da verdade da ideia, s aquele a que a ideia mesma se refere, isto , o designado pelo significado interno dela. No existe um critrio de verdade puramente externo: as ideias so como os instrumentos, existem para um fim: so verdadeiras, como os instrumentos so bons, quando convm para tal fim. Por consequncia, unia ideia no um simples processo intelectual, mas
tambm um processo volitivo; e indispensvel ter em conta o fim para o qual a ideia tende para ajuizar da validade da ideia. Isto implica que a ideia tende sempre a encontrar no seu objecto o seu prprio fim, incorporado de um modo mais determinado do que aquele em que ela o tem por si mesma. Por conseguinte, ao procurar o seu objecto, uma ideia no procura outra coisa seno a prpria determinao explcita e, finalmente, completa. O nico objecto em relao ao qual se pode medir a verdade da ideia no portanto outro seno a completa realizao do fim implcito na prpria ideia. Neste 70 sentido, Royce diz que a ideia -uma vontade que busca a sua prpria determinao. Mesmo as ideias expressas como hipteses ou definies universais ou como juzos de tipo hipottico ou -matemtico, no fazem mais do que destruir certas possibilidades e implicar a determinao do seu objectivo final mediante determinadas negaes. O limite ou a meta deste processo de determinao crescente um juzo em que a vontade exprime a sua determinao final. Mas este juzo no pode ser seno o acto de uma Conscincia que conclua e complete o que o sujeito finito a cada momento se prope conhecer. Todo o mundo da verdade e do ser deve estar presente numa Conscincia singular, que compreende todos os intelectos finitos numa nica viso intuitiva eternamente presente. Esta conscincia no s temporal, mas implica tambm uma viso compreensiva da totalidade do tempo e do que este significa, Da o ttulo da obra principal de Royce: o mundo uma totalidade individual, na qual todos os fragmentos da experincia encontram o seu complemento e a sua perfeio; Deus mesmo. No absoluto encontram lugar a ignorncia, o esforo, o desaire, o erro, a temporalidade, a limitao-, mas tambm tm a lugar a soluo dos problemas, a consecuo dos fins, a superao dos defeitos, a correco dos erros, a concentrao do tempo na eternidade, a integrao do que fragmentrio. Sobretudo, o indivduo que procede moralmente encontra em Deus o cumprimento total da sua boa vontade: pode ser concebido como uma parte que igual ao todo, e precisamente 71
por ser igual, unida no todo dentro do qual habita. Toda a conscincia finita se dilata assim no absoluto at se identificar com ele, mas esta identificao no implica o anulamento da individualidade mas antes o seu complemento, a realizao de uma individualidade inteiramente determinada e perfeita. Royce afirma energicamente a exigncia da conservao das individualidades no absoluto; e para tornar inteligvel esta conservao, assim como para obviar s dificuldades que Bradley opusera a todas as determinaes do absoluto, recorre teoria dos nmeros. O longo "Ensaio complementar" acrescentado ao primeiro volume da sua obra principal talvez a parte mais interessante da obra de Royce. Recorre teoria dos nmeros como havia sido elaborada por Cantor e por Dedekind: o nmero um sistema auto-representativo, um sistema cujas partes representam o todo, no sentido de que tm, por seu
turno, elementos que correspondem. termo a termo aos elementos do todo. Royce esclarece por sua conta este conceito como o exemplo de um mapa geogrfico idealmente perfeito que deve, para o ser, conter tanto a ubicao como os contornos da sua prpria posio: de modo que acabar por conter mapas dentro de mapas at ao infinito. Os sistemas autorepresentativos so, por outros termos, os sistemas que contm infinitas partes semelhantes ao todo; e a Conscincia absoluta seria um sistema auto-representativo deste gnero no sentido de que, compreendendo em si a totalidade dos espritos individuais, implicaria precisamente uma srie ou cadeia 72 de imagens prprias, um sistema de partes dentro de partes at ao infinito. Uma concepo semelhante do infinito j no est sujeita s dificuldades que Bradley apresentara. A infinita subdiviso a que d lugar, segundo Bradley, toda a relao, logo que considerada analiticamente, e que era para ele o sinal da natureza contraditria e irracional da contradio (isto , de todo o mundo da experincia humana) j no tal quando se considera at ao infinito um sistema autorepresentativo cuja natureza definida precisamente por uma cadeia infinIta de partes semelhantes. A proposio fundamental da lgica do ser: "tudo o que existe faz parte de um sistema que se representa a si mesmo" permite, segundo Royce, conceber a verdadeira unio do uno e do mltiplo. H uma multiplicidade que no absorvida e transmudada mas sim conservada no absoluto, e a multiplicidade dos indivduos que se unificam no absoluto. O absoluto, o universo, neste sentido, um sistema auto-representativo que, como sujeito-objecto, implica uma imagem ou concepo completa ou perfeita de si. uno pela sua estrutura, porque um sistema individual; mas, ao mesmo tempo, infinito, porquanto uma cadeia de fins conseguidos. A sua forma , pois, a de um eu, que se multiplica nas imagens, por sua vez infinitas, que o absoluto determina por si mesmo nos eus individuais. Esta doutrina do absoluto marca a primeira fase do pensamento de Royce. A segunda fase, caracterizada por uma tentativa diferente, a de determinar a natureza intrnseca do absoluto, aparece pela 73 primeira vez na Filosofia da fidelidade (1908) e encontra a sua melhor expresso no Problema do cristianismo (1913). Na primeira fase, Royce havia encontrado na teoria dos nmeros de Cantor e Dedckind o instrumento daquela determinao; na segunda fase encontra esse instrumento na doutrina de Peirce ( 750), que pusera em relevo o significado e a importncia do processo da interpretao considerado como o terceiro e superior processo cognitivo, juntamente com a percepo e o pensamento. A considerao deste processo necessria, segundo Royce, quando se trata de objectos que no podem ser assimilados nem percepo nem ao
conceito. evidente, por exemplo, que "o esprito do nosso prximo" no um dado sensvel nenhuma noo universal e que deve ser objecto de uma terceira forma de conhecimento, que precisamente a interpretao. A interpretao uma relao tridica, na qual algum, isto , o intrprete, interpreta algo para algum. Supe uma ordem determinada destes trs termos, porque se a ordem muda, muda o prprio sentido da interpretao. A relao interpretativa pode verificar-se tambm na interioridade de uma nica pessoa, e tambm neste caso existem trs termos: o homem do passado, cujos desejos e recordaes so interpretados; o eu presente, que interpreta tudo isto, e o eu futuro, para o qual esta interpretao dirigida. A interpretao tem por objecto sinais, do mesmo modo que a percepo tem por objecto coisas e o conceito universal. 74 A tese de Royce a de que o universo constitudo por sinais reais e pela sua interpretao; e que o processo da interpretao tende a fazer do universo uma comunidade espiritual. Uma interpretao real, se for real a comunidade que ela exprime, e s verdadeira se a comunidade alcana o seu objectivo atravs dela. Toda a filosofia , inevitavelmente, uma doutrina que nos aconselha a proceder como se o mundo tivesse certas caractersticas. Mas, contrariamente ao que Vaihinger afirma ( 753), Royce cr que o como se no apenas uma fico ou um sistema de fices, seno que pode justificar uma nica atitude frente ao mundo: a que tende a considerar praticamente real um reino do esprito, uma comunidade universal e divina, e reconhece claramente que impossvel ao indivduo salvar-se por si s, do ponto de vista prtico: e que tambm impossvel, do ponto de vista teortico, que ele encontre por si s a verdade no mbito da sua experincia privada, sem ter em conta a velao que o liga comunidade. Tal , segundo Royce, a atitude prpria do cristianismo e, em particular, do cristianismo paulino, que v o reino dos cus realizado na igreja, isto , na comunho dos fiis. O amor cristo assume, na pregao de S. Paulo, a forma da fidelidade comunidade: e a fidelidade comunidade exprime a natureza mesma da vida moral. De facto, na Filosofia da Fidelidade, Royce v o fundamento da moralidade na fidelidade a uma tarefa, a uma misso livremente escolhida: tarefa ou misso que inclui sempre a solidariedade com os 75 outros indivduos, ou melhor, com uma comunidade de indivduos. A fidelidade , tambm, o, critrio que permite medir o valor das tarefas humanas, j que evidentemente m uma tarefa que toma impossvel ou nega a fidelidade aos demais. A fidelidade fidelidade , portanto, o critrio supremo da vida moral. Os ltimos escritos de Royce tratam de delinear o que ele chamava de "Grande Comunidade": uma comunidade que real no porque se encontre historicamente realizada, mas por ser o eterno fundamento da ordem moral. Todavia, quis sugerir tambm um meio prtico para a realizao desta grande comunidade, e viu tal meio num sistema de seguros. Com efeito, o
seguro uma associao fundada no princpio tridico da interpretao: o seguro, o segurador e o beneficiado, e nela os obstculos associao transformam-se numa ajuda associao mesma (A esperana da grande comunidade, 1916). Royce sugeriu tambm o seguro contra a guerra (Guerra e seguro, 1914). Mas esta curiosa mescla de negcios e de moralismo cristo no nos deve impedir de considerar um dos espritos mais abertos e geniais do idealismo contemporneo. Afinal de contas, se o infinito a imagem ou a reproduo do infinito, tambm os negcios em geral, e os seguros em particular, podem servir como instrumentos de manifestao ou de realizao do infinito. E o sistema de seguros, a que Royce aconselhava recorrer, certamente um progresso em relao ao esta-do prussiano, ao qual o seu mestre Hegel 76 pretendia confiar a total realizao da Ideia infinita do mundo. 708. OUTRAS MANIFESTAES DO IDEALISMO INGLS E NORTE - AMERICANO Numa discusso pblica efectuada em 1885, entre Royce e outros filsofos na Universidade da Califrnia, G. H. Howison (1834-1916) reprovou a Royce o anular no eu infinito a personalidade finita do homem e a do prprio Deus. Ao idealismo monista de Royce, Howison contrapunha um idealismo pluralista, segundo o qual a realidade , nas suas diversas ordens, uma sociedade de espritos eternos, em que os membros encontram a sua igualdade na tarefa comum de alcanar o nico ideal racional, que Deus mesmo (A concepo de Deus, 1897). A uma preocupao anloga obedecia em Inglaterra J. H. Muirhead (Os, elementos da tica, 1892; Filosofia e vida, 1902-, Objectivos sociais, 1918) que, no entanto, via a salvao da autoconscincia finita na necessria presena daquela negao dialctica, na qual j Bosanquet havia insistido. As teses gerais do idealismo foram mais tarde apresentadas na Amrica por James Greighton (1861-1924); (Estudos de filosofia especulativa, 1925) e por Mary Whiton Calkins, que se vincula directamente especulao de Royce; e em Inglaterra por David George Richte (1853-1903) e por John Stuart Mackenzie (1860-1935) em (Apontamentos de metafsica, 1902; Leituras sobre o humanismo, 1907; 77 Elementos de filosofia construtiva; Valores ltimos, 1924). Ocupam um lugar intermdio entre o idealismo e o espiritualismo Simo Somerville Laurie (1829-1909) e o americano William Ernest Hocking. O primeiro desenvolveu numa srie de obras (Metafsica nova e velha, 1884-, tica, 1885; Sinttica, 1906) um "realismo natural", que , na realidade, um idealismo, e distingue vrios planos de realizao do absoluto, considerando o absoluto mesmo imanente em todos e cada um dos planos particulares. A distino dos planos de realidade serve a Laurie para reivindicar a autonomia do indivduo. No indivduo, o absoluto mesmo afirma
o seu ser, dando-lhe um carcter especfico e um contedo a afirmar e fazendo-o subsistir no seu pleno direito: na sua funo de negao, que recebe do absoluto, o indivduo capaz de resistir ao prprio absoluto (Synthetica, 11, p. 75). Segundo Hocking, em troca, Deus conhecido directamente pelo homem, na prpria experincia sensvel. Esta tem um nico contedo dos diversos indivduos e deve ter um nico cognoscente, que Deus mesmo; o qual , portanto, o conhecedor universal, implcito em todo o conhecimento objectivo. De modo que os homens conhecem as outras coisas ou os outros espritos s porque conhecem Deus: o conhecimento de Deus fornece, de facto, a noo da experincia social, sem cuja posse prvia o reconhecimento dos eus humanos no seria possvel. To-pouco a ideia de Deus, pressuposta pela experincia sensvel e pela experincia social, pode ser uma mera ideia e 78 no implicar a sua prpria existncia, j que, como simples ideia, no poderia oferecer o critrio para ser reconhecida como tal, de modo que nem mesmo a ideia da experincia social seria possvel se tal experincia no fosse real (0 significado de Deus na experincia humana, 1912; O eu, o seu corpo e a sua liberdade, 1928; Tipos de filosofia, 1929; Pensamentos sobre a morte e sobre a vida, 1937; A cincia e a ideia de Deus, 1944). Uma viso mais prxima do idealismo italiano a do norte-americano George P. Adams, que afirma a independncia da actividade espiritual do contedo da conscincia e v precisamente em tal actividade o princpio criador da realidade. A actividade espiritual no pode certamente ser considerada como um objecto sujeito ao domnio geral da experincia e no pode ser descrito como uma forma ou uma relao objectiva. Mas pode ser reconhecida e conhece-se nos produtos da sua criao: nos valores ticos, religiosos e sociais e no mundo da histria (0 idealismo e a idade moderna, 1918). Uma opinio anloga sobre a actividade espiritual encontra-se na obra do ingls Richard Burdon Haldane (1857-1928) que se valeu do principio da relatividade do conhecimento para determinar a natureza do absoluto (0 reino da relatividade, 1921; outras obras suas: O caminho da realidade, 2 vol. 1903-04; A filosofia do humanismo, 1922). O princpio da relatividade implica que o significado da realidade no o mesmo em todos os graus em que ela se divide, e que s pode ser expresso em cada grau nos termos que lhe so peculiares. De acordo com isto, Deus 79 ph41. of T. H. G., Londres, 1896; A. E. TAILOR, The Problem of Conduct, Londres, 1901, p. 50-88; H. SIDGWICK, Lectures on the Ethic8 of T. H. Green, M. H. Sp~er and J. Martineau, Londres, 1902; P. L. NETTLESHIP, Memoir of T. H. G., Londres, 1906. ,Sobre Eduarido Caird: H. JONES,e J. H. MUIRHEAD, The Life and Phil. of E. C., Glasgow, 1921. 704. De BrAdley, lista dos -escritos menores em ABBAGNANO, op. cit., p. 265.
Sobre Bradley: STRANGE, in "Mind", N. S., 1911; BROAD, ibid., 1915; DE ;SARLO, Filosofia del tempo nostro, Florena, 1916, p. 115-56; TAYLOR, WARD, STOUT, DAWES, MCKS, MUIRHEAD, SCHILLER, in ",3"d", 1925; E. DuPRAT, Bradley, Pars; R. W. CHuRcff, B.s, Nova Iorque, 1942; W. F. LOFTHOUsE, F. H. B., Londres, 1949. 705. Sobre Bosanquet: H. BOSANQUET, B. B., Londres, 1924; MUIRIlEAD, in "Mind", N. S., 1923; ID, in "Journal Gf Pll.", 1923, n., 25; HOERLE, ibid, 1923, n., 18; F. HOUANG, Le no-hegelianisme en Angleterre. La philosophie de B. B., Paris, 1954. 706. Sobre MeTaggart: F. C. S. ScHiLLER, in "Mind", N. S., 1895; WATSON, in "Philosophical ReVi,eW", 1895; MCGILVARY, in "Mind", N.S., 1898; BROAD in "Mind", 1921; C. D. BROAD, Examination of Me. T's Philosophy, 2 vol. Cambrtdge, 1934-38. 707. Sobre ROYCE: o nmero que lhe dedicou a "Ph~ophical Review", 1916, 111, com colaborao de HOWISON, DEWEY, CALKINS, ADAMS, BARON, SPAULDING, COHEN, CABOT, HORNE, HOCKING, RAND. ALGRATI, Un pensatore americano: J.R., Milo, 1917; TEDESCH, in "Giorn. critico della fil. italiana", 1926; ALBEGGIANI, II @@i&tema filosofico di J.R., Palermo, 1929; 1-1. G. TOWSEND, Philosophical Ideas in the United States, Nova lorque, 1934, cap. I; R. B. PERRY, In the Spirit of William James, New Haven, 1938, cap. I; G. MARCEL, La Mtaphysique de Royce, Paris, 1945; J. E. 82 Smim, R.s Social Infinite Nova lorqule, 1950; J. H. COTTON, R. on the Human Self, ~bridge, Mass, 1954. 708- Sobre Umison: G. H. Hotoison, Philosopher and Teacher; a Selec~ from his Writings with a Biographical Sketch, ao cuidado de J. W. BucKHAm, Berkeley. Cal., 1934 (com bblIog.). Sobre Creighton: H. G. ToWNSEN, Philosophical Ideas in the Unite-d States, Nova IoTque, 1934, p. 187 segs. 83 v O IDEALISMO ITALIANO 709. IDEALISMO ITALIANO: CARACTERISTICAS E ORIGENS DO IDEALISMO ITALIANO Na segunda metade do sculo XIX a doutrina de Hegel teve na Itlia o seu centro de estudo e de difuso na Universidade de Npoles, onde a professaram Augusto Vera (1813-85), um modesto mas tpico hegeliano da direita com tendncias testas e catolicizantes, e Bertrand Spaventa (1817-83). Spaventa iniciou a sua actividade cerca de 1850 com ensaios sobre Hegel e a filosofia moderna italiana e europeia (recolhidos mais tarde por Giovanni Gentile com os ttulos de Escritos filosficos, 1901; Princpios de tica, 1904; De Scrates a Hegel, 1905). Os seus escritos mais completos e significativos so: Prlogo e introduo s lies de filoso85
fia na Universidade de Npoles (1862), publicados de novo por Gentile em 1908 com o ttulo de A filosofia italiana e as suas relaes com a filosofia europeia, e os Princpios de filosofia (1867) publicados tambm de novo por Gentile com acrescentamento de partes inditas e com o ttulo de Lgica e Metafsica (1911). Spaventa tambm autor de uma monografia intitulada A filosofia de Gioberti, de que apenas saiu o primeiro volume em 1963, e de um estudo com o ttulo Experincia e metafsica publicada postumamente por Jaia em 1888. A importncia de Spaventa consiste sobretudo na sua tentativa de subtrair a cultura filosfica italiana ao provinciamismo em que a queria confinar o espiritualismo tradicionalista dominante em meados do sculo XIX, vinculando-a de novo cultura europeia. O espiritualismo tradicionalista ( 627) insistia numa tradio filosfica italiana que iria dos pitagricos a Vico e a Gioberti, qual deviam manter-se fiis todas as manifestaes filosficas italianas. Spaventa faz seu o conceito da nacionalidade da filosofia italiana, mas v a marca de tal nacionalidade na universalidade, pela qual nela deveriam reunir-se todos os opostos e encontrar uma unidade harmnica todas as tendncias do pensamento europeu. Spaventa explica as diferenas e as afinidades entre as filosofias europeias mediante uma pretensa unidade da estirpe ariana, indo-germnica, ou indo-europeia, que se teria dividido em seguida, progredindo umas vezes mais outras vezes menos, e mais na Alemanha do que nos pases latinos (A fil. ital., 1909, p. 49). A filosofia italiana 86 devia, pois, voltar a pr-se ao nvel da alem. Com efeito, no Renascimento, a Itlia foi a iniciadora da filosofia moderna. Bruno equivale, sem mais, a Espinosa, s com a diferena de que nele existe uma certa perplexidade quanto ao conceito de Deus, entendido umas vezes como sobrenatural outras como a natureza mesma (Ib., p. 105). Vico, substituindo a metafsica da mente pelo ser, desempenha na Itlia a funo que na Alemanha desempenhou Kant. Gallupi um "kantiano, mau grado seu". Rosmini, como Kant, descobre "a unidade do esprito", embora deixe na obscuridade e incompreendido este conceito; e, finalmente, Gioberti completa Rosmini, como Fichte, Schelling e Hegel completam Kant, e descobre a verdadeira Ideia que no o ser, mas sim o Esprito. Ser talvez suprfluo chamar a ateno dos leitores da presente obra, para o carcter arbitrrio destas determinaes histricas. Espinosa no pode ser identificado com Bruno, porque supe o racionalismo geometrizante de Descartes e Hobbes. Vico faz parte do movimento iluminista e o Leibniz da histria; a sua metafsica da mente nada tem a ver com a doutrina de Kant, a no ser pela comum exigncia de delimitar e marcar as efectivas possibilidades humanas. Gallupi, Rosmini e Gioberti vinculam-se no filosofia alem, mas sim francesa do seu tempo, e fazem parte do retorno romntico tradio. A sua afinidade com o idealismo no assenta, pois, em categorias lgicas,
mas num princpio mais profundo e menos aparente, que a comum f romntica na tradio. Quanto pretensa "nacionalidade" da filosofia italiana, tra87
de 1 uma fbula no menos pueril do que a "tradio itAlica" de que falavam os giobertianos, com a agravante da no incua mitologia da estirpe ariana, indo-germnica ou indo-europeia. Foi necessrio determo-nos um instante nas valorizaes histricas de Spaventa, pois tiveram muito xito entre os seguidores italianos do hegelianismo, que a repetiram servilmente sem se darem conta da sua inconsistncia crtica. Exerceram, no entanto, nas mos de Spaventa, uma certa funo til: contriburam para despertar a filosofia italiana daquele tempo do letargo autocontemplativo e narcisista em que cara (e que amide a ameaara) e a interess-la pela filosofia europeia, e especialmente alem. Quanto especulao sistemtica de Spaventa, carece de toda a originalidade. Os seus Princpios de filosofia no fazem mais do que reassumir e comentar prudentemente alguns pontos basilares da Fenomenologia do esprito e toda a Lgica de Hegel. Num nico ponto, Spaventa se permite uma certa originalidade: na interpretao da primeira trade da lgica hegeliana, a de ser, no ser e devir, Spaventa sublinha aqui a necessria presena do que ele chama "mentalidade pura", isto , do pensamento consciente, no movimento destas categorias, de maneira que parece supor que de um extremo ao outro da dialctica o pensamento se move no mbito da autoconscincia racional, o que no parece ter sido negado pelo prprio Hegel, que definiu a lgica como "a exposio de Deus, tal como na sua eterna essncia, antes da criao da natureza e de um esprito finito" ( 572). E a afirmao de 88 Spaventa de que "as primeiras categorias exprimem, da maneira mais simples e abstracta, a natureza, o organismo e diria mesmo o ritmo da mente" (Scritti fil., II, p. 239) tambm, de um ponto de vista hegeliano, plenamente ortodoxa. Ao hegelianismo aderiram na Itlia, na segunda metade do sculo XIX, inmeros literatos, historiadores, juristas e mdicos alm de filsofos, mas nenhum deles acrescentou fosse o que fosse ao pensamento do filsofo alemo. Originalidade e fora s as adquire o idealismo com Gentile e Croce. Estes dois pensadores distinguem-se radicalmente do idealismo ingls e norte-americano, como tambm se distinguem entre si. Distinguem-se do idealismo ingls e norte-americano, por crerem que a unidade entre finito e infinito demonstrvel, no negativamente por causa do carcter aparente e contraditrio da experincia finita, mas positivamente e de um modo real, reportando ao esprito infinito os traos fundamentais da experincia finita. Assim, a doutrina dos dois idealistas italianos renova a tentativa de Hegel, mas distingue-se de Hegel por ser uma reforma da dialctica, que exclui a considerao do pensamento lgico e da natureza e se apoia exclusivamente no esprito. As duas doutrinas distinguem-se, pois, entre si, porquanto uma, a de Gentile, um subjectivismo absoluto (actualismo), a outra, a de Croce, um historicismo absoluto. O caracterstico que as assemelha a negao de toda a transcendncia e a reduo de toda a realidade pura actividade espiritual. 89
710. GENTILE: VIDA E OBRA Giovann Gentile nasceu em Castelvetrano, na Siclia, a 30 de Maio de 1875. Professor primeiramente em Palermo e em Pisa, em seguida em Roma, foi nomeado ministro da instruo pblica com o advento do governo fascista (1922-24). No existem afinidades particulares entre o idealismo de Gentile e o fascismo; de incio, o fascismo no possua uma doutrina, a no ser que se queira chamar tal a um genrico e intolerante nacionalismo. Todavia, Gentile chegou a descobrir no novo regime a expresso mesma da racionalidade ou da espiritualidade absoluta e converter-se no seu maior expoente intelectual. Foi o autor de uma vasta e radical reforma da escola italiana que, no entanto, o prprio fascismo havia de desmantelar em parte ou modificar nos anos seguintes. Devido aos numerosos cargos culturais e polticos que desempenhou, assim como o de presidente da "Enciclopdia Italiana", exerceu um vasto poder sobre a cultura italiana e especialmente sobre o seu aspecto administrativo e escolar. Cado o fascismo em Julho de 1943 e ocupada, em Outubro do mesmo ano, a Itlia central e sententrional pelas tropas alems, Gentile deu a sua adeso pblica ao governo fantoche que aquelas haviam instaurado. Isto foi talvez para ele um acto extremo de fidelidade romntica ao regime que o honrara como o seu mximo representante cultural; a muitos italianos pareceu, ao invs, uma traio. Foi morto no limiar da sua habitao, em Florena, a 15 de Abril de 1944. A sua filosofia, no entanto, deve ser entendida 90 e julgada independentemente do fascismo, no qual no tem decerto razes nem buscou inspirao; e a sua personalidade pode ser agora melhor recordada na generosidade dos seus traos humanos do que nas suas atitudes polticas. Gentile exps pela primeira vez o princpio da sua filosofia no ensaio O acto do pensamento como acto puro (1912); e logo depois definiu a sua atitude em relao a Hegel em A reforma da dialcttica hegeliana (1913). A sua obra mais vigorosa A teoria geral do esprito como acto puro (1916); a mais vasta e complexa o Sistema de lgica como teoria do conhecer (2 vol., 1917-22). Em 1912 publicou o Sistema de pedagogia como cincia filosfica; em 1916, Os fundamentos da filosofia do direito. Em A filosofia da arte (1931) est latente uma polmica com a est tica de Croce. O ltimo escrito, Gnese e estrutura da sociedade foi publicado postumamente (1946). Foi tambm notvel a actividade historiogrfica de Gentile, em particular a respeitante ao Renascimento italiano (Rosmini e Gioberti, 1898; A filosofia de Marx, 1899; De Genovesi a Gallupi, 1903; O modernismo e as relaes entre religio e
filosofia, 1909, Os problemas da escolstica e o pensamento italiano, 1913-, Estudos sobre Vico, 1904; As origens da filosofia contempornea em Itlia, 3 vol., 1917-23; O ocaso da cultura siciliana, 1918; Giordano Bruno e o pensamento do Ressurgimento, 1925; Gino Capponi e a cultura toscana do sculo XIX, 1922; Estudos sobre o Renascimento, 1923, Os profetas do Ressurgimento italiano: Mazzini e Gioberti, 1923). 91 711. GENTILE: O ACTO PURO O erro de Hegel consistiu, segundo Gentile, em ter tentado uma dialctica do pensado, ou seja, do conceito ou da realidade pensvel (como lgica e como natureza), dado que s pode haver dialctica, isto , desenvolvimento e devir, do pensante, ou seja, do sujeito actual do pensamento. O sujeito actual do pensamento, ou pensamento em acto, a nica realidade. O sujeito sempre, certamente, sujeito de um objecto, enquanto pensa, pensa necessariamente algo, mas o objecto do pensamento, seja a natureza ou Deus, o prprio eu ou o dos outros, no tem realidade fora do acto pensante que o constitui e o pe. Este acto , pois, criador e, enquanto criador, infinito, porque no tem nada fora de si que possa limit-lo. Este princpio que leva decididamente at s suas ltimas consequncias a tese apresentada por Fichte na primeira Doutrina da cincia, realiza a rigorosa e total imanncia de toda a realidade no sujeito pensante. Nem a natureza nem Deus, nem sequer o passado e o futuro, o mal e o bem, o erro e a verdade, subsistem de qualquer forma fora do acto do pensamento. Os desenvolvimentos que Gentile deu sua doutrina consistem essencialmente em mostrar a imanncia de todos os aspectos da realidade no pensamento que os pe, e em reduzi-los a este. O pensamento em acto o Sujeito transcendental, o Eu universal ou infinito. O sujeito emprico, o homem individual e particular, um objecto do Eu transcendental, um objecto que ele pe (isto , 92 cria), pensando-o, e cuja individualidade-e, por consequncia, supera no prprio acto em que o pe. O verdadeiro sujeito, o Sujeito infinito ou transcendental, no pode nunca tomar-se objecto para si prprio. " A conscincia-diz Gentile (Teoria gen., 1, 6)-, enquanto objecto de conscincia, j no conscincia; enquanto objecto apercebido, a apercepo originria j no apercepo; j no propriamente sujeito, mas objecto; j no Eu, mas sim no-eu... O ponto de vista transcendental o que se obtm na realidade do nosso pensamento, quando o pensamento se considera no como acto consumado, mas, por assim dizer, como acto em acto: acto que no se pode absolutamente transcender, pois que ele a nossa prpria subjectividade, isto , ns mesmos; acto que no se pode nunca nem de modo algum objectivam. Os outros eus so, por sua vez, objectos, enquanto outros, mas no acto de os conhecer o eu transcendental unifica-os. Os problemas morais surgem, em troca, no terreno da diversidade e da
oposio recproca entre os eus empricos; mas no se resolvem nesse terreno. "No se resolvem seno quando o homem chega a sentir as necessidades dos outros como necessidades prprias, e a prpria vida, por conseguinte, no encerrada no apertado crculo da sua personalidade emprica, mas -entendida sempre em expanso, na actividade de um esprito superior a todos os outros interesses particulares, e ao mesmo tempo imanente no centro mesmo da sua personalidade mais profunda" Qb., 2, 5). 93
O pressuposto de tudo isto o postulado segundo o qual "conhecer identificar, superar a alteridade como tal" Qb., 2, 4). Em virtude deste pressuposto, Gentile pode afirmar que ws outros fora de ns, no podem existir, falando com rigor, se ns os conhecermos e falarmos deles"; e' que o outro (isto , a outra pessoa) , simplesmente, uma etapa atravs da qual se passa, mas na qual no nos devemos deter. "0 outro no tanto outro que no seja ns mesmos" (ib., 4, 5). No se v como se pode conciliar com afirmaes to explcitas aqueloutra, feita com o propsito de distinguir o idealismo do misticismo, de que "a realidade do eu transcendental implica tambm a realidade do eu emprico" e que o eu absoluto unifica mas no destri em si o eu particular e emprico Ub, 2, 6). E, de facto, os eus empricos podero distinguir-se entre si como objectos diversos do Eu transcendental, do pensamento em acto, mas no j subsistir como eu, isto , como sujeitos na unidade simples e infinita daquele Eu. Isto to verdadeiro que o prprio acto da educao conhecido por Gentile como a unidade do mestre e do aluno no esprito absoluto, unidade que chega a eliminar o problema da comunicao espiritual (Sumrio de pedagogia, 1, 2.o 4, 3). O prprio pressuposto do conhecimento como unificao e identificao entra em jogo na polmica contra tudo o que est "fora" do esprito e da conscincia. A conscincia infinita e nada existe fora dela. O "fora" est sempre dentro porque designa uma relao entre dois termos que, exteriores um ao outro, so no en94 tanto interiores conscincia mesma. Pelo mesmo motivo no pode haver verdadeira dialctica do ser (no sentido platnico-aristotlico) ou da natureza. O devir s prprio do sujeito pensante; e as dificuldades em que se envolve a lgica de Hegel para o deduzir da unidade de ser e no ser, so eliminadas se pelo ser se entende precisamente o ser do pensamento que o define e, em geral, pensa. O sujeito pensante realiza a coincidncia entre a particularidade e a universalidade e , por conseguinte, o verdadeiro indivduo. Com efeito, o pensamento ao mesmo tempo a mxima universalidade possvel e, portanto, a mxima afirmao do eu que pensa. Gentile identifica a individualidade com a positividade; e a positividade pertence propriamente ao pensamento, que autoposio e auto-criao (autoctisis) e por isso se identifica com a universalidade do prprio pensamento (Teoria gen., 8, 8). O universal do pensamento no um dado
ou um objecto que o pensamento deva reconhecer ou respeitar, mas sim o fazer-se universal, o universalizar-se, como o indivduo o individualizar-se: os dois actos coincidem, portanto, no acto nico e simples do eu que pensa. "Eu penso e pensando realizo o indivduo que universal, e , por isso, tudo o que deve ser absoluta-mente: alm dele, fora dele, no se pode procurar outro" (Ib., 8, 16). Deste ponto de vista, evidente que a natureza, como uma realidade pressuposta ao pensamento, uma fico; e como multiplicidade emprica de objectos espaciais e temporais, se resolve na actividade espacializadora e temporalizadora do eu que a pensa 95 e, pensando-a, a unifica e a resolve em si mesmo. Isto exclui toda a aco condicionante da natureza sobre o esprito. S o pensamento em acto, absolutamente incondicionado porque a condio de toda e qualquer outra realidade. O carcter condicionado da realidade no exprime outra coisa seno a sua dependncia do pensamento pensante. "0 ser (Deus, natureza, ideia, facto contingente) necessrio, sem liberdade porque j est posto pelo pensamento: o resultado do processo, resultado que , precisamente porque o processo terminou, isto , se concebe terminado, fixando-o e abstraindo-o um momento como resultado" (1b., 12, 19). O pensamento pensante sempre livre, mas uma liberdade que se identifica com a sua intrnseca necessidade racional e , portanto, hegelianamente entendida como coincidncia de liberdade e necessidade. 712. GENTILE: A DIALCTICA DO CONCRETO E DO ABSTRACTO A elucidao desta necessidade intrnseca do acto pensante o objectivo fundamental da Lgica de Gentile. O acto do pensamento , como tal, sempre verdade, positividade, valor, bem, liberdade; mas enquanto se objectiva e deve necessariamente objectivar-se, erro necessidade, negatividade, mal. O problema da lgica gentiliana consiste em mostrar a imanncia destes aspectos negativos na unidade e na simplicidade do acto espiritual infinito. Gentile 96 GENTILE examina, pois, o que ele chama o logos abstracto, ou seja, a considerao abstracta pela qual o objecto em geral, que a raiz de toda a negatividade ou desvalor e portanto, tambm do erro ou do mal, considerado uma realidade por si, independente do esprito que a pensa. Parte do princpio de que o logos abstracto necessrio ao logos concreto. "Para que se actualize a concreo do pensamento, que negao da imediatez de toda a posio abstracta, necessrio que a abstraco seja no so negada mas tambm afirmada; do mesmo modo que para manter aceso o fogo que destri o combustvel necessrio que haja sempre combustvel e que este no seja subtrado s chamas devoradoras, mas seja efectivamente queimado" (Sist. di log., 1, J.a , 7 ; 9). O lugar abstracto considerado na expresso que assumiu na lgica tradicional, cujas formas so por isso submetidas anlise crtica. Conceito, juzo e
silogismo so as formas do pensvel, isto , do objecto pensado enquanto tal: exprimem, portanto, a objectividade, o ser, a natureza e no so susceptveis de movimento, de progresso, de dialctica, tudo coisas que pertencem actividade espiritual que s podem, portanto, entender-se e justificar-se na subjectividade do sujeito pensante. O logos abstracto, objecto da lgica grega e medieval , pois, enquanto abstracto, um erro; mas um erro necessrio, porque devido necessria objectivao do sujeito pensante e continuamente resolvido e superado na actividade deste sujeito: "A lgica do abstracto nasceu historicamente e nasce eternamente, se assim nos podemos exprimir, naquele estado de esprito 97 em que este no adquiriu conscincia de si e no v por isso a abstraco do abstracto e o confunde com o concreto. Estado naturalista, em que o real pressuposto pelo esprito. Estado a que o esprito est destinado a subtrair-se e a que se subtrai at ao infinito, porquanto j no prprio acto em que julga realiz-la, a supera, afirmando no propriamente a natureza, como ele cr, mas o prprio conhecimento da natureza, no o concreto, mas o seu conceito do conceito" (Sist, li log., 11, 3a4, 3). Com este ponto se relaciona a teoria do erro, que um dos aspectos mais caractersticos da atitude filosfica de Gentile. O pensamento em acto sempre, como tal, verdade, realidade, bem, prazer, positividade. O erro, o mal, a dor, etc., subsistem nele apenas como os seus momentos superados, como posies j ultrapassadas e desvalorizadas. "Toma-se qualquer erro e demonstra-se bem que tal; e ver-se- que no h ningum que o queira perfilhar ou sustentar. O erro , pois, erro enquanto superado: por outras palavras, enquanto se apresenta ao nosso conceito, como o seu no-ser. , portanto, como a dor, no uma realidade que se ope realidade do esprito (conceptus sui), mas a prpria realidade enquanto alcana a sua realizao: num seu momento ideal" (Teoria gen., 16, 8). O erro sempre imanente verdade como o no-ser imanente ao ser que devm. O conhecimento do erro, , com efeito, verdade: o conhecimento como tal sempre verdadeiro (Sist. di log., I, 1.a 5 9-10). Naturalmente, esta teoria do erro no explica o erro que no seja conhecido ou reconhecido como 98 tal; no explica, por exemplo, as doutrinas ou as opinies filosficas diversas das do filsofo idealista. Mas Gentile declara que o filsofo idealista no tem a obrigao de explicar este gnero de erros. "0 idealista da imanncia absoluta -afirma (1b., 11, 3.a, 1, 122)-no deve explicar pela dialctica do acto espiritual qualquer verdade e qualquer erro, mas a verdade e o erro do meu pensamento, que s para ele verdadeiramente tal: a verdade minha no acto que penso, e o meu erro no mesmo acto.
Pedir-lhe que com a mesma explicao explique o que, vulgarmente e segundo outros sistemas filosficos por ele criticados, tambm pensamento, e implica um correspondente modo de conceber verdade e erro, decerto uma pretenso absurda. O erro actualmente superado pelo seu contrrio (que o nico erro do qual o nosso idealismo pode falar) no certamente o erro, por exemplo, de quem est contra ns, e resiste aos nossos argumentos e persiste na sua afirmao para ns evidentemente falsa; nem o erro cometido, para dar um outro exemplo, por Plato na sua teoria da transcendncia das ideias". Na universalidade do esprito a oposio entre o filsofo idealista e o seu antagonista anulada de golpe, j que o prprio antagonista interior ao filsofo e s real nele; e mesmo quando ressurge at ao infinito na sua distino, esta distino volta sempre a ser anulada. O trao caracterstico desta teoria a identificao entre o filsofo idealista e o esprito universal: basta que a anulao "de golpe" dos erros adversrios se realize na interioridade do filsofo idealista para que se considere essa anulao realizada at ao infinito 99 na unida-de e na eternidade do sujeito pensante. apenas necessrio fazer notar que na base desta teoria est o pressuposto que sustenta toda a teoria de Gentile: conhecer identificar e, portanto, conhecer os outros na sua alteridade e nos seus erros significa resolver a alteridade e o erro na unidade e na verdade do sujeito pensante. Como quer que seja, tal pressuposto domina todo o desenvolvimento do pensamento de Gentile. O ignoto, por exemplo, enquanto conhecido como tal, j no o ignoto; " enquanto no ". E assim a morte, a qual "no existe". "A morte temvel porque no existe, como no existe a natureza nem o passado, como no existem os sonhos. H o homem que sonha, mas no as coisas sonhadas. E assim a morte negao do pensamento mas no pode ser actual o que se realiza pela negao que o pensamento faz de si mesmo. Com efeito, s se pode conceber o pensamento como imortal, porque infinito" (Sist. di log. II, 4.a 2 3). E assim a ignorncia s existe no acto em que reconhecida como tal e, por isso mesmo, superada como ignorncia; e no existem problemas seno enquanto resolvidos, embora toda a soluo se transforme num novo problema que , no entanto, imediatamente uma nova soluo (1b., 11, 4 a, 5, 4-5). Por consequncia, a filosofia perene, porque sempre esta filosofia, ou seja, filosofia do acto pensante; idealismo. E dado que no existe uma filosofia estritamente objectiva "a verdade da filosofia ou a filosofia verdadeira a que o filsofo tende, no pode ser outra seno uma elaborao da sua prpria 100 filosofia, cujo desenvolvimento tambm o desenvolvimento da verdade filosfica" (Ib, 5, 5). O mtodo da filosofia no pode ser, portanto, seno o
da imanncia de toda a realidade ou verdade no pensamento pensante e, por conseguinte, a filosofia identifica-se com a lgica (Ib., eplogo, 2, 2). fcil dar-se conta da apreciao que se pode fazer da cincia deste ponto de vista. A cincia sempre particular porque tem a seu lado outras cincias e carece, portanto, da universalidade que prpria da filosofia. Pressupe primeiramente, e diante de si, o seu objecto; , portanto, dogmtica e tende necessariamente para o naturalismo e o materialismo. Dela no h histria porque s h histria do acto pensante, ou seja, da filosofia que a inclui em si (Teor. gen., 22, 1-7). este o nico elemento que, de algum modo, a salva, porque o cientista, sendo como homem tambm filsofo, reincorpora a abstraco da cincia na concreo do seu acto pensante (Sist. di log., 11, eplogo, 3 6). A concluso inevitvel da dialctica do abstracto e o concreto, concluso, alis que Gentile explicitamente aceita e mantm at s suas ltimas consequncias, a de que o homem, como sujeito pensante e na pontualidade do seu acto pensante, est sempre na verdade e no bem, no infinito e no eterno, mais ainda, , ele mesmo, todas estas coisas. Isto implica tambm que a histria do homem (que tem histria s como acto pensante) um permanecer imvel na eternidade; e a isto se reduz a doutrina da histria de Gentile. De facto, comea por negar a distino entre histria (res gestae) e historiografia 101 1 Ir-, (histori" rerum gestarum) e por reduzir a histria historiografia, ou seja, contemporaneidade do acto pensante, de um "presente absoluto que no desaparece e no se precipita no seu oposto" e que "0 eterno, tal como reluz no acto do esprito que o busca, no acto do pensamento que pensa" (Sist. di log., 11, 4a, 6 2). A pretensa objectividade da verdade histrica no outra seno a mediao ou sistematizao do pensamento que, mediando-se ou demonstrando-se, se pe como verdade imutvel e j, em rigor, tal pela imanente mediao pela qual o eu se pe como no-eu (1b., 8). A busca da individualidade nos acontecimentos histricos no pode ser seno a busca daquele verdadeiro eu que e o Eu universal e pensante. "0 Scrates histrico, com a sua positiva individualidade, ento sim, torna-se apreensvel; mas enquanto o construmos como personalidade que revive na nossa e actualmente a nossa (ib., 4). Uma vez mais parte do postulado do conhecer como identificao do sujeito consigo mesmo. 713. GENTILE: A ARTE Na Teoria Geral e no Sumrio de pedagogia Gentile pusera o carcter peculiar da arte na sua subjectividade, pela qual o mundo do artista se distingue do da vida prtica e da religio e representa uma libertao em relao a ele. O preciso significadO da subjectividade da arte examinado na Filosofia da arte (1931). O pressuposto capital da oVa , contudo, o que determina a especulao
102 gentiliana: conhecer algo significa para o sujeito assimil-lo a si e identific-lo consigo. "A obra que se conhece-diz Gentile (Fil. dellarte, p. 100)-, no a que est ali, no tempo, dividida por ns, mas a que, ao invs, vamos procurar longe de ns (e precisamente pela actual experincia por ns vivida), mas que, uma vez encontrada, se nos manifesta e faz valer como prxima, ou melhor, como nossa e constitutiva da nossa actual experincia". Posto isto, o significado da arte, de toda a obra de arte, no poder consistir seno no prprio objecto pensante; e, precisamente, na "forma do eu como puro sujeito" (1b., p. 131). Mas como puro sujeito o eu nunca actual, porque a sua actualidade, o acto do seu pensar est no seu objectivar-se; mas neste objectivar-se a arte, como pura subjectividade, j foi transcendida. "A arte pura inactual e, por isso, no pode ser apreendida na sua pureza. Isto no significa, porm, que ela no existe, mas somente que no se pode separar, tal como e por aquilo que propriamente, do resto do acto espiritual, em que existe, e em que, ademais, demonstra toda a sua energia existencial" (1b., p. 135). Por conseguinte, a arte no , como se costuma dizer, um produto de fantasia; no existe uma fantasia como faculdade, ou funo especial da actividade espiritual, distinta do pensamento. A actividade espiritual sempre pensamento, ainda quando, na interioridade do pensamento, se possam distinguir vrios momentos. A arte o momento da subjectividade pura ou inactual que se torna actual no pensamento, se converte em expresso. A expresso 103
esttica , pois, pensamento, e a arte no a expresso de um sentimento, mas o prprio sentimento como pura, ntima e inefvel subjectividade do sujeito pensante (Ib., p. 197). O sentimento conserva em Gentile todos os seus caractersticos romnticos: indefinvel, inexprimvel e ineliminvel: o infinito espiritual, isto , livre de determinaes conceptuais necessrias e, por isso, constitutivo da subjectividade pura do sujeito (Fil. dell'arte, p. 176 segs.). Precisamente como tal, a infinidade do sentimento a infinidade do homem, na sua universalidade e, portanto, est acima e para alm da diversidade emprica dos homens individuais (ib., p. 205). Sentimento o corpo no na sua presumida imediatez fsica, mas na sua actualidade consciente-, sentimento tambm a linguagem, que decerto pensamento na multiplicidade do seu desenvolvimento, mas continua sendo sentimento na unidade subjectiva deste desenvolvimento (1b., p. 226-30). Por outro lado, a tcnica artstica , em troca, pensamento; mas um pensamento "que retorna ao sentimento e com ele se encontra e por isso dirigido e animado por ele" (Ib., p. 237). A pretensa exteriorizao da obra de arte no , na realidade, seno a sua interna realizao por obra do sujeito. No sujeito encontra tambm a sua beleza a natureza, "no j dividida nas suas partes, mas reunida naquela unidade e infinidade que prpria do sujeito e do mesmo sujeito" (1b., p. 262). Se como pura objectividade e, portanto, como
puro sentimento, a arte no moral, encontra a sua moralidade, ao 104 mesmo tempo que a sua actualidade, no pensamento, isto , na filosofia. Possui, portanto, uma eticidade imanente pela qual pode valer como educadora do gnero humano. Nas suas produes histricas (embora no esteticamente vlidas, porque s o so no pensamento e para o pensamento) a arte tem tambm, segundo Gentile, um carcter nacional (Ib., p. 237). Quanto relao entre arte e religio, trata-se de uma correlao necessria que implica a sua recproca oposio e excluso dialctica. Com efeito, a arte o momento da pura subjectividade espiritual, a religio o momento da pura objectividade, do objecto que absolutamente negador do sujeito (Deus), do infinito como objecto. 714. GENTILE: A RELIGIO Este conceito da religio foi formulado por Gentile na Teoria geral do esprito e no Sumrio de pedagogia e confirmado nos Discursos de religio (1920). A religio "a exaltao do objecto, subtrado aos vnculos do esprito, em que consiste a idealidade, a cognoscibilidade e racionalidade do objecto mesmo" (Teoria, 14, 7). Como negao do sujeito no objecto, a religiosidade determina a negao da liberdade espiritual. "Substitui o conceito da criao como autoctisis pelo da criao como heteroctisis; e o conceito do conhecer como posio que o sujeito faz do objecto, pelo da revelao que o objecto faz de si mesmo, o conceito da boa vontade, que a criao que a vontade faz do bem (isto , de si mesma como bem) 105 pelo da graa que o bem (Deus) faz de si ao sujeito" (Somm. di ped., 1, 3 a, 4, 4). A essncia da religio , portanto, o misticismo que a anulao do sujeito no objecto e pela qual o ser de Deus o no ser do sujeito (Disc. di rel., p. 78). A consequncia da religiosidade o agnosticismo, que o carcter negativo de todas as teologias msticas ou estritamente religiosas Qb., p. 81). A religiosidade pertence, pois, propriamente ao lugar abstracto, isto , posio abstracta e errnea de um objecto, que se supe anterior ao sujeito e considerado independente dele. Somente a filosofia a restitui sua concreo, mostrando no prprio objecto da religio uma posio ou criao do sujeito. E, neste sentido, a filosofia imanentista a "verificao do cristianismo" , que foi o primeiro a afirmar o princpio da interioridade espiritual. Por sua vez, o acto espiritual, a nica realidade positiva e concreta j no pode ser divinizada e tornar-se objecto de adorao ou de culto. "0 acto a filosofia: e a filosofia da filosofia no mais do que filosofia. Assim, o acto, na sua imanente realidade, no se objectiva e no se pe diante de si mesmo" (Ib., p. 88). De maneira que a religio s imortal na filosofia; e se o homem tem necessidade de Deus, tem tambm necessidade de reflectir sobre ele e de o reduzir ao acto do seu pensamento. "E este Deus, como pode ser vontade que cumpre reconhecer, a que se tem de rezar e. invocar, e a que necessrio submetermo-nos, se Deus est dentro do homem, do seu eu, e propriamente o seu eu ao realizar-se?" (Sist. di log., 11, 4.a 8, 4). Nalguns artigos e ensaios dos ltimos anos da
106 sua vida, Gentile insistiu na religiosidade da sua filosofia (Sobre uma nova demonstrao da existncia de Deus, 1932; A minha religio 1943). Falou tambm de uma religio sua e at mesmo de um catolicismo seu. Mas, evidentemente, o adjectivo destri aqui o substantivo. Para chegar a reconhecer a validade da religio, Gentile deveria ter abandonado, como fez Fichte, o princpio da identidade do finito e do infinito e chegar a admitir que o infinito est para alm do finito, isto , do homem que filosofa, do sujeito pensante, o qual em comparao com ele no mais do que a imagem ou a repetio temporal do seu eterno processo. Mas nada estaria mais longe da inteno de Gentile, o qual, nestes artigos, no fez seno reafirmar a sua f na infinidade do sujeito pensante e na impossibilidade da transcendncia. 715. GENTILE: O DIREITO E O ESTADO Uma sociedade de homens, isto , de seres finitos ligados entre si e ao mundo que os alberga por necessidades e exigncias de diversa natureza , do ponto de vista de Gentile, um verdadeiro absurdo. Por isso, nos Fundamentos da filosofia do direito (1916), assim como no seu ltimo escrito Gnese e estrutura da sociedade (1946), e noutros escritos menores circunstanciais e polticos, Gentile no faz outra coisa seno reduzir interioridade do acto espiritual a sociedade e o estado, a moral, o direito e a poltica e, em geral, toda a gama das relaes 107 entre os homens. Sociedade e estado, e, por conseguinte, direito e poltica no esto, segundo ele, inter homines, mas in interiore homine. Na primeira obra, procurou esclarecer a natureza do direito recorrendo dialctica de o que quer e o querido, que perfeitamente idntica de pensante e pensado, j que nenhuma distino possvel entre pensamento e vontade: o pensamento como actividade criadora e infinita vontade criadora e infinita. Em relao moralidade, que vontade do bem, isto , criao do bem no acto de o querer, o direito o querido, ou seja, no j vontade em acto mas vontade passada ou contedo do querer; portanto, tambm, "no j liberdade que fora, mas fora sem liberdade, no j objecto que sujeito, mas objecto oposto ao sujeito" (Fond., p. 58-59). A vontade que quer j para si mesma o seu prprio mandato ou a sua prpria lei; quando encontra diante de si uma ordem ou uma lei, trata-se de um momento seu objectivado, e fixado abstractamente nessa sua objectividade. "0 poder soberano, o querer tom-no j em si; e fora dele, onde empiricamente se v armado de espada, no pode
v-lo seno atravs do que j tem no seu ntimo, onde est a raiz e a verdadeira substncia da sociedade e do estado" (Ib., p. 61). Por conseguinte, a coactividade do estado ou das normas jurdicas , ela tambm, interior e espiritual; e direito e moral, em ltima anlise, identificam-se, como se identificam o estado e o indivduo, na actualidade do querer volitivo ou do sujeito pensante (1b., p. 69). Esta j uma justificao do estado absolutista e totalitrio; e a justificao explcita no ltimo 108 escrito de Gentile. Aqui rejeita-se a distino entre o privado e o pblico e com ela a possibilidade de pr limites aco do estado. E, com efeito, a distino no pode manterse se se admite como nico indivduo o Eu universal e infinito: na realidade, tal distino pressupe a singularidade e a irredutibilidade do indivduo e, ao mesmo tempo, a sua constitutiva relatividade social. Gentile, aceitando o carcter totalitrio e autoritrio do estado, declara, com um movimento caracterstico do seu pensamento, que se pode dizer tambm o oposto, q saber "que neste estado, que prpria vontade do indivduo enquanto universal e absoluto, o indivduo absorve o estado, e que a autoridade (a legtima autoridade), no podendo ser expressa, alis, seno pela actualidade do querer individual se reduz integralmente liberdade". Deste modo, a verdadeira democracia seria, no a que quer limitar o estado, mas a "que no pe limites ao estado que se desenvolve na intimidade do indivduo e lhe confere a fora e o direito na sua absoluta universalidade" (Gnese, etc., p. 121). Tambm aqui, como na teoria do erro, Gentile identifica o indivduo universal e absoluto com o filsofo idealista que teoriza, sobre este indivduo. De modo que o miolo da sua demonstrao que o estado autoritrio, identificando-se com o filsofo idealista, realiza a liberdade deste filsofo; por isso, no autoritrio. evidente que, neste crculo, o pensamento de Gentile se mostra constitucionalmente incapaz de um colquio com outros homens e at mesmo de polemizar com eles. 109 Neste ponto crucial, deparamos mais uma vez com o pressuposto que sustenta toda a dialctica de Gentile: conhecer identificar, eliminar a alteridade, assimilar ao sujeito pensante tudo o que no o sujeito pensante. A este pressuposto, que a herana mais pesada do pensamento romntico, contrape-se a filosofia contempornea na sua parte militante: o realismo, a fenomenologia, o positivismo lgico, o existencialismo, o instrumentalismo. A filosofia de Gentile inscreve-se inteiramente no crculo cerrado do romantismo e a mais audaz, rigorosa e extrema expresso do mesmo. necessrio somente notar que a actividade historiogrfica de Gentile, dominada como pelo pressuposto citado e pelo conceito de que a histria no mais do que a eternidade no acto pensante, no tem valor -seno como aspecto da
sua especulao sistemtica. Nos seus numerosos trabalhos histricos, Gentile procurou sempre rastrear no passado apenas os elementos assimilveis filosofia -do actualismo. A sua historiografia filosfica reduz-se, pois, a isolar certos elementos de pensamento dos complexos individuais e histricos -de que fizeram parte e a assimil-los aos conceitos prprios do actualismo. Esta forma de historiografia filosfica foi com frequncia seguida por numerosos discpulos que Gentile teve na Itlia nos anos que vo da primeira segunda guerra mundial com resultados quase nulos ou decepcionantes, seja do ponto de vista historiogrfico, seja do teortico. 110 716. CROCE: VIDA E OBRA Bene-detto Croce, nasci-do em Pescasseroli, nos Abruzos, a 25 de Fevereiro de 1866, e falecido em Npoles a 20 de Novembro de 1952, permaneceu sempre arredado do ensino universitrio. Salvaguardado das necessidades materiais por uma grande fortuna pessoal, desenvolveu como escritor independente uma ininterrupta e intensa actividade nos mais variados campos da filosofia, da histria, da literatura e da erudio. Ligado por estreita amizade a Govarmi Gentile (que foi durante muitos anos, e at ao incio de 1903, colaborador da sua revista "La Critica"), Croce rompeu com ele quando se declarou hostil ao governo fascista (j instaurado havia alguns anos) de que Gentile se tornara o expoente filosfico oficial. A esta ruptura, seguiu-se, por ambas as partes, uma polmica mida, azeda e pouco edificante, que durou muitos anos. O regime fascista, certamente para se salvar de um alibi face aos meios culturais internacionais, permitiu tacitamente a Croce uma certa liberdade de crtica poltica, de que ele usou efectivamente nos livros e nas notas que ia publicando na "Critica" para fazer a defesa dos ideais da liberdade, tanto mais eficaz quanto era alheia a toda a retrica e impregnada de cultura e de pensamento. Nos anos do fascismo e da segunda guerra mundial a figura de Croce assumiu por isso, aos olhos dos italianos, o valor de um smbolo pela sua aspirao liberdade e a um mundo em que o esprito prevalea sobre a violncia. E assim se mantm ainda hoje, embora se verifique 111 o eclipso das ideias filosficas de Croce at nos domnios em que exerceram a maior influncia, ou seja, na esttica e na teoria da histria. Croce chega a formular o seu sistema filosfico partindo da considerao de problemas literrios e histricos. A primeira forma da sua esttica (Tese fundamental de uma esttica como cincia da expresso e lingustica geral, 1900) foi-lhe sugerida pela necessidade de uma
orientao precisa na crtica literria; e nasceu como tentativa de dar uma sistematizao filosfica rigorosa aos princpios crticos que presidiram obra de Francesco De Sanctis (1818-83) que ele considerava como o seu verdadeiro mestre. A esttica foi, pois, incessantemente reelaborada por Croce; e da Esttica como cincia da expresso e lingustica geral (1902) ao Brevirio de esttica (1912) e ao volume A poesia (1936), bem COMO em numerosos ensaios e escritos menores, Croce foi dilucidando as suas teses fundamentais que permaneceram no entanto as mesmas quanto ao essencial (Problemas de esttica, 1910-, Novos ensaios de esttica, 1920; ltimos ensaios, 1935). Em torno do ncleo da esttica, condensou-se pouco a pouco o resto do sistema crociano: Lgica como cincia do conceito puro (1909)-, Filosofia da prtica, econmica e tica (1909); Teoria e histria da historiografia (1917). Juntamente com a doutrina esttica, a que sofreu maior reelaborao foi a doutrina da histria (A histria como pensamento e como aco, 1938; O carcter da filosofia moderna, 1941; Filosofia e historiografia, 1949; Historiografia e idealidade moral, 1950). So fundamentais as monografias 112 dedica-das por Croce a Vico e a Hegel (A filosofia de Vico, 1911; Ensaio sobre Hegel, 1912) e os estudos reunidos na sua obra Materialismo histrico e economia marxista (1900). Os Escritos de histria literria e poltica, constituem, pois, um esclarecimento e uma reforinulao dos princpios filosficos de Croce perante um grande nmero de problemas crticos. 717. CROCE: A FILOSOFIA DO ESPIRITO A filosofia de Croce qualificou-se ou autoqualificou-se como "historicismo absoluto". Pouco importa que se rejeite ou admita esta qualificao; o que importa, em todo o caso, -dar-se conta de que nela o adjectivo modifica radicalmente o substantivo e que, portanto, o historicismo crociano radicalmente diverso -do resto do historicismo contemporneo. Este (como veremos, 735), centra-se em torno do problema crtico da historiografia, isto , do problema relativo possibilidade e ao fundamento (no sentido kantiano) -do saber histrico. Este problema no existe para Croce, que entende por historicismo "a afirmao de que a vida e a realidade histria e nada mais do que histria" (A histria, 1938, p. 51). evidente que, deste ponto de vista, o problema crtico da historiografia eliminado e substitudo pelo principio hegeliano da identidade entre racionalidade e realidade, entre ser e dever ser. Croce, de facto, contrape o historicismo ao ilumi113 nismo que, como "racionalismo abstracto", considera "a realidade dividida em suprahistria e histria, num mundo de ideias ou de valores e num mundo que os reflecte ou os reflectiu at agora, de um modo fugaz e imperfeito, e ao qual convir imp-los de uma vez, fazendo suceder histria imperfeita, ou histria pura -e simplesmente, uma realidade racional perfeita". O historicismo crociano no , pois, seno o racionalismo absoluto hegeliano. E, de facto, Croce v (a justo ttulo) e louva em Hegel, sobretudo, "o dio contra o abstracto e o imvel, contra o dever ser que no , contra o ideal que no real" (Ensaio sobre Hegel, 1927, p. 171). "Com Hegel-diz ainda Croce (0 carcter da filosofia moderna, p. 41) -Deus -descera definitivamente do cu terra, e j no havia que busc-lo fora do mundo, onde apenas se encontraria uma pobre abstraco, forjada pelo esprito do homem
em determinados momentos e para certos fins. Com Hegel adquirira-se a conscincia de que o homem a sua histria, a histria a nica realidade, a histria que se faz como liberdade e se pensa como necessidade, e j no a sucesso caprichosa dos eventos contra a coerncia da razo, mas actuao da razo, a qual deve ser qualificada de irracional s quando se despreza e se desconhece a si mesma na histria. A este historicismo absoluto, reduziu tambm a doutrina de Vico, pondo de parte na filosofia de Vico todos os elementos contraditrios ou, que de qualquer forma, no eram compatveis com tal ponto de vista. Contudo, Croce reprovou a Hegel o ter admitido a possibilidade da natureza como "algo diferente 114 do esprito", o ser tornado pesado e escolstico o seu sistema com o uso e o abuso da forma tridica e, sobretudo, a confuso do nexo dos distintos com a dialctica dos opostos. Isto , Hegel confundiu a distino e a unidade que existe entre as formas e os diversos graus do esprito com a oposio dialctica que se encontra no mbito de cada grau (belo e feio na arte, verdadeiro e falso na filosofia, til e intil na economia, bem e mal na tica). os opostos condicionam-se mutuamente (no existe belo sem feio, etc.), mas os distintos, isto , os graus do esprito, condicionam-se s na ordem da sua sucesso. Croce admite quatro destes graus que se reagrupam nas duas formas fundamentais do esprito: a teortica e a prtica. Arte e filosofia constituem a forma teortica; economia e tica a forma prtica. A arte conhecimento intuitivo ou -do particular; a filosofia conhecimento lgico ou do universal; o momento econmico a volio do particular; o momento tico a volio do universal. Cada momento condiciona o momento subsequente, mas no , por sua vez, condicionado por ele: a filosofia condicionada pela arte, que lhe fornece com a linguagem o seu meio de expresso, a actividade prtica condicionada pelo conhecimento que a ilumina; e na forma prtica, o momento econmico, isto , a fora e a eficcia da aco, condiciona o momento tico que dirige a vontade eficaz e praticamente activa para fins universais. A vida do esprito desenvolve-se circularmente no sentido de que torna a percorrer incessantemente os seus momentos ou formas fundamentais; mas torna-os a percorrer enriquecida de 115 cada vez pelo contedo das precedentes circulaes e sem se repetir nunca. Nada existe fora do esprito que devm e progride incessantemente: nada existe fora da histria, que precisamente este progresso e este devir. 718. CROCE: A ARTE A arte o primeiro momento do esprito universal. Croce define-a como viso ou intuio, mas considera-a como -teoria ou contemplao e atribui-a forma teortica do esprito. "0 artista produz uma
imagem ou fantasma; e aquele que aprecia a arte dirige o olhar para o ponto que o artista lhe indicou, olha pelo respiradouro que aquele lhe abriu e reproduz em si aquela imagem" (Novos ensaios de esttica, p. 9). Mas intuio significa "a imagem no seu valor de mera imagem, a pura idealidade da imagem"-, exclui, pois, a distino entre realidade e irrealidade, que prpria do conhecimento conceptual e filosfico. Este sempre realista porque tende a estabelecer a realidade contra a irrealidade, ou a rebaixar a irrealidade incluindo-a como momento subordinado na realidade mesma. A arte, ao invs, desfaz-se e morre quando se transforma em reflexo e juzo. Por isso nem sequer religio ou mito, pois estes incluem tambm aquela pretenso de realidade que prpria da filosofia. Como forma teortica, a arte no um acto utilitrio e nada tem a ver com o til, e com o prazer ou com a dor; nem um acto moral, e por isso exclui de si as valorizaes pr116 prias da vida moral. A boa vontade nada tem a ver com a arte. Uma imagem poder mesmo copiar um acto reprovvel, mas enquanto imagem no nem louvvel nem reprovvel. O artista, como tal, sempre moralmente inocente. A sua verdadeira moralidade intrnseca ao seu escopo ou sua misso de artista, o seu -dever para com a arte. A intuio artstica no , todavia, um fantasma desordenado: tem em si um princpio que lhe d unidade e significado e este princpio o sentimento. "No a ideia, mas sim o sentimento que confere arte a area ligeireza do smbolo: uma aspirao fechada no crculo de uma representao, eis o que a arte" (Novos ensaios de esttica, p. 28). Neste sentido, a arte sempre intuio lrica: sntese a priori de sentimento ede imagem, sntese da qual se pode dizer que o sentimento sem a imagem cego, e a imagem sem o sentimento vazia. A arte distingue-se, pois, tanto do vo fantasiar como -da passionalidade tumultuosa do sentimento imediato. Recebe do sentimento o seu contedo, mas transfigura-o em pura forma, ou seja, em imagens que representam a libertao da imediatez e a catarse do passional. Como intuio, a arte identifica-se com a expresso. Uma intuio sem expresso no nada: uma fantasia musical s existe quando se concretize nos sons, uma imagem pictrica s o quando pintada. A expresso artstica intrnseca intuio e identifica-se com ela. Mas a expresso artstica diversa da expresso tcnica que devida mera necessidade prtica de tomar possvel a reproduo da imagem para si e para os outros. A tcnica consti117 tda: por actos prticos, guiados, como todos os actos prticos, por conhecimentos. Como tal, diferente da intuio, que pura teoria: e pode-se ser grande artista e mau tcnico. pela tcnica que "com a palavra e com a msica se unem as escrituras e os fongrafos; com a pintura, as telas e os retbulos
e as paredes cheias de cores; com a escultura e a arquitectura, as pedras talhadas e entalhadas, o ferro e o bronze e os outros metais fundidos, batidos e diversamente forjados". O corolrio fundamental, que decorre da definio da arte corno intuio e expresso, a identificao entre linguagem e poesia. A expresso primeira e fundamental , de facto, a linguagem. O homem fala a todo o instante como o poeta, porque, como o poeta, exprime as suas impresses e os seus sentimentos sob a forma da conversao familiar, a qual no est separada por nenhum abismo das formas propriamente estticas da poesia e da arte em geral. A linguagem no o sinal convencional das coisas, mas a imagem significante espontaneamente produzida pela fantasia. O sinal mediante o qual o homem comunica com o homem supe j a imagem e, portanto, a linguagem, a qual , pois, a criao originria do esprito. A identidade entre poesia e linguagem explica o poder que esta exerce sobre todos os homens: se a poesia fosse uma lngua parte, uma "linguagem dos deuses", os homens nem sequer a entenderiam. Nos ltimos escritos, e sobretudo no volume Poesia (1936), Croce insiste cada vez mais no carcter expressivo da arte. A expresso potica, enquanto 118 acalma e transfigura o sentimento, uma "teorese, um conhecem que une o particular ao universal e, por conseguinte, tem sempre uma marca de universalidade e totalidade. Dela se distingue a expresso sentimental ou imediata, a da prosa, a expresso oratria e a literria. A expresso sentimental ou imediata uma pseudo-expresso porque no tem carcter teortico e -se determina, no numa verdadeira linguagem, mas em "sons. articulados", que fazem parte integrante do sentimento. Mesmo quando esta expresso d lugar a livros inteiros ou sries de livros, no se distingue do sentimento e no o supera, mas mantm-se nele sem alcanar o nvel da poesia. De facto, na expresso potica o sentimento no preexiste como contedo j formado e expresso, mas criado juntamente com a forma; de modo que o puro sentimento para a poesia um nada, que real s como outra forma de vida espiritual, ou seja, como forma prtica. A poesia a morte do sentimento imediato, "o ocaso do amor, quando toda a realidade se consome em paixo de amor". Reporta o indivduo ao universal, o finito ao infinito, eleva "sobre a angstia do finito a extenso do infinito" (A poesia, p. 9 segs.). Assim como a expresso do sentimento imediato "som articulado" mas no palavra, assim tambm no palavra a expresso em prosa, j que "s a expresso potica a verdadeira palavra". A expresso em prosa relaciona-se com a potica, como a filosofia se relaciona com a poesia. D lugar a smbolos ou sinais de conceitos, que no so palavras porque no so imagens ou intuies. Tambm se distingue da expresso potica 119 a expresso oratria, que por isso mesmo tambm d lugar, no a palavras, mas a sons articulados, dos quais a actividade prtica se serve para suscitar determinados estados de alma. A expresso literria, "uma das partes da civilizao e da educao semelhante cortesia ou ao galanteio", e consiste na harmonia entre as expresses poticas e as
no poticas (passionais, em prosa, oratrias), de modo que estas ltimas, no seu curso, embora sem se renegarem a si mesmas, no ofendem a conscincia potica e artstica (1b., p. 33). O que h de fundamental na expresso potica o ritmo, "a alma da expresso potica, e, portanto, a expresso potica mesma, a intuio ou ritmo do universo, como o pensamento a sistematizao dele". E o ritmo prprio de toda a arte: em cada uma delas toma caminhos prprios, que so infinitos e inclassificveis. Sobre a sua natureza e sobre a sua relao com a expresso, Croce pouco diz, a no ser que o subentenda nas explicaes que deu sobre o ritmo e a harmonia na histria -da esttica desde a antiguidade at hoje. Atravs das expresses no poticas e, sobretudo, atravs da expresso oratria o esprito reportado ao sentimento, que a prpria vida prtica, a partir da qual recomea um novo ciclo, constante no seu ritmo j assinalado, ritmo que cresce sobre si mesmo, num incessante aperfeioamento e enriquecimento (1b., p. 28). Este ltimo desenvolvimento da -esttica crociana vai, indubitavelmente, ao encontro da exigncia prpria da crtica literria de determinar e condicionar melhor a natureza da expresso esttica para a dis120 CROCE tinguir facilmente das expresses que no so estticas. Todavia, o prprio reconhecimento da realidade de tais expresses assinala o acto de decadncia e de morte da filosofia do esprito. Se existem formas ou modos de expresso que no so poesia ou arte, a poesia ou arte no so tais enquanto expresso condicionada de uma determinada maneira; e se as condies que fazem da expresso uma expresso potica so a teorese, o conhecer, a universalidade, a totalidade, a infinidade, etc., ou seja, caracteres ou determinaes que encontram a sua realidade plena no conhecimento lgico, o carcter especfico da expresso potica dissolveu-se e o prprio fundamento da esttica crociana foi abandonado. Se o sentimento que se manifesta ou realiza na expresso potica no o que pertence forma prtica do esprito, mas criado ou suscitado ad hoc, a passagem da forma prtica arte ou da arte forma prtica torna-se impossvel. Se a forma prtica e o conhecer lgico possuem por sua conta a sua expresso adequada, mesmo que seja em sons articulados ou smbolos, e no em palavras e lngua-,,em, a unidade e a conexo necessria entre estas formas toma-se impossvel e elas deixam de ser formas, ou seja, momentos de uma nica histria espiritual para se tornarem faculdades, uma a par da outra, como na velha psicologia metafsica. A teoria da linguagem como expresso potica suscita a crise de toda a filosofia do esprito de Croce. Do ponto de vista do literato que a acha til e conveniente para os seus fins, isto pode parecer uma feliz incongruncia do filsofo; mas do ponto de vista filos121 fico, a coisa , pelo menos, desconcertante. Acrescente-se que a reduo (que aquela teoria implica) das expresses no poticas (filosficas ou oratrias) a "sons articulados" vem a ter o seu oposto simtrico na tese de alguns epistemologistas contemporneos (por ex., Ayer) que reduzem a simples "emisses de voz" as expresses no cientficas ou, pelo menos, no verificveis empiricamente, e este elucidativo confronto tomar intil o juzo.
, enfim, evidente que a identificao da linguagem com a expresso potica toma impossvel entender a unidade da poesia com as outras artes (msica, pintura, escultura, etc.); e de facto, para justificar esta unidade, Croce obrigado a recorrer ao antiquado e, segundo parecia, j intil conceito de ritmo. Contra a exigncia, que se manifesta em muitas ocasies, de compreender a personalidade do artista (ou do filsofo, ou do poltico) para poder ajuizar da sua obra, Croce afirma a pura e simples identidade entre a personalidade e a obra. "0 poeta nada mais do que a sua poesia: afirmao no paradoxal se se considerar que tambm o filsofo nada mais do que a sua filosofia e que o estadista nada mais do que a sua aco e criao poltica" (La poesia, p. 147). Mas a poesia do poeta ou a filosofia do filsofo, etc., no , como Croce cr, somente a forma numrica das suas poesias ou dos seus livros escritos. No possvel entender e determinar o valor de uma obra referindo-se incessantemente quele objectivo e quela misso que o artista, ou em geral, o autor reconhece como sendo prpria de si e cuja realizao procurou no seu tra122 balho. Este aspecto intencional, prprio de toda a autntica personalidade humana, e que se traduz igualmente nas obras e na vida (a qual, por isso, no pode ser excluda ao julgar-se a obra), no devidamente considerada nas formulaes tericas e nas crticas literrias de Croce. 719. CROCE: A CINCIA, O ERRO E A FORMA ECONMICA A tese fundamental da Lgica (1908) a identidade entre filosofia e histria. Croce defende esta tese mostrando a identidade entre o conceito e o juzo definidor que o expressa, e entre o juzo definidor e o juzo individual ou percepo, que o juzo sobre a realidade concreta ou fctica. Mas o juzo sobre a realidade concreta ou fctica o juzo histrico: de modo que o verdadeiro pensar, o pensar lgico, sempre pensar histrico; mais ainda, identifica-se com a histria enquanto pensamento. Todavia, este conceito, que acaba por se revelar idntico ao saber histrico, , sobretudo, o Conceito: isto , o prprio Esprito na forma da sua autoconscincia racional. No tem, pois, nada que ver com os conceitos de que se fala na linguagem comum e na cincia; e estes, segundo Croce, no so verdadeiramente conceitos, mas pseudo-conceitos. ou fices conceptuais. Para explicar a sua origem e a sua funo, Croce recorre forma prtica do esprito e reproduz a doutrina de Mach ( 785) sobre a funo econmica dos conceitos cientficos. Os pseudo-conceitos 123 servem o interesse prtico que prov conservao do patrimnio dos conhecimentos adquiridos. "Embora -diz Croce (Lgica, 1920, p. 23) -, em sentido absoluto tudo se conserve na realidade e nada que tenha sido uma vez feito ou pensado desaparea do seio do cosmos, a conservao de que agora se fala tem a sua utilidade, porque facilita a recordao dos conhecimentos possudos epermite extra-los oportunamente do seio do cosmos ou do aparente, mente inconsciente e esquecido. Para este fim se constroem os instrumentos das fices conceptuais, que tornaram possvel, por meio de um nome, despertar e unificar a multido das representaes, ou, pelo menos, indicar com suficiente exactido qual a
forma -de operao a que convm recorrer para as poder encontrar de novo e reproduzir". Na mesma forma prtica tem lugar o erro, que cai fora do conhecimento, que sempre verdade absoluta. "Aquele que comete um erro no tem nenhum poder para Iorcer, desvirtuar ou corromper a verdade, que o seu prprio pensamento, o pensamento que opera nele como em todos; ainda mais, logo que toca o pensamento, tocado por ele: pensa e no erra. Tem apenas o poder prtico de passar do pensamento ao facto; e um fazer e no j um pensar abrir a boca ou emitir sons aos quais no corresponda um pensamento ou, o que o mesmo, no corresponda um pensamento que tenha valor, preciso, coerncia, verdade: sujar uma tela a que no corresponda uma imagem, rimar um soneto combinando frases de outros que simulem a genialidade ausente" (1b., p. 254-55). As cincias, como pseudoconceitos, e os erros de 124 toda a espcie so, por conseguinte, rejeitados em bloco por Croce na forma prtica do esprito e considerados para todos os efeitos no como conhecimentos, mas como aces. A forma econmica do esprito desempenha na doutrina de Croce a mesma funo que a natureza desempenhava na doutrina de Hegel: acolhe em si o irracional, o contingente, o individual, e, portanto, as necessidades, as paixes, etc., numa palavra, tudo o que no pode ser reduzido expresso potica ou ao saber histrico. O prprio Croce acabou por empregar a palavra "natureza" para indicar o "processo prtico dos desejos, dos apetites, da cupidez, das satisfaes e insatisfaes que surgem, das -emoes que os acompanham, dos prazeres e das dores" (ltimos ensaios, 1935, p. 55). Mas acrescenta que se deve conceber a natureza "dentro do esprito, como uma forma particular ou categoria do prprio esprito, e como a mais elementar das formas prticas, aquela em que tambm a forma prtica superior, ou seja, a eticidade, perpetuamente se traduz e se encarna e na qual o prprio pensamento e a fantasia se incorporam, fazendo-se palavra e expresso e passando, neste fazer-se, pelas alternativas de todas as comoes e pelas antteses do prazer e da dor" (Ib., p. 55). Mas como pode um esprito infinito, ou seja, por definio auto-suficiente, numa categoria sua (por definio, universal) ser necessidade, paixo, individualidade, etc., que so caractersticas constitutivas do finito como tal e elementos ou manifestaes da sua natureza, um problema que Croce (como Hegel) nunca considerou. 125 720. CROCE: DIREITO E ESTADO COMO ACES ECONMICAS
-Pertencem forma econmica do esprito alm da cincia natural, o erro, o mal, etc., e at o direito e o estado. J em 1907, num ensaio intitulado Reduo da filosofia do direito filosofia da economia, Croce sustentara esta tese, a qual mais tarde confirma e sistematicamente, desenvolve no terceiro volume da Filosofia do esprito (Filosofia da prtica, econmica e tica, 1909) e mantm e defende nos escritos posteriores (tica e poltica, 1931). J na primeira destas obras, Croce identifica resolutamente a categoria do direito com a da utilidade e da fora. Reconhecia, portanto, a existncia de direitos imorais ou at direitos inerentes s associaes delituosas. "0 direito de uma associao a delinquir - dizia (Rid., et., ed., 1926, p. 40) - encontra a oposio do direito de uma sociedade mais vasta; submeter-se- a este segundo, como ao mais forte; submeter-se- merecidamente, como o no moral ao moral: mas vive como direito e est submetido como direito". Todavia, o direito no imoral mas amoral, isto , precede a vida moral e independente dela. fora enquanto aco eficaz que atinge um determinado fim til; e condio da prpria moral, enquanto esta no pode deixar de traduzir-se em aco e, por conseguinte, em utilidade e fora. Estas teses fundamentais foram sempre mantidas firmemente por Croce. Portanto, o estado considerado por ele nada mais do que "um processo de aces teis de um grupo de indivduos ou entre componentes desse 126 grupo" (tica e pol., p. 216). As leis, as instituies o os costumes em que se concretiza a vida do estado no so mais do que "aces dos indivduos, vontades que eles actuam e mantm firmemente, concernentes a certas directivas mais ou menos gerais, que se considera til promover". Neste sentido o estado realiza-se inteiramente no governo e no se distingue dele (1b., p. 218). A vida do estado unia relao dialctica de fora e consenso, autoridade e liberdade. "Todo o consenso forado, mais ou menos forado, mas forado, isto tal que surge sob a "fora" de certos factos e, por conseguinte, "condicionado" : se a condio de facto muda, o consenso, como natural, retirado, desencadeia-se o debate e a luta, e um novo consenso se estabelece sob nova condio. No h formao poltica que se subtraia a esta alternativa: no mais liberal dos estados, como na mais opressiva das tiranias, existe sempre o consenso, e sempre forado, condicionado e mutvel. Se assim no fosse, no haveria nem o Estado nem a vida do Estado" (Ib., p. 221). O erro da concepo tica do estado, tal como, por exemplo, se encontra em Hegel, consiste em ter concebido a vida moral numa forma da vida poltica e do estado inadequada para ela. A vida moral, ao invs, no se deixa reduzir vida poltica mas transborda dela e contribui para desfazer e refazer perpetuamente a vida do estado. igualmente errneo, segundo Croce, o democratismo que se baseia no pressuposto da igualdade dos indivduos, igualdade que juntamente com a "liberdade" e a "fraternidade" so palavras vazias que merecem todos os vituprios e cuja verdadeira 127 origem reside "nos esquemas da matemtica e da mecnica, inaptos a compreender o ser vvente" (1b., p. 226).
Croce v o antecedente histrico da sua doutrina em Maquiavelli, que descobriu "a necessidade e autonomia da moral, da poltica que est para alm, ou, antes, aqum -do bem e do mal ' que tem as suas leis, contra as quais intil revoltarmo-nos; que no admite exorcismos nem ser expulsa do mundo com gua benta" (1b., p. 251). E identifica a sua doutrina poltica com o liberalismo, no por ser uma doutrina poltica especial, mas porque "uma concepo total do mundo e da realidade". O liberalismo encontra o seu centro na ideia da dialctica, ou seja, do desenvolvimento que "merc da diversidade e da oposio das foras espirituais aumenta e nobilita continuamente a vida e lhe confere o seu nico e total significado". Ao liberalismo, como concepo imanentista, contrapem-se as concepes fundadas no transcendente, e pouco importa que este seja entendido no sentido religioso dos ultra-montanos ou no sentido materialista dos socialistas e dos comunistas: num e noutro caso, o ideal transcendente que se procura traduzir em factos no pode deixar de ser simplesmente imposto humanidade. Esta concepo pode lar lugar, no a revolues, mas a reaces; a ela se devem todas as crises e doenas nas quais se verifica uma negao ou suspenso do princpio de liberdade. A superioridade da concepo liberal resulta evidente pelo facto de que capaz de justificar teoricamente e historicamente a conceo oposta. Com efeito, s ela pode fazer justia 128 aos adversrios da liberdade e aos perodos histricos em que a liberdade amarfanhada ou suprimida. "Presta, pois, justia tambm aos primeiros (a saber, "aos tempos de reaco e aos homens das reaces"), no ao corao da humanidade, mas mente liberal, no j enquanto fundamento de vida e de luta prtica, mas enquanto juzo histrico que considera as suspenses de liberdade e os perodos reaccionrios como doenas e crises de crescimento, como incidentes e meios da mesma eterna vida da liberdade, e portanto entende o papel que desempenharam e a obra til que realizaram (1b., p. 290). O liberalismo est, pois, ao mesmo tempo, fora da luta e dentro dela; fora da luta, como juzo histrico o concepo dialctica da realidade; dentro da luta como "fundamento de vida e de luta prtica". Pode-se perguntar o que o liberalismo neste ltimo aspecto, j que, evidentemente, enquanto luta e nega a legitimidade do seu contrrio, no pode, ao mesmo tempo, cont-lo em si e justific-lo. ento precisamente, "vida e luta prtica": economia, utilidade, fora que se contrape a outras foras. Que que o justifica ento enquanto tal? Se, enquanto se justia a si mesmo, justifica tambm os seus opostos e concepo dialctico-histrica (conhecimento puro, no aco), enquanto luta e age, nada, evidentemente, o pode justificar: , como os seus opostos, uma manifestao contingente da forma econmica. O liberalismo, como Croce o entende, ou justifica tudo ou nada justifica. O pensamento poltico de Croce permanece encerrado nesta antinomia que o paralisa e que jaz, como se ver, no fundo da 129 sua concepo da histria. Perante a democracia, que um liberalismo armado que pretende reforar e garantir a liberdade, nos seus modos particulares e nas suas formas concretas e histricas, o liberalismo de Croce continua a ser abstracto e indefeso, e, por conseguinte, inoperante. A prpria obra do homem Croce, o precioso testemunho que prestou liberdade, no se deixa inscrever na sua doutrina nem justificar por ela.
721. CROCE: HISTRIA E FILOSOFIA A identificao entre histria e filosofia exposta pela primeira vez na Lgica (1908), foi o tema fundamental da filosofia crociana. "Se o juzo - diz Croce (A histria como pensamento e como aco, 1938, p. 19)-, relao entre sujeito e predicado, o sujeito, ou seja o facto, qualquer que seja, que se julga, sempre um facto histrico, algo que devm, um processo em curso, porque factos imveis no se encontram nem se concebem no mundo da realidade". juzo histrico a mais bvia percepo judicativa, por exemplo a de uma pedra: "porque a pedra , na realidade, um processo em curso, que resiste s foras de desagregao ou cede s pouco a pouco, e o meu juzo refere-se a um aspecto da sua histria". Nenhuma distino possvel entre factos histricos e factos no histricos. Um dos mais bvios e dificlimos problemas da historiografia, o da distino entre factos histricos (ou seja, signi130 ficativos) e factos no histricos (insignificantes ou banais) e do critrio para os distinguir ou seleccionar totalmente abolido e eliminado por Croce. Toda a histria histria contempornea, "porque, por remotos ou remotssimos que paream cronologicamente os factos que entram nela, ela , na realidade, histria sempre referida necessidade e situao presente, na qual os factos propagam as suas vibraes" (1b., p. 5). As fontes da histria (documentos ou relquias) no tm outro fim seno o de estimular e formar no historiador estados de alma que j existem nele. "0 homem um microcosmos, no em sentido naturalista, mas em sentido histrico, um compndio da histria universal" (1b., p. 6). A necessidade e o estado de alma constituem, no entanto, apenas a matria necessria da histria; o conhecimento histrico no pode ser a sua reproduo passiva, mas deve superar a vida vivida para a representar em forma de conhecimento. Devido a esta transfigurao, a histria perde o seu aspecto passional e torna-se uma viso necessria, logicamente necessria da realidade. Nela, j no tm lugar as antteses que se defrontam na vontade, e no sentimento j no existem factos bons e factos maus, mas factos sempre bons, quando sejam entendidos no seu carcter concreto, isto , na sua ntima racionalidade. "A histria nunca justiceira, mas justifica sempre; e s poderia tornar-se justiceira se fosse injusta, ou seja, se confundisse o pensamento com a vida e escolhesse para juzo do pensamento as atraces e as repulses do pensamento" (Teoria e histria da historiografia, 1917, p. 77). devido 131 a esta sua natureza que a histria pode libertar o homem do peso opressivo do passado. Num certo sentido, o homem o seu prprio passado, que o circunda e o comprime de todos os lados. O pensamento histrico converte a relao com o passado em conhecimento, redu-lo a problema mental e a verdade, que vale como premissa para a
aco futura. "S o juzo histrico, que liberta o esprito da compreenso do passado e, puro como e alheio s partes em conflito, guardio contra os seus mpetos e os seus engodos, mantm a sua neutralidade e procura unicamente fornecer a luz que se lhe pede; s ele toma possvel a formao do propsito prtico que abre a vida ao desenvolver-se da aco e, com o processo -da aco, s oposies, entre as quais ela deve actuar, do bem e do mal, do til e do nocivo, do belo e do feio, do verdadeiro e do falso, e, em suma, do valor e -do desvalor. (A histria, p. 35). Talvez parea assim, que o sentimento e a aco cairiam fora da histria, que conhecimento racional perfeito. Pelo contrrio, caem, segundo Croce, somente fora do conhecimento, no domnio da forma prtica do esprito. As angstias, as esperanas, as lutas, etc., todos os impulsos dos homens, pertencem conscincia moral, so "histria. no seu fazer-se". Mas seja como aco vivida, seja como conhecimento lgico, a histria sempre racionalidade plena, progresso. O chamado elemento irracional da histria constitudo pelas manifestaes da vitalidade: vitalidade que no decerto a civilidade ou a moralidade, mas condio e premissa necessria de uma e de outra; e como tal, plenamente racional (A his132 tria, p. 160-61). Quanto decadncia, um conceito aplicvel s a determinadas obras ou ideais; "mas em sentido absoluto e na histria, nunca existe decadncia que no seja ao mesmo tempo formao ou preparao de nova vida e, portanto, progresso" (1b., p. 38). Nem poderia ser de outro modo porque o verdadeiro sujeito -da histria , sempre, em ltima anlise, o esprito infinito. A -histria no "a obra impotente, e sempre ininterrupta do indivduo emprico e irreal, mas a obra daquele indivduo verdadeiramente real, que o esprito no seu eterno individualizar-se. Por isso ela no tem de defrontar nenhum adversrio, pois todo o adversrio tambm o seu sbdito, isto , um dos aspectos daquele dialectismo que constitui o seu ser ntimo" (Teoria e histria da historiografia, p. 87). Todavia, nos ltimos escritos, sob o impulso das vicissitudes histricas contemporneas que se prestam mal a confirmar a perfeita racionalidade da histria e a sua total justificao, Croce introduz uma distino que deveria evitar que aquela tese servisse para a cnica aceitao do facto consumado ou do xito. Quer dizer, distinguiu a racionalidade da histria da racionalidade do imperativo moral. Tudo na histria racional porque tudo nela "tem a sua razo de sem. Mas racional tambm o imperativo moral, ou seja, "aquilo que a cada um de ns, nas condies determinadas em que colocado, a conscincia moral manda fazem (A histria, p. 199). Ora, o imperativo moral neste sentido prprio do dever ser que pretende dar lies ao ser, contra o qual se encarniou sempre o desprezo de Hegel e 133 do prprio Croce. E este reconhecimento de um "racional" diferente da racionalidade necessria -da histria, tem o mesmo efeito que, no domnio da esttica, tinha o
reconhecimento de formas ou modos de expresso diferentes dos da expresso potica: a saber, o de tomar impossvel a unidade e a circularidade da vi-da espiritual e destruir o prprio pressuposto da filosofia do esprito. De facto, a passagem da forma teortica forma prtica (do pensamento aco) justifica-se somente no sentido -de que a primeira deve iluminar e dirigir a segunda, que seria cega e irracional sem ela. Mas se todo o conhecimento histria, se toda a histria justificao do que aconteceu e acontece, a nica atitude legtima, a um tempo teortica e prtica, a de quem v em toda a decadncia um progresso, em todo o mal um bem e na obra do diabo a prpria obra de Deus. Tal foi, de facto, sempre a atitude de Hegel e tal continua a ser a atitude de Croce filsofo. Apelar ento para o imperativo moral como para algo racional de outro gnero, significa querer dar, como indivduo, lies histria, como homem lies a Deus. Por outras palavras, traduzir, no um racional mas um irracional, e restaurar a desprestigiada e ridicularizada situao do iluminismo. A filosofia de Croce orienta-se, pois, para uma contradio que no de modo algum dialctica porque carece, desesperadamente, de soluo. Por outro lado, Croce insiste no conceito da histria como viso divina do mundo, completa e total e no seu conjunto imediata, qual no se pode reportar o progresso, j que s se pode referir este 134 ao nosso conceito das categorias e no s categorias mesmas (A histria, p. 25). E por esta viso levado a considerar as dvidas e as desconfianas que s vezes surgem, com respeito ao progresso, como impulsos sentimentais e cegos que devem ser banidos pela reflexo histrica (0 progresso como estado de alma e o progresso como conceito filosfico, "Critica", Julho de 1948). Por outro lado, insiste na liberdade e na responsabilidade do indivduo frente s suas tarefas e, por conseguinte, na obrigatoriedade moral de atitudes que no sejam a pura e simples aceitao do facto consumado. Num ensaio de 1929 (ltimos ensaios, 1935, p. 295 segs.) exprimiu este contraste equiparando-o ao que existe entre a graa e o livre arbtrio; e viu a soluo do mesmo no "alternado operar do pensamento e da aco, da teoria a da prxis, de duas categorias do esprito e da realidade, que s o so uma mediante a outra, e no seu distinguir-se ou pr-se se resolvem naquela nica unidade concebvel que o eterno unificar-se". Mas precisamente este eterno unificar-se que resulta impossvel. No se trata, com efeito, de simples proposies ou posies lgicas, mas de atitudes humanas; e a atitude de quem tudo justifica, exclui e condena a atitude de quem se sente responsvel pelos ideais e pelas aces que livremente escolheu. A identidade entre filosofia e histria conduz negao de toda a filosofia que no se reduza considerao da histria e dos seus problemas, e definio da filosofia como "metodologia da historiografia". O conceito de uma filosofia que se situe 135
para alm e fora da histria ou que se ocupe de problemas universais eternos "a ideia da filosofia". Ela s pode dar origem a discusses interminveis, prprias dos filsofos de profisso, mas completamente fora do crculo vital do pensamento. "Qualquer problema filosfico resolve-se unicamente quando posto e tratado com referncia aos factos que o fizeram nascer e que cumpre entender para o entendem (A histria, p. 144). A unidade do problema com a sua soluo exclui que haja problemas insolveis. A soluo elimina o problema e novos problemas so postos ou impostos pela vida e pela aco. filosofia no dado pensar os universais sem os individualizar e, portanto, sem os tomar histricos, como no possvel historiografia conhecer a individualidade dos factos sem os universalizar. Em nenhum sentido se pode distinguir historiografia e filosofia. A filosofia como tal est morta, e ressurge na historiografia. A filosofia de Croce constitui a ltima e decisiva crise do idealismo romntico. Este idealismo que se apresentava em Gentile (como em Hegel) pacificado e feliz na conscincia da perfeita entidade entre finito e infinito, apresenta-se em Croce, especialmente nas suas ltimas manifestaes, como infelicidade e contraste de posies inconciliveis. As exigncias e os problemas que ele procurou fazer seus estilhaam o quadro das categorias prvias e revoltam-se contra elas. Mas precisamente por este aspecto a obra de Croce extremamente significativa para a filosofia contemporneaEsta obra exerceu uma grande influncia sobre 136 a cultura italiana do perodo compreendido entre as duas guerras. Actuou no mesmo sentido que a filosofia de Gentile, apesar da inimizade que se criou entre os dois filsofos e da diversidade das suas doutrinas. Contudo, no deu lugar, no campo filosfico, a nenhum desenvolvimento original ou enriquecimento das suas teses fundamentais; em troca, determinou novos rumos no campo da crtica literria e artstica, especialmente em Itlia, apesar de tal influncia estar actualmente a desaparecer da cultura italiana. NOTA BIBLIOGRFICA 709. Sobre Vera: **R0SENK1LANZ, Hegels Naturphilosophie und die Bearbeitung derselben durch den italienischen Philosoph A. V., Rerlim, 1868; R. MARIANO; A.V., Saggio biografi-co, Npoles, 1887; G. GENTILE, Origini de" fil. contemp. in Italia, M, Messina, 1921. Sobre Spaventa: V. FAzIO-ALLMAYER, in "Giorn. critico della fil. italiana", 1920; G. GENTILE, Origini, ete. (cit.); IOD., in "Annali della ScuoIa Normale Superiore di Pisa", 1934; VicoRiTA, B.S., Npoles, 1938 (com bibliog.).
Est em curso a edio dm obras completas de Gentile, ed. Sansoni de Florena. Bibliog. de V. A. BELLEzzA, Bibliogr. degli scritti di G.G., vol. IIII de G.G., Ia vita e il p~ero, ao cuidado da fundao "Gentile", Florena, 1950. Sobre Gentile: E. CM0CCHETT1; La fil. di G.G., Milo, 1922; V. LA VIA, L'idealismo attuale di G.G., Trani, 1925; R. W. HOLMES; The ideali~ of G.G., Nova Iorque, 1927; E. Paci, Pensicro, exist"za, valore, Milo, 1940; p. 1-14; H. S. HARRIs, The Social Philo&ophy of G.G., Urbana, 111, 1960. 137 os volumes publicados pela "Fundao G.G. para os estudos filosficos" e intulados: G.G. La i>ita e il pensiero contm numerosos escritos (interpretativos e evocativos) sobre diversos aspectos da filosofia de G.G. O ltimo destes volumes o X, sado em 1962. 711. Um desenvolvimento do **aetuah@'smo gentiliano no sentido de um espiritualismo religioso foi tentado por A. CARLINI nos esoritos: La vita dello spirito, Florena, 1921; La relig"it. 138 vi O NEO-CRITICISMO 722. CARACTERES DO NEO-CRITICISMO A filosofia passou a ser entendida e aplicada, desde o neo-criticismo, como reflexo crtica sobre a cincia (ou sobre qualquer outra forma da experincia humana) tentando encontrar na cincia (ou, em geral, nessa outra forma de experincia) as condies que a tornam vlida. O neo-criticismo admite assim a validade da cincia, do mesmo modo que aceita a validade do mundo moral e esttico. Mas o criticismo contrrio afirmao do carcter absoluto ou metafsico da verdade cientfica, defendido pelo positivismo; e , por outro lado, contrrio a qualquer tipo de metafsica ou de integrao metafsico-religiosa do saber cientfico, segundo as vias do espiritualismo e do idealismo. A metafsica 139 da matria e a metafsica do esprito esto igualmente afastadas dos interesses do neocriticismo e constituem, at os alvos das suas atitudes polmicas. Isto pressupe a defesa da distino kantiana entre a validade da cincia (da moral ou da arte) o as condies de facto empricas, psicolgicas ou subjectivas que se encontram ligadas cincia, moralidade ou arte. Assim acontece com o neo-criticismo, se bem que esteja impregnado pela polmica contra o empirismo e o psicologismo, que reduzem a validade do conhecer (ou da moralidade ou da arte) s condies em que estas actividades se manifestam no homem. O "retorno a Kant" portanto o retorno ao ensinamento fundamental do filsofo de Knigsberg, isto ,
exigncia de no reduzir a filosofia psicologia, fisiologia, metafsica ou teologia, mas sim de restitu-Ia sua tarefa de anlise das condies de validade do mundo do homem. 723. ORIGENS DO NEO-CRITICISMO NA ALEMANHA O retorno a Kant verificou-se na Alemanha pouco depois dos meados do sc. XIX. O primeiro impulso partiu dos escritos de **HeIraholtz, do aparecimento da monografia de Kuno Fischer sobre Kant (1860) e da obra de Zeller Sobre a significao e o fim da gnoseologia (1862). Em 1865, Otto Uebmann (1840-1912) publicou o livro Kant e os seus epgonos, em que traava a anlise de cada uma das quatro orientaes da filosofia alem post-kantiana 140 (idealismo de Fichte, de Schelling e de Hegel; realismo de Herbert, empirismo de Fries e transcendentalismo de Schopenhauer) com o lema: "Deve, pois, voltar-se a Kant". O prprio Liebmann contribuiu com sucessivos escritos (Anlise da realidade, 1876; Pensamentos e factos, 1882-1904) para este retorno a Kant, entendido por ele como criao de uma metafsica crtica que tomasse como fundamento o princpio kantiano da dependncia do objecto relativamente ao sujeito e admitisse, em consequncia, apenas a conscincia como facto originrio. A primeira manifestao do neo-criticismo na Alemanha foi a de Hermann Helmholtz (1821-1894), que chegou a uma interpretao fisiolgica do kantismo partindo de exigncias e de factos inerentes s duas cincias que cultivava: a fisiologia e a fsica (Sobre a vista humana, 1855; Teoria das sensaes sonoras, 1863; Manual de ptica fisiolgica, 1856-66-, Os factos da percepo, 1879). Dado que os efeitos da luz e do som sobre o homem dependem do modo de reaco do seu sistema nervoso, Helnlholtz considera, as sensaes como os sinais produzidos nos nossos rgos dos sentidos por aco das foras externas. Os sinais no so cpias nem reproduzem os caracteres dos objectos externos; mas, contudo, esto relacionados com eles. A relao consiste em que o mesmo objecto, nas mesmas circunstncias, provoca o aparecimento do mesmo sinal na conscincia. Esta relao permite-nos comprovar as leis dos processos externos, isto , a sucesso regular das causas e dos efeitos, o que basta para provar que as leis do mundo real se reflectem no mundo dos sinais e, 141 por conseguinte, para fazer deste ltimo um conhecimento verdadeiro. Helmholtz aceita a doutrina kantiana do carcter transcendental do espao e do tempo mas nega que tenham carcter transcendental os axiomas da geometria. A existncia das geometrias noeuclideanas demonstra que os espaos matemticos, mesmo sendo intuveis, no se baseiam em axiomas transcendentais porque so construes empricas que tm como fundamento comum a intuio pura do espao. Segundo Helmholtz, idealismo e realismo so puras hipteses que impossvel refutar ou provar de modo decisivo. O nico facto independente de qualquer hiptese a regularidade dos fenmenos e, por isso, o nico carcter essencial da realidade a lei. O mrito imortal de Kant foi, precisamente, o ter
demonstrado que o princpio da causalidade, no qual toda a lei se funda, uma noo a priori. 'Na mesma linha se move Frederico Alberto Lange (1828-75), conhecido principalmente pela sua Histria do materialismo (1866, enriquecida e aumentada na 2.a ed. de 1873), que constitui uma tentativa para chegar ao criticismo atravs da crtica do materialismo. Com efeito, reconhecida a tese fundamental do materialismo, isto , a estreita conexo ida actividade espiritual com o organismo fisiolgico, preciso ainda reconhecer, segundo Lange, que este mesmo organismo, como todo o mundo corpreo, do qual faz parte, s conhecido por ns atravs das imagens que produz. As concluses. fundamentais da teoria do conhecimento so, por conseguinte, trs: "l.a -o mundo sensvel um pro142 duto da nossa organizao. 2.1 -Os nossos rgos visveis (corpreos) so, como as restantes partes do mundo fenomnico, somente imagens de um objecto desconhecido. 3 a-o fundamento transcendente da nossa organizao , pois, desconhecido para ns, do mesmo modo que as coisas que actuam sobre ela. S se nos depara o produto de dois factores: o nosso organismo e o objecto transcendente (Gesch. des Mater., 11, 7 a ed., 1902, p. 423). Usto resulta que "o reduzir todo o elemento psquico ao mecanismo do crebro e dos nervos (como faz o materialismo) o caminho mais seguro para chegar a admitir que aqui termina o horizonte do nosso saber sem alcanar o esprito em si" (Ib., p. 431). Nesse sentido aceite a tese kantiana de que toda a realidade, apesar da sua rgida concatenao causal, no mais que fenmeno. A coisa em si no mais que um conceito limitativo, algo inteiramente problemtico, que se admite corno causa dos fenmenos, mas da qual nada se pode afirmar positivamente (Ib., p. 49). Lange cr que o verdadeiro Kant o da Crtica da Razo Pura e que a tentativa de Kant de sair, como fez nas outras obras, dos limites do fenmeno para alcanar o mundo nomnico impossvel, Os prprios valores morais e estticos tm a sua raiz no mundo dos fenmenos e carecem de significado fora dele (1b., p. 60). Existe, certamente, um caminho para ir mais alm dos fenmenos, mas no e o do saber positivo: o caminho da livre criao potica. O homem tem, certamente, necessidade de completar a realidade fenomnica, com um mundo ideal criado por ele prprio. Mas a livre criao 143 deste mundo no pode tomar a forma enganadora de uma cincia demonstrativa; e se a toma, o materialismo ali est para destruir o valor de toda a especulao audaz e para manter a razo dentro dos limites do que real e demonstrvel (1b., p. 45). Deste ponto de vista, o valor da religio no consiste no seu contedo terico, mas no processo espiritual de elevao por sobre o real e na criao de ,uma ptria espiritual que ela determina. "Acostumemo-nos - diz Lange (1b., p. 548) - a atribuir ao princpio da ideia criadora em si, deixando de lado toda a sua conformidade com o conhecimento histrico e cientfico e tambm toda a falsidade deste conhecimento, um valor superior quele que se lhe tem atribudo at agora: acostumemo-nos a ver no mundo das ideias uma representao figurada da verdade na sua totalidade, to indispensvel para o progresso humano como os conhecimentos do intelecto, e procuremos medir a maior ou menor importncia de cada ideia com princpios ticos ou estticos". Uma reduo anloga da metafsica actividade prtica ou fantstica, valiosa do ponto de
vista humano mas no do ponto de vista cientfico, defendida por Lus RiehI (18441924), autor, entre outras, de uma vasta obra intitulada O criticismo filosfico e a sua significao para a cincia positiva (1876-87) e de um Guia para a filosofia contempornea (1903). Riehl acentua em sentido realista a interpretao fisiolgica do kantismo, que recebe de Helmholtz. A ;sensao uma modificao da conscincia, produzida pela aco da coisa em si: como tal, no 144 revela nada sobre a natureza da coisa em si, mas permite afirmar a sua existncia. o facto de que a uma sensao sucede outra (por ex., a passagem do azul ao roxo) implica uma alterao produzida no objecto em si, ainda que no permita decidir em que consiste. A realidade do objecto em si no excluda pelo facto da conscincia ter simplesmente uma relao com ele. "No contradiz nenhum conceito do nosso pensamento supor que o que se converte em objecto, ao entrar na relao que constitui a cincia, exista tambm independentemente desta relao. MaIs ainda, esta afirmao est necessariamente unida ideia de relao: o que no existe no pode entrar em nenhuma relao" (Des phil. Kritizismus, 11, 11, p. 142). O objecto em si s pode ser caracterizado dizendo-se que aquele que fica da nossa representao total dos fenmenos depois de ter eliminado dela todos os elementos subjectivos: este resduo objectivo no mais do que a regularidade dos prprios fenmenos e, por isso, como Helmholtz, reconhece Rielid na lei o nico carcter da realidade em si (Ib., p. 173). Por outro lado, a mesma funo sinttica do sujeito que unifica e ordena os dados sensveis deve ter a sua contrapartida objectiva na realidade. Com efeito, se no houvesse nada que correspondesse unidade lgica do pensamento, esta unidade seria inaplicvel; por isso ela somente o reflexo da unidade na natureza e no pensamento (1b., 11, 1, pgs. 219 e segs.; 11, R, pgs. 61 e segs.). evidente que, deste ponto de vista, a oposio entre sujeito e obj=to perio o seu carcter originrio: o eu e o no-eu s so 145 diferentes funcionalmente, enquanto que a conscincia originria indiferente (1b., 11, 1, pgs. 65 e segs.). S mente a elaborao da experincia que o pensamento realiza mediante as suas leis a priori estabelece tal oposio. E esta elaborao tem sempre carcter social: "A experincia-diz Rielil (1b., 11, IL p. 64) -no um conceito psicolgico-individual, mas um conceito social". A conscincia universal consi** 'ituida pelas categorias que condicionam a elaborao da experincia, no mais do que w sistema das coordenadas intelectuais, relativamente s quais eu penso todo o conhecimento". A possibilidade de uma metafsica como conhecimento hipottico, fundada na experincia da coisa em si, defendida tambm em artigos e ensaios por Eduardo Zeller (1814-1908), o grande historiador da filosofia grega que, como dissemos, foi um dos primeiros defensores do retorno a Kant na Alemanha. 724. RENOUVIER: A FILOSOFIA CRTICA Na mesma altura do ressurgimento do criticismo na Alemanha, o retorno a Kant era defendido em Frana por Charles Renouvier (1815-1903), que publicou entre 1854 e 1864 os quatro volumes dos seus Ensaios de crtica geral (Anlise geral do conhecimento, 1854;
Psicologia racional, 1859; Princpios da natureza, 1864; Introduo filosofia analtica da histria, 1864). A esta, que a sua obra principal, se,-u-ir-se-o: A cincia da moral, 1869; Ucronia, 1876; Ensaio de unia classificao sistemtica 146 das doutrinas filosficas, 1885-6; A nova monadologia (de colaborao com L. Prat), 1899; Os dilemas da metafsica pura, 1903; Histria e soluo dos problemas metafsicos, 1901; O personalismo, 1901. Renouvier declara explicitamente que aspira a continuar e levar a termo a obra de Kant, e que aceita do positivismo a reduo do conhecimento s leis dos fenmenos porque esta reduo concorda com o mtodo de Kant,(Essais, 1, 1854, pgs. X-XI). Por conseguinte, a filosofia tem por objecto estabelecer as -leis gerais e os limites do conhecimento (Ib., p. 363); e Renouvier considera idolatria e fetichismo filosfico toda a metafsica, descobrindo o seu princpio na distino entre Tealidade e representao. Como tantos outros kantianos e neo-kantianos, cr que o princpio fundamental do criticismo a reduo de toda a realidade representao (Ib., p. 42). A primeira consequncia deste princpio a eliminao da coisa ' em si e de todo o absoluto. Enquanto representao a realidade no mais do que fenmeno. Mas o fenmeno essencialmente relatividade; s existe em relao com outros fenmenos, dos quais parte ou nos quais entra como parte de um todo. Tudo o que se pode representar e definir relativo e a afirmao de uma coisa em si ou de um absoluto intrinsecamente contraditria, porque pretende estabelecer ou definir mediante relaes o que est fora de toda a relao (1b., p. 50). Na relatividade dos fenmenos baseia-se a lei, que Renouvier define como "um fenmeno composto, produzido e reproduzido de modo constante, e re147 presentado como a relao comum das relaes de outros fenmenos diferentes" (Ib., p. 54). Deste ponto de vista, todos os seres so "conjuntos de fenmenos unidos por funes determinadas". Assim, a conscincia uma funo especial dos fenmenos que se manifestam nessa esfera representada que o indivduo orgnico (Ib., p. 83). O saber e a cincia tendem a estabelecer as relaes entre os fenmenos e entre as leis, procurando uma sntese nica cujos limites corresponde crtica estabelecer (1b., pgs. 86 e segs.). Todo o saber se baseia, portanto, na categoria de relao, da qual so determinaes e especificaes as outras categorias do conhecimento: o nmero, a extenso, a durao, a qualidade, o devir, a fora, a finalidade, a personalidade. Esta ltima a prpria categoria da relao na sua forma vivente e activa. A introduo da personalidade (ou conscincia) e da finalidade entre as categorias, constitui o aspecto mais original da doutrina de Renouvier relativamente de Kant. No que se refere finalidade, Renouvier observa que a lei do fim no menos essencial para a constituio do esprito humano do que a lei da causalidade, e que o homem que a impe em todos os seus actos e a aplica para dirigir todos os seus juzos o mesmo e nico homem que considera causas e qualidades (Essais, 1, p. 407). Quanto categoria da personalidade, Kant excluiu-a das categorias; introduziu-a depois como eu pensante,
abrindo assim caminho ao idealismo; na realidade, da uma forma dos nossos juzos, tal como as outras categorias. "Dever a conscincia, pelo facto 148 de se identificar com o filsofo, impedir este de lhe dedicar uma parte na obra que ela reivindica totalmente? O objecto da crtica precisamente estudar o eu como algo distinto do eu e como uma entre outras coisas representadas" (Ib., p. 398). O conceito do saber como relao e sistema de relaes leva Renouvier a considerar a possibiEdade de um sistema total, de uma sntese completa das relaes, a qual seria o mundo. Renouvier elimina as antinomias enumeradas por Kant: a propsito desta ideia, eliminando dela o carcter de infinidade, ou seja, aceitando sem restries as teses das antinomias kantianas e destruindo as antteses. O infinito sempre intrinsecamente contraditrio quando se considera real: pode ser admitido no campo do possvel, no no da realidade fenomnica. contraditrio admitir um todo infinito **d&o, j que 3 que dado possui, necessariamente, as determinaes que fazem dele algo finito. O mundo real um todo finito e as teses das antinomias kantianas so verdadeiras. necessrio, pois, admitir que o mundo limitado, no espao e no tempo, que a sua divislibilidade tem um termo e que depende ele uma ou mais causas, que no so efeitos, mas causas primeiras. "0 mundo-diz Renouvier (Ib., 1, pg-s. 282-3) depende de uma ou mais causas que no so efeitos, mas actos antecedentes: tende para um ou mais fins, cujos meios adquiridos no se prolongam interminavelmente no passado nem no futuro; e e~ fins e estas causas esto n&e, de algum modo, j que todo o devir implica fora e paixo; e como todo o fenmeno supe a representao e toda a 149 representao supe a conscincia, o mundo compreende uma ou mais conscincias que se aplicam ao seu contedo". Esta ltima alternativa refere-se ao problema de Deus e relao entre o inundo e Deus. Renouvier exclui a hiptese da criao, que reduz a conscincia primeira a um dolo indefinvel: "unia fora que produza a fora, um amor que ame o amor, um pensamento que pense o pensamento". Fica a hiptese da emanao; mas, nesta hiptese, ou o uno originrio se considera em sentido absoluto e, portanto, como algo que exclui toda a pluralidade, sendo incapaz de a explicar, ou se considera como uma verdadeira conscincia, como uma fora e uma paixo dirigida a outros actos e a outros estados e, neste caso, a pluralidade, e precisamente a pluralidade das pessoas, -lhe j intrnseca. A hiptese da emanao coincide pois, substancialmente, com a da pluralidade mltipla, o todo, pela nica razo de que o , para Reinouvier, o dado originrio. "Ns subsfitumos o Uno puro, dolo dos metafsicos, pela unidade mltipla, a todo, pela nica razo de que o mundo, actual e originariamente, uma sntese determinada, no, uma tese **abstraci 'a" (Essais, 1, p. 357). Renouvier sustenta que isto tudo quanto se pode dizer sobre sntese total do mundo e que to-aos os
outros problemas que a metafsica pe sobre as suas ulteriores determinaes no podem encontrar resposta, porque no tm um sentido definvel nos limites do conhecimento, humano. Na Nova monadologia (1899) volta a propor, no obstante, tais problemas e, reafirmando substancial150 mente -as teses dos Ensaios, chega a renovar a concepo cclica do mundo tal como se encontra nos Padres da Igreja grega, especialmente em Orgenes ( 146). Renouvier aceita explicitamente (Nova monad., p. 505) a tese de uma pluralidade de mundos sucessivos, nos quais a passagem de um mundo para outro determinada pelo uso que o homem faz da liberdade em cada um deles; e pretende corrigir a tese de Orgenes no sentido de que "o fim alcanado volta a unir-se com o princpio, no na indistino das almas mas na humanidade perfeita, que a sociedade humana perfeita". Este fazer reviver as velhas concepes metafsicas, que esto em oposio com o delineamento crtico da filosofia de Renouvier, provocado pela necessidade de fazer depender o destino do mundo da aco da liberdade humana. 725. RENOUVIER: O CONCEITO DA HISTRIA Esta necessidade domina o seu conceito da histria. Podem reconhecer-se na histria duas espcies de leis: em primeiro lugar as leis empricas, estabelecidas pela observao, e contingentes na sua aplicao; em segundo lugar, as leis a priori, que deveriam depender de uma nica dei e originar o desenvolvimento do destino humano em todos os aspectos do pensamento e da aco de todos os povos do mundo. "As leis empricas pressupem o livre arbtrio humano e a no predeterminao dos grandes acontecimentos, plo menos do ponto de 151 vista da nossa ignorncia, mesmo que fossem concatenados e determinados de um modo desconhecido para ns. As Idis a priori implicam, pelo contrrio, o determinismo absoluto e o poder do esprito humano para definir e abarcar todo o seu desenvolvimento" (Intr. Ia phil. anal. de 1'hist., pgs. 149-150). O reconhecimento de leis a priori na histria conduz ao fatalismo: esta a concluso da filosofia da histria de Hegel, tal como do positivismo de Saint-Simon. Por outro lado, o pessimismo de Schopenhauer , tambm, determinista; e a todas as concepes a priori, optimistas ou pessimistas, Renouvier ope a sua filosofia analtica da histria, que tende "a determinar as origens e as concatenaes reais das ideias, das crenas e dos factos, sem outras hipteses a no ser as que sejam inevitveis devido s indues psicolgicas e morais e ao grau de incerteza dos documentos" (ib., p. 152). Atravs ,do estudo analtico da religio e da moral das pocas primitivas, Renouvier chega a estabelecer a funo da liberdade humana na histria. O ser e o dever ser no coincidem
na histria. Segundo Renouvier, existe uma moral diferente da histria, isto , das suas prprias realizaes. Mas a histria, de certo modo, uma funo da moral, no sentido de que * pensamento julga, corrige, refaz os juzos, os actos * os acontecimentos histricos. E, por outro lado, a moral uma funo da histria, no sentido de que a prpria conscincia moral se formou e desenvolveu atravs da histria, que a prpria experincia humana no seu desenvolvimento (Ib., pgs. 551-2). O progresso no , pois, uma lei fatal. Consider-lo 152 como tal significa debilitar a conscincia imoral e dispor-se a declarar como necessrio e justo tudo o que sucedeu (1b., p. 555). A histria o cenrio da liberdade em luta e s quando a liberdade se afirma e se realiza a si mesma, que a histria progride e se molda vida moral. Este , com efeito, o domnio da liberdade. Na Cincia da moral (1869), Renouvier v, no princpio de que "o homem est dotado de razo e se julga livre", o fundamento necessrio e suficiente de toda a moralidade humana. "A moralidade consiste na capacidade e, praticamente, no acto de determinar-se pelo melhor, isto , de reconhecer, entre as diferentes ideias do agir, a ideia particular de uma aco obrigatria e de conformar-se com ela" (Science de la morale, ed. 1908, p. 3). Renouvier adopta totalmente o conceito Kantiano do imperativo categrico e baseia-o no conhecimento originrio que o homem possui sobre o que deve ser e deve fazer, conhecimento oposto quele que lhe dado pelas suas prprias manifestaes (Ib., p. 215). A convico da problematicidade da histria conduz Renouvier, na Ucronia (a utopia da histria) surpreendente tentativa de construir "a histria apcrifa do desenvolvimento da civilizao europeia, como teria podido ser e no foi". Renouvier parte da considerao de que "se numa poca determinada os homens tivessem acreditado firme e dogmaticamente na sua liberdade, em vez de tentarem crer nela de maneira lenta e imperceptvel, mediante um progresso que talvez a prpria essncia do progresso, desde essa poca a face do mundo teria 153 mudado bruscamente" (Uchro-nie, 2.a ed., 1901, p. IX). Baseando-se nesta considerao, imagina os traos que caracterizariam a histria da Europa se se admitisse a possibilidade real de que a srie de acontecimentos, desde o Imperador Nerva at ao Imperador Carlos Magno, tivesse sido radicalmente diferente do que de facto foi. Neste caso, a Europa encontrar-se-ia agora numa condio de paz e de justia social. As guerras religiosas teriam acabado e teriam conduzido tolerncia universal. Tambm teriam acabado as guerras comerciais, parecendo incapazes de criar o monoplio nico para que tende a avidez de cada nao, e as guerras nacionais ou de proeminncia teriam, por seu lado, cedido o seu lugar implantao da liberdade e da
moralidade no Estado. **Mm disso, o trabalho seria to honrado como o exerccio mais digno da actividade humana e a obra do governo considerada como um trabalho de interesse pblico dirigido para o bem comum (1b., pgs. 285-6). A utopia histrica de Renouvier parece basear-se precisamente na tese que nega: uma profecia, tanto no que se refere ao passado como ao futuro, somente possvel se se admite a necessidade da histria. O carcter problemtico da histria torna indeterminadas as relaes entre os acontecimentos, e por isso no se pode encontrar nenhuma relao nas hipteses fictcias que se podem formular, nos se que podem ser introduzidos na considerao dos factos. Renouvier d-se parcialmente conta desta dificuldade e observa no fim da obra que, admitido um desvio possvel num certo momento do curso 154 histrico, outros desvios -se apresentam noutros pontos, tornando sumamente incerta e arbitrria a construo hipottica. Mas afirma que a sua finalidade foi eliminar a iluso do facto consumado, "a iluso da necessidade preliminar devido qual o facto realizado seria o nico, entre todos os outros imaginveis, que teria podido realmente suceder" Ub., p. 411). Dado que se trata de uma fuso, deve poder-se dissip-la reclamando o direito de introduzir na srie efectiva dos factos da histria um certo nmero de determinaes diferentes das que se produziram, Esta tentativa ter, em todo o caso, "obrigado o esprito a deter-se um momento no pensamento dos possveis que no se verificaram e elevar-se assim mais resolutamente ao pensamento dos possveis que esto ainda em suspenso no mundo" (ib., p. 412). A utopia histrica, por outras palavras, sugerida a Renouvier pela exigncia de subtrair o homem tirania do facto e da **Auso da necessidade. E pode duvidar-se da eficcia da utopia, mas no do valor da exigncia. 726. O CRITICISMO INGLS A lgica (1874) de Lolze renovou e valorizou a distino estabelecida por Kant entre o aspecto psicolgico e o aspecto lgico-objectivo do conhecimento. Esta distino convertese em caracterstica das diversas tendncias do neo-criticismo. O neo-criticismo ingls desenvolveu-se em estreita conexo com o pensamento de Kant, e especialmente, com 155 a escola de Marburgo, dado que apresenta como aspecto caracterstico uma certa tendncia para o empirismo. Shadworth H. lIodgson (1832-1912) o autor de uma vasta obra intitulada A metafsica da experincia (4 vols., 1898), de outros livros e ensaios menores (Tempo e espao, 1865; A teoria da prtica, 1870; A filosofia da reflexo, 1878; e de numerosos ensaios publicados nas actas da Aristotelian Society e no "Mind"). A metafsica da experincia unia anlise subjectiva da experincia que tem por fim reconhecer o significado e as condies da conscincia, por um lado, e das realidades diferentes da conscincia, por outro. A anlise da conscincia neste sentido , segundo Hodgson (Met. of Exp., 1, pgs. IX-XI), a mesma que Kant tinha iniciado, mas liberta do pressuposto a que o
prprio Kant e os filsofos que dele receberam a sua inspirao o tinham vinculado, isto , da distino entre sujeito e objecto, dado como verdade ltima fora de discusso. A distino entre sujeito e objecto substituda em Hodgson pela distino entre o contedo objectivo da conscincia e o facto ou o acto da sua percepo. A anlise do mais simples estado de conscincia, por exemplo, de um ;som, revella imediatamente estes dois aspectos distintos e, contudo, inseparveis. "Designando o contedo pelo qual (whatness) da percepo ou da experincia, podem chamar ao facto de que seja percebido o seu que (thatness), isto , a sua existncia enquanto conhecida no presente. Nenhuma 'destas duas partes da experlincia total existe separadamente da outra: so 156 distinguveis, inseparveis e medidas uma pela outra" (Met. of Exp., 1, p. 60). Essncia e existncia, qual o que, so os dois aspectos opostos e conexos da experincia: a existncia identifica-se com o ser percebido, conforme a frmula de BerLdIcy esse est percipi; a essncia o prprio contedo da percepo, o qual do que existente. Estas consideraes de lIodgson, ainda que apresentadas em polmica com Kant e com os kantianos, tendem para o mesmo objectivo das correntes do neo-criticismo contemporneo: o de distinguir o contedo objectivo da experincia (na validade que lhe prpria) dos actos ou factos psquicos aos quais se apresenta unido. Hodgson distingue, com efeito, o aspecto psicolgica do conhecimento intelectual e o seu aspecto lgico. Pode ser considerado como um processo ou facto existente e denomina-se ento pensamento, juzo ou raciocnio, e pode ser considerado como um modo de conhecimento e ento uma forma conceptual, que utiliza conceitos tais como condio, possibilidade, alternativa, etc. (Ib., p. 383). Do mesmo modo, a conscincia (ou a experincia na sua totalidade) pode ser considerada como uma realidade existente ou como conhecimento; como realidade existente desenvolve-se para diante e move-se do presente para o futuro; como conhecimento reflexiva e do presente volta ao passado. Por isso o problema da conscincia pode ser duplo: ou problema relativamente essncia da conscincia e corresponde metafsica, ou problema relativamente existncia da conscincia, isto , relativamente s condies do seu ser de facto, e 157 respeito psicologia. Hodgson revela assim, em todas as suas anlises, a preocupao de assinalar os limites precisos entre a investigao -psicolgica e a gnoseolgica, que prpria do neo-criticismo e que encontra a sua mais decidida e rigorosa expresso na escola de Marburgo. Mesmo quando Hodgson parte do princpio esse est percipi, e afirma que o sentido geral da realidade o facto de que se d a experincia (1b., p. 458), no se detm na tese idealista; analisa assim a formao, no seio da experincia, de uma realidade objectiva e, tambm, de unia realidade que existe independentemente de ser percebida. ou pensada (mesmo quando no independente do acto de pensamento que a reconhece como tal). Contudo, o "mundo externo" de que nos fala considerado externo unicamente em relao ao corpo, enquanto ocupa um lugar no espao juntamente com os outros objectos da experincia (Met. of Exp., 1, p. 267).
De inspirao kantiana , tambm, aquilo que Hodgson chama "a parte construtiva da filosofia". A filosofia uma anlise da experincia e a experincia no pode ser transcendida. Contudo, os seus limites e as suas lacunas fazem pensar num "mundo invisvel" do qual no temos conhecimento positivo, e de que s possumos aquelas caractersticas gerais que podem inferir-se das suas relaes necessrias com o mundo visvel. Pretende neste ponto **combinuar a Crtica da Razo Prtica de Kant (1b., IV, p. 399). "Os sentimentos, cuja eleio prtica um mandato da conscincia e cujo triunfo a convico da f, so conhecidos e experimentados por ns justamente 158 como sentimentos pessoais, apenas enquanto so sentidos por certas pessoas relativamente a outras. Mas quando pensamos que o seu triunfo se baseia providencialmente na natureza do universo, no podemos pensar o prprio, universo seno como pessoal, apesar de esta tentativa de realizar especulativamente o pensamento falhar necessariamente e se converter em contraditria" (ib., IV, p. 400). A conscincia moral , pois, o fundamento da f no mundo invisvel, isto , numa "fora divina que suporta todas as coisas -e que distinta, mas inseparvel, tanto de ns prprios como do mundo visvel e mesmo do mundo invisvel". Encontram-se as -mesmas exigncias na obra de Robert Adamson (1852-1902), autor de duas monografias sobre Kant (1879) e sobre Fichte (1881) e de vrios escritos publicados depois da sua morte com o ttulo de O desenvolvimento da filosofia moderna (2 vols., 1903). Adamson coloca explicitamente toda a -sua filosofia na necessidade de um regresso doutrina kantiana e de um exame novo dos problemas tal como saram das mos de Kant (Phil. of Katit, p. 186, Tre Developement, II, p. 13). A principal lio que tira de Kant a distino entre o ponto de vista da psicollogia e o ponto de vista da gnoseologia, distino pela qual "a origem de certa modificao especial da nossa experincia no pode determinar de modo algum a sua validade ou o seu valor para o conhecimento" (The Developement, 1, p. 245). Assim como a psicologia se ocupa dos fenmenos da conscincia enquanto experincias imediatas e dos processos em virtude'dos 159 quais se desenvolve, por tais experincias, a distino entre sujeito e objecto, a gnoseologia, contrariamente, ocupa-se do valor ou da validade dos conceitos baseados nesta distino; e os seus problemas surgem do reconhecimento da anttese, da qual a psicologia traa a formao. Nesta base, as anlises de Adamson tendem a mostrar dois princpios fundamentais. O primeiro o da distino entre o acto de apreender e o contedo apreendido, distino que, contudo, no implica o isolamento recproco ou a independncia dos dois factos. O segundo princpio que os actos ou estados de conscincia no tm como objectos prprios o seu modo de existncia (a sua realidade como modificao de um sujeito). Por outras palavras, uma ideia no pode ser considerada como um acto de conhecimento interno que tenha por objecto a
prpria ideia. O estado psquico pelo qual o contedo apreendido no participa dos caracteres deste contedo: o acto de apreender o vermelho no , ele prprio, vermelho, bem como o acto de apreender um tringulo no triangular. Ns temos conscincia nos nossos estados mentais e atravs deles; mas no temos conscincia deles. Este segundo princpio corta a passagem para o idealismo subjectivo, j que evita a reduo do objecto conhecido a um estado do sujeito cognoscente (The Developement, 1, p. 234). Adamson no considera que a unidade da percepo seja um princpio primitivo; ser antes um produto refinado do desenvolvimento da experincia. Tudo o que se pode conceder tese de Kant que, 160 quando representamos um universo de factos relativos e conexos, s os podemos representar em referncia a uma experincia consciente. Mas a experincia consciente tem infinitos graus e s o ltimo e mais completo deles pode ser caracterizado como autoconscincia (Ib., pgs. 255-6). Deste modo, Adamson conduz o criticismo s teses empiristas. O pensamento que organiza a experincia , por sua vez, estimulado e dirigido pela experincia; e as categorias so unicamente os modos por que o esprito organiza e acomoda as suas experincias, modos que foram tambm plasmados pela experincia que organizam. Vislumbra-se na doutrina de Adamson a tendncia para o real-ismo, que devia tomar como ponto de partida, precisamente, os -pressupostos que Adamson ps a descoberto. Um trao notvel da especulao de Adamson a repulsa da ideia romntica do progresso (to grata aos idealistas e naturalistas do seu tempo), como uma aproximao gradual e contnua para um fim supremo, do qual seriam realizaes parciais ,todos os desenvolvimentos da realidade csmica e humana. A noo de fim, segundo ele, uma categoria prtica que no encontra aplicao para alm dos limites da experincia individual. Por isso, o decurso dos fenmenos no pode ser, de modo algum e em qualquer domnio, concebido como uma sucesso de mudanas predeterminadas por um objectivo final. No obstante, Adamson admite que, dado que o pensamento sempre idealizante, pode conceber-se um esprito infinito que esteja com o processo total da realidade na mesma relao que o nosso 161 conhecimento est com a limitada poro da realidade que lhe dada. Mas cr que o problema da existncia deste esprito no pode ser definitivamente resolvido.
George Dawes Hicks (1862-1941) autor de um estudo sobre Os conceitos de fenmeno e nmeno lia sua relao segundo Kant (escrito em alemo e publicado na Alemanha, 1897) e de dois livros, As bases filosficas do tesmo (1937) e Realismo crtico 1(1938), pode considerar-se discpulo, de Adamson. Hicks toma como ponto de partida a distino feita j por Hodgson e Adamson, entre existncia e essncia, o qual e o que; e serve-se dela para chegar concluso de que o objecto apenas uma fase mais completa e melhor determinada do prprio conhecimento. Com efeito, a soma das caractersticas apreendidas de um qualquer objecto (o contedo apreendido ou a aparncia do objecto) nunca iguala a soma das caractersticas que constituem a essncia completa (ou contedo) do prprio objecto. A primeira nunca pode ser considerada como realidade existente porque sempre uma seleco das caractersticas constitutivas do objecto. Ela o qual, e a essncia total do objecto o que; ou ainda, se se preferir, a primeira o fenmeno e a segunda a realidade. O contraste entre fenmeno e realidade , pois, apenas um contraste entre uma realidade parcial ou imperfeitamente conhecida nas suas caractersticas. A funo do juzo, ao qual se reduz a actividade fundamental do conhecer, a de captar um nmero cada vez maior de caractersticas do objecto e acercar-se, portanto, cada vez mais (Ia 162 realidade como tal. Este conceito da realidade, considerado como termo final do processo cognitivo (mais do que como seu ponto de partida), o **ii@z@smo que se encontra na escola de Marburgo. 727. A FILOSOFIA DOS VALORES: WINDELBAND As duas expresses mximas do criticismo germnico, so a Escola de Baden e a Escola de Marburgo. Possuem em comum a exigncia abertamente kantiana de considerar a validade do conhecimento independente da condio subjectiva ou psicolgica em que o conhecimento se verifica. A escola de Baden responde a esta exigncia com uma teoria dos valores considerados independentes dos factos psquicos que os testemunham. A escola de Marburgo responde a esta exigncia reduzindo o processo, subjectivo do conhecer ao mtodo objectivo que garante a validade do conhecimento. O fundador da escola de Baden foi Guilherme Winddiband (1848-1915), professor em Zurique, Estrasburgo e Heidelberga e um dos mais conhecidos historiadores da filosofia. O seu Manual de histria da filosofia elaborado por problemas, sendo o desenvolvimento histrico dos mesmos considerado como relativamente independente dos filsofos que os abordam. As ideias sistemticas de Windelband esto contidas na coleco de ensaios e discursos intitulados Preldios (1884, muito aumentada em edies sucessivas). Outros dos seus escritos not163 eis so: A liberdade do querer (1904), Princpios de lgica (1912) e Introduo filosofia (1914). Windelband considera a filosofia como "a cincia crtica dos valores udiversais". Os valores universais constituem o seu objecto; o carcter crtico caracteriza o seu mtodo. Por esta
via encaminhou Kant a filosofia. Kant foi o primeiro que distinguiu nitidamente o processo psicolgico, em conformidade com cujas leis os indivduos, os povos e a espcie humana alcanam determinados conhecimentos, do valor de verdade de tais conhecimentos. Todo o pensamento que pretende ser conhecimento contm uma ordenao das representaes, que no s produto de associaes psicolgicas mas tambm a regra a que deve ajustar-se o pensamento verdadeiro. Na multiplicidade de sries representativas que se formam em cada indivduo segundo a necessidade psicolgica da associao, h algumas que expressam esta regra, a qual lhes confere a objectividade e , portanto, o nico objecto do conhecer. Kant destruiu definitivamente a concepo grega da alma como espelho passivo do mundo e da verdade como cpia ou imagem de uma realidade externa. Para Kant, o objecto do conhecimento, o que mede e determina a sua verdade, no uma realidade externa (que como tal seria inalcanvel e inverificvel), mas a regra intrnseca do prprio conhecimento. Posto isto, a tarefa da filosofia crtica a de interrogar-se sobre a existncia de uma cincia, um pensamento que tenha um valor absoluto e necessrio de verdade; a existncia de urna moral, isto , um querer e um agir que tenham valor absoluto e necessrio de bem; 164 e a existncia de uma arte, ou seja, um intuir e um sentir que possuam valor absoluto e necessrio de beleza. Em nenhuma das suas trs partes a filosofia tem como objecto prprio os objectos particulares que constituem o material emprico do pensamento, do querer, do sentir, mas somente as normas s quais o pensamento, o querer e o sentir devem conformar-se para ser vlidos e possuir o valor a que aspiram. Por outras palavras, a filosofia no, tem por objecto juzos de facto, mas juzos valorativos (Beurteilungen), isto , juzos do tipo "esta coisa boa", que incluem uma referncia necessria conscincia que julga. Todo o juzo valorativo , com efeito, a reaco de um indivduo dotado de vontade e sentimento ante um determinado contedo representativo. O contedo representativo produto da necessidade natural ou psicolgica; mas a reaco expressa no juzo que o valora pretende uma validade universal, no no sentido de que o juzo seja reconhecido de facto por todos, mas unicamente rio sentido de que deve ser reconhecido. Este deve possuir uma obrigatoriedade que nada tem que ver com a necessidade natural. "0 sol da necessidade natural afirma Windelband (Prludien, 4.a ed., 1911, 11, pgs. 69 e segs.), resplandece por igual sobre o justo e sobre o injusto. Mas a necessidade, que observamos, de validade das determinaes lgicas, ticas e estticas, uma necessidade ideal, uma necessidade que no a do Mssen e do no-poder- ser-deoutro-modo, mas a do Sollen e do poder-ser-de-outro-modo". Esta necessidade ideal consti165 tui uma conscincia normativa que a conscincia, emprica encontra em si e qual deve conformar-se. A conscincia normativa no uma realidade emprica ou de facto, mas um ideal, e as suas leis no so leis naturais que devam necessariamente verificar-se em todos os factos singulares, mas normas s quais devem conformar-se todas as valoraes lgicas, ticas e estticas. A conscincia normativa um sist ema de normas que, assim como valem objectivamente, tambm devem valer subjectivamente, ainda que na realidade emprica da vida humana s em parLe. A filosofia pode tambm definir-se, por conseguinte, como "a cincia da conscincia normativa"; e como tal, ela prpria um conceito ideal que s se realiza dentro de certos limites. A realizao das normas na conscincia emprica constitui a liberdade, a qual se pode, por isso, definir como "a
determinao da conscincia emprica por parte da conscincia normativa". A religio considera a conscincia normativa como uma realidade transcendente e supramundana que Windelband designa por santo. "0 santo a conscincia normativa do verdadeiro, do bem e do belo, vivida como realidade transcendente". Tal realidade transcendente concebida pela religio com as categorias de substncia e de causalidade c.. portanto, como uma personalidade na qual real tudo o que deve ser e no o o que no deve ser: como a realizao de todo o ideal. Nisto consiste a santidade de Deus, Nisto tambm consiste a antinomia insolvel da religio. "A representao transcendente deve identificar em Deus a realidade e a norma, enquanto a necessidade 166 de libertao do sentimento religioso as divide. O santo deve ser a substncia e a causa do seu contrrio. Disto depende a completa insalubilidade do problema da teodiceia, o problema da origem do mal no mundo" (Prludien, 4.11 ed., 1911, p. 433). Num ensaio de 1894, Histria e cincia natural, retomando e criticando a ideia exposta por Dilthey na Introduo s cincias do esprito (1883), Windelband delineou uma teoria da historiografia, estabelecendo a distino entre cincias naturais e cincias do esprito. As cincias naturais procuram descobrir a lei a que obedecem os factos e SO, por isso, cincias noinotticas; as cincias do esprito, por outro lado, tm como objecto o singular na sua forma historicamente determinada e so, por isso, cincias ideogrficas. As primeiras tm como objectivo final o reconhecimento do universal; as segundas tendem, contrariamente, para o reconhecimento do singular, quer seja um facto ou uma srie de factos, a vida ou a natureza de um homem ou de um povo, a natureza e o desenvolvimento de uma lngua, de uma religio, de uma ordem jurdica ou de qualquer produo literria, artstica ou cientfica. As primeiras so cincias de leis; as segundas, de factos. Windelband contrape esta distino de natureza puramente metodolgica distino objectiva estabelecida por Dilthey; mas forado a admitir que nem mesmo Dilthey tinha compreendido esta distino num sentido puramente objectivo e que para ele a distino entre os mtodos e a distino entre os objectos so simultneos ( 736). Segundo Windelband, um mesmo objecto pode ser estudado 167 por ambas as espcies de cincias e, por vezes, os dois tipos de considerao entrecruzam-se numa mesma disciplina, como sucede na cincia da natureza orgnica, a qual tem carcter nomottico enquanto descrio sistemtica e carcter ideogrfico ao considerar o desenvolvimento dos organismos sobre a terra. As cincias ideogrficas so essencialmente histricas, sendo a finalidade da histria fazer reviver o passado nas suas caractersticas individuais, como se estivesse idealmente presente. A histria dirige-se para o que intuvel e a cincia da natureza tende para a abstraco. O momento histrico e o momento naturalista do saber humano no, se
deixam reduzir, segundo Windelband, a uma nica fonte. "A lei e o acontecimento ficam um ao lado do outro como ltimas grandezas incomensurveis na nossa representao do mundo. Este um dos pontos limites em que o pensamento cientfico tem apenas por misso levar o problema luz da conscincia, mas no est em condies de o resolvem (Prludien, 4aed., 1911, p. 379). 728. RICKERT Em estreita relao com Windelband est a filosofia de Heinrich Rickert (1863-1936), que foi professor em Friburgo e Heidelberga. Os seus escritos principais so: O objecto do conhecimento (1892); Os limites da formao dos conceitos cientficos (1896-1902); Cincias da cultura e cincias da natureza (1899); A filosofia da vida (1920), Sistema de 168 filosofia (1921); Problemas fundamentais da filosofia (1934); Imediatez e significado (coleco pstuma de ensaios, 1939). A obra de Rickert representa a sistematizao dos temas filosficos de Windolband; mas no se pode dizer que com tal sistematizao tenham adquirido maior evidncia e profundidade. Em O objecto do conhecimento, Rickert critica todas as doutrinas que interpretam o conhecimento como relao entre o sujeito e um objecto transcendente, independente daquele, e com o qual o prprio conhecimento deve conformar-se. A representao e a coisa representada so ambas objectos e contedos da conscincia e, por isso, a sua relao no a que existiria entre um sujeito e uma realidade transcendente, mas a que existe entre dois objectos ;do pensamento. Por conseguinte, o critrio e a medida da verdade do conhecimento (o seu verdadeiro objecto) no a realidade externa. Conhecer significa julgar, aceitar ou refutar, aprovar ou reprovar: significa, pois, reconhecer um valor. Mas enquanto valor, que objecto de uma valorao sensvel (por exemplo, de um sentimento de prazer), vale somente por determinado eu individual e num momento dado, o valor que reconhecido no juzo deve valer para todos e em todos os tempos. O juzo que eu formulo, ainda que se refira a representaes que vo e vm, tem um valor duradouro enquanto no puder ser diferente do que . No momento em que se julga, pressupe-se algo que vale eternamente, e esta suposio propriedade exclusiva dos juzos lgicos. Nestes, eu sinto-me ligado por um senti169 monto de evidncia, determinado por uma **patacia qual me submeto e que reconheo como obrigatria. Este sentimento d ao juzo o carcter de no-, cessidade incondicionada. Mas tal necessidade no tem nada que ver com a necessidade causal das representaes: uma necessidade ideal, um imperativo cuja legitimidade se reconhece e aceite conscientemente. Neste imperativo, neste dever ser, consiste a verdade do juzo. O objecto do conhecimento, aquilo que d ao conhecimento o seu valor de verdade, o dever ser, a norma. Negar a norma impossvel, porque significa tornar impossvel qualquer juzo, inclusive o que nega. O dever ser precede o ser. No se pode dizer que um juzo verdadeiro por exprimir o que ; mas s se pode dizer que algo se o juzo que o expressa verdadeiro pelo seu
dever ser. O dever ser transcendente relativamente * toda a consCincia emprica individual, porque * conscincia em geral, uma conscincia annima, universal e ,impessoal, qual toda a conscincia individual se reduz ao expressar um juzo vlido. Esta conscincia universal no s lgica, mas tambm tica e esttica. A oposiio entre o terico e o prtico desvanece-se relativamente a ela, e todas as disciplinas filosficas encontram nela a sua raiz, j que a filosofia tem precisamente por objecto os valores, as normas e as formas do seu reconhecimento. Este conceito de filosofia confirmado por Rickert num ensaio que trata precisamente deste tema (in "Logos", 1910). A filosofia deve distinguir o mundo da realidade do reino dos valores. Estes ltimos no so realidades, mas valem e o seu reino 170 est 'para alm do sujeito e do objecto. A filosofia deve tambm mostrar a relao recproca entre o mundo da realidade e o reino dos valores. Esta relao o acto de valorar, que expressa o sentido do valor e que. por isso, determina uma terceira esfera, que se situa junto da realidade e dos valores: o reino do significado. O acto de valorar no tem uma existncia psquica porque se encaminha, para alm desta, para os valores; mas tambm no um valor; um terceiro reino ao lado dos outros dois. O Sistema de filosofia a ampliao destes fundamentos e, ao mesmo tempo, uma tentativa de classificao escolstica dos valores. s trs esferas mencionadas Rickert faz corresponder, no homem, trs actividades que as expressam: o explicar, o entender e o significar. E distingue seis campos ou domnios do valor: a lgica, que o domnio do valor-verdade; a esttica, que o domnio do valor-beleza, a mstica que o domnio da santidade impessoal, a tica, que o domnio da moralidade; a ertica, que o domnio da felicidade, e a filosofia religiosa, que o domnio da santidade pessoal. A cada um destes domnios faz corresponder um bem (cincia, arte, um todo, comunidade livre, comunidade de amor, mundo divino), uma relao com o sujeito (juzo, intuio, adorao, aco autnoma, unificao, devoo), assim como uma determinada intuio do mundo (intelectualismo, esteticismo, misticismo, moralismo, eudemonismo, tesmo ou politesmo). Mas neste mtodo classificativo e escolstico, em que os problemas ficam 171 suprimidos e ocultos, dilui-se a mais profunda exigncia dessa filosofia dos valores que Rickert quer defender. E os sarcasmos que num escrito polmico, A filosofia da vida, dirige a Nietzsche, Dilthey, Bergson e outros, frente aos quais afirma que a filosofia no vida, mas reflexo sobre a vda, dissimula mal o seu ressentimento relativamente a umponto de vista que acentua um aspecto do homem que no encontra reconhecimento nem **caNmento algum na **fossillizao escolstica a que ele prprio reduziu o mundo dos valores. Estes so, com efeito e antes de mais, possibilidades da existncia humana e, precisamente por isso, so ignorados ou negados por Rickert. A parte mais interessante da sua filosofia a que se refere distino entre cincias da natureza e cincias do esprito, distino que Rickert toma substancialmente de Windelband e que comenta largamente na sua obra Sobre os limites da formao do conceito cientfico que tem como subttulo "Introduo lgica s cincias histricas". A distino entre cincias naturais e cincias histricas no se baseia no objecto, mas no mtodo. A mesma realidade emprica pode ser considerada, segundo um e outro ponto de vista lgico, como natureza ou como
histria. " natureza se a considerarmos relativamente ao universal e converte-se em histria se a considerarmos relativamente ao particular e ao individual" (Die Grenzen, 2.a ed., 1913, p. 224). O que individual e singular interessa s cincias naturais s quando pode ser expresso por uma lei universal; mas constitu, em troca, o nico objecto da investi172 gao histrica. Nem todos os acontecimentos individuais suscitam, contudo, o interesse histrico, mas apenas aqueles que tm uma particular importncia e significado. O -historiador efectua e deve efectuar uma seleco, e o critrio desta seleco ser constitudo pelos valores que integram a cultura. Deste modo, o conceito de uma determinada individualidade histrica dever ser constitudo pelos valores apreendidos ou apropriados pela civilizao a que ela pertence. O procedimento histrico uma contnua referncia ao valor: o que no tem valor insignificante historicamente e pe-se de parte. Mas nem por isso o historiador formula um juzo de valor sobre os acontecimentos de que trata. O historiador, como tal, no pode formular nenhum juzo sobre o valor de um qualquer facto; procura reconstituir o facto s porque tem um valor. Por outras palavras, o valor pressuposto pela prpria histria, que no o cria, mas que se limita a, reconhec-lo onde se encontra. Os valores em si no podem, segundo Rickert, ser historiados, embora resplandeam no seu firmamento imutvel que constitui o guia e a orientao da histria. Rickert polemiza, por isso, contra todas as formas de historicismo, que equipara ao relativismo e ao nlismo (Ib., p. 8.). Assim, a validade do conhecimento histrico depende da validade absoluta dos valores a que referido. "A validade da representao histrica, afirma Rickert, no pode deixar de depender da validade dos valores a que referida a realidade histrica e, por isso, a pretenso de validade incondicional dos conceitos histricos pressupe o reconhe173 (Ib., p. 389). Ora, segundo Rickert, esta pretenso antes um direito. A histria no o fundamento possvel de nenhuma "intuio do mundo" limitada ou parcial; e a filosofia tem como nica tarefa dirigir-se, seguindo os valores que a histria encarna, para o intemporal e o eterno. 729. OUTRAS MANIFESTAES DA FILOSOFIA DOS VALORES A filosofia dos valores teve, na Alemanha, nos primeiros decnios deste sculo, numerosos partidrios, que renovaram, desenvolvendo-os em diversas direces, os temas propostos por Windelband e Rickert e muitas vezes influenciando-os pelos de outras correntes contemporneas. Bruno Bauch (1877-1942), numa monografia sobre Kant (1917), que a sua obra principal, interpreta a coisa em si no sentido da filosofia dos valores como regra lgica que vale, independentemente do nosso entendimento, para o nosso entendimento; e segue, contrariamente, a tendncia da escola de Marburgo ao eliminar o **&afismo kantiano entre intuio e categoria e ao considerar o conhecimento como um progresso infinito do pensamento para a determinao da experincia. Por outro lado, o germano-americano Hugo Mnsterbera g (1,863-1916), autor de uma Filosofia dos valores (1908) e de numerosas obras de psicologia, procura fazer uma sntese da filosofia dos 174
valores com o idealismo de Fichte. Pe como fundamento de todos os valores uma actividade livre, um super-eu ou eu universal do qual cada eu singular uma parte. Esta actividade, de cunho fichteano, encontra a sua expresso originria no valor religioso, isto , na santidade, qual se reduzem, portanto, todos os outros valores. Estes so agrupados em duas grandes classes: valores imediatos ou vitais e valores criados ou culturais. Cada uma destas classes divide-se numa esfera tripla: o mundo externo dos objectos, o mundo dos sujeitos e o mundo interno. Em cada uma destas classes de valores, Mnsierberg estabelece divises e subdivises, at apresentar um quadro escolstico exaustivo de todos os valores possveis. Mas nesta sistematizao de Mnsterberg, assim como na de Rickert, a filosofia dos valores revela claramente o seu carcter pesado e dogmtico: os problemas so, no resolvidos, mas simplesmente eliminados com a posio arbitrria de um determinado valor. Muito mais benemrita a obra de MUnsterberg no campo da psicologia e principalmente da psicologia aplicada (psicoteonia) qual dedicou um importante trabalho (,Fundamentos de psicotecnia, 1914). Em Itlia, foi seguida uma direco semelhante por Guido Della Vafle (1884-1962) que utilizou a filosofia dos valores como fundamento de uma teoria da educao (Teoria geral e formal do valor como fundamento de uma pedagogia filosfica. As premissas da axiologia pura, 1916; A pedagogia realista como teoria da eficincia, 1924). 175 Teve, pelo contrrio, um xito decididamente teolgico na filosofia dos valores. o trabalho do americano Wilbur Marshall Urban (1873-1952) que se inspirou principalmente em Rickert (calorao, a sua natureza e as suas leis, 1909; O fundo inteligvel, 1929; Humanidade e divindade, 1951). 730. A ESCOLA DE MARBURGO: COHEN Na escola de Marburgo, a direco lgico-objectiva do criticismo encontra a sua mais rigorosa e completa expresso. A distino kantiana entre conhecimentos objectivamente vlidos e percepes ou experincias que so meros factos psquicos, levada at s suas ltimas consequncias. A cincia, o conhecimento, o pensamento e a prpria conscincia reduzemse ao seu contedo objectivo, sua validade puramente l gica, absolutamente independente do aspecto subjectivo ou psicolgico pelo qual se inserem na vida de um sujeito psquico. Em certo sentido, a escola de Marburgo representa a anttese simtrica do idealismo pskantiano; este considera a subjectividade pensante como nica realidade, aquela considera como nica realidade a objectividade pensvel. Mas a objectividade pensvel no tem nada que ver com a objectividade emprica (isto , com as coisas naturais) a qual s uma sua determinao particular. Deste modo, os filsofos da escola de Marburgo so levados a integrar Kant com Plato, que viu na ideia pura o
176 significado e o valor objectivo de todo o conhecimento possvel. O fundador da escola de Marburgo Hermann Colien, (1842-1918), que foi professor em Marburgo e cuja actividade comeou com trabalhos histricos sobre Kan-t (A teoria de Kant sobre a experincia pura, 1871; O fundamento da tica kantiana, 1871; A influncia de Kant na cultura alem, 1833; O fundamento da esttica kantiana, 1889). Concomitantemente com os estudos Kantianos, Cohen cultivou os estudos de histria das matemticas, atendendo sobretudo ao clculo infinitesimal (0 princpio do mtodo infinitesimal e a sua histria, 1883); o seu estudo sobre Plato tambm evidente em cada pgina da sua obra fundamental, Sistema de filosofia, dividida em trs partos: Lgica do conhecimento puro, 1902; tica do querer puro, 1904; Esttica do sentimento puro, 1912. Cohen dedicou tambm dois escritos ao problema religioso: Religio e eticidade, 1907, e O conceito da religio no sistema de filosofia, 1915. Foi ainda defensor de um socialismo no materialista e da superioridade espiritual do povo alemo (Sobre o carcter prprio do povo alemo, 1914). tendncia sensualista e eudemonista da filosofia inglesa, Cohen contrape a tendncia espiritualista da filosofia alem, que faria desta a legtima continuadora da grega. E v realizada em Kant "a espiritualidade tica da Alemanha". A primeira e fundamental preocupao de Cohen a de eliminar do pensamento e do conhecimento todo o elemento subjectivo. O ser e o pensamento coincidem; mas o pensamento o pensamento do 177 conhecimento, isto , dos contedos objectivamente vlidos do prprio conhecimento (Logik, 2.a ed.@ 1914, p. 15). Isso s se encontra e apenas vlido no conhecimento, quando se trata do pensamento da cincia e da unidade dos seus mtodos; deste modo a lgica, que o observa e constitui a sua autoconscincia, sempre nicamente lgica da matemtica e das cincias matemticas da natureza (Logik, p. 20). Os termos que costumam expressar o aspecto subjectivo do pensamento, tal como "actividade", "autoconscincia", "conscincia", so reduzidos por Cohen a um significado lgico-objectivo. "A prpria actividade o contedo, a produo o produto, a unificao a unidade. S nestas condies a caracterstica do pensamento se deixa elevar ao ponto de vista do conhecimento puro" (Ib., p. 60). A unidade transcendental da conscincia, de que fala Kant, no mais do que "a unidade da conscincia cientfica" (Ib., p. 16). E a conscincia, em geral, no mais do que a prpria categoria da possibilidade, uma esp cie determinada dos juzos que se referem ao mtodo (Ib., p. 424). conscincia como categoria da possibilidade se reduzem, pois, no s a lgica, que considera a possibilidade das cincias matemticas da natureza, como tambm a esttica e a tica, que consideram a possibilidade do sentimento e da aco moral. Lgica, esttica e tica so as trs cincias que abarcam todo o campo da filosofia. Cohen rejeita a distino kantiana entre intuio e pensamento, distino pela qual o pensamento teria o seu princpio em algo que lhe seria externo. 178 O pensamento no sntese mas antes produo (Erzeugung), e o princpio do
pensamento no um dado, independente dele de um ou outro modo, mas a origem (Urspring). A lgica do conhecimento puro uma lgica de origem Qb., p. 36). Mas a produo, como acto puramente lgico, no mais do que a produo de uma unidade ou de uma multiplicidade lgica, isto , unificao ou distino: juzo. E distingue quatro espcies de juzos: leis do pensamento, juzos da matemtica, juzos das cincias matemticas da natureza e juzos de mtodo. As leis do pensamento so os juzos de origem, de identidade e de contradio; mas, entre estes, o mais universal e fundamental o juzo de origem. * este juzo se deve que -alguma coisa seja dada. * "dado" no um material bruto oferecido ao pensamento mas, como se torna ntido nas matemticas, o que o prprio pensamento pode encontrar. Um dado , neste sentido, o sinal x das matemticas, que significa no a indeterminao mas a determinabilidade (ib., p. 83). Entre os juzos da matemtica (realidade, pluralidade, totalidade), o da realidade fundamental. O juzo de realidade sempre um juzo de unidade; e daqui deriva tambm o valor que o indivduo ou pessoa tem no campo moral: o indivduo , com efeito, a unidade ltima e indivisvel, o absoluto (1b., p. 142). Os juZos das cincias matemticas da natureza so os de substncia, lei e conceito. A substncia resolve-se na relao e a relao no mais do que a passagem de um juzo a outro, isto , o movimento em sentido lgico. O movimento implica a 179 resoluo do espao (conjunto de relaes) no tempo (conjunto de conjuntos) (Log., p. 231). Lei e conceito unificam-se na categoria do sistema, que a fundamental. "Sem a unidade do objecto, afirma Cohen (1b., p. 339), no h unidade da natureza. Mas o objecto tem a sua unidade no na causalidade, mas no sistema. Portanto, a categoria do sistema, como a categoria do objecto, a categoria da natureza. Por isso determina o conceito do objecto como objecto da cincia matemtica da natureza". O conceito no nunca uma totalidade absoluta, mas somente o princpio de uma srie infinita que avana de termo a termo. Os juzos de mtodo so os da possibilidade, da realidade e da necessidade. Como se viu, a possibilidade identifica-se com a conscincia, que o horizonte de todas as possibilidades objectivas. A realidade (Wirklichkeit) no consiste na sensao, mas na categoria do singular, pela qual, na unidade do sistema do conhecimento, se tende a procurar e a individualizar a unidade de cada um dos seus objectos (1b., p. 471). Quanto necessidade, a categoria que torna possvel unir o caso individual e o universal na lei cientfica e , por isso. o fundamento da deduo e do procedimento silogstico (1b., pgs. 256 e segs.). deduo reduz-se tambm a induo, a qual no mais do que uma deduo d'isjunti-va. No mbito desta categoria encontram-se os fundamentos da l gica do raciocnio, em que termina e culmina a lgica do juzo. A lgica de Cohen, nascida como investigao transcendental sobre o conhecimento cientfico, desen180
volveu-se como uma duplicao da prpria cincia, duplicao que pretende fundar as bases da mesma, mas que no consegue mais do que torn-las rgidas, eliminando aquele carcter funcional e operativo que as torna instrumentos prontos e eficazes da investigao cientfica. Reduzindo o seu conhecimento ao seu contedo objectivo, a indagao sobre a cincia converte-se em investigao sobre contedos objectivos da cincia; mas esta indagao no pode ter a pretenso, que conserva em Cohen, de fundar a validade de tais contedos de uma maneira diferente da que a cincia utiliza operatoriamente e, por assim dizer, caminhando. Pode dizer-se, pois, que a lio confiada implicitamente no princpio de Cohen foi mais efiicazmente realizada pelas correntes metodolgicas, que evitam hipostasiar os resultados e os procedimentos do pensamento cientfico num sistema de categorias. Juntamente com a lgica, Cohen admite, como cincias filosficas, a tica e a esttica, entendidas respectivamente como "cincia do querer puro" e "cincia do sentimento puro". Mas, neste terreno, a obra de Cohen muito mais dbil e menos original que no da lgica. O objecto da tica o dever ser (Sollen) ou ideia: e a -Ideia no mais do que "a regra do uso prtico da razo". "Sra-ente no dever ser consiste o querer. Sem dever ser no h querer, mas unicamente desejo. Atravs do dever ser a vontade realiza e conquista um autntico sem (Ethik, 2.a ed., 1907, p. 27). A tica uma cincia pura, precisa181 mente enquanto considera o dever ser como condio e possibilidade do querer. O dever ser , como a regra do pensamento, uma lei de unidade. A aco a que ele obriga a unidade de aco; e na unidade de aco consiste a unidade do homem (1b., p. 80). Mas o homem no unidade, isto , individualidade e pessoa, no seu isolamento, mas apenas como membro de uma pluralidade de indivduos, e toda a pluralidade pressupe, finalmente, uma totalidade. Por seu lado, toda a totalidade tem graus diversos at sua verdadeira unidade, que a humanidade no seu conjunto, na qual apenas o homem individual encontra a sua realizao. Cohen insiste, por isso, na frmula do imperativo categrico de Kant, que prescreve a cada um tratar a humanidade, tanto nas outras pessoas como em ns mesmos, sempre como um fim, nunca como um meio. O sistema dos fins o objectivo final do dever ser moral e, neste sistema dos fins, Cohen v a ideia do socialismo, a qual exige, precisamente, que o homem valha como fim para si mesmo e seja reconhecido na liberdade e dignidade da sua pessoa. "Como se concilia -pergunta Cohen (Ib., 2.a ed., 1907, p. 322)-a dignidade da pessoa com o facto de que o valor do trabalho seja determinado no mercado como o de uma mercadoria? Este o grande problema da poltica moderna e, por isso, tambm da tica moderna". Contudo, Cohen contrrio ao socialismo materialista de Marx (1b., pgs. 312 e segs.), e concebe a marcha da humanidade para a
realizao do reino dos fins como uma exigncia 182 moral implcita -no aperfeioamento progressivo da humanidade como tal, perante o qual devem inclinar-se as formas do direito e do estado. O mesmo ideal da humanidade domina a esttica de Cohen. O sentimento puro, que o rgo da esttica, assim como o querer puro o da tica, o amor dos homens na totalidade da sua natureza, que tambm natureza animal. Se a obra de arte no se reduz pura materialidade do mrmore e da tela, isso deve-se ao facto de ser a representao de um ideal de perfeio humana, do qual tira o seu valor eterno. A religio no ;tem lugar no sistema de Cohen. Enquanto :aplica a Deus o conceito de pessoa, a relIgio pertence ao mito e fica encerrada no crculo do antropomorfismo. Filosoficamente falando, Deus no mais do que a ideia da Verdade como fundamento de uma totalidade humana perfeita. O seu conceito e a sua existncia significam somente que no uma iluso crer, pensar e conhecer a unidade dos homens. Deus proclamou-a, Deus garante-a; parte isto, Deus no explica nada nem significa nada. Os atributos, em que consiste a sua essncia, no so propriedade da sua natureza, mas antes as direces nas quais se irradia toda a sua relao com os homens e nos homens" (Ethik, p. 55). Deus , pois, um simples conceito moral; e, na moral, a religio encontra a sua nica justificao possvel, Quando, em troca, atribui a Deus caractersticas (como as de vida, esprito, pessoa, ete), que a moral no justifica, desemboca fatalmente no mito. 183 731. ESCOLA DE MARBURGO: NATORP O outro representante da escola de Marburgo Paul Natorp (1854-1924), autor de numerosos estudos histricos (sobre Pestalozzi, Herbart, Kant), o mais importante dos quais versa sobre Plato: A doutrina platnica das ideias (1903). Natorp recolhe e justifica historicamente nesta obra a interpretao de Plato exposta espordica e ocasionalmente nas obras de Cohen. Esta interpretao a anttese da tradicional, iniciada por Aristteles, segundo a qual o mundo das ideias um mundo de objectos dados, de super-coisas, anlogas e correspondentes s coisas sensveis. Neste sentido, as ideias no so objectos mas 1&s e mtodos do conhecimento. Com efeito, so concebidas por Plato como objectos do pensamento puro, e o pensamento puro no pode impor uma realidade existente, ainda que absoluta, mas unicamente funes cognitivas que valham como
fundamentos da cincia. "A ideia expressa o fim, o ponto infinitamente afastado, ao qual conduzem os caminhos da experincia; so, por isso, as leis do procedimento cientfico" (Matos Ideenlehre, pgs. 215, 216). A "participao" dos fenmenos no mundo ideal significa que os fenmenos so graus de desenvolvimento dos mtodos ou procedimentos que so as ideias. E que as ideias sejam arqutipos dessas imagens que so as coisas, significa somente que o conceito puro o originrio e que o emprico o derivado (1b., p. 73). A dialctica platnica , portanto, a cincia do mtodo. E a importncia de Plato consiste em ter descoberto a logicidade como 184 NATORP legalidade do pensamento puro (Ib., p. 1). Natorp pe, por isso mesmo, como subttulo da sua monografia platnica o de "Guia para o idealismo", entendendo por idealismo (do mesmo modo que Coheri) o seu neo-criticismo objectivista. A principal obra de Natorp a que versa sobre os Fundamentos lgicos das cincias exactas (1910), cujos resultados so recapitulados na breve, mas completa, apresentao da sua doutrina, intitulada Filosofia (1911). Dedicou, porm, uma grande parte da sua actividade psicologia e pedagogia (Pedagogia social, 1899; Pedagogia geral, 1905; Filosofia e pedagogia, 1909; Ensaios de pedagogia social, 1907; Psicologia geral, 1912). Natorp foi, como Cohen, defensor de um socialismo no materialista (Idealismo social, 1920); e tambm, como Cohen, da superioridade e primado espiritual do povo alemo (A hora dos alemes, 1915; Guerra e paz, 1916; A misso mundial dos alemes, 1918). Segundo Nalorp, "a cincia no mais do que a conscincia no ponto mais elevado da sua clareza e determinao. O que no pudesse elevar-,se ao nvel da cincia seria apenas uma conscincia obscura e, por conseguinte, no uma conscincia no pleno sentido da palavra, se que conscincia significa clareza e -no obscuridade" (Phil. und Pd., 2.a ed 1923, p. 20). A filosofia tambm conhecimento; mas conhecimento que no se dirige ao objecto, mas sim a unidade do prprio conhecimento. O objecto do conhecimento inesgotvel e o conhecimento pode aproximar-se mais ou menos dele, mas nunca o alcana. Todo o conhecimento um pro185 cesso infinito, mas um processo que no est privado de lei nem de direco. Se o objecto do conhecimento o ser, preciso dizer que s no eterno progresso, no mtodo do conhecimento, o ser alcana a sua concretizao e determinao. O ser o eterno x (o que deve ser conhecido) que cada passo do conhecimento determinar melhor; mas o valor da determinao depende exclusivamente do mtodo do conhecimento, do seu proceder; neste sentido a filosofia , essencialmente, mtodo. Tambm Natorp, divide a filosofia em lgica, tica e esttica. A lgica considera o mtodo
do conhecimento tal como est em acto nas cincias exactas, isto , na matemtica e nas cincias matemticas da natureza. Matemtica e lgica so substancialmente** Unticas. "A matemtica versa sobre o desenvolvimento da lgica; em particular, sobre a sua ltima unidade central, aquela qual toda a l-ica deve ser reconduzida" (Phil., 3 a ed., 1921, p. 41). Esta unidade central da lgica o pensamento, como criao ou processo vivente. A forma originria do juzo, na qual o pensamento se expressa, no A=A, mas XA, onde X representa um problema, uma indeterminao, que o pensamento procura resolver numa certa direco. Esta resoluo um processo de separao e unificao, no qual as variantes no so dadas (como acreditava Kant) mas, so consideradas pelo pensamento juntamente com a caracterstica que lhes comum. Deste processo de separao e unificao surge toda a matemtica. Mas separao e unificao no so mais do que relaes; por isso, todos os conceitos da 186 matemtica e, em geral, das cincias matemticas da natureza, so relaes e relaes de relaes. A isto se reduzem tambm o espao e o tempo, que no so formas dadas pela intuio, mas unicamente produtos da conexo dinmica em que consiste o pensamento. Espao e tempo condicionara a experincia no sentido de que as regras do pensamento encontram neles a sua concretizao; tais regras so aplicadas de modo a produzirem a experincia imediata do objecto, isto , o prprio objecto, numa determinao que no (possui nas regras gerais do intelecto (Phil., p. 54). A intuio emprica no constitui, portanto, um acrscimo ou um contributo externo para o pensamento, mas o realizar-se do prprio pensamento na sua determinao final. "A singularidade do objecto, que implica como condio prpria a singularidade da ordem espao-tempo, no pode significar mais do que a determinao perfeita: a determinao na qual nada deve permanecer indeterminado" (Ib., p. 55). O (lado situa-se nesta doutrina no j no comeo do processo do conhecimento, como um seu material em bruto (tal como na doutrina kantiana), mas no fim do processo, como sua determinao final. Mas com isto o dado torna-se o "dever ser" da experincia e situa-se no prprio corao da lgica. "0 dever ser, afirma Natorp, mostra-se como o mais profundo fundamento de toda a validade de ser que seja prpria da experincia. A lei do dever ser deve ser considerada em funo do progresso infinito da experincia. Assim, encontramo-nos lanados na eterna marcha da experincia; a nica condio que 187 no fiquemos parados num determinado estdio dela, que no nos detenhamos a, mas que avancemos sempre" (Ib., p. 71). A tica precisamente a cincia deste dever ser, o qual, enquanto lei -da vontade, prescreve o progresso para uma comunidade total e harmoniosa, o estdio perfeito cujo ideal foi expresso por Plato. Nas suas obras Pedagogia social e Religio nos limites da humanidade, Natorp debrua-se sobre o
problema da arte e da religio. A arte tem como objecto o absolutamente individual, em cuja determinao podem entrar, porm, elementos de carcter universal (pertencentes; ordem cientfica e moral), mas apenas sob a condio de perderem a sua universalidade e de se fundirem na individualidade do objecto. Por isso a anlise esttica, quando analisa os elementos da obra de arte, depara a certa altura com o irracional que no redutvel ao conceito que por isso chamado intuio, fantasia ou sentimento. Quanto religio, ela tom para Natorp, o mesmo contedo objectivo das trs cincias filosficas (!lgica, tica e esttica) mas vivido sob a forma de subjectividade, isto , da intimidade espiritual. Apesar disso, a religio faz desta subjectividade um objecto -Deus ou o -divino -que considera superior realidade do mundo e da experincia, como um supramundo ao qual se subordinam as prprias leis do mundo emprico. A religio deveria, segundo Natorp, reduzir-se "aos limites da humanidade", isto , eliminar a transcendncia do supramundo e constituir-se como "religio sem Deus", analogamente 188 psicologia, que se tornou uma cincia quando se constituiu como <psicologia sem alma". 732. CASSIRER A escola de Marburgo influiu eficazmente sobre a filosofia alem dos primeiros decnios deste sculo; as ressonncias do seu princpio fundamental (reduo do conhecimento a objectiVidade pensvel) notam-se tambm em orientaes filosficas diversas: na filosofia dos valores, na fenomenologia e em certas formas de realismo (como a teoria dos objectos). A interpretao tica do socialismo, proposta por Cohen e Natorp, encontrou tambm numerosos continuadores; entre outros, Karl Vorlnder, autor de um estudo comparativo de Kant e-Marx, e Eduard Bernstein, discpulo de Marx, autor de uma obra intitulada Sobre a histria e a teoria do socialismo (1901). A doutrina da escola de Marburgo teve uni desenvolVimento notvel na obra de Ernst Cassirer (1874-1945), que foi professor em Berlim e Hamburgo e, nos ltimos anos, na Universidade de Yale, na Amrica. Cassirer autor de estudos histricos fundamentais sobre o Renascimento e o Iluminismo, volume de monografias sobre Leibniz (1902), Kant (1918) e Descartes (1939), e de uma vasta obra sobre o Problema do conhecimento na filosofia e na cincia da poca moderna (4 vols., 1906-1950). O pensamento terico de Cassirer exposto nas obras Conceito de substncia e conceito de funo (1910); A teoria da relatividade de Einstein (1921); 189 A forma do conceito no pensamento mtico (1922); Filosofia das formas simblicas (3 vols., 1923-29). As ltimas obras de Cassirer so o Ensaio sobre o homem (1944), que resume os resultados mais importantes da sua especulao, e O mito do Estado (1946).
A originalidade da posio de Cassirer em relao escola de Marburgo est no facto de acentuar a importncia da expresso simblica, isto , da linguagem, na constituio de todo o mundo do homem, desde o mundo da cincia at ao do mito, da reli-io e da arte. A sua doutrina enquadra-se portanto, mesmo utilizando um ponto de vista especfico, naquele vasto moVimento da filosofia contempornea que considera precisamente a linguagem, como objecto primeiro e privilegiado da indagao filosfica. Mas, por outro lado, a investigao de Cassirer permanece ligada orientao da escola de Marburgo na medida em que tenta encontrar as origens dos objectos da cincia ou das outras actividades humanas nas estruturas que garantem a valida-de de tais objectos. Em primeiro lugar essas estruturas so funes e no substncias. Na sua obra intitulada Conceito de substncia e conceito de funo, Cassirer estabelece uma posio entre os dois conceitos e nota como a cincia tinha abandonado, a partir dos Princpios da mecnica (1894) de Hertz, o conceito de substncia e, simultaneamente, a noo da cincia como imagem das substncias naturais. O predomnio do conceito de funo implica o reconhecimento do valor do signo; e ao reconhec-lo aparece-nos como 190 decisiva a finio constitutiva da linguagem em relao aos objectos de que se ocupa a cincia. A obra seguinte de Cassirer, Filosofia das foi-mas simblicas, estende estas consideraes do mundo da cincia totalidade do mundo do homem. **Ndla, a "crtica, da razo cientfica", isto , a indagao sobre a validade do conhecimento cientfico, tornase uma "crtica da civilizao", isto , uma indagao sobre as formas especficas da civilizao: o mito, a arte, a religio, a prpria cincia e, em primeiro lugar, o instrumento que est na origem da validade de tais formas, ou seja, a linguagem. Deste ponto de vista, a linguagem no apenas, nem principalmente, um instrumento de comunicao. antes a actividade que organiza a experincia e a conduz do mundo passivo das impresses puras para a autntica objectividade racional. Para justificar esta passagem Colien e Natorp recorriam, assim como Kant, s categorias, Cassirer recorre expresso simblica. "0 smbolo, afirma, no o revestimento meramente acidental do pensamento mas o seu orgo necessrio e essencial. Ele no serve apenas para comunicar um contedo conceptual j construdo mas , pelo contrrio, o instrumento em virtude do qual esse contedo se constitui e adquire a sua formulao acabada. O acto da determinao conceptual de um contedo ocorre simultaneamente com o acto de fixao desse contedo num qualquer smbolo caracterstico."(Phil. der symbolischen Formen, 1, lntr., 11). E ao participar na constituio dos conceitos, o smbolo expressivo participa na constituio do prprio objecto real, j que a distino entre o 191 subjectivo e o objectivo, na qual se baseia todo o conhecimento vlido, s se pode fazer a partir dos conceitos e das suas expresses simblicas. Deste ponto de vista, a tarefa da filosofia j no a de remontar ao imediato, ao primitivo, ao dado originrio, mas antes a de compreender a via pela qual este dado se transforma,
com a expresso simblica, numa realidade espiritual. "A negao das formas simblicas, em vez de apreender o contedo da vida, destri a forma espiritual qual esse contedo se encontra necessriamente ligado" (Ib., Intr., IV). E do mesmo modo o progresso da linguagem no consiste em avizinhar-se da realidade sensvel at quase integr-la em si mesma, mas antes em afastar-se dela de forma cada vez mais radical, at excluir toda a identidade directa ou indirecta entre realidade e smbolo. "O valor e a natureza especfica da linguagem, assim como da actividade artstica, residem no na vizinhana com o dado imediato mas no seu progressivo afastamento, dele. Esta distncia em relao existncia imediata e experincia imediatamente vivida a condio essencial da perspiccia e do conhecimento da linguagem. Esta comea smente onde acaba a relao directa com a impresso e a emoo sensveis" (1b., 1, 1, cap. 11 2). A diferena entre a linguagem humana e as "manifestaes lingusticas articuladas" dos animais superiores consiste na ausncia, nestas manifestaes, do afastamento em relao sensibilidade imediata, que prprio da linguagem. O estudo no mito, realizado por Cassirer no segundo volume da sua obra, obedece a estes conceitos. que 192 encontram ainda maior justificao no terceiro volume, o qual dedicado fenomenologia do conhecimento. O conceito cientfico, por exemplo, tanto mais rigoroso quanto menos intuitivo. "Na sua forma mais restrita, no que respeita ao seu carcter especificamente lgico, o conceito deve ser diferente dos **IM=EreToTW*M so apenas a representao viva da lei que governa uma sucesso concreta de imagens intuitivas. O significado de um conceito j no adere a um substracto intuitivo, a um datum ou dabile, sendo pelo contrrio uma bem definida estrutura relacional adentro de um sistema de juzos e de verdades" (Ib., 111, 111, cap. 11). Quando Cassirer tenta resumir numa definio do homem os resultados das suas investigaes sobre o mundo humano, afirma que o homem um animal simblico, isto , falante. "A razo, afirma, um termo assaz inadequado para compreender todas as formas da vida cultural do homem em toda a sua riqueza e variedade. Mas todas estas formas so simblicas. Por consequncia, em vez de definir o homem como animal rationale, podemos defini-lo como animal symbolicum. Fazendo assim. indicamos aquilo que especificamente o distingue e podemos percorrer a nova estrada que se abre ao homem, a estrada para a civilizao" (Essay on Man, cap. 11). O campo especfico da actividade humana, aquele campo onde o homem manifesta de forma evidente a sua liberdade de iniciativa e a sua responsabilidade, ou seja, a histria, ele mesmo, segundo Cassirer, condicionado pela expresso simblica. De facto, no possvel fazer histria sem 193 interpretar os acontecimentos; e tudo aquilo que se disse sobre a "compreenso" dos factos, das personalidades e das instituies histricas, exprime precisamente a exigncia de referir factos, personalidades ou instituies a uma interpretao que lhes revela o seu verdadeiro significado. Com efeito, um facto no histrico se no tiver um significado. "0 suicdio de Cato no foi apenas um acto fsico; foi um acto simblico. Foi a expresso de um
grande carcter; foi o ltimo protesto do esprito republicano romano contra uma nova ordem das coisas" (Ib., cap. X). Tambm a histria uma "forma simblica". 733. BRUNSCHVIEG A historizao da atitude crtica - o reconhecimento de que a actividade organizadora do mundo do conhecimento e do mundo dos valores humanos est em contnuo devir - caracterstica do neo-criticismo de Lon Brunschvieg (1869-1944), que foi professor da Sorbonne. Aceita e mantm rigorosamente o princpio crtico: a filosofia no aumenta a quantidade do saber humano; uma reflexo sobre a qualidade deste saber (L'idalisme contemporain, 1905, p. 2). Por outro lado, o saber no um sistema cerrado e completo, mas um desenvolvimento histrico, cujas partes se podem distinguir e definir, mas que nunca termina. A histria do saber humano o <laboratrio do filsofo". Brunschvieg considera todos os aspectos da civilizao ocidental na sua histria: as cincias matemticas (As etapas da filo194 sofia matemtica, 1912); as cincias fsicas (A experincia humana e a causalidade fsica, 1922); as doutrinas metafsicas, morais e religiosas (0 progresso da conscincia na filosofia ocidental, 1927); e a prpria atitude espiritualista de auto-exame. (0 conhecimento de si, 1931). Finalmente, o seu ltimo escrito, Herana de palavras, herana de ideias (1945), ainda uma considerao histrica de algumas palavras fundamentais (razo, experincia, liberdade, amor, Deus, alma), com o objectivo de investigar o seu significado primordial. tambm autor de estudos histricos sobre Espinosa (1894) e Pascal (1932), e expressou pela primeira vez os seus pontos de vista fundamentais num livro intitulado A modalidade do juzo (1897). misso da filosofia, segundo Brunschvieg, o conhecimento do conhecimento: um objectivo especificamente crtico no sentido kantiano, pelo qual a filosofia se apresenta como conhecimento integral. Com efeito, o nico conhecimento que se adequa ao seu objecto o conhecimento do prprio conhecimento (La modalit du jugement, 2.11 ed., 1934, p. 2). Assim como no conhecimento cientfico o esprito que conhece e o objecto a conhecer se enfrentam na sua fixidez imut vel, no conhecimento integral da filosofia o esprito procura descobrir-se a si mesmo no seu movimento, na sua actividade, na sua aco viva e criadora. "Uma actividade intelectual que adquire conscincia de si mesma: eis aqui o estudo integral do conhecimento integral, eis aqui a filosofia" (Ib., p. 5). Este princpio conduz Brunschvicg a identificar o princpio espiritual, que 195 produz o saber cientfico e as outras manifestaes humanas (arte, moral, religio), com o princpio crtico, que reflecte sobre estas produes espirituais. A reduo total do esprito, em todas as suas manifestaes, reflexo crtica, o fim que Brunschvicg tenta atingir em todos os campos, procurando demonstrar que prpria do desenvolvimento histrico do saber do mundo humano em geral.
Assim, as etapas da filosofia matemtica foram as etapas da libertao do esprito relativamente ao horizonte cerrado das representaes sensveis e, por conseguinte, as etapas da actividade livre do pensamento que subordina a experincia a si mesmo. Do mesmo modo, a evoluo da fsica (considerada na obra A experincia humana e a causalidade fsica) consiste na formao de uma conscincia intelectual, pela qual a vida espiritual se eleva por sobre a inconscincia instintiva, na qual a ordem biolgica est naturalmente encerrada (L'exprience humaine, 1922, p. 614). Mas esta conscincia intelectual no anula a objectividade do mundo. O idealismo crtico (como Brunschvieg preferentemente denomina a sua doutrina) no coloca o eu diante do no-eu ou o no-eu perante o eu; eu e no-eu so, para ele, dois resultados solidrios de um mesmo processo da inteligncia. O progresso da cincia torna mais humano o nosso conhecimento das coisas; mas torna tambm mais objectivos os procedimentos do nosso conhecimento (1b., p. 613). evidente que este ponto de vista exclui todo o realismo, qualquer afirmao de unia realidade em si que no se reduza ao objecto considerado ou 196 produzido pelo acto de entender. Exclui, pois, uma realidade emprica independente do pensamento reflexivo. Mas no reconhece razo a liberdade absoluta de mover-se e produzir sem limites nem disciplina. Contrariamente imaginao criadora do artista ou do poeta, a razo est submetida prova dos factos e sua obscura oposio: encontra, a cada passo, resistncias imprevistas, que desfazem as generalizaes prematuras, as limitaes temerrias, as extrapolaes demasiado fceis (1b., p. 605). A experincia actua sobre a razo mediante choques (chocs), que a arrancam sua preguia dogmtica e a incitam a criar novos princpios de estratgia, novas tcnicas para superar os obstculos (Ib., p. 399). Contudo, no se pode hipostasiar o que est para alm destes choques, imaginando uma realidade que os produza. Tudo o que se pode dizer que a experincia oferece razo, atravs deles, pontos de referncia, em relao aos quais a actividade da razo se orienta, se cimenta, se constitui como verdade. Deste ponto de vista, interioridade e exterioridade no so contraditrias, mas prolongam-se uma na outra e constituem a totalidade do conhecer e do ser (1b., p. 610). Como no saber cientfico, tambm no mundo moral e religioso o progresso consiste no prevalecimento gradual do princpio critico sobre o princpio da espiritualidade imediata. A histria da humanidade traduz o choque de duas atitudes hostis: a do homo credulus, que se entrega inrcia Jo instinto, e a do homo sapienv, fiel autonomia da razo. O progresso da reflexo, que dissipou no 197 produz o saber cientfico e as outras manifestaes humanas (arte, moral, religio), com o princpio crtico, que reflecte sobre estas produes espirituais. A reduo total do esprito, em todas as suas manifestaes, reflexo crtica, o fim que Brunschvieg tenta atingir em todos os campos, procurando demonstrar que prpria do desenvolvimento histrico do saber do mundo humano em geral. Assim, as etapas da filosofia matemtica foram as etapas da libertao do esprito relativamente ao
horizonte cerrado das representaes sensveis e, por conseguinte, as etapas da actividade livre do pensamento que subordina a experincia a si mesmo. Do mesmo modo, a evoluo da fsica (considerada na obra A experincia humana e a causalidade fsica) consiste na formao de uma conscincia intelectual, pela qual a vida espiritual se eleva por sobre a inconscincia instintiva, na qual a ordem biolgica est naturalmente encerrada (L'exprience humaine, 1922, p. 614). Mas esta conscincia intelectual no anula a objectividade do mundo. O idealismo crtico (como Brunschvieg preferentemente denomina a sua doutrina) no coloca o eu diante do no-eu ou o no-eu perante o eu; eu e no-eu so, para ele, dois resultados solidrios de um mesmo processo da inteligncia. O progresso da cincia torna mais humano o nosso conhecimento das coisas; mas torna tambm mais objectivos os procedimentos do nosso conhecimento (1b., p. 613). evidente que este ponto de vista exclui todo o realismo, qualquer afirmao de uma realidade em si que no se reduza ao objecto considerado ou 196 produzido pelo acto de entender. Exclui, pois, uma realidade emprica independente do pensamento reflexivo. Mas no reconhece razo a liberdade absoluta de mover-se e produzir sem limites nem disciplina. Contrariamente imaginao criadora do artista ou do poeta, a razo est submetida prova dos factos e sua obscura oposio: encontra, a cada passo, resistncias imprevistas, que desfazem as generalizaes prematuras, as limitaes temerrias, as extrapolaes demasiado fceis (Ib., p. 605). A experincia actua sobre a razo mediante choques (chocs), que a arrancam sua preguia dogmtica e a incitam a criar novos princpios de estratgia, novas tcnicas para superar os obstculos (Ib., p. 399). Contudo, no se pode hipostasiar o que est para alm destes choques, imaginando uma realidade que os produza. Tudo o que se pode dizer que a experincia oferece razo, atravs deles, pontos de referncia, em relao aos quais a actividade da razo se orienta, se cimenta, se constitui como verdade. Deste ponto de vista, interioridade e exterioridade no so contraditrias, mas prolongam-se uma na outra e constituem a totalidade do conhecer e do ser (1b., p. 610). Como no saber cientfico, tambm no mundo moral e religioso o progresso consiste no prevalecimento gradual do princpio crtico sobre o princpio da espiritualidade imediata. A histria da humanidade traduz o choque de duas atitudes hostis: a do homo credulus, que se entrega inrcia Jo instinto, e a do homo sapiens, fiel autonomia da razo. O progresso da reflexo, que dissipou no 197 terreno especulativo a concepo realista do mundo e da verdade, deve conduzir, no domnio moral, destruio do peso da tradio, constrio da autoridade externa, s sugerncias acanhadas do ambiente social (Le progrs de Ia conscience, p. XIX). E assim como na ordem terica necessrio renunciar a todo o sistema de categorias, do -mesmo modo o
advento da razo prtica exige o abandono de qualquer cdigo de preceitos j construdos, de toda a escala de valores fixos, e cede ao homem a liberdade do seu futuro (1b., p. 726). O esprito humano cria os valores morais, como cria os cientficos e os estticos. "Em todos os domnios, os heris da vida espiritual so aqueles que, sem referir-se a modelos superados, a precedentes j anacrnicos, lanaram sua frente as **"bas da inteligncia e verdade destinadas a criar o universo moral, do mesmo modo que criaram o universo material da gravitao e da electricidade" (Ib., p. 744). Do mesmo modo que a conscincia intelectual, a conscincia moral nasceu no dia em que o homem rompeu o cerco do seu egosmo. A reflexo fez-nos sair do centro puramente individual dos nossos desejos e dos nossos interesses pessoais, para revelar-nos, na nossa condio de filhos, de amigos, de cidados, uma relao da qual ns somos apenas um dos termos, e para introduzir assim na raiz da nossa vontade unia condio de reciprocidade, que a regra da justia e o fundamento do amor (Ib., pgs. 11, 12). No domnio religioso, s a reflexo subtrai a conscincia a toda a crena antropomrfica ou supersticiosa e faz ver em Deus somente o valor 198 supremo que verdade e amor e no pode estar revestido de nenhum outro atributo (De Ia connaissance de soi, p. 190). Brunschvicg, que chama tambm humanismo sua doutrina, afirma a total imanncia de Deus no mundo e precisamente no esforo da reflexo humana. "Um Deus est presente em todo o esforo de coordenao racional, em virtude do qual o esprito une a mnima parte do ser, o mais pequeno acontecimento da vida, totalidade do futuro universal" (Le progrs de la conscience, p. 797), Fora desta unidade, que o esprito realiza consigo mesmo no acto da reflexo crtica, nada se pode encontrar, porque nada se pode procurar. O humanismo substitui a imaginao de um criador transcendente pela "realidade do homem, arteso da sua prpria filosofia" (Eexprience humaine, p. 610). S o homem o instrumento desse progressus ordinans que a reflexo pode produzir em todos os campos do mundo humano. Deus realiza-se precisamente neste progresso. "0 Deus que ns procuramos, o Deus adequado sua prova, no o objecto de uma verdade, mas aquele para quem existe a verdade. No algum que faamos entrar no crculo dos nossos afectos, que converse connosco no decurso de um dilogo, no qual, quaisquer que sejam a sua altura e a sua beleza, certo que s o homem formula as perguntas e as respostas. Deus aquele a quem dedicamos o nosso amor, a presena eficaz donde procede todo o prog ,resso que a pessoa humana alcanar na ordem dos valores impessoais" (Hritage de mots, hritage Xides, p. 65). 199 A filosofia de Brunschvieg um enxerto do princpio criticista no tronco do espiritualismo
francs tradicional. A actividade crtica ou reflexiva que segundo Brunsohvieg, o nico a priori de todo o mundo humano, concebida por ele como actividade espontnea e em certa medida criadora, de acordo com o modelo do impulso vital de Bergson. O tom da filosofia de Brunschvicg decididamente optimista: o progresso a lei do desenvolvimento da actividade crtico-racional; e todo o futuro da histria humana o progressivo prevalecer desta actividade. 734. BANFI As teses fundamentais do criticismo foram incorporadas filosofia italiana por Antnio Banfi (1886-1957), que se apropriou tambm de algumas ekigncias da filosofia da vida (especialmente de Simmel) e, nos ltimos tempos, do marysmo original A principal obra de Banfi intitula-se Princpios de uma teoria da razo (1926), precedida por uma outra obra importante, A filosofia e a vida espiritual (1922) e qual se seguiu Vida da arte (1947) e numerosos ensaios entre os quais o prprio Banfi recolheu os mais importantes no volume intitulado O homem coperneano (1950). So ainda numerosos os escritos crticohistricos de Banfi dedicados especialmente filosofia contempornea (actualmente recolhidos sob o ttulo Filsofos contemporneos, 1961). Banfi partilha com todos os pensadores neo-criticistas a polmica contra o psicologismo, ou seja, 200 BRUNSCI1VICG contra a tendncia de basear a validade do conhecimento nas condies orgnicas, psquicas ou subjectivas que a tornam possvel de facto. Um tal psicologismo, nota Banfi, torna inexplicvel "o momento de objectividade universal que caracteriza o conhecimento e que constitui o princpio da sua validade espiritual e da continuidade do seu processo" (Princ. di una teoria della ragione, p. 39). Se, de acordo com o psicologismo, o juzo uma relao entre duas ideias, entre dois elementos de conscincia, para BanE ele uma relao objectiva, uma "relao essencial" entre os seus termos, relao e que pertence a uma objectividade ideal, independente da origem e da determinao psicolgica"; e tambm a afirmao da existncia dessa relao (1b., p. 121). Mas o primeiro ponto em que Banfi se afasta das teses do neo-criticismo alemo o reconhecimento da problematicidade do conhecer, que ele considera dependente da problematicidade da relao entre sujeito e objecto. O neo-criticismo tinha retirado a estes dois termos todo o carcter substancial, tendo-os considerado como os limites ideais do processo cognitivo; mas, para Banfi, o sujeito e o objecto, mesmo permanecendo unidos no plano transcendental, apresentam-se, em qualquer situao cognitiva, numa relao problemtica que, apesar de ser esclarecida por essa situao, representada desde o princpio por uma situao diferente. Por outro lado, a razo origina, atravs deste desenvolvimento problemtico, a constituio de um sistema; mas trata-se de um sistema que no nem um ponto de partida nem um ponto de chegada definitivo, mas sim uma "lei 201
do pensamento" em virtude da qual se constitui e transforma toda a ordenao sistemtica da experincia (1b., p. 232). Apesar de estas teses estarem fundamentalmente de acordo com os princpios do neocriticismo, elas conduzem a doutrina de Banfi a resultados diferentes. Em primeiro lugar, a razo de que ede fada no somente o pensamento cientfico mas tambm e sobretudo o pensamento filosfico, com a sua mais radical capacidade de crtica e de desenvolvimento; e enquanto razo filosfica, representa uma actividade no simplesmente terica, mas simultaneamente terica e prtica, ou seja, vida. Banfi pode portanto utilizar algumas exigncias de Simmel e reconhecer na vida a determinao prpria de uma razo que ao mesmo tempo ordem e mutao. "0 conceito de vida, afirma Banfi, exprime a ilimitada dissoluo do estvel, do determinado, no numa multiplicidade incoerente mas no dinamismo idas snteses que no seu processo transcendem infinitamente toda a sua determinao enquanto actividade espontnea e criadora. Tal pre m~ente o carcter das snteses fenomenolgicas em que se acentua a estrutura transcendental da experincia" (1b., pgs. 585-86). O privilgio da arte baseia-se no carcter vital da razo; assim se explica, que Banfi tenha dedicado muita da sua actividade ao conceito ide vida. "A arte, o mundo diverso e vivo da arte, se no se quer prender vida interior que se encontra, em todos os seus aspectos, em profunda tenso... deve ser concebida em funo das leis a priori que constituem O seu princpio de autonomia esttica, e segundo as 202 quais ela organiza, desenvolve e significa, num ilimitado processo de constituio e de resoluo, os contedos, relaes e valores pelos quais se interessa a sua realidade vivente" (Vita delParte, pggs. 36-37). A arte tem assim todos os caracteres da vida enquanto razo e da razo enquanto vida, Banfi atribua por isso arte a tarefa de conduzir o homem para uma "razo enamorada da realidade", ou seja, uma razo que se inserisse na vida e na histria como princpio director e libertador. Neste aspecto, Banfi defende nos seus ltimos escritos a tese tpica do marxismo segundo a qual a filosofia deve transformar o mundo em vez de se limitar a interpret-lo. O materialismo dialctico aparece agora a Banfi como o instrumento conceptual de uma razo concreta e histrica. Com efeito ele elimina do conhecer, em primeiro lugar, o momento mtico, dogmtico ou abstractamente valorativo e tende por isso a garantir "o desenvolvimento infinito e a articulao aberta do saber". E em segundo lugar elimina a sabedoria abstracta e reconhece aco uma funo construtiva e criadora sendo, nesse sentido, um "humanismo histrico", isto , a realizao de uma nova humanidade de acordo com a concepo de Coprnico: o mesmo dizer, de uma humanidade dona de si prpria e do seu mundo (,Uuomo copernicano, 1950, pgs. 240 e segs.). NOTA BIBLIOGRFICA 723. Sobre Liebmann: "Kantstudien", 17, 1910, fascculo de estudos, de vrios autores, que lhe so dedicados.
203 De Helmholtz, adm dos escritos citados: Vortrge und Reden, 5.a ed., Braunschweig, 1903; Schriften zur Erkenntnisstheorie, ed. por P. Hertz e M. Schlick, Berlim, 1921. Sobre Helmholtz: L. KONIGSBERGER, H. v. H., 3 vols., Braunschweig, 1902-1903; A. RIEHL, H. in seine VerhaZtniss zur Kant, Berlim, 1904; J. REINER, H. V. H., Leipzig, 1905; L. ERDMANN, Die philosophische GrundIagen von Ws Wahrnehmungstheorie, em "Abhandlungen der Berliner Akad.", 1921, classe histr.-filos., n., 1. De Lange, a Histria do materalismo (trad. ital. de A. Treves, 2 vols., Milo, 1932). Sobre Lange: H. VAMINGER, Hartmann, DOring und Lange, Iserlohn, 1876; E. von HARTMANN, NeUkantianismus, jgchopenhauerianismus und Hegelianismus in ihrer Stellung zu den philosophischen Aufgaben der Gegenwart, Berlim, 1877; H. COMN, em "Preussische Jahrbcher", 1876; S. H. BRAUN, F. A. L. aIs Sozia10konom., Halle, 1881. De Zeller: Ueber Bedeutung und Aufgabe der Erkenntnisstheorie, Heidelberga, 1862; Ueber Metaph. aIs Erfahrungwissenschaft, em "Archiv fr systematischie Philosophie", 1, 1895; Vortrge und Abhandlungen, Lieipzig, 1865; Kleine Schriften, 3 vols., Berlim, 1910-11. Sobre Renouvier: H. MIVILLE, La phil. de M. Ren. Setembro de 1908. 724. De Renouvier, alm dos ;escritos cit.: Correspondance de R. et Secrtan, Paris, 1910; La recherche dlune premire vrit (fragmentos pstumos), Paris, 1924. Sobre RenGuvier: H. MIVILLE, La phil. de M. Ren. et le Vroblme de Ia connaissance religicuse, Lausanne, 1902; JANSSENs, Le No-criticisme de C. R., Paris, 1904; G. SAILLES, La phil. de C. R., Introduction Ptude du no-criticisme, Paris, 1905; P11. BRIDEL, C. R. et sa phil., Laus=e, 1905; A. ARNAL, La phil. 204 religieuse de O. R., Paris, 1907; P. ARCHAMBAULT, R., Paris, 1910; E. CASSIRER, Ueber R. s. Logik, em Die Geisteswissenchaften, 1913, pgs. 634 e segs.; O. RAmLIN, Le 6yst~e de R., Paris, 1927. 726. Sobre Hodgson: H. WILDON CARR, em "Mind", N. S., VIIII, 1899; ld., em "Mind", 1912; J. S. MACKENZIE, em "International Journal of Ethics", 1899; DE SARLO, em "Riv. Fil.", 1900; L. DAURIAC, em "L'Anne Philosophique", 1901. ,Sobre Adamson: H. JONES, em "Mind", N. S., XI, 1902; G. DAWES HICKS, em "Mind", N. S., XIII, 1904; Id., Critical Realism, em "Studies in the Phil. of Mind and Nature", Londres, 1938. De Dawes Hicks: Critical Realism, em "Studies in the Phil. of Mind and Nature", Londres, 1938. 727. Sobre Windelband: H. RiCKERT, W. W., Tbingen, 1910; B. JA~ENKO, W. W., Praga, 1941; C. Rosso, Figure e dottrine della filosofia dei valor!, Turim, 1949, 728. Sobre Rickert: RuYsSEN, em "Revue de Mt. et de Mor.", 1893; ALIOTTA, em
"Cultura Fil.", 1909; SPRANGER, em "Logos", 1922; BAGDASAR, Der Begriff des theoretisches Wertes bei R., Berlim, 1927; BOEHM, em "K@intstudien", 1933; FEDERICI, La fil. dei valori di H. R., Florena, 1933, (como bibliografia); G. RAMMING, K. Jaspers und H. R., Berna, 1946; C. Rosso, Figure e dottrine della filosofia dei valori, Turim, 1949. 730. Sobre Coben: E. CASSIRER, em "Kant-studien" 17, 1913; P. NATORP, H. C. aIs Mensche, Lehrer und Forscher, Marburgo, 1918; Id., H. C.'s philosophsche Leistung, Berlim, 1918; J. KLATZKIN, H. U., Berlim, 1919; W. KINKEL, H. CI.s Leben und Werk, Stuttgart, 1924; T. W. RosMARIN, Religion of Reason. H. CI.s System of Religious Philos., Nova Iorque, 1936. 205 731. De Natorp, pstumo: Philosophische Systematik, Hamburgo, 1958 (com um estudo de H. G. Gadamer). Sobre Natorp: E. CASSIRER, em "Kantstudien", 1925, pgs. 273 e segs.; H. SCHNEIDER, Die Einheit aIs Grundprinzip der Philos. P. N.Is, Tbingen, 1936; L. LuGARINI, em "Rivista di storia della filosofia", 1950, pgs. 40 e segs. 732. De Cassirer, alm dos escritos citados no texto: Determinismus und Indeterminismus in der modernen PhysiL-, Gteborg, 1936; Zur Logik der Kulturwissenschaften, Gteborg, 1942; The Philos. of E. C., dirigido por P. A. SchiIpp, Evam ton, 1949 (com bibliografia). 733. De Brunschvieg, alm dos j citados no texto: Introduction Ia vie de l'esprit, Paris, 1900; Llidalisme contemporain, 2.a ed., Paris 1921; Nature et libert, Paris, 1921; e ainda artigos no "Bulletin de Ia Soe. fran. de phil.", 1903, 1910, 1913, 1921, 19231 1930 e em "Revue de Mtaph. et de Morale", 1908, 1920, 1923, 1924, 1925, 1927 e 1930. Sobre Brunschvieg: C. CARBONARA, L. B., Npoles, 1931; J. MESSAUT, La philos. de L. B., Paris, 1938; NI. DESCHoux, La philos. de L. B., Paris, 1949 (com bibliografia); E. CENTINEO, La fil. dello spirito di L. B., Palermo, 1950. 734. De Banfi: existe uma edio completa das suas obras, em italiano, pela Ed. Parenti de Florena. Sobre Banfi: N. ABBAGNANO, in "Rendiconti della Classe di Seienze Morali, Storiche e Filologiche" da Ace. Naz. dei Lince!, 1958, p. 385-396; FULVIO PAPI, Il pe-nsiero di A. B., Florena, 1961 (com bibliografia); PAOLo Rossi, Hegelismo e socialismo nel giovane B., in "Riv. Critica di storia della filoisofia", 1963, pgs. 45-77. 206 VII O HISTORICISMO 735. A FILOSOFIA E O MUNDO HISTRICO Pode-se designar pelo nome de historicismo toda a filosofia que reconhea, como sua
tarefa exclusiva ou fundamental, a determinao da natureza e da validade dos instrumentos do saber histrico. O historicismo no , ou pelo menos no pretende ser exclusivamente uma metafsica ou uma teologia da histria, uma sua viso ou interpretao global que pode obter-se mesmo prescindindo das limitaes do saber histrico de que o homem dispe e dos meios atravs dos quais o conseguiu. Se o termo fosse compreendido deste modo, ele seria inadequado para designar uma corrente especfica da filosofia contempornea porque se prestaria igualmente a designar quaisquer concepes do mundo histrico, ou como tal quali207 ficadas. O objecto prprio e especfico do historicismo como filosofia so os instrumentos do conhecimento histrico e, portanto, os objectos possveis desses instrumentos. As caractersticas do historicismo podem ento exprimir-se assim: 1.---0 historicismo supe que os objectos do conhecimento histrico tm um carcter especfico que os distingue dos objectos do conhecimento natural. A diferena entre histria e natureza portanto bvia, e desenvolveu-se paralelamente fase positivista das cincias naturais. 2.0-0 historicismo supe que os instrumentos do conhecimento histrico so, pela sua natureza ou, quanto mais no seja, pela sua modalidade, diferentes dos utilizados pelo conhecimento natural. Surge aqui, a propsito do conhecimento histrico, o mesmo problema que surgira ao criticismo kantiano e ao neo-criticismo a propsito do conhecimento natural: remontar do conhecimento histrico s condies que o tornam possvel, ou seja, que esto na base da sua validade. Por este motivo, o historicismo une-se s escolas contemporneas do neo-criticismo, uma das quais (a escola de Baden) considerava o problema da histria nos mesmos termos ( 727-28). Partindo destes dois pressupostos o historicismo preocupou-se, por um lado, em caracterizar a natureza especfica do objecto do conhecimento histrico (ou em geral das cincias culturais) e, por outro lado, em esclarecer quais os seus instrumentos. A natureza dos objectos do conhecimento histrico seria a prpria individualidade, oposta ao carcter gen208 rico, uniforme e reprodutvel dos objectos do conhecimento natural. E o compreender (Verstehen) foi considerado pelo historicismo como sendo a operao fundamental do conhecimento histrico, sendo a sua natureza diferentemente explicada por cada historicista, se bem que todos lhe reconheam capacidade para constatar e descrever a individualidade histrica. O historicismo preocupou-se igualmente com a determinao da natureza e da tarefa de uma filosofia centrada no problema do conhecimento histrico. E, no mbito desta filosofia, deu grande importncia ao chamado problema dos valores, ou seja, o problema da relao entre o devir da histria e os fins ou os ideais que os homens procuram realizar, e que constituem as constantes de valorao e de orientao na variabilidade dos eventos histricos. Introduz-se assim uma teoria dos valores como parte integrante das filosofias historicistas. O historicismo apresenta-se com estas caractersticas na corrente da filosofia alem que vai de Dilthey a Weber e que encontra neste ltimo a sua expresso mais conseguida; e ainda na rica literatura metodolgica que enriquece ou
aperfeioa os resultados por ela conseguidos. A definio que Croce deu da filosofia como "metodologia da historiografia" presta-se bem a exprimir a natureza do historicismo. Mas a tese de Croce de que toda a realidade histria e nada mais do que histria elimina os pressupostos fundamentais do historicismo: no se pode portanto interpretar a filosofia de Croce, que de facto uma manifestao contempornea do idealismo romntico ( 716), como historicista. 209 736. DILTHEY: A EXPERINCIA VIVIDA E O COMPREENDER O fundador do historicismo alemo foi Wilhelm Dilthey, nascido em Biebrich, no Reno, a 19 de Novembro de 1883 e que morreu em Siusi a 1 de Outubro de 1911. Professor em Berlim. (onde foi sucessor de Lotze), contemporneo dos maiores historiadores alemes (Mommsen, Burckhardt, Zeller), foi ele mesmo, antes de tudo, um historiador que trabalhou durante toda a sua vida numa histria universal do esprito europeu, publicando partes dela sob a forma de estudos. Tais estudos versam especialmente sobre a Vida de Schleiermacher (1867-70); sobre o Renascimento e a Reforma (A intuio da vida no Renascimento e na Reforma, 1891-1900); sobre os escritos juvenis de Hegel (1905); sobre o Romantismo (Experincia vivida e poesia, 1905), e, ainda, sobre esttica moderna ( As trs etapas da esttica moderna, 1892). Enquanto nestes e em outros ensaios menores Dilthey continuava a investigao histrica, ia ao mesmo tempo elaborando o problema do mtodo e dos fundamentos de tal investigao: Introduo s cincias do esprito (1883); Ideias para uma psicologia descritiva e analtica (1894); Contribuio para o estudo da individualidade (1896); Estudos sobre os fundamentos das cincias do esprito (1905); A essncia da filosofia (1907); A construo do mundo histrico nas cincias e no esprito (1910); Os tipos de intuio do mundo (1911). Novos estudos sobre a construo do mundo histrico nas cincias e no esprito (pstumo). 210 Os ltimos escritos ou, melhor dizendo, os posteriores a 1905, so os mais importantes visto conterem a expresso mais amadurecida do pensamento de Dflthey. J na Introduo s cincias do esprito Dilthey tinha insistido na diversidade do objecto destas cincias relativamente s cincias naturais. O objecto de tais cincias , em primeiro lugar, o homem nas suas relaes sociais, ou seja, na sua histria. A historicidade essencial ou constitutiva do homem e, em geral, do mundo humano, a primeira tese fundamental de Dilthey. Em segundo lugar, o mundo histrico constitudo por indivduos que, enquanto "unidades psicofsicas vivas", so os elementos fundamentais da sociedade: por isso que o objectivo das cincias do esprito "o de reunir o singular e o individual na realidade histrico-social, de observar como as concordncias (sociais) agem na formao do singular". Por isso, no domnio das cincias do esprito, a historiografia tem um carcter individualizante e tende a ver o universal no particular
e a prescindir do "substracto que constitui em qualquer tempo o elemento comum da natureza humana", enquanto a psicologia e a antropologia, e em geral todas as cincias sociais, procuram descobrir a uniformidade do mundo humano. Como j vimos, Windelband e Rickert ( 727-28) insistiram no carcter individualizante das cincias historiogrficas. Em terceiro lugar -e esta, para Dilthey, a diferena fundamental-o objecto das cincias do esprito no externo ao homem mas interno: no conhecido, como o objecto natural, atravs da expe211 rincia externa, mas sim atravs da experincia interna, a nica pela qual o homem se apreende a si mesmo. Dilthey chama Erlebenis a esta experincia, e considera-a como a fonte donde o mundo externo retira "a sua origem autnoma e o seu material" (Gesammelte Schriften, 1, p. 9). Erlebenis significa "experincia vivente" ou "vivida" e distingue-se, por exemplo, da "reflexo" -de Locke porque tem no s o carcter de uma representao mas, tambm, o do sentimento e da vontade. Isto constitui a quarta distino fundamental entre cincia da natureza e cincia do esprito: as primeiras tm um carcter exclusivamente terico; as segundas, devido ao rgo que lhes prprio, tm simultaneamente carcter terico, sentimental e prtico. No entanto, esta diferena entre os objectos de cada um dos dois grupos de cincias no se baseia, segundo Dilthey, numa diversidade metafsica ou de substncia que lhes seja inerente. Tambm no redutvel, como queria Windelband, a uma simples diferena de mtodo, ter antes a sua raiz numa diversidade de atitude, ou seja, na diversidade de relaes que o homem vem a estabelecer entre si e o objecto de cada um dos dois grupos de investigao. Nas cincias naturais o homem tenta construir uma totalidade a partir de uma pluralidade de elementos separados, enquanto que nas cincias do esprito parte da relao imediata que existe com o objecto. por isso que o ideal das cincias da natureza a conceitualidade e o das cincias do esprito a compreenso (Ges. Schr., V, p. 265). 212 O compreender assim a operao cognitiva fundamental no campo das cincias do esprito; e o material ou o ponto de partida desta operao a experincia vivida. O objecto do compreender a individualidade; mas, como a individualidade no pode ser atingida a no ser atravs de um conjunto complexo de actos generalizantes, ela apresenta-se, nas cincias do esprito, sob a forma de tipo. No Contributo ao estudo da individualidade, Dilthey considera o tipo como sendo o termo mdio entre a uniformidade e o indivduo, isto , como um conjunto de caracteres constantes que tm relaes funcionais um com o outro, que variam correlativamente e que se acompanham constantemente (1b., V, p. 270). O tipo , segundo Dilthey, o objecto especfico da poesia e, em geral, da arte, que ele considera, por isso, um "rgo da compreenso da vida" Qb., p.
274); e esta noo serve-lhe para definir a tarefa das cincias do esprito como sendo a "de unir num sistema a constatao do elemento comum num certo campo e a individualizao que nele se realiza", isto , compreender a individualidade a partir da uniformidade em que ela se insere (Ib., p. 272). O compreender, tendo por objecto os tipos e as suas relaes internas funcionais, distingue-se assim do explicar, que a operao generalizante prpria das cincias naturais e que consiste em esclarecer as conexes causais entre os objectos externos da experincia sensvel. Todas as anlises de Dilthey, que nos seus escritos revia sistematicamente as suas posies, a fim de aclarar e determinar (nem sempre com sucesso) 213 o seu pensamento, centram-se sobre a natureza do compreender e da experincia vivida que o seu ponto de partida ou fundamento. Dado que a experincia vivida , enquanto tal, subjectiva, ntima e incomunicvel, no permite por si s fundar uma cincia qualquer; por isso Dilthey dirigiu os seus esforos no sentido de encontrar as relaes entre ela e os elementos que possam tornar possvel e que justifiquem a objectivao e a comunicao dessa experincia vivida. Nos Estudos sobre os fundamentos das cincias do esprito e na Construo do mundo histrico Dilthey viu na expresso e no compreender os elementos que, unidos experincia vivida, do a esta ltima universalidade, comunicabilidade e objectividade, constituindo portanto, juntamente com ela, a atitude fundamental das cincias do esprito. Esta atitude toma-se possvel pelo facto de essa experincia vivida estar sempre ligada compreenso de outras experincias vividas que nos so dadas sob a forma de expresso, ou seja, de um "processo em que, de forma externa, reconhecemos algo interno" (Ges. Schrift., VII, p. 309). O homem deixa de estar isolado, a sua vida deixa de estar fechada na intimidade do seu ou, pois encontra em si mesma uma existncia autnoma e um desenvolvimento prprio. As relaes com a natureza externa e com os outros homens pertencem sua vida e encontram o seu rgo fundamental no compreender. O compreender , deste ponto de vista, o reviver e o reproduzir a experincia doutrem: assim possvel um sentir em conjunto com os outros e um 214 participar das suas emoes (1b., VII, p. 205). No compreender realiza-se pois a unidade do sujeito e do objecto que caracterstica das cincias do esprito. "0 compreender, afirma Dilthey, o reencontro do eu no tu; mas o esprito atinge graus sempre superiores de conexo, e esta identidade do esprito no eu, no tu, num qualquer sujeito de uma comunidade, em qualquer sistema de cultura e, finalmente, na totalidade do esprito e na histria universal,
torna possvel a colaborao das diversas operaes nas cincias do esprito. O sujeito do saber aqui idntico ao seu objecto e este o mesmo em todos os graus da sua objectivao" (Ib., p. 191). Ora, segundo Dilthey, o compreender realiza-se atravs de diversos instrumentos que constituem as categorias da razo histrica. Tais categorias no so formas a priori do intelecto; constituem antes os modos de apreenso do mundo histrico e tambm as estruturas fundamentais desse mundo. O seu significado objectivo , porm, o mais relevante, j que no pode ser esclarecido seno atravs de uma anlise do mundo histrico. 737. DILTHEY: AS ESTRUTURAS DO MUNDO HISTRICO A primeira categoria do mundo histrico, sobre a qual se baseiam todas as outras, a vida. A vida no , para Dilthey, nem uma noo biolgica nem um conceito metafsico, mas sim a existncia do 215 indivduo singular nas suas relaes com os outros indivduos. Ela pois a prpria situao do homem no mundo, sempre determinada espacial e temporalmente, pelo que compreende inclusive todos os produtos da actividade humana associada e o modo como os indivduos os executam ou os avaliam. Se a experincia vivida a prpria vida imediata, o compreender a vida a sua objectivao; e a objectivao da vida designada por Dilthey, em termos hegelianos, esprito objectivo. Mas o esprito objectivo, que para Hegel era a prpria razo tornada instituio ou sistema social, para Dilthey apenas o conjunto das manifestaes em que a vida se objectivou no decurso do sou desenvolvimento e que acompanham este desenvolvimento. Afirma Dilthey: "Tudo sai da actividade espiritual e adquire portanto o carcter de historicidade, inserindo-se, como produto da histria, no prprio mundo sensvel. Desde a distribuio das rvores num parque ou das casas numa estrada, desde os instrumentos do trabalhador manual at s sentenas de um tribunal, tudo est nossa volta, em qualquer altura, surgindo historicamente. O esprito, hoje, introduz-se nas prprias manifestaes da vida e, amanh, faz a sua histria. Enquanto o tempo passa, ns continuamos rodeados pelas runas de Roma, pelas catedrais, pelos castelos. A histria no est separada da vida, no se distingue do presente pela sua distncia temporal" (Ges. Schrilt. VII, p. 148). A segunda categoria fundamental da razo histrica a da conexo dinmica (Wirkungszusamme216 DILTHEY nhang). A conexo dinmica distingue-se da conexo causal da natureza na medida em que "produz valores e realiza fins". Dilthey fala por isso do carcter "teleolgico-imanente" da conexo dinmica e considera como conexes dinmicas (ou "estruturais", como tambm
afirma) os indivduos, as instituies, a comunidade, a civilizao, a poca histrica e a prpria totalidade do mundo histrico que constituda por um nmero infinito de conexes estruturais. O trao caracterstico da estrutura a auto-centralidade: toda a estrutura tem o seu centro em si prpria. "Assim como o indivduo, afirma Dilthey, tambm qualquer sistema cultural, ou qualquer comunidade, tem o seu centro em si mesma. Nele se ligam num todo nico a interpretao da realidade, a valorao e a produo de bens" (1b., p. 154). Esta auto-centralidade estabelece entre as parte e o todo de uma estrutura uma relao que constitui o seu significado. O significado de uma estrutura qualquer pode por isso ser determinado a partir dos valores e dos fins em que ela se centra. Segundo Dilthey, a poca histrica possui em alto grau esta caracterstica de autocentralidade. "Toda a poca determinada de uma forma intrnseca pelo sentido da vida, do mundo sentimental, da elaborao dos valores e das respectivas representaes ideais dos fins. histrico todo o agir que se insira neste sentido: ele constitui o horizonte da poca e determina o significado de qualquer parte do seu sistema. esta a auto-centralidade da poca, na qual se resolve o problema do significado e do sentido 217 que se possam encontrar na histria" (Ib., p. 186). No existe porm um determinismo rigoroso no que respeita natureza e ao comportamento dos indivduos que pertencem a determinada poca histrica; em todas as pocas se podem encontrar foras contrrias s que constituem a estrutura dominante. Cada poca implica uma referncia poca precedente, da qual recebe os efeitos nas suas foras activas e implica, desse modo, o esforo criador que prepara a poca seguinte. "Assim como ela se originou pela insuficincia da poca precedente, do mesmo modo leva consigo os limites, os desacordos e as dores que preparam a poca futura". O florescimento de uma poca breve; e de uma poca a outra vai-se transmitindo "a sede de uma satisfao total, que nunca pode ser saciada" (Ib., p. 187). A esta sucesso das pocas no preside, segundo Dilthey, nenhum princpio infinito ou providencial. Dilthey pensa que "toda a forma da vida histrica finita" e que, portanto, no possvel o recurso ao absoluto. Os prprios valores nascem e morrem na histria e, mesmo quando se apresentam como incondicionados, so na realidade relativos e transitrios (Ges. Schrif., VII, p. 290). O que d continuidade, histria somente "a continuidade da fora criadora", ou seja, da actividade humana que produz o mundo histrico. Mas "a conscincia histrica da finitude de todo o fenmeno histrico, de toda a situao humana e social, a conscincia da relatividade de todas as formas de f, o ltimo passo para a libertao do homem" (Ib., p. 290).
218 738. DILTHEY: O CONCEITO DA FILOSOFIA A historicidade e a relatividade dos fenmenos histricos chocam-se, segundo Dilthey, com a prpria filosofia. A filosofia historicamente condicionada, do mesmo modo que qualquer outro produto do homem, e as suas formas histricas so por isso diferentes e irredutveis entre si; mas, por outro lado, a sua considerao histrica mostra que existem em todas as filosofias "traos de natureza formal" que so essencialmente dois: toda a filosofia se baseia, em primeiro lugar, na totalidade da conscincia e procura, partindo desta base, esclarecer o mistrio do mundo e da vida: e, em segundo lugar, toda a filosofia tenta alcanar uma validade universal. Devido primeira caracterstica, a filosofia uma intuio do mundo e apresenta, portanto, uma forma fundamental comum com a religio e a arte. De facto, em cada momento da nossa existncia est implcita uma relao da nossa vida singular com o mundo que nos rodeia como uma totalidade intuda. A intuio filosfica do mundo distingue-se da religiosa pela sua validade universal e da artstica por ser uma fora que quer reformar a vida (Das Wesen der Phil., em Ges. Schrift., V, p. 400). Quando a intuio do mundo compreendida conceptualmente, ficando assim definida e dotada de validade universal, recebe o nome de metafsica. A metafsica pode ter infinitas formas que diferem entre si por diferenas substanciais ou acidentais. Contudo, podem-se distinguir alguns tipos fundamentais, que se radicam 219 nas diferenas decisivas das vrias intuies do mundo. Estes tipos so trs: O primeiro o do naturalismo materialista ou positivista (Demcrito, Lucrcio, Epicuro, Hobbes, os Enciclopedistas, os materialistas modernos, Comte). Esta intuio do mundo baseia-se no conceito de causa e, portanto, da natureza como conjunto de factos que constituem uma ordem necessria. Na natureza assim entendida no h lugar para os conceitos de valor e de fim, e a vida espiritual aparece forosamente como "uma interpolao na contextura do mundo fsico". O segundo tipo de intuio filosfica do mundo o idealismo objectivo (Heraclito, esticos, Espinosa, Leibniz, Shaftesbury, Goethe, Schelling, Schleiermacher, Hegel). Esta intuio do mundo baseia-se na vida do sentimento e dominada pelo sentido do valor e significao do mundo. Toda a realidade aparece como expresso de um princpio interior, sendo por isso entendida como uma conexo espiritual que actua consciente ou inconscientemente. Este ponto de vista leva a ver nos fenmenos do mundo manifestaes de uma divindade imanente (Paritesmo).
O terceiro tipo de intuio do mundo o do idealismo da liberdade (Plato, filosofia helenstico-romana, Ccero, especulao crist, Kant, Fichte, Maine de Biran, etc.). Esta doutrina interpreta o mundo em termos de vontade e, portanto, afirma a independncia do esprito relativamente natureza, isto , a sua transcendncia. Da projeco do esprito sobre o universo originam-se os conceitos de perso220 nalida,de divina, de criao, de soberania da pessoa sobre o curso do mundo. Cada um destes tipos d s diferentes produes de uma qualquer personalidade singular uma unidade intrnseca; e nisto reside a sua fora. Cada tipo emprega um facto ltimo de conscincia, uma categoria. O materialismo, a categoria de causa; o idealismo objectivo, a categoria de valor; o idealismo subjectivo, a categoria de finalidade. Cada uma destas categorias fundamentais uma relao entre o homem e o mundo; mas no possvel uma relao total que resulte do conjunto destas trs categorias. Isto significa que a metafsica impossvel: dever, com efeito, tentar unir ilusoriamente tais categorias ou mutilar a nossa relao vivida com o mundo, reduzindo-a a uma s delas. A metafsica impossvel mesmo no mbito de cada um dos trs tipos fundamentais, j que no possvel determinar a unidade ltima da ordem causal (positivismo), nem o valor incondicionado (idealismo objectivo), nem o fim absoluto (idealismo subjectivo). Contudo, a ltima palavra no a relatividade das intuies do mundo mas a soberania do esprito frente a todas elas e, ao mesmo tempo, a conscincia positiva de que na sua diversidade se expressa a plurilateralidade do mundo e de que esta conscincia constitui precisamente a nica realidade do mundo (Ib., p. 406). O carcter mais universal da filosofia consiste na natureza da compreenso objectiva e do pensamento conceptual, no qual se baseia. O proceder do pensamento expressa a necessidade da natureza humana de estabelecer solidamente a posio do homem frente ao 221 mundo, o esforo por romper os laos que prendem a vida s suas condies limitadoras. Este esforo constitui a funo universal da filosofia e a ltima unidade de todas as suas manifestaes histricas. 739. SIMMEL Na obra de Dilthey, a metodologia das cincias do esprito foi enriquecida por determinaes e esclarecimentos, os quais constituam modificaes ou desenvolvimentos substanciais em relao obra de Weber. Os outros historiadores alemes, que desenvolveram as suas doutrinas em polmica com Dilthey ou continuandoo, manifestam a tendncia para acentuar aspectos subordinados ou parciais da filosofia de Dilthey ou para corrigi-lo recorrendo ao absoluto e evidenciando um retorno parcial ao hegelianismo. Entre os primeiros, Simmel e Spengler desenvolvem o relativismo de Dilthey tentando fazer dele uma metafsica da vida. Entre os segundos, Troeltsch e Meinecke
procuram conciliar o historicismo com valores absolutos e efectuam um retorno parcial ao conceito romntico da histria. Vimos anteriormente ( 727-28) que Windelband e Rickert, seguindo a mesma orientao, polemizaram contra o relativismo dos valores, colocando-os a um nvel em que no podem ser alternados pelas vicissitudes da histria. George Simmol (1858-1918) autor de numerosas obras filosficas e sociolgicas: O problema da filosofia da histria (1892); Introduo cincia moral 222 (1892); Filosofia da moeda (1900); Sociologia (1910); Problemas fundamentais. da filosofia (1910); Problemas de Sociologia (1917); A intuio da vida (1918); e ainda de trabalhos histricos sobre l(ant (1903), sobre Schopenhauer e Nietzsche (1916) e sobre a situao espiritual da poca da primeira guerra mundial (A guerra e a deciso espiritual, 1917; O conflito da cultura moderna, 1918). Se bem que a filosofia de Siminel se oriente para o relativismo, ela comeou por defender algumas exigncias da escola de Baden, em primeiro lugar a de reconhecer ao valor ou dever ser uni status independente das situaes histricas. Assim, na Introduo cincia moral, Simmel afirma que o dever ser uma "categoria natural do pensamento", do mesmo modo que o ser, reconhecendo depois que ele age e vive somente na conscincia emprica do homem e em relao com o contedo psicolgico dela. E nos Problemas fundamentais, da filosofia, juntamente com o sujeito e o objecto, considerados nas suas relaes funcionais, Simmel reconhece a existncia de um terceiro reino de contedos ideais independentemente das suas realizaes no sujeito ou no objecto, o reino das ideias platnicas, e ainda um quarto reino que o das exigncias ideais e do dever ser. No entanto, nada disto impediu Simmel de se orientar para uma forma de relativismo radical baseada numa metafsica da vida. Simmel foi conduzido a esta orientao pela exigncia de criao das cincias do esprito, especialmente a historiografia e a sociologia. 223 Por se preocupar com o problema da histria, Simmel. levado a p-lo em termos anlogos aos utilizados por Kant ao considerar o problema da natureza: trata-se agora de determinar a possibilidade da histria, do mesmo modo que Kant determinou a possibilidade da natureza. Mas a soluo dada por Simmel completamente diferente da de Kant. A possibilidade da histria no reside em condies a priori, em formas intelectuais independentes da experincia: as categorias e princpios que ordenam o material historiogrfico e o constituem numa imagem que no de modo algum a cpia dos dados em que se baseia, so eles prprios empricos e pertencem experincia psicolgica, pelo que "a psicologia o a priori da cincia histrica" (Die Probleme der Geschichtesphilosophie, p. 33). Como condies psicolgicas, as categorias da investigao histrica podem modificar-se, e modificam-se, com o desenvolvimento histrico; e, assim, acontece que a realidade histrica pode ser interpretada segundo diversas categorias e dar lugar a diversas representaes historiogrficas. No so portanto, no sentido prprio, leis da realidade histrica. O reagrupamento dos factos segundo um determinado conceito no
vale como lei determinante que supe a aco de factores objectivos constantes (Ib., p. 91). Deste ponto de vista, no se pode pr o problema do significado total da histria e toda a sua soluo reenviada para o domnio da f (Ib., pgs. 72 e segs.). Analogamente, a sociologia no pode ter a pretenso de esclarecer a natureza e o significado da sociedade como um todo; ela tem simplesmente como objecto -9 2 4 as formas de associao assumidas pelas relaes entre os indivduos. E distingue-se das cincias sociais particulares porque enquanto nestas os fenmenos sociais so considerados nos seus contedos, na sociologia so apenas considerados como modalidade das relaes entre os indivduos (Soziologie, p. 12). Num artigo de 1895, ao polemizar contra a noo de verdade absoluta, Simmel chega a reconhecer o carcter pragmtico da prpria verdade. Se, de facto, negarmos o valor absoluto da verdade, no poderemos aplicar-lhe outro critrio seno o da sua utilidade, ou seja, o da sua coerncia com a prtica, e nesse caso a verdade o resultado da seleco biolgica e identifica-se com a prpria finalidade da espcie humana. Estes conceitos orientam a sua ulterior actividade para uma metafsica da vida. Deste ponto de vista, a filosofia no uma cincia objectiva mas "a reaco do homem totalidade do sem. assim que ela aparece definida nos Problemas, fundamentais da filosofia. O que a impede de reduzir-se a uma opinio do sujeito individual a sua tipologia, ou seja, o facto de ela no exprimir o indivduo mas antes a espiritualidade tpica: a qual garante uma possibilidade de comunicao entre os indivduos que filosofam, mas no a concordncia das suas filosofias. As anlises histricas de Simmel tendem precisamente a caracterizar algumas destas espiritualidades tpicas; assim que ele v em Schopenhauer e Nietzsche dois tipos opostos e inconciliveis de filosofia: a negao do valor da vida e a afirmao do seu valor para alm de qualquer pri225 vao ou dor. Mas deste ponto de vista a vida torna-se o verdadeiro e nico sujeito da histria e -a nica substncia das coisas: uma realidade metafsica. Mais do que para Dilthey, que considerara a vida apenas enquanto situao do homem no mundo, esta noo remete talvez para Bergson. Simmel entende a vida no sentido da durao real de Bergson. ( 693), ou seja, como continuidade em que o presente inclui o passado e no como sucesso de estados diferentes ou diferenciveis. Neste sentido a vida o prprio tempo concreto, enquanto que o tempo , em si, a forma abstracta da vida (Lebensanschauung, pgs. 11-12). A vida prossegue dentro de formas determinadas mas ultrapassando essas formas na continuidade do seu processo. Devido a esta continuidade ela ser mais-vida (MehrLeben), porque se transcende a si mesma; enquanto que nas formas por ela criadas maisque-vida (Mehr-als-Leben), por se conseguir impor ao seu processo temporal. Logo, este processo inclui a morte, isto , o destino inevitvel de todas as formas de vida (Ib., pgs. 22 e segs.). O mundo histrico, aquele que objecto do conhecimento histrico, uma forma da vida no sentido muito especfico de ser uma emergncia de uma estrutura ideal acima
da continuidade do processo vital: uma emergncia que reivindica uma certa autonomia relativamente a esse processo e que entra em relao ideal com outras formas da vida, por permanecer, tal como essas outras formas, sobreposta continuidade da vida. A relao e, simultaneamente, a separao entre a vida e um qualquer elemento 226 ideal (valor, dever ser, forma, mundo histrico) parece ter sido o tema constante da filosofia de Simmel. 740. SPENGLER O relativismo histrico, relevando de uma metafsica da histria, de Oswald Spengler (1880-1936), teve um xito extraordinrio. Spengler autor de uma obra que teve grande expanso e que suscitou inmeras discusses: O ocaso do Ocidente. Esboo de uma morfologia da histria do mundo (2 vols., 1918-22). Esta obra fora precedida de um ensaio sobre Heraclito (1904), no qual o Logos heraclitiano era interpretado como a lei do destino que rege o devir do mundo. Os escritos posteriores so principalmente polticos: Prussianismo e socialismo (1919), Deveres polticos da juventude alem (1924); Reconstruo do Estado alemo (1924); O homem e a tcnica (1931); Anos de deciso (1933). Estes escritos defendiam, contra o liberalismo, a democracia e o capitalismo, um ideal poltico semelhante ao do nazismo: um estado autoritrio baseado no poder militar e numa classe trabalhadora disciplinada e privada de influncia poltica. Este ideal era apresentado como sendo o conveniente para a "Europa" e, em geral, para a "raa branca"; mas o instrumento da sua realizao deveria ser a Alemanha. Spengler imobiliza numa dualidade metafsica a diferena objectiva que Dilthey tinha reconhecido existir entre a natureza e a histria. Para Dilthey, a natureza e a histria eram dois objectos diferentes 227 estudados por duas ordens de investigao diferentes, para Spengler so duas realidades metafsicas incomensurveis. A natureza o mundo dos produtos do devir, daquilo que foi produzido pela vida e que se destacou dela; a histria o mundo do devir, da vida que cria incessantemente novas formas. Na natureza vale a necessidade causal que se manifesta na uniformidade e na repetio e que pode ser expressa por frmulas matemticas; na histria vale a necessidade orgnica que prpria do que singular e no-repetitivo. A natureza pode ser apreendida por uma lgica mecnica; a histria s o pode ser por uma l gica orgnica que encontra o seu instrumento na experincia vivida (Erlebnis) compreendida como uma penetrao intuitiva, portanto imediata, das formas assumidas pelo devir histrico. A lgica orgnica permite formular uma "morfologia da histria universal", ou seja, uma descrio da "forma" ou "fisionomia" da unidade que constitui o elemento da histria. Esta unidade a cultura (Kultur). Toda a cultura um organismo que, como todos os organismos, nasce, cresce e morre segundo um ritmo imutvel. "Toda a cultura, o seu aparecimento, o seu
desenvolvimento e o seu declnio, diz Spengler, cada um dos seus graus e dos seus perodos internamente necessrios, tem uma durao determinada, sempre igual, tomando sempre a forma de um smbolo" (Untergang des Abendlandes, I, p. 147). Qualquer cultura realiza progressivamente tudo aquilo que lhe possvel. Ao completar esta tarefa ela chega ao seu termo. por -isso que o culminar de uma cultura, a civilizao 228 (Zivilisation), onde ela alcana "os estados extremos e mais refinados" de que j so apenas capazes os homens superiores, a sua concluso, o seu fim necessrio e irrevogvel. Dilthey tinha falado da "auto-centralidade das estruturas histricas", no sentido de que cada estrutura histrica admite um ncleo central de valores ou ideais que d significado a todas as suas manifestaes: Spengler, considerando a cultura como um organismo e o organismo como uma totalidade cujas partes tm necessariamente relaes recprocas, pensa que cada aspecto da cultura uma manifestao necessria da prpria cultura e que no tem sentido fora dela. Toda a cultura tem uma forma especfica de considerar a natureza, ou melhor, tem uma "natureza" prpria, uma cincia, uma filosofia, uma moral, que lhe esto indissoluvelmente ligadas do mesmo modo que os membros de um organismo se encontram ligados ao seu todo. No mbito da cultura, todas estas manifestaes tm um valor absoluto; fora dela no tm nenhum valor. No entanto, se bem que no exista nenhuma cincia, filosofia ou moral universal que seja vlida para todas as culturas, toda a cincia, filosofia ou moral absoluta e necessria no seio da cultura a que pertence. O relativismo dos valores, que era um dos resultados da filosofia de Dilthey, transforma-se em Spengler num absolutismo relativo dos valores: relativo porque limitado durao da cultura em que se integra. Devido conexo de todos os aspectos de uma cultura e necessidade que preside ao seu surgir, ao seu florescer e sua morte, nenhuma 229 cultura oferece aos homens qualquer possibilidade de escolha, quer no que respeita ao seu desenvolvimento ou s suas articulaes internas, quer no que respeita ao seu ciclo vital. Uma necessidade inexorvel preside a todo o seu desenvolvimento e a todas as suas vicissitudes; esta necessidade o destino (Untergang des Abendlandes, 1, pgs. 152 e segs.). Os homens podem certamente tentar opor-se ao destino da cultura a que pertencem; mas o insucesso inevitvel da sua aco em tal sentido equivale a uma reprovao moral e histrica. A nica aco justificada e justificvel a inspirada pelo reconhecimento do destino e orientada na mesma direco em que ele se manifesta: o prprio sucesso desta aco que a justifica. "Ns, diz Spengler, no temos a liberdade de realizar isto ou aquilo, mas sim a liberdade de fazer aquilo que necessrio ou de no fazer nada; e qualquer tarefa que tenha surgido por necessidade da histria ir avante com a ajuda de cada um dos indivduos ou contra eles. Ducunt fata volentem, nolentem trahunt" (Ib., 11, p, 630). a partir destas bases que Spengler prev o inevitvel ocaso da cultura ocidental. Esta j atingiu a fase de "civilizao", ou seja, da plena maturidade que inicia a decadncia e precede a morte. A crise da moral e da religio, e especialmente a desta ltima j que "a
essncia de todas as civilizaes a religio"; o prevalecer da democracia e do socialismo que subvertem as relaes naturais do poder; a equivalncia, prpria da democracia, entre o dinheiro e o poder poltico, e que significa o triunfo do dinheiro sobre o esprito; e, numa pa230 lavra, o "desabar de todos os valores" de que Nietzsche foi o profeta mas que o Ocidente mostra j em acto, so os precursores infalveis da morte da civilizao ocidental. O ltimo acto desta civilizao ser um retorno ao cesarismo, que constituir o preldio de um retorno ao estado primitivo (Ib., 11, cap. V). A obra de Spengler assinala o predomnio, no historicismo alemo, das categorias romnticas e, sobretudo, da categoria da necessidade. Spengler substituiu a necessidade do progresso, que era o mito romntico, pela necessidade do ciclo orgnico da cultura, o conceito da histria como previso infalvel Post factum pelo conceito da histria como previso infalvel ante factum. Assim se ilude a exigncia mais radical do historicismo alemo que era precisamente % de subtrair a histria necessidade e de restituir aos homens a possibilidade de escolha histrica decisiva e responsvel. 741. TROETSCH A relao entre o historicismo e a religio, ou melhor, entre o devir histrico e os valores eternos que a religio encarna ou defende, o tema da investigao levada a cabo, no mbito do historicismo, por Troeltsch e Meinecke. Ernesto Troeltsch (1865-1923) foi sobretudo um historiador do cristianismo e um telogo. As suas obras principais so: O absoluto do cristianismo e a histria da religio (1902); Psicologia e teoria do 231 conhecimento na cincia da religio (1905); O significado do protestantismo para a origem do mundo moderno (1906); A importncia da historicidade de Jesus para a f (1911); A doutrina social da Igreja e dos grupos cristos (1908-12); e ainda numerosos escritos e artigos importantes. O ponto de partida de Troeltsch, que o coloca imediatamente no mbito do historicismo, o reconhecimento do carcter histrico da religio e, por isso, do prprio cristianismo. Troeltsch entrou em polmica com a concepo romntica da religio, principalmente na sua forma hegeliana, como essncia universal de que as religies histricas seriam a progressiva realizao. As religies so factos histricos individuais e irredutveis e o prprio cristianismo um fenmeno histrico que sofre "o condicionamento de qualquer fenmeno histrico individualizado" a par das outras religies (Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte, p. 49). Mas um fenmeno histrico no est, por esse facto, privado de validade; e Troeltsch coloca o problema da validade da religio
em termos de um problema critico no sentido kantiano: trata-se de encontrar, para a religio, o elemento a priori que a torna possvel. Troeltsch admite assim, na obra Psicologia e teoria do conhecimento na cincia da religio, um a priori religioso que pertence prpria razo e cuja existncia demonstrada pelo sentimento de obrigao que acompanha a religio, assim como pela posio orgnica que ela ocupa na economia da conscincia e pela causalidade autnoma que a re232 ligio mostra ter no mundo histrico. Apesar de estar em relao com as outras formas do processo histrico (economia, poltica, cincia, arte, etc.) e sendo em certos aspectos condicionada por essas formas (Troeltsch no exclui sequer a influncia, mostrada por Marx, do processo histrico sobre a religio, se bem que pense que ela no se manifesta necessariamente), a religio manifesta uma causalidade autnoma em virtude da qual certos acontecimentos religiosos (como seja o aparecimento do Cristianismo e da Reforma) mostram ser produtos de factores especificamente religiosos. Segundo Troeltsch, esta causalidade autnoma da religio pode ser interpretada como a manifestao ou a presena do infinito (ou seja, de Deus) no finito, isto , na conscincia individual do homem (Gesammelte Schriften, II, p. 764). Com efeito, pode-se considerar o mundo espiritual como sendo independente da causalidade natural e submetido aco imediata de Deus: uma aco que pode ser mais forte ou mais dbil, mais ou menos compreensvel, mais ou menos pessoal; mas que justifica a superioridade do Cristianismo o qual, melhor do que as outras religies, a reconheceu e afirmou no seu carcter sobrenatural e transcendente. A especulao de Troeltsch sobre a religio move-se assim entre dois polos: por um lado o reconhecimento da historicidade radical ida religio e, por outro, o reconhecimento do seu fundamento transcendente na base da causalidade autnoma da histria religiosa. Esta polaridade mantm-se nas anlises que fez do historicismo, primeiro na obra O his233 toricismo e o seu problema (1922), onde se renem os ensaios sobre este assunto que escrevera des&-, 1916, e depois em cinco lies que deveria ter proferido em Inglaterra, mas que no pde dar por ter sido surpreendido pela morte, e que foram publicadas postumamente com o ttulo O historicismo e _q sua superao (1924). O historicismo, para Troeltsch, a historizao de toda a realidade e de todo o valor, o dissolver-se, no fluxo heraclitiano do devir, de todas as criaes humanas: estado, direito, moral, religio, arte, etc.. Do ponto de vista historicista, a categoria histrica fundamental a da totalidade individual, no sentido da estrutura autocentralizada de Dilthey. Totalidades individuais sero, para alm dos indivduos, os povos, os estados, as classes, as culturas, as correntes espirituais, as religies, etc. Mas-e aqui Troeltsch introduz no historicismo a exigncia de transcendncia dos valores deduzida por
Rickert ( 728)-a compreenso de uma totalidade individual s possvel se a relacionarmos com os valores, Com efeito, aquilo que importante no histrico a determinao do que essencial, o que nico e irrepetvel, numa totalidade singular; o essencial consiste no nico valor ou no nico significado que prprio da conscincia dessa totalidade e que, como tal, no pode ser aplicado como medida ou critrio de qualquer outra totalidade. Ora aquilo que prprio da relao entre o objecto histrico e o valor que o individualiza , segundo Troeltsch, a sua conexo com o absoluto (Gesammelte Schriften, 111, p. 212). O absoluto dos valores manifesta-se na sua relatividade s totalidades a que 234 pertencem. "A relatividade dos valores, diz Troeltsch, s tem sentido se neste relativo existe um absoluto vivo e criador. Se assim no acontecesse, tratar-se-ia de uma mera relatividade e no de uma relatividade dos valores. Esta ltima pressupe um processo vital do Absoluto, atravs do qual este surge em cada ponto da forma mais apropriada a esse ponto" (Ib., 111, p. 212). Por outras palavras, a relatividade, histrica e o absoluto dos valores coincidem: por se encontrarem nas suas formas histricas relativas, os valores constituem a presena, na prpria histria, de um princpio absoluto que Troeltsch chama, assim como Leibniz, "conscincia universal" e que, ainda de acordo com Leibniz, se manifestaria nas conscincias individuais. Estas relevam, precisamente, de uma identidade ou encontro do Infinito e do finito; e por essa razo que podem comunicar entre si. Todo o mnada se pode entender com os outros mnadas atravs da transmisso da conscincia universal de que todos eles constituem manifestaes (1b., p. 685). A identidade entre infinito e finito, entre o absoluto dos valores e a relatividade histrica, no apenas uma dimenso vertical da histria, devendo tambm encontrar a sua realizao no prprio decorrer da histria. Esta realizao est confiada, segundo Troeltsch, ao esforo criador dos homens e, em particular, a uma filosofia da histria que se proponha obter "um critrio, um ideal, -uma ideia de uma nova unidade cultural a criar partindo daquilo que existe no presente, presente este considerado como sendo uma situao complexa resultante 235 de sculos de histria" (Ib., 111, p. 112), Tal realizao consiste, portanto, na elaborao de um ideal de civilizao que valha como indicao dos fins que o desenvolvimento histrico deve atingir e simultaneamente como critrio de avaliao das fases anteriores de tal desenvolvimento. Esta tarefa, consistindo na determinao de um sistema de valores que servem para avaliar a histria e orient-la para o futuro, uma tarefa tica,, em particular, ela diz respeito no s aos valores culturais aplicveis a uma cultura ou a um grupo social particular, mas igualmente aos valores espirituais que condicionam a dignidade e a unidade da personalidade humana (Der Historismus und seine Uberwindung, pgs. 27 e segs.).
742. MEINECICE A obra de Friedrich Meinecke aproxima-se dia de Troeltsch, tendo-a, de resto, influenciado na sua ltima fase, Meinecke (1862-1954) foi principalmente um historiador da Alemanha moderna, tendo comeado por ver na histria do Estado Alemo uma fuso feliz do poder material e dos valores espirituais ou, segundo a sua expresso, do Kratos e do Ethos. Esta fuso era considerada por ele (sobretudo na obra Cosmopolitismo e estado nacional, 1908) no apenas como a justificao histrica do estado nacional alemo mas, tambm, como o critrio da avaliao histrica e da orientao poltica; critrio que ele considerava ser a maior conquista do romantismo contra o iluminismo. Meinecko via no 236 romantismo, e com razo, o reconhecimento da conciliao e da identidade entre o dever ser e o ser ou, mais especificamente, entre a moral ideal da dignidade e liberdade do indivduo e a realidade poltica que uma fora ou poder material. A **er&@ que se seguiu primeira guerra mundial induziu Meinecke a reconhecer, em principio, a possibilidade de um conflito entre os dois elementos em cuja unidade tinha acreditado; e na obra A ideia da razo de estado na histria moderna, este conflito ilustrado por ele em toda a sua extenso, como tratando-se da prpria essncia do mundo histrico-poltico. "Entre Kratos e Ethos, afirma M-**ene,cke, entre a conduta guiada pelo impulso da fora e a conduta guiada pela responsabilidade moral, existe, no cume da vida poltica, uma ponte, a chamada razo de estado: a considerao daquilo que conveniente, til e benfico, daquilo que o estado deve fazer para atingir em todas as circunstncias o mais alto ponto da sua existncia... E precisamente neste ponto que se notam claramente as terrveis dificuldades, anteriormente, ocultas, da coexistncia do ser e do dever ser, da causalidade e da idealidade. da natureza e do esprito na vida humana. A razo de estado um princpio de conduta que oferece a maior duplicidade: por um lado, releva de uma natureza fsica, por outro lado, do esprito. E tem ainda, por assim dizer, um aspecto intermdio no qual aquilo que pertence natureza se mistura com aquilo que pertence ao esprito". (Die Ideen der Staatsrson in der neuren Geschichte, p. 5). Deste ponto de vista, a tarefa do historiador 237 consistir em considerar, no a identidade daqueles dois princpios, mas a sua polaridade: isto , a oposio que os relaciona e atravs da qual podem encontrar uni equilbrio que, no entanto, nunca estvel ou definitivo. J aqui se encontrava implcito, o problema da relao entre os -valores e a histria; Meinecke considerou essa questo na obra O nascimento do historicismo (1936), que se destinava a mostrar a formao histrica do historicismo a partir da dissoluo da filosofia do direito natural. Esta filosofia constitua, segundo Meinecke, " uma firme estrela polar no meio das tempestades de toda a histria universal", visto que considerava a razo humana como eterna e intemporal e se destinava precisamente a guiar o homem na enorme variedade das vivncias histricas. O reconhecimento da individualidade de todos os fenmenos histricos, efectuado pelo historicismo, individualizou a prpria razo, ou melhor, transformou-a numa fora histrica que assume diferentes fisionomias em diferentes pocas e que por isso conduz a uma radical relatividade dos valores. Meinecke
julga subtrair-se a esta relatividade retomando Goethe "que concebeu a misso individual e, do ponto de vista humano, relativo, da prpria vida, como desejada por Deus e, portanto, absoluta" e que aconselhou a no perder, quando se admitem os condicionalismos histricos, "a obscura nascente de foras que constituda pela f nos valores ltimos absolutos e numa fonte ltima, igualmente absoluta, de toda a vida" (Die Entstehung des Historismus, 11, p. 625). E, alm de Goethe, 238 Meinecke recorre a Ranke sintetizando assim as suas posies: "um Deus superior ao mundo que, alm de ser criado por ele, percorrido pelo seu esprito e por isso lhe afim, e tambm ao prprio tempo, igualmente imperfeito em tantos aspectos" (Ib., 11, p. 645). O pressuposto romntico da identidade entre finito e infinito assim acentuado por Meinecke, mas limitado no que respeita ao infinito, no sentido de que este transcende o finito, isto , a histria: um sentido que, no entanto, o romantismo tinha conhecido na sua segunda fase e que constitui, como se viu, o fundamento do retorno romntico tradio ( 613). 743. WEBER: INDIVIDUALIDADE, SIGNIFICADO, VALOR Em 1936, como a publicao do Nascimento do historicismo de Meinecke, pode considerar-se findo o ciclo histrico do historicismo alemo, entendido como corrente ou manifestao da filosofia contempornea. Mas a sua influncia sobre a metodologia historiogrfica, sobre a sociologia, a tica e, em geral, todo o domnio das chamadas cincias do esprito, continua ainda depois daquela data, sobretudo atravs da obra de Weber; por isso que esta aqui examinada em ltimo lugar apesar de ser cronologicamente anterior de alguns dos filsofos j referidos. Max Weber (1864-1920) foi historiador, economista e poltico; e os problemas metodolgicos fo239 ram-lhe sugeridos precisamente por esta actividade. Os seus escritos fundamentais so os seguintes: Sobre a histria das sociedades mercantis na Idade Mdia (1889); O significado da histria agrria romana para o direito pblico e privado (1891); As relaes entre os trabalhadores agrrios na Alemanha oriental (1892); A tica protestante e o esprito do capitalismo (1904-1905); As seitas protestantes e o esprito do capitalismo (1906) As relaes agrrias na Antiguidade (1909) e Economia e sociedade (pstuma, 1922). Para a metodologia das cincias histrico-sociais so muito importantes os ensaios: Roscher e Knies e o problema lgico da economia poltico-histrica (1903-06); A objectividade dos conhecimentos das cincias sociais e da poltica social (1904); Estudos crticos sobre a lgica das cincias da cultura (1906); Sobre algumas categorias do estudo sociolgico (1913); O significado da avaliao das cincias sociolgicas e econmicas (1917) e A cincia como vocao (1919). No campo da economia e da historiografia, a posio de Weber caracteriza-se: pela critica da escola histrica da economia que via em todo o sr, tema econmico a manifestao do "esprito de um povo"; pela crtica do materialismo histrico que, segundo Weber, esquematiza de forma dogmtica as relaes entre as formas de produo e de trabalho e as outras manifestaes de vida em sociedade, isto quando tais relaes, em sua opinio, se iriam esclarecendo progressivamente, de
acordo com os aspectos particulares da sua evoluo, e pelo reconhecimento da influncia que podem ter as for240 mas culturais, a religio por exemplo, sobre a estrutura econmica. Este ltimo ponto esclarecido na obra sobre A tica protestante e o esprito do capitalismo, na qual Weber mostra como a tica calvinista foi favorvel ao capitalismo, procura do lucro como fim. em si mesmo, independentemente da sua utilidade, e conscincia do dever profissional como dever moral. No campo -da investigao metodolgica, Weber aceita lbuns dos resultados fundamentais do historicismo alemo, principalmente o reconhecimento do carcter individual do objecto das cincias histrico-sociais. "Um ponto de partida de grande interesse nas cincias sociais, afirma, sem dvida a configurao real, portanto individual, dia vida social que nos rodeia, se verdade que, considerada como um todo, ela universal, no menos verdade que ela s pode ser atingida individualmente e a partir de outros nveis sociais de cultura, os quais, por sua vez, tambm s podem ser atingidos individualmente" (Gesammelte Azifstze zur Wissenschaftslehre, p. 177). Mas a individualidade do objecto histrico , para Weber, o resultado da opo individualizante que se encontra na origem da investigao histricosocial. A individualidade no pertence nem substncia nem estrutura do objecto em si; ela o resultado da escolha do objecto feita pela prpria investigao, isolando-o num conjunto de outros objectos, considerados relativamente "insignificantes". Ora aquilo que d significado a um objecto e que o individualiza ao prop-lo como tema de investigao, o valor que &e atribudo. Weber 241 aceita aqui a tese de Wckert segundo a qual a historicidade de um objecto constituda pela sua relao com o valor ( 728). Mas corrige esta tese ao afirmar que a relao entre objecto e valor depende do investigador; no se trata, como pretendia Rickert, de uma conexo necessria de uni certo objecto com um certo valor transcendente. Isto implica a relatividade dos critrios de escolha do conhecimento histrico e ainda a **imilate-alidade da pesquisa histrica que, conforme se orienta para um ou outro valor, assim vai delimitando o seu campo. Deste ponto de vista, toda a disciplina constitui o seu prprio objecto, orientando as escolhas que efectua para os valores que correspondem aos seus interesses. por isso que "so as ligaes conceptuais do problema que se encontram na base do campo de trabalho das cincias, e no as conexes objectivas entre as coisas: quando se estuda um novo problema usando novos mtodos, e desse modo se descobrem verdades que do lugar a novos pontos de vista significantes, surge uma 'cincia'" (Ges. Aufslre z. Wiss., p. 166). O conhecimento histrico portanto assistemtico, no sentido de que no pode dar lugar a um sistema total **def"tivo das cincias da cultura. E a prpria cultura no constitui um nico campo de investigao mas sim um conjunto de campos autnomos cuja coordenao depende do diferente desenvolvimento de cada um desses campos.
Tudo isto significa que o conhecimento da realidade cultural sempre um conhecimento desde um ponto de vista particular. "Seria ias ideias de valor do prprio investigador, diz Weber, no haveria ne242 nhum princpio para a escolha da matria e nenhum conhecimento significativo do real na sua individualidade; e como sem a f do investigador no significado de qualquer contedo cultural perde imediatamente sentido toda a tentativa de conhecimento da realidade individual, tambm a direco em que se manifesta a sua f pessoal, ou seja, a refraco ,dos valores no espelho da sua alma, indicar a direco do seu trabalho" (Ib., p. 181). da escolha subjectiva dos valores que depende, portanto, a deciso sobre os objectos que tm ou no -valor, quer dizer, daquilo que ou no significativo, daquilo que " importante" ou no. A investigao no pode ser iniciada e conduzida sem este factor decisivo que a escolha do investigador, mas por outro lado, segundo Weber, este factor no torna subjectiva ou arbitrria toda a investigao, no limita a sua validade ao investigador que a efectuou. Com efeito, qualquer que seja o valor que guiou o trabalho do investigador, os resultados da sua pesquisa devem ter uma validade objectiva, isto , devem ser vlidas "para todos quantos queiram a verdade", e tal validade pode ser conseguida devido dIsciplina prpria da investigao, disciplina que, segundo Weber, de natureza causal. 744. WEBER: A POSSIBILIDADE OBJECTIVA O recurso explicao causal, considerada prpria no s das cincias naturais como tambm das historico-sociais, o ponto fundamental em que 243 Weber se distancia da tradio do historicismo alemo. Este ltimo considerava que a explicao causal era aplicvel apenas s cincias da natureza; por esta razo, contrapunha-lhe, como procedimento prPrio das cincias do esprito, a compreenso imediata, intuitiva e sentimental do objecto individual. Weber abandona esta anttese e considera que o prprio "compreender", longe de ser um procedimento intuitivo e emotivo, d origem a unia interpretao que constituda essencialmente por uma explicao causal. "Para ia histria, em particular, ,afirma Weber, a forma da explicao causal deriva do seu postulado como "interprete inteligente. A interpreta-o do histrico no se !dirige, no entanto, nossa capacidade de subordinar os "factos", tidos como exemplares, a conceitos de espcie e a frmulas, mas sim nossa confiana na tarefa, que se nos apresenta quotidianamente, de 'compreender' o agir humano individual nos seus motivos" (1b., p. 136). A explicao causal apresenta-se portanto com um carcter prprio no domnio das cincias histrico-sociais. Em primeiro lugar, trata-se de escolher. entre a infinidade de factores que determinam um objecto histrico, uma srie finita desses factores que constitua um campo especfico de investigao; e a possibilidade de tal escolha baseia-se uma vez mais nos valores que orientam essa mesma investigao. Em segundo lugar, trata-se de determinar, **In, enti*c os elementos de uma srie causal assim individualizada, um esquema de relaes que seja susceptvel de verificao ou de controle. A esta segunda exigncia corresponde o
uso da noo de pos244 sibilidade objectiva, que Weber considera fundamental na explicao histrica. O recurso a esta noo faz-se isolando num processo histrico uma ou mais componentes causais objectivas, supondo que essas componentes se modificam e verificando-se se, com tal modificao, o processo histrico se teria mantido igual quele que ns conhecemos ou, se assim no acontecesse, qual seria a nova forma que revestiria (1b., p. 273). Como ilustrao deste modo de proceder, Weber apresenta um exemplo tirado da Geschichte des Altertums de Edward. Mayer, sobre o significado histrico da batalha de Maratona. Aqueda batalha foi a deciso entre duas possibilidades: de um lado, o prevalecimento de -uma cultura religioso-,teocrtica, de outro a vitria do mundo espiritual helnico, de cujos valores culturais sornos, ainda hoje, herdeiros. Em Maratona prevaleceu esta segunda possibilidade; foi esta a condio preliminar de um curso de acontecimentos bastante importantes na histria universal. Ora o nosso interesse histrico por aquele acontecimento baseia-se precisamente, segundo Weber, no papel decisivo que ele desempenhou relativamente s duas possibilidades que se defrontavam. "Sem a valorao de tais possibilidades, acrescenta, e dos insubstituveis valores culturais entre os quais se verificou aquela deciso, seria impossvel determinar o significado; e seria portanto impossvel compreender porque razo no consideramos esse acontecimento como sendo equivalente a uma escaramua 245 entre duas tribos cafres ou indianas" (Ges. Aufs!ze z. Wiss., p. 274). Por outros termos, a explicao causal no consiste, segundo Weber, em reconhecer um acontecimento como sendo necessariamente determinado pela srie causal (que , no entanto, necessria) dos acontecimentos precedentes, mas sim em isolar, numa situao histrica determinada, uni campo de possibilidades,- em mostrar as condies que tornaram possvel, naquela situao, a deciso a favor de uma determinada possibilidade; e, finalmente, em esclarecer o significado de tal deciso mediante o confronto com as outras possibilidades que constituam, do mesmo modo, a situao histrica considerada. Todo este esquema se move, portanto, sobre a noo de possibilidade ou, mais especificamente, de possibilidade objectiva. Webor adverte que a categoria da possibilidade no deve ser entendida numa forma negativa, isto , enquanto expresso de uma ignorncia ou de um saber imperfeito (corno ao afirmar " possvel que o comboio j tenha passado", em que no se sabe se o comboio j passou ou no), mas no seu sentido positivo, ou seja, enquanto designa uma antecipao, previso ou prospectiva com uma base real controlvel. Mas para que a possibilidade possa ser reconhecida, neste sentido, como sendo objectiva, ela dever ser, por um lado, baseada em "factos" que possam ser averiguados e que
pertenam situao histrica considerada, e.. por outro lado, dever estar de acordo com **"ro,,ras empricas ,crais", ou j 246 com um determinado saber nomolgico. No caso da batalha de Maratona, por exemplo, as duas possibilidades que se defrontam no s deviam resultar de suficientes dados documentais como, tambm, deveriam estar-mesmo a possibilidade que foi posta de parte-de acordo com as regras gerais da experincia e, em primeiro lugar, com as que regem a motivao do comportamento humano. O saber nomolgico no , portanto, excludo do conhecimento histrico, mas antes utilizado instrumentalmente, como critrio para a autenticao das possibilidades objectivas. E para satisfazer a esta tarefa, ele dever constituir conceitos de tipos ideais, ou seja, "quadros conceptuais uniformes" que acentuem ou levem ao extremo a uniformidade que se pode encontrar num grande nmero de fenmenos empricos, podendo consequentemente servir como termos de confronto a fim de atingir o significado dos prprios fenmenos (1b.,p. 194). So, segundo Weber, conceitos tpico-ideais de objectos histricos particulares, como, por exemplo, o cristianismo, o capitalismo, etc., ou de espcies de objectos tais como o conceito de Estado, de Igreja ou os conceitos de economia poltica que nunca so realizados na sua "pureza ideal" na realidade emprica, mas que servem como meio para a entender e para explicar os seus condicionamentos. De qualquer modo, os conceitos tpicos ideais constituem uniformidades-limite que so indispensveis investigao histrica para a determinao da individualidade dos seus objectos. 247 745. WEBER. A SOCIOLOGIA INTERPRETATIVA A investigao histrica, devido ao seu carcter ,individualizante, no pode deixar, segundo Weber, de utilizar conceitos universais ou gerais que so prprios das cincias que tm como fim a formulao de leis. Entre as cincias nomolgicas consideradas como instrumentos da indagao historiogrfica, Weber considerou principalmente a sociologia, podendo considerar-se como um dos resultados mais importantes da sua obra a determinao da natureza e :da tarefa da sociologia. Dilthey tinha feito notar que ia psicologia constitua a ferramenta principal da historiografia: o compreender histrico estava para ele, intrinsecamente ligado experincia vivida, isto , penetrao puramente interior do esprito pelo prprio esprito. A posio de Weber , neste ponto, oposta de Dilthey: o compreender histrico deve realizar-se sobre a dimenso objectiva do mundo espiritual o
no sobre a sua dimenso subjectiva. Ora esta dimenso objectiva o objecto especfico da sociologia, * qual -se torna deste modo, e em lugar da psicologia, * cincia auxiliar fundamental da historiografia. No entanto, a sociologia no apenas isto: ela primordialmente uma cincia autnoma que encontra o seu objecto especfico na uniformidade existente nas aces humanas, isto , na atitude (Verhalten). "A atitude humana, afirma Weber, apresenta conexo e regularidade de desenvolvimento relativamente a qualquer devir. Aquilo que prprio, pelo menos 248 MAX WEBER em sentido lato, da **qMMhumana so as conexes e regularidades cujo **iaMMe ol@vimento pode ser interpretado pelo M- (1b., p. 429). A sociologia tem em comum com historiografia a sua forma de proceder, ou seja, a "compreenso interpretativa; mas tal processo, na -.**ioiti(sir*Igia, aplica-se s uniformidades que poderneizucm =se no agir humano devido a este ser um agir social, "u seja, referindo-se constantemente ao agir dos sintros. Portanto, enquanto objecto especfico da <**oii(ologia, a atitude humana caracteriza-se do seguinte modo: 1) intencionalmente referida por parte ilaquele que age, s atitudes dos outros; 2) @.<;,wnre determinada por essa referncia; 3) pode ser w4%Ikada partindo apenas do sentido de tal referncia W., p. 429). Considerando a distino estabelecida Or4 Tnnies (Comunidade e sociedade, 1887) entre -4 "comunidade", na qual as irelaes humanas esto kitrnseca e orgnicamente integradas, e a na qual ias rolaes so externas ou impessoais, Mber distingue o ag,;r em comunidade que id~elo s atitudes dos outros homens segundo um *44reio que est nas intenes daquele que age, e o agir >m sociedade no qtial os actos so rereridos a iessi sentido prprio a unia ordem j estabelecida. Em -imbos os casos essa referncia aos actos alheios *welui uma expectativa de uma determinada atitude iossvel de outros inctivduos e orienta-se pelo @w.IMhlo das diversas possibilidades que necessrio ter em conta como possveis consequncias do seu IUe U@o agir. "Um fundamento significativo e "~ ~-Mite importante do agir, afinna Weber, a maior ou menor probabilidade, Z196 expressa por um juizo de possibilidade objectiva, de que tal expectativa tenha razo de ser" (Ges. Aufstze z. Wiss., p. 441). Por outras palavras, possvel compreender e explicar uma atitude individual a partir da possibilidade objectiva de que a expectativa de quem a assume !tenha um eco nas atitudes dos outros. Podemos compreender, por exemplo, a atitude de um batoteiro partindo apenas da possibilidade objectiva -de que os outros participantes no jogo observem, de acordo com a expectativa do batoteiro, as regras do jogo. deste modo que a noo de possibilidade objectiva que Weber tinha considerado como fundamento do compreender historiogrfico, acaba por assumir uma funo dominante na prpria "sociologia interpretativa". Unia atitude que se baseia no clculo (mesmo subjectivo) das possibilidades oferecidas pelas atitudes de outrem , segundo Weber, uma atitude "racional", ou seja, que atinge os seus fins. Com efeito, esta atitude "orienta-se exclusivamente a partir dos meios que se considera (subjectivamente) adequados aos fins concebidos (subjectivamente) de forma precisa" (Ib.,
p. 428). No primeiro captulo de Economia e Sociedade, no qual Weber exps sistematicamente os conceitos fundamentais da sua sociologia, esto diferenciados quatro tipos do agir social: 1) a atitude racional relativamente aos fins que determinada pela expectativa. da posio dos objectos do mundo externo e da atitude dos outros homens; expectativa essa que vale como condio ou meio de alcance dos fins pretendidos; 2) a atitude racional relativamente 250 aos vetores que condicionada pela crena no valor ilimitado le um comportamento. independentemente das suas consequncias; 3) a atitude afectiva, determinada pelas emoes; e 4) a atitude tradicional que determinada pelos hbitos adquiridos (Wirtschaft und Gesellschaft, 1, 1, 2). Estas atitudes, faz notar Weber, constituem no entanto "tipos conceptualmente puros" que se encontram mais ou menos combinados na realidade social, mas que so indispensveis para a interpretar. Por outro lado, do ponto de vista da racionalidade relativamente ao fim, a racionalidade relativa dos valores encontra-se num outro plano: "e isto porque ela se preocupa tanto menos com as consequncias do agir quanto mais assumir como incondicionado o valor em si (a inteno pura, a beleza, o bem absoluto, o respeito absoluto dos deveres)". Por outro lado, tambm a absoluta racionalidade relativamente aos fins apenas um caso limite, uma construo ideal. 746. WEBER: DESCRIO E VALORAO A inteno fundamental das indagaes metodolgicas de Weber foi a de encontrar as bases duma autonomia das cincias da cultura dum modo correspondente, a-pesar de no ser anlogo, ao modo como tal autonomia fora j atribuda s cincias da natureza. Como vimos, Weber no aceitou a anttese radical que outros historiadores (a comear por Dilthey) tinham estabelecido entre os dois grupos 251 de cincias: reconheceu a explicao causal como prpria de ambos os grupos. Por outro lado, esclareceu o carcter especfico que a explicao causal assume no domnio idas cincias da cultura; e serviu-se do conceito de possibilidade objectiva como base para o esclarecimento ;deste problema. Mas apesar da diversidade especfica dos instrumentos de que dispem, os dois grupos de cincias tm em comum, segundo Weber, a sua tarefa fundamental: a descrio dos fenmenos. Se bem que Weber entenda o termo "descrio" no sentido restrito de simples registo dos factos, polemizando contra a validade de qualquer outro sentido desse termo e preferindo ater-se a palavras como "constatao" e similares, do ideal da descrio (no sentido mais geral que serviu s cincias da natureza, do sculo XVII at aos primeiros decnios do nosso sculo, para se distinguir da velha cincia aristotlica, libertar-se das suas sobrevivncias e esclarecer quais as suas efectivas possibilidades de investigao) que Weber se utiliza para atingir os mesmos fins no campo das cincias da cultura. Mas se no campo das cincias da natureza a "descrio" se opunha "explicao" ou "hiptese" metafsica, no das cincias da cultura a "descrio" ope-se "valorao".
Pode-se encontrar esta oposio em toda a obra de Weber, mas onde ela se encontra melhor expressa num ensaio de 1917 sobre a "avalorabilidade" (Wertfreiheit) da sociologia e da economia. Estas cincias, na opinio de Weber, podem exclusivamente constatar ou descrever a realidade emprica e for252 necer respostas a questes deste gnero: "como se desenvolve um determinado facto concreto, qual a razo de o seu contedo concreto surgir com uma dada configurao; se possvel estabelecer uma regra do devir dos contedos, de tal modo que a um deles se sucede um outro; qual a probabilidade de aplicao dessa regra". Fora do campo -dessas cincias, o juzo valorativo propor-se- questes de um outro gnero: "0 que se deve fazer numa dada situao concreta e de que ponto de vista que essa situao pode ser considerada ou no satisfatria" (Gesammelte Aufstze zur Wissenschftslehre, p. 495). bvio que Weber no nega que a cincia possa e deva ocupar-se dos valores e das valoraes, que so factos. do mesmo modo que quaisquer outros; mas observa que "quando, aquilo que vale normativamente se torna objecto duma investigao emprica perde, como objecto, o carcter normativo: considerado como existente, no como vlido" (1b., p. 517). O que, neste caso, a cincia assume legitimamente como objecto de investigao no a validade dos valores mas a sua realizao: ou melhor os meios para os realizar e os conflitos a que tal realizao d origem. Por outros termos, e segundo uma frmula que Weber j tinha ilustrado no ensaio sobre a objectividade das cincias sociais, a considerao cientfica diz respeito tcnica dos meios e no valorao dos fins (1b., pgs. 149 e segs.). A valorao uma tomada de posio prtica, uma deciso que respeita a cada homem e qual nenhum homem se pode subtrair, mas que no satisfeita pela tarefa descritiva da cincia. Mesmo questes 253 relativamente simples como, por exemplo, a da medida em que um fim pode legitimar os meios indispensveis, a de ter-se ou no em conta as suas possveis consequncias indesejveis ou o poder-se diminuir os conflitos entre fins diferentes -todas elas so objecto de opo ou -de compromisso, no de cincia. "A nossa cincia, diz Weber, que rigorosamente emprica, no pode pretender tirar ao indivduo esta possibilidade de opo e no pode sequer suscitar a aparncia de ser capaz de o fazer". No entanto, faz parte do trabalho descritivo da cincia a considerao dos conflitos a que pode conduzir a opo dos fins e que so conflitos entre valores ou entre esferas de valores. Weber acentua a importncia destes
conflitos. "Entre os valores Oxiste, em ltima anlise (e em quaisquer condies), no uma simples alternativa mas sim uma luta mortal, sem possibilidades de conciliao como, por exemplo, entre "Deus" e o "Demnio". Entre eles no possvel nenhuma conciliao ou compromisso; e no possvel, bem entendido, devido quilo que cada um deles significa" (Ib., p. 493). A relatividade dos valores, entendida como conexo orgnica entre os valores e a sua poca ou o seu ambiente cultural, excluda, segundo Weber, pela presena inevitvel do conflito entre os valores: conflito que coloca o homem, como afirmava Plato referindo-se alma, na situao de dever escolher o seu prprio destino, ou seja, "o sentido do seu agir e do seu sem. Este conflito manifesta-se sobretudo no campo da tica: como conflito entre a tica da inteno ou do "querer puro" e a tica da responsabilidade 254 que julga a aco partindo das consequncias previstas como possveis ou como provveis. As regras de conduta de ambas as ticas manifestam-se imediatamente em contradio, contradio essa que no pode ser resolvida pela prpria tica. tica da responsabilidade interessa essencialmente considerar a relao entre meios e fins e a situao, de facto em que deve ser explicada. a aco humana-, mas mesmo essa no nos oferece um meio de orientao na luta poltica, na qual existe uma inesgotvel contradio entre valores. Concluindo, do mesmo modo que as cincias naturais nos dizem o que devemos fazer se quisermos dominar tecnicamente a vida, sem, no entanto, nos dizerem se tal domnio tem algum sentido, tambm as cincias da cultura nos permitem compreender os fenmenos polticos, artsticos, literrios e sociais a partir das condies em que surgiram, sem nos -dizerem, no entanto, se tais fenmenos tm ou tiveram algum valor ou mesmo se valer a pena tentarmos conhec-lo. Neste sentido, a prpria cincia uma "vocao" (Beruf): a vocao da clareza, isto , do conhecimento que o homem pode ter dos fins das suas prprias aces e dos meios para os realizar (Ib., p. 592). 747. TOYNBEE Est relacionado com Spengler, directa e polemicamente, o historiador ingls Arnold J. Toynbee (nascido em Londres em 1889), autor de uma grande obra em 10 volumes intitulada Um esiudo da his255 toria, a gnese da civilizao (1934-54), e de dois volumes, A civilizao posta prova (1949) e O mundo e o ocidente (1953). Toynbee concorda com Spengler ao assumir como unidade mnima da indagao histrica a civilizao (ou cultura), e ao considerar esta indagao como tendo por fim a formulao de uma morfologia da civilizao, isto , uma cincia das "leis" que presidem ao seu desenvolvimento; mas ope-se polemicamente a Spengler quando efectua esta indagao, como ele prprio declarara, recorrendo ao mtodo emprico da tradio inglesa e no ao mtodo apriorstico da tradio alem (Civilization ou Trial, p. 10). Por conseguinte, a civilizao no para Toynbee um organismo sobreposto s necessidades do determinismo
biolgico mas sim uma totalidade de relaes no-necessrias entre indivduos que encontram nela uma forma de comunicarem, mas que conservam a sua capacidade de iniciativa e um certo grau de liberdade. Deste ponto de vista, possvel uma comparao entre as civilizaes, as quais no so (como pensava Spengler) mundos absolutos fechados sobre si mesmo. A cincia emprica da histria consiste precisamente em comparar as diferentes civilizaes e em encontrar no desenvolvimento de cada uma delas os traos que lhes sejam comuns ou uniformes: que, por um lado, permitam a compreenso das conexes causais que se verificam no mbito de uma mesma civilizao ou na relao entre diferentes civilizaes e que, por outro lado, consistam na formulao, a partir destas conexes, de urna previso provvel sobre o desenvolvimento 256 de uma determinada civilizao. Tudo isto, segundo Toynbee, no permite que se reduza o desenvolvimento das diferentes civilizaes a um nico esquema, j que tais civilizaes conservam linhas de desenvolvimento independentes e processos evolutivos diversos (A study of History, 1, pgs. 149 e segs.). Deste ponto de vista no se podem encontrar factores que determinem, necessariamente a gnese e o desenvolvimento das civilizaes. Os dois factores a que mais frequentemente se atribui este poder determinante, o ambiente fsico-social e a raa, so ambos criticados por Toynbee ao afirmar que se tais factores fossem rigorosamente determinantes, a sua aco deveria ser sempre uniforme e conduziria sempre aos mesmos efeitos; o que na realidade no acontece. Por outro lado, isto no significa que a aco dos homens na histria seja independente de quaisquer condies que a limitem, ou seja, absolutamente livre; Toynbee elabora sobre este assunto a sua mais famosa doutrina, a da provocao e resposta. Uma civilizao surge, diz Toynbee, quando um grupo de homens consegue fornecer uma resposta eficaz a uma provocao do ambiente fsico e do ambiente social que o rodeia. Todo o ambiente fsico-social, toda a situao em que os homens se encontrem, coloca-os perante uma provocao; mas a natureza da resposta que elos derem a tal provocao no pode ser previsvel de forma rigorosa, dependendo por isso dos prprios homens (A Study of History, 1, pgs. 271 e segs.). O reconhecimento de um certo grau de liberdade no agir humano indispensvel, segundo Toynbee, para compreender 257 a diferente gnese e o diferente desenvolvimento que tiveram as civilizaes humanas quando se encontraram perante condies objectivas uniformes e constantes-Mas, por outro lado, este grau de liberdade no infinito: a situao em que os homens se encontram actua como limite condicionante. Podemos dizer, para exprimir o ponto de vista de Toynbee, que a provocao consiste sempre num problema ao qual os homens do uma soluo: o problema condiciona a soluo mas admite, em si mesmo, vrias solues, pertencendo aos homens a opo entre estas diferentes solues. Isto explica a diversidade recproca
das civilizaes e, ao mesmo tempo, a uniformidade que elas apresentam e que as torna confrontveis. sobre esta base que Toynbee nega a legitimidade da pretenso, defendida por Spengler, de prever infalivelmente a morte da civilizao ocidental. Esta civilizao encontra-se certamente em crise; mas a sua sorte no pode ser determinada antecipadamente, visto depender do modo como os homens que nela vivem possam responder a esta provocao. Toynbee pensa, no entanto, que a sorte de uma civilizao est necessariamente relacionada com um reforo do esprito religioso. Neste ponto, a sua doutrina resulta estril, acentuando-se tal situao nos ltimos livros que escreveu. Como resultado dever-se-ia concluir que a gnese e o desenvolvimento de todas as civilizaes ocorrem segundo determinadas linhas que s podem ser encontradas empiricamente, e que a comparao entre elas exige a determinao de tais linhas mediante critrios metodolgicos precisos; mas Toynbee d 258 mais importncia a este ltimo aspecto, elaborando um conjunto de 21 civilizaes sem que tal nmero seja suficientemente justificado e escolhendo certas determinaes constitutivas dessas civilizaes sem obedecer a um critrio justificado ou justificvel. Por outro lado, atribui ao cristianismo uma funo extremamente importante na conservao e no progresso das civilizaes, fazendo dele o fim de tal progresso, j que " as civilizaes tm a sua raison d'tre na sua contribuio para o progresso espiritual" e que o desenvolvimento das vrias religies deve conduzir a "um mtuo reconhecimento ida sua unidade essencial apesar da sua diversidade" (1b., VII, p. 448). Esta doutrina torna-se assim uma espcie de teologia da histria e um anncio proftico do xito mstico final da histria humana. 748. HISTORICISMO: CORRENTES METODOLGICAS Resulta evidente do que foi dito neste captulo que o historicismo (como, alis, todas as correntes filosficas) no constitui no seu conjunto uma doutrina nica e coerente que se fosse diversificando, em cada pensador, por aspectos particulares. A unidade do historicismo (como de todas as outras correntes) a unidade do problema que ele enfrenta: o do conhecimento histrico, do seu objecto e dos N. dos T. - Em francs no texto original. 259 seus mtodos. Pode-se sem dvida estabelecer uni balano dos resultados obtidos por esta corrente pondo em evidncia os pontos em que haja acordo unnime, ou quase unnime, de todos os seus defensores: dela resulta, por exemplo, o reconhecimento do carcter individual do objecto histrico e, por outro lado, o do carcter especfico do instrumento de que se serve o conhecimento histrico, isto , o da compreenso ou da interpretao historiogrfica. Mas, para alm da constatao da existncia destes pontos, que foram, alis, atingidos e justificados diferentemente por cada um dos pensadores, e da unidade do problema, no se pode falar do "historicismo" como tratando-se de uma doutrina nica e simples que possa ser examinada, discutida e refutada na sua totalidade. Mas at mesmo
esta tentativa, que foi realizada por muitos escritores contemporneos, revela, na disparidade dos alvos que cada um -deles pretendia atingir com a sua crtica, o erro de tal atitude. Com efeito, estabelece-se por um lado a equao entre historicismo e relativismo e objecta-se precisamente ao historicismo a sua incapacidade de garantir o carcter normativo dos valores e a obra da razo, como fez Leo Strauss (Natural R!-*ght and History [Direito natural e histria], 1953); ou a sua incapacidade de dar um sentido total histria, como fez Jaspers (Vom Ursprung und Ziel der Geschichte [A origem e o fim da histria], 1949); ou a tentativa de substituir uma f fictcia autntica f religiosa, como fez Karl Lwith (Meaning in His- tory [Significado da histria], 1949). Ou ento negu-se aquela identificao e v-se no historicismo a ')60 defesa dos valores humanos, como fez Theodor Litt (Die Wiedererweckung des geschichtlichen Bewusstsein [0 despertar da conscincia histrica], 1956)-, ou ainda urna manifestao ido "essencialismo", isto , da metafsica tradicional e, parcialmente, o recurso a esquemas cientficos superados por esse carcter metafsico, como fez Karl Popper (The Poverty of Historicism [A pobreza do historicismol, 1944). Em todas estas interpretaes e crticas descuram-se precisamente as manifestaes mais salientes do historieismo, isto , os resultados obtidos por Dilthey e Weber. A sequncia do historicismo alemo contemporneo deve, portanto, ser procurada, mais do que nesta literatura polmica, na continuao do trabalho metodolgico que o historicismo iniciou no campo das cincias da cultura: ou seja, na discusso, na experimentao e na rectificao dos resultados a que ele chegou. Deste ponto -de vista, o problema mais importante continua a ser o da natureza e limites do instrumento cognoscitivo, de que dispem essas cincias, ou seja, o do esquema explicativo a que recorrem. Podem-se ento distinguir duas direces fundamentais: a que tende a relacionar o esquema explicativo prprio destas cincias com o das cincias naturais e a reconhecer na explicao causal a nica explicao possvel em todo o campo do saber, e a que tende a esclarecer a natureza de uma explicao condicional, considerada especfica das cincias da cultura. A primeira direco foi a adoptada pelo Crculo de Viena ( 808) e, especialmente, por Otto Neurath 261 (Empirische Soziologie [Sociologia empirical, 1931), tendo surgido mais tarde na Enciclopdia internacional da cincia unificada atravs de um ensaio do prprio Neurath (Foundations of the Social Sciences [Fundamentos das cincias sociais], 1944); foi defendida por Carl G. Hempel (The Functions of General Laws in History [A funo das leis gerais na histria], e por Patrick Gardiner (The Nature of Historical Explanation [A natureza da explicao histrica], 1952). Deste ponto de vista, a explicao histrica uma explicao causal no sentido clssico: consiste em determinar a causa (C) de um acontecimento (A) e esta determinao pode ser feita mostrando apenas como que o acontecimento A pode ser "logicamente deduzido" de certas leis gerais segundo as quais um conjunto de acontecimentos da espcie C acompanhado regularmente de um acontecimento da
espcie A (Hempel, in Readings in Philosophical Analysis, 1949, pgs. 459 e segs.). A explicao causal aqui entendida no sentido mais rigoroso (substancialmente aristotlico), como possibilidade de deduzir o efeito a partir da causa pela aplicao de uma lei geral que exprima precisamente a aco da causa. E a explicao histrica distinguir-se-ia da verdadeira e propriamente dita explicao, quando muito, por ser um esboo de explicao, isto , uma explicao imperfeita ou aproximada. A outra direco metodolgica defendida sobretudo por historiadores de profisso, os quais procuram esclarecer a natureza dos instrumentos com que operam, e releva principalmente do conceito de Weber da possibilidade objectiva. Podemos encon262 tr-la na obra de Raymond Aron (Introduction la Philosophie de Vhistoire [Introduo filosofia da histria], 1938); La philosophie critique de l'histoire [A filosofia crtica da histria], 1938); em Mare Bloch (Apologie pour l'histoire [Apologia da histria], 1954); em Butterfield (History and Human Relations [A histria e as relaes humanas], 1951; em Pietro Rossi (Lo storicismo tedesco contemporaneo [0 historicismo alemo contemporneo], 1956, em William Dray (Laws and Explanation in history [Leis e explicao histricas], 1957); em H. Stuart Hughes (Consciousness and Society [Conscincia e sociedade], 1958); em John H. Randall (Nature and Historical Experience [A natureza e a experincia histrica], 1958); tendo si-do ainda defendida por historiadores e filsofos americanos em dois volumes colectivos (Theory and Practice in Historcal Study [Teoria e prtica nos estudos histricos], 1946; The Social Sciences in Historical Study [As cincias sociais no estudo histrico], 1954). Deste ponto de vista, insiste-se no carcter individualizante e selectivo do conhecimento histrico; nega-se, consequentemente, que este conhecimento tenha por objecto uma totalidade absoluta, o chamado "mundo histrico"; e recorre-se sobretudo noo -de possibilidade rectrospectiva na explicao histrica insistindo no carcter condicional de tal explicao, no sentido de que esta consiste em individualizar, num campo de possibilidades, as relaes que unem a possibilidade decisiva s outras. Pode-se dizer, em apoio desta segunda corrente metodolgica, que o esquema explicativo de que se 263 servem as cincias naturais (e, em primeiro lugar, a fsica) actualmente, j se afastou bastante da explicao causal clssica ou, pelo menos, j se afastou tanto,dela quanto esta corrente metodolgica, iniciada por Weber, se afastou do esquema explicativo, proposto na primeira fase do historicismo, da compreenso intuitiva ( 736). A polmica metodolgica entre cincias do esprito e cincias da natureza perdeu muito da sua fora com esta aproximao; e o esquema explicativo condicional, que ela tende a esclarecer, pode considerar-se igualmente afastado do necessitarismo a que recorria a cincia clssica da natureza e do indeterminismo a que recorreu, nas suas polmicas iniciais, o historicismo.
NOTA BIBLIOGRFICA 735. Sobre o historicismo alerno, podem-se considerar fundamentais as seguintes obras: PIETRo Rossi, Lo storicismo tedesco coni6mporaveo, Turim, 1936; RAYMOND ARON, La philosophie critique de Ilhistoire, Pariis, 1950. 736. U@ Dilthey, existe uma bibliografia completa das suas obras em "Archiv fr Geschichte, der Phil.", 1912, pgs. 154-61. Os escritos destle autor foram recrlhidos em Gc_,avi~Ite Schriften, 12 vols., Leipzig, 1923-36. Critica della ragione storica, antologia de escritGs de Dilthey com introwduo e, bbliografia do Pietro R(ssi, Turim, 1954. Sobre Dilthey: L. LANDGREBE, W. Ws Theoric der Geiste~i,ssenschaften, Halle, 1928; G. MiSCH, 1,ebensphilo,sophie und Phnomenologie, Leipzi.-Berlim, 1931; D. BISCHOFF, W. Ws geschichtliche Lebensphilosorhie, 264 Leipzig-Berlim, 1935; O. F. BOLLNOW, Dilthey, Le@,pzig-Berlim, 1936; H. A. HODGES, W. D., an Introduction, Londres, 1944; The Phil. of W. D., Londres, 1952; P. Rossi, in "Riv. crit. L,@toria filos.", 1952-53. 739. De Simmel, alm dos. iescritos citados: Zur Philosophie der Kunst, Potsdam, 1923; Vorlesungen iiber Schulpdagoge, Osterwiedik, 1922; Fragmente und Aufstze, Munique, 1923. os problemas fundamentais da filosofia foram trauduzidos para italiano lyo;r A. Banfi, Florena, 1922. O artigo a que se alude no texto foi publicado em "A@rchiv fr systemati,<@iche Philosophile", 1895, :e depois em Zur Philosophie der Kunst, pgs. 111 e @segs. Sobre Simmel: A. MAMELET, Le relativisme philosophique chez G. S., Paris, 1914; M. ADLER, G. S.'8 Bedeutung fr die Geistesgeschichte, Vilena-lieipzig, 1919; N. J. S~MAN, The Social Theory of G. S., Chicago, 1925; H. WOLFF, The Sociology of G. S., Glenco,e, 111, 1950; A BANFI, in. Filasofi contemporanei, Milo, 1961, p.-s. 161-212. 740. De Spengller, Der Untergang des AbendIandes vem citado na edio definitiva, 2 vls, Munique, 1918-22. Trad. italiana de J. EVolia, Milo, 1957. Sobre Spengler: A. MESSER, O. S. als Philosoph, Stuttgart, 1924; A. FAUCONNET, O. S., Paris, 1925; E. GAUliE, S. und die Romantik, Berlim, 1937; H. S. HUGHES, O, S., Nova Iorque, 1952; PIETRo Rossi, Storia e storicismo nella filosofia Milo, 1960, pgs. 68-89. Bibliografia in M. SCHROETER, Metaphysik des Untergangs, Munique, 1949. 741. De Tro,eltsch, Gesammelte Schriften, 4vo,ls., Tbingen, 1922-25; Gesammelte aufstze Geistesgeschichte und Religionsoziologie, Tbingen, 1925. Sobre,, Troeltseb.: E. VERMEIL, La pense religieuse de T., Paris, 1922; W. KOKLER, E. T., Tbingen, 1941. 742. De Meinecke, alm das obras citadas lio texto, os ensaios recolhidos em Vop geschiclitliehcn 265
Sinn und vom Sinn der Geschichte, Leipzig, 1939; trad. italiana, Npoles, 1948. Sobre Meinecke: CROCE, La storia come pensiero e come azione, Bari, 1938, pgs. 51-73; W. HOFER, Geschicht8chreibung und Weltan-schauung, Munique, 1950; CHABOD, in "Rivista Storica Italiana", 1955, pgs. 272-88; W. STARK, Introduo traduo inglesa da Ide'a da razo de Estado, publicada sob o titulo MacMavellism, New Haven, 1957. 743. De Weber, Gesammelte, Aufstze zur Reiigionsoziologie, 3 vols., Tbingen, 1920-21; Gesammeite Aufstze zur Sozial-und Wirtschaftgsechichte, Tbingen, 1924; Gesammelte Aufstze zur Wissenschaftslehre, Tbingen, 1925. Tradues italianas: Lletica protestante e lo spirito del capital@smo, Roma, 1945; Il lavoro intellettuale come professione, Turim, 1948; 11 metodo delle seienze storico-sociali, Turim, 1958 (contm os ensaios metodolgicos fundamentais); Econonzia e societ, 2 vols., Milao, 1961. Sobre Weber: MARIANNE WEBER, M. W., ein, Lebensbild, Tbingen, 1921; K. JASPERS, M. W., Oldenburg, 1932. 744. Sobre a metodologiade, Weber: B. PFISTER, -Die Entwiclung zum Idealtypus (Eiue A1ethodolog@sche Untersuchung ber das Verh1tnis von Theorte und Geschichte bei Menger, Schmoller und M. W.), Tbingen, 1928; W. BIENFAIT, M. W.Is Lehre vom geschichtUchen Elkennen, Berlim, 1930; A. VON SCHELTING, M. W.18 Wissenschaftslehre, Tbingen, 1934; T. PARSONS, The Structure of Social Action, 1937; 2.1 edi~ o, Glencoe, 111., 1949; PIETRO Rossi, Storia e storicismo nella filosofia contemporanea, cit. pgs. 93-132. 745. Sobre a sociologia de Weber: T. PARSONS, Op- cit.,; R. ARON, La sociologie allemande contemporaine, Paris, 1950. 746. Sobre o conceito de aval,,>rabilidade: A. VON SCHELTING, Op. cit.; R. ARON, La phil. critique 266 de Phistoire, Cit.; PIETRO ROSSI, 1,o storicismo tedesco contemporaneo, cit. 747. De Toynbee: foram traduzidos para italiano os dois primeiros volumes da sua obra principal sob o titulo Panorami della storia, Milo, 1954; Civilt al paragone, trad. italiana de G. Paganelli e A. Pandolfi, Milo, 1949; Il mondo e Poccidente, @trad. italiana de G. Cambon, Milo, 1956. Sobre Toynbee: P. GEYL, The Pattern of the Past, Boston, 1949; E. F. J. ZAHN, T. und das Problem der Geschichte, Kln und OppIaden, 1954; PIETRo Rossi, in "Filosofia", 1952, pgis. 207-50; Storia e storicismo nella filosofia contemporanea, cit., pgs. 333-60; O. ANDERLE, Das universalhistorische System A. J. T., Frankfurt am. Main, 1955 (inclui uma bbliografia). 748. Sobre os autores citados na ltima parte do capitulo, consultar PIETRo Rossi, Storia e storicismo nella filosofia contemporanea, cit., e as indicaes bibliogrficas nele includas.
267 NDICE III - BERGSON ... ... ... ... 7
692- Vida e Obra ... ... ... ... ... 7 693. A durao real ... ... ... ... 9 694. Esprito e corpo ... ... ... ... 13 695. O impulso vital ... ... ... ... 17 696. Instinto e inteligncia ... ... ... 20 697. A intuio ... ... ... ... ... 24 698. Gnese ideal da matria ... ... 27 699. Sociedade fechada e sociedade aberta ... ... ... ... ... . 1. 30 700. Religio esttica e religio dinmica ... ... ... ... ... ... 32 701. O possvel e o virtual - . ... ... Nota bibliogrfica ... ... ... ... 40 ... ... ... ... ... ... ... ... 43 36
IV-0 IDEALIS1W0 INGLS E NORTE-AMERICANO 702. Caractersticas do idealismo norte-americano 269 ... ... ... ... 45 ...
43 703. As origens do idealismo ingls e
704. Bradley ... ... ... ... ... ... 53 705. Desenvolvimento do idealismo ingls ... ... ... ... ... ... ... 59 706. MeTaggart ... ... ... ... ... 61 707. Royce ... ... ... ... ... ... 68 708. Outras manifestaes do idealismo ingls e norte-americano 77 Nota bibliogrfica ... ... ... ... V -0 IDEALISMO ITALIANO 81 ... ... ... ... 85
709. Caractersticas e origens do idealismo italiano ... ... ... ... ... 85 710. Gentile: Vida e Obra ... ... ... 90 711. Gentile: o acto puro ... ... ... 92 712. Gentile: a dialctica -do concreto e do abstracto ... ... ... ... ... 96
713. Gentile: a arte ... ... ... ... 102 714. Gentile: a religio ... ... ... ... 105 715. Gentile: o direito e o estado ... 107 716. Croce: Vida e Obra ... ... ... 111 270 717. Croce: a filosofia do esprito ... 113 718. Croce: a arte ... ... ... ... ... 116 719. Cr(>ce: a cincia, o erro e a forma econmica ... ... ... ... ... 123
720. Croce: direito e estado como aces econmicas ... ... . --- ... 126
721. Croce: histria e filosofia Nota bibliogrfica ... ... ... ... VI -0 NEO-CRITICISMO
... ... 137
130
... ... ... ... ... 139 ... 139 723. Origens do neo-criticismo na
722. Caracteres do neo-criticismo Alemanha ... ... ... ... ... ... 140
724. Renouvier: a filosofia critica ... 146 725. Renouvier: o conceito da histria 151 726. O criticismo ingls ... ... ... 155 727. A flcxsofia dos valores Windelband 163 728. Rickert ... ... ... ... ... ... 168 729. Outras manifestaes da filosofia dos valores 271 730. A escola de Marburgo: Cohen ... 176 731. Nato.rp ... ... ... ... ... ... 184 732. Cassirer ... ... ... ... ... ... 189 733. Brunschvieg ... ... ... ... ... 194 734. Banfi ... ... .1 . ... ... ... 200 Nota bibliogrfica ... ... ... ... VII -0 HISTORICISMO 203 ... ... ... - ... 207 207 736. Dilthey: a experincia vivida e o ... ... ... ... ... 174
735. A filosofia e o mundo histrico ecmpre,ender
... ... ... ... ... 210 737. Dil'hoy: as estrutura-- do mundo
histrico ... ... ... ... ... ... 215 738. Dilthey: o c,)nceito da filosofia 219 739. Simmel - ... ... ... ... ... 222 740. Spengler ... ... ... ... ... ... 227 741. Troeltsch ... ... ... ... ... ... 231 7-12. Meinecke ... ... ... ... ... ... 236 743. Weber: 4ndividualidade, significado, valor ... ... ... ... ... 239 272 744. Weber: a possibilidade objectiva 243 745. Weber: a sociologia interpretativa 248 746. Weber: descrio e valorao ... 251 747. Toynbee ... ... ... ... ... - 255 748. Correntes metodolgicas Nota bibliogrfica .. ... (fim) ... - 264 ... - 259
Histria da Filosofia Volume treze<Nicola Abbagnano obra digitalizada por ngelo Miguel Abrantes. Se quiser possuir obras do mesmo tipo ou, por outro lado, tem livros que no se importa de ceder, por favor, contacte-me: ngelo Miguel Abrantes, R. das Aucenas, lote 7, Bairro Mata da Torre, 2785-291, S. Domingos de Rana. telef: 21.4442383. mvel: 91.9852117. Mail: angelo.abrantes@clix.pt Ampa8@hotmail.com. HISTRIA DA FILOSOFIA VOLUME XIII TRADUO DE: ANTNIO RAMOS ROSA CONCEIO JARDIM EDUARDO LCI-O NOGUEIRA CAPA DE: J. C. COMPOSIO E IMPRESSO TIPOGRAFIA NUNES R. D. Joo IV, 590-Porto EDITORIAL. PRESENA . Lishoa i97o TITULO ORIGINAL STORIA DELLA FILOSOFIA
Copyright by NICOLA AB13AGNANO Reservados todos os direitos para a lngua portuguesa EDITORIAL PRESENA, LDA. R. Augusto Gil, 2 e/v.-E. - Lisboa VIII O PRAGMATISMO 749. PRAGMATISMO E PRAGMATICISMO O pragmatismo a forma que foi assumida, na filosofia contempornea, pela tradio clssica do empirismo ingls. O caminho seguido pelo empirismo clssico consistia em explicar a validade de um conhecimento reportando esse mesmo conhecimento s condies empricas que o determinavam, e em realizar uma anlise da experincia com vista a determinar tais condies empricas. Para Locke como para Hume, para Hume como para Stuart MilI, pode-se considerar verdadeira uma determinada proposio ou, em geral, pode-se considerar vlido qualquer produto da actividade humana desde que se possa encontrar na experincia os elementos de que resulta e desde que estes estejam relacionados entre si do mesmo modo que na experincia. Neste contexto, a experincia uma progressiva acumulao e registo de dados e, tambm, a sua organizao ou sistematizao. Deste modo, a experincia em que se baseava o empirismo clssico era, substancialmente, uma experincia passada: constitua um patrimnio limitado que podia ser inventariado e sistematizado de forma total e definitiva. Para o pragmatismo, a experincia substancialmente abertura para o futuro: uma sua caracterstica bsica ser a sua possibilidade de fundamentar uma previso. A anlise da experincia no portanto o inventrio de um patrimnio acumulado mas a antecipao ou previso do possvel desenvolvimento ou utilizao deste patrimnio. Deste ponto de vista, uma "verdade" -o no porque possa ser confrontada com os dados acumulados da experincia passada mas sim por ser susceptvel de um qualquer uso na experincia futura. A previso deste possvel uso, a determinao dos seus limites, das suas condies e dos seus efeitos, constitui o significado dessa verdade. Neste sentido, a tese fundamental do pragmatismo a de que toda a verdade uma regra de aco, uma norma para a conduta futura, entendendo-se por "aco" e por "conduta futura" toda a espcie ou forma de actividade, quer seja cognoscitiva quer emotiva. O pragmatismo constitui o primeiro contributo original dos Estados Unidos da Amrica para a filosofia ocidental. Assumiu duas formas bsicas: uma forma metafsica, que uma teoria da verdade e da realidade (James, Schiller, etc.) e uma forma metodolgica, que pode ser considerada como uma
teoria do significado (Peirce, Mead, Dewey, etc.). O prprio Peirce, que o seu fundador, prefere designar esta segunda forma de pragmatismo com o nome de pragmaticismo para a distinguir da forma metafsica (Coll. Pap., 5, 411-37). 750. PRAGMATISMO: PEIRCE O fundador do pragmatismo foi Charles Sanders Peirce (1839-1914), um conhecedor de lgica simblica e de semitica e um genial divulgador de doutrinas cientficas. Os seus escritos aparecem, sob forma de ensaios e artigos, em vrios peridicos americanos. Uma primeira recolha, publicada em 1923, com o ttulo Acaso, amor e lgica, chamou a ateno para a importncia da sua obra: importncia que nos parece ainda maior depois da publicao da recolha completa dos seus escritos. No campo da lgica simblica, o seu maior contributo relaciona-se com a lgica das relaes que devia, mais tarde, encontrar a sua sistematizao na obra de Russell. No mbito da semitica, ou seja, da teoria dos signos, Peirce retomou-a teoria estica do significado ( 92) em termos que lhe deram direitos de cidadania na lgica moderna. "Um signo ou representao qualquer coisa que se encontra em qualquer relao com outra coisa. Ele surge numa determinada pessoa e dirige-se a uma outra em cujo esprito cria um signo equivalente ou at mais desenvolvido. O signo que ele cria chamado interpretante do primeiro signo. O signo existe para qualquer coisa que o seu objecto. Entre o objecto e o signo estabelece-se um determinado tipo de ideia que chamado fundamento (groud) do signo" (Coli. Pap., 2, 228). Aquilo que Peirce entende por interpretante-fundamento o que os esticos designavam por significado. Aquilo a que Peirce chama objecto o que os esticos chamavam coisa, com a diferena de que o objecto pode ser qualquer coisa, perceptvel, imaginvel ou, se for possvel, no imaginvel. Quando o objecto do signo uma coisa real, o signo torna-se uma proposio que, relativamente ao objecto, pode ser considerada verdadeira ou falsa (ib., 2, 310). Um aspecto original da semitica de Peirce a considerao daquela caracterstica do processo semitico que mais tarde seria chamado de pragmtico: isto , da situao em que se pode verificar esse processo assumindo a forma de assero. Com efeito, Peirce define a assero como sendo a prova, dada por quem fala a quem escuta, de que se acredita em qualquer coisa, ou seja, que se considera uma determinada ideia como definitivamente correcta em certa ocasio. Assim, pode-se considerar a existncia de trs partes em qualquer assero: um signo da ocasio, um outro da ideia e ainda uma representao da evidncia dessa ideia, evidncia que sentida por aquele que fala ao identificar-se com o prprio rigor cientfico (ib., 2, 335). Estas concepes de Peirce demonstraram ser fecundas na lgica e na semitica contempornea, do mesmo modo que se tomaram fecundas as mltiplas distines e clas10
sificaes dos signos que ele forneceu nos seus escritos. A tese filosfica fundamental de Peirce que o nico fim de toda a indagao ou forma de proceder racional o estabelecimento de uma crena, entendendo-se por crena um hbito ou uma regra de aco que, mesmo que no conduza imediatamente a um acto, toma possvel um dado comportamento quando se apresenta uma certa ocasio. Peirce admite que existem v rios mtodos para estabelecer uma crena e reconhece vantagens em qualquer um desses mtodos. O mtodo da tenacidade, utilizado por quem se recusa a pr em discusso as suas prprias ideias, pode conduzir ao sucesso a pessoa obstinada. O da autoridade, impedindo a manifestao de opinies discordantes, pode conduzir paz. O mtodo a priori ou metafsico, que admite apenas os princpios que esto "de acordo com a razo", d origem a brilhantes construes intelectuais, mesmo que sejam disparatadas e incontrolveis. Todos estes mtodos tm em comum o facto de no poderem, em si mesmos, serem considerados falsos: qualquer deles exclui a possibilidade de erro e, portanto, duma eventual correco. O mtodo cientfico o nico que inclui em si prprio a possibilidade de erro e que se apresenta organizado de modo a admitir correces. "Posso partir de factos conhecidos ou observados para chegar quilo que no conheo - afirma Peirce. No entanto, as regras que utiliza ao faz-lo podem no estar de acordo com a minha indagao; mas o nico critrio para o avaliar, para ver se sigo ou no o mtodo mais aconselhvel, consiste no 11 em fazer apelo aos meus sentimentos ou aos meus fins mas, pelo contrrio, em aplicar o prprio mtodo" (Coll. Pap., 5, 585). Por outros termos, a essncia do mtodo cientfico consiste em reconhecer em princpio a sua possibilidade de erro e em ter em si mesmo um critrio para avaliar os resultados a que chega e para se corrigir. A possibilidade de erro , assim, um aspecto essencial da filosofia de Peirce (Ib., 1, pgs. 141 e sgs.). Deste ponto de vista, todos os processos de raciocnio se caracterizam pelo facto de se ter,-,.m de corrigir a si prprios. Assim acontece com a induo, que efectua sucessivas generalizaes e em que cada uma delas lana uma nova luz sobre as premissas de que se partiu; assim acontece com a deduo, cuja certeza se baseia no na ausncia de erro, mas sim na possibilidade de utilizar controles que permitam reconhecer e corrigir os erros (Ib., 5, pgs. 575 e s-s.). A sua segunda caracterstica o critrio pragmtico do significado, que Peirce exps pela primeira vez num famoso ensaio de 1878 intitulado "Como tornar claras as nossas ideias". Se a funo do pensamento a de produzir crenas e se a crena uma regra ou um hbito de actuao, o nico caminho para determinar o significado exacto de uma crena e para no nos deixarmos desviar pela diversidade de formulaes que ela pode assumir, o de considerar os efeitos previsveis que a crena possa ter sobre a aco. Diz Peirce: "Para
desenvolver o significado de uma coisa, devemos simplesmente determinar quais os hbitos que ela produz, pois aquilo que uma deter12 minada coisa significa consiste precisamente nos hbitos a que d origem. Ora a identidade de um hbito depende da forma como ele pode conduzir a uma dada actuao, no s nas circunstncias que provvel que se verifiquem mas, tambm, naquelas que, por muito improvveis que sejam, possam ainda ocorrer. Aquilo que o hbito depende do quando e do como ele se transforma em aco. Devemo-nos lembrar de que, no que diz respeito ao quando, todo o estmulo aco deriva da percepo; e que, quanto ao como, o fim da aco consiste em produzir qualquer resultado sensvel. E assim chegamos quilo que tangvel e conceptualmente prtico do mesmo modo que se torna possvel atingir a raiz de toda a distino real do pensamento, mesmo da mais subtil; e no existe uma nica diferena de significados que no consista numa possvel diferena prtica" (Coll. Pap., 5, p. 400). Assim, a regra para obter a clareza de uma ideia consiste apenas em considerar os efeitos prticos que possa ter o objecto de tal ideia. A "concepo" do objecto reduz-se assim inteiramente concepo destes efeitos possveis (ib., 5, p. 412). Segundo Peirce, isto no nos autoriza no entanto a reduzir a verdade simples utilidade. Peirce mantm a definio tradicional da verdade como correspondncia, no sentido de "conformidade entre um signo e o seu objecto" (Ib., 5, p. 544). No entanto, esta conformidade no esttica mas dinmica: encontra-se no limite de um processo de indagao que controla ou corri,,e indefinidamente os seus resultados. Neste sentido, a verdade da proposio segundo a qual Csar atra13 vessou o Rubico consiste no facto de, quanto mais 71 se desenvolvem os estudos arqueolgicos ou de qualquer outra natureza, mais somos obrigados a considerar exacta a concluso nela expressa (ib., 5, p. 566). Em geral, pode-se dizer que "uma proposio verdadeira quando uma crena que no conduz a nenhuma desiluso enquanto no for compreendida de forma diferente daquela como foi inicialmente entendida" (M., 5, p. 569). Este ponto de vista metodolgico exige algumas condies para que seja realizado. A primeira consiste na renncia a todo o "necessitarismo", isto , a toda a concepo que implique uma necessidade no mundo ou no procedimento da cincia. Todas as formas de proceder utilizadas na cincia (a induo, a hiptese, a analogia) so, segundo Peirce, de natureza probabilstica e surgem por sucessivas generalizaes a partir de um certo nmero de casos que se podem considerar como uma razovel amostragem do conjunto. Isto quer dizer que no prprio mundo no existe nenhuma necessidade e que esta no pode ser "postulada" como fundamento do procedimento cientifico e, em geral, de qualquer considerao racional do universo. Esta considerao no exige mas exclui a necessidade; por sua vez, esta no se
pode apoiar em nenhuma prova emprica. Para todos os efeitos, e segundo Peirce, o mundo o reino do acaso: um acaso onde, no entanto, se podem encontrar constantes ou uniformidades que constituem o objecto da indagao cientfica e que podem ser expressas por leis (Coll. Pap., 6, pgs. 398 e sgs.). Tais uniformidades so simplesmente constitudas pela concor14 dncia de certos aspectos positivos e negativos dos objectos, no manifestando portanto nenhuma "ordem" total (ib.). Peirce chama tiquismo a esta concepo do mundo (de tycheacaso ou fortuna). Estas ideias de Peirce revelaram-se extraordinariamente fecundas na filosofia contempornea e conservam a sua actualidade, sendo ainda eficazes para contrapor a qualquer concepo necessitarista do mundo, quer se trate de um mecanismo materialista quer de um espiritualismo. Mas Peirce apresenta ainda outras ideias mais estreitamente de acordo com o esprito do seu tempo. Na base da sua especulao surge-nos o conceito de evoluo, num sentido progressivo e optimista que era aceite por muitos pensadores da poca e de anos mais recentes. A caracterstica da evoluo a que ele mais se referiu foi a sua continuidade, chamando sinequismo sua doutrina sobre o assunto. O esprito, isto , a conscincia, considerado no cume da evoluo, e nele se reconhecem trs formas da prpria evoluo: a ticstica, devida ao acaso, a anancstica, devida necessidade e a agapstica, devida ao amor. nesta que Peirce mais insiste, pois v no amor da humanidade o mais alto produto da evoluo espiritual (Ib., 6, pgs. 302 e sgs.). 751. PRAGMATISMO: JAMES O mtodo pragmatista foi enxertado no tronco da filosofia tradicional e utilizado para uma defesa do espiritualismo por William James. Nascido em Nova 15 Iorque em 1842, estudou tambm na Europa, onde permaneceu posteriormente durante largos perodos. Foi professor de psicologia (1889-97) e de filosofia (1897-1907) na Universidade de Harvard e morreu em 1910. Os seus primeiros estudos foram de fisiologia e de psicologia; autor de uma obra clssica, Os princpios de psicologia (1890), e de uma obra, igualmente clssica, sobre As diversas formas de experincia religiosa (1902). Os escritos filosficos de James so coleces de ensaios, de leituras ou cursos de conferncias: A vontade de crer (1897); Pragmatismo: novo nome para velhos modos de pensar (1907); O significado da verdade: continuao do pragmatismo (1909); Um universo pluralista (1909). A estes escritos devem acrescentar-se os que foram publicados postumamente: Problemas da filosofia. Comeo de uma introduo filosofia (1911); Memrias e estudos (1911); Ensaios sobre o empirismo radical (1912); Ensaios e recenses (1920), e dois volumes de Cartas (1920), editadas pelo seu filho. James dominou a sua filosofia de empirismo radical; mas o seu empirismo , como o de Peirce, mais uma perspectivao do futuro do que um balano do passado. J nos Princpios de psicologia se pode encontrar a vida psquica, em geral caracterizada em termos concordantes com essa perspectiva. "A prossecuo dos fins futuros e a escolha dos
meios necessrios para os alcanar so o aspecto caracterstico e o critrio da presena da mentalidade num fenmeno -afirmou James. Todos ns usamos este critrio para distinguir o procedimento inteligente e o mecnico. No atribumos mentalidade aos paus 16 WILLIAM JAMES e s pedras porque nos parece que nunca se movem com vista a um fim, mas apenas ao serem impulsionados e, neste caso, de forma indiferente e sem sinal de opo" (Princ. of Psych., 1, p. 8). Consequentemente, James acentua a importncia do termo final na aco reflexa, tpica de toda a actividade mental. A impresso sensorial, deste modo, existe apenas para despertar o processo central de elaborao ou de reflexo, e esse processo central existe s para provocar o acto final. Por isso, toda a aco uma reaco frente ao mundo externo e o estdio intermdio (pensamento, reflexo, contemplao) apenas um lugar de trnsito para conduzir aco. Por outras palavras, "a parte volitiva da nossa natureza domina tanto a parte racional como a parte sensvel; ou, em linguagem mais clara, a percepo e o pensamento existem apenas tendo em vista a conduta" (The Will to Believe, p. 114). Ora isto no mais do que a retomada da tese de Peirce segundo a qual todo o processo de indagao d origem determinao de uma crena. Mas enquanto que Peirce se encaminha desta tese para a considerao dos mtodos que consentem a determinao da crena e para uma preferncia pelo mtodo que torna possvel a sua contnua rectificao (mtodo que Peirce considera prprio da cincia), James, assumindo as crenas de que o homem j dispe, transforma a prpria tese num critrio para salvar a validade das crenas. E assim se tornam "verdadeiras" as crenas que so "teis" para a aco. James considera que este mtodo se aplica prpria cincia. Se se prescinde dos fins que so 17 prprios da conduta humana, afirma, a elaborao, feita pela cincia, do material bruto que nos fornecido pela experincia, no tem significado nem fim algum. Com efeito, a cincia no um registo impassvel dos factos objectivos: pelo contrrio, rompe a ordem dada dos fenmenos, estabelece entre eles relaes que no pertencem sua natureza em bruto, tudo isto com o fim de simplificar e de prever. Mas a simplificao e a previso so fins humanos e, portanto, todo o trabalho da cincia se organiza para a realizao desses fins. Seria fcil objectar que a
cincia s pode simplificar e prover na medida em que os prprios factos o consintam, no bastando que se deseje alcanar um determinado fim para que o objecto indagado esteja de acordo com esse fim. Mas James pouco acessvel a este tipo de consideraes porque, diferentemente de Peirce, os seus interesses se movem no no campo da cincia mas sim no da moral e da religio. E nestes campos que ele utiliza o seu critrio pragmtico da verdade num sentido estritamente fidesta. A tese fundamental de A vontade de crer consiste em que, por ser funo do pensamento o servir para a aco, o pensamento no tem o direito de inibir ou cortar a passagem a crenas teis e necessrias para uma aco eficaz no mundo. Isto no pressupe, como se deve notar, o direito de crer em tudo o que se queira. Pode suceder que a hiptese a que se refere a crena seja daquelas cuja verdade ou falsidade no pode ser demonstrada; ou, tambm, que seja uma hiptese viva, isto , que exera uma atraco real sobre o esprito daquele que a consi18 dera; ou, finalmente, que seja importante, isto , decisiva para o indivduo e que no se refira a questes triviais. Mas se uma hiptese tem estes trs caracteres, o homem tem direito a crer, sem esperar que se transforme numa hiptese demonstrada. Em tais casos, deve assumir o risco de tropear com o erro, j que, ainda que no assuma esse risco, renunciando a crer, tambm decide e escolhe praticamente em sentido negativo, comportando-se como se no cresse e afrontando assim praticamente o risco da tese negativa. James apela, a este propsito, para a "aposta" de Pascal e interpreta-a como um risco inevitvel que a f. assim como a falta de f, comporta. Mas enquanto a renncia f renncia a todas as vantagens eventuais que podem proceder da prpria f, a f, em troca, tem esta vantagem fundamental: pode provocar a sua prpria verificao. Isto verdade. sobretudo, nas relaes entre os homens. A simpatia, o amor, conquistam-se com a f na sua possibilidade. E todo o organismo social, por pequeno ou grande que seja, rege-se pela confiana em que cada um far o que deve, e , pois, uma consequncia desta confiana. Mas James estende este princpio ainda estrutura moral do universo. Ainda aqui o homem tem que enfrentar-se com um pode ser e deve correr o risco da f. Que, por exemplo, a vida seja digna de ser vivida, coisa que depende unicamente da f, j que a vida tal qual ns a consideramos do ponto de vista moral. Certamente, a f na bondade do mundo visvel pode verificar-se apenas partindo da f num mundo invisvel. Mas James cr que esta mesma f 19 pode, em certa medida, dar origem sua prpria verificao e que o homem se encontra tambm aqui frente a um pode ser, cujo risco e responsabilidade lhe convm aceitar (The Will to Believe, pg. 61). Deste modo, o pragmatismo , para James, uma
simples ponte de passagem para o espiritualismo. Ele prprio sublinhou a concordncia da sua filosofia com a de alguns espiritualistas franceses, especialmente de Bergson-, mas, por outro lado, ele tentou formular menos dogmaticamente as teses do espiritualismo clssico. A viso espiritualista exige, segundo James, um universo pluralista, isto , um universo no qual a multiplicidade e a independncia relativa dos seres e das conscincias tome possvel a indeterminao, a sorte, a liberdade, e no qual o progresso seja, por conseguinte, resultante da cooperao de todos os esforos. O monismo, tanto materialista como idealista, faz do universo uma massa compacta no qual tudo bom ou tudo mau; no qual tudo est determinado e no h lugar para a aco criadora. Obriga todos os seres a uma responsabilidade comum necessria e tornalhes impossvel a opo. O pluralismo, em troca, divide a responsabilidade de cada parte, sem que por isso negue a sua solidariedade efectiva. Reconhece que podem agir mal e que esta possibilidade no inevitvel, nem absolutamente evitvel. O progresso do mundo depende assim da colaborao voluntria das suas partes. "0 universo progressivo-diz James no seu ltimo escrito (Introd. filos., trad. ital., p. 169)-concebe-se, segundo uma analogia social, como uma multiplicidade, um pluralismo de foras 20 independentes que cristalizar exactamente na medida em que o maior nmero possvel delas colaborem para o seu xito. Se nenhuma delas trabalha nele, falhar; se cada uma delas executa a sua parte o melhor possvel, ter xito. Assim, os seus destinos dependem de um se ou, melhor, de uma srie de condies, o que equivale a repetir, na linguagem prpria da lgica, que, sendo o mundo at hoje incompleto, o seu carcter total no pode expressar-se seno com hipteses e no, certamente, com proposies categricas". Num universo deste tipo, nem mesmo Deus pode ser concebido como omnisciente ou como omnipotente; trata-se de um Deus finito. "No sistema pluralista, Deus, no sendo j o absoluto, tem funes que podem ser consideradas no totalmente diferentes das funes das outras partes menores e por isso semelhantes s nossas. Tendo um meio externo a ele, existindo no tempo e criando a sua histria exactamente como ns o fazemos, deixa de ser estranho a tudo o que humano, pois essa estranheza prpria do esttico, intemporal e perfeito Absoluto" (A Pluralistic Universe, pgs. 318-19). Um universo pluralista deste tipo assemelha-se mais a uma repblica federal do que a um imprio ou a um reino. "Se uma qualquer parte dele constituir uma unidade, referindo-se a um centro efectivo de conscincia ou de aco, alguma outra parte governa-se por si mesma e permanece ausente e no reduzida unidade" (Ib., p. 322). O universo pluralista assim, em certa medida, sempre um multiuniverso: a sua unidade no a implicao universal, a integrao abso21 luta e a interpretao total das suas partes: uma unidade de continuidade, contiguidade e concatenao, isto , uma unidade de tipo sinequista, no sentido que palavra atribuiu Peirce (Ib., p. 325),
752. PRAGMATISMO: SCHILLER O critrio da verdade como utilidade, que James tinha adoptado no domnio moral e religioso, explicado no domnio lgico e gnoseolgico pelo representante ingls do pragmatismo Ferdinand Canning Scott Schiller (1864-1937). Schiller foi primeiro aluno e depois professor em Oxford, Inglaterra; ensinando mais tarde na Universidade de Los Angeles, na Amrica. O seu primeiro livro, Os enigmas da effinge, um estudo sobre a filosofia da evoluo (1891), uma defesa do pluralismo metafsico e uma interpretao do processo evolutivo como coordenao crescente das mnadas individuais que constituem o universo. A sua primeira defesa do pragmatismo encontra-se no ensaio Os axiomas como postulados, publicado no volume de estudos, em colaborao, Idealismo pessoal (editado por H. C. Sturt, 1902). Os seus escritos mais notveis so os seguintes: Humanismo (1903); Estudos sobre o human.,*smo (1907); Lgica formal (1922); Problemas da crena (1924); Lgica para uso: introduo teoria voluntarista do conhecimento (1930): Devem os filsofos discordar? e outros ensaios (1934) As nossas verdades humanas (1939). 22 Schiller denomina humanismo o seu pragmatismo e pretende restabelecer todo o pensamento ou procedimento lgico na situao psicolgica que lhe d colorido e significado. Uma "razo pura" que prescinda completamente das exigncias da aco parece-lhe uma aberrao patolgica, uma falta de adaptao que a seleco natural dever tarde ou cedo eliminar (Studies in Humanism, 1902, p. 8). Na base de todo o conhecimento h um postulado emocional, e na base de todo o raciocnio, uma necessidade prtica. O acto lgico fundamental, o juzo, um acto especificamente humano e pessoal, provocado por um interesse prprio ou por uma necessidade imperiosa. A lgica que quer despersonalizar este acto, red-lo a um conjunto de palavras e reduz o seu significado ao das palavras que o expressam; mas, assim entendido, no j um juzo, mas uma pura proposio verbal. O escrito de Schiller intitulado Lgica formal uma crtica desta lgica e de toda a lgica tradicional; esta ltima no pode ser utilizada para compreender os procedimentos da cincia e do saber efectivo, e o seu nico uso possvel o de servir de jogo intelectual, de um agradvel e divertido passatempo (Formal Logic, 1931, p. 388). O procedimento efectivo da cincia obedece ao critrio do til. A verdade da geometria encontra-se toda na sua utilidade para certos fins prticos e a sua validade universal baseia-se somente no interesse universal em reconhec-la como vlida. Nas cincias fsicas, a crena nas leis universais baseia-se na necessidade de fazer previses sobre a existncia futura das coisas, a fim de regular a nossa conduta. E o 23 postulado da uniformidade das leis da natureza apenas um expediente que permite calcular os factos sem esperar pela sua verificao. Uma lei da natureza no , portanto, seno uma forma compendeada, uma fico conveniente para descrever o comportamento de uma determinada srie de acontecimentos. As coisas do senso comum, os tomos do fsico, o
absoluto do filsofo, no so mais do que esquemas de ordenao das mltiplas qualidades dos fenmenos, correspondendo a necessidades prticas determinadas: so abstraces e s valem como realidade enquanto instrumentos para actuar sobre a experincia. Com isto o homem converte-se verdadeiramente, como dizia Protgoras, na "medida de todas as coisas". Contudo, nem tudo o que til verdadeiro. O critrio pragmatista no anula a distino entre verdade e falsidade, e no justifica o uso de fices, erros, mentiras ou pretensas verdades. O princpio pragmatista age no indivduo como princpio selectivo, que procura e consolida a utilidade e nela baseia as suas valoraes relativamente mais slidas. Os gostos e os actos dos indivduos encontram na sociedade uma valorao varivel e nem sempre o fim, escolhido por eles obtm a aprovao social, de modo que o acto que eles supem digno de ser realizado com vista a um fim desejvel, pode ser considerado falso e errneo pelos outros indivduos. Mas tambm aqui o nico critrio selectivo o da utilidade e eficcia dos conhecimentos ou das proposies examinadas. esta utilidade e eficcia que determinam o seu reconhecimento social (Humanism, 1912, p. 59). Con24 tudo, a eficcia operatria de uma crena no igual para todos os homens. Muitos esto dispostos a negar inclusive a eficcia da f em Deus. Nisto, tudo depende do temperamento pessoal e impossvel dizer alguma coisa a ttulo de regra. O pragmatismo, por este motivo, no conduz (como acreditava James) a uma **con~o espiritualista; apenas se deve preocupar com a defesa da liberdade de escolha humana e da indeterminao -do mundo, isto , das duas condies que tomam possvel a cada indivduo ou a cada grupo de indivduos a escolha da sua verdade. Schiller objecta ao determinismo o facto de ser, em si mesmo, um fruto daquela liberdade que nega (Humanism, p. 311); e defende a natureza flexvel da realidade, que deve ser tal que se adapte aos fins humanos. at perigoso estabelecer limites precisos a esta flexibilidade, porque a aceitao destes limites impediria a descoberta das ulteriores possibilidades que essa caracterstica da realidade oferece ao homem. Deste ponto de vista, a filosofia deve incluir na sua sntese toda a idiossincrasia e caractersticas da personalidade que a constri. As filosofias pessoais diferem necessariamente entre si, por mais que possam ser agrupadas em classes naturais segundo certas semelhanas considerveis que no se verificam entre classes diferentes. Por isso, a histria da filosofia mostra o aparecimento peridico dos grandes tipos de filosofia e dos grandes problemas sobre os quais os filsofos discordam. Na realidade, a verdade de unia filosofia s pode ser testemunhada reconstruindo a histria 25 psicolgica do filsofo (Must Philosophers Disagree?, P. 10). A referncia psicologia individual caracterstica do pragmatismo de Schiller. O seu humanismo est fortemente impregnado de subjectivismo e de idealismo; e precisamente por isto resolve-se num relativismo radical.
753. PRAGMATISMO: VAIHINGER Urna manifestao anloga e paralela ao pragmatismo , na Alemanha, a filosofia do como se de Hans Vaihinger (1852-1933), que leva at ao limite extremo a subordinao do conhecimento aco, recusando identificar a utilidade com a verdade e reconhecendo que podem ser teis e, portanto, vlidas crenas ou doutrinas abertamente contraditrias e falsas. Vaihinger , em primeiro lugar, um estudioso de Kant, ao qual dedicou um importante comentrio (Comentrio crtica da razo pura, 1881-1892). Foi na Crtica da razo pura, e precisamente na dialctica transcendental, que encontrou a sua primeira inspirao. Ali, com efeito, Kant, depois de ter negado s ideias da razo pura todo o valor objectivo, considerou-as como critrios reguladores da investigao cientfica, a qual deve proceder como se a unidade absoluta da experincia, expressa pelas ideias de alma, mundo e Deus, fosse possvel. Este ponto tinha adquirido particular relevo no neocriticismo de Lange ( 723) que Vaihinger considera como seu 26 mestre. Lange tinha considerado a metafsica e a religio como livres criaes poticas, falhas de validade cientfica e destinadas a embelezar e elevar a vida. J num escrito sobre Lange e duas outras figuras da filosofia alem (Hartman, Dhring und Lange, 1876, p. 194), Vaihinger atribua-lhe o mrito de ter colocado a essncia da religio na "livre poesia do esprito nos mitos"; e tinha afirmado a necessidade de acudir ao criticismo, no enquanto sistema cerrado, mas enquanto mtodo cientfico continuamente aberto (Ib., p. 235). Mas, alm de encontrar antecedentes nestes pontos kantianos ou neokantianos, a filosofia de Vaihinger encontra-os tambm na doutrina de Nietzsche, que tinha afirmado decididamente a subordinao dos valores intelectuais vida e vontade do poder. A tese fundamental de Vaihinger a de que todo o conhecimento humano fico. A Filosofia do como se (1911) prope-se demonstrar que todos os conceitos, categorias, princpios e hipteses de que se servem o saber comum, as cincias e a filosofia so fices carentes de qualquer validade terica, muitas vezes contraditrias, e que s se mantm por serem teis. Vaihinger considera que no apenas assim de facto, porque assim deve ser, como pensa ainda que a nica alternativa para o futuro a de um uso consciente e prudente das fices como tais. A fico no pode ser considerada como hiptese. Esta espera ser verificada na realidade e tem a pretenso de reproduzi-Ia. A fico no tem esta pretenso: til, serve para alguma coisa, mas nada mais. So fices, neste sentido, as categorias fundamentais 27 de que se sorve o pensamento cientfico: a de coisa e sua propriedade, a de causalidade, a de princpio e consequncia. Os conceitos de unidade, de multiplicidade, de existncia, etc., no so propriamente categorias, mas antes juzos de percepo que dependem directamente das sensaes. Vaihinger mantm-se fiel a um princpio sensualista e v na realidade apenas a sucesso e a coexistncia de sensaes singulares, de tendncias e de sentimentos. As categorias intelectuais tm como objectivo dominar a massa das
sensaes; afora isso, no tm sentido. Todas as cincias se servem de conceitos que tm o mesmo valor pragmtico. A primeira cincia que deu o exemplo de um uso sem prejuzo de tais conceitos foi a matemtica. Esta, com efeito, tomou como fundamento fices contraditrias, como as de grandeza infinitamente pequena, de nmeros negativos, racionais ou imaginrios, e baseou nestas fices as suas mais belas construes sistemticas. Mas tambm as outras cincias procedem deste modo: assim, a economia poltica toma como princpio o homo oeconomicus, isto , movido exclusivamente pelo interesse material. Fertilssima fico , ainda, a prpria filosofia, desde a esttua de Condillac at ao Eu de Fichte. Naturalmente, a fico nem sempre admitida como tal, e esta tendncia produz a oscilao incessante que domina a histria do pensamento. Amide, com efeito, a fico transforma-se em hiptese, e esta em verdade demonstrada, em dogma. Este processo nefasto, mas, felizmente, no o nico: a crtica actua em sentido inverso e trans28 forma o dogma em hiptese; a qual, quando provou ser impossvel de demonstrar e intrinsecamente contraditria, converte-se de novo em fico, isto , em conhecimento til. til para qu? O fim do conhecimento a vida, e por isso a filosofia no pode propor-se, nem agora nem no futuro, outro objectivo que no seja o de elaborar uma viso do mundo no j teoricamente vlida, mas que tome a vida cada vez mais digna de ser vivida e cada vez mais intensa. Uma caracterstica de Vaihinger ter levado exasperao o contraste entre o valor terico e o valor utilitrio ou vital da fico. Vaihinger no renuncia ao valor terico, entendido no sentido tradicional, como valor puramente racional, porque inclusivamente se serve dele como critrio para julgar contraditrias ou falsas as fices cognitivas. Mas, por outro lado, afirma que todo o conhecimento fico, porque o seu objectivo no nem pode ser outro seno o de servir a vida. Como se explica ento a origem e a persistncia no conhecer, e na prpria filosofia de Vaihinger, daquele valor terico que permite julgar logicamente o prprio conhecimento? Vaihinger v nos conceitos fundamentais da matemtica fices contraditrias; mas, na realidade, esses conceitos no so tais no mbito do discurso matemtico pois, se os considerasse como contraditrios, j no os poderia empregar. A contradio extrnseca, e nasce do facto de considerar os conceitos matemticos tomando como base um critrio que no aquele pelo qual so formulados e empregues na prpria matemtica. 29 754. PRAGMATISMO: DE UNAMUNO Como manifestao do fidesmo pragmtico contemporneo podemos considerar a obra de Miguel de Unamuno. Nasceu em Bilbau, Espanha, em 29 de Setembro de 1864 e foi durante muitos anos professor e reitor da mais famosa Universidade espanhola: a de Salamanca. Exaltador entusiasta de Espanha e, sobretudo, da tradio espanhola, Unamuno defendeu a liberdade contra o rei Afonso XIII e a ditadura de Primo de Rivera; perdeu a ctedra, foi deportado e depois viveu desterrado em Paris. Voltou a Espanha em 1930, aps a queda da ditadura. Durante a guerra civil foi partidrio do regime franquista. Morreu em 31 de Dezembro de 1.936. Unamuno foi literato, novelista, dramaturgo, poeta: as suas ideias filosficas encontram-se expostas, sobretudo, na Vida de D. Quixote e Sancho (1905) e no escrito O sentimento trgico da vida (1913), assim como em numerosos artigos e ensaios menores.
A tese fundamental de Unamuno a mesma do pragmatismo e de toda a filosofia da aco: a subordinao do conhecimento, do pensamento, da razo, vida e aco. "A vida - diz (Vida de D. Quixote e Sancho, p. 111) - o critrio da verdade e no a concordncia lgica, que o apenas da razo. Se a minha f me leva a criar ou a dignificar a vida, para que quereis mais provas da minha f? Quando as matemticas matam, as matemticas mentem. Se caminhando, moribundo de sede, vs uma viso daquilo que chamamos gua e te diriges para ela e bebes, e te salvas aplacando a sede, aquela viso em 30 verdadeira e a gua era real. Verdade o que, levando-nos a agir de um modo ou doutro, nos leva a conseguir realizar o nosso intento". A verdade, quer seja doutrina ou lenda, poesia ou cincia, mito ou conceito, s o pelo impulso que d vida, por ajudar a viver e a agir. A resposta que D. Quixote d ao Padre que pe em dvida a verdade dos livros da cavalaria, sabendo que ele, D. Quixote, desde que se armou cavaleiro, adquiriu todas as virtudes, parece a Unamuno a prpria definio da verdade como tal (ib., p. 134). Mas, ao lado deste elemento pragmatista, h na doutrina de Unamuno um elemento racionalista, que contrasta mais ou menos com ele: a afirmao do carcter obscuro, arbitrrio, inconsciente e, no fundo, irracional de toda a doutrina ou crena. "A filosofia - diz Unamuno (Sentimento trgico, trad. ital. p. 10-11)responde necessidade de formar uma concepo unitria e total do mundo e da vida e, como consequncia desta concepo, um sentimento que gera uma atitude ntima e, por ltimo, uma aco. Mas resulta que este sentimento, em vez de ser consequncia daquela concepo, uma sua causa. A nossa filosofia, isto , o nosso modo de compreender ou no compreender o mundo e a vida, nasce do nosso sentimento relativamente prpria vida. E este, como tudo o que afectivo, tem razes subconscientes, inconscientes talvez". Devido a esta origem irracional a filosofia no , para Unamuno (como o , contrariamente, para o pragmatismo americano), uma investigao que, apoiando-se precisamente no critrio da validade pragmtica, critique, escolha ou 31 construa conceitos ou doutrinas; uma exaltao da f pela f, do crer pelo crer e (dado que a f e o crer no so mais que a prpria vida) da vida pela vida. Assim, a fronteira entre a realidade e o sonho esfuma-se; e Una-muno repete continuamente o toma do famoso drama de Caldern, A vida um sonho, reduzindo a verificao pragmtica da f a um elemento do sonho e tirando-lhe assim toda a consistncia e valor. "Era vez de investigar se so gigantes ou moinhos aquelas coisas que se nos apresentam como prejudiciais, no seria talvez melhor escutar a voz do corao e atacar? Porque todo o assalto generoso
transcende o sonho da vida. Dos nossos actos e no das nossas contemplaes extrairemos sabedoria. Sonhai, Deus do nosso sonho!" (Vida de D. Quixote e Sancho, II, p. 148). O prprio Deus se converte num "Deus do sonho", um Deus que nada tem de racional, um "Deus arbitrrio" (Sent. trg., p. 182). Esta posio tira ao critrio pragmatista toda a capacidade de escolha, de crtica, de libertao; e conduz de facto Unamuno aceitao pura e simples da tradio espanhola, que ele identifica com a vontade de ser o brao secular da Igreja catlica, contra a razo, contra a cincia, contra todo o desvio da f. "Sinto em mim uma alma medieval - diz Unamuno (Sent. trg., p. 344) -e creio que medieval a alma da minha ptria... O quixotismo no mais que a luta da Idade Mdia contra o Renascimento, que deriva dela". A exaltao que Unamuno faz da Espanha (sobretudo no escrito Em redor do casti32 UNAMUNO cismo, 1902) a exaltao de um sonho imvel, fora do tempo. H, indubitavelmente, um elemento existencialista na filosofia de Unamuno e um elemento que tira de Kierkegaard, o "irmo. Kierkegaard". o conhecimento, de que a verdade intrnseca ao homem, prpria substncia do homem singular, e o repdio de toda a verdade abstracta e objectiva, considerada como inoperante e estril. E do existencialismo h tambm em Unamuno o sentido da incerteza incliminvel da vida e da prpria f que, precisamente porque incerta, luta e se esfora por revelar-se na aco. Mas estes elementos f-los valer Unamuno a propsito de um nico problema, o da imortalidade, levado at sua mais aguda exasperao irracionalista. V na exigncia de imortalidade, na f na imortalidade, a afirmao da vida contra a morte; e no carcter irracional desta exigncia e desta f v a prpria condenao da razo. E, contudo, a sua concluso que a incerteza deve permanecer e que a vida humana s possvel na base desta -incerteza (Sentim. trg., p. 134 e sgs.). O quem sabe? - diz ressoa na conscincia tanto daquele que afirma como daquele que nega a imortalidade. Mas, assim, a funo central e directiva que Unamuno quer atribuir cren a na imortalidade resulta implicitamente negada. A incerteza prpria tambm, inclusive mais prpria, daquele que no cr; e se s a incerteza vital, nenhuma diferena pragmtica subsiste verdadeiramente entre quem afirma e quem nega a imortalidade. 33 755. PRAGMATISMO: ORTEGA Y GASSET No limite entre o pragmatismo e o existencialismo pode ser colocada a obra do filsofo espanhol Jos Ortega y Gasset (1883-1955), que nasceu em Madrid mas estudou e se formou na Alemanha. As ideias filosficas de Ortega y Gasset esto expostas sobretudo nos ensaios O tema do nosso tempo (1923), Meditao sobre Quixote (1914), A rebelio das massas (1930), Em torno de Galileu (1933), Ideias e crenas (1940), Histria como sistema (1941).
Ortega vincula-se ao pragmatismo pela sua afirmao explcita de que a inteligncia, a cincia, a cultura, esto subordinadas vida e no tm outra funo para alm daquela que lhes inerente como utenslios para a vida. A crena contrria, a subordinao da vida inteligncia, deixa a inteligncia suspensa no ar, sem razes, merc de duas tendncias opostas que concordam em destru-Ia: a hipocrisia da cultura e a insolncia anticultural. Contra o intelectualismo tradicional, que acreditava que o homem tem, certamente, a obrigao de pensar, mas que no pode viver sem pensar, Ortega afirma que o homem, para viver, deve pensar; e se pensa mal vive mal, "em pura angstia, dificuldades e mal-estar" (Esquema da crise, trad. ital., p. 47). Ora esta subordinao do saber vida implica a resoluo do ser das coisas no agir humano. As coisas no tm um ser em si: tm um ser construdo pelo homem que, tendo que operar com elas, deve elaborar o programa da Sua conduta e planear o que lhes pode ou no fazer e o que delas pode esperar. "Na realidade, eu preciso 34 de saber o que devo fazer com aquilo que me rodeia. Este o verdadeiro sentido originrio do saber: saber o que devo fazer. O ser das coisas consistiria na forma do meu comportamento relativamente a elas" (Ib., p. 43). Daqui nasce o carcter subjectivo e pessoal de todo o saber: nenhum problema diz respeito ao ser das coisas mas apenas e sempre atitude humana em relao a elas. No entanto, isto no torna as coisas subjectivas, do mesmo modo que no torna objectivas as relaes do eu com as coisas. "Eu sou eu e a minha circunstncia", diz Ortega na Meditao sobre Quixote.- englobando na "circunstncia" todo o mundo externo ou interno, todo o mundo que est em relao com o eu mas no se identifica com ele. A relao entre o eu e o mundo, no entanto, multi- plica o prprio mundo segundo a diversidade dos "eu". A realidade aparece ao homem dividida em perspectivas que so tantas quantos os indivduos; e em todas elas entram a sensibilidade, a imaginao, a inteligncia, o desejo e a valorao do indivduo. A razo do homem tem a tarefa de dominar a circunstncia que a sua perspectiva lhe oferece, de absorv-la no prprio homem, de humaniz-la: por isso, ela uma razo vital, no oposta vida nem diferente dela. O elemento existencialista da filosofia de Ortega reconhece"se na anttese que estabelece entre autenticidade e inautenticidade. O homem "lanado na situao, no enxame catico e pungente das coisas", altera-se, confunde-se, perde-se de vista a si mesmo. A sua possvel salvao voltar a coincidir consigo prprio, saber claramente qual a sua sincera po35 sio frente a cada coisa. Nesta coincidncia consigo prprio, na paz interior do indivduo com a sua espiritualidade. est a autenticidade da vida, est o que denomina felicidade. Tambm o cptico pode realizar esta autenticidade. se coincide verdadeira e plenamente com o seu cepticismo, se no duvida da sua dvida. As pocas de crise caracterizam-se pela falta de condies que tornam possvel esta posio autntica. Em tais
pocas existiu um certo saber, isto , um certo mundo, e no se afirmou contudo o outro saber, o mundo novo, onde o homem pode encontrar o seu ubi consistam. "A mudana do mundo consistiu no facto de que o mundo em que vivamos desmoronou e, de momento, em nada mais. uma mudana que ao princpio negativa e crtica. No se sabe que pensar de novo: s se sabe, ou julga-se saber, que as ideias e as normas tradicionais so falsas e inadmissveis" (Esquema da crise, p. 26). A poca de crise uma poca de fluidez, na qual, por ausncia de convices positivas, o homem pode passar com grande facilidade do branco para o preto e na qual, por conseguinte, tudo possvel. A crise das crises, a que alcanou a prpria essncia do homem e seu destino, surgiu no mundo ocidental nos ltimos sculos do imprio romano; e a sua soluo. o Cristianismo, aparece a Ortega, de certo modo, corno a soluo das solues, a nica verdadeiramente radical: a negao do homem e do mundo e de tOdos os seus problemas, o abandono ao sobrenatural e a Deus. A poca actual, caracterizada pela "rebelio das massas", considerada por Ortega como a pior de todas, devido incerteza para i 36
a qual o aparecimento das massas e a "socializao do homem" atiraram a sociedade actual. "J no existe ' plenitude dos tempos', pois esta pressupe um futuro claro, prestabelecido, inequvoco, como era o do sculo XIX. Nessa poca, julgava-se saber aquilo que aconteceria no amanh. Mas o horizonte abre-se de novo em direces desconhecidas, pois no se sabe quem poder mandar nem como se articular o poder face da terra. Quem poder mandar: que povo ou grupo de povos, qual o seu tipo tnico; e tambm qual a sua ideologia, sistema de preferncias, de normas, de impulsos vitais". Portanto, "a existncia actual o fruto de um interregno, de um vazio entre dois tipos de organizao do poder histrico: aquela existiu e aquela que existir. por esta razo que ela essencialmente provisria" (A rebelio das massas, trad. ital., p. 169-70). caracterstico em Ortega y Gasset a contraposio dogmtica que estabelece entre a autenticidade e a inautenticidade do indivduo, entre as pocas orgnicas e as pocas crticas da histria. A coincidncia do homem consigo mesmo, na qual pe a autenticidade, parece-lhe uma soluo definitiva, que elimina o problema do homem; donde aquela coincidncia , contudo, sempre em si mesma problemtica e, por isso, somente pode ser vivida e realizada como contnua possibilidade de soluo. De modo que o problema no se elimina nunca e a poca orgnica no pode valer (se no por uma idealizao mitolgica) como um mundo pacificado e feliz. Em ltima anlise, o conceito de crise, do qual Ortega y Gasset o mais eloquente e lcido defensor, nasce de uma 37 nostalgia de carcter mitolgico, que pe no passado aquela perfeita estabilidade e segurana da vida que o homem sente que lhe falta no presente.
No ensaio Histria como sistema (1935) reconhece-se explicitamente a historicidade fundamental do homem, no sentido existencialista. "Esse peregrino do ser, esse substancial emigrante o homem. Por isso carece de sentido pr limites ao que o homem capaz de ser. Nessa il-imitao das suas possibilidades, prpria de quem no tem uma natureza, s h uma linha fixa, pr-estabelecida e dada que pode orientar-nos; s h um limite: o passado. As experincias da vida j realizadas estreitam o futuro do homem. Se no sabemos o que vai ser, sabemos o que no vai ser. Vive-se vista do passado" (Ib., p. 111). Mas tambm este reconhecimento depois dogmatizado como exigncia de "uma nova revelao", que deveria ser para o homem a razo histrica: "no uma razo anti-histrica que parece cumprir-se na histria, mas literalmente aquilo que aconteceu ao homem, constituindo a razo substancial, a revelao de uma realidade transcendente s teorias do homem e que ele mesmo para alm das suas teorias" (ib., p. 122). Esta razo histrica no deveria aceitar nada como facto puro, mas fluidificar todo o facto no orgulho de que provm, e ver como se forma o facto; mas quanto aos problemas, s categorias, aos mtodos que deveriam presidi-Ia Ortega nada diz. A distino e a oposio entre o conhecimento e a vida, o saber e a aco, mantm este pensador no esquema do pragmatismo contemporneo. As exign38 cias existencialistas, que so nele as mais vivas, no receberam da sua filosofia a justificao que poderia provir-lhes de uma profunda e detalhada anlise existencial, donde esse carcter amide demasiado expeditivo e dogmtico, das concluses de Ortega. 756. PRAGMATISMO: VAILATI Pode-se considerar relacionada com o pragmatismo de Peirce a investigao realizada em Itlia por Giovanni Vailati (1863-1909). Vailati foi um lgico e um metodlogo das cincias que ilustrou em claros e sucintos escritos o trabalho de crtica e de esclarecimento que a matemtica contempornea fazia relativamente aos seus princpios e aos seus processos especficos. Vailati via nas teses do pragmatismo a prpria expresso dos processos da matemtica, os quais eram esclarecidos pelos lgicos matemticos; e nisto que talvez se possa reconhecer uma originalidade das suas posies. Peirce, com efeito, que pela primeira vez enunciara o critrio pragmtico para a individualizao das crenas, no acreditava que tal critrio tivesse validade para a "determinao" das prprias crenas, o que era atribudo ao mtodo das cincias. Segundo Vailati, a validade do pragmatismo consiste no facto de o critrio pragmtico ser usado na prpria cincia, especialmente nas matemticas. Por outro lado, este critrio no tem nada que ver com as "consequncias prticas" ou com a aco, prescrevendo apenas o assumir como significado de uma noo, no 39
mbito de uma cincia, o uso que essa cincia faz de tal noo. Deste ponto de vista, os postulados da matemtica, por exemplo, deixaram de ser proposies privilegiadas, tornando-se proposies semelhantes a quaisquer outras, opes oportunas entre os fins que o conjunto da indagao deve servir. Deste modo, eles foram obrigados a renunciar, afirma Vailati, "quela espcie de direito divino de que parecia estar investida a sua pretendida evidncia, resignando-se a serem, em lugar de rbitros, os servi servorum, os elementos usados pelas grandes associaes de proposies que constituem os vrios ramos da matemtica" (Scritti, p. 689 e segs.). O pragmatismo e a lgica matemtica concordam assim na exigncia de eliminar qualquer falta de rigor nos termos usados e no reduzir toda a assero aos termos mais simples, que se refiram a factos ou a relaes entre factos; do mesmo modo que concordam em reconhecer o carcter apenas instrumental das teorias cientficas, alm de outros pontos e exigncias doutrinais mais especificamente lgicos. Como se v, Vailati pretendia uma interpretao lgica do pragmatismo e um seu uso metodolgico no campo das matemticas. Por isso se recusava a aceitar a acusao de "subjectivismo" que era lanada contra o pragmatismo (e que talvez se justificasse em relao a outras correntes do prprio pragmatismo), declarando ver nele um convite a traduzir as nossas afirmaes numa forma "apta a assinalar de um modo mais claro quais as experincias ou constataes s quais todos deveramos recorrer para decidir se e at que ponto elas seriam verdadeiras", 40 quer dizer, um convite para usar critrios mais objectivos, isto , mais independentes de qualquer impresso ou preferncia individual (Scritti, p. 921). A posio de Vailati encontra-se no limite entre positivismo e pragmatismo; mais prximo do positivismo est Mario Calderoni (1879-1914) que identificou as "consequncias prticas" de que falava o pragmatismo com a verificao experimental que a cincia exige como prova das suas posies. 757. PRAGMATISMO: ALIOTTA O pragmatismo de James encontrou, em Itlia, uma manifestao anloga no experimentalismo de Antnio Aliotta, nascido em 1881, professor da Universidade de Npoles. Aliotta foi, nos anos que vo da primeira segunda guerra mundial, o mais eficaz opositor e crtico do neo-hegelianismo; e com o seu professorado e os seus escritos abriu, em Itlia, a passagem para movimentos contemporneos, tais como a crtica da cincia, o pragmatismo e o realismo, que o idealismo imperante prescrevia antecipadamente como desvios e erros. Sendo primeiro defensor de um espiritualismo monadolgico de tendncia testa (o fruto mais notvel desta posio A reaco idealista contra a cincia, 1912, uma vasta anlise crtica da filosofia contempornea), orientou-se depois para o pragmatismo e o pluralismo, (A guerra eterna e o drama da existncia, 1917, Relativismo e idealismo, 1922; A teoria de Einstein, 41
1922; A experimentao na cincia, na filosofia e na religio, 1936). Contra o idealismo, Aliotta fez valer a impossibilidade de resolver toda a realidade no pensamento. Esta reduo nunca foi efectivamente conseguida. O Eu de Fichte, que cria inconscientemente o mundo da natureza, o Absoluto de Schelling como identidade de natureza e esprito, a Ideia de Hegel, que lgica e natureza antes de ser esprito, conservam uni resduo de transcendncia no reconhecimento de uma fase inconsciente e objectiva, que o pensamento deve pressupor. E o idealismo de Gentile, que reduz toda a realidade ao acto pensante, reconhece implicitamente a transcendncia deste mesmo acto, o qual, como Gentle afirma, nunca pode ser apreendido como tal. Mas, por outro lado, o pensamento no aquela cpia passiva da realidade que o realismo tradicional supe. antes um processo vivente, uma experincia, na qual os centros individuais se encontram e se limitam mutuamente, procurando realizar um acordo cada vez maior. O pensamento filosfico a continuao consciente da tendncia das actividades do universo para se unirem em harmonia. Assim como do estado de primitiva incoerncia e divIso, que a matria, se passa para os organismos biolgicos mais simples e, depois, para formas cada vez mais complexas de organizao vital, do mesmo modo no campo do conhecimento este processo de coordenao continua, conciliando e harmonizando as diferentes perspectivas dos indivduos. O senso comum, a cincia e a filosofia, so graus ou fases desta coordenao crescente. E a coisa do senso comum torna 42 possvel que as intuies individuais se coordenem e coexistam. Escolhe-se uma destas intuies como tipo e considera-se como verdadeira, realizando assim uma concordncia prtica entre os diversos indivduos, as outras condenam-,se como aparncias. As snteses da cincia constituem um passo em frente, eliminando a disparidade dos direitos entre as perspectivas do sentido comum e coordenando-as num organismo no qual cada uma encontra o seu lugar. Por ltimo, a investigao filosfica procura conciliar as oposies que ficam, corrigir a unilateridade das cincias particulares e coorden-las numa viso mais compreensiva. O conceito-limite para que tende a prpria realidade atravs do pensamento, a coordenao completa de todas as suas actividades e a sua convergncia para um fim nico. Daqui resulta que uma ideia ou uma teoria verdadeira apenas na medida em que realize uma coordenao das actividades humanas entre si e cGin todas as outras que actuam no mundo da experincia. H, pois, graus de verdade; e os graus superiores no anulam os inferiores, antes os conservam e coordenam. O nico critrio de verdade o da experimentao. No conhecendo o caminho desde o princpio, devemos proceder por tentativas, isto , mediante um complexo de aces, sugeridas e guiadas por hipteses, que se repetem agora de um modo e depois de outro, at que se consiga encontrar um sistema novo no qual as diferentes actividades convirjam para um fim comum. A experimentao filosfica tem um campo
mais vasto que o cientfico; o seu laboratrio a histria, atravs de cujas vicissitudes se revela o 43 valor das doutrinas, a sua fecundidade sugestiva de mais ricas e harmnicas formas de existncia. Nos outros escritos posteriores (0 sacrifcio como significado do mundo, 1947) Aliotta acentua o aspecto metafsico e espiritualista da sua doutrina frente aos aspectos metodolgico e experimentalista que prevalecia nas precedentes formulaes. Tende a pr em relevo os "postulados, da aco": a indeterminao do mundo e a sua relativa uniformidade, a validade da pessoa humana e a transcendncia da realidade relativamente a ela, a pluralidade das pessoas e as suas tendncias para a unidade. Ao carcter relativo e construtivo da racionalidade humana, que vale unicamente como meio de cooperao e de entendimento, Aliotta contrape o carcter absoluto da experincia moral, na qual v "o significado do mundo". O culminar da experincia moral, o sacrifcio, ao mesmo tempo a afirmao mais elevada da pessoa individual e a realizao mais completa da harmonia inter-pessoal. Aliotta considera, pois, que o postulado fundamental da aco o da "perenidade dos valores humanos" e que esta perenidade implica a imortalidade das pessoas, cujos valores humanos so indissociveis. Mas, na realidade, no se v que garantia possa oferecer a esta perenidade um universo instvel, imperfeito e em movimento, como o que Aliotta reconhece, e de que modo o processo da experincia, continuamente aberto e cheio de riscos, Possa fazer crer, de qualquer modo que seja, na Perenidade dos valores e na inevitabilidade do PrOgresSO- Na doutrina de Aliotta (como na de Jam<--), O trnsito do pragmatismo, ao espiritualismo 44 indica a negao implcita das categorias prprias do pragmatismo, e priva o espiritualismo das categorias que o justificam, reduzindo-o a uma hiptese fidesta, o que lhe tira precisamente aquela fora pragmtica de que pretendia usufruir. 758. PRAGMATISMO: MEAD: A CONDICIONALIDADE BICONTINUA Um dos mais importantes defensores do pragmatismo, para alm de Peirce e de Dewey, foi George Herbert Mead (1863-1931) que foi colega de Dewey na Universidade de Chicago e que colaborou com ele na formao de um conjunto de ideais comuns. A obra dos dois pensadores , por esta razo, complementar; e a diferente contribuio de cada um deles pode ser expressa pelas seguintes palavras de Charles Morris: "Se Dewey contribuiu com a sua largueza de ideias, Mead trouxe profundidade analtica e rigor cientfico. Se Dewey pode ser comparado a uma roda percorrendo o caminho do pragmatismo, ento Mead ser o eixo dessa roda; e, por muitos quilmetros que essa roda possa percorrer, ela nunca se poder afastar do seu eixo" (Mind. Self and Society, p. XI). Os escritos de Mead foram recolhidos aps a sua morte em trs volumes: A filosofia do presente (1932), Esprito, eu e sociedade (1934) e A filosofia do acto (1938). A tarefa da filosofia, segundo Mead, a de tentar compreender a relao entre o universo e o homem; entre o processo de evoluo emergente (ou 45
criador) em que consiste o universo, e a inteligncia reflexa que transforma as causas e os efeitos em meios e consequncias, as reaces em respostas e os termos do processo natural em fins (The Phylosophy of the Act, p. 517). Para se poder encarregar desta tarefa, a filosofia deve primeiramente recusar o dualismo, estabelecido pela filosofia tradicional, entre o universo e a razo, e o materialismo que seria urna reaco a ela; por outro lado, deve integrar em si mesma a unilateridade da cincia, que insiste no aspecto quantitativo e uniforme da natureza e descura o qualitativo e contingente. A misso da filosofia consiste em apresentar um universo uno, um conjunto quantitativo e qualitativo, compreendendo todos os seus significados, um universo no qual os mtodos da cincia experimental, as interpretaes que a cincia d de si prpria e as da experincia quotidiana, se encontrem includas (Ib., p. 516). Estamos aqui em presena de uma reafirmao da continuidade entre o universo e o homem (ou a sua actividade especfica que inteligncia e razo) que caracterstica de todas as formas do pragmatismo, do realismo e do empirismo contemporneos, alm de o ser igualmente de algumas formas de criticismo (Cassirer) e de espiritualismo (Bergson). O esquema conceptual utilizado por Mead para conduzir as suas anlises no foi por ele esclarecido propositadamente, mas pode ser designado com suficiente exactido por condicionalidade bicontnua ou contnua nos dois sentidos. A relao de determinao no se exerce apenas da condio para o condicionado mas, simultaneamente, no sentido contrrio, 46 pois a prpria condio , de qualquer forma, condicionada pelo seu condicionado. Este esquema serviu igualmente a Dewey, que nos ltimos tempos o exprimiu como conceito de transio ( 764). Mead faz dele um uso mais radical e rigoroso. Pode-se dizer que todos os pontos da sua filosofia se inspiram neste esquema explicativo, o qual nos surge de forma mais evidente na sua especulao sobre o tempo. O presente novo em relao ao passado; mas, como o presente se inscreve como parte essencial do universo, ele "rescreve o seu passado". Afirma Mead: "Dado um conceito emergente, as suas relaes com processos anteriores tomam-se condies ou causas. Uma tal situao um presente; isto individualiza e, num certo sentido, escolhe aquilo que tornou possvel a peculiaridade. Assim se cria, a partir da sua unicidade, um passado e um futuro. Se o quisermos, torna-se urna histria e uma profecia" (The Philosophy of the Present, p. 23). Quando a vida e a conscincia "emergem" do universo, elas tornam-se parte das condies determinantes do presente real e ns interessamo-nos em reconstruir o passado que condicionou a emergncia de tais acontecimentos, reconstruo essa que feita de modo a conduzir a uma nova aparncia desses objectos. "Quando a vida apareceu, ns podamos gerar a vida e, atravs da conscincia, podamos controlar o seu aparecimento e as suas manifestaes. Mesmo a afirmao do passado, no qual aparece o emergente, inevitavelmente feita a partir de um mundo no qual o emerge, um factor condicionante e condicionado" gen
p. 1 47 1 Deste ponto de vista, o conceito de experincia importante precisamente por se situar no ponto nodal do condicionamento bicontnuo entre o mundo e o indivduo. "0 mundo que se nos depara, este pedao de natureza, existe por obra da determinao teolgica do indivduo. Se lhe chamarmos "experincia", no se tratar apenas de experincia subjectiva do indivduo. Por outro lado, a estrutura causal do conjunto ou do ambiente que escolhemos, no determina de forma alguma uma sua seleco. Projectamos o mecanismo causal no futuro, como futura margem de experincia, mas sempre como condio para o futuro que foi seleccionado, nunca como condio da prpria seleco" (The Philosophy of the Act, p. 348). A conscincia, o conhecimento e a cincia so interpretados por Mead nos termos deste processo de seleco, que ao mesmo tempo condicionado e condicionante. "Existe, diz Mead, uma estrutura definida e necessria, ou gestalt, da sensibilidade dentro do nosso organismo e que determina selectiva e relativamente o carcter do objecto externo de que se apercebe. Aquilo a que chamamos conscincia deve ser considerado precisamente nesta relao entre o organismo e o seu ambiente. A nossa seleco construtiva de uni ambiente -cores, valores emocionais e outros-em termos da nossa sensibilidade fisiolgica, essencialmente aquilo que designamos por conscincia... Num certo sentido, o organismo responsvel pelo seu ambiente e, visto que organismo e ambiente se determinam um ao outro, dado que a existncia de cada um deles depende da existncia do outro, ento o processo da 48 vida, para ser compreendido de forma adequada, deve ser considerado em termos de tais inter-relaes" (Mind, Self and Society, p. 129-30). O acto do conhecer ele prprio um processo de seleco: consiste em "encontrar qualquer coisa que exista objectivamente no mundo que nos rodeia", se bem que "o mundo que nos rodeia o pressuposto do processo que ns chamamos conscincia (Ib., p. 64). O conhecimento cientfico investigao sobre aquilo que desconhecemos, descoberta; mas ele supe um mundo real que no se compromete nessa descoberta, podendo ser usado para pr prova essa mesma descoberta (Ib., p. 45 e segs.). O conjunto de problemas que podem ser enfrentados pela cincia deixa de ser a totalidade do mundo. O mundo que constitui o teste de todas as observaes e de todas as hipteses cientficas no um sistema que possa ser isolado enquanto estrutura de uniformidade ou de leis; pelo contrrio, todas as leis e outras formulaes de uniformidade devem comparecer no seu tribunal a fim de receberem o imprimatur. "Os confins da rea problemtica da cincia, diz Mead, dividem o mundo do campo em que a cincia trabalha. No entanto, estes confins, apesar de serem definidos em relao aos fins da experimentao de observaes e de hipteses, no so permanentes j que a cincia assume dentro deles uma atitude dupla; para os
fins da sua indagao imediata, esses limites so suficientes para a experimentao e para a confirmao, mas esse mesmo territrio que a sede da sua autoridade pode tornar-se problemtico" (Ib., p. 31-2). De qualquer modo, "a pedra de toque da realidade 49
um pedao de um mundo ainda no analisado que se utiliza para a experincia" (Ib., p. 32). o mundo onde a cincia opera tem assim um n formado pela experincia imediata: o controle dos elementos puros que so necessrios definio & uma teoria cientfica , em ltima anlise, confiado a dados vagos, indeterminados e conting ,entes que constituem o campo da observao e da experincia (Ib., p. 57). Este campo no nico nem permanente: os seus sectores e os seus problemas de indagao cientfica especficos so diferentes, sendo determinado negativamente pela rea problemtica em que se move esta indagao. 759. PRAGMATISMO: MEAD: SOCIABILIDADE DO MUNDO Outro tema fundamental da filosofia de Mead o do carcter social de todos os aspectos da experincia humana e de todos os seus objectos possveis. Mead fala at de um "carcter social do universo", consistindo no facto de cada novo acontecimento pertencer, simultaneamente, velha ordem (isto , ao mundo que existia antes de surgir esse acontecimento) e nova ordem, aquela que o prprio acontecimento anuncia. A sociabilidade , neste sentido, "a capacida-de de ser diferentes coisas ao mesmo tempo" (The Philosophy of the Present, p. 49). Mas, num sentido mais especfico, a sociabilidade existe em toda a experincia humana. Enquanto experincia de coisas fsicas, ela com efeito "uma organizao de pers50 pectivas". Nesta organizao, as perspectivas no so separadas ou independentes umas das outras. "A coisa de que um indivduo se apercebe e pode ser apercebida por outros que possam estar situados num espao-tempo adequado e investidos dos poderes necessrios. O indivduo apercebe-se da mesma coisa de que os outros se apercebem: tanto a coisa como a percepo tm este carcter generalizado" (The Philosophy of the Act, p. 140). No nvel imediatamente superior, o simbolismo (atravs dos gestos ou da linguagem, que um tipo particular de gesto) constitui um objecto que antes no existia e que existe apenas no contexto de relaes sociais em que surgem os smbolos. "0 processo social relaciona entre si a resposta de um indivduo e os gestos de um outro, assim como os significados de tais gestos, sendo ainda responsvel pela origem e existncia, na situao social, de novos objectos que dependam ou sejam constitudos por esses significados" (Mind, Self and Society, p. 78). Todo o processo do pensamento , segundo Mead, a conversao entre o indivduo que pensa e os outros. No acto do seu pensamento reflecte-se por isso a organizao do acto social. "A comunidade fala-lhe com uma mesma voz, mas cada indivduo fala-lhe partindo de um ponto de vista diferente; no entanto, estes pontos de vista esto em relao com a actividade social cooperativa e o indivduo, ao assumir uma atitude, passa a fazer parte, devido ao prprio carcter da sua resposta, das respostas dos outros" (The Philosophy of the Act, p. 153). Mead define em termos de sociabilidade as noes lgicas de universalidade e de necessidade:
51 "A universalidade a atitude de lanar um smbolo significante, como estmulo, a todo e qualquer membro de um grupo indefinido a fim de provocar a resposta exigida pela continuao do acto, estando o indivduo em questo includo no mesmo grupo. A necessidade uma atitude que consiste em aceitar uma situao reflexa, ou qualquer elemento dessa situao, como condio da possibilidade de provocar o acto por ela requerido, isto partindo do princpio de que o prprio indivduo de cuja atitude se trata membro do grupo em cuja actividade cooperativa surgiu o problema" (Ib., p. 389-90). Deste modo, a universalidade e a necessidade constituem, por assim dizer, a intencionalidade do smbolo lingustico quando utilizado como estmulo para provocar uma determinada resposta de qualquer um dos membros d.- um grupo ao qual pertence o prprio indivduo que utiliza o smbolo, A condio essencial , portanto, a incluso do indivduo que fala no mesmo grupo daqueles a que se dirige; ou seja, por outros palavras, a sua sociabilidade. A sociabilidade assim definida, como relao que existe na prpria estrutura e actividade do indivduo, o fundamento usado por Mead para esclarecer a noo de esprito, eu e sociedade. O esprito (Mind) deste modo a capacidade para se servir de smbolos que se refiram a uma determinada situao, de tal forma que eles possam ser utilizados da mesma maneira pelos diferentes membros do grupo; ou, por outros termos, "aquela relao do organismo com a situao que mediatizada por um conjunto de smbolos" (Mind, Self and Society, p. 120-125). E 52 neste sentido o esprito prprio do processo social dado que a totalidade deste processo apresenta-se a cada um dos indivduos que nele esto implicados (Ib., p. 134). Por outro lado, o "si mesmo" (self) ainda uma estrutura social, isto , uma estrutura que reflecte todo o processo social. Mea-d distingue no si mesmo o eu e o me. O me "o conjunto organizado pelas atitudes dos outros que possam ser assumidas, como prprias, por um dado indivduo"; o eu a resposta do organismo a tais atitudes. O eu constitui o aspecto novo e livre da personalidade humana. "A situao chama-nos para a aco de uma forma conhecida. Ns somos conscientes de ns prprios e daquilo em que consiste a situao, mas a forma como agiremos coisa que s entrar na nossa experincia quando a aco tiver lugar" (Ib., p. 177-78). O conceito de instituio est ligado estrutura do me. A instituio apenas a "organizao das atitudes que trazemos em ns prprios, das atitudes que so organizadas pelos outros e que controlam e determinam a conduta" (Ib., p. 211). A instituio representa a resposta comum dada pelos membros da comunidade a uma situao particular (Ib., p. 261), mas esta resposta nunca se encontra em pessoa alguma, na estrutura do seu me. A relao entre o
eu e o me constitui a personalidade, a qual surge na experincia social. Nela, o peso relativo do eu e do me, isto , da iniciativa pessoal e da forma ou estrutura convencional do eu, podem ser diferentes: O peso do me pode at estar reduzido ao mnimo, como acontece com os artistas e em certos tipos de comportamento impulsivo. A aco limitativa que 53
o me exerce sobre o eu o controle social. aco que a sociedade exerce sobre o eu atravs do me, responde a iniciativa do eu, sendo esta resposta "uma adaptao que age no s sobre si mesmo mas, tambm, sobre o ambiente social que ajuda a constituir-se a si mesmo, e isto porque, do mesmo modo que o ambiente age sobre o indivduo, tambm o indivduo age sobre o ambiente" (Ib., p. 214). Mead no nega que existam alguns aspectos da experincia humana que sejam "subjectivos" ou "privados", isto , apenas acessveis pelo prprio indivduo; mas pensa que este carcter de subjectividade no exclui a natureza e a origem social de tais aspectos. "A existncia de contedos de experincia privados ou subjectivos no altera o facto de que a auto-conscincia implique que o indivduo se tome um objecto de si mesmo, assumindo as atitudes dos outros indivduos para com ele adentro de um conjunto organizado de relaes sociais, e de que o indivduo no pode ser consciente de si mesmo ou ter um si mesmo sem se tomar um objecto de si mesmo" (Ib., p. 225). Esprito, eu e me constituem as caractersticas prprias da sociedade humana. "A situao humana, afirma Mead, um desenvolvimento do controle que todas as formas vivas exercem sobre o seu ambiente atravs da seleco e da organizao, se bem que a sociedade humana tenha atingido um ponto que nenhuma outra forma conseguiu atingir, o da determinao real, dentro de certos limites, de qual ser o seu ambiente inorgnico" (Ib., p. 252). Este fim tomou-se possvel sociedade humana devido forma especfica que nela assumiu a comunicao; 54 ou seja, devido forma pela qual um indivduo pode assumir a tarefa de um outro com o qual comunica. O poder assumir a tarefa de outro torna possvel a cada indivduo exercer um controle sobre a sua prpria resposta e, atravs deste, o controle social pode assumir a forma de autocrtica, dando origem integrao do indivduo e das suas aces no processo social da experincia e do comportamento (Ib., p. 254 e segs.). A correlao estrutural entre o indivduo e a sociedade, e simultaneamente a capacidade de iniciativa (logo, de liberdade) do indivduo, so as ideias fundamentais da filosofia social de Mead. NOTA BIBLIOGRFICA 750. De Peirce: Chawe, bove and Logic foi publicado por M. R. Cohen, New York, 1923 (trad. italiana, Turim, 1956). Os Collected Papers conipreendem 8 volumes e foram
editados em Cambridge, Mass., 1931-58. ,Sobre a lgica de Peirce: W. e M. KNEALE, The Develo~ of Logic, Oxford, 1962, p. 247 e segs. E ainda: J. BUCHLM, C. P.'s Empirism, New York, 1939; "The Journal orf Pllowphy", 1916, n.o 26 (nmero especial dedicado a Peirce); A. W. BURKS, in "Philosaphical Review", 1943; J. FEIBLEMANN, Introduction to P.'s Philosophy, Interpreted as a System, Nova Iorque, 1948; W. B. GALLIE, P. And Pragmatism, Londres, 1952; Studies in the Philosophy of C. S. P., volume colectivo editado por P. P. Wiener e F. H. Young, Cambridge, Mass., 1952. 751. Sobre James, especialmente: R. BARTON PERRY, The Thought and Character of W. J., Boston, 1935, e ainda Annotated Bibliography of the Wiitings 5-5 of W. J., Nova Yorque, 1920. E. E. SABIN, W. J. and Pra~tism, Lancaster, 1916; U. CUGINI, Llempirismo radicale de W. J., Npoles, 1925; Essays Philosophical and Pmjchological in Honor of W. J., de vrios autores, Nova Iorque, 1908; In Commemoration of W. J., 1842-1942, de vrios autores, Nova Yorque, 1912; W. J., The Man and the Thinker, de vrios autores, Madison, 1942; J. DEWEY, Problem& of Men, Nova Yorque, 1946, p. 379-409; G. A. ROGGERONE, J. e Ia crisi della coscienza contemporanea, Mil>o, 1961. 752. Sobre Schifier: STEMEN S. WHITE, -4 COMparison of the Philasophies of F. C. S. Schiller and J. Dewey, Chicago, 1940; M. T. VIRETTo GiLLiOTOs, LIumanesimo di F. C. S. Schiller, in Filosofi contemporanei (Ist. di Studi filos. di Torino), Milo, 1943, p. 161-222; REUBEN ABEL, The Pragmatic Humanism of F. C. S. Schiller, Nova Yorque, 1955. 753. Sobre VaihInger: P. SCHWARTKOPF, 11. HEGENWALD, G. SPENGLER, in "Zeit. %chrift fr Philosophie", 1912, n., 147; W. SWITALSKY, in "Philosophische Jahrb.", 1913; W. DEL NEGRO, in "Kantstudien", 1934. 754. De Unamuno: Obras Completas, Madrid, 1950 e seguintes. Sobre Unamuno: J. FERRATER MORA, U., Bosquejo de una filosofia, Ruenos Aires, 1944, segunda edio, 1957; F. VEGAS, II pensiero di M. de U., in "Riv. di Stoiria della Filosofia", Milo, 1948 (com indicae-s de ordem bibliogrfica); S. SERRANO PONCELA, El Pensamiento de U., Cidade do Mxico, 1953. De Ortega: Obras Completas, 6 volumes, Madrid, 1946-1947. 755. Sobre Ortega: F. MEREGALLI in "Studi Filosofici", Milo, 1943; J. MARIAS, O., Circunstancia y vocacin, Madrid, 1960; R. TREVES, Libert politica e verit, Milo, 1962, p. 63-101. 756. De Vailati: os Seritti foram recolhidos por M. Calderoni, U. Ricei e G. Vacca, Florena, 1911
56 Il metodo della filosofia, antologia realizada por F. Rossi-Land@ Bari, 1957. Contm uma bibliografiaDe Caldecroni: existe uma recolha das suas obras em Scritti, 2 volumes, Florena@ 1924. 757. De Aliotta: Opere Co-mplete, ed. Perella di Roma. Alguns ensaios notveis foram recolhidos em Evoluzionismo e spiritualismo, Npoles, 1948. Sobre Aliotta: GRENIER, in "Revue Philosephique", 1926; M. F. SCIAmk, Il pensiero di A. A., in "Archivio di storia della filosofia italiana", 1936. 758. De Mead, existe uma bl-ibilografia dos seus escritos em Mind, Self and Society, p. 390-2. Sobre Mead: D. VICTOROFF, G. H. M. Sociolog-ue et philosophe, Paris, 1953 (com bibliografia); M. NATANSON, Th-e Social Dynamics of G. H. M., Washington, 1956 (com bibliografla); e ainda a extensa introduo de C. W. MopRis a Mind, Self and Society, Chicago, 1934, e a The Philosophy of the Act, Chicago, 1938, segunda edio, 1953. 57 rX DEWEY 760. A OBRA DE DEWEY Pragmatismo, Iluminismo e naturalismo constituem os trs aspectos fundamentais da obra de Dewey. Est ligado ao pragmatismo pela sua polmica contra o idealismo e pelo mito de um intelecto puro, para alm da afirmao do carcter instrumental da razo. Ao iluminismo, liga-o o facto de atribuir razo a tarefa de dar ordem e estabilidade ao mundo da natureza e do social. Ao naturalismo, liga-o a convico de que entre o homem e a natureza no existe oposio mas sim continuidade, devendo essa continuidade ser assumida como fundamento da conduta humana. "0 reconhecimento inteligente da continuidade entre natureza, homem e sociedade, afirma Dewey, a nica base para o desenvolvimento de uma moral que seja responsvel sem ser 59 fantica, rica de aspiraes irias sem sentimentalismo, adaptada realidade mas sem convenes, prudente mas sem tomar a forma de um clculo de possveis lucros, idealista sem ser romntica" (Human Nature and Conduct, 1950, p. 13). John Dewey, nascido em Burlington, Vermont (E.U.A.), a 20 de Outubro de 1859, e tendo falecido em Nova Iorque a 2 de Junho de 1952, ensinou nas Universidades de Michigan (1884-88), Minnesota (1888-89), Michigan (1889-94), Chicago (1894-1904) e na Columbia University de New York (1904-1929). Os Estudos sobre a teoria lgica (1903), publicado por ele em colaborao com outros estudiosos, assinalaram o nascimento da " Escola de
Chicago", cuja influncia sobre o pensamento filosfico dos Estados Unidos foi bastante importante nos anos ulteriores. A sua ltima grande obra, A lgica como teoria da investigao (1938), conclui e sistematiza os resultados fundamentais da investigao lgica e poseolgica de Dewey e da sua escola. Esta obra, simultaneamente com Experincia e natureza (1925) e A procura da certeza, duas outras obras fundamentais, fazem deste autor uma das personagens mais representativas da filosofia contempornea. Temos ainda nossa disposio vrios escritos notveis e recolhas de ensaios: Reconstruo filosfica (1920); Natureza e comportamento do homem, introduo psicologia social (1922); Filosofia e civilizao (1931); Uma f comum (1934); Liberdade e cultura (1939); Teoria da valorao (1939), includo na "Enciclopdia Internacional da Cincia Unificada"; Problemas dos homens (1946) e O Cognoscente e o 60 conhecido, este ltimo em colaborao com Arthur F. Bentley (1949). Dewey passou pela experincia do pensamento idealista, especialmente pelo de Hegel. Da extraiu a convico de que a realidade um todo (monismo) no qual todas as distines e oposies sobrevm apenas num segundo momento. Mas enquanto para Hegel o todo racionalidade absoluta na qual coincidem o ser e o dever ser e em que a presena do facto se identifica com o valor, para Dewey o todo implica a incerteza e o erro, precaridade e risco, e a razo apenas um meio para fornecer a uma situao uma maior estabilidade e segurana. 761. DEWEY: O CONCEITO DE EXPERINCIA O ponto de partida de Dewey a experincia, e nisto a sua doutrina relaciona-se (como j tinha feito James com o seu pragmatismo) com o empirismo clssico da tradio inglesa. Contudo, o seu conceito da experincia diferente do tradicional no empirismo. A experincia de que fala o empirismo , certamente, a totalidade do mundo do homem, mas um mundo simplificado e depurado de todos os elementos de desordem, perturbao e erro, e reduzido a estados de conscincia, concebidos cartesianamente como claros e distintos. A experincia de que fala Dewey , pelo contrrio, a experincia primitiva, indiscriminada e tosca, que inclui dentro de si todas as qualidades e factores de perturbao, de risco, de perversidade e de erro que afectam inevitavelmente a 61 vida humana. "Nada. mais irnico do que o facto, diz Dewey, de que precisamente os filsofos que ensinaram na universidade tenham sido to frequentemente especialistas unilaterais e se tenham limitado ao que autntica e seguramente conhecido, ignorando a ignorncia, o erro, a loucura, os prazeres comuns e aliciantes da vida". E que dizer de um empirismo que esquece e ignora a morte? "Considerando o papel que a antecipao e a memria da morte desempenham na vida humana, desde a religio at s companhias de
seguros, que pode dizer-se de uma teoria que define a experincia de tal modo que faz logicamente concluir que a morte no nunca matria de experincia?". A experincia no se reduz, pois, como o empirismo tinha julgado, a uma conscincia clara e distinta. E tambm no se reduz a conhecimento. O ser e o ter precedem a conscincia e condicionam-na. "Existem duas dimenses nas coisas experimentadas, afirma Dewey: uma t-la, e a outra conhec-la, a fim de a ter de forma mais significativa e segura" (Experience and Nature, p. 21). No existe um problema do conhecimento no sentido em que ele foi concebido pela gnoseologia tradicional; existe apenas o problema de encontrar, atravs dos processos cognitivos, aquilo que necessrio que exista nas coisas que temos ou naquilo que somos, "para garantir, rectificar ou evitar s-lo ou t-lo". A supremacia do ser e do ter um aspecto caracteristicamente pragmtico da filosofia de Dewey. O conhecimento, na- opinio deste autor, no tem uma tarefa autnoma ou privilegiada. O aspecto cognitivo da experincia importante pela simples razo de ser 62 instrumental e de estar subordinado a aspectos no cognitivos que Dewey sintetiza no ser e no ter e que designa serem os "do muor, do desejo, da esperana, do medo e dos outros aspectos caractersticos da individualidade humana" (in. The Phil, of J. D., ed. Schilpp, 1939, p. 548). Deste ponto de vista, os problemas da conscincia e da lgica nascem sempre num terreno que no cognoscitivo nem lgico, mas que o procede e que pertence experincia imediata. Assim, um homem pode ou no ter a certeza de estar com sarampo, dado que o sarampo um termo classificatrio; mas no pode duvidar daquilo que tem (daquilo de que se apercebe ou sente) no porque seja "imediatamente bvio", mas porque no constitui matria de conhecimento (logo de verdade ou de falsidade, de certeza ou de dvida), mas apenas de existncia (Experience and Nature, p. 21). No tendo um carcter principalmente cognitivo, a experincia no ser tambm um simples registo ou acumulao de dados. Por um lado, Dewey acentua e esclarece o seu carcter de orientao para o futuro, de acordo com a posio pragmtica (Philosophy and Civilizat,'on, 1931, p. 24-25). Por outro, contrape-a "fisiologia das sensaes", aproximando-a da histria enquanto conjunto de "condies objectivas - foras e acontecimentos - e do registo e valorao destes acontecimentos, realizado pelos homens" (Experience and Nature, p. 27). De acordo com esta ltima particularidade, a experincia sempre uma experincia humana na medida em que o facto de o homem pertencer natureza algo "que qualifica tanto a natureza como a sua experincia" 63 (Problems of Men, p. 351). De qualquer modo, a
experincia vale para o filsofo como memento: "um memento de qualquer coisa que no exclusiva e isoladamente nem sujeito nem objecto, nem matria nem espirito, e que no releva de um desses caracteres mais do que de qualquer outro" (Ib., p. 27). Por outros termos, o apelo experincia serve para recordar que a natureza no existe sem o homem, nem o homem sem a natureza; e que por isso no se pode considerar a si mesmo nem como um anjo que tenha cado por mero acaso num mundo de coisas nem como um pedao qualquer de um complexo mecanismo. De acordo com o naturalismo de Dewey, o homem deve sentir-se solidamente implantado na natureza apesar de estar destinado a modificar-lhe a estrutura e a realizar-lhe o significado. 762. DEWEY: A INSTABILIDADE DA EXISTNCIA Segundo Dewey, a instabilidade, o precrio, o risco e a incerteza, so os traos caractersticos da existncia em todas as suas formas e em todos os seus graus. No o temor que faz nascer os deuses, mas antes a situao precria da qual nasce o temor. As foras mgicas e sobrenaturais a que apela so a primeira garantia em que o homem se apoia contra este estado precrio. Quando ela falta, outras tornam o seu lugar: a imutabilidade do ser, as leis universais e necessrias, a uniformidade da natureza, o progresso universal, a racionalidade inerente ao universo. A filo64 sofia toma o lugar da superstio e da magia, e inclusivamente tambm o seu ofcio: o de entreter o homem na iluso de que as coisas que ama, os valores de que depende a sua existncia, esto garantidos pela prpria realidade em que ele vive e que, por isso, sero conserva-dos e preservados em qualquer Caso. Toda a filosofia deste gnero fruto de uma simplificao e de uma sofisticao da experincia: simplificao, porque se considera unicamente um dos seus traos, o mais favorvel, que se manifesta nas uniformidades e nas repeties aproximadas dos seus caracteres; sofisticao, porque este trao, considerado abstractamente, se estende totalidade da experincia. Os sistemas filosficos tradicionais, tanto realistas como idealistas, materialistas como espiritualista--,, no se eximiram a esta sofisticao. As prprias filosofias de Heraclito, Hegel e Bergson, que insistem na incessante transformao, acabam por divinizar tal transformao ou devir, fazendo deles um elemento de estabilidade e de ordem e, portanto, uma garantia infalvel para os desejos ou objectivos humanos. Ora esta precisamente, segundo Dewey, a falcia filosfica por excelncia. Fazer prevalecer a estabilidade sobre a instabilidade, garantir, tanto quanto possvel, o uso e o desfrute dos bens e dos valores que lhe so necessrios , certamente, o objectivo fundamental de uma direco inteligente da vida humana; mas um objectivo que nada pode garantir, a no ser precisamente a obra activa da inteligncia humana nos limites em que esta obra obtm xitos. 65 Transformar esse objectivo numa realidade, num antecedente condio causal dela, o que
constitui o sofisma bsico da filosofia tradicional, a qual, por isso, confina ao domnio da aparncia, do erro, da iluso, tudo o que lhe parece incompatvel com a imutabilidade, a necessidade, a racionalidade e a perfeio do ser; e assim divide o mundo da experincia em dois troos ou troncos, fazendo surgir o problema da sua relao. A persistncia com que o problema do mal, do erro, da iluso, se apresenta na histria da filosofia uma prova da tendncia, inerente filosofia, de considerar real s o que perfeito, ordenado, racional e verdadeiro. Tal problema , naturalmente, insolvel; mas insolvel apenas por ser um problema falso, nascido da diviso, que no deve estabelecer-se, entre o ser e a aparncia. O erro, o mal, a desordem, irracionalidade, no so aparncias mas realidades com o mesmo ttulo e direito que os seus contrrios. Declar-los aparncia e no-ser de nada serve. O homem deve, antes, esforar-se e lutar por reduzir, o mais possvel, as suas consequncias relativamente a ele. No entanto, Dewey optimista acerca do xito deste esforo. A doutrina da evoluo que ele, como muitos outros filsofos do seu tempo, defendia como esquema geral do universo, levava-o a admitir o sentido progressivo da evoluo do universo, mesmo naquela sua parte restrita que o homem. De certo modo, isto limita ou prejudica o seu reconhecimento do carcter instvel do mundo e da incerteza das vicissitudes humanas. No entanto, no nos podemos esquecer que Dewey foi, principalmente nas suas 66 obras da maturidade, um dos mais enrgicos e eloquentes defensores de tais caractersticas. 763. DEWEY: A LGICA Ora acontece que esse esforo e essa luta pela aceitao de tais ideias so condicionados pela investigao cientfica, e filosfica. Dewey chama Lgica sua Teoria da investigao, se bem que no se trate de uma lgica no sentido prprio do termo. Apesar de os objectos tradicionais da lgica (termos, proposies, silogismos, processos de comprovao) serem examinados e discutidos nesta obra, esta ltima no tem por objecto operaes lingusticas ou cognitivas mas, de acordo com a sua expresso, operaes existenciais que consistem na manipulao ou transformao das coisas tendo em vista o seu uso ou o seu consumo. certo, segundo este autor, que existem operaes efectuadas com smbolos ou sobre smbolos, mas estes s aparecem nelas a fim de indicar "possveis condies existenciais finais" e, portanto, tambm elas consistem, em ltima anlise, em operaes existenciais (Logic, p. 15). Deste ponto de vista, o predicado no a enunciao "realista" de algo existente, mas sim uma valorao "que respeita a qualquer coisa ainda no realizada" (Ib., p. 167). As proposies universais so "formulaes de possveis formas de agir ou de operam (Ib., p. 264); elas formulam "a efectiva execuo de um
modo de operar" (Ib., p. 274). Uma proposio **numnrica ser o produto da execuo da operao 67 indicada como possvel por uma proposio universal Qb., p. 275). O silogismo constitudo por duas condies proposicionais, sendo uma delas uma proposio universal exprimindo uma relao entre caractersticas abstractas (do tipo "Se A, ento B"), e a outra uma proposio relativa a matria de facto; no seu conjunto, o silogismo "a anlise de uni juzo final", isto , de uma "deciso que se concretiza como consequncia de uma ordem existencial" Qb., p. 323). Estas definies mostram claramente que, para Dewey, as expresses lingusticas no tm uma sintaxe prpria, no sendo tarefa da lgica descrever essa sintaxe, mas antes de considerar a sua insero no processo da investigao que se move numa dada situao existencial e que tenta transform-la. O estudo do mtodo indutivo , neste autor, caracterstico de tal ponto de vista. Segundo Dewey, "a induo o nome dado a um conjunto de mtodos aptos a determinar se um dado caso representativo [da generalidade dos casos], funo essa que se exprime dizendo que o caso considerado um caso exemplar" (Logic, p. 436). Assim, todo o trabalho da induo consiste em determinar quais so os casos singulares (ou conjuntos de casos) que podem ser considerados como representativos ou exemplares relativamente a todos os outros. Efectuada esta operao, o problema da induo pode considerar-se resolvido pois a generalizao indutiva torna-se uma pura tautologia que consiste em afirmar que o caso considerado representativo de todos os outros e que, por isso, aquilo que vale para ele vale para todos. Por outras palavras, escolhendo **"V>wates,,> 68 como representativo de "os homens", o afirmar que "os homens so mortais" uma repetio tautolgica de "Scrates mortal", visto que a generalizao indutiva j est compreendida na escolha do exemplar "Scrates". Ora, segundo Dewey, a escolha do exemplar uma operao experimental, isto , um processo cognitivo mas existencial: isto porque todo o processo indutivo dado e resolvido, sem ulteriores dificuldades ou problemas, na prpria escolha operacional (que no justificada de nenhum outro modo) do modelo exemplar. Deste ponto de vista, desaparecem bviamente todos os problemas tradicionais da induo, principalmente aquele que se refere possibilidade de justificar a generalizao a partir da justeza de um nmero limitado de casos; mas, por outro lado, a induo reduz-se a um acto pouco menos que arbitrrio cuja base reenviada pala um fundamento "operacional" do qual, verdadeiramente, nada se pode dizer. Vemos ainda que a induo e a deduo deixam de ser dois processos de indagao diferentes, tornando-se dois sentidos diferentes dum mesmo processo "conforme o objectivo for a determinao de da-dos existenciais adaptados e fecundos ou de adaptados e fecundos conceitos inter-relativos", como o viajar de Nova Iorque para Chicago ou de Chicago para Nova Iorque (Ib., p. 484). 764. DEWEY: A TEORIA DA INDAGAO
A lgica de Dewey no , portanto, uma "lgica" no sentido em que essa designao foi e atribuda 69 a tal disciplina. Dificilmente podero ser consideradas como grandemente importantes as crticas, notaes e interpretaes, no entanto engenhosas e elaboradas, que Dewey forneceu sobro os conceitos da lgica. Aquilo que mais lhe interessava era antes uma teoria da indagao tendo por objecto a definio das condies que lhe possam garantir o sucesso. Dewey interessa-se principalmente pelo estabelecimento de um ponto de partida e de um ponto de chegada da indagao. A investigao , em geral, definida como "a transformao controlada e dirigida de uma situao indeterminada para uma situao determinada nas suas distines e relaes constitutivas, de modo que converta os elementos da situao primitiva num todo unificado" (Logic, pgs. 104-105). A situao da qual parte toda a investigao racional uma situao real que implica incerteza, perturbao e dvida. Por isso, a dvida no um estado subjectivo (a menos que se trate de uma dvida patolgica); o carcter de uma situao em si mesma indeterminada, confusa e incerta. Esta situao torna-se problemtica, no apenas objecto de uma investigao. A determinao de um problema sempre o encaminhamento para a sua soluo e, por isso, o comeo de uma investigao progressiva. Logo que um problema sobre factos que constituem a situao primitiva colocado, apresenta-se j a possibilidade da sua soluo, que se chama ideia e que consiste numa antecipao ou previso do que pode suceder. A necessidade de desenvolver o significado implcito da ideia d lugar ao raciocnio, o qual se serve de smbolos, isto , de 70 palavras, mediante os quais o significado da ideia referido ao sistema das outras ideias e assim explicado nos seus diversos aspectos. A soluo do problema, antecipada na ideia e no raciocnio que tomou explcito o seu sentido, converte-se no ponto de partida de uma experincia capaz de nos esclarecer sobre se devemos ou no aceitar como vlida essa soluo, ou se e em que sentido ela dever ser modificada a fim de ser aplicvel para a interpretao e organizao dos factos em questo. Dewey faz notar, quanto a isto, que enquanto os factos observados so de natureza existencial, a matria de idealizao no o : como que esses dois factores heterogneos podem colaborar um com o outro para a soluo de uma situao existencial? A resposta inevitvel, segundo Dewey, que tanto as ideias como os factos so de natureza operacional. As ideias so operacionais enquanto propostas e planos de interveno sobre as condies existentes (Ib., p. 113); e os factos so-no enquanto resultados de operaes de organizao e de escolha (Ib., p. 113), A concluso da indagao o juzo, mais precisamente o juzo final, semelhante ao veredicto de um tribunal de justia, e consistindo na efectiva sistematizao da situao atravs de uma "deciso directiva da actividade futura" (Ib., p. 121). Dewey parece assemelhar o juzo aos veredictos daqueles tribunais de justia em que no
se pode recorrer das sentenas. Por outros termos, ele considera o juzo com o qual termina uma indagao como definitivo e no susceptvel de ser posto em dvida por uma outra indagao suplementar, ou at 71 mesmo diferente e independente dela, mas cujos resultados estejam de qualquer modo relacionados com ela. No entanto, isto parece reduzir a "soluo" do "problema" pura e simples eliminao desse mesmo problema, isto , ao advento de uma situao na qual o problema deixa de ter sentido. Pode-se objectar que esta caracterizao do problema no suficientemente precisa e demasiado optimista. Uma frmula matemtica ou um medicamento no eliminam o problema ou a doena para os quais foram escolhidas; podem apenas superlos de todas as vezes que se apresentam. Por outras palavras, no do origem a uma situao definitivamente no problemtica. Dewey considera que este tipo de processos de indagao serve para constituir, em primeiro lugar, o mundo do senso comum, que a cultura habitual de um grupo social e constituda pelas tradies, ocupaes, tcnicas, interesses e instituies do grupo. Os significados implcitos no sistema comum da linguagem determinam o que os indivduos do grupo podem ou no podem fazer relativamente aos objectos fsicos e nas suas relaes mtuas. pelo mesmo processo que se forma a cincia, a qual liberta os significados da linguagem de qualquer referncia ao grupo limitado a que a linguagem pertence, dando assim origem a uma nova linguagem, regulada apenas por um princpio de coerncia interior. Dado que na cincia os significados das palavras se determinam a partir da sua relao com outros significados, as relaes convertem-se no prprio objecto da investigao cientfica, enquanto que as qualidades so relegadas para 72 DEWEY um plano secundrio e usadas apenas quando servem para estabelecer relaes. Deste ponto de vista, o objecto e o sujeito da investigao adquirem um novo significado. O objecto da investigao, logicamente falando, "aquela srie de distines e de caractersticas correlativas que emergem como constituinte bem definido de uma situao resolvida e que so confirmadas no prosseguimento da investigao". Dado que os objectos so usados sempre deste mesmo modo em investigaes ulteriores, apresentamse, relativamente a elas, como objectos j constitudos e, portanto, reais. E assim se justifica o realismo. "Que as pedras, as estrelas, as rvores, os ces, os gatos, etc., existam independentemente dos processos particulares de um sujeito cognoscente, afirma Dewey (Logic, p. 521), um facto de conhecimento to bem fundamentado como qualquer outro. Isto porque, enquanto conjuntos de diferenas existenciais correlativas, eles sursistemticamente nas investigaes dos indivduos e da
raa. Em muitos casos seria um gasto intil de energia repetir as operaes pelas quais se instituiu e confirmou a existncia desses seres. Supor que o sujeito individual quem os constri com os seus processos mentais imediatos to absurdo como supor que ele quem cria as ruas e as casas que v ao percorrer a cidade. Contudo, as ruas e as casas foram construdas, utilizando operaes existenciais e actuando sobre materiais existentes independentemente, e no por processos " mentais". 73 Por outro lado, o sujeito do conhecimento surge e constitui-se no decurso da investigao. "Uma pessoa ou, mais genericamente, um organismo, converte-se em sujeito cognoscente pelo seu empenho em realizar operaes de investigao organizada" (M., p. 526). Admitir que h um sujeito cognoscente independente e anterior investigao, significa fazer uma suposio que impossvel verificar empiricamente e que, por isso mesmo, apenas um preconceito metafsico. Para exprimir o carcter inter-relativo ou complementar dos factores que entram na constituio do senso comum e da cincia, e para excluir a possibilidade de cristalizao desses factores em entidades pressupostas pelos processos em cuja constituio eles entram, Dewey utilizou nos seus ltimos escritos (e especialmente na obra O cognoscente e o conhecido, escrita em colaborao com Bentley) o termo transaco, extrado da linguagem de negcios. Do mesmo modo que no existem nem "compradores" nem "vendedores", nem "bens" nem "servios", a no ser nas transaces em que participam as coisas e os seres humanos, tambm no existe nem sujeito nem objecto e, portanto, nem factos nem expresses lingusticas, a no ser nos processos activos do conhecer. 765. DEWEY: CONSCINCIA, ESPRITO EU Todo o processo cognitivo, segundo Dewey, releva de um desejo humano de transformar a realidade. Os signIficados que emergem no decurso de tal processo, isto , os conceitos, delineiam novos mtodos 74 de transformao e de operao tendo em vista adaptar melhor a realidade aos fins humanos. Enquanto mtodos deste tipo, os significados tm uma tal importncia para a vida humana que foram considerados durante muito tempo, sob o nome de essncia ou de forma, a prpria substncia da realidade. Em lugar disso e como j se disse, eles so apenas instrumentos para agir sobre ela; e porque o seu uso no est limitado a um determinado momento, eles podem ser considerados intemporais, mas no "eternos", no sentido elogiativo que esta palavra comporta, pois que todo o seu possvel uso se refere a acontecimentos no tempo. Na tentativa de adaptar a experincia aos fins humanos surgem, no decurso dessa mesma experincia, aqueles aspectos que a filosofia tradicional considerou como realidades existentes em si mesmas ou substanciais: a conscincia, o esprito e o eu. A anlise mais exaustiva que Dewey fez destes aspectos foi a publicada na sua obra Experincia e natureza, a qual nos apresenta alguns pontos anlogos doutrina -de Mead.
A conscincia constitui o momento crtico de uma transformao da experincia, o ponto crucial no qual a exigncia de uma readaptao ou de unia nova direco da experincia se faz sentir com maior fora. A conscincia no a causa da mudana, do mesmo modo que no o a fora que a produz ou o substracto que a rege; ela a prpria mudana. O que constitui a conscincia , na realidade, a dvida: o sentimento da existncia de uma situao indeterminada, suspensa, que urge readaptar e determinar. 75 A ideia que constitui o objecto da conscincia, e que a prpria conscincia na sua clareza e vivacidade, no mais do que a previso e o anncio da direco em que a mudana ou a readaptao possvel; por isso, Dewey diz que, num mundo que no tivesse instabilidade e incerteza, a chama vacilante da conscincia apagar-se-ia para sempre. Por outro lado, o esprito o sistema organizado dos significados expressveis (conceitospalavras ou palavras-conceitos); ou seja, o sistema de crenas, noes e ignorncia, de aceitaes e repdios, que se formaram sob a influncia do hbito e da tradio". O esprito existe nos indivduos, mas no o indivduo. O indivduo s se constitui como eu ou pessoa no acto em que emerge do esprito do seu grupo e do seu tempo, de um modo nico e especfico, como autor de alguma nova inveno. O constituir-se funcional do eu ou da pessoa particularmente evidente no caso da experincia poltica. Quem se torna crtico de uma instituio ou de um regime em nome de uma instituio ou de um regime melhor no tem a vantagem do filsofo naturalista que contra o erro ou o prejuzo existente apela para a realidade da natureza. Naquele caso, o indivduo no pode apelar seno para si mesmo, para os seus direitos como indivduo e para os dos outros indivduos; e assim sucedeu historicamente, com efeito, no jusnaturalismo do sc. XVII. Nesta condio, o indivduo emerge como personalidade ou eu que escapa ao peso da tradio e se pe em luta contra ela. No se pode, com efeito, ver no eu uma substncia, uma causa, uma fora, independente da experincia e das con76 dies em que esta se verifica. O eu a experincia no ponto crucial do seu esforo de renovao. por isso que, normalmente, as frases "eu penso, eu creio, etc." so imprprias, porque se referem ao sistema comum dos significados tradicionais e no supem nenhuma tomada de posio pessoal e responsvel. Seria preciso dizer: "pensa-se, cr-se, etc.", j que a sua referncia impessoal e annima. A frase "eu penso, eu creio, etc.", adquire a sua autntica significao apenas quando se assume a responsabilidade da crena ou da aco de que se trata, ou se anuncia a pretenso aos benefcios eventuais que derivam da mesma, enquanto se aceita a responsabilidade dos males que dela podem derivar. Daqui surge o que Dewey chama "a ambiguidade do eu", isto , a sua possibilidade de situar-se de duas maneiras diferentes frente ao mundo: aceitando-o ou repudiando-o. O eu, com efeito, pode sentir-se bem no mundo em que vive, aceit-lo Plenamente e sentir-se membro dele: neste caso, est terminado e completo. Mas pode tambm sentir-se em desacordo com o mundo e refut-lo intimamente. Ento, ou se rende ao mundo, deixandose levar pela rotina que ele apresenta, por amor paz, convertendo-se em seu parasita ou
num solitrio egosta, ou tende a mudar activamente o mundo, e tem-se ento o eu caracterizado pelo esprito de iniciativa e de aventura, o eu crtico e dissolvente. A este eu deve o mundo as suas alteraes e as suas revolues com todos os riscos inerentes, j que em toda a tentativa de renovao nada est garantido de antemo 77 e o xito do mesmo no responde, a maior parte das vezes, inteno de quem o promoveu. Deste ponto de vista assumem diferente significado os problemas tradicionais do homem, por exemplo, o da liberdade. A liberdade que cada homem estima o pela qual combate, diz Dewey, no um livre arbtrio metafsico mas qualquer coisa que inclui trs factores: 1) a eficincia da aco, a habilidade de realizar os projectos e a ausncia de obstculos; 2) a idade de variar os prprio **capac, de experimentar a novidade; 3) a s projectos, de mudar o curso da aco e
'dade de desejar e escolher o ser ou no factor capac, determinante dos acontecimentos. Sob este ltimo aspecto, o homem tem necessidade de possibilidades efectivas abertas no mundo e dirigidas para o futuro. "Prever as futuras alternativas, pode deliberar sobre a -escolha de uma delas, avaliar as suas chances 1 na luta pela existncia futura, o que mede a nossa liberdade" (Hvman Nature and Corduct, p. 311). A afirmao do determinismo segundo a qual a escolha, por ser determinada pelo carcter e pelas condies, exclui a liberdade, semelhante quela outra que nos diz: "visto que uma flor vem da raiz e do caule, ela no pode dar frutos". A liberdade depende das consequncias da escolha, no dos seus antecedentes. Ela naturalmente no teria sentido num mundo perfeito e imvel: mas j vimos que, lia opinio de Dewey, o mundo no assim. N. dos T.: em francs no texto original. 78 766. DEWEY: VALORES E ARTE A tese fundamental de Dewey, de que o homem e o mundo constituem uma unidade e que a experincia autntica a histria desta unidade, exclui a possibilidade de o homem, em alguma actividade, quer seja a arte, a cincia ou a filosofia, poder ser espectador desinteressado do mundo sem ver-se envolvido nas suas vicissitudes. Toda a actividade humana produtiva e operatria, envolve o mundo e o homem na sua aco recproca. Por isso, toda a actividade humana implica uma relao de meios a fins e de fins a meios; nenhuma delas exclusivamente final e consumidora e nenhuma exclusivamente instrumental ou produtiva. caracterstico da doutrina de Dewey a reintegrao do conceito de fim natural. O finalismo da natureza, destrudo pela cincia moderna desde os seus comeos, parece inconcilivel com uma filosofia que no
queira adormecer o homem na iluso de que o mundo tenha sido feito e esteja dirigido unicamente para a satisfao das suas necessidades e desejos. Mas o conceito de fim natural perde, na doutrina de Dewey, todo o carcter antropomrfico e antropocntrico. No tem nada que ver com os fins que o homem se prope nem com os valores que respeita. Um fim natural o termo de um processo natural; termo que pode ser bom ou mau, agradvel ou desagradvel para o homem, e que no tem, em si, por conseguinte, qualquer qualidade antropocntrica. O finalismo tradicional confundiu os termos naturais com os fins humanos; e assim falou de um termo ltimo ou de 79 um fim ltimo, relativamente ao qual todos os outros fins estariam ordenados e distribudos numa hierarquia progressiva. Ora no existe nada disto, segundo Dewey. Todo o fim tambm um meio e todo o meio para alcanar um fim em si mesmo satisfeito ou sofrido como um fim. A actividade produtiva, que diz respeito aos meios, e a actividade consumidora, que diz respeito aos fins, esto estreitamente unidas e no podem ser separadas uma da outra. Esta conexo abre o caminho para entender o processo da valorao e, portanto, a arte e a cultura. Dewey admite, de acordo com Moore, que os valores so qualidades imediatas. "Enquanto valores, nada h a dizer deles: so aquilo que so" (Experience and Nature, p. 396). Explicar a razo porque um objecto nos agrada e nos d prazer coisa que diz respeito ao porqu da existncia de um valor mas no ao prprio, valor. O homem orienta-se para essa explicao, e portanto para os problemas e escolha dos valores, atravs de uma actividade crtica e reflexiva que nasce como resultado de uma satisfao parcial. Todo o processo de valorao supe, em primeiro lugar, a averso a uma situao existente e a atraco para uma situao possvel no futuro; e, em segundo lugar, uma relao determinvel e comprovvel entre a situao possvel, que um fim, e as actividades que constituem os meios para a realizar (Theory of Valuation, 1939, p. 13). A considerao dos meios essencial para qualquer fim genuno que no seja um desejo ftil ou uma fantasia v. As coisas que aparecem como fim so, na realidade, apenas antecipaes ou previses daquilo que pode 80 ser levado a existir em determinadas condies: por isso que, fora da relao entre meios e fins, no existe um problema da valorao (Ib., p. 53). A coisa evidente no campo da arte. Com efeito, admite-se explicitamente no mundo moderno que a criao dos valores estticos algo superior ao seu mero desfrute. Ora a criao produo, e implica a entrada na prtica dos meios adequados produo dos significados estticos. Mas, sendo assim, a distino ntida entre artes belas e artes teis est destinada a desaparecer. As artes belas so, elas prprias, teis e produtivas, como as chamadas teis; e se as artes teis, por seu lado, o so verdadeiramente, isto , se contribuem para enriquecer o sentido da vida humana, so tambm belas. "A histria da separao e da aguda oposio final entre o til e o belo, afirma Dewey, a histria do desenvolvimento industrial, no qual uma to grande parte da
produo se tornou uma forma de vida escravizada e em que uma to grande parte do consumo constitui um gozo parasitrio dos frutos da fadiga dos outros" (Art as Experience, trad. ital., p. 35). entre a experincia esttica e os outros tipos de experincia (intelectuais ou prticos) no existe portanto nenhuma diferena radical. Todas so igualmente um compromisso entre o sofrer e o fazer: implicam um momento passivo ou de receptividade e um momento activo, de criatividade. Mas na experincia especificamente esttica prevalecem caractersticas que nas outras experincias so secundrias: concretamente, aquelas que tomam esse tipo de experincia "completo e orgnico em si mesmo". Para 81 constituir uma tal experincia, os seus elementos devem-se subordinar ao nico fim de contribuir para a perfeio do todo; e, nesse sentido, esses elementos tornam-se forma. Enquanto que os objectos das artes industriais tm uma forma adaptada ao seu uso particular, o objecto esttico tem uma forma que no se encontra subordinada a nenhum fim especial, a no ser a uma exigncia de totalidade (Ib., p. 139). Uma forma deste tipo uma forma expressiva, ou seja, no instrumental mas final. A expresso artstica transfigura a emoo original sem a abolir; ela no , como esta ltima, um simples desabafo ou a manifestao de um impulso. " No desabafo propriamente dito, uma situao objectiva o estmulo, a causa da emoo. Na poesia, o material objectivo torna-se o contedo e a matria da emoo e no a sua ocasio evocativa" (Ib., p. 83). por isso que uma emoo excessiva contrria expresso esttica. Nela, existe muita "natureza"; e a arte no natureza, mas sim natureza transformada por novas relaes que consentem uma nova reaco emotiva. 767. DEWEY: A FILOSOFIA Do mesmo modo que a arte, a filosofia um comentrio natureza e vida que pretende enriquecer-lhe o significado; mas possui ainda um objectivo especfico que essencialmente crtico. Dewey retoma a velha definio de filosofia como "amor sabedoria". Neste aspecto, a filosofia contribui para a expanso e renovao dos valores tradicionais atravs da cr82 tica. Esta uma crtica das crticas, que tem como finalidade interpretar os acontecimentos para fazer deles instrumentos e meios da realizao dos valores humanos, mas que tenta igualmente renovar o significado desses valores. por isso que, mesmo estando condicionada por uma determinada cultura e pelas formas da cincia e da actividade prtica que lhe so prprias, no um reflexo dela, pois implica uma mudana e elabora um plano de reforma e de renovao. Sem dvida, nada garante que um tal objectivo da filosofia seja alcanado; mas a filosofia apela precisamente para aqueles elementos que esto em poder do homem e que so os nicos de que ele pode valer-se e em que pode ter confiana. A renncia a estes poderes vileza, assim como consider-los omnipotentes arrogncia. O homem no um pequeno Deus dentro ou fora da natureza, mas simplesmente um homem, isto , uma parte da prpria natureza em aco recproca com as outras. Por isso
deve, enquanto pode, valer-se dos seus poderes, filosofar. A contemplao sonhadora, o isolamento egosta, o deixar-se levar pela rotina do mundo, so, para ele, solues piores. Deve pr prova no mundo e entre os outros homens o projecto de vida futura que a filosofia lhe apresenta. O valor de uma filosofia reduz-se essencialmente a justificar a possibilidade de semelhante prova. Neste sentido, Dewey fala de uma revoluo da filosofia de acordo com as concepes de Coprnico. A de Kant ter sido antes uma revoluo ptolomaica, j que fez do conhecimento humano a medida da realidade. A revoluo da filosofia, segundo Dewey, de83 ver consistir na compreenso de que o conhecimento no nem oferece a totalidade do real e que, por isso, a filosofia no pode propor-se este ideal. O seu objectivo mais modesto, mas mais eficaz. "Abandonar a busca da realidade e do valor absoluto e imutvel pode parecer um sacrifcio. Mas esta renncia a condio requerida para empenhar-se numa vocao mais vital. A procura dos valores que podem ser assegurados e compartilhados por todos, porque esto vinculados aos fundamentos da vida social, uma investigao em que a filosofia no encontrar rivais mas sim colaboradores em todos os homens de boa vontade" (The Quest for Certainty, p. 295). A filosofia deve substituir a afirmao fantstico-mitolgica de uma segurana e estabilidade ilusria pela investigao das condies efectivas que podem, em certa medida, contribuir para dar maior estabilidade e segurana vida humana e aos seus valores fundamentais. 768. DEWEy: RELIGIOSIDADE E RELIGIO Parece que deste ponto de vista a filosofia se ope radicalmente religio, a qual est ligada ao reconhecimento da substancialidade dos valores. E, na realidade, esta oposio no minimizada por Dewey, se bem que numa conferncia sobre o problema religioso intitulada Uma f comum, ele tenha procurado de certo modo recuperar o significado "religioso" da experincia, distinguindo-o das crenas e das pr84 ticas que constituem as religies histricas. Na experincia religiosa, afirmou, "a efectiva qualidade religiosa o efeito produzido, a melhor adaptao vida e s suas condies, e no a forma como se produz ou a sua causa. O modo como agiu a experincia, a sua funo, determina o seu valor religioso. Se surge alguma nova orientao da vida, ela ser, do mesmo modo que o sentimento de segurana e estabilidade que a acompanha, urna fora que vale por si mesma" (A Common Faith, trad. ital., p. 16). O poder determinar esta atitude uma pretenso comum a todas as religies. Dewey considera que se deve derrubar esta afirmao e dizer que s existe uma atitude religiosa quando se verifica aquela mutao. Deste modo, o carcter propriamente religioso de uma experincia existe independentemente das crenas e das prticas das religies particulares e torna-se "moralidade imbuda de emoo". A "religiosidade" assim recuperada custa da "religio". E ao conceito de Deus como "ser particulam, torna-se prefervel o conceito de Deus como unidade dos fins ideais que o indivduo reconhece como superiores autoridades sobre as suas vontades e as suas emoes, isto , como unidade dos valores a que ele obedece.
Deste ponto de vista, Deus no uma realidade mas sim um ideal. Por outro lado, como nota Dewey, um ideal no uma iluso pelo simples facto de ser. um produto da imaginao: "a nossa imaginao apercebe-se de todas as possibilidades". Mas considerlo como ideal significa aceitar que as suas razes s possam ser procuradas na natureza e na histria. "Ele emerge quando a imaginao idealiza a exis85 tncia, assenhoreando-se das possibilidades oferecidas ao pensamento e aco. Estas so valores ou bens j efectivamente realizados sobre uma base natural: os bens da associao humana, da arte e do conhecimento. A imaginao idealizante apropria-se das coisas mais preciosas, encontradas em momentos dominantes da experincia, e considera-as corno perspectivas" (Ib., p. 52). Dewey acoita substancialmente a tese de Durkheim segundo a qual a experincia religiosa sobretudo uma idealizao das relaes humanas. A fase final desta experincia consiste precisamente, segundo Dewey, no reconhecimento explcito desta radical sociabilidade do ideal religioso. E nesta fase as crenas, as prticas e as formas organizativas da religio, aparecem como anexos ou superestruturas importantes mas no essenciais do elemento religioso da experincia. Uma tal religiosidade no contradiz decerto os cnones do naturalismo, porque no referida ao sobrenatural. uma nova verso daquilo que tradicionalmente se chama religio natural ou racional; no entanto duvidoso que esta religiosidade possa ser utilizada para a explicao da estrutura das religies histricas, nas quais aquilo que Dewey chama "superestrutura" exerce uma funo essencial. NOTA BIBLIOGRFICA 760- Bibliogri&fia completa de Dewey e sobre ~ey: MITON H. THOMAS, LD., .4 CentennUa Biblio-~hY, Chicago, 1962. 86 De Dewey, foram traduzidas em italiano as seguintes obras: Ricostruzione filosofica, por G. de Ruggiero, Bari, 1931; Esperienza e natura, traduo parcial, por N. Abbagnano, Turim, 1948; Logica teoria deUlindagine, por A. Visalberghi, Turim, 1949; Problemi di tutti, Milo, 1950, por G. Petri; L'arte come ~eiienza, Florena, 1951, por C. Maltese; Una fede comune, Florena, 1959, por G. Calogero; e quase todas as obras de pedagogia. 761. Sobre Dewey: J.D., The Man and Ms Philosophy, in Addresses delivered in New York in Celebration of his Seventieth Birthday, Cambridge, Mass., 1930; FOLKE LEANDER, The PhUosophy of J.D., in A Critical Study, Gteborg, 1939; The Philosophy of J.D., por P. A. Sch11pp, Evanston, Chicago, 1939, na "Library of Living Philosophers"; The, Philosopher of the commun Man, Nova Iorque, 1940; M. G. WHITE, The Origin of Ws InstrumentaUsm, Nova Iorque, 1943; J.D., Philosopher of Science ande Friedom, por S. Hook, Nova lorque, 19W; L. BORGH1, J.D. e il pensiero pedagogico contemporaneo negli Stati Uniti, Florena, 1951; A. VISALBERGHI, J.D., Florena, 1951; J. NATHANSON, J.D., Nova Iorque, 1951; H. S. THAYER, The Logie of Pragmatism, Nova Iorque, 1952; 1. EDMAN J.D., His Contribution to the American Tradition, Indianapols, 1955; consultar tambm os fascculos dedicados a Dewey pela "Rivista critica di storia della filosofia", 1951, n., 4; e pela "Rivista di filosofia", 1960, n., 3; e sobre o acolhimento a Dewey em Itlia: G. FEDERICI VESCOVINI, in "Rivista, di filosofia", 1961, n., 1.
87 x REALISMO E NATURALISMO 769. CARACTERISTICAS DO REALISMO O idealismo gnoseolgico constitui o clima dominante da filosofia contempornea at aos primeiros decnios do sculo actual; com efeito, foi caracterstico no apenas do idealismo em sentido histrico (idealismo romntico), como tambm do espiritualismo, do neocriticismo e da filosofia da aco. Todas estas correntes partem da hiptese de que o objecto nada independentemente do sujeito cognoscente, e de que se reduz a uma actividade ou a um produto deste. No obstante, o realismo nunca se eclipsou completamente e teve sempre manifestaes notveis, at ao ponto de constituir a orientao gnoseolgica prpria das mais representativas tendncias dos ltimos tempos: do instrumentalismo, do empirismo lgico, da 89 fenomenologia e do existencialismo. A gnoseologia realista destas correntes forma parte integrante do seu delineamento sistemtico, e por isso foi examinada, ou ser examinada, a propsito deste. Neste captulo procurar tratar-se apenas daquelas doutrinas que no tm lugar nas correntes citadas e que se caracterizam essencialmente pelo seu delineamento realista. A defesa do realismo normalmente sugerida por uma qualquer forma de naturalismo, ou tende a fund-la. Para todas as correntes que se servem da gnoseologia idealista, a natureza no tem interesse seno como termo ou produto de uma actividade intelectual ou espiritual. Em si mesma, ela nula. Mesmo e neo-criticismo, que assume como ponto de partida das suas anlises gnoseolgicas a cincia da natureza, no est interessado na prpria natureza a no ser como objecto do conhecimento cientfico, sendo portanto levado a aceitar a sua reduo idealista ao dado da conscincia. O realismo, pelo contrrio, tende a assumir como ponto de partida das suas especulaes a prpria existncia ou modo de ser da natureza. Assim, a natureza ser a realidade nica ou fundamental, sendo o homem e a sua actividade espiritual uma simples parte ou manifestao dela. O naturalismo tem assim uma tendncia para formular uma cosmologia e, na sua expresso mais consegui-da, constitui precisamente uma cosmologia. Mas a sua primeira tarefa , bviamente, a crtica da tese idealista, a fim de abrir caminho ao reconhecimento da realidade do mundo natural. As teses fundamentais que o permitem reconhecer so as seguin90 tes: 1) o objecto do conhecimento no parte ou elemento do sujeito cognoscente 2) o objecto tem um modo de ser prprio, independente da conscincia mas que pode ser conhecido e descrito. Estas duas teses so comuns a todas as formas do realismo. O realismo naturalista defende ainda uma terceira tese, segundo a qual o modo de ser de todos os objectos conhecveis
pode ser modelado a partir do dos objectos naturais. E a esta tese contrapem-se bviamente as formas no naturalistas do realismo (por exemplo, o neo-tomismo), as quais recorrem aos expedientes da metafsica tradicional para definir o modo de ser dos objectos. 770. A FILOSOFIA DA IMANNCIA Pode-se considerar como includa no realismo a chamada "filosofia, da imanncia", que se desenvolveu na Alemanha e que tinha por fim defender o realismo ingnuo, ou seja, o realismo do senso comum. Wilhelm Schuppe (1836-1913) foi o seu fundador, e a sua principal obra o Ensaio de gnoseologia, e lgica (1894, 2 a ed. aumentada, 1910) sendo ainda autor de outros numerosos escritos (0 pensamento humano, 1870; Lgica gnoseolgica, 1878; O conceito do dire.," to subjectivo, 1887; O problema da responsabilidade, 1913). O objectivo explcito de Schuppe o de defender o realismo ingnuo nas suas afirmaes evidentes, isto : LO, que a realidade sobre a qual versa o pensamento independente do sujeito pensante e o mundo das coisas perceptveis (as 91 quais existem tanto se as penso como se as no penso); 2.O, que o pensamento pode existir somente nos sujeitos individuais; 3.O, que o pensamento verdadeiro, ou seja, o pensamento confirmado pela aparncia sensvel, concorda com aquela realidade (Grundriss der Erkenntnistheorie und Logik, 1910, pgs. 1-2). Para justificar estes princpios preciso notar que nem o sujeito independentemente do objecto (como o considera o idealismo), nem o objecto independentemente do sujeito (como o considera o realismo terico) so realidades, mas puras abstraces. Toda a individualidade do eu depende do seu contedo objectivo e muda com este contedo. Por isso, o eu no se pode conhecer como eu sem conhecer um contedo distinto de si. "No h saber de outrem sem se saber de si, no h saber de si sem saber de outrem" (Ib., p. 21). Mas isto significa tambm que o eu no se identifica com o seu contedo objectivo. No espacial, mesmo quando inclua o espao como contedo da sua conscincia; e converte-se ele mesmo em espacial, como um objecto entre os outros objectos, s na medida em que tem um corpo. Por outro lado, a realidade, que objecto do pensamento, originariamente a percepo sensvel ou, melhor, o contedo espacio-temporal da percepo, que uno e idntico para todos os sujeitos. A garantia desta unidade est no que Schuppe denomina de "conscincia em geral": uma conscincia prpria da espcie humana, que condiciona aquela parte da experincia que constitui o contedo comum das conscincias individuais (Ib., 45). Deste modo, Schuppe pode afirmar que "o mundo est no eu", 92 mas no no sentido do idealismo subjectivo, para o qual aquele se volatiliza em ideias, mas no sentido de que existe como objecto da
conscincia (Grundriss d. Erkennt. u. Logik, 31). O elemento subjectivo, aquele em que habitualmente se admite o pensamento como tal, consiste apenas na conscincia da identidade, das distines e das conexes causais do dado objectivo (Ib., 83), e neste sentido forma o objecto da lgica. A exigncia realista de Schuppe detm-se no reconhecimento de que o objecto do pensamento no , em si mesmo, pensamento; tal reconhecimento basta, segundo Schuppe, para garantir as pretenses do realismo ingnuo. O objecto do pensamento , no obstante, um contedo de conscincia; e, portanto, imanente prpria conscincia (donde o nome de filosofia da imanncia): Schuppe recusa, por isso, admitir qualquer transcendncia da realidade relativamente conscincia e recorre conscincia em geral para explicar a -identidade ou a concordncia dos contedos das conscincias individuais. Este consciencialismo combatido por Klpe, defensor de um realismo muito mais radical. 771. Kulpe Oswald Klpe (1862-1915) foi inicialmente um estudioso da psicologia, qual dedicou importantes obras (Princpios, de psicologia, 1893; Psicologia e medicina, 1912). , ainda, autor de uma Introduo filosofia (1896), que teve grande xito na Alemanha, de uma monografia sobre Kant e de um estudo sobre 93 Teoria do conhecimento e cincias naturais (1910). Mas a sua obra mais notvel a que se intitula A realizao, cujo primeiro volume se publicou em 1912 e os outros dois, postumamente, em 1920, por Augusto Messer. Nesta obra evidente a influncia da primeira fase (realista) do pensamento de Husserl. Klpe rejeita todo o tipo e forma de consciencialismo, isto , toda a doutrina que de algum modo reduza a realidade a um simples objecto de conscincia. Ao argumento de Schuppe (e de muitos outros) contra a transcendncia do objecto, de que impossvel e contraditrio pensar algo que no seja um contedo de conscincia, Klpe responde que pensar algo e t-lo pensado na conscincia no a mesma coisa. O objecto pensado oferece-se ou manifesta-se ao pensamento precisamente na sua independncia do prprio pensamento, isto , de maneira que a sua origem e o seu comportamento, as suas propriedades e mudanas, sejam independentes de qualquer influxo que o pensamento possa exercer sobre eles. Isto verdade no somente para os objectos pertencentes ao mundo externo mas tambm para os objectos ideais como, por exemplo, os da matemtica que, como Husserl mostrou, apresentam caracteres e relaes sobre os quais o pensamento no actua. Por outro lado, a prova mais segura da independncia dos objectos do pensamento o prprio princpio de identidade, o qual permite admitir a identidade do objecto independentemente da multiplicidade das operaes lgicas (juzos, raciocnios, demonstraes, etc.) que conduzem a reconhec-la (Die Realisierung, 1, p. 92). Por conseguinte, a conscincia 94 no nem potncia criadora nem potncia determinante; e, para a realidade ou a
existncia do objecto, to indiferente como, para um quadro, o estar pregado a uma parede (Ib., p. 100). Tudo isto demonstra que as provas e argumentos apresentados contra o realismo no so vlidos e que, por conseguinte, o realismo possvel; mas no demonstra tambm que necessrio, isto , que se deva necessariamente chegar afirmao de uma realidade independente da conscincia e do sujeito cognoscente. Para alcanar este objectivo existem trs classes de argumentos, que Klpe examina no segundo volume da sua obra: argumentos empricos, o argumentos racionais e argumentos mistos, isto , que consistem numa unio dos dois primeiros. Todavia, nem os argumentos empricos (por exemplo, aqueles que aceitam a vivacidade das sensaes, a diferena entre percepo e imagem, etc.), nem os argumentos racionais (por exemplo, aqueles que aceitam a validade da induo, a no contraditoriedade da ideia do mundo externo, etc.), so vlidos por si mesmos; restam apenas os argumentos mistos. Estes levam-nos a reconhecer o mundo externo mostrando como, na percepo, se revela algo que independente dela e que a sua causa; ou ainda, como o objecto constitui a unidade das percepes de diferentes indivduos e condio da sua continuidade e regularidade. Estes argumentos levam-nos ainda a afirmar que a existncia de um mundo externo deve ser considerado; mas que exista efectivamente coisa que, segundo Klpe, implica um elemento hipottico que no se pode eliminar. "0 realismo cientfico, conclui 95 este autor, um axioma para as cincias naturais que, j na sua definio, antecipam a suposio de um mundo externo; um teorema para a considerao gnoseolgica, que pode base-lo suficientemente em hipteses empricas e racionais; mas uma hiptese quando se admite que a suposio de um mundo externo exprime a existncia de uma realidade desse tipo (Ib., 11, p. 148). 772. MOORE Na filosofia anglo-americana, a introduo da alternativa realista no clima idealista dominante foi devida a George Edward Moore (1873-1958), que, foi professor em Cambridge e autor de duas obras de tica (Principia Ethica, 1903; Etica, 1912), de numerosos ensaios parcialmente reunidos no volume Estudos Filosficos (1922) e de um ciclo de vinte lies proferidas em 1910-11 mas publicadas em 1953 com o ttulo Alguns problemas principais da filosofia. A obra mais famosa de Moore A refutao do idealismo, publicada pela primeira vez no "Mind", em 1903. Ela trata da anlise da relao cognitiva, isto , da relao entre a
conscincia e os seus objectos. Segundo o idealismo, esta uma relao de incluso ou de pertena: "ser objecto" significa "fazer parte" da conscincia ou "ser uma qualidade" da prpria conscincia; deste modo, assim como uma parte no pode existir fora do todo, ou uma qualidade no pode existir independentemente da coisa da qual qualidade, tambm os objectos da cons96 MOORE cincia no podero existir fora ou independentemente dela. Moore defende que o "conhecer", o "ser consciente de", o "ter experincia de", constituem um tipo de realizao sui generis: um tipo de realizao externa, isto , tal que no modifica a natureza dos entes correlativos, tornando-os outros diferentes MI1M1 r44, que seriam sem a relao em que se encontram. O prprio Moore esclareceu, por outro lado, contra os idealistas (e especialmente Bradley) que defendiam, et pour cause', a doutrina das relaes internas, a tese da exterioridade das relaes no sentido de que, se um termo tem uma certa propriedade relacional, no devemos da concluir que ela caracterstica dele: "da proposio que afirma que um termo aquilo que , no se segue que se possa aceitar uma qualquer proposio que afirme uma propriedade relacional desse termo" (Philosophical Studies, p. 306). A doutrina das relaes assim concebida o objecto da lgica de Russell; e constitui, provavelmente, o ponto de encontro entre Russell e Moore. A exterioridade das relaes o pressuposto implcito ou explcito de todas as formas do realismo moderno; e um mrito de Moore o t-la declarado e ilustrado. , no entanto, um pressuposto negativo: diz aquilo que a relao cognitiva no e no aquilo que ela no seu carcter especfico. Sobre esta segunda questo, a doutrina de Moore nada afirma. N. dos T.: Em francs no texto original. 97 A filosofia de Moore pretende ser unia defesa do senso comum; e por esta razo que ela foi utilizada pelos analistas ingleses da linguagem, os quais viram nela a defesa da linguagem comum. Mas a verdadeira inteno de Moore assumir a defesa das crenas do senso comum, crenas essas que ele declara considerar como critrio de juzo das opinies filosficas (Some Main Problems of Philosophy, p. 2). Neste aspecto, a sua filosofia integra-se nas tradies da escola escocesa, cujo ltimo representante foi Hamilton. As crenas do senso comum so, de acordo c~ Moore, principalmente duas: a da existncia dos objectos materiais e a da existncia de uma multiplicidade de sujeitos humanos todos eles dotados de corpo e de conscincia. A negao destas crenas , na opinio do autor, impossvel, por ser contraditria, visto que se nega a existncia de seres humanos dotados de um corpo e da capacidade de falar e de escrever para outros seres humanos, nega-se com isso a existncia de filsofos que possam negar a existncia dos corpos; e reciprocamente, se existem filsofos que efectuam esta negao, eles mesmos, contraditoriamente, admitem a existncia de outros seres com os quais falam, discutem, polemizam, etc., admitem implicitamente a verdade daquele senso comum que pretendem
negar. Moore considera no entanto que, se a verdade das crenas do senso comum est fora de discusso, a correcta anlise delas, ou seja, a sua exacta interpretao est muito longe de ser fcil. As suas prprias tentativas de interpretao (que se encontram sobretudo na obra Alguns problemas prin98 cipais, da filosofia) so sempre apresentadas com muita cautela e mostram claramente a diversidade das interpretaes possveis. De qualquer modo, Moore estabelece uma espcie de equao entre a verdade e o senso comum, a qual no tem em conta o facto de a origem histrica da filosofia se encontrar precisamente nas dificuldades, conflitos e problemas que o senso comum faz aparecer e para cuja resoluo apela para os processos autnomos da razo. Por outro lado, se o senso comum tem necessidade de uma "defesa" ou de uma "anlise esclarecedora", isto uma prova de que no se basta a si mesmo e de que no constitui toda a "verdade". Um tal apelo ao senso comum pode at ser encontrado nas premissas da tica de Moore. A tarefa da tica , segundo Moore e em primeiro lugar, a determinao da natureza do bem em geral; e s em segundo lugar se pode considerar como sua tarefa a determinao do comportamento humano que pode ser considerado correcto. Ora o bem, na opinio deste autor, uma noo simples como, por exemplo, a de "amarelo"; e, do mesmo modo que no se pode explicar o que o amarelo a quem no o saiba, tambm no se pode explicar o que o bem (Principia Ethica, 1, 7). Neste sentido, a noo de bem intuitiva; mas Moore nega que exista um rgo encarregado desta intuio. Aquilo que ele acha correcto dizer-se que "todos sabem em qualquer situao o que o bem" (Ib., 1, 13): o que equivale a dizer que todos sabem o que o bem desde que apelem implicitamente para o senso comum. Deste ponto de 99 vista, a tarefa da tica ser a de analisar as asseres que podem ser feitas sobre a qualidade das coisas que designada pelo termo "bem" ou pelo termo oposto "mal". Estas asseres so de duas espcies: ou do a conhecer em que grau que as coisas possuem aquela propriedade ou afirmam quais so as relaes causais existentes entre as coisas que possuem tal propriedade e as outras. Moore inverte o ponto de vista de Kant: a noo de bem j no se baseia na do dever mas, pelo contrrio, a noo de dever que se baseia na de bem. Todas as leis morais so assim reduzidas afirmao de que certas aces produziram bons efeitos e, por isso, "o nosso dever pode apenas ser definido como sendo a realizao daquela actuao que causar mais bem ao universo do que qualquer sua outra alternativa" (Ib., V 89). A tica assim uma disciplina inteiramente objectiva, que diz respeito a certas qualidades reais das coisas, designadas por bem. Quais so estas qualidades? Em primeiro lugar, o amor s coisas belas e s pessoas boas. Estas so indubitavelmente um bem puro, mesmo se as coisas ou pessoas amadas so imaginrias; mas se forem reais, a combinao da sua realidade com a qualidade em questo constitui um todo que bastante melhor do que o simples amor. O amor s qualidades mentais em si mesmas no um bem to grande quanto o amor s
qualidades mentais e materiais juntas; e de qualquer modo, um grande nmero de coisas, entre as melhores, incluem o amor a qualidades materiais. Tais so, por exemplo, o prazer esttico, a amizade, O amor, etc. Aos grandes bens 100 opem-se os grandes males, que consistem no amor quilo que feio ou ruim, no dio quilo que bom e belo ou na conscincia da dor. Existem ainda bens mistos que incluem, por exemplo, um elemento de feio ou de mau, o dio quilo que feio ou mau ou a compaixo para com a dor. Estes bens, se incluem um mal real, tm um menor valor positivo do que os outros. O princpio, afirmado na tica de Moore, do bem ou, em geral, do valor como qualidade objectiva, e da tica como indagao que tem por fim estabelecer quais as coisas dotadas de tal qualidade, foi largamente aceite pelas correntes naturalistas e instrumentalistas da filosofia angloamericana, da mesma forma que a sua tcnica de discusso das proposies ticas foi largamente seguida pelo neoempirismo. Por outro lado, a tica de Moore esttica e conformista e no oferece nenhuma ajuda soluo dos problemas efectivos que a vida moral apresenta. Definindo o dever como "a aco que acumula a maior soma possvel de bem", o prprio conhecimento do dever torna-se impossvel ao homem pois exige o conhecimento de todos os efeitos possveis de todas as possveis aces. Moore acaba portanto por aceitar pura e simplesmente todas as regras j estabelecidas, chegando a afirmar que "existe uma forte probabilidade de aderir a um hbito j existente mesmo que ele seja mau" (Ib., V, 99). Assim, o nico ensinamento prtico da tica de Moore o do mais rigoroso conformismo; e a "base cientfica" que ele tentou en101
contrar para a tica reduz-se ao abandono total da tradio. 773. BROAD Na mesma linha do realismo de Moore encontramos ainda a obra do ingls Charlie Duribar Broad (nascido em 1887), autor de numerosos escritos sobre o mundo da cincia, da percepo sensvel e da percepo supra-sensorial (Percepo, fsica e realidade, 1914; Pensamento cientfico, 1923; O esprito e o seu lugar na natureza, 1925; Cinco tipos de teorias ticas, 1930; Exame da filosofia de McTaggart, 1933-1938; A tica e a histria da filosofia, 1952; Religio, filosofia e investigao psquica, 1953). Os problemas que monopolizaram a actividade filosfica de Broad so essencialmente trs:
o valor cognitivo da cincia, o valor cognoscitivo da percepo e a relao entre a alma e o corpo. As solues que Broad deu a tais problemas so realistas e naturalistas, pois so expressas de forma prudente e algumas vezes problemtica; mas Broad procurou uma base para uma sua integrao espiritualista nos factos apresentados pelas chamadas "investigaes psquicas". O carcter prudente ou problemtico das suas solues uma consequncia da tarefa "crtica" que ele atribui filosofia e que o recomenda ateno dos filsofos analistas contemporneos; tal anlise consiste na anlise e determinao do significado preciso dos conceitos usados na vida comum e na crtica s crenas comuns que possam ser considera102 das como fundamentais. "filosofia especulativa", que quer alcanar uma concepo total do mundo utilizando no s os resultados das cincias mas tambm os da experincia tica e religiosa da comunidade, Broad reconhece-lhe apenas o valor de uma conjectura mais ou menos conseguida e a sua funo como apelo, contra o especialismo, a uma concepo sinttica da realidade. O processo de que Broad se serve psicolgico, no sentido da psicologia psicofsica; e a esta psicologia, com efeito, ele atribui uma particular importncia para a indagao filosfica (Scientific Thought, p. 25). cerca do primeiro problema, o da validade da cincia, a soluo de Broad consiste em afirmar que a cincia vlida porque os seus objectos so perceptveis e porque as relaes entre eles so igualmente perceptveis. Os desenvolvimentos modernos das cincias (a teoria da relatividade) tendem cada vez mais a aproximar os conceitos da cincia (e, portanto, os do senso comum de que parte a cincia) s sensaes e s percepes. "Se, afirma Broad, ns verificarmos, como penso que acontecer, que as recentes modificaes dos conceitos tradicionais, feitas numa base puramente cientfica, conduzem o esquema geral a uma mais estreita conexo com a sua base sensorial e perceptiva, isto ser um argumento adicional a favor de tais modificaes e tender a neutralizar a impresso de paradoxo que os seus ltimos desenvolvimentos produziram nos homens que foram educados segundo o esquema tradicional" (Scientifie Thought, p. 228). Quanto validade da percepo, que o segundo dos problemas fundamentais tratados por 103 Broad, a teoria que ele prefere a do realismo dualista, segundo o qual existem "corpos", ou seja, substncias com qualidades extensivas e em relao s quais se pode definir uma posio no espao a trs dimenses; mas o objecto imediato da percepo (as qualidades ou dados sensoriais e o contedo objectivo da prpria percepo) no por sua vez um corpo ou uma parte de um corpo. Dever-se- antes considerar um dualismo entre o corpo fsico e o objecto da percepo, se bem que exista simultaneamente uma correspondncia entre as duas coisas. Deste ponto de vista dualista, "a noo de objectos fsicos persistentes apenas uma hiptese para explicar as correlaes entre as situaes perceptivas" (The Mind and Its Place in Nature, p. 152; Perception, Physics and Reality, pgs. 108,c sgs.; Scientific Thought, p. 278). Esta hiptese ou postulado ainda chamada por Broad "categoria", ou seja, "princpio inato de interpretao" (The Mind and Its Place in Nature, p. 217). O realismo de Broad , assim, diferentemente do de Moore, um realismo do intelecto, no um realismo dos sentidos: estes s nos fornecem contedos objectivos que no pertencem aos corpos, enquanto que o intelecto leva a admitir a existncia dos
prprios corpos. Quanto ao terceiro problema, o da relao entre alma e corpo, a soluo adoptada por Broad foi a do epifenomenismo que, muitas vezes, ele chamou de "materialismo emergente" (Ib., p. 647). Segundo esta doutrina, todos os acontecimentos mentais so produtos causais de acontecimentos fisiolgicos, se bem que nenhum acontecimento fisiolgico seja pro104 duto causal de acontecimentos mentais; por outros termos, a conscincia um epifenmeno ou um produto secundrio da actividade fisiolgica (Ib., p. 472). certo que Broad no pretende reduzir os acontecimentos mentais a acontecimentos fisiolgicos, mas a tese epifenomenista faz dele, apesar de tudo, um naturalista. O naturalismo de Broad menos evidente no campo da moral. As qualidades ticas no so empricas mas sim apriorsticas e constituem o objecto de uma intuio racional (Five Types of Ethical Theory, pgs. 178 e sgs.; 281 e sgs.). A liberdade, exigida pela obrigao moral, exige como condio negativa a completa independncia do seu sujeito relativamente a todas as determinaes causais e como condio positiva a capacidade do prprio sujeito de ser a causa nica do seu esforo (Ethics and the History of PHosophy, pgs. 214 e sgs.). Finalmente, Broad considera que "a noo cientifiicamente ortodoxa do homem como uma qualquer mquina calculadora e da natureza no-humana como um mecanismo mais vasto que produz, entre outras coisas, esta mquina, uma estupidez fantstica em que nenhum homem de bom senso pode acreditar a menos que no conserve num compartimento estanque, separada de todas as suas outras experincias, actividades e crenas" (Autobiography, in C. D. Broad, p. 58). desta insuficincia da concepo cientfica, que Broad se utiliza para cultivar a investigao psquica, a qual, em sua opinio, fornece factos que permitem entrever uma diferente e mais consoladora estrutura do mundo. 105 774. O NOVO REALISMO AMERICANO Seguindo o caminho de Moore, um grupo de pensadores americanos preconizava, em 1912, o regresso ao realismo com um volume de estudos em cooperao, intitulado O novo realismo; eram eles Edwin B. Holt, Walter T. Marwin, William Pepperell Montague, Ralph Barton Perry, Walter B. Pitkin e Edmond Gleason Spaulding. Todos estavam de acordo em negar o princpio em que se baseia a gnoseologia idealista: o carcter intrnseco das relaes. Afirmar, como faz o idealismo, que as coisas existem apenas em relao ao esprito que as pensa e que, por conseguinte, a sua realidade se reduz ao acto do conhecer ou do perceber, s possvel se se admite o princpio de que a relao modifica substancialmente os termos que a constituem. Mas este princpio desmentido pelos factos. Um mesmo homem, por exemplo, pode fazer parte de ncleos sociais diferentes sem que nenhuma destas relaes implique a outra, e a lgica matemtica (na qual se
baseiam principalmente os novos realistas) demonstra como o mesmo pode fazer parte de diversos conjuntos sem ser modificado por eles. As relaes devem, pois, ser concebidas tal como o faz a lgica matemtica: extrnsecas natureza dos termos relativos. Assim sendo, a prpria relao cognitiva no modifica os objectos conhecidos; e o facto de eles s aparecerem em relao connosco no implica que o seu ser se esgote nesta relao, nem anula a sua realidade independente. Deste modo, o princpio idealista do esse est percipi transforma-se 106 no do percipi esse est. Todos os objectos possveis do nosso pensamento, que no se deixam decompor pela anlise, so entidades simples que subsistem por sua conta, independentemente de toda a actividade ou funo subjectiva. O novo realismo nega o dualismo metafsico entre sujeito e objecto e afirma um monismo radical. Pensamento e realidade no so duas substncias, mas dois agrupamentos diversos das mesmas entidades simples, segundo a tese que havia j enunciado Mach. Mas estas entidades simples no so, como queria Mach, apenas as sensaes; so tambm os seres conceptuais e abstractos da matemtica e da cincia. As entidades que fazem parte do complexo "conscincia" podem fazer parte, simultaneamente, de muitos outros complexos. O conjunto destas entidades simples, que podem ser reais ou irreais, boas ou ms, mentais, fsicas, etc., constitui o universo subsistente. Um esprito ou uma conscincia uma classe ou grupo de entidades dentro deste universo, assim como um objecto fsico constitui outra classe ou grupo; deste modo, a diferena entre o fsico e o mental no de substncia ou de entidade, mas apenas de relao. A conscincia um grupo escolhido ou determinado pelo sistema nervoso, que com a sua aco produz uma espcie de seco transversal do universo, da mesma maneira que um raio de luz percorrendo uma paisagem e iluminando este ou aquele objecto, define uma nova coleco de objectos que, contudo, so e permanecem partes integrantes da paisagem. O prprio erro um facto objectivo, devido a urna distoro fisiolgica, 107 perifrica no caso dos erros sensoriais, ou central no caso dos erros conceptuais. Dos seis neo-realistas, a maioria voltou-se depois para uma forma de pragmatismo ou instrumentalismo. Um deles, William Popperell Montague (1878-1953), professor na Columbia University de Nova Iorque, deu uma orientao ecltica sua doutrina, tentando conciliar no seio do realismo as tendncias opostas da gnoseologia e da metafsica contemporneas (Os caminhos do conhecer, 1925; Os caminhos das coisas, 1940; As grandes vises da filosofia, 1950). No campo da gnoseologia Montague distingue dois problemas: um problema lgico sobre o critrio ltimo da verdade e um problema epistemolgico sobre a dependncia ou a independncia das coisas relativamente ao sujeito cognoscente. Em relao ao primeiro problema, Montague distingue seis mtodos diferentes (autoritarismo, misticismo, racionalismo, empirismo, pragmatismo e cepticismo) e procura estabelecer uma "federao" de tais mtodos, delimitando para cada
um deles o campo da sua aplicao legtima. Assim, o autoritarismo aplica-se no domnio dos objectos ou dos acontecimentos que no podem ser experimentados por ns e para cujo conhecimento mister confiar-se no testemunho de outros. Ao misticismo fica reservado o domnio dos valores ltimos e no instrumentais e das supostas verdades ltimas e inefveis. O racionalismo aplica-se, contrariamente, s relaes abstractas e tambm aos conjuntos de factos particulares enquanto admitem entre si relaes comensurveis. O empirismo o mtodo mais amplamente aplicvel, porque o nico que se 108 refere aos factos e s relaes particulares, e inclusive susceptvel de ser empregue indirectamente nos restantes campos. O pragmatismo, que falso no mundo do conhecimento porque neste o indivduo deve subordinar-se vida externa, verdadeiro no caso dos interesses prticos, cuja satisfao se obtm mediante a subordinao do meio externo ao indivduo. O cepticismo, por ltimo, exerce uma til funo negativa e limitadora, mostrando que nenhum conhecimento humano absolutamente verdadeiro. Em relao ao problema mais estritamente gnoseolgico, o de saber em que medida os objectos conhecidos tm ou no uma existncia e um carcter independente das suas relaes com o sujeito cognoscente, Montague distingue trs posies fundamentais: a primeira, a do objectivismo, atribui a existncia tanto aos objectos da experincia verdadeira como aos da experincia falsa e anula, portanto, toda a distino entre o real e o irreal. A segunda, a do dualismo, separa os dados sensveis das coisas externas, que so tidas como causas deles. A terceira, a do subjectivismo, afirma que os objectos no podem existir independentemente da conscincia e que por isso a sua realidade se resolve na prpria conscincia. O realismo constitui a reinterpretao e a conciliao destas trs posies. O objectivismo falso porque afirma que todos os objectos percebidos tm existncia fsica actual; mas verdadeiro na medida em que tm sempre um significado ou uma essncia independente pela qual so estados de existncia possvel. O objecto experimentado , em todo o caso, uma entidade lgica independente e, portanto, mais do que um simples es109 tado do sujeito perceptivo: o seu carcter ou a sua essncia independente do ser percebido e independente da sua existncia de facto. O subjectivismo verdadeiro no sentido de que todos os objectos so selectivamente relativos a um eu e objectos possveis da sua experincia; mas falso no sentido de que eles sejam constitutivamente relativos ao eu e existam apenas como objectos actuais da sua experincia. O dualismo verdadeiro ao afirmar que o sistema dos objectos experimentados por um eu e o sistema dos objectos externos variam independentemente um do outro; falso ao afirmar que estes dois sistemas so constitudos por entidades metafsicas diferentes e que mutuamente se excluem. Montague recusa-se a admitir como realidades existentes as entidades abstractas de que falam alguns dos novos realistas. A realidade existente constituda por coisas espacial e temporalmente localizadas; e toda a coisa uma srie de factos, cada um dos quais tem tambm uma
posio absoluta no continuum espacio-temporal. Pelo que se refere metafsica, Montague sustenta um espiritualismo cosmolgico que pode ser tambm expresso por conceitos fsicos: o mundo um fluxo de energia ao mesmo tempo espiritual e fsica; , por outras palavras, segundo a velha concepo, um grande animal, cujo ncleo uma vontade racional, mas finita, que age e luta contra um conjunto de possibilidades recalcitrantes. A unidade de energia fsica e psquica revela-se na sensao, que o ponto em que a energia do estmulo externo deixa de ser observvel como movimento e se transforma numa nova espcie de energia observada interiormente como sen110 sao. "0 que do ponto de vista do fsico simples potencialidade de movimento futuro, em si e por si a actualidade do sentimento e da sensao". A unidade entre o esprito e a matria realiza-se no conhecimento, para o qual alguns factos ou objectos gozam de uma eficcia em espaos e tempos diferentes dos que lhe so prprios, isto , nos do crebro que os conhece. O conhecimento selectivo, no constitutivo; um fluxo de energia que se volta para o passado, escolhendo os factos a conhecer (que permanecem independentes) a fim de se dirigir para o futuro. A vida tambm um fluxo de energia que se acumula e incrementa a si mesma atravs da hereditariedade; e o mundo um **pleon, cuja alma est suspensa no tempo e cuja existncia material , em cada instante, uma seco transversal do todo. O sentido destas concepes metafsicas nitidamente optimista; significam, segundo Montague, que o mundo esprito e que ns, sendo tambm esprito, talvez partilhemos at imortalidade a vida que nos contm e sustenta. 775. O REALISMO CRTICO AMERICANO Durant Drake, Arthur O. Lovejoy, James Bisset Pratt, Arthur K. Rogers, George Santayana, Roy Wood Sellars e C. A. Strong publicaram em 1920 uns Ensaios, de realismo crtico com uma orientao intimamente relacionada com a fenomenologia e a teoria dos objectos ( 833). Segundo os realistas crticos 111 (e o adjectivo no se refere aqui, de modo algum, doutrina kantiana), o objecto imediato do conhecimento no o estado mental nem a prpria coisa, mas um conjunto de qualidades ou caracteres (uma essncia) que no acto do conhecimento so irresistivelmente considerados como qualidades e caracteres (essncia) de um objecto externo. A existncia efectiva de um objecto nunca experimenta-da directamente: enquanto intuimos as essncIas, apenas conhecemos a existncia; e conhecemo-la indirectamente, isto , afirmamo-la por um acto cuja legitimidade pode ser de vez em quando provada pelos meios indirectos de experincia e raciocnio de que se valem o senso comum e a cincia. Conhecer um objecto significa dar a
este objecto uma essncia determinada, pensar a sua natureza em termos de um dado contedo de pensamento. O conhecimento , por isso, sempre mediatizado pela essncia, de modo que no possvel ter dos seus objectos a experincia imediata que cada um tem dos seus prprios contedos mentais. Isto torna possvel o erro, que seria impossvel se, como o idealismo e o neo-realismo sustentam, o objecto real estivesse imediatamente presente na conscincia. A verdade a identidade da essncia com o carcter actual da realidade a que ela se refere; o erro a falta de tal identidade ou a atribuio de uma essncia a um objecto que tido por real e no o . A natureza lgica e universal do dado (isto , da essncia), que sempre diferente do estado psquico que lhe serve de veculo, torna possvel a identidade entre a essncia dada e a essncia do objecto, as quais so, de facto, idnticas quando o 112 conhecimento verdadeiro. Mas a essncia no tem uma existncia prpria e no pode ser hipostasiada numa existncia; e, por seu lado, a existncia, se pensada, no mais do que uma essncia, isto , uma no-existncia pura. A essncia intui-se, no se conhece; a existncia conhece-se, no se intui; e toda a tentativa de conhecer a essncia ou de intuir a existncia no faz mais do que transformar a existncia em essncia e esta naquela. Este ponto de vista, se por um lado toma impossvel o dualismo metafsico do realismo tradicional, que fazia da realidade e da ideia duas existncias separadas e independentes, por outro lado torna tambm impossvel toda a forma de idealismo por negar o seu pressuposto fundamental, isto , que os estados mentais so a nica realidade conhecida imediatamente. No acto da percepo, que o estado mental vivido, dada apenas a essncia de um objecto reconhecido como independente; quando, com a introspeco, este mesmo estado mental se converte em objecto do conhecer, intui-se dele, como de qualquer outro objecto, apenas a sua essncia. A existncia dos estados mentais e, em geral, do psiquismo ou do esprito, no tem, portanto, nenhuma certeza privilegiada; como a de qualquer outra realidade, pode ser unicamente conhecida ou afirmada, sem nunca ser alcanada de uma maneira directa. Quer se trate de uma realidade fsica ou de uma realidade psquica, o que ns podemos directamente experimentar consiste nas suas qualidades ou caracteres, ou seja, numa essncia ideal ou lgica. Quando o idealista afirma 113 que o pensamento a nica realidade e que fora do pensamento nada existe, esquece que o pensamento no tem realidade prpria e que tem valor somente como representao ou smbolo de uma existncia real, que no , por sua vez, pensamento. E mesmo no caso daquele pensamento hipostasiado e, logo, negado como pensamento, que o idealista pe como substncia do universo, s se pode intuir a simples essncia; nem sequer se chega, pois, a captar a sua existncia. Se o pensamento permanece fechado no
mundo das essncias lgicas, a afirmao da existncia no obra do pensamento. Os realistas crticos acreditam, com efeito, que s o aguilho das necessidades vitais leva a dar existncia ou realidade ao dado ideal. A existncia uma honra atribuda essncia pelo organismo vivente que, encontrando o dado, se alarma e v nele um perigo ou uma ajuda, um obstculo ou um instrumento. Apenas a situao de um organismo que se encontre num contnuo intercmbio de aces e reaces com o universo externo pode ser a raiz de uma afirmao da existncia real. "Deste modo", diz Santayana (Critical Realism, p. 179), "o eu, realmente, supe o no-eu; mas no de uma forma absoluta, como Fichte imaginou, nem por um fiat gratuito, mas ocasionalmente e pelo melhor dos motivos, quando o noeu, com a sua fora, sacode o eu da sua PrimItiva sonolncia". Os realistas crticos tinham em comum um programa muito mais circunstanciado e coerente que os novos realistas. Mas tambm eles evoluram diversamente e, assim, enquanto uns deram significado espi114 ritualista ao seu realismo, outros acentuaram o seu carcter naturalista. Entre os primeiros, Durant Dralce insistiu no valor da introspeco, que lhe parece ser reveladora da prpria natureza da substncia fsica portanto, reduzida analogamente vida psquica do homem (0 esprito e o seu lugar na natureza, 1925); e insistiu numa moral optimista de fundo religioso (A nova moralidade, 1928). Arthur Kenyon. Rogers orientou-se para a defesa da personalidade humana e do tesmo (Teoria da tica, 1922; Ensaios de filosofia, 1929). Por outro lado, o valor privilegiado da introspeco negado por Charles August Strong, que se inclina para um naturalismo panpsiquista (A sabedoria dos animais, 1921; Teoria do conhecimento, 1923). Um declarado naturalismo de tipo materialista defendido por Roy Wood Sellars, que nega o dualismo de esprito e corpo e repudia Igualmente o pan-psiquismo (Naturalismo evolutivo, 1921; Princpios, e problemas da filosofia, 1926-, A maioridade da religio, 1928). Sobre a temporalidade do mundo e sobre uma forma de dualismo ou, pelo menos, de "bifurcao da experincia" que justifique a distino entre a aparncia ilusria e a realidade fsica, insiste Arthur O. Lovejoy (1873-1962), que examinou historicamente, chegando a concluses negativas, A rebelio contra o dualismo (1935) e as tentativas de conceber o universo como um desenvolvimento contnuo e gradual dos seres mais inferiores at aos mais perfeitos (A grande cadeia do Yer, 1936). 115 776. SANTAYANA Entre os realistas crticos, a figura mais notvel a de Georges Santayana, que nasceu em Espanha em 1863, foi professor de filosofia na Universidade de Harvard, e viveu muitos anos em Roma onde morreu em 1952. Foi um escritor fecundssimo, no s de filosofia,
como tambm de obras literrias. Os seus escritos filosficos principais so os seguintes: O sentido da beleza, 1896; Interpretao da poesia e da religio, 1900; A vida da razo, 5 vol., 1905-1906 (2.- ed, 1954). Cepticismo e f animal, 1923; Dilogos, no limbo, 1925; O platonismo e a vida espiritual, 1927; O reino do ser, em 4 vols.: O reino da essncia, 1927; O reino da matria, 1930; O reino da verdade, 1938; O reino do esprito 1940. O tema fundamental da filosofia de Santayana foi o da continuidade e, portanto, do contraste entre natureza e razo. Na primeira das suas obras filosficas mais importantes, A vida da razo, Santayana exprimiu a relao entre natureza e razo como sendo anloga que existe entre as "foras mecnicas", ou "o fluxo dos acontecimentos", ou ainda "os impulsos racionais", e a unidade, a ordem ou a harmonia da vida. Na sua outra obra importante, O reino do ser, comparou essa relao com a que se verifica entre o reino da existncia e o reino da essncia. Na primeira destas obras, que tem como subttulo As fases do progresso humano, Santayana exprime deste modo as relaes entre a razo e a vida: "A vida da razo simplesmente a unidade dada a 116 toda a existncia por um esprito informado pelo bem. Tanto nos estdios mais desenvolvidos da natureza humana como nos menos desenvolvidos, a racionalidade depende da diferenciao daquilo que excelente daquilo que no o : e esta diferenciao pode ser feita, em ltima anlise, por um impulso meramente irracional. Do mesmo modo que a vida uma forma melhor atribuda a uma fora, forma essa cujo fluxo universal submetido e orientado para a criao e para o servio de um qualquer interesse permanente, tambm a razo a melhor forma atribuda a este interesse, atravs da qual ele se fortifica, propaga e, talvez possa garantir a sua satisfao. A substncia a que se atribui esta forma mantm-se irracional; e assim que a racionalidade, como qualquer outro atributo maior das coisas, se torna algo secundrio e relativo que exige um ser natural que a possua ou ao qual possa ser atribuda" (The Life of Reason, 1954, 2 aedio, pgs. 7-8). Por um lado, a razo seria algo acidental relativamente vida, no sentido de que o desenvolvimento dos acontecimentos poderia at no dar origem a ela ou de que a ordem e as categorias que a razo aconselha poderiam ser diferentes daquelas que so; por outro lado, a obra da razo a da prpria vida, j que no poderia agir "se no fosse a expresso das foras fsicas que presidem ao desenvolvimento dos acontecimentos e que os tornam concordantes ou no concordantes com os interesses humanos" (Ib., p. 15). A razo cria um mundo ou uma esfera "ideal" que no de modo algum fictcia, sendo antes considerada, a justo ttulo, como "real", visto basear-se em 117 indcios ou provas; mas j no "real" no sentido em que o so os impulsos ou o fluxo irracional da vida. Assim, o mundo externo sem dvida "real" mas apenas enquanto construo ideal e objecto de um conhecimento intelectual, isto , no imediato-, como tal, no dever ser concebido como uni "facto". A
natureza e Deus so tambm ideais, no sentido de que apenas a inteligncia pode descobrilos e utiliz-los Qb., p. 173); mas, por outro lado, tambm eles so produtos ou criaes das "foras mecnicas". "A base histrica da vida", afirma Santayana, " constituda por uma parte da sua prpria substncia e o ideal no se pode desenvolver independentemente dessa raiz" Qb., p. 167). At no domnio da cincia Santayana consegue encontrar reflexos deste dualismo: a fsica (as cincias naturais) estuda a existncia, os acontecimentos, os fenmenos; a dialctica (na qual este autor inclui a matemtica, a metafsica e as cincias morais) estuda a essncia e concentra-se na harmonia e nas implicaes da forma (Ib., p. 436). Na sua segunda obra mais importante, O reino do ser, Santayana refere-se s relaes entre natureza e esprito como sendo precisamente aquelas que situam entre a existncia e a essncia. As essncias constituem um reino infinito, do qual faz parte tudo o que pode ser percebido, imaginado, pensado ou, de qualquer modo, experimentado; no existem em nenhum espao ou tempo, no tm substncia ou quaisquer partes ocultas, dado que o seu ser se reduz sua aparncia. A essncia aquilo que resta quando o cptico nega ou pe entre parntesis a realidade 118 do mundo e do eu; o domnio da dialctica pura, isto , das formas ideais puras, que prescindem de toda a exigncia e realidade biolgica e humana. A essncia ainda o objecto da contemplao esttica ou moral e da disciplina espiritual na medida em que emancipa o homem das necessidades animais. O princpio que pode ser considerado como caracterstico das essncias o da identidade: toda a essncia o que , e perfeitamente individual. Mas a sua individualidade torna-a universal dado que carece de referncias a qualquer sector do espao e do tempo ou a qualquer relao adventcia com outras coisas. O reino da essncia infinito e todas as essncias so eternas e imutveis. O seu ser -no a existncia, nem mesmo a existncia possvel, a qual pertence apenas ao discurso e no diz verdadeiramente respeito nem essncia nem existncia. A essncia no uma abstraco ou um termo geral; , antes, uma ideia no sentido platnico, "um tema aberto considerao". O reino das essncias o reino do "puro ser", que se contrape assim ao domnio da existncia, que o do futuro, da luta, do acaso e da necessidade. De certo modo, Santayana inspira-se no dualismo platnico do mundo ideal e do mundo sensvel. A existncia sempre existncia sensvel, material. A essncia o objecto da contemplao desinteressada, da teoricidade pura. Mas este autor no admite a existncia de uma ordem e de um sistema organizado no mundo das essncias. Estas no se encadeiam e no constituem um sistema. A ateno, o discurso, o raciocnio, so-lhe alheias; so puros objectos da 119 intuio, e a intuio a nica experincia imediata possvel. Ateno, raciocnio, discurso,
pressupem a existncia; e a existncia um reino completamente parte do das essncias. o reino da aco, da energia vital; numa palavra, da matria. A matria o outro termo do dualismo platnico, o tema preferido de Santayana. A existncia humana e csmica essencialmente matria. H um grande cosmos inorgnico, astronmico, geogrfico, qumico, e sobre a terra h organismos vivos capazes de se adaptarem progressivamente ao ambiente e de o modificarem para poderem satisfazer as suas futuras necessidades. A inteligncia, a sensibilidade, as lnguas e as artes, mesmo quando exprimem algo espiritual, no tm nada de espiritual na sua estrutura reconhecvel: todas as essncias que incorporam so essncias incorporadas matria; pertencem ao fluxo de acontecimentos no espao e no tempo que se chama natureza. Por isso esto abertas investigao e medida cientfica e so determinveis na sua gnese e nos seus efeitos no interior da esfera material. Nesta esfera fixa-se o conhecimento enquanto afirmao ou reconhecimento de uma realidade objectiva. A garantia de que h algo para alm das essncias dada pela aco, pela espera, pelo medo, pela esperana e pela necessidade; esta garantia denominada por Santayana f animal. O objecto da f animal a realidade que encontramos na aco, de que temos necessidade para a nossa vida fisiolgica, que determina em ns a espera, o temor, a esperana. Tal realidade, porm, nunca conhecida imediatamente: para descrev-la no podemos servir-nos 120 seno das essncias que os sentidos ou o pensamento evocam quando ela se apresenta. O reino das essncias o depsito do qual devemos tirar os termos para descrever a realidade natural. Isto faz nascer o problema da verdade do conhecimento. A verdade no a prpria realidade, isto , o facto ou a matria, que no contm em si a sua prpria descrio. antes a exacta, completa e acabada descrio da realidade ou do facto (Scepticism and Animal Faith, pgs. 266-267). A realidade exterior ao domnio da essncia e a verdade exterior ao da existncia (The Realm of Truth, p. 39). O conhecimento no a prpria verdade, apenas a noo que um ser existente tem de um outro e sempre, portanto, uma forma de f, ainda que esta seja justificada pelo contnuo contacto fsico entre o cognoscente e o conhecido (Ib., p. 29). Implica sempre confuso e erro: no melhor dos casos uma viso ou uma expresso da verdade; uma observao que pode dar-nos a conhecer um animal provido de rgos especiais, Z:> em circunstncias especiais (Ib., p. 63). Mas esta limitao tambm condio necessria do conhecimento, que j no o seria se fosse completo e total. Se o conhecimento fosse a prpria verdade, seria imutvel e eterno, como a verdade: o sujeito e o objecto da experincia coincidiriam e no haveria, de facto, experincia. De modo que "o fim irracional e as tendncias da vida animal, longe de negar-nos a verdade, impelem-nos a agir no sentido de a procurarmos e do-nos, em certa medida, os meios para alcan -la" (Ib., p. 64). 121
A vida do esprito, caracterstica do homem, radica-se na matria e condicionada por ela. O esprito no um poder infinito sem qualquer sustentculo material, mas sim finito e intimamente relacionado com a matria. " H um s mundo, o mundo natural, e s uma verdade acerca dele; mas este mundo tem em si uma vida espiritual possvel que no olha para outro mundo, mas para a beleza e para a perfeio que este mundo nos sugere, para a qual tende sem a atingir" (The Realm of Spirit, p. 279). O esprito existe num corpo por natureza, no por acidente. O seu lugar necessrio a alma, isto , a vida de um corpo orgnico esprito mediador entre o reino da matria e o reino das essncias. atravs dele que so possveis a liberdade da vontade e a intuio das essncias, e torna-se assim possvel a libertao que, porm, no abolio ou separao do mundo, mas antes libertao da distraco do mundo, isto , da ignorncia e da obscuridade sobre a sua essncia. O cristianismo revelou, com o dogma da morte e paixo de Cristo, a verdade fundamental sobre este ponto: a possvel libertao do esprito no uma libertao do sofrimento e da morte, mas atravs do sofrimento e da morte. "Aceitando a morte de antemo podemo-nos identificar dramaticamente com o esprito, que resiste e supera, quaisquer acidentes rindose dessa morte, pois que, independentemente de tais acidentes, o esprito em ns idntico ao esprito nos outros: um testemunho divino, de uma 122 divindade paciente e imortal que s temporal e involuntariamente se encarna numa miriade de vidas separadas" (The Realm of Spirit, p. 207). Sobre a relao do esprito com a natureza, as ideias de Santayana no so claras. Por um lado, afirma que toda a evoluo natural tende a tornar possvel a vida espiritual. "A matria" - diz (Ib., p.79) - "no se teria desenvolvido at aos animais se a organizao necessria no estivesse potencialmente nela desde o princpio; e a sua organizao nunca teria despertado a conscincia se a essncia e a verdade no tivessem superado a existncia desde a eternidade apresentando-se, finalmente, com todas as suas perspectivas suficientemente claras para que o esprito as pudesse percebem. E assim estabelece um sentido, uma direco unvoca ao desenvolvimento do mundo material para a realizao do esprito. Mas, por outro lado, insiste no carcter arbitrrio, casual e contingente da evoluo fsica, devido ao qual apenas a fsica, e no a metafsica, que nos pode revelar os fundamentos das coisas (Ib., p. 274). Deste modo h uma contnua oscilao no seu pensamento entre uma concepo finalista, para a qual a matria teria j, na sua cega fatalidade, predeterminado a realizao do esprito, e uma concepo naturalista, para a qual o esprito seria um produto causal finito e temporal da evoluo csmica. Contudo, a primeira concepo acaba por prevalecer quando, seguindo o exemplo de Comte, Santayana no resiste tentao de interpretar de modo 123 materialista a trindade crist: a matria, pelo seu poder, seria Deus Pai, o reino das essncias seria o Filho ou Logos, e o reino do esprito, o Esprito Santo (Ib., pgs. 292 e segs.). O facto de se
deixar levar por estas especulaes, mostra-nos que em Santayana prevalece finalmente o elemento romntico da sua filosofia. Ao longo de toda a sua vida de pensador, este elemento chocou continuamente com o elemento oposto, representado pela exigncia de entender e explicar o finito com tudo o que ele implica, exigncia que ele considerou materialista, naturalista ou empirista. Santayana quis ter os olhos abertos sobre os caracteres da existncia finita, condicionada e limitada por todos os lados; e esta exigncia est representada no seu pensamento pelo que ele chamou o reino da matria e o reino da verdade. Mas a exigncia de um infinito (representada pelo reino das essncias) acabou por prevalecer na sua filosofia. Santayana ocupou-se tambm da arte e da poesia, mas no descobriu nestas actividades nenhum carcter especfico. Pelo lado prtico, existe apenas na arte uma habilidade manual e uma tradio profissional; e pelo lado terico, no h mais do que uma pura intuio das essncias, com o inevitvel prazer sensvel e intelectual que acompanha a intuio. Tambm no h diferena entre valores estticos e valores morais: a beleza um bem moral, assim como o bem moral um deleite esttico. A harmonia , ao mesmo tempo, um princpio esttico e o princpio da salvao, da justia e da felicidade. 124 777. ALEXANDER A teoria da evoluo (no sentido de Spencer), como progresso universal e necessrio da realidade csmica, o pressuposto da doutrina de Santayana ainda que no encontre nela um tratamento ou uma defesa especficos. E tambm o pressuposto da doutrina de Samuel Alexander (18591938), um australiano que estudou em Oxford e foi professor em Manchester. O primeiro escrito de Alexander intitula-se Ordem moral e progresso (1889); a sua obra fundamental a que se intitula Espao, tempo e deidade, (2 vols., 1920). Alexander tambm o autor de um ensaio sobre Locke (1908), de um outro sobre Espinosa e o tempo (1921) e de numerosos artigos em revistas inglesas da sua poca. Este autor tem da filosofia o mesmo conceito que os outros neo-realistas. A gnoseologia no tem nenhuma primazia sobre a metafsica, sendo antes um captulo da prpria metafsica. Esta uma cincia emprica que apenas difere das outras pela natureza do seu objecto: os caracteres estveis e universais das coisas, que Alexander chama a priori ou categorias. O esprito, se condio essencial da experincia, no o do ser das coisas. Os espritos no so mais do que membros de uma democracia de coisas: os membros mais elevados que conhecemos, mas que no so diferentes dos outros na sua realidade. Alexander faz sua a anlise de Moore sobre o acto cognitivo e volta a exp-la com uma nova terminologia. H a conscincia e o objecto da conscincia; mas enquanto contemplamos o objecto da
125 conscincia, gozamos (isto , intumos ou percebemos directamente) a prpria conscincia. No podemos contemplar o nosso esprito como contemplamos as coisas: ele nunca para ns um objecto no sentido em que o uma mesa ou uma rvore; mas por ns gozado no prprio acto do contemplar. S para um ser mais elevado, para um anjo, poderia a conscincia ser um objecto tal como uma rvore e ele veria o meu prazer ao mesmo tempo que a rvore, assim como eu vejo a rvore ao mesmo tempo que a terra. Mas o que o anjo veria como a co-presena de dois objectos, a ns aparece-nos como a co-presena de um esprito deleitado e de um objecto no-mental que contemplamos. Toda a experincia nos mostra estes dois elementos rEferentes, cuja relao no em nada diferente da que existe entre quaisquer outros dois objectos de experincia. A diferena, como seria bvio para o anjo, no est na relao, mas nos seus termos: no caso de dois objectos fsicos, os dois termos so fsicos; no caso da relao cognitiva, um dos termos um ser consciente ou mental. Esta relao no nica, sendo at a mais simples de todas: o mero conjunto de dois termos, a sua simultnea pertena a um mundo. No h ideias que sejam intermedirias entre o esprito e as coisas. Alexander, como todos os novos realistas, defensor de um monismo metafsico; s que este monismo realista: as coisas no so j ideias, como queria Berkeley, porque as prprias ideias so coisas. Mas as coisas no so matria pura: so partes, determinaes ou diferenciaes de uma substncia originria, que o espao-tempo. O espao e o tempo, 126 que Alexander considera indissoluvelmente unidos, como no mundo quadrimensional da fsica relativista, s o a fibra de que esto tecidas todas as coisas; e as categorias so os constituintes essenciais e universais de tudo o que experimentado, "o cnhamo cinzento de que esto revestidas as cores vivas do universo" (Space, Time and Deity, 1, p. 186). As relaes entre as coisas e as diferentes ordens de existncia em que se distribuem no so mais do que modos ou formas da relao fundamental que h entre o espao e o tempo. Esta relao deve conceber-se analogamente que existe entre o esprito e o corpo, que ns vivemos directamente. O esprito e o corpo no so duas entidades diferentes: o que visto do interior, ou gozado, um processo consciente, e o que visto do exterior, ou contemplado, um processo nervoso. Nem todos os processos vitais so tambm mentais: os mais simples processos fisiolgicos so puramente vitais; mas sem uma base fisiolgica especfica no h esprito. O processo mental pode exprimir-se completamente em termos fisiolgicos, mas no apenas fisiolgico: o que lhe d individualidade a sua qualidade especfica, mental ou consciente. Mas isto algo de novo, uma criao original que surge no mundo dos processos vitais, mas que, ao mesmo
tempo, no est separado daqueles, porque os continua e tem neles as suas razes. Neste modelo, que nos familiar, fica plasmado o mundo inteiro: o tempo est para o espao numa relao anloga que o esprito est para o corpo; e pode dizer-se que o tempo o esprito do espao, e o espao o corpo do tempo. Com isto, porm, Alexander no chega a 127 um pan-psiquismo, pois no afirma que o tempo seja esprito ou uma forma inferior de esprito. O esprito existe apenas no seu prprio nvel de existncia; mas na matriz de todas as coisas finitas e em todas as coisas finitas h algo, um elemento, que no seu mais alto nvel de existncia corresponde ao esprito e exerce a mesma funo. Ao nvel do espaotempo este elemento ser o tempo: como vemos, no o tempo que uma forma do esprito, mas sim o esprito que uma forma do tempo (Ib., 11, p. 44). Dentro da substncia universal do espao-tempo, revelam-se continuamente novas ordens de realidade. Alexander considera a realidade como um processo de evoluo emergente; o mundo desenvolve-se a partir das primeiras condies elementares do espao e complica-se pouco a pouco com o aparecimento de qualidades novas. Da matria emerge a vida e da vida emerge o esprito, o qual constitui a mais elevada das existncias finitas que ns conhecemos. Mas, dado que o tempo o princpio do devir e infinito, o desenvolvimento interno do mundo no pode cessar com a emergncia do esprito, pois temos de presumir que, na linha j traada pela experincia, aparecero novas qualidades mais elevadas, tambm empricas. O esforo que impele as criaturas atravs da matria e da vida para o esprito deve conduzi-Ias para um nvel mais elevado de existncia. A deidade precisamente a qualidade emprica pouco superior ao esprito que o universo se empenha em fazer nascer. O que quer que seja a deidade no o podemos dizer, porque no podemos goz-la nem sequer contempl-la. Se a conhecssemos, seramos deuses; mas 128 ALEXANDER os nossos altares humanos esto levantados ao Deus desconhecido (Space, Time and Deity, 11, p. 346). A deidade no esprito, ainda que pressuponha em Deus o esprito da mesma maneira que o esprito pressupe a vida, e esta os processos materiais fsico-qumicos. O esprito, a personalidade, os caracteres humanos ou mentais, pertencem a Deus mas no sua deidade: pertencem ao corpo de Deus. A deidade de Deus diferente do esprito no em grau, mas em espcie, e uma emergncia radicalmente nova na srie das qualidades empricas. Deus, pela sua infinidade, no actual, mas apenas ideal e conceptual. Unia vez ligada existncia, a qualidade divina, exactamente como o esprito, poder servir para diferenciar muitos indivduos finitos. No h, pois, um ser infinito actual que tenha aquela qualidade; h um infinito actual, o universo inteiro, que tende para a deidade. A realidade de Deus est neste tender do mundo do espao-tempo para uma qualidade mais elevada: um esforo, no uma realizao. A tese metafsica fundamental da doutrina de Alexander (o espao-tempo como substncia da evoluo emergente), um exemplo tpico da tendncia para manipular
metafisicamente conceitos cientficos e para dar-lhes um significado que a cincia no autoriza nem legitima. Conceber a relao entre o espao e o tempo por analogia com a que existe entre o esprito e o corpo significa dar a estes conceitos um carcter antropomrfico que lhes tira toda a possvel referncia ao espao-tempo da fsica. E se se prescinde das suas conexes com a fsica contem129
pornea, a metafsica de Alexander aparece como outra manifestao do desenvolvimento romntico, isto , do conceito do mundo enquanto manifestao progressiva e necessria do infinito. 778. WHITEHEAD No mesmo quadro de uma "filosofia cientfica da natureza", que substancialmente uma cosmologia, podemos situar a obra de Alfred North Whitehead (1861-1947), que foi professor de matemtica em Londres e de filosofia na Harvard University dos Estados Unidos. Whitehead , com Russel, autor dos Principia Matematica, que apareceram em trs volumes entre 1910 e 1913. O seu primeiro escrito filosfico notvel foi a Investigao sobre os princpios do conhecimento natural (1919), seguido pelo Conceito da natureza (1920) e pelo Princpio da relatividade (1922). O seu pensamento filosfico mais amadurecido est contido nos trs livros A cincia e o mundo moderno (1926), Processo e realidade (1929) e Aventuras das ideias (1933), sendo o segundo o mais importante. Os aspectos notveis do que ele chamava "filosofia orgnica" encontram-se nas obras O futuro da religio (1926), Simbolismo (1927) e A funo da razo (1929). Whitehead tem da filosofia um conceito positivista. "A misso da filosofia" afirma (Process and Reality, p. 13) - " a de desafiar as meias verdades que constituem os primeiros princpios da cincia. A sistematizao do conhecimento no pode fazer-se em compartimentos estanques. As verdades gerais condicionam-se todas umas 130 s outras; e os limites da sua aplicao no podem ser definidos adequadamente sem os relacionar com uma generalidade mais ampla. A critica dos princpios deve tomar, principalmente, a forma de uma determinao dos significados prprios que devem ser atribudos s noes fundamentais das diferentes cincias, quando estas noes so consideradas no seu estado de correlatividade recproca. A determinao deste estado exige uma generalidade que transcende todo o contedo objectivo especial". Whitehead insiste bastante na noo de correlatividade ou de organizao, pelo que chama "orgnica" sua filosofia. Assim, toda a proposio que afirma um facto deve, na sua anlise completa, afirmar o carcter geral do universo requerido por aquele facto; e, em ,era], toda a entidade exige um universo particular, e toda a transformao da entidade
uma nova acomodao total do universo inteiro. No Conceito da natureza, Whitehead tinha j formulado claramente a tese fundamental do seu realismo. A natureza o objecto da percepo sensvel e nesta percepo temos conscincia de algo que no pensamento e que estranho ao pensamento. Esta propriedade fundamental para o objecto da cincia natural. Contudo, no implica de facto um dualismo de pensamento e natureza. Significa apenas que se pode pensar a natureza de um modo homogneo, como um sistema fechado, sem pensar ao mesmo tempo o pensamento. Pode-se tambm, indubitavelmente, pensar a natureza relacionando-a com o pensamento, e em tal caso pensada de uma maneira heterognea; mas apenas o modo homo131 gneo de considerar a natureza inerente cincia. Em todos os casos, na percepo sensorial ou na sensao, o que percebido aparece como no-pensamento; " percebido como um ente que o termo da sensao, algo que, para o pensamento, est para alm do facto da prpria sensao". Os objectos da percepo ou do pensamento so, pois, entes que, no prprio acto de serem percebidos ou pensados, se revelam como independentes da percepo ou do pensamento. Esta tese permanece imutvel na obra capital de Whitehead, Processo e realidade, na qual se volta a exprimir numa terminologia complicada, tosca e, em certa medida, intil aos fins da preciso e da clareza. O ente ou coisa, objecto da percepo, chamado "entidade actual" ou "ocasio actual". Entidades ou ocasies so as coisas reais e ltimas pelas quais o mundo constitudo. S o em nmero infinito e diferem entre si; alm disso, so divisveis, mediante a anlise, de um nmero infinito de modos. A percepo denominada "preenso": reproduz em si mesma as caractersticas gerais de uma entidade actual, refere-se a um mundo externo e neste sentido tem um "carcter vector" e implica emoo, finalidade, valorao, causalidade. Uma conexo particular entre entidades actuais chama-se "nexo". Os nexos so reais, individuais e particulares, como as entidades e as preenses. Os factos ltimos da experincia real reduzem.-se precisamente a entidades, preenses e nexos. A razo suficiente de toda a condio ou mudana do universo deve sempre procurar-se numa ou mais entidades actuais: este "princpio ontolgico" o princpio de toda a possvel explicao. 132 Posto isto, o universo, na sua evoluo emergente (ou criadora), um processo de crescimento para o qual contribuem igualmente o aspecto fsico e o aspecto espiritual, indissoluvelmente unidos e ambos activos. "Toda a actualidade -diz Whitehead (Process and Reality, p. 15 1) essencialmente bipolar, fsica e mental, e a sua herana fsica essencialmente acompanhada por uma reaco conceptual que em parte se conforma e em parte conduz a uma nova oposio relevante, mas que sempre introduz nfase, valorao e finalidade. A integrao do aspecto fsico e do mental na unidade da experincia a autoformao, que um processo de crescimento e que, pelo princpio da imortalidade objectiva, caracteriza a criatividade que o transcende. Assim, mesmo quando a mentalidade seja no-espacial, sempre uma reaco experincia fsica, que espacial, ou urna integrao da mesma". Esta concepo leva a um pan-psiquismo e, em ltima
anlise, a uma forma de monadismo de cunho leibniziano. "A filosofia do organismo atribui sensibilidade a todo o mundo actual. Ela baseia a sua doutrina no facto directamente observado de que a sensibilidade sobrevm como um elemento conhecido, constitutivo da existncia formal das entidades actuais que ns podemos observar. Mesmo quando observamos o nexo causal privado de relaes com as apresentaes sensveis acabamos por admitir o influxo da sensibilidade pela definio vagamente qualificativa e vectorial do mesmo. O domnio da quantidade fsica escalar, a inrcia da fsica newtoniana, obscureceu o reconhecimento da verdade segundo a qual todas as 133 quantidades fsicas fundamentais so vectores, no escalares" (Ib., p. 249). O vector a referncia ao exterior e exprime a direco e sentido com que a experincia sensvel se refere a qualquer outra coisa, a uma realidade independente. Sensibilidade significa experincia, mas no conscincia. A experincia precede e condiciona a conscincia, mas no se verifica o inverso. A conscincia a "forma subjectiva implcita no sentido da oposio entre a "teoria", que pode ser errnea, e o "facto" que dado" ( Process and Reality, p. 226). Como tal, nasce muito tarde e pertence apenas s fases mais elevadas do crescimento. Portanto, ilumina primordialmente estas fases, s iluminando as anteriores de forma indirecta e quando entram na composio daquelas. Daqui se conclui que a prioridade do que claro e distinto no tem valor metafsico e que o conhecimento no um elemento necessrio da entidade actual concreta. "Toda a entidade actual tem a capacidade de conhecer, e existe uma graduao de intensidade nos diversos campos do conhecer; mas, em geral, o conhecimento parece descurvel, fora da complexidade particular da constituio de algumas ocasies actuais" (Ib., p. 225). Com isso, a entidade actual (ou "ocasio de experincia") apresenta-se exactamente como uma mnada em sentido leibniziano: mnada que na sua experincia (as pequenas percepes de Leibniz) abarca todas as outras mnadas e que s em parte ilumina o seu contedo com conscincia clara e distinta. Como Leibniz, Whitehead acredita que todo o universo consiste na experincia das mnadas. "0 princpio subjectivista afirma que 134 todo o universo consiste nos elementos que se manifestam na anlise da experincia dos sujeitos. O processo o futuro da experincia. Daqui se segue que a filosofia do organismo aceita inteiramente a tendncia subjectivista da filosofia moderna" (Ib., p. 233). Whitehead aproxima a sua filosofia de Hegel, no sentido de que aquilo que ele chama "o crescimento de uma entidade actual" seria o hegeliano "desenvolvimento de uma ideia" (Ib., p. 234). de Hegel e, em geral, do romantismo, que Whitehead tira o sentido progressivo, finalista e optimista do devir do mundo. Mas o prprio mundo concebido segundo o esquema monadolgico, de Leibniz; e as entidades actuais, entendidas como realidades eternas e sujeitos permanentes e imortais de todo o devir, no poderiam ter lugar numa filosofia de tipo hegeliano. muito menos concilivel com o esquema hegeliano o conceito de que o mal redutvel ao tempo, enquanto causa e origem de toda a perda e destruio. A soluo do problema do
mal s se pode conseguir recorrendo ao conceito de Deus. Na sua natureza primordial, Deus potencialidade infinita, uma potencialidade que acompanha toda a criao. Mas, como tal, "pouco actual": falta-lhe a plenitude da sensibilidade fsica e, portanto, a conscincia e o conhecimento, sendo a sua experincia puramente conceptual. Mas Deus no s o princpio, como tambm o fim: tem uma natureza no s primordial em relao ao mundo, mas tambm consequente ao prprio mundo. H, pois, uma reaco do mundo sobre Deus; e, em virtude desta reaco, a natureza 135 de Deus adquire a plenitude da sensibilidade fsica, que deriva do facto de o prprio mundo se objectivar em Deus, ou seja, ser conhecido por ele. A natureza primordial de Deus permanece sem alterao porque compreende tudo; mas a sua natureza derivada depende do progresso criador do mundo. A natureza primordial de Deus "livre, completa, eterna, actualmente deficiente e inconsciente". A natureza derivada de Deus "determinada, incompleta, duradoura, plenamente actual e consciente" (Process and Reality, pgs. 488-489). A concluso de Whitehead decididamente pantesta. O mundo parte de Deus e Deus parte do mundo. "Deus e o mundo dirigem-se reciprocamente ao encontro um do outro atravs dos seus processos. Deus primordialmente uno, a unidade primordial das muitas formas potenciais: no processo adquire uma multiplicidade consequente, que o carcter primordial absorve na sua unidade. O mundo primordialmente mltiplo, a multiplicidade das ocasies. na sua finitude fsica; no processo adquire uma unidade consequente, que uma nova ocasio e que absorvida na multiplicidade do carcter primordial. Assim, Deus deve ser concebido como uno e como mltiplo e, em sentido inverso, o mundo deve ser concebido como mltiplo e como uno. O tema da cosmologia, que a base de toda a religio, a histria do esforo dinmico do mundo para alcanar uma unidade duradoura e da majestade esttica da viso de Deus, que executa, a sua tarefa absorvendo a multiplicidade dos esforos do mundo (Ib., p. 494). 136 A. N. WHITEHEAD Nas suas conferncias sobre O futuro da religio (1926), este conceito da divindade desenvolvido, com escassos fundamentos, at ser considerado como termo final da evoluo histrica da religio, isto , do seu esforo para subtrair-se superstio e ao dogmatismo. E nas Funes da razo (1929), a prpria razo acaba por ser identificada com Deus e considerada como sendo a fora csmica a que se deve simultaneamente o progresso e a ordem do mundo: fora essa que, ao nvel da vida animal, tem um carcter prtico e, ao nvel da vida humana, um carcter especulativo tornando-se uma actividade cognitiva desinteressada que se exprime numa cosmologia. No seu ltimo livro, Aventuras das Ideias (1933), Whitehead entendeu fazer uma "histria, da raa humana no que se refere sua infinita variedade de experincias mentais", considerando esta histria sob quatro aspectos: sociolgico, cosmolgico, filosfico e social. Os conceitos de Whitehead tornam-se aqui ainda menos preciosos e mais arbitrrios do que no resto da sua obra. O tom optimista da sua cosmologia acentua-se na exaltao da harmonia, conceito que estaria na base da beleza, da verdade, do bem, da liberdade, da paz e de qualquer grande
aventura csmica. "A grande harmonia", afirma, " a harmonia de individualidades duradouras e conexas na unidade de um fundamento. por esta razo que a noo de liberdade nunca abandona as culturas mais elevadas: a liberdade, em cada um dos seus mltiplos sentidos, a exigncia de uma vigorosa auto-afirmao" (Adventures of Ideas, p. 362). 137 779. WOODBRIDGE. RANDALL Podemos encontrar uma forma de realismo naturalista em Frederick J. E. Woodbridge (1867-1940), professor na Columbia University de Nova Iorque e director do "Journal of Philosophy" durante muitos anos. Eis as suas obras: A tarefa da histria (1916); O reino do esprito (1926); Natureza e esprito (1937); Ensaio sobre a natureza (1940). Os temas preferidos de Woodbridge so a unidade da natureza e do homem no conhecimento, e a dualidade entre a natureza e o sobrenatural na moralidade. "0 nosso estado natural", afirma, "est to intimamente ligado natureza. quanto o est a maior estrela ou o mais pequeno micrbio" (An Essay on Nature, p. 14). Esta relao permite ao homem apreender os sinais da natureza e consider-la no seu conjunto como uni "universo do discurso". O mundo visvel a primeira e mais evidente manifestao da natureza; mas apresenta-nos a natureza no espao, num espao vazio em que ela estivesse contida, enquanto que, na realidade, o espao no mais do que o conjunto de todas as determinaes ou relaes da natureza que nela se podem distinguir. No mundo visvel torna-se ainda evidente o esquema temporal da natureza, isto , a unificao e integrao dos acontecimentos na sua durao relativa e no seu devir. Ainda neste caso as divises e a medida do tempo, a memria do passado, a histria, no se relacionam com uma natureza intemporal, sendo antes manifestaes da prpria estrutura temporal da natureza. Em geral, segundo Woodbridge, todas as "possibi138 dades" oferecidas ao engenho e ao trabalho humano so possibilidades da natureza. O finalismo que aparece no mundo humano pertence prpria natureza, visto que no s no exclui o organismo como at o integra. No existe por essa razo nenhuma realidade nem qualquer princpio que possa ser considerado independente da natureza antes de entrar no campo do conhecimento. O mesmo no acontece quando se passa para o campo da moral, isto , quando se considera a natureza no como o objecto do conhecer mas sim como o domnio em que se deve procurar a felicidade. Neste campo surge um dualismo entre o ser e o dever ser, entre o real e o ideal ou, por outras palavras, entre o natural e o sobrenatural. Com efeito, o dever ser, o ideal, est sempre para alm da natureza, O dualismo entre a natureza e o sobrenatural no nasce portanto no domnio do conhecimento, sendo antes o prprio dualismo entre o conhecimento e a f. Na medida em que defende a legitimidade da f, a filosofia de Woodbridge pode ser considerada como uma escolstica do naturalismo. A sua influncia manifestou-se na Amrica, paralelamente de Dewey, enquanto defesa de
uma tarefa especfica e imprescindvel da metafsica, considerando esta como uma descrio das caractersticas gerais da existncia. "Ao considerar a metafsica", afirmou, "corno o resultado da reflexo sobre a exIstncia em geral, e logo como uma diviso do conhecimento natural, pressupus a existncia de pessoas inteligentes que possam empreender esta reflexo e chegar a resultados interessantes e importantes 139 seguindo o mtodo experimental de observao e generalizao controlada" (Nature and Mind, 1937, p. 108). Por outro lado, Woodbridge sabe que uma metafsica descritiva no pode apelar para uma intuio do ser enquanto tal; na realidade, este autor considera a metafsica tradicional do ser como uma espcie de jogo de palavras: "Comeamos por dizer que os objectos do pensamento tm ser, que o ser necessariamente , que sem ele nada pode ser ou ser concebido, que conhec-lo conhecer de uma forma plena e completa, e que repousar nele repousar em paz. Isto bastante, em palavras, mas o seu valor apenas o de uma rapsdia lingustica" (The Realm of Mind, 1926, p. 34). John Hermann Randall (nascido em 1899), professor na Columbia University de Nova Iorque e historiador da cultura e da cincia, deu um contributo notvel para uma metafsica descritiva na sua obra intitulada A natureza e a experincia histrica (1958). Randall nega que se possa falar da existncia como totalidade e aceita neste ponto a crtica de Kant. "Podemos", disse, "falar legitimamente do universo ou da existncia em geral; mas neste caso falamos de toda a existncia ou de todas as questes existenciais. No falamos de uma substncia, de um ser, de uma realidade ou de um todo unificado que abranja toda a existncia" (Nature and Historical Experience, p. 130). O conceito fundamental da metafsica tradicional, o de substncia, interpretado por Randall como "processo", ou melhor, como "um conjunto de processos actuantes e cooperantes entre si, cada um dos quais evidencia formas prprias 140 e bem determinadas de cooperar" (Ib., p. 152). Neste sentido, a substncia pode ainda ser chamada estrutura e constitui um contexto de relaes, um contexto sempre especfico, particular, nunca geral ou abstracto. Podem-se ento distinguir a estrutura formal, isto , da forma como as coisas esto em conjunto, e a estrutura funcional, da forma como as coisas se comportam numa ocasio especfica. Estas noes aplicam-se tanto a coisas materiais como a entidades espirituais. Randall reconhece uma certa validade na arte e na religio consideradas como sistemas de smbolos. Mas assemelha esta
validade dos conectivos da lgica ("e", "ou", "se.... ento ... ", etc.). "Os conectivos", afirma, "enquanto smbolos cognoscitivos como uma funo determinada em todo o conhecimento, no so 'verdadeiros' em si mesmos. Enquanto usados na formulao de proposies verdadeiras, nem a linguagem nem os sistemas de medida podem ser considerados verdadeiros em si mesmos. Ideais como a democracia e a liberdade dificilmente podero ser tidos como 'verdadeiros'. A matemtica formalmente 'vlida' mas no , em si, 'verdadeira'. As teorias e as hipteses cientficas no so tomadas como ' verdadeiras' nas filosofias contemporneas da cincia, sendo antes 'confirmadas' ou 'controladas" (Ib., p. 269). Estes diversos tipos de validade que podem ser atribudos aos vrios ramos do saber humano do origem ao problema da unidade do saber, que tambm o da unidade do mundo em que vive o homem. Randall limita-se a colocar o problema e a reconhecer que a procura de uma pos141 svel soluo no pode ser realizada nem pela arte nem pela cincia mas apenas pela filosofia. 780. M. R. COHEN Morris R. Cohen (1880-1947), professor do City College de Nova iorque que exerceu uma grande influncia no pensamento americano, defendia um naturalismo racionalista. Escreveu as seguintes obras: Razo e natureza (1931), O direito e a ordem social (1933); Introduo lgica (1944); A f de um liberal (1946), O significado da histria humana (1948); A viagem de um sonhador (autobiografia, 1949); Estudos de filosofia e cincia (1949); O pensamento americano: uma reviso crtica (1954). O tema fundamental da filosofia de Cohen a defesa das tarefas da razo em todos os campos da actividade humana. A mais importante obra de Cohen, Razo e natureza, ensaio sobre o significado do mtodo cientfico, refere-se precisamente a este assunto: em primeiro lugar, tenta mostrar a insuficincia dos "rivais e substitutos da razo" (a autoridade, a experincia pura, a intuio, a imaginao), e em segundo lugar mostra a funo da razo no campo da filosofia e no das cincias naturais e morais. Mas a obra tende simultaneamente a mostrar a estreita unio existente entre a razo e a natureza e a evitar que o "apelo razo" tenda a suprimir a natureza ou que o "apelo natureza" d origem a uma espcie de irracionalismo sentimental (Reason and Nature, p. VII). O instrumento que 142 Cohen considera adaptado a esta tarefa a anlise do mtodo cientfico: por esta razo que se considerou a si mesmo como um lgico e designou por "A f de um lgico" a apresentao da sua filosofia publicada na Contemporary American Philosophy (1930). Na sua defesa da razo, Cohen mantm alguns aspectos e concluses da filosofia tradicional. Assim, este autor defende o carcter metafsico da filosofia, considerando esta no apenas como sntese dos resultados das cincias e crtica dos pressupostos da prpria cincia, mas tambm como extenso do mtodo cientfico a argumentos que no se encontram no mbito especfico de cada um dos ramos do saber cientfico. Nesta questo o
autor defende o conceito aristotlico, de substncia como razo de ser das coisas e identifica a substncia com as "relaes ou estruturas" que constituem os objectos da cincia racional (Reason and Nature, p. 161). No entanto, Cohen no pretende dizer com isto que a raciona- ]idade esgote a existncia das coisas. "A forma ou o esquema racional das coisas refere-se a um elemento no racional ou algico sem o qual ela no tem nenhum significado genuno. Negar a existncia de todos os elementos irracionais significa fazer da prpria racionalidade um facto bruto, contingente e **al,-co" W., p. 164). A relao entre a substncia racional das coisas o os seus elementos no racionais um caso particular de um princpio mais vasto que Cohen chama princpio de polaridade. Este princpio afirma que "os opostos tais como o mediato e o imediato, a unidade e a pluralidade, a 143 permanncia e o fluxo, a substncia e a funo, o ideal e o real, o actual e o possvel, etc., implicam-se um ao outro, como os polos de um man, quando so aplicados a uma entidade significante" (Ib,, p. 165; A Preface to Logic, IV). O prprio reconhecimento de uma substncia racional das coisas, constituda por estruturas ou relaes de natureza lgica ou matemtica, exclui, segundo Cohen, a natureza puramente mecnica do mundo tal como exclui o determinismo rigoroso que prprio do mecanismo (Reason and Nature, pgs. 230 e segs.). Quanto ao finalismo, a razo incapaz de o demonstrar ou de o refutar; no entanto, "a ideia de que foras humanas ou quase humanas sejam cosmicamente dominantes produz uma satisfao similar que se sente quando se volta para casa depois de uma solitria viagem pelo deserto" (Ib., p. 291). No campo da psicologia, Cohen exclui a possibilidade de admitir a "alma" como entidade estranha ao corpo e que se encontre para alm dos fenmenos observveis; mas exclui igualmente que se possa reduzir a conscincia ao simples comportamento, como pretende o behaviorismo. E no campo das cincias morais defende a ideia do direito de natureza, mas considerando que as normas deste direito no so "evidentes", devendo antes ser demonstrada a sua "certeza, exactido, universalidade e coerncia" (Ib., p. 413). Contra o positivismo jurdico (Kelsen), afirma que no pode faltar ao direito o aspecto natural ou existencial, como polo complementar do aspecto racional ou espiritual (Reason and Law, p. 4). Nestes pontos, como se v, Cohen chega a unia 144 parcial confirmao de certos resultados da filosofia tradicional. No campo da Lgica, do mesmo modo, as suas ideias so concordantes com os desenvolvimentos que esta cincia teve nos primeiros decnios do sculo XIX. O objecto da Lgica constitudo pelas verdades formais que dizem respeito relao se... ento, dado que as verdades deste tipo no so, puras e simples tautologias, implicando sempre um elemento qualquer de novidade. Das
poucas regras do jogo do xadrez podem ser deduzidas todas as partidas susceptveis de ser jogadas; no entanto, essas partidas no esto contidas naquelas regras, a menos que se considere que as regras esto contidas em todas as partidas "enquanto modificaes invariveis ou transformaes comuns a todas elas" (A Preface to Logic, trad. ital., pgs. 34-35). As relaes lgicas so necessrias mas as relaes de facto so contingentes. As hipteses so "o nosso guia no labirinto das possibilidades" (Ib., p. 40). A induo apenas um raciocnio disjuntivo que entre vrias hipteses possveis determina a melhor a partir da anlise das suas consequncias. Os conceitos so signos de "relaes invariveis" (Ib., p. 119), e a probabilidade consiste na frequncia relativa de um acontecimento (Ib., pgs. 186 e segs.). Contra a tese do positivismo lgico segundo a qual as proposies no susceptveis de verificao so destitudas de significado, Cohen afirma que o significado independente da verificao, pondo assim em risco a tese, de Carnap sobre a impossibilidade da metafsica enquanto conjunto de proposies no susceptveis de verificao (Ib., pgs. 102 e segs.). 145 Mas a ideia mais importante que Cohen enunciou foi a da capacidade para se auto-corrigir, a qual seria tpica da cincia. "Se fizermos uma distino, como devemos fazer, entre as verdades verificveis da cincia e as opinies falveis dos sbios, poderemos definir a cincia como sendo um sistema atito-correctivo. Um sistema de teologia, por exemplo, no pode admitir a possibilidade de estar errado seja onde for: as suas verdades uma vez reveladas, devem permanecer acima de quaisquer dvidas... A cincia, pelo contrrio, convida incerteza. Ela pode desenvolver-se e progredir s por ser fragmentria mas tambm por nenhuma das suas proposies ser em si prpria absolutamente certa, podendo o processo de correco actuar assim que se encontrar uma evidncia mais adequada" (Studies in Philosophy and Science, p. 50). Neste sentido, existe um paralelo entre a cincia e o governo constitucional: "Um governo constitucional aquele em que todas as leis ou instituies particulares podem ser aceites ou abolidas por meios especificamente constitucionais. O mesmo no possvel numa monarquia absoluta ou em qualquer forma de ditadura" (Ib., p. 50). No entanto, Cohen no considera que esta capacidade para se auto-corrigir se estenda tambm ao mtodo da cincia, j que afirma, pelo contrrio, serem as prprias correces que devero concordar com os cnones do mtodo cientfico (Ib., p. 50). isto certamente um limite ou insuficincia da expresso que nele teve uma ideia muito mais profunda, ideia que se inspira por um lado em Peirce 146 ( 750) e por outro no conceito de Popper que define a cincia corno sistema de autorefutao ( 817). 781. O MATERIALISMO DIALCTICO O "materialismo dialctico", filosofia oficial dos partidos comunistas, que reconhece como fontes as obras de Marx e Engels e que se inspira sobretudo neste ltimo, pode ainda ser considerado um realismo naturalista. Um dos escritos mais importantes do materialismo dialctico a obra de Vladimir Lenine (1870-1924) intitulada Materialismo e empiriocriticismo (1909), que dirigida contra
Avenarius, Mach, Ostwald e Poincar, contra alguns dos seus discpulos russos e, em geral, contra toda a forma de idealismo, espiritualismo e fidesmo. As teses fundamentais do materialismo dialctico podem ser resumidas do seguinte modo: "1.0-As coisas existem independentemente da nossa conscincia e das nossas sensaes, exteriormente a ns [ ... ] 2.-No existe nem pode existir nenhuma diferena de princpio entre o fenmeno e a coisa em si. H apenas diferena entre aquilo que j conhecido e aquilo que ainda no o . [ ... ] 3.O - No campo da teoria do conhecimento, como alis em todos os outros domnios da cincia, necessrio raciocinar dialecticamente, isto , no supor a nossa conscincia como sendo algo de acabado e imutvel, mas antes analisar a forma como o conhecimento nasce da ignorncia, 147 a forma como o conhecimento incompleto e impreciso se torna mais completo e mais rigoroso" (Materialismo e Empir., trad. ital., p. 75). Estas teses so apresentadas por Lenine como sendo a expresso do prprio pensamento de Engels. YEste falava de uma dialctica da natureza obedecendo a trs leis fundamentais, concretamente a da unidade dos opostos, a do aparecimento brusco de uma qualidade nova como consequncia de uma evoluo gradual quantitativa, e a da negao da negao ( 612); para Lenine, a dialctica esclarece o ritmo do saber humano, o qual evolui da ignorncia para o conhecimento e de um conhecimento inadequado para outro mais adequado. Mas precisamente a existncia da ignorncia e do conhecimento imperfeito que demonstra, segundo Lenine, * verdade do realismo: as coisas j existem antes de * homem as conhecer, e so independentes do prprio conhecimento. "As cincias da natureza no nos permitem duvidar de que a afirmao da existncia da terra anteriormente existncia dos homens seja uma afirmao verdadeira. [ ... 1 a existncia daquilo que pode constituir objecto do pensamento independentemente de quem pensa (isto , a existncia do mundo exterior independentemente da conscincia) o princpio fundamental do materialismo" (Ib., p. 91). Isto demonstra que a realidade material no pode ser resumida a um complexo de sensaes, como pretendiam Avenarius e Mach, j que as sensaes no existem e no podem existir antes e independentemente da sensibilidade e da conscincia. A existncia indubitvel da realidade material garante o valor plenamente objectivo da cincia que, apesar de nunca 148 estar na posse da verdade total, progride incessantemente para ela, descoberta a descoberta, dando no seu conjunto uma ideia aproximada dessa verdade. "Do ponto de vista do materialismo moderno, quer dizer, do marxismo, os limites da aproximao dos nossos conhecimentos verdade objectiva, absoluta, so historicamente relativos, mas a prpria existncia dessa verdade to incontestvel como o facto de nos aproximarmos dela" (Ib., p. 101). Apenas este materialismo realista permite entender a evoluo histrico-Social da humanidade como um facto objectivo indubitvel que se efectua necessariamente. "0 facto de viverem, exercerem uma actividade econmica, procriarem e fabricarem produtos que depois so trocados, determina uma sucesso objectivamente necessria de acontecimentos, de desenvolvimentos, independente da vossa conscincia social, que nunca a
pode abarcar na sua totalidade. A mais nobre tarefa da humanidade a de compreender esta lgica objectiva da evoluo econmica (evoluo da existncia social) nos seus aspectos gerais e essenciais, para lhe adaptar o mais clara e nitidamente possvel, com esprito crtico, a sua conscincia social e a conscincia das classes avanadas de todos os pases capitalistas" (Ib., p. 257). A lgica objectiva de que fala Lenine a necessidade dialctica da histria de que falam Marx e Engels, qual est confiada a realizao inevitvel da sociedade comunista. Subsiste em Lenine o sentido da absoluta necessidade da histria, cuja interpretao fica assim confiada unicamente s categorias fundamentais do romantismo. Mantm ainda o 149 conceito (que reafirmou, sobretudo, nos seus comentrios a Hegel, publicados depois da sua morte com o ttulo Cadernos filosficos, 1933) de uma dialctica da histria constituda pela luta dos opostos (luta de classes), qual se deve seguir a sntese final dos opostos numa sociedade sem classes. Esta concepo dialctica aplicada por Lenine teoria do Estado (0 Estado e a revoluo, 1917). O Estado o resultado do antagonismo entre as classes e o instrumento do domnio de uma classe sobre outra. Na passagem do capitalismo para o comunismo, que o perodo da ditadura do proletariado, o Estado torna-se instrumento da classe proletria no sentido de que a maioria dos oprimidos passa a reprimir a minoria dos opressores. Mas, uma vez instaurado o comunismo, o Estado tende a tornar-se intil e a desaparecer, j que o =unismo elimina a prpria oportunidades dos delitos, e os crimes individuais que pudessem verificar-se seriam ento reprimidos pelos prprios cidados. A negao dialctica , porm, em todo o caso, conservao e progresso: o comunismo no elimina as conquistas do capitalismo, antes as conserva e eleva a um nvel mais alto. A dialctica progressiva e necessria do romantismo aceite totalmente por este autor. Lenine introduz nesta dialctica, contudo, um elemento voluntarista: a aco da teoria poltica e do partido que a propugna. "S um partido guiado por uma teoria de vanguarda capaz de desempenhar o papel de combatente de vanguarda"afirma (Obras escolhidas, trad. ital., 1, p. 157). E a teoria no germina espontaneamente no movimento 150 da classe operria, mas trazida do exterior. "Quanto doutrina socialista, nasceu das teorias filosficas, histricas e econmicas, elaboradas pelos representantes cultos das classes possuidoras, pelos intelectuais. Os prprios fundadores do socialismo cientfico contemporneo, Marx e Engels, pertenciam, pela sua situao social, aos intelectuais burgueses" (Ib., p. 161). Corresponde assim ao partido comunista e sua doutrina a traduo em acto daquela possibilidade real da sociedade comunista, que est implcita no desenvolvimento da prpria sociedade burguesa. No entanto, isto no introduz nenhum elemento de problematicidade ou de incerteza no decurso da histria: esta aco do
partido insere-se na dialctica necessria da histria e constitui um seu elemento. A filosofia explicitamente entendida por Lenine como um instrumento da aco do partido. A polmica filosfica deste autor tem o objectivo de, por um lado, barrar o caminho ao "idealismo", no qual v o pressuposto das crenas religiosas e, por outro lado, defender uma "verdade objectiva" que constitua uma slida base ideolgica para a aco do partido. Deste ponto de vista, v no prprio agnosticismo uma espcie de tolerncia ou benevolncia implcita para com a religio. "0 agnstico diz: ignoro se existe uma realidade objectiva reflectida pelas nossas sensaes e declaro que impossvel sab-lo. Da a negao da verdade objectiva e a tolerncia pequeno - burguesa, filisteia, pusilnime, para com as crenas nos fantasmas, nos espritos, nos santos catlicos e noutras coisas semelhantes" 151 (Ib., p, 95). Partindo do relativismo puro pode justificar-se toda a espcie de sofstica e, por exemplo, considerar "relativo" que Napoleo tenha ou no morrido em 5 de Maio de 1821; pode declarar-se que cmodo (de certo ponto de vista) para o homem e para a humanidade admitir, ao lado da ideologia cientfica, a ideologia religiosa (uma das mais cmodas de outro ponto de vista ... ), etc" (Ib., p. 102). Por outro lado, a necessidade de admitir uma verdade objectiva tem o seu fundamento na exigncia poltica de reconhecer como absolutamente vlido o diagnstico de Marx sobre a evoluo da sociedade burguesa. "Mas como o critrio da prtica-por outras palavras, o desenvolvimento dos pases capitalistas nestes ltimos decnios -demonstra a verdade objectiva de toda a teoria econmica e social de Marx, e no desta ou daquela parte, desta ou daquela frmula, etc., evidente que falar aqui do "dogmatismo" dos marxistas fazer uma concesso imperdovel economia burguesa" (Ib., p. 107). E assim, o "esprito de partido" permeabiliza e deve permeabilizar toda a filosofia e fazer dela substancialmente um rgo ou instrumento de propaganda. Neste caso, a nica verdadeira superioridade do materialismo consiste no facto de se prestar, muito melhor do que as doutrinas opostas, a estabelecer uma base firme para a propaganda. Idntico ao de Lenine o conceito da histria que encontramos nos escritos de Estaline, que considera como elementos decisivos da histria, junta- mente com as foras objectivas da produo, "as relaes de produo entre os homens" (Histria do 152 partido comunista da U.R.S.S., Roma, 1944, p. 147). Em Trotsky, pelo contrrio, a importncia dada ao elemento objectivo, s foras inconscientes, maior. "0 mtodo materialista -diz (Histria da revoluo russa, trad. ital., 11, Milo, 2aed., 1946, p. VIII) impe uma disciplina, obrigando a tomar como ponto de partida os factos concretos da estrutura social. As foras fundamentais do processo histrico so, para ns, as classes; nestas se apoiam os partidos polticos; as ideias e as palavras de ordem aparecem como moedas correntes dos interesses
objectivos". nesta preponderncia do elemento objectivo que se baseia a exigncia de Trotsky de uma "revoluo permanente", que no se esgote na constituio de um s estado comunista; da, portanto, a sua impossibilidade de aceitar a transformao do comunismo em nacionalismo do estado comunista, que a tese fundamental de Estaline. Contudo, em Trotsky como em Estaline, em Lenine como em Marx e Engels, o conceito filosfico da histria no varia. Trata-se de um processo necessrio, e necessariamente progressivo, no qual se pode dar maior ou menor importncia teoria e actividade do partido, mas no qual, em todo o caso, a teoria e a actividade desempenham o papel de momentos necessrios de um desenvolvimento infalvel. O "partidarismo da filosofia", afirmado por Lenine e aplicado por Estaline em todo o mundo comunista, tornou impossvel durante muitos anos o aparecimento, nesses pases, de desenvolvimentos originais ou novos do materialismo dialctico, que foi principalmente cultivado como uma espcie de 153 escolstica de partido, isto , como uni trabalho filosfico no autnomo tendente a justificar as directrizes do partido e a fornecer a base ideolgica para a sua obra de educao e de propaganda. Os conceitos principais desta escolstica podem ser resumidos do seguinte modo: 1.O A dialctica (e as suas trs leis estabelecidas por Engels) constitui a estrutura geral da realidade e, portanto, da natureza e da histria. Por essa razo, ela constitui o verdadeiro objecto da filosofia, quanto s cincias, tm por tarefa a especificao ou determinao dos processos dialcticos nos seus respectivos campos. 2.O A dialctica aplica-se necessariamente a toda a realidade e serve portanto para a previso infalvel dos resultados a que possvel chegar. Este ponto importante sobretudo no campo da histria, dado que permite afirmar que a sociedade comunista uma consequncia necessria do desenvolvimento da sociedade burguesa. Sem tal previso, no poderia haver um movimento revolucionrio. 3.O Todo o desenvolvimento dialctico antecipado e preparado por possibilidades reais, isto , por possibilidades que no so puramente lgicas mas que constituem potencialidades da prpria natureza das coisas e dos acontecimentos e cuja realizao infalvel. Faz parte destas possibilidades, ou insere-se nelas, a aco " consciente" das massas ou do partido, cujo grau relativo de independncia das condies objectivas (como vimos) diferentemente avaliado conforme as tarefas que lhes so atribudas. 154 Os mais recentes desenvolvimentos do marxismo verificaram-se fora desta escolstica, atravs de uma tentativa de reedificao da verdadeira doutrina de Marx, a partir sobretudo das duas obras juvenis. As vrias interpretaes da obra de Marx orientaram-se para dois polos diferentes: o hegelianismo e o existencialismo. Mas, quer se considere uma
ou outra destas interpretaes, pode-se dizer que o marxismo deixou de ser um realismo naturalista. 782. O NEO-TOMISMO Pode-se considerar o neo-tomismo contemporneo como um realismo no naturalista. Esta corrente defende no s a realidade independente dos objectos materiais ou naturais como tambm dos objectos espirituais (alma e Deus), recusando-se assim reduo, prpria das outras formas de realismo, do modo de ser de todos os objectos ao dos objectos naturais. A defesa do realismo coincide, deste ponto de vista, com a defesa da metafsica clssica aristotlico-tomista e dos seus conceitos fundamentais, os de substncia e de causa, que no incluem conotaes que limitem a validade do mundo natural. O realismo neo-tomista pode assim ser considerado como um realismo metafsico, ao qual a polmica anti-idealista sugerida pela exigncia de utilizar os conceitos tradicionais da metafsica para as necessidades da apologtica religiosa. O desenvolvimento do movimento neo-tomista pode considerar-se iniciado com a encclica Aeterni Patris de Leo XIII (4 de Agosto de 1879), a qual 155 exortava ao estudo da filosofia de S. Toms, reconhecida como sendo a nica verdadeira. Pouco depois surgiram alguns centros do movimento neo-tomista, tais como a Universidade de Freiburg, na Sua, e a de Lovaina, na Blgica, fundando-se em 1889, nesta ltima, um Instituto Superior de Filosofia. Na Itlia fundou-se em 1891 a Academia Romana de S. Toms; mais tarde, a Universidade Catlica de Milo constituiu o centro dos estudos filosficos tomistas. Hoje, um numeroso, grupo de pensadores de todos os pases expe, nos seus diversos aspectos, o pensamento de S. Toms, defendendo-o polemicamente contra as diversas orientaes da filosofia contempornea. O desenvolvimento do neo-tomismo teve como consequncia um novo florescimento dos estudos da filosofia medieval e chamou eficazmente a ateno da especulao contempornea sobre as figuras e os temas daquela poca. Naturalmente, o prprio carcter do movimento oferece pouca margem tomada de posies filosficas originais. A originalidade do neo-tomismo contemporneo relativamente s correntes tomistas, que no perodo precedente tinham ficado confinadas ao mbito da cultura eclesistica, consiste na nova problemtica que o neo-tomismo tira da prpria filosofia contempornea com que polemiza. A aceitao desta problemtica com o objectivo de clarificar, defender, continuar e desenvolver as teses do tomismo, o trao fundamental que introduz o neo-tomismo na filosofia contempornea e faz dele o seu elemento vivo. tambm o carcter que determina os seus limites, porque mostra que no se pode esperar do neo-tomismo, a no ser 156 a nvel muito reduzido, uma renovao da problemtica filosfica. Alm disso, o neotomismo no a nica corrente que sofre esta limitao: outras escolas filosficas permanecem imveis na problemtica oitocentista e mostram pouca vontade de a renovar.
Uma das principais figuras do neo-tomismo a do cardeal belga Dsir Mercier (1851-1925) que foi o fundador da escola de Lovaina, mais tarde chamada " Institut Suprieur de Philosophie". A obra deste autor forneceu orientao neo-tomista o seu primeiro guia (Psicologia, 1883-, Metafsica geral ou ontologia, 1886; Introduo filosofia e curso de lgica, 1891; Criteriologia geral, 1899). Entre as figuras mais conhecidas do tomismo destaca-se a de Jacques Maritain, nascido em 1882, que comeou a sua carreira de escritor com uma spera crtica a Bergson, de quem antes tinha sido discpulo (A filosofia bergsoniana, 1914). Entre as numerosssimas obras deste fecundo escritor citaremos a que trata de Trs reformadores: Lutero, Descartes, Rousseau (1925), nos quais v os maiores responsveis pelo desvio fatal do pensamento moderno da fonte tomista, as Reflexes sobre a inteligncia e sobre a sua prpria vida (1924) e Distinguir para unir, ou os graus do saber (1932). Esta ltima obra, das mais importantes que escreveu, contm a defesa dos aspectos fundamentais das suas doutrinas gnoseolgicas, que so por ele definidos como um realismo crtico, mas que constituem uma espcie de espiritualismo de carcter ontolgico, Maritain toma como ponto de partida a evidncia do ser, na sua identidade, para a conscincia. "Dado que a inte157 ligncia se dirige primeiro no a si mesma, nem a ml .m, mas ao ser, a primeira evidncia (primeira na ordem da natureza mas no na ordem cronolgica, na qual muitas vezes o que anterior est somente implcito) para a inteligncia a do princpio da identidade, que se descobre na apreenso intelectual do ser ou do real" (Distinguer pour unir, p. 149). Na realidade, apesar de se referirem vulgarmente a S. Toms e sua boa vontade de permanecer fiis aos seus ensinamentos, os pensadores neo-tomistas diferenciam-se amide entre si tal como os filsofos que pertencem a outras escolas. Isto acontece devido diferente importncia que atribuem aos argumentos da filosofia moderna e contempornea e , por outro lado, uma prova da vitalidade da sua investigao. Procuram restaurar um realismo baseado na diversidade metafsica entre o intelecto e a realidade e tambm na possibilidade de correspondncia entre um e outro. Para atingir este fim eles defendem a funo da abstraco, a qual permite compreender a forma como a substncia-alma pode assimilar a essncia das coisas, abstraindo-a das prprias coisas e sem as identificar a si ou identificar-se com elas. A defesa da validade da abstraco , portanto, uma das caractersticas principais do neotomismo. O outro aspecto principal o princpio da analogia do ser. Este princpio permite estabelecer a diversidade entre o ser finito (criatura) e de Deus, garantindo a transcendncia de Deus, e justificar simultaneamente a validade parcial (e analgica) do conhecimento humano do ser divino, garan158 tindo desta forma o valor das vias demonstrativas que conduzem a Deus.
O neo-tomismo toma ainda o nome de neo-escolstica, mas este vocbulo imprprio dado que a escolstica no se reduz ao tomismo por apresentar historicamente uma riqueza de orientaes especulativas que no podem ser reduzidas a uma s das suas manifestaes. Como se disse, um -dos efeitos do neo-tomismo foi a revalorizao histrica da filosofia medieval. O alemo Martin Grabmarm (1875-1949) deu a esta revalorizao um impulso notvel com uma obra de carcter geral intitulada Histria do mtodo escolstico (1, 1909-, 11, 1911) que ilustrou com objectividade histrica os problemas fundamentais da escolstica medieval, para alm de numerosos estudos particulares sobre o mesmo assunto. Alm deste autor, deram e continuam a dar contributos importantes numerosssimos neo-tomistas, entre os quais se pode recordar o francs tierme Gilson (nascido em 1884), cujos estudos sobre Dante, S. Toms, S. Boaventura e Duns Escoto se situam entre os mais importantes escritos sobre tais argumentos e nos quais se deve fazer notar a indagao sobre as fontes escolsticas da filosofia cartesiana. Os historiadores neo-tomistas da escolstica medieval so muitas vezes levados a reconduzir ao tomismo as manifestaes mais dspares desta filosofia, a descurar e a esquecer aquelas que no se prestam a esta reduo e a valorizar todas as doutrinas tomando como nica referncia o tom'smo. Esta certamente uma limitao da validade de alguns dos 159 seus contributos; mas a amplitude e a importncia de tais contributos so ainda notveis. NOTA BIBLIOGRFICA 770. Sobre Schuppe: P. NATORP, in "Archiv fr sistematische Philosophie", 111, 1896; A. ALIOTTA, in "Cultura filosofica", 1908, agora editado em Pensatori tedeschi della fine dell' 800, Npoles, 1950, pgs. 78-104; A. PELAZZA, G. S. e Ia filosofia dell'immanenza, Milo, 1914; R. ZOCHER, Husserls Phnomenologie und 8.s Logik, Heidelberga, 1932; G. JACOBY, W. S., Greifswald, 1936. 771. Sobre Klpe: M. GRABMANN, in "Philosophische Jahrbcher", 1916; P. LINKE, in "Kantstudien", 1917. 772. Sobre Moore: C. A. STRONG, in "Mind", N. S., XIV, 1905; G. DAWES HICKS, in "Proceedings of the Arstotelian Society", N. S. X, 1910; A. ALIOTTA, in "Cultura filosofica", 1915 (agora em Il problema de Dio e il nuovo pluralismo, Roma 1949); A. K. ROGERS, in "Philosophical Review", 1916; J. LAIRD, in "Mind", N. S., 1923; The Phil. of G.E.M., ao cuidado de P. A. Schilpp, na "Library of Living Philosophers", 1942, New York, 1952; G. PRETI, in Linguaggio comune e linguaggi scientifici, Roma-Milo, 1953, pgs. 17 esegs.; F. Rossi LANDI, in "Rivista di filosofia", 1955, pgs. 304-26; A. R. WHITY,, G.E.M.A. Critical Exposition, Oxford, 1958. 773. Sobre Broad: M. LEAN, Sense-Perception and Matter. A Critical Analysis of C.D.
B.Is Theory of Perception, Londres, 1953; The Philosophy of C.D.B., ao cuidado de P. A. Schilpp, Nova Iorque, 1959. 774. Sobre o novo realismo: 1. Woodbridge RileY, American Thought from Puritanism to Pragmatism, 160 Nova Iorque, 1915; A. ALIOTTA, in "Cultura filosofica", 1915 (agora publicado in 11 problema di Dio e il nuovo pluralismo, j citado) e as referncias contidas neste ensaio s discusses sobre o tempo; R. KREMER, Le noralisme amricain, Paris, 1920; ID., La Worie de Ia connaissance chez les no-ralistes anglais, Paris, 1928. ,Sobre Montague: "The. Journal of Philosophy", 1954, pgs. 593-630 (fascculo dedicado a M.); P. ROMANELL, in "Riviista di Filosofia", 1954, pgs. 196-200. Na mesma orientao da obra de Montague: P. ROMANELL, Toward a Critical NaturaZism, Nova Iorque, 1958 (em italiano: Verso un naturalismo critico, Turim, 1953). 775. Sobre Lovejoy: A. C. VEZZETTI, in Filosofi contemporanei (Instituto de Estudos Filosficos de Turim), Mlo, 1943, pgts. 225-69. 776. De Santayana: Works (recolha completa dos seus escritos, em 15 vols.), Nova Iorque, 1936-1940. Bibliografia in The phil. of G. S., ao cuidado de P. A. Sch11pp, Evanston e Chicago, 1940, na "Library of Living Philosophers" e in SANTAYANA, Obiter Scripta, Lectures, Essays and Reviews, Nova Iorque, 1H6. Sobre Santayana: G. 1. EDMAN, The Philosophy of G.S., Nova lorque, 1936; M. K. MUNITZ, The Moral Philosophy of S., Nova Iorque, 1939; J. DURON, La peme de G.S., Paris, 1950; N. BOSCO, Il realismo critico di G.S., Turim, 1955; R. BUTLER, The Mind of S., Londres, 1956; "Revue intemationale de philosophie", 1963, 1 (fascculo dedicado a S.). 777. Sobre Alexander: G. DAwEs HicKs, in "Hibbert Journal", 1921; C. D. BROAD, in "Mind", N.S., 1921; J. WATSON, in "Philosophical Review", 1924; PH. DEVAUX, Le systme dIA., Paris, 1925; R. M. KONVITZ, On the Nature of Value. The Philosophy of S.A., Nova Iorque, 1946; J. W. McCARTHY, The Naturalism of S.A., Nova Iorque, 1948; A. P. STIERNOTTE, God and Space-Time. Deity in Philosophy of S.A., Nova Iorque, 1954. 161 778. De WHITEHEAD: foram traduzidas em italiano La scienza e il mondo moderno, ao cuidado de A. Banfi, Milo, 1945; Il concetto della natura, ao cuidado de M. Meyer, Turim, 1948; Natura e vita, Milo, 1951; La funzione della ragione, ao cuidado de F. Cafaro, Florena, 1958; Avventure di idee, ao cuidado de G. Gnoli, Milo, 1961. Sobre Whitchead: bibliografia in The Phosophy of W., ao cuidado de P. A. Schilpp, na coleco dos "Living Philosophers", Chicago, 1941; F. CESSELIN, La philosophie organique de W., Paris, 1950; A. H. JOHNSON, W.Is TheoTy of Reality, Boston, 1953; R. SmiTH, W.'s
Concept of Logic, Westminster, 1953; N. LAwRENCE, W.Is Philosophical Develop,?nent, Berkeley, 1956; C. ORsi, La filosofia dell'organismo di A. N. W., N,poles, 1956; W. A. CHRISTIAN, An Interpretation of W.Is Metaphysics, New Haven, 1959; "RE5vue Internationale di philosophie", 19C31, 2-3 (fascculo dedicado a W., com bibliografia). 779. De WOODI3RIDGE: Saggio sulla natura, trad. ital., F. Tat, Milo, 1956. 780. De COREN: Introduzione alla logica, trad. ital. de C. Pellizzi, Milo, 1948. Sobre Cohen: Freedom and Reason, Studies in Philosophy and Jewish Culture, in Memory M.R. Cohen, ed. por S. W. BARON, E. NAGEL, K. S. PINSON, Glencoe, U, 1951 (a primeira parte desta obra contm estudos sobre a filosofia de C.); A. DEREGIBUS, Il raZionaliSMO di M. R. C. nella filosofia americana dloggi, Turim. 1960. 781- As obras de Lenine e de Estaline foram traduzidas nos "Classici del marxisrno" das Edizioni Rinascita, Roma. Sobre estes autores: N. BUDJAEV, 11 senso e le premesse del comunismo russo, Roma, 1944; G. A. WETTER. Il materialismo dialettico sovietico, Turim 1948 (com bibliografia); C. J. GiANOUX, Lnine, Paris, 1952; R. GARAUDY, La thorie matrialiste de Ia cownaissance, Paris, 1953. 162 782. Sobre o neo-tomis-o: A. XASNOVO, Il neotomismo ia Italia, MIo, 1923; F. EHRLE, La scolastica o i ~ compiti odierni, trad. ital, Turim 1935; J. L. PERRIER, Revival of Scholastic Philosophy, Nova Iorque, 1948; L. DE P.=MAEKER, Le card. Mercier et Unstitut Suprieur de Philosophie de Louvain, Lovaina, 1952; M. DE WULF, An Introduction to Schol~ic Philosophy Me,dievaZ and Modera, Nova Iorque, 1956. 163 XI A FILOSOFIA DAS CINCIAS 783. FILOSOFIA, METODOLOGIA E CRITICA DAS CINCIAS Sob o nome de "filosofia das cincias" so agrupados dois tipos diferentes de indagao. Concretamente: 1.O A indagao filosfica que se pretende constituir em cincia rigorosa segundo o modelo das cincias naturais e que por isso tenta adaptar-se aos factos analisados por essas cincias e realizar a sua melhor ou mais completa sistematizao. M **Iffiffi-MIEM *)~~ONN-4. sos e as tcnicas, lgicas e experimentais, utilizados pelas cincias, quer tal indagao fa a parte das prprias cincias a um dado nvel da sua organizao conceptual quer possa ser considerada como actividade filosfica relativamente autnoma das cincias.
165 Estes dois tipos de investigao encontram-se normalmente unidos ou misturados na obra de um qualquer filsofo ou cientista; no so por isso susceptveis de um estudo separado. Pode-se no entanto mostrar a correspondncia entre certas fases metodolgicas e certas posies da filosofia cientfica. Em geral, a filosofia das cincias apresenta-se como continuao histrica actual do positivismo oitocentista. Distingue-se do positivismo pelo seu conceito crtico da cincia, o qual tende a determinar os limites exactos da validade da prpria cincia, subtraindo-a pretenso absolutista e, em ltima anlise, metafsica, que conservava no positivismo. Sob este aspecto, a filosofia da cincia sempre acompanhada por uma crtica da cincia; mas necessrio observar-se que nem toda a crtica da cincia constitui uma filosofia da cincia. Uma tal crtica pode ser instituda, realizada ou repetida mesmo por uma doutrina que tenda a reduzir ao mnimo ou a negar totalmente o valor cognitivo da cincia, atribuindo-o na sua totalidade filosofia. Assim acontece habitualmente com o espiritualismo, o idealismo e o pragmatismo; a crtica da cincia que podemos encontrar, por exemplo, em Croce, Bergson ou James faz parte integrante das doutrinas destes filsofos e no portanto considerada no estudo histrico da filosofia das cincias. A crtica que podemos admitir como historicamente mais fecunda a inerente ao prprio desenvolvimento histrico da cincia, a qual foi levada a evoluir dos seus problemas para a conscincia dos processos que utiliza e dos limites da sua validade, sendo esta inerente prpria considerao 166 metodolgica das cincias. A primeira manifestao importante deste facto pode ser encontrada na obra de Mach, se bem que esta j tivesse sido precedida e preparada pela de Avenarius. 784. FILOSOFIA DAS CINCIAS: AVENARIUS Richard Avenarius (1843-1896) foi professor de filosofia indutiva em Zurique e dirigiu desde 1877 at sua morte, em colaborao com Wunt e outros, a "Revista Trimestral de Filosofia Cientfica" (WierteIjahrsschrift fr wissenschaftliche Philosophie). A sua primeira obra foi um ensaio sobre Espinosa (As duas primeiras fases do pantesmo de Espinosa e a relao da segunda com a terceira fase, Leipzig, 1868), ao qual se seguiram A filosofia como pensamento do mundo segundo a lei do menor esforo, 1876; A crtica da experincia pura, 2 vols., 1888- 1890; O conceito humano do mundo, 1891. Os escritos de Avenarius tornam-se pesados e obscuros devido a uma terminologia inslita e artificiosa; mas a orientao do seu pensamento bastante clara. Avenarius pretende construir uma filosofia que seja uma cincia rigorosa, como as cincias positivas da natureza, e que por isso exclua toda a metafsica e se limite ao reconhecimento e elaborao da experincia pura. A experincia pura a que precede a distino entre o fsico e o psquico, e que por isso no pode ser interpretada como o fazem o materialismo ou o idealismo. Avenarius pretende voltar ao que ele cr "o conceito natural do mundo".
Todo 167 o homem se encontra originariamente frente a um ambiente circundante e frente a outros indivduos humanos; mas o indivduo e o mundo ambiente no so duas realidades separadas e o-postas, pois o homem tem experincia do ambiente precisamente no mesmo sentido em que tem experincia de si mesmo: uma e outra realidade pertencem a uma nica experincia e so constitudas pelos mesmos elementos. Estes elementos dependem da aco recproca do ambiente e do sistema nervoso do indivduo e Avenarius divide-os em elementos e caracteres. Os elementos so as sensaes propriamente ditas (cores, sons, etc.). Os caracteres so o prazer e a dor, que constituem o "afeccional"; identidade e alteridade, que constituem o "identicial"; familiar e no familiar que constituem o "fidencial", e ainda as trs especializaes do "existencial": ser, aparncia, no-ser; as do "segurancial", segurana e no segurana; do "notal", ser conhecido ou ser desconhecido, e assim sucessivamente. As modificaes dos caracteres do ainda lugar a outras determinaes: actividade, passividade, corporeidade, etc. A primeira consequncia fundamental deste ponto de vista a eliminao de qualquer contraposio entre o fsico e o psquico. Estes so apenas "caracteres", que resultam de uma relao de dependncia biolgica entre o indivduo humano e o ambiente que o rodeia; mas no determinam nenhuma dualidade real na experincia pura. O que chamamos "coisa" e "pensamento" correspondem somente a diferentes posies dos mesmos conjuntos de elementos. O pensamento apenas uma sensao ca168 MACH caracterizada de forma diferente da que corresponde coisa: esta "percebida", aquele "representado". Mas todo o complexo de elementos pode ser caracterizado tanto de um modo como de outro. A segunda consequncia que os termos "existentes" e "no existentes", "semelhantes" e "no semelhantes", etc., no tm nenhum significado lgico e objectivo, sendo simples "caracteres" que dependem do decurso dos acontecimentos biolgicos e mudam com eles. pois evidente a base biolgica de toda a filosofia de Avenarius. A experincia pura falsificada por um processo fictcio, chamado introjeco. Tudo o que a existncia permite afirmar que uma coisa (por exemplo, uma rvore) que existe para mim existe do mesmo modo para os outros indivduos humanos; neste reconhecimento no se ultrapassam os limites de uma analogia lgico-formal entre mim e os outros indivduos. A introjeco consiste, por outro lado, em interiorizar a coisa, considerando-a como uma representao ou sensao minha, e em admitir deste modo uma relao entre os elementos do ambiente externo e a minha conscincia ou o meu pensamento. Na medida em que a experincia testemunha apenas uma relao entre os elementos do ambiente externo do meu corpo, a introjeco uma falsificao da experincia, e impossvel qualquer tentativa de a
fazer concordar com os factos da experincia. Ela rompe a unidade natural do mundo emprico e divide-o em mundo externo e mundo interno, em objecto e sujeito, em ser e pensamento. Nasce ento o problema insolvel de compreender a relao entre os 169 dois troncos assim obtidos a partir da experincia originria; e nascem os conceitos de alma, de imortalidade, de esprito, com todas as dificuldades que trazem consigo. A questo das relaes entre a alma e o corpo outra das dificuldades que nascem da introjeco. Ao recusar a introjeco, Avenarius deduz como consequncia que a psicologia apenas pode ser fisiolgica. Os chamados estados de conscincia ou processos psquicos so os elementos do ambiente enquanto actuam sobre o sistema nervoso e so observados somente como mudanas fisiolgicas do prprio sistema nervoso. Toda a causalidade psquica especfica assim eliminada. 785. FILOSOFIA DAS CINCIAS: MACH Os pressupostos desta filosofia da experincia pura so aceites e integrados numa doutrina dos conceitos cientficos por Errist Mach (1838-1916), que foi professor de fsica e depois de filosofia na Universidade de Viena. Os principais escritos de Mach so os seguintes: A histria e a raiz do princpio da conservao do trabalho, 1872; Esboos da doutrina das sensaes de movimento, 1875; A mecnica no seu desenvolvimento histrico, 1883; Contribuio para a anlise das sensaes, 1886, 2.a ed. com o ttulo de Anlise das sensaes, 1900; Os princpios da doutrina do calor, 1896; O princpio da analogia na fsica, 1894; Leituras cientficas populares, 1896; Conhecimento e erro, 1905. 170 Mach, como Avenarius, parte de um conceito biolgico do conhecimento: este uma progressiva adaptao aos factos da experincia, adaptao requerida pelas necessidades biolgicas. A investigao cientfica no faz mais do que continuar e aperfeioar o processo vital utilizado pelos animais inferiores para se adaptarem, mediante reflexos inatos, s circunstncias do ambiente. Adapta os pensamentos aos factos mediante a observao e os pensamentos entre si mediante a teoria; mas a observao e a teoria nunca se separam. Conforme o princpio bsico do positivismo, Mach sustenta que o facto o fundamento ltimo do conhecimento. Mas afasta-se depois do positivismo ao reconhecer que o facto no uma realidade ltima e ao resolv-lo nos elementos que considera originrios: as sensaes. Um facto fsico ou um facto psquico apenas um conjunto relativamente persistente de elementos simples: cores, sons, calor, presso, espao, tempo, etc. O eu um destes agrupamentos persistentes, assim como os corpos externos; mas os elementos que constituem o eu e os corpos so os mesmos: as sensaes. Desta maneira, qualquer diferena substancial entre o fsico -e o psquico fica eliminada. "Uma cor - diz Mach (Die Analyse der Empfindungen, 9.a ed., 1922, p. 14) - um objecto fsico se considerarmos, por exemplo, a sua dependncia das fontes luminosas (outras cores, calor, espao, etc.); mas se a considerarmos dependente da retina, um objecto psicolgico, uma sensao. A direco, mas no a substncia, da investigao
diferente nos dois campos". Por conseguinte, no h qualquer diversidade entre o elemento 171 fsico e o psquico: todo o objecto fsico e psquico ao mesmo tempo. Deste ponto de vista no subsiste o problema de entender a gnese das sensaes pelo influxo causal do mundo externo. No so os corpos externos que geram as sensaes; so antes os complexos de sensaes que formam os corpos. O fsico considera como "corpos" o que persistente, e como elementos as suas manifestaes transitrias, mas, ao faz-lo, esquece que todos os corpos so apenas smbolos do pensamento que servem para indicar complexos de sensaes. Analogamente, o eu no uma unidade substancial mas somente a unidade prtica dos elementos sensveis mais fortemente unidos entre si e menos unidos aos outros, unidade que tem um valor simplesmente orientador e biolgico (Ib., p. 23). Os limites entre fenmeno fsico e fenmeno psquico so de uso exclusivamente prtico e puramente convencionais. O fenmeno fsico obtm-se fazendo abstraco de qualquer relao com o corpo humano; se, em troca, se considera esta relao, tem-se o facto psquico. Mas interioridade e exterioridade no tm qualquer sentido: os elementos ltimos so os mesmos (IB., p. 254). Deste ponto de vista, o conceito deve encontrar o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada nas sensaes. O conceito uma reaco da actividade sensvel que tem por resultado uma extenso e um enriquecimento desta mesma actividade (Die nalyse der Empfindungen, p. 269). O princpio de economia domina na construo e no uso dos conceitos. A economia requerida pelo facto de a varie172 dade das reaces biologicamente importantes ser muito menor que a variedade daquilo que realmente existe, Por isso, o homem levado a classificar os factos mediante os conceitos. Estes tm a misso de reunir todas as reaces inerentes ao objecto designado e atrair estas recordaes conscincia tal como se puxassem um fio (Erkennt. u. Irrt., trad. francesa, pgs. 136-37). Da que o conceito no tenha por si mesmo carcter intuitivo, mas represente e simbolize grandes classes de factos. Substitui a intuio actual por uma intuio potencial, que consiste no sentimento de possibilidade certa de reproduzir os elementos intuitivos (Ib., p. 143). O conceito cientfico corresponde plenamente a estas caractersticas. "A cincia -diz Mach (Die Machanik., p. 5 10) - substitui a experincia por representaes ou imagens atravs das quais se torna mais fcil manejar a prpria experincia". Os conceitos de que se serve a cincia so meros signos que resumem e indicam as possveis reaces do organismo humano perante os factos. No entanto, estes signos no so subjectivos ou arbitrrios. Mach conserva o conceito de cincia que Newton tinha feito prevalecer, definindo-a como uma descrio dos factos e daquilo que neles existe de uniforme ou constante. Mas o que nos factos uniforme e constante constitudo pelas reaces orgnicas que os ordenam e classificam e no por uma hipottica substncia material. Mach afirma: "os corpos so apenas feixes de reaces regularmente ligadas entre si. Isto acontece em todos os fenmenos que a nossa necessidade de conhecer obriga
a classificar e a nomear. Quer 173 se trate de ondas lquidas de que nos possamos aperceber pela vista ou pelo tacto, ou de ondas sonoras que se propagam atravs do ar e que ns concebemos e podemos tomar visveis artificialmente, ou ainda de uma corrente elctrica cujas reaces s possamos conhecer por artifcios apropriados, aquilo que constante consiste sempre e apenas na dependncia regular das reaces entre si. esta a noo crtica de substncia, a qual deve suplantar cientificamente a noo vulgar" (Erkenntniss und Irrtum, pgs. 157-58). Deste ponto de vista, a relao tradicional de causalidade deve ser substituda pelo conceito matemtico de funo, isto , de interdependncia dos fenmenos entre si (Ib., p. 275-, Die Analyse der Empfindungen, p. 74). E as leis naturais deixam de ser regras inviolveis que devem ser respeitadas pelos fenmenos da natureza, para se tornarem instrumentos da previso cientfica. "Em lugar da palavra descrio que j foi analisada por Mill e Whewell e que adquiriu direitos da cidadania depois de Kirchhoff, proponho a expresso restrio de considerandos para indicar o significado biolgico das leis da natureza. Quer a consideremos como uma restrio da aco, como um guia invarivel daquilo que acontece na natureza, ou como um indicador utilizado pelo nosso pensamento para completar antecipadamente os acontecimentos, uma lei sempre uma limitao de possibilidades" (Erkenntniss und Irrtum, p. 369). O progresso da cincia conduz restrio, isto , determinao e rigor crescentes daquilo que esperamos do futuro. A determinao e o rigor s se podem obter abstraindo, simplificando e esquematizando os factos, 174 e construindo elementos que, enquanto tais, no se encontram na natureza: tais como, por exemplo, os movimentos uniformes e uniformemente acelerados, as correntes trmicas e elctricas estacionrias, as correntes de intensidade uniformemente crescente ou decrescente. Mas se o facto corresponde exactamente a estas construes ideais, tambm a nossa espectativa poder ser determinada exactamente. "Uma proposio cientfica, afirma Mach, tem apenas um significado hipottico: se o facto A corresponde exactamente aos conceitos M, a consequncia B corresponde exactamente aos conceitos N; B corresponde a N to exactamente como A a M" (Ib., p. 377). Contrariamente a Avenarius, Mach no pensa que a distino entre o fsico e o psquico seja uma mera deformao da experincia, vendo antes nela o resultado natural de uma classificao muito til no desenvolvimento da experincia. Nasce, com efeito, da diviso dos fenmenos em duas classes: os que so perceptveis por todos os homens e aqueles de que um nico homem se pode aperceber. A separao destas duas classes obriga simultaneamente separao entre
o meu eu e o eu dos outros, formando-se assim as abstraces do fsico e do psquico, da sensao interna e da sensao externa, etc. Para uma orientao exaustiva preciso unir os dois pontos de vista que resultam destas abstraces. A considerao do homem na sua totalidade no pode ser confiada apenas introspeco ou fisiologia, exigindo que os dois mtodos sejam combinados (Erkennt. u. Irrt., p. 386). 175 A doutrina de Mach assinala o abandono do conceito positivista da cincia. Os dois pontos fundamentais desta doutrina, a saber, a interpretao dos conceitos na sua qualidade de signos e a das leis cientficas como instrumentos de previso, constituem os dois resultados da fase crtica da fsica que sero mais tarde desenvolvidos pela teoria da relatividade e pela mecnica quntica. 786. FILOSOFIA DAS CINCIAS: HERTZ. DITHEM Heinrich Hertz (1857-94) deu tambm o seu contributo para o desenvolvimento desta fase crtica. Aluno de Hehnholtz e fsico eminente Hertz foi autor de uns Princpios de Mecnica (l89) que constituiram uma primeira reviso crtica da mecnica clssica. Aceitando a teoria de **HeIm.holIz e de Mach que atribui aos conceitos o valor de signos, este autor modifica consequentemente o conceito da descrio enquanto tarefa prpria das cincias. Afirma Hertz: "formamos imagens ou smbolos dos objectos externos, e a forma que lhes damos tal que as consequncias logicamente necessrias das imagens so invariavelmente as imagens das consequncias necessrias dos objectos correspondentes" (Die Prinzipien der Mechanik, intr.). Esta correspondncia, que existe no entre smbolos e coisas mas entre as relaes dos smbolos e das coisas, torna possvel a previso dos acontecimentos, o que constitui a tarefa fundamental do nosso conhecimento da natureza. Ela garante por outro lado a validade desse conhecimento; 176 e, acrescenta Hertz, "no temos possibilidades de saber se os nossos conceitos das coisas lhes esto adaptados quando esto em causa aspectos para alm deste, considerado fundamental" (Ib. intr.). Mas Hertz verifica que, deste ponto de vista, os princpios da cincia no se lhe impem pela sua evidncia, sendo antes escolhidos a fim de tornar possvel a organizao dedutiva da prpria cincia. "Variando a escolha das proposies que consideramos fundamentais, diz o autor, podemos dar vrias representaes dos princpios da mecnica. Poderemos deste modo obter vrias imagens das coisas; poderemos experimentar estas imagens e compar-las umas com as outras, tendo em conta a sua correco e adequao s coisas" (Ib., intr.). O prprio Hertz serve-se desta liberdade (certamente no arbitrria) de escolha dos princpios de uma cincia ao reconstruir a mecnica partindo das noes de tempo, espao e massa, relegando para um segundo plano o conceito de foraO reconhecimento da natureza convencional (portanto no arbitrria) dos princpios da cincia um dos resultados do desenvolvimento da metodologia cientfica moderna. A obra de Pierre Dulieni. (1861-1916) aproxima-se da de Mach. Dulicin foi um historiador da cincia (Estudo sobre Leonardo da Vinci, 1906-13; O sistema do mundo, 1913-54) e autor de um estudo sobre A teoria fsica, o seu objecto e a sua estrutura (1906) em que o carcter altamente convencional da teoria fsica esclarecido em todos os
seus aspectos. Esta teoria para Duliem "no uma explicao mas 177 um sistema de proposies matemticas, deduzidas de um pequeno nmero de principlos que pretendem representar do modo mais simples, completo e exacto que seja possvel um conjunto de leis experimentais" (Thorie physique, p. 26). Duhern insiste, tal como Mach, no carcter econmico da teoria fsica, mas sublinha tambm o seu carcter classificativo: reala o carcter simblico das leis fsicas e esclarece um aspecto que a metodologia posterior acabou por confirmar: o de a experincia no poder retirar toda a validade a uma hiptese isolada, s o podendo fazer quando se trate de todo um conjunto terico 'Ib., p. 301). 787. ENERGETISMO E VITALISMO A obra dos filsofos-cientistas que examinmos encaminhou a cincia e em particular a fsica para aquela viragem crtica que devia acentuar-se no terceiro decnio do nosso sculo. Mas entretanto, no faltaram, mesmo por parte de cientistas, tentativas de utilizao da cincia para uma especulao metafsica sobre a natureza. O energetismo e o vitalismo so duas dessas tentativas. O qumico Wilhelm, Ostwald (1853-1932), fundador da Qumica-Fsica o grande defensor do energetismo (A energia e as suas transformaes, 1888; A crise do materialismo cientfico, 1895; Lies de filosofia da natureza, 1902; As energias, 1908; Ensaio sobre uma filosofia da natureza (1908); Fundamen178 tos da cincia do esprito, 1909; os grandes homens, 1909; O imperativo energtico, 1912; A filosofia do valor, 1913; A moderna filosofia da natureza, 1914; e ainda numerosos escritos sobre a teoria das cores, a cujo estudo Ostwald se dedicou nos ltimos anos da sua vida. Aceitando a ideia fundamental de Comte e Mach, Ostwald considera que a cincia no tem outro objectivo que no seja o de prever os acontecimentos futuros. O instrumento desta previso o conceito, que resume e conserva os caracteres gerais e constantes da experincia passada e permite assim antecipar a futura. Mas os conceitos cientficos so, na maior parte das vezes, conceitos compostos, que resultam de uma escolha e de uma combinao de elementos tirados da experincia; deste modo, o objectivo da cincia pode definir-se como o de "permitir enunciar conceitos arbitrrios que, nas condies previstas, possam transformar-se em conceitos experimentais" (Grundriss der Naturaphil., 12). Esta concepo supe, naturalmente, que haja um certo determinismo nos factos naturais, que estes se encadeiem causalmente; mas, dado que ns no conhecemos a cadeia causal na sua totalidade, a afirmao de que tudo determinado e a afirmao oposta, de que h no mundo algo no
determinado que permite o livre arbtrio do homem, conduzem, na prtica, ao mesmo resultado; podemos e devemos comportar-nos em relao ao mundo como se este estivesse s parcialmente determinado. Estas ideias coincidem substancialmente com as de Mach. Ostwald tira ainda de Comte o princpio de uma classificao das cincias, ordenadas segundo 179 o grau de abstraco que pressupem, em trs grupos: 1.o Cincias formais: lgica ou teoria do conhecimento, matemtica ou teoria da grandeza, geometria ou teoria do espao, foronomia ou teoria do movimento; 2.o Cincias fsicas: mecnica, fsica, qumica; 3.11 Cincias biolgicas: fisiologia, psicologia, sociologia. O conceito mais geral das cincias formais o de coordenao ou de funo; o conceito mais geral das cincias fsicas o de energ.-a; o das cincias biolgicas o de vida. Na realidade, o conceito que domina tanto as cincias fsicas como as cincias biolgicas o de energia. De facto, os seres vivos podem procurar a energia livre de que tm necessidade para garantir a manuteno da vida na energia solar. "Sem este contributo constante, podemos afirmar, pelo menos dentro dos limites dos nossos conhecimentos, que as energias livres teriam atingido h muito tempo um estado de equilbrio e os sistemas existentes na terra estariam fixos, isto , mortos" (Ib., 55). A energia livre, com efeito, a que escapa degradao da energia prevista pelo segundo princpio da termodinmica, constituindo assim o fundamento da vida. Daqui surge a necessidade de administr-la economicamente; e, para este fim, tanto serve o organismo vivo como servem os processos psquicos da sensao, do pensamento e da aco, e a organizao social. Desite princpio Ostwald deduz tambm a justificao da tendncia poltico-social para a igualdade entre os homens. A prpria descoberta do princpio da energia no tem outro significado seno o de economizar uma certa quantidade de energia para todas as geraes 180 futuras. Com efeito, aquele princpio, ao mostrar que a energia livre (pelo segundo princpio da termodinmica) diminui necessariamente, comunica aos homens a exigncia e os meios de economiz-la o mais possvel. Como Ostwald Driesch pretende conciliar uma metafsica com o conceito crtico da cincia; mas trata-se de uma metafsica biolgica: o vitalismo. Hans Driesch (1867-1941) foi zologo e aluno de Haeckel e, depois, professor de filosofia da natureza em vrias universidades alems. Os seus escritos mais declaradamente filosficos so os seguintes: * alma como factor elementar da natureza, 1903; * vitalismo como histria e como doutrina, 1906; Filosofia do orgnico, 1909-, Doutrina da ordem, 1912; A doutrina da realidade, 1917; Saber e pensamento,
1919. O ponto de partida da filosofia de Driesch idealista; mas o seu esprito e as suas concluses so realistas. A filosofia "o saber do saber" e tem o seu primeiro fundamento na reflexo autoconsciente, pela qual sei que sei alguma coisa. Mas este primeiro fundamento j algo ordenado e a explicitao desta ordem o objectivo da "doutrina da ordem", que a primeira parte da filosofia (e corresponde ontologia e lgica tradicionais). A ordem objectiva e as suas formas ou condies (categorias, no sentido kantiano) so tambm objectivas. Por conseguinte, Kant equivocou-se ao consider-las subjectivas. Driesch modifica e acrescenta a tbua kantiana, acrescentando-lhe a categoria da individualidade, isto , o conceito do todo e da parte, que fundamental para o seu vitalismo. Tam181 bm so objectivos o espao e o tempo, enquanto formas ou condies de ordem. A metafsica de Driesch o vitalismo. Ela comea, com efeito, onde termina a teoria da ordem, a qual compreende todo o mundo inorgnico, Mas o organismo biolgico no redutvel a formas ou a manifestaes desta ordem: por outras palavras, no uma mquina. Alm dos factores fsico-qumicos, o organismo inclui outro factor natural: a entelquia (isto , a alma). O vocbulo aristotlico, mas o conceito antes platnico: a entelquia uma espcie em sentido platnico, um "agente individualizante", que , porm, supra-individual e supra-pessoal em si mesmo. No espacial, ainda que actue somente no espao; e actua como um factor natural juntamente com os outros, sem nunca contradizer o princpio da conservao da energia, j que s pode suspender ou propor os acontecimentos possveis. A aco da entelquia anloga do homem. Driesch fala tambm de outro agente que actua no corpo e o move: o psicide, que se distinguiria da entelquia por actuar na experincia enquanto que aquela o pressuposto dessa mesma experincia. Por exemplo, a entelquia no homem (o eu) nunca activa porque a que tem (isto , intui) o seu "eU prprio"; o psicide o princpio activo, estando o eu fora do tempo enquanto que o psicide est no tempo (Ordnungslehre, 1923, pgs. 316 e segs.). Contudo, os dois factores identificam-se facilmente e a entelquia acaba por ser considerada por Driesch como uma espcie de mnada no sentido leibniziano, que determina todo o desenvolvimento futuro de tini 1 J2 ser vivo. Um intelecto mais amplo do que o humano poderia predizer todas as aces da entelquia. Driesch cr que a metafsica nada pode dizer sobre a origem da vida orgnica nem sobre o nascimento e a morte dos indivduos. Os indivduos so partes de um ser supra-pessoal e no possvel determinar se tm uma certa margem de existncia ou de realidade prpria. O que seguramente persiste para alm do indivduo o saber, que, segundo Driesch, o nico valor real, dado que abarca em si no s o conhecimento cientfico como tambm o esttico, tico e religioso. Deus no mais do que um "demiurgo que sabe". Mas a anttese entre pantesmo e
tesmo insolvel. Driesch quis utilizar tambm a entelquia para explicar os fenmenos do espiritismo nos quais reconheceu o signo de um destino do homem para alm do mundo. Mas inclusivamente na parte menos fantstica da sua metafsica evidente a tendncia para transformar as exigncias metdicas com que tinha deparado no seu trabalho como bilogo em entidades metafsicas que aquelas ex-jgncias no podem fundamentar. 788. FILOSOFIA DAS CINCIAS: MEYERSON mile Meyerson (1859-1933) apresenta-nos nas suas obras no uma metafsica cientfica mas uma interpretao da cincia apoiada numa vastssima cultura cientfica e filosfica: Identidade e realidade, 1908-, A educao relativista, 1925; A explicao, nas cincias, 1927; O caminho do pensamento, 3 veis., 183 1931. Segundo Meyerson, cincia e filosofia tm o mesmo ponto de partida, isto , o mundo da percepo, e o mesmo ponto de chegada, o acosmismo, empregando ainda o mesmo mecanismo fundamental da razo. As anlises de Meyerson tratam especialmente deste mecanismo. A sua tese bsica a de que s a identidade do ser consigo mesmo, tal como foi concebida por Parmnides, perfeitamente homognea com a razo e permevel por ela; e que, por conseguinte, toda a explicao racional uma identificao da diversidade que consiste na reduo da multiplicidade e da constante modificao que nos so dadas pela experincia, identidade e imutabilidade. Meyerson procura mostrar, servindo-se de um vastssimo material cientfico, que tal , em primeiro lugar, o processo de facto utilizado pela razo tanto no senso comum como na cincia ou na filosofia, e que, em segundo lugar, tal deve ser, por direito prprio, no havendo outro critrio ou medida de inteligibilidade. O conceito de coisa, de que tm necessidade tanto o senso comum como a cincia, um caso de identificao da diversidade sensvel. O conceito de causa um segundo caso fundamental, j que toda a explicao causal tende, segundo Meyerson, a identificar, no limite, o efeito com a causa. Explicar as causas de um fenmeno significa demonstrar que, de certo modo, ele pr-existe na sua causa, isto , que h uma identidade substancial entre causa e efeito (Identit et Ralit, 1926, p. 38). A superioridade explicativa das hipteses mecnicas e das teorias quantitativas da natureza relativamente s qualitativas reside precisamente no facto de tor184 nar mais fcil a identificao. O relativismo de Einstein, conduzindo resoluo da realidade fsica no espao, leva o processo de identificao muito para alm do mecanismo. A esse processo se devem os princpios fundamentais da fsica, isto , o da inrcia e o da conservao da matria e da energia. Com efeito, estes princpios no so aceites a partir da sua
verificao experimental, que necessariamente imperfeita ou parcial, mas apenas por serem expresses do princpio de causalidade enquanto identidade das coisas no tempo. No entanto, a cincia encontra neste processo de identificao obstculos ou pontos de paragem que constituem verdadeiros irracionais. A reduo dos fenmenos ao esquema da identificao, implicando a negao do tempo, leva a considerar os fenmenos como reversveis; e assim os considera, com efeito, a mecnica racional. Mas o segundo princpio da termodinmica (Carnot-Clausius) no admite esta reversibilidade. O calor nunca passar naturalmente de um corpo menos quente para um mais quente; isto estabelece uma ordem irreversvel dos fenmenos naturais. Ora o princpio de Carnot-Clausius, diferentemente dos outros princpios da fsica, baseia-se exclusivamente em factos da experincia; da a sua falta de plausibilidade e a tentativa que sempre se fez para neg-lo substancialmente e estabelecer a reversibilidade e a identidade dos fenmenos. Mas esta tentativa impossvel devido presena daqueles irracionais que a cincia encontra a cada passo. Um deles a sensao, com a sua natureza de dado ltimo e irredutvel; outros sero a aco recproca 185 dos corpos, os estados iniciais de que partem os sistemas de energia, a dimenso absoluta das molculas, etc. A existncia de tais irracionais to essencial cincia como a sua tendncia para a identificao. Mas s esta tendncia constitui a racionalidade prpria da cincia: racionalidade que nunca identidade analtica, mas identidade sinttica, isto , identificao. Isto evidente na matemtica, cujo mtodo consiste em reconhecer a identidade de certos termos sob certas condies que ou so estabelecidas pelas convenes iniciais ou so dadas por outros teoremas. O esquema de identificao prprio da cincia, porque prprio da razo humana: mesmo a filosofia no pode fazer mais do que se,-,,-lo. Meyerson cr que completamente ilusria a pretenso da lgica de Hegel de subtrair-se exigncia da identidade. O procedimento de Hegel confirma esta exigncia, j que considera o movimento da Ideia como um desenvolvimento mediante o qual se revela o q!1e est presente em si; este em si no mais do que a virtualidade ou potencialidade que, mostrando o consequente j contido no antecedente, tende a estabelecer a identidade dos dois termos (De 1'explicai.'on dans les sciences, p. 324). A nica diferena entre cincia e filosofia consiste em que a filosofia tenta alcanar, de repente e completamente, a identidade que a cincia s realiza parcial e provisoriamente. Por outras palavras, a filosofia no pode reconhecer os elementos irracionais aos quais a cincia se adapta: tal reconhecimento seria para ela um suicdio. Mas a unidade da cincia e da filosofia substancial e 186 profunda. Os filsofos devem ter em conta no os resultados da cincia mas os seus mtodos e a sua atitude relativamente ao mundo externo; e os cientistas no podem deixar de entrar no campo da metafsica quando se elevam a uma concepo geral. A unidade da cincia e da filosofia a prpria unidade da razo como procedimento ou esquema de identificao.
A doutrina de Meyerson pode ser considerada como sendo, mais do que um contributo para uma nova metodologia, urna crtica ou reduo ao absurdo da velha metodologia baseada na explicao causal, entendendo esta como uma explicao racional dos fenmenos. Na realidade, a cincia contempornea abandonou este ideal de explicao e optou pelo recurso mera descrio dos fenmenos de que falava Newton e toda a cincia, setecentista; tal como optou pela exigncia de previso que prevalecera nas concepes de Mach e Hertz e que suplantaram definitivamente quaisquer outras concepes no decorrer dos mais modernos desenvolvimentos da prpria cincia. 789. FILOSOFIA DAS CINCIAS: O DESENVOLVIMENTO CRTICO DA GEOMETRIA A doutrina de Mach pode ser considerada como a primeira manifestao da nova filosofia das cincias que acompanhou o desenvolvimento crtico das cincias fsicas e matemticas. Poderemos fazer corresponder o incio deste desenvolvimento descoberta das geometrias no-euclideanas. 187 As tentativas de demonstrar o V postulado de Euclides (ou postulado das rectas paralelas: "por um nico ponto s se pode fazer passar uma recta paralela a outra recta dada") tinham, nos fins do sculo XVIII, feito entrever a possibilidade de construir geometrias que no se baseassem naquele postulado. C. F. Gauss (1777-1859) afirmou, cerca de 1830, que uma geometria no-euclideana no tem em si nada de contraditrio e pode ser desenvolvida com o mesmo rigor e a mesma amplitude da euclideana. O russo N. 1. Lobachevsky (1793-1856) e o hngaro G. Bolyai (1802-60), construram teorias geomtricas no-euclideanas e perfeitamente coerentes. E B. Riemann (1826-66), numa memria publicada em 1855 (Sobre as hipteses que esto na base da geometria), fazia notar como, variando convenientemente o postulado V, se pode obter no s a geometria de Euclides e a de Lobachevsky e Bolyai como ainda uma terceira geometria, qual mais tarde foi dado o nome deste autor. O postulado V de Euclides afirma que por um ponto s pode passar uma recta paralela a uma outra; de acordo com a geometria de Lobachevsky e de Bolyai podem passar por tal ponto um nmero infinito de rectas paralelas recta dada; segundo Riemann, no existe nenhuma recta paralela a outra, o que d lugar a uma geometria simtrica e oposta de Lobachevsky e Bolyai. Estes desenvolvimentos mostram que as proposies fundamentais da geometria no so axiomas ou verdades evidentes mas sim meras hipteses que podem ser escolhidas a fim de se alcanar uma maior particularizao ou uma mais vasta generalizao do problema em estudo. 188 Nesta segunda via, podemos referir as investigaes de Felix Klein (1849-1925), que se encontram expostas no seu clebre Programa de Erlangen (1872) e que relacionam a geometria com a "teoria dos grupos" mostrando que "toda a geometria se resume no
estudo das propriedades invariantes relativamente a um grupo de transformaes", entendendo-se por tal grupo um conjunto de transformaes no qual est associada a cada transformao a sua inversa, isto , a que destri os efeitos da primeira. Deste ponto de vista, as propriedades geomtricas dependem do grupo de transformaes que se consideram fundamentais; e esta questo tornou-se ainda mais ampla com o aparecimento da tipologia, a qual estuda as propriedades invariantes relativamente ao grupo muito geral das transformaes contnuas. Foi deste modo que a geometria assumiu uma grande generalidade, incluindo em si vrios sistemas independentes uns dos outros. Quando apareceram as geometrias no-euclideanas contestava-se que todas elas tivessem o mesmo valor e esperava-se que a experincia fornecesse o critrio para determinar qual das vrias geometrias era verdadeira; verificou-se no entanto que os mtodos e os instrumentos de medio j pressupunham a escolha de uma determinada geometria. Tornou-se pois necessrio renunciar ao conceito de verdade da geometria enquanto correspondncia entre ela e a realidade emprica. Admite-se hoje que a escolha de uma determinada geometria para o estudo de qualquer problema relacionado com as cincias naturais e com a vida se efectua atendendo apenas a meras questes de como189 didade. Nenhuma geometria mais "verdadeira" do que outra, mas todas elas tm uma verdade (ou validade) lgica devida coerncia intrnseca da sua linguagem. Estes resultados permitiram a Hilbert ( 794) dar geometria aquela forma axiomtica que se tornou mais tarde o ideal das cincias formais ou formalizveis (Os fundamentos da geometria, 1899), e relacion-la, por esta via, com as matemticas. Poderemos ento resumir os resultados da viragem crtica da geometria do seguinte modo: 1) o objecto da geometria no constitudo pelas propriedades necessrias de um dado espao (fornecido por uma "intuio pura" kantiana ou por qualquer rgo), mas sim pelas propriedades que se podem considerar invariantes relativamente a um qualquer grupo de transformaes, cuja escolha determina o carcter e o grau de generalidade da prpria geometria; 2) os princpios defendidos por uma dada geometria no so evidentes nem necessrios, resultando de uma mera escolha e valendo apenas como hipteses que podem sempre ser modificadas; 3) tais hipteses constituem regras que guiam a deduo e definem a sintaxe da linguagem geomtrica. 790. POINCAR A teoria gnoseolgica do matemtico e astrnomo francs Henri Poincar (1854-1912) encontra-se ligada primeira fase do desenvolvimento da geometria no-euclideana. Os escritos epistemolgicos de Poin-
190 car esto recolhidos nos seguintes volumes: A cincia e a hiptese (1902); O valor da cincia (1905); Cincia e mtodo (1909); ltimos pensamentos. (1913). Poincar reconhece plenamente o carcter convencional dos postulados geomtricos. "Os axiomas geomtricos -diz (La Science et l'Hypothse, p. 66) no so juzos sintticos a priori nem factos experimentais: so convenes. A nossa escolha entre todas as convenes possveis guiada por factos experimentais, mas livre e est limitada somente pela necessidade de evitar a contradio. Deste modo, os postulados podem continuar a ser rigorosamente verdadeiros mesmo quando as leis experimentais que determinaram a sua adopo so s aproximadas". A relao com a experincia , contudo, necessria em geometria, que Poincar considera ligada existncia dos corpos slidos da natureza. A experincia fornece as primeiras indicaes geometria e esta ocupa-se posteriormente com o estudo de corpos slidos ideais, absolutamente invariveis, que so imagens simplificadas e muito diferentes dos slidos naturais (Ib., p. 90). Os postulados da geometria so, pois, na sua funo lgica, anlogos s hipteses das cincias da natureza. Toda a hiptese uma generalizao de algum teorema ou de alguma observao particular; e o carcter matemtico da hiptese deve-se ao facto de todo o fenmeno observvel ser o resultado de uma sobreposio de um grande nmero de fenmenos elementares semelhantes, tornando possvel o uso das equaes diferentes. (Ib., p. 187). O espao matemtico certamente uma construo que no encontra correspondncia exacta no espao per191 cebido; mas os materiais desta construo so sempre fornecidos pela prpria experincia e, alm disso, a escolha entre uma ou outra construo matemtica (por exemplo, entre o espao a quatro e o espao a trs dimenses) s pode fazer-se segundo as indicaes da experincia (La valeur de Ia science, p. 132). Por isso o mtodo matemtico no pode desprezar a intuio. Ele comea sempre por uma imagem intuitiva que serve depois para construir um sistema complexo de desigualdades que reproduz todas as suas linhas. Depois de terminada a construo, a representao grosseira que lhe tinha servido de apoio rejeitada por se ter tornado intil. Contudo, "se a imagem primitiva tivesse desaparecido totalmente da nossa mente, como poderamos adivinhar qual o motivo porque todas as desigualdades se uniram daquele modo umas com as outras?" (La valeur de la science, p. 28). A intuio e a lgica so, pois, igualmente indispensveis. "A lgica, que a nica que pode garantir a certeza, o instrumento da deMonstrao; a intuio o instrumento da inveno. Poincar recusa-se a reconhecer a qualquer cincia um carcter meramente convencional e polemiza contra a defesa desta tese feita por Le Roy. impossvel atribuir cincia apenas um valor prtico, pois este deriva da sua capacidade de previso; e, se se reconhece que estas previses so exactas, necessrio tambm reconhecer que tm valor terIco (Ib., p. 234). Por outro lado, o cientista no , como cr Le Roy, o "criador" do facto cientfico. Ele no faz mais do que traduzir um facto bruto para uma linguagem cmoda e , portanto, o criador desta 192
linguagem, mas no do facto originrio que o seu ponto de partida. As leis cientficas tm um valor objectivo; e a sua objectividade baseia-se no facto de que, mesmo quando so livremente elaboradas pelo esprito humano numa linguagem apropriada, se referem a uma realidade que comum a todos os seres pensantes e que constitui o sistema das suas relaes. "A cincia-diz Poincar (Ib., pgs. 265-266) - , antes de tudo, uma classificao, um modo de aproximar os factos que as aparncias separam, se bem que eles se encontrem ligados por algum parentesco natural e oculto. A cincia, por outras palavras, um sistema de relaes. Portanto, s nas relaes se deve procurar a objectividade; seria intil procur-las nos seres considerados isoladamente uns dos outros". Estes ltimos aspectos vinculam Poincar a Kant e, principalmente, aos neo-kantianos, para os quais, precisamente, o nico fundamento da objectividade cientfica a relao. E Poincar inspira-se tambm em Kant ao contrapor realidade de facto da cincia o dever ser da vida moral. A cincia s fala no indicativo: no pode, pois, dar lugar a imperativos morais; contudo, no implica nada que seja contrrio moral. Esta move-se num outro horizonte, o da liberdade; e impossvel ao homem no agir como homem livre, quando age, do mesmo modo que lhe impossvel no raciocinar como um determinista quando faz cincia (Dernires penses, p. 246). Por outro lado, a prpria cincia , indirectamente, fonte de moralidade, enquanto inspira o amor desinteressado pela verdade e habitua os homens a tra193 balhar pela humanidade, obrigando-os a um labor colectivo e solidrio que dura e se acumula atravs dos sculos (Ib., pgs. 232-233). 791. O DESENVOLVIMENTO CRTICO DA FSICA. A RELATIVIDADE No domnio da fsica, a fase crtica surgiu com a teoria relativista de Albert Einstein (1879-1955). Esta teoria tornou-se necessria com o aparecimento de factos experimentais contraditrios com os princpios at ento aceites pela cincia; mas o prprio Einstein declarou que "o tipo de raciocnio crtico" de que se serviu ao formular as suas concepes foi recolhido nos escritos filosficos de Hume e de Mach (A. Einstein, cientista e filsofo, trad. ital., p. 29). A constncia da velocidade da luz, verificada por repetidas medies experimentais, era um facto contraditrio com toda a mecnica clssica; dado que esta afirma que as velocidades dos corpos que se movem em direces opostas se adicionam, a luz proveniente dos longnquos astros de que a Terra se aproxima deveria viajar mais rapidamente do que aquela que irradiada pelos astros de que nos afastamos. A constncia da velocidade da luz levou Einstein a pensar numa possvel deformao dos instrumentos de medida (rguas e relgios) que se encontram animados de um movimento muito rpido; e induziu-o a introduzir na fsica, pela primeira vez, a considerao crtica desses instrumentos e at das possibili194 dades do observador. Os procedimentos e os mtodos de medida, assim como a prpria aco do observador, entraram deste modo pela primeira vez na verdadeira anlise cientfica. Enquanto que a fsica clssica prescindia deste tipo de problemas e podia assim pressupor a existncia na realidade de caractersticas e determinaes no passveis de medida e
observao efectivas, a fsica relativista afirmou a necessidade de realizar observaes em todos os casos e de renunciar atribuio a um objecto fsico de determinaes que no resultassem de observaes suficientemente explcitas. Os resultados desta considerao crtica da cincia (crtica na medida em que se efectuou sobre os prprios mtodos de indagao de que ela se serve) constituem a chamada relatividade restrita, formulada por Einstein. em 1905. A sua primeira afirmao a de que a distncia espacial ou temporal no uma entidade ou um valor em si, sendo antes relativa ao corpo que se escolhe como sistema de referncia; e a segunda nega a existncia de um sistema de referncia absoluto ou privilegiado. Segundo estes princpios, quaisquer acontecimentos que sejam "simultneos" relativamente a um dado sistema de referncia no o so num outro sistema que se encontre em movimento em relao ao primeiro; a simultaneidade, e com ela a distncia espacial e temporal, torna-se relativa ao sistema de referncia que escolhido, tornando-se relativos todos os conceitos em que entrem determinaes espacio-temporais (comprimento, volume, massa, acelerao, etc.). A teoria da relatividade admite ainda a existncia de leis, expres- 195 sas por equaes diferenciais, que permitem passar de um sistema de referncia para outro. Nestas condies, modifica-se o prprio objecto da cincia. A uniformidade em que ela se baseia no a uniformidade do fenmeno mas sim a das leis fsicas que permitem relacionar fenmenos percebidos de forma diferente. A teoria da relatividade reconhece portanto a variabilidade de um fenmeno que apercebido por diferentes observadores, mas tende a estabelecer a invarincia das leis que se referem a tais fenmenos, transferindo assim a prpria noo de objectividade dos fenmenos para as leis. Por outro lado, o uso das equaes diferenciais em lugar daquelas com que normalmente operava a fsica clssica sugerido, na teoria da relatividade, pelo facto de aquelas equaes serem menos categricas ou mais genricas: a invarincia (e com ela a objectividade) verifica-se assim a um nvel menos especfico e num grau menos rigoroso do que na fsica clssica. Em 1912, Einstein alargou a aplicao destes conceitos, passando dos referenciais de inrcia, aos quais se referia a primeira forma da relatividade, para os sistemas gravitacionais. A relatividade generalizada uma teoria da gravitao que torna intil a hiptese da fora de gravidade tal como foi admitida por Newton e que explica os movimentos dos corpos utilizando a aco de curvatura do espao-tempo, segundo a qual todos os corpos seguem no seu movimento uma trajectria curva, constituindo esta o caminho mais curto, dada a curvatura da regio que atravessam. Esta curvatura medida por expresses em que entram um certo nmero de coefi196 cientes cujos valores no espao vazio so iguais a zero. O mais importante destes coeficientes a massa, a qual gera a deformao do espao-tempo que determina o fenmeno da gravidade. A relatividade generalizada utiliza uma noo de espao diferente daquela que aceite pela
geometria euclideana: a noo abstracta ou generalizada que foi descrita por Riemann ( 789). esta a primeira vez que a geometria no euclideana utilizada para a interpretao da realidade fsica. Surge ainda em primeiro plano o conceito de campo, que fora elaborado a propsito dos estudos de electricidade e que Einstein aplica interpretao de toda a realidade fsica. A noo de campo implica o desaparecimento da diferena entre matria e energia, na qual se baseava toda a fsica clssica. A interpretao relativista tende a considerar os prprios corpos como "densidades de campo" especiais, a fim de eliminar * diferena qualitativa entre matria e campo e de * substituir por uma diferena meramente quantitativa. A fsica relativista afasta-se totalmente, com este conceito, da representao da natureza que prpria da percepo e do senso comum. O "campo" no se assemelha a nenhuma coisa perceptvel; uma construo conceptual cuja utilidade para a interpretao matemtica da natureza enorme mas cuja base representativa ou perceptiva praticamente nula. Eis o que afirma Einstein acerca disto: "Antes de Maxwel], todos concebamos a realidade fsica, na medida em que se pensava que esta representava os fenmenos naturais, sob a forma de pontos materiais cujas nicas variaes consistiam em mover-se se197 gundo trajectrias definidas por equaes diferenciais e derivadas parciais. Depois de Maxwell, todos conceberam a realidade fsica sob a forma de campos contnuos, no explicveis mecanicamente e sujeitos igualmente a equaes diferenciais a derivadas parciais. Esta modificao na concepo da realidade a mais profunda e frutfera que surgiu na fsica desde os tempos de Newton; mas ainda, somos forados a admitir que a questo no est completamente resolvida" (The World as I see it, 1934, p. 65). 792. A FSICA DOS QUANTA Como dissemos, a viragem crtica que pressuposta pela teoria da relatividade consiste no facto de a esta teoria ser indispensvel a considerao das condies que possibilitam o processo de observao. Este ponto teve ulterior confirmao no desenvolvimento da fsica atmica, a qual tem por objecto de estudo as partculas que resultam da desintegrao do tomo. escala atmica, com efeito, demonstrou-se que a observao de um fenmeno modifica o prprio fenmeno de forma imprevisvel. A energia utilizada na observao (por exemplo, a luz) no pode ser inferior a uma certa quantidade mnima (o quantum de energia ou constante h, descoberta por Max Planck em 1900); e esta energia suficiente para modificar o fenmeno observado. Daqui resulta que toda a observao que tenha por fim determinar a posio de uma partcula atmica modifica a velocidade dessa partcula ou, inversamente, toda a 198 determinao da velocidade modifica a posio, dado que no possvel determinar simultaneamente a posio e a velocidade de uma partcula qualquer. Se se determina a velocidade a posio fica indeterminada, isto , no possvel prev-Ia de modo rigoroso. este o contedo do princpio de incerteza enunciado por Werner Heisenberg em 1927. Heisenberg escreveu: "Na interpretao de algumas experincias considera-se a interaco entre objecto e observador, que necessariamente inerente a todas as observaes. Nas teorias clssicas considerava-se esta interaco como sendo demasiado pequena ou de tal
forma controlvel que a sua influncia podia ser eliminada atravs dos clculos. Na fsica atmica isto j no admissvel porque, devido descontinuidade dos fenmenos atmicos, toda a interaco pode produzir variaes parcialmente incontrolveis e relativamente graves" (Die physikalischen Prinzipien der Quantentheorie, 1930). Consequentemente, o comportamento futuro de uma partcula s pode ser objecto de previses provveis que se baseiam em estatsticas adequadas, mas no de previses rigorosas. Deste modo, o determinismo foi expulso da cincia; e at mesmo o princpio de causalidade, que era considerado o fundamento da explicao cientfica, tanto pela cincia como pela filosofia do sculo XIX, foi posto em discusso. Com efeito, no h dvida de que a interpretao rigorosa do princpio de causalidade inclui o determinismo, na medida em que nele se admite a possibilidade de previso infalvel de acontecimentos futuros. Pierre Simon Laplace 199 (1749-1827) exprimira por palavras clebres o ideal determinista da cincia: "Devemos considerar o actual estado do universo como sendo o efeito do estado anterior e a causa daquele que se seguir. Uma inteligncia que, num dado instante, conhecesse todas as foras que animam a natureza e a situao dos seres que a compem e que fosse suficientemente desenvolvida para submeter todos estes dados ao clculo, colocaria numa mesma frmula no s os movimentos dos maiores corpos do universo como tambm o do mais leve tomo: nada seria incerto para ela e tanto o futuro como o passado seriam presente, aos seus olhos" (Thorie analytique des probabilits, 1820). A fsica dos quanta desmentiu este ideal. No pode haver previso infalvel, e a razo deste facto no reside numa imperfeio dos meios de observao ou de clculo em poder do homem mas sim na influncia imprevisvel que tais meios podem ter sobre os fenmenos observados. Niels Bohr, o fsico dinamarqus (nascido em 1885) a quem a mecnica quntica deve os seus mais fecundos aprofundamentos, enunciou em 1928 o chamado "princpio de complementaridade", segundo o qual a descrio espacio-temporal e a causalidade clssica so dois aspectos "complementares" dos fenmenos que se excluem mutuamente. Este princpio traduzia o reconhecimento da impossibilidade de separar o comportamento dos objectos atmicos da influncia que sobre eles exerce a observao (isto , das condies em que se manifestam), excluindo assim a hiptese de a fsica poder descrever uma cadeia causal necessria de acontecimentos. Esta concluso 200 tornou-se, no entanto, um dos mais importantes assuntos de discusso entre os cientistas. A fim de salvaguardar o determinismo rigoroso, Max Planck (1858-1947), o descobridor dos quanta, recorria hiptese da existncia de um esprito ideal que, diferentemente do homem, no faria parte da natureza nem sentiria os efeitos das suas leis, podendo conhec-la sem a influenciar (Der Kausalbegriff in der Physik, 1932). Como bvio, esta hiptese no pode ser refutada nem verificada; como tal, estranha fsica moderna. Um outro fsico, Von Neumann, escrevia em 1932: "Actualmente, nem a razo nem a
experincia nos permitem afirmar a existncia de uma causalidade na natureza" (Les fondements mathmatiques de Ia mcanique quantique, p. 224). Isto no significa evidentemente que se tenha reconhecido a "liberdade" ou o arbtrio como dominantes na natureza. O fim do determinismo rigoroso, tal como foi expresso na formulao clssica do princpio de causalidade, no releva de uma vitria do "indeterminismo" mas sim do incio da elaborao de novos esquemas explicativos nos quais a relao necessria entre os acontecimentos substituda pelas relaes possveis e pela considerao e clculo dos seus respectivos graus de possibilidade, isto , pela sua probabilidade relativa. Se bem que alguns cientistas tenham efectuado extrapolaes indeterministas ou espiritualistas a partir destes conceitos da fsica moderna, no podemos duvidar de que esta mesma fsica no autorize especulaes deste gnero, dirigindo-se at para a elaborao de um conceito de "indeterminismo" mais gil e articulado e simulta201 neamente mais eficaz para a previso dos fenmenos. A crise do princpio de causalidade (ou da sua forma clssica) acompanhada, na fsica quntica, pela crise do prprio ideal cientfico tal como foi concebido desde os primrdios da cincia at idade moderna: o da descrio da natureza. Vimos anteriormente como o conceito de descrio foi contraposto, de Newton em diante, ao de explicao global da natureza baseada em "hipteses". O conceito de descrio serviu na cincia dos sculos XVIII e XIX para libertar a cincia das suas superestruturas metafsicas e, simultaneamente, para acentuar o carcter experimental ou de observao. Mas a prpria possibilidade de uma descrio da natureza, isto , do decurso objectivo dos fenmenos, que foi posta em causa pela fsica quntica. De facto, no possvel reconstituir, por exemplo, o comportamento global de uma partcula considerada individualmente, dado que a probabilidade estatstica no se aplica a um nico objecto mas sim a um conjunto de objectos idnticos. "A fsica quntica prescinde das leis individuais referentes s partculas elementares e formula directamente leis estatsticas traduzindo O compotamento dos grupos de partculas. No nos podemos basear na fsica dos quanta para descrever a posio e a velocidade de uma partcula elementar ou para prever o seu percurso tal como acontecia na fsica clssica. A fsica quntica trata unicamente dos grupos de partculas e as suas leis so apenas vlidas para esses grupos e no para partculas isoladas" 202 (Einstein-Infeld, The Evolution of Physics, trad. ital., pgs. 293-94). J na teoria da relatividade a noo de espao deixou de ter qualquer relao com o espao da percepo, sendo posta em relevo a noo de campo, que no corresponde a uma realidade fsica mas a uma construo conceptual que torna possveis certas operaes de medida e de observao. Na fsica quntica, este assunto torna-se ainda mais complexo. Os corpsculos e as ondas de que a se fala perderam o carcter da realidade fsica. Einstein disse acerca desta questo que: "Os campos de ondas de De Broglie-Schrdinger no
devem ser interpretados como uma descrio matemtica da forma como um acontecimento se processa no tempo e no espao, ainda que se refiram a esse acontecimento. So antes uma descrio matemtica daquilo que podemos realmente saber sobre os sistemas. Servem apenas para apresentar enunciados estatsticos e previses referentes aos resultados de todas as medies que no podemos efectuar... A teoria dos quanta no nos fornece um modelo de descrio dos acontecimentos reais do espao-tempo mas apenas a distribuio da probabilidade pelas medidas possveis em funo do tempo" (Conceptions scientifiques morales et sociales, pgs. 120-22). E Dirac, um outro fundador da mecnica quntica, escreveu: "0 nico objectivo da fsica terica o de calcular resultados que se possam comparar com a experincia, sendo intil fornecer-se uma descrio satisfatria do desenvolvimento global do fenmeno" (Principles of Quantum Mechanics, 1930, p. 7). 203 Deste ponto de vista, entrou em crise o prprio conceito de "realidade fsica", a qual foi diferentemente interpretada pelos fsicos. Podemos actualmente distinguir duas interpretaes fundamentais. A primeira foi fornecida por Niels Bohr e por aqueles que nele se inspiraram, e afirma que o conceito de realidade fsica deve incluir as condies que tornam possvel a observao da prpria realidade. Deste ponto de vista, a influncia exercida pela observao sobre o comportamento futuro de um sistema faz parte do prprio sistema fsico (Discussione epistemologica con Einstein, in Einstein, editado por Schilpp, trad. ital., pgs. 182 -e segs.). Sendo assim, a mecnica quntica no incompleta ou provisria (exceptuando os problemas insolveis que nos apresenta), estando antes destinada a desenvolver-se na direco j tomada. A outra interpretao foi fornecida pelo prprio Einstein, que se mantm fiel ao conceito tradicional da realidade fsica como conjunto de entidades individuais cujas caractersticas seriam independentes da observao. "No posso deixar de confessar que s atribuo uma importncia transitria interpretao quntica. Creio ainda na possibilidade de um modelo da realidade, creio numa teoria que represente as prprias coisas e no uma simples probabilidade de ocorrncia das suas manifestaes" (On the Method of Theoretical Physics, 1933). E na resposta aos seus crticos (no livro editado por Schilpp que anteriormente citmos,) afirma: "Aquilo, que no me satisfaz nesta teoria, em princpio, a sua atitude relativamente quilo que me parece ser o objectivo 204 mximo da prpria fsica: a completa descrio de qualquer situao real (individual) que se suponha poder existir independentemente de qualquer acto de observao ou verificao" (A. Einstein, cit., p. 611). No entanto, no previsvel actualmente a ocorrncia de uma viragem conceptual que reporte a fsica ao ideal descritivo da fsica clssica ou ao seu determinismo. Podemos recapitular do
seguinte modo os resultados fundamentais da viragem crtica da fsica nos ltimos decnios: 1) A considerao crtica dos processos de investigao e das suas condies de uso, passou a fazer parte integrante da prpria investigao. 2) A objectividade da fsica no consiste na sua referncia a uniformidades percebidas ou perceptveis, a uniformidades causais, mas na sua referncia a uniformidades conceptuais, isto , a construes ou leis matemticas. 3) As entidades de que se fala na fsica no so "coisas" no sentido vulgar do termo, isto , no se aplicam a elas os modos de ser e de comportamento que na linguagem comum so atribudos s coisas; a sua "existncia definida implcita ou explicitamente pelos processos utilizados na fsica. 4) A linguagem da fsica no necessariamente valorizada pela linguagem comum, no sendo to pouco um substituto ou uma correco desta linguagem. 5) As explicaes dadas pela fsica no tm uma natureza determinista mas sim probabilstica, isto , so explicaes condicionais. 205
793. ESPIRITUALISMO E EMPIRISMO O desenvolvimento tido pela fsica nos primeiros decnios do nosso sculo foi objecto das mais dspares interpretaes filosficas. Duas destas interpretaes, devido ao seu carcter manifestamente contraditrio, podem ser consideradas tpicas: a espiritualista e a empirista. A interpretao espiritualista teve como principal defensor o astrnomo e fsico ingls Arthur Stanley Eddington (1882-1944). As suas obras mais importantes sobre este assunto so A natureza do mundo fsico (1928) ;e A filosofia da cincia fsica (1939). Eddington defende uma gnoseologia idealista e uma metafsica espiritualista. A gnoseologia idealista, segundo as suas afirmaes, baseia-se no facto de a cincia fsica reconhecer, nas suas fases mais recentes, que trabalha num "mundo de sombras" perante o qual a nica realidade slida a que o homem pode colher em si mesmo, na sua conscincia. Por esta razo, a nica definio possvel da realidade aquela que a identifica com o "contedo da conscincia". Mas dado que todo o contedo da conscincia somente um ponto de vista particular e que as conscincias so muitas, a coincidncia parcial dos seus contedos constitui um campo comum de experincias, o chamado "mundo externo". "0 mundo externo da fsica, afirma Eddington, assim um conjunto de mundos apresentados sob diferentes pontos de vista" (The Nature of the Physical World, trad. ital., P. 318). esta precisamente a posio de Leib206
niz. O mundo de que fala a cincia, por ser constitudo por smbolos e frmulas matemticas, deste ponto de vista a sombra ou o smbolo do mundo real constitudo pela comunidade dos espritos, e se a cincia se fecha na sombra, o misticismo que deve atingir a verdadeira substncia do prprio mundo. Esta viso espiritualista, que alis tem muito pouca coerncia por afirmar que "o mundo externo" seria um mundo fsico, isto , um mundo dos smbolos, mas tambm um mundo real constitudo de acordo com as conscincias, no resiste anlise da cincia moderna, segundo a qual a cincia reencontraria no mundo aquela ordem que ela prpria lhe atribuiu. A obra da cincia seria deste modo a de uma "mente" demirgica. Eddington. afirma: "devido ao seu poder selectivo, a Mente enquadrou os fenmenos da natureza num sistema de leis que segue um modelo em grande parte escolhido pela prpria cincia; ao descobrir este sistema de leis, pode-se dizer que a Mente recuperou da Natureza aquilo que ela prpria l tinha posto" (Ib., p. 276). Eddington insiste neste " subjectivismo selectivo" segundo o qual as leis fundamentais da natureza seriam subjectivas, isto , tautolgicas e necessrias, impostas natureza pelas exigncias da Mente cognoscente e aceites por essa mesma natureza na medida em que ela no estranha Mente que lhas impe. a segunda obra, mais estritamente epistemolgica e intitulada A filosofia da cincia fsica, que insiste sobretudo nestes aspectos da sua doutrina. Podemos referir uma outra interpretao da fsica apresentada pelo fsico americano Percy Williams 207 Bridgman (nascido em 1882), exps as suas ideias numa obra intitulada A lgica da fsica moderna (1927) e as aprofundou em escritos posteriores (A natureza da teoria fsica, 1936; Reflexes de um fsico, 1950; A natureza de alguns conceitos fsicos, 1952). Bridgman parte de uma defesa do empirismo radical. "A atitude do fsico, afirma, deve ser empirista. No deve admitir qualquer princpio a priori que determine ou limite a possibilidade de novas experincias. A experincia apenas determinada pela prpria experincia" (The Logic of Modern Physics, trad. ital., p. 23). Ora a nica maneira de fazer da experincia o guia de si mesma consiste em reduzir o significado dos conceitos cientficos a uma certa operao emprica ou a um conjunto de tais operaes. O conceito de comprimento, por exemplo, deve ser considerado como sendo meramente indicativo das operaes fsicas atravs das quais se pode determinar o comprimento (Ib., p. 25). O carcter operatrio dos conceitos responde, segundo Bridgman, exigncia apresentada pela teoria de Einstein segundo a qual conceitos como simultaneidade" no tm sentido seno relativamente a operaes de medida efectivamente realizadas (The Nature f Physical Theory, pgs. 9 e segs.). Bridgman admite, no entanto, que a reduo do significado do conceito a operaes empricas implica um certo "solipsismo", pelo facto de as operaes em causa serem sempre partes da experincia consciente de um certo indivduo (Ib., p. 14). Mas trata-se de um solipsismo que no encerra o sujeito no seu isolamento, pois pode afirmar a
existncia da coisa externa (que apenas uma parte 208 da sua experincia directa) e verifica que os outros reagem de determinado modo a tal experincia (Ib., pgs. 14 e segs.). A prpria noo de "existncia" tem ,geralmente um significado operatrio. "Ao tentar resolver os meus problemas de adaptao ao ambiente eu invento certos artifcios que utilizo no meu pensamento. A existncia um termo que pressupe o sucesso de alguns destes artifcios. Os conceitos de tbua, nuvem ou estrela permitem-me pensar sobre certos aspectos da minha experincia; lo-0, eles existem". no mesmo sentido que se pode afirmar a existncia do conceito de nmero, cuja exigncia fundamental que o seu uso no conduza a contradies, isto , que seja "possvel" (Ib., p. 51). Quando, porm, no se consegue estabelecer mediante qualquer operao a existncia ou no existncia de uma dada relao, tal como acontece com certas relaes matemticas, necessrio reconhecer, segundo Bridgman, que o princpio do terceiro excludo no aplicvel e, ento, no possvel afirmar ou negar a existncia da relao. Deste ponto de vista, a relatividade do conhecimento torna-se uma concluso inevitvel e bvia. "Todos os movimentos so relativos" significa que "no se encontrou nenhuma operao de medida do movimento que torne possvel uma descrio simples do comportamento da natureza e que no dependa do observador que a realiza" (The Logic of Modern Physies, cit., p. 42). Por outro lado, perdem todo o sentido as questes a que no se pode dar uma resposta mediante uma qualquer operao. O operativismo no exclui a possibilidade de uso de cons209 trues conceptuais que no sejam dadas pela experincia. Deve apenas recusar-lhes uma realidade fsica, como no caso do campo elctrico cuja existncia no pode ser admitida independentemente das operaes introduzidas para o definir. A explicao cientfica consiste (em reduzir uma situao a elementos que sejam de tal forma familiares que possam ser aceites como bvios e que possam extinguir a nossa curiosidade". Os "elementos ltimos" da explicao so anlogos aos axiomas da matemtica formal, mas tm na fsica o aspecto de "correlaes familiares entre os fenmenos que compem a situao" (Ib., p. 50). No entanto, no sempre possvel obter na fsica moderna uma explicao deste tipo, apresentando Bridgman algumas questes da mecnica quntica para as quais essa explicao precisamente impossvel (Ib., p. 184; The Nature of Physical Theory p. 121). O operativismo de Bridgman uma espcie de empirismo pragmatista que sublinha um aspecto importante da cincia contempornea e que pode servir como um bom critrio de excluso de muitos conceitos e problemas inteis; no entanto, constitui uma interpretao unilateral da fsica contempornea. Max Born notava que as definies operativistas esto fora do campo da teoria dos quanta (Experiment and Theory in Physics, 1943, p. 39). E vse, por aquilo que dissemos anteriormente, como a atitude de Bridgman confusa e reticente em relao quela teoria. Por outro lado, como o notava o prprio Born, a exigncia de operatoriedade das definies, 210
apresentada por Bridgman, constituiu e constitui uma salutar reaco contra o fetichismo da palavra. 794. O DESENVOLVIMENTO CRITICO DA MATEMTICA O desenvolvimento crtico da matemtica iniciou-se por volta de meados do sculo XIX, com o aumento da exigncia de rigor nas construes matemticas. Com efeito, esta exigncia leva a considerar nas matemticas no s os resultados dos seus procedimentos mas tambm os prprios procedimentos, e isto a fim de lhes atribuir uma validade. esta a forma especifica que revestiu, no mbito das matemticas, a viragem crtica que, em todas as cincias mais avanadas, levou a considerar como parte fundamental da investigao cientfica a anlise da natureza e dos limites de validade dos instrumentos de que dispe. Karl Weierstrass (1815-97) foi o primeiro a afirmar, em 1886, a necessidade de uma indagao sobre os fundamentos da matemtica e a reconhecer que tais fundamentos s podem ser esclarecidos a partir de uma teoria dos nmeros reais, da qual ele fornece as bases principais. A teoria dos nmeros reais, enquanto fundamento de toda a anlise matemtica, foi mais tarde desenvolvida por Georg Cantor (1845-1918) e por Richard Dedekind (1831-1916), que construram uma teoria dos conjuntos que se mantm actual apesar de ter sofrido algumas crticas e rectificaes na matemtica contempornea. 211
!TA teoria dos conjuntos foi apresentada por Cantor numa famosa obra intitulada Fundamentos de uma teoria universal dos conjuntos, publicada em 1883, e que foi considerada como uma teoria do infinito autntico ou actual. Este infinito, segundo Cantor, no um infinito que possa crescer ou diminuir indefinidamente mas continuando sempre finito; constitui antes uma grandeza sui generis, claramente definvel. Neste sentido, um conjunto cujos elementos esto em correspondncia biunvoca com os elementos de qualquer dos seus subconjuntos; segundo o exemplo adoptado por Royce para ilustrar este conceito ( 707), poderemos imaginar um mapa geogrfico idealmente perfeito de um pas, desenhado no prprio pas; esse mapa conteria a sua representao e tambm uma srie de mapas representando cada um deles uma parte desse territrio, e os pontos comuns corresponder-se-iam exactamente. A srie dos nmeros naturais , neste sentido, um conjunto infinito: pode considerar-se uma correspondncia biunvoca entre os seus elementos e os dos seus subconjuntos, tais como o dos nmeros primos, por exemplo. Deste ponto de vista, existem infinitos de diferentes ordens; e uni infinito pode ser "maior" ou "menor" do que um outro. Cantor define o nmero cardinal como a potncia comum de dois conjuntos entre os quais exista uma correspondncia biunvoca, e chamou transfinito a cada um dos elementos de um conjunto infinito. Tanto Cantor como Dedekind (0 que so ou o que devem ser os nmeros?, 1888) consideraram as formis de proceder matemticas como operaes que 2 12
se executam no "intelecto" ou no "mundo do pensamento" mas que no podem ser reduzidas a operaes psicolgicas. Cantor referiu-se ainda ao problema da existncia dos objectos matemticos, dando-lhe uma soluo que veio a ter muita influncia nos desenvolvimentos ulteriores da matemtica. Distingue a existncia dos nmeros enquanto imagens dos processos e relaes que ocorrem no mundo externo, da sua existncia como entidades intelectuais que, "graas sua definio, tm um papel perfeitamente determinado no nosso intelecto, se diferenciam claramente de todos os outros elementos do nosso pensamento, esto em relaes bem definidas com esses outros elementos e modificam deste modo, definitivamente, a substncia do nosso esprito". S considera essencial para os objectos matemticos esta ltima espcie de "existncia", esses objectos tero, por isso, uma existncia lgico-objectiva que consiste na definio que lhes assegura um determinado tipo de comportamento. Tudo isto equivale a uma reduo das entidades matemticas a objectos lgicos e, portanto, a uma aproximao entre a matemtica e a lgica. A obra de Giuseppe Peano (1858-1932) contribuiu grandemente para esta aproximao; em 1889, este autor publicava a sua Arithmetices, principia nova methodo exposita, e em 1895 surgiu a primeira edio do seu famoso Formulrio de matemtica. Peano tenta reconduzir toda a aritmtica a trs noes primitivas (a de nmero natural, a de zero e a de sucessor) e a cinco axiomas, mostrando simultaneamente como todos os ramos da matemtica se podem considerar 213 baseados na aritmtica. A obra de Peano conseguiu incluir toda a matemtica num nico sistema de sinais e mostrar como todas as proposies matemticas podem ser inseridas num sistema dedutivo hipottico. A necessidade de rigor, apresentada por Weierstrass, teve nesta obra a sua realizao; dela, porm, no faziam parte os problemas e as exigncias que foram apresentados pelos desenvolvimentos ulteriores da matemtica e da lgica. obra de Peano, assim como de Frege (de quem falaremos noutra ocasio) que se deve a mais conseguida expresso do logicismo contemporneo, isto , da obra matemtica de Russell (capitulo XII). a esta fase do desenvolvimento da matemtica que pertence ainda a descoberta e a discusso das chamadas antinomias ou paradoxos lgicos, que surgem no campo da teoria dos conjuntos e de outras doutrinas matemticas e constituem o foco da considerao crtica que a matemtica realizou sobre os seus prprios fundamentos. A matemtica axiomtica de Hilbert, que constitui um aspecto fundamental da actual fase crtica das matemticas, tem em conta todos estes aprofundamentos. David Hilbert (1862-1943) ensinou nas Universidades de Kanigsberg e de Goettingen. As suas obras mais importantes so: Os fundamentos da geometria (1899); Princpios de lgica terica (1928), escritos em colaborao com W. Ackermann, e Os fundamentos da matemtica (1, 1934; 11, 1939), escritos em colaborao com P. Bernays. A ideia bsica de Hilbert a de que a matemtica um clculo ou sistema axiOmtico no qual: 1) todos os conceitos de base 214 e todas as relaes de base so completamente enumeradas quando lhes so reconduzidos, atravs de uma definio, os conceitos ulteriormente introduzidos; 2) os axiomas esto completamente enumerados e deles se podem deduzir todos os outros enunciados, desde
que isto seja feito de acordo com as relaes de base. Num tal sistema a demonstrao matemtica um processo puramente mecnico de derivao de frmulas-, mas, simultaneamente, associa-se matemtica formal uma matemtica constituda por raciocnios no formais sobre a matemtica. Hilbert afirmou: "Deste modo efectua-se, de duas formas diferentes, mediante trocas sistemticas, um desenvolvimento da totalidade da cincia matemtica: derivando dos axiomas novas frmulas demonstrveis, utilizando noes formais e associando simultaneamente a prova de no contradio e novos axiomas por meio de raciocnios que tm um contedo". As matemticas constituem ento um sistema completamente autnomo, isto , que no pressupe um limite ou um guia que lhe seja exterior e que pode desenvolver-se em todas as direces possveis, entendendo-se por direces possveis aquelas que no conduzem a uma qualquer contradio. A este conceito da matemtica, muitas vezes chamado formalismo, necessria a determinao da possibilidade, isto , da no-contradio dos sistemas axiomticos. Por esta razo, o significado da existncia das entidades matemticas reconduzido possibilidade: um objecto matemtico existe se a admisso da sua existncia no conduz a contradies. No entanto, um teorema descoberto por Kurt 215 Gdel em 1931 atribua limites precisos possibilidade de demonstrar a no-contradio dos sistemas axiom ticos. Com efeito, estabelecia a impossibilidade de demonstrar a nocontradio de um sistema com os meios (axiomas, definies, regras de deduo, etc.) que pertencem ao prprio sistema, afirmando ainda que, para efectuar esta demonstrao, necessrio recorrer a um sistema mais rico em processos lgicos do que o primeiro. Com base neste teorema, pode certamente demonstrar-se a no-contradio de algumas partes da matemtica (por exemplo, da aritmtica), mas no se pode demonstrar, definitivamente, a no-contradio de toda a matemtica. Deriva assim deste teorema um limite da axiomtica, no sentido de que nenhum sistema axiomtico contm todos os axiomas possveis e, portanto, no se pode excluir a hiptese de que possam ser descobertos novos princpios. A matemtica de Hilbert, mecanizando os processos de demonstrao, facilitou bastante a construo das mquinas de calcular. O teorema de Gdel pe ainda um limite capacidade destas mquinas, na medida em que exclui a possibilidade de elas resolverem todos os problemas. Ao logicismo e ao formalismo ope-se, em certa medida, o intuicionismo defendido pelo matemtico holands L. E. J. Brouwer (nascido em 1881) que recorre principalmente a Kant e a Poincar para afirmar que a matemtica se deve basear na intuio do tempo, e que s tem por objecto as entidades que podem ser construdas partindo desta intuio. O intuicionismo parece assim referir-se a construes 216 mentais. Heyting (um dos membros mais influentes desta escola) afirma: "Um teorema
matemtico exprime um facto puramente emprico, isto , o sucesso de uma certa construo. 2 + 2 = 3 + 1 deve entender-se como sendo uma abreviatura da expresso: Efectuei as construes mentais indicadas por 2 + 2 e por 3 + 1 e verifiquei que ambas conduzem ao mesmo resultado" (Intuitionism, an Introduction, 19561 p. 8). A existncia, em matemtica, seria assim determinada como uma "possibilidade de construo". Os intuicionistas rejeitam deste modo o critrio formalista da existncia como ausncia de contradio; consequentemente, rejeitam a validade do princpio lgico do terceiro excludo, segundo o qual a negao de uma negao uma afirmao, porque, de acordo com ele, a demonstrao da no-contradio equivaleria da possibilidade da afirmao. 795. DESENVOLVIMENTO DA LGICA O desenvolvimento da lgica contempornea deve-se retomada e realizao da aspirao de Leibniz a uma lngua ou clculo universal, capaz de exprimir as verdades de todas as cincias e de servir ainda como instrumento de inveno cientfica. O ingls George Boole (1815-1864) foi o primeiro a reconhecer a possibilidade de construir uma tal linguagem universal a partir da lgebra simblica. Na obra intitulada A anlise matemtica da lgica (1847), este autor escreve: "Quem conhece o estado actual da 217 teoria da lgebra simblica sabe que a validade dos processos de anlise no depende da interpretao dos smbolos com que se trabalha mas sim das leis que regulam as suas combinaes. Todo o sistema de interpretao que no modifique a verdade das relaes consideradas pode ser igualmente empregue, por esta razo que um dado processo pode, num certo esquema de interpretao, representar a soluo de um problema que diga respeito s propriedades dos nmeros que, em princpio, corresponderiam a um outro esquema: assim acontece com os problemas geomtricos, com os de dinmica, de ptica, ete". Em 1854, Boole publicava a Indagao sobre as leis do pensamento em que se baseiam as teorias matemticas da lgica e das probabilidades. Esta obra tinha por objectivo "mostrar a lgica, no seu aspecto prtico, como um sistema de processos efectuados com a ajuda de smbolos cuja interpretao bem definida, e que est sujeita a leis baseadas apenas nessa mesma interpretao; e mostrar ainda que essas leis so idnticas, na sua forma, s dos smbolos gerais, da lgebra" (Laws of Thought, 1, 6), tendo apenas em conta que na lgica no se considera a potenciao e que, por isso, o smbolo xx ou xI (no qual x indica uma classe de coisas) igual a x. Com efeito, se x se refere classe dos "homens", xx ou xI tambm s se podem referir a esta classe, homem homem significa apenas homem. O princpio da contradio , segundo Boole, uma consequncia destas leis: significa que uma classe cujos elementos so simultaneamente homens e no-homens no pode existir (Ib., 111, 15). Boole adopta o smbolo "+" 218
para indicar as relaes lingusticas "e" e "ou"; o sinal "=" para indicar ""-, e o sinal "-" para indicar excepo, isto , frases do tipo "todos os estados excepto este, so monrquicos", que seriam expressas por " x - xy". A obra de Boole rica em consideraes filosficas. Afirma o carcter probabilstico das leis naturais (Ib., 1, 4); submete a uma crtica lgica as provas a priori da existncia de Deus dadas por Clarke e por Spinoza, demonstrando que no possvel concluir nada delas; (Ib., XIII); reconhece a insuficincia da lgica aristotlica, especialmente da teoria do silogismo, e debrua-se principalmente sobre aquilo que chama "as proposies secundrias" do tipo "se o sol brilha, a terra aquece", que constituem os juzos no evidentes da lgica estica ( 92). Mas a etapa mais importante da identificao da matemtica com a lgica constituda pela obra de GottIob Frege (1848-1925), actualmente considerado um dos fundadores da lgica moderna. Os seus escritos principais so: Ideografia. Uma linguagem formal do pensamento puro representado aritmeticamente (1879), Os fundamentos da aritmtica (1884); Funo e conceito (1891); Conceito e objecto (1892); Sentido e significado (1892); Princpios da aritmtica (1, 1893; 11, 1903). Esta ltima uma importante obra sistemtica na qual Frege trabalhou durante bastantes anos. O pressuposto de Frege o mesmo da escola do criticismo alemo: o conceito tem uma validade objectiva, independente das condies subjectivas ou psicolgicas em que pensado. Afirma Frege: "No se tome como deduo matemtica a simples des219 crio do modo como se forma em ns uma certa imagem, nem como demonstrao de um teorema a indicao das condies fsicas e psquicas que devem ser satisfeitas para que lhe possamos compreender o enunciado. No se confunda a verdade de uma proposio com o ser pensada... Uma proposio no deixa de ser verdadeira pelo facto de eu no a pensar, tal como o Sol no deixa de existir quando eu fecho os olhos" (Die Grundlagen der Aritmetik, lntr., trad., ital., in Aritmetica e logica, p. 23). Por um lado, este ponto de vista permite diferenciar claramente a lgica e a psicologia, evitando que a lgica reduza o significado dos conceitos aos actos psquicos que presidem sua aquisio ou compreenso, constituindo assim um aprofundamento polmico contra a lgica empirista. Por outro lado, permite basear a identidade entre a matemtica e a lgica na identidade entre nmero e conceito, e mais precisamente entre o nmero e a extenso do conceito (Ib., 68). Esta identificao esclarecida pela distino entre o sentido (Sinn) e o significado (Bedeutung), que um dos pontos chave da lgica de Frege. O significado de um conceito e, em geral, de um signo, o objecto designado por esse signo; pelo contrrio, o sentido "o modo como o objecto dado" ou "uma qualquer indicao que desempenhe o papel de nome prprio" (Ueber Sinn und Bedeutung, 1; Ib., pgs. 218-219). Esta distino reproduz a que foi feita pelos Esticos entre o objecto de um signo e a "representao racional" que o signo suscita; distino que foi depois expressa de vrias
formas pela tradio lgica (como relao entre significado e suposio, na 220 lgica medieval; entre inteno e extenso, na lgica de Leibniz; entre conotao e denotao, na de Stuart Mill). A relao entre signo e significado resulta do facto de um sentido s poder ter um dado significado, enquanto que um significado pode ter vrios sentidos: por exemplo, "o autor da Divina Commedia", "o autor da Vita Nuova", "o maior poeta italiano", so expresses que tm Dante como nico objecto ou significado, mas que tm sentidos diferentes. Para aquele que estuda a proposio, o significado que ela tem , segundo Frege, o seu valor de verdade, j que esse valor depende da sua correspondncia com o objecto (Ib., 5). No apndice ao segundo volume dos Princpios da aritmtica Frege referia-se carta de Russell em que este lhe comunicava ter descoberto que um dos mtodos demonstrativos utilizados por Frege conduzia a uma antinomia. No entanto, Frege manteve a sua doutrina sobre as relaes entre a aritmtica e a lgica e indicou uma possvel forma de fugir antinomia. Iniciava-se assim a fase crtica da lgica, isto , a fase em que a lgica pe em discusso os prprios fundamentos da sua validade. 796. DESENVOLVIMENTO DA PSICOLOGIA A psicologia moderna nasceu com a obra de c Fechner e Wundt ( 660), sendo por elos denominada psicofsica, isto (nas palavras de Fechner), uma "cincia exacta das relaes funcionais ou rola221 cionais de dependncia existentes entre o esprito e o corpo". Esta psicologia servia-se, por um fado, da introspeco como mtodo para determinar os "fenmenos internos" ou "factos de conscincia" e, por outro lado, da observao fisiolgica que lhe permitia determinar a correlao entre esses fenmenos e os fenmenos fsicos. A fase crtica da psicologia iniciou-se ao ser posta em dvida a introspeco como mtodo de indagao cientfica. Nos primeiros anos do nosso sculo, Ivan Pavlov (1849-1936), autor da teoria dos reflexos condicionados, negava que a psicologia pudesse constituir-se como cincia partindo do estudo dos estados subjectivos, E, em 1914, o americano J. B. Watson (nascido em 1878) expunha num livro (Comportamento. Introduo psicologia comparada) a tese do comportamentismo (behaviorism), segundo a qual a indagao psicolgica deve limitar-se ao estudo das reaces observveis objectivamente. Assim, o comportamento fazia valer no campo da psicologia a mesma exigncia metodolgica das cincias naturais, isto , a de no se poder falar cientifica- mente daquilo que foge a todas as possibilidades de observao objectiva e de controle. Segundo Watson, a tarefa da psicologia consiste em descobrir as
conexes, causais entre o ambiente exterior, que fornece os estmulos, e a reaco do organismo; isto , entre duas ordens de acontecimentos observveis e susceptveis de medio. Dado que o comportamento a reaco total do organismo, o comportamentismo aderiu rapidamente chamada psicologia da forma (Wertheimer, Khler, Koffka), ao rejeitar o atomismo 222 psquico que era a outra caracterstica fundamental da psicofsica. Na mesma poca, a psicologia desenvolvia-se numa direco aparentemente oposta atravs da obra de Sigmund Freud (1856-1939), que deu origem ao que hoje se chama psicologia abissais ou do profundo. O instrumento de indagao utilizado por esta psicologia consiste exclusivamente na confisso do sujeito que examinado; mas nessa confisso (que aparentemente exprime os resultados de uma introspeco) o psicanalista procura unicamente os sinais ou sintomas, dos conflitos latentes, cuja razo de ser est nos acontecimentos passados da vida do sujeito. Deste modo, tambm a psicanlise partilha, dentro de certos limites, a tendncia objectivista da psicologia contempornea. O seu fundamento terico consiste em admitir no homem a presena de um instinto fundamental de natureza genericamente sexual, chamado libido, que tende indiscriminadamente para o prazer e que entra em conflito com as proibies, as ordens e as censuras que constituem o resultado da vida social, conflito este que d origem a uma inibio parcial do homem. O prprio conflito , segundo Freud e, em geral, segundo todos os psicanalistas, o nico e verdadeiro protagonista da vida individual e social do homem. A ele se devem, com efeito, no s as manifestaes patolgicas da forma de vida, que consistem numa espcie de vingana efectuada pelo instinto no confronto com as inibies, mas tambm as manifestaes normais e mais elevadas (a arte, a religio, a prpria cin223 cia), que consistem numa sublimao do instinto, isto , na sua transferncia para outros tipos de objectos. Freud exprimiu de vrias formas, no decurso da sua actividade, os termos do conflito que, segundo ele, constitua a vida dos seres humanos. Num certo nmero de obras (Para alm do princpio do prazer, 1916; O Ego e o Id, 1923) declarou que os termos do conflito so o Id, constitudo pelos mltiplos impulsos da libido, e o Super-Ego, isto , o conjunto de proibies que foram instiladas ao homem nos primeiros anos da sua vida e que o acompanharam da em diante sem que tivesse conscincia do facto, constituindo aquilo a que se chama normalmente conscincia moral. O Ego, enquanto organizao consciente da personalidade, o resultado do acomodamento ou do equilbrio parcial ou instvel destes dois elementos. Depois, Freud insistiu sistematicamente no carcter agressivo dos instintos que constituem o Id; e na sua ltima obra, O mal-estar na civilizao (1930), considerou toda a histria da humanidade como sendo a luta entre dois instintos: o instinto da vida ou Eros e o da destruio ou Thanatos. "Esta luta, escreveu, aquilo em que consiste essencialmente a vida, e por isso que o desenvolvimento da civilizao pode ser descrito como uma luta da
espcie humana pela existncia" (Civilization and its Discontents, 1943, p. 102). Considerando-se esta doutrina de acordo com a tradio filosfica, verifica-se que ela no mais do que uma actualizao do velho dualismo maniquesti. Mas a sua importncia reside principalmente na forca polmica com que defendeu exigncias que na Uo224 sofia tradicional no tiveram uma satisfao adequada. Em primeiro lugar, o conceito da vida humana, individual e social, constituda por um conflito imanente que s pode encontrar solues ou equilbrios precrios ou parciais, a anttese precisa das concepes clssicas segundo as quais a alma e a sua instncia maior, a sociedade humana, so sistemas harmnicos de poderes ou faculdades destinadas a colaborar, e cujo conflito uma excepo insignificante. Em segundo lugar, a noo da sexualidade fundamental do homem acentuou um aspecto que a antropologia tradicional ignorava completamente e confirmou o carcter terrestre ou mundano do homem, tirando simultaneamente sexualidade o carcter de degradao ou condenao e induzindo ao reconhecimento da sua aco nas mais diversas manifestaes da vida. Em terceiro lugar, o reconhecimento da aco exercida pela sociedade sobre o homem atravs das cristalizaes do Super-Ego equivale ao reconhecimento do aspecto social da personalidade humana: um aspecto que hoje amplamente reconhecido, se bem que no o seja nesta forma especfica, nas investigaes psicolgicas e antropolgicas. 797. A SEMITICA Ao comportamentismo e ao pragmatismo (especialmente ao de Mead) poderemos associar a semitica de Charles Morris (nascido em 1901), professor da Universidade de Chicago. Morris autor de vrios 225 mritos de psicologia e de tica (Seis teorias do esprito, 1932; Caminhos da vida, introduo a uma religio csmica, 1942; O eu aberto, 1948-, Variedade do valor humano, 1956). Esta ltima obra rene os resultados de um inqurito feito a estudantes de vrios pases sobre as "dimenses do valor", isto , sobre as preferncias em relao a este ou quele modo de -vida. Morris acredita poder assim determinar algumas constantes que se encontram em todas as civilizaes e que constituem, por isso, uma espcie de conscincia do valor comum a toda a humanidade. Mas as suas obras mais interessantes so as que se referem semitica (Positivismo lgico, Pragmatismo e empirismo cientfico, 1937; Fundamentos de uma teoria dos signos, 1938, na Enciclopdia Internacional da Cincia Unificada; Signos, linguagem e comportamento, 1946). Morris defende um "empirismo cientfico" que deveria abarcar simultaneamente o empirismo radical, o racionalismo metodolgico e o pragmatismo crtico. Para um tal empirismo, a lgica , como Peirce afirmara, uma teoria geral dos signos, enquanto que a lgica formal (ou matemtica) o estudo das relaes entre os signos de uma determinada linguagem. Entendida deste modo, a lgica deixa de rivalizar com o conhecimento emprico da natureza e limita-se a considerar a linguagem em que so formuladas as proposies sobre a natureza, evitando ocupar-se do mundo no-lingustico. Alm disso, a
lgica deve ter Presente que a linguagem usada por seres vivos e deve. portanto, tomar em considerao a relao entre Os signos lingusticos e aqueles que os utilizam. Deste 226 ponto de vista, a lgica geral, como teoria dos signos, divide-se em trs partes: a pragmtica, a semntica e a sintctica. "A pragmtica a parte da semitica que examina a origem, as utilizaes e os efeitos dos signos em cada um dos comportamentos a que so aplicados; a semntica trata da significao dos signos, de todas as possveis maneiras de significar; a sintctica ocupa-se das combinaes dos signos, prescindindo das suas significaes especficas e das suas relaes com cada aplicao particular (Signs, Language and Behavior, trad. ital., p. 293). Morris introduz portanto, na semitica (e como veremos na prpria definio de signo) a considerao do comportamento do homem no mundo; as suas investigaes lingusticas adquirem, por isso, um significado pragmtico que estranho s formulaes do neo-empirismo. Mais do que o signo, o objecto da semitica de Morris o comportamento do homem e, em geral, dos seres vivos, manifestado atravs de signos. Como exemplos significativos de comportamentos deste tipo, Morris considera o de um co que responde com movimentos musculares ou secrees glandulares ao som de uma campainha que foi constantemente associado administrao da comida (o que o exemplo tpico dum reflexo condicionado); ou o do automobilista que muda a direco da marcha porque algum o adverte de que o caminho est interrompido mais adiante. Aqui, o co e o automobilista actuam como se tivessem visto a comida ou o caminho interrompido. Contudo, nada viram e o seu comportamento foi determinado por um signo: o som da campainha ou as palavras de quem advertiu. 227 Por isso, o signo definido do seguinte modo: "Se uma determinada coisa, A, guia um comportamento de uma forma semelhante (mas no necessariamente igual) quela que seria utilizada por uma outra coisa, B, para atingir o mesmo objectivo, ento A um signo". Os signos sero denominados smbolos se forem produzidos em substituio de outros signos de que sejam sinnimos; se assim no for, chamam-se sinais. O smbolo evidentemente mais autnomo e convencional do que o sinal. Estas definies pem completamente de parte termos como ideia, representao, conceito, etc., isto , todos os termos que se referem a um ponto de vista "mental"; e isto porque a introduo de tais termos no oferece nenhuma vantagem para o conhecimento objectivo e verificvel do fenmeno que significado. Admitir, por exemplo, que entre o signo e a resposta do co h, na mente deste, uma "representao" ou uma ideia, significa fazer uma afirmao que no pode ser verificada e que, por conseguinte, no tem nenhum significado objectivo. Uma linguagem um sistema de signos que so apreendidos da mesma forma por um certo nmero de pessoas, que podem ser reproduzidos por essas mesmas
pessoas, que tm um significado relativamente constante e que se podem combinar segundo certas regras. As caractersticas da linguagem so tais que Morris levado a consider-la como um atributo exclusivo do homem (Ib., p. 82). Os signos podem ser designatrios, apreciativos, prescritivos e formativos; e o uso dos signos precisamente determinado por esta sua natureza. Os signos, com efeito, podem ser usados 228 para informar o organismo sobre qualquer coisa; para ajud-lo na escolha de objectos, para provocar sequncias de respostas pertencentes a um dado tipo de comportamentos; e para organizar num conjunto unitrio o comportamento provocado pelos signos. evidente que o principal uso dos signos designatrios de carcter informativo, que o dos apreciativos de carcter valorativo, que o dos prescritivos estimulante e que o dos formativos sistematizador. Estas utilizaes aparecem normalmente associadas e servem a Morris para classificar os diversos tipos de discurso: o discurso cientfico, que seria designatrio e informativo; o fantstico, que designatrio-valorativo; o legal, que designatrio-estimulante; o cosmolgico (ou filosfico), que designatrio-sistematizante; o mtico, que apreciativo-informativo; o potico, que valorativo-apreciativo; o moral, que apreciativo e estimulante; o crtico, que apreciativo-sistematizante, o tecnolgico, que prescritivo-informativo; o poltico, que prescritivo-valorativo; o religioso, que prescritivo-estimulante; o propagandstico, que prescritivo e que organiza, por si mesmo, quem prescreve. Trata-se, como se v, de classificaes e determinaes puramente verbais e extremamente simplistas. Devido ao seu carcter semitico, isto , simplesmente terminolgico, no deveriam ter outra pretenso que a de esclarecer o uso dos termos em questo; mas dado que estes termos (discurso cientfico, fantstico, legal, etc.) se referem a atitudes, situaes e condies que se situam para alm do uso lingustico, o estudo terminolgico inclui 229 subrepticiamente a pretenso de valer tambm como estudo de tais atitudes, condies e situaes; e nesta pretenso que se revela simplista. preciso, no obstante, reconhecer que Morris insistiu cada vez mais no aspecto pragmtico da linguagem e, em geral, do comportamento dos signos, afastando-se simultaneamente cada vez mais do nominalismo da escola de Viena. Esta sua tendncia manifesta-se, em primeiro lugar, na importncia que atribui explicao dos signos "ou", "?" "()", os quais se encontram sempre fora de lugar numa lgica nominalista que tenda a modelar-se sobre proposies que tm um sentido acabado e se podem verificar empiricamente. Morris designa aqueles signos por formadores (ou signos formativos) no sentido de que eles modificam o significado das combinaes de signos em que aparecem, e cr que significam uma situao de alternativa. evidente que aqui o aspecto pragmtico adquire predomnio sobre o formalista, e que os sinais formativos radicam naquela situao de dvida, de incerteza, de instabilidade que no propriamente lingustica. A mesma atitude permite a Morris reconhecer um valor positivo metafsica que sempre foi caracterstica do positivismo. Considera que os
sistemas metafsicos so precisamente formativos por organizarem o comportamento humano num sentido ou noutro, mas sempre de tal forma que o seu intrprete no tenha surpresas. Portanto, se a metafsica no tem valor cientfico (no um discurso informativo), tem, em troca, um enorme valor formativo na organizao do comportamento humano. 230 isto leva Morris a abandonar a identificao da filosofia com a semitica, isto , com a anlise da linguagem que ele mesmo tinha anteriormente defendido (Foundations of the Theory of Signs, 1938, p. 59). No seu escrito mais importante, Signos, linguagem e comportamento (1946), define a filosofia como "uma organizao sistemtica que engloba as crenas fundamentais: crenas sobre a natureza do mundo e do homem, do que o bem, sobre os mto-dos que ho-de seguir-se para alcanar o conhecimento, sobre a maneira como a vida deve ser vivida. O filsofo encontra-se perante asseres de facto, valoraes, prescries de conduta prprias do mundo da sua cultura; e organiza criticamente estas asseres, valoraes e prescries dentro de outro sistema de crenas" (Ib., trad. ital., pgs. 314-315). Assim se explica a pluralidade das filosofias, que tm a sua raiz nas diferenas das personalidades dos filsofos e do material cultural que empregam. Mas esta pluralidade no entrava o caminho a uma sntese futura, qual a semitica poder trazer uma valiosa contribuio. "Esta uma poca em que a personalidade deve abrir-se e no encerrar-se na posse do que j e tem. A estrutura de uma personalidade fechada e autoritria encontra-se hoje frente a uma estrutura aberta e elstica; visto no plano psicolgico, este o conflito principal do nosso tempo. So necessrios novos tipos de filosofia, numerosos e diferentes, antes que possa existir uma sntese filosfica apropriada a amplas zonas do mundo actual. O reconhecer a pluralidade das filosofias do passado, tentando eliminar as pretenses dogmticas de cada uma delas, e mesmo 231 de todas, constitui um contributo positivo para um trabalho filosfico significativo do nosso tempo". Estas concluses de Morris permitem uma compreenso e uma apreciao de boa parte da filosofia contempornea. Contudo, a sua pretenso de que a semitica no suponha uma filosofia particular (Ib., P. 318) ilusria. Implica um realismo emprico, que uma filosofia como qualquer outra. E Morris reconhece-o: "Existe um mundo e isto fornece a prova que os nossos signos denotam. Se no existisse este mundo, ento no haveria signos, conhecimento, ou verdade, nem mesmo a certeza de que nada existe" (Ib., p. 229). NOTA BIBLIOGRFICA 783. Sobre as atribuies actuais da filosofia das cincias: L. GE=NAT, Filosofia e filosofia della scienza, Milo, 1960. Para um panorama da cincia contempornea: ERNEST
NAGEL, The Structure of Science, Problems in the Logic of Scientific Explanation, Londres, 1961. 784. Sobre Avenarius: W. WUNDT, in "Philosophische Studien", 13, 1896; H. DELACROIX, in "Revue de Mtaph. et Mor.", VI, 1898; O. EWALD, R. A. aIs Begrnder des Empiriokriticismus, Berlim, 1905; A. PELAzzA, R. A. e llempiriocriticismo, Turim, 1909; RAAH, Die Phil. von R. A., Leipzig, 1912. 785. Sobre Mach: A. ALIOTTA, in "Cultura Filosofica", Florena, 1908; F. REINHOLD, 31.s Erkenntnistheorie, Leipzig, 1908; H. HENNING, E. M. aIs PhiZasoph, Physiker und Psychologe, Leipzig, 1915; M. H. BAEGE, Die Naturphilosophie von E. M., Berlim, 1916; H. DiN232 GLER, Die Grundgedanken der Machschen Philosophie, Leipzig, 1924; C. B. WEIMBERG, M.s Empirio-pragmatism in Physwal Science, Nova Ic>rque, 1937; R. V. Misw, E. M. und die empiristische Wissenschaftsanfass-ung, Leipzig, 1938. 786. Sobre Hertz: H. H~DING, Moderne Philosophen, Leipzig, 1905; J. ZENNECK, H. H., Berlim, 1929; E. MEYERSON, Essais; Paris, 1936; E. CAssiRER, Erkenntnisproblem, IV (trad. ital., pgs. 166-74); R. B. BRAITHWAITE, Scientific Explanation, Cambridge, 1953, cap. M e IV. Sobre Duhem: H. P. DUHEM, Un savant franais: P. D,. Paris, 1936; A. LowINGER, The Methodology of P. D.' Nova Iorque, 1941. 787. Sobre Ostwald: A. RoLLA, La filosofia energetica, Turim, 1908; V. DELBOS, Une thorie allemande de Ia culture. W. O. et sa philosophie, Paris, 1916; G. OSTWALD, W. O., mein Vater, Estugarda, 1953. Sobre Driesch: O. HEINICITEN, D.s Philosophie, Leipzig, 1924; A. WENZL, H. D.s philosophische Herbe, Heidelberga, 1943; M. SCHLICK, Philosophy of Nature, Nova lorque, 1949, pgs. 78-86. 788. De Meyerson, est publicado um volume
pstumo de Essais, Paris, 1936. Sobre Meyerson: A. METZ, Une nouvelle phil. des sciences. Le causalisme de M. E. M., Paris, 1928; ABBAGNANO, La fil"ofia di E. M. e Ia logica delilidentit, Npoles, 1929; R. JOHAN, La Raison et Ilirrationnel chez M. M., in "Recherches philosophiques", 1931-32; M. A. DENTI, Scienza e filosofia in M., Florena, 1940. 789. Sobre os dados histricos que so referidos no pargrafo sobre o desenvolvimento crtico da geometria: L. GEYMONAT, Storia della matematica, in Storia delle scienze, ao cuidado de N. Abbagnano, vol. I, Turim, 1962. Consultar ainda R. COURANT-H. ROBBINS, Che cosl Ia matematica, trad. ital., Turim, 1950, cap. III-V, e a bibliografia a contida. 233 790. De Poincar: Il valoe della seiewza, trad. !tal., Florena, 1952; La scienza e Ilipotesi, trad. ital., Florena, 1950; Antologia, com introdu o de F. Severi, Florena, 1949.
Sobre Poincar: L. RoUGIER, La philosophie gometrique de H. P., Paris, 1920; T. DANTZIG, H. P.: Critic of Crisis, Nova lorque, 1954. 791. De Einstein: as seguintes tradues italianas: Sulla teoria speciale e generaZe della relativit, Bolonha, 1921; Prospettive relativistiche dellIetere e della geometria, Milo, 1922; L'evoluzione della fisica (em colaboxao com Infeld), Turim, 1950; Il significato della relitivit Turim, 1950; e outros escritos, fundamentais in CinquantIanni di relativit, de vrios autores, Florena, 1955. Sobre Einstein: A. D'ABRO, The Evolution of Scientif ic Thought, Nova Iorque, 1950; L. INFELD, A.E., trad. ital., Turim, 1952; C. SEELIG, A.E., Zurique, 1954; A. VALLENTIN, A.E., A Riography, Londres, 1954; L. BARNETT, E. et Ilunivers, Paris, 1955; A.E., Phil~pher Scientist, ao cuidado de P. A. SCHILPP, Nova lorque, 1951, trad. ital., Turim, 1958. 792. Sobre os problemas da fsica actual consultar: o volume dedicado a Einstein no "Living Philosophers" de Schilpp (j citado); e ainda IIWSENBERG, SCHDINGER, BORN, AUGER, Discussione su" fisica moderna (Rencontres Internationales de Genve), Turim, 1959. 793. De Eddington: as seguintes tradues italianas: Stelle e atomi, Milo, 1933; Luniverso in e.@pansione, Bolonha, 1934; La natura del mondo fisico, Bari, 1935; La scienza e il mondo invi.@ibile, Verona, 1948; La filosofi" della scienza fisica, Bari, 1941. Sobre Eddington: E. T. WHITTAIIER, From Euclid to E., Nova lorque, 1949; L. P. JAcKs, Sir A. E.; Man Of SCience and Mystic, Londres, 1949; E. NAGEL, SOvereign Reason, Glencoe, 111, 1954, pgs. 216 e segs. 234 De Bridgman: La logica delta fisica moderna, trad. ital., Turim, 1952. Sobre Bridgman: R. B. LINDSAY, in "Philosophy of Science", 1937, pgs. 456-70; J. BERNSTEIN, in "Synthse", 1952, pgs. 331-@11. 794. De Cantor: Gesammeite Abhandlungen, ed. Zermeld, Berlim, 1932. Sobre Cantor: F. ENRIQUES, Per Ia storia delta logica, Bolonha, 1922; A. FRANKEL, G.C., Leipzig, 1930. De Dedekind: Gesammelte mathematischen Werke, Brunswick, 1930; Che cosa sono e che cosa debbono essere i numeri, trad. ital., -Roma, 1926. Sobre Dedekind: E. LANDAU, in "Nachrichten von d. GeselIschaft ter Wissenschaften zu CTttingen", 1917. De Peano: Opere scelte, ao cuidado da Unione matematica italiana, 3 vols., Roma, 1957-59. Sobre Peano: In memoria di G. P., ao cuidado de A. TERRACINI, Cuneo, 1955.
De Hilbert: Gesammelte Abhandlungen, 3 vols., Berlim, 1932-35. Sobre Hilbert: E. COLERUS, Von Pythagoras bis H., Viena, 1947, trad. ital., Turim, 1949. Sobre Brouwer. A. HEYTING Mathematische GrundIagen Forschung. Intuitionismu-s und Beweistheorie, 1934, trad. frane., Paris, 1955; Intuitionism, an Introduction, Amesterdo, 1956. Sobre o teorema de G5del: E. NAGEL-G. R. NEWMAN Gijdel's Proof., Nova Iorque, 1958. 795. Sobre o desenvolvimento da lgica: W. e M. KNEALE, The Development of Logic, Oxford, 1962, pgs. 404-20, 478-512. Sobre Boole: W. KNEALE, in "Mind", 1948, pgs. 149-75. De Frege: Aritmetica e logica, trad. ital., L. Geymonat, Turim, 1948 (contm 1 fondamenti dell'aritmetica, Oggetto e concetto, Concetto e rappresentazione, 235 **RUSSELL (FALTA AQUI UMA PEQUENA PARTE, POR CAUSA DA FOTOGRAFIA) rias ticas e sociais, foi obrigado a deixar o City College de Nova Iorque; em 1943, pelo mesmo motivo, a Fundao Barnes de Marion, na Pensilvnea, cancelou um contacto de cinco anos que lhe tinha oferecido. Em 1944 voltou ctedra do Trinity College, terminando a uma das suas obras fundamentais: O conhecimento humano, o seu mbito e os seus limites. Em 1950 recebeu o prmio Nobel da literatura. ultimamente, habitando numa sua casa de campo no Pas de Gales, concentrou a sua actividade na defesa dos seus ideais tico-polticos e, sobretudo, na defesa da liberdade e da paz. O prprio Russell declarou que o ano mais importante da sua vida intelectual foi o de 1900 quando, no Congresso internacional de filosofia, em Paris, verificou que Peano e os seus discpulos, nas suas discusses, apresentavam um rigor de concepes que no existia nos outros congressistas. Este facto levou-o a estudar a obra de Peano, tendo verificado que o simbolismo lgico podia aplicar o rigor matemtico a outros domnios que tinham sido at ento objecto da "impreciso filosfica" (My Mental Development, in The Philosophy of Bertrand Russell, ao cuidado de Schilpp, p. 12). O primeiro resultado desta orientao foi a edio dos Princpios da matemtica (1903), cujo contedo foi depois reelaborado, a fim de resolver o problema das antinomias, na grande obra em trs volumes Principia Mathematica (1910-1913), que Russell escreveu em colaborao com Whitehead. Da em diante, Russell expe em numerosas obras a sua "filosofia cientfica": O nosso conhecimento do mundo externo, 1914; 238
O mtodo cientfico na filosofia, 1914; Introduo filosofia matemtica, 1919; A anlise do esprito, 1921; A anlise da matria, 1927; Panorama cientfico, 1931; O significado e a verdade, 1940; Histria da filosofia ocidental, 1945; O conhecimento humano: o seu mbito e os seus limites, 1948. Simultaneamente, publicou numerosas obras que, de forma polmica, tratavam problemas de tica, poltica ou religio: Princpios de reconstruo social, 1916; Misticismo e Lgica e outros ensaios, 1918; Vias para a liberdade: socialismo, anarquismo e sindicalismo, 1918; A prtica e a teoria do bolchevismo, 1920; Prospectiva da civilizao industrial, 1923; Aquilo em que creio, 1925; Porque no sou cristo, 1927; Ensaios cpticos, 1928; Matrimnio e moral, 1929; A conquista da felicidade, 1930; A educao e a ordem social, 1932; Liberdade e organizao 1814-1914, 1934; Religio e cincia, 1935; O poder, nova anlise social, 1938; A autoridade e o indivduo, 1949; Ensaios impopulares, 1951; A influncia da cincia na sociedade, 1951. Alguns dos ensaios mais importantes sobre lgica e sobre a teoria do conhecimento esto agora recolhidos em Lgica e conhecimento, Ensaios 1901-50, 1956. 799. RUSSELL: A LGICA: CARACTERSTICAS A obra lgica de Russell o seu maior contributo para o pensamento contemporneo. Os Princpios de Matemtica e os Principia Mathematica so considerados clssicos, sendo comparados com os maiores 239 0@' .01 - escritos sobre a lgica da Antiguidade e da Idade Mdia. Mas a influncia destas obras exerceu-se num sentido diferente daquele que pretendia o seu autor, que acabou por aceitar em parte os resultados obtidos em tal direco. As caractersticas fundamentais da lgica de Russell so duas: a identificao da lgica com a matemtica e a sua tendncia realista. Quanto ao primeiro aspecto, disse Russell: "Se no fosse o desejo de nos prendermos ao hbito, poderamos identificar a matemtica lgica e definir uma e outra como sendo o conjunto de proposies que apenas contm variveis e constantes lgicas; mas o respeito pela tradio leva-me a preferir a distino habitual, se bem que reconhea que estas proposies pertencem a ambas as cincias" (The Principles of Mathematics, 10). A distino a que Russell alude a de que a lgica constituda pelas "premissas da matemtica" (Ib., 10). A posio de Russell portanto a do chamado logicismo, o qual defende uma prioridade da lgica sobre a matemtica e assume a lgica como guia ou disciplina intrnseca da matemtica. Esta, por sua vez, definida por Russell como sendo "a classe de todas as proposies da forma 'p implica q', onde p e q so proposies contendo uma ou mais variveis e no contendo nenhuma constante excepo das constantes lgicas" (Ib., 1). Constantes lgicas so as noes definveis atravs da implicao, da relacionao de um termo com a classe a que pertence, da noo de tal que, da noo de relao e de outras noes similares
que possam entrar na noo geral de proposio. Sero 240 BERTRAND RUSSELL variveis os termos precedidos de qualquer ou de algum. Assim, a proposio, a implicao, a classe, etc., sero constantes; mas uma proposio, qualquer proposio ou alguma proposio, no so constantes dado que denotam um objecto definido mas varivel (Ib., 6). A identidade entro a matemtica e a lgica pode, segundo Russell, exprimir-se na sua forma mais simples observando que ambas tm por nico objecto a teoria geral das relaes. Se bem que o " clculo das relaes" seja considerado por Russell como constituindo a terceira parte da lgica simblica, as outras duas partes, isto , o clculo das proposies e o clculo das classes, referem-se igualmente a relaes: o primeiro sobre as relaes de inferncia das proposies e o segundo sobre as relaes do indivduo com a classe a que pertence ou das classes entre si. A outra caracterstica fundamental da lgica de Russell a sua tendncia realista. Criticando a doutrina de Lotze, Russell afirmava: "A aritmtica deve ser descoberta do mesmo modo que Colombo descobriu as ndias Ocidentais, e -nos to impossvel inventar nmeros como a Colombo inventar indianos. O nmero 2 no puramente mental, constituindo antes uma entidade a que pode ser pensada. Tudo o que pode ser pensado tem existncia, e tal existncia uma condio prvia e no um resultado do seu ser pensado" (Ib., 427). Mais tarde, Russell declarava ter partilhado com Frege "a crena na realidade platnica dos nmeros, os quais povoavam o reino intemporal do sem (Intr. 2. ed. dos Principles, trad. ital., p. 14). Mas este platnico "reino 241 do ser foi sempre identificado por Russell com a prpria estrutura do mundo. "A lgica, afirmava, ocupa-se do mundo real tal como a zoologia o faz, se bem que se ocupe primordialmente dos seus aspectos mais gerais e abstractos" (Introduction to Mathematical Philosophy, 1920, p. 169). E mesmo depois de ter renunciado a grande parte do seu "platonismo", reduzindo a "fices" ou a "mitos" muitas das "entidades" em que anteriormente acreditara, Russell nunca negou que a matemtica e a lgica constitussem de certo modo a substncia das coisas. "No desejamos apenas que os nossos nmeros verifiquem as frmulas matemticas, mas sim que se apliquem de forma exacta aos objectos que encontramos" (Intr., cit., trad. ital., p. 20). E contra o formalismo de Hilbert ( 794), afirmava: "A aplicao do nmero ao material emprico no faz parte nem da lgica nem da aritmtica; mas uma teoria que a torne a priori impossvel no correcta. A definio lgica dos nmeros toma inteligvel a sua relao com o mundo efectivo dos
objectos que se podem contar; mas j no acontece assim com a teoria formalista" (Intr., 2.a ed. dos Principles, trad. ital., p. 7). A lgica de Russell est portanto em polmica com a tendncia mentalista ou subjectivista da lgica como "arte de pensar" que surgiu na tradio ocidental a partir da lgica de Port Royal (416). Mas, por outro lado, concorda com o conceito clssico e j antigo da lgica, mais concretamente com o seu conceito aristotlico, isto , como estrutura necessria ou intemporal do ser. Os Princpios da matemtica 242 contm assim, para alm dos conceitos fundamentais da matemtica, os do espao (parte VI) e os da matria e do movimento (parte VII), pretendendo deste modo fornecer a base lgica do mundo. Deste ponto de vista, compreende-se que Russell no tenha aceite o mtodo axiomtico e a interpretao convencionalista dos axiomas: "Parece-me que estes axiomas deveriam ter, ou ento no ter, as caractersticas de verdades formais que so prprias da lgica, o que implica que, no primeiro caso, esta deveria inclu-los, enquanto que no segundo deveria exclu-los totalmente; mas sou obrigado a confessar que no consigo dar nenhuma explicao clara daquilo que se pretende dizer ao afirmar que urna proposio 6 verdadeira devido sua forma" (Intr. 2.a ed. dos Principles, trad. ital., p. 19). 800. RUSSELL: A LGICA: DIVISES FUNDAMENTAIS Como vimos, ede acordo com Russell, as partes da lgica so: o clculo das proposies, o clculo das classes e o clculo das relaes. O clculo das proposies estuda as relaes de implicao material entre as proposies. Entende-se por implicao material aquela que verdadeira se o for a concluso. A implicao "Scrates um homem implica que Scrates mortal" uma implicao formal que exige, para ser verdadeira, que o sejam ambas as proposies que a constituem; isto permite-nos substituir, nesta implicao, Scrates por qualquer outro homem mas no por qualquer outra entidade. Pelo con243 trrio, na implicao material a varivel pode ser substituda por uma entidade qualquer, isto , por um outro homem, por uma torta, uma rvore ou uma pedra. Pode-se at dizer, por exemplo, "Se Napoleo foi ingls, Scrates mortal ou "Se Scrates foi um elefante, Napoleo foi francs". Estas implicaes so vlidas materialmente porque a concluso verdadeira. Mas no se pode dizer "Se Scrates homem, Napoleo foi francs", pois nesta implicao a tese falsa. Este tipo de implicao est em desacordo com a noo comum de raciocnio dedutivo, isto , daquela que o define como uma relao intrnseca entre as proposies que o constituem; mas, como Russell demonstrou, s ele permite a generalizao matemtica. De acordo com a noo de implicao material, as proposies falsas implicam todas as proposies e as verdadeiras so implicadas por todas as proposies. Por outro lado, dadas duas proposies quaisquer, uma delas implicar sempre a outra. nesta base que a lgica de Russell estabelece a prova das leis da contradio e do terceiro excludo, e ainda das propriedades formais da multiplicao lgica (que consiste na afirmao simultnea de duas proposies, isto , "p e q") e da adio lgica (que consiste na distino entre duas proposies, isto "p ou q").
No clculo das classes, Russell distingue a classe do conceito-classe ou predicado que a define; assim, os homens constituem uma classe, enquanto que o homem um conceitoclasse. Russell pensa que dos dois aspectos que a lgica sempre considerou, a extenso e a inteno (que outros autores designam 244 por denotao e conotao), o primeiro seria o mais importante, sendo a classe interpretada no sentido da extenso. Deste ponto de vista, a classe ou expressa por um nico termo (se for considerada na sua totalidade) ou pela combinao de termos onde estes so relacionados pela conjuno e. Assim, a frase "Scrates um homem" pode ser interpretada de qualquer destas formas 1.0--"Scrates humano" ou "Scrates tem humanidade", que a interpretao predicativa ou simplesmente intensional da prpria frase; 2.O "Scrates um-homem" que exprime a identidade de Scrates com um dos termos denotados por um homem; 3.O - "Scrates um entre os homens"; 4.O - "Scrates pertence raa humana". S esta ltima exprime a relao de um indivduo com a sua classe e permite considerar a classe como una e no como mltipla; isto , na forma requerida pela possibilidade da relao. Ela constitui a expresso absolutamente extensional daquela proposio e a forma que mais nos aparece na matemtica simblica, se bem que esta no possa, segundo Russell, prescindir dos conceitos-classe e da inteno (Principles, 79). No campo do clculo das classes ainda introduzido o conceito de funo proposicional, que se obtm substituindo Scrates por x na proposio "Scrates um homem". A proposio "x um homem" ser uma funo proposicional verdadeira para alguns valores da varivel (para aqueles que substituem x por Scrates, Plato ou qualquer outro homem) e falsa para outros. Os valores que a tornam verdadeira introduzem o conceito de tal que. Assim: Scrates tal que, substituindo x na funo "x um 245 homem", a torna verdadeira. O silogismo interpretado por Russell em termos de classes e de incluses nas classes: se a est contido em b e se b est contido em c, ento a est contido em c. Introduz ainda o conceito de classe vazia, que pode ser definida de vrias formas: como uma classe que no existe, isto , que no tem nenhum termo; como uma classe tal que a funo proposicional "x um N" falsa para todos os valores de x; como a classe dos x tal que nenhum dos seus valores -satisfaa qualquer funo proposicional. Nestas duas partes da lgica Russell baseava-se na obra de Peano e na lgica clssica. Na lgica das relaes ele refere-se particularmente obra de Peirce ( 750). "Uma anlise adequada do raciocnio matemtico, afirma Russel, demonstra que os tipos de relao constituem precisamente o seu objecto de estudo, se bem que uma terminologia imprpria possa esconder este facto, por isso que a lgica das relaes se refere mais imediatamente matemtica do que a lgica das classes ou a das proposies, sendo apenas ela que permite uma expresso teoricamente correcta e adequada das verdades matemticas" (Ib., 27). A lgica das relaes estabelece a diferena fundamental entre a velha e a nova lgica: a velha considerava uma nica forma de proposio, aquela que resulta da existncia de um sujeito e de um predicado (por exemplo: "esta coisa redonda ou
vermelha", etc.) e que se baseia no pressuposto metafsico de que no existem seno as coisas e as suas qualidades; a nova lgica toma como objecto as proposies que exprimem uma relao (por exemplo: 246 a maior do que b, ou ento: a irmo de b) e nega que as relaes possam ser reduzidas s qualidades das coisas. Com efeito, a classificao fundamental das relaes estabelecida por Russell, torna impossvel esta identificao. Uma relao pode ser simtrica ou assimtrica, transitiva ou intransitiva. simtrica se, sendo definida entre a e b, tambm o entre b e a; assimtrica no caso contrrio. A relao de fraternidade, por exemplo, simtrica: se a irmo ou irm de b, b irmo ou irm de a. Pelo contrrio, as relaes expressas pelas palavras marido, pai, av, etc., so assimtricas, sendo-o igualmente todas as relaes expressas pelas palavras: frente de, maior, acima de, etc. Uma relao transitiva sempre que, existindo entre a e b e entre b e c, exista tambm entre a e c; no transitiva quando, nas mesmas condies, no existir entre a e c. So transitivas as relaes de primeiro, depois, maior acima de, e ainda as relaes simtrica,-, de igualdade, identidade, etc. So intransitivas aquelas que so expressas pelas palavras: pai de, maior do que unia polegada de, um ano depois de, etc. Ora se as relaes simtricas, transitivas ou intransitivas, podem exprimir a existncia de qualidades comuns ou diferentes, as relaes assimtricas tais como primeiro, depois, maior, mais pequeno, etc., no exprimem a existncia de qualquer qualidade e no so portanto redutveis a qualidades das coisas. A existncia de tais relaes torna impossvel o pressuposto da velha lgica (e da velha metafsica) segundo o qual apenas existem as coisas e as suas qualidades. Um proposio que exprima que uma coisa tem 247 uma certa qualidade ou que certas coisas existem numa determinada relao, unia proposio atmica, isto , a forma mais simples de proposio. Afirmar ou negar uma proposio atmica (por ex., "isto vermelho", " isto precede aquilo") s pode fazer-se partindo da experincia, pois as proposies atmicas no podem ser deduzidas de outras proposies. A lgica pura, por outro lado, independente dos factos expressos pelas proposies atmicas (factos atmicos); deste modo, a lgica pura e os factos atmicos so dois plos opostos entre os quais existe uma regio intermdia onde se situa aquilo a que Russell chama proposies moleculares do tipo "se chover, levarei o chapu-de-chuva", que incluem o contedo dos factos atmicos (a chuva e o levar o chapu-de-chuva) mas que incluem ainda uma relao entre estes factos, que j no pode ser reduzida a um facto atmico, Existem tambm proposies gerais que no podem ser reduzidas a factos atmicos; por exemplo, a proposio "Todos os homens ,so mortais" nunca ser suficientemente justificada partindo da observao e dos factos atmicos. Na lgica, a frmula das
proposies gerais a seguinte: "Se Scrates um homem e se todos os homens so mortais, Scrates mortal", isto , "Se uma coisa possui uma dada propriedade e se tudo aquilo que possui essa propriedade possui igualmente uma outra propriedade, ento a coisa de que falamos possu essa outra propriedade". A matemtica e a lgica esto de acordo em todos os pontos da teoria geral das relaes. Contar significa estabelecer uma relao de termo a termo 248 entre a srie dos objectos contveis e os nmeros naturais. E o nmero natural, aquele que utilizamos ao contar, no nem um nmero particular nem as vrias coleces de objectos a que so aplicveis os nmeros particulares: antes aquilo que todos os nnieros tm em comum. O nmero 12, por exemplo, no nem os 12 apstolos nem as 12 tribos de Israel, os 12 signos do Zodaco ou qualquer outra coleco ou classe de 12 objectos; ser aquilo que todas estas coleces ou classes tm em comum, podendo assim ser definido como "a classe de todas as classes que lhe so semelhantes", isto , a classe de todas as classes cujos termos tm uma relao de um a um entre si. Todas as classes de 12 objectos so tais que qualquer membro de uma delas corresponde a um e um s membro de qualquer outra classe (e nisto que consiste precisamente a relao de semelhana), dado que a classe de todas estas classes o nmero 12. Se definirmos assim o nmero particular, o nmero em geral ser apenas o conjunto constitudo pelo nmero dos seus membros ou, como Russell diz, "nmero aquela entidade que o nmero de Lima dada classe". Ento, utilizando o princpio da induo matemtica que fora admitido por Peano e que o prprio Russell transformou em definio ("Toda a propriedade de que gozem o zero e o sucessor de um nmero que tenha essa propriedade, pertence a to-dos os nmeros naturais), possvel transformar em enunciados lgicos as afirmaes de toda a teoria dos nmeros reais e, assim, reduzir completamente a matemtica lgica (dentro dos limites em que a matemtica pode ser deduzida da teoria dos nme249 ros reais). Russell chama indutivos aos nmeros naturais, indicando assim que a sua definio obriga ao uso da induo matemtica; mas considera que existem nmeros no indutivos aos quais no se aplicam todas as propriedades induzidas: os nmeros infinitos. Estes nmeros so definidos por Russell, no mesmo sentido de Cantor e de Dedekind, como uma classe "reflexiva", isto , semelhante a uma sua parte (entendendo-se aqui semelhana como correspondncia termo a termo) (Cfr. 794). Mas at no uso do processo reflexivo Russell encontrou aquelas antinomias cujo reconhecimento e cujas tentativas de soluo conduziram a uma importante viragem no s na sua obra como ainda em toda a lgica contempornea.
801. RUSSELL: AS ANTINOMIAS Numa adenda (datada de Outubro de 1902) ao segundo volume dos seus Grundgesetze der Arithmetik (1903), Frege referia-se a uma carta de Russell em que este lhe comunicava a descoberta de uma contradio na teoria das classes. E o prprio Russell, nos Principles, publicados nesse mesmo ano, exprimia assim a contradio: "Um conceito-classe pode ser ou no um termo da prpria extenso [p. ex., a classe dos conceitos, sendo tambm um conceito, um termo da sua prpria extenso; a classe dos homens, no sendo um homem, no um termo da sua prpria extenso]. A expresso, conceito-classe que no um termo da sua prpria extenso, claramente um conceito-classe. Mas se ela um termo da sua 250 extenso, ser um conceito-classe que no um termo da sua prpria extenso e viceversa" (Principles, 101). Por outras palavras: a classe de todas as classes que no se contm a si prprias como elementos (chamemos-lhe K) ou no um elemento de si mesma? Se K est contido em si mesmo, conter uma classe que se contm a si prpria como elemento e, portanto, no ser "a classe das classes que no se contm a si mesmas como elementos". Se K no est contido em si mesmo, entra assim na coleco das classes que no se contm a si prprias como elementos e dever portanto estar contido em si mesmo. Em qualquer dos casos, obtm-se uma contradio. Esta contradio parecia pr em crise toda a teoria das classes. Mas no continuou sozinha; outros paradoxos ou antinomias foram assinalados ou recordados, tais como o antiqussimo paradoxo do mentiroso ou de Epimnides que j tinha sido discutido pela lgica antiga e medieval. Num artigo publicado em 1908 (A lgica matemtica baseada na teoria dos tipos, agora em Logic and Knowledge, pgs. 59-102) Russell, recordando estas antinomias, assinalava que todas elas tm em comum a auto-referncia w reflexividade, isto , todas elas partem do seguinte princpio: se considerarmos uma totalidade, por exemplo, a totalidade dos x, essa totalidade est includa entre os x e , ela prpria, um x. Logo, poderemos evitar as antinomias assumindo como regra que nenhuma totalidade possa ser considerada como elemento dessa mesma totalidade; mas este princpio puramente negativo e no nos fornece nenhuma indicao sobre 251
a forma como os paradoxos possam ser resolvidos. Para responder a este problema Russell elaborou a chamada teoria dos tipos, exposta no apndice aos Princpios da matemtica. Segundo esta teoria, devemos considerar vrios tipos de conceitos: os de tipo zero, isto , os conceitos individuais tais como os nomes prprios; os do tipo um, que so propriedades dos indivduos (por ex., branco, vermelho, grande, etc.); os do tipo dois, que so as propriedades das propriedades, e assim por diante. Ento, a regra para evitar a antinomia ser a seguinte: um conceito no pode ser predicado numa proposio cujo sujeito seja de tipo igual ou superior ao conceito dado.
Em seguida, Russell insere nesta teoria dos tipos urna teoria dos graus, dando lugar chamada teoria ramificada dos tipos, que vem exposta no artigo publicado em 1908 e, de uma forma mais ampla, nos Principia Mathematica (1, Intr., cap. 11); e formulou um axioma de redutibilidade que afirma a existncia, para toda a funo proposicional de qualquer nvel, de uma outra funo proposicional, formalmente equivalente, de primeiro nvel. Mas este princpio, introduzido por Russell para tornar possveis certas generalizaes matemticas, parecia reintroduzir a possibilidade de afirmaes antinmicas resultantes da combinao de tipos diferentes de termos; e o prprio Russell aconselhou o seu abandono na introduo segunda edio dos Principia Mathematica (1925). Por outro lado, a teoria ramificada dos tipos introduzia no conjunto da teoria lgica uma complexidade que muitos lgicos e matemticos consideraram intil. 252 Depois de Russell, o problema das antinomias tornou-se um dos pontos-chave da lgica contempornea. Por proposta de Rarasey (Foundations of Mathematics, 1931), distinguem-se hoje as antinomias lgicas (num sentido restrito), exemplificadas pela antinomia de Russell e que no se referem verdade ou falsidade das expresses, e as antinomias sintcticas, exemplificadas pela antinomia do mentiroso e que nascem duma referncia semntica, sendo por isso chamadas semnticas ou epistemolgicas. Para as antinomias lgicas, Rarasey notou que bastava considerar a teoria simples dos tipos, cuja regra foi for- mulada por Carnap do seguinte modo: "Um predicado pertence sempre a um tipo diferente do dos seus argumentos (isto , pertence a um nvel mais elevado)" (The Logical Syntax of Language, 60 a). Esta regra basta para evitar que uma classe (que tambm um predicado) possa ser predicado de si mesma, e evita assim a antinomia das classes. Por outro lado, no caso das antinomias sintcticas, a distino dos nveis da linguagem, estabelecida por Tarski ( 820), permite-nos considerar que a mesma proposio possa ser verdadeira a um dado nvel e falsa a outro. Assim, a frase "eu minto" pode ser verdadeira ao nvel daquilo que Tarski chamava a linguagem objecto, e falsa se for auto-reflexiva, isto , se for compreendida como referindo-se a si prpria. Esta soluo, que faz uso do teorema de Gdel ( 794), defendida por Carnap (Logical Syntax of Language, 60 b) e por Quine (Mathema253 tical Logic, 1940, cap. VII; From a Logical Point of View, VII, 3). 802. RUSSELL: TEORIA DA LINGUAGEM Como se disse, a lgica de Russell tem uma filiao realista. Mas ao longo da sua vida, o prprio autor atenuou e negou parcialmente o seu realismo. Os Princpios de Matemtica (1903) e os Principia Mathematica (1910) revelam j notveis diferenas sob este aspecto. Na primeira obra, as classes so realidades objectivas, to reais como os "indivduos" que os compem; na segunda obra, so considerados como "convenes simblicas ou lingusticas, no autnticos objectos" (Principia Mathematica, 1, p. 72). Na primeira, dizia ainda que "termo qualquer entidade que possa ser objecto do pensamento e que possa encontrar-se numa proposio verdadeira ou falsa" e que "todo o termo tem uma existncia, isto , existe de qualquer modo" (Principles,
47). Na segunda, admite que todos os vocbulos contribuem para o significado da frase em que se encontram, mas que nem sempre tm um significado. Esta atenuao do realismo acompanhada por uma crescente preocupao pela importncia da linguagem e da natureza lingustica de muitos termos ou construes lgicas; mas a prpria teoria da linguagem de Russell de natureza realista. A obra sobre a denotao, publicada em 1905, e cujos resultados foram depois includos nos Principia mathematica, e a Filosofia do atomismo lgico, de 254 1908, contm a teoria da linguagem de Russell, na qual se baseia ainda a Indagao sobre o significado e a verdade. Os pontos mais importantes desta teoria podem indicar-se do seguinte modo: 1.o A linguagem constituda por proposies. 2.O Os constituintes das proposies, isto , os smbolos, significam os constituintes dos factos que tornam as proposies verdadeiras ou falsas; ou, por outras palavras, correspondem a esses constituintes. 3.O preciso ter um conhecimento directo (acquaintance) dos constituintes dos factos para poder compreender o significado dos smbolos. 4.O O conhecimento directo difere de indivduo para indivduo (Logic and Knowledge, pgs. 195-96). Uma linguagem logicamente perfeita basear-se-ia nos trs primeiros pontos. Nela "apenas existiria uma palavra para qualquer objecto simples, e qualquer coisa que no fosse simples exprimir-se-ia por uma combinao de palavras, sendo cada uma delas um componente simples. Uma linguagem deste gnero seria completamente analtica e mostraria claramente a estrutura lgica dos factos afirmados ou nega-dos" (Ib., pgs. 178-98). Segundo Russell, a linguagem dos Principia Mathematica tenta ser uma linguagem deste tipo. Nela existe apenas sintaxe e nenhum vocabulrio; juntando-lhe o vocabulrio, tornar-se-ia uma linguagem logicamente perfeita. O quarto ponto torna irrealizvel este ideal. Na medida em que diferentes pessoas tm conhecimento directo de objectos diferentes, se cada palavra no tivesse apenas um significado, aquele que corresponde ao objecto que existe na experincia directa da pessoa 255 que fala, esta nunca poderia comunicar com os outros. Paradoxalmente, segundo Russell, a linguagem s pode exercer a sua funo de comunicao sendo imperfeita e ambgua; dirse-ia que serve tanto melhor para a comunicao quanto mais imperfeita, vaga e ambgua. Deste ponto de vista, a existncia dos objectos que so os componentes dos factos e que constituem os significados dos smbolos, indispensvel para a linguagem. Mas nas proposies da linguagem existem no s nomes, que so smbolos de objectos particulares, mas tambm verbos, que exprimem relaes entre tais objectos; e as relaes no so objectos perceptveis particulares, mas sim universais. Russell assim levado a
admitir a existncia dos universais. "Parece, afirma no Inquiry imo Meaning and Truth, que no possvel deixar de admitir que as relaes fazem parte da constituio no lingustica do mundo; a semelhana, e talvez ainda as relaes assimtricas, no podem ser consideradas, do mesmo modo que o "ou" e o "no", como pertencendo apenas linguagem. Palavras como "primeiro" e "sobre", tal como os nomes prprios, significam qualquer coisa que pertence aos objectos da percepo" (efr. ainda Reply to Criticism, in The Phil. of B. R., p. 688). O conceito de existncia assim generalizado, na filosofia de Russell, at compreender no s as coisas fsicas, existentes no espao e no tempo, como ainda as coisas a que ele chama intemporais; mas sobre aquilo que se deve entender por existncia, neste seu sentido mais generalizado, as determinaes de Russell so incertas e equvocas. Uma 256 nica determinao clara: a negativa, que exclui que a existncia seja possibilidade. Russell chama possvel funo proposicional que s algumas vezes verdadeira, como por exemplo, "x -- um homem"; chama necessria quela que sempre verdadeira ("se x um homem, x mortal"), e chama impossvel que nunca verdadeira ("x um unicrnio"). Acrescenta, no entanto, que as proposies possveis o so apenas porque existem casos em que so verdadeiras, isto , em que correspondem aos factos, j que a existncia o pressuposto da possibilidade (Logic and Knowledge, pgs. 230, 254). Por outro lado, Russell admite que se possa falar de objectos no existentes e de objectos de que no se tem uma conscincia directa; ambos os casos esto em contradio com as condies que ele atribuiu estrutura da linguagem. Para resolver este problema, elaborou a teoria da denotao (exposta pela primeira vez num artigo de 1905, On Denoting, agora em Logic and Knowledge). De acordo com esta teoria, existem frases que no dizem verdadeiramente nada sobre os objectos existentes mas que dizem alguma coisa sobre os smbolos existentes na prpria frase. Por exemplo, a frase "0 autor de Waverley escocs" nada nos diz sobre Scott (porque no contm nenhum constituinte que denote Scott), mas deve ser interpretada como se dissesse: "Existe apenas uma entidade que escreve Waverley, e tal entidade escocesa". Uma tal traduo da frase denotante -torna possvel falar at de coisas no existentes. Assim, a frase "0 actual rei de Frana calvo" deve ser traduzida do seguinte modo: "Existe uma enti257 dade que actualmente rei de Frana e essa entidade calva". Esta frase evidentemente falsa, mas tem um significado que pode ser expresso e compreendido. Este ponto de ^vista elimina a necessidade de admitir, como pretendia Meinong, a existncia de objectos ou entidades correspondentes a todos os smbolos usados na linguagem. Mesmo as proposies idnticas que contenham objectos impossveis, so falsas deste ponto de vista; assim, "0 quadrado redondo redondo", que significa "Existe uma nica entidade que quadrada e redonda e esta entidade redonda" uma proposio falsa, e no verdadeira como queria Meinong (Logic and Knowledge, p. 54). A teoria da denotao pretende tornar intil o uso da inteno ou conotao na anlise das proposies. Frege admitia a possibilidade de um
mesmo objecto poder ser conotado de diversos sentidos; por exemplo, Scott poderia ser conotado pelo nome "Scott" ou por " autor de Waverley". Russell no admite que o sentido ou conotao possa seguir uma regra diferente da que rege o significado: se o objecto significado uno, os seus sentidos ou conotaes devem poder ser substitudos uns pelos outros. No ser o mesmo dizer "Quem era o autor de Waverley?" ou "Quem era Scott?"? A teoria da denotao permite identificar os sentidos quando o significado nico, e isto porque permite dizer que "um e um s homem escreveu Waverley, e esse homem foi Scott". No entanto, esta eliminao do uso da conotao, isto , do sentido (Sinn) segundo Frege, na qual se baseia a doutrina da denotao, no aceite pelos lgicos contemporneos. 258 803. RUSSELL: A TEORIA DO CONHECIMENTO Quando em 1943 Russell escreveu, para o volume dos "Living Philosophers" que lhe era dedicado, um esquema do seu "desenvolvimento mental", ao declarar-se insatisfeito com todas as suas obras publicadas exceptuando as de lgica matemtica, disse: "A teoria do conhecimento, a que dediquei muita ateno, tem uma certa subjectividade essencial: obriga-nos a pensar "Como conheo eu aquilo que conheo?", e assume inevitavelmente como ponto de partida a experincia pessoal. Os seus dados so egocntricos, assim como os primeiros estdios da sua argumentao" (The Phil. of B. R., p. 16). E a obra em que os problemas do conhecimento so tratados de uma forma mais completa e madura, O conhecimento humano, o seu mbito e os seus limites (1948), tem uma introduo que se inicia com as seguintes palavras: "A tarefa principal deste livro consiste em examinar a relao entre a experincia individual e o corpo geral do conhecimento cientfico". Russell nunca duvidou de que o ponto de partida do conhecimento seja a experincia individual, o domnio privado ou "egocntrico" dos dados imediatos; mas tambm nunca admitiu que o conhecimento pudesse ser reduzido a esse domnio, antes afirmando que ele compreende um outro campo que s pode ser alcanado da inferncia e que s pode ser reconhecido e expresso de uma forma completamente diferente do primeiro; e isto porque os seus elementos no so iguais aos que constituem o domnio privado. Enquanto ponto de 259 partida de todo o conhecimento, a experincia no pode ser, segundo Russell, um mtodo de verificao. neste ponto que se baseia a crtica de Russell ao neo-empirismo (cfr. captulo XIII). Quando os neo-empiristas afirmam que "o significado de uma proposio o mtodo da sua verificao", descuram as proposies mais correctas, isto , os juzos de percepo: para estes no existe nenhum mtodo de verificao porque "constituem a verificao de todas as outras proposies empricas que podem ser conhecidas de qualquer modo" (An Inquiry imo Meaning and Truth, p. 387). Por outro lado, os neoempiristas no tomam em conta o facto de todas as palavras necessrias terem definies ostensivas (que so aquelas que ensinam a compreender uma palavra sem usar
outras palavras, isto , fazendo referncia ao dado imediato a que a palavra se refere) e de um enunciado poder ser compreendido se for composto por palavras que ns compreendemos, mesmo que no tenhamos uma experincia que corresponda ao significado total do prprio enunciado (Ib., p. 386). Esta crtica confirma o facto de a experincia no ser para Russell um mtodo de verificao dos enunciados mas antes o ponto de partida de que nasce o conhecimento e a linguagem. Mas enquanto ponto de partida, a experincia imediata e privada. Os Problemas da filosofia (1912) j continham uma exposio completa e ordenada daquilo que Russell pretende dizer com estes termos. A experincia a esfera do conhecimento directo (acquaintance), de cujos objectos "ternos uma conscincia directa, sem necessitarmos de nenhum processo intermdio de in260 ferncia ou de qualquer conhecimento da verdade". Os objectos do conhecimento directo no so as coisas mas sim os dados sensveis, por um lado, os dados da introspeco (isto , da reflexo no sentido dado por Locke) por outro lado, e ainda aqueles que nos so fornecidos pela memria. ainda provvel, segundo Russell, que tenhamos um conhecimento directo de ns mesmos, isto , do nosso eu, j que no podemos conceber a verdade da proposio "Eu tenho conhecimento imediato dos dados sensveis" se no tivermos um conhecimento imediato de qualquer coisa a que chamamos "eu". Russell admite ainda que haja um conhecimento imediato de universais (isto , das relaes que entram como componentes essenciais em qualquer enunciado), e que tal conhecimento seja o conceito. Mas para alm do conhecimento imediato, existe aquilo que Russell chama conhecimento por descrio, constitudo pelo conhecimento das verdades; neste caso, aquilo que conhecemos precisamente uma descrio, e sabemos ainda que s existe um objecto a que se aplica essa descrio mesmo que no o conheamos directamente. A mesa que est minha frente, por exemplo, "o objecto fsico que causa este ou aquele dado sensvel": esta frase descreve a mesa por meio dos dados sensveis. Quer se trate de objectos fsicos ou do esprito de outra pessoa, o nosso conhecimento nunca directo, antes um conhecimento por descrio. Mas o conhecimento por descrio sempre redutvel de qualquer forma ao conhecimento directo. nisto que se baseia o princpio que regula a anlise das proposies: "Toda 261 a proposio que ns possamos compreender deve ser composta inteiramente por constituintes de que ns tenhamos um conhecimento imediato". E vimos que este princpio a base da lgica e da teoria do conhecimento de Russell. Como consequncia do privilgio que Russell atribui experincia imediata e pessoal, o solipsismo foi sempre uma tentao para este autor; mas foi uma tentao qual ele nunca cedeu. Russell reconheceu a coerncia e a fora de solipsismo rigoroso que se
recusa a fugir aos dados imediatos do momento; mas tambm afirmou sempre que, se admitirmos como boa a inferncia sobre o esprito das outras pessoas a partir de tais dados, teremos que considerar boa a inferncia acerca das coisas que parte desses mesmos dados; donde se conclui que o solipsismo atenuado (ou o idealismo no sentido de Berkeley) no defensvel (Human Knowledge, p. 196). No entanto, a inferncia de coisas fsicas ou do esprito das outras pessoas a partir do dado imediato considerada por Russell bastante difcil, na medida em que reconhece o carcter privado ou pessoal do prprio dado. "Se o dado da minha percepo sempre privado, porque que eu o considero como um signo por meio do qual posso inferir uma coisa fsica?". Russell responde a esta pergunta admitindo, com uma certa incongruncia, o carcter "quase pblico" de muitas sensaes, o que justifica, por exemplo, que "dois homens vizinhos, que no tm exactamente os mesmos dados visveis, tenham dados semelhantes" (Ib., p. 242); mas bvio que esta semelhana no um dado mas sim uma inferncia 262 porque os dados que pertencem a pessoas diferentes no Podem ser postos directamente em confronto - e no pode assim ser considerada como justificao da inferncia. E na realidade as tentativas feitas repetidamente por Russell e apresentadas nos seus vrios escritos, tendentes a determinar e a justificar as modalidades da inferncia que parte destes dados para a realidade fsica ou psquica a que se refere o senso comum e a cincia, fazem parte dos aspectos mais dbeis da sua obra. So, mais do que verdadeiras inferncias, tentativas de reduo dos conceitos da cincia a dados psquicos pressupostos, isto , a dados que pela imediatez que lhes atribuda ex hypothesi so assumidos como definitivos e indiscutveis. Acontece ainda que estas tentativas de reduo concluem muitas vezes pela negativa, tal como acontece com os conceitos da relatividade. "Dado que no existem dois seres humanos que tenham uma velocidade relativa prxima da da luz, a comparao das suas experincias nunca revelar as discrepncias que resultariam do facto de os seus veculos se moverem mesma velocidade das partculas beta. No estudo psicolgico do espao e do tempo, a teoria da relatividade pode ser ignorada" (Ib., p. 309). Por outro lado, a noo de inferncia que usada pelo senso comum e pela cincia ilustrada por Russell num sentido mais de acordo com a lgica oitocentista do que com a moderna. O princpio da inferncia seria constitudo pelo seguinte postulado: "Quando um grupo de acontecimentos complexos, mais ou menos vizinhos e ordenados relativamente a um acontecimento central, tem uma estrutura comum, pro263 vvel que tenha um antecedente causal comum" (Ib., p. 483). Este princpio garantiria ainda, de acordo com Russell, a identidade de estruturas existente nas experincias sensveis e nas suas causas fsicas; mas na realidade isto no mais do que uma retomada do velho postulado da uniformidade da natureza admitido por Suart Mill ( 640), que j no aceite pelos lgicos contemporneos ( 816). 804. RUSSELL: A TICA
Como todas as outras partes da filosofia de Russell, a tica tem o seu ponto de partida na experincia imediata e privada dos indivduos. Esta experincia, no campo da tica, resume-se ao desejo. Quando um indivduo diz "Isto bom", dir-se-ia que est a fazer uma afirmao do tipo "Isto um quadrado" ou "Isto, doce". Mas na realidade aquilo que esse indivduo pretende dizer o seguinte: "Desejo que todos desejem isto". Os enunciados da tica no so proposies ou asseres cuja verdade ou falsidade possam ser provadas, mas sim meras expresses de desejo. "A tica, diz Russell, no contm asseres verdadeiras ou falsas, mas afirmaes que traduzem desejos de um certo tipo geral, a saber, daquele que se refere aos desejos da humanidade em geral e dos deuses, anjos ou diabos, se existirem. A cincia pode discutir a causa dos desejos e os meios para actuar sobre eles mas no pode conter nenhum juzo genuinamente tico, dado que se refere quilo que verdadeiro ou falso" (Religion and 264 Science, cap. lX; trad. ital., p. 199). No entanto, se no seu ponto de partida o juzo tico pessoal e privado, no seu objecto ele universal dado que aquilo que desejado universal. Por outras palavras, deseja-se, em tica, que o desejo prprio seja o desejo de todos (Ib., p. 198; Power: A New Social Analisys, p. 247). A universalidade, que depois de Karit tem sido considerada como sendo a caracterstica fundamental das normas morais, referida por Russell aos desejos, mas no como critrio de valorao dos prprios desejos; apenas como exigncia, carcter que de facto possuem os desejos a que chamamos "morais". Deste ponto de vista, as regras morais servem apenas para realizar os fins que desejamos atingir. Mas esses fins no so aqueles que "devemos desejar", dado que aquilo que devemos desejar apenas aquilo que qualquer outra pessoa deseja que ns desejemos (What 1 Believe, p. 29). Apesar do carcter dspar e contraditrio dos desejos humanos, a tentativa de os disciplinar e de os coordenar a fim de atingir a mxima satisfao possvel no pode ser omitida. As regras de que se servem os vrios tipos de sociedades para atingir este fim constituem uma curiosa mistura de utilitarismo e de superstio, e como tal sacrificam normalmente o homem, os seus interesses, os seus instintos, a tabs de todo o gnero dos quais muitas vezes a nica salvao a hipocrisia. Russell entende que a moral deve procurar apenas alterar os desejos dos homens de modo a diminuir o nmero de ocasies de conflito, tornando possvel a realizao dos respectivos desejos. "0 amor guiado 265
pelo, conhecimento" aquilo que ele acha poder servir para este fim, segundo o que escreve no livro Aquilo em que creio (1925); outras vezes, exprime o mesmo
ideal como "conquista. da felicidade" (The Conquest of Happiness, 1930). De qualquer modo, no se trata de destruir as paixes mas sim de reforar algumas delas em prejuzo daquelas que do origem infelicidade, ao desequilbrio, ao dio e dor. "No amor apaixonado, no afecto pelos filhos, na amizade, na benevolncia, na devoo cincia ou arte, no h nada que a razo deseje diminuir. O homem racional, quando sente uma ou todas estas emoes, ficar contente por as sentir e nada far para diminuir a sua intensidade dado que elas fazem parte de uma vida bem vivida, isto , de uma vida que favorece a nossa felicidade e a dos outros". Como se v, Russell muitas vezes incoerente, relativamente s suas premissas tericas, ao determinar a tarefa da tica. bvio que uma disciplina racional dos desejos que tenha por fim reforar alguns e abolir outros no tem nada que ver com os prprios desejos; e o fim que esta disciplina tenderia a realizar, a coexistncia dos desejos ou a conquista da felicidade, no por sua vez um desejo privado mas sim uma condio de realizabilidade dos prprios desejos, A disciplina dos desejos que Russell prope no tem nenhum carcter religioso ou transcendente. No existem valores absolutos, no se pode falar de "culpa" ou de "pecado". Russell limita-se a mostrar complacentemente os conflitos entre a religio e a cincia, conflitos que para ele significam a falsidade da religio; a ilustrar os aspectos mais supersticiosos 266 e incoerentes das doutrinas morais e religiosas tradicionais; a notar os desequilbrios que estas introduzem no homem com todas as suas inibies e tabs, e a misria da sua hipocrisia. Um esprito iluminista e voltaireano domina esta parte da sua obra que se exprimiu em ensaios vivos e populares que algumas vezes se tomaram escandalosos (e que por isso ele chamava muitas vezes de impopulares) mas que contriburam grandemente, e ainda contribuem, para a formao de uma conscincia moral mais aberta e sobretudo livre de dogmatismos. A luta' contra o dogmatismo e contra a sua consequncia directa, a opresso da liberdade, resume toda a actividade a que Russell se dedicou nos ltimos decnios. Este autor nunca esqueceu o risco de dogmatismo que se esconde na cincia ou, pelo menos, em certos usos possveis das cincias. Nos seus livros Panorama cientfico, Religio e cincia, O impulso da cincia sobre a sociedade e em outros, Russell estudou os perigos de uma sociedade organizada cientificamente. "A nova tica, que se est a desenvolver ao mesmo tempo que a tcnica cientfica, deve preocupar-se com a sociedade e no com o indivduo. A nova tica no permitir a existncia da superstio do pecado e do castigo, mas tender a fazer sofrer os indivduos a fim de salvar o bem pblico, e isto sem se sentir obrigada a provar que esse sofrimento seja merecido". Este desenvolvimento processar-se- espontaneamente, mesmo que seja considerado imoral pelas tendncias e teorias tradicionais. No entanto, uma sociedade cientfica assim organizada incompatvel com a procura da verdade, com o amor, a 267
rte, o prazer espontneo e todos os ideais que o homem preferiu at hoje. A raiz deste perigo no est na cincia mas sim no seu uso como instrumento do poder. O esprito cientfico cauteloso, procede por tentativas e antidogmtico: nunca julga conhecer toda a verdade nem mesmo que o seu melhor conhecimento seja inteiramente verdadeiro. Sabe que toda a doutrina ser emendada mais tarde ou mais cedo e que a emenda necessria exige liberdade de investigao e liberdade de discusso. Mas por outro lado a tcnica cientfica parece ter apostado em fazer surgir sonhos de poder e de domnio. "Os tcnicos que utilizam a tcnica cientfica e, mais ainda, os governos e as grandes indstrias que utilizam os tcnicos adquirem uma mentalidade completamente diferente da que caracteriza o homem de cincia, uma mentalidade onde impera a convico de um poder ilimitado, de uma certeza arrogante e de um prazer em manipular o material humano". Considerada deste ponto de vista, a cincia deixa de merecer a admirao ou o respeito. "A esfera dos valores est fora da cincia, salvo no que diz respeito ao facto de a cincia consistir na investigao do saber. A cincia, enquanto investigao do poder, no deve ser um obstculo esfera dos valores, e a tcnica cientfica, se pretende enriquecer a vida humana, no deve superar os fins que deveria servir". Em concluso, "os novos poderes que a cincia deu ao homem s podem ser manejados com segurana por aqueles que, devido ao estudo da histria ou experincia da sua vida, adquiriram um certo respeito pelos sentimentos humanos e ternura pelas paixes que do 268 cor existncia dos homens e das mulheres". No entanto, Russell no duvida de que a cincia possa oferecer, na situao presente da humanidade, a possibilidade de um bemestar que a humanidade nunca conheceu. E isto porque ela permite resolver trs problemas: o da abolio da guerra, o de uma igual distribuio das capacidades fsicas e o da limitao do desenvolvimento das populaes. Os obstculos realizao destas condies no so fsicos ou tcnicos; antes relevam nas piores paixes dos homens: a suspeita, o medo, a volpia da fora, o dio e a intolerncia. Da vitria ou do desaparecimento destas paixes depender o futuro do mundo, o ser melhor ou pior do que aquele que conhecemos. NOTA BIBLIOGRFICA 798. Bibliografia completa dos escritos de Russell publicados at 1945 in The philosophy of B. R., ed. by P. A. Schilpp, Evanston, 111, 1946, pgs. 746-91; at 1951, in "Rivista critica di storia della filosofia", 1953, pgs. 308-26. Principais tradues italianas: I problemi della filosofia, Milo, 1922; Lleducazione dei nostri figli, Bari, 1934; Panorama Scientifico, Bari, 1934; Socialismo, anarchis,mo, sindicalismo, Milo, 1946; Introduzione alla filosofia matematica, Milo, 1947; La conquista deZIa felicit,
Milo, 1947; Storia della filosofia occidentale, Milo, 1948; Autorit e individuo, Milo, 1949; Matrimonio e morale, Milo, 1949; Storia delle idec nel secolo XIX, Turim, 1950; La conoscenza umana, le sue possibilit e i suoi Zimiti, Milo, 1951; 1 principi della matematica, Milo, 1951; Religione e scienza, Florena, 1951; Lleducazione e Vordinamento sociale, Florena, 269 1951; Nuove speranze in un mondo che cambia, Milo, 1952; ~pu-lso della scienza sulta societ, Milo, 1952; Analisi della mente, Florena, 1955; Saggi mpopolari, Florena, 1963. Bibliografia dos escritos sobre Russeli, at 1951, in "Rivista. critica di storia della filosofia", 1953, pgs. 330-35, ao cuidado de M. E. Reina. 799. Sobre a lgica: JORGENSEN, A Treatise of Formal Logic, Copenhague-Londres, 1931, 1, pgs. 145 e segs. III, pgs. 161 e segs.; A. DARBON, La phiZosophie des mathmatiques, Paris, 1949; K. GDEL, ni The Phil. of B. R., cit, pgs. 123-53; G. PRETi, In. "Rivista critica di storia della filosofia", 1953, pgs. 139-74. 802. Sobre a teoria da linguageni: M. BLACK, in The Phil. of B. R., cit., pgs. 227-55, agora em Language and Philosophy, 1952, cap. V, trad. ital., pgs. 139-76; P. F. STRAWSON, in "Mind", 1950, pgs. 320-44. 803. Sobre a teoria do conhecimento: A. EINSTEIN, in The Phil. of B. R., cit. pgs. 27891. 804. Sobre a tica: I. BUCHLER, E. S. BRIGHTMAN, E. C. LINDEMAN, I. I. MCGILL, in The Phil. of R. R., cit., pgs. 511 e segs. 270 ND1CE VIII - O PRAGMTISMO ... ... ... ... ... 7
749. Pragmatismo e pragmaticismo ... 7 750. Peirce ... ... ... ... ... ... 9 751. James ... ... ... ... ... ... 15 752. Schiller ... ... ... ... ... ... 22 753. Vaihinger ... ... ... ... ... 26 754. De Unamuno ... ... ... ... ... 30 755Ortega y Gasset ... ... ... ... 34 756. Vailati ... ... ... ... ... ... 39 757. Aliotta, ... ... ... ... ... ... 41 758. Mead: a condicionalidade bicontinua ... ... ... ... ... ... 45 759. Mead: sociabilidade do mundo 50 Nota bibliogrfica ... ... ... 55 59 59 761. O conceito de experincia ... ... 61
IX - DEWEY
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
760. A obra de Dewey 271
762. A instabilidade da existncia ... 64 763. A lgica ... ... ... ... ... ... 67 764. A teoria da indagao ... ... ... 69 765. Conscinoia, Esprito, Eu ... ... 74
766. Valores e arte 767. A Filosofia Nota bbliogrUica ... ...
. 1. ... ... ...
79 ... ... 84
... ... ... 82 768. Religiosdade e Religio 86 ... ... 89
... ... ... ...
X -REALISMO E NATURALISMO
769. Caractersticas do realismo ... 89 770. A filosofia da imannci ... ... 91 771. Killpe ... ... ... ... ... ... 93 772. Moore ... ... ... ... ... ... 96 773. Broad ... ... ... ... ... ... 102 774. O novo realismo americano ... 106 775. O realismo crtico americano ... 111 776. Santayana ... ... ... ... ... 116 777. Alexander ... ... ... ... 125 272 778. Whitehead ... ... ... ... ... 130 779. Woodhridge. Randall ... ... ... 138 780. M. R. Cohen ... ... ... ... ... 142 7SI. O materialismo dialctico ... ... 147 782. O neo4omismo ... ... ... ... 155 Nota bibliogrfica ... ... ... ... 160 XI - A FILOSOFIA DAS CINCIAS 783. Filosofia, Metodologia e Crtica ... ... 165
das Cincias ... ... ... ... ... 165 784. Avenarius ... ... ... ... ... 167 785. Mach ... ... ... ... ... ... 170 786. Hertz. Duliem ... ... ... ... 176 787. Energetismo e vitalismo ... ... 178 788. Meyerson ... ... ... ... ... 183 789. O desenvolvimento crtico da geometria ... ... ... ... ... ... 187 790. Podnear ... ... ... ... ... 190 791. O desenvolvimento crtico da fsica. A relatividade ... ... ... 194 273 792. A f"ea dos Quanta ... ... ... 198 793. Espiritualismo e empirismo 206 794. O desenvolvimento critico da matemtica ... ... ... ... ... ... 211 ...
795. Desenvolvimento da lgica ... 217 796. Desenvolvimento da psicologia 221 797. A semitica ... ... ... ... ... 225 Nota bibliogrfica ... ... ... ... 232 XU - RUSSELL ... ... ... ... . .. ... ... 237
798. Vida e Obra ... ... ... ... ... 237 799. A Lgica: caracteristicas ... ... 239 800. A Lgica: divises fundamentais 243 801. As antinomias ... ... ... ... 250 802. Teoria da linguagem ... ... ... 254 803. A teoria do conhecimento ... ... 259 804. A ntica ... ... ... ... ... ... 264 Nota bibliogrfica ... ... ... ... 269 274
Composto e impresso para a EDITORIAL PRESENA na Tipografia Nunes Porto O A
Histria da Filosofia Volume catorze Nicola A bbagnano obra digitalizada por ngelo Miguel Abrantes. Se quiser possuir obras do mesmo tipo ou, por outro lado, tem livros que no se importa de ceder, por favor, contacte-me: ngelo Miguel Abrantes, R. das Aucenas, lote 7, Bairro Mata da Torre, 2785-291, S. Domingos de Rana. telef: 21.4442383. mvel: 91.9852117. Mail: angelo.abrantes@clix.pt Ampa8@hotmail.com. HISTRIA DA FILOSOFIA VOLUME XIV TRADUO DE: CONCEiO JARDIM EDUARDO LOCIO NOGUEIRA NUNO VALA.DAS CAPA DE: J. COMPOSIO E IMPRESSO TIPOGRAFIA NUNES R. D. Joo I V, 590 - Porto EDITORIAL PRESENA . Lishoa 1970 TITULO ORIGINAL STORIA DELLA FILOSOFIA Copyright by NICOLA ABBAGNANO Reservados todos os direitos para a lngua portuguesa EDITORIAL PRESENA, LDA. R. Augusto Gil, 2 e/v.-E. ~ Lisboa xiii O NEO-EMPIRISMO 805. CARACTERISTICAS DO NEO-EMPIRISMO Sob o nome de "neo-empirismo" ou de "empirismo lgico" podem ser reagrupadas todas aquelas filosofias que entendem e praticam a filosofia como anlise da linguagem. Mas por
anlise da linguagem podem compreender-se duas coisas diferentes: 1.o A anlise da linguagem cientfica, isto , da linguagem prpria das cincias parcelares; e neste caso a filosofia reduzida lgica, qual ainda atribuda a tarefa de determinar as condies gerais e formais que tornam possvel uma qualquer linguagem. 2.o A anlise da linguagem comum, isto , das formas de expresso prprias do senso comum e usadas na vida quotidiana; e neste caso a tarefa da filosofia ser a de interpretar estas formas e de investigar o seu significado ou os seus significados autnticos, eliminando os equvocos a que conduz o uso imprprio de tais significados. primeira posio pode dar-se o nome de "positivismo lgico" porque, tal como o positivismo clssico, privilegia a cincia e considera-a como nica forma vlida de conhecimento. segunda pode chamar-se "filosofia analtica", nome que usado pelos seus prprios defensores. Ambas as formas do neo-empirismo consideram que a simplificao da linguagem conduz eliminao dos problemas tradicionais da filosofia e, sobretudo, dos da metafsica que faam uso do vocabulrio e da sintaxe da linguagem cientfica ou comum que estranho a esse vocabulrio e a essa sintaxe. Esses problemas tornam-se assim "privados de sentido" se a linguagem em que vm expressos for reconduzida s suas regras. Reconhec-los como privados de sentido o papel curativo ou teraputico da filosofia, da qual portanto se pode dizer que tem por tarefa a libertao da prpria filosofia. A esfera da linguagem, isto , dos significados ou dos usos lingusticos, tem no neoempirismo, e em certa medida, a funo que a "experincia" tinha no velho empirismo; ou seja, a de constituir o critrio ou norma da investigao filosfica. Mas o mais importante precedente histrico do neo-empirismo a dicotomia instaurada por Hume entre as proposies que se referem s relaes entre as ideias (tais como as proposies matemticas) e as proposies que se referem a factos: as primeiras tm em si mesmas a sua verdade, as segundas s so verdadeiras se estiverem de acordo com a experincia ( 468). Esta dicotomia geralmente admitida pelas correntes neoempiristas, e para elas, tal como para Hume, a base para a eliminao da metafsica, cujas proposies no entram nem numa nem noutra categoria. Mas a verificao emprica supe o recurso a dados imediatos e, portanto, uma teoria da experincia, do mesmo modo que a anlise das proposies matemticas supe a lgica. O neo-empirismo aproveita de Mach a teoria da experiencia, e de Russell os princpios fundamentais da sua indagao lgica. Simultneamente, utiliza todo o rico patrimnio de investigaes metodolgicas provocadas pela tendncia crtica prevalecente nas matemticas, na fsica e nas outras cincias nos ltimos decnios; e participa no enriquecimento dessa tendncia com contributos de importncia fundamental. 806. ESCOLAS NEO-EMPIRISTAS O neo-empirismo foi primeiro uma tendncia seguida pelo chamado "Crculo de Viena", isto , por aquele conjunto de estudiosos de vrias provenincias que se juntou, a partir de 1923, volta de Moritz Schlick. O Tractatus, de Wittgenstein. (o qual, no entanto, s ocasionalmente se encontrava com alguns membros do Crculo), publicado pela primeira
vez nos "Annalen der Naturphilosophie" de 1921, e a obra de Carnap, que fora chamado para a Universidade de Viena em 1926, forneceram as principais bases das discusses do Crculo, nas quais tomaram parte, entre outros, H. Haim, F. Waisman, H. FeigI, Otto Neurath, Philip Frank, K. Gdel, G. Bergmann, K. Popper e H. Kelsen. Ao Crculo de Viena ligou-se o grupo de Berlim, que se constituiu em 1928 com o nome de "Gesellschaft f r emprische Philosophie" volta de Hans Reichenbach, e que inclui entre outros K. Lewin, W. KhIer e C. G. Hempel. A colaborao entre os dois grupos estabeleceu-se sobretudo na revista "Erkenntnis" que se publicou de 1930 a 1938 e que foi dirigida por Carnap e Reichenbach, Na Polnia, surgiu um movimento anlogo por influncia de Casimir Twardowsky, que fora aluno de Bolzano na Universidade de Viena e que renovou na Polnia a tradio dos estudos lgicos, mais tarde retomada por T. Kotarbinski, Jan. Lukasiewiez, Alfred Tarsky e muitos outros. Depois da vitria do nazismo na Alemanha e na ustria, muitos representantes do neoempirismo retiraram-se para os Estados Unidos da Amrica, tendo a encontrado um ambiente receptivo sobretudo entre os pensadores da corrente pragmatista que se inspiravam em Peirce e Dewey. Foi assim possvel retomar a ideia, expressa em 1929 numa espcie de manifesto, do Crculo, de uma "cincia unificada" que tivesse por objecto toda a realidade acessvel ao homem e que se servisse de um nico mtodo de anlise lgica. Nascia assim a Enciclopdia Internacional da Cincia Unificada, que se comeou a publicar em Chicago em 1938 sob a direco 10 de Neurath, Carnap e Morris e que publicou monografias assinadas por cientistas e filsofos de muitos pases (Bohr, Dewey, Rougier, Reichenbach, Russell, Tarski, etc.). Apesar do valor de muitos dos contributos publicados na Enciclopdia, no nos devemos esquecer de que ela mostra uma substancial diferena de opinies sobre o prprio modo de entender a unidade da cincia. Com efeito, esta unidade ainda compreendida por Neurath no sentido clssico, como combinao dos resultados das vrias cincias e tentativa de os reunir num sistema axiomtico, nico (Internat. Enc. of Un. Sc., 1, 1, 1938, p. 20). entendida por Dewey como uma exigncia de estender o papel e a funo da cincia a todo o palco da vida (Ib., p. 33); para Russell, apresenta-se como "unidade de mtodo"; para Carnap, como unidade formal que respeita s "relaes, lgicas entre os termos e as leis dos vrios ramos da cincia" (Ib., p. 49); para Morris, como "uma cincia da cincia", isto , implicando que tal unidade se verificasse no mbito da semitica, de que ele defensor (Ib., p. 70). Por outros termos, o prprio conceito da cincia unificada no se apresenta suficientemente unificado nos seus diversos defensores, que atribuem a essa expresso significados diversos e demonstram assim, de facto, o seu carcter utpico. Na realidade, o conceito de unidade da cincia no um conceito cientfico mas sim filosfico que, portanto, acolhe e respeita a diversidade das filosofias. Mais do que unidade, pode-se falar legitimamente de "conexes" ou relaes recprocas entre as cincias; e tais conexes ou relaes constituem 11 problemas filosficos importantes aos quais se dedicam tilmente os neo-empiristas (e no apenas eles).
Em 1939 Wittgenstein foi chamado a Cambridge, na Inglaterra, para suceder na ctedra a G. E. Moore. Nessa poca, comeava a elaborar a segunda forma da sua filosofia, que se inspira no clima filosfico caracterstico da Inglaterra nestes ltimos decnios: o da chamada "filosofia analtica", que assume como tarefa fundamental a anlise da linguagem comum. Hoje, no entanto, o neo-empirismo j no apangio de uma escola localizada. Muitas das suas exigncias foram largamente aceites, e os resultados a que se chegou, sobretudo no campo da metodologia das cincias e da crtica da lgica, podem ser examinados e discutidos independentemente das posies polmicas em que se inspiravam os seus primeiros defensores. 807. NEO-EMPIRISMO: SCHliCK O homem em torno do qual se concentra o Crculo de Viena, Moritz Selilick (1882-1936), foi assassinado na escadaria da Universidade de Viena e o seu assassino foi exaltado pelo nazismo como sendo o homem que impedira o desenvolvimento de uma filosofia "viciosa". Os fragmentos publicados postumamente com o ttulo Natureza e cultura (1952) do-nos a conhecer a oposio de Sclilick estrutura moral da sociedade e do estado nazis. A vida moral era considerada por Sclilick como a continuao da vida natural e, logo, como directamente 12 dirigida ao prazer e consistindo essencialmente na escolha do prazer. A anttese polmica desta posio era constituda, segundo Schlick, pela filosofia dos valores e pela sua tentativa de tornar absolutos os prprios valores. Schlick comeava por realizar uma interpretao crtico-realista da cincia (Teoria geral do conhecimento, 1918); mas aceitou imediatamente o ponto de vista de Wittgenstein e Carnap, reproduzindo-o e desenvolvendo-o em numerosos artigos publicados no "Erkenritnis" e noutras revistas, artigos que depois da sua morte foram recolhidos em livro. O seu ponto de partida o de Wittgenstein: a filosofia no uma cincia mas sim uma actividade; e uma actividade intrnseca ao prprio exerccio da investigao cientfica. Esta, com efeito, condicionada pela rigorosa comprovao dos termos que emprega; e esta comprovao precisamente o objectivo da filosofia. Mas a filosofia no pode ser definida como "cincia do significado" dado que na comprovao dos significados no chega a proposies mas sim a actividades ou a experincias imediatas. "A descoberta do significado de uma proposio deve, em ltima anlise, terminar num acto, num procedimento imediato, como por exemplo na indicao de uma cor; no pode ser dada numa proposio. A filosofia como procura do significado, no pode consistir em proposies, no pode ser um cincia. Essa procura no mais do que uma espcie de actividade mental" (Gesammelte Aufstze, 1938, p. 130). A filosofia conserva assim, aos olhos de Schlick, a sua dignidade -de "rainha das cincias"-, 13 mas a rainha das cincias no pode ser uma cincia, mesmo atendendo sua incluso no campo especulativo de todas as actividades cientficas. Deste ponto de vista, no existem outros problemas cognitivos alm dos cientficos. Quanto aos chamados problemas filosficos, ou so resolveis pelos mtodos das cincias parcelares ou so problemas
fictcios que devem ser considerados carentes de sentido. Por exemplo, o problema de o mundo ser finito ou infinito, que Katit julgara impossvel de resolver, foi resolvido, no sentido da finitude do mundo, pela fsica moderna, mais precisamente pela teoria da relatividade generalizada e por observaes astronmicas. Por outro lado, existem problemas que no so susceptveis de uma soluo que possa ser verificada empIricamente: tal , por exemplo, o problema do "mundo externo", entendido como uma realidade transcendente que se encontra para alm da natureza dada empiricamente. A existncia ou no existncia deste inundo externo nada altera em relao experincia efectiva: no pode assim ser comprovada experimentalmente e, como tal, carece de sentido. Aqui deparamos, segundo Sclilick, com o critrio que permite distinguir os problemas verdadeiros dos falsos. "Uma questo em princpio resolvel se pudermos imaginar as experincias que deveramos fazer para dar-lhe uma resposta. A resposta a uma pergunta sempre uma proposio. Mas para entender uma proposio devemos poder indicar exactamente quais as circunstncias particulares que a tornariam verdadeira ou falsa. 'Circunstncias' significa factos de experincia; sendo assim, a experin14 cia decide sobre a verdade ou falsidade das proposies, isto , verifica as proposies; ser resolvel todo o problema que puder ser reduzido experincia possvel" (Ib., pgs. 141142). A diferena entre o velho e o novo empirismo consiste no facto de o primeiro ser uma anlise das faculdades humanas e o segundo uma anlise das expresses em geral. Todas as proposies, linguagens, sistemas de smbolos, e mesmo filosofias, devem exprimir qualquer coisa. Mas para que assim seja necessrio que exista alguma coisa que possa ser expressa: esse o material do conhecimento, e afirmar que deve ser dado pela experincia uma forma de dizer que as coisas devem existir antes de as conhecermos. Schlick mostranos o pressuposto fundamental da sua concepo, pressuposto que tambm o de toda a moderna metodologia da cincia: conhecer no significa identificar-se com o objecto conhecido. "A** ffituio, a identificao do esprito com um objecto, no o conhecimento do objecto e no ajuda a alcan-lo, pois no realiza a tarefa que define o conhecimento. Esta tarefa consiste em encontrar o nosso caminho por entre os objectos, em prever o seu comportamento, e isto faz-se descobrindo a sua ordem, assinalando a cada objecto o seu lugar na estrutura do mundo. A identificao com uma coisa no nos ajuda a encontrar esta ordem, antes nos impede de o fazer. A intuio desfrute, e este vida, no conhecimento. E se disserem que isto mais importante do que o conhecimento, eu no os contradirei; mas esta mais uma razo para no o confundir com o conheci15 mento (que tem uma importncia prpria)" (Ib., p. 196). Schlick v em Scrates o pai da filosofia assim entendida. "Foi um investigador do significado das proposies, particularmente daquelas que servem aos homens para avaliar mutuamente o seu comportamento moral. Reconheceu que estas proposies, as mais importantes para dirigir a nossa
conduta, so tambm as mais incertas e difceis dado que no se atribui s proposies morais nenhum significado claro e unvoco. E o mesmo sucede ainda nos nossos dias, salvo no que se refere ao significado das proposies que so continuamente confirmadas ou refutadas pelas nossas experincias quotidianas, tais como as que tratam dos utenslios, da nutrio, das necessidades e das comodidades da existncia humana. Pelo contrrio, reina hoje nas coisas de ordem moral a mesma confuso que nos tempos de Scrates" (Ib., p. 396). 808. NEO-EMPIRISMO: NEURATH A ala extrema das primeiras posies empiristas representada pelo socilogo e economista vienense Otto Neurath (1882-1945), que foi um dos filsofos mais importantes do Crculo de Viena e o mais resoluto defensor da unidade de todas as cincias na linguagem (Sociologia emprica, 1931; Unidade da cincia e da psicologia, 1933; Fundamentos das cincias sociais, 1944, na EncicUintern. da cincia unificada). O ponto de vista de Neurath o de um nominalismo radical que reduz a cincia linguagem, 16 sem referncia a nada externo. "A linguagem, afirma (in "Scientia", 1931, p. 299), essencial para a cincia: apenas no seio da linguagem que ocorrem todas as transformaes da cincia, e no num confronto da linguagem com um 'mundo', com um conjunto de 'coisas', cuja diversidade seria reproduzida pela linguagem. Fazer uma tal tentativa seria entrar no campo da metafsica. Apenas a linguagem cientfica pode falar da prpria linguagem, isto , uma parte dela pode falar da outra parte; mas no se pode passar para alm da linguagem". Esta intranscendibilidade da linguagem, a tese fundamental de Neurath, que se encontra neste ponto em polmica com os outros representantes do Crculo de Viena, especialmente com Carnap e Sclilick ("Erkenntnis", 111, 1932, pgs. 204 e segs.; IV, 1933, pgs. 346 e segs.). O critrio de verdade das proposies lingusticas no consiste no seu confronto com dados ou experincias imediatas mas sim no seu confronto com outras proposies lingusticas, dentro do sistema universal da linguagem cientfica. As expresses s podem ser confrontadas com outras expresses; so consideradas verdadeiras quando cabem no sistema lingustico geral e falsas quando no encontram lugar nele, mas no possvel falar de "linguagem" e emitir juzos sobre ela colocando-nos fora da prpria linguagem, no ponto de vista da "realidade". Esta , para Neurath, "a totalidade das proposies", isto , a linguagem, j que no existe isomorfismo, ou seja, correspondncia entre linguagem e realidade, mas sim uma identidade; e como a realidade a linguagem, tambm a linguagem a realidade, isto 17 , um facto fsico ao mesmo ttulo de qualquer outro. esta a tese do fisicalismo, na sua forma extrema. Deste ponto de vista, Neurath rejeita a existncia de "protocolos originrios" relativamente
a um sujeito singular, rejeitando deste modo o solipsismo de Carnap. Uma proposio protocolar, enquanto proposio lingustica, em si mesma universal e inter-subjectiva mesmo que inclua nomes prprios e circunstncias bem determinadas. evidente que este ponto de vista deve excluir, como privado de sentido ou como puro lirismo", qualquer problema filosfico que no possa ser formulado na linguagem fsica, e tende mesmo a reduzir a prpria linguagem ao facto fsico do som. Neurath formulou nestes termos as premissas de uma sociologia fisicalista, uma parte da cincia unificada que estudaria o comportamento social. Esta sociologia devia limitar-se observao das correlaes de factos existentes entre os fenmenos sociais, tentando prever o futuro. A sua ltima formulao deste conceito (na Enciclopdia da cincia unificada), no entanto, refere-se largamente ao carcter incerto e problemtico de toda a previso sociolgica. 809. WITTGENSTEIN: LINGUAGEM E FACTOS A figura dominante do neo-empirismo a de Ludwig Wittgenstein, nascido em Viena em 26 de Abril de 1889 e falecido em Cambridge a 29 de Abril de 1951. Antes da primeira guerra mundial 18 foi para Cambridge estudar com Russell durante alguns anos. Depois da guerra foi professor em escolas elementares austracas e esteve em contacto com alguns membros do Crculo de Viena. Em 1929 voltou a Cambridge onde, em 1939, sucedeu na ctedra a Moore. Durante a segunda guerra mundial foi por algum tempo empregado num hospital de Londres. Demitiu-se da ctedra em 1947. Em 1921 publicava nos "Annalen der Naturphilosophie" o Tratado lgico-filosfico, que no ano seguinte (1922) foi publicado em Londres, traduzido e prefaciado por Russell. Durante todo o resto da sua vida s publicou um artigo (Observaes sobre a forma lgica, nos Actos da "Aristotelian Society", 1929). Mas deixou inditos numerosos manuscritos, alguns dos quais correram privadamente a Inglaterra com o nome de Cadernos azuis (Blue Book, 1933-34) e de Cadernos castanhos (Brown Book, 1934-35). Foi deste material indito que se extraram mais tarde as Investigaes filosficas., publicadas em 1953, as Notas sobre os fundamentos da matemtica, em 1956, e os Cadernos azuis e castanhos, em 1958. O Tratado e os outros escritos, especialmente os publicados nas Investigaes filosficas, constituem as principais fontes de inspirao das duas correntes fundamentais do neoempirismo: o Tratado foi a base do neo-positivismo, e os outros escritos da filosofia analtica. A principal fonte de inspirao da primeira fase do pensamento de, Wittgenstein foi a obra de Russell. A filosofia de Wittgenstein substancialmente, nas suas duas faces, uma teoria da
linguagem. Com 19 efeito, os termos de que se serve so dois: o mundo, como totalidade de factos, e a linguagem como totalidade de proposies que significam tais factos. As proposies, por sua vez, enquanto palavras, signos, sons, etc., so factos; mas, diferentemente dos outros factos, que ocorrem mas que so mudos, eles tm um significado que consiste precisamente em factos. Estes pressupostos constituem os limites genricos de todas as investigaes de Wittgenstein. No Tratado lgico-filosfico, a relao entre os factos do mundo e os da linguagem expressa pela tese segundo a qual a linguagem a refigurao lgica do mundo. No existe, de acordo com este autor, uma esfera do "pensamento" ou do "conhecimento" que seja mediadora entre o mundo e a linguagem. Afirmaes como as seguintes: "A refigurao lgica dos factos o pensamento" (Tract., 3); "A totalidade dos pensamentos verdadeiros uma refigurao do mundo" (3.01); "0 pensamento a proposio significante" (4), equivalem identificao do pensamento com a linguagem e extenso ao pensamento da mesma limitao que vale para a linguagem: no pensvel nem exprimvel aquilo que no for um facto do mundo. este o pressuposto empirista fundamental da filosofia de Wittgenstein. Como se disse, e na opinio de Wittgenstein, o mundo "a totalidade dos factos"; mais precisa' mente, a totalidade dos factos atmicos (Sachverhalte = estados das coisas), isto , dos factos que ocorrem independentemente uns dos outros (2.04-2.062). Todo o facto complexo composto por factos atmicos. Por sua vez, um facto atmico 20 composto por objectos simples, isto , indecomponveis, que constituem "a substncia do mundo" (2.021). Chama-se forma dos objectos ao conjunto dos modos determinados em que eles se podem combinar nos factos atmicos. por isso que a forma dos objectos tambm a estrutura do facto atmico, sendo o espao, o tempo e a cor considerados como formas dos objectos (2.0251-2.034). Os objectos assim entendidos so aquilo a que Mach chamava "elementos" e que identificava com as sensaes ( 785). Segundo Mach, estes elementos entram na composio das coisas e dos processos psquicos que permitem o conhecimento das coisas. Segundo Wittgenstein, os objectos entram na composio dos factos atmicos que so os elementos constitutivos do mundo e, sob a forma de nomes, na composio das proposies atmicas que so os elementos constitutivos da linguagem. Com efeito, a proposio , segundo este autor, a refigurao (Bild) de um facto; mas no no sentido de construo de uma imagem ou cpia e sim no de uma refigurao formal ou lgica do facto, isto , da representao de uma configurao possvel dos objectos que constituem o facto. Toda a refigurao deve ter qualquer coisa em comum com a realidade refigurada. A proposio tem em comum com o facto atmico a forma dos objectos, isto , uma determinada possibilidade de combinao dos objectos entre si. Isto estabelece a conexo necessria entre as proposies e os factos: conexo que por um lado torna os factos refigurveis, isto , exprimveis na linguagem, e que por outro lado toma vlida, ou 21
seja, dotada de sentido, a prpria linguagem, garantindo-lhe a sua concordncia com o mundo. Deste ponto de vista, uma proposio tem sentido se exprime a possibilidade de um facto: isto , se os seus constituintes (signos ou palavras) se combinam numa forma que seja uma forma possvel de combinao dos objectos que constituem o facto. Wittgenstein afirma que o sentido de uma proposio consiste numa "situao construda atravs da experincia" (4.031), pretendendo dizer com isto que uma proposio que seja dotada de sentido refigura um facto possvel, e possvel na medida em que possvel a combinao de objectos que o constituem. O sentido da proposio diferenciada da sua verdade, que existe quando a proposio refigura no um facto possvel mas sim um facto real. A forma afirmativa e a forma negativa da mesma proposio (por ex., " Esta rosa vermelha", "esta rosa no vermelha") tm sentido por serem igualmente possveis; mas s uma delas verdadeira (4.05-4.061). Deste ponto de vista, fcil justificar a validade das cincias empricas da natureza. Com efeito, "o mundo completamente descrito por todas as proposies elementares acrescidas da indicao de quais so verdadeiras ou falsas" (4.26); e "a totalidade das proposies verdadeiras c constitui a cincia natural total ou a totalidade das cincias naturais" (4.11). Mas as cincias so constitudas, para alm das proposies elementares, por leis, hipteses e teorias; acerca do valor destes instrumentos, Wittgenstein assume uma atitude que reproduz a 22 de Hume. De uma proposio elementar no se pode inferir nenhuma outra (5.134) porque toda a proposio elementar diz respeito a um facto atmico e os factos atmicos so independentes uns dos outros. No existe nenhum nexo causal que justifique tais inferncias e assim impossvel inferir os acontecimentos do futuro a partir dos do presente. "A f no nexo causal uma superstio" (5.1361), afirma Wittgenstein. Deste ponto de vista, no existem propriamente leis naturais. Estas, ou melhor, a regularidade que elas exprimem, pertencem apenas lgica e "fora da lgica tudo acontecimento" (6.3). As teorias que reduzem a uma forma unitria a descrio do universo, como por exemplo a mecnica de Newton, so comparadas por Wittgenstein a um reticulado bastante fino, de malha quadrada, que cubra uma superfcie branca na qual existam manchas negras irregulares. Com o reticulado possvel reduzir a uma forma unitria a descrio da superfcie, na medida em que se pode afirmar que cada um dos quadradinhos negro ou branco. Mas trata-se ento de uma forma arbitrria, dado que poderia utilizar-se uma malha triangular ou hexagonal. Da mesma forma, so arbitrrios os vrios sistemas que podem ser usados para descrever o universo, e quanto muito pode-se dizer que possvel conseguir com um sistema uma descrio mais simples do que com outro. A rede a instrumentao lgica da teoria, instrumentao que fornece os tijolos para a construo do edifcio da cincia, e isto porque uma teoria cientfica significa apenas: "Se queres construir um edifcio, tens de o construir
23 com estes tijolos e s com estes" (6.341). Uma teoria cientfica no nos diz nada, portanto, sobre o universo, tal como a rede do exemplo anterior nada nos diz sobre a forma das manchas. Mas j nos diz algo sobro o universo o facto de ser possvel descrev-lo mais simplesmente utilizando uma teoria em lugar de outra (6.342). Estas consideraes retiram ao universo todo o tipo de necessidade: "No existe nenhuma necessidade que obrigue uma dada coisa a acontecer pelo simples facto de outra ter acontecido" (6.37). O facto de o Sol surgir amanh uma hiptese, o que equivale a dizer que no sabemos se ele surgir. Mesmo a probabilidade no seno ignorncia. Com efeito, uma proposio no em si mesma provvel ou improvvel, porque o facto a que ela necessariamente se refere ocorre ou no ocorre, sem que haja solues intermdias (5.153). Utiliza-se a probabilidade quando nos falta a certeza, quando no se conhece perfeitamente um facto mas se sabe algo sobre a sua forma, isto , sobre a sua possibilidade (5.156). 810. WITTGENSTEIN: AS TAUTOLOGIAS Estas consideraes do autor equivalem confirmao da doutrina, comum a Leibnitz e a Hume, do carcter contingente (no necessrio) das proposies relativas aos factos. Mas paralelamente a tais proposies Leibnitz admitia "a verdade da razo" e Hume as verdades que respeitam s "relaes entre ideias"; e a este outro tipo de proposies 24 ambos atribuam a "necessidade", no sentido de que a sua negao implica a contradio. Wittgenstein admite, alm das proposies elementares que exprimem a possibilidade dos factos e que so verdadeiras quando os factos as confirmam, proposies que exprimem a possibilidade geral ou essencial dos factos mas que so verdadeiras independentemente dos prprios factos. Estas proposies so chamadas tautologias e o seu estudo constitui uma das maiores contribuies de Wittgenstein para a teoria lgica. A proposio "Chove" exprime a possibilidade de um facto e verdadeira se o facto acontece, isto , se na realidade chove. A proposio "No chove" exprime tambm a possibilidade de um facto e do mesmo modo verdadeira se na realidade no chove. Mas a proposio "Chove ou no chove" exprime todas as possibilidades que se referem ao tempo. Ela verdadeira independentemente do tempo que faz; e o facto de chover no a confirma nem a desmente. Por outro lado, a proposio "Este solteiro est casado" no exprime um facto mas sim uma impossibilidade (j que "solteiro" significa "no casado"): ela portanto falsa independentemente de qualquer facto, dado que o estado de solteiro ou casado em que se encontre o homem a que ela se refere no adianta nada relativamente impossibilidade da frase. Ora "Chove ou no chove" um exemplo de tautologia, "Este solteiro casado" um exemplo de contradio. Tautologia e contradio so assim necessariamente verdadeiras ou falsas, independentemente de qualquer experin25 cia. Isto acontece, segundo Wittgenstein, porque a
tautologia verdadeira e a contradio falsa para todas as possibilidades de verdade das proposies elementares que as constituem; ou por outros termos, a primeira verdadeira e a segunda falsa seja o que for que acontea (4.46-4.461). Mas isto quer dizer que tautologia e contradio no so refiguraes da realidade, isto , no representam nenhuma situao possvel. A primeira permite toda a situao possvel, a segunda nenhuma (4.462). Ento, elas i-io tm o "sentido" que se pode atribuir s proposies elementares; mas tambm no se podem considerar "sem sentido" porque faz= pai-te do simbolismo, isto , constituem o verdadeiro campo da lgica. Todas as proposies da lgica so tautologias, segundo Wittgenstein (6.1). "No dizem nada": so analticas, no sentido kantiano (6.11). A sua caracterstica fundamental consiste em s se poder reconhec-las como verdadeiras tendo em conta o smbolo, enquanto que a caracterstica das proposies no lgicas o no se saber se so verdadeiras ou falsas atendendo apenas s proposies (6.113). As proposies lgicas no dizem nada porque no dizem respeito a factos mas a possveis modos de conexo entre as proposies ou de transformao de uma proposio noutra; isto , respeitam a operaes puramente lingusticas que estabelecem equivalncia (ou no equivalncia) de significado entre expresses lingusticas. por esta razo que a experincia no pode confirmar ou negar as proposies lgicas (6.121-6.1222). A nica relao entre as pro26 posies lgicas e o mundo que elas pressupem que os nomes tenham significado e que as proposies elementares tenham sentido. A lgica revela aquilo que existe de necessrio na natureza dos signos lingusticos: "Na lgica, fala a prpria natureza dos signos necessrios" (6.124). A matemtica que, segundo Wittgenstein, "um mtodo da lgica" (6.2), reduz-se a esta ltima. O sinal de igualdade, usado na matemtica, exprime a substituibilidade recproca das expresses que rene, o que quer dizer que as duas expresses tm o mesmo significado, isto , so tautolgicas. A lgica e a matemtica constituem todo o campo da necessidade. A necessidade e a impossibilidade s existem na lgica, dado que os factos no tm necessidade e que as proposies que exprimem factos no a podem ter como caracterstica. Wittgenstein diz sobre isto que a verdade das tautologias certa, a das proposies possvel, e a das contradies impossvel (4.464). No entanto, a necessidade da lgica no restringe nada; deixa que os factos aconteam de forma puramente casual (6.37; 6.41). Assim, Wittgenstein retomou a dicotomia instaurada por Hume corno distino entre as proposies significantes que exprimem os factos possveis e as proposies no significantes, mas verdadeiras, que so chamadas tautologias. Como Hume, admite tambm a existncia de proposies nem significantes nem tautolgicas, os no-sensos. A maior parte das proposies filosficas so no-sensos, isto , derivam do facto de no se compreender a lgica da 27 linguagem. Com efeito, as proposies significantes so apangio das cincias naturais e no consentem nenhuma inferncia para alm daquilo que mostram ou manifestam; por outro lado, as tautologias, de que se ocupa a lgica, s se referem forma das proposies e no permitem dizer nada sobre a realidade do mundo. Nem umas nem outras permitem
assim nenhuma generalizao filosfica, nenhuma viso ou intuio do mundo na sua totalidade. A nica tarefa positiva que Wittgenstein reconhece na filosofia a de ser uma "crtica da linguagem" (4.0031), isto , "uma aclarao lgica do pensamento" (4.112). Mas neste sentido a filosofia no uma doutrina e sim uma actividade; e a sua tarefa no consiste em fornecer "proposies filosficas" mas em esclarecer o significado das proposies. "A filosofia deve esclarecer e delimitar com preciso as ideias que de outro modo seriam, por assim dizer, turvas e confusas" (4.112). E esta precisamente a tarefa a que se dedicou o Tratado lgico-filosfico. Todas as teses desta obra so condicionadas pelo princpio que constitui a posio ontolgica fundamental de Wittgenstein: o mundo constitudo por factos, e os factos ocorrem e manifestam-se nesses outros factos que so as proposies significantes. Assim, os limites da linguagem so os limites do mundo e os limites da minha linguagem so os limites do meu mundo, isto , de tudo aquilo que compreendo, penso e exprimo. Neste sentido, o solipsismo ser verdadeiro no quando reduz o 28 mundo ao eu mas sim quando reduz o eu ao mundo. Mas os limites de que falamos no pertencem ao mundo (no so factos do mundo), e por isso no se exprimem na linguagem e no podem ser ditos: ento, at o solipsismo inexprimvel (5.62-5.641). E no se pode falar do mundo na sua totalidade, dado que ento deixa de ser um facto. Afirma Wittgenstein: "Aquilo que mstico o que o mundo, e no o como ele " (6.44). Os factos constituem, e as proposies manifestam, o como do mundo, as suas determinaes; nunca o que, a sua essncia total e nica, o seu valor, o seu porqu. E o valor, que um dever ser, nunca um facto; se for um facto deixa de ser valor, j que "no mundo no existe nenhum valor e, se existisse, no teria valor" (6.41). Tambm no podem existir proposies da tica; e a tica, inexprimvel (6.42). Nem se pode falar da morte, que j no um facto ("No se vive a morte", 6.4311). Assim, no se pode pr nenhum dos problemas relativos ao mundo, vida, morte ou aos fins humanos: no podem ter resposta porque nem sequer podem ser formulados como perguntas. Wittgenstein no nega que o inexprimvel exista: afirma que ele "se mostra, e que constitui o mstico" (6.522). Mas o que significa este existir do inexprimvel, coisa a que o autor se no refere. E quanto ao seu mostrar-se, tambm nada nos diz. Quando se mostrou que todas as perguntas metafsicas carecem de sentido e que se deve guardar segredo de tudo aquilo de que no se pode falar, no resta nenhuma pergunta. Mas esta precisamente a rs29 posta: o problema da vida resolve-se quando desaparece (6.52-7). 811. WITTGENSTEIN: A PLURALIDADE DAS LINGUAGENS A teoria da linguagem que exposta no Tratado , tal como a de Aristteles, uma teoria afirmativa: a linguagem a manifestao daquilo que . Mas para Aristteles "aquilo que
" constitui a estrutura necessria do mundo, e essa estrutura determina necessariamente as formas lingusticas que, nas suas expresses essenciais, a reproduzem. Para Wittgenstein, pelo contrrio, "aquilo que " um conjunto de factos que simplesmente "acontecem", sem ordem e sem relaes recprocas, isto , sem serem necessrios. No entanto, esses factos determinam as suas manifestaes lingusticas, isto , as proposies atmicas; e indirectamente determinam a necessidade das proposies da lgica. Ora a necessidade da relao mundo-linguagem, se bem que concorde com o empenho ontolgico de Aristteles, para o qual o mundo necessidade, no corrente com o de Wittgenstein, para o qual o mundo causalidade. No admira portanto que este autor tenha a certa altura abandonado as teses do Tratado e tenha introduzido na relao mundolinguagem o carcter no necessrio que reconhecera nos factos do mundo. Ora se tal relao fosse necessria, seria tambm nica (no pode ser diferente da que ), e seria nica a linguagem definida pela natureza da prpria relao. Mas se essa relao no necess30 ria, pode assumir formas diferentes; e so ento possveis diversas formas de linguagem, correspondentes s vrias formas que a relao pode assumir. Foi esta tese que Wittgenstein comeou a desenvolver a partir de 1933 e que tem a sua melhor expresso nas Philosophical Investigations, cuja primeira parte s ficou completa em 1945 e cuja segunda parte foi escrita entre 1947 e 1949. Deste ponto de vista, a linguagem definida no Tratado, onde a todas as palavras atribudo um significado que constitudo precisamente pelo objecto a que corresponde a palavra, apenas uma das infinitas formas da linguagem. A multiplicidade das linguagens no pode tambm ser estabelecida de uma vez por todas: novos tipos de linguagem, novos jogos lingusticos nascem continuamente enquanto que outros caiem em desuso e so esquecidos. A expresso "jogos lingusticos" utilizada por Wittgenstein para sublinhar o facto de a linguagem ser uma actividade ou uma forma de vida. Como exemplos da multiplicidade dos jogos lingusticos, apresenta os seguintes: dar ordens e obedecer-lhes; descrever a aparncia de um objecto ou dar as suas medidas; construir um objecto partindo de uma descrio (um desenho); relatar um acontecimento; especular sobre um acontecimento; formular uma hiptese e p-la prova; apresentar os resultados de uma experincia em tabelas e diagramas; inventar Lima. histria e l-Ia; representar uma pea teatral; cantar um estribilho; descobrir enigmas; inventar uma anedota ou cont-la; resolver um problema de aritmtica; traduzir de uma lngua para 31
outra, mendigar, agradecer, maldizer, augurar, pregar (Phil. Inv., 23). A prpria matemtica um jogo lingustico. Com efeito, fazer matemtica significa "agir de acordo com certas regras" (Remarks on the Foundations of Mathematics, IV, 1). A necessidade que preside a esta actuao, o "deve" (Must), prprio das tcnicas em que consiste a matemtica e que constituem um modo particular de tratar as situaes. "A matemtica, diz Wittgenstein, constitui uma rede de nonnas" (Ib., V, 46). A heterogeneidade dos jogos lingusticos tal que no podem ser reduzidos a qualquer conceito comum, as suas relaes recprocas podem ser caracterizadas como "reunies de famlia" e, tal como os membros de uma famlia apresentam vrias semelhanas, seja na estatura, na fisionomia, etc., tambm as vrias linguagens tm entre si relaes diversas que no se podem reduzir a um s (Phil. Inv., 67). Em muitos jogos lingusticos, o significado das palavras consiste no seu uso. "Num grande nmero de casos, se bem que no em todos, em que utilizamos a palavra 'significado', ela pode ser assim definida: o significado de uma palavra o uso que tem na linguagem" (Ib., 43). Mas o uso no uma regra normativa que possa ser imposta linguagem: aquilo que surge na prpria linguagem, o que h de habitual nas suas tcnicas. O ideal da linguagem deve ser procurado na sua prpria realidade (101). " claro, diz Wittgenstein, que todas as proposies da nossa linguagem se encontram numa ordem que a caracteriza. No procuramos a ordem ideal, tal como se as nossas frases habituais no tivessem ainda um sentido acabado e 32 WITTGENSTEIN como se ainda tivssemos de construir uma linguagem perfeita. Por outro lado parece evidente que, onde existe sentido, existe ordem. Logo, deve existir uma ordem perfeita mesmo na mais vaga das proposies" (98). A filosofia, enquanto anlise da linguagem, no pode portanto ter como tarefa a sua rectificao ou o seu desenvolvimento, at atingir uma forma mais completa ou perfeita. Segundo Wittgenstein, "no pode de forma alguma interferir no uso efectivo da linguagem mas sim, e apenas, descrev-la. Com efeito, a filosofia no pode fundar a linguagem, e obrigada a deixar tudo como encontra" (124). Ela no explica nem deduz coisa alguma: limita-se a pr as coisas nossa frente. A partir do momento em que todas as coisas se encontram perante ns, j no h nada para explicar. O que est oculto, est-o apenas devido sua simplicidade e familiaridade: no se nota porque est sempre frente dos nossos olhos, e est sempre frente dos nossos olhos porque aquilo que mais nos interessa (129). A filosofia pode igualmente comparar entre si os vrios jogos lingusticos e estabelecer entre eles uma ordem, com vista realizao de uma tarefa particular mas tal ordem ser apenas uma das muitas possveis (132). "No pretendemos, diz Wittgenstein, refinar ou completar o sistema de regras que regula o uso das nossas palavras. A clareza para que tendemos sempre uma clareza completa e isto significa simplesmente que os
problemas filosficos devem desaparecer completamente. A descoberta real aquela que me toma capaz de deixar de filosofar quando quero: 33 s ela elimina a filosofia, na medida em que deixa de a atormentar com as questes que servem para a justificar (133). O conceito da filosofia como "doena", e da cura desta doena pela absteno de filosofar domina a segunda fase da filosofia do pensamento de Wittgenstein, tal como a procura de um silncio mstico relativamente aos problemas filosficos dominara a primeira. No entanto, no existe uma cura definitiva e imunizante: "No existe um mtodo de cura da filosofia, mas existem vrios tipos de tratamento" (133). Todas estas terapias consistem essencialmente em dizer as palavras do seu uso metafsico para o seu uso quotidiano; e os resultados dessas terapias so a descoberta deste ou daquele no-senso que o intelecto inventara batendo com a cabea contra os limites da linguagem. o prprio no-senso que mostra o valor da descoberta (119). Eliminando os no-sensos, a actividade filosfica curativa limita-se a reportar as palavras aos seus usos correntes e quotidianos sem afirma nada de novo. "A filosofia, diz Wittgenstein, afirma apenas aquilo que todos j sabemos" (599). A defesa da multiplicidade das linguagens ou, como se poderia dizer, do relativismo lingustico, o aspecto mais importante da segunda fase de Wittgenstein. Esta tese, que paralela e semelhante do relativismo das culturas, hoje confirmada, no terreno dos factos, pelos estudos lingusticos. Est relacionada com ela uma outra tese fundamental que surge aqui e ali nas Philosophical Investigations: a linguagem um instrumento (uma tcnica ou um 34 conjunto de tcnicas) para resolver situaes existenciais. Afirma WitIgenstein: "A linguagem um instrumento. Os seus conceitos so instrumentos... Os conceitos aplicam-se investigao; so a expresso dos nossos interesses e dirigem esses mesmos interesses" (569-70; cfr. 11). Por outro lado, existem outras teses fundamentais de Wittgenstein que no parecem muito coerentes com estas. A primeira a de a linguagem ser um "jogo". Se bem que Wittgenstein declare servir-se desta palavra para sublinhar o carcter de actividade ou de vida da linguagem, difcil no ligar palavra a conotao comum segundo a qual o jogo unia actividade que se efectua tendo-a em vista a si mesma e no para atingir outro fim qualquer. Se a linguagem fosse jogo (pelo menos assim parece) seria um fim e no um instrumento, A segunda tese a do privilgio concedido linguagem ordinria ou quotidiana que bviamente apenas um dos jogos lingusticos possveis, e que portanto no se sabe porque dever ser a indicada para fornecer o critrio e a norma para a eliminao dos problemas filosficos e das suas dvidas. Diz o autor: "Pensem nos instrumentos que se encontram na caixa de ferramentas de um operrio: h um martelo, um alicate, uma serra, uma chave de parafusos, uma
rgua, grude, pregos e parafusos. As funes das palavras so to diferentes como as destes objectos" (Phil. Inv., 11). Mas basta interessarmo-nos um pouco pela actividade de um arteso qualquer para nos rendermos conta de como, na linguagem em que ele se exprime, se encontram palavras, expresses ou modos de dizer que no se referem linguagem nor35 mal mas sim actividade especfica do arteso. As linguagens cientficas esto bviamente ainda mais longnquas da quotidiana, e tm significados ainda menos redutveis aos de uso corrente, mesmo que sejam expressos pelas mesmas palavras. Se pluralismo lingustico significa relativismo lingustico, se qualquer linguagem, como afirma Wittgenstein, est numa certa ordem tal como est, no existe nenhuma linguagem que compreenda todas as outras ou que possa oferecer s outras um critrio qualquer de interpretao ou de rectificao. Por outro lado, se a linguagem comum est sempre em ordem, se ela apresenta de uma forma aberta e evidente tudo aquilo que deve significar, como possvel que nela nasam os no-sensos que levam a dvidas angustiantes e nos tiram o sossego? 812. CARNAP: RELAES E EXPERINCIAS Uma outra figura dominante do neo-positivismo foi a de Rudolf Carnap, que nasceu em Wuppertal, na Alemanha, em 1891, ensinou na Universidade de Viena e na de Praga, e que posteriormente a 1936 foi para a Amrica onde ensinou nas Universidades de Chicago e Los Angeles. As seguintes obras pertencem ao perodo em que este autor viveu na ustria e na Alemanha: A construo lgica do mundo, 1928; Pseudo-problemas da filosofia, 1928, Compndio de lgica, 1929; Sobre Deus e a alma, 1930; A sintaxe lgica da linguagem, 1934, e ainda numerosos artigos publicados em "Erkenntnis", sendo 36 o mais importante intitulado A eliminao da metafsica atravs da anlise lgica da linguagem. Durante a sua estadia na Amrica publicou as seguintes obras: Os fundamentos da lgica e da matemtica (na " Enciclopdia Internacional da Cincia Unificada"), 1939; Introduo semntica, 1942; A formalizao da lgica, 1943; Significado e necessidade, 1947; Fundamentos lgicos da probabilidade, 1950, e ainda muitos outros artigos entre os quais sobressai o intitulado Probabilidade e significado (1936), que marca uma viragem na interpretao da exigncia bsica do neopositivismo. Se as obras de Wittgenstein constituram a principal fonte de inspirao para os filsofos do neo- _empirismo, as de Carnap deram s teses polmicas e construtivas desta corrente a clareza e o desenvolvimento analtico que a tornaram muito importante na filosofia contempornea. Carnap teve sempre presente e defendeu constantemente uma das teses bsicas do Crculo de Viena: a cincia una, apesar da diversidade de contedo existente nos vrios campos especficos correspondentes s diversas cincias, e a sua linguagem tambm una. por isso que a
doutrina de Carnap substancialmente, tal como a de Wittgenstein, uma teoria da linguagem. Mas enquanto Wittgenstein insiste no atomismo da linguagem, a qual reflecte nas suas proposies elementares a no relatividade e a causalidade dos factos atmicos, Carnap insiste no seu carcter sintctico, isto , nas relaes que ligam as proposies entre si. Assim, concorda com Wittgenstein quando admite, pelo menos a um certo nvel ou para um certo tipo 37 de linguagem, uma relao ou contacto com um dado imediato; no entanto, este dado no um "facto" mas sim um elemento de natureza psquica. A primeira obra de Carnap, .4 construo lgica do mundo, tem a tarefa explcita de formular o sistema de conceitos (ou objectos) constitutivos da cincia utilizando por um lado a teoria das relaes aceite na lgica de Russell e Whitchead e, por outro lado, a reduo da realidade a dados elementares que prpria da filosofia de Avenarius, Mach e Driesch (Der Logische Aufbau der Welt, 3). Mas evidente na obra de Carnap a influncia do neo-criticismo, o qual insistira no carcter logicamente construtivo do conhecimento humano e que tinha considerado a relao como categoria fundamental ( 730). Deste ponto de vista, a teoria do conhecimento uma anlise do modo como so logicamente construdos os objectos da cincia a partir de certos elementos originrios que, precisamente enquanto tais, no podem ser considerados por sua vez como construes lgicas. Esses elementos so, segundo Carnap, as experincias elementares vividas (Elementarerlebnisse), que ele prefere s "sensaes" de Mach porque a psicologia da forma (Khler, Wertheimer) mostrou que as sensaes no so dados mas sim abstraces dos dados, pelo que no podem ter prioridade gnoseolgica. No entanto, Carnap defende que as experincias elementares so, tal como as sensaes de Mach, neutras no sentido de nem serem propriamente fsicas nem psquicas, e que so referidas ao eu, no originariamente, mas apenas na medida em que se fala das experincias 38 vividas pelos outros e que so reconstrudas atravs das minhas (Ib., 65). As experincias elementares tm entre si "relaes fundamentais" j que <todo o enunciado de um objecto materialmente um enunciado dos seus elementos fundamentais e formalmente um enunciado das relaes fundamentais" Qb., 83). Carnap considera como relao fundamental a da "recordao da semelhana", que permite identificar parcialmente duas experincias vividas atravs do confronto de uma delas com a recordao da outra (Ib., 88). Utilizando as experincias elementares vividas e a relao fundamental pode-se, segundo Carnap, reconstruir todo o mundo psquico e fsico, independentemente dos conceitos de substncia e de causa de que se servia a metafsica tradicional. O conceito de "essncia" redifinido por Carnap no sentido de que se deve entender por " essncia constitutiva" de um objecto a indicao do significado do signo do prprio objecto, e
dado que o signo s tem significado quando se encontra numa proposio, a essncia consistir na indicao dos critrios de verdade das frases em que pode aparecer esse objecto (Ib., p. 161). Definindo a ,essncia deste modo segue-se que o eu apenas "o conjunto das experincias elementares": Carnap nega que a existncia do eu seja um dado originrio e repete a crtica de Nietzsche ( 664) ao cogito cartesiano Qb., 163). Por outro lado, a "realidade" (diferente do sonho, da alucinao, da fantasia) constituda por objectos que tm as seguintes caractersticas: 1.o -pertencem a um sistema que obedece a leis, isto , ao mundo fsico, psquico ou espiritual; 39 2.o - so inter-subjectivos; 3.o - tm um lugar na ordem do tempo (Ib., 171). A realidade dos objectos no consiste pois no serem independentes da conscincia cognoscente (como afirma o realismo) ou no serem dependentes dela (como afirma o idealismo), mas sim no pertencerem a um campo em que so vlidas leis objectivas independentes da vontade do indivduo e que portanto so interpretadas pela metafsica como sendo a expresso de uma "substncia": a matria, a energia, ou qualquer outra (Ib., 178). Como vemos, a reconstruo da estrutura lgica do mundo pe, segundo Carnap, a metafsica fora de jogo. E a crtica metafsica reavivada por Carnap num artigo famoso que foi publicado em "Erkenntnis" no ano de 1931 e que se intitulava A eliminao da metafsica atravs da anlise lgica da linguagem. Uma linguagem, afirmava Carnap, consiste num vocabulrio e numa sintaxe, isto , num conjunto de palavras que tm um mesmo significado e nas regras que presidem formao dos enunciados indicando como estes devem ser construdos a partir de vrios tipos de palavras. Quando no se tm em conta estes dois aspectos fundamentais, fica-se perante duas espcies de "pseudoproposies": aquelas em que figuram palavras que se julga, erradamente, terem um significado e aquelas que so compostas por palavras individualmente dotadas de sentido mas reunidas de uma forma no concordante com as regras de sintaxe formando por isso frases sem sentido. Estas duas espcies de pseudo-proposies so aquelas que se encontram na metafsica, 40 no s na antiga como at na mais recente. Carnap mostrava como na metafsica de Heidegger a palavra "nada" era considerada como o nome de um objecto e tratada como tal, se bem que nada no seja nome de nenhum objecto mas apenas a negao de uma proposio possvel como por exemplo ao dizer-se "l fora no h nada" se pretende afirma o contrrio de " l fora h uma determinada coisa" (Ueberwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache, 5). **Cam&p via na metafsica uma expresso da atitude da pessoa relativamente vida, isto , qualquer coisa de semelhante arte, tendo para alm desta a
v pretenso de querer raciocinar. "No fundo, afirmava, os metafsicos so msicos sem talento musical" (Ib., 7). Numa nota datada de 1957 e acrescentada traduo inglesa desta obra, Carnap declarou que ela era dirigida contra a metafsica tal como era entendida por Fichte, Schelling, Hegel, Bergson, Heidegger, isto , como pretenso de conhecer a essncia das coisas de uma forma que transcende o empirismo da cincia indutiva, mas no contra as tentativas de sntese e de generalizao dos resultados das vrias cincias. Esta limitao no estava certamente presente nas suas primeiras obras, e o prefcio Sintaxe lgica da linguagem (1934) exprime perfeitamente a tarefa que Carnap, atribua verdadeiramente filosofia: "A filosofia deve ser substituda pela lgica da cincia, isto , pela anlise lgica dos conceitos e das proposies das cincias, e isto porque a lgica da cincia precisamente a sintaxe lgica da linguagem da cincia" (Logical Syntax of Language, prefcio). 41 813. CARNAP: DADO, PROTOCOLO, PREDICADOS OBSERVVEIS Na Construo lgica do Mundo, Carnap utilizou, como vimos, dois tipos de elementos: um estrictamente lgico, a relao, e outro psicolgico, a experincia vivida. Estes dois tipos de elementos, com diferentes designaes, foram os temas fundamentais de todas as suas investigaes ulteriores. No que diz respeito ao segundo tipo de elementos, isto , ao dado como ponto de partida e de referncia da construo lgica, Carnap aceitou (a partir de 1931) a tese de Neurath sobre a intranscendibilidade da linguagem, afirmando que isso no se apresenta, por assim dizer, em pessoa na prpria linguagem, mas sim atravs da sua expresso ou formulao lingustica. No ensaio A linguagem fsica como linguagem universal da cincia (publicado em "Erkemtnis", 11, 1931), distingue na cincia a liberdade sistemtica e a linguagem dos protocolos. A primeira compreende as proposies gerais ou leis da natureza; a segunda constituda por proposies protocolares que se referem imediatamente ao dado e que descrevem o contedo da experincia imediata e as mais simples relaes reais conhecidas. Qual precisamente a natureza do dado, se consiste em sensaes elementares, como pretendia Mach, ou em experincias vividas, ou ainda em coisas, isto , em corpos tridimensionais imediatamente perceptveis, uma questo que, segundo Carnap, se pode deixar em suspenso ("Erkenntnis", 11, 1931, p. 439). As proposies protocolares permitem realizar a ve42 rificao emprica da cincia se bem que esta verificao no diga respeito s proposies singulares da prpria cincia mas sim a todo o sistema ou, pelo menos, a uma certa parte do sistema. Isto implica necessariamente um momento convencional, que constitui
precisamente a forma do sistema; e mesmo uma lei natural, relativamente s proposies simples, apenas uma hiptese. Mas dado que qualquer homem s pode assumir como ponto de partida das suas afirmaes os seus prprios protocolos, Carnap fala de um solipsismo metdico. O adjectivo "metdico" reala o facto de no se pretender afirmar a existncia de um nico sujeito e a no existncia dos outros, mas to-somente reconhecer o carcter dos protocolos originrios a fim de construir proposies lingusticas que possam valer para todos os sujeitos. Ora uma afirmao qualquer, mesmo baseando-se nos protocolos do sujeito que a faz, s tem validade inter-subjectiva se puder exprimir-se em linguagem fsica. "Se, afirma Carnap, dois sujeitos tiverem opinies diferentes sobre o comportamento de um segmento, sobre a temperatura de um corpo ou sobre a frequncia de uma oscilao, esta diversidade de opinies no , na fsica, atribuda a uma insupervel diferena, tentando-se antes chegar a uma unificao dessas opinies atravs de uma experincia apropriada" (Ib., p. 447). A linguagem fsica deste modo, e em si mesma, inter-subjectiva e universalmente vlida; e na medida em que as vrias cincias (compreendendo aqui as do esprito, psicologia, sociologia, etc.) so autenticamente cincias, devem ser expressas em 43 linguagem fsica e relacionar assim os prprios fenmenos psquicos ou espirituais com estados ou condies de um corpo fsico. Daqui deriva um materialismo metdico, isto , um materialismo que no afirma nem nega a existncia da matria ou do esprito mas que exprime apenas a exigncia de traduzir em termos fsicos os diferentes protocolos, a fim de construir com eles uma linguagem verdadeiramente inter-subjectiva, isto , vlida universalmente. Enquanto que na Construo lgica do mundo o dado se apresentava em pessoa na linguagem, na forma da experincia imediata, nesta segunda fase das investigaes de Carnap apresenta-se na forma de uma expresso lingustica, a proposio protocolar, que permite qualquer interpretao da natureza do prprio dado (que pode ser uma coisa ou um processo psquico). Numa terceira fase, que se inicia com a obra Probabilidade e significado (1936-37), o dado afasta-se ainda mais, apresenta-se agora sob a forma de uma possibilidade, a possibilidade de reduzir, mediante um processo mais ou menos longo e complexo, os predicados descritivos, da linguagem cientfica a predicados observveis que pertenam "linguagem cousal", isto , linguagem que usamos na vida de todos os dias ao falar das coisas perceptveis que nos rodeiam. evidente que os " predicados observveis" so j a transcrio lingustica, na linguagem comum, da possibilidade de obter certos dados, enquanto que os predicados descritivos da cincia so transcries, no sentido de poderem ser reconduzidos a estas ltimas por um oportuno processo de reduo. Por outro lado, Carnap substitui a 44 exigncia de uma verificao emprica directa dos enunciados cientficos, que fora defendida pelo Crculo de Viena e pela primeira fase do neo-empirismo e era considerada
como critrio de significao das proposies sintticas, pela exigncia muito mais dbil da confirmabilidade, que consiste precisamente na possibilidade de reduzir os predicados descritivos a predicados observveis (Testability and Meaning, in Readings in the Philosophy of Science, 1953, p. 70). Deste ponto de vista, j no possvel uma verificao completa e exaustiva; s possvel uma confirmao gradualmente maior dos enunciados. Por outras palavras, e de acordo com a terminologia que Carnap adoptou nos ltimos tempos, o acontecimento que constitui a confirmao de um enunciado cientfico um acontecimento possvel, entendendo-se por "possibilidade" a possibilidade fsica ou causal e no a simplesmente lgica. Por exemplo, um acontecimento que implique a transmisso de um sinal a uma velocidade superior da luz no um acontecimento possvel, de acordo com o princpio fsico que exclui a possibilidade de exceder a velocidade da luz; mas j possvel, se bem que inverosmil, que um homem consiga levantar um automvel (The Methodological Character of Theoretical Concepts, in Minnesota Studies in Philosophy of Science, 1956, 1, pgs. 53-54). Estes desenvolvimentos foram sugeridos a Carnap depois de uma atenta considerao da cincia contempornea, especialmente da fsica, a qual faz, como vimos ( 791), um uso bastante grande de 45 termos ou de entidades (chamadas por vezes "construes") que no tm nenhuma referncia aparente s coisas ou aos dados simples da experincia. Uma destas entidades o "campo", que tem uma funo bsica na fsica relativista. Carnap entende que esta entidade em particular redutvel a termos elementares e que esses termos elementares podem ser, por sua vez, reduzidos a propriedades observveis das coisas (Foundations of Logic and Mathematics, 1939, 24). Mas duvidoso que esta dupla reduo tenha fundamento, ou melhor, sentido, no mbito da prpria fsica. Carnap observou que, na fsica, compreender uma expresso, um enunciado, uma teoria, significa "capacidade para a usar na descrio dos factos conhecidos ou na previso de factos novos", e que portanto uma "compreenso intuitiva ou uma traduo directa de um enunciado cientfico em termos que se refiram a propriedades observveis no necessria nem to-pouco possvel" (Ib., 25). 814. CARNAP: A SINTAXE LGICA O outro terna fundamental em que se concentraram as indagaes de Carnap o da estrutura lgica da linguagem. Como vimos, Carnap considerou a linguagem como um contexto de relaes e no como um atomismo de proposies (segundo a opinio de Wittgenstein no Tractatus). Por outro lado, acabou por reconhecer o carcter arbitrrio e convencional do sistema de relaes (isto , da lgica) 46 em que consiste a linguagem. Estes temas encontram o seu melhor estudo analtico na obra A sintaxe lgica da linguagem, publicada em 1934 e, em edio inglesa, em 1937. A tese fundamental desta obra a da multiplicidade e relatividade das linguagens, que Carnap exprime sob a forma do princpio de tolerncia: "No nossa tarefa estabelecer
proibio mas apenas chegar a convenes... Em lgica no existe moral. Qualquer pessoa pode construir corno bem entender a sua prpria lgica, isto , a sua forma de linguagem. Se quiser discutir connosco, deve apenas indicar como o deseja fazer, quais as regras sintcticas que ir respeitar, e no argumentos filosficos" (Logical SyWax of Language, 17). No existe, deste ponto de vista, uma linguagem nica ou uma linguagem privilegiada; mas existem para cada linguagem regras determinadas, prprias dessa linguagem, alm das regras que so vlidas para todas as linguagens. Tais regras - e esta a segunda tese fundamental da obra - so de natureza sintctica: exprimem simplesmente a possibilidade de combinao dos termos lingusticos nos enunciados e dos enunciados nas suas consequncias. Trata-se aqui de unia "arte combinatria" no sentido de Leibnitz ou, de acordo com a definio de Carnap, de um clculo cujas regras determinam "em primeiro lugar as condies em que uma expresso [isto , uma srie de smbolos] pertence a uma certa categoria de expresses, e, em segundo lugar, as condies que tornam lcita a transformao de uma ou mais expresses numa outra ou noutras expresses" (Ib., 2). Este clculo prescinde completamente do signi47 ficado dos termos e do sentido das proposies, j que no nem pressupe nenhuma referncia semntica a factos, realidades ou entidades de qualquer tipo. Afirma Carnap: "Para, determinar se uma proposio ou no consequncia de outra, no se faz nenhuma referncia aos seus significados... Basta que seja dada a figura sintctica das proposies" j que "uma lgica especial do significado suprflua; uma lgica no formal uma contradictio in adjecto. A lgica sintaxe" (Ib., 61). Posto isto, a sintaxe lgica de Carnap reduz-se a uma formulao simblica generalizada dos processos matemticos, que muito deve obra de Hilbert ( 794). Distingue uma linguagem 1 que compreende a aritmtica elementar e que caracterizada pelo facto de nela s serem admitidas propriedades numricas definidas, isto , tais que a sua aplicabilidade a um qualquer nmero pode ser estabelecida por uma srie finita de passagens dedutivas que sigam um mtodo pr-estabelecido; uma linguagem 11, que alm de conter a 1, compreende ainda conceitos indefinidos e na qual pode ser expressa a aritmtica dos nmeros reais, a anlise matemtica e a teoria dos conjuntos; e ainda uma ulterior generalizao que Carnap chama "sintaxe de qualquer linguagem", que se baseia nas precedentes e especialmente na segunda. A propsito desta ltima, Carnap insiste na importncia fundamental da noo de "consequncia". " Dada uma linguagem qualquer, afirma, ao ser estabelecida a relao consequncia fica imediatamente determinada toda a assero que diga respeito s relaes lgicas" (Logical Syntax, 46). 48 A sintaxe universal Ocupa-se do estabelecimento das regras com as quais deve concordar a definio de consequncia ou, por outros termos, com as quais devem concordar as regras de transformao de uma expresso noutra.
A parte final desta obra a propriamente filosfica, sendo o seu tema "Filosofia e sintaxe". A se pretende defender aquilo que Carnap chama "modo formal" ou "sintctico" de falar, oposto ao "modo, material". A diferena entre estes dois modos ilustrada pelos seguintes exemplos, escolhidos entre aqueles que so dados por Carnap: MODO MATERIAL 1. -Os nmeros so classes de coisas. 2. -Os nmeros fazem parte de um tipo primitivo especial de objectos. 3. - Uma coisa um complexo de dados sensoriais. MODO FORMAL 1. - A s expresses numricas so expresses de classes do segundo nvel. 2. - A s expresses numricas so expresses do nvel zero. 3. - Qualquer proPOSio em que figure uma designao de coisas equivalente a uma classe de proposies em que no figurem designaes de qualidade mas apenas designaes de dados sensoriais. 49 4. - O mundo a to4. -A cincia um talidade dos factos e proposies no das coisas. e no de nomes. sistema de nmeros
5. -Deus criou os S. -Os smbolos dos nmeros naturais (**Kronaturais so **necker). smbolos primitivos. 6.-Toda a cor 6. -Uma expresso ocupa uma posio.
decores sempre
acompanhada, nas proposies, por uma designao posicional. A vantagem do modo formal de falar consiste, segundo Carnap, no facto de eliminar a possibilidade de controvrsias filosficas, possibilidade essa que deixada em aberto pelo modo material. Esta. uma forma desviada ou metafrica de falar, que no est errada em si mesma mas que se presta facilmente a ser utilizada de uma forma incorrecta. Carnap pensa "que a tradutibilidade no modo de falar representa a pedra de toque de todas as proposies filosficas ou, mais exactamente, de todas as proposies que no entrem na linguagem de uma cincia emprica" (Ib., 81). No possui essa caracterstica nenhuma das proposies que apelam para o inexprimvel, compreendendo aqui as de Wittgenstein. A proposio de que "o inexprimvel existe, equivale a "existem objectos que no podem ser descritos", isto , "existem objectos a que no se d nenhuma designao objectiva", e traduzida
50 em linguagem formal pela frase contraditria "existem designaes objectivas que no so designaes objectivas" Qb., 81). Carnap admitiu sempre a distino tradicional entre inteno e extenso (ou conotao e denotao) do conceito (ou em geral do signo), distino que fora reintroduzida por Frege entre sentido e significado ( 795). No entanto, e seguindo as pegadas de Russell ( 800) e de Wittgenstein (Tractatus, 5.541-5.421), Carnap concebe a lgica inteiramente im dimenso extensiva, identificando o ponto de vista sintctico (ao qual se reduz a lgica) com o ponto de vista extensional. Isto significa que para ele os conceitos so classes, ou classes de classes, e no essncias, qualidades ou predicados; que, por exemplo, "homem" significa o "conjunto dos homens" e no a propriedade de ser homem, animal racional ou qualquer coisa semelhante. No entanto, Carnap no nega que existam proposies intensionais e que tais proposies tenham uma certa relevncia na lgica: so aquelas que parecem exprimir uma relao de inerncia do predicado ao sujeito (por exemplo, "os corpos so compridos") ou as modais ("A possvel", "A impossvel", "A necessrio", "A contingente"). No entanto, segundo Carnap, estas proposies podem ser consideradas "quase-sintcticas", j que so redutveis a enunciados sintcticos ou extensionais se forem traduzidas do modo material de falar para o modo formal. Assim, "os corpos so pesados" transforma-se em "o enunciado 'os corpos so pesados' analtico"; e os enunciados modais 51 que referimos transformam-se em "A' possvel", "IAI impossvel", "'A' necessrio", nos quais A representa um enunciado (Logical Syntax, 67-69). Nos escritos posteriores e sobretudo no mais especificamente dedicado lgica modal, intitulado Significado e necessidade (1947), o autor confirma substancialmente esta reduo, assumindo no entanto como base o conceito da necessidade lgica (ou analtica) e definindo os outros significados modais relativamente a ele; ento, "p impossvel" significa "no-p necessrio"; "p contingente" significa "p no nem necessrio nem impossvel"-, "p possvel" significa "p no impossvel" (Meanin., and Necessity, 1956, 2 a edio, 39). No entanto, na ltima fase da sua actividade, Carnap dirigiu cada vez mais a sua ateno para o aspecto semntico e pragmtico da linguagem que, como vimos, exclua anteriormente da lgica, sendo esta reduzida sintaxe; deu tambm uma anlise pragmtica do significado intensional, considerando como "inteno de um predicado, para o orador X a condio geral a que um objecto deve satisfazer para que X lhe possa aplicar um predicado" (Ib., p. 246). Sublinha que com isto no se reduz a inteno a um acontecimento mental, visto ela no poder ser to bem determinada por um robot como por um homem. Estas investigaes de Carnap inserem-se nas discusses entre os neoempiristas sobre alguns temas de lgica e de metodologia, e voltaremos a falar nelas a propsito destes ltimos ( 818). 52 815. REICHENBACH O mundo a que Carnap dedica principalmente
a sua ateno o da matemtica; ao da fsica dedica-se quase exclusivamente Hans Reichenbach. (1891-1953), expoente mximo do neo-positivismo na Alemanha. Reichenbach foi professor de fsica em Berlim de 1926 a 1933, de filosofia em istambul de 1933 a 1938 e na Universidade da Califrnia, cin Los Angeles, de 1938 at data da sua morte. As suas obras principais so as seguintes: Filosofia da doutrina do espao-tempo, 1928; tomo e cosmos, 1930; A tarefa e as vias da moderna filosofia da natureza, 1931; Teoria da probabilidade, 1935. Estas obras foram publicadas na Alemanha, assim como numerosos artigos, alguns dos quais apareceram em "Erkenntnis", revista que ele dirigiu juntamente com Carnap. Na Amrica, Reichenbach. publicou: Experincia e previso, 1938; Elementos de lgica simblica, 1947; Teoria da probabilidade, 1949 (nova edio aumentada da obra publicada na Alemanha em 1935); O nascimento da filosofia cientfica, 1951; A direco do tempo, 1956 (pstuma). Nesta ltima obra Reichenbach identifica a ordem do tempo com a da causalidade, e entende que esta ordem estabelecida pela entropia. As investigaes de Reichenbach so muitas vezes enquadradas por consideraes histricas que so, simultaneamente, toscas e fantsticas. Por outro lado, nota-se uma certa dogmatizao da cincia nas suas obras, o que contrasta singularmente com o carcter probabilista que ele reconhece existir no conhecimento cientfico. 53 As investigaes de Reichenbach dirigem-se em grande parte para uma defesa e uma justificao analtica da estrutura probabilista da cincia. Lgica dedutiva e lgica indutiva so, segundo Reichenbach, duas caractersticas fundamentais da cincia; mas assim como todos os positivistas, pensa que a deduo, enquanto procedimento puramente lgico, nunca alcana a realidade. Os seus resultados so necessrios mas ocos, porque a deduo liga as proposies de tal forma que as combinaes resultantes so verdadeiras independentemente da verdade das proposies componentes. A combinao "se nem Napoleo nem Csar chegaram idade de 60 anos, ento Napoleo no chegou idade de 60 anos" verdadeira quer Napoleo e Csar tenham morrido antes dos sessenta anos quer tenham morrido depois; nada se diz sobre o facto que a frase refere. Por outro lado, a situao chega a expresses que respeitam a factos e que tomam possvel a sua previso, mas no os d como necessrios. No final da Filosofia da doutrina do espao-tempo, Reichenbach criticava a interpretao rigorosamente determinista da causalidade que se exprime nas leis naturais e insistia no carcter probabilstico da prpria causalidade. A fsica quntica parece-lhe ser a maior confirmao desta tese e a ela Reichenbach. dedicou um importante ensaio de interpretao. Partindo das relaes de
indeterminao de Heisenberg, Reichenbach refere-se aos acontecimentos observveis e aos no observveis: estes ltimos seriam inter-fenmenos e s poderiam ser introduzidos por inferncias de tipo muito mais' 54 complicado do que as usadas para os acontecimentos observveis. A introduo dos inter-,fenmenos serviria para eliminar as anomalias causais, isto , a relativa imprevisibilidade dos fenmenos qunticos (Philosophic Foundations of Quantum Mechanics, 8). Quanto s linguagens em que o mundo fsico pode ser descrito, o autor distingue a linguagem corpuscular, a ondulatria e a neutra. As duas primeiras incluem anomalias causais e tornam impossvel uma completa descrio dos fenmenos; quanto terceira, apresenta ainda uma anomalia na medida em que elimina o princpio do terceiro excludo e introduz uma lgica a trs valores na qual, alm do verdadeiro e do falso, existe o indeterminado, (Ib., 30). De acordo com esta concepo da cincia, a teoria das probabilidades toma um interesse fundamental; e os resultados que Reichenbach conseguiu neste campo sero expostos um pouco mais frente ( 816). Reichenbach partilha com todos os outros neo-empiristas a teoria segundo a qual o significado de uma proposio consiste na sua :verificao; mas considera que se deva apelar para uma verificao possvel e no para uma que o seja de facto. A este propsito, o autor distingue trs tipos de possibilidade: a lgica, que significa no contraditoriedade, fsica, que significa a no contraditoridade com as leis fsicas e a tcnica que consiste no uso dos mtodos prticos conhecidos. A fsica assume normalmente como critrio de significao para os seus enunciados a possibilidade fsica; mas na discusso das teorias fsicas usa muitas vezes a possibilidade 55 lgica para mostrar a inconsistncia de algumas delas (Verifiability Theory of Meaning, in Proceedings of the American Academy of Arts and Science, vol. 80, 1951, pgs. 53 e segs.). 816. REICHENBACH: PROBABILIDADE E INDUO Como vimos, um lugar-comum no neo-empirismo a afirmao de que a cincia constituda por duas formas diferentes de proceder: aquela que consiste na formulao de inferncia ou dedues analticas e a que consiste na formulao indutiva de proposies sobre a realidade. As anlises dos neo-positivistas dirigiram-se sobretudo para a primeira destas formas de proceder e para os problemas lgicos a que ela d origem (cfr. 819). Quanto anlise da segunda, podemos encontrar alguns contributos importantes em Carnap, Reichenbach e outros. Vamos agora falar deles. Segundo o neo-positivismo, que repete neste ponto a doutrina de Hume, as proposies que se referem a factos sero possveis ou contingentes mas nunca necessrias. Alm disso, as proposies universais ou leis so apenas (de acordo com a doutrina comum de Wittgenstein, Sclilick e Carnap) hipteses dotadas de um valor provvel. O neo-positivismo acabou assim por se voltar contra a tese, prpria do positivismo oitocentista, do rigoroso determinismo causal
dos fenmenos. O fsico austraco Philipp Frank (nascido em 1884), que se encontrava entre os fun56 dadores do Crculo de Viena, foi um dos crticos do conceito clssico da causalidade (O significado da moderna teoria fsica para a teoria do conhecimento, 1933; O princpio causal e os seus limites, 1932; O fim da mecnica, 1935; Entre a fsica e a filosofia, 1941, A cincia moderna e a sua filosofia, 1949, sendo as duas ltimas obras, publicadas na Amrica, compostas por ensaios escritos entre 1907 e 1947). Frank criticou o significado ontolgico ou metafsico do princpio da causalidade e considerou-o simplesmente como uma regra de previso. Neste sentido, a diferena entre a fsica clssica e a quntica reside apenas no facto de a primeira explicar a coincidncia aproximada entre as previses dos acontecimentos e os prprios acontecimentos, recorrendo ao carcter aproximado da descrio em que se baseia a previso, enquanto que a segunda admite explicitamente o carcter indeterminado da relao entre previso e acontecimento futuro. Frank notou ainda que ilegtimo construir generalizaes metafsicas dos princpios ou dos resultados da cincia experimental; e viu a razo de ser das diferenas existentes entre a cincia e a filosofia no facto de esta se manter em fases j superadas pela cincia. No mbito destas ideias, que se tornaram patrimnio comum dos neo-empiristas, o conceito da probabilidade adquiriu grande importncia para a interpretao dos enunciados factuais da cincia e em particular das leis cientficas. E os neo-positivistas preferem uma interpretao estatstica deste conceito, admitindo que a probabilidade consiste na frequncia relativa com que se verifica um aconte57 cimento; logo, ela diz respeito no a acontecimentos individuais mas sim a conjuntos de acontecimentos. Em fins de 1919 o matemtico austraco Richard Von Mises (nascido em 1883), membro do Crculo de Berlim e autor, entre outras obras, de um Manual do positivismo (1939; trad. ital, com o ttulo Manuale di critica cientfica e filosfica, 1950), defendera a concepo estatstica das probabilidades, que exps mais tarde no livro Probabilidade, estatstica e verdade (1928; trad. inglesa, 1939). Mais precisamente, Von Mises achava que a probabilidade consiste no limite das frequncias relativas; se em n observaes o acontecimento teve lugar m vezes, ento o quociente mIn (frequncia relativa) tende para um valor limite quando o numerador e o denominador se tornam sempre maiores e este valor limite pode ser considerado como a medida da probabilidade. Von Mises achava porm que o clculo das probabilidades no pode servir para justificar a inferncia indutiva porque a passagem das observaes para os princpios tericos gerais no e uma concluso lgica mas sim uma escolha; pode-se supor que essa escolha resista a futuras observaes, mas acontece que, na realidade, ela pode variar em qualquer momento e das formas mais imprevistas (Kleines Lehrbuch des Positivismus, 14). Pelo contrrio, Reichenbach considerou que a
probabilidade um fundamento suficiente para a induo (Theory of Probability, 1949, p. 446; Experience and Prediction, 1938, pgs. 339 e segs.); e concordaram com esta tese o americano C. I. Lewis (Analysis of Knowledge, 1946) e os ingleses W. 58 Kneale (Probability and Induction, 1949), 1. O. Wisdom (Foundation of Inference, in Natural Science, 1952) e R. B. Braithwaite (Scientific Explanation, 1953). Por outro lado, nenhum destes escritores considera que o fundamento probabilstico da induo equivalha a uma justificao da induo, no sentido de que lhe garanta uma validade em todos os casos. A induo por eles considerada, por um lado, como o nico mtodo disposio do homem para obter aquilo de que tem necessidade, a saber, previses exactas; por outro lado, como um mtodo susceptvel de auto-correco (Kneale, op. cit., p. 235; Reichenbach, op. cit-, pgs. 446 e 475). De qualquer modo, um mtodo que implica necessariamente um certo risco se bem que sirva ao mesmo tempo para limitar ou tornar calculvel o prprio risco. Por outro lado, Carnap (num artigo de 1945 e depois na obra Fundamentos lgicos da probabilidade, 1950) e Russell (Human Knowledge, 1948, V, cap. 1) defenderam o outro conceito fundamental da probabilidade (aquele que permitiu o nascimento do prprio clculo das probabilidades), segundo o qual a probabilidade consiste no "grau de credibilidade", de "racionalidade" ou de "confirmao" da proposio ou acontecimento individuais que exprime; e reconhecem que este segundo tipo de probabilidade to legtimo quanto o outro (que considera a frequncia relativa de classes de acontecimentos) e cumpre tarefas que o outro no pode cumprir. Carnap, particularmente, mostrou que a objeco empirista contra a probabilidade individual - o facto de a proposio "a probabilidade de que amanh 59 chova de 1 /5" no pode ser verificada empiricamente porque amanh ou chove ou no chove - no vlida, pois aquela proposio no atribui uma probabilidade de 1 /5 possvel chuva de amanh mas a certas relaes lgicas existentes entre a previso de chuva e as informaes metereolgicas. Alm disso a probabilidade individual, segundo Carnap, no subjectiva nem psicolgica mesmo sendo chamada de "credibilidade" ou de "racionalidade", pois depende da existncia e da natureza das provas que podem confirmar a hiptese. Carnap construiu por isso um sistema de lgica quantitativa indutiva, baseado no conceito de confirmao assumido nas suas trs formas: positiva, comparativa e quantitativa. O conceito positivo de confirmao a relao entre os dois enunciados h (hiptese) e p (prova), que pode ser expressa por enunciados do tipo "h confirmado por p", "H apoiado por p", "p uma prova (positiva) de h", "p uma prova que corrobora a afirmao de h". O conceito comparativo ou tipolgico de confirmao normalmente expresso por enunciados que tm a forma "h melhor confirmado (ou apoiado ou corroborado, etc) por p do que h' por p'". Finalmente, o conceito qualitativo ou mtrico de confirmao, isto , o conceito de grau de confirmao, pode ser determinado por procedimentos anlogos aos necessrios para introduzir o
conceito de temperatura a fim de explicar o que significam as expresses "mais quente" ou "menos quente", ou ainda o conceito de quociente de inteligncia para determinar o desenvolvimento intelectual. Carnap acaba por atribuir uma importncia 60 fundamental a este conceito de probabilidade, se bem que admita a legitimidade do outro; e os seus passos foram seguidos pelos neo-empiristas. At Popper, que anteriormente defendera a probabilidade estatstica (Logik der Forschung, 1934, cap. VIII), acabou por apresentar uma interpretao da probabilidade estatstica que a assemelha probabilidade indIvidual, considerando-a como a disposio ou propenso de uma certa ordem experimental. Deste ponto de vista, pode-se admitir por exemplo que um dado tenha uma posio definida nessa ordem, que a disposio pode ser modificada variando a posio do dado, que as disposies deste gnero podem variar continuamente e que, finalmente, podemos trabalhar com campos de disposies ou de entidades que determinem disposies. A probabilidade ou disposio pode ser ento representada por um vector pertencente a um espao de possibilidades (The Propensity Interpretation of the Calculus of Probability, and the Quantum Theory, in Observation and Interpretation, ed. by S. Kmer, 1957, pgs. 67-68). Mas quer a induo se baseie na probabilidade estatstica ou na probabilidade individual, o seu risco no varia, pois tanto rum caso como noutro ela constitui um procedimento racional, mas no infalvel, de formular previses. "Uma deciso racional, afirma Carnap, quando est de acordo com a probabilidade que calculada partindo das provas disponveis; e isto mesmo que depois a deciso tomada no seja bem sucedida" (Logical Foundations of Probability, p. 181). 61 817. O PRINCPIO DA REFUTABILIDADE: POPPER O principal instrumento polmico usado pelo neo-empirismo para criticar a metafsica clssica e em geral qualquer proposio que no pertena lgica ou s cincias empricas, o critrio adoptado para definir o significado de urna proposio qualquer. Uma proposio tem sentido se for susceptvel de verificao. A possibilidade de tal verificao (leia-se: verificao emprica) constitui o nico sentido possvel das proposies factuais, j que quando uma proposio no pode ser verificada nem refutada deixa de ter sentido e de ser uma "proposio": torna-se uma "pseudo-proposio". Por outras palavras, "o significado de uma proposio consiste no mtodo da sua verificao". Assim entendido, o critrio de significao fundamentou a posio polmica do neoempirismo contra todas as formas da metafsica e, em geral, da filosofia tradicional, j que parecia reduzir a simples "no-sensos" todas as proposies que no se referiam a factos ou acontecimentos empricos, isto , a todas as proposies no compreendidas nas
cincias da natureza. No entanto o significado e o alcance desse critrio nunca deixaram de ser objectos de discusses o de crticas, tendo sido interpretado de formas diferentes e sofrendo restries ou limitaes cada vez maiores, apesar de constituir sempre uma posio fundamental do neo-criticismo. O primeiro ataque contra esta concepo surgiu no interior do prprio Crculo de Viena, da arte 'do 62 austraco Karl Popper (nascido em 1902 e actual professor da Universidade de Londres), na sua obra intitulada A lgica da investigao, publicada em 1934 numa coleco dirigida por Frank e Schlick (a edio inglesa desta obra, com um importante apndice, foi publicada em 1959). Popper considera em primeiro lugar que a diviso das proposies em duas classes, a das proposies significantes ou cientficas e a das proposies no significantes ou metafsicas, dogmtica, por pretender basear-se na prpria natureza das proposies, a qual lhes atribuda definitivamente. Trata-se antes, segundo Popper, de definir unia linha de demarcao, isto , de propor ou estabelecer uma conveno oportuna para a demarcao do prprio domnio da cincia. Em segundo lugar, defende que a experincia deva ser compreendida no como um mundo de dados mas como um mtodo, precisamente o mtodo de verificao ou de controle, dos diversos sistemas tericos logicamente possveis. Partindo desta base, o autor prope como critrio de demarcao no a verificabilidade mas a falsificabilidade das proposies: ou seja, o considerar como caracterstica de um sistema cientfico a possibilidade de ser refutado pela experincia. Assim, a afirmao "amanh chover ou no chover" no emprica na medida em que no pode ser refutada, mas j o esta outra: "amanh chover". A superioridade deste critrio baseia-se, segundo Popper, na assimetria entre a verificabilidade e a falsificabilidade: se bem que as proposies universais no possam derivar das particulares, elas podem ser negadas por uma destas. 63 No basta verificar que "este homem mortal" para dizer que "todos os homens so mortais"; mas basta t-lo verificado para garantir que "todos os homens so imortais" uma proposio falsa. O mtodo da refutao consiste em sobrepor inferncia indutiva a verificao da falsidade dos sistemas dedutivos constitudos pelas transformaes tautolgicas das proposies (The Logic of Scientific Discovery, 6). Assim, uma teoria pode ser considerada emprica ou falsificvel se dividir sem nenhuma ambiguidade a classe de todas as proposies fundamentais possveis em duas subclasses: a das proposies com as quais incompatvel e que constituem os falsificadores potenciais da teoria e a das proposies que no a contradizem. Mais resumidamente, "uma teoria falsificvel se a classe dos seus falsificadores potenciais no for uma classe vazia" (Ib., 21).
Na obra de Popper, o carcter problemtico da cincia ainda mais fortemente sublinhado do que na dos outros empiristas. No hesita em considerar a cincia como um amontoado de conjecturas ou de "antecipaes" no sentido de Bacon, se bem que esteja sob um controle sistemtico. "0 nosso mtodo de investigao no consiste em defender essas antecipaes para provarmos que temos razo. Pelo contrrio, procuramos sempre neglas. Usando todas as armas do nosso arsenal lgico, matemtico e tcnico, tentamos provar que as nossas antecipaes so falsas, a fim de construir novas antecipaes, injustificadas e injustificveis, novos 'juzos arriscados e prematuros', como lhes chamou escar64 necedoramente Bacon" (Ib., 85). Nas suas obras mais recentes, Popper ops esta doutrina do essencialismo, segundo o qual possvel fazer uma descrio exaustiva e completa do mundo (da sua "essncia"); e considerou a prpria cincia galileu-newtoniana como uma manifestao do essencialismo. Contraps igualmente a sua teoria ao instrumentalismo (Duhem), segundo o qual as teorias cientficas so meros instrumentos de clculo (Three Views Concerning Human Knowledge, in Contemporany British Philosophy, 1956, pgs. 357 e segs.); e estendeu a crtica do essencialismo ao domnio das cincias histricas, considerando o historicismo, por aceitar a histria na sua totalidade, como uma manifestao desse mesmo essencialismo (The Poverty of Historicism, 1944). Finalmente, viu no essencialismo a base do absolutismo poltico, cujo fundador teria sido, a seus olhos, Plato (The Open Society and its Ennetnies, 1945). 818. NEO-EMPIRISMO: O PRINCPIO DE VERIFICABILIDADE A obra de Carnap Probabilidade e significado (1936) marca o abandono definitivo, por parte do neo-empirismo, do critrio de significao tal como tinha sido considerado pelo Crculo de V,,-n-,,.. Como vimos ( 813), Carnap sugeria naquele ensaio que basta, para estabelecer o significado de um enunciado emprico, a possibilidade de reduzir os seus termos a predicados observveis, mesmo que esta 65 reduo s seja possvel atravs de uma longa cadeia de enunciados intermdios. Nesta forma, que entre outros factos toma em considerao o uso crescente que as disciplinas cientficas fazem de entidades ou construes que nada tm a ver com as coisas percebidas, o critrio de significao foi largamente aceite pelos neo-empiristas, sendo ainda defendido por alguns deles. Por outro lado, e mesmo nesta sua forma, o critrio foi submetido a crticas radicais. C. G. Hempel (nascido na Alemanha em 1905), um dos membros do Crculo de Viena que, depois de 1934, ensinou em Universidades americanas, considerou que mesmo a exigncia de redutibilidade introduzida por Carnap demasiado restrita para dar conta do significado dos enunciados cientficos. A tese de Hempel a de que nenhum enunciado particular de uma teoria cientfica redutvel a enunciados de observao, e de que o "significado" de uma expresso relativamente a dados empricos potenciais depende de dois factores, a saber: a estrutura lingustica a que pertence a expresso e que determina as regras de inferncia dos enunciados, e o contexto terico a que ela recorre, isto , o conjunto de hipteses subsidirias que se encontram disponveis. Assim, os enunciados que exprimem a lei da gravitao universal de Newton no tm nenhum significado experimental em si mesmos; s quando vm expressas numa
linguagem que permita o desenvolvimento do clculo e combinados com um sistema apropriado de outras hipteses que adquirem uma certa importncia na interpretao dos fenmenos observ66 veis. Deste ponto de vista, s os enunciados que formam um sistema terico, ou melhor, s os sistemas na sua totalidade tm significado cognitivo. Este significado uma questo de grau: existem sistemas cujo vocabulrio extra-lgico consiste totalmente em termos observveis e outros que dificilmente tm qualquer alcance sobre eventuais situaes empricas (The Concept of Cognitive Significance, in Proceedings of the American Academy of Arts and Science, vol. 80, 1951, p. 74). Partindo desta base, Hempel elucida a formao das teorias cientficas mostrando que o significado emprico dos sistemas axiomticos consiste na sua possibilidade de serem interpretados a partir de fenmenos empricos, isto , mediante proposies que relacionam certos termos do vocabulrio terico com termos observveis; e insistiu ainda no carcter parcial desta possibilidade de interpretao (The Theoretician's Dilenuna, 1958, trad. ital. in La formazione dei conceui e delle leorie nella scienza empirica, p-s. 145 c, segs.). Um ponto de vista semelhante foi defendido, de forma ainda mais radical, pelo lgico americano Willard Van Orman Qu;ne em obras (Lgica matemtica, 1940; Mtodos de lgica, 1950; De um ponto de vista lgico, 1953; Palavra e objecto, 1960) que fornecem importantes desenvolvimentos da lgica simblica e que contm determinaes igualmente importantes da relao entre lgica e filosofia. Num ensaio de 1951, Dois dogmas do empirismo, Quine considerou precisamente como "doama" a existncia neoempirista de definio do significado das proposies factuais em termos de experincia. Mes67 mo na forma atenuada que esta exigncia reveste para Carnap, isto , na forma de reduo dos termos de tais proposies a predicados observveis, ela no pode ser satisfeita por todos os enunciados cientficos e no pode assim valer como critrio para avaliar o seu "significado". Quine afirma que a menor unidade que se pode considerar dotada de significado a totalidade da cincia. "A cincia total, matemtica, natural e humana, afirma, , em graus diversos, determinada pela experincia. As margens do sistema devem concordar com a experincia; o resto, com todas as suas elaboraes mticas ou fictcias, tem como nico objectivo simplificar as leis" (From a Logical Point of View, 116). No h dvida de que o esquema conceptual da experincia um instrumento para a previso das experincias futuras a partir das experincias passadas. Mas os chamados objectos fsicos so introduzidos nas situaes a ttulo de cmodos intermdios, no para construir definies em termos de experincia mas apenas como posies (posits) irredutveis no muito diferentes dos deuses de Homero. "Os objectos fsicos e os deuses s diferem por uma questo de grau, no de espcie. Ambos estes tipos de entidades entram nas nossas concepes como simples posies culturais. O mito dos objectos fsicos epistemologicamente superior aos outros porque demonstrou ser um expediente mais cmodo para forjar uma estrutura manejvel no fluxo da experincia" (Ib., 11, 6). Falar de "objectos fsicos" ou de "acontecimentos individuais subjectivos, sensaes ou reflexes", como de entidades a que se refere a fsica,
68 depende da posio ontolgica que se escolhe. Quer a tese do realismo quer a do fenomenismo so "mitos"; e a escolha de um deles depende dos interesses e dos fins que se pretendem atingir (Ib., pgs. 16 e segs.). Segundo Quine, o dogma da verificabilidade emprica est estreitamente ligado ao da distino rigorosa entre as proposies analticas e as sintticas, distino que constitui um dos pontos mais polmicos do neo-empirismo ( 819). Quine representa, em certa medida, a ala esquerda das posies neo-empiristas. Aquela a que poderemos chamar ala direita a mais fiel formulao original do critrio de significao, aceitando quanto muito a forma atenuada que lhe foi dada por Carnap. Assim, Herbert Feigl, um outro membro do Crculo de Viena que actualmente ensina na Universidade de Minnesota, defendeu precisamente esta formulao do critrio, considerando-o no entanto como uma "proposta" e no como uma proposio, e isto para evitar que ele caia na sua prpria jurisdio (o que o tornaria no vlido para no poder ser verificado empiricamente), e para lhe reconhecer uma validade no terica mas prtica. Fiegl defende ainda uma interpretao "realista" da cincia, admitindo a existncia de "entidades tericas" que podem ser relacionadas com termos que designem dados da observao directa (Existencial Hypotheses, in "Philosophy of Science", 1950; Some Major Issues and Developinents in the Philosophy of Science of Logical Empiricism, in Minnesota Studies in Philosophy of Science, 1956, pgs. 3-37). 69 Gustav Bergmann, um outro membro do Crculo de Viena que actualmente professor na Universidade do Estado de lowa, exprimiu com intenes anlogas o critrio de significao como sendo um "princpio da experincia imediata" (acquaintance), no sentido de que "todos os predicados descritivos, pertencem a, ou podem ser explicitamente (textualmente) definidos por um conjunto de termos que representam caractersticas imediatas e observveis" (in Proceedings of t
Você também pode gostar
- Ação pedagógica: Entre verticalismo pedagógico e práxis dialógicaNo EverandAção pedagógica: Entre verticalismo pedagógico e práxis dialógicaAinda não há avaliações
- A Questão Da Alteridade No Encontro Do Europeu Com o Novo MundoDocumento20 páginasA Questão Da Alteridade No Encontro Do Europeu Com o Novo MundoLara FeriottoAinda não há avaliações
- Rui Barbosa Leitor de John Ruskin: O Ensino do Desenho como Política de IndustrializaçãoNo EverandRui Barbosa Leitor de John Ruskin: O Ensino do Desenho como Política de IndustrializaçãoAinda não há avaliações
- A introdução à disputa entre Lüwith e Blumenberg sobre a legitimidade da modernidadeDocumento19 páginasA introdução à disputa entre Lüwith e Blumenberg sobre a legitimidade da modernidadepedrofreitasnetoAinda não há avaliações
- O Olhar da Época: Imagem, comunicação e poder na Propaganda Fide InquisitorialNo EverandO Olhar da Época: Imagem, comunicação e poder na Propaganda Fide InquisitorialAinda não há avaliações
- A Primeira República Portuguesa (1910-1926) : Educação, Ruptura e Continuidade, Um Balanço CríticoDocumento32 páginasA Primeira República Portuguesa (1910-1926) : Educação, Ruptura e Continuidade, Um Balanço CríticoSulai DansoAinda não há avaliações
- O amor ao próximo em Simone WeilDocumento34 páginasO amor ao próximo em Simone WeilSÍLVIO PAIVA DO SANTOS SILVAAinda não há avaliações
- História de países imaginários: variedades dos lugares utópicosNo EverandHistória de países imaginários: variedades dos lugares utópicosAinda não há avaliações
- Uma Breve História Do Mundo - Geoffrey BlaineyDocumento181 páginasUma Breve História Do Mundo - Geoffrey BlaineyCarlosAinda não há avaliações
- Aqui se jaz, aqui se paga: a mercantilização da morte, do morrer e do lutoNo EverandAqui se jaz, aqui se paga: a mercantilização da morte, do morrer e do lutoAinda não há avaliações
- Idealizado Por Adauto NovaesDocumento4 páginasIdealizado Por Adauto NovaesCleros2Ainda não há avaliações
- Abrir a história: Novos olhares sobre o século XX francêsNo EverandAbrir a história: Novos olhares sobre o século XX francêsAinda não há avaliações
- As Repúblicas Da República - História, Cultura Política e Republicanismo - Maria Alice SamaraDocumento432 páginasAs Repúblicas Da República - História, Cultura Política e Republicanismo - Maria Alice SamaraOdete ViolaAinda não há avaliações
- Sociologia do desconhecimento: ensaios sobre a incerteza do instanteNo EverandSociologia do desconhecimento: ensaios sobre a incerteza do instanteAinda não há avaliações
- (Adoramos - Ler) Theodor Adorno - A Teoria Freudiana e o Padrão Da Propaganda Fascista (Filosofia - Psicanalise) PDFDocumento25 páginas(Adoramos - Ler) Theodor Adorno - A Teoria Freudiana e o Padrão Da Propaganda Fascista (Filosofia - Psicanalise) PDFmarcos.peixotoAinda não há avaliações
- DICHTCHEKENIAN, Nichan. "O Mundo É A Casa Do Homem".Documento5 páginasDICHTCHEKENIAN, Nichan. "O Mundo É A Casa Do Homem".liviascmAinda não há avaliações
- A Recepção, o Visual e o SujeitoDocumento16 páginasA Recepção, o Visual e o SujeitoJosé Paulo GuimarãesAinda não há avaliações
- A TERCEIRA GERAÇÃO DOS ANNALES - SlidesDocumento7 páginasA TERCEIRA GERAÇÃO DOS ANNALES - SlidesVictor ShaidAinda não há avaliações
- 1 (ANTROP) Historia Da Beleza (VIGARELLO)Documento431 páginas1 (ANTROP) Historia Da Beleza (VIGARELLO)samia sefaradi100% (1)
- A essência humana da filosofiaDocumento3.386 páginasA essência humana da filosofiaMarcelo Silvano100% (1)
- Hegel: Um Burocrata Da Gnose - Marcelo AndradeDocumento13 páginasHegel: Um Burocrata Da Gnose - Marcelo AndradeRenan MarquesAinda não há avaliações
- (A) RÉMOND, René - Por Que A História PolíticaDocumento2 páginas(A) RÉMOND, René - Por Que A História Políticasandrinco4640Ainda não há avaliações
- Educação Liberal - Palestra de Olavo de Carvalho (2001Documento16 páginasEducação Liberal - Palestra de Olavo de Carvalho (2001dagmeshAinda não há avaliações
- BALISCEI, João Paulo. História Da ArteDocumento97 páginasBALISCEI, João Paulo. História Da ArteRaony RuizAinda não há avaliações
- A Tradição Cética - Danilo MarcondesDocumento14 páginasA Tradição Cética - Danilo MarcondesLeandro FernandesAinda não há avaliações
- Sócrates e PlatãoDocumento11 páginasSócrates e PlatãoAnor Afonso SerioAinda não há avaliações
- Theodor Adorno e A Educação para o Pensar AutônomoDocumento4 páginasTheodor Adorno e A Educação para o Pensar AutônomoAnne Chan100% (1)
- Biografia e História - o Que Mestre Tito - REgina CeliaDocumento24 páginasBiografia e História - o Que Mestre Tito - REgina CeliaGabriela R AmenzoniAinda não há avaliações
- JOSE - FERES - SABINO (Ensaios de Karl Philipp Mortiz)Documento142 páginasJOSE - FERES - SABINO (Ensaios de Karl Philipp Mortiz)Ednaldo SandimAinda não há avaliações
- Teoria de Wallon sobre a AdolescênciaDocumento3 páginasTeoria de Wallon sobre a AdolescênciaemanuellenayaraAinda não há avaliações
- História Da FilosofiaDocumento622 páginasHistória Da FilosofiaPriscila AraújoAinda não há avaliações
- Demarcação entre ciência e pseudociênciaDocumento8 páginasDemarcação entre ciência e pseudociênciaGuilhermePastlAinda não há avaliações
- 1 +Filosofia+AfricanaDocumento37 páginas1 +Filosofia+AfricanaAdemario AshantiAinda não há avaliações
- A Utopia de Oliveira VianaDocumento18 páginasA Utopia de Oliveira VianastrummerAinda não há avaliações
- Antropologia sob ataque na era digitalDocumento9 páginasAntropologia sob ataque na era digitalThiago Zanotti CarminatiAinda não há avaliações
- A Literatura Da Virada Do SéculoDocumento296 páginasA Literatura Da Virada Do SéculocadudiskmedAinda não há avaliações
- Bibliografia Cronológica de FoucaultDocumento4 páginasBibliografia Cronológica de FoucaultÍtalo Mazoni Dos Santos GonçalvesAinda não há avaliações
- 01 Do Mito Do Bom Selvagem 19n2Documento9 páginas01 Do Mito Do Bom Selvagem 19n2marianaAinda não há avaliações
- CAMENIETZKI, Carlos Ziller. A Literatura Do Outro Mundo: Ficção e Ciência No Século XVIIDocumento24 páginasCAMENIETZKI, Carlos Ziller. A Literatura Do Outro Mundo: Ficção e Ciência No Século XVIIMichael FloroAinda não há avaliações
- Pedro Da Fonseca - Instituições Dialécticas1Documento525 páginasPedro Da Fonseca - Instituições Dialécticas1O que EU pensoAinda não há avaliações
- Educação Estética em Walter Benjamin: Corpo, Experiência e MemóriaDocumento125 páginasEducação Estética em Walter Benjamin: Corpo, Experiência e MemóriaBOUGLEUX BOMJARDIM DA SILVA CARMOAinda não há avaliações
- Cartas Merleau Ponty SartreDocumento217 páginasCartas Merleau Ponty SartreBêlit Lua100% (1)
- Ricoeur Foucault e Os Mestres Da Suspeita Marcos Von Zuben PDFDocumento9 páginasRicoeur Foucault e Os Mestres Da Suspeita Marcos Von Zuben PDFHudson Ralf MartinsAinda não há avaliações
- Marilena Chaui - Filosofia ModernaDocumento13 páginasMarilena Chaui - Filosofia ModernaPatricia GomesAinda não há avaliações
- Vieira, 2002. A Moralidade Implícita No Ideal de Verticalidade Da Postura CorporalDocumento9 páginasVieira, 2002. A Moralidade Implícita No Ideal de Verticalidade Da Postura CorporalMaría CorralAinda não há avaliações
- Rouanet sobre a crise da modernidadeDocumento21 páginasRouanet sobre a crise da modernidadeJulia Maria CamposAinda não há avaliações
- (FICH) LE GOFF, Jacques. Os Intelectuais Na Idade Média.Documento9 páginas(FICH) LE GOFF, Jacques. Os Intelectuais Na Idade Média.Mayara SaldanhaAinda não há avaliações
- Carta Da TransdisciplinaridadeDocumento3 páginasCarta Da TransdisciplinaridadeFlávio Rodrigues100% (1)
- Lopes Daniel Rossi Nunes Platão A República - Livro XDocumento180 páginasLopes Daniel Rossi Nunes Platão A República - Livro Xhistoria da educaçãoAinda não há avaliações
- A abordagem de Lacan sobre a histeria no caso DoraDocumento20 páginasA abordagem de Lacan sobre a histeria no caso DoraBárbara CristinaAinda não há avaliações
- O Homem do RenascimentoDocumento1 páginaO Homem do RenascimentoFlavia BarrosAinda não há avaliações
- Metodologia Das Ciencias Sociais. Parte 1 - Max WeberDocumento130 páginasMetodologia Das Ciencias Sociais. Parte 1 - Max Weberpenteado86Ainda não há avaliações
- Discurso do Método de DescartesDocumento6 páginasDiscurso do Método de DescartesBru SantanaAinda não há avaliações
- Arquitetura Brasileira dos Anos 60Documento1 páginaArquitetura Brasileira dos Anos 60Michel Neves de MirandaAinda não há avaliações
- Texto 05 - Levi-Strauss, Claude. Raça e HistóriaDocumento21 páginasTexto 05 - Levi-Strauss, Claude. Raça e HistóriaDuda Pank100% (1)
- Objeto da Filosofia no Cursus do Fr. Emmanuel ab AngelisDocumento153 páginasObjeto da Filosofia no Cursus do Fr. Emmanuel ab AngelisPaulo PintoAinda não há avaliações
- A morte, o medo e o Além na obra de Hieronymus BoschDocumento13 páginasA morte, o medo e o Além na obra de Hieronymus BoschIvo F. Marques PereiraAinda não há avaliações
- S. Estetica e Arte. Colecao XVI Encontro ANPOF PDFDocumento336 páginasS. Estetica e Arte. Colecao XVI Encontro ANPOF PDFCharleston SouzaAinda não há avaliações
- Resenha - A Favor Da Etnografia PDFDocumento8 páginasResenha - A Favor Da Etnografia PDFJoel PantojaAinda não há avaliações