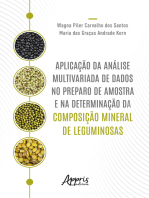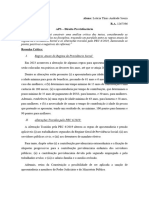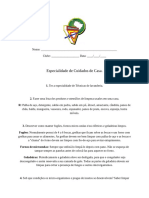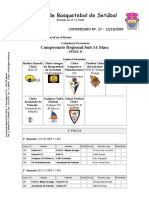Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Relatorio Michele Brugnerotto
Relatorio Michele Brugnerotto
Enviado por
diego lelis de almeidaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Relatorio Michele Brugnerotto
Relatorio Michele Brugnerotto
Enviado por
diego lelis de almeidaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARAN CAMPUS PALOTINA CURSO DE MEDICINA VETERINRIA
RELATRIO DO ESTGIO SUPERVISIONADO REA: NUTRIO ANIMAL
Autor: Michele Brugnerotto Orientador: M.Sc. Neventon Santi Vieira Supervisora: Prof. Dr. Jovanir Ins Mller Fernandes
Relatrio apresentado, como parte da exigncia para a concluso do CURSO DE GRADUAO EM MEDICINA VETERINRIA
PALOTINA PR Dezembro de 2009
ii
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARAN CAMPUS PALOTINA CURSO DE MEDICINA VETERINRIA
RELATRIO DE ESTGIO SUPERVISIONADO REA: REA: NUTRIO ANIMAL
Aluno: Michele Brugnerotto Orientador: M.Sc. Neventon Santi Vieira
APROVADO: em 09 de dezembro de 2009
Prof. Dr. Amrico Fes Garcez Neto (Membro)
iii
FOLHA DE IDENTIFICAO
Local de estgio: Nuvital Nutrientes S/A Carga horria cumprida: 330 horas Perodo de realizao do estgio: 13 de julho de 2009 a 2 de outubro de 2009 Supervisor: Jovanir Ins Mller Fernandes Orientador: Neventon Santi Vieira
iv
Aos meus pais, que dedicaram sua vida aos filhos. Aos animais, uma expresso divina de vida. A Deus.
AGRADECIMENTOS
Aos meus pais, Arlindo Brugnerotto e Zenilda C. Brugnerotto, por todo amor, pacincia e dedicao. Ao meu pai, por nunca ter desistido de lutar. Aos meus irmos, Roney e Andr, que sempre me apoiaram e me deram fora. Aos meus sobrinhos, Matheus e Lucca, a minha cunhada Fabiana Duarte, anjos da minha vida. Ao meu namorado, Marcos Andr da Luz, que apareceu em minha vida no momento certo, para ficar nela at o fim. Meu tio Aldrico Brugnerotto, agradeo o acolhimento em sua casa quando precisei, ao seu apoio e ajuda na busca por um local de estgio e a sua compreenso em certos momentos. Agradeo tambm por meio deste singelo relatrio ao seu amigo, Dilvo Groli, com quem pude contar para iniciar minha busca por um estgio, a ele peo desculpa pois no pude concluir o mesmo, mas lhe asseguro que foram por causas justas. A toda a equipe da Coopavel agradeo o acolhimento e oportunidade, em especial, Jurandir de Mattos e Julini Farias Souza. A empresa Nuvital Nutrientes, todos os seus integrantes e ao meu orientador Neventon Santi Vieira, serei eternamente grata. professora Jovanir, pela orientao e compreenso neste trabalho e pelo exemplo de profissional. Somente com sua ajuda pude tornar possvel a realizao deste trabalho de concluso do curso, onde mais do que minha orientadora desempenhou funes acima do seu cargo de professora, agindo como uma amiga, me apoiando em
vi
momentos difceis e me estimulando quando no pensei ser mais possvel. Muito obrigada. A UFPR, Campus Palotina, por todo o apoio e ensinamentos nestes 5 anos. Levo para sempre em mim como uma grande lio de vida. Aos meus amigos e colegas, que formaram nestes cinco anos uma grande e linda famlia, Agness Ayme Frantz, Anna Izabelita, Antnio Braz, Antnio Cereda, Elen Patrcia, Luiz Carlos da Luz , Talita Giron, Tatiana Itsuko Beker, Tathiana Maria Arneiro. E a todos que passaram por minha vida, e fizeram dela e de mim o que sou hoje. Aos meus cachorros, Snoopy, Madona, Simo, Kakau, e aos que j foram, Brutos e Scabin, pelo companheirismo e amor, a vocs agradeo por me mostrarem o caminho a seguir. A Deus por permitir tudo isto possvel.
vii
NDICE
1. 2. 3.
INTRODUO HISTRICO DA EMPRESA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
01 02 03 04 04 07 11 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18 19 22 22 24 24 25 26 26 29 32 35 36 36 37 40 41 41 41 43 46
3.1 LABORATRIO DE BROMATOLOGIA 3.1.1 Funcionamento do laboratrio 3.1.2 Anlise Bromatolgica 3.1.2.1. Umidade 3.1.2.2. Nitrognio Total 3.1.2.3. Protena Solvel em soluo de hidrxido de potssio 3.1.2.4. Extrato Etreo 3.1.2.5. Fibra Bruta 3.1.2.6. Matria Mineral 3.1.2.7. Atividade Uretica 3.1.2.8. Acidez 3.1.2.9. ndice de Perxido 3.1.2.10. Granulometria 3.1.2.11. Aflatoxina 3.1.2.12. Zearalenona 3.1.2.13. Macronutrientes 3.1.2.14. Fsforo 3.1.2.15. Clcio 3.1.2.16. Magnsio 3.1.2.17. Atividade de gua 3.2. DEPARTAMENTO TCNICO 3.2.1. Formulao 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. 3.3.7. FBRICA DE PREMIX E ADITIVOS Recepo de matria prima Armazenagem de matria prima Separao de matria prima Pesagem de matria prima Mistura Ensaque Expedio
3.4. INGREDIENTES 3.4.1. Milho 3.4.1.1. Subprodutos do milho 3.4.2. Soja
viii
3.4.2.1. Subprodutos da soja 3.4.2.2. Fatores antinutricionais da soja 3.4.2.3. Processamento da soja 3.4.2.3.1. Mtodos de processamento 3.4.2.3.2. Avaliao do processamento da soja 3.4.3. Trigo 3.4.3.1. Subprodutos do trigo 3.4.4. Farinhas de origem animal 3.4.4.1. Subprodutos de origem animal 3.5. 4. 5. CONTROLE DE QUALIDADE CONCLUSO BIBLIOGRAFIA
47 49 51 52 54 57 58 59 63 67 72 73
ix
NDICE DE TABELAS
TABELA 1. Anlises de rotina das matrias primas de origem mineral utilizadas na empresa Nuvital Nutrientes 08
TABELA 2. Anlises de rotina das matrias primas de origem animal utilizadas na empresa Nuvital Nutrientes 09
TABELA 3. Anlises de rotina das matrias primas de origem vegetal utilizadas na empresa Nuvital Nutrientes TABELA 4. Padro de solubilidade da protena em hidrxido de potssio a 0,2% TABELA 5. Padro de atividade uretica do farelo de soja 10 13 16
TABELA 6. Limites mximos de tolerncia para raes destinadas a alimentao animal TABELA 7. Nveis de zearalenona recomendados pela Legislao Europia 20 21
TABELA 8. Limites mximos de zearalenona recomendados pelo LAMIC para animais de produo TABELA 9. Sinais clnicos de deficincia de magnsio em diferentes espcies TABELA 10. Valores mdios de alguns nutrientes que compem o milho em gro TABELA 11. Valores mdios de aminocidos que compem o milho em gro TABELA 12. Valores mdios de minerais que compem o milho em gro 21 25 42 43 43
TABELA 13. Valores mdios de alguns nutrientes que compem os diferentes produtos da soja TABELA 14. Padro de atividade uretica do farelo de soja TABELA 15. Padro de solubilidade da protena em hidrxido de potssio a 0,2% 48 55 56
TABELA16. Subprodutos e resduos da carcaa e carne sem osso de vrios animais em % do peso vivo 60
TABELA 17. Especificaes orientativas de qualidade da farinha de ossos autoclavada e farinha de ossos calcinada 64
xi
NDICE DE FIGURAS
FIGURA 1. Filial Nuvital Nutrientes FIGURA 2. Fluxograma do Laboratrio de Bromatologia FIGURA 3. Big Bag FIGURA 4. Esquema de processamento de premixes e aditivos FIGURA 5. Fluxograma do processo de produo
02 06 30 31 33
1. INTRODUO
A rea de nutrio animal est enquadrada no contexto da Produo Animal, sendo esta uma rea de grande relevncia para tal. Segundo Andriguetto et al. (2002), a nutrio animal constitui um dos trs aspectos bsicos da produo, sendo os outros dois a gentica e o manejo. Os gastos com alimentao representam uma parcela de at 80% nos custos da criao (ANDRIGUETTO et al., 2002). Assim, o grande desafio da nutrio animal conciliar: custos + tempo + lucro + competitividade + qualidade, ou seja, no o custo que determinam o preo final, e sim, o preo final que determina o quanto pode ser gasto em seu processo de fabricao, isto garante a competitividade frente ao mercado. Outro grande problema que o nutricionista encontra padronizar as matriasprimas, sempre h uma grande divergncia nos valores observados, pois este dependente do modo como foi produzido (local, tipo de semente, clima, colheita, armazenamento e transporte). Com a crise econmica atual o setor de alimentao animal registrou uma queda de 3,8% em sua produo no primeiro semestre de 2009, alm disso com a queda no preo da gro de milho alguns produtores diminuram seu investimentos em aditivos compensando com o uso do milho (ZANNI, 2009). Em 2050 com o aumento esperado da populao mundial a produo de alimentos deve aumentar at 70% para que 370 milhes de pessoas no passem fome. Com isso a produo de carnes deve crescer mais de 200 milhes de toneladas para alcanar o previsto pela FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nation) para 2050 que de 470 milhes de toneladas, a produo de cereais tambm dever subir para 3 bilhes neste mesmo perodo (SINDIRAES, 2009).
2. HISTRICO DA EMPRESA
Fundada em 1975, a empresa Nuvital Nutrientes, que se estabelece em Colombo, Regio Metropolitana de Curitiba, Paran, possui hoje duas fbricas, a matriz, voltada para fabricao de raes e, sua filial, produtora de aditivos e premixes, alm de um Centro de Distribuio em Chapec (SC). Para 2010 a empresa pretende unificar as duas sedes, com um investimento previsto de R$ 3 milhes, tem como objetivo a aquisio de um novo laboratrio mais bem equipado e reestruturao de todos os setores. A empresa tem como objetivo financeiro para 2009, alcanar um faturamento de 39 milhes, aumento de aproximadamente 25% quando comparado a 2008. Possui mais de 150 produtos em sua linha de produo, sendo estes a maior parte destinados a sunos, cerca de 26% do faturamento, seguido de aves, 24% e raes para animais de laboratrio, 19%. Para 2009 pretende aumentar a produo da linha de bovinos em 10%, passando a produo de raes para animais de laboratrio. Pioneira no mercado de premixes e insumos destinados a alimentao animal na regio Sul do Brasil possui ainda representaes em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, So Paulo, Paraguai e Peru, alm de uma parceria com a multinacional Perstorp, onde a empresa Nuvital revende aditivos da empresa holandesa no Brasil.
Figura 1 Filial Nuvital Nutrientes
3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
As atividades desenvolvidas no estgio foram realizadas na empresa Nuvital Nutrientes S/A, no perodo de 13 de julho de 2009 at 2 de outubro de 2009, somando uma carga horria de 330 horas. As atividades foram separadas da seguinte forma: Laboratrio de Bromatologia: incio em 13 de julho de 2009 at 24 de julho de 2009, somando um total de 10 dias. Departamento Tcnico: incio em 27 de julho de 2009 at 28 de agosto de 2009, somando um total de 25 dias. Fbrica de Aditivos e Premix: incio em 31 de agosto de 2009 at 2 de outubro de 2009, somando um total de 25 dias. As primeiras duas semanas do estgio foram dedicadas ao contato com os processos realizados no Laboratrio de Bromatologia da empresa, com o objetivo de realizar o controle da qualidade dos ingredientes e produtos acabados. O laboratrio possui uma rotina de anlises as quais foram acompanhadas integralmente, do incio da anlise at o seu trmino. No departamento tcnico da empresa foram desenvolvidas atividades relacionadas com a formulao de raes atravs do programa de computador usado pela empresa e registro de produtos nos rgos competentes. Na Fbrica de Aditivos e Premix foi possvel observar toda a cadeia produtiva em que o produto passa, desde sua chegada na fbrica at o seu transporte para os caminhes que levariam o produto at seu destino final. Outro aspecto muito importante foi o acompanhamento da implantao de um programa de controle da qualidade na fbrica de rao.
3.1 LABORATRIO DE BROMATOLOGIA
O laboratrio de bromatologia tem como objetivo analisar os alimentos que fazem parte da dieta animal, tanto ruminantes como monogstricos, permitindo que o animal utilize todos os nutrientes disponveis da melhor forma possvel (BERALDO et al., 2009). A importncia da realizao das anlises se deve ao fato de que as matriasprimas utilizadas na alimentao animal tem grande variao em sua composio devido a influncia de alguns fatores como, plantio, estaes do ano, tipo de semente, manejo utilizado na cultura, colheita, dentre outros, os alimentos mais afetados por tais alteraes so os volumosos, por isso essencial que sejam realizadas anlises nestes tipos de alimentos, assegurando assim um balanceamento mais adequado ao produto final. Com a eterna busca por melhorias no desempenho produtivo, os animais so manipulados geneticamente para que possam expressar sua mxima capacidade fisiolgica. Entretanto, para tanto h a necessidade de que o ambiente ao qual o animal seja submetido oferea condies favorveis. Um animal de alto potencial gentico deve ser submetido a condies que lhe permitam obter alta produo, a custos mais econmicos. Por isto a qualidade nutricional a qual o animal submetido deve ser a melhor possvel a custos mais econmicos, sem perdas (BERALDO et al., 2009).
3.1.1
Funcionamento do laboratrio
O laboratrio recebe cerca de 300 a 500 amostras por ms, os resultados so computados e registrados no programa Optimal Lab.
O programa um sistema de gerenciamento de dados dos resultados das anlises laboratoriais de matrias primas e/ou produtos acabados que permite uma integrao com todos os setores da empresa. As amostras so analisadas seguindo os mtodos analticos do Compndio Brasileiro de Alimentao Animal - 2005. Os resultados obtidos so enviados para o departamento tcnico da empresa o qual tem a responsabilidade de verificar se os mesmos se apresentam de acordo com os valores esperados, ou conforme a formulao do produto. As anlises so realizadas com produtos e matrias-primas da empresa, para controle de qualidade interno, produtos e matrias-primas de clientes, servio este fornecido pela empresa conforme quantidade de produto adquirido pelo cliente (2% do total gasto em produtos Nuvital), caso ultrapasse essa quantidade o cliente avisado e se persistir na anlise cobrado pelo servio. As anlises de produtos acabados so coletadas ao final de cada batida, que um ciclo completo do misturador. Os produtos internos possuem um padro de anlise a ser seguido, caso necessite de alguma outra anlise feito o pedido em separado e informado o motivo, caso seja produto de cliente o motivo deve ter justificativa. Dentre as anlises realizadas esto a qumica, fsica, granulometria e teste de mistura. As amostras seguem um fluxo estabelecido (Figura 2).
Figura 2 Fluxograma do Laboratrio de Bromatologia
A. Recebimento: As matrias-primas, com exceo do milho, so entregues ao laboratrio em embalagens j determinadas para tal fim com identificao adequada. No caso do milho recolhida uma amostra, antes de ser descarregado, por um funcionrio do laboratrio para anlise de umidade e verificao de conformidade com o milho requerido, tipo I, tipo II ou tipo III, conforme Portaria N 845 de 8 de Novembro de 1976 - Conceitos e Critrios para Classificao do Milho. Se o milho se enquadra no esperado liberado seu descarregamento e ento segue anlise conforme padro da empresa. B. Separao da Amostra: Uma quantidade do material separada e colocada em potes pequenos, onde so anotados o lote do produto e cdigo para controle. C. Anlise: Mtodos analticos retirados do Compndio Brasileiro de Alimentao Animal 2005.
D. Resultado: Toda anlise feita em duplicata e os dois resultados so enviados pelo laboratrio e informado ao departamento tcnico. Caso haja desconformidade entre os resultados a anlise repetida. O laudo final s liberado aps verificao do departamento tcnico. Alguns produtos requerem o laudo pronto para serem liberados, outros acabam sendo liberados antes do laudo final, conforme o cliente solicite, pois at o produto chegar ao seu destino h o tempo necessrio para finalizao do laudo, sendo resultados informados atravs do site da empresa, uma vez que cada cliente possui uma senha para tal finalidade.
3.1.2
Anlises bromatolgicas
As anlises realizadas pelo laboratrio so:
- Umidade - Nitrognio Total (protena bruta) - Protena Solvel em Soluo de Hidrxido de Potssio a 0,2% - Extrato etreo - Fibra bruta - Fibra em detergente neutro - Fibra em detergente cido - Matria Mineral ou Cinzas - Atividade Uretica - Acidez - ndice de Perxido - Granulometria ou Dimetro Geomtrico Mdio (DGM)
- Clcio - Fsforo
- Magnsio - Aflatoxina - Zearalenona - Absoro de gua Nas Tabelas 1, 2 e 3 so apresentadas as anlises de rotina das matrias primas de origem mineral, animal e vegetal, respectivamente, utilizadas na empresa Nuvital Nutrientes. Tabela 1 Anlises de rotina das matrias primas de origem mineral utilizadas na empresa Nuvital Nutrientes. Produtos de Origem Mineral Calcrio Calctico Calcrio Dolomtico Caulin Fosfato Biclcico Anlise Padro Clcio Clcio Granulometria Fsforo Anlise Ocasional Granulometria, Magnsio, Resduo Mineral, Umidade Granulometria, Magnsio, Resduo Mineral, Umidade Resduo Mineral, Umidade Acidez Total, Clcio, Granulometria, ndice de Perxido, Resduo Mineral, Umidade Acidez Total, Clcio, Granulometria, Resduo Mineral, Umidade Granulometria Granulometria Granulometria Granulometria Granulometria, Cloretos Granulometria, Cloretos, Umidade Granulometria Granulometria Granulometria Granulometria Granulometria Granulometria
Fosfato Monobiclcico Iodato de Clcio Monxido de Mangans xido de Magnsio xido de Zinco Sal Sal Mineral Sulfato de Cobalto Sulfato de Cobre 5HO Sulfato de Ferro Sulfato de Magnsio 7HO Sulfato de Mangans Sulfato de Zinco
Fsforo Umidade Umidade Umidade Umidade Umidade Clcio, Fsforo Umidade Umidade Umidade Umidade Umidade Umidade
Tabela 2 Anlises de rotina das matrias primas de origem animal utilizadas na empresa Nuvital Nutrientes. Produtos de Origem Animal Farinha de Carne Anlise Padro Acidez Total, Clcio, Extrato Etreo, Fsforo, Protena Bruta, ndice de Perxido, Resduo Mineral, Umidade Acidez Total, Clcio, Extrato Etreo, Fsforo, Protena Bruta, ndice de Perxido, Resduo Mineral, Umidade Fsforo Clcio Acidez Total, Clcio, Extrato Etreo, Fsforo, Protena Bruta, ndice de Perxido, Umidade Acidez Total, Clcio, Extrato Etreo, Cloretos, Fsforo, Protena Bruta, ndice de Perxido, Resduo Mineral, Umidade Acidez Total, Clcio, Extrato Etreo, Fsforo, Protena Bruta, ndice de Perxido, Resduo Mineral, Umidade Protena Bruta, Umidade ndice de Acidez, Clcio, Extrato Etreo, Fsforo, Protena Bruta, ndice de Perxido, Resduo Mineral, Umidade ndice de Acidez, ndice de Perxido Anlise Ocasional Fibra Bruta, Granulometria, Cloretos
Farinha de Carne e Ossos
Fibra Bruta, Granulometria, Cloretos
Farinha de Ossos Farinha de Ostras Farinha de Ovos
Clcio, Granulometria, Resduo Mineral Granulometria, Resduo Mineral Granulometria, Cloretos, Resduo Mineral Granulometria
Farinha de Peixes
Farinha de Penas
Granulometria, Cloretos
Farinha de Sangue Farinha de Vsceras
Granulometria, Cloretos Granulometria, Cloretos
Gorduras e leos
Umidade
10
Tabela 3 Anlises de rotina das matrias primas de origem vegetal utilizadas na empresa Nuvital Nutrientes. Produtos de Origem Vegetal Algodo Anlise Padro Fibra Bruta, Protena Bruta, Umidade Anlise Ocasional Extrato Etreo, Fibra em Detergente Neutro, Fibra em Detergente cido, Nutrientes Digestveis Totais, ndice de Perxido, Resduo Mineral Extrato Etreo, Fibra em Detergente cido, Fibra em Detergente Neutro, Nutrientes Digestveis Totais, Resduo Mineral Fibra Bruta, Fibra em Detergente cido, Fibra em Detergente Neutro, Nutrientes Digestveis Totais, Resduo Mineral Extrato Etreo, Fibra em Detergente Neutro, Fibra em Detergente cido, Nutrientes Digestveis Totais, Resduo Mineral Fibra em Detergente cido, Fibra em Detergente Neutro, Nutrientes Digestveis Totais Fibra Bruta, ndice de Perxido
Amendoim Farelo
Fibra Bruta, Protena Bruta, Umidade
Arroz
Protena Bruta, Umidade
Aveia
Fibra Bruta, Protena Bruta, Umidade
Protena Bruta, Umidade Extrato Etreo, Fibra bruta, Protena Bruta, Umidade Milho Extrusado Absoro em gua, Acidez Total, Extrato Etreo, Protena Bruta, Umidade Milho Far. Pr Absoro em gua, Cozida Acidez Total, Extrato Etreo, Protena Bruta, Umidade Milho Farelo Protena Bruta, Umidade Milho Fub Absoro em gua, Extrato Etreo, Protena Bruta, Umidade Milho Quirera Protena Bruta, Umidade Protenose Protena Bruta, Umidade Refinazil Fibra Bruta, Protena Bruta, Umidade Soja Desativada Protena Bruta, Protena Solvel, Umidade, Atividade Uretica Protena Bruta, Protena Solvel, Umidade, Atividade Uretica
Cana Levedura Cevada
Fibra Bruta, ndice de Perxido
Fibra Bruta Fibra Bruta
Fibra Bruta Fibra Bruta Fibra em Detergente cido, Fibra em Detergente Neutro, Nutrientes Digestveis Totais Acidez Total, Extrato Etreo, Fibra Bruta, ndice de Perxido Acidez Total, Extrato Etreo, Fibra Bruta, ndice de Perxido
Soja Extrusada
11
Continua.... Soja Gros Trigo Farelo Triguilho em Gros
Extrato Etreo, Protena Bruta, Umidade Fibra Bruta, Protena Bruta, Umidade Fibra Bruta, Protena Bruta, Umidade
Acidez Total, Fibra Bruta, ndice de Perxido
Fibra em Detergente cido, Fibra em Detergente Neutro, Nutrientes Digestveis Totais
3.1.2.1 Umidade
A anlise de umidade uma prova simples de se fazer, basicamente a massa que se obtm aps a amostra ser aquecida temperatura de 100/105C. o material a ser analisado totalmente livre de gua (BERALDO et al., 2009). A determinao da umidade, apesar de simples, de grande importncia para determinar a qualidade do alimento. O excesso de umidade pode levar a alteraes significativas para a conservao do alimento. A estocagem do alimento tem grande relao com seu teor de umidade, alimentos com alta umidade iro deteriorar mais rpido devido ao desenvolvimento de fungos, alm disto, representam um alto risco para sade animal e humano, pois estes fungos podem produzir micotoxinas que so txicas para o organismo (Silva, 2005). O ambiente favorecido pela umidade excessiva mais bem elucidada quando estimado o valor da atividade da gua (Aw), citado no decorrer. Um bom exemplo da importncia desta anlise em relao ao milho. Todo o milho que chega empresa para seu uso como matria-prima submetida, antes de ser descarregada, a anlise de umidade, o milho que apresentar mais de 14% de umidade devolvido para o fornecedor. Torna-se tambm necessria a determinao da umidade para se obter o resultado de outras anlises, como do extrato no nitrogenado (BERALDO et al., 2009).
12
3.1.2.2 Nitrognio Total
Tambm conhecido como protena bruta a unidade utilizada para designar a protena dos alimentos (BERALDO et al., 2009). So macromolculas de estrutura complexa base de carbono, hidrognio, oxignio e nitrognio, formadas por aminocidos ligados entre si por ligaes peptdicas. Desempenham funes importantes no organismo como, transporte, catlise de reaes, controle do metabolismo, contrao e tem funo estrutural muito importante. As protenas de origem vegetal raramente so completas quanto a composio de aminocidos, diferente das protenas de origem animal, que se encontram em proporo e qualidade tima para nutrio (BOBBIO et al., 1992). O excesso de protena na dieta no armazenado, sofre desaminao onde pode ser utilizado para produo de energia, o problema reside no fato de que a protena tem alto custo financeiro e tem pouca rentabilidade como fonte de energia, por isso importante conhecer a quantidade de protena nos alimentos. As protenas formam estruturas que podem sofrer alteraes importantes em sua disposio, uma delas a que ocorre atravs da reao de Maillard, ou ruptura de novas ligaes peptdicas (BOBBIO et al., 1992). A anlise de protena bruta fornece os valores de protena total atravs da quantidade de nitrognio total da amostra. Este processo considera todo o nitrognio do alimento na forma de protena. O nitrognio contido no material multiplicado pelo fator 6,25, pois, a protena contm em mdia 16 partes de nitrognio em 100 gramas, dividindo 100 gramas por 16 partes de nitrognio (100/16) obtm-se o valor 6,25
13
(100/16=6,25). O problema que nem todo o nitrognio derivado da protena (BERALDO et al., 2009).
3.1.2.3 Protena Solvel em Soluo de Hidrxido de Potssio a 0,2%
Esta anlise tem como objetivo avaliar a qualidade do processamento da soja para inativao dos fatores anti-nutricionais. Protena solvel a parte de protena que est disponvel para absoro pelo animal. Existe uma relao entre a quantidade de protena solvel e a qualidade do processamento trmico. Conforme o alimento sofre o processamento trmico o nvel de protena solvel diminui. Ento um alimento que apresente acima de 80% de protena solvel passou por um adequado processamento trmico, inativando os fatores antinutricionais com um mnino de desnaturao protica, sem prejudicar a absoro de aminocidos pelos animais (Tabela 4).
Tabela 4 Padro de solubilidade da protena em KOH 0,2% no farelo de soja Classificao Solubilidade Excelente > 85% Boa > 80% Razovel > 75% Deficiente < 75% Fonte: POLINUTRI. (2009) 3.1.2.4 Extrato Etreo
Serve para estimar a quantidade de lipdios do alimento. Na anlise de extrato etreo, todas as substncias solveis nos solventes das gorduras tambm se encontram inseridas. Por isso o resultado de extrato etreo quando analisado tem seu valor
14
superestimado, pois alm das gorduras outros compostos tambm se encontram diludos, como resina, pigmentos naturais (clorofila) e ceras, assim amostras de origem vegetais no tem seu valor de extrato etreo condizendo com a quantidade de gordura presente, j em amostras de origem animal o valor obtido expressa o real valor de gordura da amostra (UFPR, 2002).
3.1.2.5 Fibra Bruta
A fibra bruta faz parte dos carboidratos mais complexos, que formam as fibras lenhosas das plantas, so digeridas com dificuldade e muita energia perdida nesse processo de digesto. Estes carboidratos, portanto, tem pouco valor para os animais, exceto em ruminantes, que possuem bactrias em seu rmen capazes de digerir estes carboidratos. As anlises qumicas comuns dos carboidratos separam estes em dois grupos de substncias. O primeiro denominado de fibra bruta ou simplesmente fibra, que inclui os carboidratos relativamente pouco solveis, como a celulose e outros compostos que no so facilmente dissolvidos. O outro grupo determinado por extrato no nitrogenado, constitudo por carboidratos mais solveis e inclui o amido, acares e as pores solveis das pentosanas e de outros carboidratos solveis. Alguns cidos orgnicos, como o cido e o cido ltico, presentes na silagem tambm so includos neste grupo. As fibras dos alimentos so to resistentes e insolveis que no podem ser dissolvidos pelos cidos e lcalis fracos. A porcentagem de fibra determinada fervendo-se uma amostra do alimento sucessivamente em cido e lcalis fracos e lavando o material dissolvido (MORRISON, 1966).
15
3.1.2.6 Matria Mineral ou Cinzas
o que resta da combusto da matria orgnica. importante a determinao da matria mineral, pois atravs dela determinado extrativo no nitrogenado (glicdios que so solveis em soluo cida e bsica durante a determinao de fibra bruta) (UFPR, 2002). Alm de ser usado para determinar o fsforo e o clcio quando se trata de certos produtos como farinha de ossos e produtos de origem marinha. Para produtos de origem vegetal esta determinao no tem muita importncia devido a grande varincia nos componentes minerais neste tipo de material, sendo somente uma indicao da riqueza da amostra em elementos minerais (BERALDO et al., 2009).
3.1.2.7 Atividade Uretica
A determinao da atividade uretica tem a finalidade de determinar a destruio dos fatores anti-nutricionais da soja. A enzima urease est presente no gro da soja, ela destruda com o calor. Como a destruio dos fatores anti-nutricionais tambm feito atravs do calor, existe uma relao entre o processamento trmico em que a soja foi submetida e a atividade uretica (Tabela 5). Tanto os fatores anti-nutricionais como a urease so termolbeis. A atividade ueretica medida atravs do pH, sendo o recomendvel de 0,01 at 0,15 unidades de pH.
16
Tabela 5 Padro de atividade uretica do farelo de soja Classificao Atividade Uretica Excelente 0,01 0,.5 Boa 0.20 Regular 0,21 0,31 Deficiente > 0.30 Fonte Fonte: POLINUTRI. (2009)
3.1.2.8 Acidez
A determinao da acidez de grande importncia para o controle da qualidade do alimento. A presena de acidez pode ser indicativa de: Presena de bactria produtoras de cidos; Fermentao do alimento; Hidrlise de glicerdeos (deteriorao de leos e gorduras) formando cidos graxos livres; Serve de titulao para avaliao de outras anlises como a citada acima, de atividade uretica.
3.1.2.9 ndice de Perxido
Quando a gordura entra em processo de deteriorao o primeiro composto formado o perxido. O ndice de perxido determinado dissolvendo a gordura em uma soluo de cido actico-clorofrmio, depois feito uma titulao onde o amido usado como indicador, o resultado a quantidade de perxido por 100 gramas da amostra.
17
A deteriorao da gordura conhecida como rancificao, neste processo alguns compostos so formados alterando as caractersticas organolpticas do alimento, alm de interferir no valor nutritivo do mesmo. O consumo prolongado de compostos oriundos da rancificao dos lipdios pode produzir efeitos txicos diminuindo o tempo de vida do animal.
3.1.2.10
Granulometria ou Dimetro Geomtrico Mdio (DGM)
A anlise de granulometria tem como objetivo classificar uma amostra de acordo com o tamanho de suas partculas. Esta anlise de suma importncia para o aproveitamento do alimento pelo animal. Estudos so feitos para determinar o melhor dimetro conforme o tipo de alimento, objetivo, espcie e fase do animal, criando parmetros que devem ser seguidos para melhor aproveitamento do produto final. O tamanho e uniformidade das partculas influenciam a homogeneidade de uma mistura, influenciando a qualidade final da rao. O mtodo utilizado para analisar a granulometria o da peneira, a amostra submetida vrias peneiras com dimetros distintos, o que fica retida em cada peneira pesado individualmente e atravs destes valores se obtm a porcentagem retida nas peneiras com diferentes dimetros (FLEMMING, et al., 2002). Um bom exemplo da importncia da granulometria em relao ao milho, este entra, muitas vezes, como o ingrediente de maior uso na alimentao animal. O milho se com granulometria adequada pode desempenhar o seu mximo potencial. Milho com gramulometria maior do que a recomendada gera aumento do consumo da rao sem aumentar o peso do animal, gerando mais resduos resultantes dos dejetos produzido,
18
aumentando a contaminao ambiental e tambm os custos com a alimentao. Granulometria menor do que a recomendada gera fatores agravantes de lceras.
3.1.2.11
Aflatoxina
A aflatoxina uma substncia resultante do metabolismo de certas cepas dos fungos Aspergillus flavus, A. nger, A. parasiticus. O fungo se desenvolve em alguns gros sobre certas condies como, excesso de umidade, colheita realizada em pocas de altos ndices pluviomtricos, poca de colheita inadequada, abertura fisica do gro provocado por danos durante a colheita ou ataque de insetos, todos estes fatores favorecem a penetrao do fungo no gro (ALMEIDA et al., 2009). Os gros mais afetados so os de amendoim, avels, milho, trigo e sementes para fazer leo, como a de algodo. Em todas as espcies o fgado o principal rgo a ser afetado produzindo necrose, cirrose heptica, carcinoma ou edema, alm de comprometer a capacidade de absoro e processamento dos nutrientes, tambm pode afetar o rim, bao e pncreas. Os animais mais afetados so o de alta capacidade produtivo e reprodutivo devido ao alto ndice metablico destes animais (FREIRE, et al., 2007). A aflatoxicose em humanos tem maior predominncia em pases
subdesenvolvidos, devido a falta de controle sanitrio dos gros. A ocorrncia de surtos espordica, em grande parte por causa da falta de assistncia mdica nos locais mais afetados dificultando o diagnstico da doena. Um surto importante foi relatado no noroeste da ndia, no outono de 1974 onde 397 pessoas foram afetadas e 108 pessoas morreram, o milho foi relatado como principal constituinte da dieta (AFLATOXINAS, 2009).
19
Nveis mninos so aceitos pois segundo a FDA (Federal Drug Administration) a aflatoxina um contaminante inevitvel, e no foi relatado problemas com o consumo a nveis baixos, o contato crnico a nveis sub-crticos aumenta a probabilidade de cncer heptico. Os nveis mximos segundo a Legislao Brasileira Portaria n 07 de 09 de Novembro de 1988, Anexo, de 50 ppb em todos os ingredientes de origem vegetal. A tcnica de anlise utilizada para deteco de aflatoxina a Cromatologia em Camada Delgada, baseado no mtodo analtico do Compndio Brasileiro de Alimentao Animal 2005. uma tcnica de adsoro em que se utiliza um lquido e um slido. A mistura contendo a possvel micotoxina extrada da amostra e posta em uma placa de vidro coberta com slica, esta placa colocada na vertical em uma cuba de vidro contendo o solvente, por capilaridade o solvente sobe levando por arraste a parte menos adsorvida, depois utilizado um revelador para verificar qual a parte menos e qual a parte mais adsorvida, a leitura feita utilizando uma tcnica visual sob luz UV (AMARAL e JNIOR, 2006). Esta tcnica no necessita de equipamentos muito caros e confivel, por isso a tcnica mais utilizada pelos laboratrios brasileiros.
3.1.2.12
Zearalenona
Toxina oriunda dos metablitos do fungo da espcie Fusarium sp, possui propriedades hiperestrognicas e promotora de crescimento. Os alimentos mais afetados so milho, arroz, aveia, cevada e trigo. Os efeitos nocivos da zearalenona esto ligados principalmente ao seu poder hiperestrognico, causando infertilidade, anestro, mortalidade embrionria, prolapso
20
retal e alterao na qualidade do smen. Os porcos so os mais afetados (SILVA, 2005, FERNANDES, et al., 2006). Em humanos seus efeitos so: puberdade precoce , fibrose do tero, cancro da mama, carcinoma do endomtrio, hiperplasia do tero, diminuio da fertilidade (por diminuio da libertao da LH eFSH), influncia nas actividades das glndulas adrenal, tiride e pituitria. Nos indivduos do sexo masculino, pode ocorrer inflamao da glndula prosttica, atrofia testicular e quistos nas glndulas mamrias (ZEARALENONA, 2009). Algumas condies, principalmente ambientais, favorecem a proliferao destes fungos como, umidade e tempo frio, armazenamento e modo de colheita, e tambm tipo de cultivar e mtodo de produo. O Brasil no possui legislao que estipule os nveis mximos de zearalenonas. O Ministro de Estado da Agricultura, Pecuria e Abastecimento, instituiu o Grupo de Trabalho sobre Micotoxinas em produtos destinados alimentao animal (DOU de 25 de maio de 2006 Seo 2, pg.5) onde o grupo de trabalho prope limites mximos de tolerncia para raes destinadas a alimentao animal (Tabela s 6 e 7.).
Tabela 6 Limites mximos de tolerncia para raes destinadas a alimentao animal Micotoxina Zearalenona Descrio do produto Raes e concentrados para ruminantes em lactao Raes e concentrados para sunos adultos Raes e concentrados para sunos nas fases prinicial. Inicial e marrs Limite mximo de tolerncia (g/kg) 500
100 50
Fonte: http://www.lamic.ufsm.br/MAPA.pdf
21
Tabela 7 A Nveis de zearalenona recomendados pela Legislao Europia Micotoxina Produtos destinados para alimentao animal Valor recomendado em mg/Kg (ppm) relativo ao ingrediente com teor de umidade de 12% 2
Gros e subprodutos de gros, com exceo de subprodutos de milho Subprodutos de milho Fonte: http://www.knowmycotoxins.com/pt/regulations.htm
Zearalenona
Entretanto o LAMIC (Laboratrio de Anlises Micotoxicolgicas da Universidade Federal de Santa Maria) prope nveis mximos de tolerncia para algumas micotoxinas por aves, sunos e bovinos (Tabela 8). Tabela 8 Limites mximos (ppb) de zearalenona recomendados pelo LAMIC para animais de produo: AVES Frangos Inicial Frangos Crescimento Frangos Final Poedeiras Matrizes SUNOS Inicial Crescimento Terminao Matrizes 5 5 0 0 10 20 20 50 50
BOVINOS Terneiros 250 Machos Adultos 250 Fmeas Lactao 250 Fonte: http://www.lamic.ufsm.br/legislacao.html
Para deteco da zearalenona, o mtodo utilizado tambm o de Cromatologia em Camada Delgada, baseado no Compndio Brasileiro de Alimentao Animal 2005.
22
3.1.2.13
Macroelementos minerais
Os elementos minerais analisadas no Laboratrio de Bromatologia da Empresa Nuvital Nutrintes so somente clcio, fsforo e magnsio, isto se deve ao fato do laboratrio no fornecer suporte de equipamentos necessrios para anlise de microelementos minerais, apesar da importncia das anlise no controle de qualidade dos alimentos destinados a alimentao animal.
3.1.2.14
Fsforo
No organismo animal o fsforo o segundo mineral mais abundante, sendo componente de vrios tecidos e rgos de seres vivos e tambm participa de inmeros processos biolgicos, bioqumicos e fisiolgicos. Atua na absoro de carboidratos, biossntese de protenas, liberao e transporte de energia, ativao de complexos vitamnicos e componente dos cidos nuclicos (DNA e RNA) sendo necessrio para transmisso gentica (BUTOLO, 2002). O fsforo um componente que encarece a mistura mineral sendo de extrema importncia conhecer a quantidade nutricional de fsforo do alimento para que ele seja suplementado de forma adequada e sem prejuzos, tanto para o proprietrio como para o ambiente, caso seja necessrio o seu excedente ser excretado pelo animal no contaminando o meio ambiente. Nem todo fsforo contido nos cereais est disponvel para ser absorvido pelos monogstricos, cerca de 50 a 70% do fsforo est sobre a forma de fitato, com exceo dos ruminantes, que possuem microorganismos ruminais capazes de produzir a enzima fitase, que torna o fitato disponvel para ser absorvido, as outras espcies no possuem
23
mecanismos endgenos que possibilitem esta absoro. Motivo pelo qual a importncia de se saber a quantidade de fsforo contida nos alimentos, principalmente para monogstricos, pois estes necessitam de fontes exgenas da enzima fitase. A necessidade de se avaliar a quantidade de fsforo nos alimentos se deve em grande parte a enorme inconstncia nos nveis de fsforo das matrias primas, causada principalmente pela grande possibilidade de tipos de solos onde os alimentos so cultivados alm dos diferentes climas, de forma geral o nutriente mais limitante dos solos brasileiros o fsforo (www.asbram.org.br). Por exemplo, na poca da seca a quantidade de fsforo reduz para 0,05 a 0,07% na matria seca quando comparada a poca das chuvas, em que a quantidade de fsforo cerca de 0,13%, isto para braquirias (EMBRAPA, 2009). A quantidade de fsforo sofre modificaes quanto a idade da planta, quanto mais velha a planta vai se tornando a quantidade de fsforo diminui. A carncia de fsforo pode causar reduo na ingesto do alimento, perda de peso, apatia, reduo da fertilidade, alteraes sseas como deformidades e fraturas, endurecimento das articulaes (andar duro), alotriofagia ou pica, caracterizado por mastigar materiais estranhos dieta, como couro, madeira, pedras e at cadveres e ossos, o que pode levar a um seio problema com intoxicao por Clostridium botulinum, causando o botulismo. As fontes de fsforo para alimentao animal so: fosfato biclcico, fosfato monoclcico e fosfato monoamnio, que de acordo com Butolo(2002), fornecido atravs de sal mineralizado e raes (EMBRAPA, 2009).
24
3.1.2.15
Clcio
Em regies tropicais a deficincia de clcio nas pastagens no muito comum como o fsforo, alguns fatores contribuem para isto, as forragens geralmente possuem uma concentrao de clcio maior que a de potssio, a deficincia de clcio nos solos bem menos comum e as plantas no perdem os nveis de clcio conforme a idade mais avanada (EMBRAPA, 2009). Por isto geralmente a deficincia de clcio ocorre mais em animais que se alimentam de concentrados, como as aves e sunos, diferentemente dos ruminantes. A deficincia de clcio causa alteraes principalmente estruturais, como no desenvolvimento sseo, crescimento retardado e raquitismo, levando o animal a apresentar sintomas de claudicao, articulaes doloridas e inchadas, lordose e aparecimento do rosrio raqutico (causado pelo aumento dos ossos nas junes costro-condrais). Em vacas leiteiras a grande deficincia de clcio leva a diminuio da produo leiteira e pode levar a convulses devido tetania (EMBRAPA, 2009). H tambm uma relao entre o clcio e o fsforo que deve ser mantida para que ambos possam desempenhar suas funes no organismo animal, geralmente a proporo de dois de clcio para um de fsforo. Por isso mesmo a deficincia de clcio no sendo to comum importante saber qual a sua quantidade nos alimentos, pois este est extremamente ligado com a utilizao do fsforo, vice-versa.
3.1.2.16
Magnsio
O magnsio est presente na natureza em nveis satisfatrios, mas nem todo o magnsio est na forma disponvel, apenas 10 a 20% pode ser aproveitada pelo animal.
25
Ele desempenha uma funo basicamente neuro-esqueltica, sua funo mais importante como ativador de enzimas envolvidas no metabolismo da energia. A deficincia de magnsio tambm pode causar tetania ps-parto em animais leiteiros de alta produo, pois no somente o clcio, relatado como sendo sua falta o grande causador desta doena, mas tambm o magnsio, j que este participa em grande quantidade na sntese do leite. Pases temperados e subtropicais apresentam maior problema com a deficincia de magnsio, em animais criados em regime de pastagens, devido quantidade deste mineral no solo ser menor de que em pases tropicais (JUNQUEIRA, 2009). Como um mineral que sofre bastante divergncia em sua composio nos alimentos, devido a sua desigualdade de presena nos solos, de grande valia que se analise este mineral nos alimentos destinados produo animal, para que esta possa desenvolver seu mximo potencial (SERRANA NUTRIO ANIMAL, 2009).
Tabela 9. Sinais clnicos de deficincia de magnsio em diferentes espcies Leito Frangos Bezerros e carneiros Andar cambaleante, incoordenao da cabea, pseudocegueira, costas arqueadas, tetania e morte. Irritabilidade e morte por problemas cardiovasculares, diminuio da produo e eclodicidade dos ovos. Anorexia, calcificao de tecidos moles e salivao profusa.
3.1.2.17
Atividade de gua
Para definir a Atividade de gua, necessrio entender o conceito de Umidade. A Umidade prejudicial conservao dos alimentos e a prpria sade animal. A umidade o contedo total de gua do alimento, uma parte desta gua se encontra na forma ligada s molculas constituintes do produto, no podendo ser usada para
26
qualquer outro tipo de reao. A outra parte est livre, disponvel para ser utilizada em reaes fsicas (evaporao), qumicas (escurecimento) e/ou microbiolgicas, sendo a principal responsvel pela deteriorao do alimento (LAMIC, 2009). Esta gua que se encontra livre medida pela atividade de gua (aw), expressando a disponibilidade da gua neste alimento (ICMSF, 1980). A importncia de estipular a atividade de gua de um alimento se deve ao fato de que o comportamento microbiano influenciado pelo mesmo. As bactrias so mais exigentes quanto a quantidade de gua livre quando comparado aos fungos e leveduras (LAMIC, 2009).
3.2 DEPARTAMENTO TCNICO
O departamento tcnico formado por profissionais especializados na rea de nutrio animal e tem como objetivo fornecer assistncia tcnica aos produtores de forma personalizada, alm de formular os produtos comercializados pela empresa, sempre respeitando as normas de sade, higiene e segurana. A assistncia prestada aos produtores vai desde a informao sobre seus produtos, indicao e adequao do produto ao resultado esperado pelo produtor, formulao de raes, palestras informativas at a assistncia campo.
3.2.1
Formulao de raes
No processo de formulao de raes deve se levar em considerao a exigncia nutricional especfica de cada espcie, e dentro desta deve se respeitar a fase do animal (exemplo: inicial, crescimento, abate...). H outros fatores importantes que devem ser
27
levados em conta, o ambiente, manejo e custo, que possivelmente interfiram no desempenho do animal. Todos estes pontos devem ser considerados no processo de fabricao e ajustados pelo nutricionista, sempre visando desempenhos timos, do animal e custos. Aps estabelecer os nveis nutricionais da rao levando em conta a necessidade de cada espcie dentro de suas particularidades o prximo passo determinar as matrias-primas a serem usadas, visto que esta deve ter o menor custo e atender a mxima produo levando em conta necessidade de cada rao. Na escolha da matria-prima a ser usada o nutricionista se depara com diversas possibilidades de ingredientes, conforme a disponibilidade do mercado ou estoque existente. Como citado por ANDRIGUETO et. al. (2002), no existe matria-prima insubstituvel no caso de nutrientes naturais e seus subprodutos, o ingrediente a ser usado em substituio s deve conter as mesmas qualidades nutricionais do anterior, mantendo os nveis do produto o qual far parte. O prximo passo seria calcular, manualmente ou por programas de computadores (programao linear em computador). Na empresa usado o software Optimix1 para formular as raes, este programa formula levando em conta o custo mnino das matrias-primas. Aps ser feita a formulao pelo programa alguns ajustes so necessrios, como por exemplo, uma matria-prima que esteja sendo usada em quantidade muito pequena pode ser substituda por alguma outra que j esteja sendo usada na rao, para isto deve-se restringir os nveis da matria a qual deseja retirar. Para formulao de rao para bovinos, o software usado o Espartan. O Espartan utilizado porque nele possvel
Domit e Domit Ltda.
28
formular dietas (o quanto ser fornecido de volumoso, rao, minerais e aditivos para ruminantes) e o Optimix utilizado somente para formulao de raes. A empresa presta servio de formulao para seus clientes compradores dos premixers e/ou ncleos, e tambm formula algumas raes internas. So formuladas raes para as seguintes espcies animais: - Sunos - Frangos de corte - Frangos de postura - Bovino de corte - Bovino de leite - Marreco - Peixe - Co - Gato - Avestruz - Primatas - Animais de laboratrio (camundongo, cobaia) - Camaro - Caprino - Ovino
As raes produzidas na fbrica da empresa so destinadas as seguintes espcies animais: - Animais de laboratrio - Ovino
29
- Caprino - Avestruz - Leites - Primatas - Eqino - Aves de postura
3.3 FBRICA DE PREMIX E ADITIVOS
A fbrica de premix trabalha com quatro (4) linhas de produo, conta tambm com um misturador de baixa capacidade, 50 Kg, usado para pequenas pores e experimentos. Cada linha trabalha com o misturador que recebe a denominao igual da linha, exemplo, linha um (1), misturador um (1). A linha um (1) a de maior capacidade de produo, seu misturador tem capacidade para 2000 Kg, esta linha totalmente automatizada e se encontra sob o comando do operador de painel atravs do software especfico. Nesta linha no adicionado nenhum aditivo, por isto chamada de linha branca. O abastecimento do misturador automtico e recebe matrias primas de 15 big bags, ele possui mais de 30 locais para abastecimento de elementos que so usadas em menor quantidade. Todos os ingredientes passam por uma balana de conferncia onde o processo s ter continuidade se estiverem na dosagem solicitada pela frmula. A denominao big bag faz referncia ao modo como armazenada a matria prima, onde o produto fica dentro de um saco, normalmente de rfio, de tamanho grande, o tamanho mais utilizado no Brasil de 1000kg. O big bag transporta grandes volumes e peso, sendo movimentado por mquinas, com esta forma de transporte se tem
30
uma economia nos custos e mo de obra. No Brasil, era utilizada a palavra "container flexvel" nas dcadas passadas, porm para evitar sua confuso com aquele container metlico de 20 ou 40 ps, de transporte martimo, h tendncia de cham-lo de "contentores flexveis" e popularmente de "bag".
Figura 3: Big Bag
Nas linhas dois (02), trs (03) e quatro (04) o abastecimento dos misturadores feito manualmente. Para tal, cada batida produzida completamente preparada (separao de matrias primas e pesagem) de modo que todos os componentes que fazem parte da frmula em questo sejam adicionados ao misturador. O misturador dois (2) tem capacidade para 1000 Kg, nesta linha os produtos fabricados tm adio de aditivos. Os misturadores trs (3) e quatro (4) tm capacidade de 400 Kg cada um, sendo que na linha trs (3) ocorre adio de aditivos e na linha quatro (4) tem adio de monensina. A fbrica deve possuir equipamentos de qualidade e que passem por revises peridicas para o seu bom funcionamento. Na empresa essas revises seguem uma planilha estipulada pelo responsvel habilitado para tal.
31
Todos os passos do processo de fabricao seguem uma ordem para que o mesmo flua de forma mais organizada possvel, sem que acarrete risco para o produto final. Estes passos esto elucidados na Figura 3.
Figura 4. Esquema de processamento de premixes e aditivos
O processo foi dividido de forma a facilitar o entendimento em recepo de matria prima e processamento, estas divises encontram-se relacionadas, sendo a segunda, a continuao da primeira. Os passos do processo de produo esto representados de forma mais sucinta, de modo a fornecer um entendimento mais rpido de todo o processo na Figura 4.
32
3.3.1
Recepo de Matria Prima
Alguns processos de rotina so realizados durante este procedimento que visam assegurar principalmente a qualidade do produto final. A correta realizao de todos os pontos deste procedimento tambm facilita a organizao de todo o processo de fabricao, facilitando inclusive a rastreabilidade do produto final. Antes da descarga do caminho a matria prima deve passar por um rigoroso controle dos seus aspectos fsicos visveis a olho nu, como, colorao, odor, viscosidade, presena de impurezas e qualquer outro tipo de no conformidade com o produto esperado. Durante esta avaliao fsica j so coletadas amostras que sero enviadas para anlise laboratorial.
33
Figura 5. Fluxograma do processo de produo
34
Alguns produtos devem passar pelo teste de granulometria para que seu descarregamento seja liberado, so eles: Casca de arroz Caulim Calcrio calcita Calcrio dolomtico Carbonato de clcio Bicarbonato de sdio Sal comum Sulfato de ferro Sulfato de zinco 35% xido de zinco xido de zinco denso Sulfato de magnsio heptahidratado xido de magnsio Monxido de magnsio Sulfato de mangans Sulfato de cobre Enxofre Cloreto de potssio Iodato de clcio monohidratado Sulfato de cobre monohidratado Sulfato de cobre heptahidratado Selenito de sdio
35
Esta lista de matrias primas, as quais devem passar pela granulometria fica fixada em uma parede prxima ao local de recepo onde esto registrados quais os resultados aceitveis. Para liberao ou no do produto tambm levado em considerao o laudo do fornecedor, caso possua. Alguns microingredentes so recebidos em embalagens apropriadas, as quais devem estar em perfeita integridade para que o produto seja recebido e ento armazenado de forma mais adequada, resguardando ao mximo sua integridade.
3.3.2
Armazenagem de Matria Prima
A armazenagem constitui um importante processo para a manuteno da qualidade do produto at sua utilizao. Muitos cuidados devem ser levados em considerao quanto ao local de armazenagem, so eles: temperatura, umidade, presena de insetos ou roedores, fcil acesso, distino do local, fluxo de produo, entre outros. Alguns ingredientes necessitam de uma armazenagem diferenciada para que suas propriedades fsico-qumicas possam ser mantidas. As vitaminas necessitam de um local em exclusivo, com controle de temperatura e de luz, este local deve ser mantido fechado e s deve ser aberto quando seu uso for requisitado. As vitaminas A, D, K3 e o Pantotenato de Clcio so considerados as mais sensveis s condies ambientais (VIEIRA e ROSA, 2007). Alguns aditivos tambm necessitam de um local apropriado para armazenagem, separados das demais matrias primas. Segundo a Legislao Brasileira, a armazenagem dos ingredientes e matrias primas deve ser em local ventilado, sem presena de fungos; sobre estrados, distantes
36
do piso, ou sobre paletes, bem conservados e limpos ou sobre outro sistema aprovado, afastados das paredes e distantes do teto de forma que permita fcil limpeza e circulao de ar; em bom estado de organizao e limpeza.
3.3.3
Separao da Matria Prima
Aps determinada a ordem de produo o primeiro passo a separao das matrias primas a serem utilizadas. A ordem de produo consiste em um documento onde constam dados relevantes para que se inicie a produo de um determinado produto. Os dados que compem esta ordem so: nome do produto a ser fabricado, lote, ingredientes, quantidade dos ingredientes, lote dos ingredientes, entre outros.
3.3.4
Pesagem da Matria Prima
uma etapa onde se deve tomar bastante cuidado, tanto na manipulao dos ingredientes quanto no processo de pesagem em si. A manipulao deve ser realizada de forma a se evitar o mximo possvel algum risco de contaminao cruzada. A pesagem dos ingredientes deve ser o mais preciso praticvel, pois qualquer negligncia pode acarretar problemas significativos no produto final, como, no adequao aos nveis de garantia estipulados para o produto, falta de produto final no podendo atender a demanda, alteraes organolpticas do produto, onde, no caso de o produto chegar ao consumo pretendido, este poder causar danos sade do animal, entre outros.
37
3.3.5
Mistura
A mistura um processo muito importante durante a fabricao de premixes e aditivos, uma boa mistura aquela que fornece aos animais todos os nutrientes necessrios para um bom desempenho. Uma mistura homognea de extrema importncia principalmente quando se trata de micronutrientes, pois estes quando misturados de forma inadequada podem no atingir os nveis recomendados ou at ultrapassar seu limite mximo, prejudicando o desempenho dos animais (BELLAVER e NONES, 2000). Segundo KLEIN (1999), um bom misturador deve seguir alguns requisitos bsicos, so eles, boa qualidade da mistura, o resduo remanescente aps a descarga do misturador no deve ser maior que 0,2% da capacidade do misturador e no deve haver vazamento na comporta. Estes trs requisitos devem ser avaliados da seguinte forma: diariamente deve-se avaliar se h vazamento na comporta, recomendado que quatro (4) vezes ao ano se avalie o resduo remanescente aps a descarga do misturador e, duas (2) vezes ao ano indicado que faa o teste de mistura (KLEIN, 1999). O teste de mistura feito com um indicador que adicionado a mistura, aps o procedimento de mistura feito a coleta de amostras e encaminhado para anlise, se avalia a quantidade do indicador que encontrado em determinada quantidade da mistura. Segundo KLEIN (1999) um resultado aceitvel seria de no mximo 10% de coeficiente de variao. Exemplos de indicadores so, violeta de methila, micro-tracer, grafite, ou um elemento do prprio premix ou aditivo como, mangans ou cromo, no recomendado que se use partculas de dimetro grande, como sal modo, pois pode fazer diferena na avaliao do CV (coeficiente de variao) (KLEIN, 1999). Na empresa
38
Nuvital Nutrientes utilizado o teste com microtracers para avaliar a homogeneidade do premix, no qual o CV dos resultados deve ser de at 5%, indicando uma mistura de qualidade adequada. importante salientar que os resultados de avaliaes de qualidade de mistura so dependentes do mtodo empregado, tamanho e nmero de amostras, local de coleta da amostra, preciso analtica e caractersticas prprias do produto utilizado na avaliao (VIEIRA e ROSA, 2007). Segundo Biagi (1998) citado por (BELLAVER e NONES, 2000), os fatores que podem modificar o desempenho de um misturador so: tempo deficiente de mistura, forma e tamanho das partculas, massa especfica dos ingredientes, adio de ingredientes lquidos, ordem de adio dos ingredientes, misturador com partes quebradas ou desgastadas, regulagem e limpeza incorreta, projeto inadequado do misturador e carregar o misturador com quantidade diferente da recomendada para sua operao. Durante o abastecimento do misturador de grande importncia a sequncia dos ingredientes a serem adicionados, microingredientes que geralmente entram em quantidades pequenas devem ser preparados em pr-misturas para depois serem incorporados a mistura propriamente dita (BELLAVER e NONES, 2000). Em geral, para uma melhor mistura recomendada uma sequncia de adio dos ingredientes no misturador, primeiro adicionado 50% do ingrediente de maior quantidade utilizado na mistura, depois todos os outros ingredientes e o premix e no final os 50% restantes do ingrediente de maior utilizao. Alguns componentes do premix podem apresentar incompatibilidade qumica ocasionando alteraes de cor ou at mesmo perda da potncia de alguns princpios ativos. Para evitar estes riscos algumas medidas podem ser tomadas como, a produo
39
de premixes em linhas distintas (linha branca, linha com aditivos) e a utilizao de programas de produo que trabalhem com uma seqncia de produtos a produzir, estas seqncias devem seguir princpios que podem ser estabelecidos por estudos e experimentos que se conseguem com o tempo na observao da prtica na hora da produo (VIEIRA E ROSA, 2007). A estabilidade das matrias primas dependem de vrios fatores como: umidade, temperatura, luminosidade, pH, oxidao, reduo e encontra-se diretamente relacionada com o tempo e condies de armazenamento (VIEIRA E ROSA, 2007). Quando se trata de premixes microminerais, os compostos pro sulfatos, naturalmente, tendem a ser mais reativos logo, h maior risco de ocorrerem reaes qumicas que comprometam a qualidade de premix. A reatividade do premix micromineral observada quando o premix endurece ou forma torres, ocasionalmente pode haver alterao de cor. O empedramento geralmente causado pela absoro de gua em um composto. Quase todos os compostos solveis em gua, tm a habilidade de incorporar gua como parte de sua estrutura qumica, isto na gua livre, mas gua que est quimicamente ligada ao composto. Partculas mais finas apresentam maior superfcie de contato, ento os problemas de empedramento tendem a ser mais significativos do que em matrias primas com maior granulometria (VIEIRA E ROSA, 2007). No caso de premixes completos as reaes podem alm de provocar o empedramento e/ou a formao de grumos, levar desnaturao de parte das vitaminas. Para reduzir a degradao das vitaminas so empregadas as revestidas ou protegidas, que so mais estveis e capazes de manterem-se ativas por mais tempo no ambiente (VIEIRA E ROSA, 2007).
40
Matrias primas com alta higroscopicidade como o caso do Cloreto de Colina podem atuar como catalizadores das reaes qumicas em nvel de premix. Incluses superiores a 10% de cloreto de colina via premix podem resultar em problemas de qualidade. Como sada recomenda-se o uso de Cloreto de Colina na forma p ou lquida, aplicado diretamente na rao (VIEIRA E ROSA, 2007). Aps a mistura pronta alguns pontos devem ser levados em considerao para se evitar a desmistura. Os pontos que causam a desmistura em uma fbrica de rao so, por exemplo: mau dimensionamento das roscas transportadoras, peneiras rotativas ou centrfugas, elevadores e silos mais altos que o necessrio (queda livre), elevadores com velocidade acima de 2 m/s, transporte granel de produtos farelados por longas distncias, prefervel que o produto seja peletizado nestes casos, entre outros (KLEIN, 1999).
3.3.6
Ensaque
o final de todo o processo de produo, deve ser feito com cuidado e de forma adequada para que no ocorram problemas. O material usado para o ensaque deve ser resistente para que se evitem perdas de produtos por rasgos. As informaes contidas no rtulo da embalagem devem seguir o recomendado pelo MAPA. Durante o ensaque deve se atentar para o peso de todos os sacos para que os mesmos contenham o peso exato, idntico ao estampado no rtulo, alm disso PE necessrio verificar a cor e a granulometria do produto, comparando com a esperada. Neste momento realizada a retirada de amostras do produto final para anlise laboratorial.
41
3.3.7 Expedio
o local onde o produto j finalizado aguarda pelo embarque. O produto deve ser armazenado em local especfico, protegido, em condies adequadas (temperatura, umidade, ausncia de luz solar, afastados das paredes, entre outros) e que no permita a ocorrncia de contaminao cruzada, segundo as normas da Legislao Brasileira.
3.4 INGREDIENTES
3.4.1 Milho
No Brasil o ingrediente de maior participao nas raes, sendo uma excelente fonte de energia atravs do amido, este se encontra na forma de amilose (27%) e amilopectina (73%) que facilmente digervel (BUTOLO, 2002; BUNGE, 2009). O valor nutricional do milho est demonstrado na Tabela 10. Seu teor de protena muito varivel, geralmente se encontra em torno de 8 a 13%, sendo que no Brasil o mais encontrado o de 9%. A principal protena a zena (50% do total do gro), esta protena pobre em alguns aminocidos essenciais, principalmente o triptofano e a lisina (Tabela 11). Quando o milho for o principal componente da dieta estes aminocidos devem ser suplementados (ANDRIGUETTO et al, 2002; BUTOLO, 2002).
42
Tabela 10 Valores mdios de alguns nutrientes que compem o milho em gro (% na matria seca) Matria Seca Protena Bruta Matria Mineral Extrato Etreo Nutrientes Digestivos Totais Energia Metabolizvel (Ruminantes) Energia Digestvel (Sunos) Energia Metabolizvel (Sunos) Energia Metabolizvel (Aves) Energia Metabolizvel Verdadeira (Aves)
87,68 %
3,67 %
3,421 3,230 Mcal/Kg 3,639 Mcal/Kg
8,49 %
90,0 %
1,15 %
1,43 Mcal/Kg 3,472 Mcal/Kg
Fibra Bruta
2,25 %
Fonte: BUTOLO (2002)
O milho altamente digestvel quando administrado na forma de gros modos, pois pobre em fibra bruta, se for fornecido na forma de espigas com palha o teor de fibra bruta aumenta, baixando o teor de energia. Por ser um alimento essencialmente energtico ele precisa ser suplementado com alimentos proticos, em todas as espcies. (ANDRIGUETTO et al., 2002). Seu teor de gordura varia entre 3 e 6%, seus lipdios so manifestados pelos cidos graxos, principalmente o linolico (55%), olico (27%), palmtico (12%), esterico (2%) e linolnico (0,8%) (ANDRIGUETTO et al, 2002; BUTOLO, 2002). O milho amarelo uma tima fonte de xantofila. As xantofilas so substncias pigmentantes de colorao amarela e lipossolvel. O -caroteno o seu principal representante, ele precursor da vitamina A ou retinol, que alm de ser essencial para viso desempenha importante papel na gnese de energia para plantas e pigmentante de produtos de origem animal e vegetal, quando depositadas na gema do ovo proporciona sua colorao caracterstica. (BRITO, 2006). A composio em minerais do milho demonstrada na Tabela 12.
43
Tabela 11. Valores mdios de aminocidos que compem o milho em gro (% na matria seca) Aminocidos % Histidina 0,24 Isoleucina Leucina Lisina Metionina Metionina + Cistina Prolina 0,28 1,00 0,24 0,21 0,48 0,81
Alanina Arginina Cistina Fenilalanina Fenilalanina + Tirosina Glicina
0,63 0,37 0,28 0,40 0,66 0,32
Serina Tirosina Treonina Triptofano Valina
0,39 0,27 0,27 0,05 0,37
Glicina + 0,71 Cerina Fonte: BUTOLO (2002)
Tabela 12 Valores mdios de minerais que compem o milho em gro (% na matria seca) Minerais Potssio 0,35 % Cobre Ferro Mangans 4,65 mg/Kg 58,67 mg/Kg 7,34 mg/Kg
Sdio Clcio Magnsio
0,00 % 0,04 % 0,10%
Molibdnio Zinco Flor
0,40 mg/Kg 27,35 mg/Kg 0,01 mg/Kg
Fsforo 0,26 % Fonte: BUTOLO (2002)
3.4.1.1 Subprodutos do milho De acordo com o Compndio Brasileiro de Alimentao Animal 2005, os subprodutos do milho so: Gro integral modo de milho: o gro de milho amarelo modo. Degerminado ou canjica de milho: o que sobra do milho integral aps remoo do grmen e do tegumento.
44
Farelo de grmen de milho ou canjiqueira de milho: o que resta do processamento industrial do milho para consumo humano, consiste do grmen, tegumento e pequenas partculas amilceas.
Farelo de glten 21 de milho: o que fica aps a extrao da maior parte do amido, do glten e do grmen no processo de produo do amido por moagem mida, formado pela parte fibrosa do gro de milho e pode conter extrativos fermentados do milho e/ou farelo de grmen de milho.
Farelo de glten 60 de milho: o que resta aps o processamento mido para fabricao do amido e xarope de glicose ou aps o tratamento enzimtico do endosperma, onde removido a maior parte do amido, grmen e pores fibrosas. Contm gua de macerao seca em propores variadas.
Farelo de grmen desengordurado de milho (solvente): o produto resultante do milho integral modo a seco aps a extrao do leo por solvente.
Farelo de grmen desengordurado de milho (solvente) por via mida: o produto resultante do milho integral por moagem mida aps a extrao do leo por solvente.
Farelo de pericarpo de milho: formado pela pelcula (pericarpo) do milho. Milho pr-gelatinizado: o que se obtm aps o processo de gelatinizao do amido do milho degerminado. Milho degerminado o milho que passa por um equipamento que produz atrito entre os gros e entre os gros e a parede do equipamento com o objetivo de separar a casca e o grmen do milho do gro. Gelatinizao do amido acontece quando os grnulos so expostos umidade e temperaturas acima de 60C, em que a umidade interna do gro provoca a ruptura das pontes de hidrognio mais fracas que unem as cadeias de amilose e
45
amilopectina, o que torna os grnulos de amido mais facilmente digerveis. (BUTOLO, 2002). Milho integral extrusado: o resultado final de milho integral aps o processo de extruso (Compndio Brasileiro de Alimentao Animal 2005). O milho que passa pelo processo de extruso sofre modificaes estruturais nos grnulos de amido que melhoram a ao enzimtica sobre o mesmo, pois ocorre alteraes na conformao da molcula devido a desnaturao protica provocada pelo processo de extruso, a protena desnaturada mais sensvel a hidrlise pelas enzimas proteolticas e, em muitos casos sua digestibilidade e utilizao aumentam (Amaral, C. M. C., 2002). Durante o processamento de extruso o milho passa por um decurso de calor mido, modificando as suas caractersticas fsicas. Milho integral laminado: o milho aps passagem por laminadores e depois por rolos que achatam ou laminam o produto, este processo pode ser feito com a presena de vapor ou no. Na laminao sem vapor, a seco, o milho s sofre transformaes fsicas em sua estrutura, a digestibilidade do milho laminado em relao ao gro inteiro maior, e em relao ao gro modo menor. Na laminao vapor alm de mudanas na estrutura fsica ocorrem modificaes qumicas do amido dos gros (gelatinizao), o milho aps gelatinizao absorve maior quantidade de gua que o amido cru, o que facilita a absoro das enzimas e assim, a digesto enzimtica (BUTOLO, 2002). Milho floculado: semelhante laminao a vapor, onde o milho sofre alteraes fsicas e qumicas, a diferena que neste processo possvel determinar maior tamanho das partculas e menor densidade do gro, isto facilita a prevalncia do alimento no rmen, tendo um maior aproveitamento.
46
3.4.2 Soja
A soja uma planta da famlia das leguminosas que est em segundo lugar na produo mundial (BUTOLO, 2002). Tem um elevado valor protico, cerca de 38 a 39%, devido ao timo equilbrio de aminocidos a protena de boa qualidade, sendo o melhor suplemento protico vegetal existente para alimentao dos animais (ANDRIGUETTO et al., 2002). Tem significadivo teor de leo, 18 a 19%, o que o deixa acima do milho quanto ao valor energtico. Pouca quantidade de fibra, cerca de 7%, tem pouco caroteno e vitamina D, pobre em clcio, 0,25% e tem 0,59% de fsforo (ANDRIGUETTO et al., 2002). A soja em seu estado natural possui fatores antinutricionais que inibem o crescimento, reduzem a digestibilidade, principalmente da protena, causam hipertrofia pancretica, estimulam a hiper e a hipo secreo de enzimas pancreticas e reduzem a disponibilidade de aminocidos, vitaminas e minerais (BUTOLO, 2002). A soja crua no deve ser usada para aves e sunos (ANDRIGUETTO et al., 2002). Para ruminantes quando usado em grande quantidade a soja crua diminui a utilizao do caroteno ou vitamina A, o que no ocorre na soja aquecida (ANDRIGUETTo et al., 2002). Para destruir os fatores antinutricionais necessrio que a soja passe por processamento trmico. No caso do farelo de soja o calor tambm necessrio para evaporar o hexano que usado para a extrao do leo, ele txico tanto para o homem quanto para os animais (BUTOLO, 2002).
47
3.4.2.1 Subprodutos da soja
Os valores mdios de alguns nutrientes que compem os diferentes subprodutos da soja esto demonstrados na Tabela 13. Gro integral de soja modo: o gro de soja integral antes de passar por qualquer tipo de processamento com exceo da moagem. Gro integral de soja, tostado e modo: o gro de soja integral aps ser tostado e modo. Farelo semi-integral de soja: o gro de soja aps tratamento trmico com a extrao parcial do leo. Farelo de soja (solvente): aps o processo de extrao do leo dos gros da soja pro solvente o produto tostado, existem dois tipos de produtos, sem a retirada da casca, o farelo de soja, e o farelo descascado ou hipro, que com a retirada da casca. Casca de soja: no processo de extrao do leo feito a separao da pelcula do gro, desta parte externa que separada resulta este subproduto. Protena texturizada de soja: o produto resultante da extruso da farinha de soja desengordurada.
48
Tabela 13 Valores mdios de alguns nutrientes que compem os diferentes produtos da soja Gro integral de modo Gro integral, tostado e modo Farelo semiintegral
Parmetro (Unidade)
Farelo (solvente) Com Sem casca casca
Casca
Protena texturizada
Umidade (%) 14 - Mx Protena Bruta (%) 34 Mn Extrato Etreo (%) 18 Mn Fibra Bruta 6 (%) - Mx Matria Mineral (%) 5,5 Mx Atividade Uretica 2,5 (Variao de pH) Aflatoxinas 20 (PPB) - Mx Solubilidade em KOH 95 0,2% (%) P.D.I. (ndice de Protena 76 Dispersvel) (%) Fonte: BUTOLO (2002)
12 35
12 40
12,5 43,6
12,5 47
12,5 10
9 52
20 6 5,5
8 6,5 6
7,66 7,33
5 7
40 7
0,3 3 6,5
0,2
0,2
0,23
0,2
20 80
20 80
20 80
20 80
20 -
20 70
30
30
30
30
65
49
3.4.2.2 Fatores antinutricionais da soja
Inibidores de proteases
So biomolculas formadas pela ligao de dois ou mais aminocidos (peptdeos) que esto presentes na soja in natura, capazes de se ligar a enzimas proteolticas pancreticas inativando-as, diminuindo a digestibilidade das protenas na dieta. Estes peptdeos inativam as atividades das enzimas tripsina, quimiotripsina, amilase e carboxipeptidase (SILVA e SILVA, 2000), prejudicando a quebra das cadeias proticas que liberariam os aminocidos para absoro intestinal (Butolo, et al.). As pesquisas so centradas nos inibidores da tripsina por isto estas substncias so usualmente denominadas por esta enzima (SILVA e SILVA, 2000). Os efeitos perniciosos dos inibidores da protease so essencialmente quanto a alteraes no pncreas, com o aumento da secreo de enzimas, hipertrofia e hiperplasia pancretica e diminuio no crescimento em animais (SILVA e SILVA, 2000). Quando o nvel de tripsina do pncreas abaixa at certo limear a colecistoquina ativada secretando mais enzimas pancreticas. Como o inibidor da tripsina se complexa com a tripsina ocorre um decrscimo desta enzima livre no intestino aumentando a concentrao plasmtica da colecistoquina estimulando o pncreas a liberar mais enzimas, levando a uma hipertrofia pancretica. Porm h discordncias em relao a esta informao, pois alguns pesquisadores observaram aumento do nmero de clulas e outros, aumento do tamanho das clulas ou ambos os casos (SILVA e SILVA, 2000). A taxa de crescimento em animais jovens prejudicada devido perda fecal dos aminocidos sulfurados das enzimas pancreticas, esta perda endgena no suprida pela ingesto de protenas de leguminosas (SILVA e SILVA, 2000).
50
Lectinas
Segundo Kocourek & Horejsi citados por SILVA (2000), as lectinas so protenas no pertencentes ao sistema imunolgico, porm capazes de reconhecer stios especficos em molculas e ligar-se reversivelmente a carboidratos, sem alterar a estrutura covalente das ligaes glicosdicas dos stios. Elas tm alta capacidade de se ligar a carboidratos, principalmente nas clulas do duodeno e jejuno causando prejuzos parede intestinal levando a desordens e destruio das microvilosidades intervindo na digesto e absoro dos nutrientes (BRITO, 2006). As leses parede intestinal aumentam sua permeabilidade permitindo que as lectinas sejam absorvidas, dependendo da quantidade absorvida elas podem causar alguns danos como: leses renais, atrofia do timo, hipertrofia do fgado e pncreas, atrofia muscular e aumento do catabolismo protico, lipdico e de carboidratos (BRITO, 2006).
Saponina
So glicosdeos presentes em algumas plantas e possuem propriedades de formar espuma em solues aquosas, agem sobre membranas desorganizando as mesmas, se complexam com esterides, so irritantes para as mucosas e tem sabor amargo e cido (MASSON et al., 2009).
51
Outros fatores antinutricionais da soja
Os fitatos so substncias capazes de aprisionar minerais como o clcio, zinco, cobre, ferro e cromo, reduzindo a sua disponibilidade, tambm podem se combinar com protenas e amido (BUTOLO, 2002; ROSSET, 2007). Existem tambm agentes antitireoideanos que inibem a produo de iodo bloqueando a utilizao da tiroxina, os goitrognios (BUTOLO, 2002). A enzima lpase presente nas sementes das oleaginosas promovem a rancificao hidroltica do leo da soja prejudicando tanto a qualidade do gro como do leo, esta enzima possui odor e sabor desagradvel (APOSTILA ENGENHARIA DE ALIMENTOS, 2009). A enzima lipoxigenase tambm desenvolve sabor e odor desagradvel, pois promove a oxidao dos cidos graxos (SAWAZAKI, et al., 1987). O gro de soja in natura possui outros fatores antinutricionais como antivitaminas A e E, havendo necessidade de suplementar estas vitaminas quando este tipo de alimento usado. Possuem tambm substncias que diminuem a absoro de nutrientes, a glicina e a conglicinina. Alguns oligossacardeos (rafinose e stachyose, principalmente) presentes na soja crua no podem ser digeridos pelas aves devido a falta de enzima endgena (1,6) galactosidase, causando flatulncia, desconforto abdominal e diarrias nos animais diminuindo a digesto e absoro dos nutrientes (BUTOLO, 2002).
3.4.2.3 Processamento da soja
A soja uma leguminosa largamente utilizada na alimentao animal, pois possui uma frao protica muito significativa, utilizada principalmente sob a forma de
52
farelo, e na forma de farinha e concentrados proticos na alimentao humana. Da soja tambm se pode fazer a extrao do leo que usado pela indstria alimentcia para fabricao de margarina, leo de cozinha e agentes emulsificantes. Por estes motivos a produo de soja tem crescido consideravelmente em todo o mundo (BRASIL, 2007). Devido ao seu grande uso de extrema importncia que a soja seja processada para que haja a destruio de seus fatores antinutricionais permitindo que a leguminosa desempenhe seu mximo potencial alimentcio. Durante o processamento com calor, os fatores antinutricionais da soja so destrudos, mas quanto a este procedimento deve-se tomar muito cuidado, pois a soja quando superaquecida perde parte de seu valor nutritivo devido reao de Maillard, onde o aminocido lisina se junta com o acar diminuindo sua disponibilidade. Caso contrrio, quando a soja subprocessada os fatores antinutricionais continuam ativos diminuindo os ndices de produtividade dos animais (BUTOLO, 2002).
3.4.2.3.1 Mtodos de processamento da soja
Tostagem por calor seco em tambor rotativo
A soja aquecida com ar seco com temperaturas entre 100 C a 170C durante 20 minutos em um tambor rotativo. O problema deste tipo de procedimento quanto ao mtodo para gerar o calor, seja este por fogo direto, gs ou lenha, gerando grande dificuldade em acertar o ponto de tostagem ideal, tambm devido ao tipo de material utilizado para tostagem, como tamanho das partculas e umidade do gro (BRITO, 2006).
53
Tostagem por calor mido
Uma rosca transportadora movimenta a soja atravs de tubulaes, esta submetida diretamente ao vapor com baixa presso, gerado por caldeiras abastecidas por leo combustvel ou lenha. Este processo semelhante a autoclavagem (BRITO, 2006).
Jet-Exploder
A soja entra por um tubo onde submetida a um jato de ar aquecido 315 C, aps ser retirado entra em contato com o ar onde sua temperatura se reduz para 120 C a 200 C, esta queda na temperatura provoca a ruptura da estrutura do gro. Ao final o gro resfriado, laminado e depois modo (BRITO, 2006).
Micronizao
A soja entra por um moinho dosador e depois passa por uma esteira vibratria de ladrilhos, que geram uma vibrao de 60 a 150 mil-megaciclos por segundo, a soja fica sob ao de queimadores a gs que originam raios infravermelhos como fonte de calor. O gro se incha e forma fissuras internas. Aps ele laminado e depois modo (BRITO, 2006).
54
Cozimento
O gro submetido ao aquecimento sob gua em ebulio (100C) numa proporo de 1 de gro para 2 de gua, durante 30 minutos, aps posto para esfriar e secar sobre papel impermevel e depois em estufas, no final ele modo. um procedimento caro e demorado (BRITO, 2006).
Extruso
um procedimento onde o material a ser processado passa por um reator de fluxo contnuo que trabalha com altas temperaturas e presso, combinado com uma taxa de umidade e uma fora de cisalhamento. Estes processos em combinao gelatinizam a amido e desnaturam protenas favorecendo a digestibilidade e aproveitamento dos nutrientes (BRITO, 2006; EMBRAPA, 2006).
3.4.2.3.2 Avaliao do processamento da soja
Como citado anteriormente, o processamento da soja deve ser realizado de forma adequada para que possa se obter o melhor aproveitamento deste alimento. Para tal alguns testes so feitos no produto aps processado para avaliar a qualidade do mesmo. Os mais utilizados so a anlise da atividade uretica e a solubilidade da protena em hidrxido de potssio a 0,2% (KOH 0,2%).
55
Atividade uretica
Consiste em avaliar a reduo da atividade da enzima urease presente no gro de soja, esta enzima destruda pelo calor, e responsvel pela quebra dos compostos nitrogenados no proticos (Runho, R. C., 2001). Tanto os fatores antinutricionais como a urease so termolbeis, ambos destrudos pelo calor, por isso se faz uma correlao com a quantidade de urease que foi destruda pelo tratamento trmico e a quantidade de fatores antinutricionais que tambm foram destrudos pelo mesmo tratamento trmico (RUNHO, 2001). Esta aferio se faz pela variao do pH, o gro cru possui sua atividade uretica entre 2,0 a 2,5 de pH, um farelo de soja bem processado possui seu pH entre 0,01 e mximo de 0,15 de pH (BUTOLO, 2002; RUNHO, 2001), conforme demonstrado na Tabela 14.
Tabela 14 Padro de Atividade Uretica do Farelo de Soja Excelente Boa Regular Deficiente Fonte: Poli Nutri Alimentos Ltda. 0,01 0,05 0,20 0,21 0,31 > 0,30
Esta anlise no determina se o processamento trmico prejudicou ou no a qualidade da protena e das vitaminas. Ela s indica a qualidade do processamento trmico mostrando se houve ou no inativao dos fatores antinutricionais. O ndice de urease no linear com o aquecimento, pode-se ter alcanado um ndice de urease excelente em que houve destruio dos fatores antinutricionais, mas sem que se tenha certeza se a temperatura do processamento prejudicou ou no os fatores nutricionais do gro (BUTOLO, 2002; RUNHO, 2001).
56
Solubilidade protica em Hidrxido de Potssio (KOH) a 0,2%
Esta anlise possui uma correlao direta com a quantidade de protena solvel presente no farelo de soja e o processamento trmico a qual foi submetido. A protena solvel presente no alimento em questo aquela que pode ser absorvida pelo animal, isto quer dizer que, quanto maior a quantidade de protena solvel maior a quantidade de protena e aminocidos disponveis para absoro pelo animal (RUNHO, 2001). Quando o gro submetido ao processamento trmico para que seus fatores antinutricionais sejam inativados ocorre tambm uma queda na solubilidade protica ao hidrxido de potssio, em conseqncia uma diminuio da disponibilidade dos aminocidos e protenas presentes no alimento (RUNHO, 2001). A protena solvel do gro de soja cru pode apresentar at 100% de solubilidade, o que favorvel quando se trata somente do aspecto nutricional, mas prejudicial se levar em considerao os fatores anti nutricionais presentes no gro, quando processada de forma adequada a protena solvel deve apresentar at 80% de solubilidade (Tabela 15). Este padro de solubilidade indica que o alimento passou por um tratamento trmico adequado com destruio dos fatores antinutricionais sem que a qualidade da protena da soja seja alterada de forma significativa, com um mnimo de desnaturao protica (RUNHO, 2001).
Tabela 15 Padro de Solubilidade da Protena em Hidrxido de Potssio a 0,2% Excelente Boa Razovel Deficiente Fonte: Poli Nutri Alimentos Ltda. > 85% > 80% > 75% < 75%
57
Um resultado de solubilidade prximo de 90% no adequado pois isto pode indicar que houve um subaquecimento do gro, em conseqncia os fatores antinutricionais podem no terem sidos devidamente eliminados vindo a prejudicar a produtividade dos animais (BUTOLO, 2002). Esta anlise deve ser acompanhada com a anlise da atividade uretica para que saibamos se realmente houve desativao dos fatores antinutricionais com mnima perda de qualidade dos ingredientes analisados (BUTOLO, 2002).
3.4.3 Trigo
O trigo s utilizado na alimentao animal quando este se encontra desqualificado para a produo de farinha para consumo humano (BUTOLO, 2002), normalmente se utiliza o trigo de qualidade inferior conhecido como triguilho ou subprodutos (ANDRIGUETTO et al., 2002). O teor de protena do trigo varia entre 8,8 a 12%, esta protena no de boa qualidade, como nos outros gros; deficiente nos aminocidos leucina e alanina, e s vezes em treonina. pobre em clcio e quando comparado aos outros cereais possui boa quantidade de fsforo. deficiente em caroteno, vitamina D e riboflavina. uma boa fonte de tiamina e possui valores superiores ao do milho em relao colina (ANDRIGUETTO et al., 2002). Para bovinos no deve ser fornecido mais do que um tero ou metade da mistura da rao, pois um alimento pesado que se fornecido em excesso pode provocar sobrecarga e problemas digestivos, podendo at levar a formao de meteorismo. Para ovinos um bom alimento se fornecido amassado ou modo. Quando fornecido para eqinos ele deve ser modo grosseiramente e fornecido junto com alimentos volumosos
58
para que se evite clicas. Para sunos um excelente alimento sendo comparado ao milho quanto a sua apetibilidade. Para aves tem valor nutritivo superior ou igual ao milho, deve-se tomar cuidado com a sua granulometria pois se modo muito fino pode causar impactao no bico de aves jovens, pois sua protena muito viscosa e se adere com facilidade ao bico (ANDRIGUETTO et al, 2002; BUTOLO, 2002). Essa restrio que principalmente as aves sofrem quanto ao uso do trigo se deve ao fato deste cereal possuir arabinoxilanos, so polissacardeos no amilceos que fazem parte da parede celular, eles tem elevada capacidade de se ligarem a grandes quantidades de gua aumentando a viscosidade do contedo intestinal interferindo na utilizao dos outros nutrientes (BRITO, 2006). Em dietas em que este cereal utilizado deve-se fazer a complementao com complexos enzimticos compostos por carboidrases (glucanases, amilases, xilanases, arabinoxilanases, celulases e hemicelulases), estas enzimas degradam os complexos e fibras solveis responsveis em causar a viscosidade (BRITO, 2006). O trigo possui inibidor de -amilase que responsvel pela quebra do amido em dextrina e maltose, estes inibidores so termolbeis por tanto so destrudos no processo de peletizao (BUTOLO, 2002).
3.4.3.1 Subprodutos de trigo:
Gro integral de trigo modo: o gro de trigo aps ser modo (BUTOLO, 2002). Farelo de trigo: no processo da fabricao da farinha de trigo para consumo humano cerca de 28% do gro no aproveitado, o que origina o farelo de trigo, composto basicamente pelo tegumento que envolve o gro (BUNGE, 2009).
59
Farelo de grmen de trigo: formada pelo grmen e algumas outras pequenas partculas oriundas do processamento da farinha de trigo (BUTOLO, 2002).
Remodo de trigo: uma mistura de farelo, grmen e farinha de trigo resultantes do processamento do gro de trigo (BUTOLO, 2002).
Triguilho: o produto que resulta da limpeza do gro de trigo, e constitudo por gros quebrados, chochos, pequenos, sementes de outras plantas e outras impurezas, ou o trigo de qualidade inferior onde o seu peso especfico menor do que o exigido para moagem (ANDRIGUETTO et al., 2002; BUTOLO, 2002).
3.4.4 Farinhas de origem animal
Devido ao grande crescimento da indstria de alimentao animal houve uma busca por produtos alternativos ao milho e a soja. No quesito alimento protico as farinhas de origem animal representam uma tima alternativa, pois a protena deste tipo de material considerada de alto valor biolgico e de baixo custo. Alm de ser de grande importncia o fornecimento de vitaminas e minerais provenientes destes produtos (BELLAVER, 2001). Outra grande relevncia ao uso destes produtos em relao ao ponto de vista ambiental e da sade pblica, visto que uma grande parte do material animal destinado ao consumo humano aps processamento desqualificado para tal finalidade, o resduo resultante deste processamento deve ter um destino adequado. So vrias as possibilidades, dentre elas esto: aterros, enterramento, compostagem, queima, incinerao e reciclagem. Dentre estas a que menos risco apresenta do ponto de vista sanitrio e ambiental a reciclagem, onde os resduos resultantes sofrem alguns processos em que viabiliza sua utilizao como fonte protica e mineral para raes
60
animais (BARROS e LICCO, 2007). Na Tabela 16 est demonstrado o percentual de carcaa e resduos do abate de bovinos, ovinos e sunos em relao ao peso vivo. Assumindo o ponto de vista econmico, estes subprodutos agregam a indstria de alimentos um significativo valor, tanto para a parte que produz produtos de origem animal quanto para quem consome os subprodutos, especificamente a indstria de alimentao animal, que tem uma tima fonte protica alternativa de baixo custo (BELLAVER, 2001).
Tabela 16 Subprodutos e resduos da carcaa e carne sem osso de vrios animais, em % do peso vivo Bovinos Novilhos Sunos Ovinos Subprodutos e resduos 49 40 22 52 Carcaa 51 60 78 48 Ossos, gorduras, tendes e perda de peso 16 21 33 13 35 39 Fonte: Prbdl et al., 1994 citado por BARROS e LICCO 2007
(gua) Carne sem osso
45
35
Como qualquer outro ingrediente que venha a fazer parte de uma rao animal, os subprodutos de origem animal tambm possuem uma margem de qualidade a ser seguida. O controle da qualidade de extrema importncia quando se trata do ponto de vista sade humana e transmisso de doenas. Esta preocupao surgiu com o aparecimento da Encefalopatia Espongiforme Transmissvel (BSE), conhecida como doena da vaca louca, que ocorre em diferentes espcies e fatal. Uma varivel desta doena transmissvel a humanos, a doena de Creutzfeldt-Jakob (CJD). Em ovelhas esta doena chamada de scrapie. A encefalopatia decorre com uma infeco generalizada do crebro, e no se sabe como a infeco se desenvolve, ela est relacionada ao consumo de farinhas de origem animal por bovinos (BUTOLO, 2002; BARROS e LICCO, 2007).
61
Devido aos fatos ocorridos se fez necessrio estipular um rgido padro de qualidade no processamento de tais produtos, como, anlise de perigos e controle de pontos crticos (APPAA/ HACCPP), medidas de boas prticas de fabricao (BPF) e rastreabilidade, sendo este ltimo com destaque para o papel do fornecedor, oferecendo garantia de procedncia e qualidade dos produtos (SCHEUERMANN e ROSA, 2008). O Ministrio da Agricultura e Abastecimento do Brasil pela instruo normativa n 8, de 25 de maro de 2008, probe a utilizao de produtos que contenham em sua composio protenas e gorduras de origem animal para alimentao de ruminantes. Para monogstricos seu uso permitido desde que este tenha passado por processamentos adequados para que ocorra a transformao dos mesmos em ingredientes de alta qualidade (SCHEUERMANN & ROSA, 2008). Alguns fatores que alteram a qualidade as farinhas de origem animal devem ser levados em conta, so eles: Umidade: acima de 8%poderia facilitar a contaminao bacteriana e umidade muito baixa est associada geralmente a queima do produto (BELLAVER, 2005). Moagem (textura): na composio das farinhas podem entrar nveis variados de osso, estes so de difcil moagem, por isto os pedaos maiores devem ser segregados para a remoagem (BELLAVER, 2005). Algumas farinhas de origem animal, como a farinha de carne, possuem altos nveis residuais de gordura o que tornam o produto de difcil moagem (BUTOLO, 2002). Contaminaes: a presena de sangue, penas, resduos de incubatrio, cascos, chifres, plos, couro e resduos digestivos devem ser minimizados ao mximo em funo de cada produto a ser produzido (BELLAVER, 2005). Contaminaes com materiais estranhos ao processo: geralmente esto associados a fraudes ou a equipamentos no adequados (BELLAVER, 2005).
62
Tempo entre o abate e o processamento: o processamento deve ser realizado logo aps o abate ou dentro de 24 horas seguintes ao abate, evitando assim a putrefao e oxidao das gorduras (BELLAVER, 2005).
Peroxidao das gorduras: as farinhas apresentam gordura em sua composio, sendo esta muito susceptvel a peroxidao, por isso devem ser includos antioxidantes nas farinhas para prevenir o incio da peroxidao (BELLAVER, 2005).
Contaminao por Salmonela: devido a temperatura de processamento em que as farinhas so submetidas grande parte da contaminao bacteriana eliminada, mas a recontaminao destes produtos de fcil ocorrncia, isto acontece devido ao manuseio, transporte e outros fatores ambientais inadequados. Uma prtica que est se tornando mais comum a adio de substncias a base de formaldedo, que impedem o crescimento bacteriano (BELLAVER, 2001). Outro aspecto a ser levado em conta nas farinhas de origem animal a presena
de poliaminas (aminas biognicas), presentes naturalmente nos alimentos de origem vegetal e animal. O organismo necessita de poliaminas que devem ser supridas pela dieta. O problema est no fato de que a margem de segurana destas substncias baixa, em uma determinada porcentagem ela trs benefcios mas se aumentado a sua dose pode acarretar problemas de intoxicao, limitando o consumo das farinhas de origem animal. Um exemplo a putrescina, uma amina biognica que quando usada at 0,2% considerada como promotora de crescimento de frangos mas, se usada em doses de at 1% j se torna txica (BELLAVER, 2005).
63
3.4..4.1 Subprodutos de origem animal
Farinha de carne e ossos (FCO): aps a desossa total da carcaa dos animais colhido os ossos e tecidos que so modos, cozidos e prensados para extrao da gordura e novamente modos. No pode conter sangue, cascos, chifres, plos, contedo estomacal, a no ser os obtidos involuntariamente dentro dos princpios de boas prticas de fabricao. Deve ter 4% de fsforo no mnimo e a quantidade de clcio no deve ultrapassar a 2,2 vezes o nvel de fsforo. Podem ser usadas carcaas de bovinos, sunos, ovinos ou mista (BELLAVER, 2005).
Farinha de carne (FC): obtida aps o processamento industrial da carcaa de animais, contm todas as partes consideradas inadequadas para consumo humano, sem a parte ssea. Existem dois tipos de farinhas de carne, a tankagem, ela passa por cozimento em autoclave sob presso, e a farinha de carne propriamente dita, onde o cozimento feito em caldeiras abertas com injeo de vapor seco superaquecido, as farinhas de carne do tipo tankagem geralmente tem o teor de protena superior a 60%, mas sua digestibilidade no muito elevada (ANDRIGUETTO et al., 2002). So cinco as qualidades das farinhas de carne existentes, com base na quantidade de protena (35, 40, 45, 50 e 55% de protena bruta). O nvel de fsforo no deve ser superior a 4%, pois a partir da se enquadra no item anterior, farinha de carne e ossos (Bellaver, 2005). O teor de extrato etreo muito varivel, sendo se 9% at 16% ou mais. Quanto maior o teor de gordura menor o de protena (ANDRIGETTO et al., 2002). Aves e sunos podem ter a farinha de carne incorporada na dieta, desde que o seu nvel no ultrapasse o teor de clcio indicado para cada espcie na fase em
64
questo, o clcio deve funcionar como limitante. Para sunos a sua apetibilidade no muito boa (ANDRIGUETTO et al., 2002). Farinha de ossos autoclavada (FOA): formada pelos ossos das carcaas que so destinadas ao consumo humano, submetida ao tratamento trmico em autoclave ou digestor. A gordura, gelatina e as fibras de tecidos podem ou no ser retiradas (BELLAVER, 2005). Farinha de ossos calcinada (FOC): os ossos so calcinados em formos a altas temperaturas (600C) onde toda a matria orgnica retirada (ANDRIGUETTO et al., 2002). Tabela 17 Especificaes Orientativas de Qualidade da farinha de ossos autoclavada e farinha de ossos calcinada Parmetros (unidade) Umidade mx (%) Protena Bruta (%) Extrato Etreo mx (%) Matria mineral (%) Clcio (%) Fsforo (%) Teste de rancidez Salmonella Fonte: BUTOLO (2002) Farinha de sangue (FS): durante a sangria do animal o sangue retirado separado em recipientes apropriados, o material recolhido cozido e secado em secadores rotatrios. A temperatura durante o processo o principal ponto a ser observado para garantir a qualidade, altas temperaturas causam problemas de disponibilidade para o animal. Se usado em grandes quantidades podem causar problemas de palatabilidade (BELLAVER, 2005). As farinhas de sangue so indicadas para Ossos Autoclavado Osso Calcinado 10 25 a 28 5 35/40 18/20 9/10 Negativo Isento 96 32 16 -
65
serem utilizadas em aves e sunos em fase de crescimento (ANDRIGUETTO et al., 2002). Farinha de sangue spray dried (FSSD): a umidade do sangue retirado atravs de um processo semelhante o utilizado na elaborao do leite em p spray (ANDRIGUETTO et al., 2002), onde utilizado baixa temperatura sob vcuo at formar uma massa semi-slida que passa na forma de spray por um equipamento com corrente de ar quente para reduzir a umidade de at no mximo 8% (BELLAVER, 2005). Este sistema o que acarreta menos alteraes fsicoqumicas das protenas, sendo o produto final de melhor digestibilidade (ANDRIGUETTO et al., 2002). Farinha de sangue flash dried (FSFD): a umidade do sangue retirada por um processo mecnico ou condensada por coco at um estado semi-slido, aps esta massa passa por um secador rpido para remover a umidade restante (BELLAVER, 2005). Plasma animal (P): aps a centrifugao do sangue o plasma resfriado e secado por um sistema de spray-dryver (BUTOLO, 2002). Clulas vermelhas do sangue (hemceas) (CVS): o sangue centrifugado, sofre hemlise, as membranas celulares (estroma) e a poro HEME so retiradas, filtrado e seco atravs do sistema spray-dryver (BUTOLO, 2002). Farinha de vsceras (FV): as vsceras de aves so coletadas e posteriormente cozidas, prensadas e modas. permitida a incluso de cabeas, ps e ovos no desenvolvidos, a incluso de penas considerada adulterao, no deve conter casca de ovo (BELLAVER, 2005). Farinha de vsceras com ossos (FVO): semelhante a farinha de vsceras sendo possvel a incluso de resduos de ossos resultantes da desossa mecnica, a
66
incluso de cabeas e ps permitido desde que no altere a composio qumica esperada (BELLAVER, 2005; BUTOLO, 2002). Farinha de vsceras com ossos e resduos de incubatrio (FVORI): composto por resduos de vsceras de aves, resduos de ossos e resduos de incubatrio (casca de ovos, infrteis e no eclodidos, pintos no viveis e os descartados) (BELLAVER, 2005). Farinha de resduos de incubatrio (FRI): compostos por cascas de ovos, ovos infrteis e no eclodidos, pintos no viveis e os descartados. A gordura pode ou no ser removida por prensagem (BELLAVER, 2005). Farinha de penas hidrolisadas (FPH): composta pelas penas obtidas aps a passagem das aves pelo tnel de depenagem, elas so tratadas e passam por coco sob presso, permitido a presena de sangue desde que no altere a composio qumica esperada, penas decompostas no so permitidas (ANDRIGUETTO et al., 2002; BUTOLO, 2002). rico em cistina e pobre em lisina, dietas pobres em lisinas so teis quando se requer um retardamento na maturidade sexual em poedeiras (ANDRIGUETTO et al., 2002). Farinha de penas e vsceras (FPV): composto por penas limpas e no decompostas e resduos de abate (vsceras, pescoo, ps) de aves. A incluso de carcaas e sangue permitido desde que no ultrapasse o limite permitido (BELLAVER, 2005). Farinha integral de peixe (FIP): a farinha integral de peixe s pode ser produzida quando h rejeita do peixe para consumo humano, o leo pode ou no ser extrado. O teor de umidade no deve ser maior de 10% e o teor de cloreto de sdio deve ser indicado (BELLAVER, 2005).
67
Farinha residual de peixe (FP): a farinha proveniente dos resduos de peixes, composto por partes no comestveis (cabea, rabo, coluna vertebral e vsceras), o leo pode ou no ser extrado. H diferena nos valores nutricionais de peixes provenientes da gua doce e da salgada. Antioxidantes devem ser
obrigatoriamente adicionados para evitar a oxidao dos cidos graxos livres, os quais so de grande valia na farinha de peixe, conhecido como cido graxo mega 3 (BUTOLO, 2002). Gordura bovina (sebo): extrado a gordura de bovinos por prensagem ou solvente, deve conter no mnino 90% de cidos graxos totais e mximo de 1,5% de impurezas e insaponificveis (BELLAVER, 2005). Gordura suna (banha): extrado do mesmo modo que a gordura bovina, deve conter no mnimo de 90% de cidos graxos totais e insaponificveis (BELLAVER, 2005). leo de aves: extrado da mesma forma que as anteriores, o que muda a quantidade de impurezas e insaponificveis que podem ser de no mximo 3% (BELLAVER, 2005). Gordura animal mista: obtido da mesma forma que as anteriores, o nvel de impurezas de no mximo 2%. Deve ser indicado quais espcies compem a gordura (BELLAVER, 2005).
3.5
CONTROLE DE QUALIDADE
Devido ao ambiente gerado pela globalizao, criando uma igualdade nos conhecimentos disponibilizados, todo negcio que queira alcanar o sucesso dentro do mercado deve apresentar algo a mais para se sobre sair perante aos outros. (Compndio
68
Brasileiro de Alimentao Animal 2005) Um modo de garantir esse diferencial seria garantindo a qualidade do produto. Em nutrio animal o objetivo final oferecer ao consumidor um alimento seguro, uma forma de alcanar tal objetivo fazer o controle da qualidade dos ingredientes, do processo de fabricao e do produto final. No contexto geral o conceito de qualidade torna-se muito subjetivo, pois este depende muito do modo de trabalho e do objetivo final, que venha suprir a necessidade do cliente, no havendo parmetros tcnicos se no a satisfao final do cliente. Por isso o termo programa de qualidade se enquadra melhor no contexto, pois passa uma idia de continuao e no de incio, meio e fim, a busca pela qualidade no deve estacionar em um patamar, enquadrando melhor o termo processo ou sistema de qualidade, devese sempre buscar a melhoria. (BUTOLO, 2002) A necessidade da implementao de um sistema que garanta a qualidade dos produtos destinados alimentao animal surgiu para aumentar a confiana do consumidor quanto aos produtos destinados alimentao animal. Esta preocupao comeou quando houve o surgimento de algumas enfermidades em que a causa estava relacionada com tais produtos. Em 1987, a encefalopatia espongiforme bovina (BSE). Em 1988 o ministro da agricultura ingls declarou que os ovos estavam contaminados com Salmonela, responsabilizando a indstria das raes por isto. Em 1996 foi associada com a BSE uma variante humana da doena da vaca louca. A dioxina foi identificada em gorduras usadas em raes na Blgica, em 2000 (BELLAVER, 2005). Instituiu a partir destes fatos uma ligao direta da segurana do alimento com a gesto por qualidade dos alimentos destinados a produo animal (BELLAVER, 2004). Para demonstrar aos consumidores que a indstria de alimentao animal vem se preocupando com o controle dos processos produtivos se fez a necessidade da
69
implementao de algumas normas de fabricao e de inspeo, no Brasil o Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA) vem editando diversas portarias e instrues normativas sobre as condies higinico-sanitrias e boas prticas de fabricao para os estabelecimentos fabricantes de produtos destinados a alimentao animal e tambm um roteiro para a fiscalizao dos mesmos (CORRA, 2009). Para que todos os elos da cadeia produtiva funcionem de acordo com uma gesto de qualidade necessrio o cumprimento de regras preestabelecidas que levem a segurana alimentar de uma forma continua da fazenda ao consumidor (farm to fork) (BELLAVER, 2001). A Lei n 6198, de 26 de dezembro de 1974, dispe sobre a inspeo e fiscalizao de produtos destinados alimentao animal. A Instruo Normativa n 04 de 23 de fevereiro de 2007 discorre sobre as Condies Higinicas Sanitrias e das Boas Prticas de Fabricao para estabelecimentos fabricantes de produtos destinados alimentao animal. O Regulamento Tcnico sobre os Procedimentos para Fabricao e emprego de produtos para animais de produo e elucidado na Instruo Normativa n 65, de 21 de novembro de 2006 (MAPA). Para que o setor de nutrio animal funcione com bases nestes princpios de qualidade alguns programas foram desenvolvidos para estabelecer regras, esclarecer dvidas quanto a gesto e orientar os produtores. O programa de Anlise de Perigos e Pontos Crticos de Controle (APPCC) leva em considerao bases do Codex Alimentarius, um programa conjunto com a Organizao das Naes Unidas para a Agricultura e a Alimentao (FAO) e da Organizao Mundial da Sade (OMS) que busca uma normalizao sobre alimentos humanos e raes com o objetivo de proteger a sade da populao> O APPCC estabelece um meio sistemtico de assegurar a qualidade alimentar identificando os perigos potenciais segurana alimentar e
70
estabelecendo medidas de controle (BELLAVER, 2001). O sistema APPCC recomendado por algumas organizaes internacionais como a OMC (Organizao Mundial do Comrcio), FAO (Organizao das Naes Unidas para Alimentao e Agricultura), OMS (Organizao Mundial de Sade), MERCOSUL e exigido pela Comunidade Europia e pelos Estados Unidos (ANVISA, 2009). Outros programas existem com o mesmo objetivo de qualidade alimentar, a famlia ISO (International Organization for Standardization) no Brasil representada pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalizao e Qualidade Industrial), que tem como objetivo estabelecer normas e procedimentos, tcnicos e administrativos, que promovam a melhoria e regulamentem a verificao da qualidade dos produtos industriais brasileiros (INMETRO, 2009). A famlia ISSO estabelece normas tcnicas para uma gesto da qualidade para organizaes em geral. Empresas que adotam as normas da ISO possuem mais organizao, produtividade e credibilidade frente aos clientes, tanto nacional como internacional, visto que as empresas passam por auditorias externas independentes para averiguar se a mesma se encontra de acordo com disposies planejadas. Segundo a Instruo Normativa n 4, de fevereiro de 2007, Boas Prticas de Fabricao fica definida como: procedimentos higinicos, sanitrios e operacionais aplicados em todo o fluxo de produo, desde a obteno dos ingredientes e matriasprimas at a distribuio do produto final, com o objetivo de garantir a qualidade, conformidade e segurana dos produtos destinados alimentao animal. O programa de Boas Prticas de Fabricao (BPF) uma ferramenta de gesto em fbricas de raes, regrada por um conjunto de princpios que criam um padro de conduta e procedimentos a serem seguidos desde as matrias primas at o produto final. Ele prrequisito para se instalar um sistema de APPCC (BELLAVER, 2004).
71
Para o sucesso de um processo de qualidade deve ser levada em conta sua gerncia, habilidade dos funcionrios e controle. No processo de fabricao de produtos destinados a alimentao animal, essa qualidade no deve negligenciar os custos, pois este tem grande poder de limitao, como citado por BUTOLO (2002), qualidade no tem preo j no existe mais. Outra ferramenta importante para este contexto de segurana alimentar est a rastreabilidade, onde prticas de registros adequados de todos os procedimentos em que o produtos final foi submetido possibilitam localizar o produto da origem at o seu destino final, facilitando aes de recall (retirada, recolhimento) caso seja detectado algum risco quanto a segurana do alimento, possibilitando localizar o problema e focalizar nas melhorias necessrias, garantindo assim a qualidade desde a origem at o destino final do produto (BELLAVER, 2004).
72
4. CONCLUSO
Com a globalizao intensa e o mercado consumidor cada vez mais exigente o setor de Nutrio Animal teve que se adaptar as novas tendncias, com este novo ambiente a importncia do medico veterinrio que atua na rea de nutrio animal se tornou de extrema importncia, ele deve ter como ponto principal no s a relao de custos mas sim muitos outros fatores agora entram em discusso, como qualidade nutricional, exigncias conforme diferentes fases e espcies, relao custo benefcio pode determinar qual a matria prima melhor se enquadra em um determinado momento, questo psicolgica quanto a desconfiana no consumo de certos produtos, bem estar animal, e muitos outros. O estgio curricular obrigatrio realizado na empresa Nuvital Nutrientes me proporcionou contato prtico com os conhecimentos tericos adquiridos durante o curso de Medicina Veterinria. Alm de permitir que se forme em mim um conhecimento crtico mais preciso sobre o que realmente vivel ou no dentro do grande mercado competitivo. Compreendi qual a real importncia do Controle de Qualidade, a sua viabilidade e resposta final do mercado consumidor.
73
5. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS AFLATOXINAS E OUTRAS MICOTOXINAS, Manual das doenas transmitidas por alimentos. Secretaria de Estado da Sade de So Paulo. Centro de Vigilncia Epidemiolgica CVE, 2003. Disponvel em: <http://www.cve.saude.sp.gov.br/htm/hidrica/Aflatoxinas.htm>. Acesso em: 19 de outubro de 2009. ALMEIDA, A. V. A. F., et al. Ocorrncia de Aflatoxinas em milho destinado Alimentao de aves no estado da Bahia. Arq. Inst. Bio. V. 76, n 3, So Paulo, jul./set., 2009. AMARAL, Ceclia Maria Costa do. Extruso e Peletizao de Rao Completa: Efeitos no desempenho, na digestibilidade e no desenvolvimento das cmaras gstricas de caprinos Saanen. Jaboticabal, Maro de 2002. AMARAL, Kassia Ayumi Sagawa, JNIOR, Miguel Machinski. Mtodos Analticos para a Determinao de Aflatoxinas em milho e seus derivados. Revista Analytica, n 24, Ago/Set, 2006 ANDRIGUETTO, J.M., et al. Nutrio Animal. So Paulo: Nobel, 2002. APOSTILA ENGENHARIA DE ALIMENTOS. Tecnologia de Produtos Agropecurios. Disponvel em: < http://www.scribd.com/doc/16113556/ApostilaEngenharia-de-Alimentos-1>. Acesso em: 14 de outubro de 2009. ATIVIDADE DE GUA. Disponvel em: <http://www.lamic.ufsm.br/infoaw.html> Acesso em: 11 de novembro de 2009. BARROS, Fernando Duque; LICCO, Eduardo Antonio. A reciclagem de resduos de origem animal: uma questo ambientel. Mau, 2007? BELLAVER, Cludio. A importncia da gesto da Qualidade de Insumos para Raes visando a Segurana dos Alimentos. Simpsio de Segurana dos Alimentos, 41 Reunio Anual da SBZ, de 19 a 22 de setembro de 2004, Campo Grande. BELLAVER, Cludio; NONES, Ktia. A importncia da granulometria, da mistura e da peletizao da rao avcola. lV Simpsio Goiano de avicultura ,2000. BRASIL. Instruo Normativa n 4, de 23 de fevereiro de 2007. Ementa: Aprova o Regulamento Tcnico sobre as Condies Higinico Sanitrias e de boas prticas de fabricao para estabelecimentos fabricantes de produtos destinados Alimentao Animal. BELLAVER, Claudio. Limitaes e vantagens do uso de farinhas de origem animal na alimentao de sunos e aves. 2 Simpsio Brasileiro Alltech da Indstria de Alimentao Animal. Agosto de 2005. Curitiba, PR.
74
BELLAVER, Claudio. Ingredientes de origem animal destinados fabricao de raes. Simpsio sobre ingredientes na Alimentao Animal, Abril 2001. Colgio Brasileiro de Nutrio Animal. Campinas. BELLAVER, Cludio. Processamento e Cuidados com Produtos de Origem Animal: Higiene e Profilaxia. Simpsio sobre Manejo e Nutrio de Aves e Sunos e Tecnologia da Produo de Raes. Colgio Brasileiro de Nutrio Animal, de 28 a 30 de novembro de 2001, Campinas. BELLAVER, Cludio, LIMA, Gustavo J. M. de. Pontos Crticos para utilizao de protenas e de gorduras de origem animal. Embrapa Sunos e Aves. I Simpsio sobre Manejo e Nutrio Animal Campinas, So Paulo, 10 a 12 de novembro de 2004. BELLAVER, Claudio; LIMA, Gustavo J.M.M.; LUDKE, Jorge V. Qualidade e padres de ingredientes para raes. Global Feed & Food Congress. FAO/IFIF/SINDIRAES, 2005. So Paulo, SP. BELLAVER, Claudio. Segurana dos alimentos e controle de qualidade no uso de ingredientes para a alimentao animal. 2 Conferncia Virtual de Sunos e Aves, EMBRAPA, Concrdia, SC. BERALDO, Angelo Antonio. Anlise Bromatolgica dos alimentos Consumidos por Bovinos Leiteiros em Canoinhas-SC. Canoinhas, 2009. BRASIL. Legislao Brasileira. Portaria n 07 de 09 de novembro de 1988. Estabelece os padres mninos das diversas matrias primas empregadas na alimentao animal. BRASIL. Ministro de Estado da Agricultura, Pecuria e Abastecimento, instituiu o Grupo de Trabalho sobre Micotoxinas em produtos destinados alimentao animal (DOU de 25 de maio de 2006 Seo 2, pg.5) Fonte: <http://www.lamic.ufsm.br/MAPA.pdf>. Acesso em: 21 de outubro de 2009. BUTOLO, Jos Eduardo. Qualidade de Ingredientes na Alimentao Animal. Campinas: 2002 BUNGE Alimentos. Disponvel em: <http://www.bungealimentos.com.br/nutricao/artigos.asp?d=3007>. Acesso em: 30 de outubro de 2009. BRITO, Alexandre Barbosa. Processo de Desativao da Soja.Fevereiro, 2006. Disponvel em: <http://www.polinutri.com.br/conteudo_dicas_fevereiro_06_1.htm>. CORRA, Marcelo Plcido. Boas prticas na fabricao de raes. Associao Baiana de suinocultura. 2007 2008? Bahia, BA. EMBRAPA. Gado de corte. Disponvel em: <http://cnpgc.embrapa.br/publicacoes/doc/doc112/031capmg.html>. Acesso em: 28 de outubro de 2009.
75
FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nation. Disponvel em: <http://www.fao.org/>. Acesso em: 03 de dezembro de 2009. FERNANDES, Paulo Campos Christo; MALAGUIDO, Andrea; SILVA, Almir Vieira. O Risco das Micotoxinas. Amaznia. 2006. FLEMMING, J.S., et al., Rao farelada com diferentes granulometrias em frangos de corte. Archives of Veterinary Science v.7, n.1, p.1-9, Brasil, 2002. FREIRE, Francisco das Chagas Oliveira, et al. Micotoxinas: Importncia na Alimentao e na Sade Humana e Animal. Embrapa Agroindstria Tropical. Fortaleza, 2007. JUNQUEIRA, Otto Mack. O Magnsio na nutrio dos Animais. Boletim tcnico. Fevereiro de 2004. Serrana Nutrio Animal. INTERNATIONAL COMMISSION OF MICROBIOLOGICAL SPECIFICATIONS FOR FOODS (ICMSF). Microbial Ecology of Foods. Volume 2. Food Commodities. Academic Press. New York. 1980 KLEIN, Antnio Aprcio. Pontos Crticos do Controle de Qualidade em Fbricas de Rao. In: I SIMPSIO INTERNACIONAL ACAV, 1999, Concrdia. LAMIC. Laboratrio de Anlises Micotoxicolgicas da Universidade Federal de Santa Maria. Disponvel em: <http://www.lamic.ufsm.br/legislacao.html>. Acesso em: 19 de outubro de 2009. MORRISON, Frank B. Alimentos e Alimentao dos Animais. Edies Melhoramentos. 2 Edio. So Paulo. 1966. RUNHO, Richard Cezar. Farelo de Soja: Processamento e Qualidade. 2001. Disponvel em: <http://www.polinutri.com.br/conteudo_artigos_anteriores_janeiro.htm>. Acesso em: 26 de outubro de 2009. SILVA, Mara Reis; SILVA, Maria Aparecida Azevedo Pereira da. Fatores Antinutricionais: Inibidores de Proteases e Lectinas. Revista de Nutrio, Campinas, jan./abr., 2000. SILVA, Lus Czar. Fungos e Micotoxinas em Gros Armazenados. Esprito Santo. 2005. SILVA, L.C. Gros: Mtodos de Conservao. Universidade Federal do Esprito Santo - UFES, Departamento de Engenharia Rural. Boletim Tcnico Novembro de 2005. SINDIRAES, 2009. Disponvel em : <http://www.sindiracoes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=583&It Item=1>. Acesso em: 4 de Dezembro de 2009.
76
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARAN. Manual de Prticas Laboratorias. Disciplina de Nutrio e Alimentao Animal. Palotina, 2002. VIEIRA, Neventon Santi; ROSA, Alexandre Pires . Qual o premix ideal?. Informativo Nuvital Nutrientes, Abril de 2007. ZANNI, Ariovaldo. Sinal de Alerta da Produtividade. Entrevista. Terra Viva, 24/11/2009. Disponvel em: <http://www.sindiracoes.org.br/images/stories/noticias/sinal%20de%20alerta%20na%2 2produtividade.pdf>. Acesso em: 03 de dezembro de 2009.
Você também pode gostar
- Livro de Cultura de Tecidos PDFDocumento95 páginasLivro de Cultura de Tecidos PDFMateus VitorAinda não há avaliações
- Fisioquantic ProtocolosDocumento39 páginasFisioquantic ProtocolosLu Abrahão100% (15)
- Alunossisu PDFDocumento419 páginasAlunossisu PDFAdonai FrotaAinda não há avaliações
- DISSERTAÇÃO - Alimentação de Frangos de Corte Usando Grãos Inteiros e Moídos de Milho em Dois Sistemas de ManejoDocumento95 páginasDISSERTAÇÃO - Alimentação de Frangos de Corte Usando Grãos Inteiros e Moídos de Milho em Dois Sistemas de ManejoTariky MuligonhaAinda não há avaliações
- Samantha de Fátima Harmbach LourençoDocumento51 páginasSamantha de Fátima Harmbach LourençoEvandro CostaAinda não há avaliações
- Mycoplasma Hyopneumoniae: Dentificação de Egiões Romotoras deDocumento139 páginasMycoplasma Hyopneumoniae: Dentificação de Egiões Romotoras deDyego CarléttiAinda não há avaliações
- German Andres Estrada Bonilla Versao RevisadaDocumento123 páginasGerman Andres Estrada Bonilla Versao RevisadaBruno de PaulaAinda não há avaliações
- Exame Laboratorial PiometraDocumento118 páginasExame Laboratorial PiometraRafaella Cristina Chaves QuaresmaAinda não há avaliações
- Universidade Federal DO RIO Grande DO SUL Centro DE Biotecnologia Programa DE Pós-Graduação EM Biologia Celular E MolecularDocumento149 páginasUniversidade Federal DO RIO Grande DO SUL Centro DE Biotecnologia Programa DE Pós-Graduação EM Biologia Celular E MolecularWarłłes SillvaAinda não há avaliações
- Cardozo GinaMariaBuenoQuirino MDocumento99 páginasCardozo GinaMariaBuenoQuirino Mgustavo paimAinda não há avaliações
- TESE - Proteína Degradável No Rúmen e Proteína Metabolizável em Ovinos em CrescimentoDocumento163 páginasTESE - Proteína Degradável No Rúmen e Proteína Metabolizável em Ovinos em CrescimentoCaio Vinícius ScarparoAinda não há avaliações
- MayumiSasaki PDFDocumento83 páginasMayumiSasaki PDFEdgard Freitas100% (1)
- Tese de Doutoramento MVPs Angela DiasDocumento205 páginasTese de Doutoramento MVPs Angela DiasHEITOR RENNAN INTERAMINENSE SILVAAinda não há avaliações
- Metodos HistoquimicosDocumento40 páginasMetodos HistoquimicosLucas CamiloAinda não há avaliações
- Tese Junia AlvesDocumento132 páginasTese Junia AlvesDanielle AlmeidaAinda não há avaliações
- Relatório Silvestres 2023-2Documento37 páginasRelatório Silvestres 2023-2Laiane SouzaAinda não há avaliações
- Caracterização Histopatológica Da Leishmaniose Visceral Canina No Distrito FederalDocumento116 páginasCaracterização Histopatológica Da Leishmaniose Visceral Canina No Distrito FederalDácia ArrudaAinda não há avaliações
- Relatório de QDADocumento13 páginasRelatório de QDA9wn2pkq8kzAinda não há avaliações
- Manual de Horticultura No Modo de Produção Biológi - 231203 - 222741Documento207 páginasManual de Horticultura No Modo de Produção Biológi - 231203 - 222741Bruno FrançaAinda não há avaliações
- ENXERTIA6Documento60 páginasENXERTIA6Miriate Pensamento FilipeAinda não há avaliações
- Dissertacao Tatiely Gomes Bernardes 2008Documento63 páginasDissertacao Tatiely Gomes Bernardes 2008emil diogoAinda não há avaliações
- Produção e Análise de Metabólitos Secundários de Fungos FilamentososDocumento130 páginasProdução e Análise de Metabólitos Secundários de Fungos FilamentososGabriela SchneiderAinda não há avaliações
- 2014 NeumaraLuciSilvaHakalinDocumento170 páginas2014 NeumaraLuciSilvaHakalinGabiAinda não há avaliações
- Helmintos de CavalosDocumento134 páginasHelmintos de CavalosIgor LopesAinda não há avaliações
- Avaliação Fisico-Quimica Do MacarrãoDocumento36 páginasAvaliação Fisico-Quimica Do MacarrãoViviane CostaAinda não há avaliações
- 120-Marisa Isabel Weber PDFDocumento184 páginas120-Marisa Isabel Weber PDFtai_ramosAinda não há avaliações
- Projeto Meto RãDocumento9 páginasProjeto Meto RãLarissa SilvaAinda não há avaliações
- Primatas Não Humanos Mantidos em Cativeiro para Atividades de PesquisaDocumento75 páginasPrimatas Não Humanos Mantidos em Cativeiro para Atividades de PesquisaRaissaAinda não há avaliações
- Patrícia Maria de Araújo Gomes - Dissertação Ppgea 2002Documento95 páginasPatrícia Maria de Araújo Gomes - Dissertação Ppgea 2002rayanesl185segAinda não há avaliações
- TeseDocumento89 páginasTesecriticalchangesunipessoalAinda não há avaliações
- TCC - Thiago LealDocumento37 páginasTCC - Thiago Lealabispodesouza696Ainda não há avaliações
- Guia Prático de Métodos de Campo para Estudos de Flora.Documento81 páginasGuia Prático de Métodos de Campo para Estudos de Flora.Tamara VieiraAinda não há avaliações
- Tanino para Bovinos ConfinadosDocumento42 páginasTanino para Bovinos ConfinadosMônica VieiraAinda não há avaliações
- Tese de ClóvisDocumento232 páginasTese de ClóvisBiano NetoAinda não há avaliações
- Michela Denobile Doutorado PDFDocumento166 páginasMichela Denobile Doutorado PDFIsadoraMariaAinda não há avaliações
- Prática 1 Análise Granulométrica Da Farinha Do Bagaço de Laranja Citrus Sinensis Rev 02Documento10 páginasPrática 1 Análise Granulométrica Da Farinha Do Bagaço de Laranja Citrus Sinensis Rev 02IthiaraDalponteAinda não há avaliações
- Becker-Almeida DeniseFabianaSilvestre DDocumento179 páginasBecker-Almeida DeniseFabianaSilvestre Diris jungesAinda não há avaliações
- Influência Da Ambiência Sobre O Desempenho Zootécnico de Frangos de CorteDocumento62 páginasInfluência Da Ambiência Sobre O Desempenho Zootécnico de Frangos de CorteLaiza LeãoAinda não há avaliações
- 01 TCC - Marcos Vinicius de Oliveira Moreira - FinalDocumento74 páginas01 TCC - Marcos Vinicius de Oliveira Moreira - FinalÉdler AlbuquerqueAinda não há avaliações
- ALTERACOES NA RIZOSFERA E SEUS REFLEXOS NA BIOMASSA, COMP QUIMICA E NA FOTOSSINTESE DE ERVA MATE DO USO DE DIF N - Gaiad 2003Documento149 páginasALTERACOES NA RIZOSFERA E SEUS REFLEXOS NA BIOMASSA, COMP QUIMICA E NA FOTOSSINTESE DE ERVA MATE DO USO DE DIF N - Gaiad 2003cabarcosAinda não há avaliações
- Isotermas de Sorção de Fibra de Laranja e MaracujáDocumento188 páginasIsotermas de Sorção de Fibra de Laranja e MaracujáGUSTAVO HENRIQUE MARUCHIAinda não há avaliações
- Desinfestação de Substratos para Formação de Mudas de CafeeiroDocumento75 páginasDesinfestação de Substratos para Formação de Mudas de CafeeiroNelson JuniorAinda não há avaliações
- Disserta o Ana GabrielaDocumento83 páginasDisserta o Ana GabrielaFlavio SouzaAinda não há avaliações
- Relatório Prático Sobre Os Exemplos de Estratégias de Reprodução Assexuada Que Podem Ser Observadas Nos FungosDocumento8 páginasRelatório Prático Sobre Os Exemplos de Estratégias de Reprodução Assexuada Que Podem Ser Observadas Nos Fungosbrunomoniz129Ainda não há avaliações
- Transporte de Larvas Nos EstuariosDocumento78 páginasTransporte de Larvas Nos EstuariosNeuciane DiasAinda não há avaliações
- Dietas Simplificadas Na Alimentacao de Coelhos e Seus Efeitos Na ReprDocumento91 páginasDietas Simplificadas Na Alimentacao de Coelhos e Seus Efeitos Na ReprocoelhopelucioAinda não há avaliações
- Trabalho Micotoxinas em AlimentosDocumento32 páginasTrabalho Micotoxinas em AlimentosAdriana NovelliAinda não há avaliações
- CapebaDocumento154 páginasCapebaLeonardo GlóriaAinda não há avaliações
- Tese Luiz - V BancaDocumento190 páginasTese Luiz - V BancaLuiz GuedesAinda não há avaliações
- Granulometria Do Milho de Textura Dentada Ou DuraDocumento54 páginasGranulometria Do Milho de Textura Dentada Ou DuraJAIRO HERRERAAinda não há avaliações
- TCC Como BaseDocumento26 páginasTCC Como BaseUilian OliveiraAinda não há avaliações
- Estrutura e Florística de Fragmentos de Florestas Secundárias de Encosta No Município Do Rio de JaneiroDocumento147 páginasEstrutura e Florística de Fragmentos de Florestas Secundárias de Encosta No Município Do Rio de Janeirocsantana72Ainda não há avaliações
- João George Moreira - Dissertação de Mestrado PDF-ADocumento51 páginasJoão George Moreira - Dissertação de Mestrado PDF-AJoão George MoreiraAinda não há avaliações
- Dimensionamento EteDocumento83 páginasDimensionamento EteCaroline MedeirosAinda não há avaliações
- Dissert - Raphael Augusto de Castro e MeloDocumento67 páginasDissert - Raphael Augusto de Castro e MeloPauloAinda não há avaliações
- Gel de Biopolimero Caña de Azúcar-Ácido Usnico PDFDocumento89 páginasGel de Biopolimero Caña de Azúcar-Ácido Usnico PDFGabriel Apaza SánchezAinda não há avaliações
- Costa 2006Documento71 páginasCosta 2006alisson arnoAinda não há avaliações
- Produção de Dihidroxiacetona (Dha)Documento81 páginasProdução de Dihidroxiacetona (Dha)Revo Tecnologia LTDA Revo TecnologiaAinda não há avaliações
- Estudo Biotecnológico De Leite De CabrasNo EverandEstudo Biotecnológico De Leite De CabrasAinda não há avaliações
- Isolamento e caracterização de bactérias com potencial de promoção de crescimento vegetal a partir de cama de aviárioNo EverandIsolamento e caracterização de bactérias com potencial de promoção de crescimento vegetal a partir de cama de aviárioAinda não há avaliações
- Aplicação da Análise Multivariada de Dados no Preparo de Amostra e na Determinação da Composição Mineral de LeguminosasNo EverandAplicação da Análise Multivariada de Dados no Preparo de Amostra e na Determinação da Composição Mineral de LeguminosasAinda não há avaliações
- Efeitos da adição de ácidos orgânicos na dieta completa e frequência de alimentação sobre o desempenho produtivo de vacas em lactaçãoNo EverandEfeitos da adição de ácidos orgânicos na dieta completa e frequência de alimentação sobre o desempenho produtivo de vacas em lactaçãoAinda não há avaliações
- In 35 PIQ Bebidas AlcoólicasDocumento9 páginasIn 35 PIQ Bebidas AlcoólicasMicheleBrugAinda não há avaliações
- Memorial Descritivo Economico OvosDocumento2 páginasMemorial Descritivo Economico OvosMicheleBrugAinda não há avaliações
- Manual de Criação de Galinha Caipira - EmbrapaDocumento30 páginasManual de Criação de Galinha Caipira - EmbrapaMicheleBrugAinda não há avaliações
- Comportamento Do Consumidor - Feira Livre - MaríliaDocumento55 páginasComportamento Do Consumidor - Feira Livre - MaríliaMicheleBrugAinda não há avaliações
- Tabela de Vacinação - Frango CaipiraDocumento2 páginasTabela de Vacinação - Frango CaipiraMicheleBrug100% (1)
- Tabela de Vacinação - Frango CaipiraDocumento2 páginasTabela de Vacinação - Frango CaipiraMicheleBrug100% (1)
- Roteiro para Elaboração Do Projeto BasicoDocumento3 páginasRoteiro para Elaboração Do Projeto BasicoMicheleBrugAinda não há avaliações
- Resposta Técnica Galinha CaipiraDocumento8 páginasResposta Técnica Galinha CaipiraMicheleBrugAinda não há avaliações
- APS - PrevidenciárioDocumento3 páginasAPS - PrevidenciárioMayara Gonzaga DiasAinda não há avaliações
- Intolerância e AlergiasDocumento45 páginasIntolerância e AlergiasStefhani Eller FlorindoAinda não há avaliações
- DETERMINAÇÃO DE NITRITOS EM ÁGUAS - Química - UTFPR - 2010Documento14 páginasDETERMINAÇÃO DE NITRITOS EM ÁGUAS - Química - UTFPR - 2010joaomarcoslsAinda não há avaliações
- Trab Individual - DIP - DorcaDocumento20 páginasTrab Individual - DIP - DorcaDorca IsmaelAinda não há avaliações
- NOTA CONASEMS Novos Regramentos Relativos Aos ACS e ACE e o 14º SalárioDocumento5 páginasNOTA CONASEMS Novos Regramentos Relativos Aos ACS e ACE e o 14º SalárioOrsimar RosendoAinda não há avaliações
- Aula IFC - CalorDocumento48 páginasAula IFC - CalorMarielza TiecherAinda não há avaliações
- Desenvolvimento Humano Adolescência, Adultez e Velhice Unidade 2 AVA AOL 2Documento5 páginasDesenvolvimento Humano Adolescência, Adultez e Velhice Unidade 2 AVA AOL 2Leônidas LeitteAinda não há avaliações
- Temas e Práticas em Relações Internacionais - BRI0001Documento4 páginasTemas e Práticas em Relações Internacionais - BRI0001frankcisco.loucoAinda não há avaliações
- Manual de WatsuDocumento12 páginasManual de Watsureikianos0% (2)
- Cuidados de Casa RespondidaDocumento3 páginasCuidados de Casa RespondidaMelissa FerreiraAinda não há avaliações
- Instruções de Segurança para Uso de MaçaricoDocumento2 páginasInstruções de Segurança para Uso de MaçaricoDelmer SalesAinda não há avaliações
- A Conduta Idiota, Imbecil e e Irresponsa - Jose Carlos Lucchetta PalermoDocumento3 páginasA Conduta Idiota, Imbecil e e Irresponsa - Jose Carlos Lucchetta PalermoCarlos EdgarAinda não há avaliações
- ChocolateDocumento8 páginasChocolateAmanda Moraes CardosoAinda não há avaliações
- Modo Borderline e Mundo Do Trabalho: Um Ensaio Sobre Implicações e Perspectivas AtuaisDocumento15 páginasModo Borderline e Mundo Do Trabalho: Um Ensaio Sobre Implicações e Perspectivas AtuaisCarlos SamuelAinda não há avaliações
- Marta Artemisa Abel MapengoDocumento109 páginasMarta Artemisa Abel Mapengoodontologia ElizbotelhoAinda não há avaliações
- Associação de Basquetebol de SetúbalDocumento5 páginasAssociação de Basquetebol de SetúbalpsbarreiroAinda não há avaliações
- Hematologia - Unidade Curricular - Universidade de CoimbraDocumento3 páginasHematologia - Unidade Curricular - Universidade de Coimbraleite sousaAinda não há avaliações
- Codigos de Cura Mãe Divina e Arcanjo RafaelDocumento5 páginasCodigos de Cura Mãe Divina e Arcanjo RafaelAngela Gonçalves AglaprotheuAinda não há avaliações
- Intoxicacao Por Allium Cepaem Pequenos Animais - Revisao BibliograficaDocumento4 páginasIntoxicacao Por Allium Cepaem Pequenos Animais - Revisao BibliograficaDaniel VieiraAinda não há avaliações
- 5º Ano 3 Atividade - AbrilDocumento39 páginas5º Ano 3 Atividade - AbrilFabrícia SimplícioAinda não há avaliações
- Mutação e Reparo de Dna RecombinaçãoDocumento17 páginasMutação e Reparo de Dna RecombinaçãoJairo Moreira Dos SantosAinda não há avaliações
- .Portalfateb.: Instituto de Formação Teológica FatebDocumento15 páginas.Portalfateb.: Instituto de Formação Teológica FatebJosimar RodriguesAinda não há avaliações
- SJ300 INS NB613XH Ps PDFDocumento296 páginasSJ300 INS NB613XH Ps PDFJefté De Souza MarquesAinda não há avaliações
- Manual Ufcd 6563 - Prevenção e Controlo Da Infecção Na Higienização de Roupas, Espaços, Materiais e EquipamentosDocumento82 páginasManual Ufcd 6563 - Prevenção e Controlo Da Infecção Na Higienização de Roupas, Espaços, Materiais e EquipamentosrobertoumcAinda não há avaliações
- VOD - Exercícios Sobre Transporte em Membrana - 2021Documento6 páginasVOD - Exercícios Sobre Transporte em Membrana - 2021Sidney MendesAinda não há avaliações
- Pop Fisioterapia Upa.Documento20 páginasPop Fisioterapia Upa.Ana Júlia de Sousa FreitasAinda não há avaliações
- Sala de Espera Como Ambiente para Práticas de Educação em Saúde BucalDocumento6 páginasSala de Espera Como Ambiente para Práticas de Educação em Saúde BucalJose TonhaoAinda não há avaliações
- Desengripante FISPQDocumento11 páginasDesengripante FISPQDione SilveiraAinda não há avaliações