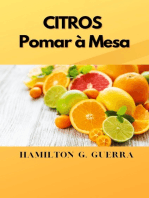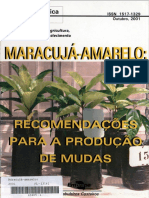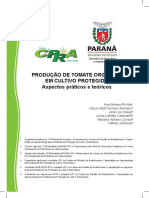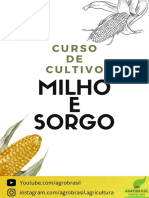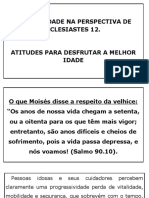Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Sementes Fundamentos Cientificos e Tecnológicos
Enviado por
Julceia CamilloDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Sementes Fundamentos Cientificos e Tecnológicos
Enviado por
Julceia CamilloDireitos autorais:
Formatos disponíveis
SEMENTES:
FUNDAMENTOS CIENTFICOS E
TECNOLGICOS
1
a
Edio
2003
SEMENTES:
FUNDAMENTOS CIENTFICOS E
TECNOLGICOS
EDITORES
Prof. Dr. Silmar Teichert Peske
Eng Agr Dr Mariane DAvila Rosenthal
Eng Agr Dr Gladis Rosane Medeiros Rota
Endereo
Pelotas - RS - BRASIL
2003
Direitos adquiridos por
EDITORA
Rua
Pelotas - RS - BRASIL
Ficha catalogrfica elaborada pela Bibliotecria
CRB 10/213
Capa:
Reviso: I S B N
NDICE
Pgina
CAPTULO 1 - PRODUO DE SEMENTES ..................................... 12
1. INTRODUO ...................................................................................... 13
2. ELEMENTOS DE UM PROGRAMA DE SEMENTES ........................ 14
2.1. Pesquisa .......................................................................................... 15
2.2. Produo de sementes gentica e bsica ......................................... 16
2.3. Produo de sementes comerciais ................................................... 17
2.4. Controle de qualidade ..................................................................... 20
2.5. Comercializao ............................................................................. 21
2.6. Consumidor .................................................................................... 22
3. RELAES ENTRE ELEMENTOS DO PROGRAMA DE SEMENTES 22
3.1. Setor pblico ................................................................................... 22
3.2. Coordenao de atividades ............................................................. 22
3.3. Legislao ....................................................................................... 23
3.4. Certificao de sementes ................................................................ 23
4. PROTEO DE CULTIVARES ............................................................ 26
4.1. Alguns conceitos relacionados includos no convnio da UPOV ... 27
4.2. O melhoramento vegetal tradicional ............................................... 27
4.3. Os efeitos negativos de uma iseno completa ............................... 28
4.4. Variedade essencialmente derivada ................................................ 29
5. ATRIBUTOS DE QUALIDADE DE SEMENTES ................................ 30
5.1. Genticos ........................................................................................ 30
5.2. Fsicos ............................................................................................. 31
5.3. Fisiolgicos ..................................................................................... 33
5.4. Sanitrios ........................................................................................ 34
6. NORMAS DE PRODUO DE SEMENTES ....................................... 34
6.1. Origem da semente e cultivar ......................................................... 35
6.2. Escolha do campo ........................................................................... 36
6.3. Semeadura ...................................................................................... 39
6.4. Adubao ........................................................................................ 40
6.5. Manuteno de variedade ............................................................... 41
6.6. Irrigao .......................................................................................... 43
6.7. Isolamento ...................................................................................... 44
6.8. Descontaminao (depurao) ........................................................ 47
7. FORMAO E DESENVOLVIMENTO DAS SEMENTES ................ 49
7.1. Fecundao ..................................................................................... 49
7.2. Maturidade ...................................................................................... 51
8. PRODUO DE SEMENTES DE SOJ A .............................................. 55
8.1. Deteriorao no campo ................................................................... 55
8.2. Momento de colheita ...................................................................... 56
8.3. Seleo de regies e pocas mais propcias para produo de sementes .. 56
8.4. Aplicao de fungicidas foliares ..................................................... 57
8.5. Estresseocasionado por secaealtatemperaturaduranteo enchimento degros . 57
8.6. Danos causados por insetos ............................................................ 58
9. PRODUO DE SEMENTES DE MILHO HBRIDO ......................... 58
10. DEMANDA DE SEMENTE ................................................................. 61
10.1. Distribuio do risco ..................................................................... 61
10.2. Produo fora de poca ................................................................ 62
10.3. Controle de qualidade ................................................................... 62
10.4. Comentrio final ........................................................................... 63
11. COLHEITA ........................................................................................... 63
11.1. Colheitadeira ................................................................................. 65
11.2. Perdas na colheita quantidade .................................................... 69
11.3. Danificaes mecnicas ................................................................ 72
11.4. Misturas varietais .......................................................................... 77
11.5. Comentrio final ........................................................................... 79
12. RESUMO DAS PRTICAS CULTURAIS .......................................... 79
13. INSPEO DE CAMPOS PARA PRODUO DE SEMENTES ...... 81
13.1. Perodo de inspeo ...................................................................... 81
13.2. Tipos de contaminantes ................................................................ 83
13.3. Como efetuar a inspeo ............................................................... 86
13.4. Caminhamento em um campo para sementes ............................... 88
13.5. Como efetuar as contagens de plantas no campo .......................... 89
13.6. Comentrio sobre inspeo ........................................................... 91
14. BIBLIOGRAFIA ................................................................................... 91
CAPTULO 2 FUNDAMENTOS DA QUALIDADE DE SEMENTES ..... 94
1. INTRODUO ...................................................................................... 95
2. CICLO DE VIDA DE UMA ANGIOSPERMA ...................................... 95
2.1. Macrosporognese .......................................................................... 95
2.2. Microsporognese ........................................................................... 97
2.3. Polinizao ..................................................................................... 97
2.4. Embriognese ................................................................................. 98
3. ESTRUTURA DA SEMENTE ............................................................... 99
4. TRANSPORTE DE RESERVAS PARA SEMENTE ............................. 100
5. PRINCIPAIS CONSTITUINTES DA SEMENTE ................................. 102
6. AMIDO ................................................................................................... 103
6.1. Sntese de amido ............................................................................. 103
6.2. Enzimas ramificadoras ................................................................... 104
7. PROTENAS DE RESERVA ................................................................ 105
7.1. Fatores fisiolgicos que influenciamo contedo de N na semente .......... 109
8. LIPDEOS .............................................................................................. 110
8.1. Sntese de lipdeos ......................................................................... 112
9. EFEITOS DE FATORES AMBIENTAIS SOBRE A CONSTITUIO DA
SEMENTE ............................................................................................. 113
9.1. Efeitos das condies ambientais sobre a qualidade da semente ... 115
10. MATURAO FISIOLGICA .......................................................... 117
11. A REGULAO DO DESENVOLVIMENTO DA SEMENTE ......... 118
11.1. Tolerncia dessecao ............................................................. 120
11.2. Dormncia ................................................................................. 121
11.3. Germinao ............................................................................... 122
12. PR-CONDICIONAMENTO DE SEMENTES .................................. 130
12.1. Vantagens do pr-condicionamento ........................................... 130
12.2. Como o pr-condicionamento atua na semente .......................... 130
12.3. Tipos de pr-condicionamento ................................................... 131
12.4. Pr-condicionamento e longevidade da semente ........................ 132
13. DETERIORAO DA SEMENTE ..................................................... 133
13.1. Reduo das reservas essenciais da semente .............................. 134
13.2. Danos a macromolculas ........................................................... 134
13.3. Acumulao de substncias txicas .......................................... 135
14. BIBLIOGRAFIA .................................................................................. 136
CAPTULO 3 ANLISE DE SEMENTES .......................................... 138
1. INTRODUO ...................................................................................... 139
2. AMOSTRAGEM .................................................................................... 140
2.1. Objetivo e importncia ................................................................... 140
2.2. Definies ....................................................................................... 140
2.3. Homogeneidade do lote de sementes .............................................. 141
2.4. Peso mximo dos lotes .................................................................... 142
2.5. Obteno de amostras representativas ............................................ 142
2.6. Tipos de amostradores e mtodos para amostragem dos lotes ........ 143
2.7. Intensidade da amostragem ............................................................. 144
2.8. Pesos mnimos das amostras mdias ............................................... 145
2.9. Embalagem, identificao, selagem e remessa da amostra ............. 145
2.10. Obteno das amostras de trabalho ............................................... 146
2.11. Armazenamento das amostras ....................................................... 148
3. ANLISE DE PUREZA ......................................................................... 149
3.1. Objetivo .......................................................................................... 149
3.2. Definies ....................................................................................... 149
3.3. Equipamentos e materiais ............................................................... 150
3.4. Procedimento .................................................................................. 151
4. DETERMINAO DO NMERO DE OUTRAS SEMENTES ........... 155
4.1. Objetivo .......................................................................................... 155
4.2. Definies ....................................................................................... 155
4.3. Tipos de testes ................................................................................ 155
4.4. Procedimento .................................................................................. 156
4.5. Exame de sementes nocivas ............................................................ 156
4.6. Informao dos resultados .............................................................. 156
5. TESTE DE GERMINAO ................................................................... 157
5.1. Objetivo .......................................................................................... 157
5.2. Definio ........................................................................................ 157
5.3. Condies para a germinao ......................................................... 157
5.4. Materiais e equipamentos ............................................................... 160
5.5. Condies sanitrias ....................................................................... 164
5.6. Metodologia .................................................................................... 165
6. TESTES RPIDOS PARA DETERMINAR A VIABILIDADE DAS
SEMENTES .......................................................................................... 175
6.1. Teste de tetrazlio ........................................................................... 175
6.2. Teste de embries expostos ............................................................ 183
6.3. Teste de raio X ............................................................................... 184
7. VERIFICAO DE ESPCIES E CULTIVARES ................................ 185
7.1. Objetivo .......................................................................................... 185
7.2. Princpios gerais ............................................................................. 185
7.3. Exame das sementes ....................................................................... 186
7.4. Exame em plntulas ........................................................................ 189
7.5. Exame das plantas emcasa de vegetao ou cmara de crescimento ........ 189
7.6. Exame das plantas em parcelas de campo ...................................... 190
7.7. Informao dos resultados .............................................................. 190
8. DETERMINAO DO GRAU DE UMIDADE .................................... 190
8.1. Objetivo e importncia ................................................................... 190
8.2. Formas de gua na semente ............................................................ 191
8.3. Mtodos para a determinao do grau de umidade ......................... 191
9. DETERMINAO DO PESO DE SEMENTES .................................... 197
9.1. Objetivo .......................................................................................... 197
9.2. Metodologia .................................................................................... 197
9.3. Informao dos resultados .............................................................. 198
10. DETERMINAO DO PESO VOLUMTRICO ................................ 199
10.1. Definio ...................................................................................... 199
10.2. Procedimento ................................................................................ 199
10.3. Clculo e informao dos resultados ............................................ 200
11. TESTE DE SEMENTES REVESTIDAS .............................................. 201
11.1. Objetivo ........................................................................................ 201
11.2. Definies ..................................................................................... 201
11.3. Avaliaes .................................................................................... 202
12. TESTE DE SEMENTES POR REPETIES PESADAS ................... 202
12.1. Objetivo ........................................................................................ 202
12.2. Metodologia .................................................................................. 203
12.3. Informao dos resultados ............................................................ 203
13. TOLERNCIAS ................................................................................... 203
14. VIGOR .................................................................................................. 204
14.1. Definies ..................................................................................... 204
14.2. Testes de vigor .............................................................................. 205
15. ANLISES E CERTIFICADOS PARA O COMRCIO
INTERNACIONAL ............................................................................... 213
15.1. Certificado Internacional de Anlise de Sementes ........................ 213
15.2. Informao de resultados .............................................................. 214
15.3. Validade do certificado ................................................................. 214
16. LABORATRIO DE ANLISE DE SEMENTES:
PLANEJ AMENTO E ORGANIZAO .............................................. 215
16.1. rea fsica ..................................................................................... 218
16.2. Instalaes e equipamentos ........................................................... 219
16.3. Pessoal .......................................................................................... 220
17. BIBLIOGRAFIA ................................................................................... 222
CAPTULO 4 - PATOLOGIA DE SEMENTES .................................... 224
1. IMPORTNCIA DA PATOLOGIA NA PRODUO DE
SEMENTES DE ALTA QUALIDADE ................................................ 225
1.1. Introduo ....................................................................................... 225
1.2. Transmisso de patgenos associados s sementes ......................... 225
1.3. Perdas provocadas por patgenos em nvel de campo .................... 229
1.4. Efeito de patgenos sobre a qualidade das sementes ...................... 235
2. PRINCPIOS E OBJETIVOS DO TESTE DE SANIDADE DE SEMENTES 238
2.1. Objetivos ........................................................................................ 238
2.2. Princpios ........................................................................................ 238
3. MTODOS USADOS PARA A DETECO DE MICRORGANISMOS
EM SEMENTES ................................................................................... 240
3.1. Exame da semente no-incubada .................................................... 240
3.2. Exame da semente incubada ........................................................... 243
3.3. Anlise atravs de bioensaios ou procedimentos bioqumicos ...... 252
4. CAUSAS DE VARIAES DOS TESTES DE INCUBAO ............ 259
4.1. Fatores relacionados com a qualidade das sementes ....................... 259
4.2. Potencial de inculo ........................................................................ 260
4.3. Reaes dos patgenos s condies do teste ................................. 260
4.4. Variaes devido amostragem ..................................................... 260
4.5. Condies de armazenamento das amostras ................................... 261
4.6. Recipiente a ser usado para os testes .............................................. 262
4.7. Condies do pr-tratamento .......................................................... 262
4.8. Fatores de variaes na incubao .................................................. 263
4.9. Umidade ......................................................................................... 265
4.10. Luz ................................................................................................ 266
4.11. Interao entre luz e temperatura .................................................. 267
4.12. Fatores biticos ............................................................................. 268
4.13. Perodo de incubao .................................................................... 268
4.14. Identificao e registro dos patgenos .......................................... 269
5. TRATAMENTO DE SEMENTES ......................................................... 270
5.1. Introduo ....................................................................................... 270
5.2. Tipos de tratamento de sementes .................................................... 271
6. BIBLIOGRAFIA ..................................................................................... 279
CAPTULO 5 - SECAGEM DE SEMENTES ........................................ 281
1. INTRODUO ...................................................................................... 282
2. UMIDADE DA SEMENTE .................................................................... 282
2.1. Equilbrio higroscpico .................................................................. 282
2.2. Propriedades fsicas do ar ............................................................... 284
3. PRINCPIOS DE SECAGEM ................................................................. 290
4. MTODOS DE SECAGEM ................................................................... 291
4.1. Natural ............................................................................................ 291
4.2. Artificial ......................................................................................... 293
5. AERAO .............................................................................................. 312
6. SECA-AERAO .................................................................................. 314
7. FLUXO DAS SEMENTES NO SISTEMA DE SECAGEM .................. 315
8. CONSIDERAES GERAIS ................................................................. 315
8.1. Demora na secagem ........................................................................ 315
8.2. Capacidade de secagem .................................................................. 316
8.3. Danos mecnicos ............................................................................ 316
8.4. Temperatura de secagem ................................................................ 316
8.5. Velocidade de secagem ................................................................... 317
8.6. Danos trmicos ............................................................................... 317
8.7. Fluxo de ar ...................................................................................... 317
8.8. Supersecagem ................................................................................. 318
8.9. Uniformizao ou homogeneizao da umidade ............................ 318
8.10. Desconto da umidade .................................................................... 318
9. BIBLIOGRAFIA ..................................................................................... 319
CAPTULO 6 - BENEFICIAMENTO DE SEMENTES ....................... 321
1. INTRODUO ...................................................................................... 322
2. RECEPO E AMOSTRAGEM ........................................................... 322
2.1. Recepo ........................................................................................ 322
2.2. Amostragem .................................................................................... 324
3. PR-LIMPEZA E OPERAES ESPECIAIS ....................................... 324
3.1. Pr-limpeza ..................................................................................... 324
3.2. Operaes especiais ........................................................................ 325
4. LIMPEZA DE SEMENTES .................................................................... 328
4.1. Largura, espessura e peso ............................................................... 329
4.2. Densidade ....................................................................................... 340
4.3. Comprimento .................................................................................. 344
4.4. Forma .............................................................................................. 346
4.5. Textura superficial .......................................................................... 348
4.6. Condutibilidade eltrica .................................................................. 349
4.7. Afinidade por lquidos .................................................................... 350
4.8. Separao pela cor .......................................................................... 350
5. CLASSIFICAO .................................................................................. 350
6. TRATAMENTO DE SEMENTES ......................................................... 355
6.1. Introduo ....................................................................................... 355
6.2. Equipamentos ................................................................................. 355
7. TRANSPORTADORES DE SEMENTES .............................................. 357
7.1. Elevador de caambas .................................................................... 357
7.2. Transportador de parafuso (rosca sem-fim, caracol) ...................... 359
7.3. Correia transportadora .................................................................... 359
7.4. Transportador vibratrio ................................................................. 359
7.5. Transportador pneumtico .............................................................. 359
7.6. Transportador por corrente ............................................................. 360
7.7. Empilhadeira ................................................................................... 360
8. PLANEJ AMENTO DE UBS .................................................................. 360
8.1. Fluxograma na UBS ....................................................................... 361
8.2. Seleo do equipamento ................................................................. 361
8.3. Tipos de UBS ................................................................................. 362
8.4. Aspectos importantes a considerar no planejamento de uma UBS . 363
8.5. Regulagem de fluxo de sementes .................................................... 363
9. BIBLIOGRAFIA ..................................................................................... 364
CAPTULO 7 - ARMAZENAMENTO DE SEMENTES ...................... 366
1. INTRODUAO ...................................................................................... 367
2. LONGEVIDADE E POTENCIAL DE ARMAZENAMENTO DAS
SEMENTES .......................................................................................... 368
2.1. Sementes de vida longa e vida curta ............................................... 368
2.2. Sementes ortodoxas e recalcitrantes ............................................... 371
3. DETERIORAO DE SEMENTES ...................................................... 372
3.1. Definio ........................................................................................ 372
3.2. Teorias da deteriorao de sementes .............................................. 374
3.3. Causas da deteriorao ................................................................... 376
4. FATORES QUE AFETAM A CONSERVAO DAS SEMENTES .... 378
4.1. Fatores genticos ............................................................................ 378
4.2. Estrutura da semente ....................................................................... 380
4.3. Fatores de pr e ps-colheita .......................................................... 381
4.4. Teor de umidade da semente .......................................................... 382
4.5. Umidade e temperatura ambiente ................................................... 386
4.6. Danos causados s sementes depois da colheita ............................. 389
4.7. Idade fisiolgica das sementes ........................................................ 390
5. TIPOS DE ARMAZENAMENTO DE SEMENTES .............................. 391
5.1. Armazenamento a granel ................................................................ 391
5.2. Armazenamento em sacos ............................................................... 395
5.3. Armazenamento sob condies de ambiente controlado ................ 400
6. PRAGAS DAS SEMENTES ARMAZENADAS E SEU CONTROLE .. 403
6.1. Insetos e caros ............................................................................... 403
6.2. Fungos ............................................................................................ 409
6.3. Roedores e pssaros ........................................................................ 410
7. CONSIDERAES FINAIS .................................................................. 413
8. BIBLIOGRAFIA ..................................................................................... 414
CAPTULO 1
Produo de Sementes
Prof. Dr. Silmar Teichert Peske
Prof. Dr. Antonio Carlos Souza Albuquerque Barros
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
13
1. INTRODUO
A semente o veculo que leva ao agricultor todo o potencial gentico de
uma cultivar com caractersticas superiores. Em seu caminho, do melhorista
utilizao pelo agricultor, pequenas quantidades de sementes so multiplicadas
at que sejam alcanados volumes em escala comercial, no decorrer do qual a
qualidade dessas sementes est sujeita a uma srie de fatores capazes de
causarem perda de todo potencial gentico. A minimizao dessas perdas, com a
produo de quantidades adequadas, o objetivo principal de um programa de
sementes.
Na agricultura tradicional, ainda comum o agricultor separar parte de sua
produo para utilizar na safra seguinte como semente. Alm dessa prtica,
pouca distino feita entre o gro, que se utiliza para alimentao, e a semente
utilizada para multiplicao. A agricultura moderna, porm, requer a
multiplicao e disseminao rpida e eficaz das cultivares melhoradas, to logo
sejam criadas.
Novas cultivares melhoradas s se tornam insumos agrcolas quando suas
sementes de alta qualidade esto disponveis aos agricultores e so por eles
semeadas. A justificativa de um programa de sementes , portanto, a extenso do
comportamento varietal superior demonstrado por uma cultivar em ensaios
regionais. Convm lembrar que sementes de alta qualidade, utilizadas com
prticas culturais inadequadas, no tero condies de corresponder ao esperado
e, fatalmente, levaro ao insucesso.
Os benefcios de um programa de sementes que produz e distribui sementes
de alta qualidade de cultivares melhoradas incluem:
a) aumento de produo e produtividade;
b) utilizao mais eficiente de fertilizantes, irrigao e pesticidas, devido a
maior uniformidade de emergncia e vigor das plntulas;
c) reposio peridica mais rpida e eficiente das cultivares por outras de
qualidade superior;
d) menores problemas com plantas daninhas, doenas e pragas do solo.
Outros aspectos a serem considerados so:
a) um eficiente programa de sementes serve, no s para o desenvolvimento
agrcola, mas tambm como um mecanismo para rpida reabilitao da
agricultura, aps calamidades pblicas, como inundaes, secas, etc. e
b) sementes da maioria das grandes culturas so insumos reproduzveis e
multiplicveis, onde facilmente pode-se estabelecer uma indstria de
sementes.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
14
2. ELEMENTOS DE UM PROGRAMA DE SEMENTES
Umprograma de sementes devidamente organizado proporcionar que as sementes
das cultivares melhoradas (com maior rendimento, resistncia, precocidade, etc.)
estejam disposio dos agricultores nummenor espao de tempo e em quantidades
adequadas (Fig. 1), com grandes benefcios para todos.
Figura 1 Estdios de adocao de uma cultivar.
Os componentes de um programa de sementes so vrios, interligando-se de
tal forma que, se um deles no funcionar, o programa se tornar ineficiente, com
problemas de fluxo e qualidade de sementes (Fig. 2).
Figura 2 Componentes de um programa de sementes
a.
Programa de sementes
Progresso devido
s/Programa de sementes
c/Programa de sementes
Anos aps liberao
T
a
x
a
u
t
i
l
i
z
a
o
d
e
s
e
m
e
n
t
e
%
a
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
15
A integrao harmoniosa entre os diversos componentes do programa de
sementes requer principalmente que:
a) ocorra um esforo comum, em nvel estadual e nacional, onde se considere
a participao dos setores pblico e privado;
b) haja efetiva coordenao, colaborao e confiana entre os participantes e
c) o Estado desenvolva uma ao de continuidade.
2.1. Pesquisa
O valor agronmico de uma cultivar constitudo de vrias caractersticas,
sendo as mais importantes as seguintes:
a) potencial de rendimento;
b) resistncia a doenas e insetos;
c) resistncia a fatores ambientais adversos;
d) qualidade de seus produtos;
e) resposta a insumos e
f) precocidade.
Para a liberao de uma cultivar
1
com caractersticas superiores, necessrio
que a mesma seja registrada em rgo competente do governo com base em
resultados obtidos de diferentes locais, anos e tipos de ensaios realizados. No
processo de registro, o obtentor dever informar o valor de cultivo e uso (VCU)
da cultivar, significando que um novo material no necessita necessariamente ter
um maior potencial de produtividade em relao a uma cultivar testemunha, mas
sim ter atributos agrnomicos ou industriais que assim justifiquem seu registro
para cultivo.
Uma cultivar tambm pode ser protegida por lei e para isso necessita ser
estvel, homogna e diferente. A proteo confere ao obtentor um retorno de seu
capital investido na criao da nova cultivar. Para um produtor de sementes
multiplicar as sementes de uma cultivar protegida necessita ter a permisso do
obtentor da cultivar.
No Brasil o rgo que aufere registro e proteo de cultivares o Servio
Nacional de Proteo de Cultivares (SNPC).
Para efeitos prticos, no haver uma indstria forte de sementes sem
melhoramento vegetal. Atualmente as cultivares, so provenientes de entidades
governamentais como de privadas. Delas se abastecem, como se fosse matria-
prima, todos os produtores de sementes individuais ou organizados em forma de
empresas ou associaes.
1
Para efeitos prticos, ser utilizado indistintamente os termos cultivar e variedade.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
16
2.2. Produo de sementes gentica e bsica
O custo e o tempo requerido para criao e liberao de uma nova cultivar
so grandes. Assim, alguns mecanismos devem ser utilizados para manter essa
cultivar pura e multiplic-la em quantidade suficiente para coloc-la disposio
dos agricultores. Para isso utiliza-se umsistema comcontrole de geraes com quatro
classes de sementes gentica, bsica, registrada e certificada.
A produo de sementes genticas e bsicas est sob a responsabilidade da
empresa ou instituio que criou a cultivar e essa, por convnio ou outro
mecanismo, pode autorizar outros a produzirem sementes bsicas.
A semente gentica a primeira gerao obtida atravs de seleo de plantas,
em geral, dentro da estao experimental, com superviso do melhorista,
enquanto a semente bsica a segunda gerao obtida da multiplicao da
semente gentica, com pouca superviso do melhorista, e em geral, obtida em
unidades especiais, fora do setor de melhoramento.
Como a quantidade de semente necessria para os agricultores grande, a
semente bsica multiplicada por mais duas geraes. O produto da primeira
gerao da bsica designa-se semente registrada, enquanto a semente obtida da
classe registrada, designa-se certificada.
Como exemplo, ser apresentado o clculo da quantidade de sementes de soja
requerida em cada classe de sementes, em um cultivo de 500.000ha e uma taxa
de utilizaao de sementes comerciais de 60%, ou seja, 60% dos agricultores
compraro sementes para instalarem seus campos de produo de gros. Dessa
maneira, ter-se- 500.000 x 0,6 = 300.000ha semeados com sementes
certificadas. Considerando uma densidade de semeadura de 60kg/ha e uma
produo mdia de 1,2t/ha de sementes (semente seca, limpa e aprovada ) tem-se a
necessidade de 37.5ha para produo de semente bsica (Tabela 1).
Com uma produo anual de 2,25t de semente gentica, obtm-se a
quantidade necessria para suprir toda a demanda de sementes. Dessa maneira,
com um trabalho criterioso de produo, pode-se obter facilmente semente
bsica com pureza varietal, pois a rea necessria para produo pequena
(menos de 40ha). Isso colocaria no programa sementes de alta qualidade que, se
conduzidas com prticas culturais adequadas, proporcionariam a obteno de
semente certificada para atender a demanda. Somente iniciando com sementes de
alta qualidade que haver chance de tambm obter sementes comerciais de alta
qualidade.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
17
Tabela 1 Quantidade de sementes e rea necessria para suprir a demanda de
arroz para 450.000ha.
rea
(ha)
Densidade semeadura/
Produo
Quantidade
(t)
Classe
450.000
22.500
1.125
56,33
2,82
0,15 t/ha
3 t/ha
3 t/ha
3 t/ha
3 t/ha
67.500
3.375
169
8,49
Certificada
Registrada
Bsica
Gentica
O mesmo exemplo pode ser utilizado para outras culturas no processo de
manuteno de pureza varietal e produo de sementes livres de plantas
daninhas.
2.3. Produo de sementes comerciais
A produo de sementes comerciais um dos componentes mais importantes
do programa de sementes, constituindo seu elo central.
Existem vrios tipos de produtores de sementes, sendo alguns altamente
tecnificados e organizados. A produo de sementes envolve grandes
investimentos e a aplicao de elevados recursos financeiros a cada ano,
exigindo do produtor a escolha de terras adequadas, condies ecolgicas
favorveis e o compromisso de seguir normas rigorosas de produo,
diferenciadas da tecnologia utilizada na produo agrcola de gros. O produtor
desenvolve uma atividade econmica e socialmente muito relevante.
Os produtores de sementes podem ser classificados em, empresas produtoras,
produtor individual e cooperante.
2.3.1 Produtor individual
Caracteriza-se este tipo de produtor por possuir infra-estrutura mnima, em
geral constituda de terras prprias, mquinas e equipamentos agrcolas e pouca
capacidade de beneficiamento de suas sementes. Atua como pessoa fsica com
poder de deciso sobre suas sementes, no estando, em geral, submetido a
estruturas complexas de organizao. Produz sob contrato ou atravs de um
acerto informal com o comprador de sua produo.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
18
Confunde-se o produtor individual com a figura do cooperante na produo
de sementes, face atuao de ambos no processo. Entretanto, o produtor
individual, apesar de no estar vinculado estrutura de produo, um produtor
registrado e, como tal, amparado pela legislao, enquanto o cooperante no
necessita estar registrado.
2.3.2. Empresas produtoras
Empresas, companhias ou firmas produtoras de sementes so organizaes
especializadas e classificadas como pessoas jurdicas.
Quanto razo social, tais entidades apresentam variao entre sociedade
annima e de responsabilidade limitada. Segundo a forma de sua constituio,
tamanho, etc., a sistemtica de deciso mais direta (uma s pessoa) ou depende
de um grupo de pessoas, diretoria, assemblia ou outros tipos de estrutura.
Quanto atividade de pesquisa, h dois tipos de empresas produtoras de
sementes: uma que executa a pesquisa, objetivando a criao de cultivares,
comercializando as sementes de suas prprias cultivares, e outra, mais comum,
caracterizada juridicamente como produtora de sementes, com a finalidade
especfica de semeadura, assistida por responsvel tcnico, sem no entanto
possuir trabalho prprio de melhoramento. Essas empresas utilizam os resultados
de pesquisa desenvolvidos por outros.
As cooperativas podem ser enquadradas, quanto ao sistema de produo,
como empresas produtoras.
2.3.3. Cooperante
toda pessoa que multiplica sementes para um produtor devidamente
registrado sob um contrato especfico, orientado por responsvel tcnico.
Em geral, o cooperante utiliza sua prpria terra para a produo de sementes,
considerada como prestao de servio, recebendo do produtor contratante,
geralmente, as sementes a serem multiplicadas, no havendo, no caso, operao
de compra e venda. Em geral, o cooperante recebe uma bonificao de 15-20% a
mais, em relao ao preo do gro.
O cooperante vem se tornando cada vez mais importante na produo de
sementes melhoradas, pois permite s empresas de sementes, que normalmente
no dispem de terras prprias em quantidade, expandir sua produo. Apresenta
vantagens para todos, entretanto, exige do produtor uma maior capacidade de
controle, no s sob o aspecto tcnico, como tambm sob o ponto de vista
comercial. Cr-se que mais de 80% da produo de sementes melhoradas no
mundo sejam produzidas atravs do sistema de cooperantes.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
19
As relaes de produtores de sementes com obtentores vegetais pode ser dada
das seguintes formas:
a) Licenciamento
Com a Lei de Proteo de Cultivares (LPC), iniciou-se um novo estilo de
relacionamento entre as empresas.
O licenciamento de cultivares passou a ser uma das formas mais adotadas
para a comercializao com o reconhecimento dos direitos de proteo
intelectual do desenvolvimento de novas cultivares. A soja o produto que mais
rapidamente se desenvolveu tendo j registrados mais de 300 cultivares junto ao
Cadastro Nacional de Cultivares Protegidas.
Esse processo de licenciamento consiste basicamente em que o produtor de
sementes para ter a permisso de multiplicar e conercializar as sementes de uma
cultivar protegida, deve pagar um royalty para o obtentor, em muitas situaes
esse valer ao redor de 5% do valor de venda da semente.
b) Verticalizao
Outro sistema de comercializao que antes no era adotado para plantas
autgamas, o sistema verticalizado exclusivo, no qual o obtentor exerce o
pleno direito de explorar sua criao diretamente no mercado, no concedendo
licenciamento a terceiros, o que est perfeitamente de acordo com a lei. Neste
caso a relao ocorre diretamente com o agricultor que adquire as sementes ou
com canais de comercializao a exemplo do que j vem ocorrendo h muito
tempo com os hbridos.
c) Produo terceirizada
Nas situaes em que a empresa obtentora opta por no licenciar a produo
e o comrcio de suas cultivares protegidas, poder ocorrer o modelo da
produo terceirizada por parte das empresas produtoras de sementes, o que
caracteriza uma prestao de servios especializada. Neste caso a empresa
produtora se responsabiliza por todas as etapas da produo de determinada
cultivar, porm a semente leva a marca do obtentor e ser comercializada por
ele.
d) Co-titularidade
Esta uma nova relao que existe entre obtentores ou entre um obtentor e
algum colaborador mais estrito nas etapas de desenvolvimento de uma nova
cultivar. Tudo vai depender do grau de contribuio que cada parceiro oferece e
do acordo previamente firmado entre os dois. Nesta modalidade de
relacionamento pode ocorrer a co-titularidade pelo uso de cultivar protegida
como progenitor recorrente em caso de cultivar essencialmente derivada.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
20
2.4. Controle de qualidade
O agricultor deve ter a segurana de que a semente adquirida de qualidade
adequada e de uma especfica cultivar devidamente identificada para seu fcil
reconhecimento. Para proporcionar essa garantia, desenvolveram-se programas
de controle de qualidade com o objetivo de supervisionar todo processo de
produo e tecnologia de sementes.
H dois tipos de controle de qualidade de sementes: o interno e o externo.
2.4.1. Controle interno de qualidade (CIQ)
Esse controle basicamente consiste nos registros e parmetros que o produtor
de sementes utiliza com o objetivo de conhecer a "histria" de cada lote de
sementes, bem como para obter sementes de alta qualidade com um mnimo de
perdas e custos.
O CIQ envolve escolha da semente, seleo da terra, descontaminao da
lavoura, determinao de umidade, testes rpidos de viabilidade, germinao, vigor,
eficincia e eficcia do equipamento e registros diversos para conhecimento da
histria da semente. Apesar de no ser requerido por lei, os produtores de
sementes esto cada vez mais utilizando o CIQ, pois esto se conscientizando
que o custo adicional baixo em relao ao retorno propiciado.
2.4.2. Controle externo de qualidade (CEQ)
Esse controle feito por uma entidade fora do poder de influncia do
produtor ou comerciante de sementes e, em geral, executado pelo governo.
O CEQ um dos elementos essenciais de um programa de sementes, uma vez
que auxilia o pesquisador, o produtor de sementes e o agricultor.
O fitomelhorista se beneficia do CEQ, proporcionando-lhe os meios de
desenvolver um sistema para levar cultivares recm desenvolvidas dos campos
de experimentao at os agricultores. Assim, pode concentrar-se em seu
objetivo principal de fitomelhorador, sem desgastar-se com os aspectos de
multiplicao das sementes.
Os produtores de sementes obtem vantagens do CEQ por contarem com um
terceiro membro para garantir que no se cometam erros na produo de
sementes. Atravs do CEQ, o produtor de sementes assistido, mantendo-se
informado sobre os novos avanos em melhoramento e tecnologia de sementes,
bem como tendo assistncia tcnica de pessoal qualificado para soluo de seus
problemas.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
21
O agricultor beneficiado com o CEQ pela disponibilidade de sementes que
asseguram um mnimo de qualidade fsica e fisiolgica de uma cultivar
apropriadamente identificada.
O CEQ, em geral, se d de duas formas:
a) Sistema de certificao de sementes: Este sistema de produo
caracterizado principalmente por ter um controle de gerao de semente
produzida e acompanhar todo o processo tecnolgico envolvido na
obteno de cada lote de sementes produzido.
b) Fiscalizao do comrcio de sementes: Este CEQ feito na semente
colocada venda. Atua, na fiscalizao, uma equipe especial distinta da
que atua na produo de sementes. Essa equipe verifica a documentao e
qualidade de semente.
2.5. Comercializao
Sementes de alta qualidade das cultivares melhoradas devem ser utilizadas
por milhares de agricultores para haver um efetivo aumento da produo
agrcola. Assim, as tcnicas de comercializao so direcionadas ao usurio
(agricultor) em vez do produto (semente).
A comercializao envolve:
a) uma determinao sistemtica e contnua das necessidades do agricultor;
b) acmulo de sementes e servios para satisfazer essas necessidades;
c) comunicao e informao para e de agricultores sobre sementes e servios e
d) distribuio da semente ao agricultor.
H grandes diferenas, comparando-se os requerimentos tcnicos para
criao de cultivares, produo e regulamentao, com os requerimentos para
comercializao, pois esta ltima requer pessoal especialmente treinado, o que
no normalmente encontrado nos outros componentes do programa de
sementes. Esse pessoal necessita conhecimentos de relaes humanas,
comunicao, tcnicas de comercializao, administrao e gerenciamento.
Os produtores, empresas, comerciantes, revendedores e agentes compem a
grande rede de distribuio de sementes, sempre atenta ao abastecimento pleno
no local e momento certo.
A deciso do agricultor em comprar a semente envolve o preo, o tipo de
semente, sua localizao em relao ao mercado, a sua avaliao da qualidade de
semente, os servios complementares e as alternativas disponveis para obter a semente.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
22
2.6. Consumidor
Com a globalizao e a rapidez do fluxo de conhecimento, a sociedade
tornou-se mais exigente em relao aos produtos que deseja consumir. Assim
uma cultivar deve ser desenvolvida com o objetivo de atender determinada
parcela de consumidores. O melhor exemplo que se possui em relao aos
produtos transgnicos que determinados consumidores se negam a consumir. Se
o consumidor no compra no adianta produzir.
Atualmente, pode-se dividir os produtos em convencionais, geneticamente
modificados e orgnicos. H nichos de mercado para vrios produtos como soja
para consumo in natura, arroz aromtico entre outros. Assm, uma cultivar deve
ser denvolvida para atender determinado mercado.
3. RELAES ENTRE ELEMENTOS DO PROGRAMA DE SEMENTES
3.1. Setor pblico
As aes governamentais, para contriburem com um programa de sementes,
envolvem poltica, legislao, crdito, incentivos e investimentos. Entre os
rgos pblicos, o Ministrio da Agricultura (MA) o de maior relevncia para
o setor sementeiro.
O setor pblico tambm atua internamente nos registros e proteo de
cultivares, na pesquisa, com a criao de novas cultivares e treinamento de
pessoal.
3.2. Coordenao de atividades
O programa de sementes somente alcanar seus objetivos quando todos seus
componentes estiverem funcionando adequadamente. Assim, para acompanhar e
avaliar o programa a nvel nacional, possui-se o programa nacional de semenenes
(PNS).
O PNS tem os objetivos de:
a) definir instrumentos de integrao com os diferentes componentes do
programa de sementes;
b) sugerir prioridades para projetos de sementes e
c) formular a poltica nacional de sementes, estabelecendo critrios para sua
aplicao.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
23
Com o objetivo de possibilitar maior flexibilidade execuo da poltica
nacional de sementes e estar mais prximo aos problemas de cada programa,
foram criadas as Comisses Estaduais de Sementes e Mudas (CESM),
constitudas de representantes de todos os componentes do programa de
sementes, incluindo os setores pblico e privado.
Por sua composio, as CESMs so o foro ideal de discusso para qualquer assunto
que se relacione coma rea de sementes.
3.3. Legislao
A legislao , antes de tudo, uma expresso da poltica governamental,
composta por objetivos econmicos e aspiraes sociais, e o equilbrio entre
ambos se reflete nas leis de sementes, as quais tm o objetivo de fomentar a
produo e proteger o agricultor do risco de utilizar sementes de baixa qualidade.
difcil de assegurar que a qualidade da semente dentro da embalagem seja
aquela que o agricultor deseja, pois as sementes de plantas daninhas podem no
estar visveis e o poder germinativo no se determina simplesmente olhando as
sementes. Alm disso, caso o agricultor utilize semente de baixa qualidade, est
exposto a perder no s a semente como tambm todo o valor previsto para a
cultura e at, em alguns casos, os meios de vida para o ano. Assim, a lei protege
o agricultor para a fraude, a negligncia e o acidente. Tambm d uma certa
proteo ao vendedor para competidores pouco escrupulosos.
Em geral, uma lei de sementes contempla:
a) a inspeo obrigatria e a fiscalizao do comrcio de semente (CEQ);
b) a criao da obrigatoriedade do registro para os produtores e comerciantes
de sementes;
c) conceituaes especficas s sementes;
d) procedimentos relativos anlise de sementes, bem como o credenciamento de
laboratrios de sementes;
e) identificao de sementes e
f) definies de proibies, isenes e estabelecimento de penalidades sobre
contravenes.
3.4. Certificao de sementes
A certificao de sementes o processo controlado por um rgo competente
em geral pblico, atravs do qual se garante que a semente foi produzida de
forma que se possa conhecer com certeza sua origem gentica e que cumpre com
condies fisiolgicas, sanitrias e fsicas pre-estabelecidas.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
24
A certificao de sementes um sistema criado internacionalmente para
certificar a autenticidade da semente que vendida aos agricultores,
fornecendo-lhes a confiana de que o insumo adquirido realmente possui as
caractersticas declaradas pelo produtor de sementes na etiqueta da embalagem.
A semente certificada deve cumprir com requisitos de qualidade fsica e
fisiolgica, j que deve certificar a ausncia de sementes de outras espcies, de
sementes de invasoras ou plantas daninhas proibidas, de sementes danificadas ou
deterioradas e, ainda, que as sementes possuem um alto poder germinativo.
A certificao um componente importante da indstria de sementes, j que
atua em todos seus elementos, participando da produo, beneficiamento,
comercializao e, ainda, prestando servios aos agricultores. o nico mtodo
que permite manter a identidade varietal da semente em um mercado aberto.
Pelo controle de geraes, permite que as sementes das cultivares superiores
lanadas oficialmente pela pesquisa, atravs do melhoramento de plantas,
mantenham sua pureza gentica e todas as caractersticas qualitativas que, por
seremde interesse do agricultor, fazemcomque este as adquira e as semeie.
Os pases com programas de sementes estabelecidos, possuem uma legislao
(Lei de Sementes) que, expressando uma poltica governamental, fomenta a
produo e protege os agricultores contra riscos de utilizar sementes de baixa qualidade,
bemcomo os comerciantes contra competidores inescrupulosos. O sistema de
certificao de sementes participa dentro do programa de sementes, como apoio
no cumprimento da lei, se implementado por uma agncia. Tem por objetivo
verificar os campos de produo e as instalaes onde a semente ser produzida,
com base em padres mnimos que incluem pureza varietal e fsica, germinao e
sanidade, os quais emconjunto, compema qualidade de umlote de sementes.
O xito de um sistema de certificao de sementes est limitado demanda
de sementes certificadas por parte dos agricultores. necessrio que as cultivares
criadas e/ou melhoradas pelos pesquisadores sejam utilizadas pelos agricultores
nas suas lavouras, com todas as caractersticas que lhe outorgam a condio de
produzir gros de excelente qualidade e com altos rendimentos, o que se traduz
em bem-estar da comunidade. Esse fato depende da habilidade de cada pas para
criar um mercado e fornecer sementes de alta qualidade das cultivares
melhoradas em quantidades suficientes e que cheguem aos agricultores o mais
rapidamente possvel, dentro dos requerimentos reais da indstria sementeira.
A certificao tem contribudo, sem dvidas, em todos os pases em que se
aplica, a aumentar a distribuio de sementes das cultivares superiores; a
estabelecer padres mnimos de qualidade e a mostrar aos agricultores a
importncia do consumo e do valor das sementes melhoradas. Cada pas
organiza o sistema de certificao que lhe convm; porm, desde 1977 existe em
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
25
nvel internacional o "sistema OECD" (Organizao Econmica para a
Cooperao com o Desenvolvimento), permitindo que todos os pases membros
das Naes Unidas utilizem os modelos de certificao de sementes propostos
por esse rgo, devendo seguir seus regulamentos ao se comprometerem com o
sistema. Isso marcou o inicio de um intercmbio entre pases e tem permitido
ajustar o mercado intercontinental de importao e exportao de sementes.
A abertura dos mercados internacionais para a exportao de sementes e o
"sistema OECD" de certificao tem contribudo significativamente para o
aumento da produo de sementes certificadas em nvel mundial. Em pases da
Comunidade Econmica Europia, frica do Sul, Canad e Austrlia, a
certificao pr-requisito para a importao de sementes e sua comercializao
dentro do pas. Esses pases possuem registros de variedades restritos e essas
variedades tm que ser testadas num mnimo de trs anos e aprovadas por uma
agncia oficial de certificao.
Os requerimentos de certificao para sementes importadas a cargo dos
ministrios de agricultura dos pases em desenvolvimento, exigem slidos
sistemas de certificao dos pases que queiram entrar e competir no mercado
internacional de sementes.
O futuro da certificao de sementes deve solidificar-se com base na
qualidade de sementes, permitindo que os sistemas de certificao, alm de
verificar e assegurar a identidade gentica da cultivar atravs da pureza varietal,
participem tambm no controle e avaliao dessa qualidade, oferecendo aos
produtores, beneficiadores, comerciantes e sementeiros, em geral, servios de
campo, de beneficiamento em UBSs e de laboratrio (testes de vigor e de
sanidade) que garantam todos os benefcios que a utilizao de sementes de alta
qualidade trazem aos agricultores.
3.4.1 Componentes de um sistema de certificao
a) Servio Oficial: a autoridade designada pelo governo para implementar
leis, regulamentos, atravs da inspeo nas diversas etapas do sistema e
da verificao posterior por meio de testes prescritos.
b) Cultivares Melhoradas: So as selecionadas para o sistema, se forem de
comprovado valor agronmico.
c) Material Bsico: A entidade criadora da cultivar original deve mant-la e
fornecer os estoques de semente gentica para multiplicao da semente
bsica.
d) Controle de Geraes: Tem como base as classes ou etapas da certificao,
que so:
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
26
1) Semente bsica: material proveniente da gentica, que serve de base
para semente registrada;
2) Semente Registrada: material que serve de base para a semente
certificada;
3) Semente Certificada: proveniente da semente registrada e colocada
venda para o agricultor;
4) Semente Fiscalizada: semente declarada como varietalmente pura pelo
produtor, porm fora do sistema de certificao.
e) Normas de Certificao: Normas gerais e especficas que definem os
requisitos agronmicos que devem ser seguidos na produo de sementes.
f) Registro de cultivares Uma cultivar para entrar no sistema de produo
tem que ser registrada na agncia de certificao de sementes.
g) Proteo de cultivares Uma cultivar pode o no ser protegida. Em caso
positivo, a proteo feita tambm na agncia de certificao de
sementes.
4. PROTEO DE CULTIVARES
O desenvolvimento de novas cultivares de plantas demorado e caro. Os
materiais vegetais frequentemente reproduzem a si prprios aps a liberao para
o mercado privando o seu criador de uma oportunidade adequada de recuperar o
seu investimento em pesquisa e/ou manter um fundo para futuras pesquisas. Por
essa razo entre os interessados em encorajar a inovao nas plantas, tem havido
interesse em mecanismos para proteger a posio do obtentor provendo-o com
um alto grau de exclusividade em relao produo e venda de sua inovao
(uma nova cultivar).
Neste sentido, foi criada a UPOV (Organizao Internacional para Proteo
de Cultivares), que possui convenes de 1961, 1978 e 1991. As mais
importantes, com validades at aos dias de hoje, so a de 1978 e a de 1991. A
conveno de 1978 contempla a proteo da cultivar at a semente certificada ou
comercial, enquanto a de 1991, entre outros aspectos, contempla que a proteo
vai at o produto comercial, ou seja se o agricultor quiser usar a sua prpria
semente, no h problemas, entretanto o royalty do melhorista deve ser pago.
Salienta-se que alguns pases, mesmo estando filiados ATA da UPOV de
1978, contemplam em lei uma rea mxima em que o agricultor pode usar sua
prpria sem pagar royaties.
Procurando manter a capacidade do sistema de proteo das obtenes
vegetais e de promover as atividades de melhoramento das plantas, foi
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
27
introduzido no Convnio da UPOV, pela Ata de 1991, o conceito de variedade
essencialmente derivada, que tem como objetivos:
a) salvar uma brecha do sistema de proteo baseado na Ata de 1978 do
Convnio;
b) contar com relaes eqitativas entre obtentores;
c) criar relaes eqitativas entre titulares de direitos de obtentor e titulares de
patentes.
4.1. Alguns conceitos relacionados includos nos convnios da UPOV
Para fins de proteo, considera-se, de forma muito simplificada, que uma
cultivar um conjunto vegetal distinto, homogneo e estvel.
Considera-se que a distino entre cultivares estabelecida sobre a base de
caracteres que possuem ou no uma relao com o valor agronmico ou
tecnolgico da variedade, ou mesmo um interesse econmico, bastando uma
diferena com relao a um caracter, para chegar-se a concluir que existe
distino entre elas.
Para que a atividade de fitomelhoramento possa desenvolver-se plenamente,
condio indispensvel a livre disponibilidade de todas as cultivares como
fonte de variabilidade para o posterior melhoramento, que no se deve, em
absoluto, restringir.
Os Convnios da UPOV deixaram isso bem claro desde o incio, e j na Ata
de 1961 foi estabelecida a chamada Iseno do Obtentor, que estabelece que
uma cultivar protegida pode ser livremente utilizada para criar novas cultivares.
Assim, pois, o emprego das cultivares dos competidores, a fim de obter delas
caracteres desejveis, uma prtica adequada entre os fitomelhoristas.
4.2. O melhoramento vegetal tradicional
Existem, por outro lado, caracteres que so regulados por apenas um ou por
um nmero reduzido de genes. So caracteres do tipo qualitativo, que algumas
vezes apresentam importncia para o cultivo, como pode ser a resistncia a uma
determinada raa de um fungo, ou regular a presena de um determinado tipo de
leo. Porm, muitas vezes, no so de importncia, como por exemplo a cor das
flores nas plantas de soja ou a presena de antocianinas nos estigmas do milho.
Modificar a expresso desses caracteres qualitativos pode ser uma tarefa
relativamente simples, quando comparada com o desenvolvimento de uma
cultivar completa, que implicaria, alm disso, na obteno de estrutura gentica
que assegure uma boa adaptabilidade e um bom rendimento.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
28
Desta forma, trabalhando com os genes que regulam a expresso de
caracteres qualitativos de uma variedade, e por meio, por exemplo, de
retrocruzamentos, possvel modificar uma boa variedade em um caracter sem
importncia agronmica, obtendo uma variedade que seja diferente, porm
conservando inalterada a poro do gentipo que d verdadeiro valor cultivar
que foi modificada. Um fitomelhorista que fizesse isso poderia chegar a proteger
sua nova variedade, usufruindo do trabalho do criador da primeira variedade,
que na verdade realizou o trabalho mais rduo.
4.3. Os efeitos negativos de uma iseno completa
At a Conveno da UPOV, de acordo com a Ata de 1991, era prevista uma
completa iseno do obtentor, e esta situao levou a um desestmulo atividade
de fitomelhoramento, tendo-se em conta, por exemplo, que empregando-se
tcnicas tradicionais, o desenvolvimento de uma variedade leva cerca de dez
anos, e no se deve deixar de mencionar que selecionar as plantas adequadas
uma tarefa que requer grande experincia. Pode-se resumir o panorama da
seguinte forma:
1) O obtentor de uma variedade, denominada inicial, decidiu realizar uma
mudana importante para criar esta variedade. Em geral, ter efetuado um
cruzamento seguido de seleo durante vrios anos; do mesmo modo ter
realizado testes para determinar o valor comercial da variedade e definir
as condies de cultivo.
2) Um segundo obtentor poder produzir, muitas vezes depois de uma
pequena mudana, uma nova variedade, que ser considerada como
variedade derivada. A noo de variedade essencialmente derivada faz
com que se analise o grau de semelhana entre a variedade parental (a
variedade inicial) e a variedade derivada. Para que exista a derivao
essencial, este grau deve ser superlativo. Desta nova variedade
essencialmente derivada podemos considerar que:
a) possui quase todos os caracteres da variedade inicial, em particular
aqueles que representam o interesse comercial da variedade inicial; e
b) difere, da variedade inicial, unicamente por um caracter ou por um
nmero muito limitado de caracteres.
3) Esta segunda pessoa aporta uma contribuio tcnica e econmica que
pode ser:
a) nula (por exemplo mudar a cor da flor da planta de soja);
b) importante ( o caso de uma mutao induzida em cravo que faz
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
29
aparecer um talo com flores brancas em uma planta de flores
vermelhas).
4) Em qualquer um dos casos, esta segunda pessoa explora integralmente
as modificaes do obtentor da variedade inicial; e, alm disso, entra
em concorrncia direta com ele, qualquer que seja sua modificao e
qualquer que seja sua prpria contribuio tcnica e econmica.
4.4. Variedade essencialmente derivada
A Ata de 1991, do Convnio da UPOV, mostra um aperfeioamento com
relao ao que acontecia anteriormente. Nesta, a iseno do obtentor foi
mantida em sua integridade: toda variedade protegida pode ser livremente
utilizada, como no passado, para criar novas variedades, includas as variedades
essencialmente derivadas.
Por outro lado, a explorao de uma variedade essencialmente derivada pode
ser submetida a uma autorizao do obtentor da variedade inicial. Em outras
palavras, o direito de obtentor relativo variedade inicial estende-se s
variedades essencialmente derivadas e estas so dependentes da variedade
inicial.
As condies desta dependncia so as seguintes:
a) a variedade inicial deve ser protegida;
b) a variedade inicial no deve ser uma variedade essencialmente derivada
(esta deve ser resultado de um verdadeiro trabalho de criao de
variedade);
c) a variedade essencialmente derivada deve responder s condies:
- ser essencialmente derivada da variedade inicial,
- ser suficientemente distinta para ser uma variedade,
- ser quase semelhante variedade inicial.
O esprito da soluo , pois:
1. Promover a continuao das modificaes no melhoramento das plantas
clssicas (os cruzamentos seguidos de seleo, com ou sem mtodos
modernos), que se pode qualificar de inovadoras.
2. Desalentar as atividades desleais ou parasitrias sem desestimular as
atividades de seleo melhoradora.
3. Criar uma base jurdica para acertar acordos equilibrados entre:
a) obtentores de variedades resultantes de seleo inovadora e
obtentores de variedades resultantes de seleo melhoradora. Cabe
destacar aqui que os resultados das atividades de adaptao de
variedades estrangeiras protegidas, sempre e quando no se limitem a
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
30
uma mera atividade cosmtica da variedade protegida, caram fora
do conceito de variedade essencialmente derivada, j que a adaptao
de uma variedade s condies locais requer um verdadeiro programa
de melhoramento vegetal, no qual estaro implicados cruzamentos
com variedades locais que possibilitem introduzir caracteres que
permitam obter um rendimento timo da variedade. O esprito do
convnio promover o melhoramento vegetal, includa a adaptao de
variedades, no restringi-lo, sempre e quando se salvaguardam os
direitos dos obtentores de proteger-se da mera cpia.
b) obtentores de variedades resultantes da seleo inovadora,
protegidas por direitos de obtentor e criadores de procedimentos ou de
produtos protegidos por patentes.
5. ATRIBUTOS DE QUALIDADE DE SEMENTES
A preocupao de uma empresa produtora com a qualidade de sua semente
deve ser constante no sentido de alcan-la, mant-la e determin-la.
Os atributos de qualidade podemser divididos emgenticos, fsicos, fisiolgicos e
sanitrios.
5.1. Genticos
A qualidade gentica envolve a pureza varietal, potencial de produtividade,
resistncia a pragas e molstias, precocidade, qualidade do gro e resistncia a
condies adversas de solo e clima, entre outros. Essas caractersticas so, em
maior ou menor grau, influenciadas pelo meio ambiente e melhor identificadas
examinando-se o desenvolvimento das plantas em nvel de campo.
H necessidade de uma srie de medidas a serem tomadas, para evitar
contaminaes genticas ou varietais e, assim, colocar disposio do agricultor
sementes com caractersticas desejadas. Por contaminao gentica, entende-se a
resultante da troca de gros de plen entre diferentes cultivares, enquanto por
contaminao varietal, entende-se a que acontece quando sementes de diferentes
variedades se misturam. A primeira, ocorre na fase de produo e a segunda,
principalmente, na etapa de ps-colheita.
Com a certeza da pureza gentica da cultivar, ter-se- no campo plantas que
iro reproduzir fielmente as caractersticas selecionadas pelo melhorista e
originar um produto em quantidade e com as qualidades esperadas pelo
agricultor e consumidor.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
31
Nos ltimos anos, tem-se dado bastante nfase em caractersticas genticas
das sementes que possibilitem um maior desempenho para o seu estabelecimento
no campo. Algumas dessas caractersticas j foram ou esto sendo incorporadas
em cultivares de algumas espcies como:
a) resistncia deteriorao de campo atravs da incorporao do caracter de
dureza da semente;
b) capacidade de germinar em condies de baixa disponibilidade de gua
c) capacidade de germinar a maiores profundidades do solo.
5.2. Fsicos
Vrios so os atributos de qualidade fsica da semente:
a) Pureza fsica - uma caracterstica que reflete a composio fsica ou
mecnica de um lote de sementes. Atravs desse atributo, tem-se a
informao do grau de contaminao do lote com sementes de plantas
daninhas, de outras variedades e material inerte.
Um lote de sementes com alta pureza fsica um indicativo que o campo de
produo foi bem conduzido e que a colheita e o beneficiamento foram
eficientes.
b) Umidade - o grau de umidade a quantidade de gua contida na semente,
expressa em porcentagem, em funo de seu peso mido.
A umidade exerce grande influncia sobre o desempenho da semente em
vrias situaes. Dessa maneira, o ponto de colheita de grande nmero de
espcies determinado em funo do grau de umidade da semente. H uma faixa
de umidade em que a semente sofre menos danos mecnicos e debulha com
facilidade.
Outra influncia do grau de umidade na atividade metablica da semente,
como nos processos de germinao e deteriorao. Portanto, o conhecimento
desse atributo fsico permite a escolha do procedimento mais adequado para
colheita, secagem, acondicionamento, armazenamento e preservao da
qualidade fsica, fisiolgica e sanitria da semente.
H, tambm, exigncias quanto a umidade para a comercializao, pois este
est associado ao peso do material adquirido. Na maioria dos pases,
considera-se como 13% o padro de umidade para comercializao.
c) Danificaes mecnicas - toda vez que a semente manuseada, est
sujeita a danificaes mecnicas. O ideal seria colh-la e benefici-la
manualmente. Entretanto, na grande maioria das vezes, isso no prtico
nem econmico. As colheitadeiras, mesmo quando perfeitamente
reguladas, podem danificar severamente as sementes durante a operao
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
32
de debulha. Esse processo causa danos s sementes, principalmente se
forem colhidas muito midas ou secas.
Danificaes tambm podem ocorrer na UBS (Unidade de Beneficiamento de
Sementes), principalmente quando as sementes passam por elevadores, atravs
de quedas, impactos e abrases, que causam leses no tegumento.
O tegumento da semente possui a funo de proteg-la fisicamente e, toda
vez que for rompido, faz com que a semente fique mais exposta s condies
adversas do meio ambiente para entrada de microorganismos e trocas gasosas.
Algumas sementes so mais suscetveis a danos mecnicos que outras. Sementes
de soja so altamente danificveis
As danificaes mecnicas, alm de propiciarem uma m aparncia do lote
de sementes, tambm afetam sua qualidade fisiolgica, as quais podem
manifestar imediatamente ou aps alguns meses de armazenamento, o chamado
efeito latente. Nem todos os danos mecnicos so visveis; inclusive em caso de
sementes com um pouco mais de umidade, os danos no visveis podem estar em
maior proporo e causar desagradveis surpresas.
d) Peso de 1000 sementes - uma caracterstica utilizada para informar o
tamanho e peso da semente. Como a semeadura realizada ajustando-se a
mquina para colocar um determinado nmero de sementes por metro,
sabendo o peso de 1000 sementes e, por conseguinte, o nmero de
sementes por kg, fcil de determinar o peso de sementes a ser utilizado
por rea. Com a adoo da classificao de sementes de soja pelos
produtores de sementes, esse atributo fsico torna-se muito importante.
f) Aparncia - a aparncia do lote de sementes atua como um forte elemento
de comercializao. A semente deve ser boa e parecer boa. Lotes de
sementes, com ervas daninhas, materiais inertes e com sementes mal
formadas e opacas, no possuemo reconhecimento do agricultor.
g) Peso volumtrico - o peso de um determinado volume de sementes.
Recebe o nome de peso hectoltrico se for o peso de 100 litros. uma
caracterstica que fornece o grau de desenvolvimento da semente.
O peso volumtrico influenciado pelo tamanho, formato, densidade e grau
de umidade das sementes. Mantendo outras caractersticas iguais, quanto menor
for a semente maior ser seu peso volumtrico. Em relao umidade, a mesma
varia conforme o tipo de semente; por exemplo, em trigo, milho e soja, quanto
maior o teor de umidade, menor ser o peso volumtrico, enquanto para
sementes de arroz ocorre o inverso, onde 1m
3
de arroz com 13% de umidade
pesa ao redor de 560kg e, com 17%, pesa mais de 600kg.
Um lote formado por sementes maduras, bem granadas, apresenta um peso
volumtrico maior do que outro lote com a presena de sementes imaturas,
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
33
malformadas e chochas. A informao do peso volumtrico, alm de ser til na
avaliao da qualidade da semente, tambm essencial para clculo de
capacidade de silos e depsitos emgeral.
H outros atributos fsicos de qualidade de sementes, entretanto considera-se
os anteriormente mencionados como os mais importantes.
5.3. Fisiolgicos
Considera-se como atributo fisiolgico aquele que envolve o metabolismo da
semente para expressar seu potencial.
a) Germinao - em tecnologia de sementes, a germinao definida como a
emergncia e o desenvolvimento das estruturas essenciais do embrio,
manifestando sua capacidade para dar origem a uma plntula normal, sob
condies ambientais favorveis.
A germinao expressa em porcentagem e sua determinao padronizada
no mundo inteiro, segundo cada espcie. Os requerimentos para o teste de
germinao esto contidos num manual denominado "Regras para Anlise de
Sementes" que, em nvel internacional, publicado pela ISTA (International Seed
Testing Association).
O percentual de germinao atributo obrigatrio no comrcio de sementes,
sendo (em geral) 80% o valor mnimo requerido nas transaes. Em funo do
percentual de germinao e das sementes puras, o agricultor pode determinar a
densidade de sua semeadura.
O resultado do teste de germinao tambm utilizado para comparar a
qualidade fisiolgica dos lotes de sementes. Entretanto, salienta-se que o teste de
germinao realizado em condies ambientais timas e pode apresentar um
resultado bem diferente se essas condies no forem encontradas no solo.
b) Dormncia - o estdio em que uma semente vivase encontra quando se
fornecem todas as condies adequadas para germinao e a mesma no
germina.
A dormncia tambm expressa em porcentagem e mais acentuada em
algumas espcies do que em outras. Por exemplo, em sementes de forrageiras e
de plantas daninhas, o percentual pode alcanar mais de 50% das sementes do
lote.
A dormncia uma proteo natural da planta para que a espcie no se
extermine em situaes adversas (umidade, temperatura, etc.). Essa
caracterstica pode ser encarada como benfica ou no. No caso das sementes de
plantas daninhas, ela considerada ruim para o agricultor, pois dificulta o seu
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
34
controle, onde algumas sementes podem ficar dormentes por vrios anos no
solo. Em forrageiras, o estdio de dormncia benfico pois possibilita a
ressemeadura natural. Outro exemplo benfico da dormncia o caso de
sementes duras de soja que podem ficar no campo aguardando a colheita com
um mnimo de deteriorao.
c) Vigor - os resultados do teste de germinao freqentemente no se
reproduzem em nvel de campo, pois no solo as condies raramente so
timas para a germinao das sementes. Dessa maneira, desenvolveu-se o
conceito de testes de vigor.
Existem vrios conceitos de vigor; entretanto, pode-se afirmar que este o
resultado da conjugao de todos aqueles atributos da semente que permitem a
obteno de um adequado estande sob condies de campo, favorveis e
desfavorveis.
Existem vrios testes de vigor, cada um mais adequado a um tipo de semente
e condio. Esse um atributo muito utilizado pelas empresas de sementes em
seus programas de controle interno de qualidade. Esses testes determinam lotes
com baixo potencial de armazenamento, que germinam mal no frio, que no
suportam seca, etc. Apesar dos testes de vigor possurem muita utilidade, os
mesmos ainda no foram padronizados.
5.4. Sanitrios
As sementes utilizadas para propagao devem ser sadias e livres de
patgenos. Sementes infectadas por doenas podem no apresentar viabilidade
ou serem de baixo vigor.
A semente um veculo para distribuio e disseminao de patgenos, os
quais podem, s vezes, causar surtos de doenas nas plantas, pois pequenas
quantidades de inculo na semente podem ter uma grande significncia
epidemiolgica.
Os patgenos transmitidos pela semente incluem bactrias, fungos,
nematides e vrus, sendo os fungos os mais freqentes.
6. NORMAS DE PRODUO DE SEMENTES
Entre os componentes de um programa de sementes, o de produo o mais
importante, sendo, obviamente, os demais tambm indispensveis. Para que a
semente realmente tenha impacto na agricultura, para maior obteno de
alimento para a humanidade, necessrio que, alm de ser de alta qualidade e de
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
35
uma variedade melhorada, tambm seja utilizada em larga escala pelo agricultor.
No desenvolvimento deste assunto, considerou-se como meta a produo de
sementes de alta qualidade, em quantidade adequada, por uma empresa de
sementes. A seguir ser discutido as tcnicas e cuidados para a produo de
sementes as quais no se diferenciam muito daquelas utilizadas para produo de
gros. Entretanto, algumas necessitam de cuidados especiais.
6.1. Origem da semente e cultivar
A seleo da semente pura da espcie o primeiro passo na direo da
obteno da semente de alta qualidade. Dessa maneira, a semente a utilizar
dever ser:
a) de origem e classe conhecida, aceitvel para a reproduo da espcie;
b) de alta pureza gentica (caso a semente adquirida esteja geneticamente
contaminada, no ser possvel produzir sementes geneticamente puras);
c) livre de doenas, de sementes de plantas daninhas, de insetos, de sementes
de outras espcies e de material inerte e
d) com alta geminao e vigor.
Em relao cultivar, a seleo deve recair para aquelas cujo cultivo seja
familiar ao produtor, para possibilitar os melhores resultados de rendimento e
qualidade.
Outro aspecto que deve ser considerado a preferncia em termos de
cultivares por parte do consumidor (agricultor). A procura por parte do agricultor
de uma determinada cultivar, em algumas espcies, alm do aspecto de produo
da cultura, leva em conta a facilidade de comercializao do produto, em funo
das exigncias do mercado consumidor.
O produtor de sementes poder trabalhar com mais de uma cultivar de uma
determinada espcie. Entretanto, para que misturas genticas e/ou de cultivares
sejam evitadas, recomendvel que trabalhe com poucas. Se trabalhar com
vrios cooperantes, essa recomendao ser vlida para esses. Tambm em nvel
de UBS, devem ser tomadas as devidas precaues.
Ainda sobre a cultivar, destaca-se que a gentica vem em primeiro lugar e
que a qualidade intrnseca da semente valorizada de forma especial
fundamental para a agricultura, somente atravs de uma cultivar superior, de
elite, como hoje se diz, que um produtor de sementes se mantm competitivo.
Ainda com relao cultivar e LPC, alguns produtores esto deixando ou
iro deixar a atividade, pois no conscientizaram-se de que a cultivar a chave
do sistema. Alertados, no se dispuseram a ingressar no melhoramento gentico.
Nem se articularam com obtentores vegetais privados e vo apostar nas
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
36
cultivares de instituies pblicas, concorrendo em licitaes com outros
colegas. A tendncia a diminuio do nmero de produtores de sementes
daquelas espcies protegidas, na proporo em que as cultivares no protegidas
sarem de recomendao. Agora, vrios produtores esto reunindo-se em
fundaes ou implementando empresas de melhoramento gentico, o que ir
aumentar a concorrncia. Alguns produtores, no entanto, esto ligados a mais de
um obtentor de cultivares, por acreditarem que sem a fonte da cultivar vo deixar
de existir como sementeiros.
Em funo da LPC, as empresas de melhoramento gentico vo partir para
aumentar sua participao no mercado, faturar mais e aumentar seu conceito ante
o cenrio do agronegcio e fora dele. Produtores de sementes e obtentores
vegetais devero estar cada vez mais associados, articulados e formando
parcerias fortes. A busca de maior fatia de mercado atravs de estratgias de
marketing, ser uma constante. Eficincia e prestgio estaro em jogo. Afinal, a
cultivar a chave dos sistemas de produo de sementes e dar sustentabilidade
s pesquisas para outras tecnologias, se for o caso, exceo feita s empresas
pblicas. Portanto, em produo e comercializao de sementes a palavra-chave
e continuar sendo: cultivar.
6.2. Escolha do campo
Considerando que a regio seja promissora para a produo de sementes, o
passo seguinte o da escolha do campo onde ser instalada a cultura. Essa
escolha um outro problema a ser solucionado, pois a rea onde se desenvolver
a produo pode estar sujeita a vrios tipos de contaminaes, como: patognica,
varietal, gentica, fsica, de plantas daninhas, etc., que iro prejudicar ou
inviabilizar o material obtido como semente.
O produtor necessita conhecer o histrico do campo e da regio em que ir
trabalhar. Esse histrico envolve regime de chuvas, espcies ou cultivares
produzidos anteriormente, plantas daninhas existentes, problemas locais com
pragas, doenas e nematides, condies de fertilidade, problemas de eroso, etc.
Alguns desses fatores sero apresentados, a seguir, com maior profundidade.
a) Cultura anterior
O campo no deve ter sido cultivado com a mesma espcie no ano anterior ou
nos anos anteriores, conforme a cultivar escolhida. Dependendo da espcie, no
deve ter sido cultivada nem com espcies afins. Esse cuidado ou exigncia
deve-se ao fato de que as sementes cadas ao solo sobrevivem de um ano para
outro ou, s vezes, por mais de um ano, principalmente se essas apresentarem
dormncia, bastante comum em leguminosas, essencialmente nas espcies
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
37
forrageiras. Essas sementes, uma vez germinando e desenvolvendo-se em plantas
adultas, tornar-se-o plantas voluntrias (isto , no semeadas pelo homem),
polinizadoras ou ocasionadoras de contaminaes varietais. Por qualquer umdos
processos, h o comprometimento da pureza varietal e gentica da semente.
Outros problemas relacionados com a cultura anterior so os de doenas e
pragas, pois aquelas podem constituir-se atravs de seus restos de culturas em
fontes de inculo ou de hospedeiro, que iro trazer problemas para a cultura
posterior. Por outro lado, as plantas voluntrias surgidas podem ser as plantas
hospedeiras de microrganismos patognicos e, tambm, de insetos, dentre os
quais podem existir os vetores de doenas. Dependendo dos problemas ocorridos
na cultura anterior, o prprio solo pode tornar-se o veculo ou a fonte de inculo
das doenas. Um exemplo tpico desse caso o da cultura do amendoim, onde
culturas sucessivas ocasionam o comprometimento total do campo, por problema
de doenas, principalmente por causa da murcha de Sclerotium. No caso do
feijoeiro, o terreno no deve ter sido cultivado com a espcie ou com outras
leguminosas em geral, sendo prefervel que tenha sido ocupado com gramneas.
Outro exemplo o caso da murcha em batata, causada pela bactria
Pseudomonas solanacearum, que pode ficar no solo por vrios anos. Esses cuidados
visam, principalmente, evitar problemas fitossanitrios.
b) Espcies silvestres
O conhecimento das plantas daninhas predominantes no campo de
primordial importncia pois, alm de ser mais fcil produzir em reas livres da
concorrncia dessas, h o fato de que elas podem se enquadrar dentro daquelas
consideradas silvestres nocivas (Tabela 2). E, se entre as nocivas, ocorreram as
consideradas proibidas para a regio, o problema ser maior para se garantir o
sucesso do campo, caso se cultive em tal rea. Se, desde a fase de escolha e
instalao do campo para produo de sementes, houver condies de se
desprezar aquelas reas mais problemticas com ervas daninhas, principalmente
as consideradas nocivas, ter-se-o menores transtornos, seja para controle das
mesmas, seja para as inspees, colheita e posterior beneficiamento. Um
exemplo bem tpico o caso da presena de arroz vermelho e/ou preto em um
campo, o que o torna no indicado para instalao de um campo para produo
de sementes de arroz.
Para um melhor exame da ocorrncia de plantas daninhas e situao do
cultivo anterior, recomenda-se que o campo seja inspecionado antes que seja
lavrado.
c) Insetos
A presena de insetos necessita ser encarada sob dois aspectos: o positivo e o
negativo. O negativo, com os efeitos comumente abordados e conhecidos para as
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
38
culturas normais; portanto, locais favorveis presena de insetos necessitam ser
evitados.
O aspecto positivo, menos considerado, envolve a relao planta-inseto no
tocante polinizao. Em algumas espcies existe uma alta especializao na
relao envolvendo a planta e o inseto, onde o desenvolvimento da semente
torna-se praticamente impossvel sem a interveno de uma espcie particular de
inseto. A famlia da leguminosas a que apresenta espcies mais adaptadas para
polinizao por insetos, principalmente, por abelhas. Nessas espcies, a estrutura
da flor que garante essa especialidade, enquanto que, em outras famlias, as
flores so acessveis tambm a outros insetos, como por exemplo o algodoeiro, o
girassol, a alface, a cebola, a cenoura e as brssicas. As ordens de insetos
polinizadores que merecem destaque so: Coleoptera (besouros), Lepidoptera
(borboletas e mariposas), Diptera (moscas, mosquitos, etc.) e Hymenoptera
(vespas, abelhas e outros).
Tabela 2 - Espcies consideradas plantas nocivas na maioria das regies de cultivo.
Nome comum Nome cientfico
Alho silvestre Allium vineale
Angiquinho Aeschynomene rudis Benth
Arroz vermelho Oryza sativa L.
Arroz preto Oryza sativa L.
Capim anoni Eragrostis plana Ness
Canevo Echynochloa spp
Cuscuta Cuscuta spp
Feijo mido Vigna unguiculata (L.) Walp
Ipomoea Ipomoea spp
Nabo Raphanus raphanistrum L.
Polgono Poligonum spp
Rumex Rumex spp
Sida Sida spp
Sorgo de alepo Sorghum halepense (L.) Pers.
Tiririca Cyperus rotundus L.
A ordem Thisanoptera (trips) apresenta vrias formas que visitam as flores,
porm, a contribuio desses minsculos insetos pequena.
A quantidade de espcies de insetos que habitualmente visitam as flores
atinge a centenas de milhares e alguns milhares desses beneficiam as espcies
produtoras de sementes. Bohart & Koerber (1972) relacionaram 116 espcies de
plantas cultivadas nos Estados Unidos, distribudas em 26 famlias, que
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
39
necessitam ou so beneficiadas com a polinizao de insetos. Conhecida a
particularidade da cultura, em termos de polinizao por insetos, necessrio
que na escolha do campo seja levado em conta a presena de tais insetos. Um
exemplo tpico o de Bomus sp. (mamangava) que se caracteriza por ser
excelente polinizador de Crotalaria, porm a sua presena tem se tornado
restrita, resultando em srio problema na produo de sementes. O uso, s vezes
indiscriminado, de inseticidas, tem diminudo esses insetos teis em suas formas
selvagens, alm do fato de serem cada vez menos comuns, nas regies agrcolas,
locais preservados como habitat natural destes insetos.
6.3. Semeadura
a) poca de semeadura - H regies onde o perodo das chuvas bem
definido, podendo planejar-se para que a semeadura seja realizada de
forma que a colheita seja realizada em perodo de seca. Eliminando-se o
principal fator de deteriorao de campo, que a incidncia de chuvas
aps a maturidade das sementes, obtm-se assim, potencialmente,
sementes de alta qualidade.
Enfatiza-se que, muitas vezes, o melhor perodo para produo de sementes
de alta qualidade no coincide com o melhor perodo para alta produo de
gros. Dessa maneira, a poca de semeadura uma opo gerencial, levando em
considerao o custo/benefcio da qualidade, que varia entre as distintas espcies
de sementes.
Outro aspecto da poca de semeadura est relacionado fase reprodutiva, de
forma que esta no coincida com perodos de alta temperatura, que propiciaro o
desenvolvimento de sementes mal formadas, com reduzida qualidade fisiolgica.
b) Densidade de semeadura - Para produo de sementes certificadas,
utilizam-se sementes da classe registrada ou bsica, consideradas como de
maior qualidade gentica. aconselhvel que essas sementes tenham uma
alta taxa de multiplicao, ainda mais quando forem de novas variedades,
para que realmente sejam utilizadas pelos agricultores em larga escala.
Nessas condies, recomenda-se que se utilizem baixas densidades de
semeadura, propiciando que cada planta resultante produza mais
sementes. Com baixos estandes de campo h, dentro de certos limites,
uma compensao onde as plantas se desenvolvem mais ou emitem mais
perfilhos. Em suma, uma baixa densidade de semeadura proporcionar
uma maior taxa de multiplicao semente-semente.
Em soja a taxa normal de multiplicao semente-semente de 1:20, ou seja,
cada semente originar 20 sementes viveis para seremsemeadas na prxima safra.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
40
Exemplo de clculo de semeadura
Considerando uma populao de 300.000 plantas de soja/ha, demonstra-se, a
seguir, o clculo de quantas sementes devem ser distribudas por metro linear,
considerando o espao entre as linhas de 0,5m.
a) 1,0ha =10.000m
2
ou um quadrado de 100m x 100m
b) Assim, em 100m, tem-se:
100m/0,5m =200 linhas
c) Em 1,0ha teremos 200 linhas de 100m de comprimento
d) As sementes vo ser distribudas em 200 linhas x 100m =20.000m
e) Dessa maneira, o nmero de sementes por metro linear ser:
300.000 plantas/20.000 =15 sementes/m.
Essa densidade de semeadura seria para um lote de sementes com 100% de
germinao. Entretanto, em um lote de sementes com 80% de germinao, a
densidade ser: 15/0,8 =19 sementes/m linear.
c) Preparo do solo Uma boa emergncia essencial tanto para produo
de gros como para produo de sementes. Entretanto, mais importante
para produo de sementes, onde necessrio tambm que haja
uniformidade no estande e, neste sentido, o solo deve ser bem preparado
para que as sementes tenham a mesma profundidade de semeadura e
mesmo contato solo-semente, a fim de haver sincronismo na emergncia e
posterior florao, o que bastante importante no caso de soja. Campos
desuniformes de produo de sementes, alm dos problemas de produo,
dificultam as inspees de controle de qualidade e no so um bom carto
de visitas da empresa de sementes.
6.4. Adubao
Os solos frteis devem ser preferidos para multiplicao de sementes, pois
neles se obtm no s as maiores produes, bem como sementes de maior
qualidade. Os nutrientes, NPK (Nitrognio, Fsforo e Potssio), so necessrios
para formao e desenvolvimento de novos rgos e de materiais de reserva a
serem acumulados. Dessa maneira, a disponibilidade de nutrientes influi na boa
formao do embrio, do rgo de reserva e do tecido protetor, assim como na
sua composio qumica e, conseqentemente, em sua qualidade fisiolgica e
fsica.
Vrias foram as pesquisas realizadas relacionando adubao com qualidade
fisiolgica e fsica de sementes. Identifica-se uma estreita relao entre a
quantidade de nutrientes aplicados planta-me e sua posterior determinao na
semente. Entretanto, essa mesma tendncia muitas vezes no constatada em
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
41
relao qualidade das sementes pelos testes rotineiros de avaliao. Mesmo
assim, j se determinou efeitos positivos de fsforo para sementes de soja.
Salienta-se que solos ricos em clcio propiciam a formao de um melhor
tegumento em sementes de soja, as quais tornam-se mais resistentes aos danos
mecnicos.
Um dos efeitos da produo de sementes em solos pouco frteis a produo
de sementes de menor tamanho, o que, necessariamente, no quer dizer menor
qualidade. Entretanto, sabe-se que uma planta bem nutrida produzir uma
semente normal, que apresentar um bom desempenho mesmo sob condies
adversas.
A pesquisa j demonstrou que sementes de soja com mais contedo de
fsforo iro originar plantas que produziro mais, cujo acrscimo pode alcanar
10%
Outro elemente importante na produo de sementes, em termos
quantitativos, o microelemento boro que auxilia na reteno das flores em uma
planta de soja.
6.5. Manuteno da variedade
A manuteno das caractersticas prprias de uma variedade conseguida
atravs da produo de sementes genticas.
Em sementes de cereais e leguminosas, a "purificao da variedade" obtida
normalmente pelo sistema de produo planta por linha, espiga-pancula por
linha e planta ou espiga-pancula por cova. O procedimento consiste na seleo
de algumas centenas de plantas (conforme a necessidade) e semeadura de cada
unidade em uma linha. Apenas as linhas que estejam de acordo com as
caractersticas da variedade so colhidas. As sementes, ento, so juntadas para
incio do programa de multiplicao de sementes puras. Caso esse procedimento seja
adotado, essencial que centenas de linhas sejamproduzidas. Entretanto, emsituaes
emque uma linha apresente variaes e as mesmas no sejamdetectadas, possvel que a
porcentagemde plantas fora de tipo dentro da variedade, inclusive, aumente.
A pureza varietal tambm pode ser mantida semeando-se pequenas parcelas
todos os anos e retirando-se as plantas atpicas. Atravs desse procedimento, a
porcentagem de misturas de variedade decrescer ano a ano.
A produo de sementes genticas de soja pode ser ilustrada da seguinte forma:
a) so colhidas 200 plantas de uma determinada cultivar;
b) cada planta trilhada isoladamente fornecendo, emmdia, 120 sementes/ planta;
c) na poca apropriada de semeadura, as sementes de cada planta so
semeadas isoladamente em linha, totalizando 200 linhas;
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
42
d) considerando um descarte de 40 linhas devido a plantas e/ou linhas
atpicas, sero colhidas 160 linhas;
e) considerando que, das 120 sementes colocadas em linha no solo, originem
90 plantas/linha;
f) dessa forma, as 160 linhas x 90 plantas/linha totalizaro 14.400 plantas;
g) considerando 120 sementes/plantas x 14.400 plantas, ter-se- 1.728.000
sementes genticas e
h) considerando que 8 sementes pesam 1,0 grama, as 1.728.000 sementes
pesaro 216.000 gramas ou 216kg.
Dessa forma, a colheita de 200 plantas de uma determinada cultivar de soja
produzir, potencialmente, 216kg de semente gentica. Conforme a necessidade,
colhem-se mais ou menos plantas para a produo das mesmas.
Enfatiza-se que o custo de produo desses 216kg de semente gentica situa-
se ao redor US$ 2.200,00, isso considerando o envolvimento do fitomelhorista
para coleta e analise das plantas, pessoal de campo, tratos culturais, manejo, etc.
esse valor foi estimado como mnimo. Desta maneira o custo da semente ser
aproximadamente US$10,00/kg (2.200.216). Apesar de barata o valor absoluto
da semente gentica alto, assim a semente gentica multiplicada mais trs
vezes para diminuir o seu custo. Normalmente a semente certificada vendida ao
agricultor por menos de um dolar por kg.
Outro aspecto da necessidade do processo de manuteno de cultivares que
em geral as cultivares, quando so lanadas apresentam uniformidade para
umdeterminado ambiente, e quando esse ambiente muda alguns gens que
estavam sem se manisfestar, apresentam as sua caratersticas. Neste sentido
levou-se a cabo um estudo de trs anos em uma regio tropical, em que colhiam-
se plantas com um mesmo estadio de maturao e plantava-se para analisar a
populao resultante. Em todos os anos do estudo era possvel colher em uma
mesma poca quatro tipos de plantas, as verdes, as amareladas, as maduras e as
plantas j quase secas (Tabela 3).
Tabela 3 - Comportamento da maturao de plantas de soja provenientes de
sementes colhidas de dois estdios de maturao.
Material Material colhido - maturao (%) (F1)
semeado Adiantada Campo Fisiolgica Verde
MC 2,5 54,0 40,5 3,0
MF 1,00 40,5 53,5 5,0
MA =Maturao Adiantada; MC =Maturao de Campo: MF =Maturao Fisiolgica;
MV =Maturao Verde.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
43
Colhendo s as plantas maduras e plantando novamente (MF) observa-se que
a tendncia era que na poca de colheita havia mais plantas maduras, entretanto
sempre havia uma proporo de plantas emoutro estdio de maturao (Tabela 3).
Desta maeira fcil de entender a razo de se rejeitar ao redor de 20% de
plantas fora de tipo.
evidente que h outros farores no genticos que podemcausar desuniformidade na
maturao, entretanto por segurana, a eliminao de plantas fora de tipo ir trazer
benefcios para a pureza varietal e, comisso, potencializar odesempenho de uma cultivar.
6.6. Irrigao
A irrigao, empregada dentro das tcnicas modernas, temmostrado excelentes
resultados na produo para o consumo emgeral e de se esperar que, emse tratando de
produo de sementes, os retornos sejam maiores, considerando o nvel
tecnolgico do produtor. Outro fato que vem enfatizar a importncia da irrigao
para a produo de sementes a necessidade de clima compatvel com a
qualidade das sementes. O aconselhvel ter baixa umidade relativa do ar, baixa
precipitao pluvial e umperodo bemdefinido na fase de maturidade e colheita das
sementes. Tais condies so fundamentais na produo de hortalias, para aquelas
espcies de frutos secos e, mais especificamente, para as de sementes expostas, como
alface e cenoura. Como a produo feita na estao seca do ano, a irrigao torna-se,
nesse caso, imprescindvel. Situao semelhante ocorre como feijoeiro, pois o cultivado
no perodo da seca ou inverno, sob irrigao, apresenta-se commelhores condies que o
das guas, mais sujeito aproblemas fitossanitrios edealtas precipitaes nafasedecolheita.
Apesar das necessidades mximas, ou dos perodos crticos de dficit de
gua, variarem de acordo com as culturas, o suprimento ou as necessidades da
maioria das espcies para a produo de sementes podem ser assim especificados
em funo dos estdios de desenvolvimento da planta:
a) fase de estabelecimento da cultura e de crescimento vegetativo at o incio
de florescimento - gua em abundncia;
b) fase de florescimento - gua limitada;
c) fase de desenvolvimento da semente - gua em abundncia; isso para
assegurar o desenvolvimento do maior nmero possvel de sementes;
nesse estdio, a planta no pode sofrer nenhum processo de estresse;
d) final de maturidade da semente - sem gua.
Comrelao ao estresse hdrico, o momento emque o mesmo ocorre, bemcomo a
sua intensidade, pode afetar a produo de sementes e a sua qualidade. Emmilho, o efeito
maior por ocasio da emergncia do estilo-estigma, resultando emmenor produo,
maior proporo desementes menores, commenor velocidadedegerminao, isto , vigor.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
44
interessante considerar, entretanto, que os melhores nveis de umidade no solo para
produo de sementes emtermos de rendimentos no so, necessariamente, os mesmos
indicados como melhores para produo de sementes de qualidade.
O fornecimento da gua pode ser feito por vrios processos. Dentre esses, os
mais comuns para a maioria das culturas so os de sulcos de infiltrao e os de
asperso. O sistema de asperso, apesar de ser empregado na maioria das condies,
apresenta o inconveniente de afetar a polinizao e favorecer o surgimento de
doenas foliares, face ao microclima criado.
Nesse sentido, em campos para produo de sementes algamas (polinizao
cruzada), recomenda-se que a irrigao por asperso seja feita no perodo noturno, para
no interferir no trabalho polinizador das abelhas e no trazer distrbios ou diminuir os
seus efeitos na germinao do gro de plen e no crescimento do tubo polnico.
6.7. Isolamento
Os campos para produo de sementes de cada variedade ou hbrido devem
estar isolados ou separados, a fim de evitar contaminao gentica atravs da
polinizao cruzada e contaminao mecnica durante a colheita.
A melhor proteo contra a fertilizao por plen estranho a de umsuprimento
abundante de plen da prpria variedade na ocasio emque o estigma encontra-se
receptivo. Nessa situao, a chance de plen estranho vir a realizar a fecundao
pequena. Na prtica, todavia, isso necessita ser complementado pelo isolamento.
O primeiro aspecto que necessita ser considerado para o isolamento de uma
espcie a sua taxa de polinizao cruzada. Na Tabela 4 apresentada uma lista
de plantas autgamas e algamas. Deve-se considerar que muitas das espcies
enquadradas como autgamas podem apresentar uma taxa elevada de cruzamento.
o caso do algodo e sorgo, que podematingir taxas acima de 10% e, s vezes, at 50%.
O isolamento dos campos de produo de sementes pode ser realizado atravs de:
a) Espao - o procedimento mais comumente empregado e o mais efetivamente
controlado pelo produtor de sementes, pois controla a distncia do campo fonte
de contaminao de plen. Sabe-se que como aumento da distncia ocorre, de
incio, umdecrscimo rpido da porcentagemde contaminao, seguindo de
forma mais gradual, at que a partir de uma certa distncia existe somente uma
pequena vantagemnessa separao (Fig. 3). Almdesse aspecto, a distncia entre
as culturas a seremisoladas funo de: perodo de viabilidade do gro de plen,
distncia que o gro de plen pode alcanar, modo pelo qual o gro de
plen transportado (vento, insetos), nmero de gros de plen produzido
por unidade floral da variedade, classe de semente a ser produzida, e
combinao com outros mtodos de isolamento.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
45
Tabela 4 - Tipo de polinizao de algumas espcies.
Autgamas Nome cientfico
Alface
Algodo*
Amendoim
Arroz
Aveia
Cevada
Crotalaria
Ervilha
Feijo
Linho
Soja
Sorgo
Tomate
Trigo
Lactuca sativa
Hirsutum officinallis
Arachis hypogaea
Oryza sativa
Avena sativa
Hordeum vulgare
Crotalaria juncea
Pisum sativum
Phaseolus vulgaris
Linum usitatissimum
Glycine max
Sorghum bicolor
Lycopersicom lycopersicum
Triticum aestivum
Algamas Nome cientfico
Alfafa
Azevm
Beterraba
Cebola
Centeio
Cornicho
Girassol
Melancia
Milho
Repolho
Trevo branco
Medicago sativa
Lolium multiflorum
Beta vulgaris
Allium cepa
Secale cereale
Lotus corniculatus
Helianthus annus
Citrullus vulgaris
Zea mays
Brassica oleracea var. Capitata
Trifolium repens
*Freqentemente, mais de 10% de polinizao cruzada.
Em funo desses aspectos que so definidas as distncias mnimas de
isolamento (Tabela 5), sendo que, quanto mais alta a classe da semente, maior
ser o rigor em termos de isolamento. Assim, como exemplo, para a cebola (algama),
recomenda-se distncia mnima de 1.600mpara a classe de semente bsica, 800mpara a
registrada e 400mpara a certificada.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
46
Figura 3 Diminuio da contaminao de azevm em funo da distncia do
contaminante.
Tabela 5 - Isolamento mnimo para campos de produo de sementes, de acordo
comas normas de produo de sementes do Estado do RS - BRASIL.
Espcie Distncia (m)
Algodo
Arroz
Cevada
Colza
Feijo
Forrageiras algamas
Forrageiras autgamas
Linho
Soja
Sorgo
Trigo
Milho
100
3
3
400
20
500
10
3
3
200
3
200
30
20
10
0
100 200
Distncia da fonte ( m )
%
c
o
n
t
a
m
i
n
a
o
n
a
s
e
m
e
n
t
e
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
47
b) poca de semeadura - esse tipo de isolamento pode ser utilizado de
maneira que o florescimento de cada variedade (ou entre o campo e a
cultura comercial da espcie) ocorra em pocas diferentes. Para o caso do
milho, uma diferena de 25 dias o suficiente, desde que as emergncias
ocorram de forma uniforme e no haja diferena de ciclo entre as
cultivares consideradas.
c) Barreiras - a distncia mnima de isolamento pode ser reduzida, se forem
feitas semeaduras de bordaduras, que iro se constituir em barreiras
vegetais. Podem ser linhas de bordadura com a variedade ou com o
hbrido polinizador, sendo que o nmero mnimo de fileiras definido em
funo do tamanho da rea cultivada. O nmero inversamente
proporcional ao tamanho da rea e distncia entre o campo de produo e a
lavoura mais prxima da espcie.
Barreiras naturais, como elevaes do terreno, bosques, matos, assim como
barreiras formadas por plantas cultivadas, podem complementar o isolamento.
Dessa forma, a distncia mnima de isolamento recomendada para produo de
semente bsica e certificada de algodo , respectivamente, de 200 e 100 m. Se
for interposta uma cortina vegetal entre os campos, essa dever ser plantada com
o milho ou outra cultura que tenha, no mnimo, um tero de altura a mais que o
algodoeiro e toda a barreira deve ser da mesma espcie. Se isso for feito, a distncia passa
a ser 50 e 25 m, respectivamente, para as sementes bsicas e certificadas.
Como cuidados complementares, deve-se levar em considerao, ainda, a
direo e o sentido dos ventos predominantes no local, bem como a atividade dos
insetos, pois espcies autgamas com alguma polinizao de insetos, como
solanceas (berinjela, pimento) e malvceas (quiabo), necessitam um
isolamento semelhante ao das algamas, chegando a at 1500 m.
6.8. Descontaminao (depurao)
A descontaminao a limpeza total e sistemtica com a remoo de plantas
indesejveis de um campo para produo de sementes. um procedimento
utilizado quando existem no campo de sementes plantas polinizadoras
indesejveis e/ou plantas de ervas daninhas, evitando perda de sementes por
problemas de qualidade.
A descontaminao permite retirar:
a) plantas de espcies indesejveis que possam polinizar a espcie cultivada;
b) espcies indesejveis que produzam sementes em profuso e causem
contaminao mecnica na colheita;
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
48
c) plantas daninhas que so difceis de controlar pelas prticas culturais ou
herbicidas e que produzam sementes de difcil separao no
beneficiamento e
d) plantas doentes que possam ser fonte de contaminao para as culturas ou
reas de produo de sementes.
Objetivamente, a descontaminao precisa ser realizada antes que seja
comprometida a qualidade da semente.
Uma nova variedade lanada para uso pelo produtor, caso no existam
cuidados na manuteno de suas caractersticas genticas, em pouco tempo
perder sua integridade, uniformidade, caractersticas essas trabalhadas por um
longo perodo pelo melhorista que ali introduziu resistncia a doenas, a pragas,
precocidade e produtividade, entre outras caractersticas. Imagine, ento, a
permanncia de uma planta atpica nessa lavoura, produzindo 120 sementes que
se multiplicaro na gerao seguinte. Caso esta planta no seja eliminada, o que
resultar da "nova variedade"? Pense em 120 sementes x 50 plantas na gerao
seguinte e assim por diante, resultado de uma nica planta no erradicada. Logo,
a obrigatoriedade do produtor de sementes realizar a descontaminao est
exatamente a, na manuteno da pureza gentica, garantindo uma semente de
alta qualidade para o agricultor.
Para a descontaminao, deve-se selecionar e treinar pessoas para que estas
tenham a capacidade de distinguir plantas diferentes da cultivar que est sendo
produzida ou plantas indesejveis (nocivas proibidas ou toleradas). Equipes
pequenas so ideais, pois o trabalho requer muita ateno e quanto maior a
equipe de trabalho, mais difcil ser realiz-lo. O recomendado so equipes de
seis pessoas, ficando uma delas na superviso, caminhando, esta ltima, em
linha oblqua.
O trabalho comea em determinada parte da lavoura e a equipe deve chegar
at o final das linhas. Os operrios podem levar sacos para colocar o material
erradicado, chamado rogue, e lev-lo at o final das linhas de caminhamento,
jogando-os fora da lavoura. Cada operrio fica responsvel por seis linhas, ou
trs metros.
Os perodos de realizao da descontaminao mais importantes so:
a) Ps-emergncia assim que puderem ser identificadas as plntulas
(colorao do hipoctilo em soja). Entretanto, ser mais visvel a
identificao de plntulas voluntrias provenientes de cultivos anteriores,
remanescentes no solo. Outro aspecto que tambm pode ser observado o
tamanho, hbito de crescimento e plntulas fora das linhas.
b) Florao - consegue-se, geralmente nessa etapa, identificar diferenas
entre caractersticas agronmicas e morfolgicas. Na soja, a cor da flor,
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
49
ciclo da planta, forma de fololo, colorao das folhas, presena de
pubescncia.
d) Ps-florao - nesse perodo, o estigma no mais receptivo e a liberao
de plen cessou. A semente j est sendo formada, comeando o processo
lento, mas irreversvel, de senescncia das plantas, onde caractersticas de
semente e fruto podem ser observadas e comparadas.
e) Pr-colheita - a semente est formada e atingiu a maturidade fisiolgica,
as folhas comeam a cair e secar. Esse o perodo mais importante para a
descontaminao, para a maioria dos espcies, pois vrios tipos de plantas
indesejveis e misturas varietais podem ser identificadas facilmente.
7. FORMAO E DESENVOLVIMENTO DAS SEMENTES
Uma vez completada a fase vegetativa de uma planta, cujo perodo, em dias,
pode variar bastante dentro de uma mesma cultivar, inicia-se a fase reprodutiva,
cuja durao praticamente constante. Essa a razo de se ter pocas
recomendadas de semeadura, em funo de uma cultivar ser de maturidade
precoce ou tardia. Quando iniciada a fase reprodutiva da planta, esta
irreversvel e determina a perpetuao da espcie.
O desenvolvimento e a maturao das sementes so aspectos importantes a
serem considerados na tecnologia de produo de sementes, pois entre os fatores
que determinam a qualidade das sementes esto as condies de ambiente
predominantes na fase de florescimento/frutificao e a colheita na poca
adequada. Portanto, o conhecimento, de como se processa a maturao das
sementes e dos principais fatores envolvidos, de fundamental importncia para
a orientao dos produtores de sementes, auxiliando no controle de qualidade,
principalmente no que se refere ao planejamento e a definio da poca ideal de
colheita.
7.1. Fecundao
Antes de caracterizar a fecundao, importante comentar sobre a flor e seus
componentes (Fig. 4).
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
50
As flores completas, ou hermafroditas, possuem rgos masculinos, que so
os estames, com seus gros de plen, e o feminino, que o pistilo, com seus
vulos. A formao da semente comea com o processo de fecundao pela
unio dos gametas. Primeiramente, as anteras rompem-se ao alcanarem a
maturidade, liberando os gros de plen em direo ao estigma, onde germinam,
emitindo o tubo polnico que atravessa o canal do estilete e chega, finalmente,
at ao vulo (Fig. 4).
Figura 4 Diagrama de uma flor completa.
Atravs do tubo polnico, passam ao interior do vulo, pela micrpila, as
duas clulas espermticas do gro de plen. Uma delas funde-se com o ncleo da
oosfera (gameta feminino), dando lugar ao zigoto, a partir do qual surge o
embrio da semente; a outra clula espermtica do gameta masculino, funde-se
com o ncleo diplide do saco embrionrio (ncleos polares) e, dessa unio,
Estigma
Tubo
Polnico
Polinizao
Ptula
Micrpila
Integumentos
Ovrio
Filamento
Antera
Gro de Plen
Ovrio
Estilete
Estgma
Filamento
Antera
Pistilo
Estame
Pednculo
Receptculo
Finculo
Oosfra
Ncleos Polares
Ovrio
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
51
desenvolve-se o endosperma (no caso de soja o endosperma absorvido durante
a fase de enchimento da sementes). Esse processo denomina-se de dupla
fecundao, sendo tpico das angiospermas. Seguindo a dupla fertilizao,
somente depois de 32 horas (no caso de soja), ocorre a primeira diviso celular.
Outro importante resultado da investigaco e do conhecimento que somente
entre 50 ou 55 dias depois da florao que a semente chega maturidade.
A origem de cada parte da semente vem da flor que, no caso das sementes de
soja, pode ser ilustrada pelas seguintes partes:
Flor Semente
Oosfera
Ncleos polares
Micrfila
Funculo
Integumentos
Embrio (2n)
Endosperma (3n)
Micrpila
Hilo
Tegumento
Como pode ser observado, o embrio diplide, enquanto o endosperma
triplide, provindo o tegumento de uma semente inteiramente da planta-me.
Este conhecimento utilizado emprogramas de melhoramento.
No perodo de polinizao os estames esto elevados em uma posio tal que
as anteras formam um anel ao redor do estigma (no caso de soja). O plen
liberado na direo do estigma, resultando assim em uma alta percentagem de
fertilizao. O cruzamento natural varia de 0,5% at 1%. A polinizao, em
geral, ocorre antes da total abertura da flor. O tempo necessrio para polinizao at a
fertilizao varia de 8 a 10 horas.
7.2. Maturidade
Aps a fecundao, ou dupla fertilizao, o vulo sofre uma srie de
modificaes, tanto em suas funes e forma como em sua fisiologia, originando
a semente que, em seu estdio final de desenvolvimento, atinge o seu maior
tamanho e maior peso seco. Nesse ponto de mximas as sementes atingem
mxima germinao e vigor (Fig. 5).
A soma de todos os atributos, tais como peso (matria seca), tamanho,
germinao, vigor e mais as variaes ocorridas em termos de protena, lipdios e
carboidratos, alm de mecanismos de autoproteo, como o aparecimento de
inibidores no momento da MF, so fatos marcantes da formao completa da
semente.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
52
Figura 5 Tendncia geral da maturao de sementes de soja.
Em resumo, tem-se que aps a fertilizao, o tamanho da semente aumenta
rapidamente, atingindo o mximo em curto perodo de tempo em relao
durao total do perodo de maturao. Este rpido crescimento devido
multiplicao e ao desenvolvimento das clulas do embrio e do tecido de
reserva. Aps atingir o mximo, o tamanho vai diminuindo devido perda de
gua pelas sementes.
Paralelamente, os produtos formados nas folhas, pela fotossntese, so
encaminhados para a semente em formao, onde so transformados e
aproveitados para a formao de novas clulas, tecidos e como futuro material de
reserva. Na realidade, o que denominamos matria seca da semente so as
protenas, acares, lipdios e outras substncias que so acumuladas nas
sementes durante o seu desenvolvimento. Logo aps a fertilizao, o acmulo de
Maturao de sementes de soja
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Dias aps a antese
%
Umidade
Germinao
Vigor
-------------------------------------------------------
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Ma
t
.
F
i
s
i
o
l
g
i
c
a
M
a
t
u
r
i
d
a
d
e
C
a
m
p
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
53
matria seca se processa de maneira lenta, pois as divises celulares
predominam, ou seja, est ocorrendo um aumento expressivo no nmero de
clulas. Em seguida, verifica-se um aumento contnuo e rpido na matria seca
acompanhado por um aumento na germinao e no vigor, at atingir o mximo.
Desse modo, pode-se afirmar que, em geral, a semente deve atingir a sua mxima
qualidade fisiolgica quando o contedo de matria seca for mximo.
importante observar que durante esta fase de intenso acmulo de matria
seca, o teor de gua da semente permanece alto, visto ser a gua o veculo
responsvel pela translocao do material fotossintetizado da planta para a
semente. Portanto, durante esta fase primordial que haja adequada
disponibilidade de gua e de nutrientes no solo para que o enchimento das
sementes seja satisfatrio.
Muitos estudos feitos com maturao de sementes de diversas espcies
apontam o ponto de mximo contedo de matria seca como o melhor e mais
seguro indicativo de que as sementes atingiram a maturidade fisiolgica. Assim,
a maturidade fisiolgica fica caracterizada como aquele ponto aps o qual a
semente no recebe mais nutrientes da planta me, cessando a conexo planta-
semente. A partir da, a semente permanece ligada planta apenas fisicamente.
preciso ressaltar os cuidados com a semente neste ponto, visto que o contedo de
reservas mximo e o grau de umidade ainda muito alto (Tabela 6).
Tabela 6 Grau de umidade de algumas sementes no ponto de maturidade fisiolgica.
Semente Umidade (%)
Soja 50
Milho 35
Arroz 32
Azevm 35
Sorgo 30
Trigo 30
Feijo 45
Algodo 50
Para minimizar este problema, a planta aciona mecanismos para promover
rpida reduo no teor de gua das sementes. nesta fase que plantas de soja
comeam a amarelecer, iniciando o processo de secagem no campo. Esta
secagem natural uma estratgia importante para a sobrevivncia, j que
medida em que perde gua, as reaes metablicas da semente vo diminuindo,
de modo a evitar a sua germinao ainda no fruto, a preservar as reservas
acumuladas e, conseqentemente, a sua qualidade.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
54
Assim, a partir da maturidade fisiolgica, o teor de gua decresce
rapidamente at um ponto em que comea a oscilar de acordo com a umidade
relativa do ar, o que indica que a partir da a planta me no exerce mais
influncia sobre a umidade das sementes. No entanto, importante que as
condies de ambiente permitam esta rpida desidratao das sementes. A
ocorrncia de chuvas prolongadas e alta umidade relativa do ar nesta ocasio
retardaro o processo de secagem natural, comprometendo a qualidade das
sementes, que estaro sujeitas deteriorao no campo. Sementes de soja, que
apresentam 50-55% de umidade na maturidade fisiolgica, em condies
ambientais favorveis, tero seu teor de gua reduzido para 15-18% em duas
semanas. No caso de sementes de milho em espiga, o tempo para reduzir a
umidade de 35 (MF) para 13-18% entre 30 a 45 dias.
importante ressaltar que, em condies de campo, a evoluo de cada uma
destas caractersticas no fcil de ser monitorada e a fixao de uma data ou
poca para a ocorrncia da maturidade fisiolgica em funo de eventos como
semeadura, florescimento e frutificao pode apresentar diferenas para uma
mesma espcie e cultivar em funo das condies de clima, estado nutricional
das plantas, dentre outros fatores. Portanto, torna-se interessante conhecer outros
parmetros que permitam detectar a maturidade fisiolgica, correlacionando-a
com caractersticas morfolgicas da planta, dos frutos e/ou sementes.
Em soja, a maturidade fisiolgica pode ser caracterizada por: incio da
reduo do tamanho das sementes, ausncia de sementes verde-amareladas e hilo
no apresentando mais a mesma colorao do tegumento. No caso de sementes
de milho, aparece a ponta negra.
O reconhecimento prtico da maturidade fisiolgica tem grande importncia,
pois caracteriza o momento em que a semente deixa de receber nutrientes da
planta, passando a sofrer influncia do ambiente. Inicia-se ento um perodo de
armazenamento no campo, que pode comprometer a qualidade da semente, j ela
que fica exposta s intempries, o que se torna especialmente grave em regies
onde o final da maturao coincide com perodos chuvosos.
Pelo exposto, conclui-se ento que o ponto de maturidade fisiolgica seria,
teoricamente, o mais indicado para a colheita, pois representa o momento em que
a qualidade da semente mxima. Evidentemente, a colheita das sementes nesta
fase se torna difcil, uma vez que a planta ainda apresenta grande quantidade de
ramos e folhas verdes, o que dificultaria a colheita mecnica. Alm disso, o alto
teor de gua ocasionaria danos mecnicos e haveria ainda a necessidade de
utilizao de um mtodo rpido e eficiente de secagem, que na prtica nem
sempre possvel.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
55
Aps todas essas consideraes, fica claro que conhecer e entender o
processo de desenvolvimento/maturao das sementes bem como as principais
mudanas que ocorrem desde a sua formao at a maturidade fisiolgica se
constitui em importante suporte para que os problemas tpicos desta fase da vida
da semente possam ser contornados e as sementes colhidas apresentem elevado
padro de qualidade.
8. PRODUO DE SEMENTES DE SOJA
No campo, as sementes esto sujeitas a diversos fatores, que podero
prejudicar seriamente a qualidade. Tais fatores abarcam extremos de temperatura
durante a maturao, flutuaes da umidade ambiental, incluindo secas,
deficincias na nutrio das plantas, presena de insetos, alm de adoo de
tcnicas inadequadas de colheita. Diversos patgenos de campo podem tambm
afetar a qualidade das sementes de soja. Phomopsis sp, Colletotrichum
truncatum, causador de antracnose, Cercospora kikuchii, causador da mancha
prpura e Fusarium spp. So alguns dos patgenos mais freqentemente
associados com as sementes de soja.
Existe um ditado popular de amplo conhecimento nos meios sementeiros, que
deve ser recordado porque sempre ter validade: a semente feita no campo.
Isto significa que a qualidade das sementes estabelecida durante a etapa de
produo no campo, sendo que as demais etapas, como por exemplo a secagem,
o processamento e o armazenamento, podero somente manter a qualidade. A
seguir, sero abordados os principais fatores que podem afetar a qualidade das
sementes de soja no campo e as possveis alternativas que podem ser adotadas
para superar tais limitaes.
8.1. Deteriorao no campo
A deteriorao no campo, tambm conhecida como deteriorao por
umidade, a fase do processo de deteriorao que ocorre depois do ponto de
maturao fisiolgica, e antes que as sementes sejam colhidas. um dos fatores
que mais afeta a qualidade das sementes de soja, principalmente nas regies
tropicais e subtropicais.
As sementes de soja, normalmente, tm no ponto de maturao fisiolgica a
mais alta viabilidade e o mximo vigor. O intervalo entre a maturao fisiolgica
e a colheita, que normalmente de duas semanas, caracterizado como um
perodo de armazenamento e, raramente, as condies climticas no campo so
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
56
favorveis para a conservao da qualidade das sementes, especialmente em
regies tropicaies. A exposio de sementes de soja a ciclos alternados de alta e
baixa umidade antes da colheita, devido ocorrncia de chuvas freqentes, ou s
flutuaes dirias de umidade relativa do ar, resultam na deteriorao por
umidade. Esta ser todavia mais intensa se tais condies estiverem associadas
com temperaturas elevadas, comuns em regies tropicais. A presena de rugas
nos cotildones, na regio oposta ao hilo, um sintoma tpico da deteriorao
por umidade.
Alm das conseqncias diretas na qualidade das sementes, a deteriorao
por umidade pode resultar em um ndice maior de danos mecnicos na colheita,
j que as sementes deterioradas so extremamente vulnerveis aos impactos
mecnicos. A deteriorao a campo pode ser intensificada pela interao com
alguns fungos, como Phomopsis spp. e Colletotrichum truncatum, que, ao
infectar as sementes, podem reduzir o vigor e a germinao. Diversas prticas
podem ser utilizadas para minimizar as conseqncias da deteriorao da
semente no campo, as quais sero abordadas a seguir:
8.2. Momento de colheita
As sementes devem ser colhidas no momento adequado, evitando-se qualquer
atraso na colheita. As sementes so normalmente colhidas quando, pela primeira
vez, o grau de umidade se encontra abaixo de 18%, durante o processo natural de
secagem no campo.
Esta operao requer que o produtor de sementes tenha amplos
conhecimentos de regulagem do sistema de trilha, evitando a produo de
elevados ndices de danos mecnicos. Alm disso, dever estar disponvel uma
estrutura adequada de secadores, para que o grau de umidade das sementes seja
reduzido a nveis adequados, sem que ocorra reduo na germinao e vigor.
8.3. Seleo de regies e pocas mais propcias para produo de sementes
A seleo de reas mais apropiadas para a produo de sementes de soja de
alta qualidade requer estudos de investigao apropriados, especialmente em
regies tropicais. A produo de sementes de alta qualidade requer que as fases
de maturao e de colheita ocorram em condies climticas secas, associadas
com temperaturas amenas. Tais condies no so facilmente encontradas em
regies tropicais, porm podem encontrar-se em regies com altitude superior a
700 m, ou com o ajuste da poca de semeadura para a produo de sementes.
Para cada 160 m de elevao em altitude, ocorre, em mdia, uma reduo de 1C
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
57
na temperatura. Como regra geral, a maturao e a colheita da semente de soja
devem ocorrer mais ou menos a 22C de temperatura.
Em regies tropicais e subtropicais, existem diferentes pocas de semeadura
para a produo de gros e para a produo de sementes. Para a produo de
gros, a poca de semeadura deve ser ajustada de modo que possa obter-se
produtividades mximas. Entretanto, para a produo de sementes, o fator
qualidade tem prioridade sobre o fator produtividade. Muitas vezes, altas
produtividades so sacrificadas em favor da obteno de sementes de melhor
qualidade. A poca de semeadura deve ser ajustada para que a maturao das
sementes ocorra em condies de temperaturas amenas associadas com menores
ndices de precipitao. Se pode selecionar a poca de semeadura que propicie
menores ndices de deteriorao por umidade nas sementes, atravs da
comparao do ciclo das cultivares de soja utilizadas, observando-se
especficamente a poca de ocorrncia da maturao e colheita com os padres
de chuvas de uma determinada regio.
8.4. Aplicao de fungicidas foliares
No Brasil, a aplicao de fungicidas foliares recomendada para o controle
de algumas enfermidades que aparecem ao final do ciclo (mancha parda, causada
por Septoria glycines) e para o controle de odio, causado por Microsphaera
diffusa. Alm de permitir o control de tais enfermidades, a utilizao de
fungicidas foliares, conforme recomendado, pode propiciar melhores
rendimentos e alta qualidade de sementes. Entretanto, se deve mencionar que um
dos melhores mtodos para o controle de patgenos transmitidos por sementes
o uso de cultivares resistentes. A criao e utilizao de cultivares resistentes s
principais enfermidades resultar em uma menor necessidade de aplicao de
fungicidas foliares, propiciando uma menor poluio ambiental e economia aos
produtores de soja.
8.5. Estresse ocasionado por seca e alta temperatura durante o enchimento
de gros
A ocorrncia de altas temperaturas associadas com baixa disponibilidade
hdrica durante a fase de enchimento de gros pode resultar em redues na
produtividade como tambm na germinao e no vigor das sementes. As
sementes de soja submetidas a estresse de alta temperatura e seca podem ser
pequenas e menos densas, imaturas ou verdes, enrugadas ou deformadas. A
intensidade de tais sintomas dependente do nvel de ocorrncia dessas
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
58
condies, como tambm da cultivar que est sendo utilizada.
No caso de um curto perodo de seca, associado com alta temperatura, que
ocorra durante a fase do enchimento de gros, as sementes produzidas sero
menores e a reduo da germinao nem sempre ser constatada, porm, a
reduo no vigor ser evidente. Um estresse severo de altas temperaturas
(>30
o
C) associado com dficits hdrico coincidindo com a fase de enchimento
dos gros, poder ocorrer interrupo do desenvolvimento das sementes, o que
resultar na produo de sementes mais leves e enrugadas. Lotes com elevadas
percentagens de sementes enrugadas no devem ser utilizados para a semeadura,
pois sua qualidade j estar comprometida.
8.6. Danos causados por insetos
Outro tipo de dano que vem causando srios prejuzos indstria de
sementes o que resulta da incidncia de insetos. As espcies mais
freqentemente encontradas no campo so Nezara viridula, Piezodorus guildini
y Euschistus heros. Quando os insetos se alimentam das sementes de soja, eles
inoculam a levadura Nematospora coryli. A colonizao dos tecidos das
sementes por essa levadura causa srias necroses, resultando em perdas de
germinao e de vigor. As sementes picadas podem apresentar manchas tpicas,
podendo ser deformadas e enrugadas.
O controle dos insetos nos campos de produo de sementes deve ser
realizado com muita ateno. A presena desse inseto deve ser constantemente
monitorada. Os danos causados por tais insetos s sementes de soja so
irreversveis. Nos campos de produo de sementes, caso a incidncia seja
superior a 0,5%, recomendvel fazer o controle. normal nos campos de
produo de sementes, em regies tropicais, que se faa mais de uma aplicao
de inseticida para controle de inseto.
9. PRODUO DE SEMENTES DE MILHO HBRIDO
Pode-se dividir os hbridos de milho em simples, triplos e duplos. Os hbridos
simples so o resultado do cruzamento de duas linhas puras, os hbridos triplos
resultam do cruzamento de um hbrido simples e uma linha pura, enquanto o
duplo o resultado do cruzamento de dois hbridos duplos.
Em termos de produo de sementes de cada um dos hbridos, h algumas
peculiaridades que merecem ser destacadas. Como a linha pura produz pouca
semente (1,2 t/ha) a produo de milho hbrido simples mais difcil, enquanto
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
59
a obteno de hbridos duplos a mais fcil, pois na sua formao envolve
hbrido simples os que potencialmente possuem as maiores produtividades.
Sementes de milho hbrido simples custam mais, principalmente por duas razes:
primeiro por produzirem mais gros em condies de alta tecnologia e a segunda
por se obter menos sementes por rea.
- Semeadura
A razo de semeadura para produo de sementes vai depender da
capacidade de polinizao do macho; entretanto, em geral, semeiam-se seis
linhas da fmea e duas do macho. Isto significa, neste caso, que 25% da rea no
ser utilizada para semente (referente a proporo do macho).
essencial que haja sincronismo na maturao da flor feminina (boneca)
com do macho (pendo) e para isso muitas vezes necessrio que um dos pais
seja semeado mais tarde. Estima-se o tempo necessrio em funo dos graus dias
necessrios para florescer.
Ainda sobre semeadura, deve-se marcar as linhas do macho com algum
mecanismo (colocar junto semente de uma outra cultura) para que no momento
do despendoamento saber em que linhas atuar.
- Despendoamento
Atualmente utiliza-se despendoar (retirar o pendo) a fmea para possibilitar
a polinizao cruzada e assim colher essas linhas para semente que sero F1.
O despendoamento uma tarefa difcil que consiste em retirar o pendo antes
que esteja liberando plen sem danificar muito planta (quanto mais folhas saem
junto com o pendo menos a produo de sementes). Como a emisso do
pendo distribui-se no tempo comum entrar-se na lavoura 3 a 4 vezes para o
despendoamento. Costuma-se, para cada 4 pessoas que despendoam, ter uma
para supervisionar. Estima-se que sejam necessrias 90 horas de trabalhos para
despendoar um ha. Campos para produo de sementes que apresentarem mais
de um por cento de seus pendes liberando plen devem ser rejeitados.
O despendoamento crtico e muitas vezes coincide com perodos chuvosos,
requerendo do pessoal de campo muito boa vontade para trabalhar sob a chuva.
Uma vez o pendo apontando entre as folhas, tem-se 48 horas para remov-lo.
- Colheita
Comea-se pelas linhas do macho para minimizar os problemas de mistura.
Algumas empresas cortam as linhas do macho assim que o perodo de
polinizao passou. Mesmo com todas precaues, aconselhvel realizar a
seleo das espigas no momento da colheita. Em geral, h diferenas
morfolgicas entre as espigas do macho e da fmea. Uma das razes para a
colheita das sementes em espiga a possibilidade de realizar-se a seleo das
mesmas. A outra devido a qualidade fisiolgica, pois as sementes de milho
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
60
alcanam o ponto de maturidade fisiolgica com 35% de umidade, percentual
esse que praticamente impossibilita o degrane das sementes.
A origem das sementes
Ser utilizado como exemplo, a necessidade de produo de 1000t de um
determinado hbrido triplo. Para isso h necessidade de ter-se para multiplicao
4t de sementes do hbrido simples e 1,34t de sementes da linha pura que servir
como macho. Para produzir essas sementes h necessidade de cultivar 3,33ha da
linha pura fmea e 1,11ha da linha pura macho para formao do hbrido simples
e 1,07ha para multiplicao da linha pura que servir como macho na formao
do hbrido triplo (Tabela 7).
Tabela 7 Necessidade de sementes e rea em diferentes estdios de um
programa de produo de sementes de milho hbrido simples.
VARIVEL HBRIDO TRIPLO
Material progenitor Hbrido Simples +
Linha Pura
Quantidade de sementes a ser
produzida
1000t
rea necessria na proporo de 3:1
(considerando produo de 5/ha)
200ha do hbrido simples
67ha da linha pura
Material para semeadura
(considerando 20kg/ha)
4,0t do hbrido
1,34t linha pura
rea necessria
(considerando produo
de 1,2/ha da L.P)
3,33ha da linha fmea
1,11ha da linha do macho
1,07ha multiplicaao (L.P)
Semente necessria
(considerando 2,0kg/ha)
67kg feminina (L.P.)
22kg masculina (L.P.)
20kg (L.P.)
Nmero de plantas necessrias
(considerando 50g/planta)
1340 feminina (L.P.)
440 masculina (L.P.)
400 multiplicao (L.P.)
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
61
10. DEMANDA DE SEMENTE
Em uma empresa de sementes como em qualquer outra empresa agrcola, tem
que produzir um produto, que neste caso bem especial. Alm de trabalhar sob
diferentes condies climticas, enfermidades e pragas, deve obter sementes de
alta qualidade, e muitas vezes fazer as multiplicaes fora da poca de
semeadura, para atender a clientela, pois um cliente mal atendido resulta difcil
sua recuperao.
A produo de sementes envolve a utilizao de alta tecnologia e grandes
inverses, por isso minimizar os riscos essencial. As empresas necessitam
atender ao cliente, entretanto, a produo de grandes volumes resulta difcil, pois
a semente um organismo vivo, pelo que, guard-la de um ciclo para outro
requer condies especiais de armazenamento, elevando os custos de produo.
Devido ao fato de que as margens de lucro em sementes so pequenas, um
incremento extra da produo de 10% significa uma reduo de lucros. Por outro
lado, em algumas ocasies, em que a quantidade de sementes bem estimada,
pode ser que no seja com as variedades que o agricultor est requerendo. Nestes
casos, se apresentar, simultaneamente, excesso e a falta de semente. Contar com
a quantidade precisa de sementes para atender o mercado a chave do negcio.
10.1.Distribuio do risco
O agricultor, com sua sabedoria, minimiza parte de seus riscos, distribuindo
seu cultivo no tempo, ou seja, utiliza, quando possvel, variedades ou hbridos
de ciclo precoce, mdio ou tardio. E dentro de cada ciclo, o agricultor utiliza o
procedimento de seleo de hbridos e/ou variedades; assim, qualquer anomalia
no tempo no afetar a todos da mesma forma. H materiais que resistem mais
que outros s condies adversas.
O agricultor quase no realiza a distribuio no espao, devido ao tamanho
de sua propriedade. Entretanto, o produtor de sementes o faz, pois consegue
utilizar cooperantes bem distribudos em uma ou mais regies. A separao em
alguns quilmetros entre as propriedades dos agricultores cooperantes propiciar
que no caso de alguma adversidade, a mesma no afete a todos com a mesma
intensidade. Resulta comum que chova em uma propriedade e em outra que est
relativamente perto no. bom enfatizar que, por razes de logstica, no
aconselhvel que o agricultor cooperante do produtor de sementes no esteja
muito distante da sede da empresa. As sementes quando so colhidas midas, em
muitas ocasies, devem ser secadas o mais cedo possvel. A distncia do
agricultor cooperante tambm influi facilitando os trabalhos de inspeo tanto
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
62
dos campos de produo como no momento da colheita. Desta maneira, se
minimizam os riscos das condies climticas, porm se perde um pouco o
controle da produo.
Entretanto, h empresas que por princpio no utilizam agricultores
cooperantes para produzir semente, pois consideram que perdem no controle de
qualidade, pela dificuldade operacional, assim como pela falta de multiplicadores
de sementes com a sensibilidade de produzir algo especial. As empresas que no
utilizam agricultores cooperantes sabem que concentrando a produo em um s
local correm maior risco de perder parte da produo, o que evidencia que o
risco deve ser controlado, porm o problema vem quando o risco no
considerado ou no se tem idia de que imprevistos podem se apresentar.
10.2. Produo fora de poca
Ter um mercado e no poder atend-lo implica em risco ou at no perigo de
perd-lo, pois o agricultor no ir esmorecer sem semear suas terras, buscar
materiais de qualidade. Para evitar isso, as empresas acostumam produzir suas
sementes fora de poca ou da localidade tradicional de produo. Quando algo
anormal sucede, que afete a produo, os efeitos so sentidos no somente no
ano de sua produo, devido a que a produo planificada com dois ou trs
anos de anticipao, envolvendo a produo de sementes bsicas e/ou linhas
puras e outros materiais progenitores.
Em uma empresa de sementes extistem, entre outros, o pessoal de produo e
o da rea comercial, tendo logsticas em fins e tempos muito distintas. comum
que o pessoal da rea comercial solicite certa quantidade de toneladas de uma
variedade e o pessoal de produo no disponha dela. Neste caso, a capacidade
de produo de sementes fora de poca adquire relevncia.
10.3. Controle de qualidade
Como o consumidor atual cada vez mais exigente e est bem informado,
contando por sua vez com leis que protegem seus direitos, o produtor de
sementes necessita contar com um programa de controle de qualidade. Com o
avano da tecnologia, os protocolos de avaliao so cada vez mais precisos e
rigorosos, ainda que, apesar de minimizar-se a possibilidade de colocar um
produto de baixa qualidade no mercado, esse processo somente agrega valor de
custo semente, pois o agricultor no percebe as bondades.
No processo de produo, onde vrias toneladas de sementes se produzem,
praticamente impossvel obter que todos os lotes de sementes estejamdentro dos
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
63
padres de qualidade estabelecidos. O assunto assegurar-se que os lotes com
problemas no cheguem ao mercado, para o qual programas de qualidade so
adotados, para conhecer os antecedentes de cada lote produzido. Esse procedimento
assegura a qualidade de semente colocada no mercado, e emcaso de que ocorra
alguma emergncia, como uma mistura varietal ou contaminao, o produtor de
sementes saber a razo. Os produtores de semente que esto adotando o padro de
qualidade ISO 9000, praticamente no recebemreclamaes de sua semente.
Atualmente, o comrcio est trabalhando com trs tipos de produtos:
convencional, geneticamente modificado e orgnico, sendo essencial que cada
lote do produto seja rastreado e, para isso, os programas de qualidade, formais ou
no, devem ser adotados.
10.4. Comentrio final
Para minimizar os riscos comerciais e de produo, o produtor de sementes
faz inverses, utiliza alta tecnologia, contrata pessoal qualificado, agregando
assim custos a sua semente. Alm disso, h ocasies em que se apresenta a
competio desleal, dos que comercializam a semente pirata, pois sempre
possvel oferecer um produto mais barato, baixando sua qualidade.
importante assinalar a relevante funo que desempenha o produtor de
semente na cadeia de agronegcios e no caso de que o sistema no esteja
organizado e protegido por leis, todos sofrero as conseqncias, em especial o
produtor de sementes, pela quantidade de riscos que tm que correr.
O uso de sementes de alta qualidade uma inverso e deve ser analisada
como tal.
11. COLHEITA
A colheita, para a maioria das espcies cultivadas, consta basicamente de
quatro operaes:
a) Corte da planta comsuas sementes;
b) Trilha - debulha das sementes;
c) Separao das sementes da palha da planta atravs do batedor e saca-palhas;
d) Limpeza - remoo grosseira de material bem mais leve e maior que a
semente, atravs de um ventilador e peneiras.
Essas operaes podem ser realizadas de forma manual ou mecanizada,
separadamente ou de forma mista, ou seja, corte manual e trilha mecanizada e
vice-versa. A escolha do mtodo para cada situao vai depender da espcie, da
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
64
rea, das condies locais, da tecnologia existente, das mquinas e da
economicidade do processo.
Para determinadas espcies, o corte ou arrancamento das plantas
(inflorescncia ou fruto) processado, manual ou mecanicamente, logo aps a
MF, necessitando-se a seguir de um perodo de secagem (no campo, no terreiro
ou na UBS), para se processar a trilha quando for atingido o grau adequado de
umidade das sementes para tal operao. Esse procedimento o usado para
culturas como o amendoim, o feijoeiro, em hortalias (alface, couve-flor,
mostarda, rabanete, repolho, feijo-vagem, ervilha, cebola, beterraba, cenoura,
salsa), em forrageiras (leguminosas e algumas gramneas). Emalgumas espcies, a
simples secagem suficiente para que se processe naturalmente a trilha ou extrao
da semente, por haver a deiscncia do fruto e/ou degrane da semente, tal como ocorre
para o eucalipto e o pinus.
Em outras, todo o processo pode ser realizado de forma contnua, com o
emprego das colheitadeiras combinadas que realizam as quatro operaes. Nesse
caso, h necessidade de se determinar para cada espcie o momento adequado,
afimde se ter o mximo rendimento da mquina e mnimas perdas quantitativas e
qualitativas das sementes. Essas mquinas so empregadas na colheita de culturas de
cereais (arroz, milho, trigo, sorgo, etc.), de leguminosas (soja, ervilha),
oleaginosas (linho, girassol) e de forrageiras. Todavia, mesmo para essas culturas
citadas, emfuno da rea de cultivo, todo o processo, ou parte dele, pode ser manual.
A colheita de sementes de forrageiras utiliza, alm dos mtodos empregados
normalmente para as demais culturas, tambm outros, como:
a) o da catao manual das vagens ou capulhos maduros, em diversas
ocasies durante o ciclo reprodutivo;
b) o do corte dos colmos, ou inflorescncias, de forma manual ou mecanizada,
seguindo-se de formao de montes (horizontal ou vertical) cobertos com as
prprias folhas, para ocorrer a "cura" ou "esquentamento" e, para 3 a 5 dias
aps, processar-se a batedura (trilha) e
c) o processo de colher, ou recolher, as sementes do solo.
O processo de colher ou recolher as sementes do solo pode ser manual ou
mecanizado. No manual, denominado varredura, realiza-se o corte, rente ao solo,
e remoo das plantas, por ocasio da queda total das sementes. A seguir, a
superfcie do solo varrida e o material acumulado, composto de partculas de
solo, restos de plantas, sementes puras, glumas vazias, etc., ensacado, podendo
ser utilizado ou comercializado tal como est, a exemplo do que tem sido feito
no Brasil com capim jaragu (Hyparrhenia rufa) e capim gordura (Melinis
minutiflora), ou ser beneficiado, como tem sido feito para Brachiaria
decumbens. No processo de colheita mecanizada so empregadas mquinas,
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
65
como succionadores pneumticos tracionados por trator, para aspirar todo
material (sementes, impurezas, etc.) da superfcie do solo. As sementes colhidas
por esses processos apresentam-se com baixa pureza fsica, apesar de alta
produtividade e obteno de sementes com alto potencial de geminao, por
essas estarem ou terem completado sua maturidade antes de carem ao solo. A
baixa pureza fsica, que pode dificultar o beneficiamento ou at mesmo
inviabiliz-lo, alia-se o fato de os lotes poderemapresentar alta contaminao por
sementes de plantas daninhas e de outras espcies ou cultivares, se esses
provieremde reas que no receberamos cuidados especficos para a produo de
sementes.
11.1. A colheitadeira
A primeira colheitadeira combinada foi construda em 1834 e o desempenho
do modelo utilizado representou tal avano em eficincia de colheita, que
contribuiu para a manuteno de quase todas as suas caractersticas de origemnas
colhedoras atuais (Fig. 6).
Uma colheitadeira automotriz convencional constituda basicamente dos
seguintes sistemas (Fig. 6): 1) corte, recolhimento e alimentao; 2) trilha; 3)
separao; e 4) limpeza.
O sistema de corte, recolhimento e alimentao possui os seguintes
componentes e respectivas funes: barra de corte - tem a funo de realizar o
corte das hastes das plantas. constituda de navalhas, contra-navalhas, dedos
duplos, rgua e placas de desgaste; molinete - tem a funo de tombar sobre a
plataforma as plantas cortadas pela barra de corte. constitudo de suportes
laterais, eixo central, travesses e pentes recolhedores e necessita de velocidade e
posicionamento adequados; caracol - um cilindro co situado na plataforma
logo aps a barra de corte, tendo na sua superfcie e a partir das extremidades,
lminas helicoidais que trazem para o centro da plataforma todo o material
cortado pela barra de corte e que cai sobre a plataforma. Na parte central, o
caracol possui uma srie de dedos retrteis os quais ficam totalmente expostos na
parte da frente do caracol, transferindo o material amontoado pelos helicides
para a esteira alimentadora; esteira alimentadora - um mecanismo constitudo
de duas transmisses por correntes paralelas, unidas por travessas que preenchem
totalmente o espao, tambm conhecido por garganta, que une a plataforma de
corte ao sistema de trilha.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
66
Figura 6 Diagrama de uma combinada colheitadeira automotriz.
4
1
2
5
6
7
Diagrama combinada automotriz
separao
limpeza
corte e
recolhimento
trilha
elevao de
retrilha
elevaode gros
trilhados
armazenagem
e descarga
3
4
3
2
1 barra de corte
molinete
caracol
esteira
alimentadora
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
67
Figura 6A Diagrama de uma combinada colheitadeira automotriz.
5
3
6
2
4
1
Fi gur a 4.3
cilindro de trilha
cncavo
extenso regulvel
do cncavo
batedor
cortinas retardadoras
sacapalhas
1a
Fi gur a 4. 4
1
2
2b
2
1b
3
bandejo
peneira superior
peneira inferior
a
elevador de
retrilha
ventilador
elevador de gros
sem fim da retrilha
sem fim da trilha
4
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
68
O sistema de trilha constitudo dos seguintes componentes: cilindro de
trilha - composto de barras estriadas dispostas sobre uma estrutura metlica em
forma de cilindro. Tem a funo de exercer aes mecnicas de impacto,
compresso e atrito, por esfregamento, sobre o material que est sendo
introduzido entre ele e o cncavo, causando a trilha; cncavo - tem a forma
aparente de uma calha tendendo a envolver o cilindro de trilha. composto de
barras estriadas unidas por estrutura metlica que toma forma de uma grelha que
permite a filtrao das sementes, vagens e fragmentos de vagens e de hastes. O
material no filtrado atravs do cncavo dirigido ao sistema de separao.
O sistema de separao composto de: extenso regulvel do cncavo -
suspende o fluxo de palha e sementess, de forma que o batedor direcione o
mesmo sobre o extremo dianteiro do sacapalhas, aproveitando assim, toda a rea
de separao. Sem a extenso do cncavo, a maior parte do material trilhado
cairia sobre o bandejo, indo posteriormente sobrecarregar as peneiras. Com a
extenso do cncavo, espera-se que apenas os gros soltos caiam sobre o
bandejo: batedor - tem a funo de reduzir a velocidade da palha eliminada
pela abertura de sada do sistema de trilha e direcion-la para a parte frontal do
sacapalhas, realizando ainda uma batedura final da palha grada para a liberao
de sementes eventualmente no separadas; cortinas retardadoras - geralmente
feitas de material flexvel (lona ou borracha), esto situadas sobre o sacapalhas e
tm a funo de retardar a velocidade de eliminao da palha, para garantir a
filtragem das sementes misturadas mesma; sacapalhas - tm a funo de
eliminar a palha grada e recuperar as sementes misturadas mesma.
composto geralmente de 4 a 6 calhas perfuradas, com grelhas no seu interior para
a recuperao e escoamento das sementes e com as bordas em forma de cristas
voltadas para a parte traseira para eliminar a palha grada.
O sistema de limpeza possui os seguintes componentes: bandejo - uma
superfcie em forma de crista (alternando partes inclinadas e verticais) voltada
para a parte posterior da colhedora, situada abaixo do cncavo e que possui um
movimento retilneo de vai-e-vem. As partculas mais pesadas, no caso as
sementes, ficam embaixo, e as partculas mais leves, o palhio, em cima. Na
parte final do bandejo, um pente de arame facilita a separao dos gros e da
palha, auxiliado pela corrente de ar do ventilador, quando as camadas
estratificadas so atiradas sobre as peneiras; peneira superior - uma peneira de
abertura ajustvel e que possui tambm um movimento de vai-e-vem. Recebe o
material vindo do bandejo e tem a funo de filtrar os gros. Pelo movimento de
vai-e-vem as vagens inteiras devem ser transportadas at a parte posterior da
peneira onde passaro extenso da peneira superior, que possui abertura um
pouco maior do que a peneira inferior. Nesta extenso, as vagens inteiras e
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
69
pedaos de vagens ainda contendo sementes, sero filtrados e dirigidos
novamente ao mecanismo de trilha; peneira inferior - uma peneira similar
superior, devendo ter sua abertura ajustada para permitir somente a passagem de
sementes; ventilador - tem a funo de gerar uma corrente de ar ascendente que
age por baixo das peneiras eliminando todas as partculas mais leves que as
sementes.
O sistema de elevao de retrilha basicamente composto dos seguintes
componentes: sem fim da retrilha - um eixo helicoidal, situado na estrutura da
colhedora em posio transversal e abaixo das peneiras. Tem a funo de
conduzir o material no trilhado para o elevador de retrilha; elevador de retrilha
- situado geralmente na lateral direita da colhedora, tem a funo de transportar
para o mecanismo de trilha as vagens inteiras e pedaos de vagens contendo
sementes que foram filtrados pelo cncavo mas no pelas peneiras.
11.2. Perdas na colheita - quantidade
Grande nmero de agricultores ainda considera a perda durante a colheita
como um fator natural, inerente s caractersticas da cultura. Outros preocupam-
se com os gros deixados sobre o solo, mas geralmente subestimam as perdas,
principalmente quando a lavoura apresenta boa produtividade. Neste caso a
perda reduzida apenas em termos percentuais, continuando alta em quantidade
de gros perdidos por unidade de rea. Dessa forma, todo agricultor perde na
hora de colher os frutos do trabalho de uma safra inteira, e as perdas na colheita
permanecem como um dos problemas mais graves na produo apenas de uma
forte reduo nos ltimos devido principalmente capacitao de pessoal.
a) Onde ocorrem as perdas
Cerca de 80% das perdas ocorrem pela ao dos mecanismos da plataforma
de corte, recolhimento e alimentao. As demais decorremda ao dos mecanismos
internos, desprezando-se a debulha natural. Dos componentes da plataforma de corte, a
barra de corte responsvel por cerca de 80% das perdas. Dessa forma, conclui-se
que somente a barra de corte responsvel por cerca de 64% das perdas totais da
colheita (caso da soja). Entretanto, caso o molinete funcione desajustado em
relao sua velocidade ou posio, poder ocasionar perdas elevadas e
possivelmente maiores do que as perdas causadas pela barra de corte.
As perdas causadas pela ao dos mecanismos internos (trilha, separao e
limpeza) geralmente correspondem de 15 a 20% das perdas totais. Porm, o
avano tecnolgico na melhoria dos componentes destes mecanismos, tem
facilitado os ajustes necessrios e aumentado a eficincia dos mesmos,
permitindo a expectativa de perdas mnimas, quando devidamente ajustados.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
70
b) Por que ocorrem as perdas
A perda ou queda natural das sementes por degrane ou deiscncia dos frutos
ocorre, na maioria das espcies cultivadas, pouco aps terem atingido a MF.
algo inerente s espcies, como uma forma de disseminar suas sementes.
O conhecimento das caractersticas da cultivar com respeito a sua maior
facilidade ou dificuldade de perda natural da semente e o acompanhamento
freqente do campo de produo na fase de maturidade das sementes, so
primordiais para se detectar o momento exato da colheita. Tal cuidado precisa
ser maior se as condies da regio nessa fase da cultura so predominantemente
de clima seco e quente.
As causas de perda, durante a colheita, so vrias e podem estar relacionadas
com a implantao da lavoura de forma no recomendada, acamamento das
plantas, baixa altura de insero dos frutos, grande quantidade de plantas
daninhas (massa verde), topografia inadequada ao funcionamento das
colhedoras, momento de colheita inadequado, com a presena de muita massa
vegetal da planta que colhida junto com as sementes, dificultando a separao
completa dessas, baixo grau de umidade das sementes, facilitando o degrane ou
deiscncia desses ao simples contato da mquina com as plantas.
Em resumo, as perdas de sementes, normalmente, podem ser devidas:
a) altura de insero da vagem na planta estar muito baixa, como pode
ocorrer em feijo, algumas forrageiras e, em alguns casos, em soja;
b) ao degrane natural, como ocorre em arroz e em algumas sementes de
leguminosas forrageiras, em especial e
c) por partes da combinada automotriz, como pelo molinete, barra de corte,
sistema de trilha e sistema de limpeza.
c) Momento da colheita
O momento adequado para a colheita, pode ser dividida em: colheita
prematura, colheita tima e colheita tardia. A colheita prematura aquela feita
quando a semente estiver madura, porm no debulhando com facilidade. Nessa
fase, as sementes apresentam alto teor de umidade, o que dificulta ou impede a
trilha; a presena de grande massa verde da planta dificulta ou impede o
funcionamento dos mecanismos de trilha e separao havendo,
conseqentemente, perda de sementes. A colheita tima aquela na qual se tem
o nmero mximo das sementes morfologicamente maduras, debulhando com
relativa facilidade para facilitar a trilha, tendo-se ndice pequeno de deiscncia
ou degrane. A colheita tardia ocorre quando a umidade da semente est baixa,
facilitando a trilha e separao (limpeza), entretanto podendo ocorrer perdas
como deiscncia e degrane. Na Fig. 7 so apresentadas as contribuies, de
forma esquemtica, das diferentes perdas, em funo do momento de colheita.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
71
Figura 7 Perda de sementes em funo do momento da colheita.
d) Quantificao da perda
Com a tecnologia de colheita no momento disponvel, aceita-se como
razovel uma perda de 2 a 3% da produo. Um mtodo bom para determinar a
porcentagem de perda de sementes durante a colheita realizar a contagem das
mesmas em um m
2
de solo (em toda extenso da barra de corte), repetindo-se a
contagem algumas vezes. Dessa maneira, no caso de soja, encontrando-se 80
sementes/m
2
, ter-se- 800.000 sementes em um hectare (80 x 10.000).
Considerando-se 8 sementes por grama, a perda ser de 100 kg/ha. Em uma
produo de 2.000kg/ha, a perda representar 5%.
Portanto, em funo da espcie, da rea de cultivo, das condies do meio, da
tecnologia e do pessoal disponvel, necessrio que a medida correta seja
tomada, colheita prxima MF ou no, para que a operao possa ser feita de
forma mais rpida e com mximo rendimento, mas que isso no seja causa de
novos problemas (danificaes mecnicas, secagem, etc.) para a qualidade da
semente.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
72
importante ressaltar que a combinada automotriz tem como funo
principal coletar e trilhar a semente e, em segundo plano, de forma rudimentar,
limpar a mesma. Dessa forma, normal as sementes apresentarem um relativo
alto percentual de impurezas, quando recm colhidas. Caso o produtor de
sementes queira colher suas sementes mais limpas, dever realizar ajustes tais
que, alm das impurezas, tambm descarte na lavoura algumas sementes boas.
Dessa maneira, recomenda-se que a limpeza das sementes no seja feita na
lavoura, e sim na UBS, com mquinas especiais, para que suas perdas sejam
utilizadas como subprodutos comerciais.
11.3. Danificaes mecnicas
As sementes esto sujeitas ao de agentes mecnicos durante todo o seu
manejo, desde a colheita at a semeadura. Esses causam impactos, abrases,
cortes ou presses, que resultam em danos s sementes, s vezes visveis, outras
vezes no.
Os danos mecnicos so considerados como um dos mais srios problemas
para a produo de sementes, ao lado das misturas varietais. Acontecem em
conseqncia do emprego de mquinas nas atividades agrcolas, sendo, portanto,
um problema bastante importante para a colheita dos campos de produo de
sementes quando o uso das colheitadeiras ou trilhadeiras faz-se necessrio, dadas
as dimenses da rea ou da quantidade a ser colhida.
Nas colheitadeiras, o dano mecnico ocorre no momento em que se d a
trilha, ou seja, por ocasio da separao das sementes da vagem. Em se tratando
de colheitadeira combinada (ceifa e trilha), a danificao ocorre, essencialmente,
em conseqncia dos impactos recebidos do cilindro debulhador e no momento
que passa pelo cncavo (Fig. 6).
A intensidade do dano mecnico depende de uma srie de fatores, quais
sejam: intensidade do impacto, nmero de impactos, grau de umidade da
semente, local do impacto e caractersticas da semente (tamanho, tipo de tecido
de reserva, forma, localizao do eixo embrionrio, presena de casca, apndice
e expanses da casca, espessura do tegumento da semente).
Quanto maior a grandeza do impacto e o nmero desses, maior a intensidade
do dano, havendo ainda um efeito cumulativo do nmero desses. Ambos so
fatores que podem ser controlados at certo limite.
O local do impacto, apesar de ser algo incontrolvel, apresenta efeito
diferenciado em funo da caracterstica da semente. Assim, se o impacto for na
regio onde se localiza o eixo embrionrio, o dano ser maior que em outra
parte.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
73
O grau de umidade da semente por ocasio do impacto o fator que
desempenha o papel mais importante na gravidade do dano mecnico sofrido
pelas sementes. Assim, se a umidade da semente for elevado, tem-se um tipo de
dano, o amassamento, ao passo que se a umidade for baixa, ter-se- o
trincamento.
Apesar das caractersticas da semente terem efeito no dano mecnico,
pode-se considerar que o trincamento comea a aumentar de intensidade
medida que a umidade reduz-se de 13% e o dano por amassamento aumenta a
partir de 18% de umidade. Tal situao pode ser observada na Tabela 8.
Tabela 8 - Qualidade e perda de sementes de soja afetadas pela rotao do
cilindro e umidade das sementes.
Parmetro Rotao do Umidade das sementes
cilindro 11 13 15 17 19 21
Germinao
450
500
600
700
800
86
84
80
74
65
89
89
86
78
73
90
90
88
86
86
-
90
90
90
90
-
-
90
90
90
-
-
89
88
87
Danos
mecnicos
450
500
600
700
800
12
29
44
-
-
10
22
28
35
41
06
11
16
19
24
05
09
14
18
21
03
05
11
12
14
-
-
03
04
05
Perdas de
sementes
450
500
600
700
800
09
09
08
07
07
03
03
03
02
02
04
04
03
03
02
-
04
03
02
02
-
-
04
03
03
-
-
32
23
16
Como foi salientado no item anterior, o momento da colheita fica, ento, na
dependncia da umidade da semente, pois em funo desse pode-se ter maiores
ou menores danos mecnicos, coma utilizao das mquinas colheitadora combinadas
ou somente trilhadeiras.
Os danos mecnicos podem se manifestar atravs de efeitos imediatos,
quando as sementes so imediatamente afetadas em sua qualidade, atravs da
perda do poder germinativo, vigor, etc. Esses efeitos podem ser apresentados de
diversas formas, como rachaduras no tegumento, quebra das sementes, leses no
eixo embrionrio, cortes nas sementes, amassamento, etc. Os danos internos,
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
74
cujos efeitos somente so detectados por testes de viabilidade (s vezes, s
posteriormente), devem tambm ser levados em considerao na colheita, pois
podero causar problemas mais tarde.
Os efeitos latentes so usualmente observados aps as sementes danificadas
terem permanecido armazenadas no perodo entre a colheita e a semeadura, o
que torna maior a possibilidade de conseqncias mais srias. Uma semente
com qualquer tipo de dano, como tegumento rompido por impacto, est mais
sujeita deteriorao durante o armazenamento. Alm dessa danificao
facilitar a deteriorao, devido alterao no sistema protetor da semente,
constitui-se em uma porta de entrada para microrganismos, vindo esses a
acelerarem o processo de deteriorao. H referncias de que o efeito latente
mais grave, quando do tipo amassamento, devido ao mesmo servir de centro
irradiador de deteriorao de maior rea em relao ao de trincamento.
Deve-se considerar que o grau de umidade varia como estdio de desenvolvimento e
tambmcoma hora do dia. Quando a soja atinge a maturidade para colheita, o orvalho ou
chuva ocasiona umaumento no grau de umidade da semente, sendo que no decorrer do
dia poder haver diminuio ou aumento dessa umidade emat 5%. Face a isso, h
necessidade da realizao de, pelo menos, duas regulagens na colheitadeira, uma pela
manh e outra tarde. Na Tabela 9, verifica-se a variao no grau de umidade, emfuno
do perodo do dia.
Tabela 9 - Flutuao de umidade da semente e sua qualidade aps atingir a
maturao fisiolgica.
Dia Umidade da semente (%) Germinao Vigor
Manh Tarde (%) (%)
1
2
4
5
7
8
10
11
13
14
32
30
26
23
21
20
18
17
18
18
26
25
20
18
17
15
13
15
14
15
95
95
93
93
92
94
90
90
85
82
80
80
78
80
78
78
74
70
62
51
As recomendaes para o momento de colheita ou trilha mecanizada (funo
da umidade da semente) devem coincidir com aquela faixa em que as sementes
ficam menos sujeitas s danificaes, seja por trincamento, seja por
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
75
amassamento. Na soja, essa faixa se situa entre 15-18% de umidade.
A maior parte das perdas por danificao das sementes ocorre no sistema de
trilha, cuja maioria dos agricultores usam o sistema de cilindro e cncavo por
alimentao tangencial, patenteado h mais de 200 anos. A trilha envolve aes
simultneas de impacto, compresso e atrito velocidades das barras do cilindro
de aproximadamente 50km/h. Devido agressividade dessa operao, parece
lgico se admitir que a lavoura colhida, e levada a passar entre esses dois
componentes, poder ser danificada. O sistema de trilha axial, concepo
mecnica alternativa que envolve as mesmas aes de impacto, compresso e
atrito, foi introduzido recentemente no Brasil, atravs de alguns modelos de
colheitadeiras, e h cerca de 25 anos nos Estados Unidos, embora tenha sido
patenteado na Alemanha h mais de um sculo. Entretanto, apesar de algumas
pesquisas indicarem maior capacidade de colheita e reduo dos danos
mecnicos com o sistema de trilha axial, tanto este sistema como o de
alimentao tangencial arriscam nveis elevados de danos mecnicos s
sementes.
b) Perdas em qualidade
Em um campo de produo de sementes, apesar da importncia da perda
quantitativa, por representar perdas de rendimento, a preocupao maior recai
sobre a qualidade, pois se houver perda desse tipo por ocasio da colheita, as
sementes podero no alcanar os padres necessrios e serem recusadas para
fins de semeadura. Tal situao representaria perda de todo o esforo
despendido, at ento, para a produo das sementes.
Uma das principais causas da perda de qualidade nessa fase o atraso da colheita em
relao ao tempo adequado. Como j foi mencionado anteriormente, aps a semente ter
atingido a MF, ela passa, praticamente, a estar armazenada no prprio campo, sujeita a
todas condies do meio e, geralmente, sob condies adversas. Essas adversidades so
representadas pelas condies climticas, chuvas, temperaturas extremas, pragas e
microrganismos, os quais, diretamente ou auxiliados pelas condies climticas, causam
s sementes danos fsicos, fisiolgicos e sanitrios resultando, tudo isso, emuma
acelerao do processo irreversvel da deteriorao. Como conseqncia, obtm-se
sementes de baixa qualidade fisiolgica.
Um dos exemplos mais claros da perda de qualidade devido demora de
colheita com sementes de soja, pois apenas alguns dias com umidade entre
15-20% no campo j so suficientes para que suas sementes deteriorem. Dessa
maneira, em muitas regies com problemas de umidade e temperatura,
recomenda-se realizar a colheita da soja assim que as sementes comearem a
debulhar com certa facilidade, ou seja, com 18-19% de umidade.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
76
Para ilustrar a importncia de colher-se no momento certo passamos a relatar
um estudo recente realizado em condies tropicais.
A desuniformidade na maturao em um campo de sementes de soja no se
deve unicamente a variabilidade na populao, mas tambm ao fato de que h
alta disperso da umidade das sementes dentro de uma mesma planta de soja.
Analisando a umidade das sementes de soja no processo de maturao
observou-se que em uma colheita realiazada quando umas poucas folhas estavam
amarelando na planta as sementes apresentaram um grau mdio de umidade
58,4%, entretanto, com 27 pontos percentuais de diferena entre as duas
sementes mais secas e as duas sementes mais midas oriundas de uma mesma
planta (Tabela 10). Nessa colheita, observando os dados constata-se pelo desvio
padro que 95% das sementes estavam entre 50 e 67% de umidade, ou seja,
praticamente toda a populao de sementes estava acima do ponto de maturidade
fisiolgica.
At a terceira colheita, com quatro dias aps a primeira havia ainda um alto
percentual de sementes imaturas, em que mais de 10% de sementes
apresentavam mais de 50% de umidade (Tabela 10). Por outro lado, a partir da
quarta colheita, sete dias aps a primeira, todas as sementes j tinham alcanado
o ponto de maturidade fisiolgica.
Tabela 10 - Distribuio do grau de umidade em uma planta de soja.
Colheita Dias Intervalo de confiana Mdia Desvio Padro
1 0 45,2 - 72,2 58,40 4,25
2 2 36,3 - 67,5 53,30 3,81
3 4 23,2 - 58,4 44,20 3,89
4 7 13,5 - 37,6 25,10 2,51
5 10 13,0 - 21,5 15,20 1,87
6 12 11,8 - 17,0 13,60 0,80
7 14 10,6 - 15,3 12,50 0,80
8 16 9,8 - 15,0 11,80 0,90
A sexta colheita, realizada onze dias aps a primeira apresentou uma
amplitude de umidade entre as sementes de apenas 5,2 pontos percentuais. Por
outro lado, a ltima colheita realizada dezesseis dias aps a primeira, apesar de
apresentar uma umidade mdia das sementes inferior a 12%, ainda apresentava
um pequeno percentual de sementes com umidade superior a 14%, percentual
esse no seguro para armazenamento
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
77
Salienta-se que mesmo quando o percentual mdio das sementes de soja
estava superior a 20% e portanto no recomendvel para a colheita mecnica,
haviam sementes que estavam com 13% de umidade aguardando a colheita. Esse
percentual de sementes aumenta acentuadamente conforme a colheita
retardada. Praticamente qualquer combinao de tempo, temperatura e contedo
de gua levama perda de viabilidade de sementes e causamalguns danos genticos.
Enfatiza-se que o ganho e perda de umidade durante um dia alcana a cinco
pontos percentuais fazendo com que a semente acelere o processo de
deteriorao, enquanto no colhida. Assim, caso se colha as sementes com uma
umidade mdia de 12%, muitas das sementes j estaro deterioradas pelo
processo de ganho e perda de umidade no campo. Os produtores de sementes que
no efetuarem a colheita com umidade superior a 15%, correro riscos para obter
lotes com alta qualidade fisiolgica. evidente, conforme a Tabela 10, que para
no perder sementes por deteriorao, deve-se proceder a secagem das sementes
para um armazenamento seguro. Tambm evidencia-se que um percentual de
sementes com umidade superior a 20% tornam-se muito suscetveis ao dano
mecnico, entretanto como so bem maiores que as outras sementes da
populao, podero facilmente ser removidas pelo processo de pr-limpeza.
A potencializao da danificao por umidade ocorre porque h um longo
perodo da exposio das sementes no campo devido a grande desuniformidade
na maturao dentro da populao de plantas e na mesma planta, o que leva a
duas conseqencias na produo de sementes: sementes oriundas de plantas com
maturao mais precoce ficam submetidas a condies desfavorveis no campo
aguardando a maturao daquelas oriundas de plantas menos precoces e sementes
verdes deformadas se encontrammisturadas ao lote de sementes.
Enfatiza-se que o estudo foi realizado em uma regio tropical, com alta
temperatura e umidade relativa, requrendo que o processo de colheita seja
realizado na poca oportuna, pois num perodo de duas semanas as sementes
passaram de um estdio de pr-maturao fisiolgica at um estdio em que a
umidade mdia do lote de sementes era inferior a 12%.
11.4. Misturas varietais
A mistura de sementes, que se traduz em uma contaminao do lote com
sementes de outras cultivares e/ou espcies, constitui-se em um grave problema,
pelo fato de prejudicar a pureza varietal. Dependendo da gravidade, o lote poder
no atingir os padres mnimos exigidos para sementes quanto a essas
caractersticas e ser, posteriormente, recusado pois, dependendo da contaminao, ela
no ter condies de ser eliminada nas operaes de ps-colheita.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
78
Durante a colheita, e nas operaes que a sucedem, muito grande o risco de
ocorrer a contaminao do lote de sementes, ou seja, misturas de cultivares e/ou
outras espcies. Na colheita manual tambm existe a possibilidade dessa mistura,
entretanto, na colheita mecanizada que o problema mais grave.
A ocorrncia da mistura de sementes na colheita mecanizada surge em
funo da limpeza mal feita nas colheitadeiras que, muitas vezes, so
empregadas para colheita de diferentes espcies e cultivares. Dependendo da
complexidade dessas mquinas, a limpeza de todos os mecanismos internos
demanda uma ateno especial. Para tanto, recomenda-se que, no final da
operao, ela seja acionada vazia, at que no saia mais nenhuma semente. A
seguir, existe a necessidade do operador abrir a mquina e limp-la internamente,
mesmo aquelas partes mais difceis. Um sistema de compressor de ar ir facilitar
a limpeza. O cuidado seguinte o de, ao iniciar a colheita de uma outra cultivar,
fazer-se o descarte das primeiras sacas ou sementes, pois essas podem estar
contaminadas, apesar da limpeza feita na mquina.
Uma outra precauo necessria, que deve ser tomada na implantao do
campo de produo de sementes, um isolamento adequado entre os campos
(mesmo para aquelas espcies autgamas), para evitar que se colham plantas de
outra variedade, dada a proximidade dos campos de produo. Pode ocorrer que
a colheitadeira, ao realizar uma manobra, ultrapasse os limites da rea de
produo e colha algumas plantas do campo vizinho, tendo-se a uma mistura
varietal do lote.
Em se tratando de colheita manual, todos os materiais empregados nessa
operao devem ser muito bem limpos, pois esse poder ser o ponto de
contaminao com outras sementes. De forma semelhante, as embalagens,
containers ou sacarias, empregadas para receber as sementes colhidas devemser bem
limpas e, no caso de sacarias, de preferncia, novas.
Na colheita dos campos de sementes para a produo de hbridos, como o
milho e o sorgo, obrigatrio serem colhidas, em primeiro lugar, as linhas
autopolinizadas, correspondentes s linhas masculinas. Posteriormente, so
colhidas as linhas fmeas, que sofreram despendoamento ou que apresentam
macho-esterilidade, para que no ocorram problemas de mistura das sementes
das duas linhas, ocasionando perda de pureza.
Todos esses cuidados na colheita, precedidos pela boa condio do campo
(isolamento, depurao, etc.), visam dar condies para a manuteno da pureza
varietal do lote, pois a contaminao com algumas sementes tem o efeito
multiplicador no decorrer de geraes.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
79
11.5 Comentrio final
A colheita um processo bastante especializado e preciso muito cuidado
nessa fase final de produo das sementes. Pelas consideraes feitas at aqui,
fica evidente que a colheita realizada por ocasio da MF seria a ideal, mas
existem uma srie de problemas a serem contornados. A sua viabilidade vai
depender da resoluo de cada um dos problemas apontados, com possibilidade
de ainda surgirem outros. Vai depender tambm da espcie, da rea cultivada e
da tecnologia disponvel para a colheita. Dessa forma, em campos de produo
de sementes, com reas extensas, s vivel a colheita mecanizada e, assim
sendo, inviabiliza-se a colheita para a maioria das espcies na MF.
Um dos fatores que governa, portanto, o momento da colheita ou a
maturidade de campo (MC) para a colheita (considerando-se que a fisiolgica
tenha sido atingida bem antes), o grau de umidade das sementes. Em se
tratando de colheita mecanizada, deve-se compatibilizar o grau de umidade da
semente com o mximo de rendimento da colheitadora, com o mnimo de
possibilidade de danos mecnicos e perda de sementes. Como esse grau
normalmente alto (considerando-se a umidade ideal para armazenamento),
deve-se pensar em um esquema de secagem dessas sementes.
12. RESUMO DAS PRTICAS CULTURAIS
Consideramos que a apresentao de um resumo das prticas culturais para
produo de sementes, com seus problemas e possveis solues, bem como a
indicao de quando e como colher, ser de grande utilidade.
Quando colher? Essa pergunta resume toda ansiedade de um produtor de
sementes. Nesse sentido, ressaltam-se as seguintes recomendaes:
a) Colher to prximo quanto possvel do ponto da MF.
b) Colher as sementes assim que comearem a debulhar com certa facilidade,
como o caso de soja, com 18%.
Com esses graus de umidade, as sementes devem ser imediatamente secas
assim que colhidas. E essa a razo que, no caso de soja, entre outras espcies,
espera-se para colher com 12-13% de umidade para que no seja necessrio secar
as sementes. Esse procedimento de alto risco e, em algumas regies tropicais,
significa ter sementes de baixa qualidade. Mesmo nas melhores regies para
produo de sementes, h anos em que se perde muita semente por no colh-la
no ponto de maturidade de campo.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
80
Operao Problema Possvel soluo
poca de
semeadura
Maturidade em perodo chuvoso
acarreta baixa qualidade de semente
Programar semeadura para
maturidade em perodo seco
Manejo
da gua
Seca durante o desenvolvimento
da semente reduz sua qualidade
Manejar poca de semeadura,
irrigar se possvel
Controle de
invasoras
Plantas daninhas dificultam a
colheita e afetam a qualidade da
semente
Depurao, bom estande,
aumentar populao de plantas
Controle de
Insetos
As picadas de insetos afetam a
qualidade de semente (soja)
Pulverizar com inseticida, caso a
populao seja alta; comear cedo
Controle de
doenas
Algumas doenas reduzem a
germinao e so transmitidas
pela semente
Utilizar variedades resistentes,
escolher locais de baixa
incidncia; depurao,
tratamento
Colheita Atraso da colheita afeta a
qualidade
Iniciar colheita assim que as
sementes debulharem ( 20%)
Trilha Danos mecnicos e perda de
sementes
Ajustar o equipamento para
minimizar o dano e as perdas
Mencionou-se vrias vezes maturidade fisiolgica e maturidade de campo. A
diferena entre as mesmas est em que, na maturidade fisiolgica a semente
atinge o mximo de qualidade que, na maioria das vezes, no coincide com o
ponto de maturidade de campo, pois as sementes encontram-se com alto grau de
umidade e no debulham.
Como colher? Considerando apenas o processo de trilha, ressaltam-se as
seguintes recomendaes:
a) que a velocidade do cilindro da mquina seja de 400-700rpm
b) quanto mais alto o grau de umidade das sementes, maior poder ser a
velocidade do cilindro da trilhadeira, devido aos danos serem pequenos e
serem diminudas as perdas de colheita;
c) para sementes de soja, utilizar trilhadeira possuindo cilindro de barras para
para minimizar os danos mecnicos. Para arroz, utiliza-se cilindro de
dentes para facilitar a debulha, pois essas sementes so pouco
danificveis.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
81
13. INSPEO DE CAMPOS PARA PRODUO DE SEMENTES
A inspeo de campos para produo de sementes tem por finalidade
controlar e comparar a qualidade das sementes que esto sendo produzidas, de
forma a atingirem o padro exigido pelas Normas de Produo de Sementes ou
pela empresa produtora.
Atravs de um sistema padronizado de inspeo de lavoura, garante-se a
identidade da semente, obtendo-se lotes com alta pureza fsica.
Em diversos pases, o processo de cerificao de sementes adotado e,
dentro das quatro classes de sementes (gentica, bsica, registrada e certificada),
a pureza varietal e a identidade gentica so preservadas. Com um bom trabalho
de inspeo pode-se dizer que uma boa semente reproduzir uma nova planta
adulta, com todas as caractersticas genticas idnticas variedade que foi
lanada pelo melhorista. Isso justifica plenamente o trabalho de inspeo de
lavouras, pois na agricultura moderna, onde a produtividade fundamental, a
pureza varietal, identidade gentica, alta viabilidade e vigor das sementes so os
alicerces do produto final.
Dentro do programa de produo de sementes h necessidade de
posicionar-se a Inspeo de Lavouras como parte do sistema, pois no campo
que se pode fazer o controle rigoroso da qualidade gentica das plantas,
observando-se o desenvolvimento, florescimento, polinizao e frutificao.
13.1. Perodo de inspeo
Muitas vezes, bastante difcil, em apenas uma inspeo de campo, observar
todos os fatores que podero afetar a qualidade da semente, considerando-se que
nem todos os fatores apresentam-se em um mesmo tempo. Cada cultura tem
exigncias diferentes quanto fiscalizao dos campos para a produo de
sementes. Cultivares das espcies autgamas como soja, etc., so geralmente
linhagens puras, o que significa serem, dentro de cada cultivar, geneticamente
semelhantes na sua maioria, sendo relativamente fcil a manuteno de tais
linhagens, pois a mistura varietal quase sempre identificvel em condies de
campo e, atravs da depurao, poder ser eliminada. Da mesma forma, culturas
que se propagam vegetativamente, comportam-se de forma semelhante. Para fins
de inspeo, as fases das culturas de propagao sexuada so as seguintes
(Tabela 11).
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
82
Tabela 11 - Nmero mnimo de inspees de campos para produo de sementes
para algumas espcies e fases de sua execuo.
Espcie N
o
de inspees Fases de execuo
Algodo 1 Ps-florao
Amendoim 1 Ps-florao
Arroz 1 Florao
Pr-colheita
Aveia 1 Pr-colheita
Batata
*
2 Pr-florao
Florao
Cevada 1 Florao
Pr-colheita
Feijo 2 Florao
Feijo mido 2 Florao
Pr-colheita
Forrageiras 2 Pr-colheita
Florao
Milho (cultivar) 1 Pr-colheita
Milho hbrido 3 Pr-florao
Florao-Incio florao
Colheita
Quiabo 2 Florao
Pr-colheita
Soja 2 Florao
Pr-colheita
Sorgo (cultivar) 1 Pr-colheita
Sorgo hbrido 2 Florao-Incio florao
Colheita
Trigo 2 Ps-florao
Pr-colheita
13.1.1. Perodo de pr-florao
Compreende todo o perodo de desenvolvimento vegetativo que precede ao
florescimento das plantas. Para efeito de inspeo de campo, abrange desde a
emergncia das plntulas at o incio do desabrochar das inflorescncias.
13.1.2. Perodo de florao
Esse perodo caracterizado pela fase em que as flores esto abertas, o
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
83
estigma receptivo e a antera liberando o plen. Para fins de inspeo, quando 5%
ou mais das plantas j esto florescidas, o campo pode ser considerado como em
perodo de florao.
13.1.3. Perodo de ps-florao
Nesse perodo, a receptividade do estigma e a liberao do gro de plen das
anteras tero cessado. Ento, o vulo j dever estar fertilizado e desenvolvendo-se em
sementes. Nessa fase, a semente passa pelo "estado leitoso" e, posteriormente,
atinge a "fase pastosa", tornando-se elstica, quando pressionada.
13.1.4. Perodo de pr-colheita
o perodo emque a semente se torna mais dura e alcana ou se aproxima da
MF. Est completamente formada, mas ainda com alto teor de umidade;
gradativamente vai perdendo gua, permitindo uma colheita fcil e segura.
13.1.5. Perodo de colheita
Nessa fase, a semente est fisiologicamente madura e suficientemente seca,
permitindo uma colheita fcil e segura, ou ento fisiologicamente madura e
mida, podendo no entanto ser colhida e secada artificialmente, para o
armazenamento.
Os produtores de sementes esto sujeitos a essas inspees, em cada campo
de produo de sementes.
Os inspetores de campo devem ser treinados e ter bom conhecimento das
fases de desenvolvimento da cultura. O rgo responsvel pelo sistema de
produo de sementes dever ter inspetores em nmero suficiente, para poder
assegurar a cada produtor e a cada campo de produo de sementes uma
inspeo apropriada.
13.2. Tipos de contaminantes
Numa inspeo de campo, busca-se identificar os contaminantes como
plantas atpicas, invasoras, pendo polinizador, plantas doentes, entre outros.
13.2.1. Plantas atpicas
So plantas da mesma espcie da cultura, mas que diferem quanto ao porte,
forma, cor, pintas, pilosidade nas hastes, tamanho, forma do fruto e da semente,
entre outras caractersticas. A ferramenta para essa identificao a descrio
varietal, apresentada como sugesto na Tabela 12 e Figura 8.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
84
Tabela 12 - Alguns descritores utilizados para identificao de cultivares de
arroz e feijo.
Arroz Feijo
Caractersticas da planta
- Altura
- Ciclo
- Florao
Caractersticas da folha
- Cor da folha
- Colocao do colar, lgula e aurcula
- Tipo de folha bandeira
Caractersticas das panculas
- Tipo de pancula
- Comprimento mdio da pancula
Caractersticas das sementes (casca)
- Cor
- Presena de arista
- Apculo
Caracterstica das espiguetas
- Comprimento, largura e espessura
- Relao comprimento-largura
- Peso de 1.000 sementes
Caractersticas da planta
- Cor do hipoctilo
- Altura da planta
- Porte
- Hbito de crescimento
- Ciclo (dias)
Caractersticas da flor e fruto
- Cor
Caracterstica da semente
- Cor da semente
- Cor do hilo
- Brilho da semente
- Peso mdio de 100 sementes
Reao s doenas
- Antracnose
- Ferrugem
- Bacteriose
- Mosaico
Produtividade mdia
13.2.2. Sementes inseparveis
So consideradas sementes inseparveis aquelas que so de tal forma
semelhantes s da cultivar considerada que se torna difcil separ-las por meios
mecnicos. As plantas que produzem tais sementes so chamadas contaminantes.
Quando essas plantas so localizadas no campo no momento da inspeo, s
sero contadas se seu ciclo for tal que possibilite uma coincidncia de
maturidade com a cultura inspecionada. Esse aspecto muito importante, pois
por ocasio da colheita a mistura mecnica, por certo, ocorrer. Caso o estdio de
desenvolvimento dessas plantas seja diferente da cultura principal, de modo a
no possibilitar uma maturidade coincidente, elas no devem ser contadas e,
nesse caso, o produtor dever ser notificado para posterior eliminao das
mesmas. Nas inspees subseqentes, deve ser observado se as recomendaes feitas
anteriormente foram executadas pelo produtor.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
85
Figura 8 Partes de uma planta de arroz.
Interndio
Perfilho
Razes Adventcias
Interndio
Septo Nadal
Polvino da Bainha
Bainha Foliar
Interndio
Lmina Foliar
Bainha Foliar
Prfilo
Pedicelo
Rarn. Secundria
Espigueta
Base da Pancula
Folha Bandeira
Interndio Superior
Ram. Primria
Eixo da pancula
Banha Foliar
Colar
Aurcula
Lgula
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
86
13.2.3. Plantas silvestres indesejveis
So plantas de espcies silvestres, que so difceis de separar por meios
mecnicos. Estas competem com a cultura durante o desenvolvimento, tornam-se
difceis para a execuo da depurao, podem ser hospedeiras para pragas e
doenas, alm de dificultar as inspees e outras prticas agronmicas.
13.2.4. Doenas
de conhecimento geral que muitos agentes patognicos causadores de
doenas em plantas, podem acompanhar as sementes, tanto interna como
externamente. Dessa forma, quando h plantas cujas sementes possam conter tais
agentes patognicos, essas devem ser eliminadas e, dependendo da incidncia da
contaminao, o campo deve ser eliminado.
13.3. Como efetuar a inspeo
O exame de uma lavoura para produo de sementes no realizado em
planta por planta. Resume-se na tomada de subamostras em toda a rea de
produo de sementes, efetuando-se contagem nesses pontos, que determinaro a
qualidade do campo. Atravs de um croqui do campo, so determinados locais
de avaliao de subamostras. A amostragem de um campo compreende reas
predeterminadas, completamente ao acaso.
As reas de subamostras so de acordo com o limite de tolerncia de cada
cultura para os determinados contaminantes, devendo ser representativas de todo
o campo e permitirem uma viso geral da uniformidade do mesmo. Deve ser
possvel uma avaliao bastante precisa da presena de plantas atpicas,
fazendo-se a contagem e anotaes de todos os contaminantes encontrados
durante o percurso de inspeo (Fig. 9).
Devero ser observados, entre outros, os seguintes aspectos na inspeo:
- isolamento do campo e tamanho das bordaduras;
- origem da semente utilizada;
- rea de produo;
- presena de plantas atpicas ou de outras espcies silvestres ou cultivadas;
- sanidade da cultura;
- limpeza de maquinaria na semeadura e na colheita e
- cultivo de acordo com todos os requisitos do sistema de produo para a
cultura.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
87
Figura 9 Caminhamento em um campo de produo de sementes.
O nmero mnimo de inspees dever ser executado na poca apropriada de
desenvolvimento da cultura, no sendo aconselhvel que um mesmo campo seja
inspecionado duas vezes em um mesmo dia. A inspeo pode ser realizada a
qualquer hora do dia e em qualquer estdio de desenvolvimento da cultura.
Se um tero ou mais de uma cultura autgama estiver acamada, a no ser que
se note possibilidades de recuperao desse campo antes da maturidade, o
1
0
0
m
1
0
0
m
1
0
0
m
4
0
0
m
5
0
m
100m
180m
100m
200m
300m
Saida Entrada
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
88
mesmo deve ser eliminado para produo de sementes.
importante tambm salientar que a rejeio de um campo de sementes pode
ser parcial, respeitados os limites de rea mnima de inspeo.
Se as contagens nas subamostras mostrarem que o campo est prximo aos
padres preestabelecidos para qualquer fator, ou se existe dvida quanto sua
qualidade em relao aos padres, uma reamostragem poder ser feita, a critrio
do inspetor, ou se o produtor a solicitar.
Aps cada inspeo, deve-se obter a assinatura da pessoa que acompanhou o
inspetor em todas as cpias do relatrio de campo.
Caso haja mais de uma inspeo em um mesmo campo, essas devem comear
sempre em pontos diferentes.
Durante a inspeo, necessrio que o inspetor oriente o produtor quanto
realizao da depurao, s tcnicas a empregar para que possam ser removidas
as plantas atpicas, plantas silvestres, plantas inseparveis de outras culturas e
plantas doentes, antes da inspeo seguinte.
13.4. Caminhamento em um campo para sementes
O inspetor de campos para produo de sementes tem como dever fazer as
inspees prescritas de acordo com cada cultura, dentro de uma determinada
poca. Portanto, deve procurar ser o mais objetivo possvel, fazendo suas
inspees de tal forma que propicie a mxima cobertura, por distncia percorrida
(Fig. 9).
Existem diversos modelos de inspeo de campo que podem ser utilizados,
mas o que deve prevalecer em uma inspeo seriam os seguintes pontos:
a) O modelo de percurso dever permitir ao inspetor observar todas as partes
do campo, lados e centro, sem considerar sua forma ou tamanho.
b) Dever permitir que sejam tomadas subamostras em todas as partes do
mesmo, de maneira casual.
c) Se o nmero de campos a ser inspecionado for elevado e o tempo para
realizar as inspees for escasso, o modelo de percurso pode ser
modificado para que a caminhada se torne menor. Isso, contudo, dever
ser feito de modo a proporcionar boas inspees e uniformidade de
qualidade para todos os campos.
d) Se a contagem das subamostras iniciais dos lados e centros indicarem que
o campo de qualidade aceitvel e o histrico do produtor for favorvel,
sabendo-se da idoneidade e cuidados que esse tem com seus campos de
produo, o restante da inspeo poder, de certa forma, ser abreviada.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
89
13.4.1. Tamanho da amostra de inspeo
A qualidade das subamostras que determina a qualidade de um campo de
sementes. Portanto, a amostra deve ser de tal maneira representativa que
apresente a ocorrncia de contaminantes proporcionalmente ao tamanho do
campo.
Tomemos como exemplo o seguinte caso: se a tolerncia permitida para
plantas de outras variedades 1:10.000, uma amostra de 500 plantas no ser a
correta e necessria para a avaliao do campo na tolerncia desejada.
Dessa forma, o tamanho ideal aquele suficiente para incluir trs plantas
atpicas ou contaminantes e ainda encontrar-se dentro do nvel de tolerncia
permitido pelos padres de produo de sementes. Dessa maneira, deveramos
analisar, em nosso exemplo, 30.000 plantas, ou melhor, 6 subamostras de 5.000
plantas.
13.5. Como efetuar as contagens de plantas no campo
A amostra de inspeo derivada de subamostras localizadas em diversas
partes do campo. As subamostras devem ser distribudas ao acaso, por toda sua
extenso e em todos seus setores, bordas, centros, etc., em relao apenas ao
tamanho e forma do campo.
As normas gerais a serem seguidas so as seguintes:
- Contagens em reas testes, para avaliar a populao de plantas e determinar
o tamanho e o nmero de subamostras;
- Se o campo de produo de hbridos, as subamostras devero ser tomadas
para cada linhagem progenitora masculina e feminina, assim como das
plantas de bordadura;
- Nas reas de subamostra, cada planta deve ser examinada para cada fator
considerado na inspeo de campo.
13.5.1. Nmero e tamanho de subamostras
Ressalta-se uma vez mais que a amostra deve incluir reas localizadas em
toda a extenso do campo, de forma que possa refletir com exatido a condio
do todo e no apenas de uma rea. Para possibilitar isso, a amostra de campo ser
composta de 6 subamostras, onde se efetuam contagens diversas; cada
subamostra inclui 1/6 da rea ou da populao de plantas da amostra total.
Essas subamostras devem, ento, ser localizadas por todo o campo, em
diferentes reas, para permitir a verificao de ocorrncia de fatores de
contaminao.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
90
O tamanho da amostra total e, assim, o tamanho das subamostras depender dos
limites de tolerncia permitidos para a ocorrncia de plantas atpicas ou contaminantes.
Caso o limite de tolerncia seja alterado, o tamanho da amostra e das subamostras
tambmdever ser modificado para possibilitar uma inspeo atenta da rea ou da
populao de plantas, na qual se permita a presena de trs plantas atpicas.
13..5.2. Determinao da populao de plantas por hectare
A determinao da populao de plantas por hectare pode ser feita de vrias maneiras
mas, para facilidade dos inspetores, alguns aspectos so aqui detalhados. Inicialmente, so
selecionadas vrias reas. O trabalho de contagem iniciado, considerando:
a) estande determinar o nmero mdio de plantas/m
2
;
b) tolerncia do contaminante ver Tabela 13.
Tabela 13 - Os padres de lavoura, para aprovao de um campo de produo de
sementes de soja, so:
Fatores Unidade Tolerncia
Mistura varietal
Outras plantas cultivadas
Plantas silvestres e nocivas toleradas
Plantas nocivas proibidas
Planta
Planta
Planta
Planta
0,30%
Ocorrencia Mnima
Ocorrencia Mnima
Zero
A determinao do tamanho das subamostras como segue:
a) Mistura varietal
Proceda determinao do nmero mdio de plantas por metro quadrado,
supondo que o campo esteja semeado no espaamento de 0,50m e tenha 20
plantas por metro linear de fileira. Dessa maneira, o nmero de plantas por m
2
ser de 40.
Toma-se a Tabela 13 e, de acordo com a tolerncia mxima de plantas de
0,30%, determina-se o nmero de subamostras, que normalmente 6, e o
nmero de plantas por subamostra. Assim, considerando que 1% uma planta
em 100; 0,1% uma planta em 1.000 e 0,3% so trs plantas em 3.000, como
necessitamos amostrar para potencialmente encontrar 3 plantas, deve-se
inspecionar uma rea que envolva 3.000 plantas que ser dividida em 6
subamostras de 500 plantas. Assim, como temos 40 plantas/m
2
, em 3.000 plantas
vamos ter 75,0m
2
. Se mais de trs plantas atpicas forem encontradas na
amostragem (somatrio das 6 subamostras), o campo ser rejeitado ou ser
depurado. Se trs ou menos forem encontradas, esse ser aprovado.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
91
b) Outras plantas cultivadas
Observe que em campos de produo de sementes pode ainda ser tolervel o
aparecimento de outras plantas cultivadas.
c) Plantas nocivas proibidas
Quando o padro zero, deve-se lembrar que o aparecimento, em qualquer
ponto do campo de sementes, de uma espcie nociva proibida, leva rejeio do
mesmo.
13.6 Comentrio sobre inspeo
Com o surgimento de cultivares modificadas genticamente constatou-se que
o problema de misturas varietais no estava recebendo a devida ateno, pois o
surgimento de sementes adventcias (misturas) no meio de materiais
convencionais esta bastante alto, fazendo com que muitas sementes e gro
estejam sendo considerados como transgnicos sem na realidade serem, apenas
apresentando uma contamino. A verificao se o material transgnico feita
qualitativamente sem determinar-se o quanto. O problema esta sendo srio,
levando a necessidade de desenvolver-se protocolos para determinar-pse
quantitativamente a mistura.
14. BIBLIOGRAFIA
ABRASEM . Anurio da Abrasem 2002. Braslia 186pp, 2002
ALLARD, R.W. Princpios de la mejora gentica de las plantas. Trad.
MONTOYA, J .I. Barcelona: Ediciones Omega, 1967. 498p.
BLANCO, G. Variedade essencialmente derivada. Revista SEED News, ano IV
n
o
3, 2000, 8p.
BOHART, G.E.; KOERBER, T.W. Insects and seed production. In:
KOZLOWSKI, T.T. Seed biology. Vol. III. New York - London: Academic
Press, 1972. p. 1-53.
COSTA, J .A. Cultura da soja. Porto Alegre: Ivo Manica e J os Antnio Costa
(eds.). 1996. 233p.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
92
COSTA, N.P.; MESQUITA, C.M.; HENNING, A.A. Avaliao das perdas e
qualidade de semente na colheita mecnica de soja. Rev. Bras. Sem., Braslia, v.
1, n. 3, 1999. p. 59-70.
DELOUCHE, J .C. Germinacin, deterioro y vigor de semilla. Revista SEED
News, VI N
o
6 2002, 16-20pp.
DOUGLAS, J .E. Programas de semillas: guia de planeacin y manejo. CIAT,
COLOMBIA, 1983. 280 p.
DOUGLAS, J .E. Certificacin de semillas - CIAT, COLOMBIA, 1989. 88 p.
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECURIA.
Recomendaes tcnicas para a colheita de soja. Londrina, PR, 1978. 32 p.
FEISTRITZER, W.P.; KELLY, A.F. Mejoramiento de la produccin de
semillas. FAO-ROMA, 1979. 260p.
FEISTRITZER, W.P. Tecnologia de la produccin de semillas. FAO-ROMA,
1979. 260p.
FRANA NETO, J .B.; HENNING, A.A.; KRZYZANOWSKI, F.C. Seed
production and technology for the tropics. FAO. In: Tropical Soybean, 1994.
14pp
FRANA NETO, J .B.; KRYZANOWSKY, F. A produo de sementes de soja.
Revista SEED New, ano IV n
o
2, 2000, p. 20-22.
GARAY, A.; PATTIE, P.; LANDIVAR, J .; ROSALES, J . Setting a seed
industry in motion: A non conventional, successful approach in a developing
country. Working Doc. 57, CIAT, Cali, COLOMBIA, 1992.
GREGG, B.; CAMARGO, C.P.; POPINIGIS, F.; VECHI, C. Roguing,
sinnimo de pureza. AGIPLAN, Ministrio da Agricultura, 1974.
HAMER, E.; PESKE, S.T. Colheita de sementes de soja com alto grau de
umidade. II Qualidade fisiolgica. Braslia, Revista Brasileira de Sementes, v.
19, n. 1, p. 66-70, 1997.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
93
HAMER, E. Maturao de sementes de soja em condies tropicais. Pelotas:
UFPEL. 2000, 92p. (Tese de Doutorado).
HARENS, D.; PESKE, S.T. Flutuao de umidade de sementes de soja durante a
maturao. Rev. Brasileira de Sementes, 211(2), 1994, p. 21-26.
McDONALD, M.; PARDEE, W. The role of seed certification in the seed
industry. CSSA Special Publication n 10. Crop Science Society of America,
Inc. Madison, WI. 1985. 46p.
MENDES, da SILVA, C. Efeitos da velocidade do cilindro, abertura do
cncavo e do teor de umidade sobre a qualidade da semente de soja. Pelotas:
UFPel, 1983 (Dissertao de Mestrado).
PEREIRA, L.A.G.; COSTA, N.P.; QUEIROZ, E.F.; NEUMAIER, N.; TORRES,
E. Efeito da poca de semeadura de soja. Rev. Bras. Sem., Braslia, v. 1, n. 3,
1979. p. 77-89.
PESKE, S.T. Simpsio sobre Atualizao do Programa de Sementes do RS.
Anais ... Pelotas: UFPel, 1988. 105 p.
PESKE, S.T. Manejo y creatividad en la produccin de semillas. Revista SEED
News. Ao VI n
o
4 16-19 pp 2002
ROSALES, J .K. Programa de semillas de Bolvia. Memorias del XVIII
seminario Paamericano de Semillas. ORSemillas. Santa Cruz, Bolvia 2002,
225pp
UFPel. Simpsio sobre atualizao do programa de sementes do RS. Anais ...
Pelotas, RS., 1988, 105p.
VIEIRA, R.D.; SEDIYAMA, T.; SILVA, R.F.; SEDIYAMA, C.S.; THEBAUT,
J .T.L. Efeito do retardamento da colheita sobre a qualidade de sementes de soja.
Revista Brasileira de Sementes. Braslia, v. 4, n. 2, p. 9-22, 1982.
ZORATO, M.F.; ASTAFEIF, N.C. Sistema de controle de qualidade de
sementes. APROSMAT. Boletim Informativo. 1999, 500p.
CAPTULO 2
Fundamentos da Qualidade de Sementes
Prof. Jorge Luiz Nedel
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
95
1. INTRODUO
Todos os organismos que sobreviveram ao tempo de evoluo,
desenvolveram um eficaz sistema para reproduzirem-se. A reproduo sexual
levada a efeito por estruturas especializadas nas quais os gametas so produzidos
bem como as estruturas e mecanismos para garantir a fuso destes gametas. O
ciclo de vida de um organismo inclui a diferenciao destas estruturas
reprodutivas e o desenvolvimento das que se originam destas. Contudo a maioria
dos organismos eucariotes evoluiram para um sistema de reproduo sexuada, o
que permite a recombinao gentica e uma evoluo mais rpida. E a maioria
das grandes e pequenas culturas utilizam a semente como principal forma de
multiplicao. objetivo deste mdulo discutir os principais aspectos
relecionados com a formao, desenvolvimento, germinao e deteriorao das
sementes.
2. CICLO DE VIDA DE UMA ANGIOSPERMA
O ciclo de vida de uma angiospesma composto de uma fase (gerao)
esporoftica e outra gametoftica. A fase esporoftica inicia com a fertilizao, a
qual resulta na formao do zigoto. Este, pela embriognese e com algum tecido
materno aderido, forma a semente. Tanto a semente como a planta desenvolvida
da semente, so partes da fase ou gerao esporoftica. A fase gametoftica
ocorre somente dentro da flor, e inicia quando clulas especializadas das
estruturas femininas e masculinas da flor sofrem meiose e produzem esporos
haplides.
As estruturas reprodutivas femininas de uma flor so chamadas de carpelos.
Cada carpelo consiste de estigma, estilete e ovrio. O saco embrionrio o
gametfito feminino e fica localizado no interior do vulo.
O conjunto das estruturas reprodutivas masculinas de uma flor chamado de
estames. Cada estame consiste de uma antera, a qual est conectada com a flor
por uma haste delgada chamada filamento. O gro de plen o gametfito
masculino e se localiza no interior da antera.
2.1. Macrosporognese
Enquanto o carpelo se desenvolve e diferenciando-se em estilete, estigma e
ovrio, no interior do ovrio, desenvolve-se o vulo. Este tem inicio com o
surgimento de uma massa indiferenciada de clulas com o formato de cpula,
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
96
sobre a placenta da flor. Este grupo de clulas diferencia-se no nucelo. Os
integumentos, os quais daro origem ao tegumento da semente, surgem das
bordas do nucelo e crescem de forma ascendente, envolvendo o nucelo deixando
apenas na parte inferior uma abertura chamada de micrpila. No vulo jovem
todas as clulas que compem o nucelo so idnticas. Contudo, uma das clulas
nucelares, usualmente logo abaixo da epiderme prximo ao topo, diferencia-se
dando origem a clula me do megasporo.
Figura 1 - Quadro representando a embriognese, o desenvolvimento e a
germinao de uma semente.
Geneticamente este um tecido 2n (diplide). O ncleo desta clula me do
megasporo sofre meiose e produz 4 megasporos haplides. Os trs megasporos
mais prximos da micrpola desintegram-se e o megasporo remanescente sofre 3
sucessivas divises mitticas, porm sem citocinese, originando 8 ncleos. Ao
final de 3 diviso os 8 ncleos so arranjados em dois grupos de 4, um grupo na
regio da micrpola e um grupo na regio oposta, chalaza. Um ncleo de cada
grupo migra para o centro e passam a ser chamados de ncleos polares. Dos trs
ncleos remanescentes na regio da micrpila, um se tornar a clula ovo e os
outros, as duas sinrgides. Os ncleos da regio da chalaza formaram as trs
Embriognese, Desenvolvimento de Sementes, e Germinao
Esporfito maduro
com anteras
Inflorescncia
Esporfito em
Desenvolvimento
sementes
Inflorescncia
me
clula
Megesporo
Melose
2n
Micrspora
me
clula
Embrio
Fecundao
Micrspora
Gro de
plen do ovo
Ncleo
Ncleo
Espermtico
Megsporos
vulos
Megsporos
Degenerando
Tubo
Ponico
Microgametfitos
Megagametfito
Ovo
Megagametfito
maduro
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
97
clulas conhecidas por antpodas. Os dois ncleos polares constituiro a clula
central. Portanto, o saco embrionrio consiste sete clulas e oito ncleos.
2.2. Microsporognese
A medida que o estame se desenvolve vo se diferenciando o filete e a
antera. Aps a diferenciao, a antera consiste de uma massa uniforme de
clulas. Eventualmente quatro grupos de clulas se diferenciam, tomam uma cor
mais avermelhada e com caractersticas distintas das dos tecidos
parenquimatosos ao redor das mesmas. Estas clulas iniciam a se dividir e para a
regio interior produziro um tecido esporaginoso e para o exterior o tapete e o
endotcio.
As clulas do tecido esporaginoso formaram as clulas mes das
micrsporas. medida que a antera vai se desenvolvendo, cada clula me das
micrsporas sofre meiose dando origem ao que conhecido como ttrade de
micrspora. Ao redor de cada uma das micrsporas, desenvolve-se uma parede
de carboidrato (basicamente de calose, 1,3 glucana). Essa parede, em um
determinado momento aps a meiose, ser rompida. Uma diviso nuclear
originar uma estrutura binucleada a qual passa a ser chamada de gro de plen
(gameta masculino). Um dos ncleos chamado de ncleo generativo e o outro,
ncleo do tubo polnico.
2.3. Polinizao
Uma srie de mecanismos evoluiram com a finalidade de aumentar a
probabilidade do plen ser tranferido para o estigma. No caso mais simples o
plen transportado pelo vento; em outros casos mais especficos carregado
por animais polinizadores, incluindo entre eles, pssaros e insetos.
A polinizao de uma flor inicia quando um gro de plen maduro
depositado em um estigma compatvel. O gro de plen absorve gua e
nutrientes da superfcie do estigma e inicia a germinao. Esta, envolve a
formao de um tubo polnico. O tubo polnico, carregando os ncleos
espermticos, penetra o estigma, o estilete e o saco embrionrio atravs de uma
sinrgide, na qual expele os ncleos espermticos. Essa sinrgide, chega a
triplicar de tamanho causando a ruptura de sua membrana celular. De uma forma
ainda no conhecida, um deles, penetra a clula ovo, formando o zigoto ou a
primeira clula do embrio. O outro ncleo espermtico, migra e se funde com
dois ncleos polares dando inicio a formao do endosperma (3n). Dessa forma,
fica completada a dupla fecundao.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
98
2.4. Embriognese
Aps a fertilizao, ocorrer o desenvolvimento e formao do embrio
(embriognese) e das outras estruturas de semente. De uma maneira geral, pode-
se dizer que as sementes das angiospermas so basicamente formadas de embrio
(cotiledones +eixo embrionrio), tegumento e endosperma (as vezes ausentes
como no caso da soja, na qual ocorre um desenvolvimento inicial do
endosperma, porm depois, os cotildones desenvolvem-se rapidamente e
acumulam reservas oriundas do endosperma). Em torno de 20 dias aps a
fertilizao, apenas resqucios do endosperma so vistos. No caso da soja como
de vrios outros legumes, a semente consiste apenas de um grande embrio.
Nas plantas que possuem o endosperma como o tecido de reserva, o
desenvolvimento deste iniciado antes do que o do embrio. Em trigo, por
exemplo, aproximadamente 5 a 6 h aps a fuso dos ncleos polares e com
ncleo espermtico, ocorre a primeira diviso desses ncleos. Quando ocorre a
primeira diviso do zigoto (12 ou 24 h aps a fertilizao) j se observam de 16 a
32 ncleos no endosperma. Paredes celulares comeam a ser formadas, ao redor
dos ncleos no endosperma, aproximadamente 3 dias aps a fertilizao. As
clulas do endosperma do trigo continuam a se dividir, at aproximadamente 16
ou 20 dias aps a antese. No arroz, a diviso celular verifica-se at 10 dias aps a
antese, a uma temperatura de 30
o
C, chegando a 20 dias se a temperatura for de
20
o
C, aumentando de tamanho at aproximadamente 35 dias aps a antese. O
zigoto vai se dividindo e posteriormente diferencia-se nas diferentes estruturas
do embrio. Em trigo, o embrio atinge seu comprimento final,
aproximadamente, 25 dias aps a antese. Durante seu desenvolvimento, o
embrio consome os nutrientes dos tecidos que o circundam, como o parnquima
nucelar , assim como , das clulas do endosperma mais prximo.
Em soja, nas primeiras duas semanas aps a florao, ocorre uma intensa
diviso celular seguido de uma reduo gradativa at um nmero mximo de
clulas do embrio ser atingido.
Embora muito permanea para ser estudado sobre como todo esse processo
regulado, tem sido identificados gens cuja expresso durante a embriognese
determinam a identidade do tecido e/ou rgo.
Em soja, por exemplo, verificou-se que durante o desenvolvimento de sua
semente a quantidade de diferentes mRNA (RNA mensageiro) presente no
estgio III (estgio no qual o embrio tem o formato de torpedo; 18 a 36 dias
aps a fertilizao) e no estgio IV (estgio intermedirio de maturao; 36 a 52
dias aps a fertilizao) era muito semelhante (entre 14 a 18 mil mRNAs). Em
outras palavras, a quantidade de gens expressos durante as duas fases era
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
99
semelhante. Contudo, abundncia de alguns destes mRNAs eram diferentes nos
dois estgios. Por exemplo no estgio III, havia um grupo de aproximadamente
180 mRNAs, cada um presente 1000 vezes por clula. No estgio IV, alm desse
grupo, ocorria um outro com seis ou sete mRNAs presentes 100.000 vezes por
clula. Esses ltimos eram transcrio de gens que codificam as protenas de
reserva.
A grande maioria dos gens expressos durante a embriognese tambm so
expressos na semente durante a germinao, ou em uma folha madura. Apenas
um nmero muito restrito de gens so expressos unicamente durante a
embriognese. Existe um grupo de gens que so expressos somente muito cedo,
na embriognese, outro grupo apenas durante o estgio intermedirio e outro no
estgio mais avanado ou final, da embriognese. Os ltimos incluem gens
envolvidos na dessecao da semente, os intermedirios na sntese de protenas.
3. ESTRUTURA DA SEMENTE
Aps estudar como se formam as estruturas da semente, ver-se- como elas
se dispe em uma semente madura.
A soja ser utilizada como modelo das dicotiledneas e o trigo como das
monocotiledneas. A cariopse de trigo basicamente constituda de embrio,
endosperma e cobertura protetora (testa e pericarpo). Externamente, no gro de
trigo, observa-se a regio do embrio no lado oposto ao dos plos e na parte
inferior o sulco.
Na regio do sulco que est localizado o sistema vascular (xilema e
floema). No se verifica um contato simplstico entre a planta me e a semente.
Assume-se que os assimilados se movem simplasticamente do floema at a
cavidade do endosperma (Fig. 2).
Na semente de soja no est presente o pericarpo. A camada protetora a
prpria testa, originada do integumento externo. O tegumento, externamente
marcado por um hilo que varia de oval a linear e no final do hilo (parte superior)
observa-se a micrpila e do outro lado a rafe. O hilo apresenta diferentes
coloraes e utilizado em laboratrio para auxiliar na caracterizao de
cultivares. O tegumento da soja , basicamente, formado por 3 camadas: 1 -
epiderme, 2 - hipoderme e 3 - camada interna de parnquima.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
100
Figura 2 - Estrutura interna do pericarpo.
4. TRANSPORTE DE RESERVAS PARA A SEMENTE
Os carboidratos que so formados nos cloroplastos das folhas, so liberados
para dentro do citoplasma como dehidroxi acetona fosfato (DIAF).
Como o carbono assimilado na folha pelo processo da fotossntese chega
semente e armazenado nesta na forma de amido, lipdeo ou protena? Este
processo pode ser resumido da seguinte forma: o carbono fixado e carboidratos
so sintetizados no interior do cloroplasto; o C passa pela membrana do
cloroplasto como dehidroxi acetona fosfato a qual convertida em sacarose no
citoplasma das clulas do mesfilo foliar; do citoplasma, a sacarose tranportada
ativamente para regies do apoplasto (espaos intercelulares, externos as clulas)
da clula, de onde ativamente absorvida pelos vasos do floema e tranportada
at a semente.
Trigo
No caso de gramneas como o trigo, quando a sacarose chega semente
atravs do floema, o qual est localizado ao longo do sulco do gro (Fig. 3), os
assimilados movem-se do floema para a regio de projeo nucelar atravs do
simplasto, isto , atravs das plasmodesmatas (canais de conexo entre clulas).
pericarpo
mesocarpo
epiderme
testa
tubulares
clulas
cruz
clulas em
endosperma
aleurona
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
101
Na projeo nucelar, provavelmente, ocorra a transferncia da sacarose para o
apoplasto na regio da cavidade do endosperma (tem origem na morte prematura
das clulas desta regio, durante o desenvolvimento da semente). Da cavidade do
endosperma a sacarose passa por difuso para clulas mais externas da camada
de gros de aleurona, que so clulas modificadas para clulas de transferncias
e dali, simplasticamente, s clulas do endosperma onde ocorrer a sntese do
amido. O tecido compreendido entre o floema e a cavidade do endosperma de
origem materna, no havendo, portanto, conexo simplstica entre a planta me e
o gro de trigo.
Figura 3 - Corte transversal de uma semente de trigo; s-sulco; e-endosperma; bv-
bandas vasculares; fc-funculo; pn-projeo nucelar; ce-cavidade do endosperma;
ca-camada de aleurona; pe-pericarpo externo; t-testa; pi-pericarpo interno.
Como existe uma desconexo entre as duas geraes, em um determinado
momento aps sair do floema, cair no apoplasto.
Em resumo temos:
pi
i
pe
co
ce
pn
k
bv
e
k
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
102
Soja
No caso de leguminosas como a soja, a sacarose chega at a semente atravs
do sistema vascular ventral localizado ao longo de toda parte superior da vagem
da soja. Este se ramifica em cada uma das sementes em desenvolvimento, atravs
do funculo. Ocorre tambm uma banda dorsal a qual ocupa toda a vagem no
lado dorsal. As paredes da vagem apresentam um sistema vascular bem
desenvolvido.
A semente de soja est presa ao funculo atravs do hilo, e, o sistema vascular
penetra a semente em uma regio bem delimitada ao redor do hilo e a partir da,
vai formando uma rede vascular ao redor de todo o tegumento da semente.
Durante o desenvolvimento inicial da vagem e da semente, grande parte dos
fotoassimilados so direcionados para a vagem. Posteriormente, a maior parte
dos fotoassimilados so direcionados diretamente para a semente em
desenvolvimento. Mais tarde, no desenvolvimento, parte dos fotoassimilados
contidos nas paredes do legume so remobilizados para a semente.
No existe contato simplstico entre as duas pores (tegumento e
cotildones) da semente de soja. E topouco existe uma regio com tecido
parenquimatoso rico em plasmodesmatas como na regio de descarga, nas
gramneas (projeo nucelar no trigo e pedicelo no milho) entre a regio de
descarga e os cotildones. Os carboidratos so descarregados do sistema vascular
do tegumento diretamente para uma regio apoplstica, entre o tegumento os
cotildones e o embrio (Fig. 4).
Figura 4 - Corte longitudinal de uma vagem de soja.
5. PRINCIPAIS CONSTITUINTES DA SEMENTE
A semente apresenta, alm dos constituintes qumicos encontrados em outros
tecidos da planta, uma quantidade extra de substncias, que sero utilizadas para
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
103
dar suporte ao crescimento inicial da plntula. Essas substncias so
principalmente, os carboidratos, lipdeos e protenas. Outras substncias, embora
sem a mesma importncia na funo de reservas, so encontradas nas sementes e
esto envolvidas no crescimento e controle do metabolismo (fitina, giberelinas,
citocininas, inibidores, fenis, vitaminas, alcalides, taninos).
A composio qumica das sementes determinada fundamentalmente por
fatores genticos, e varia entre as diferentes espcies e entre cultivares de uma
mesma espcie. Condies ambientais prevalentes durante a formao da semente, bem
como prticas culturais (ex. adubao nitrogenada e sulfdrica, pocas de
semeadura) podem provocar modificaes na composio qumica das sementes.
Tabela 1 - Composio qumica mdia da semente de algumas espcies.
Espcie Carboidratos
(%)
Protena
(%)
Lipdeos
(%)
Arroz
Aveia
Centeio
Cevada
Colza
Ervilha
Milho
Soja
Trigo
85,0
66,0
76,0
76,0
19,0
52,0
74,0
26,0
75,0
7,9
13,0
12,6
12,0
20,4
23,4
8,2
37,9
13,2
1,8
8,0
1,7
3,0
43,6
1,2
3,9
18,0
1,9
6. AMIDO
O amido armazenado nas sementes em duas formas: amilose e
amilopectina. A primeira um polmero no ramificado, formado por,
aproximadamente, 300 a 400 unidades de glicose, ligadas por ligaes 1.4. A
amilopectina bem maior e formada por vrias amiloses unidas por ligaes
1.6. A maioria dos cereais, tem entre 50 a 75% de amilopectina e 20 a 25% de
amilose. Em arroz, a proporo inversa.
6.1. Sntese de amido
Aps a sacarose chegar as clulas do endosperma, esta tranportada para o
interior dos amiloplastos onde se verifica a sntese do amido. Nesta sntese esto
envolvidas duas enzimas:
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
104
1- ADPG-Pirofosforilase (Adenina Difosfato Glicose Pirofosforilase)
2- ADPG-Amido sntase (Adenina Difosfato Glicose Amido Sntase)
1Passo na sntese
A ADPG-pirofosforilase a primeira enzima requerida e sua funo esta
envolvida na produo do substrato para a ADPG-Amido sntase.
Glicose 1 fosfato (GF1) +ATP ADFGlicose +F
i
F
i
2Passo na sntese
A enzima ADPG Amido Sntase, simplesmente toma o substrato produzido
anteriormente (ADPGlicose) e adiciona uma outra glicose ao terminal no reduzido.
ADFGlicose + (Primer)
n
(Primer)
n+1
+ADP
Estas duas enzimas so consideradas atualmente como o principal
mecanismo pelo qual o amido sintetizado. No apenas na semente, mas
tambm nas folhas.
6.2. Enzimas ramificadoras
So enzimas que convertem uma ligao 1.4 em 1.6. A ao destas
enzimas ocorre concomitantemente com a produo da amilose. A amido sntase
vai adicionando unidades de glicose ao terminal no reduzvel (carbono 4),
enquanto as enzimas ramificadoras adicionam ramificaes. Atravs das
ramificaes aumentada a quantidade de ramificaes no reduzveis. Na
amilose temos apenas um terminal no reduzvel. Em uma molcula com apenas
uma ramificao teremos dois terminais, e assim por diante. Portanto com a
ramificao ganha-se duas vezes mais primers e portanto mais lugar para a
enzima atuar. Esta pode ser uma das razes porque um organismo sintetiza a
maior parte do amido na forma ramificado (amilopectina).
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
105
Figura 5 - Transporte de sacarose at o endosperma.
7. PROTENAS DE RESERVA
As plantas fornecem aproximadamente 70% das protenas da dieta humana.
A maioria destas, constituda de protenas de reserva de cereais e leguminosas.
As protenas so polmeros de amino cidos unidos por ligaes peptdicas,
isto , o grupo carboxlico de um amino cido se liga ao grupo amina do outro,
com a perda de uma molcula de gua (Fig. 6 ).
Figura 6 - Reao entre dois aminocidos, com a sada de uma molcula de gua.
O H C C N C C N H C C N H C C N H
H O H H H
3 3 3
2
2
R H R R R
2 1 1
O O O
O O O
-
-
-
+
TESTA
SACO
EMBRIONRIO
COTILEDONE
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
106
As protenas so um produto direto do gen. Isto , quando, no interior do
ncleo de uma clula, um gen ativado, a sua sequncia de bases (adenina -
timina, guanina - citosina) lida por enzimas e produzido um mRNA (cido
ribonuclico mensageiro). Este mRNA tranportado do interior do ncleo para o
citoplasma da clula onde se localizam os ribossomos. Os ribossomos traduziro
a sequncia de bases do mRNA (adenina - uracilo, guanina - citosina) e uniro os
amino cidos , atravs de ligaes peptdicas, na sequncia exata determinada
pelo mRNA. V-se, portanto, que em uma protena tanto a seqncia como o
nmero de amino cidos, so especificamente determinados.
Como visto acima, os aminocidos so as unidades das protenas e so eles os
compostos que contm o nitrognio em sua molcula. Portanto, para que o
nitrognio absorvido pela planta em suas razes possa ser incorporado s
protenas ele precisa primeiro, ser incorporado em amino cidos. A incorporao
do N em amino cidos ocorre principalmente nas folhas, porm em algumas
espcies, ela pode ocorrer tambm na raz. Em cevada, por exemplo, observou-se
que de 20 a 55% do N pode ser incorporado em amino cidos nas razes. O grau
de incorporao do N em amino cidos, nas razes ou nas folhas, vai depender de
fatores como: espcie, estdio de desenvolvimento da planta, disponibilidade de
nitrato (NO
-
3
) para a planta (baixa disponibilidade a incorporao da-se
primeiramente nas razes). O nitrognio, que no incorporado em amino cidos
nas razes ou nas folhas pode se acumular como nitrognio inorgnico no interior
dos vacolos das clulas.
A principal fonte de nitrognio para as plantas, na maioria das condies de
solo, o nitrato. Para este N ser incorprado em amino cidos o nitrato precisa
primeiro ser reduzido a amnio (NH
+
4
). Nesta reduo duas enzimas esto
envolvidas: a nitrato redutase, localizada no citoplasma e a nitrito redutase,
localizada no interior dos plastdeos (cloroplastos na folha e proplastdeos nas
razes).
Como a reao de reduo, ocorre a utilizao de eltrons na mesma. Na
primeira reduo, a nitrato redutase utiliza como fonte destes o NADH ou
NO NO
2 eltrons 6 eltrons
NH
NADPH
ou
NADH
Ferrodoxina
3 2 4
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
107
NADPH no citoplasma das clulas das folhas e, provavelmente, Ferrodoxina no
citoplasma das clulas das razes. Na segunda reao, agora no interior do
cloroplasto, a nitrito redutase utiliza tanto na folha como na raiz a Ferodoxina
como doador de eltrons.
A amnia normalmente no se acumula nas clulas das plantas, porm
incorporada em amino cidos. Esta incorporao ocorre atravs da reao com o
glutamato produzindo a amida glutamina, catalizada pela enzima glutamina
sintetase.
A glutamina pode ento ser convertida a glutamato reagindo com -
ceto glutarato em reao catalizada pela enzima glutamato sntase (GOGAT).
Portanto, com estas duas reaes formam-se duas molculas de glutamato.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
108
Uma vez incorporado no glutamato, o N pode ser incorporado a outros amino
cidos atravs de enzimas conhecidas como tranzaminases (trasferem o grupo
amino de um a outro esqueleto carbnico).
Como o transporte de nitrognio no interior da planta um processo que
envolve gasto de energia, aparentemente, seria interessante que circulasse no seu
interior compostos com uma alta relao Nitrognio/Carbono. A glutamina e a
aspargina que so as formas que apresentam a maior concentrao no xilema e
no floema, tanto de leguminosas como de gramneas, apresentam, por exemplo,
uma relao de 2N/5C e 2N/4C, respectivamente.
De uma forma geral as protenas so classificadas em: albuminas,
globulinas, prolaminas e gluteninas. As primeiras so solveis em gua, as
segundas, em soluo salina, as terceiras em soluo alcolica em as quartas em
soluo cida.
No grupo das albuminas, inclui-se praticamente todas as enzimas. E, as
protenas de reserva so as prolaminas e gluteninas em cereais e prticamente
todas as globulinas em leguminosas (algumas globulinas podem ser enzimas).
As protenas, na semente, tem fundamentalmente uma funo: prover o N
para o embrio durante a germinao e para a plntula, em seu estgio
inicial de desenvolvimento. As protenas de reserva apresentam algumas
caracteristicas particulares: 1-So abundantes (correspondem a aproximadamente
80% do total de protenas da semente) 2-tem uma composio de amino acidos
no comum as outras protenas (so ricas em amidas: glutamina e aspargina);3-
esto localizadas em corpos proticos no interior das sementes; 4-a sntese destas
protenas regulada pelo desenvolvimento e apresentam especificidade de tecido
(elas somente so sintetizadas nos tecidos da semente; em nenhum outro tecido
da planta so encontradas protenas de reserva, a exceo a licitina (globulina)
que pode ser encontrada na ponta de crescimento de raizes).
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
109
Na Tabela 2 encontram-se relatadas as principais protenas das sementes de
algumas espcies.
Tabela 2 - Protenas constituintes dos principais cereais.
Espcie Albumina Globulina Prolamina Glutamina
Trigo 05 10 50 35
Milho 01 05 54 40
Aveia traos 80 15 05
Arroz 05 10 10 75
As prolaminas tem um contedo alto dos amino cidos glutamina e prolina e
pouca ou nenhuma lisina e triptofano. Portanto, a composio dos amino cidos
dos cereais tem um valor nutricional inferior para os humanos. Arroz e aveia so
excees. Apresentam uma proporo relativamente baixa de prolaminas e alta
de glutaminas, no arroz e globulinas na aveia (Tabela 2).
7.1. Fatores fisiolgicos que influenciam o contedo de N na semente
O nitrognio, dos elementos minerais, o que apresenta o efeito maior sobre
o desempenho das sementes no estabelecimento rpido e uniforme de um estande
a campo.
Entre os fatores que determinam uma quantidade maior de protena na
semente, podemos citar:
7.1.1. Absoro e disponibilidade de nitrognio
O nitrognio absorvido pelas razes da planta de forma ativa, isto , energia
dispendida. A presena do nitrato (NO
-
3
) no solo estimula nas razes a sntese
da "maquinaria" necessria para a absoro do mesmo. Existe variabilidade
gentica entre espcies e dentro de uma mesma espcie (entre variedades) na
capacidade de absorver nitrognio. Esta maior habilidade de algumas espcies ou
variedades pode estar relacionada a uma maior afinidade entre a "maquinaria" de
absoro e o nitrato e/ou, a um sistema radicular mais desenvolvido.
O contedo de N na semente comea a aumentar, em conseqncia de doses
maiores de adubao nitrogenada, somente depois que o mximo rendimento de
sementes atingido. E, o aumento no contedo desse nitrognio pode ser maior
ou menor, dependendo do perodo que o mesmo fornecido para a planta. Nos
cereais, por exemplo, se no ocorrem problemas de deficincia de gua,
absorvem o N sempre que estiver disponvel. Se o aplicarmos aps a antese
(florao), o mesmo poder ser canalizado diretamente para a semente. Se o
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
110
aplicarmos antes, o mesmo contribuir mais para a formao de tecido estrutural
da planta, do que para aumento da protena na semente.
7.1.2. Mobilizao da protena vegetativa
Grande parte do nitrognio que estar na semente por ocasio da maturao,
j est na planta, na antese. Na Tabela 3 esto indicados resultados de
experimenos com seis variedades de trigo. Verifica-se que aproximadamente 86
% do N da semente estava na planta por ocasio da antese, isto , apenas foi
remobilizado das folhas e do colmo para a semente. A grande maioria desse N,
nas folhas e no colmo, est na forma de protenas, principalmente as envolvidas
na fotossntese. Essas protenas sofrem hidrlise pela ao de enzimas
proteolticas, reduzindo as protenas em amino cidos, os quais so, como tais
transportados, ento, para a semente. H indicaes de que, diferenas no
contedo de protenas nas sementes, entre variedades de trigo, por exemplo,
poderiam estar relacionadas a uma diferena na atividade das enzimas
proteolticas, sobre as protenas vegetativas nas folhas.
Tabela 3 - Quantidade de nitrognio de seis cultivares de trigo em diferentes
tecidos da planta.
rgo N na antese N na maturao
---------------------------- kg/ha ----------------------------
Folhas
Colmos
Sementes
86,2
58,2
-
29,1
31,4
107,5
Total 144,4 168,0
7.1.3. Sntese de protena na semente
H indicaes de que cultivares de arroz e trigo, com alta concentrao de
protena na semente, apresentem tambm uma maior capacidade de sntese de
protenas.
8. LIPDEOS
Lipdeos so substncias de origem vegetal ou animal que so insolveis em
gua, porm solveis em ter, clorofrmio, benzeno e outros solventes
orgnicos. Do ponto de vista de reservas para a semente os lipdeos mais
importantes so os trialcilgliceris (anteriormente conhecidos como
triglicerdeos), os quais so lquidos a temperaturas superiores a 20
o
C. Recebem
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
111
a terminao de triacilgliceris porque cada molcula de glicerol est combinada
com trs molculas de cidos graxos
Na maioria dos triacilgliceris os cidos graxos so monocarboxlicos
(possuem apenas um grupo COOH). O nmero de carbono desses cidos graxos
variam de 12 a 20, sendo que os mais comuns, em sementes, contm de 16 a 18
(Tabela 4).
Tabela 4 - cidos graxos mais comumente encontrados nas sementes.
Nome N
o
de
carbonos
Estrutura
Palmtico
Esterico
Olico
Linolico
Linolnico
Ercico
16
18
18
18
18
22
CH3(CH2)14 COOH
CH3(CH2)16 COOH
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7 COOH
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH
CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)7 COOH
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11 COOH
So encontrados nas sementes, tambm os fosfolipdeos (principalmente
ligado as membranas), glicolipdeos e esteris.
A composio de cidos graxos de algumas espcies so apresentadas na
(Tabela 5).
R -- C -- O -- CH
CH -- O -- C -- R
CH -- O -- C -- R
O
O
O 1
2
3
2
2
Glicerol
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
112
Tabela 5 - Contedo de cidos graxos (%) nas sementes de algumas espcies.
Espcie Palmtico Esterico Olico Linolico Linolnico
Algodo
Amendoim
Colza
Milho
Soja
23,4
8,5
5,0
6,0
11,0
0
6,0
2,0
2,0
2,0
31,6
51,6
55,0
44,0
20,0
45,0
26,0
25,0
48,0
64,0
0
0
12,0
0
3,0
O que se observa durante o desenvolvimento da semente, um aumento na
polimerizao dos lipdeos. Em trigo, por exemplo, os lipdeos nas sementes
jovens encontram-se principalmente na forma de cidos graxos livres. Porm a
medida que a semente avana no desenvolvimento aumenta significativamente a
proporo de lipdeos nas formas mais complexas (Tabela 6 ).
Tabela 6 - Composio de lipdeos (%) durante o desenvolvimento da semente de trigo.
Pso da semente (mg) cidos graxos livres Triacilgliceris
12
19
33
68
49
4
10
25
71
8.1. Sntese de lipdeos
Como nos carboidratos, a principal forma que o carbono chega a semente
para a produo de lipdeos, na de sacarose. Esta hidrolizada, produzindo
glicose e frutose, as quais so convertidas em exoses fosfato e trioses fosfato,
pelas reaes da gliclise. Estes compostos so translocados para o interior dos
plastdeos da semente, onde ocorre a sntese dos cidos graxos. Na sntese de um
cido graxo de 16 ou 18 carbonos a partir do acetil-CoA, ocorrem em torno de
30 reaes enzimticas.
De forma ampla pode-se considerar ou dividir a sntese de um triacilglicerol
em trs partes: 1-a produo do glicerol; 2-formao dos cidos graxos (no
interior dos plastdeos) e 3-esterificao do glicerol com os cidos graxos (no
interior do retculo endoplasmtico) dando origem ao triacilglicerol.
Os triacilgliceris so depositados nas clulas de reserva da semente na
forma de corpos oleosos. Aps sua sntese, os cidos graxos so transportados
para fora do plastdeo e os triacilglicerdeos so sintetizados no interior do
retculo endoplasmtico onde se acumulam entre as duas membranas deste. Ali
vo se acumulando at formar uma vescula a qual vai aumentado de tamanho
at desprender-se, formando os corpos oleosos.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
113
9. EFEITOS DE FATORES AMBIENTAIS SOBRE A CONSTITUIO
DA SEMENTE
Fatores ambientais podem afetar a constituio da semente. Entre estes,
destacam-se temperatura, umidade e nutrientes no solo.
Altas temperaturas durante o enchimento da semente de cereais limitam o
rendimento de sementes pela reduo do peso de mil sementes. O aumento da
temperatura estimula o desenvolvimento da semente, porm a taxa de
enchimento da mesma no aumenta o suficiente para compensar a reduo do
perodo de enchimento da semente. Outro aspecto que tem sido observado que,
a converso da sacarose amido no interior das clulas do endosperma em
desenvolvimento reduzida com o aumento da temperatura (acima de 30
o
C). As
enzimas amido sntase (envolvidas na sntese do amido) comprovadamente
mostraram reduo de atividade no endosperma de trigo em resposta a altas
temperaturas, gerando uma reduo de sntese de amido. Possivelmente tambm
outras enzimas reguladoras da sntese de amido apresentam igualmente reduo
de atividade, sob altas temperaturas.
H indicaes de que, o estresse de gua, durante a fase de enchimento de
gro, reduz a atividade da enzima ADPG Pirofosforilase (veja funo em sntese
de amido), afetando, dessa forma, tambm a deposio de amido nas clulas do
endosperma. Freqentemente o estresse de gua est associado ao de
temperatura, ficando inclusive difcil de separ-los. O efeito de ambos os
estresses , significativamente, maior sobre a deposio de amido do que sobre a
de protena (em torno de 85% do N j se encontra na planta quando da antese).
Por essa razo, ambos os estresses, quando ocorrem, isoladamente ou em
conjunto, promovem um aumento na porcentagem de protena da semente. A
porcentagem de protena na semente de cereais, por exemplo, basicamente uma
relao entre a quantidade de protena e amido. Diminuindo-se a quantidade de
amido e mantendo-se o nitrognio praticamente constante, aumenta a relao
protena/amido. V-se que numa situao de estresse de gua ou temperatura,
aumenta a concentrao de protena na semente, porm no significa que se est
produzindo mais protena por rea. Em conseqncia do estresse, as clulas
produzidas nos primeiros vinte dias aps a antese no foram inteiramente
preenchidas, o que resulta numa reduo do peso da semente e uma conseqente
reduo no rendimento e no vigor da mesma.
Deficincia de gua, durante a fase de enchimento da semente de soja, tem
resultado em reduo no contedo de clcio da mesma (1648 e 1305g/g de
tecido na no estressada e na estressada, respectivamente). O contedo de clcio
tambm estava positivamente associado a germinao. O clcio um elemento
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
114
muito importante na manuteno da integridade das membranas celulares e esta
aparentemente tem muito a haver com a qualidade fisiolgica da semente.
Tem sido observado que o tipo de lipdeo presente na sementes de
oleaginosas afetado pela temperatura. Os lipdeos de sementes produzidas em
temperaturas mais amenas, tendem a ser menos saturados (menos ligaes
duplas) do que os encontrados em sementes produzidas em condies mais
quentes. As enzimas desnaturase so inibidas por altas temperaturas durante o
desenvolvimento da semente, o que contribui para a reduo na proporo dos
lipdeos no saturados. Em soja, por exemplo, com o aumento da temperatura
durante o desenvolvimento da semente, observou-se que aumentava o contedo
do cido graxo esterico e diminuia o linolico e linolnico. No em todas as
espcies oleaginosas que se verifica o efeito da temperatura sobre o tipo de
lipdeo.
O nvel de nutrientes que colocado a disposio da planta tem significativa
influncia sobre a concentrao dos mesmos na semente (Tabela 7). Por
exemplo, aumentando-se a disponibilidade de nitrognio aumentar-se- o nvel
de protena na semente. Deficincia no nvel de enxofre reduz a quantidade de
protena na semente, porque o mesmo faz parte da estrutura dos amino-cidos
metionina e cistina. Se estes aminocidos no so sintetizados, as protenas que
contm os mesmos tambm no sero sintetizadas. Reduo na disponibilidade
dos outros nutrientes tambm resultar na reduo dos mesmos na semente.
Tabela 7 - Porcentagem de minerais presentes na semente de cevada, em funo
da adubao
Minerais Elemento
aplicado N P K Ca Mg Na
Nenhum 1,54 0,29 0,51 0,065 0,10 0,39
P 1,44 0,36 0,45 0,055 0,10 0,27
K, Na, Mg 1,44 0,36 0,52 0,050 0,12 0,18
P,K, Na, Mg 1,40 0,36 0,54 0,050 0,11 0,16
N 1,90 0,28 0,45 0,055 0.11 0.47
N,P 1,65 0,34 0,42 0,055 0,10 0,47
N,K,Na,Mg 1,62 0,30 0,46 0,045 0,11 0,20
N,P,K,Na,Mg 1,35 0,32 0,53 0,050 0,10 0,23
Os trabalhos tem indicado que, de uma maneira geral, dos elementos
nutritivos, o nitrognio (sua concentrao na semente) o que tem maior
influncia sobre o vigor da mesma.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
115
9.1. Efeitos das condies ambientais sobre a qualidade da semente
A qualidade da semente pode ser influenciada pelas condies ambientais
que se verificam antes ou aps a maturao fisiolgica (quando a semente tem o
mximo de peso seco, germinao e vigor).
Se estresses ocorrerem por ocasio do enchimento da semente, isto , antes
da mesma atingir a maturao fisiolgica, limitaes no peso (matria seca),
viabilidade e vigor, provavelmente se verificaro.
Em condies de deficincia de gua em soja, a irrigao durante a formao
da vagem (ainda no est ocorrendo o enchimento da semente) melhora o
aspecto ("qualidade visual") da semente, enquanto que a irrigao nas fases mais
avanadas do enchimento da semente tendem a prejudicar sensivelmente sua
"qualidade visual", possivelmente, por promover a incidncia de doenas.
Altas temperaturas do ar durante a fase de enchimento da semente podem
reduzir o vigor, a germinao e a qualidade visual. Em soja, por exemplo, a
exposio da planta a alta temperatura (32/28
o
C; dia/noite) durante a fase de
enchimento da sementes reduziu a germinao destas em 28%, a matria seca em
24 mg/planta (vigor) e em 26% o n de sementes descoloridas (qualidade visual),
em relao as que se desenvolvem em uma temperatura baixa (27/22
o
C). No
geral, o dano causado a semente, devido as altas temperaturas, maior se vem
associado a problemas de seca.
O efeito de estresse de seca, sobre a qualidade da semente de soja, tambm
tem se revelado como mais severo, se imposto durante a fase de enchimento da
semente.
Tabela 8 - Resposta da qualidade de sementes de soja ao estresse de deficincia
de gua
Tratamento Germinao
(%)
Peso seco de
plntula (mg)
Sem estresse 95,6 61,8
Estresse no florescimento completo 94,4 61,8
Estresse na formao da vagen 92,4 60,3
Estresse no incio do enchimento da semente 85,4 58,0
Estresse no mximo volume da semente 91,0 58,1
Em milho, h indicaes de que altas temperaturas durante o dia tem pouco
efeito sobre a qualidade da semente. Contudo, temperaturas noturnas elevadas
afetam significativamente, de forma negativa, a forma da semente.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
116
A temperatura durante esta fase tambm tem profunda influncia sobre a
dormncia da semente. Esta, poder ou no ter influncia significativa sobre a
qualidade da semente, dependendo se ocorrerem chuvas aps a maturao
fisiolgica. Um grande nmero de espcies como, trigo, cevada, aveia, triticale,
festuca, caruru, beterraba entre outras, tem a dormncia das sementes
tremendamente reduzida (no desenvolvem dormncia) se durante o
desenvolvimento das mesmas ocorrerem altas temperaturas. Em trigo, por
exemplo, se ocorrerem temperaturas acima de 25
o
C durante o estgio de massa
mole (27 dias aps a florao), a semente no apresentar dormncia. Assim,
em uma situao como essa, se ocorrer chuva por ocasio da colheita, a semente
poder iniciar o processo de germinao ainda na espiga, o que reduzir em
muito a qualidade fisiolgica dessa semente.
Portanto, claramente, os danos causados s sementes em conseqncia de
altas temperaturas e deficincia de gua, podem reduzir sensivelmente sua
qualidade. Contudo, deve-se ter presente, de que nem sempre se verificar a
mesma resposta a um determinado estresse. Porque influncias tais como,
intensidade do estresse, poca de ocorrncia do mesmo durante o enchimento da
semente e variabilidade gentica entre as cultivares, podem determinar uma
resposta diferenciada.
9.1.1. Efeito de condies ambientais aps a maturao fisiolgica da
semente sobre a qualidade da mesma
Aps a maturao fisiolgica, tanto o vigor como a germinao vo
gradativamente sendo diminudos.
Alguns fatores contribuem para esta reduo da qualidade da semente: 1- o
umedecimento e secamento alternado, no campo, provoca uma reduo na
qualidade devido a rpida e diferenciada absoro de gua pelos diferentes
tecidos e a subsequente deteriorao diferenciada destes; 2- altas temperaturas
acompanhadas de alta umidade relativa, (especialmente para leguminosas), que
podem prolongar o perodo de perda de gua da semente (pelo menos duas
causas podem contribuir para a perda de vigor da semente nesta situao: a) a
respirao da semente mantida em um processo no qual no ocorre mais
sntese, a maturao fisiolgica j foi atingida e, b) infeco por doenas) 3-
variabilidade gentica entre cultivaras de uma mesma espcie para uma
tolerncia maior ou menor ao estresse durante esta fase (em soja, trigo, triticale,
por exemplo, so bem conhecidas essas diferenas).
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
117
10. MATURAO FISIOLGICA
Considera-se que a maturao fisiolgica aquele estdio de
desenvolvimento da semente no qual atingido o peso mximo de matria seca,
a semente possui o mximo vigor e germinao . Resultados de pesquisa esto a
indicar que para algumas espcies, o mximo de vigor e germinao da semente
no coincide com o mximo peso seco da mesma.
Na Fig. 7, observa-se o que acontece com alguns constituintes da semente de
milho a medida que a mesma vai desenvolvendo.
Figura 7 - Variao da composio de algumas substncias presentes na semente
a medida que ela se desenvolve. No eixo dos x temos dias aps polinizao at
maturao (M), e no y temos a quantidade em miligramas em cada parte da
semente.
Observa-se que a medida que a semente se aproxima da maturidade, ocorre
um gradual declnio na quantidade de aminocidos e de aucares solveis.
Quando a semente atinge a maturidade a maioria dos compostos nitrogenados
esto na forma de protena e os aucares na de amido.
0
10
20
30
0 15 30 45 M
Gro inteiro
Endosperma
Embrio
PROTENA
0
4
8
12
0 15 30 45 M
Gro inteiro
Embrio
Endosperma
LIPDEOS
0
2
4
6
8
10
0 15 30 45 M
Embrio
Endosperma
Gro inteiro
AUCAR
0
0,4
0,8
1,2
0 15 30 45 M
Gro inteiro
Endosperma
Embrio
AMINO CIDOS
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
118
Um marcador da maturao fisiolgica muito conhecido o da camada preta,
em sementes de milho. O surgimento dessa camada varivel e dependendo da
cultivar e/ou hbrido, alguns formam a camada com 35% de umidade, outros
com 20%. Sementes de sorgo tambm apresentam esta camada preta. J os
outros cereais no a apresentam.
11. A REGULAO DO DESENVOLVIMENTO DA SEMENTE
Pode-se resumir os eventos que ocorrem durante o desenvolvimento da
semente da seguinte forma: 1-diferenciao de tecidos, isto , uma nica clula
sofre diviso mittica e as clulas resultantes se diferenciam para formar o
modelo morfolgico do embrio (estabelece-se o eixo embrionrio da planta,
com o meristema apical das razes de um lado e o meristema apical das folhas do
outro, com um padro bsico de tecido entre ambos); 2-expanso das clulas e
deposio das reservas; 3-preparao do embrio para dormncia pela reduo
do processo metablico e reduo do contedo de gua.
A semente atinge a maturao fisiolgica em um estgio anterior ao da
maturao para colheita (13% de umidade). Em soja e em trigo ela ocorre com
aproximadamente 45 e 35% de umidade, respectivamente. Contudo, o embrio
dessas sementes, se colocado em meio de cultura, tem condies de germinar
poucos dias aps a fecundao. Embries de trigo, por exemplo, se retirados da
semente e colocado em meio apropriado, tem capacidade para germinar no
oitavo dia aps a fecundao. Embries de tomate, extrados de sementes que
foram retiradas do fruto aos 16 dias aps a fecundao, tem condies de
germinar. A prpria semente de tomate, retirada do fruto aos 25 dias aps a
fecundao, e posta na gua por 7 dias, pode apresentar cerca de 50% de
germinao. Porque o embrio do trigo germina quando retirado da semente?
Porque a semente de tomate germina quando retirado do fruto e no no interior
do mesmo, se a umidade no interior da semente e do fruto est muito acima
daquela exigida para que a germinao ocorra?
O metabolismo durante o desenvolvimento da semente principalmente
anablico, isto , de sntese de substncia. J durante a germinao, h uma
mudana para as enzimas envolvidas em processos catablicos, particularmente
nos tecidos de reserva. So, portanto, dois processos metablicos distintos e, os
dois implicam no envolvimento de uma troca, a qual afeta a transio do
"programa" de desenvolvimento da semente para o "programa" de germinao da
mesma. Essa "troca", geralmente acionada em um tempo preciso, para permitir,
o completo desenvolvimento dos eventos necessrios e importantes para que a
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
119
germinao seja obtida com sucesso, bem como o desenvolvimento da plntula.
Pelos exemplos mencionados acima (trigo e tomate), evidente que o
desenvolvimento de embries ocorre sobre a influencia do tecido materno, ou do
ambiente originado do tecido materno, ao redor do mesmo. Interaes ocorrem
entre ambos, determinando o curso da embriognese.
Estudos, que visam identificar mecanismos que mantm o embrio no
"programa" de desenvolvimento at o mesmo estar completamente desenvolvido,
tem abrangido dois fatores: o cido abscsico (ABA) e restrio a absoro de
gua. Durante o desenvolvimento da semente ocorre um aumento no contedo
de ABA em ambos, embrio e tecidos ao redor do mesmo. O cido abscsico,
tem um importante papel na inibio da germinao durante o desenvolvimento
da semente. Esta importncia, tem sido demonstrada atravs da utilizao, nos
estudos, de mutantes em relao ao ABA. Por exemplo, observa-se na Fig. 8 que
as sementes de uma planta de Arabidopsis thalian normal, logo aps serem
retiradas da planta, no germinam em gua . Contudo, sementes de um mutante
desta espcie que, devido a mutao que ocorreu, no sintetiza ABA, germina
precocemente.
Figura 8 - Germinao de Arabidopsis thalian normal e no mutante.
No caso da restrio a absoro de gua pelo embrio como mantenedor da
semente no "programa" de desenvolvimento, conhecido que o endosperma,
ainda na fase lquida, no qual o embrio se desenvolve, tem geralmente um
potencial osmtico negativo (-15 bars em alfafa; -16 bars em trigo). Dessa
forma, a germinao precoce tambm pode ser evitada pela restrio a absoro
de gua e, o embrio pode completar seu desenvolvimento.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 10 14 18 22
Dias aps polinizao
normal
mutante
G
e
r
m
i
n
a
o
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
120
11.1. Tolerncia dessecao
Qualquer tecido da planta, outro que o da semente ortodoxa, se exposto a
dessecao at uma umidade de 13%, morre. Contudo, as sementes no toleram a
dessecao em todos os estgios de seu desenvolvimento. As sementes que no
adquiriram tolerncia a dessecao e so submetidas a tal, perdem viabilidade e
no germinam quando hidratadas. Sementes de feijo, por exemplo, no
germinam se removidas e secadas at 22 dias aps a florao (DAF). Situao
semelhante ocorre com Mamona Ricimus sp. Sementes colhidas e dessecadas
aos 20 DAF no germinaram e no sobreviveram. Aparentemente a tolerncia a
dessecao foi adquirida em 5 dias (dos 20 aos 25 DAF). Nesta espcie, o incio
da tolerncia a dessecao foi adquirida quando a semente apresentava apenas
20% do total de matria seca, 17% do total de protenas de reserva, 13% de
lipdeos e 3% de fitina do que observado na semente madura (Fig. 9).
Figura 9 - Germinao de sementes de mamona aps o florescimento.
A tolerncia a dessecao maior nos estdios mais avanados. Porque razo
as sementes nos estgios iniciais de desenvolvimento so mais sensveis ou
bem menos tolerantes a dessecao?
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
20 25 30 35 40 45 50 55 60
G
e
r
m
i
n
a
o
%
Dias Aps Florescimento
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
121
Durante a diferenciao dos tecidos, os tecidos do embrio so
metabolicamente muito ativos, ocorre uma intensa diviso celular, o nvel
respiratrio muito alto, e as organelas como mitocondrias e cloroplastos j
possuem membranas internas bem diferenciadas. Aps este estgio de
diferenciao, tem um perodo de expanso celular pelo aumento da
vacuolizao dos tecidos do embrio. E, durante esse estgio, sementes de todos
os tipos so altamente sensveis a dessecao. Nesse estgio inicia o processo de
deposio de reservas e os vacolos comeam tambm a ser preenchidos com
protenas de reservas. E, como mencionado anteriormente, neste perodo que a
semente inicia a adquirir tolerncia a dessecao. O aumento relativo que se
observa no nvel de tolerncia a dessecao pode estar relacionado a mudanas
na anatomia celular, resultado da mudana de um metabolismo voltado para a
formao de novos tecidos e novas membranas e organelas para um tecido
anablico voltado para acumulao de reservas na semente. A deposio dessas
reservas nos citoplasmas e a conseqente reduo do volume vacuolar das
clulas pode contribuir para diminuio do estresse mecnico imposto pela
dessecao.
J untamente com as alteraes estruturais, muitas mudanas de ordem
bioqumica ocorrem nos ltimos estgios de desenvolvimento. Quando a
tolerncia a dessecao adquirida em sementes ortodoxas, uma srie de
substncias so depositadas. Entre elas, um grupo de protenas denominadas de
LEAs. Essas protenas agiriam como protetoras, de danos devido a dessecao.
11.2. Dormncia
Diz-se que uma semente dormente, quando esta no germina, apesar de lhe
ser dada todas as condies para que esse processo ocorra.
O desencadeamento da dormncia em sementes faz parte de um processo
normal de desenvolvimento. Considerando que, a semente deve servir ao
propsito de propagao da planta, a mesma deve possuir um alto grau de
resistncia a condies de altas e baixas temperaturas, seca, entre outros desafios
ambientais que a semente deve enfrentar. O desenvolvimento da dormncia na
semente, vai progressivamente reduzindo os processos metablicos no interior de
suas clulas. Muitos gens so desativados enquanto outros so ativados. Portanto
a preparao da condio de dormncia na semente um processo ativo.
A semente pode apresentar dormncia primria ou secundria. Apresenta
dormncia primria, quando, ao cair da planta, a semente j se encontra em
estado de dormncia. Portanto, a dormncia, neste caso, teve seu inicio no
decorrer do desenvolvimento da semente. Apresenta dormncia secundria
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
122
quando, a semente, aps sua maturao e sem apresentar dormncia, induzida a
um estado de dormncia por alguma condio desfavorvel para germinao
como, temperatura inadequada, falta de O
2
ou luz. A dormncia secundria
ocorre muito com sementes de plantas daninhas. O mecanismo que induz a
dormncia secundria desconhecido.
No desenvolvimento da dormncia, alm dos fatores genticos, os ambientais
so muito importantes. J foi mencionado acima que, em trigo, temperaturas
acima de 25
o
C durante o estgio de massa mole da semente, reduziro
sensivelmente o nvel de dormncia da mesma.
De uma forma geral, pode-se classificar a dormncia, considerando os fatores
que a determinam em: 1-exgena e 2-endgena. A dormncia exgena a
expresso da ao de fatores como: a-permeabilidade do tegumento (gases e
principalmente gua. Ex. sementes de leguminosas); b-restries mecnicas (o
embrio no tem condies de romper o tegumento durante a germinao. Ex.
Xantium sp.); c-inibidores qumicos nas estruturas em volta da semente (Ex.
Trigo. Algumas cultivares apresentam inibidores nas glumas). A dormncia
endgena o resultado da ao de fatores: a- morfolgicos (embries imaturos.
Ex. Fraxinus sp.) e b- fisiolgicos (Ex. aveia, trigo).
As metodologias para a superao da dormncia de sementes so abordadas
no Mdulo 04.
11.3. Germinao
A germinao da semente envolve a superao da dormncia e a retomada do
crescimento do embrio, isto , o processo que conduz para a dormncia
revertido. A transcrio de gens reassumida, a sntese de protena reiniciada e
a taxa de respirao e o metabolismo intermedirio aumenta drasticamente. Em
outras palavras, germinao a transformao do embrio em uma plntula.
Durante o processo de desenvolvimento do embrio em plntula uma srie de
reaes de degradao e sntese, assim como desenvolvimento e diferenciao
de tecidos, so observados. A gua o agente ativador de todo esse processo. A
embebio da semente pela gua, realizada atravs de processos fsicos e
ocorre basicamente em trs fases: a primeira caracterizada por uma rpida
absoro, a segunda, quando pouca gua absorvida, permanecendo
praticamente constante a concentrao da mesma na semente e a terceira onde
um segundo perodo de rpida absoro verificado, coincidindo com o
crescimento do embrio (Fig. 10).
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
123
Figura 10 - Fases da absoro de gua pela semente.
Fase 1: a embebio largamente em funo do alto potencial mtrico da
semente, e a absoro de gua ocorre independentemente da semente ser
dormente ou no, viva ou morta (o potencial mtrico origina-se de
macromolculas como protenas, cidos nuclicos, etc. as quais prendem a gua
em sua superfcie). Ocorre um aumento no consumo de O
2
, atribudo, em parte a
hidratao de enzimas mitocndriais (organelas onde ocorre a respirao)
envolvidas no ciclo de Krebs e na cadeia de transporte de eltrons. A respirao,
durante essa fase, aumenta linearmente com o grau de hidratao do tecido.
Fase 2: essa fase conhecida como "fase do descanso" e, o potencial
mtrico no tem mais importncia, a semente, est em equilbrio com o meio
externo. O potencial de gua da semente nesta fase , basicamente, o
balanceamento do potencial osmtico e do potencial de presso
(
gua
=
mtrico
+
osmtico
+
presso
). Est fase tambm caracterizada pela
estabilizao na absoro de O
2
. A hidratao de todas as partes da semente est
completada, bem como as enzimas pr-existentes (enzimas que permaneceram
no embrio desde seu desenvolvimento) esto ativadas.
Fase 3: apenas sementes vivas e no dormentes entram nessa fase. O novo
pique que se verifica na absoro de gua e tambm de O
2
nessa fase est
relacionada com a elongao da radcula e a formao de novos tecidos.
Tempo
A
b
s
o
r
o
d
e
g
u
a
(
a
u
m
e
n
t
o
d
e
p
e
s
o
f
r
e
s
c
o
)
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
124
11.3.1. Exigncias para que ocorra a germinao
1- que a semente seja vivel, isto , esteja viva; 2-disponibilidade de gua; 3-
presena de gases (mais freqentemente O
2
, porm nem sempre) c; 4-
temperatura adequada; 5-luz (para algumas espcies) e 6-que a semente no
esteja dormente.
O item 1 (viabilidade de semente) ser discutido dentro do item deteriorao
de sementes.
11.3.2. Disponibilidade de gua
Refere-se gua que chega ao embrio, portanto, j no interior da semente.
Fatores como: a- composio da semente; b- permeabilidade do tegumento e c-
temperatura; influenciam a entrada de gua na semente e portanto, seu acesso ao
embrio.
Como a composio da semente influencia a embebio da mesma? A
embebio da semente depende largamente de seu potencial mtrico. Esse por
sua vez, est relacionado com a composio da semente.
Algumas substncias tem um poder maior de atrair gua do que outras, entre
essas inclui-se: protenas, substncias pcticas, hemicelulose, cidos nuclicos,
mucilagens (se formam ao redor da semente quando em embebio, ex. em
semente de alface).
Observe-se na Tabela 9 que as semente de trigo e de milho no aumentaram
to rapidamente seu contedo de gua como as de alface e girassol. O contedo
de protena, que altamente higroscpica, de aproximadamente 12% em trigo e
9% emmilho. As sementes de alface e girassol, por sua vez, temumcontedo de
protena de aproximadamente 22 e 25%, respectivamente. Alm disso, sementes
de alface apresentam alta quantidade de mucilagem. Percebe-se, portanto que a
composio da semente tem grande importncia na embebio da mesma.
Tabela 9 - Efeito do tempo de exposio umidade, temperatura de 28
o
C, no
contedo de gua das sementes de algumas espcies cultivadas.
Horas Alface Trigo Girassol Milho
-------------------------- % do peso inicial ----------------------------
2
6
10
24
185
201
213
237
120
133
140
151
137
153
154
-
116
124
-
137
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
125
O contedo mnimo de gua para que sementes de milho, arroz, trigo, e soja
emitama radcula gira emtorno de 30; 26; 46 e 50%, respectivamente. Isso no significa
que o embrio e/ou eixo embrionrio dessas espcies necessitamumcontedo diferente
de gua para elongarema radcula, ou que os mesmos tenhamumcontedo diferente de
gua no momento da elongao. A semente de soja, por exemplo poder apresentar esse
contedo maior de gua no momento da germinao por que ela, emfuno do alto nvel
de protena, absorve gua mais rapidamente.
O contedo de umidade do solo, necessrio para as sementes germinarem
tambm pode ser diferente entre as espcies. Por exemplo, sementes de arroz e
trigo, para germinarem, necessitam que o solo tenha uma tenso de gua de pelo
menos 0,8 a -2,0 bares respectivamente. Portanto a semente de arroz requer mais
umidade no solo para germinar do que o trigo.
O efeito da permeabilidade do tegumento na embebio claro e evidente, j
o efeito da temperatura sobre a embebio muito pequeno, porque se trata de
um processo biolgico e sim fsico, por isso a temperatura tem pouca influncia.
A velocidade de embebio pode ter efeito sobre o estabelecimento da
cultura. Por exemplo, tem sido demonstrado que, a rpida absoro de gua pelas
sementes de ervilha, pode resultar em danos s clulas da superfcie dos
cotildones, o que poder resultar em baixa emergncia. A baixa emergncia de
sementes de lotes de soja que apresentam problemas de tegumento rompido,
pode estar relacionado com os danos devido a rpida penetrao da gua atravs
dessas regies danificadas. Nas culturas de vero, este dano ainda mais
acentuado, se associado a baixa temperatura, que com freqncia se verifica em
semeaduras realizadas no cedo, especialmente em soja, feijo e milho.
11.3.3. Presena de gases
gua emexcesso pode restringir a disponibilidade de O
2
e, conseqentemente,
reduzir ou atrasar a germinao. Sementes de espcies como milho, trigo, aveia,
triticale, cevada, arroz, pepino, sorgo germinam muito bem com concentraes
de O
2
que vo de 9 a 21% (concentrao do ar atmosfrico: 21%). Sementes de
espcies como girassol, amarantus, fumo, rabanete, no germinam a 2% de O
2
,
porm a 21%. J sementes das espcies grama bermuda, Heleochloa
alopecurides, germinam melhor com concentraes baixas de oxignio.
Para a maioria das espcies, concentraes de CO
2
maiores do que as
registradas normalmente na atmosfera (300mg/l), afetam negativamente a
germinao de suas sementes. J a germinao das sementes de algumas espcies
como Atriplex halimus, Russian thistle, e de algumas variedades de alface,
promovida com concentraes mais altas de CO
2
.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
126
11.3.4. Temperatura adequada
As sementes de cada espcie e, provavelmente de cada cultivar dentro de
uma mesma espcie, tem uma temperatura mnima, uma mxima e um tima
para germinar. A temperatura mnima para algumas espcies podem estar
prximas ao ponto de congelamento e as mximas prximas dos 50
o
C,
temperatura na qual algumas protenas, se hidratadas, so desnaturadas. Na
Tabela 10 so apresentadas as temperaturas para algumas espcies. Contudo,
essas temperaturas devem ser vistas com algum cuidado, considerando-se que as
mesmas so influenciadas por alguns fatores como qualidade da semente,
cultivar e pela prpria umidade da semente.
Tabela 10 - Temperatura mnima do solo e temperaturas cardinais para que
ocorra a germinao da semente de algumas espcies cultivadas.
Temperaturas cardinais Cultura Temperatura
mnima no solo Mnima tima Mxima
------------------------------------
o
C -------------------------------------
Aveia
Cevada
Trigo
Algodo
Arroz
Milho
Soja
Sorgo
6
5
3
17
21
10-13
10-13
21
3
4
4
15
11
9
9
9
28
22
25
34
32
33
30
33
34
36
32
39
41
42
41
40
Sementes de alta qualidade tero uma maior amplitude de temperatura para
germinar do que sementes de baixa qualidade.
11.3.5. Luz
A germinao das sementes de algumas espcies pode ser promovida pela luz
branca. O mecanismo desse fotocontrole est associado a determinados
comprimentos de onda de luz com um pigmento chamado fitocromo. O
fitocromo uma protena que pode existir em duas formas. Uma dessas formas
est presente nas sementes que no foram expostas a luz branca e, portanto, esto
dormentes. Essa forma de fitocromo, designada de Fv, absorve a parte do
espectro da luz branca com comprimento de onda de 660 nammetros (nm) que
a luz vermelha. O fitocromo Fv obviamente no pode superar a dormncia
(seno a semente no estaria dormente), porm se o mesmo ativado com a luz
de 660 nm, ele modificado para a forma ativa Fvl (Fitocromo vermelho longo),
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
127
que a forma que supera a dormncia em sementes. Porm, esta forma (Fvl)
absorve radiao com comprimento de onda de 730 nm e, se isso acontecer, ele
revertido para a forma inativa Fv.
Como a luz solar tem ambos os comprimentos de onda, a semente contm
uma certa proporo das duas formas. E, esta proporo que determina a
superao ou no da dormncia. Na Tabela 11 apresentada qual a proporo
entre Fvl/Fitocromo total que necessrio ter na semente para que ocorra a
germinao.
Tabela 11 - Necessidade de fitocromo na forma ativa (Fvl) em relao ao total
(Ftotal) para que ocorra a germinao da semente de algumas espcies sensveis
a luz.
Espcie Fv1/Ftotal
Lactuca sativa L. (alface)
Chenopodium alba L. (erva de bicho)
Amaranthus caudatus L. (rabo de raposa)
Cucumis sativus L. (pepino)
Amaranthus retroflexus L. (caruru)
0,6
0,3
0,02
0,05
0,001
A luz solar origina, nas sementes expostas a mesma, uma relao Fvl/Ftotal
de 0,55; luz branca fluorescente de 0,65; luz branca incandescente de 0,45;
radiao vermelha (660 nm) de 0,75; radiao vermelho longo (730 nm) de
0,02. Em outras palavras, no caso de se expor a semente luz branca
fluorescente, 65% do fitocromo estar na forma ativa (Fvl). No caso da semente
de alface, para que a superao da dormncia ocorra, a relao Fvl/Ftotal deve
ser de 0,6, portanto, a luz branca fluorescente seria eficiente como tratamento, j
a luz branca incandescente, no.
O fitocromo se localiza no embrio. O tratamento com luz para a superao
da dormncia, deve ser realizado com a semente embebida.
O benefcios ecolgicos da sensibilidade luz, para a sobrevivncia das
espcies cujas sementes so sensveis luz evidente. Sementes sensveis luz e
que se encontram a uma profundidade superior a 5 ou 7 mm tero a maior parte
de seu fitocromo na forma Fv (inativa), porque a medida que a luz passa pelo
solo vai aumentando a relao vermelho longo (730nm)/vermelho (660nm). O
mesmo raciocnio vlido para as sementes sensveis luz que ficam abaixo das
folhas.
Os estudos que deram origem ao conhecimento atual sobre como ocorrem os
processos envolvidos na germinao, foram baseados, principalmente, em
semente de cevada. Contudo, podem ser extrapolados para semente de trigo.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
128
Existem ainda muitos aspectos relativos a esses processos que precisam ser
esclarecidos. Ser abordado de uma maneira bastante suscinta os principais
processos envolvidos na germinao de sementes.
Estudos tem evidenciado que aps a embebio, os primeiros eventos do
processo de germinao so: 1- hidratao de enzimas pr-existentes ou
formadas durante o desenvolvimento da semente, sendo que estas so de
diferentes categorias: metablicas, respiratrias e sintetizadoras de RNA e
protenas; 2- formao de polissomos a partir de mRNA pr-existente; 3-
ativao de enzimas pr-existentes; 4- sntese de novos mRNAs e protenas e
bem mais tarde 5- a sntese de enzimas hidrolticas e proteolticas envolvidas na
degradao dos carboidratos e protenas. Este ltimo evento, basicamente, estar
dando suporte ao processo de germinao. Portanto, o embrio possui toda a
"maquinaria" necessria para promover a extruso da radcula e do coleoptilo,
sendo que as substncias de reserva (principalmente carboidratos e protenas)
contribuiro, fundamentalmente, para seu crescimento.
O seguinte grupo de enzimas est envolvido na hidrlise dos carboidratos: -
amilase, -amilase, desramificadoras ( e lemit- dextrina), glicosidase ou
maltase e fosforilase. Destas enzimas sabe-se, com certeza, que a -amilase (as
isoenzimas com ponto isoeltrico maior), a glicosidase ou maltase so
sintetizadas de novo, durante o processo de germinao. Desse grupo de enzimas
a -amilase foi uma das mais estudadas. O embrio produz um hormnio
chamado cido giberlico (AG) que transportado at a camada de aleurona.
Nesta, o AG estimula a sntese de hidrolases, principalmente, -amilase que so
secretadas para o endosperma, onde, juntamente com as outras enzimas que so
reativadas e/ou sintetizadas de novo, iro degradar os carboidratos (Fig. 11 ).
Algumas destas hidrolases esto envolvidas na degradao das paredes
celulares, possibilitando assim, o ataque das outras aos carboidratos.
Estes, so reduzidos a glicose, que absorvida pelas clulas transportadoras
do epitlio, localizadas entre o endosperma e o escutelo, e tranportadas para este,
onde ocorre a sntese da sacarose, que por sua vez transportada para a plntula
em desenvolvimento.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
129
Figura 11 - Diagrama da relao entre AG
3
e -amilase em sementes de cevada.
A - AG
3
produzido no escutelo; B - AG
3
migra para a camada de aleurona; C -
Enzimas hidrolticas so sintetizadas e liberadas; D - Hidrlise das reservas no
endosperma; E -Solutos podem inibir a sntese de novas enzimas hidrolticas; F -
Solutos destinados nutrio do embrio.
Simultaneamente ocorre a degradao de protenas, tanto nas clulas vivas da
camada de aleurona como nas clulas mortas do endosperma. Esta protelise ,
inclusive, a fonte de aminocidos para a sntese das hidrolases na camada de
aleurona. tambm atravs do epitlio que os pequenos peptdeos e/ou
aminocidos resultantes da protelise no interior do endosperma chegam ao
escutelo. Nesta estrutura do embrio os peptideos so novamente clivados e
transportados como aminocidos ao embrio em desenvolvimento.
Antes que a primeira folha se torne fotossintticamente ativa, a plntula
depende da energia e nutrientes providos pelas reservas da semente. Estudos tem
demonstrado que em uma mesma cultivar, de uma maneira geral, sementes
maiores e com uma concentrao maior de nitrognio originam plntulas mais
vigorosas.
coleoptilo
escutelo
enzimas
hidrolticas
solutos
raiz
A
A
B C
E
D
F
AG
3
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
130
12. PR-CONDICIONAMENTO DE SEMENTES
O perodo da semeadura at o estabelecimento da plntula a campo, um
perodo crtico considerando-se que a semente pode estar exposta a uma gama de
fatores adversos que podem influir em seu estabelecimento. Dependendo da
espcie, a germinao pode ser mais ou menos varivel, e isso, considerando-se
por exemplo olercolas, pode afetar a uniformidade de maturao. Nos sistemas
atuais de cultivo, altamente mecanizados, busca-se uma rpida, uniforme e
completa germinao das sementes. Um mtodo utilizado para uniformizar a
performance da semente na germinao, tanto a campo como em casa de
vegetao, tem sido a utilizao do pr-condicionamento, o qual consiste na
hidratao controlada da semente a um nvel tal que permita que ocorra
alguns eventos metablicos anteriores a germinao, sem que haja protuso
da radcula.
12.1. Vantagens do pr-condicionamento
12.1.1. Estabelecimento das plntulas
Rpida e uniforme germinao e estabelecimento, permitindo manejo mais
adequado e maturao uniforme.
12.1.2. Manejo
A rpida emergncia representa menor competio com as plantas daninhas
e, o controle pode ser feito em poca adequada para a cultura e em perodo no
qual o herbicida mais eficiente. A rpida emergncia pode permitir que a
plntula emerja do solo antes que se forme uma crosta sobre o mesmo; reduz o
tempo de exposio da semente a doenas no solo.
O pr-condicionamento no significa, necessariamente, aumento de
rendimento ou um produto de melhor qualidade, se o manejo bem como todas as
outras prticas culturais no forem adequados.
12.2. Como o pr-condicionamento atua na semente
A embebio da semente ocorre em trs fases bem distintas (veja Fig. 12).
durante a fase II que ocorrem as maiores mudanas metablicas, as quais
preparam o embrio para a germinao. E, nesta fase da embebio que o pr-
condicionamento provoca as alteraes que resultam em uma emergncia mais
rpida.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
131
Embora o padro da curva de absoro seja semelhante para sementes de
diferentes espcies , a durao de cada fase depende da espcie e, principalmente
da disponibilidade de gua. A manipulao da disponibilidade de gua,
essencial para o sucesso do pr-condicionamento. Este, consiste em impedir a
entrada da semente na fase III, portanto prolongando a fase II, atravs do
controle da disponibilidade de gua (Fig. 13).
Figura 12 - Contedo de gua na semente durante a embebio a potenciais de
0, -0,5,-1,0 e -1,5 MPa.
Por exemplo, sementes de cebola e cenoura postas em uma soluo osmtica
com -0,5 MPa levaram 7 dias para germinar, j com -1,0 MPa levaram 14 dias,
porm nessa, germinaram apenas 5% das sementes.
Em sementes que esto sendo submetidas ao pr-condicionamento, durante a
Fase II podem ocorrer, dependendo da espcie, diviso celular no embrio
(cenoura e aipo), sntese de DNA e RNA, reparao de danos nas membranas
celulares da sementes.
12.3. Tipos de pr-condicionamento
So trs os tipos ou formas que se utiliza para pr-condicionar a semente:
Fase
I II III
|
|
|
|
0 MPa
-0,5 MPa
-1,0 MPa
-1,5 MPa
..............................................................................................................
C
o
n
t
e
u
d
o
d
e
g
u
a
Tempo de Embebio
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
132
12.3.1. Umidificao da semente
Consiste basicamente em umedecer com gua a semente at um contedo
aproximado de 40%; posteriormente, procedendo-se depois a semeadura mida
ou secando-a para semear depois.
mais rpido, porm os resultados, para a maioria das espcies, no tem sido
dos melhores. J em sementes de arroz irrigado, este mtodo funciona muito
bem.
12.3.2. Osmocondicionamento
Utiliza substncias que reduzem o potencial osmtico da soluo, como, por
exemplo, o Polietileno Glicol (PEG 6000 ou PEG 8000).
12.3.3. Condicionadores mtricos
Utilizam substncias como silicatos (silicato de clcio sinttico) como
Microcel E e Zonolite (vermiculita). Estes materiais no geram potencial
osmtico, contudo a alta porosidade e capacidade de reter gua reflete-se em
um potencial mtrico considervel .
Sais e manitol tem sido muito usado at pouco tempo como osmticos,
porm ambos so absorvidos pela semente resultando na alterao do potencial
osmtico no interior da semente, e alm disso efeitos txicos foram observados.
Em conseqncia disso, passou-se a utilizar polietileno glicol de alto peso
molecular (PEG 6000-8000), para controlar o potencial osmtico da soluo.
12.4. Pr-condicionamento e longevidade da semente
Do ponto de vista comercial seria muito vantajoso se, a semente que
houvesse passado pelo pr-condicionamento pudesse ser seca e, posteriormente,
tivesse condies de apresentar uma longevidade maior e com alto vigor.
Os resultados na literatura indicam que as coisas no acontecem bem dessa
maneira. O pr-condicionamento, aparentemente, aumenta a longevidade durante
o armazenamento de sementes como cebola, pimento, contudo reduz a
longevidade de sementes de alho porr, cenoura e alface.
Sementes de tomate parecem manter os benefcios do pr-condicionamento
se armazenadas abaixo de 10
o
C. O efeito do pr-condicionamento sobre a
longevidade aparentemente varia de espcie para espcie.
Via pr-condicionamento, podem ser incorporados as sementes, substncias
como hormnios ou fungicidas.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
133
13. DETERIORAO DA SEMENTE
A deteriorao, em qualquer organismo, representa a soma de todos
processos deteriorativos que conduzem o mesmo a morte. Do ponto de vista
prtico, considera-se que uma semente est morta, quando esta deixa de germinar
em condies nas quais normalmente seriam favorveis para a emisso da
radcula (evidentemente que na ausncia de dormncia).
Embora a viabilidade de uma populao de sementes seja geralmente,
mantida em um alto grau por um tempo relativamente longo, para a maioria das
espcies cultivadas, quando as sementes so armazenadas sob condies
adequadas, sinais de deteriorao aparecem a medida que avana o perodo de
armazenamento.
Bem antes da perda da viabilidade a semente apresenta estes sinais ou
sintomas de deteriorao. A manifestao mais evidente a reduo na taxa de
crescimento das plntulas que se observa na primeira contagem de um teste de
germinao, portanto uma reduo no vigor.
Outros sintomas so o aumento no nmero de plntulas anormais, aumento
da condutividade dos lixiviados das semente mais deterioradas (o que pode ser
uma indicao da reduo da capacidade da semente de reorganizar suas
membranas durante a embebio), alterao de cor, aumento de cidos graxos
livres (o escurecimento da semente provavelmente seja devido a oxidao de
fenis ou compostos semelhantes no interior do tegumento da semente; a
produo de cidos graxos livres, no geral o resultado da ao de lipases),
presena de fungos. Portanto, as evidncias indicam que a deteriorao
das sementes ocorre anteriormente a reduo na porcentagem de germinao.
Porque a semente perde a viabilidade? Em outras palavras, quais os
mecanismos que levam a deteriorao da semente?
As causas exatas da deteriorao da semente ainda no so bem conhecidas.
Contudo uma srie de pesquisas tem sido conduzidas e indicam algumas causas
como fortes candidatas a promotoras da deteriorao.
Antes de se discutir as principais causas da deterioro importante que se
mantenha presente que os eventos envolvidos na mesma, no ocorrem de forma
isolada. Por exemplo, os danos s membranas do sistema reticulo
endoplasmtico-aparelho de golgi podem afetar drasticamente a capacidade da
clula sintetizar e processar protenas. Portanto, o envelhecimento da semente
deve ser visto como um sistema integrado de eventos deteriorativos, acoplados a
capacidade da semente de se autoreparar (reenvigorar)
Tem sido proposta uma classificao relativamente ampla dos mecanismos
envolvidos na deteriorao das sementes:
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
134
13.1. Reduo das reservas essenciais da semente
Essa teoria tinha como argumento central a hiptese de que a semente
perderia sua viabilidade em consequncia de reduo de suas reservas essencias.
Teve repercusso na dcada de 60, porm hoje no mais aceita como
importante.
13.2. Danos a macromolculas
a) Alteraes em enzimas e protenas
Alteraes na capacidade de sntese de enzimas e protenas durante a
deteriorao da semente tem sido uma rea muito pesquisada. Tem sido
verificado que a atividade de enzimas como fosfatase cidas, desidrogenases,
peroxidase, catalase, descarboxilases era reduzida com a deteriorao. Em
sementes deterioradas, esta reduo na capacidade de sntese, pode estar
relacionada a danos na "maquinaria" responsvel para sntese de protena e/ou
enzimas. Uma outra possivel causa seria, alteraes nos cofatores ou inibidores
de sntese.
b) Alteraes nos cidos nuclicos
Danos ao genoma tem sido reportado com frequncia, como sendo,
provavelmente, a primeira causa da deteriorao das sementes. Pequenos danos
podem resultar na acumulao de mutaes de ponto, onde pequenas mudanas
no so letais e so transmitidas um suficiente nmero de clulas filhas,
podendo afetar a morfologia ou funes originando plntulas anormais.
A utilizao de tcnicas mais sensveis tem permitido verificar a ocorrncia
de danos no cido desoxiribonuclico (ADN) ribossmico bem antes de qualquer
reduo no vigor da semente.
Danos no metabolismo do ADN podem ser cruciais no sentido de impedir ou
reduzir a possibilidade da semente se recobrar ou reverter danos ou leses
ocorridas durante o armazenamento da mesma. Em outras palavras, as sementes
perderiam a habilidade de produzir enzimas essenciais ao reparamento e talvez a
destoxificao (ex. superxido dismutase).
Tem sido observado, realmente, que sementes envelhecidas apresentam a
tendncia de aumentar a quantidade de mutaes.
c) Danos as membranas
Com o envelhecimento da semente, ocorre um aumento nos lixiviados. Em
outras palavras, a quantidade de solutos lixiviados de uma semente deteriorada,
embebida em gua, maior do que em uma no deteriorada.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
135
H evidncias de que o aumento dos lixiviados da semente ocorre antes da
morte de clulas. Essas evidncias so, portanto, uma forte indicao de que o
dano as membranas um evento que ocorre logo no incio do processo de
deteriorao.
A comparao da estrutura da membrana de uma semente deteriorada com
uma no deteriorada tem revelado evidncia de dano das membranas. Nas
deterioradas, a plasmalema mostra-se separada das paredes celulares, e
constituintes do citoplasma podem ser vistos como vazados da membrana.
Os fosfolipdeos so constituinte importante das membranas. Tem sido
observado que a perda de fosfolipdeos tambm um evento que se verifica
muito cedo no processo de deteriorao.
Percebe-se que, provavelmente, alteraes na membrana so eventos cruciais
na deteriorao da semente. O que causaria, ou desencadearia os danos as
membranas? Os fatores que esto, atualmente, sendo considerados como os
principais causadores dos danos as membranas so os radicais livres.
Radicais livres podem ser definidos como tomos ou grupos de tomos, que
tenham um ou mais eltrons sem par, isto , eles podem remover ou doar
eltrons de/ou para outras substncias. Os radicais livres que so potencialmente
mais capazes de produzir danos as molculas so: O
-
2
e , OH. Se presentes na
clula estes radicais podem iniciar reaes oxidativas em cadeia, especialmente
com cidos graxos insaturados. Alm de iniciar reaes em cadeia no interior da
membrana, os radicais livres podem causar danos graves ao DNA e outras
biomolculas. Os radicais livres podem ser produzidos em altos e/ou baixos
contedos de umidade da semente.
13.3. Acumulao de substncias txicas
A acumulao de substncias txicas na semente, tem sido reportado algumas
vezes na literatura, como causador da deteriorao das sementes. Algumas destas
substncias como aldedos e compostos fenlicos, so produtos da prpria
peroxidao dos cidos graxos reportados acima. So tnues as indicaes de que
esta a causa principal da deteriorao das sementes.
Em resumo, pode-se dizer que, atualmente, conhece-se muito sobre os
processos que podem ocorrer em situaes bem especficas e individuais durante
a deteriorao da semente. Porm, conhece-se muito pouco, sobre a importncia
desses processos como causa primeira da perda de vigor e germinao da
semente. O conhecimento que se tem atualmente sobre o assunto, leva a crer que
nenhum fator do metabolismo da semente, isoladamente, poderia ser indicado, de
uma maneira geral, como o responsvel pela deteriorao da semente.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
136
14. BIBLIOGRAFIA
BRAU, C.M.; DAVISON, P.A.; ASHORAF, N.; TAYLOR, R.M.; Biochemical
changes during osmopriming of leek seeds. Annual of Botany, v. 63, 1989. p.
185-193.
BEWLEY, J .D.; BLACK, M. Seeds: physiology of development and
germination. New York: Plenum, 1994. 445 p.
CALEG, C.R.; DUFFUS, C.M.; J EFFCOAT, B. Effects of elevated temperature
and reduced water uptake on enzimes of starch synthesis in developing wheat
grains. Australian Journal of plant Physiology, v. 17, 1990. p. 431-439.
DIAS, D.C.F. Maturao de sementes. Revista SEEDNews. Ano 5, n. 6, 2001.
p. 22-24.
FOSKET, D.E. Plant growth and development a molecular approach. Academic
Press, San Diego, CA. , 1994. 580 p.
MATTHEWS, S. Physiology of seed ageing. Outlook of Agriculture, v. 14,
1985. p. 89-94.
OBER, E.S.; SETTER, I.L.; MADISON, J .T.; THOMPSOM, J .F.; SHAPIRO,
P.S. Influence of water deficit on maize endosperm development. Plant
Physiology, v. 97, 1991. p. 154-164.
POPINIGIS, F. Fisiologia da semente. Braslia: Ministrio da Agricultura.
AGIPLAN, 1977. p. 287.
SAKRI, F.A.K.; SHANNON, J .C. Movement of 14C labelled sugars into kernels
of wheat (Triticum aestivun L.). Plant Physiology, v. 55, 1975. p. 881-889.
SUN, W.Q.; IRVING, T.C.; LEOPOLD, A.C. The role of sugar, vitriphication
and membrane phase transition in seed desication tolerance. Physiologia
Plantarum, v. 90, 1994. p. 621-628.
TESAR, M.B Physiological basis of crop growth and development. American
Society of Agronomy. 1988. 341 p.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
137
THORNE, J .H. Kinetics of 14 C- Photosynthate uptake by developing soybean
fruit. Plant Physiology, v. 65, 1990. p. 975-979.
WANG, N.; FISHER, D.B. The use of fluorescent tracers to characterize the
post-phloem transport pathway in maternal tissues of developing Wheat grains.
Plant Physiology, v. 104, 1994. p. 17-27.
CAPTULO 3
Anlise de Sementes
Prof
a
Dr Maria ngela Andr Tillmann
Prof
a
DrVera Delfina Colvara de Mello
Prof
a
Gldis Rosane Medeiros Rota
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
139
1. INTRODUO
A qualidade da semente avaliada por um somatrio junto de ndices
determinados pela anlise de uma amostra representativa de um lote de sementes.
O Laboratrio de Anlise de Sementes (LAS) o centro de controle dessa
qualidade (Fig. 1) onde, atravs dos diferentes testes realizados, pode-se obter
informaes sobre a mesma para as diferentes culturas quando em multiplicao,
produo ou, ainda, por ocasio da colheita, secagem, beneficiamento,
tratamento e armazenamento. Essas informaes so de grande valia na aferio
da tecnologia empregada e/ou identificao de problemas e suas possveis
causas.
Os processos para anlise de sementes foram estabelecidos tendo em vista
metodologias que fornecessem resultados seguros, precisos e uniformes. Como a
semente atravessa fronteiras internacionais e pode ser analisada em laboratrios
de diferentes pases, importante que todos os laboratrios utilizem mtodos
padres que possam fornecer os mesmos resultados dentro de determinados
limites de tolerncia. As Regras para Anlise de Sementes (RAS) especificam os
diferentes mtodos de anlises empregados, bem como os tamanhos mximos
para os lotes de sementes e o peso mnimo das amostras mdias e das amostras
de trabalho para a anlise de pureza e para a determinao do nmero de outras
sementes. Apresenta, ainda, instrues para o teste de pureza, germinao,
umidade, tetrazlio e outras determinaes.
Figura 1 - Laboratrio de Anlise de Sementes como centro de controle de
qualidade.
PRODUO
ARMAZENAMENTO COLHEITA
TRATAMENTO
SECAGEM
BENEFICIAMENTO
FISCALIZAO
DO COMRCIO
COMRCIO
LABORATRIO
DE SEMENTES
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
140
Este mdulo est fundamentado nas Regras Internacionais para Anlise de
Sementes da Associao Internacional de Anlise de Sementes (ISTA) sendo,
tambm, apresentadas metodologias de uso rotineiro no Brasil que no so
utilizadas internacionalmente.
A aplicao da Lei de Sementes seria inoperante sem a existncia de
laboratrios, para verificao da correta identificao da semente colocada
venda.
2. AMOSTRAGEM
2.1. Objetivo e importncia
O objetivo da amostragem de um lote de sementes obter uma amostra de
tamanho adequado que permita a realizao dos diferentes testes e que tenha na
mesma proporo os componentes do lote.
Como a amostra obtida muito pequena em relao ao tamanho do lote,
essencial que a sua coleta se proceda segundo mtodos preestabelecidos e
rigorosamente seguidos. Nos Boletins de Anlise de Sementes fornecidos pelos
LAS, os resultados refletem as caractersticas da amostra que foi testada. Os
ndices de qualidade das amostras correspondero aos dos lotes de sementes de
onde elas foram obtidas, na mesma relao em que essas amostras representarem
os respectivos lotes. Se o lote no for homogneo ou se houver erro na
amostragem, haver com certeza informaes incorretas e comprometedoras, que
podero beneficiar ou prejudicar os interessados.
2.2. Definies
2.2.1. Lote
uma quantidade definida, identificada e homognea de sementes com
atributos fsicos e fisiolgicos semelhantes.
2.2.2. Amostras
a) Amostra simples - cada pequena poro de sementes retirada por meio
de amostrador, ou com a mo, de diferentes locais do lote, obedecendo a
intensidade de amostragem.
b) Amostra composta - formada pela combinao e mistura de todas as
amostras simples retiradas do lote. Essa amostra usualmente bem maior que a
necessria para os vrios testes, necessitando ser reduzida antes de ser enviada ao
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
141
laboratrio.
c) Amostra mdia - a amostra recebida pelo LAS para ser submetida
anlise e deve ter, no mnimo, o peso especificado nas RAS para a espcie em
questo (Tabela 1). , geralmente, resultante da homogeneizao e reduo da
amostra composta, podendo ser a prpria quando o seu peso estiver de acordo
com o exigido.
d) Amostra de trabalho - a amostra obtida no LAS, por homogeneizao
e reduo da amostra mdia, at o peso mnimo requerido, nunca inferior ao
estabelecido nas RAS (Tabela 1).
e) Subamostra - a poro de uma amostra obtida pela reduo da amostra
de trabalho, usando um dos mtodos especificados nas RAS.
Tabela 1 - Pequeno exemplo extrado da tabela das RAS. Pesos mximos dos
lotes, pesos mnimos das amostras mdias, das amostras de trabalho para anlise
de pureza e determinao do nmero de outras sementes (Exame de Sementes
Nocivas).
Espcie
Peso
mximo do
lote
(kg)
Amostra
mdia
(g)
Amostra de
trabalho para
anlise de pureza
(g)
Amostra de trabalho
para determinao do
n
o
de outras sementes
(g)
Allium cepa 10.000 80 8 80
Andropogon gayanus 10.000 80 8 80
Avena sativa 25.000 1000 120 1000
Brachiaria decumbens 10.000 100 10 100
Daucus carota 10.000 30 3 30
Glycine max 25.000 1.000 500 1000
Lolium multiflorum 10.000 60 6 60
Medicago sativa 10.000 50 5 50
Phaseolus vulgaris 25.000 1.000 700 1.000
Sorghum bicolor 10.000 900 90 900
Zea mays 40.000 1.000 900 1000
2.3. Homogeneidade do lote de sementes
Um lote de sementes nunca perfeitamente homogneo. Mesmo que todas as
sementes de um lote provenham de uma nica lavoura, poder haver grande
desuniformidade no mesmo, pois nos campos de produo existem variaes no
estande da cultura e, conseqentemente, variaes nas quantidades de sementes
de invasoras nocivas e de outras espcies cultivadas. Ou, ainda, a colheita pode
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
142
ser intercalada com perodos chuvosos, o que pode determinar modificaes nas
caractersticas da semente. Variaes no grau de umidade, na fertilidade do solo
e na topografia do terreno podem, tambm, propiciar variaes no
desenvolvimento das sementes nas diferentes partes do campo.
A homogeneidade de um lote de sementes determinada, principalmente,
pelos cuidados com que os produtores separam as sementes com caractersticas
diferentes e na forma com que manejado o equipamento de limpeza,
classificao e secagem. Se um lote excessivamente heterogneo e as
diferenas entre as amostras de diversos sacos so visveis ao amostrador, a
amostra mdia obtida de acordo com as RAS no ser representativa e a
amostragem desse lote deve ser recusada. A transilagem, o rebeneficiamento e a
reduo do tamanho do lote so medidas empregadas para melhorar a
homogeneidade do lote.
2.4. Peso mximo dos lotes
O peso mximo de um lote de sementes no deve exceder ao indicado nas
RAS (Tabela 1), para as espcies especificadas, sujeitas a uma tolerncia de 5%.
Lotes com quantidades maiores do que as indicadas devem ser subdivididos e
receber outra identificao antes de serem amostrados. As regras limitam o
tamanho dos lotes de acordo com a espcie e tamanho das sementes. O limite de
peso estabelecido para tentarmos obter lotes mais homogneos.
Quando os lotes de sementes de cultivares especiais, hbridos de flores,
rvores e arbustos, vegetais e sementes agrcolas forem pequenos, amostras
mdias menores so permitidas. Consideram-se lotes pequenos os iguais ou
menores do que 1% do peso mximo estabelecido para o lote.
2.5. Obteno de amostras representativas
A amostragem para um certificado internacional deve ser executada por
pessoas treinadas, reconhecidas individualmente pelo LAS. O amostrador deve
possuir um certificado de proficincia na amostragem, reconhecido pelo chefe do
laboratrio.
Durante a amostragem, o proprietrio do lote de sementes deve fornecer
todos os dados para complementar a identificao do mesmo e disp-lo de tal
modo que cada recipiente ou local do lote possa ser amostrado. Se for evidente
que o lote no homogneo, a amostragem no deve ser efetuada.
No caso do proprietrio solicitar amostras extras para guardar, as mesmas
sero retiradas por ocasio da amostragem oficial, sendo lacradas e assinaladas
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
143
com a palavra Duplicata.
As amostras simples devem ser retiradas do lote por meio de amostradores,
que so os instrumentos apropriados.
Quando a amostragemfor realizada emsementes que deslizemcomdificuldades nos
amostradores, como acontece com algumas gramneas e com sementes com
muita quantidade de impurezas, a amostra poder ser extrada com a mo.
Quando o lote est em recipientes (incluindo sacos) esses, ao serem
amostrados, devem ser selecionados ao acaso e amostras simples devem ser
retiradas da parte superior, mediana e inferior dos recipientes, mas no
necessariamente de mais de uma posio do mesmo recipiente.
Em lotes de sementes a serem embalados em recipientes pequenos (sacos de
papel, polietileno, latas), prefervel que a amostragem seja realizada antes da
embalagem das sementes. Para sementes j acondicionadas, um nmero
suficiente de recipientes deve ser aberto e amostrado e novamente fechado.
Em sementes armazenadas a granel, as amostras simples devem ser retiradas
de diferentes pontos do lote e em profundidades diferentes.
2.6. Tipos de amostradores e mtodos para amostragem dos lotes
2.6.1. Amostrador do tipo duplo
Consiste em dois cilindros ocos de metal que se ajustam perfeitamente um
dentro do outro, com uma extremidade slida e afilada, providos de aberturas ou
janelas iguais que podem ser justapostas, por meio da rotao do cilindro interno.
Ao amostrar sementes em sacos, os seguintes tamanhos de amostradores so
apropriados: para trevo e outras sementes pequenas que deslizam facilmente,
76,2cm de comprimento, com dimetro externo de 1,27cm e nove aberturas; para
cereais, 76,2cm de comprimento com dimetro externo de 25,4cm e seis
aberturas.
Amostradores para sementes a granel so mais longos, de 1,5m a 2,0m de
comprimento, com 3,8cm de dimetro e com 6 a 9 aberturas.
O amostrador deve ser inserido diagonalmente na massa de sementes, num
ngulo de 30 graus na posio fechada, isto , com as aberturas dos cilindros
desencontradas e, uma vez aberto, deve ser girado algumas vezes at que fique
completamente cheio de sementes. Em seguida, deve ser fechado e retirado do
saco, despejando-se as sementes em recipiente apropriado.
2.6.2. Amostrador do tipo simples - Amostrador Nobbe
Este tipo de amostrador serve para coletar amostras de sementes
acondicionadas em sacos e pode ser construdo em diferentes dimenses, de
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
144
acordo com as espcies de sementes.
Consiste em um cilindro afilado, suficientemente longo para alcanar o
centro da embalagem, com uma abertura oval prxima extremidade afilada e
com um cabo perfurado, por onde as sementes so descarregadas.
O comprimento total do amostrador deve ter 50cm, incluindo o cabo de 10cm
e a ponta de cerca de 6cm, ficando livre cerca de 34cm do cilindro, o que
suficiente para alcanar a parte central do saco. Para os trevos e sementes
semelhantes, o dimetro interno do cilindro dever ter 1,0cm e, para os cereais,
em geral, 1,5cm.
Ao se utilizar esse tipo de amostrador, deve-se ter o cuidado de introduzi-lo
diagonalmente no saco, com a abertura voltada para baixo.
No permitido o uso desse tipo de amostrador quando seu comprimento
total no ultrapassa 25cm, pois suas caractersticas no preenchem as exigncias
da amostragem, sendo o mesmo denominado de ladro ou furador
2.6.3. Recipiente para amostragem durante o beneficiamento
A amostragem tambm pode ser realizada durante o processo de
beneficiamento de um lote, utilizando-se recipientes que podem ser
movimentados manual ou mecanicamente atravs do fluxo de sementes. As
amostras devem ser coletadas em intervalos regulares durante todo o processo.
2.6.4. Amostragem manual
As espcies de sementes que no deslizam com facilidade, como as
gramneas palhentas, algodo com linter, amendoim com casca, lomentos de
Stylozanthes e algumas sementes de espcies arbreas, devem ser amostradas
manualmente.
2.7. Intensidade da amostragem
2.7.1. A granel ou no fluxo
So exigncias mnimas as seguintes intensidades de amostragem:
- lotes de at 500 quilos de sementes: pelo menos 5 amostras simples;
- lotes de 501 a 3.000 quilos de sementes: uma amostra simples de cada 300
quilos, porm no menos de 5 amostras;
- lotes de 3001 a 20.000 quilos de sementes: uma amostra simples de cada
500 quilos, porm no menos de 10 amostras;
- lotes acima de 20.001 quilos de sementes: uma amostra simples para cada
700kg, mas no menos do que 40 amostras.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
145
2.7.2. Em sacos, tambores ou outros recipientes
So exigidas como mnimas, as seguintes intensidades de amostragem:
- lotes de at 5 recipientes: amostre cada recipiente e retire sempre 5 amostras
pelo menos;
- lotes de 6 a 30 recipientes: amostre 5 recipientes ou, pelo menos, um de
cada 3 recipientes, aquele nmero que for maior;
- lotes de 31 a 400 recipientes: amostre 10 recipientes ou, pelo menos, um de
cada 5 recipientes, aquele nmero que for maior;
- lotes de 401 ou mais recipientes: amostre 80 recipientes ou, pelo menos, um
de cada 7 recipientes, aquele nmero que for maior.
2.7.3. Em pequenos recipientes
Recomenda-se que o peso mximo de 100 quilos seja tomado como unidade
bsica e os recipientes pequenos sejam combinados de maneira a formar essas
unidades de amostragem da seguinte forma:
- 20 recipientes de 5 quilos;
- 33 recipientes de 3 quilos;
- 100 recipientes de 1 quilo.
A amostragem realizada nas unidades bsicas deve ser feita tomando-se
recipientes inteiros e fechados.
2.8. Pesos mnimos das amostras mdias
Os pesos mnimos das amostras mdias a serem enviadas ao LAS acham-se
especificados nas RAS (Tabela 1). Quando no for fornecido o peso na tabela e a
determinao do nmero de outras espcies for requisitada, as amostras mdias
devem conter um mnimo de 25.000 sementes.
No caso da amostra ser menor do que a prescrita, o amostrador deve ser
notificado e a anlise suspensa at que semente suficiente seja recebida em uma
nova amostra mdia. Exceo para o caso de semente muito cara, cuja anlise
pode ser completada tanto quanto possvel e a seguinte declarao inserida no
certificado: A amostra mdia pesou apenas ..... gramas e no est de acordo com
as RAS.
2.9. Embalagem, identificao, selagem e remessa da amostra
O tipo de embalagem para a remessa das amostras mdias ao LAS deve ser
de material resistente, para que no se rompa durante o transporte e deve
proteger as sementes contra o calor, umidade ou contaminao por doenas e
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
146
pragas. O papel Kraft multifoliado, papelo, algodo, so alguns tipos que
podem ser utilizados. Cada amostra deve ser identificada de maneira que se
possa estabelecer sua conexo com o respectivo lote. No caso de amostras cujos
resultados sero relatados em Boletim, a embalagem dever ser selada.
Amostras destinadas ao teste de germinao devem estar acondicionadas em
embalagens permeveis. No caso de ser solicitada a determinao do grau de
umidade, as amostras devem ser remetidas separadamente, em embalagens
impermeveis e hermeticamente fechadas.
O rgo responsvel pela coleta das amostras deve envi-las sem demora ao
LAS e, no caso de amostras oficiais, essas no devem ser deixadas aos cuidados
de pessoa no autorizada. Se as sementes forem tratadas quimicamente
(fungicidas ou inseticidas), devem ser fornecidos, junto com a amostra, o nome
do produto, ingrediente ativo e dosagem utilizada.
2.10. Obteno das amostras de trabalho
A amostra mdia, ao chegar ao LAS, deve ser protocolada e homogeneizada,
pois durante o transporte poder sofrer uma estratificao. Deve ser reduzida a
uma ou mais amostras de trabalho (de acordo com os testes a serem realizados),
de peso igual ou ligeiramente maior que os estipulados nas RAS.
Quando for requerida uma duplicata da amostra, essa deve ser retirada
independentemente, isto , depois de retiradas as amostras de trabalho.
As sementes restantes da amostra mdia constituiro a amostra de arquivo e
devem ser armazenadas prontamente em locais apropriados, prova de umidade
e calor.
Na reduo da amostra mdia, so utilizados mtodos mecnicos e manuais.
2.10.1. Mtodo mecnico
Adequado para todas as sementes que deslizam com facilidade. Independente
do aparelho utilizado, o cuidado com sua limpeza interna de fundamental
importncia antes de cada operao. O uso de divisores mecnicos elimina o
efeito da ao do analista no resultado da homogeneizao e reduo.
A amostra mdia dever ser passada no mnimo duas vezes pelo divisor para
ser homogeneizada e recomposta antes da diviso propriamente dita, que
realizada por meio de repetidas passagens das sementes pelo divisor removendo-
se, em cada vez, metade da poro. O processo de divises sucessivas repetido
at que se obtenha a amostra de trabalho de peso aproximado, mas nunca inferior
ao exigido para a espcie.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
147
a) Divisor cnico (Boerner) - Confeccionado em dois tamanhos, um maior
para sementes iguais ou maiores que as de trigo e um menor para sementes
menores. Consiste de uma moega cnica ou alimentador, de um cone invertido e
de uma srie de lminas separadoras que formam canais iguais na largura e no
comprimento. Uma vlvula na base da moega retm as sementes, as quais devem
ser despejadas no centro da moega. Ao abrir a vlvula, as sementes caem por
gravidade sobre o cone, sendo distribudas para os canais, alternadamente, e
conduzidas para duas bicas opostas situadas na base do aparelho. Pode causar
danos mecnicos para algumas espcies de sementes e apresenta dificuldades
para sua limpeza, sendo essa facilitada pelo uso do ar comprimido.
b) Divisor centrfugo (Gamet) - No aconselhvel para certas gramneas
forrageiras palhentas e outras espcies em que so requeridas amostras de
trabalho de peso muito pequeno. Utiliza a fora centrfuga.
A amostra inteira colocada no alimentador e, aps, o aparelho acionado.
As sementes caem da moega para um receptculo de borracha em forma de
taa, o qual, girando a uma determinada velocidade, atravs de um motor
eltrico, joga as sementes para um compartimento cilndrico fechado. Esse
compartimento fixo e dividido em duas partes iguais. Uma metade conduz as
sementes a uma bica e a outra metade para outra bica. A amostra dividida em
duas pores aproximadamente iguais. O divisor pode dar resultados variveis,
se no estiver corretamente nivelado por meio dos ps regulveis.
c) Divisor de solo - Confeccionado em dois tamanhos, sendo as sementes
conduzidas por gravidade. Consiste de uma moega, com canais alternados
dispostos em direes contrrias, um suporte para a moega e trs ou cinco
recipientes iguais que servem para a coleta e retorno das sementes ao divisor.
de fcil limpeza e apresenta grande facilidade no transporte. As sementes devem
ser uniformemente despejadas por toda a extenso da moega, usando-se um dos
recipientes de comprimento igual ao da mesma para que as sementes, por
gravidade, caiam simultaneamente por todos os canais. Esse divisor adequado
para espcies de sementes palhentas.
2.10.2. Mtodo manual
Na impossibilidade do uso de mtodos mecnicos, a reduo da amostra
mdia deve ser feita manualmente, respeitando o princpio das divises
sucessivas em que so baseados os divisores.
a) Mtodo modificado da separao ao meio - Consiste em um tabuleiro
quadrado ou retangular, dividido em um nmero par de compartimentos
quadrados e iguais, que so, alternadamente, providos de fundo. Depois de
manualmente homogeneizada, a amostra mdia uniformemente esparramada
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
148
sobre o tabuleiro e esse, ao ser levantado, retm aproximadamente metade da
amostra, deixando a outra metade sobre a mesa. Desse modo, a amostra
repetidamente dividida at a obteno do peso desejado.
b) Mtodo da colher - Utilizado somente para sementes pequenas. As
sementes so colocadas em uma bandeja e misturadas. Com o auxlio de uma
colher (com uma beirada reta) e de uma esptula, remova pequenas pores de
sementes de, pelo menos, cinco lugares da bandeja at obter o peso aproximado
da amostra de trabalho, nunca menor do que o tamanho requerido.
c) Mtodo manual da separao ao meio - restrito s sementes palhentas,
com ganchos, espinhos ou alas (exemplos: Andropogon, Arrhenatherum,
Astrebla, Brachiaria, Oryza, etc.) e para alguns gneros de rvores e arbustos.
Aps a homogeneizao da amostra mdia, essa colocada sobre uma mesa
limpa, formando um amontoado, o qual dividido ao meio. Cada metade
novamente dividida, resultando quatro pores, as quais so novamente divididas
e separadas em duas fileiras de quatro. Conservam-se na mesa 2 pores de cada
fileira, que so combinadas alternadamente, sendo as demais removidas. Esse
procedimento repetido tantas vezes quantas forem necessrias.
2.11. Armazenamento das amostras
Antes e aps a anlise, todo o esforo deve ser feito para que a amostra
recebida seja conservada de modo a se manter inalterada, sendo tambm
importante iniciar a anlise no dia da chegada da amostra no LAS. Se isso no
for possvel, necessrio reduzir ao mnimo o tempo transcorrido entre a
amostragem e a anlise.
Se houver necessidade de armazenamento da amostra antes da anlise, esse
deve ser feito em local adequado, de modo que no ocorram alteraes na
qualidade das sementes, como no grau de umidade, dormncia e germinao.
Aps a retirada das amostras de trabalho, necessrias para os testes, as
sementes remanescentes da amostra mdia iro constituir a amostra de arquivo.
Sobras da anlise de pureza ou de qualquer outro teste devem ser eliminadas, no
podendo fazer parte da amostra de arquivo. As amostras analisadas,
especialmente as destinadas anlise oficial, devem ter suas amostras de arquivo
correspondentes e serem guardadas por um ano da data da emisso do Boletim.
As amostras devem ser armazenadas em locais arejados, preferencialmente
com controle de temperatura e umidade relativa. O LAS no pode, entretanto, ser
responsabilizado pelo declnio da porcentagem de germinao durante o
armazenamento das amostras de arquivo.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
149
3. ANLISE DE PUREZA
3.1. Objetivo
Entre os mais significativos testes para avaliar a qualidade fsica da semente
esto a pureza fsica e a ocorrncia de outras espcies cultivadas ou silvestres.
O objetivo da anlise de pureza determinar:
- a composio da amostra em exame e, conseqentemente, a do lote de
sementes;
- a identidade das diferentes espcies e a natureza do material inerte que
compem a amostra.
Na anlise de pureza, consideram-se trs componentes: semente pura, outras
sementes e material inerte e a porcentagem de cada componente determinada
pelo peso. Todas as espcies de sementes e cada tipo de material inerte presente
devem ser identificados tanto quanto possvel.
3.2. Definies
3.2.1. Sementes puras
So consideradas sementes puras todas as sementes e/ou unidades de
disperso pertencentes espcie em exame, indicada pelo remetente ou
identificada como predominante na amostra, devendo ainda ser includas todas as
variedades botnicas e cultivares daquela espcie. Unidades de disperso so as
estruturas tais como sementes, antcios frteis, aqunios, carpdios, cremocarpos,
drupas, espiguetas, esquizocarpos, mericarpos, nculas e smaras, com as
estruturas que envolvem as sementes e os frutos e que servem para disseminar e
propagar as espcies.
Alm das sementes inteiras, maduras e no danificadas das espcies e
cultivares em exame, devem ser includas como puras as sementes que se
encontrem nas seguintes condies:
- sementes inteiras de tamanho inferior ao normal, enrugadas, chochas,
imaturas, trincadas, em incio de germinao, desde que possam ser identificadas
como sendo da espcie em exame;
- fragmentos de sementes e/ou unidades de disperso, quebradas, porm
maiores do que a metade do seu tamanho original;
- sementes levemente atacadas por molstias, desde que seja possvel
identific-las com preciso como pertencentes espcie em exame.
As especificaes para as diferentes famlias e gneros esto descritas em
detalhes nas RAS.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
150
3.2.2. Outras sementes
Todas as outras sementes e/ou unidades de disperso de qualquer espcie
cultivada ou silvestre, alm de bulbilhos ou tubrculos de plantas reconhecidas
como ervas daninhas ou invasoras e que no sejam as da espcie em exame.
3.2.3. Material inerte
O material inerte compreende as sementes e unidades de disperso de
espcies cultivadas e silvestres que no apresentem as caractersticas j citadas e
outros materiais que no sejam sementes, tais como: partculas de solo e areia,
pedras, palhas, pedaos de tegumento ou pericarpo, pedaos de plantas ou de
qualquer outro material que no seja semente.
3.3. Equipamentos e materiais
Entre os equipamentos e materiais necessrios anlise de pureza, podemser
citados:
- divisores mecnicos do tipo Boerner, Gamet e divisor de solos (obteno da
amostra);
- balanas de torso, analticas, eltricas, mecnicas ou digitais de diferentes
capacidades e sensibilidades;
- sopradores destinados a separar materiais leves, palhas e antcios vazios de
sementes e pseudo-sementes de gramneas, das sementes mais pesadas, sendo
que existem diferentes tipos de sopradores, construdos em formatos e tamanhos
diferentes; um soprador de sementes deve proporcionar uma corrente de ar
uniforme e meios para sua calibrao, alm de compartimentos para reter todas
as partculas separadas;
- peneiras: um ou mais conjuntos com diferentes malhas;
- diafanoscpio usado para algumas espcies de gramneas, permitindo
verificar se na semente (cariopse protegida pelas glumas, lemas e pleas) se
encontra ou no o endosperma em qualquer estdio de desenvolvimento e isso
pode ser conseguido fazendo-se passar a luz atravs da lema e plea e outras
estruturas, quando presentes;
- microscpio estereoscpico com diversos aumentos e, de preferncia, com
objetiva rotativa;
- lupas de mesa com diferentes aumentos;
- pinas (de ponta reta ou curva, fina ou grossa), esptulas, estiletes, pincis,
coletores de amostras, placas de Petri ou outros recipientes que facilitema separao;
- fichas de anlise e outros materiais para registro e clculo de resultados.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
151
3.4. Procedimento
3.4.1. Procedimento para uma amostra de trabalho inteira
Separao dos componentes - A mesa de trabalho dever estar
completamente limpa e nela a amostra deve ser conferida quanto autenticidade
dos dados do remetente com relao espcie. Quando se notar a presena de
substncias inertes (palhas, p, antcios vazios de sementes e pseudo-sementes
de gramneas, sementes imaturas etc.), de acordo com as espcies em exame,
pode-se usar peneiras de diversas malhas ou soprador para uma separao
preliminar. Depois, com a ajuda de esptula ou pina, inicia-se o exame
criterioso e a separao em grupos distintos dos trs componentes: sementes
puras, outras sementes e material inerte.
Identificao - Os laboratrios devem possuir mostrurios de sementes com
amostras devidamente catalogadas em famlias e, dentro dessas, por ordem
alfabtica, em gneros e espcies. Esse procedimento facilitar uma das mais
importantes fases da anlise de pureza, que a identificao das sementes
encontradas. necessrio tambm bibliografia especializada, com chaves
dicotmicas e fotografias ou outras ilustraes que permitam uma correta
identificao das sementes. Nessa identificao, dever ser indicada a espcie; se
isso no for possvel, pelo menos o gnero ou a famlia.
Registros na ficha de anlise - Terminada a identificao, as outras
sementes encontradas so contadas e anotadas na ficha de anlise; se possvel,
com o nome comum seguido do cientfico, ou somente esse ltimo.
Pesagem - Pesar os trs componentes separadamente: semente pura, outras
sementes e material inerte.
Clculo - A soma do peso total dos componentes (peso final) deve ser
comparada com o peso inicial da amostra, para verificar se no houve excessivo
ganho ou perda de peso durante o manuseio. Essa diferena no deve exceder a
5% do peso inicial. Se o ganho ou a perda for maior do que 5%, nova anlise de
pureza deve ser realizada.
A porcentagem em peso de cada componente deve ser informada com uma
casa decimal. As porcentagens devem ser baseadas na soma dos pesos dos
componentes e no no peso original da amostra de trabalho.
Componentes com menos de 0,05%, que devem ser considerados como trao,
so excludos do clculo - as outras fraes devem somar 100%. Se a soma no
igualar 100% (99,9 ou 100,1), ento adicione ou subtraia 0,1 do maior valor
(normalmente da frao semente pura).
Se uma correo maior do que 0,1% for necessria, deve ser observado se
houve erro de clculo.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
152
Exemplo: Trigo
g %
Peso Inicial 120,5 ///////
Semente Pura 119,0 98,8 (+0,1)
Outras Sementes 0,4 0,3
Material Inerte 1,0 0,8
Peso Final 120,4 100%
5% 6,0
. Comparao entre o peso inicial e o peso final da amostra
- 5% do peso inicial 6,0;
- a diferena entre o peso inicial e o peso final :
120,5 - 120,4 =0,1 <6,0;
- portanto, no houve uma perda excessiva de peso durante a anlise de pureza.
Obs.: Se houver uma discrepncia maior do que 5% do peso inicial, um novo
teste deve ser realizado e o seu resultado informado.
. Clculo da porcentagem de pureza
120,4 g __________ 100%
119,0 g __________ x x =98,8%
. Clculo da porcentagem de outras sementes
120,4 g __________ 100%
0,4 g __________ x x =0,3%
. Clculo da porcentagem de material inerte
120,4 g __________ 100%
1,0 g __________ x x =0,8%
3.4.2. Procedimento para duas subamostras de trabalho
Obteno das duas subamostras de trabalho - A anlise pode ser realizada
em duas subamostras de trabalho, com pelo menos metade do peso utilizado na
amostra de trabalho inteira, sendo cada subamostra retirada independentemente.
Separao dos componentes - Separar a amostra nos trs componentes:
semente pura, outras sementes e material inerte.
Identificao - Identificar as outras sementes e o material inerte. Terminada a
identificao, as outras sementes encontradas so contadas e anotadas na ficha de anlise;
se possvel, como nome comumseguido do cientfico, ou somente esse ltimo.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
153
Pesagem - Anote o peso de cada frao (semente pura, outras sementes e
material inerte), independentemente para cada metade da amostra de trabalho. A
soma do peso total dos componentes de cada subamostra (peso final) deve ser
comparada com o peso inicial de cada metade da amostra de trabalho, para
verificar se no houve excessivo ganho ou perda de peso durante a anlise. Se
existir uma diferena maior do que 5% do peso inicial, uma nova anlise nas
duas metades da amostra de trabalho deve ser realizada. O resultado do novo
teste , ento, declarado.
Clculo - Calcule a porcentagem em peso de cada componente, com pelo
menos duas casas decimais, para cada metade da amostra de trabalho. A
porcentagem em peso de cada componente deve ser baseada na soma do peso
dos componentes de cada metade da amostra de trabalho (peso final). Calcule a
porcentagem mdia por peso de cada componente (as porcentagens podem ser
arredondadas a um mnimo de duas casas decimais, porm no corrija para
100%). Utilize a Tabela de Tolerncia adequada.
Exemplo: Brachiria (semente palhenta).
1
a
Subamostra 2
a
Subamostra
g % g %
Peso Inicial 3,007 3,018
Semente Pura 2,890 95,54 2,900 96,19
Outras Sementes 0,045 1,49 0,035 1,16
Material Inerte 0,090 2,98 0,080 2,65
Peso Final 3,025 3,015
5% do Peso Inicial 0,150 0,151
. Comparao entre o peso inicial e o peso final de cada subamostra
1
a
subamostra 2
a
subamostra
5% do peso inicial 0,150 5% do peso inicial 0,151
a diferena entre o peso inicial a diferena entre o peso inicial
e o peso final 3,007 - 3,025 = e o peso final 3,018 - 3,015 =
0,018 <0,150 0,003 <0,151
. Clculo da porcentagem de pureza
1
a
subamostra 2
a
subamostra
3,025 __________ 100% 3,015 __________ 100%
2,890 __________ x x =95,54% 2,900 __________ x x =96,19%
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
154
. Clculo da porcentagem de outras sementes
1
a
subamostra 2
a
subamostra
3,025 __________ 100% 3,015 __________ 100%
0,045 __________ x x = 1,49% 0,035 __________ x x = 1,16%
. Clculo da porcentagem de material inerte
1
a
subamostra 2
a
subamostra
3,025 __________ 100% 3,015 __________ 100%
0,090 __________ x x = 2,98% 0,080 __________ x x = 2,65%
. Uso da Tabela de Tolerncia
1
a
Subamostra
2
a
Subamostra
Mdia Tolerncias Diferenas
Semente Pura 95,54 96,19 95,87 2,12 0,65
Outras Sementes 1,49 1,16 1,33 1,26 0,33
Material Inerte 2,98 2,65 2,82 1,78 0,33
A Tabela de Tolerncia consultada a 3.1. que se encontra no Captulo 15
das RAS.
De acordo com o exemplo, os componentes semente pura, outras sementes e
o material inerte encontram-se dentro da tolerncia.
Clculo Final - Somar os pesos dos componentes das duas subamostras de
trabalho.
g %
Semente Pura 5,790 95,9
Outras Sementes 0,080 1,3
Material Inerte 0,170 2,8
Peso Final 6,040 100,0
3.4.3. Informao dos resultados
As porcentagens de semente pura, outras sementes e material inerte devem
ser informadas com uma casa decimal e a porcentagem de todos os componentes
deve totalizar 100.
Quando a porcentagem for menor do que 0,05%, deve ser anotado como
Trao; e, se o resultado de algum componente for zero, deve ser indicado
como 0,0.
O nome cientfico da espcie em exame e das outras sementes encontradas,
bem como o tipo de material, devem ser informados.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
155
4. DETERMINAO DO NMERO DE OUTRAS SEMENTES
4.1. Objetivo
O objetivo dessa anlise pode atender diferentes solicitaes:
- estimar o nmero de todas as outras espcies solicitadas pelo remetente que
estejam presentes na amostra.
- estimar o nmero de sementes que sejam consideradas nocivas.
- estimar o nmero de sementes de uma espcie determinada (ex.: Agropyron
repens).
No comrcio nacional e internacional essa determinao utilizada,
principalmente, para determinar o nmero de sementes de espcies nocivas.
4.2. Definies
So duas as categorias de sementes nocivas:
4.2.1. Nocivas toleradas
So aquelas cuja presena na amostra permitida dentro de limites mximos
especficos e globais estabelecidos por lei.
4.2.2. Nocivas proibidas
So aquelas cuja presena no permitida nos lotes de sementes. Exemplo:
tiririca, arroz preto, cuscuta, etc. A presena de uma dessas sementes na amostra
suficiente para a recusa do lote.
4.3. Tipos de testes
A determinao do nmero de outras sementes pode ser realizada atravs de:
4.3.1. Teste completo
aquele no qual a amostra de trabalho inteira examinada para detectar a
presena de outras espcies.
4.3.2. Teste limitado
aquele no qual o exame restrito para as espcies solicitadas e executado
na totalidade da amostra de trabalho.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
156
4.3.3. Teste reduzido
aquele no qual somente parte da amostra de trabalho examinada (quando
a espcie solicitada pelo remetente for difcil de identificar).
4.3.4. Teste reduzido limitado
aquele no qual um peso menor do que o prescrito para a amostra de
trabalho examinado e somente para aquelas espcies determinadas.
4.4. Procedimento
Para realizar um teste completo ou um teste limitado, o tamanho da amostra
de trabalho deve ter um peso que contenha, pelo menos, 25.000 sementes ou no
menos do que o peso prescrito nas RAS na Tabela 2A (amostra de trabalho para
determinaes do nmero de outras sementes).
No teste reduzido, um mnimo de 1/5 do peso da amostra de trabalho
prescrita deve ser examinado para aquela espcie em particular.
Para o teste reduzido limitado, deve-se utilizar um peso menor do que o
prescrito para a amostra de trabalho.
4.5. Exame de sementes nocivas
O teste limitado o indicado para realizao do exame de sementes nocivas.
Aps a obteno da amostra, essa examinada separando-se apenas as
sementes nocivas, medida que as sementes so identificadas. Para esse tipo de
exame, o emprego de equipamentos, como peneiras, sopradores de sementes e/ou
descascadores (arroz vermelho), facilitam o trabalho do analista.
Se aparecerem sementes nocivas proibidas ou toleradas acima dos limites
estabelecidos por lei, o exame interrompido, constando no Boletim de Anlise
a razo.
4.6. Informao dos resultados
O resultado deste exame expresso em nmero de sementes de cada espcie
encontrada pela quantidade examinada (peso da amostra de trabalho), ou seja,
nmero de sementes/peso da amostra analisada.
Pode ainda ser expresso em nmero de sementes/unidade de peso (por
quilograma).
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
157
O nome cientfico deve ser informado e, quando as sementes encontradas no
forem identificadas em nvel de espcie, permitido anotar somente o gnero.
Se um segundo ou mais testes so executados na mesma amostra, o resultado
a ser relatado deve ser o nmero total de sementes encontradas no peso total
examinado.
5. TESTE DE GERMINAO
5.1. Objetivo
O objetivo do teste de germinao determinar o potencial mximo de
germinao de um lote de sementes, o qual pode, ento, ser usado para comparar
a qualidade de diferentes lotes e, tambm, para estimar o valor da semente para a
semeadura.
A metodologia empregada pelos laboratrios padronizada, onde condies
controladas de alguns ou de todos os fatores externos permitem a obteno de
uma germinao mais rpida, regular e completa dentro do menor perodo de
tempo para a maioria das amostras de sementes de uma determinada espcie. A
utilizao dessas condies padronizadas, consideradas timas, permitem
tambm a obteno, reproduo e comparao dos resultados nos diferentes
laboratrios.
5.2. Definio
5.2.1. Germinao
Germinao, em teste de laboratrio, a emergncia e o desenvolvimento da
plntula a um estdio onde o aspecto de suas estruturas essenciais indica se a
mesma ou no capaz de se desenvolver posteriormente em uma planta normal,
sob condies favorveis de campo. Assim, o resultado de germinao, relatado
no Boletim de Anlise, corresponde porcentagem de sementes que produziram
plntulas normais.
5.3. Condies para a germinao
Para que uma semente germine, so necessrias condies adequadas,
principalmente de umidade, aerao, temperatura e luz.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
158
5.3.1. Umidade e aerao
O fornecimento de gua condio fundamental para que a semente inicie e
desenvolva normalmente o processo de germinao. O aumento das atividades
respiratrias da semente, em nvel capaz de sustentar o crescimento do embrio,
com o fornecimento suficiente de energia e de substncias orgnicas, depende do
grau de hidratao de seus tecidos. H um teor de gua que a semente deve
atingir, o qual varia com a espcie, permeabilidade do tegumento,
disponibilidade de gua, temperatura, presso hidrosttica, rea de contato
semente/gua, foras intermoleculares, composio qumica e condio
fisiolgica da semente.
O substrato utilizado para a germinao deve, portanto estar suficientemente
mido durante todo o perodo do teste, a fim de proporcionar s sementes
quantidade necessria de gua para a sua germinao, mas no deve ser to
molhado a ponto de formar uma pelcula de gua em torno da semente,
restringindo a sua aerao.
A quantidade de gua a ser adicionada no substrato no incio do teste
depende da natureza desse, da sua dimenso e da espcie de semente. A
quantidade tima deve ser determinada por experimentao. Para o clculo da
quantidade de gua a ser adicionada ao substrato de papel, por exemplo, pode ser
utilizada a relao volume de gua (ml) por peso de substrato (g). Resultados de
pesquisa mostram que, para a maioria das sementes de gramneas, deve ser
adicionado um volume de gua em quantidade equivalente a 2-2,5 vezes o peso
do substrato. Para a maioria das sementes de leguminosas, essa relao de 2,5-
3,0.
J os substratos de solo ou areia, depois de peneirados, quando usados para
sementes maiores (leguminosas e milho), por exemplo, devem ser umedecidos a
60% de sua capacidade de reteno, enquanto que para as sementes de cereais
menores, at 50% de sua capacidade de reteno.
A adio subseqente de gua deve ser evitada tanto quanto possvel, visto
que aumenta a variabilidade entre repeties e entre testes.
A fim de evitar a perda de gua por evaporao e manter o substrato mido
durante todo o perodo do teste, a umidade relativa ao redor das amostras (dentro
do germinador) deve ser de 90 a 95% utilizando-se, para isso, umidificadores
automticos ou quantidade suficiente de gua na cuba do germinador. J a perda
de umidade nos testes com solo ou areia pode ser evitada utilizando-se caixas de
germinao (gerbox) com tampa ou, ainda, uma cobertura com plstico ou papel
toalha umedecido.
Cuidados quanto circulao de ar podem ainda ser necessrios sempre que
o germinador estiver sobrecarregado com espcies de germinao rpida e muito
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
159
vigorosa, ou quando houver excessiva condensao de umidade sobre as
plntulas. Condies de pouca aerao podem dificultar a germinao ou
ocasionar a deteriorao das plntulas.
5.3.2. Temperatura
A germinao da semente compreende diversas fases, as quais so afetadas
individualmente pela temperatura mas, em geral, o que se observa o efeito
global da mesma no desenvolvimento e crescimento da plntula. O uso da
temperatura adequada um dos fatores mais importantes para que ocorra a
germinao de uma semente e, ainda, que no exista um valor especfico.
Geralmente, trs pontos crticos podemser identificados:
- Temperatura mnima - aquela abaixo da qual no h germinao visvel
em perodo de tempo razovel;
- Temperatura mxima - aquela acima da qual no ocorre a germinao e
- Temperatura tima - aquela na qual ocorre o nmero mximo de
germinao dentro do menor perodo de tempo.
A maioria das sementes de espcies cultivadas germina sob limites
relativamente amplos de temperatura, enquanto que outras apresentam
exigncias mais restritas. Em geral, a temperatura considerada tima para cada
espcie est situada sempre mais prxima da temperatura mxima. A soja, por
exemplo, pode germinar de 8C a 40C, mas sua temperatura tima est
situada entre os 25 e 30C.
As temperaturas especificadas nas RAS para o teste de germinao foram
estabelecidas atravs de pesquisas, determinadas de acordo com a espcie.
Observa-se que a maioria das sementes germinam bem em temperatura constante
de 20C ou em temperaturas alternadas de 20-30C. Em ambos os casos,
constantes ou alternadas, elas devem permanecer to uniformes quanto possvel
no interior do germinador. No caso de temperatura constante, a variao devida
ao termostato no deve ser maior do que 1C, em cada perodo de 24 horas.
Para as alternadas, a temperatura mais baixa deve ser mantida durante 16 horas
(perodo noturno) e a mais alta por 8 horas (perodo diurno). Quando a
temperatura alternada a indicada para uma espcie de semente no dormente,
uma mudana gradual de at 3 horas considerada satisfatria. J para as
sementes que apresentam dormncia, essa mudana dever ser rpida, no
mximo de 1 hora. Se o tipo e/ou qualidade do termostato no permitir essa
mudana rpida de temperatura, recomenda-se a troca diria das amostras entre
dois germinadores previamente regulados nas temperaturas desejadas. Quando a
alternncia de temperatura for indicada para uma determinada espcie e no for
automaticamente controlada num mesmo germinador, as sementes devem
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
160
permanecer na mais baixa durante os fins-de-semana e nos feriados,
independente de se apresentarem dormentes ou no.
5.3.3. Luz
A maioria das espcies de sementes germinam tanto em presena de luz
como no escuro, sendo necessria para a germinao das sementes de muitas
espcies de gramneas forrageiras e hortalias, principalmente quando recm-
colhidas. Mesmo quando no indicada nas RAS, a iluminao durante o teste,
seja de fonte natural ou artificial, geralmente recomendada, a fim de favorecer
o desenvolvimento das estruturas essenciais das plntulas, facilitando sua
avaliao. Com o uso da luz, pode-se ainda evitar o aparecimento de plntulas
estioladas e hialinas mais sensveis ao ataque de microrganismos, bem como
detectar certos defeitos como a deficincia de clorofila. Entretanto, ainda que o
uso da luz seja necessrio para a germinao de muitas espcies de sementes, h
tambm algumas poucas espcies, como por exemplo Phacelia tanacetifolia, que
podem apresentar inibio da germinao quando em presena da luz.
A luz, quando prescrita para a germinao, deve ser bem distribuda por toda
a superfcie do substrato e empregada durante 8 horas a cada ciclo de 24 horas e,
quando fornecida sob o regime de temperaturas alternadas, deve ser
proporcionada conjuntamente com a temperatura mais alta.
Podem ser utilizadas tanto a luz natural como a artificial, desde que no
provoquem alterao da temperatura dentro do germinador ou uma secagem
excessiva do substrato. A luz fluorescente fria e branca (com alta emisso de
radiao vermelha) promove a germinao mais efetivamente do que a luz solar
ou proveniente de filamentos incandescentes (lmpada comum) que contm
radiao vermelho extrema, prxima ao infravermelho, a qual inibidora da
germinao.
A intensidade da luz de 750 a 1250 lux, aproximadamente, satisfaz as
exigncias de todas as sementes sensveis luz. Para as no-sensveis, a
intensidade da luz pode ser de 250 lux.
5.4. Materiais e equipamentos
5.4.1. Substrato
Estes so escolhidos considerando-se o tamanho das sementes, sua exigncia
quanto umidade, sua sensibilidade ou no luz e facilidade para o
desenvolvimento das plntulas at o estdio para a avaliao correta do teste.
Os tipos de substrato mais comumente usados so: papel (papel toalha, papel
mata-borro e papel filtro), areia e solo.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
161
Papel toalha - empregado em forma de rolo (EP - entre papel), o mais
indicado para espcies de sementes como soja, milho, feijo, arroz e aveia,
variando seu tamanho de acordo com o tamanho das sementes.
Papel mata-borro - utilizado para espcies de sementes de tamanhos
menores, como as de forrageiras e olercolas. A designao de SP (sobre papel) e
EP indicada pelas RAS est diretamente relacionada s espcies mais ou menos
sensveis luz, respectivamente.
Papel filtro - o menos utilizado nos testes comuns de germinao e, quando
isso acontece, emprega-se para sementes de forrageiras, olercolas e algumas
florestais e/ou ornamentais pequenas.
O importante nesses tipos de substratos que devem ser isentos de
substncias txicas solveis em gua, de fungos e bactrias que possam interferir
na germinao, apresentar poder de absoro e reteno de gua adequados e
ndice de pH de 6,0 a 7,5. Sua estrutura deve ser tal, que as razes se
desenvolvam sobre e no atravs de sua superfcie.
A avaliao da qualidade desse tipo de substrato feita comparando-se
sempre um estoque antigo, de qualidade conhecida e aceitvel, com a nova
partida, observando-se o desenvolvimento do sistema radicular das plntulas
durante a primeira contagem, quando os efeitos so mais visveis. Espcies como
Phleum pratense, Agrostis gigantea, Eragrostis curvula, por exemplo, so
conhecidas como sensveis ao papel txico, podendo ser usadas para a avaliao
da qualidade do mesmo.
Pano - Nas regras internacionais este substrato no indicado, embora no
Brasil seja recomendado para espcies de sementes de tamanho grande como
amendoim, algodo e caf. Esse substrato pode, entretanto, apresentar
dificuldades na avaliao do teste pois, se as malhas do tecido no forem
suficientemente fechadas, sero atravessadas tanto pelas razes como pela parte
area das plntulas. Outro inconveniente a necessidade de sua lavagem,
esterilizao e secagem para que possa ser reutilizado.
Areia - deve ser isenta de substncias txicas e de microrganismos,
previamente lavada, esterilizada e peneirada (passar por peneira com orifcio de
0,8mm de dimetro e ficar retida em outra de 0,05mm). Apesar de indicada para
algumas espcies, no utilizada rotineiramente devido a maiores dificuldades
para instalao do teste, ocupa grande espao no interior do germinador e
apresenta problemas de manuteno da limpeza do laboratrio. , entretanto,
recomendada a sua utilizao quando houver dvidas em algum teste,
principalmente quanto toxidez (reanlise).
Deve ainda apresentar pH 6,0 a 7,5, ser lavada e esterilizada antes de sua
utilizao. A areia pode ser utilizada diversas vezes mas, antes de ser reutilizada,
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
162
ela deve ser lavada, seca e reesterilizada.
Solo - pode substituir a areia, isto , ser utilizado em casos de dvidas nos
testes normais. Deve ser de boa qualidade, livre de partculas grandes, outras
sementes, fungos, bactrias, substncias txicas e nematides que possam
interferir na germinao, crescimento e avaliao das plntulas. Deve tambm
apresentar um pH 6,0 a 7,5 e no deve ser reutilizado. Esse tipo de substrato
apresenta dificuldade de padronizao, sendo dificilmente empregado pelos analistas.
OBS.: Nos testes com areia ou solo, as sementes no devem ser cobertas,
apenas comprimidas contra o substrato.
5.4.2. gua
A gua utilizada nos testes deve ser livre de impurezas orgnicas e
inorgnicas e apresentar pH 6,0 a 7,5. Pode ser utilizada gua destilada ou
deionizada. Quando for utilizada a gua destilada, uma maior aerao das
sementes necessria devido deficincia de oxignio da mesma.
5.4.3. Contadores de sementes
Normalmente dois tipos de contadores so encontrados nos laboratrios:
tabuleiro contador (placas perfuradas) e contador a vcuo.
Tabuleiro contador - utilizado para sementes maiores, como feijo, milho,
soja, etc. Seu tamanho aproxima-se do tamanho do substrato a ser usado e pode
conter 100, 50 ou 25 orifcios de tamanho e forma semelhante espcie de
semente a ser analisada.
Contador a vcuo - utilizado para espcies cujas sementes possuem forma
regular e so relativamente lisas, como as de cereais e espcies de Brassicas e
Trifolium. As placas desse tipo de contador contm, geralmente, 50 ou 100
orifcios, cujo dimetro deve estar em correspondncia com o tamanho da
semente e do vcuo aplicado.
5.4.4. Germinadores
Embora bastante variveis quanto ao tamanho, sistema empregado para
acomodao das amostras, dispositivos adotados para controle de temperaturas,
luz, umidade relativa do ar interna e outros detalhes, os germinadores mais
usados na grande maioria dos laboratrios so:
Germinador de cmara - composto de uma cmara de paredes
adequadamente isoladas para diminuir as variaes bruscas da temperatura
interna e um conjunto de bandejas. Seu fundo serve como depsito para gua
destilada que deve ser mantida em nvel adequado e a qual proporciona a
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
163
umidade relativa interna de 90-95%.
Os modelos mais simples possuem apenas um sistema de aquecimento
constitudo de uma resistncia eltrica ligada a um termostato, o qual permite o
controle de temperatura interna. Os mais modernos consistem de uma ou duas
cmaras com autonomia de isolamento, dotadas de sistema de aquecimento,
refrigerao e circulao de gua e/ou ar no seu interior. Possuem um sistema de
iluminao e um mecanismo para controle automtico de alternncia da
temperatura. Devido a seus sistemas de iluminao, controle de temperatura e
circulao de gua, podem permanecer no ambiente do laboratrio e
proporcionar uma maior diversificao de testes.
Germinador de sala - seu princpio de construo e funcionamento pode ser
semelhante aos do tipo cmara, diferindo apenas na sua dimenso, podendo
permitir, inclusive, a entrada de pessoas. As amostras so colocadas em
prateleiras laterais ao longo de uma passagem central e, alm do sistema de
controle de temperatura e luz, equipado com um sistema de ventilao e de
umidificadores proporcionando, assim, uniformizao da temperatura e umidade
relativa interna elevada. Alternativamente, os testes podem ser colocados em
carrinhos com rodas, os quais so, ento, empurrados para dentro do germinador
para o perodo de teste.
Germinador de cmara x sala - a combinao dos dois tipos citados
anteriormente e, de um modo geral, de grande capacidade e preo mais acessvel,
comparado aos germinadores automticos.
A sala construda com isolamento trmico e o ambiente mantido por meio
de ar condicionado e/ou compressores a uma temperatura constante
correspondente a mais baixa normalmente usada nos testes de germinao,
geralmente entre 15-20C. No seu interior, so colocados os germinadores tipo
cmara (modelo simples), regulados a diferentes temperaturas desejadas. Nesse
sistema, alm da temperatura constante, o mtodo da temperatura alternada pode
ser empregado pela simples troca das amostras entre dois germinadores
individuais, previamente regulados s temperaturas desejadas; por exemplo: 20-
30C.
Campnula vtrea ou aparelho de Jacobsen (tanque de Copenhague) -
este aparelho consiste de um prato de germinao sob o qual os substratos de
papel de filtro com sementes so colocados. O substrato mantido continuamente
mido atravs de umpavio, o qual se estende para baixo atravs de aberturas ou
orifcios no prato de germinao at um recipiente de gua.
5.4.5. Destilador de gua
Alm do umedecimento do substrato e preparo de solues (na ausncia de
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
164
gua potvel de boa qualidade), a gua destilada deve ser usada nos
germinadores (umidade relativa interna) para manter o bom funcionamento dos
mesmos.
5.4.6. Outros materiais e equipamentos
Caixas plsticas - de diferentes tamanhos: maiores para testes com areia e/ou
solo e menores (gerbox) para papel mata-borro ou de filtro;
Termmetros de mxima e mnima - para controle das temperaturas nos
germinadores;
Cmaras de refrigerao - para o tratamento de outras espcies que
apresentam dormncia;
Lupas manuais e microscpio estereoscpio - para auxlio na interpretao
dos testes;
Autoclave - para esterilizao de substratos;
Vidraria - sortimento variado de copos de Becker, frascos de Erlenmeyer,
vidros para solues qumicas, provetas e buretas graduadas, vidros de relgio,
depsito para gua destilada, placas de Petri, etc.;
Pinas - necessrias para remoo das plntulas e sementes durante as
contagens. Preferencialmente, devem ser com ponta mediana para no romperem
o substrato.
Alm desses citados, pias devem ser instaladas prximas mesa de
semeadura e mesas individuais com frmica ou ao inoxidvel, cadeiras com
assento e encosto ajustvel devem ser usadas. Mesinhas de rodas para transporte das
amostras, lpis, atilhos de borracha, fichas de anlise, baldes plsticos, entre
outros, so tambm indispensveis.
Um estoque de produtos qumicos como cido giberlico (AG
3
), nitrato de
potssio (KNO
3
), etileno, cido sulfrico concentrado (H
2
SO
4
), destinados a
tratamentos para superao de dormncia so recomendados.
5.5. Condies sanitrias
Os substratos e todos os utenslios usados no teste de germinao devem ser
conservados rigorosamente limpos e preservados de contaminao. Os substratos
devem ser guardados em lugar seco, arejado e protegidos de p. Utenslios como
caixas plsticas, placas de Petri e recipientes usados para testes de solo e areia
devem ser cuidadosamente lavados com gua e sabo.
Os germinadores merecem especial ateno, aps limpezas peridicas (15 em
15 dias), ou sempre que necessrio, com gua e sabo, devendo ser feita uma
desinfeco onde poder ser utilizado o formol a 0,5%, lcool, lysoform,
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
165
germitil, formaldeido, entre outros. Cada um desses produtos dever ser usado na
concentrao indicada na embalagem. Aps a limpeza, a gua dos germinadores
deve ser trocada. Cuidados pessoais devem ser tomados devido toxidez de
alguns dos produtos mencionados.
5.6. Metodologia
5.6.1. Amostra de trabalho
So utilizadas 400 sementes, tomadas ao acaso, da poro semente pura, da
anlise de pureza, semeadas em 4 repeties de 100, 8 de 50 ou 16 de 25. O
nmero de repeties depende da espcie em exame e/ou do tamanho das
sementes x tamanho do substrato.
As sementes multigrmicas como glomrulos de beterraba e espinafre da
Nova Zelndia no so separadas para o teste de germinao, porm so testadas
como se fossem sementes individuais.
5.6.2. Semeadura
As RAS especificam o procedimento mais adequado para a conduo dos
testes de germinao, procurando estabelecer condies extremamente
favorveis espcie testada. Essas condies permitem que, aps a germinao
inicial das sementes, o desenvolvimento das plntulas ocorra normalmente at
um estdio que possibilite sua correta interpretao.
O analista deve examinar cuidadosamente as instrues encontradas nas RAS
(Tabela 2) para a espcie de semente a ser analisada e adotar aquelas mais
condizentes com as condies do seu laboratrio. Quando a tcnica adotada
apresentar falhas, o teste dever ser repetido, usando-se outro dos mtodos
alternativos propostos.
Citando exemplos prticos, primeiramente com a espcie soja, temos, para o
teste de germinao, a seguinte metodologia nas RAS:
Substrato: EP; EA
Temperatura: 20-30; 25
Contagens: 5-8 dias
Em teste normal: -
Em caso de dormncia: -
Isso, na prtica, quer dizer: 8 repeties de 50 sementes devero ser semeadas
aleatoriamente e em substrato de papel em forma de rolo (EP) e colocadas a
germinar a uma temperatura de 20-30C, alternada, por at 8 dias. Sero
utilizadas para a semeadura 4 folhas de papel substrato (3 de base e 1 de
cobertura), previamente umedecidas e de tamanho adequado (observando-se a
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
166
relao tamanho de substrato x tabuleiro contador x espaamento). As repeties
(em forma de rolos) sero identificadas, individualmente e respectivamente, com
as letras A, B, C .. e H e agrupadas formando uma amostra que, aps a
identificao correspondente ao seu nmero de registro, ser colocada em
posio vertical no germinador, previamente regulado na temperatura desejada.
As contagens ou avaliao da amostra sero realizadas no quinto e oitavo dia.
No quinto dia, apenas as plntulas consideradas como normais sero retiradas do
teste e anotadas na ficha de anlise. Devero ser retiradas, tambm nesse dia,
sementes mortas ou apodrecidas que estiverem proliferando fungos. No oitavo
dia, ser ento realizada a avaliao final da amostra, onde sero contadas as
plntulas normais, anormais, sementes duras (se houver) e sementes mortas.
Tabela 2 - Tipos de substrato, temperaturas, dias de contagem e tratamentos
especiais para superao de dormncia para algumas espcies de sementes (RAS, 1996).
Espcie Substrato Temperatura
C
Contagens
(Dias)
Instrues adicionais
incluindo recom.
1
a
Final p/superao da
dormncia
Allium cepa SP;EP;EA 20;15 06 12 Pr-esfriamento
Andropogon gayanus SP 20-35 07 14 Luz; KNO
3
(embeba
extremidade basal)
Avena sativa EP;EA 20 05 10 Pr-aquecimento (30-
35
o
C); pr-esfriamento
Brachiaria humidicola SP 20-35 07 21 KNO
3
Daucus carota SP;EP 20-30;20 07 14 -
Glycine max EP;EA 20-30;25 05 08 -
Lolium multiflorum SP 20-30;15-25;20 05 14 Pr-esfriamento;
KNO
3
Medicago sativa SP;EP 20 04 10 Pr-esfriamento
Oryza sativa SP;EP;EA 20-30;25 05 14 Pr-aquecimento
(50
o
C)
Phaseolus vulgaris EP;EA 20-30;25;20 - 09 -
Sorghum bicolor SP;EP 20-30;25 04 10 Pr-esfriamento
Zea mays EP;EA 20-30;25;20 04 07 -
Para espcies de sementes como trigo, arroz, sorgo entre outras, de tamanho
semelhante, o procedimento para a montagem do teste parecido. Quatro
repeties de 100 sementes so semeadas com o contador a vcuo, em substrato
de papel (EP) de um tamanho que corresponda metade do tamanho do substrato
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
167
utilizado para a soja. Na conduo desses testes, devem ser observados ainda o
umedecimento adequado dos substratos e as recomendaes quanto
temperatura, dias de contagem e outras possveis exigncias da espcie.
Por outro lado, as espcies de sementes pequenas que exigem ambiente
mido e no so sensveis luz so colocadas para germinar entre duas ou mais
camadas de papel mata-borro (EP), em placas de Petri ou caixas plsticas
incolores e transparentes (gerbox). Quando sensveis luz, so semeadas da
mesma forma, s que sobre uma ou mais camadas de papel, sem cobertura (SP).
A utilizao do papel mata-borro exige cuidado por parte do analista para
verificar a necessidade do reumedecimento durante a conduo do teste,
principalmente aquelas espcies que requerem altas temperaturas e muitos dias
para a completa germinao das sementes. Ex.: Paspalum notatum var.
Pensacola.
Na Tabela 2 esto listadas algumas espcies constantes da Tabela 5A das RAS.
5.6.3. Durao do teste e contagens
A durao do teste, para cada espcie, corresponde ao nmero de dias
estabelecidos para a contagem final. Geralmente, duas contagens so efetuadas: a
primeira contagem e a contagem final. Na primeira contagem, so removidas do
substrato apenas as plntulas normais bem desenvolvidas, para evitar o risco de
entrelaamento de razes, e as sementes podres e/ou as plntulas infectadas, para
evitar contaminao. As plntulas com pouco desenvolvimento, as consideradas
como anormais, mais as sementes no-germinadas ou apenas com o incio de
germinao, devem permanecer no substrato at o dia da contagem final onde,
ento, sero avaliadas e computadas adequadamente.
O tempo para a primeira contagem aproximado, mas deve ser suficiente
para permitir que as plntulas atinjam o estdio de desenvolvimento, que permita
uma avaliao precisa. Os tempos indicados referem-se s temperaturas mais
altas; se uma temperatura mais baixa escolhida, a primeira contagem pode ser
adiada. Para testes em areia, com durao no superior a 7-10 dias, a primeira
contagem pode ser omitida.
Contagens intermedirias podem ser necessrias quando, por exemplo, o
perodo para a germinao relativamente longo, as plntulas apresentam
contaminao excessiva, e para sementes mltiplas, como os glomrulos de
beterraba e acelga, capim-de-Rhodes, aveia perene, Dactylis spp., entre outras,
cujas unidades so constitudas por duas ou mais sementes verdadeiras. Para o
ltimo caso, embora possa germinar mais de uma plntula para cada unidade, o
seu conjunto considerado como uma semente simples, ou seja, de cada semente
apenas uma plntula normal considerada. Contagens peridicas, nesse caso,
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
168
permitem manter a identificao das vrias plntulas provenientes de uma
mesma semente. As contagens intermedirias devem ser mantidas a um mnimo,
para reduzir o risco de danificar quaisquer plntulas que no tenham se
desenvolvido suficientemente.
Quando algumas sementes tenham iniciado a germinao, recomendado
que o perodo do teste possa ser estendido por 7 dias, ou at a metade do perodo
indicado para testes mais longos. Se, por outro lado, a germinao mxima da
amostra tenha sido obtida antes do final do perodo do teste, esse pode ser
encerrado.
5.6.4. Interpretao do teste
A interpretao do teste de germinao consiste em fazer a separao do
mesmo em plntulas normais (capazes de produzir plantas normais em
condies favorveis), plntulas anormais (incapazes de gerar plantas normais
no campo), sementes duras, sementes dormentes e sementes mortas.
- Plntulas normais (Fig. 2)
Plntulas intactas - so aquelas que apresentam todas as suas estruturas
essenciais bem desenvolvidas, completas, proporcionais e sadias. Apresentam
sistema radicular bem formado, hipoctilo desenvolvido e intacto e/ou epictilo
no lesionado, presena de um ou dois cotildones quando se tratar de mono ou
dicotiledneas, respectivamente. Devem apresentar um crescimento proporcional
entre a parte area e o sistema radicular, com exceo para certas espcies
florestais, cujas razes so muito longas. Em caso de desenvolvimento desigual,
o analista deve examinar as plntulas com maior cuidado.
Plntulas com pequenos defeitos - so tambm consideradas como normais,
as plntulas que apresentam algumas deficincias, como: ausncia de raiz
primria, mas com razes secundrias ou adventcias vigorosas e em nmero
suficiente para as leguminosas, malvceas e cucurbitceas, leso superficial (no
atingindo os vasos condutores) no hipoclito, epiclito ou cotildones, ausncia
de um cotildone, desde que o restante esteja sadio e haja uma gema normal,
plmula com comprimento maior do que a metade do coleptilo, inserida nesse,
desde que o mesmo se apresente intacto para as gramneas.
Plntulas com infeco secundria - plntulas atacadas por fungos ou
bactrias, mesmo que seriamente infeccionadas, se for evidente que a prpria
semente no a causa da infeco (infeco secundria) e as mesmas apresentem
todas as estruturas essenciais presentes e normais.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
169
Figura 2 - Plntulas normais de monocotiledneas (trigo) e de dicotiledneas
(soja). Curitiba, PR, 1976.
- Plntulas anormais (Fig. 3 e 4)
Plntulas danificadas devem ser assim consideradas aquelas que
apresentarem danificaes como: ausncia de cotildones, leses profundas
afetando os tecidos condutores, ausncia de raiz primria (quando esta estrutura
essencial), ou sem raiz primria e com as secundrias ou adventcias muito
fracas.
SOJA
Gema apical
Folha primordial
Epictilo
Cotildones
Hipoctilo
Raiz primria
Raiz secundria
TRIGO
Folha primria
Coleptilo
Raizes Seminais
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
170
Figura 3 - Anormalidades em plntulas de soja. Curitiba, PR, 1976.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
171
Figura 4 - Anormalidades em plntulas de trigo. Curitiba, PR, 1976.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
172
Plntulas deformadas em conseqncia do desenvolvimento geral fraco e
desequilibrado das estruturas essenciais, tais como plmulas, hipoctilos torcidos em
espiral ou atrofiados, hipoclito e/ou coleptilos curto e engrossado, plmulas
fendidas ou pouco desenvolvidas (menos da metade do tamanho do coleptilo),
coleptilo vazio, plntulas hialinas ou vtreas.
Plntulas deterioradas com uma ou todas as estruturas essenciais
infeccionadas ou apodrecidas, obviamente, por causas internas (infeco
primria).
De um modo geral, a ocorrncia de anormalidades em plntulas pode ser
causada por danos mecnicos, ataque de microrganismos ou de insetos,
vitalidade em declnio (deteriorao), danos por produtos qumicos, danos por
geadas, toxidez de substrato, contaminao do equipamento (uso de bandejas de cobre
soldadas com cido durante os testes) e outras deficincias prprias das sementes.
- Sementes mltiplas so unidades de sementes capazes de produzir mais de
uma plntula.
- Sementes no germinadas
Sementes duras so as que permanecem sem absorver gua at o final do
perodo do teste. Apresentam-se intactas, isto , no-intumescidas. Esse
fenmeno motivado pela impermeabilidade do tegumento das sementes gua,
sendo considerado como um tipo especial de dormncia que ocorre em
determinadas espcies, principalmente nas famlias Leguminosae e Malvaceae.
Ao final do teste de germinao, as sementes duras so contadas e relatadas
como tal no Boletim de Anlise. Quando uma maior informao requerida e
algum tratamento especial essencial, esse pode ser aplicado antes do incio do
teste de germinao ou nas sementes duras que permaneceremaps o perodo do teste.
Quando solicitado pelo interessado, o laboratrio poder usar um dos
tratamentos especficos para superar a dureza das sementes, tais como:
escarificao mecnica, escarificao com cido sulfrico concentrado (H
2
SO
4
)
ou embebio direta em gua por um perodo de 24 a 48 horas.
Sementes dormentes - as sementes de muitas gramneas forrageiras, alguns
cereais e crucferas e muitas espcies florestais e frutferas, embora vivas, no
germinam quando submetidas a condies consideradas timas para sua
germinao. Apenas absorvemgua, intumesceme apresentamum aspecto sadio,
entretanto no apodrecem.
Muitas so as causas desse fenmeno e as mais comuns so:
- envoltrios do embrio ou da semente (pericarpo) impermeveis ao gs
carbnico ou ao oxignio (arroz);
- envoltrios demasiado duros que impedem a expanso do embrio e
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
173
emergncia da radcula (florestais e frutferas);
- embries fisiologicamente imaturos (gramneas forrageiras e alguns
cereais);
- presena de substncias inibidoras nos frutos (acelga e beterraba).
So vrios os mtodos que podem ser utilizados para a superao da
dormncia das sementes favorecendo a germinao durante o teste.
Quando for utilizado algum desses mtodos, ele deve ser mencionado no
Boletim de Anlise. Os mais empregados so armazenagem a seco, pr-
esfriamento, pr-aquecimento, luz, nitrato de potssio (KNO
3
), cido giberlico
(AG
3
) e envelopes de polietileno lacrados.
Sempre que aparecerem no teste de germinao sementes dormentes,
necessrio fazer um reteste, usando mtodos para superar a dormncia.
Se forem encontradas sementes dormentes a uma taxa de 5% ou mais, deve-
se verificar se essas sementes possuem o potencial de produzirem plntulas
normais; isso pode ser feito atravs do teste de tetrazlio, retirada do embrio ou
raio X. Se existir qualquer dvida se a semente dormente ou morta, ento deve
ser classificada como morta.
J no caso de sementes de essncias florestais, todas as sementes no-
germinadas devem ser cortadas e verificado o nmero de sementes vazias, sem
embrio ou danificadas por insetos.
Sementes mortas - so as sementes que ao final do teste se apresentam
intumescidas mas no germinadas, moles e/ou apodrecidas, s vezes
contaminadas por microrganismos. Se for observado que uma semente produziu
qualquer parte de uma plntula, essa considerada como plntula anormal.
Outras categorias - em algumas circunstncias, sementes vazias e no-
germinadas podem ser classificadas e relatadas em Outras Determinaes, no
Boletim de Anlise.
5.6.5. Clculos
O clculo do teste de germinao feito obtendo-se a mdia das quatro
repeties de 100 sementes utilizadas, observando-se o limite mximo de
variao permitido entre as mesmas em tabelas de tolerncia contidas nas RAS.
Exemplo - Quando forem utilizadas 4 subamostras de 100 sementes.
. Nmero de plntulas normais determinados aps a contagem final :
Repeties A B C D
Plntulas normais 85 79 87 83
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
174
. Clculo da porcentagem de germinao:
83,50 =
4
83) + 87 + 79 + (85
= X
84% = X
. Uso da tabela de tolerncia: a variao mxima permitida entre as 4
repeties, quando a mdia de germinao 84%, de 14, ao redor de 2,5% de
probabilidade; logo, como a variao entre a repetio de maior valor e a de
menor valor no teste de 8, os resultados so considerados vlidos, sendo
informado os 84% de germinao no Boletim de Anlise.
Quando o resultado de um teste considerado insatisfatrio, esse no dever
ser relatado no Boletim e um segundo teste dever ser realizado utilizando o
mesmo mtodo ou outro mtodo alternativo, nas seguintes situaes:
- quando da suspeita de dormncia (sementes dormentes no-germinadas);
- quando o resultado no confivel, devido fitotoxicidade ou disseminao
de fungos ou bactrias;
- quando existe dificuldade em decidir sobre a avaliao correta do nmero
de plntulas;
- quando existe a evidncia de erro nas condies do teste, avaliao ou
contagem das plntulas;
- quando a amplitude das repeties de 100 sementes exceder a tolerncia
mxima permitida.
5.6.6. Informao de resultados no Boletim de Anlise
As porcentagens de plntulas normais, sementes duras (em separado),
plntulas anormais, sementes dormentes e mortas so relatadas em nmeros
inteiros, fazendo-se a aproximao para o nmero mais alto se a frao for 0,5 ou
maior e, para o nmero imediatamente inferior, quando for menor do que 0,5.
Exemplo: 84,50 85%
84,25 84%
Se algum desses valores for igual a zero, ele deve ser anotado com -0,0-.
A soma das porcentagens de plntulas normais e anormais e de sementes no-
germinadas deve ser de 100.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
175
As seguintes informaes podem tambm ser relatadas:
- temperatura e substratos usados;
- qualquer tratamento especial ou mtodo utilizado para promover
germinao;
- a porcentagem de germinao obtida dentro do tempo prescrito, se o
perodo de germinao for estendido alm do indicado;
- o segundo resultado obtido quando testes em duplicatas so indicados.
6. TESTES RPIDOS PARA DETERMINAR A VIABILIDADE DAS
SEMENTES
Apesar do teste de germinao ser rotineiramente utilizado para determinar a
qualidade fisiolgica das sementes, para fins de identificao e comercializao
de lotes, apresenta limitaes, tais como: requer perodos de tempo relativamente
longos, dependendo da espcie, para sua realizao impedindo, assim, uma maior
eficincia nas operaes de colheita, processamento, armazenamento e
comercializao; ser conduzido sob condies controladas (temperatura,
umidade e substrato) apresentando como resultado a capacidade mxima de
germinao de um lote de sementes, o que no reflete muitas vezes seu
desempenho a campo; no permite de forma precisa a identificao de fatores
que possam vir a afetar a qualidade das sementes, apresentando seus resultados,
muitas vezes, mascarados pela presena de fungos como Phomopsis para soja e
feijo, e Fusarium.
Considerando que a tomada de decises durante o manejo e comercializao
das sementes deve ser baseada em diagnstico de qualidade o mais completo
possvel e que as informaes referentes sobre sua real viabilidade so
indispensveis, o desenvolvimento de mtodos seguros e rpidos para determinar
o percentual de germinao de um lote de sementes em um perodo de tempo
relativamente curto, assume grande importncia nos programas de produo de
sementes.
Com base nesse princpio, foram desenvolvidas metodologias para esse fim,
como o teste de tetrazlio, de embries expostos e a tcnica do raio X.
6.1. Teste de tetrazlio
Apresenta potencial promissor, devido a sua rapidez e eficincia para
determinar a viabilidade, vigor, deteriorao por umidade, danos mecnicos e
danos por insetos de um lote de sementes, alm do julgamento individual da
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
176
semente em casos de ocorrncia de dormncia durante o teste de germinao.
Conhecido desde a dcada de 40 e j com padronizao de sua metodologia para
muitas espcies de sementes, as quais podem ser encontradas nas RAS, tem seu
emprego ainda bastante limitado para a grande maioria das mesmas. Para soja,
feijo e milho, entretanto, sua aplicao tem sido mais ampla, devido a um
intenso trabalho de treinamento e publicao de manuais de avaliao dos
testes, especficos para essas espcies.
um teste bioqumico, que estima a viabilidade das sementes com base na
alterao de colorao dos tecidos vivos do embrio pela reduo de um
indicador no interior dos mesmos. Essa alterao de colorao reflete a atividade
de sistemas enzimticos, no caso, das enzimas desidrogenases envolvidas no
processo normal de respirao das sementes que catalizam a reao de reduo
do sal de tetrazlio nas clulas vivas. Quando a semente imersa na soluo de
tetrazlio, a qual difusvel, incolor e inodora, essa se difunde atravs dos
tecidos, ocorrendo nas clulas vivas a reao de reduo que resulta na formao
de um composto vermelho, no difusvel, conhecido como formazan.
SOLUO DE TETRAZOLIO +H
+
DESIDROGENASES
>
FORMAZAN
(incolor difusvel) (vermelho no difusvel)
Como essa reao se processa no interior das clulas e onde o pigmento se
fixa, ocorre uma ntida separao entre o tecido vivo caracterizado pela presena
de processo respiratrio, do tecido morto que no respira e que mantm sua cor
natural.
um teste rpido e, como tal, cuidados especiais devem ser tomados quanto
aos fatores que podem afetar a velocidade da reao, tais como:
- pH da soluo - deve estar entre 6,5 a 7,5. Solues cidas retardam a reao;
- temperatura do teste - a reao favorecida entre os 30-40C, no
devendo ultrapassar os 40C para que no ocorra a degradao das protenas;
- presso atmosfrica e luz - a vcuo e no escuro a reao mais rpida;
- pr-condicionamento da semente - para o preparo das sementes, tais como
cortes para expor o embrio. Esses, so realizados rpido e facilmente em
sementes previamente embebidas.
6.1.1. Material e equipamentos
Para a realizao do teste, so necessrios:
- o reagente sal de tetrazlio - o mais empregado o 2,3,5 Trifenil Cloreto de
Tetrazlio (TZ);
- vidrarias tais como placas de Petri, copos de Becker, frasco de vidros de cor
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
177
ambar para armazenar a soluo;
- lminas ou bisturi para cortes e/ou estiletes para perfurar as sementes
expondo o embrio ao do TZ;
- estufas ou germinador com controle de temperatura entre 30-40C para o
desenvolvimento mais rpido da colorao;
- lupas ou binoculares com aumento de 5 a 10 vezes e com iluminao
fluorescente, principalmente em se tratando de sementes pequenas;
- refrigerador para armazenar as sementes aps a colorao e antes da
avaliao;
- substrato de papel para o pr-acondicionamento das sementes.
6.1.2. Metodologia
a) Preparo da soluo
Pode ser preparada diretamente na concentrao desejada ou pode ser feita
uma soluo estoque a 1% de concentrao, misturando-se 10 g de sal de
tetrazlio em 1000 ml de gua destilada. Essa soluo estoque deve ser
rigorosamente mantida em frasco de vidro de cor ambar e em local fresco e
escuro para evitar a auto-oxidao. Quando necessrio, partes da mesma podem
ser diludas pela aplicao de gua em quantidade suficiente para atender as
concentraes desejadas. Com base em experincia e devido ao alto custo do sal
de tetrazlio, sugere-se o uso de concentraes de 0,075 para sementes de soja e
feijo-vagem. Algumas sementes, como as de essncias florestais, ornamentais e
frutferas requerem concentraes de 0,5%, embora para a maioria das espcies
as RAS da ISTA indicam a concentrao de 1%.
b) Amostragem e preparo das sementes
Pr-umedecimento das sementes - As sementes provenientes da poro de
sementes puras (4 x 100) so pr-acondicionadas. O pr-umedecimento
necessrio preliminarmente colorao de algumas espcies e altamente
recomendado para outras. Esse procedimento provoca a ativao do sistema
enzimtico, o amolecimento das sementes, facilitando seu preparo (cortes) e o
desenvolvimento de uma colorao mais ntida e uniforme. As sementes podem
ser pr-acondicionadas, atravs do umedecimento lento ou da embebio direta
em gua.
A tcnica do umedecimento lento deve ser utilizada para aquelas espcies
que so mais propensas a sofrer danos se submersas diretamente na gua.
Sementes velhas e secas de diversas espcies podem, tambm, beneficiar-se
desse tipo de umedecimento. As sementes so colocadas entre duas folhas de
papel substrato previamente umedecido e mantidas num germinador a 20
o
C por
um perodo, geralmente, de 16 horas, ou seja, durante a noite.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
178
Na embebio direta em gua, as sementes devem ser completamente imersas
e deixadas at a sua embebio completa. Se o perodo de embebio for maior
do que 24 horas, a gua deve ser substituda.
Preparo das sementes - O mtodo de preparo das sementes vai depender das
caractersticas da espcie em exame, sendo que os mais utilizados so: a) corte
longitudinal, corte transversal ou inciso transversal das sementes para expor o
embrio diretamente ao do tetrazlio ou facilitar a penetrao do mesmo
atravs do endosperma at o embrio sendo que esse procedimento comum
para sementes de gramneas e conferas e a posio do corte vai depender do
tamanho da semente e da facilidade de sua execuo e posterior interpretao do
teste; b) perfurao - geralmente empregado em sementes de gramneas muito
pequenas, onde a tentativa de um corte pode ocasionar o esmagamento do
embrio; c) remoo dos tegumentos - efetuada aps o pr-condicionamento de
forma manual ou com auxlio de pinas, para semente de algumas espcies de
leguminosas (amendoim) e sementes das famlias das compostas e cucurbitceas
e d) exciso do embrio - pode ser usada para Hordeum, Secale e Triticum. O
embrio retirado (com o escutelo), se solta do endosperma e transferido para
uma soluo de tetrazlio.
Obs.: No Brasil, para sementes de soja, ervilha e feijo, utilizado o mtodo
da colorao direta; nesse mtodo, as sementes, aps o pr-condicionamento
inicial, so colocadas diretamente na soluo, sem nenhum preparo adicional.
c) Colorao
O processo de colorao ocorre pela imerso das sementes na soluo de
tetrazlio a uma temperatura de 30C, no escuro. O tempo requerido para a
colorao varia com a espcie, e mesmo entre sementes de uma mesma amostra.
A colorao mais rpida em solues de TZ com concentraes mais fortes,
temperaturas mais altas e no escuro. A cada 10C de aumento na temperatura,
dobra-se a velocidade da reao. Observa-se que as sementes que apresentam os
tegumentos danificados, colorem-se mais rpida e profundamente; portanto, o
contato das sementes com a soluo no deve ser excessivo, pois h a
possibilidade dos tecidos mais fracos assumirem colorao mais escura,
dificultando a avaliao. Esse comportamento observa-se tambm em sementes
com incio de deteriorao ou mais deterioradas, pois as membranas celulares
nesse estdio se tornam mais impermeveis, permitindo a entrada de uma
quantidade maior da soluo de TZ. Essa quantidade maior de soluo dentro das
sementes somada a um processo de respirao mais intenso (tecidos em incio de
deteriorao) ocasiona uma reduo da soluo em proporo bem maior no
interior das clulas, originando uma colorao mais intensa comparada quela
observada nos tecidos sadios. Esse fato considerado inclusive como um
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
179
parmetro para medir o vigor dos diferentes lotes de sementes. Durante o
processo de colorao, pode ocorrer a formao de uma espuma rsea na
superfcie da soluo ou, ainda, um precipitado vermelho no fundo do recipiente.
O primeiro caso indica uma reao do sal com o exsudato das sementes ou com
os microrganismos e, o segundo, evidncias de um perodo excessivo de contato
entre as sementes e a soluo de tetrazlio.
Alcanada a colorao ideal, a soluo drenada e as sementes so lavadas
com gua, sendo mantidas submersas at o momento da avaliao. Se a avaliao
no ocorrer de imediato, as sementes assim submersas em gua podem
permanecer no refrigerador por um perodo de tempo de at 24 horas.
d) Interpretao
A interpretao do teste exige do analista um conhecimento das estruturas
essenciais das sementes, as quais so as responsveis pelo desenvolvimento de
uma plntula normal. As estruturas da semente e da plntula de feijo e de milho
so mostradas nas Fig. 5 e 6. A distribuio entre tecidos vivos deteriorados e
mortos nessas reas a base para a avaliao do teste sendo, portanto, a
colorao um dos fatores que deve ser cuidadosamente observado. Ela deve
permitir uma diferenciao precisa entre os diferentes padres de colorao em
que se encontram os tecidos e identificar a possvel natureza das injrias.
Os tecidos vivos e sadios apresentam uma colorao vermelha ou rosa
brilhante, limpa e uniformemente distribuda. O analista deve estar atento para
relacion-la (vermelho ou rosa) concentrao da soluo utilizada, tempo de
exposio das sementes ao do tetrazlio e turgncia dos tecidos.
Os tecidos deteriorados podem apresentar coloraes que variam do
vermelho gren a um rosa leitoso, dependendo do grau de deteriorao dos
mesmos. O primeiro caso indica um incio de deteriorao dos mesmos. O rosa
leitoso indica um processo avanado de deteriorao, prxima morte do tecido.
Alm da intensidade da colorao e da textura ou turgncia dos tecidos, o
analista deve estar atento presena ou no de fraturas, leses ou necroses
localizadas em regies vitais das sementes, eixo embrionrio, bem como a
extenso das mesmas.
Quanto aos tecidos descoloridos, dois casos podem ocorrer: a) permanncia
da cor natural associada a um tecido turgido - ocorre freqentemente na parte
interna dos cotildones de uma semente de soja vigorosa, perfeitamente colorida
externamente. Isso indica semente vivel e de alto vigor, pois a no colorao
interna deve-se a uma maior impermeabilidade das membranas celulares
passagem da soluo; b) tecido descolorido (branco) flcido ou hialino que se
desestrutura se pressionado. Essa condio indica a morte do mesmo.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
180
I - Vista externa, tegumento removido;
II - Vista interna, um cotildone removido;
III - Plntula: 1 - cotildone; 2 - radcula; 3 - plmula; 4 - epictilo; 5 - folha
primria; 6 meristema apical; 7 - hipoctilo.
Figura 5 - Estruturas da semente e da plntula nas dicotiledneas (feijo).
Braslia, DF, 1996.
1
2
3
1
2
5
6
4
7
2
I II
III
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
181
I - Vista externa da cariopse;
II - Vista seccionada da cariopse;
III - Plntula: 1 - pericarpo; 2 - embrio; 3 - endosperma; 4 - escutelo; 5 -
coleptilo; 6 - plmula; 7 - raiz seminal; 8 - radcula; 9 - coleorriza.
Figura 6 - Estruturas da semente e da plntula nas gramneas (milho). Braslia,
DF, 1996.
1
2
1
4
3
5
6
7
8
9
5
6
7
8
I II
III
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
182
Alm da determinao da viabilidade e vigor esse teste permite, atravs de
uma observao cuidadosa, diagnosticar alguns problemas que a semente pode
apresentar, os quais podem interferir no desenvolvimento de uma plntula
normal, tais como: danos mecnicos causados por impactos e abrases
originando traincamentos de localizao e profundidade varivel as quais so
facilmente observadas (Fig. 7); danos por insetos, como a picada de percevejo;
danos por umidade, que no caso da sementes de soja caracteriza-se por estrias
vermelho gren ou esbranquiadas localizadas nas costas ou na superfcie dos
cotildones oposta ao eixo embrionrio, ou nesse mesmo eixo. O aparecimento
dessas estrias deve-se ao enrugamento dos tegumentos que pressionam os
cotildones devido as sucessivas hidrataes e desidrataes da semente durante
sua permanncia no campo; danos por resfriamento, observado em sementes de
milho e causados pela exposio das sementes baixas temperaturas quando ela
apresenta ainda um alto teor de gua durante a maturidade, o qual se caracteriza
por apresentar a regio das folhas primrias esbranquiadas, hialinas e com os
tecidos flcidos sendo que a maior parte do embrio apresenta uma cor rseo
opaca.
Figura 7 - Corte longitudinal de duas sementes de feijo-vagem, mostrando
danos no eixo embrionrio. Viosa, MG, 1996.
e) Informao dos resultados
Aps computado o nmero de sementes viveis em cada uma das repeties
do teste calculada a mdia em percentagem, e esse resultado expresso em
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
183
nmeros inteiros. As variaes mximas permitidas entre as repeties
observada pela mesma tabela de tolerncia empregada no teste de germinao.
O resultado relatado no Boletim de Anlise de Sementes em Outras
Determinaes da seguinte forma: Teste de tetrazlio ... porcentagem de
sementes viveis.
f) Limitaes do teste
Consideram-se como limitaes o fato do teste no permitir que seja
diagnosticado a presena ou no de sementes dormentes e danos causados por
produtos qumicos, alm de exigir conhecimentos tcnicos (estruturas das
sementes), treinamento, um maior nmero de horas de trabalho humano quando
comparado ao teste de germinao.
6.2. Teste de embries expostos
O objetivo determinar, rapidamente, a viabilidade de sementes. Empregado
para aquelas espcies que germinam lentamente, como essncias florestais,
ornamentais e frutferas ou, ainda, em casos de dormncia. No vlido para
sementes germinadas e no deve ser aplicado em amostras que contenham
sementes germinadas j secas. Nesse teste, os embries so extrados e mantidos
sob condies prescritas apropriadas para a germinao de cada espcie, por um
determinado perodo de tempo suficientemente longo para que os sinais de no-
viabilidade se desenvolvam.
Sero utilizadas quatrocentas sementes (4 x 100 ou 8 x 50) oriundas da
poro semente pura so embebidas por 1 a 4 dias, at seu completo
entumecimento. O processo de embebio deve ser feito em gua morna que no
exceda 25
o
C e a gua deve ser trocada 2 vezes por dia, para retardar o
crescimento de fungos ou bactrias e a acumulao de exsudato da semente.
Aps a embebio das sementes, os embries so extrados com bisturi ou
lmina, em condies o mais asspticas possveis, sendo recomendado uma
soluo aquosa com 70% de etanol, para esterilizar os instrumentos e a mesa de
trabalho. Aps sua extrao (no devem ser danificados pelo processo e tocados
o mnimo possvel), os embries so colocados sobre papel filtro previamente
umedecido e a mantidos a uma temperatura de 20 a 25
o
C, por um perodo de at
14 dias, com um mnimo de 8 horas de luz, diariamente. Durante esse perodo,
avaliaes dirias devem ser feitas, considerando-se como viveis os embries
que apresentarem as seguintes caractersticas: a) embries germinando; b)
embries com um ou mais cotildones apresentando crescimento ou uma
colorao esverdeada; c) embries firmes, ligeiramente aumentados, brancos ou
amarelos, de acordo com a espcie. Os considerados como no viveis se
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
184
apresentam: a) deteriorados ou envolvidos por fungos; b) deformados ou
degenerados, com forte colorao marrom, preta, de aparncia cinza ou branco
hialina. Nessa classe, so tambm computadas as sementes vazias (sem
embries).
O resultado expresso em porcentagem de sementes viveis em nmeros
inteiros. A porcentagem de germinao baseada no nmero total de frutos ou
sementes testadas e no no nmero de embries extrados, sendo determinada
pela frmula:
% G =
nmero de embries viveis
X 100
nmero de sementes testadas
6.3. Teste de raio X
Os objetivos da radiografia so: a) prover um mtodo rpido e no-destrutivo
de diferenciao entre sementes cheias, vazias, danificadas por insetos e
danificadas fisicamente atravs das caractersticas morfolgicas evidenciadas na
radiografia; b) criar umarquivo fotogrfico permanente das propores de sementes
cheias, vazias, danificadas por insetos e danificadas fisicamente emuma amostra.
relativamente simples e mostra bons resultados quanto determinao do
potencial de germinao das sementes, alm de permitir a identificao de alguns
fatores que possam comprometer a qualidade de um lote, como: danos
mecnicos e por insetos; trincas ou fissuras; ausncia ou desenvolvimento
incompleto do embrio, entre outros. Comparada ao teste de germinao, a
viabilidade de um lote de sementes pode ser determinada, por essa tcnica, em
poucas horas e vem sendo bastante empregada para sementes de essncias
florestais cuja germinao bastante lenta.
Sementes viveis so separadas das no-viveis aps um perodo de
embebio em agentes de contraste, como solues de sais de metais pesados e
outros agentes inorgnicos, seguidas de uma fotografia, onde so utilizados
filmes radiogrficos e cmeras apropriadas. O uso dos agentes de contraste
auxiliam na interpretao das imagens pois os tecidos vivos e mortos apresentam
diferentes capacidades de absoro dos mesmos. Os mortos absorvem-nos em
maior quantidade devido a uma maior permeabilidade das membranas,
resultando sua imagem mais densa na radiografia e, por conseqncia, uma
ntida rea de contraste comparada aos dos tecidos vivos. Os agentes de contraste
mais empregados so o cloreto de brio e o iodeto de sdio. A vantagem do uso
dessa tcnica, dependendo do agente de contraste empregado, que no danifica
as sementes, podendo a mesma, depois de avaliada, ser utilizada em um teste
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
185
normal de germinao para efeito de comparao.
Em observaes feitas com sementes inteiras de girassol, onde as mesmas,
depois de radiografadas, eram levadas a germinar, observou-se que as diferenas
de resultados entre os dois testes no ultrapassava os 5%, uma variao
perfeitamente aceitvel quando se trabalha com material biolgico. Pesquisas
dessa tcnica, em sementes de grandes culturas, so necessrias, j que seu
emprego tem sido na maior parte em essncias florestais e arbustos ornamentais.
Os resultados so expressos em porcentagem de sementes cheias, vazias,
danificadas fisicamente ou por insetos e informados no Boletim em Outras
Determinaes, da seguinte forma: Resultados do raio-X ...% danificadas
fisicamente ... % cheias ... % vazias ... % danificadas por insetos.
7. VERIFICAO DE ESPCIES E CULTIVARES
7.1. Objetivo
O objetivo determinar a extenso pela qual a amostra mdia de sementes
est de acordo com a espcie ou com a cultivar indicada. Essa determinao valida
somente se o remetente da mesma identifica a espcie e o cultivar, bemcomo se o
laboratrio dispe de uma amostra padro autntica para efetuar a comparao. Os
caracteres a seremcomparados podemser morfolgicos, fisiolgicos, citolgicos ou
qumicos e se usamoutros mtodos no permitidos na anlise de pureza. Essa anlise
dever ser realizada sempre que os padres de qualidade da espcie incluremtolerncias
mximas de outras espcies e outras cultivares.
7.2. Princpios gerais
A determinao pode ser realizada sobre as sementes, plntulas ou plantas cultivadas
no laboratrio, casa de vegetao, cmaras de crescimento ou a campo.
Para o caso de espcies e cultivares que sejam uniformes em um dos vrios
caracteres de identificao (espcies autgamas), efetua-se uma contagem das
sementes, plntulas ou plantas no-autnticas. Para espcies algamas, realiza-se
uma contagemde todos os indivduos claramente atpicos e se emite umresultado
sobre a autenticidade da amostra emexame. Os pesos mnimos das amostras mdias
para os testes de laboratrio e de campo so os seguintes:
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
186
Gnero Laboratrio
(g)
Campo e laboratrio
(g)
Glycine, Lupinus, Pisum, Phaseolus, Vicia,
Zea e outros de tamanho semelhante
1.000
2.000
Avena, Hordeum, Secale, Triticum e
outras de tamanho semelhante
500
1.000
Beta e outras de tamanho semelhante 250 500
Outros gneros 100 250
7.3. Exame das sementes
Para determinar a porcentagem de sementes que est de acordo com a espcie
e cultivar indicadas, a amostra de trabalho dever ser de, no mnimo, 400
sementes (4 x 100) tomadas ao acaso de uma amostra mdia, de acordo com as
RAS.
Para observar-se os caracteres morfolgicos como tamanho e cor das
sementes e do hilo (soja) e forma da semente, base da lema, cor, pregas da lema
e da plea (cereais), so necessrios aparelhos adequados (lupas), a luz do dia ou
a luz de um espectro limitado como, por exemplo, a luz ultravioleta. Em aveia e
cevada, a cor das sementes, quando observadas com a luz ultravioleta, em geral
til para a sua identificao.
Para a observao das caractersticas qumicas, as sementes podero ser
tratadas com um reagente apropriado, para cada um dos casos, e a reao de cada
semente anotada.
Teste do Fenol - as cultivares se diferenciam medida em que suas sementes
se colorem ao serem tratadas com uma soluo de Fenol a 1%. A colorao se
processa devido a algumas enzimas presentes na superfcie externa da semente
causarem uma oxidao do fenol que mostra uma colorao escura. A
intensidade da oxidao uma caracterstica da cultivar e, por isso, a intensidade
da colorao varia de uma cultivar para outra. A reao do fenol muito
importante para separar cultivares de trigo, aveia, centeio, cevada e algumas
forrageiras.
Nesse teste, as sementes so embebidas em gua e, a seguir, transferidas para
um papel secante onde permanecem de 40 a 60 minutos. Aps, so colocadas
sobre papel filtro umedecido com 5 ml de uma soluo de cido fnico a 1% para
trigo e 2% para cevada, por exemplo. A colorao das sementes observada
aps 4 a 24 horas de tratamento. Algumas espcies colorem rapidamente,
enquanto que outras no. A temperatura de 20-30C adequada para o trigo.
Para cevada, necessrio temperatura mais alta. Antes da avaliao, as sementes
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
187
necessitam ser lavadas e secas.
Teste de Lugol - utilizado para o gnero Lupinus - sementes de algumas
cultivares desse gnero possuem um alcalide e sua presena constitui um
elemento de identificao de cultivares quando as sementes so tratadas com
lugol. O mtodo simples: primeiramente, as sementes so embebidas em gua
por 24 horas. A seguir, lminas delgadas dos cotildones so retiradas e
colocadas sobre uma superfcie branca e, sobre elas, adiciona-se 1 ou 2 gotas da
soluo de lugol. A presena de uma colorao marrom avermelhado, nessas
lminas, indica a presena do alcalide.
Teste de peroxidase - Este teste bastante utilizado no Brasil. A
identificao das diferentes cultivares de soja, em laboratrio, muito difcil
quando se trabalha apenas com os aspectos morfolgicos da semente. A
peroxidase uma enzima que est presente no tegumento das sementes de soja e
pode apresentar desde uma alta atividade (positiva), em algumas cultivares, at
uma baixa atividade (negativa) para outras.
O procedimento para esse teste simples. Separam-se, inicialmente, os
tegumentos das sementes de cada cultivar em estudo e esses so colocados em
tubos de ensaios separados. importante salientar que nenhum pedao do
embrio ou dos cotildones deve permanecer aderido aos tegumentos.
Em cada um dos tubos de ensaio que contenham os tegumentos, colocam-se
10 gotas de uma soluo de guaiacol a 0,5% por 10 minutos e, em seguida, 1
gota de uma soluo de perxido de hidrognio (H
2
O
2
) de 40 volumes. Aps 1
minuto, realiza-se a avaliao. A reao ser considerada positiva (+) se uma
colorao pardo-escura for formada e negativa (-) se no ocorrer nenhuma
alterao de cor.
Eletroforese - Dentro das tcnicas de laboratrio para identificao da
pureza varietal, a eletroforese tem demonstrado ser de grande aplicao prtica e
excepcional versatilidade, alm da rapidez de resultados.
A grande maioria dos estudos sobre molculas de interesse bioqumico e
biolgico, e seu regime de separao, envolve pelo menos uma das vrias formas
de eletroforese. O interesse nos mtodos eletroforticos para identificao de
espcies e cultivares tem aumentado muito durante os ltimos anos pois, atravs
desse mtodo, tem sido possvel identificar as diferentes cultivares ou grupos de
cultivares em laboratrios, as quais tinham anteriormente que ser levadas a testes
de campo por no ser possvel sua identificao apenas atravs da prpria
semente.
Esse mtodo est baseado no fato de que molculas como as de DNA, RNA e
protenas so eletricamente carregadas e, portanto, hbeis de se deslocar quando
colocadas em um campo eltrico. Diferentes cargas eltricas tm sido usadas
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
188
para separar essas substncias individuais, possibilitando a caracterizao, por
exemplo, das protenas que so polmeros de aminocidos sintetizados
biologicamente nas clulas e que funcionam como enzimas, componentes
estruturais e de materiais de reserva. Essa caracterizao ocorre pela formao de
bandas que so estveis e especficas em sua distribuio e intensidade para cada
cultivar. Geralmente, cada cultivar possui um nico padro eletrofortico das
protenas ou enzimas, os quais devem ser observados por colorao ou
espectofotometria. Os procedimentos de colorao so acessveis a um grande
nmero de enzimas promovendo, assim, uma visvel observao das bandas ou
zimogramas que caracterizam as diferentes cultivares.
Para o sucesso do mtodo de eletroforese, necessrio que a amostra
representativa da cultivar seja colocada em um meio estvel que no reaja com a
mesma, ou retarde os movimentos das molculas de protenas ou enzimas para a
formao das bandas. Esse meio, quimicamente inerte, gel de poliacrilamida, foi
descoberto por Raymond em 1959.
Os processos eletroforticos mais empregados pelos diferentes pesquisadores
so os de "forma de placas" (horizontal ou vertical) ou de "forma de disco".
Nesse processo, o composto usado para a formao do gel de acrilamida
polimerizado entre duas placas de vidro de formato retangular. Antes da
polimerizao, um perfurador em forma de pente colocado sobre uma das
extremidades da placa inferior, o qual ir moldar os tubos no gel onde ocorrer o
processo eletrofortico. Aps a polimerizao, esse pente removido, deixando
os tubos perfeitamente modulados na acrilamida. A vantagem dessa tcnica que
vrias amostras de diferentes cultivares podem sofrer o processo de eletroforese
ao mesmo tempo, em uma nica placa de acrilamida e dentro de um nico
processo eletrofortico. Aps a leitura ou observao das bandas, o gel por
inteiro pode ser plastificado e, assim, guardado por um determinado perodo de
tempo, ou fotografado e/ou escaneado.
J para o de forma de disco, a tcnica mais trabalhosa. Requer mais tempo e
mais onerosa. realizada em um equipamento onde o processo eletrofortico
das diferentes cultivares ocorre em tubos de ensaios individualizados. O
princpio bsico o mesmo para ambos os processos, mudando apenas a tcnica
de preparo do teste. A vantagem desse mtodo permitir uma melhor anlise das
bandas, possibilitando refazer apenas uma das amostras em caso de dvidas (no
sendo necessrio utilizar muito gel) e de conservao, pois o processo, como um
todo, para cada cultivar, pode ser armazenado por mais de um ano, sem qualquer
alterao dentro do prprio tubo de ensaio.
H, pelo menos, trs mtodos para avaliao das bandas de eletroforese:
anlise espectofotomtrica, determinao do valor de Rf e zimogramas.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
189
Nas RAS, j consta atravs da eletroforese o mtodo padro de referncia
para a identificao de variedades de trigo, cevada, ervilha, azevm e milho.
7.4. Exame em plntulas
A amostra de trabalho para este exame dever ser tambm de, no mnimo,
400 sementes obtidas de forma idntica que para o exame em sementes.
As sementes sero colocadas a germinar em 4 repeties de 100. Quando as
plntulas alcanarem um estdio de desenvolvimento adequado, sero
examinadas em parte ou em sua totalidade, com ou sem tratamento adicional.
Entre os cereais, alguns deles podem ser classificados quanto cor de seus
coleptilos que podem variar da cor verde violeta, dependendo da quantidade
de antocianina presente. Essa caracterstica mais comum em trigo, porm
variaes genticas podem tambm ocorrer no centeio. A colorao pode ser
intensificada pelo umedecimento do substrato com uma soluo de HCl ou NaCl
1%, ou iluminando-se as plntulas com luz ultravioleta por 1 a 2 horas, antes de
efetuar-se a observao.
Algumas cultivares de beterraba podem ser classificados pela cor da plntula.
Plntulas de soja, tambm, apresentam diferenas de cor no hipoclito,
conforme a cultivar.
Para as Brassicas spp. (nabo e nabo forrageiro), pode-se distinguir as
cultivares de polpa branca das de polpa amarela pela cor dos cotildones. As
sementes, nesse caso, so colocadas a germinar no escuro a 20-30C/5 dias. A
seguir, so transferidos os cotildones para placas de Petri contendo lcool a 85-
96% e colocados sobre uma superfcie branca. Quatro horas depois, a observao
da cor pode ser realizada.
Na maioria das cultivares de Lolium multiflorum, os traos de razes da
maioria das plntulas mostra fluorescncia sob a luz ultravioleta, enquanto que
para as cultivares de Lolium perene isso no ocorre.
7.5. Exame das plantas em casa de vegetao ou cmara de crescimento
A amostra de trabalho constituda de um nmero suficiente de sementes
para produzir, pelo menos, 100 plantas. As sementes devem ser semeadas em
recipientes apropriados e mantidos sob condies necessrias para o
desenvolvimento dos caracteres de diagnstico. Quando as plantas atingirem um
estdio de desenvolvimento adequado, as caractersticas especficas devero ser
observadas em cada planta e anotadas.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
190
7.6. Exame das plantas em parcelas de campo
No campo, a amostra mdia deve ser semeada (ao todo ou em parte) com
pelo menos 2 repeties junto s parcelas utilizadas como referncia. As
repeties devero situar-se em campos diferentes ou em diferentes pontos do
mesmo. As parcelas podero ser de qualquer tamanho, mas a distncia entre
linhas e entre plantas dever ser observada para permitir o completo
desenvolvimento das caractersticas que devero ser observadas.
As observaes dos caracteres das plantas devero ser realizadas durante todo
o perodo de desenvolvimento das mesmas. Entretanto, no perodo que se
segue ao espigamento (cereais) ou ao comeo da florao (outras espcies) que
se manifestam mais claramente as diferenas entre as plantas que pertencem a
cultivares diferentes. Nessa ocasio, deve ser realizada uma contagem das
plantas que se reconhece como pertencentes outra cultivar, outra espcie ou
aquelas que apaream como aberrantes.
7.7. Informao dos resultados
No Boletim de Anlise os resultados devem ser informados sob Outras
Determinaes.
Para laboratrio, casa de vegetao ou cmara de crescimento o nmero de
sementes, plntulas ou plantas examinadas deve ser declarado.
O resultado do exame de sementes e/ou plntulas deve ser informado como
porcentagem de sementes ou de plntulas estranhas.
O resultado do exame da parcela de campo, quando possvel, deve ser
informado como porcentagem de cada outra espcie, cultivar ou aberrante
encontrado. Se a proporo de plantas de outras cultivares, presentes em uma
amostra, exceder 15%, a informao deve adicionar que a amostra consiste de
uma mistura de diferentes cultivares.
Se, excepcionalmente, uma amostra de controle de autenticidade no foi
testada para comparao, tambm deve ser declarado.
8. DETERMINAO DO GRAU DE UMIDADE
8.1. Objetivo e importncia
O objetivo dessa anlise o de determinar o teor de gua das sementes por
mtodos adequados para o uso em anlise de rotina.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
191
A viabilidade das sementes e, conseqentemente, sua maior ou menor
longevidade dependem da interao de vrios fatores, entre os quais o teor de
gua ocupa um lugar de indiscutvel destaque. O grau de umidade influencia no
comportamento da semente quando ela submetida s mais diferentes situaes
que acompanham todas as etapas de produo, da colheita comercializao.
Portanto, determinaes freqentes do grau de umidade so necessrias para
estabelecer e adotar procedimentos adequados para evitar, ou pelo menos
minimizar, os danos que freqentemente ocorrem nas sementes.
8.2. Formas de gua na semente
A semente higroscpica tendo, portanto, a propriedade de perder ou
absorver gua, dependendo da umidade do meio em que se encontra. A gua nas
sementes pode se apresentar sob diferentes formas, tais como: a) gua absorvida
ou gua livre: encontra-se aderida ao sistema coloidal das sementes por meio de
foras capilares, ocupando os espaos intercelulares e poros do material; b) gua
adsorvida: presa ao sistema pela ao molecular, retida por adeso de suas
molculas ao material slido e c) gua de constituio e/ou de composio: faz
parte da estrutura molecular, encontrando-se quimicamente presa aos
componentes das sementes e fazendo parte integrante das molculas que
constituem as substncias de reserva.
Portanto, a gua retida na semente com variado grau de fora, desde a gua
livre at a quimicamente presa. Durante a secagem, a gua livre removida
rapidamente e facilmente pelo calor, enquanto a gua adsorvida to fortemente
retida que somente removida com altas temperaturas, que podem causar a
volatilizao e decomposio de outras substncias integrantes da semente.
indesejvel remover a gua de constituio, pois envolve quebra de
estrutura qumica, dando um valor irreal na determinao do grau de umidade.
8.3. Mtodos para a determinao do grau de umidade
Para a determinao do grau de umidade da semente, existem vrios mtodos
classificados em bsicos, diretos ou de preciso e rpidos, indiretos ou expeditos.
A amostra mdia, para a determinao do grau de umidade, deve ser enviada
em recipientes prova de vapor d'gua, hermeticamente fechados e
completamente cheios, de modo a evitar trocas do contedo de umidade das
sementes com a do ar externo.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
192
8.3.1. Mtodos bsicos, diretos ou de preciso
So usados principalmente em laboratrios de anlise de controle de
qualidade, oferecem resultados mais precisos, porm de processamento mais
demorado. So tambm utilizados para calibrar e aferir determinadores que
operam por mtodos indiretos.
Nesses mtodos, a umidade retirada da semente por aquecimento e medida
pela perda de peso ou por processos qumicos.
Mtodos
Estufa a 105
o
C/24 horas
Estufa Estufa alta temperatura - 130
o
C/1 a 4 horas
Estufa baixa temperatura - 103
o
C/17 1 hora
Brown Duvel e Pipoqueiro
Destilao
Tolueno
Karl Fischer
Qumicos
Pentxido de fsforo
- Mtodos de estufa
Os mtodos de estufa baseiam-se na secagemde uma amostra de sementes de peso
conhecido e no clculo da quantidade de gua, atravs da perda de peso da amostra.
Os mtodos de estufa baixa e alta temperatura so adotados pelas Regras
Internacionais da ISTA. Duas repeties por amostra devero ser analisadas,
sendo que a variao mxima permitida entre elas de 0,2%. Caso a variao
ultrapasse esse valor, duas novas repeties devem ser avaliadas. Esses mtodos
so indicados com moagem obrigatria para algumas espcies relacionadas nas
RAS e a passagem por peneiras de diferentes crivos.
A moagem indicada para sementes grandes, a menos que seu alto contedo
de leo torne difcil essa operao. Exemplos de algumas espcies, para as quais
a moagem obrigatria: soja, algodo, arroz, feijo, girassol, sorgo, trigo, milho,
ervilha, etc.
A pr-secagem obrigatria nos testes commoagememsementes comgrau de
umidade acima de 17% (ou 10% no caso da soja e 13% para arroz). O objetivo
da pr-secagem reduzir o teor de gua das sementes para facilitar a moagem.
O mtodo da estufa a 105
o
C no consta nas RAS internacionais, entretanto
o mais utilizado no Brasil, sendo indicado para todas as espcies de sementes
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
193
utilizando sementes inteiras e a diferena entre as duas repeties no deve
exceder a 0,5%.
Para os mtodos de estufa, o peso requerido para as repeties depende do
dimetro do recipiente: dimetro menor que 8 cm deve ser utilizado de 4 a 5 g de
sementes; dimetro de 8 cm ou maior 10g.
O clculo da porcentagem de umidade deve ser realizado utilizando a
seguinte frmula:
U =(M
2
- M
3
) x 100/(M
2
- M
1
), onde:
M
1
o peso em gramas da cpsula;
M
2
o peso em gramas da cpsula mais a semente mida;
M
3
o peso da cpsula mais a semente seca.
Quando for realizada a pr-secagem, o teor de gua calculado usando-se os
resultados obtidos no primeiro (pr-secagem) e segundo estgios do
procedimento, pela frmula:
U =S
1
+S
2
- S
1
x S
2
, onde:
100
S
1
a % de umidade perdida no primeiro estgio;
S
2
a % de umidade perdida no segundo estgio;
O S
1
e o S
2
so calculados de forma semelhante determinao de umidade na
primeira frmula.
Exemplo:
Identificao
da repetio
N
o
da
cpsula
Peso da
cpsula
Peso da cpsula +
semente mida
Peso da cpsula
+semente seca
Umidade
(%)
A 61 27,089 31,666 30,969 15,22
B 62 27,834 31,929 31,307 15,18
% de umidade (A) =(31,666 - 30,969)
X
100
=
0,697 x 100
=
15,22
31,666 - 27,089 4,577
% de umidade (B) =(31,929 - 31,307)
X
100
=
0,622 x 100
=
15,18
31,929 - 27,834 4,095
15,22 - 15,18 =0,04 a diferena entre as repeties no excedeu a 0,2%, portanto
o resultado a ser informado de 15,2%.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
194
- Mtodo de destilao
Este mtodo recomendado para espcies que contm substncias
extremamente volteis. A operao simples, utilizam-se 100 g de sementes
inteiras, colocando-se essa poro de sementes no frasco de vidro (Erlenmeyer),
juntamente com determinada quantidade de leo vegetal comestvel
(preferencialmente de soja), em quantidade suficiente que cubra as sementes, sob
a qual acende-se uma fonte de calor. A gua volatizada condensada e recolhida
numa proveta graduada. Colocando-se 100 g de sementes, a leitura direta do
volume condensado fornece o grau de umidade das sementes, em cerca de 15 a
20 minutos. Quando a temperatura do leo alcanar a temperatura indicada para
a espcie, desliga-se a fonte de aquecimento (Fig. 8).
Cereal Temperatura de desligamento
Feijo, girassol, soja 175
o
C
Cacau 180
o
C
Centeio 185
o
C
Caf beneficiado, cevada, trigo 190
o
C
Arroz sem casca, aveia, milho, sorgo 195
o
C
Amendoim com casca, amendoim descascado,
arroz em casca, caf em coco
200
o
C
8.3.2. Mtodos prticos, indiretos ou expeditos
Os mtodos prticos no avaliam diretamente o teor de gua, so baseados
em propriedades das sementes relacionadas ao seu contedo de gua como, por
exemplo, a condutividade eltrica e as propriedades dieltricas.
Todos os mtodos, no entanto, levam em conta a temperatura das sementes
no momento da determinao, pois esse valor influi tanto na condutividade como
nas propriedades dieltricas; a correo pode ser feita automaticamente pelo
prprio aparelho ou com a utilizao de tabelas. Ex.: Universal, Steinlite, Dole
400, Burrows, etc.
Geralmente, no so precisos, mas utilizados rotineiramente quando h
urgncia para obteno dos resultados, isto , determinao do ponto de colheita,
controle durante a secagem, armazenamento, etc.
Esses determinadores apresentam como vantagens a rapidez, facilidade de
operao e permitem leitura direta. Como desvantagens, apresentam resultados
menos precisos que os obtidos com os mtodos bsicos e necessitam de
constante aferio com um mtodo bsico para que os resultados sejam
confiveis e alto preo do equipamento.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
195
1 - Suporte para cmara de condensao;
2 - Cmara de condensao (30 cm x 13 cm);
3 - Tubo de condensao;
4 - Tubo de coneco;
5 - Tubo curvo;
6 - Termmetro (200
o
C);
7 - Rolha de borracha;
8 - Frasco Erlenmeyer (500 ml);
9 - Fonte de calor;
10 - Suporte para a fonte de calor;
11 - Proveta graduada;
Figura 8 - Determinador de umidade por destilao.
Os aparelhos baseados na condutividade eltrica mostram resultados
satisfatrios quando as sementes apresentam de 7 a 23% de umidade. Em nveis
9
2
3
4
5
6
7
8
10
11
1
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
196
inferiores a 7%, a gua fortemente retida pelos colides e, acima de 23%, a
condutividade cresce consideravelmente, determinando erros.
O determinador de umidade Universal baseado na condutividade eltrica e
somente haver uma indicao satisfatria da umidade quando essa estiver bem
distribuda. Durante o processo de secagem, se a umidade for determinada com
as sementes ainda quentes, essas apresentam-se com a superfcie seca e midas
internamente e o determinador de umidade registra ento um baixo teor de gua,
visto que o aparelho mede a resistncia eltrica das superfcies mais secas da
semente. Esse erro ser evitado se as sementes forem mantidas em repouso por
algum tempo.
Os aparelhos baseados nas propriedades dieltricas apresentam algumas
vantagens sobre aqueles baseados na resistncia eltrica. Esto menos sujeitos
aos erros resultantes da m distribuio do teor de gua nas sementes e podem
testar com maior preciso as que possuem muito alta ou muito baixa umidade.
Os fatores limitantes para o seu uso esto relacionados com o alto custo e a
dificuldade na regulagem e alinhamento entre os diversos tipos.
8.3.3. Aferio de determinadores de umidade
A aferio dos determinadores de umidade deve ser realizada em nvel de
cada laboratrio e para cada espcie, dentro da seguinte sistemtica:
- utilizar amostras com teores de gua diferentes, dentro dos limites
observados, durante o manejo das sementes (7 a 25%);
- os teores de gua podem ser obtidos atravs de secagem ou umedecimento;
- uniformizao da umidade, embalagem hermtica - 48-72 horas;
- realizar determinaes de umidade simultneas no equipamento a ser
aferido e na estufa.
Exemplo
Aferio do determinador de umidade infravermelho METTLER LP 15
comparativamente ao mtodo da estufa a 105
o
C/24 horas, para sementes de arroz.
Umidade obtida Escala do aparelho infravermelho 12 (160
o
C)
na estufa (%) Desvio de umidade (%) Diferena repeties (%)
8,0 +0,2 0,2
10,6 +0,1 0,3
13,9 +0,1 0,3
16,2 +0,3 0,1
18,2 - 0,1 0,2
22,4 - 0,4 0,1
Desvio mximo 0,4
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
197
9. DETERMINAO DO PESO DE SEMENTES
9.1. Objetivo
A determinao do peso de 1000 sementes determina o peso mdio de 1000
sementes que geralmente utilizado para o clculo da densidade de semeadura e a
determinao do peso da amostra de trabalho para anlise de pureza de espcies novas
que no constamainda nas RAS. D uma idia tambmdo estado de maturidade e
sanidade das sementes.
9.2. Metodologia
Esta determinao pode ser realizada de duas maneiras:
1. Pesa-se diretamente toda a poro semente pura da anlise de pureza e
conta-se a seguir o nmero de sementes existentes nessa poro com o auxlio de
uma mquina contadora. O peso mdio de 1000 sementes, nesse caso, ento
obtido atravs da frmula:
Peso de1000 sementes =
Peso da amostra x 1000
N
o
total de sementes
2. Contam-se ao acaso, comcontadores mecnicos, 8 repeties de 100 sementes
provenientes da poro semente pura. Pesam-se, a seguir, essas repeties emseparado e
calcula-se a varincia, o desvio padro e o coeficiente de variao dos valores obtidos nas
pesagens, como segue:
Varincia (V) =n ( x
2
) - ( x)
2
n (n - 1)
Desvio padro (S) =
variancia
Coeficiente de variao (C.V.)=
S
X
_
x100, onde:
x =peso de cada repetio
n =nmero de repeties
=somatrio
X =peso mdio de 100 sementes
Se o C.V. no exceder de 6% para sementes consideradas como palhentas ou
4% para as no-palhentas, o resultado dessa determinao ser obtido
multiplicando-se o peso mdio das 100 sementes por 10. Se, ao contrrio,
exceder aos limites mencionados, pesam-se mais 8 repeties e calculam-se
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
198
novamente a varincia e o desvio padro, agora sobre 16 repeties. No
necessrio calcular novamente o coeficiente de variao. Aps o clculo da
varincia e do desvio padro, desprezam-se todas as repeties cujos pesos
divergiram da mdia (A) mais do que o dobro do desvio padro obtido. Feito isso
calcula-se a nova mdia das repeties restantes e multiplica-se a mesma por 10.
Exemplo: Feijo
Repeties x
1
x
2
x
3
x
4
x
5
x
6
x
7
x
8
Peso (g) 25,23 25,71 24,17 25,00 24,24 24,92 24,35 23,83
Clculo do peso mdio de 100 sementes:
X
=
197,47
=
24,68 g
8
Clculo da varincia
V
=
8 (4877,12) - 38.994,40
=
0,403
8 (8 - 1)
Clculo do desvio padro:
S = 0,403 =0,635
Clculo do coeficiente de variao:
C.V. =0,635 x 100 =2,57% <4%
24,68
(que o limite do coeficiente de variao para sementes no palhentas)
Portanto, o peso de 1000 sementes ser:
X
x 10 =24,68 x 10 =246,8 g.
9.3. Informao dos resultados
Para ambos os casos, o resultado expresso em gramas, com o nmero de
casas decimais usado na determinao e os resultados informados no Boletim de
Anlise sob Outras Determinaes.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
199
10. DETERMINAO DO PESO VOLUMTRICO
10.1. Definio
Corresponde ao peso de um determinado volume de sementes. Se esse
volume for um hectolitro e o peso for expresso em quilograma, essa
determinao denominada de peso hectoltrico. realizada em laboratrio,
principalmente para trigo, centeio, cevada, triticale, arroz etc.
10.2. Procedimento
Como o peso hectoltrico de uma amostra varia de acordo com o seu grau de
umidade, deve-se realizar essas determinaes simultaneamente.
A determinao do peso hectoltrico realizada com o auxlio da balana
hectoltrica, cuja capacidade pode ser de de litro (Fig. 9) ou de 1 litro de
sementes (Fig. 10). Para o primeiro caso, utilizam-se tabelas de converso, j no
segundo a leitura direta. So usadas para essa anlise 2 repeties, retiradas da
amostra mdia e enviadas ao laboratrio em recipiente hermtico.
Figura 9 - Balana hectoltrica de de litro.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
200
Figura 10 - Balana hectoltrica de 1 litro.
J existem disponveis no mercado balanas eletrnicas digitais para
medio do peso hectoltrico; entretanto, devido ao alto custo do equipamento, as
balanas manuais, ainda, so bastante utilizadas.
10.3. Clculo e informao dos resultados
Aps a pesagem, se a diferena entre as duas repeties no exceder 0,5
kg/hl, o resultado ser a mdia das pesagens e expresso no Boletim de Anlise
em kg/hl, com uma casa decimal. Repetir a determinao se a diferena entre
as repeties exceder 0,5 kg/hl.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
201
Exemplo: Amostra mdia de trigo.
- Balana de de litro.
Repetio Peso (g) Peso (kg/hl)
A 185,0 73,65
B 184,5 73,40
Diferena entre 73,65 e 73,40 =0,25 kg/hl.
Mdia das pesagens =73,5 kg/hl.
Resultado a ser informado =73,5 kg/hl.
- Balana de 1 litro (obtemos resultados mais precisos e reproduzveis).
Repetio Peso (kg/hl)
A 77,0
B 76,5
Diferena entre 77,0 e 76,5 =0,5 kg/hl.
Mdia das pesagens =76,8
Resultado a ser informado =76,8 kg/hl.
11. TESTE DE SEMENTES REVESTIDAS
11.1. Objetivo
O objetivo adquirir informaes que possam ser reproduzveis sobre o valor
agrcola de sementes revestidas, de modo a tornar impraticvel a distino entre
sementes individuais e material inerte, sem destruir as estruturas apresentadas
para anlise.
As sementes podem ser revestidas atravs de uma ampla variedade de
materiais, individualmente, em unidades distintas como nas pelotas ou espaadas
em tiras ou lminas. No entanto, as sementes tratadas com pesticidas no so
revestidas e devem ser testadas de acordo com os mtodos constantes em outros
captulos.
11.2. Definies
Sementes pelotizadas - unidades aproximadamente esfricas desenvolvidas
para semeadura de preciso ou uniforme, normalmente contendo uma nica
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
202
semente cujo tamanho e formato original nem sempre ficam evidentes. A pelota,
alm do material aglomerante, pode conter pesticidas, corantes ou outros
aditivos.
Sementes incrustadas - unidades de aproximadamente o mesmo formato da
semente com o tamanho e o peso alterados em maior ou menor grau. O material
utilizado para incrustao pode conter pesticidas, fungicidas, corantes ou outros
aditivos.
Sementes em grnulos - unidades mais ou menos cilndricas, incluindo tipos
com mais de uma semente juntamente envolvidas. O grnulo, alm do material
granulante, pode conter pesticidas, corantes e outros aditivos.
Sementes em fitas - fitas estreitas de material como papel ou outro material
degradvel, com sementes espaadas aleatoriamente, em grupos ou em uma
nica linha.
Sementes em lminas - largas lminas de material como papel e outros
materiais degradveis, com sementes dispostas em linhas, grupos ou
aleatoriamente na lmina.
Sementes tratadas - sementes nas quais somente pesticidas, corantes ou
outros aditivos foram aplicados, no resultando em uma mudana significativa
de tamanho, formato ou peso da semente original e que podem ser testadas de
acordo com os mtodos prescritos em outros captulos.
11.3. Avaliaes
As avaliaes, para sementes revestidas, so: anlise de pureza, determinao
do nmero de outras sementes, teste de germinao, determinao do peso e
classificao do tamanho das sementes pelotizadas.
12. TESTE DE SEMENTES POR REPETIES PESADAS
12.1. Objetivo
O objetivo do teste determinar o potencial mximo de germinao de um
lote de sementes; para tanto, utiliza-se o peso do material contendo
aproximadamente 400 sementes. O teste com repeties pesadas restrito a
espcies arbreas com sementes extremamente pequenas (Betula e Eucalyptus).
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
203
12.2. Metodologia
Em razo das dificuldades da realizao da anlise de pureza, toda amostra de
trabalho deve ser examinada por completo. Deve-se determinar se as sementes
pertencem espcie declarada pelo remetente, identificando e removendo, tanto
quanto possvel, qualquer outra semente presente no lote. O nome e o nmero
dessas outras sementes encontradas, juntamente com o peso examinado, deve ser
relatado.
Quatro repeties do peso indicado para espcie so obtidas da amostra de
trabalho, atravs de um dos mtodos de amostragem apropriado. As repeties
so semeadas sobre o substrato e germinadas sob as condies indicadas nas RAS.
12.3. Informao dos resultados
O resultado relatado como o nmero de plntulas normais em relao ao
peso total de sementes examinadas.
13. TOLERNCIAS
Nos procedimentos de rotina de laboratrio, onde so realizadas anlises em
amostras representativas de lotes de sementes, uma variao entre seus
resultados esperada e at admitida quando se comparam os mesmos, obtidos
com sementes oriundas de uma mesma amostra mdia ou de diferentes amostras
mdias de um mesmo lote, independentemente se os testes so realizados dentro
de um mesmo laboratrio, por um mesmo analista ou no. Entretanto, quando
essa diferena entre resultados estiver acima dos limites de variao
estabelecidos para as condies em que foram executados os testes, ela ser
considerada como real e significativa. Tolerncia , pois, o limite mximo de
variao permitido entre duas determinaes realizadas em circunstncias
especficas e, acima do qual, a diferena considerada significativa.
As Regras para Anlise de Sementes (RAS) apresentam inmeras tabelas
para os mais diferentes casos de comparao de resultados recomendando, para
os procedimentos de rotina, comparao com padres estabelecidos e ainda com
a finalidade de uma maior homogeneidade nas avaliaes.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
204
14. VIGOR
A avaliao da qualidade fisiolgica das sementes, para fins de semeadura e
comercializao de lotes, tem sido fundamentalmente baseada no teste de
germinao, o qual de grande utilidade prtica para esse fim. Sua metodologia
padronizada e seus resultados reproduzidos dentro e entre laboratrios. No
entanto, por ser realizado em condies ideais e controladas raramente
encontradas no campo, no muito sensvel para detectar diferenas de
qualidade entre lotes de sementes com alta germinao; assim, os resultados
desse teste so freqentemente inferiores aos obtidos no campo e/ou desempenho
no armazenamento.
O progresso de deteriorao pode ocorrer antes que sejam detectadas
mudanas na germinao do lote e a maior limitao do teste de germinao a
sua inabilidade para detectar essas mudanas. A queda do poder germinativo a
conseqncia prtica final da deteriorao.
Como conseqncia das limitaes do teste de germinao, houve a necessidade de
uma estimativa mais segura do potencial fisiolgico das sementes. Diante disso, foram
desenvolvidos testes que retratamo comportamento das sementes sob uma ampla
faixa de condies ambientais, indicando com maior segurana o potencial
fisiolgico dos lotes, denominados testes de vigor.
14.1. Definies
Vigor de sementes um indicativo da magnitude da deteriorao fisiolgica
e/ou da integridade de um lote de sementes de alta germinao e que prev a sua
habilidade de se estabelecer em uma ampla faixa de condies ambientais.
Aspectos do desempenho do lote de sementes associado com o vigor da
semente incluem:
- taxa e uniformidade da germinao da semente e crescimento da plntula;
- desempenho no campo incluindo, taxa e uniformidade da emergncia das plntulas;
- desempenho aps armazenamento, particularmente a manuteno da
capacidade de germinao.
Lote de semente de alto vigor aquele que potencialmente capaz de um
bom desempenho, mesmo em condies sub ou supra-timas para a espcie.
Lote de semente de baixo vigor aquele que somente apresenta um bom
desempenho em condies prximas tima para a espcie.
Lote de semente com alta germinao aquele que no apresenta
dormncia e tem o resultado do teste de germinao aceito para comercializao
(ex.: >90% de plntulas normais para milho).
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
205
14.2. Testes de vigor
O objetivo do teste de vigor em sementes fornecer uma informao sobre o
potencial de campo e/ou desempenho no armazenamento de lotes de sementes
com alta germinao, uma diferenciao que nem sempre pode ser identificada
pelo teste de germinao.
A utilizao de mais de um teste necessria para informar sobre a qualidade
das sementes, visto que esses avaliam caractersticas diferenciadas das sementes
(fsicas, fisiolgicas, bioqumicas e de resistncia).
Embora um grande nmero de testes tenham sido desenvolvidos e propostos
para avaliar o vigor das sementes, alguns apresentam maior possibilidade de uso,
inclusive com maior perspectiva de padronizao, pelo menos dentro de uma
mesma espcie, e outros apresentam poucas condies de virem a ser usados.
Baseados nessas possibilidades de uso, maior ou menor, a ISTA (Perry, 1981) e
a Associao Oficial de Analistas de Sementes (AOSA, 1983) destacam os
seguintes testes de vigor, como os mais convenientes no momento:
ISTA:
- taxa de crescimento de plntulas;
- classificao do vigor de plntulas;
- envelhecimento acelerado;
- teste de frio;
- teste de tijolo modo ou de Hiltner & Ihssen;
- teste de deteriorao controlada;
- tetrazlio;
- condutividade eltrica;
- tetrazlio da camada de aleurona.
AOSA:
- classificao do vigor de plntulas;
- taxa de crescimento de plntulas;
- envelhecimento acelerado;
- teste de frio;
- germinao temperatura subtima;
- tetrazlio;
- condutividade eltrica.
Testes de vigor so usados, principalmente, para fornecer um ndice mais
sensvel da qualidade da semente que o teste de germinao. Indicam uma
separao consistente de lotes de sementes com alta germinao referente ao seu
potencial de desempenho.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
206
Testes de vigor obviamente so usados para muitos propsitos. Uma das
razes para avaliar o vigor determinar o valor real do lote de sementes. Esses
testes no so utilizados para predizer o exato nmero de plntulas que iro
emergir e sobreviver no campo, embora muitos deles se correlacionem bem com
a emergncia a campo. O resultado do teste de frio de 85% no quer dizer que
85% das plntulas iro sobreviver no campo. Entretanto, informa que o lote de
sementes com 85% de germinao, pelo teste de frio, mais provvel de
apresentar uma boa emergncia no campo sob condies de estresse que um lote
de sementes com a germinao aps o teste de frio de 70%. Se as condies de
campo so prximas do timo, o comportamento dos lotes provavelmente sero
comparveis.
Os testes de vigor tm apresentado uma grande contribuio ao sistema de
produo de sementes, tendo em vista se seus resultados forem usados em
decises internas da empresa produtora de sementes. No se pode deixar de
reconhecer que a avaliao do vigor de semente, como rotina para a indstria
sementeira tem evoludo medida que os testes disponveis vm sendo
aperfeioados, fornecendo maior preciso e reprodutibilidade dos resultados, o
que de extrema importncia na tomada de decises pelo sistema de produo e
comercializao. Esses testes apresentam grandes perspectivas de uso no
controle da qualidade, tendo em vista evitar o manuseio e comercializao de
sementes de qualidade inadequada. Existem grandes evidncias de que dentro de
um mesmo laboratrio o envelhecimento acelerado, a condutividade eltrica e o
teste de frio mostram alto grau de padronizao e reprodutibilidade em relao s
metodologias, bem como na interpretao dos resultados obtidos. Entretanto, no
basta aos testes de vigor apresentarem possibilidade de padronizao de
metodologia e dos resultados. Vrios autores so unnimes em afirmar que os
testes devem apresentar caractersticas tais como: reprodutibilidade dos
resultados, interpretao e correlao com a emergncia sob certas condies,
rapidez, objetividade, simplicidade e viabilidade econmica.
Embora nenhum dos mtodos existentes atualmente atenda todas essas
caractersticas, alguns testes tm se mostrado teis em vrios aspectos:
- detectar diferenas de qualidade fisiolgica de lotes comgerminao semelhante;
- seleo de lotes para semeadura;
- avaliao do potencial de emergncia das plntulas no campo;
- avaliao do potencial de armazenamento;
- avaliao do grau de deteriorao;
- controle de qualidade ps-maturidade;
- seleo de cultivares com qualidade fisiolgica elevada, durante programas
de melhoramento gentico;
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
207
- identificao ou diagnstico de problemas;
- marketing e promoo de vendas.
Os comits da ISTA e da AOSA concordam que, entre os seus objetivos
principais, esto o desenvolvimento, refinamento e padronizao dos mtodos
para os testes de vigor e a elaborao de material educacional pertinente para
vigor de sementes. Ambos os comits esto preocupados com a uniformizao
dos procedimentos dos testes e vo adotar medidas para que as duas
organizaes atuem harmoniosamente, educando analistas, atravs de
treinamento adequado para assegurar a uniformidade nos procedimentos, avaliao
e interpretao.
14.2.1. Princpios gerais
Na conduo dos testes de vigor, utilizam-se sementes da poro semente
pura da anlise de pureza.
Os testes de vigor requerem uma verificao mais rgida das condies do
teste que o de germinao e necessita ser includo um lote de sementes
testemunha, para proporcionar um controle de qualidade interno da uniformidade
do teste de vigor. Variabilidade nos resultados do lote de sementes testemunha
fornece um indicativo de pequenas flutuaes nas condies do teste (ex.:
temperatura, umidade da semente) que podem afetar significativamente a
segurana dos resultados.
aconselhvel que os laboratrios possuam um Manual de Qualidade dos
procedimentos, para conduo dos testes de vigor, onde devero ser realizadas as
anotaes referentes s condies do teste e informao dos resultados. Tambm,
necessrio o treinamento do pessoal visando a uniformidade dos procedimentos.
14.2.2. Teste de condutividade eltrica
O teste est baseado na relao existente entre o vigor de sementes e a
integridade do sistema de membranas celulares.
Durante o processo de embebio, h liberao de solutos citoplasmticos,
cuja intensidade depende do estado de desorganizao das membranas. Ainda
durante esse processo, verifica-se a habilidade de reorganizao e reparao de
danos das membranas celulares, que influenciam na quantidade de eletrlitos
liberados pela semente. Quanto maior a capacidade de restabelecimento da
integridade da membrana celular, menor ser a quantidade de eletrlitos
liberados. Quanto maior o vigor das sementes, mais rapidamente essas iro
reparar danos, inclusive de grande extenso, ao contrrio das de baixo vigor.
Assim, a liberao de eletrlitos de sementes de alto vigor ser menor do que as
sementes de baixo vigor.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
208
O teste de condutividade proporciona uma rpida e objetiva medida do vigor
da semente e pode ser facilmente conduzido para a maioria das espcies
rotineiramente analisadas nos laboratrios, sem a necessidade de equipamentos
complexos ou treinamento especial de pessoal.
O teste pode ser realizado de duas formas: atravs do sistema de condutividade de
massa (bulk) ou do emprego de clulas individuais. Na anlise de semente
individual, o procedimento o mesmo utilizado para o sistema de massa, com a
diferena de que, nesse caso, as sementes so colocadas numa bandeja com 100
clulas individuais, s quais adicionam-se de 2 a 3ml de gua deionizada.
Aps o perodo de embebio (24h/25
o
C), feita a leitura, usando-se um
analisador automtico-eletrnico (ASA-610 e ASAC-1000). Nesses equipamentos, a
medida da condutividade expressa em amps.
Metodologia para o teste de condutividade de massa para sementes de ervilha
- O aparelho deve ser calibrado com uma soluo de cloreto de potssio
(KCl). Nesta soluo, o aparelho deve marcar 1,273s/cm ou mhos/cm a 20
o
C.
- A condutividade do lote de sementes controle deve estar entre 25-29 s/cm/g.
- Verificar a limpeza do equipamento. A condutividade da gua deionizada
ou destilada deve ser medida e no pode exceder a 2s/cm a 20
o
C para gua
deionizada e a 5s/cm a 20
o
C para gua destilada; se exceder a esses valores, no
pode ser utilizada.
- A umidade do lote de sementes deve ser determinada antes do teste e estar
entre 10-14%; lotes de sementes com umidade inferior a 10% ou superior a 14%
devem ter sua umidade ajustada.
- Exatamente 250ml de gua deionizada ou destilada deve ser colocada em
recipientes de 500ml. Todos os frascos devem ser tampados com folhas de
alumnio ou filme plstico, para prevenir contaminaes; a temperatura da gua
deve ser mantida a 20
o
C (por aproximadamente 24 horas), antes de colocar as
sementes. Dois recipientes contendo somente gua deionizada ou destilada
devem ser includos, para monitorar a qualidade da gua.
- Quatro repeties de 50 sementes devem ser retiradas da poro semente
pura, de cada lote, e pesadas com preciso de duas casas decimais (0,01g), antes
de serem colocadas nos recipientes com gua; agitar cuidadosamente os frascos,
para garantir a imerso de todas as sementes.
- Todos os recipientes devem ser novamente recobertos por folhas de
alumnio ou filme plstico e mantidos temperatura de 20
o
C 1
o
C por 24 horas.
Remoo gradual dos recipientes (10-12) que permita a leitura da condutividade,
num perodo mximo de 15 minutos, ao final das 24 horas de imerso.
- O condutivmetro deve ser ligado pelo menos 15 minutos antes do incio
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
209
das leituras. Dois recipientes contendo 400 a 600ml de gua deionizada ou
destilada devem ser utilizados para enxaguar o eletrodo entre cada leitura. A
condutividade da gua de enxague deve ser 2s/cm para gua deionizada e
5s/cm para gua destilada.
- Aps o perodo de embebio de 24 horas, a condutividade da soluo deve
ser medida imediatamente. As leituras devem ser realizadas a 20
o
C, quando o
valor estabilizar. O recipiente contendo as sementes deve ser cuidadosamente
agitado por 10 a 15 segundos. Aps a leitura da repetio, enxaguar o eletrodo
duas vezes, usando gua deionizada ou destilada e sec-lo com papel de filtro,
antes de avaliar a prxima repetio. Se sementes duras forem observadas
durante o teste, elas devem ser removidas, secadas e pesadas e o peso subtrado
do peso inicial das 50 sementes da repetio.
- Medir a condutividade da gua deionizada ou destilada do recipiente
controle a 20
o
1
o
C e subtrair esse valor da leitura de condutividade, j anotado
para cada recipiente.
- A condutividade por grama de semente para cada repetio calculada pela
seguinte frmula:
condutividade (s/cm) para cada recipiente
=s/cm/g
peso (g) da amostra de sementes
A mdia das quatro repeties informa o resultado do teste.
Se a condutividade para as 4 repeties diferir mais que 5s/cm/g (mais
baixo ou mais alto), a amostra deve ser retestada.
Matthews e Powell (1981), citados no Seminrio de Testes de Vigor
realizado em Copenhagen, Dinamarca, em 1995, indicam os seguintes ndices
para a interpretao dos resultados de lotes de sementes de ervilha:
< 25s/cm/g - nenhum indicativo de que o lote seja imprprio para
semeaduras precoces ou sob condies adversas.
25 a 29s/cm/g - lote pode ser semeado precocemente, mas h risco de baixo
desempenho sob condies adversas.
30 a 43s/cm/g - lote no prprio para semeaduras precoces, especialmente
sob condies adversas.
>43s/cm/g - lote imprprio para semeadura.
O valor obtido com o teste de condutividade de massa de sementes representa
a mdia da condutividade de quatro repeties de 50 sementes. Se uma nica semente
apresentar umsevero dano, essa causar uma excessiva liberao de eletrlitos,
aumentando acentuadamente a condutividade da amostra; assim, essa repetio
poder ocasionar a sada das faixas de tolerncia, gerando a necessidade de umnovo teste.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
210
14.2.3. Teste de envelhecimento acelerado
O teste de envelhecimento acelerado foi inicialmente desenvolvido para estimar a
longevidade de sementes emcondies de armazenamento. Pesquisas adicionais tm
mostrado que esse teste de vigor correlaciona-se, tambm, coma emergncia a campo,
como estabelecimento de estande para umgrande nmero de espcies.
No teste de envelhecimento acelerado, as sementes so expostas a condies
adversas de alta temperatura (40 a 45
o
C) e umidade relativa (prxima a 100%),
por diferentes perodos, dependendo da espcie, antes de submet-la ao teste de
germinao (Tabela 3). Lotes de sementes com alto vigor iro resistir a essas
condies extremas e deteriorar a uma taxa mais lenta (germinao aps o
envelhecimento acelerado mais alto) do que lotes de sementes de baixo vigor.
Tabela 3 - Variveis recomendadas e sugeridas para o teste de envelhecimento
acelerado (mtodo gerbox) (Tekrony, 1995).
Culturas Peso
sementes
Temperatura Perodos Umidade das sementes
aps envelhecimento
1
(g) (
o
C) (h) (%)
Recomendao
Soja 42 41 72 27-30
Sugesto
Alfafa 3,5 41 72 40-44
Feijo 42 41 72 28-30
Colza 1 41 72 39-44
Milho 40 45 72 26-29
Milho doce 24 41 72 31-35
Alface 0,5 41 72 38-41
Feijo mungo 40 45 96 27-32
Cebola 1 41 72 40-45
Pimenta 2 41 72 40-45
Trevo vermelho 1 41 72 39-44
Azevm 1 41 48 36-38
Sorgo 15 43 72 28-30
Girassol 20 45 72 23-27
Festuca 1 41 72 47-53
Fumo 0,2 43 72 40-50
Tomate 1 41 72 44-46
Trigo 20 41 72 28-30
1
O teste deve ser repetido quando as umidades das sementes forem superiores ou
inferiores a essas.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
211
A utilizao do mtodo da cmara temcausado a obteno de resultados variados e
de difcil padronizao. Por isso, o mtodo de gerbox, devido maior preciso
e facilidades para padronizao, est sendo mais recomendado (Fig. 11).
Metodologias para o teste de envelhecimento acelerado (mtodo gerbox)
para sementes de soja
- Testar a temperatura da cmara (41 0,3
o
C).
- Utilizam-se caixas plsticas (gerbox) como compartimento individual
(minicmara).
- Os gerbox e as telas devem ser lavados numa soluo de hipoclorito de
sdio a 15% e secos aps cada uso, para prevenir contaminao por fungos.
- Colocar 40 ml de gua deionizada ou destilada em cada gerbox e uma tela
onde so distribudas as sementes. Evitar o contato da gua com a tela.
Figura 11 - Caixas plsticas (gerbox) para o teste de envelhecimento acelerado.
- Determinar a umidade inicial da semente (10-14%).
- Um mnimo de 200 sementes, determinadas com base no peso, so
colocadas na superfcie da tela (uma camada). De preferncia, as sementes a
serem envelhecidas no devem ser tratadas, a no ser as sementes
comercializadas com tratamento fngico.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
212
- A tampa de cada gerbox fechada e esses so colocados na cmara de
envelhecimento na temperatura de 41
o
C ( 0,3
o
C), por um perodo de 72 horas.
- A porta da cmara de envelhecimento no deve ser aberta durante o perodo
de exposio. Anotar o horrio da colocao dos gerbox e remov-los na hora
exata especificada.
- Preparar as sementes para o teste de germinao dentro do perodo mximo
de 1 hora, aps a remoo das amostras da cmara.
- Incluir uma amostra controle de cada lote. Ao final do perodo de
envelhecimento, retirar uma pequena amostra de aproximadamente 20 sementes
do gerbox da amostra controle e pesar imediatamente, para avaliar a umidade,
usando o mtodo da estufa. Se a umidade das sementes for mais baixa ou mais
alta do que 27 a 30%, o resultado pode no ser preciso e o teste deve ser repetido.
- O resultado do teste expresso pela mdia das 4 repeties, emporcentagem.
Quando os resultados do teste de envelhecimento so comparados aos de
germinao do mesmo lote, esse ser considerado de alto vigor se os resultados
do teste de germinao forem similares ao de envelhecimento e de mdio para
baixo vigor se forem inferiores aos resultados da germinao. Aqueles lotes de
sementes com porcentagem de envelhecimento maior que 80 sero classificados
como de alto vigor, 60-80% mdio vigor e menor que 60% de baixo vigor.
14.2.4. Teste de emergncia a campo
Avalia o vigor relativo entre lotes, bem como a capacidade das sementes de
produzirem plantas a campo.
As condies de realizao do teste, adequadas espcie em questo, no que
se refere poca de semeadura, espaamento entre linhas e entre plantas e
profundidade de semeadura recomendada para a cultura, permitem uma
estimativa da potencialidade dos lotes em estabelecer um estande a campo. Nesse
teste, so semeadas quatro repeties de 50 sementes e uma nica avaliao das
plntulas emergidas realizada aos 21 ou 28 dias aps a semeadura. Em espcies
de germinao rpida, pode-se fazer essa contagem aos 14 dias. O resultado final
obtido a mdia das repeties expressas em porcentagem. A partir da
implantao desse teste, outras estimativas do vigor podem ser obtidas
conjuntamente, variando-se apenas o sistema de avaliao. Como exemplo, cita-
se a obteno de dados sobre a velocidade de emergncia de um lote (Tabela 4),
onde so realizadas contagens dirias das plntulas emergidas em cada dia,
dividida pelo nmero de dias decorridos entre a semeadura e a emergncia, bem
como pode-se obter tambm informao sobre o peso da matria verde e da
matria seca do lote e a capacidade de sobrevivncia das plntulas emergidas.
Essa ltima informao obtida pela permanncia das plantas a campo e uma
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
213
avaliao feita aos 35 ou 40 dias aps a semeadura. Independentemente do
resultado que se deseja obter, cuidados quanto ao ataque de lagartas, insetos e
outros animais devem ser observados, para que apenas o vigor das sementes seja
o responsvel pela populao emergida ou estabelecida.
Tabela 4 - Teste de velocidade de emergncia de plntulas.
Dias aps a
semeadura
N
o
de plntulas
emergidas na linha
N
o
de plntulas
emergidas no dia
ndice de velocidade
de emergncia
5 5 5 5 5 =1,00
6 13 (13 - 5) = 8 8 6 =1,03
7 15 (15 - 13) = 2 2 7 =0,28
8 28 (28 - 15) =13 13 8 =1,07
9 35 (35 - 28) = 7 7 9 =0,77
10 45 (45 - 35) =10 10 10 =1,00
11 45 (45 - 45) = 0 0 11 =0,00
Total 5,15
interessante salientarmos aqui que o teste de emergncia a campo vem
sendo utilizado por um nmero cada vez maior de produtores de sementes
quando da comercializao dos lotes. A visualizao dos estandes de campo
permitem ao comprador uma seleo mais adequada dos lotes, bem como uma
maior confiana no produto adquirido.
15. ANLISES E CERTIFICADOS PARA O COMRCIO
INTERNACIONAL
Para que um lote de sementes possa ser comercializado a nvel internacional,
as metodologias para a tomada das amostras e para a realizao das anlises, bem
como o preenchimento e expedio dos certificados de anlises, devem obedecer
as RAS da ISTA. Para tanto, necessrio o conhecimento dos seguintes
requisitos:
15.1. Certificado Internacional de Anlise de Sementes
um tipo de certificado expedido somente pela ISTA e usado para relatar os
resultados dos testes. Dever ser multilinge e apresentar dois modelos:
Certificado do Lote de Sementes e Certificado da Amostra de Sementes.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
214
15.1.1. Certificado do Lote de Sementes (laranja ou verde)
Usado quando a amostra retirada oficialmente do lote por uma instituio
filiada e autorizada pela ISTA. Quando a amostra testada no pas onde o lote
est localizado, essa Instituio responsvel pela amostragem, lacre,
etiquetagem, anlise e expedio do certificado que ser de cor laranja. Se a
amostra for testada em outro pas, uma instituio filiada e credenciada, onde o
lote est localizado, ser responsvel pela amostragem, lacre, etiquetagem e
remessa da amostra mdia para outra instituio que ir analis-la. Essa ltima
ser, ento, responsvel pela anlise da amostra e emisso do certificado que ser
de cor verde.
15.1.2. Certificado da Amostra de Sementes
O formulrio do Certificado Internacional de Anlise de Sementes expedido
quando a amostragem dos lotes no est sob a responsabilidade de um
laboratrio membro. Usado quando a amostragem do lote no est sob a
responsabilidade da instituio filiada, ou seja, refere-se somente amostra mdia
recebida para anlise. O certificado de cor azul.
15.2. Informao de resultados
De cada amostragem, apenas uma amostra pode ser enviada para a realizao
de teste ou testes, descritos nas RAS da ISTA, de acordo com o requerido pelo
remetente, exceo feita apenas para a determinao do grau de umidade e
determinao do peso de sementes, para os quais necessrio o envio de uma
amostra em separado. Nesse caso, os resultados desses testes podem ser relatados
em um ou mais certificados internacionais de forma separada ou combinada.
importante lembrar que nenhum espao vazio no impresso do certificado
permitido. Caso no tenha sido realizada alguma anlise, o espao
correspondente mesma dever ser preenchido com a letra N.
15.3. Validade do certificado
permitida a emisso de apenas um certificado para qualquer atributo de
uma amostra ou um lote em particular. No permitido que uma instituio
aprove outra amostragem ou emita outro certificado antes que se tenha passado,
pelo menos, um ms da primeira amostragem.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
215
16. LABORATRIO DE ANLISE DE SEMENTES:
PLANEJAMENTO E ORGANIZAO
Um dos fatores mais importantes a ser considerado num programa de
produo de sementes o controle de sua qualidade e esse realizado no
Laboratrio de Anlise de Sementes, que atua como o centro de controle onde
so efetuados os mais diferentes testes de qualidade, os quais so a base
determinante para as decises a serem tomadas nas diferentes fases da produo
e uso das sementes.
A anlise de sementes o trabalho de rotina do laboratrio e compreende a
determinao dos ndices de qualidade das amostras que representam os lotes de
sementes, tais como pureza fsica, germinao, umidade, entre outros. A grande
maioria dos laboratrios existentes tem como nica funo a anlise de rotina,
isto , a anlise de sementes para a identificao de lotes. Funcionam junto a
cooperativas, analisando as sementes de produo prpria e, em alguns casos, de
outras cooperativas. Outros, alm da anlise de rotina para a identificao de
lotes, realizam as anlises da certificao e da fiscalizao do comrcio de
sementes e emitem boletins oficiais. Adicionalmente, podem ainda realizar
pesquisa, gerando novas tcnicas de controle de qualidade, bem como o
treinamento do qual surgem novos tcnicos especializados, atravs de cursos ou
estgios.
Em alguns pases e/ou regies, h uma necessidade crescente na estruturao
de novos laboratrios para atender a demanda dos programas de controle interno
de qualidade de sementes. Quando essa situao ocorrer, para o bom
desempenho de todas as atividades de um laboratrio, alguns itens e/ou critrios
devem ser observados quando do seu planejamento e organizao,
principalmente, tais como:
- sua finalidade especfica de atuao;
- nmero de amostras e espcies de sementes a serem recebidas e analisadas
por ano, bem como a natureza dessas anlises.
A localizao e o tamanho da rea fsica, bem como o nmero de pessoal
capacitado e os equipamentos necessrios para o desenvolvimento de suas
atividades esto diretamente relacionados aos itens acima mencionados. bom
lembrar que o nmero de salas no to importante quanto distribuio das
reas de servio. Ao se construir um laboratrio de anlise de sementes,
imprescindvel que a distribuio dessas reas siga o mesmo roteiro que seguem
as amostras submetidas anlise, uma vez que essa a nica maneira de fazer o
servio de forma racional, sem desperdcio de tempo e demasiado trnsito dos
analistas pelo mesmo. conveniente, entretanto, quando possvel, ter-se salas
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
216
distintas para a execuo dos testes de pureza e germinao daquelas utilizadas
para o recebimento, protocolo, pesagem e preparo das amostras para os testes, j
que pode ocorrer uma grande incidncia de poeira quando da diviso das
amostras.
Deve ser dada especial ateno orientao geogrfica do laboratrio, afim
de evitar a incidncia direta dos raios solares sobre os locais onde sero
realizados os testes sem, contudo, inibir um boa iluminao natural do ambiente.
Para a sala destinada realizao da anlise de pureza, por exemplo, essa deve
dispor do maior nmero de janelas possveis, as quais devem ser baixas e largas,
o que ir proporcionar aos analistas o mximo de luz natural. O mesmo ocorre
para o local onde sero realizados os testes de germinao que, alm da
luminosidade natural, dever dispor de mesas com tampo prova de umidade
(frmica ou azulejo), onde os testes sero preparados e/ou avaliados.
indispensvel, ainda, que nessa rea existam balces ou mesas com pias, para o
umedecimento dos substratos. Ambas as salas devero contar com todas as
facilidades possveis para a execuo das diferentes tarefas a que se destinam,
tais como: mesas individuais ou no, adequadas para a realizao dos diferentes
testes, cadeiras de encosto e assentos ajustveis (um maior conforto ao analista
evitar o cansao devido morosidade de alguns testes e proporcionar um
maior rendimento de trabalho); equipamentos adequados, tais como balanas,
lupas estereoscpicas ou lupas manuais com luz, mostrurio de sementes para
identificao dos contaminantes das amostras, peneiras, sopradores de sementes,
contadores de sementes, destilador de gua, germinadores e equipamentos para
realizao de testes de vigor. Outros acessrios menores, como diferentes tipos
de vidraria de laboratrio, pinas, esptulas, caixas plsticas para germinao,
etc., so tambm necessrios. O mesmo dever ocorrer com outras reas
destinadas a outros tipos de anlises. A sala da chefia dever estar localizada
prxima ao laboratrio para um melhor assessoramento por parte do tcnico
responsvel dos analistas, quando frente alguma dificuldade de realizao ou
avaliao dos testes. Prximo a essa dever estar localizada a rea
administrativa, onde sero confeccionados os boletins de anlise.
Elementos como energia eltrica, fora e gua devem ser, tambm,
considerados e a capacidade de suprimento de cada um deles dever estar
diretamente relacionada s necessidades atuais e futuras do laboratrio. O
emprego da luz fluorescente indicada, bem como a localizao estratgica do
maior nmero possvel de tomadas eltricas e interruptores em todos os setores,
com vistas a prevenir a aquisio de novos equipamentos. O piso do laboratrio
dever ser de material facilmente lavvel, o forro prova de som e as cores
claras e repousantes, evitando-se assim ambientes cansativos.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
217
Especial ateno deve ser dada construo das cmaras frias (cmara seca
para o armazenamento de amostras e cmara de germinao). Na cmara seca
necessrio um controle de temperatura e da umidade relativa do ar (15 a 20C /
50% ou menos), para o armazenamento das amostras durante um certo perodo
de tempo aps o teste de germinao, como garantia do resultado fornecido pelo
laboratrio. J para a cmara de germinao, apenas o controle da temperatura (
15C) necessrio. Nessa cmara, so colocados os germinadores a diferentes
temperaturas, de acordo com as exigncias especficas de cada espcie testada. O
tamanho das mesmas ir variar de acordo com as necessidades do laboratrio e
devero ser construdas com paredes duplas, isolamento trmico, sem janelas e
com porta frigorfica.
O controle mecnico da umidade e da temperatura pode ser feito atravs de
uma unidade desumidificadora e uma de refrigerao, instaladas fora das
cmaras (casa de mquinas), para evitar o rudo dos motores no ambiente do
laboratrio.
Em laboratrios pequenos, a utilizao do ar condicionado, como sistema de
resfriamento, tem sido satisfatria. ideal que ambas as cmaras sejam
construdas uma ao lado da outra, para um melhor aproveitamento dos sistemas
de refrigerao utilizados.
Quanto ao pessoal, da mais alta importncia a escolha do elemento humano
que vai atuar no laboratrio. Os trabalhos de rotina podem ser efetuados por
analista com nvel de conhecimento de grau mdio, mas que tenham passado por
um treinamento especializado. Reciclagem peridica recomendada. O analista
deve ter conhecimentos bsicos da morfologia dos frutos e sementes e sobre
fisiologia vegetal, bem como sobre alguns sintomas de doenas que podem
ocorrer nas plantas. Deve estar apto a desempenhar qualquer funo dentro do
laboratrio, ser paciencioso, meticuloso e com alto senso de responsabilidade, de
observao e de honestidade. Possuir esprito de trabalho em equipe
fundamental. A chefia ou superviso do laboratrio e a pesquisa (quando for o
caso) devero estar a cargo de um tcnico de nvel superior, tambm com
especializao na rea (engenheiro agrnomo ou engenheiro florestal). Assim,
como os analistas, ele dever reciclar-se periodicamente, para manter-se
atualizado nas diferentes metodologias empregadas na anlise de sementes.
O desenvolvimento progressivo, por parte da iniciativa privada de programas
de produo de sementes tem demonstrado uma necessidade, cada vez maior, da
estruturao e instalao de pequenos laboratrios de anlise de sementes. Esses
laboratrios tm geralmente, como finalidade especfica, o atendimento ao
controle interno de qualidade de sementes de uma determinada empresa ou
cooperativa de produtores.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
218
Cita-se aqui, como exemplo, um laboratrio com capacidade de atendimento
a um sistema de produo que envolve, em mdia, um total de 150 lotes de
sementes de soja (750 t), num perodo de safra. O recebimento das anlises de
avaliao da qualidade desses lotes realizado durante todo o processo de
produo, ou seja, do campo comercializao e, dentro desse perodo, so
realizadas, principalmente, as anlises de determinao do grau de umidade,
pureza fsica, teste de germinao e alguns testes de vigor e de danos mecnicos.
Considerando um pico mximo de atividade de 3 meses (perodo de safra),
so 60 os dias reais de trabalho para a realizao dos testes em, pelo menos, 300
amostras de sementes (150 no recebimento e 150 aps o beneficiamento). No
recebimento, os lotes sero avaliados quanto ao seu grau de umidade, pureza
fsica, germinao e danos mecnicos. Aps o beneficiamento, essas anlises
sero mais completas envolvendo, alm dessas j citadas, a determinao do
nmero de outras sementes (exame de sementes nocivas) e algum teste de vigor
(envelhecimento acelerado, condutividade eltrica e/ou tetrazlio). Dentro desse
enfoque, um analista est realizando 20 anlises por dia nas amostras de
recebimento e 25 por dia em amostras de lotes j beneficiados, o que
considerado perfeitamente possvel para um tcnico treinado.
Alm dessa espcie, outras como trigo, milho, feijo e algumas forrageiras
podero ser analisadas nesse laboratrio, visto o funcionamento do mesmo
ocorrer durante todo o ano e os perodos de produo de algumas delas serem em
pocas distintas.
Para o planejamento e instalao desse tipo de laboratrio, consideram-se
(Fig. 12):
16.1. rea fsica
Uma rea fsica de, pelo menos, 20m
2
satisfatria, adequando-se a mesma
s condies de orientao geogrfica j citadas (luminosidade ambiental), bem
como possibilidades de futuras ampliaes da mesma, se conveniente. No
necessria a separao da mesma em salas, exceto para o caso da rea onde sero
colocados os germinadores, a qual deve ser isolada do conjunto, devido
necessidade de um controle de sua temperatura ambiental ( 20C). Essa rea
funcionar como cmara de germinao, devendo, portanto, sua construo
atender ao isolamento trmico. Dentro desses 20m
2
, pode-se separar, tambm,
uma pequena rea que poder funcionar como um almoxarifado, onde estaro
localizados todo o material de apoio ao laboratrio como caixas de papel
substrato para o teste de germinao, placas de plstico ou Petri empregadas
nesse mesmo teste, material de expediente, compostos qumicos entre outros.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
219
16.2. Instalaes e equipamentos
Quanto a este item, a distribuio das diferentes reas de atuao do
laboratrio (recepo e protocolo das amostras, teste de pureza, de germinao e
de umidade entre outros), dever ser observada, como o j descrito
anteriormente, para uma melhor distribuio dos equipamentos e racionalizao
dos trabalhos.
rea de recepco, protocolo e preparo das amostras - esta rea dever ser
composta de um balco com prateleiras e gavetas, onde sobre o qual estaro
localizados os seguintes equipamentos: uma balana automtica com capacidade
de at 5Kg; um divisor de amostras do tipo GAMET e um divisor de solos
adaptado para sementes de tamanho mdio. No balco, propriamente dito, poder
ser adaptado um sistema de arquivos para a localizao das fichas das amostras,
dos livros de registro etc.
rea de determinao do grau de umidade - tambm sobre um balco
(este com espao para o analista sentar) estaro localizados todos os
equipamentos utilizados para esse tipo de teste. Recomenda-se que o laboratrio
disponha de uma estufa, determinadores de umidade expeditos que se
correlacionem com os mtodos da estufa e um pipoqueiro; uma balana
automtica digital, para pesagem das amostras, tambm poder ser necessrio.
rea para a determinao de pureza fsica - esta rea compe-se de uma
mesa individual, cadeira de encosto com assento ajustveis e uma estante ou
armrio que funciona como mostrurio de sementes. Adaptada a essa mesa, uma
lupa de mesa com lmpada necessria para facilitar a identificao dos
contaminantes da amostra. Como equipamentos indispensveis para esse tipo de
teste, o analista dever contar, ainda, com um soprador de sementes, um jogo de
peneiras e uma balana digital de, no mnimo, trs casas decimais. Dentro do
possvel, recomendvel a compra de um microscpio binocular com zoom e
uma amplitude de magnificao de at 25X. Pinas, esptulas e vidros de relgio
so, tambm, necessrios.
rea de germinao - esta rea poder ser a mesma empregada para o teste
de pureza (mesa e cadeira do analista). necessrio, entretanto, dispor de um
balco com duas pias e tampo de inox para o umedecimento dos substratos e
preparo das amostras. Como equipamentos, recomenda-se a compra de um
contador de sementes a vcuo, que poder estar acoplado ao balco, sendo que o
motor do mesmo deve ser instalado do lado de fora do prdio (casa de
mquinas), para evitar rudos dentro do LAS, e um jogo de contadores de
sementes manuais, com orifcios de diferentes formas e tamanhos. Um destilador
de gua e um refrigerador domstico (empregado para superao de dormncia e
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
220
para o teste de tetrazlio, quando no for possvel a avaliao do mesmo no dia
em que foi preparado), tambm so necessrios.
Sala de germinao - esta dever ser construda como j citado. Nessa sala,
o emprego de um ou dois condicionadores de ar so suficientes para a
manuteno da temperatura ambiental em torno de 20C. Um sistema de estrados
poder sustentar dois germinadores, com capacidade para 40 amostras completas
de soja cada um.
Ainda, dentro dessa sala, um sistema de iluminao dos germinadores dever
ser observado (caso o laboratrio realize anlise em alguma espcie de forrageira
que requeira luz para germinar). Um conjunto de pequenos balces, tambm
poder ser colocado para sustentar algum tipo de balana de maior preciso, para
anlise de pureza, uma cmara para o teste de envelhecimento acelerado e um
condutivmetro. Esses dois ltimos aparelhos so empregados em teste de vigor.
Alm do j descrito, convm salientar que o laboratrio dever dispor de um
nmero mnimo de caixas plsticas, para germinao, de acordo com o nmero
de amostras de sementes forrageiras que poder receber por ano e um carrinho
com rodas para facilitar o transporte das amostras.
16.3. Pessoal
Para esse tipo de laboratrio, suficiente a contratao de apenas um analista
(bem treinado), em tempo integral, que ir trabalhar sob superviso de um
tcnico de nvel superior (RT), encarregado tambm do sistema de produo.
Caso necessrio, poder ocorrer a contratao eventual de 1 auxiliar de
laboratrio.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
221
Dentro do planejamento aqui apresentado, tentamos de forma bastante
simples apresentar, a seguir, um esquema grfico do laboratrio em questo (Fig.
12):
Figura 12 - Planta baixa de um LAS. Escala 1:25.
de sementes
Coleo
Geladeira gua de
Destilador
Mesa
Lavatrio
a Vcuo
Contador
Determinadores de gua
Recepo Amostra
Entrada
Arquivo
de Solos
Divisor
Divisor
Balana
Prateleiras
20 C
Germinao
Sala de
o
Balana
de Preciso
Cmara
Env. Precoce
Armazenamento
Germinador
Germinador
2.50m 1.50m
2.0
0m
3.0
0m
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
222
17. BIBLIOGRAFIA
ASSOCIATION OF OFFICIAL SEED ANALISTS. Seed vigour testing
handbook. Zurich, AOSA. Contribution n
o
32 to the handbook on seed testing.
AOSA, 88 p. 1983.
BHRINE, M.C.; SILVA, R.F.; ALVARENGA, E.M.; DIAS, D.C.F.S.; PENA,
M.F. Avaliao da viabilidade e do vigor das sementes de feijo-vagem
(Phaseolus vulgaris, L.) pelo teste de tetrazlio. Viosa, 1996. 27 p.
BRASIL. Ministrio da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrria.
Secretaria Nacional de Defesa Agropecuria. Regras para Anlise de
Sementes. Braslia, DF, 1992. 365 p.
BULOW,A Garantia de qualidade no comrcio de sementes. Revista SEED
News, 6(4) 42-43. 2002
DELOUCHE, J .C. Deteriorao de sementes. Revista SEED News 6(6) 24-31.
2002
DIAS, D.C.F.S.; MARCOS FILHO, J . Testes de vigor baseados na
permeabilidade das membranas celulares. I. Condutividade eltrica. In:
Informativo ABRATES, v. 5, n. 1, Londrina, abril/1995. p. 26-36.
GRABE, D.F. Manual do teste de tetrazlio em sementes. Trad. de Flvio
Rocha. Braslia, AGIPLAN, 1976. 85 p.
HAMPTON, J .G. Conductivity test. In: Seed Vigour Testing Seminar. ISTA.
Vigour Test Committee. Copenhagen, Denmark, 1995. p. 10-28.
HAMPTON, J .G. O que qualidade de sementes. Revista SEED News, 5(5):
22-26. 2001.
INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCIATION. Handbook of vigour
test methods. 3. ed. ISTA, 1995. 117 p.
KRZYZANOWSKI, F.C.; VIEIRA, R.D.; FRANA NETO, J .B. Vigor de
sementes: conceitos e testes. Londrina, PR, 1999. 174p.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
223
MARCOS FILHO, J .; CICERO, S.M.; SILVA, W.R. Avaliao da qualidade
das sementes. Piracicaba, SP, 1987. 230 p.
MARCOS FILHO, J . Utilizao de testes de vigor em programas de controle
de qualidade de sementes. In: Informativo ABRATES, v. 4, n. 2, 1994. p. 33-35.
PESSIL, L. Planejamento e organizao de um laboratrio de sementes. In:
MEC, Convnio M.A. - DISEM - ESAL. I Curso de Tecnologia de Sementes.
Lavras, MG, 1997. 26 p.
PERRY, D.A. Manual de mtodos de ensayos de vigor. Ministrio de
Agricultura, Pesca y Alimentacin. Espaa, 1981. 56 p.
TEKRONY, D.M. Accelerated ageing. In: Seed Vigour Testing Seminar.
ISTA. Vigour Test Committee. Copenhagen, Denmark, 1995. p. 53-72.
TILLMANN, M.A. Atestado de garantia de sementes. Revista SEED News,
edio 7 set/out. 24-25. 1998
VANDERBURG, W.J .; BEKENDAM, J .; VANGEFFEN, A.; HEUVER, M.
Project seed laboratory 2000-5000. Seed Science and Technology. Zurich, v.
11, 1983. p. 157-227.
VIEIRA, R.D.; CARVALHO, N.M. Testes de vigor em sementes. J aboticabal:
FUNEP, 1994. 164 p.
CAPTULO 4
Patologia de Sementes
Prof. Dr. Orlando Antonio Lucca Filho
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
225
1. IMPORTNCIA DA PATOLOGIA NA PRODUO DE SEMENTES
DE ALTA QUALIDADE
1.1. Introduo
Existe um grande nmero de fatores que afetam a qualidade das sementes.
Esses fatores podem ser agrupados em quatro classes distintas: fatores genticos,
fatores fisiolgicos, fatores fsicos e fatores sanitrios. Os fatores genticos
capazes de afetar a qualidade das sementes esto relacionados com as diferenas
de vigor e de longevidade observadas dentro de uma mesma espcie, como
tambm com as vantagens auferidas pela heterose (vigor hbrido). Os fatores
fisiolgicos tm sua ao determinada, principalmente, pelo ambiente no qual as
sementes se formam e pelo manuseio das mesmas durante as fases de colheita, de
beneficiamento e de armazenamento.
Os fatores sanitrios se caracterizam pelo efeito deletrico provocado pela
ocorrncia de microrganismos e insetos associados s sementes, desde o campo
de produo at o armazenamento. Os insetos podem causar danos
generalizados, como danificaes do embrio e do tecido de reserva necessrio
para sua alimentao, danos pela ovoposio, pelo aumento da temperatura, da
umidade e da produo de dixido de carbono. Os microrganismos, por sua vez,
constituem-se em outro fator importante em termos de qualidade das sementes,
como tambm podem se constituir em fator limitante da produo, como o
caso de bacterioses, viroses e doenas fngicas existentes em vrias regies
agriculturveis. Esses aspectos devem ser observados com muita ateno,
medida que se busca o estabelecimento de padres de sementes para os
principais microrganismos patognicos ocorrentes nas diversas culturas de
importncia econmica, a fim de que as sementes distribudas aos agricultores
constituam-se em um ponto de alta qualidade e de desempenho satisfatrio nos
campos de produo.
Neste trabalho no sero discutidos temas relativos a insetos, por se tratar de
uma rea distinta, a qual estudada em entomologia.
1.2. Transmisso de patgenos associados s sementes
A maioria dos patgenos que ocorremnos campos de produo de sementes,
causando os mais variados tipos de danos, podemser transmitidos pelas sementes.
Os mecanismos (ciclos) utilizados pelos patgenos para sua transmisso so
variados e podem ser classificados de acordo com sua localizao na semente
(misturado, aderido superfcie ou localizado no interior da semente) e com o
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
226
desenvolvimento do patgeno durante o crescimento da planta. Esses ciclos so
muito bem descritos e exemplificados por Neergaard (1979).
As expresses infestao e infeco, muito empregadas em patologia de
sementes, tm seu significado prprio. O termo infestao utilizado para
caracterizar a presena do patgeno misturado (esclerdio, galhas, etc.) ou
aderido superfcie das sementes. J o termo infeco indica que o patgeno
est localizado no interior da semente (cotildones, embrio, etc.).
Certos patgenos localizados no interior das sementes podemproduzir infees
sistmicas na planta, enquanto outros podem produzir infees localizadas em
folhas, pecolos, hastes, vagens, etc. O mesmo acontece com os patgenos que
infestam as sementes. Quando uma semente infestada germina e produz uma
nova planta, essa poder apresentar uma infeco sistmica ou uma infeco local.
Um exemplo clssico de transmisso de fungo localizado no embrio da
semente, transmitindo-se para a planta de forma sistmica, o do carvo do
trigo, ilustrado na Fig. 1. Parte-se de uma espiga infectada, onde vrias sementes
so destrudas pelo fungo (1), havendo a formao de uma massa de colorao
preta, composta por milhares de teleosporos (esporos de fungo), os quais so
disseminados para as plantas e espigas sadias, na fase inicial de formao (2).
Uma vez localizado no primrdio floral da espiga sadia, o teleosporo inicia sua
germinao penetrando na semente (3) e fixando-se no embrio da mesma, onde
permanecer na forma de miclio dormente (4) at o incio da germinao dessa
semente. Aps a semeadura e incio da germinao, o miclio do fungo tambm
inicia seu desenvolvimento, acompanhando sistematicamente todo o ciclo
vegetativo da planta, sem causar qualquer tipo de sintoma. O fungo se localizar
na nova espiga (5), fazendo com que as novas sementes no se formem,
surgindo no lugar dessas a massa de teleosporos (1), os quais iro infectar novas
espigas sadias.
Figura 1
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
227
A transmisso de patgenos atravs das sementes deve ser avaliada sob dois
aspectos gerais, uma vez que os danos causados so variveis. Alguns patgenos
provocam perdas em nvel de campo, restringindo seus efeitos reduo de
rendimento, sem no entanto afetar a viabilidade das sementes. Outros patgenos
se caracterizam por, alm de provocar redues de rendimento, concentrar seus
efeitos danosos sobre a semente. Como conseqncia direta, teremos redues
da porcentagem de germinao e do vigor, com reflexos altamente negativos
sobre a classificao de lotes de sementes, diminuindo a disponibilidade desse
insumo para a semeadura seguinte.
Na Fig. 2 encontram-se esquematizadas as principais fontes de inculo. Os
microrganismos, patognicos ou no, podem ser encontrados nas diferentes
plantas hospedeiras, sejam elas cultivadas ou no, no solo e nas sementes.
Microrganismos patognicos podem ser levados, de uma planta para outra,
atravs do vento, da chuva, implementos agrcolas, vetores, etc. Inculo
presente no solo pode ser disseminado, especialmente, pela ao da gua. Para
cada grupo de microrganismos, a importncia desses agentes de disseminao
diferenciada. Assim, a disseminao de viroses extremamente dependente da
ao de vetores. A ao da chuva e do vento tem grande importncia na
disseminao de bactrias. Para fungos, a disseminao entre plantas tambm
grandemente dependente da ao dos ventos e da chuva.
Figura 2 - Principais fontes de inculo.
.
.
.
.
.
..
.
VENTO
CHUVA
VETORES
OUTRAS PLANTAS
SOLO
SEMENTE
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
228
De acordo com o exposto, vemos que os insetos, os animais, a gua da
chuva, os implementos agrcolas e o prprio homem constituem-se em veculos
de disseminao de doenas, mas nenhum desses ser to eficiente quanto as
sementes, pelo fato dessas permitirem uma transmissibilidade prolongada, uma
mxima infeco, uma disseminao de patgenos a grandes distncias, a
criao de focos de infeco casualizados nas lavouras, a perpetuao do
patgeno, o aumento do potencial de transmisso, a induo de doenas por dois
ou mais patgenos e pela introduo dos mesmos em reas novas.
Devemos sempre lembrar que a semente constitui-se no meio mais eficiente
de transmisso de patgenos, uma vez que no existem barreiras geogrficas
capazes de impedir sua disseminao. O comrcio internacional de sementes
serve como exemplo desse fato, sendo registrados inmeros casos de importao
de lotes de sementes contaminados com microrganismos patognicos vindos de
outros continentes.
Se pensarmos em termos de comrcio interno, veremos que o problema
mais grave, uma vez que a comercializao bem mais livre, especialmente
quanto ao estado sanitrio do material comercializado. No comrcio
internacional existe a ao do Servio Quarentenrio que se preocupa em
impedir a entrada de sementes contaminadas com microrganismos indesejveis,
enquanto no comrcio interno apenas a germinao e a pureza fsica do lote so
considerados como parmetros para caracterizao da qualidade das sementes,
tendo-se raras excees quanto ao estado sanitrio, como o caso de
Cercospora kikuchii, causador da mancha prpura em sementes de soja e de
Colletotrichum lindemuthianum, causador da antracnose do feijoeiro.
Especialmente atravs da ao do Comit de Patologia de Sementes
(COPASEM) da Associao Brasileira de Tecnologia de Sementes (ABRATES),
alguns avanos significativos foram obtidos, no que diz respeito ao
estabelecimento de padres fitossanitrios. A implantao da obrigatoriedade do
teste sanitrio para a comercializao de sementes, semelhana da anlise de
pureza e do teste de germinao, inevitvel, bastando para tal existirem
laboratrios em nmero suficiente e com pessoal tcnico devidamente
qualificado, alm da definio dos padres a serem observados para os diferentes
microrganismos em cada uma das espcies vegetais. Vrios estudos esto sendo
realizados, visando a definio dos nveis mximos tolerados para os principais
patgenos, em especial para as espcies de maior importncia econmica do
pas. Em funo da necessidade de um efetivo controle da qualidade sanitria das
sementes produzidas em nosso pas, o Ministrio da Agricultura e do
Abastecimento, atravs da portaria 071, de 22/02/1999, instituiu, em nvel
nacional, o Programa de Sanidade de Pragas no Quarentenrias
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
229
Regulamentveis, o qual tem como objetivo o controle da qualidade em nvel de
campo de produo e de laboratrio. Nessa portaria, esto relacionadas as
principais pragas no-quarentenrias (exceto insetos), para as principais espcies
cultivadas propagadas por sementes, as quais devero ser controladas, visando
diminuir seus efeitos negativos, diretos e indiretos, sobre o sistema de produo
agrcola. Na Tabela 1, encontram-se relacionadas as culturas e as respectivas
pragas no-quarentenrias, motivo de controle.
Os danos causados por microrganismos transmitidos por sementes so
bastante variveis, estando na dependncia do patgeno envolvido e do inculo
inicial do mesmo, da espcie cultivada, das condies climticas vigentes no
decorrer do desenvolvimento da cultura, etc. A avaliao dos danos causados por
microrganismos nos campos de produo de sementes uma tarefa rdua e de
difcil execuo, uma vez que existem vrios fatores agindo simultaneamente
sobre a planta, fazendo com que os resultados obtidos tenham baixa exatido,
comprometendo a reprodutibilidade de resultados. Entretanto, as porcentagens de
perdas podem ser relacionadas com outras, tais como a porcentagem de rea
foliar destruda pelo patgeno, a porcentagem de plntulas e/ou plantas mortas, a
porcentagem de sementes infectadas e avaliao dos efeitos do patgeno sobre
outros componentes da produo.
1.3. Perdas provocadas por patgenos em nvel de campo
No mbito mundial encontrado um grande nmero de relatos que citam
perdas provocadas por doenas, nas mais variadas espcies cultivadas.
de conhecimento generalizado que o nmero de subnutridos vm
aumentando nas ltimas dcadas. A principal causa no a diminuio da
produo de alimentos, mas sim o desproporcional crescimento populacional que
vem ocorrendo, especialmente nos pases industrializados, fazendo com que seja
premente o aumento da produo de alimentos. Essa meta pode ser atingida
atravs do aumento da rea cultivada, aumento do uso e aplicao correta de
fertilizantes, emprego de prticas culturais adequadas ao sistema de cultivo, uso
de variedades resistentes e mais produtivas, alm de outras formas de proteo
vegetal.
Em mbito mundial, encontrado um grande nmero de relatos que citam
severas perdas provocadas por doenas, nas mais variadas espcies cultivadas,
acarretando significativas redues de rendimento e frustraes de safras, com
reflexos significativos na qualidade de vida do ser humano, sendo que algumas
dessas epidemias causaram a morte de milhares de pessoas por inanio. Ao
longo da histria da humanidade, so encontrados relatos de famosas epidemias.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
230
Destacaremos as causadas por Claviceps purpurea, por Phytophthora infestans,
por Helminthosporium oryzae e Helminthosporium maydis.
Tabela 1 - Fungos, bactrias, vrus e nematides considerados pragas no
quarentenrias regulamentveis pela Portaria 071, de 22/02/1999, do M.A.A.
Culturas Pragas no quarentenrias regulamentveis (exceto insetos)
Algodo
Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides
Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum
Arroz Drechslera oryzae
Pyricularia oryzae
Feijo Colletotrichum lindemuthianum
Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli
Fusarium solani f. sp. phaseoli
Sclerotinia sclerotiorum
Xanthomonas campestris pv. phaseoli
Milho Diplodia maydis
Sorgo Colletotrichum graminicola
Claviceps africana
Trigo Bipolaris sorokiniana
Drechslera tritici-repentis
Pyricularia grisea
Stagonospora nodorum
Tiletia caries
Tiletia foetida
Xanthomonas campestris pv. ungulosa
Girassol Alternaria helianthi
Alternaria zinniae
Sclerotinia sclerotiorum
Cenoura Alternaria dauci
Alternaria radicina
Ervilha Ascochyta pisi
Sclerotinia sclerotiorum
Cebola Colletotrichum circinans
Ditylenchus dipsaci
Tomate Clavibacter michiganensis sub. sp. michiganensis
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria
Alface Vrus do Mosaico Comum
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
231
Claviceps purpurea um fungo ascomiceto, que ataca rgos reprodutivos
de muitas gramneas, entre elas, o centeio. Ao atacar a espiga, forma-se no lugar
destinado semente uma estrutura chamada de esclerdio, na qual so
encontrados vrios alcalides, entre eles a ergotamina, ergotimina, esgosterol e
LSD. Alguns desses alcalides tm uso medicinal, sendo empregados como
indutores de parto ou como controladores de sangramento ps-parto. Outros
alcalides so extremamente nocivos sade humana e animal, podendo causar,
entre outros distrbios, sndrome distrmica com leses cerebrais irreversveis,
aborto e infertilidade, anormalidades em fetos e gangrena. Na Idade Mdia, as
epidemias causadas por C. purpurea eram freqentes. Os esclerdios do fungo
eram colhidos e modos junto aos gros de centeio. Dessa farinha, faziam-se
pes. Os alcalides so termoestveis e, quando ingeridos com o po
contaminado, causavam os mais variados tipos de sintomas. No vale do Reno,
em 857, milhares de pessoas morreram. O mesmo ocorreu na Frana, em 994 e
1089. O ltimo surto verificado na Frana ocorreu em 1951, onde mais de 300
pessoas adoeceram, algumas morreram e vrias enlouqueceram. Essa doena
tambm era conhecida pelo nome de Fogo Sagrado. Devido aos surtos freqentes
verificados em Viena, o Papa Urbano II, em 1095, delegou a dolorosa misso de
cuidar dos enfermos acometidos de ergotismo Ordem de Santo Antnio. Desde
ento, a doena tambm passou a ser conhecida como Fogo de Santo Antnio.
At o incio do sculo XIX, a batata se constitua no principal ingrediente da
dieta alimentar dos irlandeses, os quais consumiam mais de 4 quilos de batata
fresca por dia, obtendo da a quantidade necessria de vitaminas, protenas e
carboidratos. Em junho de 1845, registrou-se na Blgica a ocorrncia de uma
severa doena atacando as plantaes de batata (hoje conhecida por requeima da
batata, causada por Phytophthora infestans). Menos de um ms depois, os
mesmos sintomas foram observados em plantas na Holanda. No demorou muito
para chegar Frana. Logo em seguida, foi a vez da Inglaterra e, em setembro do
mesmo ano, a doena j havia chegado Irlanda. No ano seguinte, em 1946, o
fungo atacou precocemente as plantaes de batata. Como as condies
ambientais eram favorveis ao patgeno e devido ao fato de o mesmo se
estabelecer mais cedo nos campos de produo, as perdas chegaram prximo a
80%. As conseqncias desse ataque foram extremamente severas. Morreram
mais de 2 milhes de pessoas e mais de 1 milho migraram para outros pases.
O fungo Drechslera oryzae, causador da mancha parda, tem causado
grandes prejuzos em pases produtores de arroz, principalmente no Extremo Sul
do continente asitico, mais precisamente nas regies de clima tropical. O caso
mais notrio de danos causados por D. oryzae ocorreu na ndia (1942-1943),
quando cerca de 50 a 90% do arroz cultivado em Bengala foi destrudo por esse
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
232
fungo, fato esse que contribuiu para que 2 milhes de pessoas morressem de
fome naquela regio. Ainda persistem danos significativos causados por esse
fungo, sendo, no entanto, bastante variveis. Nos Estados Unidos, a perda mdia
provocada por D. oryzae de 0,5%, enquanto que em pases com pobres
condies de cultivo, esses ndices assumem valores bem mais elevados, como
observado em muitas regies da frica (Nigria, com 40% de perdas) e da ndia
(Tamil Nadu, com registros de perdas de at 40% da produo total da regio).
A produo de milho hbrido, nos Estados Unidos, est baseada, desde a
dcada de 50, na utilizao de linhagens fmeas com plen estril, permitindo
um controle rigoroso dos cruzamentos, alm de evitar o alto custo do
despendoamento manual. A produo de plen estril uma caracterstica
citoplasmaticamente herdvel. Em 1970, surgiu no Estado da Florida uma nova
raa de Helminthosporium maydis, capaz de atacar os hbridos portadores de
citoplasma macho-estril, at ento resistentes ao fungo. A disseminao do
fungo para os estados ao norte da Florida foi surpreendente, em funo da
rapidez e da destruio causada. Em dois meses, o patgeno j havia atingido
Illinois e Iowa, os dois estados americanos maiores produtores de milho e,
quinze dias depois, j havia sido detectado nos estados mais ao norte. Como
resultado desse ataque, 15% da produo americana de milho, aproximadamente
20 milhes de toneladas, foi destruda.
As informaes referentes a perdas causadas por microrganismos
transmitidos por sementes, verificadas em grandes culturas como milho, arroz,
trigo, soja e feijo, indicam que a intensidade dos danos varivel, estando na
dependncia de um conjunto de fatores, os quais envolvem especialmente o
clima e o grau tecnolgico do produtor.
Informaes mais atuais referentes s grandes culturas, como milho, arroz,
trigo, soja e feijo indicam quedas significativas em termos de rendimento,
causadas por fungos como Fusarium, Drechslera eSeptoria em trigo. Entre as
diferentes espcies de Fusarium que ocorrem em trigo, as mais importantes so
Fusarium graminearum e Fusarium nivale, as quais causam morte de
plntulas em pr e ps-emergncia, podrides radiculares e infeco na parte
area, causando perdas variveis entre 10 e 20% no rendimento.
A Drechslera sorokiniana pode ocorrer em alta porcentagem de infeco
em lotes de sementes e as perdas oriundas da podrido radicular provocada por
esse patgeno chegam a atingir 10% do rendimento. Quando a incidncia desse
patgeno ocorre associada com Fusarium, as perdas podem ser ainda maiores,
como aconteceu no Canad durante os anos de 1939-1942, onde em certas
lavouras a morte de plantas variou entre 30-70%, provocando uma reduo
mdia de rendimento da ordem de 13%.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
233
Ensaios experimentais tm demonstrado que, sob condies ideais de
infeco, momentos antes do espigamento, os prejuzos provocados por
Septoria nodorum chegam a atingir nveis de at 65% de reduo de
rendimento, enquanto que, sob condies favorveis em nvel de campo, a
produo pode ser reduzida em at 50%.
Para a cultura do arroz, os principais patgenos so Pyricularia oryzae e
Drechslera oryzae, embora outros patgenos tambm sejam importantes, como
o caso de Rhynchosporium oryzae ePhoma sp., os quais tm aumentado sua
incidncia nas lavouras do RS, nos ltimos anos, causando reduo da parte
area das plantas. As maiores perdas em lavouras de arroz devido a fungos so
provocadas especialmente por P. oryzae e D. oryzae. O fungo O. oryzae,
freqentemente aniquila plntulas e plantas, como pode tambm destruir as
panculas. Em nvel mundial, so encontrados trabalhos indicando perdas
significativas, devido incidncia de P. oryzae, atingindo nveis de total perda
de lavouras.
No Rio Grande do Sul, surtos oriundos do ataque de P. oryzae causaram
reduo de 70-80% na produo em algumas lavouras ou regies. Contudo, tais
ataques intensos raramente so generalizados, estando os danos mdios entre 5 a
10% da rea total semeada no Estado. Todos os anos ocorrem ataques
endmicos generalizados, atingindo todas as regies do Estado do Rio Grande
do Sul, sendo esses ataques responsveis por redues de 1 a 2% no rendimento
total.
No Estado do Rio Grande do Sul, devido s condies climticas no serem
muito favorveis ao patgeno D. oryzae, as perdas so pequenas. Geralmente, o
patgeno ocorre em plantas adultas, onde causa mancha nas folhas e, com
menor freqncia, causa manchas nas panculas e esterilidade de flores.
A soja atacada por um grande nmero de doenas, sendo a maioria delas
provocadas por patgenos associados s sementes. Dentre essas, as doenas
fngicas so as mais importantes devido aos prejuzos causados no rendimento,
como tambm na qualidade das sementes.
O fungo Colletotrichum truncatum pode causar morte de plntulas e
infeco sistmica de plantas adultas. Devido terem sido observadas baixas
porcentagens de incidncia em lotes de sementes de soja, poucas informaes
so disponveis quanto s implicaes decorrentes da semeadura de um lote
altamente infectado por esse fungo.
Quanto espcie de Fusarium presentes em sementes de soja, a mais
comum o F. semitectum, causando anormalidades em plntulas e deteriorao
dos cotildones.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
234
Causada pelo fungo Macrophomina phaseolina, a podrido negra das
razes, uma doena bastante comum, principalmente em regies de clima seco,
sendo esse problema agravado com o mau preparo do solo, onde as plantas
originam um sistema radicular mais superficial.
Outro fungo importante a Sclerotinia sclerotiorum, agente causal da
podrido branca das hastes, principalmente devido ao modo de transmisso do
mesmo via sementes. O patgeno pode estar misturado com as sementes na
forma de esclerdio, ou localizar-se no interior das mesmas, na forma de miclio
dormente.
semelhana do que ocorre em soja, muitas das doenas verificadas nos
campos de produo de feijo so transmitidas por sementes. Os principais
estados brasileiros produtores de feijo so Paran, So Paulo, Minas Gerais,
Santa Catarina, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Cear, Alagoas e Gois,
os quais detm aproximadamente 80% da produo nacional. A produo
brasileira de feijo estabilizou-se em torno de 2 milhes de toneladas,
estabilidade essa devido ao aumento da rea cultivada, uma vez que o
rendimento (o atual de 400kg/ha) vem sofrendo declnio marcante. Isso
devido ao fato do feijo ter sido relegado condio de cultura suplementar, para
a qual so destinadas reas menos produtivas, menores investimentos em
insumos bsicos (como semente de qualidade garantida) e a no-adoo de
tecnologia adequada para a cultura.
Devido diversificao das cultivares e pelo fato do feijoeiro ser cultivado
em todo o territrio nacional, sob as mais variadas condies de solo e clima, a
incidncia de determinados patgenos assume importncia econmica
significativa em certas regies, enquanto que em outras os mesmos patgenos
possuem relevncia secundria. No norte do Brasil, o fungo Rhizoctonia
(causador da mela) um fator limitante produo de feijo, fazendo com que
essa regio freqentemente importe sementes dos estados mais ao sul do Brasil.
Outras doenas, como antracnoses e bacterioses, esto amplamente
disseminadas no Brasil, constituindo-se em problemas de grande importncia
econmica para algumas regies produtoras, como o Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
Alm desses patgenos, existem outros como Isariopsis griseola, causador
da mancha angular, o qual se constitui emproblema para as regies produtoras do
Centro-Oeste. Embora ocorra em quase todas as regies, no chega a causar
problemas econmicos.
A podrido acinzentada do caule, causada por Macrophomina phaseolina
considerada de grande importncia para regio Nordeste, sendo que nos outros
estados a ocorrncia espordica.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
235
1.4. Efeito de patgenos sobre a qualidade das sementes
Da mesma forma que so observados problemas de reduo de rendimento
em nvel de campo, devido incidncia de patgenos, os mesmos podem
tambm causar reduo da qualidade das sementes para fins de comercializao
e semeadura.
1.4.1. Problemas provocados por bactrias
O principal efeito de bactrias sobre as sementes o completo apodrecimento das
mesmas por ocasio da germinao e a morte da plntula nos primeiros estgios de
desenvolvimento.
Alm da morte de sementes e plntulas, as bactrias podem tambm produzir
descolorao do tegumento, como as produzidas por Xanthomonas e
Pseudomonas em sementes de feijo.
1.4.2. Problemas causados por fungos de campo
Muitos fungos so srios parasitas de primrdios florais e de sementes,
causando reduo tanto quantitativa como qualitativa do rendimento. Outros
fungos, como os saprfitas e parasitas fracos, podem causar descolorao do
tegumento, a qual ter influncia negativa no valor comercial.
Os danos comumente provocados por fungos em sementes so:
a) Aborto de sementes: exemplo tpico deste dano so os causados por
carves de cereais (Ustilago spp.). Outros fungos como Drechslera sorokiniana
e algumas espcies de Fusarium, tambm em cereais, causam os mesmos
efeitos.
b) Reduo do tamanho da semente: existem vrios exemplos deste tipo de
dano. Podem-se destacar os danos causados por Alternaria brassicicola e
Phoma lingam em crucferas, Stagonospora nodorum em trigo, Drechslera
teres em cevada, fungos causadores de mldio em cereais e outros.
c) Podrido de sementes: muitos fungos associados s sementes causam
apodrecimento quando as mesmas ainda se encontram sobre a planta, ou mesmo
durante a germinao em laboratrio ou no campo. As fusarioses de cereais,
muitas espcies de Drechslera, tambm em cereais, Colletotrichum truncatum,
Nematospora coryli e Phomopsis sp. em soja, so exemplos tpicos de fungos
causadores da morte e apodrecimento de sementes.
d) Esclerotizao: a transformao do rgo floral ou da semente em
esclercio uma importante doena em certas categorias de fungos e
hospedeiros. Exemplos caractersticos deste tipo de dano so os provocados pelo
fungo Claviceps em muitas espcies de cereais e capins.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
236
e) Necroses em sementes: muitos fungos causadores de podrides de
sementes produzem necroses nas mesmas, enquanto outros se limitam a hospedar
o tegumento ou pericarpo. Em leguminosas, os fungos Colletotrichum spp. e
Ascochyta spp. geralmente penetram nos cotildones, produzindo leses
necrticas em sementes de feijo, soja, ervilha, entre outras.
f) Descolorao das sementes: a descolorao das sementes um fator de
depreciao muito grande. No material destinado semeadura, este tipo de
anormalidade caracteriza, geralmente, a presena de parasitas; nos produtos
destinados ao consumo, geralmente indicativo de uma baixa qualidade. Existe
um nmero muito grande de fungos causadores de descolorao de sementes em
diferentes culturas. Exemplos clssicos: em soja, Cercospora kikuchii, em arroz,
Drechslera oryzae e em feijo, o fungo Colletotrichum lindemuthianum, os
quais produzem leses caractersticas no tegumento das sementes. Outros
gneros de fungos como Fusarium, Phoma, Cephalosporium e, at mesmo
saprfitas, como Alternaria tenuis, Cladosporium cladosporiodes eCurvularia
spp. podem produzir descolorao do tegumento em muitas espcies de
sementes, especialmente em arroz e outros cereais.
g) Reduo de viabilidade e perda de germinao: obviamente, todos os
fungos que provocam necroses ou podrides profundas nas sementes iro reduzir
a viabilidade, longevidade e a emergncia das mesmas em nvel de campo.
Entretanto, certas infeces que no causam podrides ou necroses so
responsveis pela reduo da viabilidade das sementes, como o caso de
Ustilago nuda eU. tritice em cevada e em trigo.
1.4.3. Problemas causados por fungos de armazenamento
Os principais fungos envolvidos na perda de produtos armazenados
pertencem a vrias espcies de Aspergillus e algumas espcies de Penicillium,
os quais tm sua atividade regulada pelas condies ambientais vigentes durante
o perodo de armazenamento e pelas condies do lote de sementes,
especialmente de seu estado fsico, teor de umidade e inculo inicial.
Os danos causados s sementes so bastante variados, originando perdas
significativas quanto ao valor cultural e nutricional do produto armazenado. Os
principais efeitos sobre as sementes so:
a) Perda da germinao devido invaso do embrio, especialmente em
sementes de gramneas;
b) Descolorao das sementes, causando problemas de reduo da
viabilidade, do valor nutricional e do valor comercial do produto;
c) Aumento da taxa de cidos graxos, causando rancificao do leo, sendo
a taxa de cidos graxos livres um indicativo da deteriorao das sementes;
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
237
d) Aquecimento da massa de sementes, com conseqente aumento da taxa
respiratria, podendo levar as sementes a uma rpida deteriorao;
e) Produo de toxinas, causadas tanto por Aspergillus como por
Penicillium, as quais podem ser letais ao homem e aos animais.
1.4.4. Danos causados s sementes por vrus e nematides
Os vrus geralmente causam o aborto de sementes mas, quando transmitidos
pelo embrio, podem provocar reduo da viabilidade, especialmente em
leguminosas. Os vrus podem tambm provocar alteraes morfolgicas e
descolorao das sementes, reduzindo o valor qualitativo dessas.
Algumas espcies do nematide Anguina produzem galhas nas espigas de
trigo, cevada e outras gramneas. As galhas so produzidas principalmente a
partir de botes florais no diferenciados, sendo o gro da espiga substitudo por
4 a 5 galhas.
De um modo geral, a ao bioqumica de microrganismos sobre o hospedeiro
baseia-se em trs atividades distintas, as quais podem atuar isoladamente ou em
conjunto no processo de desenvolvimento de uma doena. Essas atividades esto
relacionadas com a ao enzimtica na degradao da parede celular do tecido
vegetal, com anormalidade do hospedeiro decorrente da produo de hormnios
de crescimento e com a produo de toxinas, as quais iro causar decomposio
dos tecidos vivos, reduo do crescimento radicular, aumento da taxa respiratria
e interferncia no metabolismo normal de aminocidos.
A maioria dos danos provocados por microrganismos s sementes trazem
como conseqncias variaes significativas quanto ao peso, forma e colorao
das sementes. Levando-se em considerao essas variaes, a adoo de mtodos
apropriados de beneficiamento de sementes, com utilizao de mquinas
adequadas e perfeitamente ajustadas, muitos desses fatores indesejveis
(sementes pequenas, enrugadas, malformadas, manchadas, chochas, etc.) podem
ser removidos do lote de sementes. Como conseqncia imediata, teremos uma
melhoria significativa da qualidade dos lotes das sementes e, como fator
decorrente, ter-se- uma lavoura de melhor qualidade sanitria e mais produtiva.
Quando se planeja produzir sementes de alta qualidade, indispensvel se
considerar antecipadamente a adoo de medidas preventivas e/ou curativas,
visando minimizar as perdas decorrentes da incidncia de microrganismos.
As conseqncias oriundas de um mau controle fitossanitrio so bastante
comprometedoras, no apenas em termos de rendimento ou de qualidade final do
produto, mas tambm por permitir que o problema persista geraes aps
geraes, fazendo com que grandes investimentos sejam necessrios para evitar
frustraes de safras.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
238
2. PRINCPIOS E OBJETIVOS DOS TESTES DE SANIDADE DE
SEMENTES
2.1. Princpios
Um teste, para ser utilizado de forma rotineira pelos laboratrios de anlise
sanitria de sementes, deve atender a cinco objetivos fundamentais:
a) os resultados obtidos no teste de sanidade devem ser precisos, oferecendo
resultados compatveis com os observados a campo;
b) os resultados obtidos no teste de sanidade devem ser facilmente
reproduzveis; isso conseguido quando se tem uma metodologia muito bem
definida e avaliada, fazendo com que o teste seja facilmente aplicvel e
interpretado;
c) o teste de sanidade deve ser suficientemente sensvel a ponto de permitir a
deteco de baixas porcentagens de infeco atendendo, em especial, aos padres
estabelecidos no programa de produo de sementes;
d) o tempo e o trabalho dispensados na execuo e avaliao dos testes de
sanidade, bem como os materiais e equipamentos, devem manter-se dentro de
limites economicamente aceitveis;
e) os resultados alcanados em testes de sanidade que necessitem incubao
das sementes devem ser obtidos no mais curto perodo de tempo possvel; isso
necessrio tanto para o remetente da amostra como para o prprio laboratrio.
A escolha de uma ou outra metodologia para a avaliao da qualidade
sanitria das sementes est na dependncia, especialmente, da finalidade de sua
aplicao e dos objetivos a serem alcanados, estando diretamente relacionada
com a poltica que normatiza o desenvolvimento e execuo do programa de
sementes.
2.2. Objetivos
Podemos dizer que os testes de sanidade tm aplicao prtica em todas as
fases do programa de produo de sementes, sendo importantes para:
2.2.1. Servio quarentenrio
Com a finalidade de verificar a observncia dos padres fitossanitrios
estabelecidos pelo pas importador, todo o material vegetal propagativo deve ser
avaliado no intercmbio internacional. Essas medidas visam a evitar a entrada de
microrganismos indesejveis (quarentenrios) no existentes no pas importador
ou, se existentes, mantidos sob condies de extremo controle. Para a deteco
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
239
de fungos, as anlises realizadas envolvem testes como em papel filtro e at
tcnicas mais demoradas, como o mtodo de sintomas em plantas em
crescimento. Para a deteco e identificao de viroses e bacterioses, tem-se
buscado a utilizao, quando possvel, de tcnicas bastante sensveis, como
mtodos sorolgicos (ELISA, PCR).
2.2.2. Servio de certificao de sementes
A adoo de padres fitossanitrios uma medida que ajuda o servio de
certificao a obter lotes livres de patgenos, com reflexos significativos na
reduo do potencial de inculo de determinados patgenos, em vrios cultivos.
Para o servio de certificao, os testes a serem utilizados devem possuir um
amplo espectro, permitindo a deteco do maior nmero possvel de patgenos,
tendo obviamente a sensibilidade necessria para atender os padres existentes.
Testes com inoculao, exame em placas de Agar e teste em papel filtro podem
ser utilizados.
2.2.3. Determinao do valor para a semeadura
Quando se busca avaliar o valor das sementes para a semeadura, o teste de
sanidade assume o mesmo objetivo do teste de germinao. Em alguns testes,
como o de papel de filtro, sintomas em plntulas e em plantas em crescimento, as
condies de incubao so favorveis para o desenvolvimento do patgeno e
tambm para a germinao das sementes. Entretanto, altas correlaes entre os dados
de laboratrio com os de campo nem sempre so obtidas. Isso devido ao fato
da ocorrncia de uma srie de fatores adversos no controlveis do ambiente. O
teste de sanidade a ser utilizado para atender a esse objetivo deve no apenas
determinar a presena ou a ausncia de patgenos, mas tambm determinar a
influncia dos mesmos sobre a germinao e o desenvolvimento das plntulas.
Testes como o de papel de filtro, meios de cultura e crescimento de plntulas
podem ser utilizados.
2.2.4. Recomendao do tratamento de sementes
Os resultados de testes de amplo espectro, como o teste em papel de filtro, o
teste em meio seletivo ou o mtodo de sintomas em plntulas oferecem trs
alternativas quanto possibilidade de uso das sementes: seme-las sem
tratamento, seme-las depois de tratadas ou no seme-las, destinando-as para
outro fim.
2.2.5. Determinao da eficincia do tratamento de sementes
Testes como o de papel de filtro e os com meios seletivos permitem
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
240
determinar com segurana se o tratamento de sementes foi eficiente ou no na
erradicao dos patgenos. No se deve esquecer de que esses testes no podem
ser aplicados para patgenos parasitas obrigatrios.
2.2.6. Determinao da qualidade das sementes armazenadas e do valor
nutritivo dos gros
Mtodos que permitam a deteco de patgenos produtores de toxinas, as
quais exercem efeito negativo sobre a sade humana e animal, devem ser
utilizados na avaliao da qualidade do material armazenado. Alem da
determinao da presena desses microrganismos, o grau de umidade tambm
deve ser monitorado. Teste em meio de cultivo, como o Batata-Dextrose-Agar
(BDA), com a adio de 18% de cloreto de sdio, muito eficiente para a
deteco de fungos de armazenamento, especialmente de Aspergillus spp. e
Penicillium spp.
2.2.7. Determinao da mistura varietal
Testes de sanidade tambm podem ser utilizados como tcnica auxiliar para a
determinao da pureza gentica de um lote de sementes. A inoculao de
plntulas com isolados de microrganismos patognicos permite a distino de
cultivares resistentes de cultivares suscetveis, o que poder contribuir para a
determinao de mistura varietal.
3. MTODOS USADOS PARA A DETECO DE MICRORGANISMOS
EM SEMENTES
Existem vrios testes que podem ser aplicados para a deteco de
microrganismos associados s sementes. Esses testes variam quanto
sensibilidade e objetivo, sendo que alguns mtodos exigem incubao das
sementes, enquanto que outros permitem a identificao do patgeno atravs de
descoloraes e anormalidades do tegumento das mesmas, sem prvia incubao.
3.1. Exame da semente no-incubada
3.1.1. Mtodo da semente seca
Este mtodo pode ser realizado juntamente com a anlise de pureza. Na
anlise de pureza a amostra examinada cuidadosamente, classificando o
material encontrado em trs classes distintas: sementes puras, outras sementes e
material inerte. As sementes classificadas como puras devem ser examinadas,
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
241
visando-se encontrar sinais ou sintomas indicativos da presena de
microrganismos. Na frao material inerte, so agrupados os restos de plantas,
pedaos de hastes e vagem, esclerdios, galhas, etc. Esse material, aps
satisfeitas as exigncias da anlise da pureza, deve ser incubado para
complementar as informaes obtidas a partir do exame das sementes secas.
Para facilitar a conduo do teste e interpretao dos sintomas detectados nas
sementes, a amostra de trabalho deve ser examinada com o auxlio de um
microscpio estereoscpio, com poder de ampliao de at 60X.
Sementes secas podem mostrar sintomas de diferentes intensidades, devido a
necroses ou descoloraes produzidas por microrganismos, como tambm
podem ser detectados corpos frutferos, massa de esporos ou clulas bacterianas
aderidas superfcie das sementes.
Esse mtodo pode ser aplicado para um grande nmero de patgenos e
espcies de sementes, desde que o patgeno envolvido produza sobre a semente
algum indicativo caracterstico de sua presena. Em sementes de feijo, ervilha e
em outras leguminosas, manchas marrons geralmente so indicativos da presena
de fungos, como o caso de Colletotrichum lindemuthianum, em feijo,
Ascochyta pisi eMycosphaerella pinodes, em sementes de ervilha.
Sementes de soja so freqentemente atacadas pelo fungo Cercospora
kikuchii, o qual provoca descolorao do tegumento, produzindo manchas de
colorao prpura. Outro fungo encontrado no tegumento das sementes de soja,
Peronospora manshurica, produz uma crosta branca, composta por osporos do
referido patgeno. A presena do vrus causador da mancha caf tambm
detectada por esse mtodo.
Em milho, descoloraes azul-esverdeadas do escutelo so produzidas por
fungos de armazenamento, geralmente do gnero Aspergillus. Estrias
esbranquiadas no endosperma de sementes de milho so umindicativo da presena
de Fusarium moniliforme.
Umcomplexo de fungos, entre eles patgenos e saprfitas, o responsvel pelo dano
conhecido por ponta-preta em sementes de trigo. Entre os fungos envolvidos,
destacam-se Curvularia lunata, Alternaria alternata eBipolaris sorokiniana.
O exame de sementes secas pode ser favorecido pela utilizao de luz
ultravioleta, uma vez que certos patgenos produzem fluorescncia amarelo-
azulada em trigo e de cor creme em feijo. Septoria nodorum produz
fluorescncia esverdeada em trigo. O teste de fluorescncia deve ser conduzido
como um teste complementar, sendo til para uma rpida estimativa do nvel de
infeco dos patgenos.
Certos microrganismos tm sua identificao facilitada, embebendo-se as
sementes em gua ou lactofenol (Septoria sp. eGloeotinia sp.).
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
242
Os nematides Aphelenchoides besseyi e Ditylenchus angustus so
facilmente identificados em sementes, quando essas so embebidas em gua.
O mtodo de semente seca permite obter uma rpida informao sobre o
estado sanitrio das sementes, no requerendo muitos equipamentos, alm de
poder ser conduzido juntamente com a anlise de pureza, sem muito trabalho
adicional. um teste indispensvel para a deteco de esclerdios de fungos e
galhas de nematides, complementando as informaes obtidas a partir dos testes
com incubao das sementes.
Entretanto, somente os patgenos causadores de sintomas facilmente visveis
externamente so detectados atravs desse mtodo. Fatores limitantes aplicao
desse procedimento esto relacionados com a no-deteco dos microrganismos
localizados no interior das sementes, a menos que produzam sintomas tpicos no
tegumento. Alm disso, no se tem informao sobre a viabilidade do patgeno,
sendo necessria a conduo de outro mtodo para obteno desses dados.
3.1.2. Mtodo da lavagem da semente
Este mtodo baseia-se na imerso, em gua destilada, de 100g de sementes
(duas repeties de 50g de sementes), as quais so colocadas em um Erlenmeyer
de 100ml. A essas sementes, adicionam-se 10ml de gua, agitando-se por 10
minutos, a fim de remover os esporos e outras estruturas aderidas superfcie
das mesmas. Retira-se a gua da lavagem, colocando-a em tubos de centrfuga.
Essa gua ser centrifugada por 15 minutos a 2500RPM. Terminada a
centrifugao, elimina-se o sobrenadante e o restante ser examinado em
microscpio binocular, com o auxlio de um hemacitmetro, visando a contagem
do nmero de esporos encontrados na suspenso. O resultado do teste expresso
em nmero de esporos por grama de sementes.
Esse mtodo grandemente utilizado para a deteco quantitativa de esporos
de cries em cereais, como tambm na identificao de outros fungos aderidos
superfcie das sementes, a exemplo de Alternaria, Stemphyllium, Drechslera,
Fusarium, Pyricularia e outros.
O mtodo da lavagem das sementes adequado para contaminaes que
esto presentes exclusivamente na superfcie das sementes. Foi demonstrado que
os fungos Ustilago avenae e U. hordei s produziro infeco no campo se
existirem esporos localizados entre as glumas e as caripses, enquanto que os
esporos aderidos superfcie das sementes no produziro infeco. Como
conseqncia, a quantidade desses esporos no uma verdadeira expresso do
potencial de inculo. O mesmo verdadeiro para fungos que apresentem esporos
aderidos superfcie e miclio dormente no interior das sementes.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
243
3.1.3. Mtodo da contagem de embries
Neste mtodo, utiliza-se uma amostra de, no mnimo, 2.000 sementes, as
quais so maceradas a 22
o
C em soluo de 10% de NaOH, com 0,2g de trypan
blue, ou anilina azul, por litro de soluo. A quantidade deve ser suficiente para
cobrir todas as sementes, as quais so deixadas imersas nessa soluo durante o
perodo de uma noite, a uma temperatura de 22
o
C. No dia seguinte, as sementes
so colocadas em um recipiente apropriado (Funil de Fenwick) onde, com o
auxlio de gua morna corrente (50 a 70
o
C), os embries so separados dos
endospermas e coletados em uma peneira. Aps, os embries so transferidos
para um Becker de 100ml, aos quais adicionado lactofenol para a clarificao
dos mesmos. Essa clarificao realizada colocando-se a suspenso em banho-
maria por 10 a 20 minutos. Aps clarificados, faz-se a remoo do restante de
endosperma que ainda permanece junto aos embries, atravs de um funil dotado
de cano de borracha e presilha. Uma vez adequadamente clarificados, os
embries so examinados individualmente com o auxlio de um microscpio
estereoscpio. Para tal, os embries devem ser distribudos em uma placa de
Petri contendo uma sobreplaca com ranhuras (fendas), dentro das quais os
mesmos sero espalhados. Desse modo, a avaliao do teste e identificao dos
embries infectados so facilitadas. Ser considerado infectado o embrio que
apresentar em seu interior miclio do fungo, o qual facilmente distinguvel pelo
fato de permanecer com a colorao azul adquirida do corante.
Esse mtodo grandemente utilizado para deteco de carvo em cevada e
trigo, fornecendo resultados altamente correlacionados coma infeco no campo.
3.2. Exame da semente incubada
A metodologia dos testes descritos a seguir incluem a incubao das
sementes sob condies controladas, de modo a facilitar o crescimento,
esporulao e induo de sintomas, permitindo a identificao mais rpida e
segura do patgeno envolvido.
3.2.1. Mtodo do papel filtro
Neste teste, tambm chamado de Blotter Test, so avaliadas, no mnimo, 400
sementes, as quais so distribudas em repeties, de nmero varivel, em funo
do tamanho dos recipientes e das sementes. Usando-se sementes de soja em
placas de Petri com 9cm de dimetro, no incubar mais de dez sementes por
placa; quando se usam caixas gerbox, no colocar mais de 20 sementes por
caixa. Para sementes menores, como as de trigo, pode-se incubar maior nmero
de sementes por recipiente, tendo o cuidado de observar certa distncia entre as
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
244
mesmas evitando-se, desse modo, contaminao de uma semente para outra. O
substrato a ser utilizado pode ser papel de filtro ou mata-borro, colocando-se
duas a trs folhas de papel em cada recipiente (observar a capacidade que o papel
possui em absorver e reter a gua). O papel substrato deve ser previamente
umedecido em gua destilada e esterilizada. Logo aps, as sementes so
distribudas sobre o substrato e incubadas a uma temperatura de 20 2
o
C, por
um perodo de 7 a 8 dias, sob regime luminoso de 12h de luz e 12h de escuro. A
luz deve ter um comprimento de onda entre 320 e 400mm, de modo a promover
a esporulao dos fungos. Esse comprimento de onda obtido usando-se luz
fluorescente fria ou luz negra (NUV). A avaliao realizada aps o perodo de
incubao, examinando-se individualmente todas as sementes com auxlio de
microscpio estereoscpio com aumento de 50 a 60X. Caso no seja possvel a
identificao do patgeno atravs desse equipamento, deve-se montar lminas
com material do fungo desejado e examin-lo em microscpio composto.
As condies de incubao devem ser rigorosamente seguidas, a fim de
permitir a esporulao dos fungos. A identificao dos mesmos feita levando-
se em considerao as caractersticas de suas estruturas reprodutivas, observando
detalhes dos condios, conidiforos, acrvulos, picndios e do prprio miclio. A
presena ou ausncia de septos e pigmentao, forma e tamanho dos condios,
bem como o arranjo dos mesmos sobre os conidiforos, ramificados ou no,
tambm deve ser observada (Fig. 3 a 9). O fungo Rhizoctonia spp. produz
miclio com caractersticas peculiares s que permitem identific-lo em sua fase
vegetativa, uma vez que o miclio septado em ngulo reto (90), havendo a
presena de septos antes e depois da ramificao, bem como uma constrio na
base da hifa ramificada (Fig. 10).
O resultado final do teste expresso atravs da porcentagem mdia de cada
uma das espcies fngicas encontradas na amostra. Se, ao somarmos as
porcentagens de cada fungo, encontrarmos valores superiores a 100%, isso
indica que sobre uma mesma semente foram encontrados dois ou mais fungos,
refletindo a baixa qualidade sanitria da amostra.
Esse mtodo pode ser utilizado para todos os tipos de sementes, tendo a vantagemde
detectar um grande nmero de fungos associados s mesmas. O teste em papel de
filtro pode ser descrito comumhbrido entre a cmara mida, muito utilizada em
patologia vegetal, e o teste de germinao, combinando as vantagens da investigao in
vitro com as observaes in vivo. Atravs desse mtodo, possvel avaliar a
viabilidade do inculo presente nas sementes, estimar a viabilidade das sementes
e, por inferncia, o efeito dos fungos sobre a germinao das mesmas.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
245
Figura 3 - Conidiforo e condios de. Figura 4 - Conidiforo e condios de
Aspergillus. Pyricularia.
Figura 5 - Conidiforo e condios Figura 6 - Conidiforo, filides e condios
de Penicillium. de Fusarium.
CONDIO
CONIDIFORO
CONDIO
FILIDE
CONIDIFORO
CONDIO
FILIDE
CONDIOS
CONIDIFOROS
CONDIO
CONIDIFORO
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
246
Figura 7 - Picndios e condios de Phomopsis. Figura 8 - Conidiforo e condios
de Alternaria.
Figura 9 - Conidiforo e condios de Figura 10 - Miclio de Rhizoctonia.
Bipolaris.
CONDIOS
PICNDIO
CONDIO
CONIDIFORO
CONDIOS
CONIDIFORO
o
HIFA
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
247
Apesar de sua grande aplicao, esse mtodo apresenta certas limitaes,
como a dificuldade para identificao de bactrias patognicas, o fato de fungos
de crescimento vegetativo muito lento poderem ser rapidamente encobertos por
outros mais vigorosos, no detectar fungos causadores de mldio, em razo das
condies de incubao no serem favorveis ao surgimento da forma imperfeita
sobre as sementes, e por permitir o rpido crescimento de fungos contaminantes
(Rhizopus e outros), sendo necessrio, nesse caso, a realizao do pr-tratamento
das sementes em hipoclorito de sdio.
O referido mtodo apresenta algumas variantes, como a utilizao do
congelamento rpido e de herbicida, visando evitar a germinao das sementes.
A germinao das sementes faz com que elas se movam sobre o substrato,
permitindo que haja o contato entre as mesmas. Isso pode provocar
contaminaes secundrias e dificultar a interpretao do teste, originando,
inclusive, uma superestimativa do potencial de infeco da amostra. Inibindo a
germinao, as sementes permanecero com suas posies inalteradas sobre o
substrato, facilitando a avaliao do teste.
Quando se deseja utilizar a tcnica do congelamento, as sementes, aps terem
sido semeadas sobre o substrato previamente umedecido com gua destilada e
esterilizada, so incubadas por um dia sob condies normais ao do teste em
papel filtro. Durante esse perodo de incubao, as sementes iro absorver
umidade suficiente para a retomada dos processos metablicos e incio da
germinao. Aps, as sementes so transferidas para um freezer, com
temperatura de -20
o
C, onde permanecero por mais 24 h. Devido ao rpido
congelamento, haver a um aumento de volume e a formao de cristais de gelo,
os quais rompero a estrutura celular, matando a semente. Realizado o
congelamento, as sementes retornam cmara de incubao, onde permanecero
por um perodo de sete dias, quando ento sero examinadas. A porcentagem de
infeco obtida com essa tcnica bastante prxima a observada em meio de
cultura, especialmente devido falta de resistncia do hospedeiro. Essa tcnica
bastante til, especialmente para sementes de cereais pois, alm de facilitar a
avaliao do teste, favorece o surgimento de certos fungos (Drechslera,
Fusarium, Septoria, Phoma e outros).
Outra tcnica que pode ser utilizada para manter as sementes em suas
posies originais a utilizao de herbicida (2, 4-D), em soluo com a gua
empregada para o umedecimento do substrato. A concentrao da soluo de
herbicida de 0,2%. As condies de incubao so idnticas s descritas para o
mtodo do papel de filtro.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
248
3.2.2. Mtodo em placa de Agar
As sementes so colocadas em placas de Petri contendo quantidade suficiente
de Agar, distanciadas umas das outras de acordo com o tamanho das sementes. O
meio de cultura mais utilizado composto por batata, dextrose e Agar (BDA).
Antes de semeadas sobre o meio de cultura, as sementes devem ser pr-
tratadas com hipoclorito de sdio a 1% por 10 minutos, de modo a evitar o
surgimento de fungos saprfitas. As sementes, aps pr-tratadas, sero ento
semeadas sobre o meio de cultura e incubadas sob regime luminoso de 12 h de
luz e 12 h de escuro, em temperatura constante de 20
o
C, por um perodo de 5 a 7
dias. Recomenda-se a incubao do material inerte em separado. O princpio de
avaliao desse mtodo o exame macroscpico das colnias formadas pelos
fungos, levando-se em considerao as caractersticas das mesmas (forma,
tamanho, colorao), observando-se as duas faces da placa de Petri.
Esse mtodo geralmente empregado quando o teste em papel de filtro no
oferece condies adequadas para o crescimento vegetativo, esporulao e
induo de sintomas nas sementes ou plntulas ou quando se deseja detectar
patgenos que produzem colnias caractersticas em meio de cultura.
Para a deteco de fungos de armazenamento, aconselhvel a adio de
18% de NaCl ao meio de cultura.
Quando o teste empregado ocasionalmente, o analista hesitar na
identificao do patgeno, perdendo muito tempo no exame das colnias e na
montagem de lminas para exame em microscpio composto. Geralmente,
fungos de rpido crescimento impedem a identificao de fungos de crescimento
mais lento. Alm disso, podem surgir mais de uma colnia a partir da mesma
semente, o que torna difcil a identificao dos fungos, pois uma pode mascarar e
at mesmo inibir o crescimento da outra. Este teste, se comparado com o teste
em papel de filtro, mais rpido, porm mais trabalhoso, pois envolve o preparo
e esterilizao do meio de cultura.
3.2.3. Mtodo do sintoma em plntulas
O substrato utilizado nos testes de papel e em meio de cultura
completamente artificial. Um caminho para o estabelecimento de condies
naturais obtido pela semeadura das sementes em solo, areia ou material similar,
previamente autoclavado. Sob condies controladas de temperatura e umidade,
sementes e plntulas podem desenvolver sintomas comparveis com aqueles
encontrados sob condies de campo. Para alguns patgenos, o uso desse teste
permite obter informaes pertinentes ao desempenho do lote de sementes no
campo, em relao a doenas transmitidas por sementes.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
249
Existem vrias metodologias utilizadas para deteco de patgenos baseadas
nos sintomas em plntulas. A seguir, sero abordadas trs tcnicas mais
utilizadas.
3.2.3.1. Mtodo do tijolo modo (Hiltners Method) - Neste teste, o substrato
utilizado tijolo modo, tendo suas partculas um tamanho mximo de 3 a 4mm
de dimetro. Esse material empregado devido a sua capilaridade e capacidade
de reteno de umidade. Quatro repeties de 100 sementes de cereais (trigo,
cevada, aveia, entre outros) so convenientemente distribudas em um recipiente
contendo uma camada de mais ou menos 8cm de substrato previamente
umedecido. Aps semeadas, as sementes so cobertas por uma camada de mais
ou menos 3cm e incubadas por duas semanas, sob condies de temperatura
ambiente e na ausncia de luz. A avaliao feita retirando-se do substrato as
plntulas e sementes no-germinadas, observando-se os sinais de doenas nas
plntulas inteiras, anotando-se tambm o nmero daquelas que no conseguiram
emergir. Para deteco de Fusarium, recomenda-se incubao emtemperaturas mais
baixas (10-12
o
C), por um perodo de trs semanas.
3.2.3.2. Mtodo da areia - A metodologia a mesma que a do teste anterior,
variando apenas o substrato. Neste mtodo, ao invs de utilizar-se tijolo modo,
usa-se areia, a qual deve ser de granulometria fina. A camada necessria para
cobrir as sementes aps a semeadura ter uma espessura varivel, em funo do
tamanho da semente a ser testada.
Esse mtodo pode ser utilizado para um grande nmero de espcies,
incluindo sementes de cereais, leguminosas, olercolas e florestais, sendo til na
deteco de Drechslera, Fusarium e Septoria, em cereais, e Colletotrichum
gossypii, em algodo.
3.2.3.3. Mtodo do solo padronizado - O substrato a ser utilizado envolve um
solo previamente preparado, composto de 6 partes de turfa, 4 partes de argila e
fertilizante completo. Para cada 3 partes desse composto, adiciona-se 1 parte de
areia. Aps perfeitamente homogeneizado, adicionam-se 0,6 partes de gua,
uniformemente distribudas. O substrato colocado em potes plsticos,
semeando-se 3 a 5 sementes por pote. A incubao tem um perodo varivel
entre duas a quatro semanas, em temperatura de 20 a 10
o
C, respectivamente.
aconselhvel envolver os potes em sacos plsticos para evitar a evaporao da
umidade, criando um microclima altamente favorvel ao desenvolvimento do
patgeno. O substrato pode ser reutilizado, desde que autoclavado temperatura
no inferior a 95
o
C por 20 minutos.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
250
Esse mtodo usado para a deteco de Fusarium, Septoria e Drechslera
em sementes de cereais.
As limitaes desses mtodos de sintomas em plntulas esto relacionadas
com o perodo prolongado de incubao, com a dificuldade do manuseio do
substrato, com a necessidade de uma ampla sala de incubao e com o fato de
no detectarem patgenos que ocorrem no fim do ciclo da cultura.
3.2.4. Inspeo da planta aps o estgio de plntula - Certos patgenos
associados s sementes, para que possam ser detectados, necessitam de um
perodo de incubao maior do que o usualmente fornecido pelos mtodos de
sintomas em plntulas. Para esses patgenos, especialmente bactrias e vrus, a
avaliao do teste deve ser realizada quando a planta se encontrar em uma fase
adiantada de desenvolvimento.
3.2.4.1. Mtodo do sintoma em plantas em crescimento - As sementes so
semeadas em solo previamente autoclavado, colocadas em recipientes plsticos
(vasos ou bandejas) e incubadas sob condies de temperatura controlada.
Algumas metodologias deste teste j foram padronizadas, visando facilitar a
deteco do Lettuce Mosaic Virus, Barley Stripe Mosaic Virus e outras doenas
sistmicas, como fusarioses em olercolas.
Nesse mtodo, so testadas 200 sementes previamente tratadas com
hipoclorito de sdio a 2% durante 10 minutos. Aps pr-tratadas, as sementes
so semeadas em solo padronizado, adequadamente umedecido e incubadas a
uma temperatura de 25
o
C na ausncia de luz. A primeira avaliao dos sintomas
realizada no estgio de trs folhas e a avaliao final 10 dias aps a primeira.
Esse mtodo de grande valia para postos de servios quaternrios, para
avaliao de lotes de sementes importadas, visando a deteco de bactrias, tais
como Pseudomonas syringae pv. glycinea, P. syringae pv. pisi, Xanthomonas
campestris pv. campestris, X. campestris pv. malvacearum e X. campestris pv.
vesicatoria.
Apesar de sua utilidade, o referido mtodo no empregado em anlise de
rotina pelo fato de ocupar muito espao, exigir uma cmara especfica ou casa de
vegetao para incubao do material, havendo a necessidade do efetivo controle
da temperatura, umidade e luminosidade e pelo fato de ser um teste muito
demorado. Alm de ser til para deteco de bacteriose e viroses, pode tambm
ser empregado para mldios e ferrugens.
3.2.4.2. Mtodo da inspeo do campo de produo de sementes - O mtodo
da inspeo do campo de produo de sementes , para muitas doenas, o meio
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
251
mais efetivo de controle, permitindo a rejeio de lotes antes mesmo de serem
colhidos. Entretanto, para que esse mtodo possa ser aplicado, faz-se necessrio
o prvio estabelecimento dos padres de campo para determinadas doenas,
definido o nvel mximo de infeco que uma lavoura pode conter para ser
utilizada como semente. Sem a incluso desses nveis de infeco nos padres de
campo, tal mtodo invivel.
Em qualquer esquema de certificao ou fiscalizao de sementes, no
mnimo duas inspees do campo de produo devem ser realizadas. A primeira
geralmente efetuado quando a planta se encontra em pleno crescimento e, a
segunda, por ocasio da florao, ou aps, por ocasio da maturidade. Detalhes
quanto s tcnicas de avaliao de infeces nos campos de produo dependem
da espcie cultivada e do patgeno envolvido. Entretanto, como impossvel
avaliar todas as plantas individualmente, imprescindvel a adoo de uma
amostragem representativa da rea, atravs do exame de um nmero suficiente
de plantas e de vrios pontos de amostragem.
Todo o esquema de certificao ou fiscalizao de sementes est
primariamente baseado na inspeo dos campos de produo, tcnica que
contribuiu para o aumento da produo agrcola. Uma vez estabelecidos e
observados os padres de infeco, com o passar do tempo, esses nveis podero
ser reduzidos a valores ideais, ou seja, tolerncia zero.
Esse procedimento deve ser aplicado, especialmente, para as culturas de
maior importncia econmica, como a soja, o trigo, o arroz, o milho, o algodo e
o feijo. Para cada cultura existe um determinado nmero de patgenos
economicamente importantes e que so transmitidos por sementes. Nessas
situaes, esse mtodo de importncia incalculvel.
Os investimentos necessrios para a conduo do mtodo citado so
relativamente elevados, especialmente no que diz respeito a trabalho e transporte.
Entretanto, possvel sanar esses inconvenientes, atravs da combinao das
inspees sanitrias com inspees de outros propsitos (mistura varietal,
invasoras) comumente realizadas nos campos de produo. Um fato negativo
desse mtodo a possibilidade de no deteco de determinado patgeno. Nesse
caso, mtodos laboratoriais devem ser realizados visando a complementao das
informaes obtidas do campo de produo inspecionado. A dificuldade para
caracterizao de um microrganismo responsvel por determinada doena
outro fator que se reveste de importncia negativa, uma vez que dois ou mais
patgenos podem provocar sintomas similares, ou agirem simultaneamente sobre
a planta, dificultando a identificao do agente causal. Alm disso, h o efeito do
meio ambiente sobre o estabelecimento do patgeno e desenvolvimento da
doena, tornando varivel o grau de incidncia e a importncia econmica dos
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
252
mesmos, entre anos de cultivo e entre regies geogrficas.
3.3. Anlise atravs de bioensaios ou procedimentos bioqumicos
3.3.1. Mtodo de inoculao em plantas indicadoras
O inculo emsementes infestadas ou infectadas pode ser usado emvrias formas
para produzir sintomas emplntulas ou plantas sadias, essas usadas como plantas
indicadoras.
Injeo hipodrmica, infiltrao a vcuo, atomizao de material oriundo das
sementes infectadas com Xanthomonas phaseoli ou X. phaseoli var. fuscans em
plantas indicadoras um mtodo bastante sensvel e eficiente para a deteco
desses microrganismos. Uma amostra de 500g de sementes no tratadas de cada
lote de feijo so desinfectadas com soluo de hipoclorito de sdio a 2,6% por
15 minutos, sendo em seguida lavadas com gua esterilizada. A amostra pr-
tratada com hipoclorito de sdio incubada por 18 a 24h em 1.200ml realizada
sob condies ambientais, fazendo-se a inoculao do lquido remanescente
atravs de injees no n das primeiras folhas das plntulas de feijo (10 dias,
aproximadamente). A reao positiva observada atravs de grandes leses,
seguidas de necroses sistmicas.
Existe umgrande nmero de plntulas indicadoras com eficincia comprovada
para a deteco de viroses transmitidas por sementes. Entre as espcies mais
usadas, destacam-se Chenopodium album, C. quinoa, C. amaranticolor,
Cucumis sativus, Glycine max, Nicotiana glutinosa, N. tabacum, Phaseolus
mungo, P. vulgaris (algumas variedades especficas), Pisum sativum e Vigna
unguiculata.
A metodologia preconizada para a deteco do vrus do mosaico da alface,
atravs do mtodo de inoculao em planta indicadora, prev a anlise de 400
sementes por amostra, a qual dividida em quatro repeties de 100 sementes.
Cada repetio colocada em uma placa de Petri, qual adicionou-se 1ml de
buffer. Usando-se as mos devidamente limpas, as sementes so rigorosamente
esmagadas, com o auxlio de uma colher de plstico, pressionando-se a colher
contra as sementes. Adiciona-se uma pitada de carvo ativado em cada placa de
Petri e mistura-se bem. As folhas das plantas indicadoras (Chenopodium
quinoa) so preparadas para receber o inculo, atravs de leves ferimentos
produzidos pela raspagem de carborundum sobre as mesmas. O inculo
aplicado atravs de cotonetes sobre a superfcie de trs folhas por planta,
inoculando-se duas plantas por repetio. Aps dois a quatro minutos, lava-se o
excesso do material depositado sobre as folhas inoculadas, com uma rpida
borrifada de gua. A incubao das plantas inoculadas realizada a 25
o
C, sob
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
253
regime luminoso de 16h de luz e 8h de escuro, por um perodo de dez a doze
dias, envolvendo as mesmas em sacos plsticos no primeiro dia de incubao.
Aconselha-se o uso de testemunhas, usando-se duas plantas no inoculadas e
outras duas inoculadas apenas com buffer +carvo ativado +carborundum.
Para outras viroses, pode-se inocular o extrato extrado de folhas com
sintomas da doena, seguindo a mesma metodologia descrita anteriormente.
Segundo Neerrgaard (1979), o mtodo de inoculao em plantas indicadoras
pode ser usado para a deteco de vrios virus, entre eles Barley Stripe Mosaic
Virus, Bean Common Mosaic Virus e Cowpea Mosaic Virus.
Esse teste, embora possuindo metodologia padronizada para a deteco de
viroses, pouco usado em anlises de rotina devido ao tempo exigido para a
conduo do teste, necessidade de uma casa de vegetao para crescimento das
plantas indicadoras e, principalmente, dificuldade de obteno e manuteno
das plantas indicadoras.
3.3.2. Mtodo da placa de fago
Este mtodo utilizado para a deteco de bactrias patognicas, tendo sido
inicialmente estabelecido para a deteco de Xanthomonas campestris pv.
Phaseoli e Pseudomonas syringae pv. phaseolicola (Taylor, 1970) em sementes
de feijo e, posteriormente para P. pisi, em sementes de ervilha (Taylor, 1972).
Uma amostra de 250g de sementes superficialmente esterilizada em soluo
de hipoclorito de sdio a 2% durante 10 minutos. A seguir, so maceradas em
um litro de calda nutritiva (NB), em um liqidificador. Essa pasta incubada em
24h, visando a multiplicao da bactria. Pores de 10ml so removidas
assepticamente para frascos esterilizados e adiciona-se uma suspenso contendo
4.000 e 5.000 partculas de fago. Amostras de 0,1ml dessa mistura so
imediatamente, e aps 6 a 12h, espalhadas em placas previamente inoculadas
com bactria indicadora. Cada partcula de fago forma uma zona caracterstica
(placa) e essas so contadas. A presena de bactrias homlogas indicada pelo
aumento significativo do nmero de placas no segundo isolamento.
Esse teste vem sendo freqentemente utilizado por pesquisadores. Apesar de
sua grande sensibilidade e eficincia, no tem sido empregado em anlise de
rotina.
A sensibilidade do teste pode decrescer em sementes de feijo,
substancialmente contaminadas com bactrias saprfitas, situao essa
freqentemente detectada quando as condies climticas forem adversas por
ocasio da maturidade ou quando as vagens permanecerem em contato com o
solo mido, por um perodo mais longo que o normal.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
254
Esse mtodo perfeitamente aplicvel em anlise de rotina, especialmente
quando grande nmero de amostras necessitam ser testadas. No envolve a
utilizao de equipamentos sofisticados e onerosos, alm de ser facilmente
avaliado, desde que se disponha de bacterifagos ativos e especficos para as
bactrias que necessitam ser detectadas.
3.3.3. Isolamento direto
Nesta tcnica, as bactrias so extradas das sementes por meio de moagem e
adio de gua destilada esterilizada, sendo a suspenso plaqueada em meio de
cultura B de King, nutriente Agar ou outros. As colnias obtidas sero ento
testadas quanto identidade e patogenicidade por outros mtodos aqui citados.
Outra tcnica passvel de ser utilizada para o isolamento de bactrias a
seguinte:
- retirar, ao acaso, 100 sementes da amostra de trabalho, colocando-as em um
recipiente com etanol a 96%, durante 30 minutos. Transferir as sementes para
outro recipiente contendo hipoclorito de sdio a 2%, por 10 minutos. Lavar as
sementes, por trs vezes, com gua esterilizada;
- dividir as 100 sementes em quatro repeties de 25, as quais so colocadas
em placas de Petri esterilizadas, adicionando-se 0,75ml de soluo salina;
- incubar por 24-48h, sob temperatura de 25-27C, visando a extrao das
bactrias;
- com um basto de vidro, transferir uma gota da suspenso bacteriana que se
formou, espalhando-as sobre meio de cultura apropriado, previamente
solidificado em placas de Petri esterilizadas;
- identificar as placas e incub-las, invertidas, por um perodo de 48h ou
mais, em temperatura de 25-27C;
- aps o crescimento das colnias, repicar aquelas bem isoladas das demais,
para tubos de ensaio.
Depois de obtida a cultura pura, pode-se aplicar os testes necessrios para a
identificao das mesmas.
3.3.4. Meios seletivos
A utilizao de meios seletivos permite a identificao, de forma presuntiva,
de vrios patovares de Pseudomonas syringae e Xanthomonas campestris
(Schaad e Foster). Os meios seletivos diferenciam os patgenos a nvel de
espcie, enquanto os semi-seletivos devem permitir a identificao, pelo menos,
em nvel de gnero. A utilizao de meios seletivos e semi-seletivos prev o uso
de agentes inibidores do crescimento de saprfitas (bactrias e fungos), bem
como o atendimento das necessidades nutricionais do organismo testado.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
255
A seguir so indicados alguns meios para a deteco de bactrias em
sementes:
a) KBC para Pseudomonas syringae pv. syringae (Mohan e Schaad);
b) MSP para P. syringae pv. phaseolicola (Mohan e Schaad);
c) SX Agar para Xanthomonas campestris pv. campestris (Schaad e White);
d) NSCA para X. campestris pv. campestris (Schaad e Kendrick);
e) MXP para X. campestris pv. phaseoli (Claflin et. al.).
3.3.5. Mtodos sorolgicos
Nas ltimas dcadas houve um grande progresso no desenvolvimento de
mtodos precisos e rpidos para a deteco de bacterioses e de viroses
transmitidas por sementes. Inicialmente, dependia-se, em muitos casos, da
germinao das sementes (testes em plantas em crescimento) para a observao
de sintomas nas plntulas ou para a obteno do inculo, o qual seria
posteriormente inoculado em plantas.
Agora, entre os testes modernos para a identificao desses microrganismos,
destacam-se as provas sorolgicas, as provas de hibridao do cido nuclico e a
reao em cadeia da polimerase (PCR). Entretanto, devido s facilidades de
execuo, de instalaes, de equipamentos e custos, os testes mais utilizados
para a identificao de vrus transmitidos por sementes so os testes sorolgicos,
os quais eram inicialmente apenas utilizados em patologia animal e humana,
tendo sido posteriormente adotados para um considervel nmero de vrus e
bactrias fitopatognicas.
O princpio do teste baseia-se na introduo de um organismo (vrus) em um
animal, provocando a formao de anticorpos no sangue. As substncias que
induzem a formao de anticorpos so chamados de antgenos. O sangue do
animal inoculado com o antgeno contm anticorpos na globulina do soro e esse
soro, contendo anticorpos, chamado de anti-soro. Os testes sorolgicos esto
baseados na reao in vivo entre o antgeno e o anticorpo. Essas reaes podem
ocorrer na forma de aglutinao ou precipitao.
A descrio dos principais testes sorolgicos encontram-se no Plants
Pathologists Pocketbook do Commonwealth Mycological Institute.
Entre os testes sorolgicos existentes, sero abordados, sucintamente, apenas
os principais mtodos.
Para o mtodo de Microprecipitao, podem-se testar tanto sementes como
plntulas originrias de sementes infectadas. Obtm-se o extrato das sementes ou
das folhas, sendo esse material testado com o anti-soro especfico para o vrus ou
bactria responsvel pela doena. Em tubo capilar de 1,3mm de dimetro e 10cm
de comprimento, introduz-se inicialmente o anti-soro, preenchendo
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
256
aproximadamente 1,5cm de tubo, sendo o restante com o material supostamente
infectado (antgeno). Atravs de movimentos oscilatrios, mistura-se o antgeno
com o anti-soro. A formao de microprecipitaes (coagulaes) pode ser
observada quando ocorrer reao entre o antgeno e o anti-soro, indicando que o
patgeno responsvel pela doena o correspondente ao anti-soro empregado.
No mtodo da Difuso Dupla (Ouchterlony Test), tambm podem ser
testadas sementes ou folhas de plntulas. Para tal, em uma placa de Petri
contendo gua de Agar previamente solidificada (1% Agar, 0,85% de cloreto de
sdio e 0,02% de azoto de sdio), so realizados seis orifcios no substrato,
circundando um orifcio central. No orifcio do centro colocado o anti-soro e
nos circundantes so colocados, alternadamente, o extrato do material infectado,
com trs diluies, e o material sadio. Os orifcios podem ser preenchidos com
tubos capilares. Realizada a distribuio do material, a placa tampada e
incubada temperatura ambiente por um ou dois dias. A reao positiva
caracterizada pela formao de uma zona de precipitao entre o orifcio do anti-
soro e do antgeno, assumindo a forma de um arco de colorao branco-opaco.
Entre as tcnicas sorolgicas, a imunofluorescncia considerada a de
maior sensibilidade e utilidade, uma vez que a visualizao facilitada pelas
reaes de aglutinao. Os anticorpos so marcados com substncia fluorescente
(ex.: isotiocianato de fluorescncia) e, quando combinado com a bactria, torna
fcil a visualizao dessa em microscpio com iluminao ultravioleta, devido
formao de um halo fluorescente envolvendo a clula bacteriana.
Em outro mtodo sorolgico, mtodo do ltex, minsculas esferas de ltex
so sensibilizadas com fraes de globulina do anti-soro, visando facilitar a
visualizao do precipitado (floculado) originrio da reao entre o antgeno e o
anti-soro. Essa tcnica tem sido usada para a deteco do vrus do mosaico da
soja, para a qual se utiliza plmulas e cotildones de plntulas. Esse material
separado do restante da plntula e macerado em 5ml de soluo salina normal
(0,85% de NaCl em gua destilada). Uma gota do material oriundo dessa
macerao misturado com 0,025ml da suspenso de ltex, incubada durante 1
hora temperatura de 20
o
C em cmara mida para evitar a evaporao. A
observao feita com o auxlio de um microscpio estereoscpio, em fundo
escuro e com a luz refletida. Essa tcnica pode ser realizada em tubos capilares.
Para esse mtodo, 200 sementes so incubadas por uma semana em placas de
Petri (25 sementes por placa) com papel de filtro previamente umedecido em
gua destilada e esterilizada. Com uma tesoura, separam-se, em outras placas, as
plmulas e os cotildones do restante das plntulas, formando-se quatro
repeties de 50 sementes. Em cada repetio so adicionados 2ml de buffer.
Com o auxlio de uma colher plstica, o material esmagado, pressionando-se a
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
257
colher contra o mesmo. A seiva oriunda desse macerado deixada em repouso
por 2h, com a placa de Petri fechada. Aps a incubao, as placas so levemente
agitadas. Em um tubo capilar perfeitamente limpo, introduz-se 1cm da suspenso
de ltex sensibilizado com vrus e 2cm de seiva oriunda do material macerado.
Prepara-se um tubo capilar com buffer e ltex para servir como testemunha. Para
cada repetio deve haver um tubo capilar, totalizando cinco tubos por amostra
(1 testemunha +4 repeties). A homogeneizao do antgeno com o anti-soro
realizada atravs de um homogeneizador automtico, ou manualmente, fixando-
se os tubos capilares em lmina de vidro por meio de fitas adesivas. Aps 15
minutos de homogeneizao (movimentos oscilatrios), os tubos capilares so
examinados em microscpio estereoscpio. Dependendo da intensidade de
floculao, a mesma pode ser visualizada a olho nu.
O mtodo da Elisa (Enzime Linked Immunsorbent Assay) apresenta
grande sensibilidade para a identificao de vrus, uma vez que o anticorpo ter
sua reao com o antgeno favorecido pela hidrlise enzimtica. Nesse mtodo,
utiliza-se uma placa especial composta por pequenos alvolos justapostos. Em
cada alvolo colocado inicialmente uma poro de anticorpo especfico sendo,
em seguida, incubada a 37
o
C por 4h, com posterior lavagem do alvolo.
Adiciona-se o extrato retirado da semente (por meio de moagem, buffer e
produto surfactante) e incuba-se novamente a 37
o
C/4h. Aps esse perodo, a
placa novamente lavada e as partculas do vrus retidas s do anti-soro fixado
nas paredes do alvolo. A fase seguinte consta na adio de anticorpos
conjugados enzima, a qual visa propiciar a colorao da suspenso. A placa
novamente incubada a uma temperatura de 37
o
C por 6h. A placa novamente
lavada, ficando as partculas do extrato anteriormente aderido. A seguir,
adiciona-se o substrato enzimtico misturado com buffer. Esse substrato ser
hidrolizado pela enzima, produzindo uma colorao amarelada indicadora da
reao positiva entre o antgeno e o anti-soro. Por meio desse mtodo, uma
semente infectada pode ser detectada entre 1.000 sementes sadias.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
258
Existem diferentes metodologias do mtodo Elisa. Na Fig. 11 esto
representados, esquematicamente, os passos das metodologias do Teste DAS-
Elisa (Doble Antibody Sandwich) e PAS-Elisa (Protein Antibody Sandwich).
Figura 11 - Representao esquemtica do teste DAS-ELISA e PAS-ELISA.
3.3.6. Mtodo para a deteco de nematides
Existem vrias tcnicas descritas para a deteco de nematides transmitidos
por sementes. Neste captulo sero apresentadas as trs tcnicas mais usadas:
a) Um mtodo a ser utilizado para a deteco de nematides consiste na
moagem e peneiramento do material modo. Nesse mtodo, duas repeties de
100 sementes, retiradas ao acaso da amostra, so imersas separadamente em gua
por um perodo de duas horas. Logo aps, so trituradas em liqidificador por 1
a 2 minutos, peneirando-se o material modo. As peneiras devem possuir malhas
de 0,149 e 0,037mm, para permitir a coleta dos nematides, os quais ficam
retidos na ltima peneira. A identificao dos nematides feita atravs do
auxlio de lminas e microscpio, do exame de 20ml da suspenso retida na
peneira 0,037mm;
b) Descascar manualmente 5 repeties de 100 sementes colocando-as em
pequena quantidade de gua em um vidro de relgio e incub-las por 24 h a 24
3
o
C. Lavar o material em peneira 0,045mm. O material resultante sobre a peneira
ter nematides, pedaos de casca e de caripses. Transferir esse material para o
1) ANTICORPO
2) AMOSTRA
3) CONJUGADO
4) SUBSTRATO
1) PROTENA A
2) ANTICORPO
3) AMOSTRA
4) ANTICORPO
5) CONJUGADO
6) SUBSTRATO
DAS - ELISA PAS - ELISA
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
259
funil de Baermann, deixando em repouso por uma noite. Colete os nematides e
observe o filtrado com o auxlio de um microscpio estereoscpio;
c) Colocar 500 sementes em uma pequena peneira dentro de uma placa de
Petri. Adicionar gua at cobrir totalmente as sementes. Deixar em repouso por
72h. Remover as sementes retirando a peneira e transferir a gua para um
Becker. Lavar bem a placa de Petri, coletando a gua da lavagem no mesmo
Becker. Deixar a gua em repouso por uma hora, o que permitir a decantao
dos nematides. Retirar com cuidado o excesso de gua com o auxlio de uma
pipeta, deixando no Becker apenas 15-20ml. Transferir aos poucos essa gua
para outra placa a fim de determinar a presena de nematides. Esse exame deve
ser realizado sob microscpio estereoscpio com luz diascpica, contando o
nmero de nematides encontrados.
Essas trs metodologias podem ser empregadas para deteco de
Aphelenchoides besseyi, entretanto, a primeira metodologia mais indicada para
a extrao de nematides sedentrios, enquanto que as outras possibilitam boa
extrao de nematides com maior mobilidade.
4. CAUSAS DE VARIAES DOS TESTES DE INCUBAO
Existe um nmero significativo de fatores que afetam, de um modo ou de
outro, o resultado final de um teste de sanidade com incubao das sementes,
interferindo diretamente sobre o tipo, quantidade e vigor do inculo durante o
perodo de crescimento vegetativo e perodo reprodutivo do microrganismo.
Embora os fatores a seguir discutidos tenham influncia em todos os testes
que envolvam incubao das sementes, os mesmos exercem um grande efeito
sobre o desenvolvimento normal, especialmente de fungos.
4.1. Fatores relacionados com a qualidade das sementes
Sementes imaturas ou com maturidade desenforme, com danos mecnicos ou
fisiolgicos, podem facilitar a penetrao ou o desenvolvimento de
microrganismos saprfitas. Esses, por sua vez, competiro substancialmente com
os patgenos, causando a obteno de resultados no representativos do
verdadeiro potencial de infeco do lote.
A longevidade do patgeno outro fator a ser considerado, a qual tem
estreita relao com a idade da semente. Vrios trabalhos de pesquisa j
demonstraram que sementes de soja recm colhidas podem apresentar alta
porcentagem do fungo Phomopsis sp., especialmente se essas sementes
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
260
permaneceram no campo sob um perodo prolongado de alta umidade aps a
maturidade fisiolgica. No entanto, aps o perodo de armazenamento, a
porcentagem de sementes atacadas pelo fungo bastante baixa, podendo chegar
a zero aps 8 meses de armazenamento.
A microfloradasementepodeinfluenciar de modo marcante no desenvolvimento
de patgenos, principalmente se houver a presena de antagnicos. Em sementes
onde ocorre grande quantidade de contaminantes ou saprfitas, o pr-tratamento
se faz necessrio visando a erradicao dos mesmos, uma vez que esses possuam
crescimento rpido e vigoroso, dificultando o crescimento e mesmo a
identificao dos organismos patognicos.
4.2. Potencial de inculo
A quantidade e vigor do inculo, bem como a localizao do patgeno na
semente, pode provocar variaes quanto ao dimetro de colnias de uma
semente para outra.
4.3. Reaes dos patgenos s condies do teste
O resultado do teste sanitrio est na dependncia da reao do patgeno em
relao s condies de incubao. Como regra geral, as condies de incubao
em laboratrio devem ser similares quelas que o patgeno encontraria no campo,
visando a induo do crescimento micelial, esporulao e produo de sintomas
em plntulas.
4.4. Variaes devido amostragem
A quantidade de sementes testadas em uma anlise sanitria muito pequena
se comparada com o nmero total de sementes do lote. Desse modo, a obteno
de uma amostra representativa extremamente importante para obteno de
resultados compatveis com o verdadeiro estado sanitrio do lote. As regras de
amostragem para obteno de amostra mdia para anlise de rotina (pureza e
germinao) so as mesmas a serem seguidas para obteno de amostra
destinada anlise sanitria, caso se deseje obter uma amostra prpria para essa
avaliao. Em caso contrrio, retira-se daquela amostra mdia uma amostra de
trabalho com nmero de sementes suficiente para atender a metodologia
preconizada para o teste em questo.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
261
4.5. Condies de armazenamento das amostras
A longevidade de alguns patgenos e saprfitas transmitidos por sementes
mais curta que a do hospedeiro. Alguns microrganismos transmitidos por
sementes morrem em poucos meses de armazenamento morrem, no entanto,
outros sobrevivem nas sementes, vrios anos. As condies de armazenamento
das amostras tm grande influncia no resultado final do teste. Condies
imprprias durante o transporte e tambm enquanto permanecem no laboratrio
podem levar a resultados que no condizem com as condies do lote no silo ou
depsito. Inclusive os resultados de uma mesma amostra, quando analisadas por
dois laboratrios distintos, podem diferir devido variabilidade, principalmente, nas
condies de armazenamento laboratoriais.
Segundo recomendaes da ISTA, as amostras devem ser armazenadas a
temperaturas no superiores a 10
o
C e acondicionadas em sacos plsticos para
evitar uma possvel dessecao.
Na Tabela 2, encontram-se relacionados alguns fungos e a longevidade dos
mesmos. Pode-se observar que existem grandes diferenas na longevidade dos
fungos. Isso se deve especialmente s caractersticas da composio dos esporos
e forma de transmisso. Fungos transmitidos na forma de miclio localizado no
interior das sementes normalmente apresentam uma longevidade maior do que
aqueles transmitidos na forma de esporos aderidos superfcie das mesmas. Fungos
que se multiplicam atravs de estruturas de resistncia, como esclerdios,
tambm apresentam grande longevidade.
Tabela 2 - Longevidade mxima de alguns fungos fitopatognicos transmitidos
por sementes.
Fungo Longevidade (Anos)
Cercospora kikuchii 2
Fusarium graminearum 2
Fusarium moniliforme 2
Pyricularia oryzae (esporo) 2
Pyricularia oryzae (miclio) 4
Drechslera sorokiniana 10
Alternaria brassicicola 7
Tilletia caries 18
Ustilago nuda 11
Sclerotinia sclerotiorum (esclerdio) 7
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
262
4.6. Recipiente a ser usado para os testes
H uma imensa variabilidade de recipientes usados em Blotter Test, os quais
variam em composio e formato.
Segundo os testes comparativos de patologia de sementes, organizados pela
ISTA, o formato recipiente no apresenta influncia nos resultados. Porm, o
tipo de material com que o recipiente construdo pode interferir na transmisso
de luz s sementes.
Conforme recomendaes baseadas em resultados de pesquisas, aconselha-se
o uso de recipientes plsticos transparentes ou de vidros Pirex, devido a uma
maior transmisso da radiao (no agem como filtro) emitida pelas lmpadas.
4.6.1. Distncia
O espaamento entre as sementes depende do tamanho das mesmas e da taxa
de crescimento das colnias de microrganismos, emrelao durao do perodo de
incubao.
Certos fungos fitopatognicos, como Rhizoctonia solani, Sclerotinia
sclerotiorum, Phoma lingam e Botrytis cinerea, por exemplo, apresentam uma
velocidade de crescimento maior que outros patgenos podendo, inclusive,
encobrir muitos daqueles, causando infeces secundrias nas sementes e
plntulas vizinhas. Isso dificulta a identificao dos fungos ou promove uma
superestimativa do potencial de infeco do lote, pelo fato de incorrer no erro de
registrar como naturalmente contaminadas aquelas sementes que, na verdade,
foram infectadas pelo alastramento do miclio da semente vizinha.
Fungos contaminantes, como Rhizopus spp., tambm apresentam hbito de
crescimento muito rpido, podendo encobrir todas as outras sementes,
inviabilizando a avaliao do teste.
4.7. Condies do pr-tratamento
A finalidade do pr-tratamento eliminar a contaminao de muitos
organismos saprfitos competitivos que possam comprometer a deteco de
microrganismos patognicos. Por esse motivo, a descontaminao deve ser leve,
sem interferir no desenvolvimento dos patgenos sob teste.
Para cereais submetidos ao Agar test, normalmente usada uma soluo de
hipoclorito de sdio, de preparo recente, com aproximadamente 1% de
ingrediente ativo, na qual as sementes permanecem imersas durante 10 minutos.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
263
4.8. Fatores de variaes na incubao
Visando padronizao das condies de incubao, todos os fatores que
interferem no crescimento, na frutificao do fungo e no desenvolvimento de
sintomas devem ser considerados, estando as mesmas na dependncia da
microflora a ser detectada, devendo estar rigorosamente em concordncia com as
normas preestabelecidas.
Entre os principais fatores, destacam-se: substrato, temperatura, umidade,
luz, perodo de incubao, etc. Tambm devem ser considerados os fatores
biticos que, na microflora das sementes, podem atuar como antagonistas ou
sinergistas, influenciando marcadamente a deteco dos patgenos.
4.8.1. Substrato
Nos testes de Patologia de Sementes emque se empregammeios de culturas, os mais
comumente utilizados so BDA (Batata, Dextrose e Agar) ou MEA (Extrato de
Malte e Agar).
BDA tem sido utilizado para vrias espcies de sementes, inclusive cereais,
por fornecer algumas facilidades na identificao de Fusarium spp.
Como as caractersticas da gua so variveis de lugar para lugar, na
preparao do meio de cultura deve-se usar gua destilada.
Qualquer alterao no pH pode ocasionar modificaes no desenvolvimento
e nas caractersticas dos fungos; em testes comparativos, todas as condies,
assim como a quantidade de meio de cultura por placa, tambm devem ser
padronizadas.
No teste em papel filtro, o papel exerce importncia secundria. Qualquer
tipo satisfaz, desde que seja dotado de um poder de absoro de gua capaz de
fornecer alta umidade durante o perodo de incubao e no portar substncias
txicas que possam prejudicar o desenvolvimento dos patgenos.
Areia, e particularmente solo, como meio para o teste de sintomas em
plntulas e teste de crescimento de planta, constituem-se em dificuldades para a
padronizao do mtodo, principalmente em termos internacionais.
4.8.2. Temperatura
Todos os organismos vivos tm intervalos de variao de temperatura
distintos para o seu perfeito desenvolvimento, sendo esse um dos fatores que
mais afetam, de modo significativo, a germinao, o crescimento, a reproduo e
outras atividades desses. A curva de resposta s temperaturas, mnimas, timas
emximas (temperaturas cardinais) diferente para cada fase de desenvolvimento dos
organismos, embora haja, emalgumas ocasies, curvas mais ou menos coincidentes.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
264
importante, para o patologista de sementes, o conhecimento da temperatura
tima que favorea a esporulao e o crescimento, pois essas caractersticas so
fundamentais para a deteco e identificao de fungos.
O primeiro passo estabelecer uma temperatura tima necessria para uma
segura deteco dos patgenos, coincidente ou no com a faixa tima para a
germinao da semente e desenvolvimento das plntulas. Em testes de sanidade,
a temperatura de incubao eleita deve ser aquela que possibilite a deteco do
maior nmero possvel de patgenos. Tambm oportuno salientar que a
temperatura tima de desenvolvimento de um patgeno depende bastante do
resto da microflora associada na mesma semente. Por exemplo, Drechslera
oryzae, com a temperatura de incubao de 19 a 22
o
C, tem seu desenvolvimento
reduzido quando existe Alternaria tenuis e Epicoccum porpurascens associados
mesma semente, porque esses fungos passama dominar o crescimento micelial,
uma vez que seus picos de crescimento esto compreendidos nesse intervalo de
temperatura.
Na Tabela 3, encontram-se listadas algumas temperaturas timas para o
crescimento micelial (vegetativo) de alguns fungos transmitidos por sementes de
feijo, soja, milho.
Na prtica, para sementes incubadas em papel filtro e em meio de cultura,
emprega-se temperatura de 20 2
o
C. Para algumas sementes de clima tropical
pode ser necessria uma temperatura um pouco mais elevada (25
o
C). Os dados
contidos na Tabela 3 indicam que alguns fungos, como D. maydis eH. maydis,
possuem crescimento timo em temperatura mais elevadas do que as indicadas
para os testes de incubao. No entanto, mesmo quando em temperaturas mais
baixas (20-22C), esses fungos crescem normalmente, sendo facilmente
identificados sobre o substrato.
Tabela 3 - Temperatura tima para o crescimento micelial de alguns fungos, em
meio de cultura BDA, transmitidos por sementes de feijo, soja e milho.
Cultura Fungo Temperatura tima (
o
C)
Feijo Colletotrichum lindemuthianum
Sclerotinia sclerotiorum
20
24
Soja Fusarium moniliforme
Cercospora kikuchii
27 30
17 18
Milho Fusarium graminearum
Diplodia maydis
Helminthosporium maydis
24 27
28 30
30
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
265
4.9. Umidade
A umidade tem sido assunto de investigaes sistemticas, porm em escala
bem menor, se comparada a outros fatores relacionados incubao. Pouca
discusso foi realizada visando padroniz-la. Discrepncias nos resultados
encontrados por participantes de testes internacionais comparativos, no foram
ainda registradas devido a diferenas de umidade durante a incubao, salvo
quando h excesso de gua no papel filtro, resultando no chamado Wet blotter
effect, levando a um decrscimo substancial de certos fungos pela formao de
uma pelcula de gua ao redor de toda a superfcie da semente.
Na Tabela 4, encontra-se o resultado de um trabalho realizado por Kolk e
Karlberg, citados por Neergaard (1979), os quais compararam diferentes
quantidades de gua no papel filtro (baseado no peso 400g/m
2
) colocado em
placas de Petri, variando a quantidade de gua de 15 a 35ml por placa (17cm de
dimetro, 4cm de profundidade com tampa).
Tabela 4 - Efeito de diferentes nveis de umidade do substrato, na incidncia de
fungos.
Patgeno Hospedeiro Volume timo de gua/placa
Fusarium avenaceum Cevada 25 ml
Fusarium nivale Centeio 20 ml
Drechslera avenae Centeio 20 ml
Drechslera sorokiniana Cevada 25 ml
Drechslera graminea Cevada 15 ml
Drechslera teres Cevada 25 ml
Septoria nodorum Trigo 25 ml
Embora exista diferena entre a quantidade tima de gua para os diferentes
fungos, observa-se pela Tabela 3 que o volume de gua recomendado varia de 15
a 25ml. Na prtica, em nvel de rotina, com o teste em papel filtro, tem se
utilizado aproximadamente 20ml de gua por placa de 9cm de dimetro. No
entanto, no podemos esquecer que o principal problema no a quantidade de
gua e sim a capacidade do papel em manter o ambiente do interior da placa
adequadamente mido durante todo o perodo de incubao, evitando-se o
reumedecimento do substrato. Portanto, esse volume de 20ml de gua poder
ser varivel, em funo do tipo de papel e do nmero de folhas empregadas.
Caso o substrato seque durante o perodo de incubao, devemos repetir o
teste, aumentando-se o nmero de folhas de papel filtro por placa e, no caso de
sementes grandes, diminuir seu nmero por placa. O substrato pode secar, no
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
266
apenas pela absoro de gua pelas sementes, mas tambm por evaporao, a
qual pode ser reduzida colocando-se as placas em sacos plsticos ou vedando-as
com filme plstico.
4.10. Luz
A presena ou ausncia de certos comprimentos de radiaes luminosas pode
influenciar marcadamente muitos fungos transmitidos por sementes.
Particularmente, luz ultravioleta e luz azul podem influenciar o ritmo de
crescimento, morfologia da colnia, cor, esporulao, tamanho e morfologia dos
esporos. Desde 1962, Leach demonstrou que muitos saprfitas, bem como
patgenos, aumentavam a esporulao quando submetidos a uma radiao com
comprimento de ondas compreendido entre o ultravioleta e o azul. Usando
radiaes monocromticas, constatou que a regio de espectro entre 320-400nm
Luz NUV (near-ultraviolet) muito eficiente na induo da esporulao. Por
outro lado, a luz ultravioleta inibitria, inclusive letal em doses altas. Luz negra
fluorescente, que emite radiaes de aproximadamente 365 mm de comprimento,
e luz fluorescente fria, que emite alguma luz NUV, tm sido adotadas na maioria
das estaes filiadas ISTA. Segundo suas normas, so recomendados 2 tubos
de NUV 40 W suspensos, distanciados 40cm das sementes, embora seja possvel
reduzir para apenas 1 tubo de NUV suspenso a 20cm de distncia das sementes,
sem influenciar na preciso dos testes. Tanto a qualidade da luz como ciclos
luz/escurido influenciam marcadamente a esporulao de muitos fungos.
H, aparentemente, trs grandes categorias de fungos no que diz respeito
resposta luz, compreendendo todos os fungos transmitidos por sementes:
a) Fungos com esporulao estimulada pela luz - Muitos fungos
patognicos e saprfitas tm sua esporulao estimulada pela luz, quando
submetidos dosagem, durao e luz com comprimento de ondas corretos.
Embora haja necessidade de mais pesquisas, visto que poucos fungos foram
estudados com respeito a luz, os resultados obtidos indicam que entre os fungos
sensveis a UV (ultravioleta), o comprimento de onda mais efetivo na
esporulao dos fungos menor que 340 nm.
Enquanto alguns fungos sensveis esporulam relativamente bem quando
expostos luz contnua, a maioria mostra-se melhor ao regime dirio alternado
luz e escurido, existindo duas fases distintas na esporulao: a fase indutiva
onde h formao dos condiforos e a fase terminal ou fase conidial onde
ocorre a formao dos condios. Entre os esporuladores diurnos, a radiao
NUV (Near Ultraviolet Light com 360 nm) estimula a formao dos
conidiforos; porm, quando acompanhada de luz com comprimento de onda
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
267
equivalente luz azul, h inibio do desenvolvimento dos condios. As colnias
de fungos que esporulam diurnamente quando expostos luz contnua (alta
dosagem de NUV) tornam-se tipicamente cobertas por conidiforos, sem
esporos. Somente aps um perodo mnimo de escurido que se desenvolvero
os condios nos conidiforos.
A luz NUV "Luz Negra" recomendada para testes sanitrios de sementes
emite alguma luz com comprimento de onda maior que UV, variando de 300-380
nm, inclusive com quantidade significativa de luz azul (>380 nm).
b) Inibio de esporulao pela luz - Quando usada incorretamente, a luz
pode inibir a esporulao de fungos em testes de sanidade, especialmente por
excesso de dosagem de UV ou luz azul (como mencionado para aqueles de
esporulao diurna). A ocorrncia de dosagens elevadas dificilmente passa
despercebida. Quando a dosagem de luz NUV for baixa nos fungos com
picndios, esses formam-se superficialmente no meio da cultura e, medida que
aumenta a dosagem de NUV, os picndios tornam-se cada vez mais submersos
at que a esporulao seja inibida. Outros fungos, que esporulam somente na
superfcie de um meio e que no possuem mecanismos de escape, podem ser
inibidos.
As outras formas de inibio da esporulao, tipicamente de esporuladores
diurnos, freqentemente causada pela luz azul atravs da near ultraviolet light
que tambm pode estar envolvida. Nesse grupo, a produo de conidiforos
estimulada pela UV, enquanto que a formao de condios inibida pela luz
NUV. Um perodo definido de escurido necessrio para a formao do esporo,
dependendo da temperatura. Usualmente, 4-8 horas de escurido so suficientes.
H alguns fungos que esporulam bem na escurido, como exemplo algumas
raas de Alternaria tenius, que possuem estdio conidial inibido pela luz azul
NUV. Embora esses fungos esporulem bem em completa escurido, o regime
alternado de 12 horas escuro e 12 horas com luz, usualmente aumenta a produo
de conidiforos e condios.
c) Fungos insensveis luz - Certos fungos, principalmente saprfitas,
esporulam de forma abundante, independentemente da presena ou ausncia de
luz. Ex.: Penicillium, Cladosporium e outros.
4.11. Interao entre luz e temperatura
Todos os fungos possuem uma temperatura tima distinta, cujos efeitos sobre
a induo da esporulao podem ser influenciados pela luz (Neergaard, 1979).
Quando se pretende detectar um nmero varivel de patgenos, obrigatoriamente
devemos selecionar uma temperatura adequada a tais patgenos. Nem todos os
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
268
fungos sensveis luz esporulam bem temperatura constante.
Em Stemphyllium botryosum a formao de conidiforo mais efetivamente
induzida pela NUV temperatura relativamente alta, enquanto que a formao
de condios ocorre melhor na escurido a temperaturas mais baixas.
O desenvolvimento de fungos, Drechslera oryzae, Pyricularia oryzae e
Trichoconiella padwickii, testados sob temperatura de 20
o
C, foi praticamente o
mesmo quando submetidos NUV e Luz Fluorescente, com exceo de T.
padwickii, o qual teve melhor desenvolvimento quando testado a 28
o
C comNUV.
O ideal seria conduzir os testes sanitrios de culturas de clima temperado em
incubadoras, nas quais so programados os ciclos de luz e de temperatura.
Porm, alm de serem muito caros, comparados s incubadoras temperatura
constante, ainda questionvel se algum acrscimo na exatido justificaria esse
investimento.
4.12. Fatores biticos
Os fatores fsicos, em testes sanitrios, tm sido padronizados, porm, pouca
ateno tem sido dispensada aos fatores biticos que podem igualmente
influenciar os testes. Sementes, plntulas, bactrias e fungos secretam
substncias que podem estimular ou inibir outros organismos.
Freqentemente, observado o efeito de alguma ao inibitria entre
algumas bactrias saprfitas e fungos fitopatognicos. A incorporao de algum
bactericida no substrato pode reduzir esse efeito, aumentando a exatido de
alguns testes. Indubitavelmente, h muitas interaes similares entre a microflora
da semente, uma vez que, salvo algumas excees, elas no so bem entendidas.
Sabe-se que incorporando carvo vegetal ativado no meio de cultura elimina-se o
efeito inibitrio de substncias secretadas pelo microrganismo. Porm, h muito
ainda para se aprender com respeito interao da microflora da semente com a
do solo. Um melhor entendimento dessa microflora pode, sem dvida, mudar a
tecnologia existente em patologia de sementes e, alm disso, fornecer subsdios
para promover novas medidas de controle de patgenos transmitidos por
sementes.
4.13. Perodo de incubao
A durao do perodo de incubao para qualquer organismo sob teste
determinada pelo ritmo de crescimento do organismo. Porm, na maioria dos
testes de rotina, esforos so feitos para obter resultados mximos e facilmente
legveis.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
269
A microflora saprfita da semente, principalmente aqueles fungos de
crescimento rpido, pode mascarar a presena dos patgenos e influenciar a
durao do perodo de incubao.
Teoricamente, um timo perodo de incubao seria aquele que possibilitasse
uma estimativa exata de um determinado patgeno; porm, na prtica, difcil.
Na maioria dos testes comuns, o perodo de incubao varia de 7-14 dias,
conforme o mtodo empregado e as condies laboratoriais.
Em arroz, o teste em papel filtro evidenciou um acrscimo na porcentagem
de Tricochoniella padwickii e Alternaria longissima quando as sementes foram
incubadas por 13 dias temperatura de 20
o
C e 10 dias a 28
o
C.
Pestalotia guepini, em blotter test, aparece somente 15 dias aps a
incubao.
Fusarium moniliforme, em sementes de milho e arroz, tambm aparece
tardiamente no teste em papel filtro a 20
o
C.
4.14. Identificao e registro dos patgenos
De acordo com as regras da ISTA, pelo menos 400 sementes devem ser
examinadas nos testes padres, tanto em meio de cultura como em teste de papel
filtro. Patgenos e alguns saprfitas de cada semente devem ser identificados e
registrados dentro de um espao de tempo razoavelmente curto. Para um
satisfatrio desempenho, necessrio o conhecimento dos relevantes caracteres
diferenciais entre esses organismos. Para alcanar essa qualidade, treinamento e
experincia prtica devem ser suportados por pesquisas quanto s caractersticas
para diagnose e suas variaes, sendo os resultados obtidos aplicados em
trabalhos de rotina.
O princpio da interpretao do teste em meio de cultura o exame
macroscpico das colnias dos patgenos. Um analista experiente, familiarizado
com as caractersticas do fungo presente em certa espcie de semente, pode
identificar e anotar as colnias a olho nu, examinando os dois lados das placas
(inferior e superior). Porm, s vezes, surgem problemas nesse teste, porque as
colnias emergem de sementes que usualmente possuem um complexo de
fungos, os quais podem inibir outros, ou mascarar os resultados obtidos.
A base dos registros do teste em papel filtro a identificao rpida das
caractersticas de cada espcie, tais como: forma, comprimento, arranjo dos
condios no conidiforo, septao, cor, formao de cadeias, tamanho dos
condios, etc., aparncia da massa de esporos, caractersticas do miclio,
densidade, cor, etc.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
270
As espcies do gnero Fusarium oferecem um pouco mais de dificuldade na
sua identificao. F. equiseti se parece com uma rocha cristalina, de colorao
alaranjada, ou como se fosse uma massa de esporo congelada fora da casca da
semente. Em outras espcies ocorre, principalmente, o crescimento do miclio;
em F. moniliforme h abundante miclio esbranquiado com cadeias de
microndios; j em F. semitectum, observam-se os conidiforos bastante
ramificados, contendo nas extremidades os macrondios; em F. poae h a
formao de miclio branco frouxo com pequenas massas de microndios
arranjados como pequenos pontos ao longo das hifas. No caso de F. solani, h
abundante crescimento de miclio e a presena de inmeras massas de esporos,
semelhante a gotculas de orvalho, eretas sobre um nico estergma.
A presena de sintomas um critrio a ser utilizado para a identificao dos
patgenos. Esse critrio tem suas limitaes de uso pois os sintomas nem sempre
so bem caractersticos. Por outro lado, em alguns laboratrios de pesquisa e
prestao de servios, como por exemplo os suecos, o teste de crescimento de
plntula (seedling-symptom test) conduzido sem a preocupao de identificar
as espcies de patgenos e sim:
a) prever o efeito total dos patgenos na emergncia e desenvolvimento de
doenas de plntulas quando semeadas em campo e
b) determinar se recomendvel o tratamento de sementes.
As rvores so distinguidas no meramente pelas caractersticas das flores,
mas tambm pela estrutura da copa, arquitetura do tronco, ramos, ramificaes,
estrutura da casca, densidade, textura e cor da folhagem. Assim, os floricultores e
horticultores conhecem espcies de rvores inclusive distncia. Similarmente, o
analista deve reconhecer os fungos olhando atravs do microscpio.
5. TRATAMENTO DE SEMENTES
5.1. Introduo
O tratamento de sementes provavelmente seja a medida mais antiga, barata e
a mais segura no controle de doenas transmitidas por sementes, especialmente
as fngicas. No entanto, no deve ser empregado como medida de controle
isolada, mas sim fazer parte de um conjunto de medidas que incluam prticas
culturais para o controle de patgenos, como isolamento, controle de invasores,
rotao de cultura, uso de variedades resistentes, etc.
Independentemente do mtodo, forma e tipo de produto utilizado no
tratamento de sementes, essa prtica deve ter como objetivos:
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
271
a) Erradicar os microrganismos patognicos associados s sementes, estejam
eles localizados externamente ou no interior das sementes, protegendo tanto
essas como as plntulas, tambm de fungos do solo;
b) Impedir a transmisso do patgeno da semente para a plntula, conferindo
a essa certa proteo nos estgios iniciais de seu desenvolvimento;
c) Reduzir a fonte de inculo, impedindo, desse modo, o surgimento de
epidemias no campo;
d) Minimizar os custos com defensivos da parte area das plantas.
Existe uma srie de fatores que podem causar a reduo da qualidade das
sementes. Entre eles destacam-se o dano mecnico, condies adversas de clima,
danos por insetos e tambm por microrganismos, condies inadequadas durante
o armazenamento, fungos de armazenamento e outras. Dentro desse preceito, o
tratamento de sementes deve ser considerado como ltima alternativa para se
obter sementes sadias e de alta qualidade, tendo-se como primcia para a
produo de sementes de qualidade garantida o manuseio adequado dos campos
de produo, a utilizao de mquinas e equipamentos adequados durante os
processos de colheita, secagem e beneficiamento, armazenamento em locais
onde a temperatura e a umidade relativa do ar sejam adequadas para minimizar a
atividade de microrganismos e insetos. Por ocasio da aquisio de lotes de
sementes para a semeadura, selecionar aquelas que melhor desempenho tiveram
nas anlises laboratoriais.
5.2. Tipos de tratamento de sementes
A eficincia do tratamento de sementes est diretamente relacionada com a
erradicao do patgeno causador do dano. Para que essa eficincia seja
alcanada necessrio a utilizao adequada do produto (princpio ativo e
dosagem) bem como adotar uma tcnica (tipo de tratamento) que seja compatvel
com a infra-estrutura disponvel.
5.2.1. Tratamento qumico
Este tipo de tratamento de sementes o mais difundido, compreendendo a
aplicao de fungicida, inseticida, antibitico e nematicida s sementes. Para que
o tratamento qumico seja eficiente, deve-se selecionar um produto capaz de
erradicar os patgenos presentes nas sementes, no ser txico s plantas, ao
homem e ao ambiente, apresentar alta estabilidade, aderncia e cobertura, no ser
corrosivo, ser de baixo custo e fcil aquisio, alm de ser compatvel com
outros produtos.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
272
Existe um grande nmero de produtos no mercado, aptos a serem usados no
tratamento de sementes, apresentando caractersticas diferentes. Os produtos
chamados protetores so aqueles que agem superficialmente, tendo pouca
capacidade de penetrar na semente, restringindo sua ao sobre os patgenos
localizados no tegumento ou logo abaixo desse, sem no entanto penetrar nos
tecidos embrionrios. Tem-se, como exemplo clssico desse grupo de fungicidas,
o Thiram e o Captam. Os produtos sistmicos so aqueles que so absorvidos
pela semente junto com a gua de embebio e translocados para a plntula,
conferindo certa proteo a essa nos estgios iniciais de desenvolvimento
(benomyl, tiofonato metlico, etc.).
Independentemente do grupo qumico a que fazem parte (ditiocarbamatos,
heterocclicos, aromticos, triazis, antibiticos, etc.), os produtos podem ter
espectro de ao diferente. So chamados de amplo espectro aqueles produtos
eficazes no controle de um grande nmero de patgenos (Thiram, Benomyl, e
outros) enquanto que os especficos so capazes de controlar um ou poucos
patgenos (Carboxin, Iprodione, e outros).
Formas de tratamento qumico de sementes:
5.2.1.1. Via seca - Produtos formulados como p seco so misturados com as
sementes, at que estas estejam uniformemente revestidas pelo produto. Embora
seja uma forma bastante simples de aplicao, apresenta algumas desvantagens,
quando comparada com outros mtodos de aplicao do produto; como exemplo,
tem-se a formao de poeira, facilmente inalada pelo operador; a perda de
eficincia por ocasio da utilizao de semeaduras a lano, por meio de jato de
ar; no ser recomendada para sementes lisas, pois no haver aderncia adequada
do produto, ou sementes pilosas, havendo grande reteno de maneira irregular,
podendo causar problemas de fitotoxidade.
5.2.1.2. Via mida - Nesta forma de tratamento de sementes, so utilizados
produtos formulados de distintas maneiras (concentrao emulsionvel, soluo,
p molhvel, p solvel), os quais podem ser aplicados como:
a) Imerso: nesta forma de tratamento de sementes, uma secagem prvia ao
armazenamento ser necessria, caso as sementes no sejam semeadas logo aps
o tratamento, uma vez que as mesmas sero imersas em uma soluo com
concentrao definida, por um determinado perodo de tempo. Essa tcnica no
deve ser utilizada para sementes de leguminosas, pois causa severos danos
qualidade das sementes, promovendo a separao do tegumento e cotildones.
Para outras espcies de sementes, essa tcnica pode ser utilizada, desde que com
rgida avaliao prvia dos possveis danos causados s sementes. Exemplo:
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
273
imerso de curta durao - 5 a 30 minutos emsoluo com0,5% de i.a.
b) Slurry: uma tcnica que permite a aplicao de produto semente na
forma de pasta, havendo um umedecimento superficial da semente, facilmente
evaporado, no exigindo secagem aps o tratamento (5-40ml/kg semente).
As vantagens da utilizao do tratamento via mida esto relacionadas com a
boa aderncia do produto e a no formao de poeira por ocasio do tratamento.
No entanto, essa prtica no dever ser empregada para sementes mucilaginosas
ou leguminosas que tm o tegumento danificado com a absoro de gua.
c) Outras formas: existem outras formas de tratamento de sementes, como a
peletizao e a fumigao. A peletizao, quando realizada para o tratamento de
sementes, prev a utilizao de um produto adesivo (goma arbica ou acetato de
celulose), do fungicida e, por ltimo, do material inerte (talco, calcrio, etc.). A
fumigao realizada em locais completamente vedados, onde se aplica
produtos altamente volteis. Essa prtica a mais usada no controle de
nematides.
Vrias pesquisas j foram realizadas no sentido de comprovar a eficincia do
tratamento de sementes antes do armazenamento. Embora esse seja benfico
quanto manuteno da qualidade das sementes, pela inibio da atividade de
fungos de armazenamento e insetos, no se pode esquecer que as sementes, uma
vez tratadas e no aproveitadas pela semeadura, no podero ser destinadas ao
consumo humano ou animal.
Fungicidas de ao sistmica, que possuem espectro de ao especfico,
podem mais facilmente originar o surgimento de linhagens de patgenos
resistentes ou insensveis aos fungicidas. Para evitar esse problema,
recomendado variar o princpio ativo do produto entre as distintas safras.
Independentemente da forma de mtodo de aplicao do produto, deve-se
buscar sempre um revestimento completo e uniforme das sementes. Desse modo,
aumenta-se a eficincia do tratamento de sementes.
Entre os fungicidas mais utilizados para o tratamento de sementes de soja
esto: Captam (150g i.a./100kg de semente), Thiabendazol (20g i.a./100kg de
semente), eficiente para controle de fungos como Phomopsis sp.; Cercospora
sojina e Colletotrichum truncatum. Embora a semente seja a principal
responsvel pela introduo de fungos nas reas de cultivo da soja, causando
perdas significativas pela podrido e morte de sementes, morte de plntulas em
pr e ps-emergncia, doenas nas hastes, folhas, vagens e nas sementes recm
formadas, problemas similares tambm podem ser causados por fungos que j se
encontram presentes no solo. Com o tratamento de sementes, esses problemas
podem ser minimizados.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
274
A utilizao do tratamento de sementes no acarreta grande aumento do custo
de produo, pois representa aproximadamente 0,5% do custo de instalao da
lavoura. O tratamento de sementes com fungicidas, alm de erradicar os fungos
presentes nas sementes, apresenta uma vantagem adicional: controlar fungos de
solo, como Rhizoctonia solani, Pythium spp., Aspergillus spp. eFusarium spp.
Essa proteo necessria, pois a semeadura dificilmente realizada quando o
solo apresenta nveis adequados de umidade e de temperatura para a rpida
germinao e emergncia, ficando a semente exposta por mais tempo ao ataque
desses fungos. Isso evidencia o fato de que no basta fazer um bom preparo do
solo, semear na poca correta, fazer a aplicao de herbicidas, regular
adequadamente a semeadeira, etc., se a semente utilizada for de baixa qualidade.
Assim sendo, podemos afirmar que o tratamento de sementes indispensvel
para assegurar uma boa emergncia de plntulas na lavoura e evitar a
disseminao e introduo de patgenos, como Diaporthe sp./Phomopsis sp.
(cancro da haste), de Colletotrichum truncatum (antracnose), de Sclerotinia
sclerotiorum (podrido branca da haste), deCercospora sojina (mancha olho de
r) e de fungos causadores de manchas foliares, como Cercospora kikuchii e
Septoria glycines.
O tratamento de sementes deve ser realizado antes da semeadura, por meio de
tambor giratrio (betoneira) ou mquinas apropriadas. Quando se utilizam
micronutrientes (molibdnio e cobalto) e fungicidas, os mesmos devem ser
aplicados antes da inoculao com Bradyrhizobium. fundamental que o
fungicida fique em contato direto com o tegumento da semente, a fim de
assegurar o controle dos fungos. Tambm importante que as sementes fiquem
completamente revestidas pelo produto e que o mesmo tenha uma boa aderncia.
Existem no mercado mquinas prprias para o tratamento de sementes, as
quais permitem a aplicao de fungicidas, de micronutrientes e de inoculante e
que podem ser utilizadas tanto na unidade de beneficiamento como na prpria
lavoura. As vantagens da utilizao de mquinas especficas para tratar sementes
esto relacionadas com o menor risco de intoxicao do operador, j que as
sementes so tratadas com fungicidas em formulaes lquidas, melhor
distribuio dos produtos e melhor cobertura das sementes, bom rendimento (60
a 70 sacos/hora) e por poder realizar essa operao no campo, j que as mquinas
so dotadas de engate para tomada de fora do trator. O tratamento com tambor
giratrio de eixo excntrico ou betoneira pode ser utilizado para aplicao em
formulaes lquidas (via mida) ou em p (via seca). Quando o tratamento via
seca utilizado, deve-se pr-umedecer uniformemente as sementes com 250 a
300ml de gua ou soluo aucarada/50kg de sementes e ento adicionar o
fungicida e o micronutriente, girando-se o tambor para que os mesmos tenham
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
275
uma boa distribuio. Aps, ento, feita a aplicao do inoculante. Se o
fungicida e micronutrientes forem lquidos, ter o cuidado para que os mesmos
no ultrapassem o volume de 300ml/50kg de sementes, pois isso pode fazer com
que o tegumento se solte, causando prejuzos germinao das sementes.
Existem vrios produtos que so recomendados para o tratamento de
sementes; entre eles, fungicidas de ao de contato (captan, thiram e tolyfluanid)
e os sistmicos (benomyl, carbendazin e thiabendazole). Os fungicidas de
contato agem mais sobre fungos que esto na superfcie das sementes, no sendo
eficientes no controle de Phomopsis spp. e Fusarium semitectum, especialmente
quando as mesmas se encontram com altas infeces. Os fungicidas sistmicos
so eficientes no controle de Cercospora kikuchii, Cercospora sojina, Fusarium
semitectum e Phomopsis spp. Devido eficincia limitada de cada grupo de
fungicidas, deve-se dar preferncia mistura de um sistmico com um de
contato. Existem no mercado marcas de produtos com essa mistura j pronta.
O tratamento de sementes de milho deve objetivar a proteo contra
microrganismos de solo, causadores de podrido de sementes, como Pythium,
Rhizoctonia, Diplodia, Fusarium, Penicillium, Trichoderma e Phoma. O
fungicida mais utilizado para o tratamento de sementes de milho o Captam.
Quanto aos inseticidas para tratamento de sementes de milho, os mais utilizados
so Carbofuram e Thiodicarb; no entanto, sementes de baixo vigor podem ter sua
germinao diminuda, especialmente em condies de baixa temperatura.
Sementes de trigo so freqentemente tratadas com Thiram, para o controle
de Bipolaris sorokiniana e Fusarium spp., enquanto que para o controle de
Ustilago tritici e Septoria nodorum pode ser utilizado carboxin; B. sorokiniana,
S. nodorum e F. graminearum podem ser controlados com a mistura de
Iprodione +Thiram (50 +150g i.a./100kg de sementes).
5.2.1.3. Caractersticas dos fungicidas para o tratamento de sementes -
O tratamento de um lote de sementes no pode ser recomendado
indiscriminadamente, somente devendo ser indicado aps o conhecimento do
resultado da anlise sanitria, quando se ficar sabendo quais os patgenos que
esto associados ao lote e em que porcentagem. De posse dessas informaes,
ser possvel eleger o fungicida mais adequado para o controle dos patgenos.
As seguintes caractersticas so importantes nos fungicidas para tratamento
de sementes:
a) Fungitoxicidade: o fungicida, seja de contato ou de ao especfica, deve
eliminar os patgenos das sementes e proteg-las dos patgenos do solo;
b) Fitotoxicidade: o fungicida no deve ser fitotxico nas dosagens
recomendadas para a cultura pelo fabricante;
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
276
c) Distribuio e cobertura: o sucesso do tratamento depende emgrande parte
da uniformidade de distribuio e da completa cobertura das sementes como produto;
d) Estabilidade: o produto deve ser estvel quanto s condies ambientais,
no se decompondo pela ao da temperatura e umidade;
e) Aderncia: o fungicida deve ficar bem aderido superfcie da semente,
no se soltando facilmente, nem mesmo quando sob ao da gua da chuva;
f) Toxidez do homem e fauna silvestre: deve ser pouco txico ao homem e
no agredir a fauna;
g) Compatibilidade: o fungicida deve apresentar compatibilidade no apenas
com outros fungicidas, mas tambm com outros produtos, sejam nematicidas
bactericidas e inseticidas;
h) Economia: o produto deve ser utilizado visando ao aspecto econmico,
pois a dificuldade de se encontrar um fungicida eficiente e barato muito
grande; no entanto, essas caractersticas devem ser consideradas visando
obteno da mxima eficincia e menos danos ao ecossistema.
5.2.2. Termoterapia
A termoterapia um tratamento fsico onde o calor o principal agente de
erradicao dos patgenos. Esse mtodo, embora eficiente e promissor no
controle de determinados microrganismos, merecedor de maiores estudos, uma
vez que sua eficincia est diretamente relacionada com a capacidade que a
semente apresenta em suportar altas temperaturas por um determinado perodo
de tempo, de modo a permitir a inativao do patgeno sem que haja reduo da
qualidade da mesma. Faz-se necessrio destacar alguns parmetros que devem
ser observados na termoterapia, a fim de se obter o mximo controle dos
patgenos sem haver reduo da germinao e vigor das sementes. Um dos
principais fatores a ser observado o teor de umidade das sementes, pois
medida que esse aumenta maior a sensibilidade da semente ao calor. Outro
fator est relacionado qualidade das sementes: sementes novas, de alto vigor,
sem danos mecnicos, resistem melhor a altas temperaturas, semelhana do que
ocorre com sementes dormentes. Os efeitos negativos do calor sobre as sementes
podem ser reduzidos por meio de uma imerso prvia das mesmas em uma
soluo de polietilenoglicol a 30%.
Existemdiferentes maneiras de se realizar a termoterapia, sendo as mais difundidos:
5.2.2.1. Calor seco - uma tcnica que causa poucos danos s sementes,
pois no h extravasamento de substncias das sementes para o ambiente e nem
danos ao tegumento e membranas, decorrentes de uma embebio rpida de gua
pela semente.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
277
Nessa tcnica, as sementes so colocadas emestufas ou secadores e aquecidas a
altas temperaturas, 75 a 95
o
C, por umperodo de 5 a 8 dias. Recomenda-se uma
secagemprvia das sementes a uma temperatura de 65
o
C por 24h, de modo a
minimizar o efeito da temperatura sobre a qualidade fisiolgica das sementes. Vrios
trabalhos foramrealizados utilizando-se calor seco para o tratamento de sementes.
Algumas pesquisas indicama utilizao de temperatura de 95-100
o
C durante 12h,
para o tratamento de sementes de algodoeiro, como objetivo de controlar o fungo
Colletotrichum gossypii (realizar secagem rpida). Sementes de cebola, aps
submetidas ao tratamento comcalor seco a 75
o
C durante 6 dias, apresentaramalta
porcentagemde sementes sadias, sendo esse resultado superior ao observado sem
sementes tratadas comiprodione (500g/100 kg de sementes - Tabela 5).
Tabela 5 - Incidncia total de fungos em sementes de cebola, submetidas a
tratamento qumico e trmico.
Fungos (%) Testemunha Tratamento
Qumico Trmico
Total
Alternaria porri 33,5 6,5 6,5 46,5
Alternaria tenuis 23,5 0,0 0,0 23,5
Aspergillus sp. 68,5 14,5 4,5 87,5
Stemphillium sp. 18,0 0,0 0,0 18,0
Botrytis sp. 1,5 0,0 0,0 1,5
Fusarium sp. 1,0 1,5 0,0 2,5
TOTAL 146,0 22,5 11,0 179,5
5.2.2.2. Calor mido - Nesta forma de tratamento, as sementes so expostas
ao de vapor de gua ou diretamente imersas em gua quente, por um
determinado perodo de tempo.
a) Vapor quente: esta tcnica prev uma pr-hidratao das sementes composterior
exposio das mesmas ao do calor e, emseguida, umrpido resfriamento.
A referida tcnica mais simples e mais eficiente do que o tratamento em
gua quente, desde que haja um controle rigoroso da temperatura e do tempo de
exposio das sementes ao do vapor. Deve-se ter o cuidado para que a massa
de sementes atinja a temperatura de controle dos microrganismos desejados,
observando que a diferena de temperatura entre o vapor de entrada e o de sada
no seja superior a 1,4
o
C.
Grandes sucessos foram obtidos para sementes de repolho previamente
hidratadas durante 3 dias, com posterior exposio temperatura de 56
o
C por 30
minutos, controlando satisfatoriamente os fungos Phoma lingam e Alternaria
brassicae. Para beterraba aucareira, recomenda-se a utilizao de 52
o
C por 10
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
278
minutos visando ao controle de Botrytis cinerea.
b) gua quente: as sementes so pr-aquecidas atravs da imerso por 10
minutos em gua com 5C abaixo da temperatura de tratamento. Imediatamente
aps, so transferidas para a temperatura de tratamento, por um perodo
predeterminado (50
o
C/20min.). Faz-se necessrio observar a relao entre gua e
sementes (5:1), sendo que a gua deve estar sempre em movimento para
propiciar um contato mximo com as sementes. Logo aps o tratamento, as
sementes devem ser resfriadas em gua e secadas a 32
o
C sob ventilao forada.
A termoterapia uma tcnica promissora para o tratamento de sementes,
especialmente de olercolas e ornamentais, onde o volume de sementes a ser
tratado no muito grande, o que facilita a aplicao de forma automatizada. A
energia solar, microondas e ultra-sons so outros exemplos de processos fsicos
promissores no tratamento de sementes.
5.2.3. Tratamento biolgico
Neste mtodo, so incorporados s sementes determinados agentes
biolgicos, os quais, agindo por meio de competio, antagonismo ou
hiperparasitismo, reduziro ou impediro o desenvolvimento de patgenos.
Vrios avanos foram feitos nessa rea, j determinando-se alguns promissores
agentes de controle biolgico: Chaetomium spp., Gliocladium spp.,
Streptomyces spp., Pseudomonas spp., Trichoderma spp. e outros. A aplicao
dos agentes de controle biolgico pode ser realizada atravs de imerso das
sementes em suspenso de propgulos (10 clulas/ml) durante 10 minutos, com
posterior secagem. Atravs dessa tcnica, constantemente contribui-se para um
controle mais dinmico, sem causar danos natureza e ao homem.
5.2.4. Tratamento bioqumico
Fermentaes anaerbias formam substncias qumicas capazes de inativar
certos patgenos. Esse o princpio do tratamento bioqumico, semelhana do
que ocorre no processo de obteno de sementes de tomateiro, onde as sementes
so fermentadas junto com a polpa durante 96h a 21
o
C; desse modo, controla-se
a Clavibacter michiganense, agente causal do cancro do tomateiro.
Essa tcnica tambm tem sido aplicada com sucesso para sementes de trigo e
cevada, visando ao controle de carvo. Nesse mtodo, as sementes so imersas
emgua a 21
o
C durante 4h. Logo aps, a gua drenada colocando-se as sementes em
tonis bemvedados, permanecendo por 70 h a 21
o
C ou ainda por 30 h a 23
o
C.
5.2.5. Outras formas de tratamento fsico
A energia solar tcnica muito empregada em locais onde a temperatura
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
279
ambiente elevada, decorrente da alta intensidade solar, fornecendo condies
adequadas para o tratamento de sementes de cevada e trigo, visando ao controle
do carvo voador. As sementes so imersas em gua temperatura ambiente
durante 4h; ao meio-dia, as sementes so distribudas sobre uma superfcie plana,
formando uma camada fina sob ao da luz solar, permanecendo sob essas
condies por mais 4h, atingindo temperaturas entre 48 a 54
o
C.
Pelo fato de ser considerada uma tcnica de alto risco, no ter valor de venda
comercial como os produtos qumicos e, tambm, pelo fato de no conferir s
sementes proteo contra fungos de solo, o tratamento fsico no tem sido muito
difundido, sendo, consequentemente, pouco utilizado.
As vantagens do tratamento de sementes podem ser observadas
especialmente nas primeiras fases do desenvolvimento da cultura em nvel de
campo. Inmeros trabalhos de pesquisa tm indicado que sementes tratadas
apresentam uma melhor germinao e emergncia, melhor desenvolvimento
inicial, plantas sadias e vigorosas, maior nmero de sementes por planta e maior
nmero de sementes sadias. Considerando que o custo do tratamento de
sementes corresponde a 0,5% do custo total da produo, ser que no
interessante a adoo dessa prtica?
6. BIBLIOGRAFIA
ALEXOPOULOS, C.J .; MIMS, C.W. 1979. Introductory Mycology. Ed. J ohn
Wiley & Sons, New York, 3ed, 632p.
BARNETT, H.L.; HUNTER, B.H. 1998. Illustrated genera of imperfect fungi.
APS Press, St. Paul, Minnesota, 4ed. 240p.
BOOTH, C. 1971. The genus Fusarium. Commonwealth Mycological Institute.
Kew, Surrey, 237p.
CLAFLIN, L.E.; VIDAVER, A.K.; SASSER, M. MXP, a semi-seletive medium
for Xanthomonas campestris pv. Phaseoli. Phytopathology, 77: 730-4, 1987.
ELLIS, M.B. 1971. Dematiaceous Hyphomycetes. Commonwealth
Mycological Institute, Kew, Surrey. 508p.
ELLIS, M.B. 1971. More Dematiaceous Hyphomycetes. Commonwealth
Mycological Institute, Kew, Surrey. 507p.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
280
HOMECHIN, M. Controle biolgico no tratamento de sementes. In: Simpsio
Brasileiro de Patologia de Sementes. Anais... Campinas, Fundao Cargill. 1986.
p. 101-5.
FARR, D.F.; BILLS, G.F.; CHAMURIS, G.P.; ROSSMAN, A.Y. 1989. Fungi
on plants and plant products in the United States. APS Press. The American
Phytopathological Society. St. Paul, Minnesota. 1252p.
LUCCA FILHO, O.A. Metodologia dos testes de sanidade de sementes. In:
SOAVE, Y. e WETZEL, M.M.V. da S. Patologia de Sementes. Campinas,
Brasil, Fundao Cargill, 1987. P. 276-98.
LUCCA FILHO, O, A.A Os riscos do trfico de sementes. Revista SEED News
5(3) 10-11.2001
MENTEN, J .O.M. Importncia do Tratamento de Sementes. In: WETZEL,
J .O.M., ed. Patgenos em Sementes: deteco, danos e controle qumico.
ESALQ/FEALQ. Piracicaba. 1991.
MOHAN, S.K.; SCHAAD, N.W. An improved agar planting assay for detecting
Pseudomonas syringae pv. Seringae and P.S. pv. Phaseolicola in contaminated
bean seed. Phytopathology, 71: 336-9, 1991.
NEERGAARD, P. Seed Pathology. London. The Mac Millan Press Ltd. 1979.
Vol. I - II. 1187p.
NETO, J .D. Deteco e Identificao de Fitobactrias em Sementes. In:
Anais 3
o
Simpsio Brasileiro de Patologia de Sementes, Fundao Cargill, 1988.
ROSSMAN, A.Y.; PALM, M.E.; SPIELMAN, L.J. 1994. A literature guide for the
identification of plant pathogenic fungi. APS Press. St. Paul, Minnesota, 252p.
SAETLER, A.W.; SCHAAD, N.W. ; ROTH, D.A.. 1989. Detection of bacteria
on seed and other planting material. APS Press, St. Paul, Minnesota. 126p.
WARHAM, E.J .; BUTLER, L.D.; SUTTON, B.C. s.d. Ensayos para la semillas
de maz y trigo. Manual de laboratorio. CIMMYT. Mxico. 85p.
CAPTULO 5
Secagem de Sementes
Prof. Dr. Silmar Teichert Peske
Prof. Dr. Francisco Amaral Villela
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
282
1. INTRODUO
As sementes provenientes do campo apresentam, em geral, teor de gua
inadequado para um armazenamento seguro. O elevado teor de gua das
sementes, no perodo compreendido entre a colheita e a secagem, contribui para
acelerar o processo deteriorativo em razo da elevada atividade metablica.
Alm disso, ocorre o consumo de substncias de reserva e a liberao de energia
e gua, favorecendo o desenvolvimento de microrganismos e insetos.
Para as espcies ortodoxas, a semente com teor de gua de 13%, para o grupo
das amilceas, e, de 11 a 12%, para as oleaginosas, pode ser armazenada por um
perodo de 8 meses, sem grandes prejuzos sua qualidade fisiolgica, se a
temperatura da semente for inferior a 25
o
C. Desde o momento em que atinge a
maturidade fisiolgica (mximo de qualidade), a semente est sendo armazenada
no campo, sujeita a condies potencialmente adversas de temperatura, umidade
e ataque de passros, insetos e microrganismos que podem provocar perdas
qualitativas e quantitativas que alcanam, muitas vezes, nveis bastante elevados.
Assim, quando atingir de 11 a 13% de umidade, a semente pode estar em
avanado estado de deteriorao, ficando inutilizada para fins de semeadura.
A semente pode, tambm, atingir teores de gua muito baixos (8-10%), de
modo que a danificao mecnica ocasionada pela colheita e transporte se torne
comprometedora. Por outro lado, a semente poder hidratar-se novamente devido
chuva, ao orvalho e s flutuaes de UR, sendo necessrio uma espera para a
colheita, o que, dependendo do perodo de tempo, pode ser altamente prejudicial.
Por ocasio da colheita, a semente deve apresentar teor de gua compatvel,
varivel de espcie para espcie e entre cultivares da mesma espcie, que permita
a colheita mecnica com danos mecnicos restringidos ao mnimo.
Algumas vantagens de se colher as sementes com umidade alta e se proceder
a secagem so: a) possibilidade de planejar a colheita; b) possibilidade de colher
mais horas por dia e mais dias por safra; c) menor perda de sementes por
deiscncia/degrane natural.
Enfatiza-se que, para muitas espcies recalcitrantes, as sementes no podem
ser secadas a baixos teores de gua.
2. UMIDADE DA SEMENTE
2.1. Equilbrio higroscpico
A semente higroscpica, ou seja, ganha ou perde gua num processo
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
283
dinmico, em funo da umidade relativa do ar (UR). Assim, para cada UR e a
uma determinada temperatura, a semente ter um teor de gua (Tabela 1, Fig. 1)
denominado de equilbrio higroscpico (EH). Entretanto, a relao entre UR e
umidade das sementes no linear, apresentando-se como uma curva sigmide, a
uma dada temperatura, sendo os aumentos mais acentuados na umidade de
equilbrio em baixas e em altas URs e moderados na faixa de 25 a 70%. Essa
relao denominada curva de equilbrio higroscpico das sementes.
Tabela 1 - Teor de gua de equilbrio das sementes em diferentes URs a 25
o
C.
Sementes Umidade Relativa (%)
15 30 40 60 65 70 75 80 90 100
Algodo 3,0 6,0 7,0 9,1 - 10,2 - 13,2 18,0 -
Amendoim 2,6 4,2 5,6 7,2 - - 9,8 - 13,0 -
Arroz 5,3 9,0 10,0 12,6 13,0 13,4 14,4 15,3 18,2 -
Milho 6,0 8,5 9,8 12,5 13,0 13,5 14,8 - 19,0 24,2
Sorgo 6,2 8,6 9,8 12,0 12,8 13,5 15,2 - 19,0 23,0
Soja 4,0 6,5 7,1 9,3 11,0 11,8 13,1 15,4 20,0 -
Trigo 6,2 8,5 9,6 12,2 - 13,4 - 16,5 20,1 25,5
Diversas fontes.
Figura 1 - Migrao de umidade em relao umidade da semente influenciada
pela temperatura e UR.
Temperatura e UR
Umidade da Semente Propriedade do Ar
9.3%
25 C - 60%
25 C - 75%
25 C - 75%
25 C - 60%
25 C - 60%
30 C - 40%
30 C - 40%
9.3%
13.1%
13.1%
9.3%
9.3%
7.3% G
F
E
D
A
B
A
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
284
Os principais fatores, alm da UR, que influem no equilbrio higroscpico
das sementes, so: 1) Os constituintes qumicos, onde as sementes amilceas
apresentam maior teor de gua de equilbrio do que sementes oleaginosas, a uma
mesma condio climtica, uma vez que os carboidratos tm maior afinidade
higroscpica do que os lpideos. Para a UR de 45%, as sementes amilceas
apresentam teor de gua de 9 a 10% e as oleaginosas, de 5 a 6%; 2) A
temperatura ambiental afeta o equilbrio higroscpico de forma que, quanto mais
alta a temperatura, mais baixa ser a umidade das sementes a uma determinada
UR; 3) O efeito da histerese, ou seja, as sementes no processo de soro (ganho)
de gua, entram em EH a teores de gua mais baixos do que se estivessem no
processo de dessoro (perda) de gua. Vide Tabela 1, tomando como exemplo
uma das espcies, onde uma semente de arroz com 15% de umidade, a 65 % de
UR, entrar em equilbrio a 13%. Entretanto, se estivesse com 11,2, o equilbrio
dar-se-ia com menos de 13%, a essa mesma UR; 4) A integridade fsica da
semente tambm afeta o equilbrio higroscpico, visto que as sementes
danificadas atingem teores de gua de equilbrio mais elevados do que sementes
ntegras.
2.2. Propriedades fsicas do ar
O ar constitudo de vrios gases, principalmente nitrognio, oxignio e de
vapor dgua, sendo que esse ltimo possui acentuado efeito no processo de
secagem.
As propriedades fsicas do ar podem ser determinadas atravs de mtodos
analticos, grficos ou tabulares; entretanto, ser considerada apenas a
determinao grfica, por ser mais simples e relativamente precisa, utilizando-se
a carta psicromtrica (Fig. 2). As propriedades fsicas do ar mais utilizadas so:
a) Temperatura do Bulbo Seco (TBS) - a temperatura indicada por um
termmetro normal expressa emC, representada por linhas perpendiculares base
da figura ou, se considerarmos que a carta psicromtrica uma bota, a TBS
ser determinada na parte de baixo da bota (Fig. 3.1);
b) Temperatura do Bulbo mido (TBU) - a temperatura obtida por um
termmetro normal, com o bulbo revestido com uma gaze mida (Fig. 4), a qual,
em contato com uma corrente de ar, proporcionar a vaporizao da gua que,
dependendo de sua intensidade, baixar, mais ou menos, a temperatura. A TBU
determinada pelas linhas mais oblquas e sua leitura no lado externo da curva
da bota (Fig. 3.2);
c) Ponto de Orvalho (PO) - a temperatura do ar quando a UR 100%,
sendo representado por linhas horizontais e sua leitura feita no lado externo da
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
285
curva da bota (Fig. 3.3);
d) Umidade Relativa (UR) - expressa a quantidade de gua existente no ar
em relao quantidade mxima que esse ar poderia conter, a uma determinada
temperatura. Se o ar possui 18g e pode conter 30g de gua/kg de ar seco, a uma
mesma temperatura, a UR de 60% (Fig. 3.4);
e) Razo de Mistura (RM) - Expressa a massa de gua do ar em relao
umidade da massa de ar seco. A RM representada por linhas horizontais e a
leitura realizada na parte de trs da bota, sendo expressa em gramas de gua/kg
de ar seco (Fig. 3.5);
f) Volume Especfico (VE) - Expressa o volume ocupado pelo ar seco em
relao umidade de massa de ar seco. O VE representado por linhas oblquas
cuja leitura feita na parte mais externa da base da bota, sendo expressa em m
3
de ar seco/kg ar seco;
g) Entalpia (E) - uma funo termodinmica que expressa a energia total
associada umidade de massa de ar seco. determinada no prolongamento das
linhas mais oblquas e sua leitura feita no lado externo mais distante da parte
curva da bota (Fig. 3.2).
Considerando a importncia de se conhecer as propriedades fsicas do ar para
o processo de secagem, ser descrito a seguir um psicrmetro de bulbo mido e
bulbo seco que permite a determinao de outras propriedades fsicas do ar.
O referido psicrmetro consta de dois termmetros, o de bulbo mido e o de
bulbo seco, fixos uma base, a qual pode ter uma manivela para girar os
termmetros, de tal forma que uma corrente de ar passe pelos mesmos. Esse giro
do psicrmetro muito importante para dissipar a umidade evaporada do TBU, o
qual deve ser, no mnimo, de uma volta por segundo, durante 2 minutos.
Outras caractersticas do psicrmetro so: o bulbo do TBU deve estar coberto
por um material higroscpico que permita a passagem do ar (ex. gaze) e, quando
em uso, deve estar sempre mido, com gua temperatura ambiente; o bulbo do
TBS deve ser fixado acima do TBU em 3cm (Fig. 4), para diminuir as
possveis interferncias.
Conhecendo duas propriedades fsicas do ar independentes, pode-se
determinar as outras (Fig. 5), caracterizando um estado do ar mido. Assim, com
a TBS de 26
o
C e TBU de 18
o
C, a UR de 50% (Fig. 5.1.); com TBS de 26
o
C e
TBU de 18
o
C, o orvalho se formar a 14,5
o
C (Fig 5.2) e, com TBS de 26
o
C e UR
de 50%, o ar contm 11 gramas de gua/kg de ar seco. Entretanto, conhecendo
duas propriedades fsicas do ar interdependentes, ponto de orvalho e razo de
mistura, por exemplo, no possvel estabelecer apenas um estado para o ar
mido.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
286
F
i
g
.
2
C
a
r
t
a
P
s
i
c
r
o
m
t
r
i
c
a
b
u
l
b
o
s
e
c
o
C
m
/
k
g
a
r
s
e
c
o
0
.
7
5
0
.
8
0
0
.
8
5
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
0
.
9
0
V
o
l
u
m
e
e
s
p
e
c
f
i
c
o
0
.
9
5
-
1
0
-
5
0
5
1
0
1
5
2
0
2
5
3
0
3
5
4
0
4
5
5
0
5
5
6
0
6
5
7
0
3
3
3
0
2
7
2
4
2
1
1
8
1
5
1
0
0
1
2
9630
R a z o d e m i s t u r a - g g u a / k g a r s e c o
3
5
3
7
3
9
E
n
t a
l p
i a
-
K
j / K
g
d
e
a
r
s
e
c
o
T
e
m
p
e
r
a
t u
r
a
b
u
l b
o
u
m
i d
o
C
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
287
Figura 3 - Propriedades fsicas do ar.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
288
Figura 4 - Psicrmetro de bulbo mido e seco.
Mecanismo para Girar
os Termmetros
Termmetros
Bulbo Seco
Bulbo mido
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
289
Figura 5 - Propriedades fsicas do ar. Conhecendo-se duas, pode-se determinar
uma terceira.
O processo de secagem, sob condies externas constantes, pode ser
representado pela Fig. 6 da seguinte maneira: A temperatura ambiental, TBS (1),
a Entalpia (2) e a UR (3) so a condio inicial de secagem (Estado A); o ar
aquecido por uma fonte de calor elevando a TBS (4), mantendo a razo de
mistura constante e, conseqentemente, diminuindo a UR (5) e aumentando a
Entalpia (6) (Estado B). A seguir, o ar, insuflado ou succionado por um
ventilador, passa pela massa de sementes, cedendo calor e absorvendo gua,
ocasionando uma diminuio na temperatura do ar e elevao da UR, mantendo
a Entalpia constante, graficamente representado pela TBU (7) e UR (8) (Estado
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
290
C) na carta psicromtrica. A diferena (x) a quantidade de gua por kg de ar
seco que foi retirada da massa de sementes. Quanto maior essa diferena, maior
a eficincia de secagem. A diferena (y) representa a quantidade de calor por kg
de ar seco necessrio para aquecer o ar de (1) para (4).
Figura 6 - Processo isentlpico de secagem das sementes.
3. PRINCPIOS DE SECAGEM
O vapor dgua presente na semente tende a ocupar todos os espaos
intercelulares disponveis, gerando presses em todas as direes, inclusive na
interface entre a semente e o ar, denominada presso parcial de vapor dgua na
superfcie da semente. Por sua vez, a gua presente no ar sob a forma de vapor
exerce, tambm, uma presso parcial, designada presso parcial de vapor dgua
no ar.
O processo de secagem envolve a retirada parcial de gua da semente atravs
da transferncia simultnea de calor do ar para a semente e de gua, por meio de
fluxo de vapor, da semente para o ar.
A secagem de sementes, mediante fornecimento forado de ar aquecido,
compreende, essencialmente, dois processos simultneos: a) transferncia
(evaporao) da gua superficial da semente para o ar circundante, que ocorre
motivado pelo gradiente de presso parcial de vapor entre a superfcie da
semente e o ar de secagem; b) movimento de gua do interior para a superfcie
da semente, em virtude de gradiente hdrico e trmico entre essas duas regies.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
291
Uma teoria bastante aceita para explicar o transporte de gua do interior para a
superfcie da semente durante a secagem, um derramamento hidrodinmico sob a
ao da presso total interna e/ou um processso de difuso resultante de
gradientes internos de temperatura e teor de gua (Lasseran, 1978).
A forma mais utilizada para aumentar o diferencial entre as presses de vapor
da superfcie da semente e do ar de secagem o aquecimento desse ltimo,
diminuindo, em conseqncia, a sua umidade relativa que, dessa forma, adquire
maior capacidade de retirada de gua.
Emtermos prticos, a umidade relativa tem sido utilizada como referncia para
inferir se a semente ir perder (secagem), ganhar (umedecimento) ou manter sua
umidade (equilbrio higroscpico), sob determinada condio atmosfrica.
Verifica-se que, medida que se aumenta a temperatura do ar, a sua umidade
relativa diminui, elevando a sua capacidade de reteno de gua.
4. MTODOS DE SECAGEM
A secagem pode ser natural ou artificial.
4.1. Natural
A secagem natural utiliza as energias solar e elica para remover a umidade
da semente. realizada na prpria planta, no perodo compreendido entre a
maturidade fisiolgica e a colheita, ou empregando recursos complementares,
como terreiros (eiras), tabuleiros (telados) ou encerados (lonas), onde as
sementes so esparramadas. um mtodo de secagem utilizado para pequenas
quantidades de sementes, como o caso de programas de melhoramento,
algumas sementes de hortalias e por pequenos produtores.
Na eira, as sementes so distribudas formando uma camada de 10cm, a
qual posteriormente ondulada para aumentar a superfcie de secagem (Fig. 7a)
e, assim, possibilitar a passagem do ar por um maior nmero de sementes.
Cuidados especiais devem ser tomados para que a semente no sofra
aquecimento excessivo e a secagem seja a mais uniforme possvel. Para tanto,
recomendvel o emprego de camadas no muito delgadas, o revolvimento
freqente, para que todas as sementes, bem como suas faces, sejam expostas ao
ar, e o encobrimento das sementes no perodo noturno. No caso de sementes que
so lavadas (ex: tomate), essa movimentao essencial; caso contrrio, poder
haver um gradiente muito grande de umidade na semente que pode ocasionar
rupturas internas. No caso de utilizao de lonas plsticas, cuidados devem ser
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
292
tomados com a umidade proveniente do solo, apesar de constituir-se em meio
bastante prtico para a movimentao da semente, inclusive o seu ensaque.
A secagem natural , em geral, demorada, e uma maneira de acelerar o
processo atravs do uso de telas de plstico ou arame entrelaado, formando-se
uma peneira (Fig. 7b). As sementes so esparramadas em forma ondulada sobre
a peneira, a qual posteriormente erguida a uma altura de 0,5 a 1,0mdo solo,
possibilitando que o ar passe por cima e por baixo das sementes, abreviando
consideravelmente o tempo de secagem.
A secagem natural, apesar de no estar sujeita a riscos de danificao mecnica e
temperaturas excessivamente altas, dependente das condies psicromtricas do ar
ambiente que, muitas vezes, no so adequadas para a secagem das sementes.
Um exemplo tpico o caso de pocas ou locais com alta UR (90-100%). Em
dias chuvosos e noite, a UR, freqentemente, est alta.
Figura 7 - Secagem natural em eira e bandeja com fundo falso de tela.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
293
Devido aos riscos provenientes da demora de secagem motivada por altas
URs, a secagem natural, em muitas regies, pouco utilizada. Por outro lado,
nas regies ou pocas onde a UR reinante no perodo da colheita baixa e a
possibilidade de ocorrncia de chuvas bastante reduzida, a secagem natural
largamente utilizada.
4.2. Artificial
Os mtodos de secagemobtidos pela exposio da semente, numsecador, a um
fluxo de ar aquecido ou no, podemser divididos, conforme o fluxo da semente no
secador, emestacionrio e de fluxo contnuo (contnuo e intermitente).
4.2.1. Secagem estacionria
O mtodo estacionrio de secagem consiste basicamente em se forar o ar
atravs de uma massa de sementes que permanece sem se movimentar. A
secagem estacionria requer precaues especiais para o seu adequado
desempenho, das quais vm, a seguir, as mais importantes:
a) Fluxo de ar - O ar possui duas funes no processo de secagem: uma
criar condies para que ocorra retirada de gua da semente por evaporao,
geralmente atravs de transporte de calor desde a fonte at o local de secagem
das sementes ou cmara de secagem; a outra, de transportar a umidade retirada
da semente para fora do sistema de secagem, permitindo que continue a
evaporao da umidade que migrou do interior para a superfcie da semente.
Assim, o ar deve possuir um fluxo mnimo que desempenhe adequadamente seu
papel de transportar calor e gua.
Na secagem em secador estacionrio, o ar deve ter um fluxo de 4 a 20
m
3
/min/t de semente. A quantidade de sementes a secar torna-se limitada, pois se
forem, por exemplo, 5 toneladas de sementes de arroz para secar, e necessitarem
de 50 m
3
/min de ar, o fluxo ser de 10 m
3
/min/t. Entretanto, colocando no
mesmo secador 10 toneladas de sementes, o fluxo de ar ser de 5 m
3
/min/t e,
quando incrementada a quantidade de sementes, aumenta tambm a presso
esttica, pois assim a massa de sementes oferece uma maior resistncia
passagem do ar. No aconselhvel utilizar-se de fluxos de ar inferiores a 4
m
3
/min./t, j que o processo de secagem ser lento, podendo comprometer a
qualidade das sementes; por outro lado, fluxo de ar superior a 20 m
3
/min./t
exigir elevada potncia do ventilador, onerando de maneira considervel o
processo.
Os fabricantes fornecem as curvas de desempenho dos ventiladores a
diferentes presses estticas. Assim, para determinar o fluxo de ar que est
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
294
passando por uma determinada massa de sementes, devemos medir a presso
esttica desenvolvida com o ventilador em operao e, posteriormente, consultar
a curva de desempenho do ventilador. Essa presso pode ser verificada com um
manmetro de tubo em U, onde o tubo plstico contendo gua tenha de 0,3 a 0,6
cm de dimetro, o qual fixado num papel milimetrado ou ao lado de uma rgua
(Fig. 9). Introduzindo-se o tubo no duto de sada de ar do ventilador, numa
profundidade igual espessura da chapa do duto, observar-se- uma diferena no
nvel de gua dentro do tubo plstico, que expressa a presso esttica
desenvolvida pelo ventilador, para vencer as perdas de carga do sistema. Pode-se
calcular a presso esttica utilizando-se o grfico de Shedd.
b) Umidade relativa do ar (UR) Como j comentado anteriormente, a
semente, como todo material higroscpico, perde ou ganha umidade em funo
da UR. Para cada UR, a uma determinada temperatura, a semente atinge um teor
de gua em equilbrio, tambm chamado equilbrio higroscpico.
Nesse mtodo de secagem, as sementes secam por camadas, formando-se
uma frente de secagem, onde a primeira camada a secar aquela que fica mais
perto da entrada do ar e, a ltima, aquela que est mais distante. No caso de
silos de distribuio axial, a frente de secagem pode ser de baixo para cima como
de cima para baixo, enquanto nos de insuflao radial ocorre do centro para a
periferia do secador. interessante frisar que a primeira camada no pra de
secar, at o momento em que entra em equilbrio com a UR do ar de secagem.
Dois cuidados especiais devem, por isso, ser tomados: 1) para que no ocorra
uma secagem excessiva nas camadas mais prximas entrada de ar, a UR do ar
de secagem no deve ser inferior a 40%, pois em nveis inferiores a semente
entrar em equilbrio higroscpico a teores de gua muito baixos, tornando-se
muito suscetvel aos danos mecnicos e 2) a camada de sementes mais distante
da entrada de ar dever secar to rapidamente quanto possvel, para que no
ocorra deteriorao da semente por retardamento de secagem.
A carta psicromtrica (Fig.2), que pode ser consultada, permite determinar a
UR, uma vez que se conheam duas propriedade fsicas do ar. Assim, possvel
saber o quanto se deve aumentar a temperatura do ar para baixar a UR at o nvel
desejado. Com a devida aproximao, pode-se considerar, para URs superiores a
80%, que para cada acrscimo de 1
o
C na temperatura, a UR decresce de 4,5 %. Existem
tambmhigrmetros simples e baratos que informamdiretamente a UR do ar
c) Temperatura do ar de secagem - Em razo das sementes permanecerem em
contato, com o ar aquecido por longo perodo de tempo, deve-se tomar
precaues quanto temperatura do ar, pois as sementes tendem, aps algum
tempo, a atingirem a mesma temperatura do ar de secagem. Mas, como foi
discutido anteriormente, sendo a UR superior a 40%, muitas vezes, a temperatura
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
295
no necessita ser aumentada at nveis que prejudiquem a qualidade fisiolgica
da semente, o que ocorreria acima de 43
o
C, nesse mtodo de secagem. Em
muitas regies ou pocas do ano, o ar ambiental est com UR entre 40 e 70%,
no necessitando de aquecimento suplementar.
Na utilizao de ar ambiente no aquecido de fundamental importncia o
conhecimento do mximo tempo permissvel para finalizar a secagem sem que
ocorram problemas de deteriorao das sementes, motivados pelos processos
metablicos da mesma e pelo desenvolvimento de microrganismos.
d) Danificao mecnica - As sementes so lanadas de alturas muitas vezes
superiores a 6 m para dentro do silo secador, o que pode causar-lhes srios danos
mecnicos. Para se evitar esse problema, sugerido que na operao de carga do
silo seja colocado dentro desse uma escada amortecedora de fluxo e/ou um
amortecedor de impactos localizados no tubo de ligao do elevador com o silo
secador. Outra alternativa, de menor efeito, ligar o ventilador no momento de
carga do secador formando, assim, um colcho de ar para amortecer as sementes.
e) Capacidade de secagem - O mtodo estacionrio possui baixa capacidade
de secagem (geralmente mais de 12 horas por carga), razo por que se utiliza um
conjunto desses secadores. Caracteriza-se por: 1) a eficincia tcnica ser alta e 2)
o ar que sai do secador (com baixa temperatura e alta umidade) tem reduzida
capacidade para secar. No incio da colheita todos os secadores esto
disposio para a secagem; entretanto, conforme as sementes vo sendo colhidas,
alguns dos secadores vo sendo cheios de sementes e funcionando apenas como
armazenadores; assim, no fim da safra, apenas um ou dois estaro funcionando
como secadores propriamente ditos.
Existem vrios tipos de secadores que utilizam o mtodo estacionrio, como:
a) Fundo falso perfurado - Nesse tipo de secador, o ar insuflado para
dentro do secador, geralmente pela parte inferior da camada de sementes -
distribuio axial de ar (Fig. 8). A resistncia que as sementes oferecem
passagem do ar varia com a altura da camada de sementes, fluxo de ar, umidade
da semente, espcie e tamanho da semente e impurezas que acompanham o lote.
Para se evitar a super secagem das camadas prximas entrada de ar, bem como
o aumento excessivo da presso esttica, recomenda-se que a altura da camada
de sementes no seja superior a 1,5m para as sementes de tamanho grande (soja).
Os secadores de fundo falso perfurado so projetados para operar ao ar livre,
sendo construdos, em geral, de chapas metlicas ou alvenaria. Ao final da
colheita, o silo pode ser utilizado como silo armazenador, onde a camada de
semente pode ser ento aumentada, j que, para a aerao, so necessrios fluxos
de ar de 0,1 a 0,6 m
3
/min/t. H que se considerar que o ventilador tenha presso
esttica suficiente.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
296
Figura 8 - Secador estacionrio de fundo falso perfurado.
b) Tubo central perfurado - Nesse tipo de secador, o ar forado a passar
pelas sementes transversalmente (distribuio radial), por meio de um tubo
vertical perfurado, situado na posio central do secador, desde a base at o topo.
A cmara de secagem compreende o volume contido entre o tubo central e a
parede do secador (Fig.10).
A resistncia que as sementes oferecem passagem do ar d-se de forma
diferente da que ocorre com o modelo de fundo falso perfurado, pois o que
determina essa resistncia a camada de sementes que vai do tubo central
parede do secador.
Os tipos de sementes a serem secadas so os mais variados, desde as
pequenas, como as de trevo, alfafa e cornicho, at as grandes, como as de soja e
milho. Assim, a resistncia que essas sementes oferecem passagem do ar
sofrem grandes variaes. Portanto, desde que o ventilador no seja substitudo,
para se ter um mesmo fluxo de ar para todos os tipos, a quantidade de sementes
dentro do secador deve ser diferente e, para que isso seja possvel, dentro do tubo
central existe um mecanismo (vlvula) que veda a passagem do ar, de acordo
com a altura desejada.
JANELA
DE INSPEO
M
A
N
O
M
E
T
R
O
FUNDO FALSO
VENTILADOR
DETALHE
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
297
Figura 9 - Construo de um manmetro em "U".
Figura 10 - Secador estacionrio com distribuio radial de ar.
Tubo plstico
1
m
Ponta fechada
e ponteaguda
0
.
3
m
Tubo metlico
Orifcio
. .
.
.. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. . . .
.
. .
. .
. .
.
.
.
.
.
.
.. ..
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
298
Esse secador apresenta problemas quanto uniformidade da umidade das
sementes, em vista da ocorrncia de regies de menor presso esttica, podendo-
se apontar trs causas: 1) maior fluxo de ar na parte inferior do secador,
acarretando uma maior velocidade de secagem das sementes; 2) posicionamento
inadequado da vlvula situada dentro do tubo central; 3) nivelamento da camada
de sementes na parte superior do secador, fazendo com que as sementes na
periferia no recebam um fluxo de ar suficiente para secar. Outro problema a
danificao mecnica das sementes na ocasio de carregamento, pois difcil a
colocao da escada amortecedora nesse tipo de secador.
Uma limitao importante dos secadores de distribuio radial de ar no
permitir alteraes na espessura da camada de sementes.
Os secadores de tubo central perfurado so projetados para operaremdentro das
unidades de beneficiamento de sementes (UBS), sendo construdos de madeira ou chapa
metlica e podemtambmser utilizados como silos armazenadores.
c) Secador de sacos - Sistema utilizado em programas de melhoramento de
sementes onde a quantidade pequena e o nmero de cultivares ou linhagens
grande. Esse secador consiste basicamente em um assoalho de madeira (sistema
de distribuio do ar), com aberturas individuais para cada saco, e um ventilador
(Fig. 11), que pode ou no ter um sistema para aquecimento suplementar, capaz
de aumentar a temperatura do ar de 5 a 8
o
C e, dessa forma, reduzir sua umidade
relativa e favorecer o processo de secagem.
Figura 11 - Secador estacionrio para sacos.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
299
A altura do assoalho deve ser ao redor de 40cm para insuflao do ar e a
abertura, onde o saco a secar colocado, deve ser 60% da rea do saco, caso
contrrio, poder haver problemas de desuniformidade de secagem. Aps
algumas horas de funcionamento do secador, os sacos devem ser virados, a fim
de acelerar a secagem.
Outro tipo de secador em sacos aquele formando-se uma pilha com um
tnel no centro, fechado numa extremidade (Fig. 12). Utiliza-se esse sistema
quando a necessidade de secagem bem maior que a disponibilidade de
secadores, ou quando a quantidade de sementes pequena e no se dispe de um
secador convencional. um sistema barato, necessitando-se basicamente de um
ventilador. Deve-se ter o cuidado de evitar o escape de ar entre os sacos, por
meio da colocao de enchimentos (estopa) entre os mesmos. O principal
problema desse tipo de secador a desuniformidade de secagem que ocorre, pois
alguns sacos recebem mais ar do que outros, em razo da dificuldade de
obteno de uma distribuio espacial simtrica dos mesmos.
Figura 12 - Secador de sacos em pilha.
A
A
0,7m
B
B
1,2m 2m 2m 2m
2m
Corte AA
Corte BB
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
300
d) Estufa - Sistema largamente utilizado pelos produtores de sementes de
hortalias, para a reduo da umidade em at 5 a 8%, visando ao armazenamento
em embalagens impermeveis. O secador consiste em uma caixa metlica de,
aproximadamente, 3,0 x 1,5 x 3,0m, onde vrias bandejas com fundo de tela so
colocadas (Fig. 13).
Figura 13 - Secador estacionrio com bandejas teladas.
Em cada bandeja colocada uma camada de sementes com cerca de 1cm,
sendo que o ar passa por cima e por baixo dessa camada, porm, dificilmente,
passa atravs das sementes, a no ser nos locais da bandeja com pouca
quantidade de sementes. Portanto, importante que as sementes sejam
revolvidas dentro de cada bandeja, para que todas sejam expostas ao ar aquecido.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
301
Como a camada de sementes delgada, no haver problemas de super-
secagem, desde que se acompanhe e controle a reduo da umidade das mesmas.
Recomenda-se temperatura mxima do ar de secagem de 40
o
C, devendo-se, na
fase inicial, utilizar o ar a 30-35
o
C e, no perodo necessrio para a secagem,
40
o
C. Na fase final, as sementes devem ser esfriadas, reduzindo gradativamente a
temperatura do ar de secagem, procedimento que tambm importante para a
homogeneizao da umidade na semente e entre sementes. Normalmente, para
baixar a umidade de 10 para 6%, em sementes de cebola, despende-se ao redor
de 14 horas.
e) Secadores de milho em espiga - Para evitar o armazenamento do milho
no campo, o mesmo colhido com alta umidade (entre 25 e 35%), tornando-se
necessria a secagem artificial. Utilizam-se secadores especiais, geralmente de
alvenaria, com vrios compartimentos, onde as espigas de milho, aps uma
seleo manual, so colocadas (Fig. 14). Os compartimentos variam em
tamanho, dependendo da necessidade de secagem; entretanto, a altura da camada
de sementes pode atingir 4 m. Isso possvel porque a espiga oferece pouca
resistncia passagem do ar.
Figura 14 Secador de alvenaria para milho em espiga.
No carregamento dos compartimentos do secador, que possuem um fundo
falso perfurado, deve-se ter o cuidado de no se debulhar muito as sementes nem
permitir muitas impurezas, como palha e ponta de sabugo, os quais iro
preencher os espaos vazios entre as espigas, aumentando a resistncia
passagem do ar, ou seja, aumentando a presso esttica.
Compartimentos
1
4
S
E
M
E
N
T
E
Sada de ar
Entrada
de Ar
Ventilador
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
302
Esse sistema apresenta determinados inconvenientes, tais como o consumo
adicional de energia para a secagem do sabugo, o tamanho elevado para as
instalaes necessrias e o longo tempo de secagem. De uma maneira geral, so
empregadas temperaturas do ar de secagem de 40
o
C, necessitando, dependendo
do hbrido e da umidade inicial da semente, 48 a 72h para que seja completada a secagem.
4.2.2. Mtodo contnuo
A secagem contnua realizada, em geral, nos secadores contnuos que so
formados, fundamentalmente, por duas cmaras, uma de secagem e outra de
resfriamento.
O mtodo contnuo consiste em fazer passar as sementes uma s vez pela
cmara de secagem, de tal forma que entrem midas no topo e saiam secas na
base do secador. Para que as sementes sequem em uma s passagem pelo
secador, necessrio que se eleve muito a temperatura do ar de secagem ou se
retarde o fluxo das sementes dentro da cmara de secagem, a fim de que
permaneam o tempo suficiente para perderem o excesso de gua.
Com o aumento da temperatura ou do tempo de exposio das sementes ao ar
aquecido, corre-se o risco de causar danos trmicos s sementes. Qualquer
mecanismo que aumente a temperatura da semente pe em risco a sua qualidade.
Esse mtodo, considerando-se os inconvenientes apresentados, tem que ser
modificado. As modificaes sugeridas seriam as seguintes:
a) Passagem das sementes mais de uma vez pela cmara de secagem. Para
isso, pode-se acoplar na descarga do elevador um mecanismo que desvie o fluxo
de sementes novamente para o secador, formando um sistema cclico, permitindo
as sucessivas passagens da semente pelo secador.
b) Aumento da velocidade do fluxo da massa de sementes atravs da cmara
de secagem, fazendo com que as sementes permaneam menos tempo sob a ao
do ar aquecido, cuja temperatura poder ser mais alta.
Com essas modificaes, possvel secar as sementes sem correr o risco de
prejudicar a sua qualidade fisiolgica. Porm, as sucessivas passagens das
sementes pelo secador implicam a repetio de transporte pelo elevador, o que
pode acarretar danificaes mecnicas s sementes, principalmente quando a
velocidade do elevador for alta ou o nmero de passagens for elevado.
importante que se coloque dois termmetros, um no duto de entrada do ar
aquecido e outro na zona neutra da cmara de secagem. Isso porque, apesar de a
temperatura do ar de secagem estar associada temperatura da semente, existem
outros fatores que tambm influem na temperatura atingida pela massa de
sementes, como umidade relativa do ar de secagem, umidade da semente e
impurezas misturadas s sementes.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
303
Uma sugesto, que vlida tambm para todos os mtodos de secagem, que
seja colocado um termgrafo para cada secador, pois assim, durante o processo
de secagem de um lote de semente, se saber, com preciso, qual foi a
temperatura mxima e a mnima de secagem, bem como o tempo em que elas
permaneceram no secador. Quando as sementes apresentam algum problema de
qualidade, possvel determinar se foi devido elevada temperatura de secagem.
Esse termgrafo importante tambm para o operador pois, no podendo esse
permanecer durante todo o tempo de secagem junto ao secador, qualquer
aumento ou diminuio da temperatura, principalmente se a fonte de calor for
lenha, seria registrado pelo instrumento.
4.2.3. Mtodo intermitente
No secador intermitente, a semente submetida ao do ar aquecido na
cmara de secagem a intervalos de tempo permitindo, assim, a homogeneizao
da umidade e resfriamento quando as mesmas esto passando pelas partes do
sistema onde no recebam ar aquecido (elevador de caambas e cmara de
equalizao ou resfriamento).
A intermitncia permite que ocorra o transporte de gua do interior para a
superfcie da semente durante o perodo de equalizao, diminuindo o gradiente
de sua concentrao dentro da semente. A utilizao de uma srie de curtos
perodos sob a ao de ar aquecido, intercalados por perodos sem aquecimento,
aumenta a quantidade de gua removida por unidade de tempo em relao
secagem contnua, porque o limite mximo da velocidade de secagem, aps a
remoo da gua da camada superficial da semente, a velocidade de transporte
de gua do interior para a superfcie.
Conforme o tempo necessrio para as sementes passarem pela cmara de
secagem, existem dois mtodos:
a) Mtodo intermitente lento - Esse mtodo foi adaptado dos secadores tipo
contnuo. Quando no so utilizadas temperaturas altas do ar de secagem, as
sementes no chegam a secar em uma s passagem pelo secador, tornando-se
necessria a adaptao do mtodo contnuo, fazendo com que elas retornem para
o corpo do secador, a fim de passarem mais vezes pela cmara de secagem (Fig.
15).
Com a movimentao das sementes e a utilizao do ar com UR baixa (5-
10%), a capacidade de secagem desse mtodo bastante alta, podendo secar,
dependendo do modelo do secador, 8 toneladas de sementes, de 18 para 13%
num perodo de 4 a 6 horas.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
304
Figura 15 - Secador intermitente lento.
O cuidado a se observar nesse mtodo no sentido de que as sementes no
dem muitas voltas pelo sistema de secagem pois, como utilizado o elevador de
caambas para elevar as sementes da base at o topo, estas podem sofrer srios
danos mecnicos.
Miranda (1978), utilizando a temperatura do ar de 45, 60 e 75
o
C para secar
sementes de soja, verificou que, na temperatura de 75
o
C, as sementes comearam
a apresentar os efeitos da temperatura porm, a 60
o
C, no houve alterao da
qualidade fisiolgica das sementes. importante salientar que, utilizando esse
secador intermitente lento com a temperatura do ar de secagem a 75C, a
temperatura da massa de sementes de soja atingiu at 36,7C, enquanto que, com
temperatura do ar de secagem de 45C, a massa de sementes atingiu somente
25,5C, entretanto deu de 7 a 8 voltas pelo secador; com a temperatura de 60C, a
temperatura da massa de sementes atingiu de 33 a 34C, sendo realizadas de 5 a
6 voltas pelo secador. Para esse tipo de secador, deve-se utilizar a temperatura do
ar "alta", porm no em demasia, porque poder afetar as protenas das sementes.
CMARA
DE SECAGEM
DE REPOUSO
CMARA
AR QUENTE
TERMMETRO
VENTILADOR
DETALHE: SADA E ENTRADA DE AR NOS DUTOS.
S S S S S
S S S S S
E E E E E E
E E E E E E
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
305
Por outro lado, no pode ser baixa, pois as sementes tero que dar muitas voltas
pelo sistema antes de completar a secagem, causando aumento na danificao
mecnica.
Em sementes de arroz, Luz (1986), secando com temperatura do ar a 70C,
verificou que a velocidade de secagem das sementes, de 21 a 12%,
praticamente constante, retirando ao redor de 1,8% de umidade por hora de
secagem. Tambm verificou que a temperatura de 70C no afeta a qualidade
fisiolgica das sementes de arroz, apesar da porcentagem de sementes com
fissuras aumentar quando a umidade das sementes reduzida de 16-15 para 12%.
No secador intermitente lento, a relao entre o tempo que as sementes so
expostas ao ar aquecido e o perodo de equalizao, relao de intermitncia,
de 1:1 a 1:3 (dependendo do modelo), ou seja, considerando que as sementes
levem 40min. para darem uma volta pelo secador, passaro de 20 a 10min.
expostas ao ar aquecido, em cada passagem pelo sistema secador-elevador.
b) Mtodo intermitente rpido - Assim denominado porque as sementes
passam atravs do ar aquecido a intervalos regulares e mais freqentes do que no
intermitente lento.
Existem disponveis no mercado secadores especialmente desenvolvidos para
realizar a secagem intermitente (Fig. 15).
A relao entre o tempo de exposio das sementes ao ar aquecido e o tempo
de equalizao varia conforme o modelo de secador, com relaes do tipo 1:6;
1:9 e 1:15. Existem modelos onde as sementes permanecem em contato com o ar
aquecido por 2 a 3min. e 18 a 27min. sem receber a ao do ar aquecido.
Este mtodo exige um nmero elevado de passagens das sementes pelo
sistema elevador-secador, podendo causar srios problemas, sobretudo em
sementes mais suscetveis danificao mecnica, como soja e feijo.
Na secagem intermitente rpida de sementes de arroz, com temperatura do ar
de 75C, essas passam aproximadamente 11 vezes pelo sistema e, com
temperatura de 40C, do em torno de 25 voltas. Para soja, segundo Cavariani
(1983), a temperatura recomendada do ar de secagem de 70C e salienta que, a
temperaturas inferiores, a semente d mais passagens pelo secador, acarretando
assim maior danificao mecnica e, a temperaturas superiores a 70C, afetar a
qualidade das sementes pelo aquecimento demasiado.
As temperaturas do ar de secagem utilizadas podem ser mais altas, pois
quando as sementes passam pela cmara de secagem provenientes da cmara de
equalizao j houve transferencia de umidade do interior para a periferia da
semente; assim, dependendo do modelo do secador, possvel secar em mdia
15t de sementes de 18 para 13% de umidade, num perodo aproximado de 4-5
horas.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
306
Dos mtodos que utilizam ar aquecido forado, o que propicia a maior
capacidade de secagem, mas necessita maiores pesquisas, para minimizar
problemas de danos mecnicos nos elevadores de caambas usados para
movimentar as sementes no sistema. Sugere-se a utilizao de elevadores
caambas de descarga pela gravidade (caambas contnuas, descarga interna etc),
e no pela fora centrfuga, permitindo um manuseio suave de sementes mais
facilmente danificveis, como as de soja e feijo.
A eficincia do ar de secagem baixa, j que, aps passar pelas sementes,
ainda tem capacidade de reter umidade; porm, se for relacionado com a alta
capacidade de secagem, esse inconveniente pode ser desprezado em exploraes
agrcolas de grande porte.
Nos secadores que utilizam ar aquecido forado, recomendvel que se
utilizem temperaturas crescentes no incio e decrescentes no trmino da
secagem, para evitar choques trmicos que podem causar trincamentos, de
ocorrncia freqente em sementes de arroz e mlho. Tambm, no fim da
secagem, recomenda-se a utilizao do ar forado sem aquecimento para
homogeneizao da umidade das sementes.
Nos secadores contnuos e intermitentes, como envolvem transporte da
semente e passagem das mesmas atravs de estreitos canais ( 0,3m),
aconselhvel que as sementes palhentas passem por um bom processo de pr-
limpeza e, se possvel, que o sistema de secagem no seja interrompido enquanto
as sementes no estiverem secas, para que sejam evitadas aglomeraes e,
consequentemente, entupimentos.
Um aspecto que merece maiores estudos, refere-se possibilidade de
ocorrncia de misturas mecnicas, em vista da dificuldade de limpeza dos
secadores contnuos e intermitentes.
4.2.4. Seleo de ventilador
O ventilador um dos elementos mais importantes de um secador, existindo
essencialmente trs tipos: axial, centrfugo com as ps para trs e centrfugo com
as ps para frente (Fig. 16).
a) Ventilador axial
- O motor est dentro da armao do ventilador;
- Trabalha a presses baixas e mdias (at 150mm coluna de gua);
- No suporta sobrecarga;
- Faz muito barulho;
- Menor custo de todos.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
307
Figura 16 - Secador intermitente rpido.
b) Ventilador centrfugo com as ps para trs
- Trabalha a presses altas (at 300mm);
- Suporta sobrecarga;
- De construo robusta;
- No faz muito barulho;
- Mais caro de todos.
CMARA DE REPOUSO
CMARA DE SECAGEM
ELEVADOR
VENTILADOR
AR QUENTE
CMARA DE SECAGEM
DETALHES
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
308
c) Ventilador centrfugo com as ps para frente
- Trabalha a presses estticas moderadas;
- No suporta sobrecarga;
- De construo frgil;
- No faz muito barulho.
Os secadores contnuos e intermitentes so projetados para operao com
ventilador centrfugo; entretanto, os secadores estacionrios so projetados de tal
forma que se pode utilizar qualquer tipo de ventilador, desde que se considere o seu
desempenho a diferentes presses estticas. Dessa maneira, como o responsvel
pela UBS praticamente no tem influncia na seleo de ventilador para secador
contnuo ou intermitente, ser apresentado um exemplo de seleo de ventilador
para secador estacionrio.
Considerando um silo (Fig. 8) de 7,0m de dimetro para a secagem de
sementes de trigo com camada de espessura 1,5m e com um fluxo de ar de
7,0m
3
/min./t, qual ser o ventilador mais indicado?
a) Determinar a presso esttica;
b) Calcular o fluxo de ar necessrio:
c) Selecionar o ventilador na Tabela 2.
a) Presso esttica
- Determinar o peso de sementes acima de cada m
2
de assoalho do silo,
considerando que:
1m
3
de trigo =0,78t; assim,
1,5m x 0,78t/m
3
= 1,17t/m
2
.
- Determinar o fluxo de ar insuflado por m
2
de assoalho.
Peso/m
2
x fluxo de ar.
1,17/m
2
x 7m
3
/min./t =8,19m
3
/min./m
2
.
- Com esse dado, utilizar o grfico de Shedd (Fig. 17):
1) Ache 8,19m
3
/min./m
2
no eixo vertical do grfico;
2) Mova horizontalmente at encontrar a curva para trigo;
3) Desse ponto, mova para baixo at encontrar o eixo horizontal e leia a
queda de presso do ar por metro de altura da camada de sementes - 67
mm coluna gua;
4) Multiplique o valor encontrado em 3 pela altura da camada de sementes:
6,7 x 1,5 =100,5mm gua.
5) Para a presso, utilizar um fator de correo de 1,25 (impureza, umidade,
perda de presso no duto de ar):
100,5 x 1,25 =125,6mm de gua.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
309
Figura 17 - Tipos de ventiladores.
b) Fluxo de ar
- Determinar o volume de sementes no silo:
x r
2
x altura;
3,14 x 3,5m
2
x 1,5m =57,7m
3
.
- Determinar o peso de sementes no silo:
57,7m
3
x 0,78t/m
3
=45t.
- Para o fluxo total de ar necessrio, multiplicar o fluxo de ar desejado pelo
nmero de toneladas:
7m
3
/min./t x 45t =315m
3
/min.
Ventilador Axial
Ventilador Centrfugo
- Ps para frente -
Ventilador Centrfugo
- Ps para trs -
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
310
Tabela 2 Desempenho de ventiladores centrfugos e axiais de diversas
presses estticas.
Modelo Presso esttica (mm)
HP 25 38 50 63 75 100 125 150 175 200 225
Axiais Fluxo de ar (m
3
/min.)
A 1,5 148 139 129 100 69 35 - - - - -
B 3 214 202 191 174 160 64 - - - - -
C 5 305 288 274 257 240 203 160 - - - -
D 7,5 340 324 311 297 283 247 205 - - - -
E 10 377 368 357 342 328 300 265 234 - - -
Centrfugos
A 7,5 351 - 328 - 303 277 250 210 - - -
B 10 368 - 343 - 317 286 257 229 - - -
C 15 494 - 471 - 440 411 385 357 329 297 245
c) Seleo do ventilador
- Com a presso esttica de 125mm e um fluxo de ar de 315m
3
/min.,
consulta-se a Tabela 2, sendo o ventilador centrfugo modelo C, de 15 HP,
o indicado, pois nessas condies o seu desempenho ser um pouco
superior ao necessrio (385m
3
/min.).
4.2.5. Consumo de energia
Na secagem artificial de sementes, normalmente necessrio aquecer o ar
para diminuir a UR e, com isso, possibilitar e/ou aumentar a velocidade de
secagem.
H vrios materiais que podem ser utilizados como fonte de energia (Tabela
3). A escolha depender de seu preo, disponibilidade, facilidade de uso e, em
alguns casos, da permisso do uso. H ocasies em que o material barato;
entretanto, necessita de um aparato especial para poder gerar calor, tornando-se
caro.
Para determinao do consumo de energia de um determinado secador,
necessita-se saber: 1) O fluxo de ar utilizado; 2) O aumento de temperatura do ar
e 3) O volume especfico do ar. Exemplificando com secador intermitente rpido
em sementes de arroz, cujo sistema apresenta as seguintes condies:
- Fluxo de ar ao redor de 90m
3
/min. ou 1,5m
3
/s;
- Acrscimo de temperatura - 25C 70C =45C;
- Volumeespecfico do ar - normalmente0,85m
3
/kg, e considerando que:
ar do Especfico Vol
x Temp Acrsc x ar Vol
trm Pot
.
960 . . .
. . =
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
311
O consumo de energia ser:
Considerando uma eficincia em torno de 70% (madeira), tem-se:
Considerando que o secador intermitente seca uma carga de sementes (ex.:
5t) em torno de 4h, o consumo total de energia ser: 108.905kcal/h x 4h =
435.620kcal ou, como a capacidade de 5 toneladas (varia com o modelo), ser:
435.620Kcal 5t =87.127Kcal/t.
No caso de uso de lenha como fonte de calor (Tabela 3), ser possvel secar
2,8 cargas de sementes por m
3
de madeira (1.220.000Kcal/m
3
435.620Kcal/m
3
).
Tabela 3 Valores energticos de vrios produtos que podem ser utilizados
como fonte de calor no processo de secagem.
Origem Kcal Unidade
Lenha 1220000 m
3
Casca de arroz 3390 kg
Serragem 670000 m
3
Carvo betuminoso 8073 kg
leo diesel 9350 l
Gs metano (natural) 12317 kg
Gs butano 10247 kg
Eletricidade (resistncia) 960 Kwh
Motor eltrico (3-20 HP) 760 Hph
kg m
h Kcal x C
o
x s m
P
/
3
85 , 0
) / ( 960 45 /
3
5 , 1
=
h Kcal P / 6 , 76233 =
h Kcal P / 905 . 108
70 , 0
6 , 76233
= =
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
312
Figura 18 Resistncia das sementes passagem do ar.
5. AERAO
A aerao est estreitamente relacionada com armazenamento, pois consiste
em utilizar-se baixssimo fluxo de ar para manter a qualidade das sementes,
principalmente durante o armazenamento regulador de fluxo. Porm, devido
similaridade entre os equipamentos utilizados em secagem estacionria e
aerao, esse assunto ser apresentado neste captulo.
Para a aerao, so utilizados fluxos de ar entre 0,05 a 0,2m
3
/min/t, o que
baixo em relao ao fluxo de ar utilizado para secagem estacionria (4 a
20m
3
/min/t). A aerao tem por objetivo principal o resfriamento da massa de
sementes. Entretanto, outros objetivos podem ser citados:
1) Evitar a migrao de umidade e uniformizar a temperatura na massa de sementes;
2) Manter a massa de sementes a uma temperatura suficientemente baixa;
3) Aplicar fumigantes;
4) Evitar a transilagem;
.1 .2 .3 .4 .6 .8 1 2 3 4 6 8 10 20 30 40 60 80 100 200 300 400 600
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
40
50
F
l
u
x
o
d
e
a
r
e
m
m
/
m
i
n
/
m
d
e
a
s
s
o
a
l
h
o
E
s
p
ig
a
d
e
m
ilh
o
1
6
%
u
A
m
e
n
d
o
im
e
m
c
a
s
c
a
4
,4
%
u
E
s
p
ig
a
d
e
m
ilh
o
r
e
c
m
c
o
lh
id
a
2
0
%
S
o
ja
1
0
%
M
ilh
o
d
e
b
u
lh
a
d
o
1
2
,4
%
C
e
v
a
d
a
1
2
%
S
o
r
g
o
1
3
%
A
rro
z
1
3
%
T
r
ig
o
1
1
%
F
e
s
t
u
c
a
1
1
%
T
r
e
v
o
V
e
r
m
e
lh
o
8
%
u
A
lf
a
f
a
7
%
T
r
e
v
o
s
e
m
e
n
t
e
s
p
e
q
u
e
n
a
s
e
s
e
c
a
s
Perda de presso por altura de camada de semente
Adaptada de: Shedd, C. K. Resistance of grains air flow
Agricultural Engineering, Vol. 34, september 1953.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
313
5) Realizar secagem lenta.
Em silos, especialmente os metlicos, a exposio a uma baixa temperatura
externa propicia que o ar frio desa prximo da parede do silo e o aquecido suba
pelo centro, o qual, ao encontrar a camada de sementes frias no topo do silo,
condensa a umidade, acarretando srios problemas s sementes (Fig. 19). Por
outro lado, quando a temperatura externa mais alta, o ar aquecido sobe prximo
s paredes do silo, enquanto o ar frio desce pelo centro e, ao encontrar uma
massa de sementes mais fria na parte de baixo do silo, pode condensar a
umidade.
Figura 19 - Silo metlico com sementes, em exposio a temperaturas externas.
Em circunstncias normais, a aerao deve ser realizada com UR abaixo de
80% sempre que a diferena de temperatura entre a massa de sementes e o meio
ambiente for de 5-7
o
C. Entretanto, quando houver diferena de 3
o
C entre pontos
dentro da massa de sementes, a aerao dever ser realizada sob qualquer
condio atmosfrica, mesmo que o ar esteja mido.
No caso de ocorreremaltas temperaturas externas e necessidade de aerao,
aconselhvel sua realizao noite, ocasio em que a temperatura est mais
baixa.
A deteriorao de sementes armazenadas em silos pode ocorrer,
principalmente, por elevado teor de gua e alta temperatura da semente,
migrao de umidade, desenvolvimento de microrganismos e infestao de
insetos.
Ar frio
Altura da camada
de sementes
Condensao
Ar
quente
Ar
frio
Movimento
do ar
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
314
6. SECA-AERAO
Sistema de secagem desenvolvido inicialmente para sementes de milho.
Consiste em secar-se as sementes, inicialmente, em secadores convencionais at
ao redor de 15-16% (dependendo da regio) e, depois, transferir para um silo
apenas com a aerao, utilizando um fluxo de ar de 0,3 a 1m
3
/min. t.,
complementar a secagem at 13%. Na sada do secador convencional, as
sementes saem aquecidas e apresentando as camadas superficiais secas. A
energia interna da semente elevada e favorece o transporte de gua para a
superfcie, que removida pela ventilao forada com ar ambiente.
O sistema por seca-aerao permite aumentar a capacidade do sistema de
secagem em at 30%, pois as sementes com altos teores de umidade perdem-na
mais facilmente do que com teores de umidade mais baixos, devido estar a gua
mais atrada pelos componentes celulares e ter que migrar do centro para a
periferia, o que obtido na fase de aerao no silo. Alm disso, empregando o
sistema de seca-aerao, possvel a reduo do consumo de energia na ordem
de 20% e a obteno de sementes de maior integridade fsica em relao aos
sistemas convencionais de secagem.
Na fase de aerao, utilizado um baixo fluxo de ar, demorando bastante
tempo para reduzir a umidade das sementes a nvel adequado para
armazenamento seguro. Entretanto, em regies onde a temperatura durante o dia
no passa de 25
o
C, as sementes com 15% de umidade podem levar at 30 dias
para atingirem 13%, sem prejuzos qualidade fisiolgica das sementes de arroz,
conforme verificado por Zimmer (1989) que, empregando na fase de aerao
fluxos do ar de 0,6 e 0,9m
3
/min.t., conseguiu completar a secagem em 33 e 20
dias, obtendo uma porcentagem de gros inteiros superior alcanada na
secagem convencional.
Nos Estados mais frios dos EUA, seca-se at 16-18% e, ento, completa-se a
secagem somente com a aerao, pois, no inverno, a temperatura mdia inferior
a 10
o
C. No Brasil, recomenda-se, devido a altas temperaturas em certas regies,
secar at 15-16% e, a seguir, completar a secagem com a aerao.
importante enfatizar que a fase de aerao realizada em silos
armazenadores, completamente cheios de sementes, cuja camada pode atingir at
6 m de altura. Por outro lado, vale lembrar que o sistema de secagem por seca-
aerao apresenta menor choque trmico do que o mtodo contnuo, menor
danificao mecnica que o intermitente e maior uniformidade de secagem em
relao ao estacionrio.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
315
7. FLUXO DAS SEMENTES NO SISTEMA DE SECAGEM
As sementes, para entrarem no secador, principalmente nos mtodos
intermitentes lento e rpido, passam por um processo de pr-limpeza, onde, na
maioria das vezes, so retirados os materiais bem maiores, bem menores e bem
mais leves presentes no lote de sementes, facilitando com isso o processo de
secagem no sentido de rapidez, fluxo de sementes dentro do secador e reduo da
umidade de 1 a 2%, devido passagem pelo ar e remoo de materiais mais
midos. Depois de passarem pela pr-limpeza, as sementes so colocadas num
depsito chamado de caixa do mido ou pulmo, onde permanecem
aguardando o momento de serem enviadas ao secador.
A caixa do mido importante porque, enquanto um lote de sementes est
sendo secado, o outro est passando pelo processo de pr-limpeza e sendo
armazenado nessa caixa. Para realizar esse processo, precisa-se de 3-4 horas,
tempo mnimo para a secagem de um lote de sementes nesses secadores. Isso
importante considerando-se que, para carregar um secador, despende-se, em
mdia, 30 a 40min. Portanto, sem a caixa do mido, h necessidade de mquinas
de pr-limpeza com maior capacidade, realizando uma operao de qualidade
inferior.
Na conservao temporria de sementes com elevado teor de gua, em silo
pulmo, o fluxo de ar deve ser de 0,3 a 0,6m
3
min.t.
Aps a passagem das sementes pelo secador e uma vez secas, aconselhvel
que sejam colocadas em um depsito, denominado caixa de seco, para a
homogeneizao da umidade das sementes e para que o calor adquirido pela
semente no processo de secagem dissipe-se lentamente afim de evitar fissuras na
semente. Apesar desse dano ser mais influenciado por gradiente de umidade, a
diferena de temperatura tambm contribui para sua ocorrncia. O tempo que as
sementes permanecem nesse depsito , segundo a prtica, de no mnimo 2 horas,
para que as sementes e o ar entrememequilbrio trmico e hdrico.
8. CONSIDERAES GERAIS
Dos tpicos apresentados e discutidos, devemser ressaltados os seguintes aspectos:
8.1. Demora na secagem
As sementes devem permanecer midas o menor tempo possvel, j que a alta
umidade o fator que mais influencia a qualidade fisiolgica da semente no
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
316
armazenamento. Sementes com 20% de umidade no devem permanecer mais de
24-48 h aguardando a secagem, salvo quando armazenadas em silos com sistema
de aerao adequado. Assim que a umidade da semente permitir, dever ser
realizada a colheita e, imediatamente aps, proceder-se- a secagem, devendo o
secador operar todos os dias durante as 24 horas.
8.2. Capacidade de secagem
A Comisso Estadual de Sementes e Mudas do Rio Grande do Sul
(CESM/RS) requer um mnimo de 30% de capacidade de secagem para sementes
de trigo, cevada e soja, mas se sugere uma capacidade de, no mnimo, 40-50%.
No caso do arroz, devido ao alto degrane natural e o sorgo devido morfologia
da pancula, a capacidade de secagem dever ser de 100%. Sugere-se, para o
clculo da capacidade de secagem nos mtodos intermitentes lento e rpido,
considerar trs a quatro cargas do secador por dia. Para a secagem estacionria,
no mximo uma carga por dia.
8.3. Danos mecnicos
Sementes mais suscetveis a danos mecnicos, como o caso de sementes de
soja, feijo, milho e outras, podem ser afetadas na passagem pelos diversos
elevadores. Recomenda-se o uso de elevadores de caambas de descarga pela
gravidade e de amortecedores de fluxo, tais como escadas com anteparos de
borracha ou espirais nos interiores dos silos secadores, assim como manter
ligado o ventilador na operao de carregamento do silo.
8.4. Temperatura de secagem
Cuidados especiais devem ser tomados com a temperatura do ar de secagem,
pois esta ir influir decisivamente sobre a temperatura da semente que, por sua
vez, pode tornar-se imprpria para a semeadura. A temperatura mxima do ar de
secagem (determinada no duto de entrada do ar aquecido) varia com o tipo de
secador, o teor de gua da semente e a espcie. Recomenda-se:
I - Secador intermitente rpido para arroz e milho: 70
o
C;
II - Secador intermitente rpido para trigo: 80
o
C;
III - Secador intermitente lento para arroz e milho: 70
o
C;
IV - Secador intermitente lento para soja e feijo: 60
o
C ;
V - Secador estacionrio: UR 40-70% (40
o
C).
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
317
8.5. Velocidade de secagem
A utilizao de temperaturas muito altas permitem uma secagem mais rpida;
porm, poder provocar uma diferena de umidade muito grande entre a periferia
e o centro da semente, gerando um gradiente de tenso que causa o trincamento,
principalmente em sementes de arroz e milho.
A velocidade de secagem influenciada pela umidade inicial da semente,
temperatura e fluxo de ar de secagem, fluxo da semente no secador, mtodo de
secagem, espcie, cultivar e histrico do lote. Sob iguais condies de secagem,
as sementes de arroz e trigo apresentam menor dificuldade em perder gua do
que sementes de feijo e soja.
8.6. Danos trmicos
Os danos trmicos emsementes esto relacionados espcie e cultivar, teor de
gua da semente, tempo de exposio do ar aquecido, velocidade e temperatura de
secagem. O emprego alternado de fluxos de ar quente e frio causa aumento na
ocorrncia de danos trmicos, principalmente em espcies mais sensveis, como
arroz e milho.
Elevadas temperaturas de secagem podem no causar diminuio imediata na
germinao, mas determinam, muitas vezes, redues no vigor que se
manifestam no potencial de armazenamento ou na emergncia em campo. A
elevao excessiva da taxa de retirada de gua e/ou da temperatura da semente
pode determinar o aumento da permeabilidade de membranas celulares, a
formao de fissuras internas ou superficiais, a reduo da velocidade e
porcentagem de germinao, a ocorrncia de plntulas anormais e, inclusive, a
morte das sementes.
8.7. Fluxo de ar
Nos secadores estacionrios, a secagem muito lenta pode causar prejuzos s
sementes. Recomenda-se um fluxo de ar de, no mnimo, 4m
3
/min/t de semente.
Como difcil medir o fluxo do ar, recomenda-se que a altura da camada para o
grupo de sementes grandes (soja e milho) no seja superior a 1,5m e, para o das
sementes pequenas (similares aos trevos), no mais de 0,60m.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
318
8.8. Super-secagem
No secador estacionrio, a camada de sementes mais prxima ao local de
entrada do ar aquecido pode sofrer uma super-secagem, enquanto se processa a
secagem nas camadas mais distantes. Recomenda-se a secagem em camadas
pouco espessas, bem como a UR do ar de, no mnimo, 40% (essa umidade do ar
pode ser mantida na maioria das regies comtemperaturado ar de35 a40
o
C). A super-
secagem problema principalmente para as sementes facilmente danificveis, como
soja, feijo e outras.
8.9. Uniformizao ou homogeneizao da umidade
Quando a semente retirada do secador, existe uma diferena de umidade
dentro da semente, entre o centro e a periferia. Para que a umidade se distribua
uniformemente, preciso contar com depsito, que conte, de preferncia, com
sistema de aerao, para armazenar a semente por um perodo curto de tempo
(duas horas). O ar, ou mesmo o transporte das sementes, elimina o problema de
aquecimento da massa pela movimentao da umidade dentro da semente.
8.10. Desconto da umidade
comum o cooperante entregar sementes com alto teor de gua e, para efeito
de pagamento, deve-se descontar o excesso de gua. A umidade de 13% a
oficial para a comercializao de sementes. Para ilustrao, ser utilizado o
seguinte exemplo:
Um produtor entrega 20.000kg de sementes de soja com 19% de umidade.
Determinar a quantidade de gua a ser descontada, utilizando a seguinte
igualdade:
Peso Inicial x (100 - Umidade Inicial) =Peso Final x (100 - Umidade Final)
Tem-se que:
20.000 x (100 - 19) = Peso Final x (100 - 13)
20.000 x 81 =Peso Final x 87
Peso Final
=
20.000 x 81
=
18.620,7 kg
87
Portanto, h 20.000-18.620,7=1.379,3kg de gua a ser descontado.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
319
9. BIBLIOGRAFIA
BAUDET, L.M.L. Efeitos de um sistema de elevador de caambas acoplado a
secador, sobre a qualidade da semente de soja (Glycine max (L) Merril).
Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, 1977. 125p. (Dissertao de Mestrado).
BAUDET, L M L , VILLELA, F, A & CAVARIANE, C. Princpios de secagem.
Revista SEED News, edio 10, maro/abril, 20-27, 1999.
BENECH, E.B. Comparao de mtodos de secagem para sementes de
azevm anual (Lolium multiflorum Lam). Pelotas: Universidade Federal de
Pelotas, 1986. 109p. (Dissertao de Mestrado).
CORRA, C.F. Secagem de sementes de arroz (Oryza sativa L.) em silo
secador com distribuio radial de ar. Pelotas: Universidade Federal de
Pelotas, 1977. 85p. (Dissertao de Mestrado).
GONZALES DEL VALLE, J .C. Efeitos do retardamento de secagem de
sementes de arroz bluebelle (Oryza sativa L.) sobre sua qualidade fisiolgica.
Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, 1978. 56p. (Dissertao de Mestrado).
GROFF, R. Secagem de gros. Revista SEED News, 6 (2), 22-27. 2002.
HALL, C.W. Drying and storage of agricultural crops. Westport: Avi
Publishing Company INC, 1980. 382p.
J USTICE, O.L. & BASS, L.N. Principles and practices of seed storage.
Agriculture Handbook, Washington 506, Apr. 1978. 289p.
LASSERAN, J .C. Princpios gerais de secagem. Revista Brasileira de
Armazenamento, Viosa, v. 3, n. 3, 1978. p. 17-45.
LUZ, C.A.S. Secagem de sementes de arroz em secador intermitente lento.
Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, 1986. 103p. (Dissertao de
Mestrado).
MATTHES, K. & RUSHING, K.W. Seed drying and conditioning In: Short
Course of Seedsmen, Mississipi State, 1972. Proceedings. Mississipi State
University, v. 15, 1972. p. 23-27.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
320
MIRANDA, T.R. Secagem intermitente lenta de sementes de soja (Glycine
max (L) Merril). Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, 1978. 93p.
(Dissertao de Mestrado).
NELLIST, M.E. & HUGUES, M. Physical and biological processes in the drying
of seed. Seed Sci & Tecnology, v. 1, n. 3, 1973. p. 613-643.
PESKE, S.T.; BAUDET, L.M.L. Consideraes sobre secagem de sementes.
Viosa: CETREINAR, 1980. 20p.
ROSA, O.S. Temperaturas recomendadas para a secagem de sementes de
trigo e arroz utilizando o mtodo intermitente. In: Seminrio Pan-Americano
de Sementes, 5. Maracay, Venezuela, 1966. 28p.
VILLELA, F.A.; SILVA, W.R. Efeitos da secagem intermitente sobre a
qualidade de sementes de milho. Anais ... Piracicaba: Escola Superior de
Agricultura "Luiz de Queiroz", v. 48, 1991. p. 185-209.
ZIMMER, G.J . Seca-aerao para sementes de arroz. Pelotas: Universidade
Federal de Pelotas, 1989. 70p. (Dissertao de Mestrado).
CAPTULO 6
Beneficiamento de Sementes
Prof. Dr. Silmar Teichert Peske e
Prof. Dr.Francisco Amaral Villela
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
322
1. INTRODUO
O beneficiamento um dos passos a serem seguidos para obteno de
sementes de alta qualidade numa empresa de sementes.
A mxima qualidade de um lote de sementes funo direta das condies de
produo no campo, ou seja, semente se obtm no campo. Entretanto, a semente,
depois de colhida, contm materiais indesejveis que devem ser removidos a fim
de facilitar a semeadura, a secagem e o armazenamento, alm de evitar que
sejam levadas sementes de plantas daninhas para outras reas. Vem da a
importncia do beneficiamento para a obteno de sementes de alta qualidade.
O beneficiamento consiste em todas as operaes a que a semente
submetida, desde a sua recepo na unidade de beneficiamento de sementes
(UBS) at a embalagem e distribuio. As fases de secagem e armazenamento
so apresentadas em outro captulo.
Diversos mecanismos e equipamentos sero apresentados para uma adequada
separao dos materiais indesejveis, bem como meios de transporte que
minimizem a danificao mecnica e no causem misturas varietais. Ser
considerada tambm a disposio dos equipamentos visando um fluxo contnuo e
uniforme de sementes.
Considerando que cada lote de sementes possui a sua "histria", alm dos
incentivos fiscais dos quais a semente usufrui, ser abordada tambm a
caracterizao e identificao de lotes de sementes.
2. RECEPO E AMOSTRAGEM
2.1. Recepo
o processo de caracterizao e identificao dos lotes de sementes que so
recebidos na UBS. Conceitua-se um lote como "uma quantidade limitada de
sementes com atributos fsicos e fisiolgicos similares dentro de certos limites
tolerveis".
Cada lote de sementes possui a sua "histria" devido ao sistema de cultivo,
contaminao com sementes de plantas daninhas, sistema de colheita, misturas
varietais, demora de colheita, condies climticas e manuseio. Assim,
necessrio que se mantenham os lotes individualizados e devidamente
caracterizados quanto aos seguintes itens, entre outros:
1. Nome do produtor ou da gleba
2. Procedncia
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
323
3. Nmero ou letra do lote
4. Quantidade
5. Data
6. Espcie e cultivar
7. Umidade
8. Pureza
9. Viabilidade
A importncia desses dados decorre das seguintes razes:
a) quanto ao registro do produtor, sabe-se que a conduta do indivduo
interfere na avaliao da responsabilidade, capricho, idoneidade e tino comercial;
b) a procedncia ir informar em que condies edafoclimticas a semente foi
produzida;
c) o nmero do lote , na realidade, o "batismo" da semente na UBS;
d) o registro da quantidade de semente lembra que a balana o "caixa" da
UBS, sendo igualmente importante perante o ICM, pois sobre a semente no
incide imposto;
e) a data de recepo poder informar quanto ocorrncia de chuva aps as
sementes terem atingido a maturao, e quanto demora da secagem, entre
outros fatores;
f) a indicao da espcie e cultivar contribui no sentido de evitar ou
minimizar misturas varietais durante o manuseio das sementes na UBS;
g) o registro do teor de umidade informa sobre a necessidade de secagem, o
potencial de armazenamento, a suscetibilidade danificao mecnica e sobre o
desconto. Como se sabe, todo lote de sementes recebido com mais de 13% de
umidade sofre, na liquidao, o desconto do percentual de gua em excesso;
h) a pureza fsica do lote informar quanto perda no beneficiamento, s
mquinas necessrias para a limpeza e quanto contaminao por sementes de
plantas daninhas nocivas ou de difcil separao, como o caso de arroz preto e
vermelho no arroz comercial, polgono e nabo no trigo, feijo mido na soja,
rumex e cuscuta em forrageiras leguminosas. Para as grandes culturas, 98% o
mnimo de pureza aceito para comercializao;
i) a semente, para desempenhar sua funo na agricultura, necessita estar
vivel, portanto todos os mecanismos devem ser utilizados para evitar que lotes
de sementes de baixa qualidade sejam recebidos na UBS. O teste de germinao
o mais utilizado para verificao da viabilidade da semente; entretanto, nos
ltimos anos, outros testes tm sido desenvolvidos para determinao rpida da
viabilidade, como tetrazlio, condutibilidade e pH do exsudato, os quais, num
perodo de horas ou minutos, determinam a viabilidade das sementes.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
324
2.2. Amostragem
o processo pelo qual obtm-se uma pequena frao de sementes que ir
representar o lote nos testes para avaliao da qualidade, determinao da
umidade, pureza e viabilidade. Considerando que um lote de sementes, muitas
vezes, ultrapassa 10t ou 200 sacos, a amostragem deve obedecer a certos
critrios. Assim, tiram-se pequenas amostras de um determinado nmero de
sacos, as quais iro constituir as amostras simples. Nas regras brasileiras de
anlise de sementes, existe uma tabela indicando o nmero de sacos que devem
ser amostrados em funo do tamanho do lote; entretanto, para utilizao prtica,
considera-se que, se um lote tiver at 5 sacos, amostram-se todos; se tiver alm
desse nmero, amostram-se 5 +10% do nmero de sacos no lote, porm no
mais do que 30 amostras.
A reunio das amostras simples ir constituir a amostra composta e essa,
homogeneizada e dividida, ser a amostra mdia, a qual ser encaminhada ao
laboratrio de sementes para as anlises.
A pureza, umidade e viabilidade do lote obtm-se atravs da anlise da
amostra mdia, mas o grau de umidade para fins de verificao da necessidade
de secagem importante que seja obtido de diversas amostras simples, pois
poder haver gradiente de umidade dentro do lote no detectados por uma
amostra mdia, ocorrendo srios riscos de deteriorao durante o armazenamento.
Para ilustrar a importncia da amostragem, tomando como exemplo sementes
de arroz, considere-se que 1 grama contm 40 sementes, 1kg 40.000, 1t 40
milhes e 10t 400 milhes. Assim, para a germinao, as 400 sementes utilizadas
no teste iro representar os 400 milhes de sementes no lote. necessrio que
essa relao de grandeza esteja presente no esprito do indivduo que faz a
amostragem.
3. PR-LIMPEZA E OPERAES ESPECIAIS
3.1. Pr-limpeza
Logo aps colhidas, quando chegam na UBS, as sementes podem vir
misturadas com vrios materiais indesejveis, como material inerte, sementes de
plantas daninhas, sementes de outras espcies, sementes de outras cultivares,
sementes mal formadas e sementes fora de padro. H ocasies em que a
contaminao com os materiais indesejveis alta, sendo necessrio um
processo de pr-limpeza.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
325
A pr-limpeza consiste basicamente na remoo do material bem maior, bem
menor e bem mais leve do lote de semente. Para essa operao, utiliza-se
mquina de ar e peneiras comalta produo, pois nessa etapa do beneficiamento
mais importante o rendimento do que a qualidade, considerando-se a necessidade
de passar na pr-limpeza toda a semente recebida no dia.
As principais vantagens da pr-limpeza so:
a) Facilidade de secagem - Na secagem artificial das sementes a remoo de
sementes de plantas daninhas e de restos de culturas, como hastes, folhas e
vagens que, no caso de arroz, possuem maior umidade, ir acelerar a secagem e
auxiliar no fluxo das sementes atravs do secador.
b) Reduo de volume a armazenar - O emprego de combinadas automotrizes com
altas capacidades de colheita resulta em que muitos lotes de sementes das
grandes culturas atinjam menos de 95% de pureza e, em forrageiras, menos de
50%. Assim, a simples remoo dos materiais mais grosseiros propiciar reduo
de rea para o armazenamento das sementes antes do beneficiamento.
c) Facilidade de transporte por elevadores - Os elevadores so os meios de
transporte mais comuns emuma UBS. Se a alimentao for commateriais de pouca
mobilidade ou de diversos tamanhos, o transporte pelas caambas ser
dificultado e as possibilidades de entupimento sero grandes.
d) Facilidade de operao das mquinas subseqentes - A remoo prvia
do material bem maior, bem menor e bem mais leve do meio do lote de sementes
tornar mais eficaz o trabalho das peneiras e do ar, pois possibilitar o uso de
peneiras com perfuraes de dimenses mais prximas s da semente e a
regulagem do ar com mais preciso.
e) Melhores condies no armazenamento de fluxo - Sementes partidas e
danificadas e restos de cultura fazem com que os processos metablicos das
sementes sejam acelerados, acarretando uma maior deteriorao. Da a
importncia da remoo desses materiais na pr-limpeza.
3.2. Operaes especiais
Algumas sementes necessitam de operaes especiais para que possam ser
beneficiadas, como o caso das sementes palhentas e aristadas, milho em espiga,
algodo, amendoim e de sementes duras e mltiplas. Para realizar essas
operaes, necessita-se de equipamentos especiais, sendo os mais importantes
apresentados a seguir.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
326
3.2.1. Desaristador
Utilizado para sementes palhentas e aristadas com o objetivo de melhorar o
fluxo das mesmas nas mquinas de limpeza. Consiste basicamente de um eixo
com garfos que gira dentro de um cilindro com garfos fixos (Fig. 1). As
sementes ao passarem pelos garfos perdem as aristas, ou outras protuberncias,
melhorando seu fluxo e peso volumtrico.
Para evitar danos semente, aconselhvel revestir os garfos com um
material similar borracha e movimentar as sementes "rapidamente" atravs da
mquina. Aveia, cevada e algumas forrageiras, so exemplos de espcies cujas
sementes necessitam passar por essa mquina.
Figura 1 - Desaristador de sementes com detalhe dos garfos.
3.2.2. Debulhadora de milho
A debulha das sementes de milho pode ser realizada por uma combinada durante a
colheita; entretanto, para minimizar a danificao mecnica, aconselhvel que
se colha o milho emespiga (25-30% de umidade) e este seja secado a 14-15% para,
ento, se realizar a debulha.
A
B
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
327
A operao de desgrane consiste em passar a espiga do milho por um
molinete cilndrico, cheio de "dentes" que, ao aprisionar a espiga junto carcaa
do debulhador, faz com que a semente de milho se solte por ao da frico. A
semente e o sabugo so posteriormente separados com uso de peneiras e, em
alguns modelos, com auxlio do ventilador integrado ao sistema (Fig. 2).
aconselhvel que a rotao do debulhador seja ao redor de 400rpm, para
evitar danos mecnicos semente, sendo necessrio, s vezes, solicitar ao
fabricante uma debulhadora especial para sementes.
Figura 2 - Debulhadora de milho.
3.2.3. Descascadora - escarificadora
H ocasies em que necessrio remover a casca da semente para facilitar ou
propiciar a semeadura, enquanto, outras vezes, h necessidade de arranhar esta
casca para possibilitar que as sementes, uma vez semeadas, possam embeber
gua e desencadear o processo de germinao.
As operaes de descascar e escarificar podemser realizadas emseparado ou
combinadas, entretanto mais comum a realizao das duas juntas, utilizando-se
para tal rolos e superfcies speras (Fig. 3).
ENTRADA
DE ESPIGA
PENEIRA
VENTILADOR
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
328
Figura 3 Descascadora - escarificadora.
Alguns exemplos da necessidade de descascar as sementes so capim
bermuda e capim bahia, enquanto da necessidade de escarificao, tem-se
sementes de alfafa e de trevos.
3.2.4. Outras operaes especiais
Devido a serem mquinas bastante especiais, sero apenas apresentadas como
seguem:
- Deslintador mecnico e qumico para algodo;
- Descascador de amendoim;
- Polidor de feijo.
4. LIMPEZA DAS SEMENTES
A remoo dos materiais indesejveis do meio do lote de sementes s possvel
se houver diferena fsica entre os componentes. As propriedades fsicas, ora emuso,
para a separao so largura, espessura, comprimento, peso forma, peso especfico,
textura superficial, cor, condutibilidade eltrica e afinidade por lquidos.
ENTRADA
DE SEMENTE
DEC.
ESCARIFICAO
SEMENTE
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
329
4.1. Largura, espessura e peso
Para separao por largura, utilizam-se peneiras de furos redondos e, para
separao por espessura, usam-se furos oblongos (Fig. 4). Quanto separao
por peso, utilizam-se ventiladores que foramo ar atravs das sementes, removendo
os materiais leves.
4.1.1. Peneiras
As peneiras de furos redondos so caracterizadas pelo dimetro do furo em
milmetros, variando de 0,6 a 31mm. Entretanto, a nomenclatura norte-americana
diferente, envolvendo a polegada. Assim, peneiras acima de 2,0mm so
caracterizadas em 64 avos de polegada, isto , 5,5/64, 60/64,..., 80/64, enquanto
peneiras com menos de 2,0mm de dimetro da perfurao so caracterizadas em
frao de polegada, isto , 1/12, 1/13,..., 1/30. No Brasil, usa-se o sistema
decimal, enquanto a nomenclatura norte-americana tende a cair em desuso.
As peneiras de furos oblongos so caracterizadas pela largura e comprimento
da perfurao em milmetros. A largura possui a mesma variao das peneiras de
furos redondos, enquanto o comprimento pode ser de 7,0mm, 12,0mm ou 20mm,
sendo o ltimo o mais comum. Na nomenclatura norte-americana, a largura
obedece mesma denominao dos furos redondos e o comprimento expresso
em frao de polegada, isto , 1/4, 1/2 e 3/4.
Alm das peneiras de furos redondos e oblongos, existem tambm as de furos
triangulares. So peneiras de pouco uso e sua perfurao expressa em funo
do dimetro do crculo circunscrito ao tringulo ou pelo lado do tringulo.
As peneiras de furos redondos, oblongos e triangulares so de chapa
metlica, havendo tambm peneiras de arame tranado (Fig. 4). Essas peneiras
tm as vantagens de possurem cerca do dobro da rea aberta e facilitarem, por
suas ondulaes naturais, a peneirao das sementes. So de furos quadrados ou
retangulares e expressos em nmero de aberturas por polegada bidirecional, isto
, uma peneira de furos retangulares como 8 x 8 ter numa direo na distncia
de 25,4mm (uma polegada) 8 furos quadrados e, na outra direo, tambm 8,
enquanto na peneira de furos retangulares, como 4 x 10, ter 4 aberturas num
sentido (numa distncia de 25,4mm) e 10 aberturas no outro. Alm do nmero de
aberturas, a espessura do fio de arame tambm contribui na rea de separao.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
330
Figura 4 - Dimenso das sementes e tipos de peneiras.
O uso das peneiras de arame est se difundindo cada vez mais entre os
produtores de sementes, enquanto no beneficiamento em indstria do fumo o uso
de peneira de arame generalizado.
Para ilustrar a efetiva capacidade de separao de uma peneira de arame, ser
tomada como exemplo a peneira 8 x 8 com fio de arame 24 (0,6mm de
espessura) Assim, numa polegada tem-se 8 fios de arame com 0,6mm de
espessura; portanto, a rea aberta ser 25,4 - (8 x 0,6) 20,6mm. Considerando os
8 quadrados, tem-se 20,6 8 =2,575mm de comprimento de cada lado do
quadrado. Entretanto, o que ir determinar a passagem do material pelo quadrado
Largura
C
o
m
p
r
i
m
e
n
t
o
Espessura
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
331
ser a diagonal, que a hipotenusa de um tringulo retngulo. Assim, sendo a
dimenso da hipotenusa 2,575
2
+2,575
2
=13,26 e 13,26 =3,64mm, todo
material que tiver largura menor que 3,6mm pode passar pela abertura.
As aberturas retangulares, geralmente, separam os materiais baseados em sua
espessura; porm, quando o numero de aberturas no mnimo de 5, a largura do
material tambm ter influncia.
4.1.2. Mquina de ar e peneiras (MAP)
o equipamento que utiliza peneiras e ventiladores para separar os materiais
indesejveis do meio do lote de sementes (Fig. 5 e 6). Considera-se a mquina
bsica da UBS, pois todos os lotes passam por essa mquina e muitas vezes
suficiente para remover todos os materiais indesejveis do lote.
A MAP pode ter de uma a oito peneiras planas e/ou at duas peneiras
cilndricas e de um a trs ventiladores, dependendo do fabricante e do modelo.
Para credenciamento de um produtor de sementes, o mesmo deve possuir, entre
outros equipamentos, uma MAP com um determinado nmero de peneiras e
separao pelo ar que, no caso do Estado do Rio Grande do Sul, so trs peneiras
e duas separaes pelo ar. Com menos peneiras e com uma s separao pelo ar,
considerada mquina de pr-limpeza. As MAP mais comuns so de quatro,
cinco e seis peneiras.
O funcionamento da mquina ser explicado em funo de uma MAP com
quatro peneiras: duas para separao de materiais maiores que a semente e duas
para materiais menores que a semente. Existem duas convenes de identificao
das peneiras na mquina:
1 - 1
a
, 2
a
, 3
a
e 4
a
, de cima para baixo e
2 - 1
a
peneira superior, 1
a
peneira inferior, 2
a
peneira superior e 2
a
peneira inferior.
Relacionando as duas convenes, tem-se que a 1
a
a 1
a
peneira superior, a
2
a
a 1
a
peneira inferior, pois ir separar pela primeira vez os materiais menores,
a 3
a
a 2
a
peneira superior, pois ir separar pela segunda vez os materiais
maiores que a semente e a 4
a
peneira a 2
a
peneira inferior. Numa MAP de
quatro peneiras, desconsiderando as separaes pelo ar, obtm-se cinco
materiais, quais sejam: a) semente (parte desejvel); b) material grande; c)
material pequeno; d) material bem grande e e) material bem pequeno.
O material bem grande searado por cima da 1
a
peneira, o material bem
pequeno sai atravs da 2
a
peneira (Fig. 7), o grande por cima da 3
a
peneira, o
pequeno atravs da 4
a
peneira e a semente sai por cima da 4
a
peneira. As
separaes pelo ar so realizadas quando a semente entra na MAP e quando sai,
nessa ltima vez para retirar algum material leve que escapou na entrada (Fig. 5
e 6).
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
332
Figura 5 - Fluxograma de uma mquina de ar e peneiras com 4 peneiras.
A dimenso da perfurao e a disposio das peneiras na MAP so essenciais
para uma separao adequada dos materiais indesejveis. Na Tabela 1 so
apresentadas as peneiras para diversas culturas.
O tamanho mdio das sementes varia de lote para lote e, principalmente, de
ano para ano. Assim, as peneiras apresentadas na Tabela 1 so as que devem ser
testadas primeiro, havendo ocasies em que outras peneiras sero as adequadas.
Para escolha das peneiras, utilizam-se primeiro as manuais, de 20 x 20cm, para
depois fazer o teste com a mquina operando normalmente, onde se analisa o
grau de separao e a perda de sementes para a efetiva separao. Algumas
sementes desejveis saem com os materiais indesejveis, entretanto, deve ser o
mnimo possvel. Para se ter uma idia, em sementes de soja, muitos produtores
de sementes utilizam na 4
a
posio a peneira 4,5 x 20 durante todo o
beneficiamento, o que ocasiona para muitas cultivares uma perda de semente
superior a 10%, s nessa peneira.
ar + p
alimentao
A
B
material bem grande
material bem
pequeno
sementes material pequeno
material
grande
1
2
3
4
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
333
Figura 6 - Fluxograma de uma MAP de 4 peneiras.
B
e
m
M
a
i
o
r
B
e
m
M
e
n
o
r
E
n
t
r
a
d
a
d
e
S
e
m
e
n
t
e
L
e
v
e
Grande
L
e
v
e
S
e
m
e
n
t
e
L
i
m
p
a
P
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
334
Tabela 1 - Dimenso da perfurao e disposio das peneiras numa MAP de 4
peneiras para diversas culturas.
Culturas Peneiras (mm)
1
a
2
a
3
a
4
a
Arroz (longo) 5,0 1,7 x 20 2,4 x 20 1,8 x 20
Soja 9,5 3,5 x 20 8,5 4,0 x 20
Trigo 5,0 1,6 x 20 4,0 1,7 x 20
Sorgo 5,0 2,0 x 20 4,0 2,1 x 20
Milho 1,2 4,5 11 5,5
Cevada 4,5 x 12 1,7 x 20 8,0 1,9 x 20
Aveia 7,5 1,6 x 20 2,8 x 20 1,7 x 20
Azevm 1,3 x 12 0,6 x 12 1,2 x 12 0,7 x 12
Cornicho 1,9 0,7 x 12,5 1,8 0,8 x 12,5
Alfafa 1,9 0,7 x 12,5 1,8 0,8 x 12,5
Trevo branco 1,8 0,6 x 12,5 1,7 0,7 x 12,5
Ervilha 9,0 3,0 x 20 8,5 3,5 x 20
Feijo 10 3,5 x 20 9,0 4,0 x 20
Cebola 3,5 1,6 3,25 1,7
Linho 1,6 x 20 1,8 1,4 x 20 1,9
Algodo 8,0 3,5 x 20 7,0 4,0 x 20
*Essas dimenses so aproximadas, variamentre cultivares e entre lotes de sementes.
FIGURA 7 - Fluxograma da semente sobre e atravs das peneiras.
Materi al Grande
Semente
Materal
pequeno
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
335
No beneficiamento de sementes de arroz do grupo Patna, quando existe
contaminao com arroz vermelho, utiliza-se na 3
a
posio a peneira corrugada
de 3,0mm (Fig. 8), pois o arroz vermelho possui, em 99% das ocasies, mais de
3,0mm de largura, enquanto o arroz do grupo Patna possui sempre a largura
menor que 3,0mm. Quando se usa a peneira corrugada, o rendimento da MAP
reduzido em 40%.
Figura 8 - Tcnicas especiais utilizadas nas peneiras.
A 1
a
peneira a maior de todas, destinada a remover os materiais bem
grandes, enquanto a 3
a
peneira ter suas perfuraes apenas um pouco maiores
que a semente, para separar o material grande. A 2
a
peneira, a menor de todas,
serve para remover os materiais bem pequenos, facilitando o trabalho da 4
a
peneira, a qual possui as perfuraes um pouco menores que as sementes, sepa-
rando o material pequeno.
Para pequenas quantidades de sementes, uma MAP com apenas 2 peneiras
suficiente. Nesse caso, a 1
a
peneira utilizada para separar materiais maiores que
a semente e a 2
a
peneira para separar materiais menores (Fig. 7).
importante ressaltar que se utilizam MAPs com mais de 2 peneiras para
aumentar o rendimento.
A mquina deve estar devidamente ajustada emrelao aos seguintes elementos:
a) Alimentao - Visando a uma melhor separao e rendimento, as
sementes devem entrar na mquina num fluxo contnuo e uniforme. Para isso,
utiliza-se em cima da MAP uma tulha (depsito) com capacidade para a mquina
5,4cm
2,6cm
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
336
operar 1 hora. Ocorre em muitas ocasies, principalmente com sementes
palhentas ou nos lotes com alta porcentagem de materiais indesejveis, que as
sementes no fluem, sendo necessrio o auxlio do alimentador, que consiste
num rolo estriado ou com garfos. Nem todas as MAPs possuem esse mecanismo.
A regulagem da alimentao feita atravs da abertura de uma comporta
mediante contrapesos ou manivela, que iro pressionar a massa de semente.
Como regra prtica, a MAP est com uma alimentao adequada quando a 2
a
peneira est coberta com 2cm de semente.
b) Velocidade do ar - Vrios tipos de sementes so beneficiados na MAP.
Assim, importante que cada lote seja submetido a uma adequada corrente de ar.
A velocidade do ar de entrada das sementes na mquina deve ser menor do que
na sada e um bom ajuste aquele em que algumas sementes desejveis saem
junto com os materiais leves. A separao pelo ar no precisa; recomenda-se
por isso que no se force muito, pois as perdas sero altas e, mesmo assim,
algum material leve passar junto com as sementes. Para separao por
densidade, existe a mesa de gravidade.
c) Vibrao das peneiras - Na separao importante que a semente seja
exposta vrias vezes a perfuraes da peneira durante seu percurso na MAP,
utilizando-se para isso a vibrao das peneiras. Ocorre que esse movimento no
pode ser muito alto, pois far com que as sementes passem muito rpido pelas
peneiras. Assim, para soja, recomendvel uma vibrao menor do que para
arroz. As mquinas mais simples no possuem esse ajuste, mas operam com uma
vibrao constante de 400rpm.
d) Inclinao das peneiras - Normalmente, a 1
a
peneira possui uma
inclinao menor do que a 2
a
, para que as sementes tenham mais tempo para
passarem pelos furos. Para sementes de arroz, importante uma inclinao maior
do que para soja. Esse ajuste o de menor importncia.
e) Seleo de peneiras - Existem mais de 200 tipos de peneiras disposio
do operador e sua troca na MAP deve ser a mais fcil possvel. A seleo de
peneiras o ajuste mais importante.
f) Limpeza das peneiras - A eficincia das peneiras tambm funo do
nmero de furos que permanecem desobstrudos durante o trabalho. Para evitar
que os furos da peneira fiquem obstrudos, utiliza-se um ou mais dos seguintes
mecanismos: 1) Escovas de fibra sinttica que se movem por baixo das peneiras;
2) Martelo que bate em uma das peneiras, o qual normalmente utilizado em
conjunto com as escovas e 3) Bolas de borracha colocadas em compartimentos
especiais embaixo das peneiras (Fig. 9).
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
337
Figura 9 - Sistemas utilizados para evitar o entupimento das peneiras.
A seguir, sugerem-se procedimentos de operao para a MAP:
1) Limpar cuidadosamente a mquina antes de iniciar qualquer trabalho;
dessa maneira, sero reduzidas ao mnimo as chances de ocorrerem misturas
varietais;
2) Selecionar as peneiras para o lote de sementes;
3) Colocar as peneiras em ordem, de acordo com o modelo da MAP;
B
o
la
s
d
e
b
o
rr
a
c
h
a
Escova
Martelo
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
338
4) Ajustar as escovas (quando for o caso);
5) Fechar a comporta de alimentao e dos ventiladores;
6) Ligar a mquina;
7) Abrir devagar a alimentao;
8) Abrir a comporta do ar superior at que os materiais leves sejam
levantados;
9) Abrir a comporta do ar inferior at que os materiais leves e algumas
sementes "boas" sejam levantados;
10) Reajustar os passos necessrios para obter um mximo de capacidade
com mximo de eficincia.
4.1.3. Tcnicas especiais na MAP
Para um melhor desempenho da MAP, algumas tcnicas especiais so
utilizadas, como:
a) Cobertura de peneira - Consiste em uma lona plstica ou de tecido
pressionando levemente a peneira (normalmente, a 3) (Fig. 8). Dessa maneira,
as sementes sero foradas a passarem pelos furos; caso contrrio poderiam,
mesmo sendo menores que a perfurao, passar por cima da peneira.
Recomenda-se para sementes de soja.
b) Chapa sem perfurao - Destina-se a fechar os furos da segunda metade
da 1
a
peneira. Pode consistir em chapa sem furos, ou lona ou uma peneira com
perfuraes bem pequenas. Com esse propsito, muitas MAPs possuem a 1
a
e 2
a
peneiras com a metade do comprimento da 3
a
e 4
a
peneiras. Utiliza-se essa
tcnica para sementes de trigo e arroz para evitar que as hastes, sendo muito mais
compridas que as sementes, tenham oportunidade de ficar de "p" e passar pelas
perfuraes.
c) Peneira corrugada - H ocasies em que pequena a diferena entre o
material indesejvel e a semente. A peneira escolhida ter o tamanho da
perfurao bem prximo ao da semente. Se a diferena for por espessura,
utilizam-se peneiras oblongas e a separao ainda fcil; entretanto, quando for
por largura, como o caso do arroz do grupo Patna e arroz vermelho, a
separao com peneira plana difcil, reduzindo-se o rendimento da MAP a
10%. A semente de arroz, cujo comprimento mais do que o dobro da largura,
tem dificuldade em ficar de p para passar pelas perfuraes; assim, utilizam-se
corrugaes (ondulaes) na peneira, para forar as sementes a ficarem de p.
4.1.4. Ventilao
Apesar de a MAP fazer a separao dos materiais tambm atravs do peso,
existe uma mquina especial que separa as sementes leves e pesadas, chamada de
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
339
ventilo. Essa mquina colocada geralmente aps a MAP e pode ser utilizada
para qualquer tipo de semente (Fig. 10).
Figura 10 - Ventilo.
O ventilo consiste basicamente em um ventilador que cria uma presso
maior que a atmosfrica, forando o ar a passar atravs das sementes, que so
alimentadas por uma bica, a uma coluna vertical de ar. Os materiais mais leves
so levantados e ascendem atravs da coluna em direo ao seu topo, onde so
desviados para uma bica de descarga. Os materiais mais pesados caem atravs da
coluna de ar at alcanarem uma peneira inclinada que a atravessa e os desvia
para uma bica de descarga.
ar +... ar +...
Material leve
Entrada
Semente
Semente pesada
ar
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
340
O principal ajuste na velocidade do ar: reduzindo-se a entrada desse, ter-se-
um menor volume passando atravs das sementes. Como o ventilo est logo
aps a MAP, a alimentao dificilmente ajustada pois, para tal, deveria ter uma
tulha com sada de sementes controladas.
Alm do peso dos materiais, muitos fatores influem na separao como
formato, peso especfico, textura superficial, quantidade de superfcie exposta,
rea frontal e dimenses gerais. Assim, a separao no muito precisa nessa
mquina.
Existem outros tipos de ventilo, mas no de fabricao nacional.
4.2. Densidade
Um lote apresenta suas sementes com densidades variveis, devido a ataque
de insetos, doenas, maturao e chuva prxima colheita. Sementes de baixa
densidade no so viveis ou possuem baixo vigor, sendo necessria a sua
remoo do meio do lote. Pedras, palhas, sementes partidas e descascadas e
sementes de plantas daninhas tambm so muitas vezes exemplos da necessidade
de separao por densidade.
A separao mais precisa por densidade atravs de meios lquidos; porm,
como no existe ainda uma tecnologia desenvolvida para tal fim, utiliza-se uma
mquina que tambm faz um bom trabalho, chamada mesa de gravidade, que
bem melhor que o ventilo.
A mesa de gravidade uma mquina de acabamento colocada geralmente
logo aps a MAP, sendo recomendada para todos os tipos de sementes,
principalmente para as gramneas. composta da mesa propriamente dita e de
ventiladores dispostos embaixo da mesa e dentro da armao (Fig. 11). A mesa
pode ser trocada, podendo ser de pano para sementes leves ou de arame tranado
para sementes mais pesadas, como trigo, arroz e soja. O formato da mesa,
dependendo do modelo, pode ser retangular ou triangular. Recomenda-se a
triangular quando existe muito material leve junto com o pesado, como o caso
das gramneas forrageiras.
A separao pela densidade d-se em duas etapas: a primeira consiste na
estratificao da massa de sementes, onde as leves ficam em cima e as pesadas
embaixo, em contato com a mesa; a segunda etapa consiste na separao
propriamente dita, onde as pesadas movem-se para a parte terminal mais alta da
mesa e as leves para a parte baixa. Essa separao possvel, pois as leves, no
estando em contato com a mesa, no sofrem o efeito da vibrao dessa,
movendo-se pela gravidade e descarregando na parte mais baixa, enquanto as
pesadas, que esto em contato com a mesa, sofrem o efeito da vibrao lateral e
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
341
descarregam na parte mais alta. H sempre uma frao intermediria entre a
pesada e a leve, que repassada na mquina.
Figura 11 Mesa de gravidade.
A mesa de gravidade, para seu adequado funcionamento, necessita estar
devidamente ajustada quanto aos seguintes elementos:
a) Velocidade do ar - A estratificao das sementes em leves,
intermedirias e pesadas realizada pelo ar, onde as pesadas permanecem em
contato com a mesa e as leves flutuam. Ar em excesso far com que at as
pesadas flutuem, no sofrendo assim a ao da vibrao da mesa. O sinal de ar
em excesso a formao de bolhas e o aparecimento de uma rea sem sementes
na parte terminal mais alta da mesa (Fig. 12). No caso de pouco ar, no haver
estratificao, mesmo as leves podem ficar em contato com a mesa sofrendo a
ao da vibrao. O sinal de pouco ar o aparecimento de uma rea sem semente
na parte terminal mais baixa da mesa (Fig. 12). Para possibilitar que sementes
leves tambm possam ser beneficiadas na mesa de gravidade utilizam-se mesas
com cobertura de pano para diminuir a velocidade do ar.
b) Vibrao da mesa - As sementes, aps estratificadas, necessitam ser
separadas. A vibrao no sentido transversal ao fluxo das sementes faz com que
ali mentao
1m
semente l eve
6 cm
semente
intermedi ri a
24 cm
semente pesada
70 cm
divi sores
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
342
as pesadas sejam conduzidas para a parte terminal alta da mesa. Essa vibrao
no pode ser muito alta pois poder fazer com que todas as sementes sejam
conduzidas para a parte alta; nem muito baixa, pois todas as sementes podem
descarregar na parte mais baixa da mesa (Fig. 12).
c) Inclinao lateral - J untamente com a vibrao, a inclinao lateral
possibilita a separao das sementes. A inclinao lateral deve ser tal que
dificulte um pouco a subida das sementes, caso contrrio, devido vibrao,
todas as sementes tendero a descarregar na parte mais alta da mesa. Inclinao
muito alta faz com que, at as pesadas, sejam descarregadas na parte mais baixa
da mesa (Fig. 12).
d) Alimentao - Deve ser tal que uma camada de 2 a 4cm esteja
uniformemente distribuda sobre a mesa.
e) Inclinao longitudinal - um ajuste muito pouco utilizado; serve apenas
para aumentar ou diminuir o fluxo das sementes na mesa.
aconselhvel que se realize apenas um ajuste de cada vez, esperando-se ao
redor de 5 min. entre um e outro.
Figura 12 - Ajustes nas separaes feitas pela mesa de gravidade.
Funcionamento
normal
Pesado intermediri o leve
A B
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
343
A grande influncia da densidade das sementes em sua qualidade fisiolgica
faz com que a mesa de gravidade consiga muitas vezes melhorar acentuadamente
esse atributo, principalmente em sementes de gramneas e, em menor escala, de
leguminosas. Isso, devido ao enchimento das sementes, em que, no caso das
gramneas, pode haver formao de espaos vazios, diminuindo assim a
densidade. Sementes de cebola tambm so exemplo.
Quando lotes de sementes, aps passarem pela mesa de gravidade, ainda
possurem materiais pesados como pedra e areia, aconselhvel utilizar um
separador especial que tambm separa baseado na diferena de peso especfico,
denominado de separador de pedras. As partes e funcionamento so similares
mesa de gravidade, com a diferena que separa em apenas duas fraes o lote de
sementes em leves e pesados, um em cada extremo da mquina (Fig. 13). As
sementes so alimentadas no centro da plataforma, a qual oscila para frente e
para trs, fazendo com que os materiais pesados, que no foram levantados pelo
ar, sejam transportados para a parte de cima da plataforma, enquanto os materiais
leves, que foram levantados pelo ar e, portanto, no estando em contato com a
plataforma, so descarregados na extremidade inferior.
Figura 13 - Separador de pedras.
Alimentao
P
Pesado
Leve
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
344
4.3. Comprimento
No beneficiamento de sementes de trigo e arroz, principalmente, comum
encontrar-se materiais indesejveis que diferem da semente quanto ao
comprimento. Em trigo, encontram-se sementes partidas ao meio, aveia e nabo,
entre outras de menor freqncia, enquanto em arroz tem-se sementes partidas ao
meio e descascadas, sementes de angiquinho (Aschynomene rudis Bench) e
sementes de arroz vermelho.
A mquina que separa por comprimento chama-se cilindro separador ou
trieur. Consta basicamente de trs partes: 1) a base; 2) o cilindro propriamente
dito, tambm chamado de camisa e 3) a calha (Fig. 14).
A base da mquina serve como suporte do cilindro e, em muitas UBS,
constituda de rodas, de modo a possibilitar o deslocamento fcil da mquina.
Essa mobilidade importante pois, como uma mquina de acabamento,
colocada aps a MAP, haver ocasies em que seu uso ser desnecessrio e sua
retirada de um local congestionado facilitar a inspeo e operao das outras
mquinas. Para limpeza da UBS, tambm, importante a mobilidade das mquinas.
Figura 14 - Cilindro (Trieur) separador, com detalhes de separao.
D ES. LOU R IV A L
calha
separadora
curtos
compri dos
curtos
x
compri dos
redondos
x
compri dos
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
345
O cilindro constitudo de milhares de alvolos em sua parte interna, todos
do mesmo tamanho, onde os materiais a serem separados iro alojar-se. Todos os
materiais entram nos alvolos, inclusive os de maior comprimento; entretanto,
apenas os de menor comprimento permanecem dentro dos alvolos,
possibilitando que o cilindro, ao girar, os erga a uma altura maior, separando-os,
assim, dos compridos. Considera-se,
para que um material possa ser erguido
pelos alvolos a uma altura possvel de separao, que mais de 5/8 de seu
comprimento esteja dentro do alvolo.
A calha situa-se dentro do cilindro e serve para recolher os materiais curtos
que caem pela gravidade, aps serem erguidos pelos alvolos do cilindro.
Apesar de o cilindro no fazer uma separao to precisa como as peneiras,
possvel obter-se um bom desempenho se a mquina operar devidamente
ajustada atravs de:
a) Inclinao da calha - Em muitos tipos de cilindros separadores, a
inclinao da calha pode ser regulada de 30 a 60
o
. Essa regulagem visual,
dependendo do material que est sendo levantado. Se for a semente, a inclinao
deve ser baixa. Outro fator que influi na inclinao o grau de mistura do
material indesejvel que pode ser tanto o curto como o comprido.
b) Alimentao - O material, para entrar no alvolo, tem uma posio
adequada; assim, importante que seja exposto vrias vezes entrada e, quanto
menor a quantidade de material dentro do cilindro, maiores sero as chances para
entrar no alvolo. Capacidade de 1,2t/hora num cilindro pode ser considerada
alta; para dar um fluxo uniforme na linha de beneficiamento, recomendam-se
dois cilindros para cada linha.
c) Rotao do cilindro - Quanto maior a rotao, mais alto o material curto
ser erguido. Esse um ajuste que feito em combinao com a inclinao da
calha e apenas alguns tipos de cilindro o possuem. Pode variar de 30 a 50rpm.
d) Inclinao do cilindro - Utiliza-se esse ajuste para controlar a velocidade
das sementes dentro do cilindro. Com pouco material indesejvel,
recomendvel um maior fluxo. Poucos tipos de cilindro possuem esse ajuste.
e) Tamanho do alvolo - caracterizado pelo dimetro do alvolo em mm
ou, no sistema americano, em 64 avos de polegada. Assim, como o que interessa
a profundidade para o material alojar-se, um alvolo de 10mm ter, se for semi-
esfrico, 5mm de profundidade e erguer com facilidade e a uma altura razovel
o material que tiver at 8mm. Na agricultura, tem-se vrios tipos de sementes e,
mesmo dentro de uma mesma espcie, tem-se vrias cultivares que podem diferir
quanto ao comprimento, como o caso de arroz curto, mdio, longo e extra-
longo. Para cada um, deve-se utilizar o tamanho certo de alvolo do cilindro.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
346
Para ilustrao dos ajustes, pergunta-se quais poderiam ser as causas, no
beneficiamento de sementes de arroz, da permanncia de sementes quebradas
(curtas) no meio de sementes inteiras (compridas)? Resposta: Poderiam ser: a)
alimentao muito alta; b) alta inclinao da calha; c) baixa rotao do cilindro;
d) alta inclinao do cilindro e e) alvolos do cilindro pequenos.
E, no beneficiamento de sementes de trigo, quais as causas da permanncia
de sementes de aveia (comprida) no meio de sementes de trigo (curta)? Resposta:
a) alimentao alta; b) baixa inclinao da calha; c) alta rotao do cilindro; d)
baixa inclinao do cilindro e e) alvolos grandes.
O cilindro separador, para sementes de trigo, quando no tem mistura de
nabo e aveia, est sendo substitudo pela mesa de gravidade, pois essa mquina
tambm separa as sementes partidas ao meio.
No beneficiamento de sementes de cornicho, tambm, pode-se usar o
cilindro separador para remover as sementes de Plantago spp., utilizando-se o
cilindro com alvolo 4 mm.
Alm do cilindro separador, existe uma outra mquina que separa os
materiais baseados no comprimento, chamado disco separador.
4.4. Forma
A diferena de forma principalmente utilizada no beneficiamento de
sementes de soja para separao de sementes partidas, defeituosas e atacadas por
insetos. Nos E.U.A., tambm utilizada para separao de Ipomea turbinata de
sementes de soja. Utiliza-se o equipamento chamado espiral para efetuar essa
separao.
O separador de espiral consiste em um tubo central ao qual esto presos dois
tipos de espiral: interna e externa (Fig. 15).
A espiral interna a que faz a separao, pois as sementes so colocadas em
sua parte superior e comeam a rolar e deslizar. Os materiais que atingem maior
velocidade no conseguem acompanhar as curvas da espiral, sendo lanados para
fora e recolhidos pela espiral externa. Para maior rendimento, utilizam-se 4 ou 5
espirais internas, possuindo cada uma capacidade de 100kg/ hora. Requerem-se
de 16 a 20 espirais por linha de beneficiamento.
Existem vrios tipos de espirais, pois relativamente fcil constru-las,
diferindo entre si quanto a: a) altura da espiral, que determinar o nmero de
curvas (voltas); b) passo, que a distncia entre cada volta; c) largura da espiral
e d) existncia da espiral externa.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
347
Figura 15 - Separador de espiral.
Utiliza-se o equipamento com espirais de maior largura (20cm) quando existe
a possibilidade da existncia de mistura das sementes de soja com as de feijo
mido (Vigna unguiculata Walp) devido pouca diferena de forma entre os
materiais. Essa caracterstica faz com que as cultivares de soja com sementes
ovais ou pequenas apresentem um alto percentual de quebra, chegando a atingir
30 a 40%. Para evitar esse prejuzo, utilizam-se espirais internas de menor
largura (12-15cm).
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
348
A espiral foi desenvolvida para separar Vicia spp. de sementes de trigo;
entretanto, hoje no se utiliza mais para tal propsito. Est-se recomendando o
uso de espiral para separao e Plantago spp. e Rumex spp. de sementes de
cornicho. Para isso, a espiral interna deve ter apenas 6,5cm de largura e 14cm
de passo.
O uso da espiral, alm de melhorar a qualidade fsica, pode tambm melhorar
a qualidade fisiolgica dos lotes de sementes de soja atravs da separao das
sementes defeituosas, atacadas por insetos e danificadas mecanicamente.
A espiral, como constituda de chapa galvanizada, causa muito barulho
quando est operando. Para evitar esse inconveniente, alguns fabricantes esto
retirando a espiral externa e colocando todas as espirais dentro de um recipiente
de "madeira", diminuindo acentuadamente o barulho dentro da UBS.
Alm da espiral que separa pela forma, tem-se o separador de frico para
sementes de feijo. Esse separador consiste basicamente em uma esteira
revestida com carpete, onde as sementes so alimentadas. Em cima da esteira
esto dois anteparos, um com base de metal e outro com base de borracha. As
sementes de feijo mais pedra e sementes partidas so alimentadas em cima da
esteira e foram a passagem atravs do anteparo com suporte de borracha, onde a
pedra e a grande maioria das sementes partidas passam por baixo, sendo
separadas pelo suporte com base de metal, enquanto a semente de feijo fica
retida pelo suporte de borracha.
Existe tambm o separador vibratrio e a correia inclinada, que separam pela
forma; entretanto, esto ainda em fase de pesquisa, no sendo discutidas neste
trabalho.
4.5. Textura superficial
Em sementes de leguminosas forrageiras, comum encontrar-se materiais
indesejveis que se diferenciam das sementes pela textura superficial, como o
caso de sementes de Rumex spp., cuscuta, pedras e torres. O equipamento que
possibilita essa separao chama-se rolo separador, que consiste basicamente em
dois rolos revestidos com flanela girando em sentido oposto. As sementes entram
na canaleta formada pelos dois rolos, onde as de textura rugosa ou spera aderem
flanela e so lanadas para fora lateralmente, enquanto as lisas, entrando, no
sendo levantadas pelos rolos, so conduzidas pela gravidade at a parte terminal
dos mesmos, separando-se das sementes rugosas (Fig. 16).
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
349
Figura 16 - Rolo separador com detalhes de separao.
O rendimento de cada unidade de separao (2 rolos) baixo; assim, para
aumentar, usam-se de 6 a 10 unidades, funcionando cada uma independente da
outra.
4.6. Condutibilidade eltrica
Alguns materiais indesejveis possuem carga eltrica diferente da semente
em intensidade ou forma, sendo possvel a separao.
4
Sementes
lisa
Sementes speras
Rolos
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
350
H alguns anos vem-se pesquisando essa propriedade fsica, pois acreditava-
se que uma semente deteriorada possusse uma carga eltrica bem diferente de
uma semente no deteriorada. Ainda no se obteve sucesso na separao fsica
das sementes deterioradas com base em suas propriedades eltricas.
O equipamento que possibilita a separao chama-se separador eletrosttico e
est ainda em fase de pesquisa, sem uma produo comercial.
4.7. Afinidade por lquidos
Sementes de leguminosas forrageiras com tegumento rachado possuem
problema de viabilidade, sendo importante sua remoo do meio do lote de
sementes. Assim, umedecem-se as sementes com uma borrifada de gua, a qual
ir acumular se nas partes comrachadura. Aps o umedecimento, adiciona-se
limalha de ferro, que ir depositar-se nas rachaduras, possibilitando, atravs de
magnetismo, separar as sementes danificadas.
Outra aplicao com sementes de P1antago spp. que, em contato com gua,
cria uma camada gelatinosa ao redor da semente, onde a serragem adere com
facilidade, aumentando o tamanho da semente e possibilitando sua separao
atravs das peneiras.
4.8. Separao pela cor
Utilizada para separao de sementes de feijo e na indstria de arroz para
consumo, essa tcnica possvel atravs de uma clula fotossensvel, que emite
uma determinada corrente, conforme a cor. A mquina programada para
remoo do material com uma determinada cor. Os materiais so expostos
individualmente clula e, toda vez que o material programado "visto", um
jato de ar comprimido acionado e o material lanado para fora do fluxo
normal das sementes.
Essa mquina, chamada seletron, de baixo rendimento: cada clula
seleciona 25kg/hora.
5. CLASSIFICAO
H ocasies em que as sementes, aps terem passado pelo processo de
limpeza para remoo dos materiais indesejveis, so separadas em classes, de
acordo com a propriedade fsica que mais se pronuncia. A cultura que rotinei-
ramente se classifica o milho, de acordo com a largura, espessura e, s vezes,
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
351
tambm o comprimento. Alguns produtores esto comeando a classificar
sementes de soja de acordo com a espessura.
Para classificao de acordo com a largura e espessura recomendvel o uso
de peneiras cilndricas em vez das planas, pois aquelas possibilitam uma melhor
separao, forando as sementes a passarem pelas perfuraes (Fig. 17). A
quantidade de sementes pequenas, que deveriam passar pelos furos e no o
fazem, bem menor nas peneiras cilndricas do que nas planas. Para minimizar
esse problema, a alimentao para as peneiras planas deve ser baixa.
Figura 17 - Separador de preciso. Peneira cilndrica.
Na classificao de milho, obtm-se vrios tamanhos de sementes e,
normalmente, para cada tamanho ou para um determinado grupo de tamanhos,
utiliza-se um prato na semeadura. Assim, sabendo-se o tamanho da semente,
fica fcil escolher o prato para a semeadura. A seguir, ser ilustrada uma tcnica
de classificar as sementes de milho, ressaltando-se que as peneiras utilizadas
seguem a denominao norte-americana. 1
a
etapa: separam-se as sementes
redondas das chatas, utilizando-se a peneira oblonga 14/64 x 3/4 (5,5 x 20); 2
a
etapa: classificam-se de acordo com a largura, utilizando-se 3 peneiras de furos
redondos a 24 (9,4mm), 22 (8,75mm) e 20 (8,0mm), respectivamente; 3
a
etapa:
cada classe de largura (chato) e espessura (redondo) passada no cilindro
Al imentao
Grande
Pequeno
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
352
separador, obtendo-se uma classe curta e outra comprida. Com essa
classificao, obtm-se 12 classes de tamanho, pois a semente que no passa pela
perfurao da peneira 24 no normalmente utilizada.
Um tamanho de sementes 22 rc significa que as sementes passaram atravs
da peneira 22, sendo redondas e curtas, enquanto um tamanho 22 cl significa que
passaram atravs da peneira 22, sendo chatas e longas. Existem outras
denominaes, onde o tamanho das sementes especificado em funo da maior
peneira, na qual as sementes no passam pelas perfuraes.
Classificao de sementes de soja
Numlote de sementes de soja, as sementes de diferentes tamanhos distribuem-se
segundo uma curva normal, independentemente das dimenses caractersticas das
sementes de cada cultivar, local e ano de produo. Estudos mostraram que
sementes includas na faixa de tamanho mdio no lote apresentamsimilaridade
quanto qualidade fisiolgica e qualidade superior ou semelhante s sementes
pertencentes s demais classes de tamanho.
Freqentemente, sementes de maior tamanho originamplntulas mais vigorosas
que, emcondies de campo, podemresultar empopulaes diferentes emfavor
das maiores, ocorrncia atribuda maior quantidade do tecido de reserva. Todavia,
em certas circunstncias, as sementes de maior tamanho podem apresentar
desempenho inferior emrazo das condies ambientais de produo no terem
sido favorveis ou pela superioridade no grau de dano mecnico.
Por outro lado, vale enfatizar a resistncia dos agricultores emutilizar as
sementes de menor tamanho, por julgaremque essas apresentammenor desempenho no
campo, e, em conseqncia, menor produtividade. Todavia, os resultados de
pesquisa, at o momento, no so consistentes e, emmuitos casos, at conflitantes.
A utilizao de sementes classificados por tamanho facilita a operao das
semeadoras e a distribuio das sementes, possibilitando a obteno de populaes
adequadas no campo. Almdisso, a classificao confere melhor aspecto ao lote de
sementes.
A classificao das sementes de soja, nos ltimos anos, tornou-se uma
necessidade comercial na produo de sementes de alta qualidade. Inicialmente, a
padronizao restringiu-se a sementes grandes e pequenas e, emalguns casos,
tambma sementes mdias, empregando as mais diversas denominaes.
A classificao de sementes vem sendo feita em separadores por largura,
empregando peneiras de perfuraes redondas.
O classificador de sementes de soja constitudo basicamente de uma (carga
simples) ou duas (carga dupla) caixas vibratrias, cada uma com3 a 4 peneiras
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
353
planas sobrepostas, o que permite a obteno de 4 a 5 tamanhos. A mquina tem
capacidade nominal de 4 e 8t/h, comcarga simples ou dupla, respectivamente,
sendo aceitvel uma capacidade operacional de 400 a 500kg/h por m
2
de peneira
(Figura 12).
A inexistncia de uniformidade de nomenclatura trouxe inconvenientes, pois
sementes grandes de uma variedade poderiamapresentar tamanho similar ao das
sementes pequenas de outra variedade. Por outro lado, uma mesma denominao
poderia significar sementes pequenas para umprodutor de sementes e grandes para
outro. Almdisso, a classificao das sementes poderia ser feita por largura ou
espessura, pela utilizao de peneiras de perfuraes redondas ou oblongas,
respectivamente.
Figura 12 Classificador de sementes de soja.
1 Estrutura; 2 Caixa de alimentao; 3 Entrada
do cereal; 4 Peneiras; 5 Caixas das peneiras; 6
Bicas de descarga; 7 - Base
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
354
Uma alternativa para a uniformizao do sistema de classificao de sementes
de soja consiste, basicamente, na numerao das peneiras de 50 a 75, significando a
classificao das sementes em peneiras de perfurao redonda, com dimetro
variando de 5,0 a 7,5mm, emintervalos regulares de 0,5mm. Deve-se ressaltar que a
denominao da semente classificada por peneira refere-se s sementes retidas na
peneira indicada e que tenham, obrigatoriamente, passado pela perfurao
imediatamente superior. Por exemplo, semente peneira 60 indica aquela que passa
por uma peneira perfurada 6,5mme fica retida emuma de perfurao 6,0mm.
Assimsendo, possvel a obteno de seis classes de tamanho de sementes
(Tabela 2), embora a amplitude do tamanho da semente emcada lote permita obter
geralmente trs a quatro classes. Dessa forma, uma variedade de sementes grandes
poder apresentar, por exemplo, sementes peneiras 60, 65, 70 e 75, enquanto uma
variedade de sementes pequenas poder ter sementes peneiras 50, 55, 60 e 65.
Tabela 2 Nomenclatura das peneiras e tamanho das sementes de soja classificadas por
largura.
Peso de 1.000 g Nomenclatura Tamanho (m)
92 4 50 5,0 a 5,5
115 5 55 5,5 a 6,0
148 6 60 6,0 a 6,5
182 6 65 6,5 a 7,0
216 6 70 7,0 a 7,5
244 6 75 7,5 a 8,0
A eficincia do processo de classificao de umlote de sementes pode ser
avaliada emlaboratrio pelo teste de uniformidade (classificao por peneira). Duas
amostras de 100 g de sementes so beneficiadas empeneiras manuais, agitadas por
um minuto. As sementes retidas pela peneira indicada e que passaram pela
perfurao da peneira imediatamente superior so pesadas e calculado seu
percentual.
A legislao estabelece, na maioria dos casos, a tolerncia de at 3%, indicando
que permitida a presena de 3% (empeso) de sementes menores junto coma
semente da peneira indicada.
O conhecimento do peso de 1000 sementes importante para o estabelecimento
da quantidade adequada para semeadura. Dessa forma, semente de soja peneira 50
apresenta peso de 1000 sementes de 92 4 gramas, ou seja, cerca de 11
sementes/grama, enquanto na peneira 75 tempeso de 1000 sementes de 244 6
gramas, compraticamente 4 sementes/grama. Assimsendo, emsacos de 40 kg,
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
355
haver 440.000 e 160.000 sementes, das peneiras 50 e 75, respectivamente,
permitindo ao produtor a escolha da peneira que for mais conveniente.
6. TRATAMENTO DE SEMENTES
6.1. Introduo
Aps a remoo dos materiais indesejveis do lote de sementes, h situaes
em que aconselhvel proteg-las contra o ataque de insetos e microorganismos.
H pases que possuem normas para comercializao, obrigando o produtor a
tratar as sementes para a venda; entretanto, no Brasil, o tratamento de sementes
no obrigatrio, mesmo assim as empresas de produo de sementes de milho
hdrico costumam tratar as sementes com inseticida e fungicida. Outros
exemplos so sementes de trigo e feijo, que necessitam de proteo contra o
ataque de insetos.
O tratamento tambm realizado para ajudar as sementes em condies
adversas de umidade e temperatura do solo na poca da semeadura. Como o
tratamento fngico, principalmente para soja, no traz benefcios s sementes
durante o armazenamento, essa operao realizada momentos antes da
semeadura. Essa alternativa justifica-se, considerando que semente tratada, se
no for vendida para fins de semeadura, tambm no pode ser vendida como
gro. Alguns produtores tratam apenas uma pequena parte de suas sementes, para
evitar prejuzos no caso de no conseguir vender toda sua semente.
Existe uma srie de requisitos bsicos para que o tratamento seja eficaz, tais
como tipo de produto qumico a ser utilizado, tipo de patgeno, modo de
sobrevivncia do patgeno na semente, potencial de inculo sobre a semente ou
no seu interior, variabilidade do patgeno e inseto quanto sensibilidade ao
tratamento qumico, condies de campo em que a semente tratada ser semeada,
dose do produto qumico, mtodos e equipamentos empregados. Neste mdulo
sero considerados apenas os dois ltimos requisitos.
6.2. Equipamentos
As tratadoras mais comuns de sementes so para produtos lquidos, os quais
no oferecem tanto problema para a sade dos operadores. Entretanto, tambm
existem alguns modelos de tratadoras para produtos em p.
As tratadoras mecnicas so colocadas numa UBS, geralmente logo antes do
ensaque das sementes, enquanto as manuais adaptadas de tneis so geralmente
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
356
levadas para a lavoura com a finalidade de tratar as sementes momentos antes da
semeadura.
As tratadoras mecnicas, de uma maneira geral, possuem um pequeno
depsito para semente, um outro depsito para o produto qumico, um
compartimento para misturar as sementes com o lquido (Fig. 18) e um tanque
grande com bomba e agitador para o produto qumico em forma de lquido.
Figura 18 - Tratadora de sementes.
A aplicao correta da dose do produto essencial para sua eficcia; assim,
para as tratadoras mecnicas, h duas alternativas de ajuste: 1 - A quantidade de
sementes no depsito da tratadora regulvel atravs de um contrapeso na parte
externa, dessa maneira pode ser ajustado para "descarregar" as sementes do
depsito sempre que alcanar uma determinada quantidade (1 a 8 kg); 2 - Dentro
do pequeno depsito do produto lquido h duas colheres que lanam o produto
nas sementes, as quais podem ser trocadas por tamanhos diferentes.
Na tratadora manual (tnel giratrio), sabendo-se o peso das sementes,
prepara-se a dose do produto em separado e mistura-se as sementes, fazendo em
seguida a homogeneizao, pois a mistura do produto qumico s sementes, de
forma uniforme, essencial para a eficcia do tratamento.
Al imentao
Cont r a-Peso aj ust vel
a bandejas duplas para
a pesagem das sementes
cone de di sperso
d as s emen t es
semente
tratada
Dosificador
com colheres
Vl vula do
controle do
produto
Disco
pul verizador
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
357
7. TRANSPORTADORES DE SEMENTE
Os lotes de sementes so manuseados muitas vezes durante as diferentes
etapas do beneficiamento, sendo necessrio, portanto, considerar que os
transportadores devero enfrentar todas as necessidades de transporte de um
modo eficiente e contnuo, visando: a) evitar mistura varietal; b) minimizar os
danos mecnicos; c) reduzir os custos de operao e d) manter a eficincia da
seqncia do beneficiamento.
O transporte de sementes consiste na movimentao de material, de um ponto
a outro, horizontal ou vertical, num plano inclinado ou pela gravidade. Assim,
um s transportador no pode cobrir exitosamente todas as operaes, existindo
disponveis no mercado diversos tipos de transportadores:
- Elevadores de caamba;
- Correias transportadoras;
- Transportadores vibratrios (calha vibratria);
- Transportadores de parafuso (rosca sem-fim, caracol);
- Empilhadeiras;
- Transportador pneumtico;
- Transportador de corrente.
7.1. Elevadores de caamba
Um dos meios de transporte mais comumente usados na UBS so os
elevadores, que podem ser de trs tipos: a) de descarga centrfuga; b) de descarga
pela gravidade e c) de descarga interna (Fig. 19).
Os elevadores de descarga centrfuga operam a altas velocidades, lanando as
sementes pela fora centrfuga. Recomendam-se para sementes mdias e
pequenas e de fcil fluxo. A danificao mecnica umdos principais inconvenientes.
Os elevadores de descarga por gravidade operaram a velocidades mais baixas
que o centrfugo. Seu funcionamento consiste em derramar as sementes nas
costas da caneca da frente e, aps, pelo cano de descarga. Aconselhvel para
manuseio de sementes frgeis.
O elevador de descarga interna considerado como ideal na elevao de
semente. A carga e descarga so feitas pelo interior da linha de caambas
contnuas, suavemente, permitindo, em alguns modelos, com mais de uma linha
de canecas, manusear vrios materiais ao mesmo tempo com o mnimo de dano
mecnico e mnima probabilidade de mistura varietal. As suas desvantagens so
o espao que ocupa na UBS e o custo inicial do equipamento.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
358
Figura 19 - Elevadores de caamba.
Os elevadores merecem ateno especial, observando-se:
a) a capacidade de cada elevador deve ser um pouco maior do que a mquina
por ele alimentada. Essa capacidade extra servir para manter o fluxo contnuo
da semente atravs da mquina, mesmo que esta utilize mais sementes do que
deveria, num dado momento;
b) os elevadores devem ser colocados o mais perto possvel da mquina;
c) a entrada de sementes para o elevador pode ser efetuada na perna
ascendente ou na descendente. Se for na ascendente, a base do alimentador deve
comear na linha que passa pelo centro da polia inferior, para que as canecas do
elevador fiquem devidamente cheias e as sementes sofram menos os danos
mecnicos causados pelas canecas. Quando se tratar de sementes facilmente
danificveis, ser interessante aliment-las pela perna descendente, devido ao
menor ndice de danificao mecnica;
d) no p do elevador deve haver uma abertura para limpeza e inspeo, bem
como outra na altura de 1,5 m, na perna ascendente, para inspeo das canecas;
e) a entrada de sementes para o elevador poder ser acima do assoalho ou
abaixo deste (poo).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
. .
.
.
.
.
.
.
..
. .
.
.
.
.
.
.
..
.
. .
.
.
.
..
. .
.
.
.
.
.
.
.
. . .
..
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . .
..
.
. .
.
.
.
.
.
.
. ..
.
.
. .
.
. .
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
..
.
. .
.
.
.
..
. .
.
.
.
.
.
.
..
.
. .
.
.
.
..
. .
.
.
. .
.
.
.
.
. .
.
. . .
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
. .
. .
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
.. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
.. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
.
..
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
.
..
. .
..
.
. .
. .
.
. .
.
.
.
.
. . .
. ..
.
.
. .
.. .
.
. ..
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
...
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
...
. .
.
.
.
.
.
.
..
.
. .
.
.
.
..
. .
.
.
.
.
.
.
..
.
. .
.
.
.
..
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
...
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
...
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
...
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
...
. .
.
. .
.
..
..
.
.
.
..
.
.
. .
.
.
. .
.
..
..
.
.
..
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
.
. .
.
.
.
. .
.
.
.
..
.
. .
.
.
..
...
.
. .
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
..
.
. ..
. .
. .
.
. .
.
.
.
.
.
..
. . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
. ..
.
.
.
.
. .
.
.
.
. .
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
...
.
.
.
.
.
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
..
.
. .
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
Elevador de
descarga centrfuga
Elevador de
descarga pela gravidade
Elevador de
descarga interna
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
359
Quando for o caso de poo, deve-se ter alguns cuidados, como: espao
suficiente para uma pessoa entrar e fazer a limpeza e inspeo e um mecanismo
adequado para eliminar a gua que pode facilmente surgir no fundo do poo.
Mesmo assim, esse tipo indicado quando as sementes so manuseadas em saco
ou vm diretamente de um caminho. No caso de instalao de elevador acima
do assoalho, tantos cuidados no so requeridos, pois mais fcil de ser limpo e
inspecionado e, se porventura, tiver que ser removido, causar muito menos
transtornos do que o anterior;
f) a velocidade do elevador no deve ser excessiva. Para sementes facilmente
danificveis, como o caso da semente de soja, a velocidade deve ser a mais baixa
possvel.
7.2. Transportador de parafuso (rosca sem-fim, caracol)
Desse tipo de transportador interessante conhecer algumas vantagens, tais
como: a) facilmente adaptvel em locais congestionados; b) compacto; c)
pode ser montado em posies horizontais e inclinadas e d) pode ser protegido
contra poeira e umidade. Por outro lado, o inconveniente que causa mais danos
s sementes do que os outros transportadores.
7.3. Correia transportadora
Indicada por transportar grandes quantidades de sementes por distncias
relativamente longas e por ser autolimpvel. Normalmente, esse tipo de
transportador usado internamente, devido s dificuldades em proteg-lo contra
as intempries. Outra desvantagem que descarrega as sementes, com facilidade,
somente pelas extremidades.
7.4. Transportador vibratrio
Transportador muito til para pequenas distncias e que geralmente soluciona
os problemas nos locais congestionados. Seu uso deveria ser mais difundido.
7.5. Transportador pneumtico
Esse tipo de transportador movimenta produtos secos e granulados, atravs de um
sistema fechado de tubulaes, por uma corrente de ar de alta velocidade. de grande
flexibilidade, autolimpvel e prtico no transporte de sementes desde vrios depsitos
para ums ponto de descarga. A danificao mecnica o principal inconveniente.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
360
7.6. Transportador por corrente
So unidades metlicas fechadas com correntes conduzidas entre rodas
dentadas, montadas geralmente com palhetas. So de lenta movimentao e
empregados no transporte horizontal.
7.7. Empilhadeira
Serve para manusear as sementes j embaladas no sentido inclinado, sendo
muito til na UBS.
O tcnico encarregado de planejar uma UBS deve ter conhecimento
suficiente para poder fazer a devida escolha. A diferena do preo, a no ser que
seja demasiadamente grande, no fator fundamental a ser considerado, pois a
disponibilidade financeira deve estar assegurada antes do incio da instalao da
UBS.
8. PLANEJAMENTO DE UBS
No beneficiamento de sementes so levadas em considerao as
caractersticas fsicas diferenciais pelas quais as sementes podem ser separadas
de outros componentes indesejveis presentes no lote, bem como os princpios
mecnicos utilizados para tal fim. Tambm deve ser lembrado que, para a
maioria dos lotes de sementes, necessrio usar-se mais de um tipo de mquina
para que se possa obter sementes de qualidade adequada comercializao e
semeadura.
Sabe-se que, para sementes de trigo e arroz, os meios utilizados para limpeza
e classificao so praticamente os mesmos mas, para soja, milho e sementes de
forrageiras, os meios provavelmente sejam outros. Portanto, um tcnico
envolvido no planejamento de uma UBS dever ser capaz de selecionar as
mquinas a serem utilizadas para uma determinada espcie e arranj-las de
maneira que se tenha um fluxo contnuo de operao numa seqncia eficiente
para determinado volume de sementes.
A instalao de uma UBS requer um alto investimento e, para que se tenha
um adequado retorno de capital, deve ser planejada de modo a funcionar com
eficincia em termos de capacidade, de facilidade de limpeza e que a semente
beneficiada venha a ter a qualidade desejada.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
361
8.1. Fluxograma na UBS
No planejamento de uma UBS, muitos fatores devem ser considerados para
que se venha a obter pleno xito. Uma UBS deve ser planejada de tal forma que
a semente possa ser recebida, pr-limpa, seca, limpa e classificada, tratada,
embalada, armazenada e distribuda (Fig. 20) com o mnimo de: a) possibilidades
de ocorrerem misturas varietais; b) tempo e c) pessoal. Os equipamentos de
transporte, secagem, limpeza e classificao devem ser distribudos de modo que
a semente venha a ter fluxo contnuo desde a recepo at o local de embarque
para distribuio. Esse arranjo dos equipamentos deve ser suficientemente
flexvel para que as sementes possam desviar-se de qualquer equipamento da
UBS, porventura desnecessrio, sem afetar o fluxo e a qualidade das mesmas.
Tambm indispensvel que seja planejado um sistema para eliminao do p e
dos materiais indesejveis retirados nas diversas operaes utilizadas na limpeza
e classificao das sementes.
Figura 20 - Fluxograma das etapas do beneficiamento de sementes.
8.2. Seleo do equipamento
indispensvel que o planejador se familiarize com o equipamento a
selecionar, o que pode ser feito atravs das descries das mquinas em oferta
Acondicionamento
Pr-Limpeza
Secagem
Recepo Limpeza Classificao
Armazenamento
Regulador de
Fluxo
Tratamento
Ensaque
Armazenamento Distribuio
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
362
no mercado e visitas s UBS que as estejam utilizando, observando atentamente
o desempenho das mesmas.
Muitos aspectos devem ser considerados antes da aquisio, tais como controle
da alimentao da mquina, peneira, corrente de ar, vibrao das peneiras,
limpeza, tipo e tamanho do alvolo do cilindro, rotao do cilindro, consumo de
energia, robustez, tamanho da mquina, danificao mecnica, controle de
temperatura, controle de umidade e outros.
Outro importante aspecto na seleo do equipamento a capacidade das
diversas mquinas, que deve ser mais ou menos equivalente para assegurar o
fluxo contnuo das operaes. Se uma determinada mquina tiver menor
rendimento do que outra, dever-se- considerar a instalao de duas dessas
mquinas, como o caso de dois cilindros para cada MAP com quatro peneiras.
8.3. Tipos de UBS
Existem vrios tipos de UBS, mas as mais comuns so aquelas em que todas
as mquinas utilizadas para limpeza e classificao das sementes esto num
mesmo plano. Esse tipo de arranjo exige, para cada mquina, um elevador para
transportar a semente beneficiada para outro local do fluxograma de operao.
Um elevador com a possibilidade de descarga para dois ou mais locais permitir
maior flexibilidade no fluxo das sementes. Outras vantagens desse tipo de UBS so:
a) uma s pessoa poder supervisionar toda a UBS, sem problemas maiores
de locomoo;
b) uma mquina pode deixar de ser usada e a distncia em que a semente
dever ser transportada para outra mquina no aumentar muito;
c) mquinas montadas em bases mveis, como, por exemplo, o cilindro
separador e o tratador, podero ser utilizadas;
d) as bases para a fixao das diferentes mquinas podem ser menos
reforadas.
Outro tipo de UBS aquele em que as mquinas so montadas em diversos
pavimentos. Exige menor nmero de elevadores, mas os necessrios devero ter
maior altura. um tipo de UBS muito pouco flexvel e, se o uso de alguma
mquina no for exigido, a altura da queda da semente aumentar em muito.
Outro inconveniente que ser difcil para uma s pessoa supervisionar todo o
trabalho da UBS.
Outro tipo de UBS aquele que utiliza mquinas em vrios nveis, mas todas
no mesmo pavimento. interessante ressaltar nesse tipo de UBS que as
plataformas ao redor de cada mquina devem ter espao suficiente para que as
pessoas possam trabalhar com facilidade.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
363
8.4. Aspectos importantes a considerar no planejamento de uma UBS
- Localizao e altura da entrada da semente nas mquinas;
- Localizao da sada da semente das mquinas e da altura do piso;
- Lado de entrada das sementes no elevador;
- Poo do elevador suficientemente grande para que uma pessoa possa
realizar a limpeza;
- Espao no local da mesa de gravidade para conectar o cano que trar o ar
limpo do exterior;
- Montagem das mquinas em altura suficiente a fim de que as sementes, aps
passarempor elas, possamser encaminhadas para outra mquina ou transportador;
- Espao de 1,5 m, no mnimo, ao redor de cada mquina, para efetuar-se a
devida inspeo e limpeza;
- Altura suficiente para a descarga por gravidade de um transportador
horizontal para outro transportador do mesmo tipo;
- Tipo certo de tulha para cada mquina;
- Colocao do elevador que ir alimentar a mquina de ar e peneira no lado
oposto da sada da semente;
- Espao suficiente em frente maquina de ar e peneiras e do cilindro
separador para efetuar a troca de peneiras e de cilindros, respectivamente;
- Altura do elevador suficiente para que o tubo que conecta a cabea do
elevador e a tulha da mquina tenha, no mnimo, uma inclinao de 45
o
;
- Informao precisa sobre o volume da semente a ser armazenada e o tempo
em que a mesma permanecer na UBS.
8.5. Regulagem de fluxo das sementes
Na grande maioria das UBS, a recepo das sementes, em termos de t/hora,
muito maior do que a capacidade dos meios utilizados para realizao da limpeza
e classificao das sementes. Portanto, dever ser previsto local apropriado para
o armazenamento das sementes enquanto aguardam o seu beneficiamento. Para
ilustrao, considere-se uma UBS em que os meios utilizados para limpeza e
classificao tm capacidade de 3 t/hora e a quantidade total esperada de
sementes para serem beneficiadas de 2.500 t, a qual dar entrada na UBS num
intervalo de 40 dias, ou seja, numa recepo mdia de 62,5 t/dia. Considerando
que as mquinas operam12 h/dia, pois deve-se considerar a limpeza, manuteno e
outros fatores que concorrempara a sua paralisao, emdois turnos de 8 horas de
trabalho, durante os 40 dias, as mesmas conseguiro beneficiar apenas 1.440 t (3 x 12 x
40 =1.440), permanecendo, portanto, ainda 1.060 t para serembeneficiadas mais tarde.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
364
Normalmente, nesse tipo de armazenamento, as sementes so manuseadas a
granel pois, mesmo que tenham sido recebidas ensacadas, so submetidas pr-
limpeza e, no raras vezes, dependendo da umidade, operao de secagem (Fig.
20). Enquanto aguardam o momento da limpeza e classificao, o bom senso
indica que permaneam a granel. Por outro lado, deve-se tambm prever um
espao na UBS para as semente que so recebidas ensacadas, j secas e pr-limpas.
9. BIBLIOGRAFIA
AMARAL, A.S.; BICCA, L.H.F. Separao de sementes de plantago (Plantago
lanceolata L.) de lotes de sementes de cornicho (Lotus corniculatus L.).
Semente, v. 2, 1976. p. 74-83.
AMARAL, A.S.; PESKE, S.T. Separao de arroz vermelho. Lavoura
Arrozeira, Porto Alegre, v. 30, n. 299, 1977. p. 16-8.
BRAGANTINI, C. Effects of screen adjustments on the removal of undersize
materials from a soybean seed lot. Mississippi: Mississippi State University,
1976. 41 p. (Thesis M.Sc.).
ESPINOSA NIN, F.A. Utilizao do cilindro separador no beneficiamento de
sementes de arroz (Oryza sativa L.). Pelotas: UFPel, 1984. 72 p. (Dissertao
de Mestrado).
GREGG, B.R. & FAGUNDES, S.R.F. Manual de operao da mesa de
gravidade. Braslia: AGIPLAN, 1975.
HARMOND, J .E.; BRANDENBURG; KLEIN, L.M. Mechanical seed cleaning
and handling. Agric. Handbook, n. 354, USDA, 1968.
HESSE, S.R. & PESKE, S.T. Separador de espiral na remoo de sementes
de feijo mido em sementes de soja. Tecnologia de Sementes, UFPel, v. 4, n.
1 e 2, 1981. p. 1-18.
PERES, W.B. Mesa de gravidade. Revista SEED News, 7 (2), 8-11. 2003.
PESKE, S.T. & BOYD, A.H. Beneficiamento de sementes de capim pensacola.
Revista Brasileira de Sementes, ABRATES, Braslia, v. 2, 1980. p. 39-56.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
365
PESKE, S.T. Planejamento de unidades de beneficiamento de sementes.
Tecnologia de Sementes, UFPeI, v. 4, n. 1 e 2, 1981. p. 28-37.
PESKE, S.T. Classificao de sementes. Revista SEED News. 6 (3), 20-21. 2002.
POTTS, H.C. Consideration in cleaning and processing seed. Proc. Short
Course for Seedsmen, v. 16, 1973. p. 53-58.
ROBAINA, A.D. Separao de arroz vermelho de sementes de arroz cultivar
Bluebelle em mquina de ar e peneira. Pelotas: UFPel, 1983. 63 p.
(Dissertao de Mestrado).
SCHINZEL, R.L. Qualidade fsica e fisiolgica de sementes de trigo (Triticum
aestivum L.), beneficiadas na mquina de ar e peneiras e na mesa de
gravidade. Pelotas: UFPel, 1983. 145 p. (Dissertao de Mestrado).
VAUGHAN, C.E.; GREGG, B.R.; DELOUCHE, J.C. Beneficiamento e manuseio de
sementes. Trad. C.W. Lingerfelt e F.F. Toledo. Braslia: AGIPLAN, 1976.
WELCH, G.B. Beneficiamento de sementes no Brasil. Braslia: AGIPLAN, 1974.
CAPTULO 7
Armazenamento de Sementes
Prof. Dr. Leopoldo Mario Baudet Labb
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
367
1. INTRODUO
As sementes devem ser armazenadas desde sua colheita at a poca de
semeadura na temporada seguinte. Considerando que, ao serem colhidas, as
sementes so desligadas da planta me, que at esse momento era seu ambiente
natural, passa a ser responsabilidade do homem a conservao das mesmas nas
melhores condies durante todo esse perodo.
Contudo, o armazenamento das sementes inicia-se na verdade algum tempo
antes de que seja realizada a operao de colheita, ou seja, quando as sementes
alcanam o ponto de maturao fisiolgica (PMF). Esse ponto ocorre dentro de
um perodo de tempo aps a antese ou fertilizao do vulo, que varia de 30 a 50
dias, segundo a espcie.
Porm, no PMF, o teor de gua das sementes muito alto para que se possa
realizar a colheita e debulha, principalmente se esta for mecanizada, a qual s
poder ocorrer quando as sementes possurem a umidade adequada (em geral, de
16 a 22%). As sementes tm que ficar ento praticamente "armazenadas no
campo" at que as condies, intrnsecas da semente e do ambiente, permitam
a colheita. Obviamente, as condies nesse perodo no so as mais favorveis
para o armazenamento, devendo as sementes serem retiradas do campo to
logo quanto possvel.
Outro aspecto fundamental que deve ser considerado que todo o esforo
humano e material gasto durante a produo da semente podem ser perdidos se
as condies de armazenamento fornecidas s sementes, aps serem embaladas,
ou at na preparao da semeadura, forem inadequadas.
Ainda que quantificar as perdas devidas ao armazenamento inadequado de
sementes em diversos pases seja difcil, sabe-se que nas regies tropicais e
subtropicais as perdas so bem maiores devido s condies climticas. Mas os
produtores de sementes sabem muito bem o que as perdas significam, inclusive
quando tm que competir com seu produto no mercado sob normas e padres de
comercializao e qualidade exigentes.
O maior desafio, porm, est relacionado com o fato de que as sementes,
organismos vivos e frgeis, devero apresentar uma porcentagem de germinao
razovel (mnimo 80%) aps terem sido mecanicamente colhidas, beneficiadas,
manuseadas e armazenadas de uma temporada de produo outra. Assim
sendo, o objetivo principal do armazenamento das sementes manter sua
qualidade desde que atingem o PMF at quando sero semeadas, considerando
que, em todo esse perodo, esta qualidade no poder ser melhorada, nem mesmo
sob condies ideais.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
368
2. LONGEVIDADE E POTENCIAL DE ARMAZENAMENTO DAS
SEMENTES
A longevidade das sementes pode ser definida como o perodo de tempo em
que as mesmas permanecem viveis. Se as sementes no forem conservadas em
condies favorveis, perdem sua viabilidade em poucos anos. A longevidade
uma caracterstica geneticamente determinada, variando entre espcies e entre
variedades de uma mesma espcie.
2.1. Sementes de vida longa e vida curta
Em geral, as sementes pertencem a espcies que so geneticamente de vida
longa, porm algumas so de vida curta. Obviamente, difcil estabelecer um
limite entre ambas classes. Sementes de cebola, soja e amendoim, por exemplo,
perdem mais rapidamente sua viabilidade no armazenamento do que sementes de
trigo e milho. Estudos tm demonstrado que sementes de centeio deterioram-se a
uma taxa duas vezes mais rpida do que sementes de aveia.
Emumcontexto histrico, j foramencontradas sementes de Nelumbium nucifera, na
Manchria, que, estando viveis, teriam entre 120 e 400 anos de idade. Em Santa
Rosa de Tastil, Argentina, foram encontradas sementes de Cana compacta ainda
viveis que, atravs de C
14
radioativo, comprovou-se que teriam ao redor de 620
anos. Tambm no Mxico e na Escandinvia foram encontradas sementes viveis
com idades de 200 at 1700 anos. Indiscutivelmente, o exemplo mais
impressionante so as sementes encontradas no Canad, congeladas e ainda
viveis, com idade de 10.000 anos.
A maioria das espcies consideradas de vida longa pertencem famlia das
leguminosas, que se caracterizam por apresentar tegumento duro e impermevel
(sementes duras). Cereais como cevada e aveia so tambm considerados de vida
longa, enquanto que o centeio de vida curta e milho e trigo so intermedirios.
Outras classificaes colocam a cevada e o trigo num mesmo nvel e a aveia
como tendo o pior potencial de armazenamento.
O potencial de armazenamento das sementes varia consideravelmente entre
espcies em condies favorveis idnticas de armazenamento. Esse potencial
est determinado pelo perodo de tempo em que uma certa proporo de
sementes morrem ou, inversamente, permanecem vivas. Em um lote de
sementes, nem todas morrem ao mesmo tempo, j que, por ser uma
caracterstica individual, o potencial de armazenamento afeta a porcentagem de
viabilidade do lote de sementes. Assim sendo, em um mesmo grupo gentico,
nem todas as espcies, variedades ou sementes individuais, sobrevivem ao
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
369
mesmo perodo de tempo, sob ampla faixa de condies de armazenamento. Para
efeitos prticos, no armazenamento comercial de sementes, suficiente conhecer
o potencial de armazenamento da espcie em questo - vida longa, intermediria
ou curta. Por isso, de grande utilidade qualquer classificao disponvel de
espcies quanto sua longevidade (Tabelas 1 e 2).
Tabela 1 - Algumas espcies de sementes de vida curta.
Espcies Nome
Comum
Longevi-
dade (anos)
Ambiente
Quercus ( 300 spp.) 3 anos mx. 2
o
C, mido e ventilado
Ulmus americana Olmo 16 meses 5
o
C, 6,5% CA
1
umidade ambiente
Cinnamomum zeylenicum Nees Canela 1 ms mx. Ambiente
Persea americana Mill. Amendoim 15 meses 5
o
C, 90% UR
2
Citrus aurantifolia Swingle Lima 6 meses 2
o
C, 88% UR,
c/fungicida
Citrus limon Burm. f. Limo 8 meses 2
o
C, 88% UR,
c/fungicida
Hevea brasiliensis Muell. Seringueira 3 meses 5-10
o
C, em gua,
seladas
Mangifera indica L. Manga 80 dias mx. Temp. ambiente (3
o
C
letal), 50% UR
Theobroma cacao L. Cacau 4 meses 25-30
o
C, 31-33% CA
(10
o
C ou 24% CH
letal), 50% UR
Coffea spp. Caf 22 meses
mx.
25
o
C, 52% CA
1
CA =Contedo de gua da semente, em base mida.
2
UR =Umidade relativa do ar.
Fonte: adaptado de Harrington (1972).
A composio qumica da semente tambm est intimamente relacionada
com seu potencial de armazenamento. Sementes oleaginosas deterioram-se mais
rapidamente do que as amilceas; porm, algumas sementes com alto contedo
de leo (Rcinus communis e Lycopersicum esculetum) possuem boas
caractersticas de armazenamento. No h evidncias de que sementes com alta
concentrao de protenas armazenem melhor, porm h uma tendncia de
sementes com alto contedo de lipdeos serem de vida curta. Tambm o baixo
contedo de acar tem sido relacionado a sementes de vida curta.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
370
Sementes de alface e cebola so consideradas de vida curta. As Tabelas 1 e 2
apresentam uma srie de espcies com sementes de vida curta e de vida longa,
respectivamente. Essas tabelas, publicadas por J . Harrington, consideram as
condies emque as sementes foramarmazenadas para determinar sua longevidade.
Tabela 2 - Algumas espcies de sementes de vida longa, com mais de 10 anos.
Espcies Nome
Comum
Longevidade
(anos)
Ambiente
Andropogon spp. 112 No campo
Avena sativa L. Aveia 32 Armazm, seco
Hordeum vulgare L. Cevada 32 Armazm, seco
Lolium multiflorum Lam. Azevm 12 Cmara seca
Oryza sativa L. Arroz 10 Lab. selado
Sorghum vulgare Pers. Sorgo 17 Lab., 11% CA
1
Triticum aestivum L. Trigo 32 Armazm, seco
Triticum durum Desf. Trigo duro 31 Armazm, seco
Zea mays L. Milho 37 Armazm, seco
Allium cepa L. Cebola 22 Cmara seca
Beta vulgaris L. Beterraba 30 Lab. seco
Brassica napus L. Nabo 10 Lab. seco
Brassica oleracea L. Repolho 19 Lab. seco
Cicer erietinum L. Gro de bico 17 Lab. seco
Glycine max (L.) Merr. Soja 13 Armazm seco
Lotus corniculatus L. Cornicho 18 Lab. seco
Medicago sativa L. Alfafa 78 Lab. seco
Phaseolus vulgaris L. Feijo 22 Lab. seco
Pisum sativum L. Ervilha 31 Cmara seca
Trifolium repens L. Trevo branco 26 Lab. seco
Gossypium hirsutum L. Algodo 25 Lab. seco
Daucus carota L. Cenoura 31 Lab. seco
Lycopersicum esculentum L. Tomate 33 Lab. seco
Nicotiana tabacum L. Fumo 20 Lab., selado
Solanum tuberosum L. Batata 20 Lab. seco
Cucumis sativus L. Pepino 30 Lab. seco
Citrullus vulgaris Schrad. Melancia 30 Lab. seco
Cucurbita pepo L. Abbora 10 Lab., selado
Lactuca sativa L. Alface 20 -4
o
C, 85% CA
1
1
Contedo de gua da semente, em base mida.
Fonte: adaptado de Harrington (1972).
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
371
2.2. Sementes ortodoxas e recalcitrantes
Sementes ortodoxas so aquelas que alcanaram sua maturidade na planta-
me com contedos de gua relativamente baixos; podem ser secadas
artificialmente at baixos teores de gua, sem sofrer dano. Podem ser, portanto,
armazenadas por perodos longos, especialmente quando a temperatura baixa.
Condies de armazenamento com baixo teor de gua e temperatura de -l8
o
C
podem manter viveis sementes por perodos de at um sculo ou mais. Quando
secas, essas sementes podem resistir s adversidades do ambiente e, embora
dormentes, quando fornecidas as condies para a germinao, reassumiro sua
atividade metablica total e seu crescimento e desenvolvimento.
As sementes ortodoxas incluem a maioria das espcies agronomicamente
importantes em zonas temperadas. Essas sementes no requerem condies
especiais de armazenamento em climas temperados e frios mas, em regies de
clima quente e mido, o controle das condies de armazenamento (baixa
temperatura e desumidificao) se faz necessrio.
Sementes recalcitrantes so aquelas que perdem rapidamente sua
viabilidade se so secadas abaixo de um teor de gua relativamente alto. Essas
sementes no podem ser secadas por mtodos tradicionais e no so bem
armazenadas em condies normais de armazenamento. Entre as espcies
recalcitrantes, encontram-se as de certas espcies tropicais de importncia
comercial, como caf, cacau e seringueira.
As sementes recalcitrantes so um problema no armazenamento, sendo esse
fenmeno pouco entendido. Vrias listas de espcies recalcitrantes tm sido
publicadas, porm ainda h algumas dvidas quanto a algumas espcies, como
ctricos (limo), palmito (Elacis quineensis) e mandioca (Manihot esculenta). No
caso de sementes de limo, quando retirado o que as envolve, estas perdem sua
caracterstica de recalcitrantes e o dano produzido pela excessiva secagem
evitado. H tambm fortes evidncias mostrando que sementes de laranja so
mais ortodoxas do que recalcitrantes, j que possvel armazen-las por perodos
considerveis temperatura de -20
o
C e 5% de gua.
Embries extirpados de sementes de palmito tambm apresentam
caractersticas de ortodoxos, j que no sofrem dano ao serem secados at 10,4%
de gua e armazenados a temperaturas abaixo de 1
o
C. O problema que, com
temperaturas muito abaixo de zero (-18
o
C), pode haver dano por congelamento,
apesar do baixo teor de gua da semente. Sementes de mandioca, devido a suas
caractersticas especiais de dormncia, foram consideradas como recalcitrantes,
porm tem-se demonstrado que so tipicamente ortodoxas.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
372
Esses tipos podem ser considerados como sendo intermedirios entre
espcies ortodoxas e recalcitrantes. Tendem a ter uma distribuio de clima
tropical e subtropical e, provavelmente, no secam totalmente na planta-me,
como o caso das ortodoxas. Outros exemplos so as sementes de araucria
(Araucria columnaris) e caf (Coffea arabica). Algumas caractersticas das
espcies que representam tipos recalcitrantes so apresentadas na Tabela 3.
Tabela 3 - Variao dos tipos de sementes.
Pouco recalcitrantes Moderamente
recalcitrantes
Altamente
recalcitrantes
Tolerantes a perdas
maiores de gua
Tolerantes a perdas
moderadas de gua
Tolerantes a pequenas
perdas de gua
Germinam lentamente ao
no adicionar gua
Moderada taxa de germinao
ao no adicionar gua
Rpida germinao ao
no adicionar gua
Tolerantes a baixas
temperaturas
Sensveis a baixas
temperaturas
Muito sensveis a
baixas temperaturas
Distribudas em climas
temperados a subtropicais
Distribudas em clima
tropical
Bosques tropicais no
habitados e terras midas
Quercus spp.
Araucaria husteinil
Podoccarpus henkelii
Theobroma cacao
Hevea brasiliensis
Syzyquim spp.
Avicennia marina
Fonte: adaptada de Farrant et al. (1986).
As espcies recalcitrantes so colhidas com altos teores de gua e so
altamente suscetveis a danos pela secageme pelo resfriamento a temperaturas muito
baixas. Quando armazenadas emtemperatura ambiente e emestgio de completa
embebio, sofremcontaminao microbiana. Contudo, quando feito o tratamento da
semente,
seu perodo de viabilidade permanece curto, variando de poucas
semanas a poucos meses, segundo a espcie. At agora no se conhece nenhum
mtodo exitoso para o armazenamento a longo prazo de sementes recalcitrantes.
3. DETERIORAO DE SEMENTES
3.1. Definio
A deteriorao de sementes definida como uma srie de processos que
envolvem transformaes degenerativas que, eventualmente, causam a morte da
semente (Fig. 1).
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
373
As transformaes durante a deteriorao so progressivas e esto
determinadas por fatores genticos, fatores ambientais (clima, nutrio, insetos),
procedimentos de colheita, beneficiamento, secagem, manuseio e
armazenamento das sementes.
A deteriorao de sementes inevitvel, irreversvel, muito agressiva e varia
entre espcies, variedades e sementes individuais dentro de um mesmo lote. So
muitas as alteraes em nvel celular que ocorrem durante a deteriorao,
contudo ainda difcil determinar quais so as mais importantes e quais so as
causas e os efeitos da deteriorao, j que seu mecanismo permanece
desconhecido at hoje.
Figura 1 - Provvel seqncia das alteraes ocorridas em sementes durante a
deteriorao.
DANIFICAO DOS MECANISMOS
DE ENERGIA E SNTESE
DEGRADAO DAS ENERGIAS
PLNTULAS ANORMAIS
AUMENTO DA
REDUO NO RENDIMENTO
CRESC. E DESENVOLV. DAS PL.
MENOR UNIFORMIDADE NO
DE ARMAZENAMENTO
REDUO DO POTENCIAL
RESPIRATRIA E BIOSNTESIS
REDUO DA ATIVIDADE
ENERGIA A CAMPO
REDUO DA
MENOR RESISTNCIA
CRESC. E DESENVOLV. DAS PL.
REDUO DE VELOCIDADE DE
DE GERMINAO
REDUO DA VELOCIDADE
PERDA DA CAPACIDADE DE GERMINAR
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
374
3.2. Teorias da deteriorao de sementes
As principais teorias da deteriorao das sementes so as seguintes:
a) Esgotamento das reservas alimentcias;
b) Alterao da composio qumica;
c) Alteraes das membranas;
d) Alterao genticaedenucleotdeos.
3.2.1. Esgotamento das reservas alimentcias
Por terem sido encontradas sementes deterioradas ainda com reservas
suficientes, acredita-se que o problema poderia estar relacionado com a
mobilizao dessas reservas. As molculas so transferidas desde, ou at, os
rgos armazenadores da semente (endosperma, cotildones) em forma de
sacarose. A invertase a enzima que atua na converso da sacarose em sucrose,
para que seja transportada desde o sistema vascular da planta-me para os rgos
de armazenamento das reservas, na semente em desenvolvimento. A converso
das macromolculas ou reservas para formas metabolizveis, que sero
transferidas aos pontos de crescimento durante a germinao das sementes
(amido em glicose, triglicerdios em glicerol e cidos graxos, e polipeptdios em
peptdios menores ou diretamente em aminocidos), tambm catalizada por
muitas enzimas (amilases, lipases, proteinases, etc.) que hidrolizam essas
macromolculas para produzir as formas transportveis e, conseqentemente, os
substratos para os processos metablicos que precisam de energia e esqueletos de
carbono.
Assim, toda essa mobilizao de reservas na semente poderia ser alterada em
conseqncia das mudanas que podero ocorrer na ao enzimtica, se essa
ltima fosse uma explicao para os mecanismos da deteriorao de sementes.
3.2.2. Alterao da composio qumica
A oxidao dos lipdios, com aumento dos cidos graxos, a reduo da
solubilidade, digestibilidade e quebra parcial de protenas, so alguns exemplos
das mudanas na composio qumica das sementes durante a deteriorao.
A peroxidao dos lipdios e a produo de radicais livres tm sido
relacionados com a deteriorao. Embora os radicais livres sejam produzidos nas
sementes (OH ou O
2
), aqueles prejudiciais seriam evitados por mecanismos
prprios das sementes como a enzima SOD (Super xido dismutase) ou auto-
oxidantes, como os tocoferis.
Baixos nveis de tocoferis tm sido encontrados em sementes deterioradas
durante o armazenamento. Por outro lado, a perioxidao dos lipdios em
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
375
sementes armazenadas em condies de 94% de umidade relativa e 30
o
C de
temperatura de armazenamento, tambm tem sido baixa, embora nveis mais
altos de peroxidao fossem encontrados em sementes armazenadas com teor de
umidade de 20%. Esses resultados contraditrios indicam a necessidade de maior
investigao desse mecanismo por parte dos fisiologistas.
3.2.3. Alterao nas membranas celulares
A "perda da integridade", o "aumento da permeabilidade" e a
"desorganizao das membranas" so termos comumente utilizados para explicar
a perda de viabilidade das sementes ou a deteriorao.
No comeo da embebio, no incio da germinao da semente, ocorre
lixiviao de solutos (principalmente acares e aminocidos), a qual mais
intensa em sementes deterioradas. A lixiviao est relacionada com a
configurao das membranas, em nvel celular, em uma semente seca e quando
hidratada. Em sementes secas, uma configurao hexagonal forma poros, atravs
dos quais os solutos podem fluir para fora da membrana celular. Durante a
embebio, mecanismos de reparao das membranas as reorganizam, mudando
sua configurao para a tpica forma bipolar que ocorre em tecidos hidratados.
Em sementes deterioradas, esse mecanismo de reparao das membranas
lento ou no funciona, causando a desorganizao das membranas em nvel
celular, perdendo-se solutos para o meio atravs da lixiviao. Na prtica, as
conseqncias disso, durante a germinao da semente no solo, so a perda de
substratos que seriam aproveitados nos processo metablicos envolvidos no
crescimento e desenvolvimento da semente, especialmente aps a protuso da
radcula durante o estdio heterotrfico da plntula, e a formao de um
microambiente ao redor da semente, favorvel ao ataque dos microorganismos
do solo.
3.2.4. Alterao enzimtica
A viabilidade das sementes pode ser determinada em funo da sua atividade
enzimtica, a qual diminui durante a deteriorao, sendo a reduo da sntese de
protenas um mecanismo envolvido na deteriorao de sementes. As enzimas so
protenas e esto envolvidas em todos os processos bioqumicos de sntese e
degradao de molculas.
Durante o desenvolvimento e a maturao de sementes, as enzimas atuam na
acumulao de reservas para serem armazenadas. Durante a germinao, devem
ser re-sintetizadas e/ou ativadas para que, desde a camada de aleurona e do
escutelo, atuem na mobilizao das reservas armazenadas aos locais de utilizao
pelo metabolismo.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
376
Um exemplo so as enzimas desidrogenases que atuam na respirao
(fosforilao oxidativa na mitocndria). A determinao da viabilidade da
semente pelo teste de Tetrazlio baseia-se na capacidade da enzima de precipitar
o sal de Tetrazlio (Tri-fenil-cloreto de Tetrazlio) em Formazan, de colorao
vermelha. Tecidos mortos, onde no h atividade da enzima permanecem
incolores, enquanto os tecidos viveis apresentam diversas tonalidades de
colorao vermelha mostrando diferentes nveis de deteriorao.
3.2.5. Alterao gentica e de nucleotdeos
Mutaes causadas por aberraes cromossmicas tm sido encontradas em
sementes envelhecidas ou armazenadas durante perodos muito longos. Esse
dano aos cromossomos mais intenso em sementes armazenadas sob condies
desfavorveis. A taxa de mutaes aumenta tambm com a idade das sementes.
Tais mutaes podem provocar deficincias funcionais no metabolismo das
sementes. Essas alteraes fisiolgicas esto relacionadas perda da integridade
do cido Desoxirribonucleico (ADN) e tambm sntese de cido Ribonucleico
(ARN), codificao e sntese de protenas nos ribossomas e sntese de
nucleotdeos (ATP, UTP). Esses ltimos fornecem energia nos processos
metablicos, de grande participao quando as sementes embebem gua para
iniciar a germinao.
Durante a germinao, os nucleotdeos desempenham um importante papel
nos seguintes processos: biossntese de cidos nucleicos (primeiro ARN e, logo,
ADN), biossntese de polissacardeos, sntese de protenas e reparo das
membranas.
Como conseqncia da deteriorao, espera-se a reduo da sntese de
nucleotdeos, especialmente ATP. H indicativos de que quanto mais deteriorada
a semente, mais lenta a taxa de aumento nos processos de biossntese.
Outras anormalidades relacionadas com a alterao gentica so o aborto do
plen e o aparecimento de fentipo de clorofila mutante, aspectos que ainda
esto em estudo.
3.3. Causas da deteriorao
A seguir ser apresentado, como exemplo do que ocorre na prtica, o
processo da deteriorao de sementes de soja.
Inicialmente, na fase de campo, as condies climticas adversas, que
ocorrem no perodo que vai desde a maturao fisiolgica at a colheita, causam
um aumento da velocidade de deteriorao da semente de soja. As causas desta
deteriorao so altas temperaturas, alta umidade e alternncia dessas condies.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
377
Flutuaes de umidade (chuva, alta umidade relativa, orvalho), quando as
sementes esto ainda no campo depois de terem alcanado a maturao
fisiolgica (retardamento da colheita), provocam enrugamento do tegumento da
semente. Submetendo essas sementes ao teste de Tetrazlio, a regio enrugada
no extremo oposto do hilo se apresenta no colorida de vermelho, indicando a
presena de tecidos mortos ou em avanado estado de deteriorao.
Ataques de insetos na fase de campo produzem deformao das
sementes, mudanas na sua composio qumica, conseqentemente, reduo da
qualidade das mesmas. Os microorganismos atacam a semente de soja
interagindo nos processos metablicos acelerando portanto a deteriorao. Os
fungos produzem toxinas (aflatoxinas) que podem danificar membranas,
inibir a clorofila, aumentar a lixiviao de solutos, inibir a germinao das
sementes, etc.
A poca em que realizada a colheita e os danos mecnicos que podem
ocorrer nas sementes causam aumento da deteriorao da semente de soja.
Tambm depois de colhida, durante a secagem (alta temperatura),
beneficiamento e transporte (umidade da semente, danos mecnicos) e
armazenamento (alta umidade e microorganismos), pode ocorrer um aumento da
velocidade de deteriorao das sementes.
Todavia, depois da semeadura da soja, condies adversas de temperatura e
umidade, tipo de solo, profundidade de semeadura e ataque de microorganismos,
so fatores que afetam a deteriorao.
As causas da deteriorao das sementes se confundem com seus efeitos, j
que por ser seu verdadeiro mecanismo desconhecido, ainda h pouca clareza a
respeito. Como possveis causas, so ressaltadas as seguintes: degradao de
estruturas funcionais, como as membranas celulares, inativao e degradao de
enzimas, esgotamento de reservas alimentares, auto-oxidao dos lipdeos,
acumulao de compostos txicos, degradao gentica, etc.
Dos muitos mecanismos que tm sido estudados, alguns foram
definitivamente abandonados e outros continuam sendo analisados. Duas
reunies internacionais j foram realizadas exclusivamente para discutir a
deteriorao de sementes (1981 e 1984), das quais tm surgido recomendaes
que permitiram reduzir o nmero de teorias de mais de 15 para no mais de 5 e
dedicar portanto maiores recursos ao estudo mais aprofundado daquelas.
Atualmente, os cientistas esto dedicando maiores esforos anlise de trs
teorias principais: alterao das membranas celulares, alterao gentica ou de
nucletidos e alterao enzimtica.
Chegou-se concluso de que a alterao enzimtica seria uma teoria
importante para definir o mecanismo da deteriorao de sementes. Porm, cabe a
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
378
pergunta se esse mecanismo que causaria a morte da semente ou haveria algum
outro mecanismo que de fato causaria a perda da capacidade enzimtica da
semente provocando sua morte?
Hoje em dia, s existe a certeza de que a deteriorao uma conseqncia da
constituio gentica da semente, do ambiente durante seu desenvolvimento e de
sua composio bioqumica. Estudos a nvel de tecidos e clulas continuam
sendo realizados para achar a verdadeira explicao do fenmeno da deteriorao
das sementes e assim poder chegar a solues que permitam seu retardamento
em benefcio do aumento da qualidade.
4. FATORES QUE AFETAM A CONSERVAO DAS SEMENTES
O principal objetivo do armazenamento a manuteno da qualidade das
sementes, reduzindo ao mnimo a deteriorao. O armazenamento se inicia
quando as sementes alcanam a maturao fisiolgica, pouco antes da colheita, e
termina depois que essas esto prontas para serem semeadas. Durante todo esse
perodo, h uma srie de fatores que influenciam no potencial de armazenamento
das sementes. Esses fatores so especialmente importantes nos perodos de pr
ps-colheita,
at as sementes, j ensacadas, entrarem no armazm. Esse perodo
determina o nvel de qualidade inicial com que as sementes esto iniciando o
armazenamento. Quando as sementes j esto armazenadas, a influncia do
sementeiro ou encarregado do armazm torna-se limitada, a no ser no controle
sanitrio. Sementes de alta qualidade so melhor armazenadas do que sementes
de baixa qualidade e o controle ou minimizao dos fatores que adversamente
afetam a germinao e o vigor das sementes contribui para a manuteno da
qualidade das mesmas.
4.1. Fatores genticos
Como j foi discutido anteriormente, a longevidade ou potencial de
armazenamento das sementes varia entre espcies, havendo diversas
classificaes de acordo com o perodo em que foram encontradas viveis e as
condies do ambiente sob o qual as sementes mantiveram sua viabilidade.
A longevidade um fator intrnseco da prpria espcie. Por exemplo,
sementes de arroz tm um alto potencial de armazenamento quando comparadas
a sementes de soja. Essa diferena ainda maior quando as condies de
armazenamento so desfavorveis. Na regio do litoral sul do estado do Rio
Grande do Sul, de clima subtropical, as sementes de arroz armazenam bem,
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
379
porm as condies so limitadas para o armazenamento de sementes de soja,
que perdem sua viabilidade rapidamente. Embora nessa regio se produzam
sementes de soja, no se recomenda seu armazenamento, devendo ser
transportadas a outra regio para esse fim. A mesma regio do litoral sul produz
sementes de cebola, as quais perdem rapidamente sua viabilidade, a menos que
sejam secadas at 6% de umidade e armazenadas em latas hermticas.
A caracterstica gentica da longevidade tambm varia entre variedades ou
cultivares de uma mesma espcie. Alguns exemplos sero dados para sementes
de milho e soja. Alguns trabalhos mostraram que variedades de milho duro e
dentado permanecem viveis por mais tempo do que variedades de milho brando
e doce, quando armazenadas em condies ambientais. Esse fato est relacionado
com a consistncia estrutural das sementes. Quando essas sementes so
armazenadas em condies controladas, com umidade constante, as diferenas
entre esse tipos so menos evidentes, indicando que as variedades de milho
brando esto expostas a flutuaes maiores de umidade devido a sua
consistncia, perdendo mais rapidamente a viabilidade.
Em sementes de soja, o fator gentico sobre o potencial de armazenamento
foi correlacionado com seu vigor para algumas variedades. O gentipo mostrou
um efeito altamente significativo sobre o potencial de armazenamento da
semente, sendo, inclusive, sugerido que uma seleo pelo vigor em sementes de
soja poderia melhorar seu potencial de armazenamento.
Tambm em soja, estudos recentes demonstraram que, usando gentipos
selecionados pelas suas caractersticas de armazenamento, por meio de
cruzamentos recprocos, as plantas-mes exerceram uma considervel influncia
na longevidade das sementes. Uma explicao para esse fato a de que haveria
alguma influncia do tegumento das sementes, derivado do tecido materno.
Certas evidncias em milho tambm tm demonstrado que o carter
longevidade pode ser melhorado por meio de procedimentos adequados de
seleo. Cruzamentos recprocos entre linhagens (linhas puras) de vida curta e de
vida longa indicaram que o carter vida longa seria dominante. Resultados
similares foram encontrados quando analisados os hbridos simples. Contudo,
comprovou-se que o carter longevidade no simples, embora, j em 1942,
fosse sugerida a introduo de genes para longevidade em linhas puras de milho
por retrocruzamento.
Na prtica, o conhecimento de que espcies e variedades so de vida
longa ou de vida curta permite aos produtores de sementes, que no tm meios
de controlar o fator gentico, tomar decises em relao s variedades a produzir,
em funo do seu potencial de armazenamento, da regio onde pretende
armazenar as sementes e do tipo de armazenamento a ser empregado.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
380
4.2. Estrutura da semente
Em sementes de gramneas, especificamente algumas cultivares de cevada e
trigo Red Winter, aquelas com glumas (lema e plea) se comportam melhor
durante o armazenamento do que aquelas sem glumas. A mesma tendncia,
porm em menor grau, foi encontrada em sementes de aveia e centeio. A
explicao disso seria que as glumas teriam um efeito inibidor sobre o
crescimento de fungos. A operao de retirada das glumas pode provocar dano
mecnico, facilitando o crescimento dos fungos e reduzindo a viabilidade da
semente.
A forma, o tamanho e a localizao das estruturas essenciais dentro da
semente esto relacionadas com a suscetibilidade aos danos mecnicos. Em
geral, sementes esfricas estariam mais protegidas do que as de forma irregular,
considerando todas como sendo do mesmo tamanho. Em algumas leguminosas,
como soja e feijo, o eixo radcula-hipoctilo do embrio est em uma posio
saliente, protegido somente pelo fino tegumento, ficando claramente exposto a
impactos que causaro dano mecnico semente.
Outro aspecto estrutural refere-se espessura e flexibilidade do tegumento ou
casca da semente. No caso das sementes de soja, rachaduras do tegumento so
comuns, seja pela deteriorao sofrida no campo, em funo de flutuaes de
umidade (estiramento e contrao do tegumento), altas temperaturas de secagem,
ou o prprio dano mecnico quando as sementes esto secas, o que facilita a
penetrao de microorganismos e trocas de umidade durante o armazenamento.
Com relao ao tamanho, h uma tendncia de sementes menores perderem
viabilidade mais rapidamente durante o armazenamento do que sementes de
maior tamanho, fato observado em sementes de trigo de inverno, cevada,
amendoim, girassol e em vrias leguminosas forrageiras. O efeito inverso tem
sido observado em sementes de soja, onde sementes pequenas armazenadas sob
condies do trpico mido armazenaram melhor do que sementes de maior
tamanho. Esse fato poderia estar relacionado maior suscetibilidade ao dano
mecnico das sementes maiores de soja.
Sementes de baixo peso especfico, consideradas individualmente dentro de
um lote de sementes parcialmente deterioradas, perdem sua viabilidade mais
rapidamente durante o armazenamento. Estudos realizados em sementes de
ervilha mostraram que as grandes e de maior densidade deterioraram-se mais
lentamente do que as menores e mais leves, sendo essa observao extensiva a
sementes de feijo.
Algumas leguminosas (soja, trevo, alfafa, feijo, ervilha, entre outras)
apresentam uma caracterstica de dureza do tegumento (sementes duras). Embora
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
381
seja uma caracterstica indesejvel para fins de semeadura, uma caracterstica
interessante para o armazenamento. A firmeza do tegumento est relacionada
com a impermeabilidade do mesmo, podendo a semente permanecer neste estado
por vrios anos. As sementes duras armazenam melhor do que as de tegumento
brando ou normais. Um meio de superar a caracterstica de tegumento duro a
escarificao, procedimento comumente utilizado em sementes de leguminosas
forrageiras. Essa operao causa algum dano mecnico s sementes, reduzindo
sua longevidade. Ainda assim necessria por ocasio da semeadura da semente
para que a mesma possa iniciar o processo germinativo.
4.3. Fatores de pr e ps-colheita
Esses fatores determinam o nvel de qualidade inicial da semente ou sua
condio antes de ser ensacada para entrar no armazenamento definitivo. Essa
condio tambm conhecida como o histrico da semente. Dependendo desse
histrico, as sementes resistiro melhor ou pior s condies desfavorveis
durante o armazenamento.
Todos os estresses aos quais as sementes so submetidas antes, durante e
aps a colheita afetam o potencial de armazenamento das sementes. Alguns
desses fatores so: condies ambientais no campo, danos mecnicos durante a
colheita, manuseio, beneficiamento, secagem, sementes imaturas, estgio
nutricional da planta-me, etc.
Estudos realizados em sementes de cenoura, alface e pimento mostraram
que a deficincia externa de potssio ou clcio na planta-me afetariam o
potencial de armazenamento da semente, porm no houve comprovao
posterior desse resultado. A deficincia de nitrognio pode afetar o teor de
protena das sementes, podendo portanto afetar seu potencial de armazenamento.
Outras condies que tm sido indicadas como afetando o desenvolvimento da
semente, e que tambm afetam seu potencial de armazenamento, so:
disponibilidade de gua, temperatura ambiente, alta salinidade do solo, doenas
da planta produzidas por microorganismos e danos causados por ataque de
insetos.
A maturidade das sementes outro importante fator. Sementes imaturas em
geral perdem sua viabilidade mais rapidamente durante o armazenamento do que
as maduras. Esse o caso de interrupo do processo de maturao devido
antecipao da colheita em funo de condies climticas desfavorveis. O
mximo potencial de armazenamento das sementes ocorre quando alcanam a
maturao fisiolgica, que coincide com a mxima acumulao de peso seco e
mxima germinao e vigor. Em muitas espcies, o perodo de maturao
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
382
muito amplo (cenoura, gramneas e leguminosas forrageiras) e indeterminado.
Depois de colhidas, as sementes apresentam diferentes nveis de maturao,
mostrando tambm diferente potencial de armazenamento.
Por outro lado, quando ocorre a maturao fisiolgica, o teor de gua das
sementes muito alto para efetuar a colheita mecnica (entre 35 e 50% para a
maioria das espcies); portanto, as sementes devem ficar armazenadas no
campo at que seu teor de gua diminua a nveis adequados para a colheita (20 a
25% para arroz e 15 a 16% para trigo e soja). Nesse perodo, condies adversas
tais como temperaturas extremas, alta umidade provocada por chuvas, umidade
relativa alta ou pelo prprio orvalho e danos por ataque de insetos e
microorganismos, diminuem o potencial de armazenamento das sementes.
4.4. Teor de gua da semente
O fator mais importante que afeta a conservao das sementes seu teor de
gua. Alto teor de gua (acima de 13%) no desejvel para armazenar sementes
em geral.
As sementes so higroscpicas, ou seja, tm a capacidade de trocar umidade
com o ambiente que as rodeia. Em um ambiente mido, as sementes secas
absorvero umidade do ar e, inversamente, sementes midas em um ambiente
seco perdero umidade para o ar. Essa relao ocorre ento em funo da
umidade relativa do ar (capacidade de reteno de umidade do ar).
Existindo uma relao de absoro e perda de umidade entre as sementes e o
ambiente que as rodeia, h tambm um ponto de equilbrio onde igualam-se as
presses de vapor de umidade tanto da semente como do ar. Esse ponto
chamado de ponto de equilbrio higroscpico (PEH) das sementes e se define
como o teor de umidade alcanado pela semente depois de certo perodo de
tempo submetido a condies de umidade relativa do ar e temperaturas
constantes (Fig. 2).
A qualquer temperatura, o ar contm uma determinada quantidade de gua
em forma de vapor de umidade. Assim se tem que, para uma umidade relativa
(UR) de 100%, o ar est saturado de umidade, no tendo capacidade para conter
mais.
A UR do ar ento a proporo entre a quantidade de umidade num
determinado momento e a quantidade de umidade que capaz de conter nesse
momento.
Em todas as condies de armazenamento, o teor de umidade da semente
aumentar ou diminuir at alcanar o equilbrio com a UR do ar, sempre que
seja proporcionado um espao de tempo.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
383
Figura 2 - Ponto de equilbrio higroscpico (PEH), (a) absoro e (b) perda de
umidade da semente de milho, em funo da umidade relativa do ar (adaptado de
Delouche, 1973).
O PEH varia de acordo coma espcie. Sementes de arroz, milho e soja alcanam
o equilbrio em ambiente com 75% de umidade relativa do ar, a um teor de
umidade de 13 a 15%; por outro lado, sementes de algodo, linho e amendoim
alcanam o PEH com teores de umidade de 9 a 11% para a mesma umidade
relativa. Nesse caso, deve-se considerar que a protena altamente higroscpica,
ao contrrio dos lipdeos, que so hidrfobos. Em geral, o PEH das sementes de
oleaginosas mais baixo do que o das amilceas ou as de alto contedo protico,
sob as mesmas condies de umidade relativa e temperatura.
Existem dois mtodos para determinar o equilbrio higroscpico das
sementes. Um o mtodo esttico e, o outro, o dinmico. O mtodo esttico
utiliza solues de cidos fortes (sulfrico, clordrico, ntrico) ou solues
Teor de gua
da semente Umidade Relativa
do Ar
Milho
12,9%
14.8%
PEH
absorve
te
m
p
o
75% UR
14.8%
perde
te
m
p
o
45% UR
10.5%
a)
b)
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
384
saturadas de sais tais como cloreto de brio, cloreto de clcio, sulfato de clcio
entre outros, todas solues de umidade relativa conhecida. As sementes so
colocadas dentro de um recipiente hermeticamente fechado, contendo os
produtos qumicos, permanecendo at que o teor de umidade da semente fique
constante, enquanto so feitas determinaes de umidade da semente. Esse
mtodo tem uma durao de poucos dias at 2 meses.
O mtodo dinmico mais caro devido necessidade de equipamentos mais
sofisticados, porm mais rpido e preciso, diminuindo-se os erros
experimentais que ocorrem especialmente quando a umidade relativa do ar
maior que 87% (j que pode haver desenvolvimento de fungos antes que a
semente atinja o equilbrio). O ar ao redor das sementes pode ser movimentado
(mtodo de dessoro), mantendo-o circulando, passando atravs de colunas de
absoro que contm sais de umidade conhecida. Um higrmetro eltrico mede a
umidade relativa do ar no recipiente. Tambm pode ser medida a presso de
vapor de umidade, mas menos preciso.
Com a medio do PEH das sementes, obtm-se uma curva sigmoideal a qual
apresentada na Fig. 3. temperatura constante, o teor de umidade da semente
aumenta junto com a umidade relativa do ar, sendo o incremento mais agudo
com umidade do ar igual ou acima de 80%.
Figura 3 - Relao entre a umidade relativa do ar e o teor de gua da semente ou
ponto de equilbrio higroscpico - PEH (adaptado de J ustice e Bass, 1978).
0 20 40 60 80 100
5
10
15
20
25
Umidade Relativa do Ar (%)
T
e
o
r
d
e
g
u
a
d
a
S
e
m
e
n
t
e
(
%
)
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
385
O PEH de vrias espcies, a uma temperatura constante de 25
o
C,
apresentado na Tabela 4. Observa-se que at 75% de umidade relativa do ar,
incrementos de 15% nessa umidade resultam em incrementos de 2% no teor de
umidade da semente, porm acima de 75% aumenta bruscamente. Isso explica o
fato de que em regies de alta umidade relativa do ar, o teor de umidade da
semente atinge, aps um certo perodo de tempo, nveis altamente prejudiciais a
sua conservao. Os valores de equilbrio higroscpico podem ser usados com
bastante segurana, como recomendaes prticas em termos de umidade para o
armazenamento de sementes.
Tabela 4 - Teor de gua em equilbrio de vrias sementes a 25
o
C e diferentes
umidades relativas do ar.
Espcie NomeCientfico UmidadeRelativado Ar (%)
20 30 45 60 65 75 80 85 90 100
Alfafa Medicago sativa - - - - - 9,3 12,5 18,3 - -
Algodo Gossypium hirsutum 4,5 6,0 7,5 9,1 - - 13,2 - 18,0 -
Arroz Oryza sativa L - 9,0 10,7 12,6 - 14,4 16,0 - 18,1 23,6
Aveia Avena sativa L. - 8,0 9,6 11,8 - 13,8 - - 18,5 24,1
Cevada Hordeum vulgare - 8,4 10,0 12,1 - 14,4 - - 19,5 26,8
Centeio Secale cereale L. - 8,7 10,5 12,2 13,0 14,8 - - 20,6 26,7
Girassol Helianthus annus - 5,1 6,5 8,0 - 10,0 - - 15,0 -
Milho Zea mays - 8,4 10,5 12,9 13,0 14,8 15,0 - 19,0 24,2
Soja Glycine max - 6,5 7,4 9,3 11,0 13,1 16,0 - 18,8 -
Sorgo Sorghum vulgare - 8,6 10,5 12,0 13,0 15,2 - - 18,8 21,9
Trigobranco Triticum aestivum L. - 8,6 9,9 11,8 - 15,0 - - 19,7 26,3
Trigo Triticum aestivum L. - 8,6 10,6 11,9 - 14,6 - - 19,7 25,6
Feijo Phaseolus vulgaris L. 4,8 6,8 9,4 12,0 - 15,0 16,0 - - -
Pepino Cucumis sativus L. 4,8 5,6 7,1 8,4 8,5 10,1 10,4 - - -
Ocra Hibiscus esculentus 7,2 8,8 10,09 11,2 12,0 13,1 15,0 - - -
Cebola Allium cepa 6,8 8,0 9,5 11,2 - 13,4 14,0 - - -
Tomate Lycopersicon esculentum 5,0 6,3 7,8 9,2 10,0 11,1 12,0 - - -
Melancia Citrullus vulgaris Schrad. 4,8 6,1 7,6 8,8 9,0 10,4 11,0 - - -
1
Dados recompilados de diferentes fontes pelo Laboratrio de Tecnologia de
Sementes, Universidade Estadual de Mississippi.
Existe ainda o efeito histerese. A uma determinada umidade relativa do ar, o
teor de umidade em equilbrio da semente no sempre o mesmo. De fato,
maior quando as sementes perdem umidade para o ambiente (dessoro) do que
quando absorvem umidade do ambiente (absoro). Essa diferena , em mdia,
ao redor de 1,6 pontos percentuais.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
386
O tempo que as sementes demoram para alcanar o equilbrio higroscpico
varia com as espcies. Sementes de linho absorvem umidade mais rapidamente
do que sementes de trigo que, por sua vez, absorvem umidade mais rapidamente
do que sementes de alfafa. Isso depende, principalmente, das caractersticas de
permeabilidade do tegumento das sementes, que determina o tempo que a
umidade demora para penetr-lo e da transferncia de umidade dentro da
semente, determinada pela constituio do endosperma e do embrio. A
temperatura tambm afeta o tempo que as sementes demoram em atingir o PEH.
Em sementes de milho e trigo, a 30
o
C atingido duas vezes mais rpido do que a
10
o
C. Em condies de umidade relativa do ar, de 20 a 80%, sementes de soja e
trigo alcanam o equilbrio aos 15 dias a 20
o
C e aos 70 dias a 1
o
C de
temperatura. Ainda com relao temperatura, importante destacar que
somente grandes mudanas de temperatura provocam uma mudana importante
no PEH mesma umidade relativa do ar.
Uma ampla diferena (gradiente) de presses de vapor de umidade tambm
aumenta as taxas de absoro e movimento de umidade nas sementes. Sementes
de arroz, com 13% de gua, colocadas em ambiente com umidade relativa de
95%, aumentam mais rapidamente seu teor de umidade do que quando colocadas
a 70%. Da mesma forma, perdero umidade mais rapidamente quando
submetidas a 20% de umidade relativa do ar do que a 50%.
O PEH das sementes ajuda a determinar se as mesmas vo ganhar ou perder
umidade sob determinadas condies de umidade relativa e temperatura do ar.
Isso permite prever se o armazenamento ser seguro em funo do tempo. Por
exemplo, nas condies de Pelotas, Rio Grande do Sul, sementes de soja com
10% de gua aumentam esse teor para 13% aps trs meses e para quase 15%
aps cinco meses de armazenamento. Nesse perodo, a umidade relativa mdia
do ar foi de 80%, fazendo com que as sementes absorvam umidade suficiente
para favorecer o processo de deteriorao e, consequentemente, a reduo da
qualidade fisiolgica (germinao e vigor) da semente (Amaral e Baudet, 1983).
4.5. Umidade e temperatura ambiente
Entre os fatores mais importantes que afetam a qualidade da semente durante
o armazenamento esto a umidade e a temperatura do ar, sendo que a umidade
do ar afeta diretamente o teor de gua da semente. As sementes ortodoxas, que
so armazenadas com baixos teores de gua para sua conservao, seguem certas
regras prticas enunciadas por Harrington (1972), alguns anos atrs, e
confirmadas posteriormente, que so as seguintes:
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
387
- Para cada 1% de diminuio do grau de umidade da semente, duplica-se o
potencial de armazenamento (vlida para o intervalo de 5 a 14%);
- Para cada 5,5
o
C de diminuio na temperatura, duplica-se o potencial de
armazenamento da semente (vlida de 0 a 40
o
C);
- O somatrio aritmtico da temperatura de armazenamento, em graus
Farenheit, e a umidade relativa do ar no devem ser maior do que 100, sendo a
contribuio da temperatura no mais do que a metade da soma.
Em funo do equilbrio higroscpico, a umidade relativa do ar determina o
teor de umidade das sementes quando so armazenadas sob condies
ambientais em embalagens porosas ou em silos a granel. Assim sendo, a
umidade relativa do ar pode ser considerada uma medida do teor de gua das
sementes. No recomendvel ento armazenar sementes com teores de gua em
equilbrio com umidades relativas do ar acima de 75%, a no ser que a
temperatura seja inferior a 10
o
C. Acima desses valores de umidade e
temperatura, as sementes comeam a sofrer o ataque de fungos e caros (Tabela
5).
A umidade relativa do ar influencia a atividade dos fungos do
armazenamento (Aspergillus e Pennicillium). Os efeitos desses patgenos so
significativos em ambientes de alta umidade, porm h estudos que mostram o
desenvolvimento desses gneros de fungos a umidades to baixas como 65%.
Assim tudo, a perda da viabilidade das sementes em climas muito midos
(tropical e subtropical) durante o armazenamento, deve-se, principalmente, a
mudanas fisiolgicas na semente e, em segundo plano, atividade dos fungos.
Estudos realizados em sementes de soja e cevada mostraram que a viabilidade e
o vigor das sementes foram reduzidos antes que houvesse uma invaso
substancial dos fungos do armazenamento nos ambientes midos.
Com relao temperatura, o armazenamento em condies frias (0
o
e
5
o
C) considera-se ideal para sementes. Apesar da baixa temperatura, no se
formaro cristais de gelo se as sementes estiverem com umidade abaixo de 14%.
Alguns autores reconhecem que o armazenamento de sementes secas em
temperatura abaixo de 0
o
C dever melhorar sua longevidade. Porm, nessas
condies, a umidade relativa do ar torna-se perigosamente alta e as sementes
podero absorver umidade, podendo formar cristais de gelo aps um certo
perodo de tempo, causando morte de clulas e perda de viabilidade na semente.
Nessecaso, prefervel armazenar as sementes emembalagens provadeumidade.
A respirao de uma massa de sementes outro fator muito importante a ser
considerado com relao umidade de temperatura. O processo respiratrio que
ocorre em nvel celular, tanto em condies aerbicas (presena de oxignio)
como anaerbicas (ausncia de oxignio), libera energia em forma de calor. Ainda
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
388
em condies aerbicas h liberao de gs carbnico (CO
2
) e gua (H
2
O). Pode-
se deduzir que o processo respiratrio de sementes acelerado pelos subprodutos
da respirao (gua e calor) que aumentaro sua taxa, produzindo mais calor e
umidade. Os fatores que mais aceleram o processo respiratrio so a umidade, a
temperatura, presena de oxignio e os microorganismos.
O alto teor de gua das sementes causa um aumento significativo da taxa
respiratria. At 13% de umidade, a taxa respiratria suficientemente baixa,
no causando problemas. Isso verdade tambm para a umidade do ar nos
espaos entre as sementes, que dever ser inferior a 75%. Porm, a taxa respiratria
aumenta exponencialmente com o aumento do teor de umidade da semente acima
de 13% (Fig. 4).
Figura 4 - Intensidade da respirao de sementes de arroz armazenadas com
temperatura de 37,8
o
C - Curva de Bailey (adaptado de Araullo et al., 1976).
Sementes de milho com 12,8% de gua respiram 0,0014 mlCO
2
/g peso
seco/dia; no entanto, com 17,9% respiram 0,084 e com 22,1% de gua respiram
0,276 ml CO
2
/g peso seco/dia.
A temperatura tambm provoca uma aumento da taxa respiratria. Sementes
de soja com 18,5% de gua respiram 33,6 mg CO
2
/100 g peso seco/dia a 25
o
C e
154,7 mg CO
2
/100 g peso seco/dia a 40
o
C. Acima de 40
o
C, a taxa respiratria
diminui devido ao efeito da alta temperatura nos processos metablicos da
semente, que pode provocar a morte da semente. Entre 0 e 30
o
C, um aumento de
10% no teor de gua da semente duplica ou triplica a taxa respiratria. O efeito
da temperatura depende da umidade do ar e da semente e da presena de
microorganismos e insetos.
TEOR DE GUA DA SEMENTE (%)
INT
EN
SI
DA
DE
DA
RE
SPI
RA
O
11 13 15
ARROZ
0,5
1
2
3
4
5
10
20
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
389
As conseqncias diretas do processo respiratrio numa massa de sementes
so o umedecimento e a elevao da temperatura, agravando-se quando
consideradaainda a respirao dos microorganismos e dos insetos que podem vir
junto com as sementes. O resultado disso um rpido declnio da germinao e
do vigor das sementes. O aumento do processo respiratrio das sementes implica
tambm no aumento do consumo de reservas, com a conseqente perda de peso e
vigor das sementes.
O aumento da respirao, como conseqncia do aumento de umidade,
desencadeia tambm outros processos, como o aumento da atividade enzimtica
(enzimas hidrolticas) e dos cidos graxos livres. Tambm a temperatura
aumenta a taxa das reaes enzimticas e metablicas, causando a acelerao da
velocidade de deteriorao das sementes.
Altas temperaturas exercem um pequeno efeito deteriorativo em sementes
com baixo teor de umidade; essas armazenam bem a temperaturas de at 25
o
C.
Porm, sementes com alto teor de umidade no suportam temperaturas maiores
que 10
o
C. Esses fatos mostram que o controle do teor de gua da semente e/ou da
umidade relativa do ar so mais eficientes para assegurar um bom
armazenamento do que o controle da temperatura.
4.6. Danos causados s sementes depois da colheita
Os danos causados por meios mecnicos que as sementes sofrem so
considerados, junto com as condies climticas adversas antes da colheita e o
alto teor de gua das sementes depois de colhidas, como um dos fatores que mais
contribuem para reduzir a qualidade das sementes.
Danos fsicos so todos os tipos de danos causados s sementes por processos
mecnicos de manuseio em equipamentos de colheita, transportadores, mquinas
de beneficiamento ou na prpria semeadeira. O dano pode ser provocado por
choques ou impactos e/ou por abrases das sementes contra superfcies duras ou
contra outras sementes. O dano pode ser imediato (as sementes perdem a
viabilidade imediatamente) ou latente (manifesta-se aps um perodo de
armazenamento da semente). No dano latente, o vigor e o potencial de
armazenamento das sementes so afetados. As sementes mecanicamente
danificadas deterioram-se mais rapidamente durante o armazenamento e, quando
semeadas, no suportam condies adversas no campo.
No armazenamento, as sementes mecanicamente danificadas no mantm sua
viabilidade e vigor devido s fraturas que sofreram (quebras, rachaduras do
tegumento, amassaduras, dano ao embrio) e que interferemna taxa de respirao
dos microorganismos.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
390
Em sementes de soja e feijo, o dano pode no provocar uma fratura visvel,
porm devido posio saliente do embrio, esse pode ser impactado e o dano
manifestar-se somente depois que a semente colocada a germinar, originando
uma plntula anormal.
Todo equipamento mecnico considerado uma fonte de dano semente. Na
colheitadeira, o mecanismo de trilha a principal fonte de todo o manuseio de
ps-colheita da semente. Uma regulagem adequada da velocidade do cilindro e
da abertura do cncavo so fundamentais para reduzir o dano. Para isso, as
recomendaes tcnicas especficas para sementes, do fabricante e da pesquisa,
devem ser seguidas.
Os transportadores de sementes, especialmente os elevadores de caambas
que descarregam as sementes pela fora centrfuga, devem operar a velocidades
nunca maiores do que 1,l m/s na UBS. Em qualquer equipamento, o principal
inimigo das sementes, com relao ao dano fsico, a velocidade de operao
que determina a fora do impacto ou choque. Inclusive, uma correia ou fita
transportadora pode transformar-se emaltamente danificadora se operada alta
velocidade, provocando uma descarga muito intensa.
Existe uma faixa entre 14 e 18% de gua em que as sementes so mais
resistentes aos danos fsicos. Convm ento que o manuseio das sementes seja
feito na medida do possvel dentro dessa faixa para minimizar os danos.
4.7. Idade fisiolgica das sementes
Durante o armazenamento, com o aumento da idade das sementes, produz-se
um envelhecimento natural que provoca tambm uma deteriorao da semente, a
qual continua at que as mesmas deixam de ser viveis. Se as condies de
armazenamento no so adequadas, lotes de sementes que esto sofrendo uma
rpida deteriorao apresentam perdas de viabilidade e de vigor que so difceis
de diferenciar em um processo normal de armazenamento. As curvas de
viabilidade e de vigor so apresentadas na Fig. 5.
As sementes alcanam o mximo potencial de armazenamento no ponto de
maturidade fisiolgica (PMF), onde apresentam o mximo de peso seco,
germinao e vigor. Depois disso, a reduo do vigor depender do espao de
tempo que as sementes ficaro armazenadas, do tipo de semente e das condies
de armazenamento. Pode-se verificar que, embora as curvas de viabilidade e
vigor sejam muito similares, a perda do vigor precede da germinao.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
391
Figura 5 - Reduo da germinao e do vigor de um lote de sementes em funo
do tempo (adaptado de J ustice e Bass, 1978).
Os testes de vigor, tais como o de envelhecimento acelerado e emergncia a
campo, so indicadores mais prticos de qualidade para o armazenamento do que
o teste de germinao, feito este ltimo sob condies favorveis. Esses testes
devem ser utilizados em qualquer programa de controle de qualidade para
determinar o potencial de armazenamento das sementes, j que, emumdeterminado
momento, um lote de sementes pode apresentar emmdiaumaaltaporcentagemde
germinao, porm seu vigor pode ter sido afetado de tal maneira que, ao ser
colocado em condies de campo desfavorveis, mostraumbaixo desempenho.
5. TIPOS DE ARMAZENAMENTO DE SEMENTES
As sementes so armazenadas, durante as diferentes etapas do
beneficiamento, de trs maneiras: a granel, em sacos sob condies ambientais e
em sacos, sob condies controladas de temperatura e/ou umidade relativa.
5.1. Armazenamento a granel
5.1.1. Caractersticas
O armazenamento a granel, ou regulador de fluxo, vem sendo utilizado cada
vez mais pelos produtores de sementes em funo da prpria colheita ser feita a
granel, com combinada automotriz, principalmente em reas grandes. Tambm
em funo da necessidade de secagem, para a maioria das espcies, o
Germinao
Tempo
Vigor
100
0
P
e
r
c
e
n
t
a
g
e
m
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
392
armazenamento a granel facilita bastante o manejo das sementes, j que atua
como regulador de fluxo antes e depois da secagem. um tipo de
armazenamento temporrio que se pode estender de poucos dias at vrios
meses, enquanto as sementes aguardam para serem beneficiadas UBS. Assim
sendo, condio prvia que as sementes estejam limpas (pr-limpeza) e secas.
Se as sementes so armazenadas a granel com elevado teor de gua (maior que
13%), a sua atividade metablica e, consequentemente, a dos microorganismos
associados, produz calor, o qual aumenta a temperatura da massa perigosamente,
acelerando a atividade biolgica e produzindo mais calor, podendo chegar a
matar as sementes. Isso poderia ser evitado se esse armazenamento fosse feito
em silos secadores, com a finalidade de fazer secagem atravs da aerao
constante do silo e, por conseqncia, da massa de sementes. Paula (1992)
concluiu que, com aerao constante, a secagem de sementes de soja com 15%
de gua, em silo secador, pode levar at 30 dias sem afetar a qualidade das
sementes, sempre que o fluxo de ar secante seja de pelo menos 0,8 m
3
de ar por
minuto por tonelada de semente e comno mais do que 4,5 mde altura da camada de
sementes dentro do silo (UR de 60% e 19
o
C de temperatura).
Outras caractersticas do armazenamento de sementes a granel so:
a) o local de armazenamento fixo e pode ser em silos metlicos e depsitos
de madeira ou cimento (tulhas), de preferncia todos dotados com sistemas de
aerao (ventiladores);
b) sistema de transporte para encher e esvaziar os silos completamente
mecanizado e rpido, devendo-se tomar cuidado com os danos mecnicos s
sementes e mistura varietal;
c) pequeno desperdcio de sementes;
d) alto custo inicial;
e) poucas perdas devido a roedores;
f) custos operacionais baixos.
5.1.2. Estruturas de armazenagem
O armazenamento de sementes a granel feito emsilos cilndricos metlicos ou
de madeira, tipo Kongskilde, e em tulhas ou caixas de cimento ou madeira. Essas
unidades armazenadoras a granel devem possuir ventiladores para resfriar a
massa de sementes em caso de aumentos significativos de temperatura.
No armazenamento de sementes a granel, o volume mximo de carga no
deveria exceder 200 a 400 toneladas por unidade, o que implica misturar no
mais do que 5-10 lotes de 20 a 40 toneladas cada. Silos metlicos ou de madeira
para essa capacidade de carga so facilmente encontrados no comrcio. Isso
significa que, se o produtor de sementes tiver que armazenar a granel um total de
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
393
1.500 toneladas de sementes (30.000 sacos), mais recomendvel faz-lo em 10
silos de 150 toneladas. O controle das condies de armazenamento fica mais
preciso e operacional, embora o nmero de unidades seja maior. Os silos
armazenadores (metlicos ou de madeira) possuem ventiladores para fazer
aerao da massa de sementes. Deve-se salientar que os ventiladores para
aerao so de baixa potncia, j que o seu objetivo principal resfriar a massa
de sementes e no secar ou retirar umidade da mesma. Como comparao, temos
que se o ventilador de um silo secador deve fornecer 10 m
3
de ar/min/ ton de
semente para secar, o ventilador de um silo armazenador deve fornecer 0,1 m
3
de
ar/min/ton de semente para resfriar a massa. Mais uma vez, deve-se frisar que no
armazenamento a granel as sementes devem estar secas, como condio prvia, ou
seja, com 13% de umidade no mximo.
5.1.3. Migrao de umidade
Um dos fenmenos que ocorre em uma massa de sementes armazenada a
granel o de migrao de umidade (Fig. 6). Em regies de clima subtropical,
onde h variaes bruscas de temperatura, inclusive durante o dia, as paredes do
silo, no inverno, esfriam ou aquecem em funo da variao da temperatura
ambiente. A diferena de temperatura entre a massa de sementes e o meio
ambiente externo produz correntes convectivas dentro da massa, movimentando-
se o ar nos espaos entre as sementes; para baixo, quando em contato com as
superfcies internas frias (o ar est mais pesado), e para cima, pelo centro (o ar
est mais leve), onde a massa de sementes est mais quente. Esse ar, ao chegar
no topo da massa de sementes, encontra o teto do silo com paredes frias, sendo
condensado o vapor, criando zonas de alta umidade, podendo ainda chover
dentro do silo. Isso poder aglutinar a semente, pr-germinar a mesma, estimular
o ataque de insetos, que so atrados pelo odor e calor despendido pela acelerada
respirao aerbica da semente e, ainda, criar condies favorveis para o rpido
desenvolvimento dos fungos do armazenamento, como por exemplo Pennicillium e
Aspergillus.
Para evitar esse fenmeno da migrao de umidade, deve-se proceder aerao
peridica da massa de sementes mediante o uso dos ventiladores do silo.
5.1.4. Aerao de sementes
A aerao consiste na movimentao forada do ar ambiente atravs da
massa de sementes, sendo seu objetivo principal o resfriamento e a manuteno
das sementes a uma temperatura suficientemente baixa para assegurar uma boa
conservao. Ao se fazer aerao, o efeito inicial, num perodo relativamente
curto, de equilbrio da temperatura da semente com a do ar ambiente; logo
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
394
aps, pode-se reduzir a temperatura com o conseqente resfriamento da massa e,
aps um longo perodo de aerao, poder haver um efeito secante (Lasseran,
1981).
Figura 6 - Migrao de umidade em um silo de armazenamento.
Ferreira e Muir (1981) apresentaram resultados indicando que milho com
13% de umidade pode ser armazenado nas regies sul e sudeste do Brasil por
perodo superior a um ano, empregando-se aerao por insuflao. Porm, a
aerao de milho com ar natural do norte, em regies semelhantes a Belm,
tipicamente tropicais, seria desaconselhvel. Nesse caso, a aerao teria de ser
feita durante a noite, com temperaturas mais baixas.
Como regra geral, a aerao deve ser aplicada quando a diferena de
temperatura da massa de sementes e a temperatura do ar ambiente for em torno
de 5
o
C. Ocorrendo essa diferena, e tendo por objetivo resfriar a massa de
semente, o ventilador deve ser ligado dia e noite, com ou sem chuva, at que a
massa seja resfriada. Isso devido a que a aerao no silo se d na forma de uma
frente de aerao que avana de baixo para cima, devendo o ventilador
permanecer ligado at que essa frente atinja o topo da massa de sementes, tendo-
a resfriado totalmente, homogeneizando sua temperatura.
Quando as sementes vm diretamente da colheita e so armazenadas a granel
em silo-pulmo ou tulha de produto mido, aguardando pela secagem, no
devem ficar por um perodo superior a 48 horas (a semente est com
Ar Frio
Altura Camada
Sementes
Condensao
Ar
Quente
Ar
Frio
Ventilador
Movimento do Ar
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
395
aproximadamente 18% de gua) e a aerao deve ser contnua para conservao
provisria das sementes at a secagem ser realizada.
Semente armazenada a granel em silos deve ser vistoriada regularmente. O
meio mais fcil de inspecionar as sementes no silo retirando amostras em
vrios pontos e registrar a temperatura e teor de umidade das sementes. Esses
registros devem ser feitos pelo menos duas vezes por dia, de manh e de tarde,
para manter o controle da massa de sementes e detectar, em tempo, possveis
problemas. Periodicamente, deve-se avaliar tambm a qualidade da semente
dentro do silo atravs de sua germinao e vigor (teste de envelhecimento
acelerado).
5.2. Armazenamento em sacos
5.2.1. Caractersticas
A comercializao de sementes feita em sacos e, em latas ou pacotes, no
caso de sementes de espcies olercolas. Aps o beneficiamento, as sementes
devem ser embaladas para logo serem armazenadas, esperando pela sua
distribuio. A estrutura de armazenamento um armazm do tipo convencional
em vez de um silo. Em uma UBS, o maior volume de armazenamento em
sacos, portanto, o maior prdio da UBS o armazm.
Segundo Poppinigis (1976), a embalagem de sementes atende a duas
finalidades bsicas: 1) quanto ao aspecto comercial, transporte e manuseio da
semente; 2) a mais importante, proteo das sementes contra umidade, insetos,
roedores e danos mecnicos no manuseio.
5.2.2. Tipos de embalagens
H trs tipos de embalagens quanto permeabilidade: 1) embalagens porosas
ou permeveis; 2) embalagens resistente penetrao do vapor de gua ou
semipermeveis e 3) embalagens impermeveis ou prova de umidade, ou
completamente vedadas.
1) As embalagens permeveis constituem-se em saco de tecido (algodo,
aniagem, ou juta), de papel multifoliado e de plstico ou polipropileno tranado,
de amplo uso pelo seu baixo custo. Esses tipos permitem trocas de umidade entre
a semente e o ar ambiente do armazm; logo, as sementes tendem ao PEH. So
empregadas para perodos curtos de armazenamento e, de preferncia, em climas
secos. Suas principais vantagens so a resistncia ruptura e ao choque,
facilidade de empilhamento e manuseio e boa apresentao (facilidade de
impresso). As principais desvantagens so: os custos comparativos mais
elevados e as flutuaes de umidade dentro da embalagem devido s sementes
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
396
alcanarem o PEH.
2) As embalagens semipermeveis oferecem uma certa resistncia
penetrao de umidade, podendo ser utilizadas em regies de umidade relativa
do ar mais altas, porm ainda por perodo limitado de tempo de armazenamento.
Tm maior resistncia umidade do que as embalagens porosas, facilidade de
imprimir marcas e boa apresentao. O maior inconveniente que nesse tipo de
embalagem as sementes devem estar com teor de gua mais baixo do que o
permitido naquelas acondicionadas em embalagens totalmente porosas.
Exemplos dessas embalagens so sacos plsticos finos ou de polietileno, de
0,075 a 0,125 mm de espessura, e sacos de papel multifoliado laminados com
polietileno. Esses ltimos, normalmente possuem quatro dobras de papel Kraft,
produzido da polpa de pinho, comforro de polietileno de 0,075 mmno interior das
dobras. Para condies de clima temperado, essas embalagens so adequadas,
mas, para condies de clima tropical, so mais recomendveis os sacos de
polietileno de mais de 0,125 mm de espessura, j que sob essas condies
prejudicial que ocorra alguma penetrao de umidade na embalagem (Wanham,
1986).
3) As embalagens impermeveis oferecem completa resistncia s trocas de
umidade com o ambiente. importante salientar que a impermeabilidade da
embalagem depende da vedao da mesma. So as de plstico, com mais de
0,125 mm de espessura selados ao calor, pacotes de alumnio e latas de alumnio,
quando bem vedados. Essas embalagens no permitem o equilbrio do teor de
umidade da semente com o ar exterior, nem flutuaes de umidade dentro da
embalagem. A umidade do interior da embalagem determinada pelo teor de
gua das sementes, logo, esse ltimo deve ser mais baixo do que para as
sementes nos outros tipos de embalagens. Segundo Harrington (1973), o teor de
umidade das sementes armazenadas em embalagens impermeveis deve ser de 8
a 9%, para amilceas, e de 4 a 7%, para as oleaginosas.
Estudos recentes efetuados por Aguirre e Peske (1988) e Scherer e Baudet
(1990) tm mostrado que, para armazenar sementes de feijo por curto prazo (24
a 32 semanas), em embalagens hermticas, as sementes podem ser embaladas
com at 11,5% de umidade sem afetar sua qualidade fisiolgica e emergncia a
campo. Esses resultados foram confirmados por Cappellaro e Baudet (1992),
que armazenaram sementes de feijo em sacos plsticos de 0,15 mm de
espessura e bombonas plsticas para 20 kg de sementes, em condies de
ambiente de armazm convencional. Esse perodo de at 8 meses, ompreende
desde a colheita at nova semeadura na temporada, sendo um dado de grande
importncia tambm para pequenos produtores que podem achar meios
alternativos para guardar suas sementes hermeticamente com umidade de 12,2%.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
397
Para conservar as sementes por perodos superiores a oito meses, o teor de
umidade, seja em condies abertas ou de impermeabilidade, deve ser diminudo
para nveis inferiores a 10%.
A diminuio do teor de umidade nas embalagens hermticas justificada no
seguinte exemplo:
Sementes de milho hbrido so normalmente secadas at 13-14% de umidade,
quando so armazenadas em sacos permeveis ou completamente porosos, como
a aniagem, papel multifoliado, polipropileno tranado, etc. Se essas sementes
forem armazenadas, com esses mesmos teores de gua, em sacos plsticos
hermticos, sua germinao diminuiria a nveis abaixo dos aceitveis em 4
meses. Isso se deve a que, dentro dessas embalagens, a umidade relativa do ar
ambiente entra em equilbrio de acordo com o teor de gua da semente e
permanece nesse nvel, j que no h flutuaes nem troca com o ambiente
exterior. Milho, com 13-14% de umidade, equilibra-se com umidade relativa ao
redor de 65-70%. Nessa umidade, pode haver desenvolvimento de fungos e de
produtos da atividade de insetos ou larvas que possam estar nessas sementes,
chegando as taxas respiratrias a ficar altas o suficiente para liberar CO
2
,
vapor
de gua e calor, comprometendo a viabilidade da semente armazenada. Com teor
de gua de 6-8%, a umidade relativa do ar no microambiente dentro da
embalagem permanecer ao redor de 20-30%, suficientemente baixa para que
no ocorra nenhuma alterao prejudicial semente.
5.2.3. Empilhamento
O prdio no qual as sementes permanecero ensacadas durante seu
armazenamento em pilhas, conhecido como armazm (do tipo convencional),
deve preencher certos requisitos. O armazm deve ser bem arejado, porm deve-
se evitar janelas ou aberturas muito grandes que permitam a penetrao de raios
solares por muitas horas atingindo as pilhas. O ideal que possua uma s porta.
Se as paredes no so de tijolo, pedra ou cimento, ou seja, so de ferro
galvanizado ou de zinco, deveriam possuir algumtipo de isolamento trmico,
como, por exemplo, isopor (50 mm), que tambmdever ser usado no teto.
O armazm deve ser pintado com cores mais claras possveis (branca,
metlica), para facilitar a reflexo do calor. Para facilitar a ventilao, podem ser
instalados exaustores que podem ser ligados quando o ar ambiente externo est
mais frio e seco que o interior do armazm. Para perodos curtos de
armazenamento, equipamentos de ar condicionado de uso domstico (18.000
BTUs) podem ser suficientes para manter uma temperatura amena (15
o
C) no
interior de armazns fechados e de pequeno a mdio porte.
As sementes em sacos so armazenadas por lotes em pilhas montadas dentro
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
398
do armazm. As pilhas so montadas com a ajuda de uma correia transportadora
inclinada ou empilhadeira mecnica. Outro meio que vem sendo muito usado o
forklift ou mula mecnica, que facilita o empilhamento de vrios sacos em uma
mesma operao.
No projeto do armazm convencional, devem ser considerados os seguintes
componentes com relao ao empilhamento: uma rea til, que seria todo o
espao aproveitvel para acomodao dos lotes de sementes ensacadas; as
coxias, que so as reas internas do armazm e que correspondem projeo
dos planos do telhado ou guas sobre o piso; as quadras, que so as divises das
coxias projetadas com base na distribuio dos lastros e das ruas e travessas
(espaos livres entre as quadras que permitem o manuseio dos sacos, trnsito de
pessoal e veculos, inspees, arejamento das pilhas etc.); a rua principal, que
permite o acesso a todas as quadras e travessas do armazm; e os lastros e pilhas.
O lastro constitudo pelo nmero de sacos que servem de base para a formao
e sustentao da pilha.
Os sacos de sementes devem ser empilhados sobre lastros ou estrados de
madeira (pallet) e nunca diretamente contra o cho de cimento, em cima do piso,
para evitar transmisso ou condensao de umidade do solo, o que estragar os
sacos de sementes em contato com o cho. A madeira atua como isolante
trmico. Se esses lastros so construdos de 8 a 10 cm de altura, facilitado o
manuseio das pilhas com a mula mecnica e possibilitada ainda uma razovel
ventilao na base da pilha.
As embalagens utilizadas para as sementes, alm de conserv-las
adequadamente, devem ser de material que facilite o empilhamento, evitando
materiais muito lisos que provoquem o fcil deslizamento e, consequentemente,
queda da pilha.
Aps projetado o volume de sacos de sementes ou quantidade de lotes que
sero armazenados, a rea do armazm deve ser demarcada, localizando as
coxias, quadras, ruas e travessas com as distncias necessrias, devendo a
marcao ficar definitiva. O corredor, ou rua principal do centro do armazm,
deve permitir e facilitar a movimentao de veculos no interior do armazm.
Distncias mnimas recomendadas so de 0,60 m entre pilhas, 0,80 m entre as
pilhas e a parede, 1,50 m entre as pilhas e o teto e 3,00 m de largura para os
corredores principais (Fig. 7).
A altura das pilhas no afeta as sementes nos sacos de baixo, devido ao peso,
se as sementes estiverem armazenadas com teor de umidade abaixo de 14%.
Porm, recomenda-se que a altura mxima seja de 5 m, para evitar danos
mecnicos s sementes, no caso de queda da pilha, facilitar a amostragem e
facilitar o expurgo ou aplicao de produtos qumicos no caso de ataque de
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
399
insetos. Ainda, para facilitar o expurgo, recomendvel que a distncia entre
pilhas seja, pelo menos, de 2 m.
Na produo de sementes fiscalizadas ou certificadas, a inspeo no armazm
deve ser rigorosa quanto ao cumprimento das normas. Quando a semente est
armazenada, pronta para ser comercializada, a amostragem dos lotes feita pela
fiscalizao direta nas pilhas. Lotes de at 5 sacos, so amostrados todos os
sacos, e lotes de at 100 sacos, so amostrados 20% dos sacos. Lotes de mais de
100 sacos, at o mximo, que varia de 300 a 400 sacos por lote, so amostrados
30 sacos. Todo esse trabalho de amostragem deve ento ser facilitado com um
adequado empilhamento, distribuio e identificao dos lotes a serem
comercializados.
Figura 7 - Armazm do tipo convencional para sementes ensacadas (adaptado de
Aguirre e Peske, 1991).
BR - IRGA 410
lote 23/96
280 sacos inicial
120 sacos saldo
08
08
1.50
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
400
As sementes nunca devem ser armazenadas perto de outros materiais, como
adubos, fertilizantes, herbicidas e outros pesticidas, gros, alimentos em p
(raes), etc., j que esse materiais podem facilitar a introduo de pragas ou
podem causar umidade ou gases txicos que podem afetar a qualidade das
sementes. Alm disso, dificultam a inspeo para controle interno e externo de
qualidade.
Outro aspecto a ser considerado no armazm que, segundo normatizao
vigente na maioria dos Estados (CESM), as sementes nas suas respectivas
embalagens nunca devem ser armazenadas em locais que no sejam prprios
para esse fim.
Outros cuidados que devem ser tomados para o empilhamento so:
a) limpeza e demarcao da rea onde ser feito o empilhamento;
b) uso de apenas dois estrados ou pallets necessrios;
c) projetar o tipo de lastro certo;
d) padronizao dos lotes, tanto em peso como na sacaria;
e) colocao primeiro de todos os sacos que iro formar o lastro sobre os
estrados; terminado o lastro, deve-se fazer a fiada superior em sentido contrrio
ao da primeira, para evitar que uma saco fique inteiramente sobre o outro,
podendo provocar desabamento da pilha quando esta atingir maior tamanho;
f) verificao constante do alinhamento da pilha enquanto a mesma est
sendo feita. Para isso, podem ser pendurados do teto cordas com um peso na
ponta, para se manter esticadas, as quais indicaro com preciso os bordos da
pilha em altura;
g) utilizao de sacaria nova, das mesmas dimenses, deixando sempre a
boca do saco costurada para o lado de dentro da pilha, o que evita desabamento e
permite um melhor aproveitamento do espao, facilitando as operaes no
interior do armazm.
5.3. Armazenamento sob condies de ambiente controlado
O armazenamento de sementes em condies de ambiente controlado
(temperatura e/ou umidade relativa do ar) permite conserv-las por longos
perodos de tempo. Como foi visto anteriormente, as sementes so higroscpicas.
Para evitar que absorvam umidade do ar, o que provocaria um aumento do seu
teor de gua a limites que afetariam sua qualidade, as condies ambientais
podem ser modificadas permitindo a conservao das sementes a baixas
temperaturas e/ou baixa umidade relativa do ar. Para isso, utiliza-se a
refrigerao e/ou a desumidificao.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
401
A refrigerao pode ser utilizada em armazns de sementes estocadas em
sacos, para resfriar o ar em ambientes quentes ou com temperaturas acima de
20
o
C. Em regies de temperaturas inferiores a 20
o
C, a desumidificao por
refrigerao torna-se antieconmica.
No Brasil, h pelo menos dois sistemas utilizados para a conservao de
sementes por resfriamento. So o sistema Frioequvel e o sistema Granifrigor,
utilizados em regies tropicais midas, como por exemplo Mato Grosso do Sul,
Mato Grosso e Amaznia. Nesses sistemas, o ar passa por serpentinas de
refrigerao, onde condensada a umidade, formando-se gelo. Em volta da
serpentina, ligado periodicamente um elemento aquecedor para derreter o gelo,
sendo a gua drenada para fora do armazm. Esses equipamentos fornecem ar
frio e seco para o interior do armazm, seja em sementes armazenadas em sacos
(Frigoequvel) ou em silos a granel (Granifrigor). Nas regies quentes, nas quais
os sistemas so utilizados, possibilita-se a conservao a temperaturas ao redor
de 15
o
. Ainda assim, no caso de sementes de soja, recomenda-se que a semente
esteja armazenada com teores de gua de, no mximo, 12%.
Aparelhos de ar condicionado comuns, com capacidade suficiente de
resfriamento (18.000 BTUs), podem ser utilizados em cmaras de conservao
(100 m
3
) ou armazns fechados, onde so requeridas condies de temperatura
ao redor de 18
o
C e umidades relativas de 55 a 65%. Essa umidade pode ser
tambm mantida com aparelhos desumidificadores domsticos, para armazenar
sementes por perodos mdios. Emregies tropicais, os aparelhos devemtrabalhar
continuamente, o que no seria necessrio em regies mais temperadas, onde os
aparelhos seriam desligados at que a temperatura e umidade voltassem a subir.
A desumidificao pode ser feita mediante a utilizao de dessecantes inertes
slidos, como a slica gel, aluminia ativada ou soluo saturada de um sal
dessecante. O ar exterior dirigido atravs do dessecante, que absorve a
umidade. Periodicamente, o dessecante deve ser recarregado, aquecendo-o alta
temperatura. A slica gel pode absorver umidade em at 40% de seu peso. O
nico problema na utilizao de dessecantes slidos o aumento da temperatura
pela ao do calor latente, gerado durante a absoro da umidade, e o calor
sensvel, produzido durante a reativao do material dessecante. A
desumidificao um processo caro, pelo que seu uso se restringiria somente a
regies de alta umidade, ou para sementes de alto valor (germoplasma), ou ainda
para perodos de armazenamento de mais de um ano.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
402
Em armazns ou cmaras de conservao (Fig. 8), para sementes de mais de
um ano (carry over de milho hbrido, sementes de hortalias, germoplasmas), o
objetivo principal o de evitar a migrao da umidade exterior (ambiente de alta
presso) para o ambiente interior (baixa presso) do armazm. Esse tipo de
armazm foi utilizado em climas tropicais, para conservar sementes de milho,
arroz e feijo por at 36 meses, sem reduo de qualidade na semente. Ainda no
houve problemas com insetos, precisando-se de uma nica fumigao.
Figura 8 - Armazm (4,5 L x 6,1 C x 3,0 A metros) com barreiras para vapor e
portas vedadas no interior, com desumidificador e umidostato para manter a UR
interior em 55%, sem controle de temperatura (adaptado de Stephensen, 1978).
Isso se consegue pelo isolamento tanto trmico como higroscpico das
paredes, do teto, do cho e das portas da cmara ou armazm. A construo do
armazm deve ser, portanto, completamente hermtica. Para isso, utilizam-se
materiais isolantes, como lminas plsticas ou de isopor, fibra de vidro, cimento
isolante, asfalto, tintas impermeveis, etc.
Com relao s caractersticas de umidade dos materiais, h uma diferena
entre um material prova de umidade e outro prova de gua. Muitos materiais
prova d'gua (evitam a penetrao de gua lquida) no so prova de vapor de
umidade (gua no estado gasoso), como por exemplo o concreto ou a pedra. Os
principais materiais prova de umidade so: polietileno (0,18 mm de espessura,
no mnimo), asfalto (1,40 mm, no mnimo) e folhas de alumnio. A resistncia
passagem do vapor de gua depende da espessura do material e tambm da
qualidade. No caso do polietileno, mais seguro utilizar de 0,25 mm do que de
0,18 mm.
. . .
.
.
.
.
.
.
.
. .
. .
.
.
.
.
. .
. .
. .
. .
.
.
.
. ..
.
Desumidificador
Construo hermtica e a prova
de umidade
.. . .
.
.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
403
Tambm existem tintas prova de umidade que podem ser aplicadas no
concreto, base de borracha, resina epoxi e silicones; porm, perdem sua
caracterstica de resistncia com o tempo.
A cmara de conservao prova de umidade no deve ter janelas ou
aberturas e deve possuir uma antecmara entre duas portas de entrada. A porta
interna no abre seno quando a porta externa est fechada. No interior, devem
ser colocados termmetros para controle da temperatura dentro da cmara. Termo-
higrgrafos, que registramnumgrfico a temperatura e umidade relativa do ar, so
os mais recomendveis. Tambm, podem ser usados psicrmetros. Esses
medidores devem ser instalados nas paredes internas da cmara e, tambm, no
exterior da cmara, para comparao da temperatura e umidade interna e externa.
Recomenda-se que as sementes guardadas em locais refrigerados, como a
cmara fria, deveriam ser mantidas em uma sala desumidificada e mais quente,
por cinco a sete dias, antes de serem colocadas em condies externas normais.
A retirada de sementes do armazenamento refrigerado complicada, j que, to
logo removida da cmara fria, a umidade condensa na superfcie da semente,
elevando seu teor de gua. medida que a semente aquece, a taxa respiratria
aumenta rapidamente, os fungos tornam-se ativos e, em poucos dias, a semente
deixa de germinar. Cuidados devem ser tomados para que as sementes sejam
semeadas o quanto antes, logo aps seremretiradas do armazmrefrigerado.
6. PRAGAS DAS SEMENTES ARMAZENADAS E SEU CONTROLE
A deteriorao de sementes implica em perda progressiva de qualidade
devido a processos fisiolgicos e/ou agentes patognicos. Os insetos, os fungos e
os caros so os principais agentes fitopatognicos que atacam as sementes
armazenadas. Grandes perdas podem ser causadas ainda por ratos ou pssaros.
As pragas comeam a ser controladas e eliminadas do armazm j quando o
prdio planejado previamente, influindo decisivamente a localizao do
mesmo. As reas interna e externa do armazm devem ser mantidas limpas,
secas, livres de ervas daninhas e detritos, para minimizar o ataque das pragas que
buscam alimento e cobertura.
6.1. Insetos e caros
Os principais insetos que atacam as sementes armazenadas so da ordem
Coleptera: Sitophilus oryzae (gorgulho do arroz), Tribolium castaneum
(besouro da farinha), Oryzaephilus surinamensis (besouro roedor de gros); da
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
404
ordem Lepidptera: Sitotroga cerealella (traa dos cereais), Plodia
interpunctella (traa da farinha). Ainda de importncia, aparecem o Sitophilus
granarius (o gorgulho do trigo), e o Acanthoscelides absoletus (caruncho do
feijo) (Tabela 5).
Tabela 5 - Principais pragas dos produtos armazenados (Leck, 1993).
Praga Produtos preferidos Outros produtos
Sitophilus zeamais
Sitophilus oryzae
Rhizopertha dominica
Oryzaephilus surinamensis
Sitotroga cerealilla
Plodia interpunctella
Cereais em geral
Farinhas, massas, biscoitos,
frutas secas, carne seca
Corcyra cephalonica Amendoim Cereais, farinhas, biscoitos
Acanthocelides obtectus
Zabrotis subfasciatus
Feijes
Araecerus fasciculatus Caf
Tribolium confusum
Tribolium castaneum
Laemophloeus ferrugineus
Gros danificados
Cereais
Anagasta kuheniella
Pyralis farinalis
Farinhas
Detritos de moagem, de
cereais, farelos e fubs
Ephestia elutella Cacau Frutas secas e chocolate
Cadra cautella Amendoim Palmceas e cereais
Gnorimoschena
operculella
Batatinha
Lasioderma serricorne Fumo Gomas secas, farinhas,
biscoitos e tapetes
Alguns insetos, como S. oryzae (gorgulho do arroz), desenvolvem-se e alimentam-se
dentro da prpria semente, consumindo-a por completo, enquanto que outras
espcies alimentam-se principalmente do embrio, reduzindo a germinao da
semente, como caso de alguns colepteros emsementes combaixo teor de gua.
A prpria ao dos insetos, ao alimentarem-se da semente, facilita tambm a
penetrao de fungos na mesma. A grande diferena entre o ataque de insetos e
fungos que os primeiros se desenvolvem em sementes com baixo teor de gua
e os adultos movimentam-se facilmente. Assim, todo o dano provocado pelos
insetos pode ser detido pela fumigao, o que no se consegue com os fungos. O
uso regular de inseticidas e fumigantes deve ser uma prtica de rotina no
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
405
armazm, para minimizar infestaes de insetos. Qualquer lote de sementes deve
ser fumigado (expurgo) logo que recebido no armazm,
para proteger o lote e
evitar contaminao dos outros lotes.
Os principais mtodos de controle de insetos envolvem: a) quarentena; b)
sanidade e profilaxia; c) condies de temperatura e umidade e d) controle qumico.
A quarentena consiste na proibio do transporte de sementes infestadas, para
o qual se precisa de um efetivo controle pelos encarregados do armazm e em
nvel governamental.
As medidas de sanidade ou profilaxia consistem na eliminao ou reduo da
multiplicao dos insetos, tomando cuidados tais como: a) uso de veculos
desinfestados para o transporte; b) uso de equipamentos de colheita,
beneficiamento, manuseio e embalagens desinfestadas; c) limpeza cuidadosa dos
depsitos, sejam graneleiros ou armazns de sementes ensacadas (varredura de
todo o armazm, queima total do lixo, pintar as paredes com cal, etc.); d) no
misturar colheitas de safras diferentes e e) tratamento com inseticidas de contato
nos locais de armazenamento.
H faixas de umidade e temperatura timas para o desenvolvimento dos
insetos. As temperaturas timas vo de 23 a 25
o
C, sendo que abaixo de 20
o
C ou
acima de 35
o
C so desfavorveis ou at letais para os insetos. Sementes com 12 a
15% de gua apresentam um ambiente timo para o desenvolvimento dos
insetos, sendo que menos de 10% de gua desfavorvel.
O controle qumico compreende a aplicao de produtos qumicos
(inseticidas) atravs de pulverizao, fumigao ou expurgo e nebulizao.
A pulverizao consiste na aplicao de inseticidas dissolvidos em diluentes,
sendo a gua o mais comum. Pode ser aplicada na correia transportadora quando
as sementes esto sendo levadas de um ponto a outro, ou nas pilhas com a
semente ensacada, medida em que os lastros vo sendo montados ou, ainda,
aps o expurgo. Pode ser feita com produtos qumicos, tais como Malation,
Piretrides e Piretrinas, etc. Pulverizaes de manuteno devem ser feitas 60
dias aps o tratamento principal. Cuidados devem ser tomados com a aplicao
emrelao aos equipamentos e toxicidade e efeito residual do produtos (Tabela 6).
O expurgo feito com pastilhas ou tabletes que emanam gases txicos para
os insetos, em ambientes hermticos, como o Fosfeto de alumnio (Fosfina) e o
Brometo de metila.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
406
Tabela 6 - Ingredientes ativos para o controle de insetos de arroz armazenado
(Leck, 1993).
Ingrediente Ativo Nome Comercial Registro (N
o
) Carncia (Dias)
Primifs metlico Actellic 500 CE 01238489 30
Permetrina Pounce 384 CE 02968388 60
Diclorvos DDVP 500 CE
DDVP
Malation Shellgran
Dhematol 250 CE
Cythion 1000
Cythion UBV
Malatol 1000 CE
Malatol 40 P
Swingtox Malatol 600
005287
006488
01618590
01986789
00418789
01578789
01958389
60
60
60
60
60
60
3 horas
1
Fenitrotion Sumigran 20 021187 14
1
Somente nebulizao de depsitos.
Inseticidas
Aplicao em
Dosagem rea a
cobrir
Peso de
gros
Inseticida gua
Pirmifs
Metlico
500 CE
1
gros ensacados
mistura direta comgros
paredes de alvenaria
paredes de tbuas
10 ml
10 ml
50 ml
50 ml
1 l
1 l
4 l
4 l
20 m
2
-
50 m
2
25 m
2
-
1 t
-
-
Malation
1000 CE
1
gros ensacados
mistura direta comgros
paredes de alvenaria
paredes de tbuas
60 ml
20 ml
160 ml
160 ml
1 l
1 l
4 l
4 l
20 m
2
-
50 m
2
25 m
2
-
1 t
-
-
Malation
4% p
gros ensacados
mistura direta comgros
paredes de alvenaria
paredes de tbuas
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
-
-
-
-
200 m
2
-
200 m
2
200 m
2
-
1 t
-
-
Diclorvos
500 CE
1
mistura direta comgros
paredes de alvenaria
30 ml
20 ml
1 l
1 l
-
100 m
2
1 t
-
Diclorvos
1000 CE
1
mistura direta comgros
9 ml
1 l
-
1 t
Fenitrotion
2% p
mistura direta comgros
0,3 kg
-
-
1 t
Permetrina mistura direta comgros 10,5 ml 1 l - 1 t
1
Pulverizao, podendo ser reduzido em50% o volumedegua, deacordo como equipamento.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
407
Tabela 7 - Inseticidas recomendados para o controle de trigo durante o perodo
de armazenamento (Leck, 1993).
Dose
1
Tolerncia Intervalo de segurana Praga/Inseticida
ppm ml/t (ppm)
Rhyzopertha dominica:
Deltametrina
3
0,35 14 1 30 dias
Sitophilus sp. e traas:
Deltametrina 0,35 14 1 30 dias
Fenitrotion 7,50 15 0,4 14 dias
Pirimiphs 6,00 12 10 30 dias
1
Dose recomendada para um perodo de proteo de um ano.
2
Dose baseada na formulao 100 CE.
3
Recomenda-se a mistura de um inseticida fosforado (fenitrotion, malation ou
pirimiphs-metil) sempre que houver infestao simultnea de R. dominica e
Sitophilus sp. para uma efetiva proteo da massa de gros.
Os fumigantes podem afetar a viabilidade das sementes se a dosagem for
excessiva, se a umidade e temperatura forem altas e se o perodo de exposio
for longo. Para isso, recomenda-se a fumigao quando as sementes tm no
mximo 10% de gua, esto armazenadas em sacos porosos para facilitar o
arejamento, no devendo as sementes ficarem expostas ao fumigante mais do
que 24 horas. A temperatura de fumigao no deve exceder 29
o
C.
Para efetuar o expurgo, deve-se constituir uma cmara ou compartimento
hermtico aonde os sacos esto empilhados. Para isso, utiliza-se uma lona ou
lenol plstico de PVC que cubra totalmente a pilha a ser expurgada. Antes de
colocar o lenol plstico, deve-se varrer ao redor da pilha para retirar toda a
sujeira, evitar que as pontas dos estrados ou pallets fiquem salientes para no
rasgar o lenol e consertar as fendas que possam haver no piso. Obviamente, o
lenol no deve estar furado.
Para colocar a lona ou lenol plstico, deve-se levar o mesmo para a frente
da pilha e usar uma corda para auxiliar na cobertura. Aps feita a cobertura,
veda-se a juno com o piso utilizando cobras de areia (tubo de lona cheio de
areia de 10 cm de dimetro por 2 m de comprimento) em torno da pilha e sobre
as pontas do lenol.
No caso do expurgo ser feito com Fosfina, as pastilhas (tabletes ou
comprimidos) so colocadas em caixinhas, ao redor da pilha, por dentro do
lenol plstico, verificando-se aps colocadas se a vedao permaneceu
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
408
perfeita. O produto colocado em vrios pontos da pilha, distribuindo-o em
quantidades iguais para cada lado. A dosagem de um tablete de 3 g ou 5
comprimidos de 0,6 g por m
3
(1m
3
=10 sacos). Por exemplo, para uma pilha de
3 m de largura, 5m de comprimento e 4 m de altura, o que significam 60 m
3
ou
600 sacos, devem utilizar-se 60 tabletes ou 300 comprimidos no total,
distribudos por toda a pilha. O tempo de exposio de 72 horas.
No caso de sementes armazenadas a granel em silos, empregam-se sondas
metlicas perfuradas para permitir a penetrao do fumigante dentro da massa
de sementes, o mais profundo possvel. Posteriormente, cobre-se a massa de
sementes com lenol plstico ou lona impermevel, vedando as extremidades
com fita adesiva. Aps decorrido o tempo de exposio, abre-se uma parte e
deixa-se ventilar por 24 horas; aps esse tempo, retira-se o envoltrio e deixa-
se ventilar por mais 24 horas. Se o silo for pequeno e as paredes apresentarem
furos, pode-se seguir o mesmo procedimento das pilhas, cobrindo totalmente o
silo com a lona plstica e utilizando as cobras de areia e fita adesiva para
vedao.
O expurgo com Brometo de metila no recomendado para sementes por
problemas de fitotoxicidade, principalmente quanto ao tempo de exposio, ao
teor de gua das sementes (acima de 13%) e dosagem do produto
temperatura.
Visto que difcil obter 100% de mortalidade, considerando os insetos
adultos bem como as formas jovens (ovo, larva e pupa), o expurgo deve ser
repetido pelo menos a cada 3 meses. Aps o expurgo, recomendvel fazer a
proteo atravs da pulverizao. O produto aplicado logo aps retirado o
lenol, em toda a superfcie da pilha por igual, dirigindo o jato do pulverizador
de forma inclinada e com o vento s costas do operador.
Para a proteo das pilhas aps o expurgo, a pulverizao pode ser feita
com Malathion (10 g de princpio ativo por tonelada de sementes) ou com
Pirimifs metlico, devendo-se usar sempre as dosagens recomendadas pelos
fabricantes (em geral, 0,5 a 1 ml de produto comercial por m
2
), especificando
claramente que o produto a ser tratado semente. O volume de gua a utilizar
na pulverizao varia de acordo com o tipo de superfcie na qual ser aplicado.
Considerando que a aplicao do produto em calda, e que as superfcies mais
porosas exigem maior volume de gua, esse ltimo deve ser ajustado,
aumentando desde superfcies de metal, passando por concreto, tijolo, madeira
at um saco de sementes.
A nebulizao consiste na dissoluo dos inseticidas em leo leve, como
por exemplo leo Diesel, que so transformados em uma neblina densa e
penetrante por meio de equipamentos chamados de termo-nebulizadores.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
409
Embalagens hermticas em sacos plsticos, de espessura acima de 0,20
mm, oferecem boa proteo contra insetos e ainda evitam flutuaes de
umidade das sementes dentro da embalagem.
As sementes j no incio do armazenamento podem vir contaminadas por
algumas espcies de caros, que vm do campo ou esto presentes no
armazm. Os principais efeitos so a reduo da qualidade da semente e o
desenvolvimento de odores indesejveis na massa de sementes. As infestaes
de caros podem ser controladas mantendo as sementes secas (8% para colza,
11% para cereais, no mximo), pela aerao ou transilagem e pela fumigao.
6.2. Fungos
Os fungos mais importantes durante o armazenamento de sementes podem
ser divididos em dois grupos, de acordo com exigncias de umidade para seu
crescimento: fungos do campo e fungos do armazenamento.
Os fungos do campo geralmente invadem as sementes no campo antes da
colheita e, em muitos casos, antes da maturao. Requerem teores de umidade
mnima de 20% (sementes amilceas) para germinar e colonizar as sementes, o
que eqivale a um equilbrio com umidade relativa do ar de 90%. Esses fungos
praticamente no crescem ou morrem em sementes armazenadas com baixo
teor de umidade. Exemplo so os fungos dos gneros Fusarium, Alternaria,
Diplodia, Helminthosporium, Coletotrichum, Phomopsis, etc.
Os fungos do armazenamento so os principais agentes patognicos da
deteriorao de sementes. Podem invadir as sementes antes da maturao,
porm normalmente o fazem aps a mesma ou aps a colheita. Os gneros
mais comuns so o Aspergillus e o Penicillium, que tm exigncias de umidade
relativa do ar e temperatura especficas para sua germinao e
desenvolvimento e colonizam sementes com teores de umidade mais baixos do
que os fungos do campo. Os teores de umidade mnimos para seu crescimento
so de 14% para milho, 12% para soja e 8% para sementes de linho. Esses
teores de umidade equilibram-se com umidade relativa do ar de 70%. Por isso,
sobrevivem e crescem muito bem em sementes armazenadas e, ainda, atravs
dos produtos liberados no metabolismo, ajudam a criar ambiente para o
desenvolvimento de outros fungos.
O principal efeito dos fungos do armazenamento e de alguns do campo a
reduo da viabilidade da semente. A colonizao ocorre inicialmente na
regio do embrio, podendo degradar toda a semente. Esses fungos podem
locomover-se indiretamente via insetos ou caros, ou atravs da movimentao
da semente, carregando os esporos ou miclios na superfcie das sementes.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
410
O Penicillium pode desenvolver-se com temperatura tima de 20-25
o
C,
sendo que para o Aspergillus a temperatura tima de 30-35
o
C.
Alm do decrscimo na germinao da semente, os fungos podem causar
descolorao de parte ou de toda a semente, aquecimento da massa de
sementes, transformaes bioqumicas e ainda celulares ao nvel do embrio e
produo de toxinas (o fungo Aspergilius flauvus produz a toxina denominada
Aflatoxina em gros armazenados, reconhecido por seu potencial cancergeno
para o ser humano).
Quanto ao controle dos fungos, a aplicao adequada de todas as medidas,
que servem para assegurar um bom armazenamento de sementes desde a
lavoura, diminuir a incidncia de fungos durante o armazenamento. Ainda, as
medidas de controle relatadas para insetos e o controle de outras pragas, como
roedores, facilitam o controle dos fungos. Assim sendo, fornecer s sementes
condies de umidade e temperatura hostis ao desenvolvimento de fungos,
principalmente dos fungos de armazenamento, ser o melhor meio de controle
dos mesmos. Para isso, avaliaes peridicas das sementes armazenadas
devem ser feitas para detectar a presena de fungos, principalmente os de
armazenamento. Assim, utiliza-se o teste do papel secante ou blotter test em
laboratrio, onde as sementes so colocadas sob condies que permitam o
desenvolvimento dos fungos que, posteriormente, so identificados,
contabilizadas as sementes que os possuem e registradas em dados percentuais
6.3. Roedores e pssaros
Armazns abertos devem possuir ventilao adequada e proteo (tela de
arame) contra roedores e pssaros.
O controle dessas pragas deve ser prevenido logo quando o prdio
projetado. O armazm deve estar totalmente rodeado por fora com uma calada
ou piso de cimento de 1 a 2 m de largura e de preferncia a uma certa altura.
O ataque de roedores e pssaros pode ser reduzido mediante a utilizao de
iscas ou gua envenenada, com armadilhas e fumigao. A colocao de iscas
de comida no envenenada faz com que a isca envenenada fique mais aceitvel
pelos ratos. O uso de anticoagulantes tem se mostrado muito seguro e eficaz na
eliminao de ratos no armazm, porm o controle tem que ser peridico, j
que novos ratos sempre retornam (Tabela 7).
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
411
Tabela 8 - Principais raticidas utilizados no controle da praga (Leck, 1993).
Nome Tcnico Nome Comercial 5 i.a.
a) Anticoagulantes
Varfarin
Coumacloro
Coumafuril
Coumatetralil
Difanacoum
Brodifacoum
Ri-do-Rato
Tamorin
Fumarin
Racumin
Ratak
Klerate
0,025
0,030
0,025
0,026
0,005
0,005
b) Neurotxicos
Alfa-naftil-tio-uria
Fluoracetato de sdio
Arsnico branco
Estricnina
Fosfato de zinco
Sulfato de tlio
Antu
Composto 1080
Arsnico branco
Estricnina
Fosfato de zinco
Sulfato de tlio
1,5
0,2
3,0
0,6
2,0
1,5
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
412
PREPARO DE ISCAS ENVENENADAS PARA RATOS
a) Migalhas de po ralado 4,0 kg
Toucinho moido 0,5 kg
Adicionar um raticida
b) Migalhas de po ralado 5,0 kg
Carne fresca recentemente picada 5,0 kg
Glicerina 0,3 kg
Adicionar um raticida
c) Cevada descascada 16,0 kg
Bicarbonato de sdio 30,0 kg
Goma de amido 175,0 g
Sacarina 2,0 g
Estricnina em p 30,0 g
Glicerina 1,0 colher de sopa
d) Farinha de trigo ou de mandioca 25,0 kg
Fub de milho 12,5 kg
Milho pilado 12,5 kg
(usar 7 kg da mistura para:)
Carne fresca 1,5 kg
Arsnico 1,5 kg
ou
Peixe fresco 1,5 kg
Arsnico 1,5 kg
e) Gesso em p 200,0 g
Brax 100,0 g
Farinha de trigo 200,0 g
ou
Gesso calcinado em p 1 parte
Farinha de trigo 3 partes
Obs: emambos os casos, adicionar raspa de queijo ou peixe ou algumas gotas de anis.
f) Urginea martima (cila vermelha)
P de cila 100,0 g
Carne picada 100,0 g
ou
Extrato fludo de cila 1 parte
Leite 1 parte
Fatias de po at embeber
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
413
Algumas medidas de excluso de ratos incluem o uso de piso de concreto,
paredes de alvenaria, chapas metlicas nas portas e vigas e cobertura das
aberturas e entradas com chapas metlicas ou tela de arame. Contudo, as medidas
de sanidade profilaxia dentro e fora do armazm so os melhores meios de
proteo contra essas pragas.
7. CONSIDERAES FINAIS
Delouche (1968) enunciou dez preceitos bsicos do armazenamento de
sementes que devem ser considerados cada vez que se desejar planejar,
organizar
ou, simplesmente,
armazenar sementes.
I. A qualidade da semente no melhorada pelo armazenamento.
II. O teor de umidade da semente e a temperatura so os fatores mais
importantes que afetam o potencial de armazenamento das sementes.
III. O teor de umidade da semente funo da umidade relativa do ar e, em
menor grau, da temperatura.
IV. A umidade mais importante que a temperatura.
V. A cada 1% de diminuio no teor de umidade, duplica-se o potencial de
armazenamento da semente.
VI. A cada 5,5
o
C de diminuio na temperatura, duplica-se o potencial de
armazenamento da semente.
VII. Condies frias e secas so as melhores para o armazenamento de
sementes.
VIII. Lotes contendo sementes danificadas, imaturas e deterioradas no se
armazenam to bem como aqueles contendo sementes maduras, no danificadas
e vigorosas.
IX. O armazenamento de sementes em condies hermticas requer que o
teor de umidade esteja dois a trs pontos percentuais mais baixo do que para
armazenamento aberto.
X. A longevidade da semente uma caracterstica das espcies.
Recomendamos que esses dez preceitos sejam seguidos, bem como as outras
medidas desenvolvidas neste mdulo, para assegurar a manuteno da qualidade
das sementes durante seu armazenamento e, assim, evitar que todo o esforo
dispendido na produo das sementes tenha sido em vo.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
414
8. BIBLIOGRAFIA
AGUIRRE, R. e PESKE, S. Efecto de la humedad en el almacenamiento
hermtico a corto plazo de semillas de frijol (Phaseolus vulgaris). ISTA, Seed
Sci. & Technol, v. 19, n. 1, 1991. p. 117-122.
AMARAL, A. e BAUDET, L. Efeito do teor de umidade, tipo de embalagem e
perodo de armazenamento na qualidade de sementes de soja. Rev. Bras.
Sementes, v. 5, n. 3, 1983. p. 27-35.
AMERICAN PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY. Deterioration mechanism in
seeds. Phytopathology, v. 73, n. 2, 1983. p. 313-319.
AMERICAN SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE. Seed quality: an
overview of its relationships to horticulturist and physiologists. Hort Science, v.
15, n. 6, 1980. p. 764-788.
BAUDET, L. .M.B. & VILLELA, F A Armazenamento. Revista SEED News 4
(4) 28-32. 2000.
BEWLEY, J .D. e BLACK, M. Seeds: physiology of development and
germination. New York: Plenum Press, 1985. 367p.
BURRIS, J .S. Maintenance of soybean seed quality in storage as influenced by
moisture, temperature and genotype. Iowa State Journal of Research, v. 54, n.
3, 1980. p. 377-389.
CAPELLARO, C. e BAUDET, L. Qualidade de sementes de feijo armazenadas
em embalagens plsticas resistentes a trocas de umidade. Rev. Bras. de
Sementes. v. 15, n. 2, 1993.
COPELAND, L.O. e McDONALD, M.B. Principles of seed science and
technology. 2. ed. Minneapolis: Burgess Publishing Company, 1985.
DELOUCHE, J .C. Precepts for seed storage. In: Proc. Short Course for
Seedsmen. Mississippi State University. 1968. p. 85-118.
DELOUCHE, J .C. Physiology of seed storage. In: Proc. Short Course for
Seedsmen. Mississippi State University, 1979.
Sementes: Fundamentos Cientficos e Tecnolgicos
415
FARRANT, J .; PAMMENTER, N. e BERJ AK, P. Recalcitrant-A current
assessment. 21st ISTA Congress. Brislair, Australia, 1986. 16p.
HARRINGTON, J . Packaging seed for storage and shipment. Seed Science &
Technology, v. 1, n. 3, 1973. p. 701-710.
J USTICE, O.L. e BASS, L.N. Principles and practices of seed storage. USDA
Agric. Handb. 506. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 1978.
KOZLOWSKI, T.T., ed. Seed Biology. 3v. Academic Press, New York. 1972.
LASSERAN, J .C. Aerao de gros. Trad. J .C. Celaro, M. Celaro &
M.Gomide. Srie CENTREINAR n
o
2, Viosa, MG, 1981. 128p.
McDONALD, M.B. e NELSON, C.J . Physiology of seed deterioration. Spec.
Pub. 11. Crop Science Society of America, Madison, 1986.
POPINIGIS, F. Preservao da qualidade fisiolgica da semente durante o
armazenamento. Braslia, DF: EMBRAPA, 1976. 52p.
PRIESTLEY, D.A. Seed aging. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1986.
ROBERTS, E.H. Loss ot seed viability during storage. p. 9-34. In: J .R. Thomson
(ed.) Advances in research and technology of seeds. Part 8. International Seed
Testing Association. Wageningen, Holland. 1983.
ROCHA, F.F. Interaction of moisture content and temperature on onion seed
viability. p. 385-389. In: Proc. of the American Societv for Horticultural
Science, v. 73, 1959.
WEST, S.H. Physiological-pathological interactions affecting seed deterioration.
Spec. Pub. 12. Crop Science Society of America, Madison, Wl. 1986.
Você também pode gostar
- Planejamento e implementação na cadeia produtivaNo EverandPlanejamento e implementação na cadeia produtivaAinda não há avaliações
- Genética Na Agropecuária Capítulo 16Documento28 páginasGenética Na Agropecuária Capítulo 16Alexandre OliveiraAinda não há avaliações
- Implantação de PomaresDocumento108 páginasImplantação de PomaresRegis Eduardo SilveiraAinda não há avaliações
- Cultivo Do Algodão 4Documento29 páginasCultivo Do Algodão 4Tárik GalvãoAinda não há avaliações
- Aula 6 MicropropagaçãoDocumento42 páginasAula 6 MicropropagaçãoLídia Anita Nascimento100% (1)
- Sintomatologia de Doenças e PlantasDocumento16 páginasSintomatologia de Doenças e PlantasSara JesusAinda não há avaliações
- Fitopatologia - Manejo Integrado de Doenças de Plantas (MID)Documento32 páginasFitopatologia - Manejo Integrado de Doenças de Plantas (MID)Joao PauloAinda não há avaliações
- Aula Cultura Do AmendoimDocumento80 páginasAula Cultura Do AmendoimChristian Alves100% (1)
- Cultura Do PepinoDocumento34 páginasCultura Do PepinoFernando Sarmento100% (2)
- Cultivo Da PimentaDocumento10 páginasCultivo Da PimentaFranklin AndradeAinda não há avaliações
- Parasitoide Mosca Da Fruta - Eng. L.taperaDocumento65 páginasParasitoide Mosca Da Fruta - Eng. L.taperaLuis Tapera100% (2)
- Feijao Aula 01Documento53 páginasFeijao Aula 01Paulo SilvaAinda não há avaliações
- Biofertilizante BiogeoDocumento2 páginasBiofertilizante BiogeoFernando AmbrozioAinda não há avaliações
- POMAR DOMÉSTICO - Orientações Técnicas e Recomendações Gerais PDFDocumento6 páginasPOMAR DOMÉSTICO - Orientações Técnicas e Recomendações Gerais PDFBernardo UenoAinda não há avaliações
- Cultura Do CoqueiroDocumento66 páginasCultura Do CoqueiroEdno Negrini Jr100% (1)
- Manual Viveirista PDFDocumento26 páginasManual Viveirista PDFAnderson JaniskiAinda não há avaliações
- Cultura Do Mamão - TrabalhoDocumento26 páginasCultura Do Mamão - TrabalhoPaulo Henrique MüllerAinda não há avaliações
- Manejo Pragas Goiabeira SalazarDocumento41 páginasManejo Pragas Goiabeira SalazarBlzAinda não há avaliações
- EDIÇÃO 19 - Hortaliças em Revista - Irrigação de Tomateiro Orgânico PDFDocumento20 páginasEDIÇÃO 19 - Hortaliças em Revista - Irrigação de Tomateiro Orgânico PDFLydio Ribeiro DantasAinda não há avaliações
- MANGUEIRADocumento36 páginasMANGUEIRAJose Ribamar Souza JuniorAinda não há avaliações
- Conservacao Pos Colheita Frutas e Hortalicas PDFDocumento137 páginasConservacao Pos Colheita Frutas e Hortalicas PDFAdriano RafaelAinda não há avaliações
- Aula 9 - Evapotranspiração PDFDocumento45 páginasAula 9 - Evapotranspiração PDFpedroi17Ainda não há avaliações
- Produção de GoiabaDocumento64 páginasProdução de GoiabaMiguel LimaAinda não há avaliações
- Cpatc Cir. Tec. 24 01Documento27 páginasCpatc Cir. Tec. 24 01Claudinei Francisco MoraesAinda não há avaliações
- Manual de Identificação Das Doenças Do Algodoeiro PDFDocumento58 páginasManual de Identificação Das Doenças Do Algodoeiro PDFcristian_bilertAinda não há avaliações
- Cultura Dos Citros - Alves, P. R. B. e Melo B PDFDocumento27 páginasCultura Dos Citros - Alves, P. R. B. e Melo B PDFViam prudentiaeAinda não há avaliações
- A Cultura Da MangaDocumento24 páginasA Cultura Da MangaNanci LimaAinda não há avaliações
- Manual de Calagem e Adubacao para Os Estados Do RS e de SC-2016Documento376 páginasManual de Calagem e Adubacao para Os Estados Do RS e de SC-2016Carla Goldasz100% (2)
- EmbrapaFeijao PDFDocumento66 páginasEmbrapaFeijao PDFAlexandre G100% (1)
- Pragas Do MaracujazeiroDocumento65 páginasPragas Do Maracujazeirojoaoreginaldo0% (1)
- Aula de AlgodãoDocumento101 páginasAula de Algodãoleuufrrj1570100% (1)
- Cadeia Produtiva Do MorangoDocumento22 páginasCadeia Produtiva Do MorangoJuliana SoaresAinda não há avaliações
- Agricultura I Manual de OrientaçãoDocumento97 páginasAgricultura I Manual de OrientaçãoWalter Mendes Mendes100% (1)
- Cartilha Do TomateDocumento40 páginasCartilha Do TomateEderson A. Civardi100% (1)
- Apresentação Da Cultura Do Milho,-1Documento17 páginasApresentação Da Cultura Do Milho,-1WasleyAinda não há avaliações
- Caderneta de Pragas e Doenças Da Cana de Açúcar CTC PDFDocumento86 páginasCaderneta de Pragas e Doenças Da Cana de Açúcar CTC PDFAgb ExtintoresAinda não há avaliações
- Cultura Do Morangueiro PDFDocumento50 páginasCultura Do Morangueiro PDFBruno Moreira100% (1)
- Doenças Pós-Colheita Das FrutasDocumento68 páginasDoenças Pós-Colheita Das FrutasetyseAinda não há avaliações
- Situacao Da Olericultura PDFDocumento98 páginasSituacao Da Olericultura PDFaloisiobie2039Ainda não há avaliações
- Guia Geral de Criacao de CodornasDocumento27 páginasGuia Geral de Criacao de CodornasNelson JuniorAinda não há avaliações
- Folder Doencas PimentaDocumento2 páginasFolder Doencas PimentaFelipe VilasboasAinda não há avaliações
- Colheita de Frutos e HortaliçasDocumento70 páginasColheita de Frutos e HortaliçasNatália DuarteAinda não há avaliações
- Milho para Altas Produtividades (3)Documento75 páginasMilho para Altas Produtividades (3)ElaineAinda não há avaliações
- Colheita Pos Colheita MILHODocumento7 páginasColheita Pos Colheita MILHOJônatas BarrosAinda não há avaliações
- 4 Estrutura Da SementeDocumento4 páginas4 Estrutura Da SementeAnderson PessottoAinda não há avaliações
- Profissional em Cultivo de Milho e SorgoDocumento9 páginasProfissional em Cultivo de Milho e SorgoCelio HenriqueAinda não há avaliações
- Aula 1 - Introdução À Sistemas AgroflorestaisDocumento28 páginasAula 1 - Introdução À Sistemas AgroflorestaisLuana FernandesAinda não há avaliações
- U - 46 - BR - Bula 2,4DDocumento11 páginasU - 46 - BR - Bula 2,4Dlenildo86Ainda não há avaliações
- Manejo Integrado de Pragas - EMBRAPADocumento28 páginasManejo Integrado de Pragas - EMBRAPAArlington Ricardo RibeiroAinda não há avaliações
- Aula 2 Pragas Dos CitrosDocumento30 páginasAula 2 Pragas Dos CitrosSoheila de CastroAinda não há avaliações
- Cultivo de BananeirasDocumento90 páginasCultivo de BananeirasMarinês BomfimAinda não há avaliações
- Goiabeira - 9 - MIPpragasDocumento33 páginasGoiabeira - 9 - MIPpragasFelipe VilasboasAinda não há avaliações
- Controle Físico e Mecânico de PragasDocumento27 páginasControle Físico e Mecânico de PragasMiguelsantana67% (3)
- AGRICULTURA GERAL E MÁQUINAS AGRICOLAS II - Trabalho Escrito Sobre Cultura de Girassol de MultiplicaçãoDocumento20 páginasAGRICULTURA GERAL E MÁQUINAS AGRICOLAS II - Trabalho Escrito Sobre Cultura de Girassol de MultiplicaçãoDavid Quintino100% (1)
- Produtos FitofarmacêuticosDocumento234 páginasProdutos FitofarmacêuticosMarco Rodrigues100% (1)
- Cultivo de Gérberas Pote e CorteDocumento28 páginasCultivo de Gérberas Pote e CorteCarlos Alberto SeverinoAinda não há avaliações
- Aula - Conceitos, Formação e Estrutura Das SementesDocumento27 páginasAula - Conceitos, Formação e Estrutura Das SementesLucas NunesAinda não há avaliações
- Turfeiras da Serra do Espinhaço Meridional: Serviços Ecossistêmicos Interações Bióticas e PaleoambientesNo EverandTurfeiras da Serra do Espinhaço Meridional: Serviços Ecossistêmicos Interações Bióticas e PaleoambientesAinda não há avaliações
- Ementa Curso Iluminação CênicaDocumento3 páginasEmenta Curso Iluminação CênicajouglaswiAinda não há avaliações
- Luiz Henrique Ceotto - Contribuição A Otimização Do Traçado de Cabos em Vigas Continuas ProtendidasDocumento213 páginasLuiz Henrique Ceotto - Contribuição A Otimização Do Traçado de Cabos em Vigas Continuas Protendidasmateus456Ainda não há avaliações
- Desenvolvimento de Um Dispositivo Detector de Vazamento de Gás Utilizando Arduino Como Interface de AutomaçãoDocumento2 páginasDesenvolvimento de Um Dispositivo Detector de Vazamento de Gás Utilizando Arduino Como Interface de AutomaçãoLucas GodoiAinda não há avaliações
- Iracema - Adaptação Teatral (José de Alencar)Documento5 páginasIracema - Adaptação Teatral (José de Alencar)Zeca RolandAinda não há avaliações
- 7 Regras de Ouro Dos Casais de SucessoDocumento24 páginas7 Regras de Ouro Dos Casais de SucessoAlineAinda não há avaliações
- A Maturidade Na Perspectiva de Eclesiastes 12Documento37 páginasA Maturidade Na Perspectiva de Eclesiastes 12ÁudioVisual PIBItaqueraAinda não há avaliações
- FolderDocumento2 páginasFoldertirsi mabelAinda não há avaliações
- Alfred Lothar WegenerDocumento4 páginasAlfred Lothar WegenerBresser OliveiraAinda não há avaliações
- Astrologia Cristã - William LillyDocumento906 páginasAstrologia Cristã - William Lillyfilipi2000100% (11)
- Manual de Boas Práticas de FabricaçãoDocumento8 páginasManual de Boas Práticas de FabricaçãoAlex AlmeidaAinda não há avaliações
- Manual MegatronDocumento191 páginasManual MegatronfedsbmAinda não há avaliações
- ATUAL ECIVIL p17Documento130 páginasATUAL ECIVIL p17Teodol Equipamentos de PrecisãoAinda não há avaliações
- EDITAL PRODIC-UNEAL No 030-2020 - TURMA 6 - 2021Documento21 páginasEDITAL PRODIC-UNEAL No 030-2020 - TURMA 6 - 2021jorgeAinda não há avaliações
- Salmo 91 o Escudo de Proteao de Deus Peggy Joyce R PDFDocumento284 páginasSalmo 91 o Escudo de Proteao de Deus Peggy Joyce R PDFdribeiro1Ainda não há avaliações
- 9888 18845 1 PBDocumento6 páginas9888 18845 1 PBDausten VitorAinda não há avaliações
- 170 Motivos para Te Amar PituxinhoooDocumento4 páginas170 Motivos para Te Amar PituxinhoooSilvia Aros100% (1)
- Sebenta TotalDocumento195 páginasSebenta Totaldabysk100% (3)
- JW1 - Projeto Executivos - Pontos Elétricos e Hidráulicos WilkeDocumento6 páginasJW1 - Projeto Executivos - Pontos Elétricos e Hidráulicos WilkeJean silvaAinda não há avaliações
- Demonologia CONJURADADocumento17 páginasDemonologia CONJURADADENYRO01Ainda não há avaliações
- Folheto Crisma 1Documento2 páginasFolheto Crisma 1Murilo Vilas BoasAinda não há avaliações
- Epilepsia Na Infancia e AdolescenciaDocumento502 páginasEpilepsia Na Infancia e AdolescenciaLeoberto Batista Pereira Sobrinho100% (1)
- GREGOLIN, Remontemos de Foucault A Spinoza-PecheuxDocumento11 páginasGREGOLIN, Remontemos de Foucault A Spinoza-Pecheuxraquel_rybandtAinda não há avaliações
- A Tragédia Grega Na Poética SlidesDocumento26 páginasA Tragédia Grega Na Poética SlidesRafael CensonAinda não há avaliações
- A Importância Do Sódio No Manejo Nutricional de Cães e Gatos CardiopatasDocumento7 páginasA Importância Do Sódio No Manejo Nutricional de Cães e Gatos CardiopatasGláucia LunaAinda não há avaliações
- 10 Projeto Aurora CenPRADocumento56 páginas10 Projeto Aurora CenPRAdamqueirozAinda não há avaliações
- Referencial de Competências-Chave NS STCDocumento21 páginasReferencial de Competências-Chave NS STCnuno.jose.duarte100% (1)
- Indutor de Bloqueio Trifásico CFP PDFDocumento7 páginasIndutor de Bloqueio Trifásico CFP PDFJeydson StorchAinda não há avaliações
- ESTRUTURADocumento9 páginasESTRUTURACarlos Felipe Bezerra De LimaAinda não há avaliações
- Suicídio - Do Desalojamento Do Ser Ao Desertor de Si MesmoDocumento14 páginasSuicídio - Do Desalojamento Do Ser Ao Desertor de Si MesmoJoão Vitor Moreira MaiaAinda não há avaliações
- Teorias BehavioristasDocumento12 páginasTeorias BehavioristasCornélio Eugénio MarqueleAinda não há avaliações