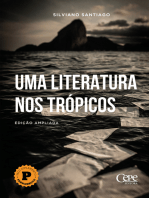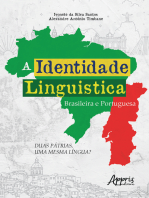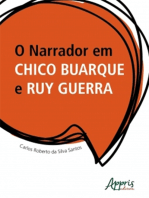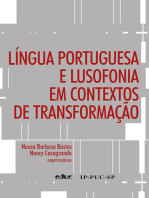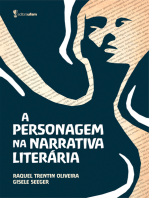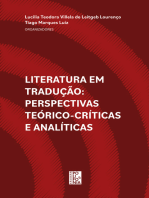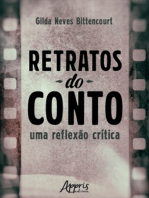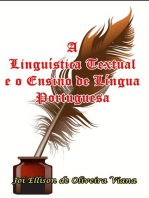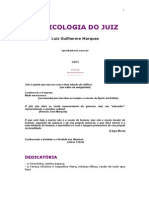Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Teorias Contemporâneas Da Tradução PDF
Enviado por
agnesjahnTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Teorias Contemporâneas Da Tradução PDF
Enviado por
agnesjahnDireitos autorais:
Formatos disponíveis
4
Primeiros estudos
de traduo
Os dois predominantes modos de pesquisa na rea de traduo na
dcada de 1970 foram aqueles que enfocavam basicamente os interesses
literrios, rejeitando pressuposies tericas, regras normativas e jargo
lingustico, e os que se concentravam em questes lingusticas, alegando
uma abordagem cientfica e rejeitando solues algicas e especulao
subjetiva. Ambos os lados limitavam os tipos de textos tratados para mos
trar que suas metodologias tinham a maior vantagem, vendo o trabalho e
as realizaes do outro com ceticismo: os tradutores literrios descartavam
qualquer anlise lingustica cientfica; os linguistas dispensavam a anlise
literria no cientfica. Intervinham nessa situao conflitante alguns estu
diosos mais jovens, na maioria da Holanda e da Blgica. James Holmes,
em The Name and Nature o f Translation Studies (1972/5), distanciou-se
das teorias da traduo, que costumam refletir a atitude e a abordagem
do escritor, e das cincias da traduo, que podem no ser apropriadas
para uma investigao de textos literrios, e cunhou o termo estudos de
traduo para uma abordagem no aliada e nova (Holmes, 1972/5: 8).
Alguns anos depois, Andr Lefevere expunha o ponto central do
problema terico. Em Translation: The Focus o f the Growth o f Literaiy
Knowledge (1978), ele argumenta que o antagonismo entre as duas faces
opostas - que ele chama de hermenutica e neopositivista - se baseava
em mtuo desentendimento (intencional) (Lefevere, 1978a: 8). Lefevere
afirmou que a abordagem hermenutica da traduo, usada principalmente
107
108
Teorias Contemporneas da Traduo
Contemporary Transiation lheori.es
por pensadores individuais que tentam chegar, sozinhos, a ideias, verdades e
formas gramticas de validade universal, tendia a ser no cientfica, baseando
seu sistema de ideias em premissas epistemolgicas que tinham 300 anos de
atraso e que, em anos mais recentes, eram contraditas por descobertas de outras
disciplinas (Lefevere, 1978a: 9). O positivismo lgico, a estratgia dominante
empregada pelos estruturalistas de traduo, gramticos de textos e semiticos, reduzia o estudo de literatura a um a lngua pretendida para a cincia fsica,
baseava as verdades em dados slidos e regras de correspondncia e apresenta
va ideias de cincia que eram monsticas, reducionistas e fisicalislas (Lefevere,
1978a: 12-13). Lefevere argumenta que as teorias da traduo baseadas em tais
posturas no promovem o crescimento do conhecimento literrio, mas tendem
a servir a interestes especficos - ideolgicos, bem como corporativos - que
impedem a descrio de um a teoria adequada de traduo. Seu parecer carac
terstico da interveno holandesa/belga na rea:
Nisso que consiste o grande escndalo da literatura em geral c da metaliteratura [traduo e comentrio] em particular. Em vez de expor e derrubar
ideologias que estultificam e escravizam, aqueles que afirmam ter um inte
resse profissional pelo conhecimento literrio ocupam-se em construir suas
ideologias particulares dentro de uma estrutura convencional e segura e em
calcular seus lucros. (Lefevere, 1978a: 22)
Os estudiosos nos Pases Baixos estavam interessados tanto na lin
gustica (cientfica) quanto na traduo literria (no cientfica) e no viam
por que um a deveria excluir a outra. Para fugir aos conceitos idealsticos e
estticos caractersticos das anteriores abordagens de traduo, Lefevere su
geriu que os estudos de traduo m udassem o foco terico da investigao e
baseassem sua pesquisa em um conceito evolucionrio de m etacincia, no
no conceito positivista lgico nem no herm enutico (1987a: 7).
N aes m enores com populaes m enores falando lnguas de m enor
im portncia passaram a depender da traduo para seu sustento com er
cial, poltico e cultural; por isso, no nos surpreende que estudiosos desses
pases no s saibam mais a respeito de traduo, m as ainda se adaptem
com m aior facilidade a situaes de conflito. C onsiderando-se a locali
zao geogrfica dos pases na encruzilhada da vida intelectual europeia,
tam bm no um a surpresa que um a nova ideia ou pelo m enos um a nova
perspectiva quanto aos problem as enfrentados por um a teoria da traduo
encontre sustentao entre os jovens e com eles cresa. A traduo pode
ser um a rea m arginal de investigao em pases com grandes populaes
Primeiros estudos de traduo
109
Early transiati on studies
monolngues, mas, na Blgica e na Holanda, a rea de traduo pode unir,
ou ao menos mediar, diversas teorias literrias. Distanciando-se do investi
mento ideolgico que caracteriza a histria da teoria da traduo em outros
lugares, uma nova abordagem emergiu dos Pases Baixos.
Os estudos de traduo comearam com uma deciso de suspender
temporariamente as tentativas de definir uma teoria de traduo, procu
rando em primeiro lugar aprender mais a respeito dos procedimentos de
traduo. Em vez de tentar solucionar o problema filosfico da natureza do
significado, os estudiosos da traduo passaram a se interessar pelo modo
como o significado viaja. Uma importante caracterstica desse novo campo
era sua insistncia na abertura para as abordagens interdisciplinares: estu
diosos literrios trabalhando com lgicos, linguistas ao lado de filsofos.
As distines limitantes, tais como certo e errado, formal e dinmico, literal
c livre, arte e cincia, teoria e prtica, tornaram-se menos importantes. A
traduo, como rea de estudo, j no era mais vista como literria ou no
literria, mas como ambas. Novas questes foram apresentadas com rela
o ao tema de investigao, natureza do processo de traduo, ao modo
como a mediao ocorre c como o processo afeta tanto o trabalho original
(redefinido como texto-fonte) quanto o recebido (redefinido como textoalvo). A prpria distino entre escritor original e tradutor foi questionada.
O objeto de estudo no era um ncleo ausente de significado nem uma
estrutura profunda lingustica, mas sim o prprio texto traduzido.
Essa postura no est isenta de teorias, e uma das metas dos primeiros
estudos de traduo era formular uma teoria da traduo. No incio, porm,
esse novo campo caracterizava-se por sua hesitao em impor pressuposi
es tericas e seu sistema criterioso de testar todas as hipteses em torno de
descries de tradues reais e estudos de caso histricos. Novamente, Andr
Lefevere resume com preciso as metas tericas dessa rea de estudo:
A meta da disciplina produzir uma teoria abrangente que possa ser usada
como diretriz para a produo de tradues. A teoria se beneficiaria se fosse
desenvolvida com base em argumentos que no tenham inspirao neopositivista nem hermenutica. A teoria se beneficiaria se fosse elaborada sobre um
terreno dc histricos de caso constantemente testados. Ela no seria, enfim,
esttica; evoluiria de acordo com o consenso dinmico de estudiosos qualifi
cados, que constituem um frum de competio. (...) No inconcebvel que
uma teoria elaborada dessa maneira ajudasse na formulao de uma teoria
literria e lingustica; como tambm no inconcebvel que as tradues
feitas de acordo com as diretrizes experimentais na teoria possam influenciar
o desenvolvimento da cultura receptora. (Lefevere, 1978b: 234)
110
Teorias Contemporneas da Traduo
Contemporaiy 2 ranslation Theori.es
Em vez de aplicar traduo teorias preexistentes de literatura e lin
gustica, Lefevere e seus colegas holandeses/flamengos inverteram a ordem
de pensamento, sugerindo que se observasse primeiro o que era especfi
co da traduo para, em seguida, aplicar o conhecimento teoria literria
e lingustica. Como resultado, os estudiosos da traduo tentavam evitar
prescries preordenadas, fixas e imutveis, e permaneciam abertos para
constante autoavaliao e evoluo. A abordagem varivel reconhecia que
o objeto investigado no algo fixo no mundo real, que seja cientificamen
te estudado; tampouco o objeto de uma verdade superior, transcendental,
a ser revelado de uma maneira mstica. Os objetos de estudo, porm, so as
tradues em si, que se definem como mediaes sujeitas manipulao
terica e s normas artsticas prevalecentes; ao mesmo tempo, como espe
cula Lefevere, as tradues podem ter uma influncia recproca sobre as
mesmas normas que as determinam. Um objetivo deste captulo mostrar
como os estudos de traduo deslocaram o problema epistemolgico da
representao, vendo o texto ao mesmo tempo como algo produzido e producente. Sua funo m ediadora mais que uma transferncia sincrnica
de significado entre as culturas; tambm uma mediao diacrnica, em
mltiplas tradies histricas.
Por ironia, o processo de ignorar a teoria literria existente e concen
trar o estudo no status de textos historicamente marginalizados revelou, de
fato, algo no apenas de relevncia tangencial, mas central para a teoria
literria. Com suas novas questes e mudana de foco, a interveno por
parte dos estudiosos flamengos e holandeses levantou muitos problemas
para a teoria literria, incluindo a importncia da prxis na teoria, a inter
dependncia cultural dos sistemas literrios e a natureza intertextual, no
apenas da traduo, mas de todos os textos. A atividade de traduo pode
ser marginal, porm os problemas tericos levantados pelos praticantes so
cruciais para qualquer teoria literria integrada.
O estabelecimento de um novo campo no domnio da anlise literria
no ocorreu da noite para o dia. Como argumento a seguir, as razes dos pri
meiros estudos de traduo podem ser encontradas no formalismo russo, e
entre os precursores da atual gerao de estudiosos flamengos e holandeses
havia um grupo de estudiosos checos e eslovacos - versados em potica.
Dois estudiosos da Holanda, James Holmes e Franz de Haan, assistiram a
uma conferncia sobre Traduo como Arte realizada em Bratislava, em
maio de 1968, e ajudaram a organizar (junto a Anton Popovic) e publicar os
trabalhos em uma coletnea intitulada The Nature o f Translation (1970).
Primeiros estudos de traduo
'111
Etrr/v tnmslation smiles.
Espero demonstrar como os estudos de traduo, apesar de alegadamente
evitar descries e limitar os julgamentos, refletiam, de um modo implci
to, determinados preconceitos modernistas. Ao mesmo tempo, porm, as
pressuposies epistemolgicas dos estudos de traduo dependiam de se
verem os textos como dinmicos e produtivos, em vez de estticos e fixos,
contribuindo assim para a continua reavaliao ps-moderna da natureza
da lngua. Nos dois captulos seguintes, abordarei a evoluo dos estudos
de traduo, desde as primeiras tentativas realizadas por estudiosos flamen
gos e holandeses at a apresentao de um sistema minucioso - conhecido
como teoria dos polissistemas - elaborado por um crculo israelense. Meus
exames se baseiam em textos de trs estudiosos checos c eslovacos, Jif
Levy, Frantisek Miko e Anton Popovic - cuja obra no apenas vital para a
nossa compreenso do trabalho feito pelo grupo de estudiosos holandeses,
mas tambm efetua uma transio do formalismo russo ao atual paradigma
da investigao de traduo.
Jif Levy e as conexes checas e eslovacas
Para definir os parmetros da discusso a seguir, eu apresentarei,
primeiro, um resumo das principais premissas do form alism o russo, ba
seando minha anlise fundamentalmente 110 ensaio The Theoiy o f the
Formal Metliod, de Boris M. jxcnbaum, em Readings in Russian Poetics
(jxenbaum, 1978; ver tambm Bann & Bowlt, 1973; Erlich, 1981; e Jackson & Rudy, 1985), e discutirei sua relevncia para os estudos de traduo.
Em primeiro lugar, os formalistas russos tentaram isolar e definir 0 que eles
chamavam de literariedade, enfocando somente aquilo que viam como
fato literrio e separando os artefatos literrios de outras disciplinas, tais
como psicologia, sociologia e histria cultural. A disciplina e os textos es
tudados eram vistos como possuindo autonomia. Essa noo importante
para a atual gerao de estudiosos tradutores interessados eni como a tra
duo literria pode contribuir com a teoria da traduo, pois lhes permi
te enfocar sua investigao em traos determinantes especficos de textos
literrios, em vez de noes metafsicas acerca da natureza da literatura e
do significado. Os formalistas russos evitavam os argumentos de estrutura
profunda, examinando, por outro lado, textos reais e elementos especficos
de textos. O gesto para definir a literariedade levou os formalistas a tentar
determinar 0 que faz os textos literrios diferentes de outros textos, 0 que
os torna novos, criativos, inovadores.
\
112
Teorias Contemporneas da Traduo
Conte mporary Tnm slation Theories
E studiosos da traduo tam bm se distanciam de teorias com o as de
C hom sky e N ida, que so m ais voltadas para os com ponentes gerativos
de estrutura profunda que p ara as caractersticas dc estru tu ra superficial.
O form alism o e os estudos de traduo privilegiam elem entos estruturais
superficiais e os analisam a fim de aprender o que determ ina o status li
terrio. Dc fato, os form alistas russos, em bora usassem conceitos tem ti
cos, relegavam -nos a um status secundrio e estavam m ais interessados em
conceitos com posicionais. A rgum entavam que as ideias abstratas frequen
tem ente tinham a m esm a aparncia no decorrer da histria; im portante
para eles era como os conceitos tem ticos se expressavam . Os estudos da
traduo usam conceitos tem ticos de um m odo sem elhante, m udando-os
de um a posio prim ria e determ inante para um conceito dependente da
cultura e lngua na qual esto inseridos.
Talvez o aspecto m ais im portante e m enos entendido do form alism o
russo seja sua dim enso histrica. Os ataques contra a escola tendem a cri
ticar suas crenas decadentes da arte pela arte e sua falta de parm etros
histricos. Os form alistas russos, contudo, no s analisavam os textos de
m aneira sincrnica, m as tam bm diacrnica, tentando com preender como
os textos se relacionam a um a tradio literria determ inante. Sua anlise
form al incorporava, portanto, fatores intrnsecos e extrnsecos para deter
m inar a contribuio de um texto especfico para um a tradio literria em
evoluo ou seu distanciam ento dela. Os estudiosos de traduo m ostraram ,
realm ente, o efeito diacrnico dos textos traduzidos sobre duas tradies: a
da cultura-fonte e a da cultura-alvo. Tomando em prestado outro aspecto do
form alism o russo, talvez seu. princpio m ais conhecido e m ais facilm ente
adotado - o artifcio de desfam iliarizao ( ostranenie) - , os estudiosos da
traduo tentaram m edir a relao do texto com sua tradio. Com o no
inflaram o valor do contedo, do significado, ou ideia original de um a obra,
os form alistas russos podiam enfocar os aspectos no com patveis e que
tornavam o texto especial, diferente e estranho.
De m odo sem elhante, os estudiosos da traduo recusavam a tendn
cia a enfocar o significado, determ inar o contedo original (visto anterior
m ente em teorias com o as de N ida) e preparar o texto para consum o fcil
por parte de leitores na cultura receptora. Os prim eiros estudos de traduo
prescreviam que um a obra em traduo retivesse artifcios de desfam ilia
rizao, e, se os artifcios existentes pudessem ser transpostos na segunda
lngua, o tradutor precisava inventar outros. N om es prprios, por ex em p lo ,
se m p re fo ram um p ro b le m a p ara o trad u to r, p o is co stu m a m te r um
Primeiros estudos de traduo
113
Early tnmslation studies
significado especial, especfico - como, por exem plo, nom es de lugares
com um a especial ressonncia, localizao, histria na cultura-fonte - que
acaba se perdendo na traduo.
Por fim, os form alistas russos perm aneceram abertos para novos pro
blemas: sua m etodologia podia se aplicar a si m esm a; e eles insistiam que
a disciplina dos estudos literrios precisava estar em evoluo. jxenbaum ,
por exemplo, escreveu:
Ns no possumos lima teoria desse tipo que possa ser usada como
um sistema rgido, pronto. Para ns, teoria e histria se fundem, no ape
nas no que pregamos, mas tambm no que praticamos. Somos muito bem
treinados pela prpria histria para imaginar que poderamos viver sem ela.
(jxenbaum, 1978: 35)
De m odo sem elhante, essa incorporao da histria em seu modelo
terico tem ajudado os estudiosos da traduo a aplicar a teoria interna bem
como externamente, possibilitando-lhes abordar problem as levantados por
seus prprios campos de investigao. O esprito de descoberta, de evolu
o e de mltiplas aplicaes caracteriza os prim eiros estudos de traduo.
Entretanto, lim ita tam bm o cam po de investigao a textos traduzidos es
pecficos, o que talvez explique a hesitao dos m em bros em afirm ar que os
estudos da traduo podem ter um a relevncia m aior para a teoria literria
em geral. Seus estudiosos se veem presos, de um lado, tentativa de definir c
lim itar um campo de investigao e, de outro lado, conscientizao de que
valiosas vises e descobertas relevantes para a teoria literria contem pornea
acontecem quando se estudam textos traduzidos.
O grupo checo e eslovaco de estudiosos de traduo, incluindo Jif
Levy, Frantisek M iko e A nton Popovic, evoluiu a p artir do form alism o
russo, ao m esm o tem po refletindo e se distanciando de algum as das dou
trinas citadas. Com certeza, eles se distanciaram do conceito de literatura
com o obra literria autnom a isolada do resto da m undo, um gesto que j
com eava a se m anifestar nos estgios avanados do form alism o. Um dos
m otivos de o texto de Levy, Umni Preklodu (Traduo literria) (1963),
traduzido para o alem o com o Die Literarsche bersetzung (1969), ser
to instrum ental para os estudos da traduo foi justam en te o fato de utili
zar as doutrinas do form alism o russo, aplicando-as ao tem a da traduo e
mostrando com o as leis estruturais form alistas se localizavam na histria
e com o elas interagem com pelo m enos duas tradies literrias ao mesmo
tem po, a da cultura-fonte e a da cultura receptora.
114
Teorias Contemporneas da Traduo
Contcuipomr\> Tramhition T/.n-ories
As razes form alistas de Levy so reveladas pela metodologia lingus
tica especfica que caracteriza seu projeto. Levy com eou com as distin
es lingusticas da traduo que seu colega Rom n Jakobson, que saiu de
M oscou para ajudar a fundar a escola de lingustica de Praga, estabeleceu
em On LiiiguisticAspects ofTranslation (1959). Os estruturalistas de Praga
viam os textos com o incorporados em redes sem iticas c a lngua com o um
cdigo ou com plexo de elem entos lingusticos que se com binam de acordo
com certas regras. Cada palavra, assim , se relaciona com outros segm entos
do m esm o texto (sincrnica) e outras palavras em textos na tradio liter
ria (diacrnica). L evy tam bm incorporou o aspecto interpretativo em sua
teoria da traduo, baseando tal deduo na hiptese de W illard Q uine de
que o significado da traduo pode ser interpretado de m aneira lgica. A
teoria de Q uine no envolvia um salto m etafsico para o significado central,
unificado e profundo, de um texto, m as foi construda lenta e cuidadosa
mente, no p o r m eio de correlao palavra a palavra ou sentena a sentena
- sinnim os e analogia sem pre tendem a reter certa indefinio
m as pela
capacidade de aprender significado por m eio de agrupam entos estruturais.
Com eando com palpite e intuio, passando para com parao, decifrando
e com binando grupos de significado de estm ulo positivo e negativo, Q uine
argum enta em um ensaio intitulado M eaning and Translation (1959) que o
tradutor pode chegar a hipteses analticas , que so enfim testadas diante
de um a rede de oraes colocadas c de sinnim os j concordados (Quine,
1959; citado p o r Levy, 1969: 20).
Com o estabelecim ento dos horizontes sem iticos que entram em
jogo no decorrer da traduo, e com a insero do com ponente interpre
tativo que possibilita ao tradutor com preender o significado do texto em
questo, Levy se viu apto a apresentar sua m etodologia de traduo. De
im portncia vital no m odelo de Levy que a qualidade literria da obra
de arte no se perca. Para garantir a transferncia de literariedade, Levy
avanou o aspecto com unicativo particular dos traos form ais especficos
do estilo original do autor, que do obra de arte seu carter literrio
especfico. Levy baseou esse aspecto de sua teoria da traduo em outro
membro do crculo lingustico de Praga, V ilm M athesius, que j em 1913
escreveu que a m eta fundam ental da traduo literria era alcanar, ou p e
los m esm os artifcios ou por outros, o m esm o efeito artstico que no ori
ginal. A traduo significativa da poesia prova que a correspondncia do
efeito artstico m uito m ais im portante que os artifcios artsticos equiva
lentes. M athesius afirm ava que a traduo dos artifcios artsticos iguais ou
Primeiros estudos de traduo
115
Early trcmslation stmlies
quase iguais costum a fazer com que a traduo exera efeitos diferentes no
leitor (M athesius, 1913: 808). Levy. com o outros form alistas, via a lngua,
em prim eiro lugar, com o um sistem a sem itico com aspectos sincrnicos
e diacrnicos. Ele tam bm elevava o objeto de arte m ais privilegiada
posio, acreditando que a literariedade pode ser logicam ente deduzida
e definida. Sua teoria da traduo, portanto, enfatizava m enos o signifi
cado ou o objeto sendo representado na segunda lngua, concentrandose m ais no estilo, nos traos literrios especficos do texto que o tornam
literrio. Em seu fam oso ensaio, publicado em checo em 1933-1934, O
Que Poesia?, Rom an Jakobson ressaltou o valor dado pelos form alistas
qualidade potica especfica dc um a obra:
A funo potica, poeticidade, , como enfatizavam os formalistas, um
elemento sui generis, que no pode ser mecanicamente reduzido a outros
elementos. (...) Pode ser separado e se tornar independente, como os vrios
artifcios em uma pintura cubista, por exemplo (...), a poeticidade apenas
parte de uma estrutura complexa, mas que transforma os outros elementos e
determina, com eles, a natureza do todo. (Jakobson, 1976: 174)
A crena form alista de que a poeticidade era um a qualidade form al,
algo que podia ser separado de um a obra, crucial para com preenderm os
a teoria de traduo dc Levy. Ele acreditava que poderia determ inar, pela
lgica, aqueles aspectos que fazem de um texto um a obra de arte, separan
do-os do contedo, do mundo, do sistem a lingustico, substituindo-os por
elem entos estilsticos de um a lngua diferente, igualm ente separados de
tudo o m ais, e chegar a um a obra igualm ente artstica. Ele chega conclu
so, baseando-se nos com entrios de M athesius e Jakobson, que a teoria
da substituio de elem entos de estilo foi construda sobre um a fundao
objetiva (Levy, 1969: 21).
Enquanto a teoria de Chom sky analisava a estrutura profunda, parti
cularm ente seus elementos sintticos, a de Levy examinava a estrutura de
superfcie e os elementos estilsticos. Ambas as teorias usaram a lingustica
e os m todos cientficos de interpretao para ajudar a isolar aquele as
pecto da lngua que eles sentiam ser bsicos. N esse processo de Levy, de
isolar os traos poticos, desenvolveu-se ao m esm o tem po um a interes
sante subteoria. Se privilegiarm os caractersticas estruturais e estilsticas, o
contedo geral do texto , assim, rebaixado, porque no estvel, mas est
tem porariam ente condicionado pelo sistema significante no qual expresso.
Se, porm , estiverm os trabalhando com um sistem a de um nico signo,
116
Teorias Contemporneas da Traduo
Conteriporary Tramlation TIjeories
as caractersticas, form as e o contedo podem parecer se reforarem um ao
outro, produzindo aquela obra unificada, im pregnada com literariedade .
Mas, se uma obra for colocada em sistemas significantes mltiplos, pelo
menos duas no caso da traduo interlingual, a instabilidade e a natureza
efmera do objeto expresso se tornam visveis. A traduo no uma obra
unificada, mas sim cheia de tenso e contradies, porque o contedo tem
construo intertextual e representado ao m esm o tem po por duas perspec
tivas: a do sistema significante original e a do sistem a da segunda lngua.
Em bora reconhea, em Die Literarische bersetzung, que tais ten
ses existem, Levy am eniza o problem a e alega que, quanto m elhor a tra
duo, mais fcil para ela superar os conflitos c as estruturas contraditrias
(Levy, 1969: 72). O subtexto que vem sendo desenvolvido durante toda
a argum entao, ou seja, o que acontece com o contedo, torna-se mais
problem tico nesse ponto de sua teoria. Levy quis argum entar que o texto
traduzido deve ser consistente e unificado - as contradies podem ser re
solvidas e a substituio objetiva das equivalncias possvel. Ele escreve,
por exemplo, que a traduo com o um todo m ais plena e realizvel se
superar m elhor suas prprias contradies inerentes (Levy, 1969: 73). Isso
leva a um a concluso m uito sem elhante dos tradutores literrios am eri
canos: um m todo verdadeiro ou fiel que favorece a recriao exata da
beleza esttica do original na segunda lngua (Levy, 1969: 68).
Ironicam ente, portanto, em vez de apenas construir um a teoria de tra
duo que am enize o problem a inerente de com o fazer isso, um a vez que
o texto traduzido invariavelm ente perm eado de contradies, a teoria de
Levy tam bm refora um subproduto do form alism o: alm da percepo
da correspondncia entre signo e objeto, h, ao m esm o tem po, uma funo
oposta necessria em andam ento: a relao entre signo e objeto sem pre
insuficiente. O contedo sem pre instvel, sem pre m utvel, construdo por
discurso, em constante fluxo, apenas aparentando estabilidade tem por
ria em sua construo esttica ficcional. Com o a traduo sem pre tem pelo
m enos dois referentes, o significado nunca parece estvel. A quilo que se
m anifesta no processo e no produto da traduo a prpria m obilidade dc
conceitos, a m utabilidade de signos e a evoluo da relao entre os dois. A
im presso de que a teoria de traduo de Levy pedia o im possvel, isto ,
desenvolver critrios objetivos para isolar e catalogar em m ltiplas lnguas
as caractersticas form ais poticas especificas, as quais transform am um a
expresso norm al em um a artstica, e ento estabelecer paradigm as que
perm itam a substituio daqueles elem entos apropriados para traduo.
Primeiros estudos de traduo
117
Early transia ti on studies
O trabalho nessa rea aparentem ente im possvel, contudo, j com e
ou; c eu cito o trabalho de Frantisek M iko com o um exem plo que ilustra
o processo. Em La Thorie de IJ.Express ion et la Traduction (1970), ele
relatava seu progresso, definindo o que cham a de categorias expressivas
(caractersticas ou qualidades expressivas) de lngua que do a ela sua qua
lidade artstica (M iko, 1970; ver tam bm M iko, 1969; e M iko & Popovic,
1978). A princpio, M iko faz um a distino entre expresso com o um todo,
o carter expressivo e as caractersticas ou traos expressivos. Tal distino
im portante, no s para esclarecer potenciais erros de interpretao de
seu trabalho, m as por razes tericas. Ele partilhava da distino form alis
ta entre form a e contedo, ou entre form a e tem a, e defende a im portncia
prim ria dos elem entos lingusticos. O assunto contingente e constitudo
pela estrutura lingustica da lngua. Antes de determ inar o que um a expres
so com o um todo significa, o que determ ina sua poeticidade, precisam os
observar os m enores detalhes que, quando estruturalm ente construdos
juntos, determ inam o estilo da obra de arte. As caractersticas expressivas
form am um a hierarquia, construindo o significado e o valor da obra. Par
tindo da premissa fundamental de que a lngua determina o contedo, M iko
pergunta: o que acontece quando o sistem a da lngua m udado? Tudo se
perde? Ele conclui que no, acreditando que podia determ inar e catalogar
um sistem a de caractersticas expressivas independentes de qualquer estilo
especfico , caractersticas estas que podem ser intercam biadas, o que se faz
necessrio no ato da traduo. M iko apontou a dificuldade e a com plexida
de do problem a, principalm ente em relao traduo de textos literrios,
assinalando a necessidade de sua resoluo, j que a alternativa - a subs
tituio de sinnim os, estruturas sintticas, tem as sim ilares - se mostrou
historicam ente inadequada.
As caractersticas expressivas do texto, segundo M iko, podem ser de
m onstradas, relacionando-se essas caractersticas de estilo de um texto es
pecfico com outras, usadas na tradio literria. N esse lugar entre o texto
e sua tradio, as qualidades subjetivas de estilo - em ocionais, irracionais,
expressivas
bem com o as idiossincrasias de estilo - ironia, abstrao,
brevidade, jovialidade
podem ser determ inadas. Som ente por m eio de
tal anlise histrica, a funo do texto original pode ser com preendida, e
perm itir a traduo apropriada final. Para M iko, o problem a de traduo
ou puram ente lingustico ou estilstico. O problem a de alcanar correspon
dncia de estilo delicado, porque as nuanas so sutis, m as de im portn
cia prim ria: se esses elem entos forem om itidos da traduo, ela perde sua
118
Teorias Contemporneas da Traduo
Contemborary Tramlation 7Jjeories
literariedade, a qualidade que o form alism o russo m ais valoriza. A adi
o de um h orizonte histrico, ainda que apenas literrio, im portante para
o desenvolvim ento de estudos da traduo, pois no s oferece um a base
de com parao, m as tam bm im plica um a evoluo diacrnica da lngua.
Por ironia, os m odernos estudiosos fim cionalistas de traduo (ver seo
anterior) costum am presum ir que so capazes de acessar a funo de um
texto literrio em sua tradio-fonte sem tal anlise histrica.
A t que ponto se estendeu o inventrio de M iko? Ble progrediu o sufi
ciente para estabelecer certas hierarquias dentro de um sistem a de catalogar
qualidades de expresso. A lm disso, identificou algum as categorias que,
afirma, no perm item m aior distino. M iko adm ite a im possibilidade da
tarefa; no entanto, pesquisas suficientes j foram feitas que lhe perm item
chegar a certas concluses (Milco, 1970: 67-70; ver tam bm Milco e Popovic,
1978). Ele conseguiu equiparar algum as caractersticas expressivas com de
term inados tipos de fala encontrados em peridicos, literatura popular, dis
cursos e textos literrios. Por exemplo, as categorias de expresso prprias
de textos literrios incluem no s estlica/cm oo, mas variabilidade, am
biguidade, desequilbrio (resolues no cum pridas), bem com o resoluo
convencional e, em alguns casos, at a irracionalidade (por exemplo, textos
escritos em um fluxo de conscincia). M iko sugeria que esses elem entos
podiam ser isolados, analisados e traduzidos utilizando-se uma m etodologia
que encontra equivalentes funcionais, em vez de literais. O tem po todo, as
categorias de Milco esto sujeitas ao fluxo da histria. Ele sabia m uito bem
que os traos estilsticos so passveis de diferentes interpretaes na m edida
em que as condies sociais m udam , alterando, assim, a adequao de certas
caractersticas expressivas. Pesquisas detalhadas da caracterstica especfica
na histria so necessrias, tornando a traduo dependente da habilidade
interpretativa bem com o lingustica e criativa do tradutor. Ele concluiu que
o conceito de estilo estabelecido funcional, usando categorias lingusticas,
mas no necessariam ente da m esm a m aneira que a lingustica; baseia-se em
uma definio correlativa de categorias expressivas, nunca perdendo de
vista a im portncia de aspectos paradigm ticos e sintagmticos para a anli
se do sistem a de traos expressivos, levando em conta o aspecto evolucion
rio e social de estilo (Milco, 1970: 73).
O projeto de A ntn Popovic com ea onde o trabalho de Levy e Milco
para: ele iniciou o trabalho com parativo de localizar as conform idades e as
diferenas que ocorrem quando um a obra traduzida e explica a relao
entre a traduo e o original. E m vez de prescrever um a tcnica que elim ina
Primeiros estudos de traduo
119
Em /y tramlatwn siudies
perdas e am eniza as m udanas, Popovic aceitava o fato de que perdas,
ganhos c m udanas so um a parte necessria do processo por causa das
diferenas inerentes de valores intelectuais e estticos nas duas culturas.
Em seu ensaio The Concept Shift o f Expression in Transia ti onAnaiysis
(1970), ele introduziu um term o novo para caracterizar esse processo:
Cada mtodo individual dc traduo determinado pela presena ou au
sncia de mudanas nas diversas camadas da traduo. Tudo o que aparece
como novo em relao ao original, ou deixa de aparecer quando deveria pode
ser interpretado como uma mudana. (Popovic, 1970: 78)
J foram notadas m udanas antes, em term os de anlise de traduo,
m as foram invariavelm ente atribudas a distores deliberadas, incom pe
tncia do tradutor ou incom patibilidade lingustica entre as duas lnguas.
Popovic am pliou o horizonte terico analisando m udanas em term os de
diferentes valores culturais c norm as literrias. Em vez dc acusar os tradu
tores de ignorncia ou infidelidade, argum enta que eles recorrem a m odifi
caes justam ente porque tentam ser fiis ao contedo do original, apesar
das diferenas entre as lnguas. Essas m odificaes, ou m udanas, p ortan
to, no revelam deficincia na traduo, m as sim algo acerca da qualidade
esttica prim ria do original. O projeto de Levy term ina com a prescrio
de que, se um trao expressivo no funciona na cultura receptora, ento
o tradutor deve substitu-lo ou at inventar um trao novo de m odo que a
qualidade literria total no se perca. Popovic extrapola:
Todo conceito de traduo de qualquer real significao e consistncia v
sua principal manifestao nas mudanas de expresso, na escolha de meios
estticos e nos aspectos semnticos da obra. Assim, em uma traduo, pode
mos esperar, como regra, certas mudanas porque a questo de identidade e
diferena na relao com o original nunca podem ser resolvidas sem algum
resduo. A identidade no pode ser o nico trao caracterizando a relao.
Essa concluso inevitvel, se considerarmos a fora dos fatores histricos
e a impossibilidade de repetir o ato de traduo como um processo criativo.
(Popovic, 1970: 81)
A ceitando o fato de que certos elem entos caem pelas frestas quan
do se passa de um sistem a de discurso para outro, Popovic procurava no
aquilo que se encaixa, e sim o que no se encaixa, e pega o resduo
para exam in-lo m ais de perto. A ltim a orao citada revela a rejeio de
Popovic da noo idealista de que as equivalncias literais ou funcionais
120
Teorias Contemporneas da Traduo
Contemporary Transiation Theori.es
podem ser encontradas, embora ele retivesse caractersticas formais como
parte de seu sistema, com o intuito de demonstrar as diferenas de traduo
e a fora da histria.
Assim como Miko acreditava que as diminutas e sutis nuanas de
expresso eram a chave para determ inar a qualidade artstica geral de uma
obra, Popovic tambm pensava que a chave para a compreenso do meio
esttico principal de uma traduo se encontrava na anlise das modifi
caes dessas mesmas nuanas. Em sua teoria, na qual as diferenas so
to importantes quanto as equivalncias, os conceitos tericos de fiel/livre
caem no mesmo horizonte; os dois so sempre relativos, dependendo das
pressuposies estticas do tradutor. Popovi explica:
No c a nica funo do tradutor se identificar com o original: isso s
resultaria em uma traduo transparente. O tradutor tambm tem o direito de
divergir organicamente, de ser independente (...) Entre a substncia semntica
bsica do original e sua mudana em outra estrutura lingustica, desenvolvese uma espcie de tenso dialtica ao longo do eixo de fidelidade-liberdade.
(Popovic, 1970: 80)
I vrios mtodos de traduo, e, enquanto as preferncias de
Popovic refletem as de Levy, seu modelo terico serve para determinar as
pressuposies estticas do tradutor que motivam mudanas de expresso.
Sua teoria interpreta as mudanas sintomaticamente para determinar as
predominantes premissas literrias que controlam a traduo. Com a teoria
/de Popovic, o crtico pode rastrear as marcas deixadas pelas mudanas na
obra traduzida at as normas culturais da cultura receptora que dirigem
j o texto. Em vez de propor um a unidade estilstica com o original como a
; meta da traduo, Popovi aceitava a impossibilidade de chegar a um tex to equivalente, e apresentou um a teoria para explicar, em vez de criticar,
sua no identidade. Por meio de uma anlise de mudanas de expresso e
outra da relao entre a lngua da obra original e a do trabalho traduzido,
algo pde ser revelado a respeito da natureza mediadora, heterognea do
processo de traduo.
Nesse ponto, vrias observaes com respeito s contribuies checas
e eslovacas para os estudos de traduo podem ser feitas. Primeiro, um pre
conceito esttico revelado pelo tipo de traduo preferida, a que funcione
como um objeto de arte na cultura receptora. A exigncia de preservar a
j literariedade determina a metodologia preferida. Por mais abrangente que
se torne o catlogo de traos estilsticos objetivos de Miko, ele sempre
Primeiros estudos de traduo
121
Early transia tion studies
permanecer inadequado e, em grande parte, subjetivamente organizado.
A hiptese de que o mrito artstico geral de uma obra determinado, em
termos estritos, por caractersticas estruturais pode ser apropriada para o
exame de textos modernistas e futuristas, prprios do perodo em que a
teoria se desenvolveu, mas permanecem dvidas quanto sua adequao
para textos escritos em pocas anteriores. At que ponto a teoria funcio
na com textos simblicos ou alegricos, com narrativas, poesia ou prosa,
com teatro agitprop ou contos populares que exigem uma compreenso
comum do referente? Alm disso, tal preferncia pode, de fato, influenciar
na escolha de quais textos do Terceiro Mundo so traduzidos para lnguas
ocidentais. O formalismo russo define o que deve ser valorizado em um
texto - aspectos como forma, autorreferencialidade, justaposio tcnica
- e avalia as tradues de acordo com a capacidade do texto-alvo de trans
ferir essas caractersticas formais. Diferentes abordagens estticas, contu
do, bem como diferentes momentos histricos e culturas podem valorizar
outros aspectos de um texto. Em muitos sentidos, a teoria da traduo deri
vada do formalismo russo reflete exatamente esses artifcios - artifcios de
desfamiliarizao, por exemplo - , que so prprios das normas artsticas
prevalecentes e de teorias interpretativas de determinado tempo e espao,
ou seja, a moderna sociedade europeia.
Em segundo lugar, embora Popovic expandisse os parmetros de uma
teoria de modernismo para apontar estudos de traduo em uma direo
nova, os estudiosos evitavam teorizar acerca da relao entre forma e con
tedo, deixando de interpretar sintomaticamente as implicaes da teoria
para a metodologia deles mesmos. Apesar de afirmaes contrrias, o texto
literrio logo se separa dos outros fatores sociopolticos. As palavras no se
referem mais vida real, e sim a outras palavras usadas na mesma tradio
literria, criando assim um sistema construdo sobre a prpria autorrefe
rencialidade e reforando os prprios valores. A arte se torna autnoma
medida que a percepo da literariedade de uma obra se vincula direta
mente com uma conscincia de forma. E essa qualidade de chamar ateno
para si que a teoria valoriza e quer que seja traduzida; a metodologia exige
que o receptor perceba esses traos formais especficos que apartam uma
obra da tradio, mais uma vez solicitando a incorporao de um leitor
competente em seu modelo de traduo (a teoria de I. A. Richard tam
bm prescrevia esse leitor ideal). H uma qualidade hermtica, autorreferencial em textos literrios que os formalistas percebem, valorizam e
recomendam que seja perpetuada. Como Levy e outros tendiam para o
122
Teorias C ontem porneas da Traduo
Contemporary Translation Iheories
prescritivo, permanecem em aberto perguntas quanto ao horizonte avaliativo. Quem julga a adequao das substituies estilsticas? As exigncias
sobre o tradutor so enormes, entre elas competncia como crtico literrio,
estudioso de histria, tcnico lingustico e artista criativo. No toa que
o horizonte avaliativo apresente problemas, pois as demandas se estendem
para alm da capacidade e habilidade de qualquer ser humano.
Apesar dessas ressalvas a respeito da escola checa e eslovaca, podc-sc
ver a o comeo de uma metodologia descritiva. Embora a teoria funcione
melhor com textos modernos e contemporneos, no se limita a eles. A
metodologia de anlise sistemtica de mudanas pode ser aplicada tambm
a teorias simblicas, realistas, mtricas, literais e fonticas de traduo,
porque ela comea a incluir horizontes histricos e ideolgicos, alm dos
literrios. Na verdade, para explicar as mudanas de maneira apropriada,
a metodologia no pode se restringir s mudanas de tradies artsticas,
mas precisa considerar as formas sociais em evoluo, bem como as moti
vaes psicolgicas subjetivas. Por essas razes, os flamengos e holandeses
ficaram muito interessados pela obra de seus colegas da Europa central.
Jam es Holmes, Raym ond van den Broeck
e Andr Lefevere
Embora sua histria seja relativamente curta, os estudos de traduo
j podem ser divididos nos perodos inicial e posterior, sendo o primeiro o
tema do restante deste captulo; e o segundo, aps unir foras com a teoria
dos polissistemas, ficando para anlise no captulo 5. Diante da impossi
bilidade de examinar as contribuies de todos os membros para essa rea
emergente, deverei me concentrar nos textos de trs membros fundadores
cuja obra pode ser representativa: James Holmes, o primeiro a introduzir
um novo modo de discutir a traduo na Europa Ocidental; Raymond van
den Broeck, que abordou o problema da equivalncia na traduo, sob a
perspectiva dos estudos de traduo; e Andr Lefevere, cujo entendimento
da posio terica do grupo era singular. Van den Broeck e Lefevere so
coautores do texto holands Uitnodiging tot de vertaalwctenschap (Con
vite aos Estudos de Traduo) (1979), que representa o pice do perodo
inicial. Pretendo mostrar um duplo movimento do paradigma, cncfuaffi)
tentavam evitar prescrio e loco na descrio pura o* primeiros estudos
de traduo favoreciam um a m etodologia d Iraduao em g rande parle
Primeiros estudos de traduo
123
Eiirly translation studies
determinada por suas razes no formalismo russo. Alm disso, enquanto
limitavam o campo de investigao a tradues concretas, existentes, esses
primeiros estudos incluam as sementes para uma teoria abrangente, abor
dando, por necessidade, no apenas dados fora de um texto, alm da tradu
o, mas fenmenos que no tinham nenhuma realizao textual especfica
e fugiam anlise tradicional.
James Ilolmcs foi um poeta/tradutor americano que dava aulas de es
tudos de traduo na Universidade de Amsterd, at sua recente morte. Sua
obra descrevendo o processo de traduo, que descartava noes tradicionais
de equivalncia, foi talvez a maior responsvel pela formao dessa nova
rea de estudos. Embora seus primeiros ensaios estivessem espalhados em
publicaes menores e difceis de encontrar, a maior foi compilada na anto
logia Translatecl! Papers on Literary Translation and Translation Studies
(1988). Em Fornis o f Verse Translation and the Translation o f Verse Fonn
(1970, 1988), vemos a introduo de nova terminologia e metodologia que
abordam o tema. A mudana mais visvel na abordagem de Holmes foi sua
alterao da natureza do referente: cie argumentava que a traduo no se
refere ao mesmo objeto no mundo real a que 0 texto-fonte alude, e sim a
uma formulao lingustica. A linguagem da traduo diferente da lingua
gem da literatura primria, e, para designar essa distino, Holmes adotou
o termo metalinguagem, emprestado, nesse caso, de Roland Barthcs, que
dividiu a literatura em duas classes: a classe de poesia, fico e drama
que trata de objetos e fenmeno, imaginrios ou no, que so externos e
anteriores linguagem; e a classe que lida no com o mundo, mas com as
formulaes lingusticas feitas por outros - um comentrio em cima de um
comentrio (Barthes, 1964: 126; citado por Holmes, 1970: 91; 1988: 23).
Holmes expandiu a definio do termo dc Barthes, que se limitava a comen
trios crticos de literatura, e incluiu uma variedade de formas metaliterrias,
sendo a traduo de versos apenas uma delas.
Holmes argumentava, ademais, que a traduo de verso diferente
de outras formas de comentrios ou de metalinguagem porque usa 0 meio
do verso para aspirar a ser um poema em si. Enquanto a traduo de verso
uma espcic de metaliteratura, pois comenta e interpreta outro texto, ela
tambm gera um novo corpo de metaliteratura em torno de sua literariedade. Portanto, o objeto a que se refere a traduo no s diferente de outras
formas de escrita criativa, mas o tipo de literatura escrita sobre traduo
tambm difere de outras espcies dc escrita crtica, ganhando assim uma
posio exclusiva em termos de crtica literria. Ao mesmo tempo fazendo
124
Teorias Contemporneas da Traduo
Conte mporary Transiati 077 Thcories
referncias c produzindo, a traduo de verso um com entrio crtico do
texto-fonte e, no entanto, oferece interpretao crtica como se fosse um tex
to primrio. A respeito da natureza dual da traduo, Holmes escreveu:
Toda traduo um ato de interpretao crtica, mas h algumas tradues
de poesia que diferem de todas as outras formas interpretativas, 110 sentido
de que elas tambm tm o objetivo de ser atos de poesia (...), seria til, para
essa forma literria especfica, com seu propsito duplo de metaliteratura e
literatura primria, introduzirmos a designao de metapoema. (Holmes,
1970: 93; 1988: 24)
D iante dessa redefinio de traduo de verso, a teoria de traduo
tam bm deve ser redefinida. Os estudos de traduo, enfim, tornaram -se
menos interessados na identidade e no velho problem a da referncia e m ais
em analisar (a) a relao entre o texto traduzido (com o texto secundrio) e
o texto-fonte dentro de um a estrutura das prticas significantes inerentes a
essa tradio literria em particular e (b) a relao entre 0 texto traduzido
(como texto prim rio) e as prticas significantes em um a estrutura da tra
dio da cultura-alvo.
C om o H olm es estava m enos interessado na identidade e m ais preocu
pado com a relao entre a traduo e outros sistem as significantes, outra
m udana em sua abordagem se torna visvel: ele com ea um a descrio de
textos traduzidos, no com afirm aes universais acerca da validade (ou in
validade) de solues especficas propostas para traduo, mas descreven
do diversas m etodologias de traduo e o m odo com o elas foram usadas
historicam ente. O objetivo no era perpetuar algum a alegao m etafsica
sobre a natureza da lngua ou conhecim ento conceituai, mas com preender
m elhor as vrias espcies de traduo, de m etapoem as, com o form a
nica de prtica significante. Ele definiu quatro tipos de tradues, cada
uma relacionando-se de m aneira diferente do texto original e pertencendo
a diferentes tradies tericas. O prim eiro tipo retm a form a do original;
Holmes sugere que a form a idntica im possvel, mas podem ser criados
padres que se assem elhem , e tam bm podem ser com binadas estruturas
de verso form ais, com o os hexm etros m im ticos de R ichm ond Lattim ore,
a partir do grego de H om ero. O segundo tipo tenta discernir a funo do
texto na cultura receptora e procura um a funo paralela dentro da tradi
o da lngua-alvo, criando form as anlogas que produzem efeitos sem e
lhantes, com o, por exem plo, a traduo em verso branco feita por Robert
Fitzgerald de H om ero. O terceiro tipo deriva do contedo, apropriando-se
Primeiros estudos de traduo
125
Early translation studies
du significado original do texto primrio e permitindo-lhe desenvolver-se
em uma forma prpria na lngua-alvo, como a traduo em verso livre
de Ezra Pound do primeiro Canto de Homero. O quarto tipo inclui o que
Holmes chama de formas desviantes no derivadas do poema original,
mas deliberadamente retendo uma semelhana mnima para outros fins,
no exemplificadas por Holmes, mas para as quais The Killing o f Lykaon, de
Robert Lowell, dos livros 1 e 21 da Ilada, pode servir de exemplo. Holmes
se absteve de favorecer um dos quatro tipos de traduo, alegando que cada
um, por sua natureza, abre certas possibilidades para o tradutor escolher
e ao mesmo tempo fecha outras (Holmes, 1970: 97). O reconhecimento,
consciente ou inconsciente, por parte do tradutor do tipo de traduo e a
compreenso de sua teoria correspondente permitem ao leitor compreender
o que texto traduzido significar na cultura receptora.
O trabalho inicial de Holmes culminou em The Name and Nature o f
Translation Studies (1972/5; 1988), geralmente aceito como a afirmao
fundadora do campo de estudos. No ensaio, ele estabeleceu o escopo e a
estrutura para a nova disciplina. Mais importante, ele concebe a abordagem
como uma prtica emprica, que v o texto traduzido como ele aparece em
determinada cultura. Como rea de estudo, Holmes subdivide os estudos
de traduo em trs reas de enfoque: (1) o ramo descritivo: para descrever
fenmenos de traduo conforme se manifestam no mundo; (2) o ramo da
teoria: para estabelecer princpios pelos quais esses fenmenos podem ser
explicados; e (3) o ramo aplicado: para usar informaes obtidas de (1) e
(2) na prtica de traduo e no treinamento de tradutores (Holmes, 1972/5:
9-10; 1988: 71-2). Assim, o ramo terico era subordinado ao ramo descriti
vo; medida que os estudos de casos eram descritos e os dados, coletados,
a teoria evolua. A meta final dos estudos de traduo era desenvolver uma
teoria da traduo total e abrangente, que estivesse acima, sendo capaz
de olhar para baixo e ver as teorias parciais existentes, as quais, Holmes
sentia, costumavam ser especficas no escopo e lidavam com apenas um
ou alguns dos conceitos de um interesse maior. Holmes percebeu que, na
realidade, o desenvolvimento da teoria no seria unidirecional, porm mais
dialtico, com cada um dos trs ramos fornecendo informaes para os
outros dois (Holmes, 1972/5: 20; 1988: 78-9).
importante observarmos que, nessa afirmao, Holmes estipula v
rios nveis de enfoque em cada um dos ramos. Seu ramo descritivo, por
exemplo, foi dividido para incluir descries orientadas por produto,
por funo e por processo (Holmes, 1972/5: 12-14; 1988: 72-3). O ramo
126
Teorias Contemporneas da Traduo
Contemporary Transia fiou Theories
orientado por produto, que se tornou a abordagem mais identificada com
os estudos de traduo posteriores, pedia um a descrio em prica de tradu
es, focada no texto , e em seguida um levantam ento de corpora m aior
de tradues cm perodo, lngua e tipo de discurso especficos. O ramo
orientado por funo, que introduziu um com ponente cultural efetuando
a recepo de um texto traduzido; e a abordagem orientada por processo,
que via o problem a da caixa preta , ou o que se passava na m ente do tra
dutor, tornou-se m enos im portante, m edida que esse cam po de estudos
se desenvolvia.
A ndr Lefeverc, cm seu texto Translating Poetry: Seven Strategies
and a Blueprint (1975), revelou u m a posio sem elhante. Experim entando
com um a abordagem m ais em prica, objetiva, ele pega um texto-fonte - o
do 64Q poem a de C atulo - e descreve sete tipos diferentes de traduo,
baseados cm m etodologias correspondentes e distintas que tendem a reger
o processo de traduo. C ada u m abre certas possibilidades e fecha outras:
(1) a traduo fonm ica funciona bem recuperando palavras etim olgica
m ente relacionadas c reproduzindo onom atopia, m as dilui o significado;
(2) a traduo literal pode transferir um sentido de contedo sem ntico,
mas geralm ente forando um a explicao e sacrificando valor literrio ;
(3) a traduo m trica pode preservar a m trica, m as distorce sentido e
sintaxe; (4) verses em prosa evitam essas distores, m as a prpria form a
destitui o texto de ressonncia potica; (5) tradues com rimas enfrentam
tantas restries que as palavras acabam significando o que no deveriam
significar, e o resultado final enfadonho, rgido e pedante; (6) o verso
branco alcana um a preciso m aior e um alto grau de literalidade, mas a
m trica imposta fora contores, expanso e contraes, geralm ente tor
nando as verses traduzidas verbosas e desajeitadas; e (7) interpretao,
incluindo verses e im itaes, que interpretam o tem a para deixar o texto
m ais fcil para recepo, po d em com prom eter a estrutura e a textura.
Em bora Lefevere tentasse m aior objetividade e preciso histrica em
sua descrio das tradues de C atulo, no deixava de revelar suas prefe
rncias. Ele percebeu que a ltim a categoria abrange o m nim o na traduo
do contedo de um texto. O prprio Lefevere preferia a segunda verso de
H olm es, que privilegia a funo do texto sobre os leitores originais. A ter
m inologia da nova prescrio dc Lefevere, porm , faz lem brar o trabalho
inicial de N ida e W ilss:
Primeiros estudos de traduo
127
Enrlv tramlation stu dlcs
A tarefa do tradutor , justamente, transmitir o texto-fonte, a interpretao
original do autor de determinado tema expresso em um nmero de variaes,
acessvel a leitores no familiarizados com essas variaes, substituindo a
variao do autor original por seus equivalentes em lngua, tempo, local e
tradio diferentes. Uma nfase especial deve ser dada ao fato de que o tra
dutor tem de substituir todas as variaes contidas no texto-fonte por seus
equivalentes. (Lefevere, 1975: 99)
A ssim com o N ida, Lefevere queria tem atizar o texto; m as, com o
Levy, pretendia fazer isso sem suavizar sua literariedade . Llc falava de
preservar distores, m as a que se referia, na verdade, era preservar os
artifcios de ostranenie que parecem estranhos no original e separar este da
tradio existente de um tem po c lugar especficos. Sua recom endao de
um m todo histrico particular (o dele m esm o) com prom eteu um projeto
que, parte disso, historicam ente sensvel.
A contradio caracterstica desse perodo inicial nos estudos de traduo
era o fato de que tentava ser, ao mesmo tempo, objetivamente descritivo e sub
jetivamente prescritivo. Se contrastarmos o conceito de Holmes de equivaln
cia da traduo, conforme revelado em seu ensaio n Matching and Making
Maps: From a Translators Notebook (1973-4; 1988) com o de Raymond van
den Broeck no ensaio The Concept o f Equivalence in Translation Theory:
Some Criticai Reflections (1978), o problem a se torna evidente. A teoria de
traduo tradicional se baseava em prem issas de significado original, trei
nando tradutores para interpretar o significado corretam ente e reproduzi-lo
da m aneira apropriada, resultando em regras e leis acerca do procedim ento
pelo qual o produto poderia ser com parado e avahado de form a objetiva .
Enquanto Richards, N ida e W ilss se em penhavam em educar os tradutores
para produzir reprodues nicas, unificadas c coerentes do original, ou
pelo m enos alcanar um consenso a respeito da reproduo nica ideal,
Holmes argum entava que, se partssem os dessa prem issa, perderam os
algo essencial da natureza da traduo. Ele afirm ava que nenhum a tradu
o de um poem a a m esm a ou equivalente ao seu original (Holm es,
1973-4: 67; 1988: 53). Para ele, esperar a equivalncia estender-se alm
das lim itaes pragm ticas que cercam a situao:
Pea a cinco tradutores que faam uma verso de um poema de ima
gens simples, sinttica objetiva e mtricamente irrestrito, como Fog de
Cari Sandberg, para o holands, por exemplo. As chances de pelo menos duas
das cinco tradues serem idnticas so muito pequenas. Em seguida, pea a
128
Teorias Contemporneas da Traduo
Contemporary '1ranslation Theories
outros 25 tradutores que vertam as cinco verses holandesas de volta para o
ingls, cinco tradutores para cada verso. O resultado ser, novamente e com
quase certeza total, tantas verses variadas quanto o nmero de tradutores.
Chamar a isso de equivalncia perverso. (Holmes, 1973-4: 68; 1988: 53)
Holmes insistia que o foco dos estudos de traduo deveria ser o proces
so de traduo, analisando as escolhas em meio a uma mirade de possibili
dades disponveis ao tradutor. Uma vez feitas as escolhas iniciais, a traduo
comea a gerar regras prprias, determinando outras escolhas. Holmes intro
duziu dois elementos que a teoria da traduo tinha evitado, historicamente:
decises subjetivas e acidentes. Quanto aos ltimos, escreveu Holmes:
Duas lnguas podem por acaso se entrelaar em pontos especficos, aci
dentalmente, de modo que a traduo parea se desenrolar mais ou menos
como um nico corpo. Isso raro, mas, quando acontece, a traduo parece
quase se escrever sozinha. (Holmes, 1973-4: 78; 1988: 59)
Holmes observou que o processo de traduo envolve frequentemente
decises iniciais que determinam decises posteriores. Nenhuma escolha
feita sem custos; mudanas sero necessrias no decorrer da traduo,
que sero desvios deliberados do texto original. Bastante influenciado pelo
artigo de Jir Levy, Translation a.s a Decision Process (1967), Holmes ar
gumenta que a traduo estabelece uma hierarquia de correspondncias,
dependente de certas escolhas iniciais, que por sua vez predeterminam os
passos seguintes. Por exemplo, se o tradutor favorecer qualidades expres
sivas em detrimento da mensagem original, rima no lugar do verso livre
ou funo apelativa em vez de contedo semntico, essas escolhas sero
restritas e determinaro o tipo de correspondncia disponvel por todo o
resto da traduo. Tais decises no so certas nem erradas, e sim ambas
as coisas, limitando e abrindo, fechando alguns caminhos e possibilidades,
mas ao mesmo tempo criando novas relaes e possveis alternativas.
Van den Broeclc, que escreveu um a introduo tocante para a obra
Transiated! (1988), de H olm es, com ea seu ensaio The Conce.pt o f
Equivalence in Translation Theory concordando com Holm es; ele evi
tou grande parte da m esm a term inologia terica que costum ava carac
terizar a traduo. Chegou a citar, inclusive, o experimento de Holmes em
torno das 25 verses do mesmo texto, concluindo que devemos, a qualquer
custo, rejeitar a ideia de que a relao de equivalncia se aplica traduo
(Broeclc, 1978: 33). Ele compreendeu que toda especulao com o intuito de
Primeiros estudos dc traduo
129
Early f nws/n/ion stndics
definir equivalncia, por parte de linguistas, tericos de traduo, filsofos e
fillogos contm muitas equaes diferentes e contraditrias, principalmente
quando aplicadas a fenmenos to complexos como a poesia em traduo.
Van den Broeck se ope veementemente terminologia - incluindo termos
como semelhana, analogia, adequao, invarincia e congruncia - e s
implicaes tericas que traz consigo. Entretanto, ele se empenha em re
definir e recuperar o termo equivalncia para us-lo em seu conceito de
compreenso verdadeira, de como se deve considerar a traduo literria
(Broeck, 1978: 29).
A redefinio de Van den Broeck de equivalncia se baseava na se
mitica de Charles Sanders Peirce, na filosofia dc Charles Stevenson e na
lingustica de J. C. Catford. Em suma, Van den Broeck comea com uma
reavaliao do conceito de correspondncia, usando a distino feita por
Peirce entre tipos ( types) e smbolos (tokens), na qual mltiplos sm
bolos podem se referir a um tipo, como em vrias verses (instncias
adicionais) do poema original (primeira instncia), mudando o foco dos
estudos da traduo de uma noo um a um para a noo de correspon
dncia muitos a um (Broeck, 1978: 34). Van den Broeck expande a no
o dc Peirce de tipo tomando emprestado o conceito de um megatipo
universal da filosofia, chegando concluso que duas tradues, desde
que tenham o significado aproximadamente idntico, podem ser iden
tificadas como representativas do mesmo megatipo (1978: 34-5). Assim
como Holmes, Van den Broeck localizava a traduo em uma rede de v
rias instncias de um megatipo ou primeira instncia; o significado foi
reduzido a aproximaes de algo identificvel, porm, sempre textualizado
em smbolos ou instncias adicionais. Ele se apegava, contudo, a um
conceito formal de significado, como faziam os formalistas russos, no qual
era visto como uma propriedade da lngua, e no como algo extrnseco. O
megatipo, portanto, era determinado por um a rede de smbolos e, ao mes
mo tempo, transcendia esses tipos, transcendendo, enfim, a lngua. Citando
J. C. Catford, Van den Broeck chegou a uma definio de significado como
a rede total de relaes acessada por qualquer forma lingustica e adotou
a definio de Catford para equivalncia de traduo: a equivalncia de
traduo ocorre quando um texto ou item da LF (lngua-fonte) e da LA
(lngua-alvo) so relacionveis (pelo menos em parte) s mesmas caracte
rsticas relevantes da substncia da situao (Broeck, 1978: 38). Para Van
den Broeck, essas caractersticas relevantes nada tm a ver com referncia
semntica, e sim com referncia textual. Ele se refere mais uma vez a Catford,
130
Teorias Contemporneas da Traduo
Conteniporary Tram latw n Theories
argum entando que am bos os textos devem ser relacionveis apenas com
as caractersticas funcionalm ente relevantes da situao com unicativa
(Broeck, 1978: 38). Em contraste com Broeck, porm , C atford via as ca
ractersticas funcionalm ente relevantes com o relativam ente indeterm ina
das e, em grande parte, um a questo de opinio:
Podemos distinguir, enfim , entre caractersticas situacionais que tm
relevncia lingustica e as que so funcionalm ente relevantes, sendo
essa relevncia funo comunicativa do texto, em tal situao. Para que
ocorra a equivalencia da traduo, portanto, tanto o texto da LF quanto o da
LA devem ser relacionveis s caractersticas funcionalmente relevantes da
situao. Em nosso atual estado de conhecimento, uma deciso em qualquer
caso especfico quanto a esse tipo dc relevncia deve permanecer, at certo
ponto, uma questo de opinio. (Catford, 1969: 94, itlicos no original)
Van den Broeck, por outro lado, sentia que essas caractersticas funcio
nalmente relevantes podiam ser determinadas, padronizadas e avaliadas com
preciso. Concordando com Lefevere, ele deduz que o intento do autor original
e a ftino do texto original podem ser determinados e traduzidos por um m
todo de tipologizar c topicalizar, para que possua valor literrio equivalente
ao texto-fonte e funo. Van den Broeck conclui: E correto dizer, portanto,
como diz Lefevere, que um a traduo s pode ser completa se e quando tanto
o valor comunicativo quanto os elementos de tempo-lugar-tradio do textofonte forem substitudos por seus equivalentes mais prximos possveis no
texto-alvo (Broeck, 1978: 39, ver Lefevere, 1975: 102).
A exigncia de se p reservar a literariedade a todo custo, enfim, in
fluencia no apenas a m etodologia, mas tam bm os padres avaliativos. O
problema com as abordagens iniciais de Holmes, Lefevere e Van den Broeck
era que elas davam tam anho destaque organizao interna do texto e
sua inerente estrutura que o referente desaparecia. Boa parte do problem a
gira em torno do uso inconsistente do term o funo . Q uando M iko, por
exemplo, usa a palavra funo , ele se refere caracterstica lingustica
muito sutil do texto, que lhe d sua literariedade . Ele isola elem entos
estruturais distintos na lngua e os descreve, esperando determ inar um pa
radigm a dc elem entos universais aplicvel a todas as lnguas. Miko tem em
m ente universos anistricos especficos de form a, que so independentes
de quaisquer culturas especficas. Os estudos da traduo usam o term o
funo para se referir ao m odo com o N ida usava a palavra - em term os
de teoria da com unicao e para reduzir a carga de inform ao, levando a
Primeiros estudos de traduo
131
Etirly transia f ion si:mHcs
m ensagem a funcionar de m aneira sem elhante na cultura receptora - e
tam bm ao uso do term o por parte de Milco, caractersticas lingusticas
m uito sutis que s os estudiosos de lingustica e crticos literrios con
seguem discernir. A referncia de Milco funo presum e um canal de
m ensagens absolutam ente puro, com um leitor ideal que sabe o intento
original do autor, fluente em num erosas lnguas, consegue distinguir tra
os lingusticos m nim os e com plexos c tem habilidade potica criativa.
Existem poucos leitores assim; o m odelo de Milco pressupe no s um
leitor com petente, mas ideal. Seu m odelo de estudos de traduo, portanto,
se baseia em um receptor no existente, bem com o em um referente no
existente. Sem vnculos precisos ao pensam ento ou com unicao, lem bra
os textos m odernistas/futuristas da dcada de 1920 que se referiam a nada
alm de si m esm os e eram totalm ente autnom os e sem significado .
O motivo pelo qual Van den Broeck queria aplicar a term inologia da
filosofia m etafsica tradicional aos estudos de traduo era que a nova abor
dagem , a despeito de suas tentativas de sc libertar, retinha a m esm a dicoto
mia form a x contedo que caracterizava o dualism o filosfico tradicional.
Segundo Lefevere e Van den Broeck, o problem a com as tradues que
privilegiam aspectos form ais - rima, m trica, fontica, sintaxe - no era
o de no transferir contedo, m as sim de no traduzir de m aneira adequa
da nem se q u e ra s propriedades form ais do texto original. No enfocavam
suficientemente a form a total , o tema em relao tradio literria e as
caractersticas literrias especficas. E m bora os estudiosos de traduo
neguem , a acusao de que o grupo s se ocupa de traduo literria ,
at certo ponto, justificvel. Sua nfase em caractersticas puram ente for
mais presum e o m esm o dualism o form a/contedo sem teorizar acerca da
relao dos dois. Se a efetividade da representao form al do objeto for
traduzida, ento provavelm ente o objeto em si ser traduzido tambm . Os
prim eiros estudos de traduo defendiam um a posio cuja teoria era nova
e m ediadora, em vez de herm enutica, m as se encontrava inserida em /e
perpetuando m uitas das dicotom ias da m esm a tradio m etafsica.
Qslranenie como padro avaliativo
Para dem onstrar a recepo dessa fase inicial dos estudos de traduo,
recorro agora ao texto Translation Studies (1980), escrito por Susan Bassnett,
cujo livro surgiu a partir de seu trabalho com estudantes de ps-graduao na
Universidade de Warwiclc, na Inglaterra, em extensa consulta com o grupo
132
Teorias Contemporneas da Traduo
Contempora i'\) I Ya/rs/iition lheonrs
de Leuven/Amsterd. O texto foi uma das primeiras publicaes sobre o
projeto flamengo/holands e tinha o intuito de servir como um a introduo
rea. Tornou-se talvez o livro mais vendido de estudos de traduo at
hoje, sendo reeditado pela Routledge em 1991.
Tentando alcanar um pblico maior, Bassnett foi deliberadamente di
dtica e provocativa, com a inteno de estimular interesse, promover dis
cusso e esclarecer diferenas. Bla adotou as duas premissas fundamentais,
porm contraditrias, dos primeiros estudos de traduo: que no h um
modo correto de traduzir um texto literrio e que a interpretao da traduo
seja baseada na comparao da funo do texto como original e traduzi
do. Em uma anlise de um histrico da traduo de diversas verses do 13Q
poema de Catulo, por exemplo, ela usa uma definio bastante geral do
termo funo para descrever de maneira objetiva as diferentes verses.
Na verdade, porm, Bassnett parece se distanciar de uma traduo feita por
sir Walter Marris, que caiu no abismo esperando pelo tradutor que resolva
se amarrar a um esquema de rima muito formal, e preferir uma verso cheia
de jarges e letras de rockn roll de Franlc Copley, que ela acha mais prxi
ma do poema latino do que a verso literal de Marris. Por fim, ao discorrer
sobre uma verso de Ben Jonson, que traduziu o soneto em um poema de
41 versos, ela sugere que se aproxima mais em esprito, tom e linguagem a
Catulo que qualquer uma das outras duas verses (Bassnett, 1980: 88-91).
claro que Bassnett tenta, retoricamente, decompor o conceito estreito dos
leitores do que deveria ser uma traduo literria e nos ajudar a ver os fen
menos de traduo em um sentido mais amplo. Ela parece dar preferncia,
contudo, incluso de efeitos de ostranenie, possibilitando aos tradutores
acrescentar comentrios e passagens a fim de acompanhar os efeitos do ori
ginal e tornar o texto relevante para o leitor contemporneo. Seu largo uso do
termo funo e sua aplicao liberal do conceito de mudana atenuam as
fronteiras entre definies tradicionais de traduo e adaptao.
Apesar da aparncia radical de sua metodologia, sua potica, na ver
dade, reflete convenes modernistas e formalistas russas. Ela apresentou
as questes tericas levantadas pelos estudiosos flamengos e holandeses
como parte dos problemas de traduo que tm caracterizado a teoria da
traduo em toda a sua histria e que so prprias das abordagens anglosaxnicas de nossos dias. De fato, em grande medida, justifica-se Bassnett
ter aplicado os estudos de traduo sua abordagem intersemitica, baseada
em muitos anos de estudos de teatro, traduo; com certeza, pode-se en
contrar apoio terico para suas prioridades no trabalho de Levy, Popovic,
Primeiros estudos dc traduo
'135
Enrly tnnislaiion sndies
Lefevere c Van den Broeck. Sua compreenso dos estudos de traduo era,
em parte, determinada por confuso terminolgica na rea, inserida no dua
lismo filosfico tradicional, e privilegiando uma estctica que se presta
apropriao, por meio de estratagemas sem referencias e subjetivos.
Enquanto Bassnctt usa os estudos de traduo para apoiar a estrat
gia de traduo por ela criada, estratgia esta que implicitamente retinha
padres avaliativos baseados nas normas prevalecentes caractersticas do
modernismo, James liolm es segue um procedimento diferente, dc orienta
o menos funcional e mais material. Ele quer revelar primeiro o proces
so de traduo, para depois entender por que determinadas decises foram
tomadas, antes de julgar o resultado como bom/mau, verdadeiro/inverdico
ou compreendido/mal compreendido. Referindo-se novamente a Translacin
as a Decisin Making Process (1967), de Levy, Ilolm cs argumenta que
a traduo envolve a tomada de decises, e uma deciso afeta todas as
outras (Holmes, 1973-4: 79-80; ver Levy, 1967: 1171-4). Entretanto, em
determinado ponto, a traduo comea a gerar regras prprias, evitando
certas escolhas e permitindo certos discernimentos que talvez no fossem
visveis at ento. Qualquer que seja o desenrolar da traduo, outras tra
dues sempre so possveis, no melhores nem piores, mas diferentes, de
pendendo da potica do tradutor, das escolhas iniciais e dos pontos cm que
as lnguas se entrelaam e comeam a desenvolver no na lngua-fonte ou
alvo, mas naquela rea cinza entre as duas. A diferena entre as abordagens
de Holmes e de Bassnett que Holmes tenta preservar o som, o sentido,
o ritmo, o material textual do objeto na lngua e recriar essas sensaes
especficas - som, sentido e associao - a despeito de limitaes inerentes
na lngua-alvo, enquanto Bassnett enfoca o tema central e o significado,
deriva a funo original e permite a substituio de grande parte do tex
to, com todas as particulares ressonncias c associaes, por algo novo e
muito diferente, mas que, em teoria, afeta o leitor da mesma maneira. Em
ambos os casos, atendo-se definio da teoria dos estudos de traduo,
podemos ver como os mtodos para os tradutores em treinamento e/ou a
real prtica da traduo do substncia a qualquer discusso de teoria.
O lugar dos estudos de traduo na histria
Enquanto James Holmes se empenhava em evitar generalizaes
tericas em torno de como o objeto (o texto traduzido) deve parecer antes
que o texto-fonte seja confrontado, que as incom patibilidades de lnguas
132
Teorias Contemporneas da Traduo
Contemporary Translation Theories
sejam analisadas e as opes que determ inam a metodologia, ponderadas,
Raymond van den Broeck, Andr Lefevere e Susan Bassnett enfrentavam
o problem a descritivo com padres avaliativos j sendo aplicados. As
diferenas tericas entre estes, porm, no lhes impediu a cooperao em
termos de estudos da traduo. Na verdade, o mais caracterstico desse
perodo o estim ulante processo de colaborao em andamento, apesar
de certas diferenas tericas. Por exemplo, os estudos de traduo con
cordavam que o estudioso deveria analisar o sistema tanto das corres
pondncias quanto dos desvios construdos pelo tradutor. Em seu ensaio,
Describing Literary Translations: Models and Methods, (1978; 1988),
Holmes explica:
A tarefa do estudioso que deseja descrever a relao entre o texto traduzi
do e o original bvia. Ele deve tentar determinar as caractersticas dos dois
mapas do tradutor e descobrir seu sistema de regras - de desvio, projeo c,
acima de tudo, correspondncia-, em outras palavras, da potica do tradutor.
(Holmes, 1978: 77; 1988: 87)
Por mais fcil que parea a relao, tal descrio no fcil, por
duas razes. A prim eira que, quase invariavelmente, no existe material
algum para anlise, exceto os prprios textos, o original e a traduo, e
o estudioso no tem acesso ao que se passa na mente do tradutor em ter
mos do processo de tomar decises. A segunda razo que, mesmo que
o tradutor explicite na introduo ou no prefcio os principais critrios
e o sistem a potico regendo o texto traduzido, essa descrio pode no
corresponder inteno original. Assim, o estudioso deve traar a re
lao entre traduo e original por um caminho imaginrio, pois textos
documentando o caminho so quase no existentes. At a poca do incio
dos estudos de traduo, nenhuma das disciplinas de crtica literria apre
sentava uma metodologia suficiente para explicar, dc forma objetiva, o
processo de traduo; tentativas anteriores faziam comparaes com base
aleatria, caracterizada pela intuio e pelo mtodo de estudos de influn
cia, sendo notadam ente incompletas. Os estudiosos de traduo propuse
ram um a abordagem mais rigorosa, tentando atingir um consenso quanto
a um repertrio de traos especficos a serem comparados (como os esbo
ados por M iko), em seguida, estabelecendo onde as mudanas determi
nantes ocorrem (conform e definio de Popovic) e por fim analisando de
modo sistem tico essas mudanas, incorporando anlises textuais sincr
nicas, estruturas, bem como as anlises diacrnicas literrias intertextuais
Primeiros estudos de traduo
1.35
Ear/y transhition studies
e socioculturais, a fim de determinar o significado e a funo de qualquer
texto traduzido especfico. Van den Broeclc concordou, sugerindo que a
varincia limitada (significado aproximado) cam inha de mos dadas com
as mudanas de traduo (equivalentes funcionais) (Broeclc, 1978: 41).
Com o intuito dc analisar o original e a traduo em termos de seu ncleo
estvel e suas mudanas determinantes, Van den Broeclc tambm apon
ta para Milco e seu sistema de propriedades expressivas (Broeclc, 1978:
44-5). Lefevere, usando um a terminologia um pouco diferente, defendeu
uma posio semelhante, argumentando que a literatura evolui medida
que unidades ao mesmo tempo novas e independentes vo surgindo a par
tir de uma unidade bsica, e que as mudanas progressivas ocorrem com
o passar do tempo. A tarefa do estudioso, argumenta ele, seria codificar
essa evoluo, bem como as instituies por meio das quais essa evoluo
ocorre. S ento o significado de uma obra pode ser estabelecido (Le
fevere, 1978a: 25). Holmes, ciente da magnitude de tal tarefa, afirma que
elaborar um sistema de codificao e seguir o processo de descrever a lite
ratura da maneira exposta anteriormente o prximo passo necessrio para
a rea. Ele conclui, em seu ensaio Describing Litemiy Translations:
A tarefa de elaborar esse repertrio seria enorme. Mas, se os estudiosos
pudessem chegar a um consenso sobre ela, como, por exemplo, os botnicos
desde Lineu chegam a um consenso em torno dos mtodos sistemticos para
a descrio de plantas, seria possvel, pela primeira vez, proporcionar descri
es de textos originais e traduzidos, dc seus respectivos mapas c das corres
pondentes redes, regras c hierarquias que seriam mutuamente comparveis.
E s com base em descries mutuamente comparveis, podemos produzir
estudos bem fundados de uma abrangncia maior: estudos comparativos
das tradues dc um autor ou um tradutor, ou - dando um salto maior - de
perodo, gnero, uma s lngua (ou cultura), ou histrias gerais da traduo.
(Holmes, 1978: 81; 1988: 90)
Os estudos de traduo, que comearam com uma proposta relativa
mente modesta, a de focar as tradues em si e descrever melhor o pro
cesso de traduo, descobriram que a tarefa seria muito mais complexa do
que se concebia at ento. O trabalho, sem dvida, est alm do escopo de
qualquer estudioso em particular, independentemente de quanto ele saiba
de teoria lingustica, literria e sociocultural - da a proposta de que os es
tudiosos literrios de variadas reas concordem quanto a uma metodologia
de trabalho e unam esforos em torno dessa enorme meta.
136
Teorias Contemporneas da Traduo
Contempomry Tnmslntion 7heorics
Um dos pioneiros no esforo para desenvolver um m odelo para
descrever m elhor as tradues de m aneira detalhada foi Jos Lambert,
cuja abordagem difere dos prim eiros estudos de traduo. Lam bert su
gere que o livro de Van den Broeck e Lefevere, de 1979, Uitnodiging
tot de vertacilwetenschap, sintom tico do problem a. Embora os dois
autores enfatizem , na obra, a necessidade dc mais estudos descritivos,
afirma Lambert, eles no explicam como isso deveria ser feito (Lambert
& Gorp, 1985: 42) e que os m todos gerais usados durante o primeiro
perodo, isto , o incio da dcada de 1970, eram muito mais intuiti
vos que sistem ticos. Em suas tentativas de descrever uma m etodolo
gia mais sistem tica para a rea, Lam bert e outros foram auxiliados pela
contribuio de dois estudiosos de Israel. A teoria dos polissistem as,
definida por Itam ar E vcn-Z ohar e desenvolvida por Gidcon Toury, que
ser tratada em detalhe no captulo seguinte, tornou-se to identificada
como a teoria subjacente aos estudos contem porneos de traduo nos
anos de 1980 e 1990 que, para m uitos, as duas so indistinguveis.
Entretanto, antes de encerrar este captulo sobre estudos de traduo,
importante refletir sobre a natureza pioneira daqueles primeiros estudio
sos e sua contribuio para os estudos literrios e teorias de comunicao
intercultural. Infelizmente, vrios dos principais participantes durante os
anos formativos j faleceram. Levy morreu em 1969; Popovic, em 1984;
Holmes, em 1986; e Lefevere, em 1996. Estudos recentes acrescentaram
pouco ao registro histrico do perodo. Entretanto, muitos dos artigos im
portantes, publicados originalmente em fontes obscuras, foram reunidos e
se encontram, hoje, acessveis. Os ensaios de James Holmes, como mencio
nado, esto na coletnea Translated! (1988). Retrospectivas foram manti
das, como a conferncia dedicada a James Holmes em Amsterd em 1990,
apresentaes que foram publicadas na subsequente antologia Trcinslation
Studies: The State o fth e Art (1991), que contm importantes ensaios de
muitos admiradores de Holmes.
Isso no significa que nada novo em termos de estudo tenha sido acres
cido ao rol dos primeiros estudos de traduo. Em Translcition in Systems:
Descriptive and System-oriented Approaches Explained (1999), Theo
Hermans, tambm pioneiro do perodo (ver seo sobre estudos dc traduo
na dcada de 1980, a seguir), cita a obra de John McFarlane, que em 1953 pu
blicou um ensaio intitulado Modes o f Transiation, em The Durhatn University
Journal. Holmes reconheceu a importncia das ideias de McFarlane e o
convidou para a conferncia de Leuven em 1976. McFarlane comeou seu
Primeiros estudos de traduo
137
Enrly tramlation stuAics
ensaio com conceitos relativamente tradicionais do que os tradutores ten
tam fazer, ou seja, transmitir com preciso o significado de um texto em
uma lngua para outro texto, em outra lngua, mas, em seguida, passou
a apontar as complexidades envolvidas nesse mesmo processo. Ele tinha
total conscincia da instabilidade do significado e das incompatibilidades
entre as lnguas, argumentando que no h como produzir uma preciso
total, uma vez que no existe um meio de determinar em que consiste essa
preciso. Haveria a necessidade, enfim, no de outra nova teoria de tradu
o, mas sim de uma abordagem que aceitasse a traduo em todas as suas
imprecises e insuficincias, que no se preocupasse com ideais irreais e
absolutos fictcios, e sim realidades concretas, e que no tentasse impor
um padro rgido aos fatos, como vemos no presente, mas, em vez disso,
servisse como artifcio para a melhor compreenso deles (1953: 92-3; ver
Hermans, 1999: 17-21). Ele concluiu o ensaio com um apelo para que se
jam explorados os procedimentos da traduo, do que acontece com as tra
dues propriamente ditas: Antes de comearmos a fazer julgamentos de
valor da traduo, precisamos conhecer melhor sua natureza; e a sugesto
que uma anlise do procedimento - acreditando-se que traduo o que
a traduo faz - seja a abordagem mais promissora (1953: 93). Podemos
ver a importncia das ideias de McFarlane, principalmente afirmaes do
tipo traduo o que a traduo faz, nos primeiros estudos de traduo.
Mais importante que reunir os primeiros ensaios em antologias e res
gatar o registro histrico foi a tentativa de recuperar o espritos dos tempos.
Estudiosos mais jovens que se deparam com esse material em pocas pos
teriores s podem comear a pesquisa com o registro histrico. De acordo
com os participantes da poca, porm, o que falta nas revistas histricas do
perodo so as conversas, os dilogos, bate-papos tarde da noite e as ideias
no publicadas, a princpio to importantes para o movimento. Felizmente,
Theo Hermans aborda esse esprito de descoberta em uma seo intitulada
An Invisible College em Transiotion in Systems (1999). Apoiando-se em
The Structure o f Scientific Revolution (1962), de Thomas Kuhn, e Invisible
Colleges: Dijfusion o f Knowledge in Scientific Communities (1972), de
Diana Crane, para o vocabulrio prprio para articular a energia desse
perodo, Hermans se reflete no modo como a rea de estudo se cristalizou,
a partir de ideias dspares flutuando a esmo em diferentes partes do globo,
em uma matriz disciplinria semicoerente, uma espcie de encontro de
mentes dc estudiosos das Amricas, Holanda, Blgica, Israel e Europa
central. Interesses em histria literria, estruturalismo, estilstica, traduo e,
138
Teorias Contemporneas da Traduo
Contemf?ovor\ Transhitiov U.ieorics
principalm ente, insatisfao com os conhecim entos existentes se fundiram
e levaram a um processo criativo de fertilizao cruzada. Ideias experi
mentadas por pequenos grupos infectavam outros, gerando um crescimento
exponencial. Contatos estabelecidos por Holmes e Popovic se difundiram pela
Holanda c Blgica, onde estudiosos com o Jos Lambert, Andr Lefevere e
Raym ond van den Broeck se jun taram ao momentum, que por sua vez con
tam inou estudiosos com o E ven-Z ohar e G ideon Toury em Israel, Susan
Bassnett na Inglaterra e M aria Tym oczko nos Estados U nidos. Esses in
divduos altam ente produtivos desenvolveram , ento, um aparato terico
c um a m etodologia de pesquisa, organizaram um a srie de conferncias,
recrutaram colaboradores e com earam a treinar estudantes. A expanso
estava em andam ento.
N os prim eiros anos, o desenvolvim ento de um a rede pessoal e o
intercm bio de ideias foram cruciais para o surgim ento do novo cam po.
H erm ans se refere a essa rede com o o colgio invisvel , o qual, a despei
to de sua disperso internacional, oferecia um lar para seus participantes. A
publicao dos prim eiros artigos em peridicos obscuros, afirma H erm ans,
acabou acrescentando o esprito com bativo e inovador do grupo. M uitos
interesses com uns foram com partilhados, com o, por exem plo, o interesse
conjunto do gru p o inicial pelo fo rm alism o russo; os p articip an tes in d i
viduais, contudo, tam bm trouxeram seu conhecim ento e seus interesses
prprios, incluindo teoria de sistem as, estudos em pricos, histria literria
e filosofia da cincia. Em suma, a qum ica funcionou, e um novo paradig
ma foi estabelecido. V oltam o-nos agora para os anos centrais dos estudos
de traduo, nos quais as ideias m ais im portantes foram elaboradas e tes
tadas: o perodo em que os estudos de traduo, por bem ou por m al, se
uniram teoria dos polissistem as.
M'ir
Captulo 5
Teoria dos polisslstemas
Em uma serie de textos escritos entre 1970 e 1977, e reunidos em 1978
como Papers in HistricaI Poetics, Itamar Even-Zohar apresentava, pela pri
meira vez, o termo polissistema para o agregado dc sistemas literrios,
incluindo tudo, desde formas altas ou cannicas (por exemplo, verso
inovador) como poesia at formas baixas ou no cannicas (por exem
plo, literatura infantil e fico popular) em determinada cultura. Even-Zohar
reconhecia tanto a importncia primria (criar novas ideias e modelos)
quanto a secundria (reforar itens e modelos) da literatura traduzida em
histria literria (Even-Zohar, 1978a: 7-8). GideonToury, um colega mais jo
vem, adotou o conceito de polissistemas, isolou c definiu certas normas de
traduo que influenciam as decises no ato de traduzir e incorporou esses
fatores na estrutura maior dc uma teoria abrangente de traduo, publicada
em In Search o fa Theory ofTranslation (1980). Essas ideias no eram no
vas, mas sim baseadas no trabalho dos formalistas russos posteriores, e evo
luram dc uma dcada de trabalho por parte de estudiosos na Universidade de
Tel Aviv que haviam se encarregado do ambicioso projeto dc descrever toda
a histria da traduo literria para o hebraico.
No incio dos anos de 1970, Even-Zohar desenvolveu a hiptese dos
polissistemas, trabalhando em um modelo para literatura israelita hebraica;
tinha publicado suas descobertas em francs, como Aperu de la Litrature
Isralienne, j em 1972, embora a verso inglesa de sua teoria s surgisse
em sua obra Papers in Histrical Poetics (1978). Gideon Toury foi um dos
muitos estudiosos na Universidade de Tel Aviv que participaram em vrios
139
140
Teorias Contemporneas da Traduo
C',o)itanborar\) Tnnislation Theories
estudos de campo testando as hipteses de Even-Zohar na dcada de
1970 e que tinham extensos dados em que basear suas concluses tericas
(Yahalom, 1981: Shavit, 1981; Toury, 1980). Even-Zohar apresentou suas
ideias primeiramente ao grupo holands/belga, naquele que ficaria conhe
cido como o histrico Colquio de Estudos de Traduo de 1976, em
Lcuven, Blgica, cujos trabalhos foram publicados em uma coletnea cha
mada Literature and Translation: New Perspectives in Literary Studies
(1976). Os temas apresentados em duas conferncias sobre estudos de tra
duo aps o colquio de 1976 - o primeiro em 1978 em Tel Aviv, cujas atas
foram publicadas em uma edio especial de Poetics Poclay (vero-outono,
1981), e o segundo cm 1980 em Anturpia, cujas alas foram publicadas em
uma edio especial de traduo de Dispositio (1982) - ilustram o casamen
to da teoria dos polissistemas com os estudos de traduo at o ponto em
que, pelo menos nos anos de 1980, os dois eram quase indistinguveis.
Por que essa unio de trabalho sendo feito por estudiosos nos Pases
Baixos e em Israel ocorreu nesse momento especfico? Um dos moti
vos certamente tinha a ver com os desenvolvimentos paralelos em suas
situaes sociais e histricas: os estudiosos flamengos e holandeses ti
nham contatos intelectuais com os crculos literrios e lingusticos ale
mes e checos, enquanto os israelitas interagiam com estudiosos alemes,
russos e, depois, anglo-am ericanos. Uma perspectiva semelhante para a
traduo tambm existia cm ambas as regies: seus pases poderiam ser
caracterizados como tendo poucas pessoas que falassem lnguas me
nores, a literatura nacional de ambos bastante influenciada pela
literatura maior sua volta, a holandesa, pela alem, francesa e angloamericana, e a de Israel, pela alem, russa e anglo-americana. A situao
em Israel era mais extrem a que nos Pases Baixos, que possuam sua
prpria tradio literria nativa, pois os hebreus no tinham um cnone
de obras literrias e eram totalm ente dependentes de textos em lnguas
estrangeiras tanto para diversidade quanto profundidade. Mais importan
te, porm, era a dependncia da cultura, como um todo, da traduo para
fins comerciais e polticos. No caso da situao holandesa/flamenga, as
oportunidades econm icas, intelectuais e sociais eram, sem dvida, me
lhoradas pela interao m ultilngue; no caso de Israel, a sobrevivncia da
noo passou a depender da traduo. Se os holandeses e belgas, por sua
vez, se encontravam na encruzilhada intelectual da Europa, os israelitas
se viam em outra, no s entre a Unio Sovitica e o Ocidente, mas entre
as culturas ocidentais e do Terceiro M undo .
Teoria dos polissistemas
141
Polysyteni iheory
No captulo 1, observei que Paul Engle afirmara que o futuro do
mundo talvez dependesse da traduo precisa de uma palavra; em nenhum
lugar tal afirmao mais evidente que na frgil situao diplomtica e
poltica do Oriente Mdio. L, a cultura russa de fato se encontra com a
anglo-americana; muulmanos se encontram com judeus; foras sociais
e histricas do passado influenciam o presente; o multilinguismo mais
dominante que o monolinguismo; os exlios so to comuns quanto os na
cionais locais. Para entender o prprio passado e a prpria identidade,
uma compreenso da traduo em si e por si crucial; ela deixa de ser um
jogo da elite intelectual, uma nota de rodap dos estudos literrios, e se
torna fundamental para a vida e a sustentao de todos os indivduos, em
toda a regio (e talvez no mundo).
Outro motivo para associarmos a teoria dos polissistemas aos estudos
de traduo a semelhana entre os dois: existe uma ligao lgica entre
o que estava sendo sugerido nos Pases Baixos e o que era postulado em
Israel. Os estudiosos em Israel no contradiziam o trabalho dos primeiros
estudos de traduo, mas o expandiam, incorporando noes tericas an
teriores de equivalncia de traduo e funo literria em uma estrutura
maior, que lhes possibilitava historicizar os textos realmente traduzidos e
ver a natureza temporal de certas pressuposies estticas que influenciam
o processo de traduo. A diferena terica importante entre o trabalho
deles c os primeiros estudos de traduo que a direo do pensamen
to acerca da traduo se inverte. Os discpulos dos estudos de traduo,
assim como vrios tericos da traduo antes deles, tendiam a observar
relaes um a um e noes funcionais de equivalncia; eles acreditavam
na habilidade subjetiva do tradutor de derivar um texto equivalente que, por
sua vez, influenciasse as convenes literrias e culturais de determinada
sociedade. Os tericos dos polissistemas presumiam o contrrio: que as
normas sociais e as convenes literrias na cultura receptora (sistemaalvo) ditam as pressuposies estticas do tradutor e, assim, influenciam
suas subsequentes decises.
Em muitos sentidos, porm, a teoria dos polissistemas foi uma extenso
lgica das exigncias feitas pelos primeiros tericos dos estudos de traduo;
os estudiosos israelitas expandiram os parmetros do que Lcfcvere, I-Iolmes e
Van den Broeclc pretendiam at um ponto em que a teoria da traduo parece
transcender as legtimas fronteiras lingusticas e literrias. Na introduo
de Transladou Theoiy and Intercultural Relations, as atas da conferncia de
Tel Aviv de 1978, os editores Even-Zohar e Toury escreveram:
142
Teorias Contemporneas da Traduo
Contemporary TnmsUttion Thcories
Tendo adotado uma vez a abordagem fimcional(ista), na qual o objeto de
pende da teoria, a moderna teoria da traduo no pode deixar de transcender
fronteiras. Assim como as fronteiras lingusticas foram transcendidas, as
literrias tambm devem ser. Pois h ocorrncias de uma natureza trasladvel
que requerem uma semitica da cultura. (Even-Zohar & Toury, 1981: X)
Com a incorporao do horizonte histrico, os tericos dos polissistemas mudaram a perspectiva que at ento governara a tradicional teoria
da traduo e comearam a abordar toda uma nova srie de questes. No
s as tradues e as conexes interlitarrias entre as culturas so mais bem
descritas, mas as relaes intraliterrias dentro da estrutura de determinado
sistema cultural e a verdadeira evoluo literria e lingustica tambm se
tornam visveis por meio do estudo de textos traduzveis.
O problema com os primeiros estudos de traduo, segundo os teri
cos dos polissistemas, era que eles tentavam teorizar o processo de tradu
o e, ao mesmo tempo, avaliar o sucesso de textos individuais de maneira
sincrnica (textos em termos de sua pura literariedade). Enquanto ale
gavam possuir um componente diacrnico, pois consideravam o contex
to histrico, bem como a cultura-alvo (em termos da funo do texto na
cultura receptora), esse mesmo componente pendia para o anistrico: a
teoria aventava a possibilidade de uma importao direta de uma funo
isolada (a funo original pretendida pelo autor) no decorrer dos sculos.
Uma avaliao sincrnica, como a tentativa de Van den Broeck de recupe
rar o conceito de equivalncia de traduo para os estudos de traduo,
estava em contradio direta com uma descrio diacrnica abrangente,
que relativizava em vez de universalizar qualquer conceito de equivalncia.
Qualquer tentativa de prescrever um a esttica no lugar de outra em termos
de abordagens traduo seria comprometida pela extenso necessria dos
parmetros da anlise histrica. Como a teoria da traduo, em seu incio,
era muito limitada por distines metafsicas separando forma de contedo
e teorias dualsticas de representao, ela no conseguia descrever de for
ma adequada a situao histrica condicionando sistemas especficos de
representao. A contribuio israelita abandonou as tentativas de prescre
ver, incorporou descries de mltiplos processos de traduo e analisou
os diversos produtos histricos. Em vez de se basear em tipos de gramtica/
temticos de estrutura profunda ou aspectos lingusticos com funes se
melhantes, a moderna teoria da traduo incorporou a ideia da mudana
sistmica que compromete esses conceitos estticos, mecansticos.
Teoria dos polissistemas
143
Pofvsyem theory
O processo que os tericos da traduo desejam agora descrever no
era um processo dc transferncias de um nico texto, m as de produo de
traduo e m udana dentro de todo o sistem a literrio. Para isso, EvenZ ohar e Toury se utilizaram vontade das ideias dos form alistas russos
posteriores, em particular Jurij Tynjanov, cujo projeto, em m uitos sentidos,
paralelo ao desenvolvim ento dos estudos dc traduo. Identificando seu
conceito de teoria de polissistem as na tradio do form alism o russo, EvenZ ohar escreveu:
A importncia para a histria literria das correlaes entre literatura cen
tral e perifrica, bem como entre tipos altos e baixos, foi identificada pe
los formalistas russos assim, to logo abandonaram sua atitude parcialmente
anistrica, no incio dc sua histria. A natureza dessas correlaes se tornou
uma das principais hipteses para explicar os mecanismos de mudana na
histria literria. (Even-Zohar, 1978a: 11)
Assim como os prim eiros estudos de traduo requeriam um a investi
gao do processo histrico, m as deixavam de especificar os porm enores,
tam bm m uitos form alistas russos deixaram de interpretar seus resultados
em term os de histria literria. Esse processo s com eou m ais tarde, com
Jurij Tynjanov, Boris jxenbaum e seus alunos.
Jurij Tynjanov: acerca da evoluo literria
Os form alistas russos no eram um grupo totalm ente hom ogneo, e
suas desavenas por conta do conceito de form a , isto , se a lngua era
direcionada prim eiram ente para o signo ou para o m undo externo, foram,
talvez, responsveis pela diviso interna. Um dos form alistas russos que
defendia o rom pim ento com obras literrias autnom as e a aproxim ao
com a histria foi B oris jxenbaum , que, em Theory o f he Fornia! Method ,
descreveu o m om ento da ciso nos seguintes term os:
O ponto focal que o empenho original dos formalistas em identificar
algum artifcio construcional especfico e traar sua unidade por meio de
volumoso material cedeu lugar a uma tentativa de qualificar melhor a ideia
geral, apreender a funo concreta do artifcio em cada instncia. Esse con
ceito de valor funcional aos poucos ganhou destaque e obscureceu nosso
conceito original do artifcio. (jxenbaum, 1978: 29)
144
Teorias Contemporneas da Traduo
Contem[>oi\ir\> Tm nslation Theoi 7es
A ciso no form alism o russo no foi dirigida apenas contra as
antigas tendncias form alistas, mas tam bm contra a histria literria
dominante e o conhecim ento sim bolista na Rssia. Tal m udana nesse
pensamento conceituai forou os form alistas posteriores a considerar
fatores histricos, e m ais uma vez eles entraram em conflito com as
tradies de historicism o literrio, ento dom inado por levantamentos
biolgicos e estudos da influncia de autores cannicos sobre outros
autores. Segundo jxenbaum , os historiadores literrios da poca con
tavam com generalidades, tais como os conceitos de rom antism o ou
realism o quando falavam em term os histricos, e o progresso era m e
dido com base individual - sem elhante, por exemplo, ao modo como
um pai passa algum a coisa ao filho e um a me filha. No se via na
literatura nenhum a im portncia para a evoluo social. Os tericos li
terrios sim bolistas, contra os quais os form alistas russos reagiram a
princpio, afastaram o conhecim ento literrio ainda mais das condies
culturais, desenvolvendo toda um a srie de esboos im pressionistas e
silhuetas que m odernizavam os escritores, convertendo-os em eter
nos com panheiros .
Essa ruptura do formalismo russo foi uma consequncia natural da
abordagem formalista: na anlise de uma questo literria especfica, o cr
tico logo percebia que o problema literrio no s estava emaranhado na
histria, mas tambm influenciava a histria na qual se insere, abrindo o
problema complexo da evoluo literria. Segundo Tynjanov, qualquer nova
obra literria deve necessariamente desconstruir unidades existentes ou, por
definio, deixa de ser literria. A tradio literria no era mais concebida
como uma linha reta contnua, mas antes como uma luta envolvendo des
truio e reconstruo a partir de elementos ('lynjanov, 1921: jxenbaum,
1978: 31). Em termos do desenvolvimento do formalismo russo e sua
relevncia para os estudos de traduo, essa viso de Tynjanov marca a
ruptura crtica. Em seu artigo em 1927, On Literciry Evolution, e no ano
seguinte, Problems in the Study o f Lierature and Language (ambos os
artigos com pilados em M atejka & Pomorska, 1978), Tynjanov repudiou
oficialmente seus colegas form alistas. O projeto formalista, ele argumen
tava, era apenas m ais um exemplo de um a abordagem histrica tradi
cional, que isolava elem entos literrios e os equiparava com elementos
de um sistema oriundo de um perodo e tempo diferentes:
Tradio, o conceito bsico da histria estabelecida da literatura, provou ser
uma abstrao injustificvel de um ou mais elementos literrios de determinado
Teoria dos polissistemas
145
Po/ysytctn fheory
sistema dentro do qual eles ocupam o mesmo plano e desempenham o mes
mo papel. So comparados com os elementos iguais de outro sistema no qual
esto em um plano diferente, convergindo para um sistema aparentemente
unificado, ficcionalmente integrado. (Tynjanov, 1978b: 67)
Tynjanov rejeitou as investigaes de seus colegas, considerando-as
superficiais e mecnicas e seus resultados ilusrios e abstratos. Ele argu
menta que as caractersticas sincrnicas dependem de estruturas passadas
e futuras, que o fizeram reformular o conceito formalista de diacronia e a
funo da literatura na histria. Sempre em relao dialtica com outros
sistemas, as obras no poderiam mais ser estudadas isoladamente, pois
aquilo que era inovador dependia do que era normal. Elementos formais
adquiriam valor no quando fossem abstrados e correlacionados a algum
conceito da forma semelhante ou idntica, mas quando eram diferentes,
distanciando-se de uma forma padro. A literariedade se tornou equiva
lente diferena, e expresses como inovao nas obras e mutao de
sistemas eram usadas para ilustrar seu argumento: O principal conceito
para a evoluo literria a mutao de sistemas e, assim, o problemas das
tradies transferido para outro plano (Tynjanov, 1978b: 67).
Duas mudanas no pensamento de Tynjanov se tornaram evidentes: a
primeira, a literariedade no poderia ser definida fora da histria - sua
existncia dependia da inter-relao; e a segunda mudana, as unidades
formais perdiam importncia, medida que as leis sistmicas que regem as
relaes literrias eram elevadas. Tynjanov poderia, nesse sentido, ser clas
sificado como estruturalista, em vez de formalista, pois a finalidade de seu
projeto era descobrir as leis estruturais especficas que governam todos
os sistemas, incluindo textos literrios. Ele propunha um estudo da relao
da funo de elementos literrios normais com outros elementos literrios
intratextuais, elementos literrios intertextuais e ordens extraliterrias. A
abstrao formal de elementos separados de uma obra - tais como com
posio, ritmo, estilo, sintaxe ou pardia - era til, porm limitada, pois,
em determinado ponto, essa mesma obra acabaria revelando que a funo
de um elemento especfico variava em diferentes sistemas. A revelao de
que elementos formais eram capazes de adquirir diferentes funes em
diferentes culturas (como em traduo, por exemplo) sugeria a Tynjanov
que os parmetros que governam o conhecimento literrio precisavam ser
expandidos para incluir o extraliterrio. Ele rejeitava a origem no sist
mica de novos elementos, ideias e/ou gneros, fossem eles gerados a partir
146
Teorias Contemporneas da Traduo
Contemfora ry Tnmslatlon Tljeories
de textos literrios ( influncias literrias) ou instituies extraliterrias.
Por outro lado, Tynjanov e Jakobson apresentavam a tese de que a evolu
o estrutural determina toda mudana especfica: A histria da literatura
(arte), sendo simultnea a outras sries histricas, caracterizada, como
em cada uma dessas sries, por um complexo envolvido de leis estruturais
especficas (Tynjanov & Jakobson, 1978: 79).
Para compreender melhor a relao do elemento formal inovador com o
texto especfico e com a ordem literria existente, Tynjanov introduziu o con
ceito de sistema. Os elementos, argumenta ele, no existem isoladamente,
mas sempre em uma inter-relao com outros elementos de outros sistemas.
Para Tynjanov, todo o mundo literrio e extraiiterrio poderia ser dividido
em sistemas estruturais mltiplos. As tradies literrias compem di
ferentes sistemas, gneros literrios formam sistemas, a obra literria em
si tambm um sistema nico, e a ordem social compreende outro sistema,
todos os quais se inter-relacionam, dialeticamente interagindo e condicio
nando o modo como qualquer elemento formal especfico pode funcionar.
Sem um conceito de uniformidade, de sistema, de normas, de conformao,
impossvel determinar o que novo, diferente ou mutante. O formalismo
apresentava a tese de que era possvel distinguir a literariedade por meio
de um conceito de desfamiliarizao. Essa tese, contudo, dependia da pres
suposio de que o formalismo tambm era capaz de definir o que familiar,
pois a funo do elemento formal podia ser vista como desfamiliarizadora
somente naquele momento intertextual especfico, em que a norma e o novo
entravam em contato. Portanto, a principal colaborao de Tynjanov para a
teoria literria foi a de estender, de uma maneira lgica, os parmetros do
formalismo para incluir normas literrias e sociais.
A ordem social no modelo de Tynjanov era tudo o que se tornara for
malizado, automatizado, regularizado - a vida comum, cotidiana, banal:
ele argumentava que o verso encontrado em jornais, por exemplo, usava
basicamente sistemas mtricos banais, extintos, j h muito rejeitados pela
poesia. Assim, o exlraliterrio no modelo de Tynjanov no era algo que
influenciasse obras literrias; a obra literria influenciava o extraliterrio.
Textos literrios introduziram uma mudana no modo como as pessoas
percebiam as coisas no mundo real. Para iluminar esse conjunto de rela
es, Tynjanov introduziu o conceito de complexo de normas :
Os princpios envolvidos em relacionar essas duas categorias (isto , a
norma existente c as expresses individuais), conforme aplicado literatura,
Teoria dos polissistemas
147
Polysytem theory
devem agora ser elaborados. No segundo caso, a expresso individual no
pode ser considerada sem referncia ao complexo existente de normas. (O
investigador, ao isolar o primeiro do segundo, inevitavelmente deforma o sis
tema de valores artsticos em considerao, perdendo, assim, a possibilidade
de estabelecer suas leis imanentes.) (Tynjanov & Jakobson, 1978: 80)
A expresso indivicual, portanto, foi a princpio relacionada norma
literria preexistente para medir seu valor e assim determinar as leis ima
nentes de sua produo. Em um terceiro nvel, existia o mundo real, ma
terial, o mundo da conveno social, ou seja, aquele que existe quando
os textos literrios so desgastados e transferidos para outras formas de
vida real. As normas sociais, enfim, eram vistas em grande parte como
estagnadas, estticas, mortas; a inovao literria era o que movia a socie
dade. A funo da vida real no modelo de Tynjanov era apenas a de ser a
receptora para as frases cansadas, desgastadas, que perderam a vida.
Embora Tynjanov se comprometesse com uma teoria de sistemas, em
vez do formalismo, suas razes formalistas perm aneciam visveis, pois a
estrutura formal de um texto ainda era privilegiada c o contedo era redu
zido importncia marginal. A hierarquia desse modelo procedia de uma
anlise da relao de elementos estruturais dentro de um texto literrio
(funo construcional) com a anlise da relao do texto literrio com a
ordem literria (funo literria) e, por fim, com a anlise da relao do
sistema literrio com as convenes sociais (funo verbal). A hierarquia
era compartimentada de modo que uma nica obra literria no pudesse ser
relacionada ordem social; somente uma ordem literria ao extraliterrio
(Tynjanov, 1978b: 74). O conceito de Tynjanov de como a literatura evolui
se baseou no mesmo artifcio de desfamiliarizao to valorizado pelos
primeiros formalistas. Apesar das aclamaes contrrias, mesmo no for
malismo posterior, a literatura ainda era percebida como isolada do resto
do mundo enfadonho, banal, automatizado; era vista como tendo um de
senvolvimento autnomo, adjacente ao mundo real.
Por mais avanado que fosse o modelo de Tynjanov, o alegado modelo
diacrnico, evolucionrio, ainda era determinado basicamente por sua pre
disposio conceituai sincrnica. Uma contradio na obra de Tynjanov
caracterstica de seu projeto era a sua tentativa de ampliar a perspectiva
do formalismo russo introduzindo perspectiva histrica e realidades so
ciais em seu modelo, ao mesmo tempo retendo categorias conceituais sin
crnicas - a funo construcional de um texto - que tradicionalmente
148
Teorias Contemporneas da Traduo
Contemjyorary Tramlation Theories
dirigiam o formalismo. O que tinha valor era aquilo que desfamiliarizava
(verso potico); e o que no tinha era o que se conformava (jornalismo,
literatura popular). Sua insistncia em um a cincia prova de valores da
evoluo literria privilegiava signos que se referiam a outros signos - a
inovao de forma era o fato determinante - e no ao mundo material. A
literatura, portanto, evolua de forma autnoma de acordo com leis liter
rias dc evoluo, independentemente de fatores externos. A literatura per
manecia acima do mundo normal, corriqueiro, evoluindo por um caminho
prprio. Ela no mediava, apenas influenciava, por meio de algum tipo de
efeito gotejante. O conceito de que diferentes meios culturais, condies
econmicas ou instituies literrias (como a imprensa) poderiam exercer
um efeito sobre a evoluo de um sistema literrio era inconcebvel dentro
da estrutura de anlise dc Tynjanov. No modelo dele, o mundo material,
o contedo da obra de arte, seu referente histrico e seu significado eram
todos relegados a um status subsidirio.
Itam ar E ven-Z ohar:
explorando relaes literrias intrassistm icas
Itamar Even-Zohar no especificamente um terico da traduo,
mas sim terico cultural. Por mais de uma dcada, ele no publicou nada
sobre traduo, mas seu trabalho pioneiro continua exercendo considervel
influncia, principalmente no estudo de tradues cm culturas emergentes
ou culturas em crise. Even-Zohar adotou o conceito de Tynjanov de um
sistema literrio hierrquico e incorporou os dados coletados de suas ob
servaes acerca de como as tradues funcionam cm diversas sociedades.
Ele cunhou o termo polissistema para se referir a toda a rede de sistemas
correlacionados - literrios e extraliterrios - na sociedade e desenvolveu
uma abordagem chamada de teoria dos polissistemas, na tentativa de expli
car a funo de todos os tipos de escrita em determinada cultura - desde os
textos cannicos centrais at os mais marginais, no cannicos. Conceitos
emprestados de Tynjanov - como sistema, normas literrias e a noo
de evoluo como um a luta contnua entre vrios sistemas literrios - so
usados para estruturar sua pesquisa: a anlise das relaes intrassistmicas
entre as conflitantes estruturas literrias. Embora a anlise de literatura tra
duzida fosse apenas um aspecto de sua investigao, provou-se mais do que
marginal, pois seus dados mostravam que a literatura traduzida funciona de
Teoria dos polissistemas
149
Polysyteni iheory
modo diferente, dependendo da idade, fora e estabilidade do polissistema
literrio em particular. Na verdade, seu pensamento a respeito da traduo principalmente em relao situao nica da literatura hebraica, com sua
generalizada falta de textos, e o papel singular da literatura russa e idiche
traduzida em seu sistema literrio - conduziu Even-Zohar a algumas de
suas mais provocativas hipteses acerca dos sistemas literrios.
Even-Zohar adotou o conceito de sistema de Tynjanov, sua estrutura
hierrquica de diferentes sistemas literrios, seu conceito de desfamiliarizao como artifcio medidor de significao literria histrica e, por fim,
seu conceito de mutao e evoluo literria. A definio de Even-Zohar
de polissistema igual ao conceito de sistema de Tynjanov, incluindo as
estruturas literrias, semiliterrias e extraliterrias. O termo polissistema
, portanto, global, abordando todos os sistemas literrios, tanto maiores
quanto menores, existentes em determinada cultura. A substncia de sua
pesquisa envolve sua explorao das complexas inter-relaes entre os v
rios sistemas, principalmente os sistemas maiores e os subsistemas meno
res. Em um gesto mais controvertido, ciente das implicaes ideolgicas
do sistema estruturado por hierarquia de Tynjanov, Even-Zohar, no entanto,
adotou o mesmo conjunto de relaes estruturais com seu correspondente
e variante valor, dentro da estrutura como um todo:
De acordo com o que se presume accrca da natureza dos sistemas cm
geral c da natureza dos fenmenos literrios em particular, obviamente no
pode haver igualdade entre os vrios sistemas e tipos literrios. Esses siste
mas mantm relaes hierrquicas, o que significa que alguns ocupam uma
posio mais central que outros, ou que alguns so primrios enquanto ou
tros so secundrios. (Even-Zohar, 1978a: 16)
O terceiro conceito emprestado de Tynjanov foi o de desfamiliarizao
ou, na terminologia do fonnalista, desautomatizao. Como indica a passagem
anterior, o modelo de Even-Zohar mais uma vez presume o status privilegiado
dos elementos da alta literatura de importncia primria para o polissiste
ma e dos elementos automatizados baixos, no fim da hierarquia cultural, de
importncia secundria. Nos nveis mais baixos, os elementos, embora ma
terialmente intactos, perdem sua funo original e se tomam petrificados
(Even-Zohar, 1978a: 16). Even-Zohar reverteu a noo de cnone como um cor
po invarivel e aceito de literatura que opera como norma padro em determina
da cultura e a usou para ajudar a definir aquilo que inovador, novo e diferente:
150
Teorias Contemporneas da Traduo
Contcmporary Translation Theories
Enquanto a literatura consagrada tenta criar novos modelos de realidade e
procura iluminar as informaes por ela trazidas, dc uma maneira que gere,
no mnimo, a desautomatizao, como colocam os estruturalistas de Praga, a
literatura no cannica tem dc acompanhar os modelos convencionais, alta
mente automatizados. Da a impresso de esteretipo que se obtm de obras
no cannicas. (Even-Zohar, 1978a: 16)
O horizonte histrico foi introduzido segundo as diretrizes do futuris
mo russo tambm: o choque causado pelo surgimento de elementos novos
e inovadores no sistema codificado existente o que leva um sistema lite
rrio a evoluir. Por toda a histria, subsistemas literrios concorrentes tm
desafiado c infiltrado as ordens superiores, a elas se misturando, de modo
que o sistema inteiro evolui de maneira assistemtica : uma espcie de
caldeiro fervente, manifesto em um texto na forma de uma troca de para
digmas que se intersectam e competem, indicativo de sistemas heterogneos
conflitantes que lutam dentro do polissistema como um todo.
Tal teoria rearticula a teoria dos sistemas propostas pelos formalistas
posteriores; Even-Zohar a ressuscitou aps um perodo de silncio parcial
mente imposto por condies polticas na ex-Unio Sovitica. Seu trabalho
incorporando a traduo no modelo, porm, marcou mais um desenvolvi
mento no campo da potica histrica:
E necessrio incluir literatura traduzida no polissistema. Isso raramente
feito, mas nenhum observador da histria dc qualquer literatura deixaria de
reconhecer a importncia do impacto das tradues e seu papel na sincronia
e diacronia de determinada literatura. (Even-Zohar, 1978a: 15)
Nem todos os polissistemas so os mesmos, e, por meio da anlise
da relao entre a obra traduzida e a original, Even-Zohar atingiu uma
melhor compreenso da natureza dos polissistemas. Em todos os mode
los de sistemas anteriores, as tradues eram invariavelmente classifica
das como sistemas secundrios; os dados de Even-Zohar mostravam que
tal classificao pode ser incorreta. Os polissistemas de culturas maiores,
mais antigas, como a anglo-americana ou francesa, por exemplo, diferem
dos polissistemas de naes mais jovens ou menores, como Israel ou os
Pases Baixos. Os primeiros, graas extenso e autossuficincia de suas
tradies, segundo Even-Zohar, tendem a relegar a literatura traduzida s
margens da sociedade (exceto em perodos de crise), enquanto nos lti
mos polissistemas, por motivos contrrios, as tradues tm um papel mais
crucial. Em seu ensaio The Position o f Translated Literature Within the
Teoria dos polissistemas
151
Polysytem theor\>
Literary Polysyslem, ele sugere que a relao entre obras traduzidas e o
polissistema literrio no pode ser categorizada como primria ou secun
dria, mas como varivel, dependendo da circunstncia especfica operante
no sistema literrio.
Even-Zohar especifica trs circunstncias sociais que geram uma situa
o na qual a traduo ocuparia uma posio primria: quando uma litera
tura jovem ou no processo de ser estabelecida; quando uma literatura
perifrica ou fraca ou am bas as coisas e quando um a literatura
est vivendo um a crise ou um m om ento de m udana (Even-Zohar,
1978a: 24). No primeiro caso, como prprio da situao israelita e pa
rece caracterstico da cultura checa do sculo XIX (Macura, 1990), a tra
duo supre a necessidade de uma literatura jovem de usar sua lngua nova
para tantas e variadas espcies de escrita quantas forem possveis. Como
no podem criar todas as formas e gneros, os textos traduzidos servem
como a referncia mais importante, durante certo perodo de tempo (em
bora no se limitem a essa funo na hierarquia). Segundo Even-Zohar, o
mesmo princpio se aplica segunda situao, na qual uma literatura fraca,
geralmente de uma nao menor, como Israel, no capaz de produzir
todas as espcies de escrita que um sistema mais forte, maior, reproduz
- da a inabilidade para produzir inovao e a subsequente dependncia
da traduo para introduzir textos que estabeleam precedentes. Em tais
circunstncias, os textos traduzidos servem no apenas como um meio pelo
qual novas ideias podem ser importadas, mas tambm como a forma de
escrita mais imitada por escritores criativos na lngua nativa. Na terceira
situao, talvez anloga situao cultural na Amrica do Norte na dcada
dc 1960, modelos literrios definidos j no estimulam a nova gerao de
escritores, que recorrem a outras fontes para encontrar ideias e formas.
Sob tais circunstncias histricas, ou combinao de circunstncias, tanto
escritores estabelecidos quanto de vanguarda produzem tradues, e, pelo
texto traduzido, novos elementos so introduzidos em um sistema literrio
que, sem eles, no apareceria.
As condies sociais opostas, de acordo com Even-Zohar, governam
as situaes em que a traduo tem importncia secundria para o polissis
tema. Em sistemas fortes como o francs ou anglo-americano, com tradi
es literrias bem desenvolvidas e muitas diferentes espcies de escrita,
o texto original produz inovaes em ideias e formas que no dependem
de traduo, relegando as tradues a uma posio marginal no funcio
namento pleno do sistema dinmico. Nessa situao histrica, a traduo
152
Teorias Contemporneas da Traduo
Coufe/iiPoniry Tramlafiou Theorics
assume frequentemente (mas no sempre) formas j estabelecidas como
dominantes em um gnero especfico, e a literatura traduzida tende a per
manecer um tanto conservadora, aderindo a normas que as formas mais
altas (superiores) j rejeitaram. Apesar de sua funo secundria, as tradu
es produzidas sob tais circunstncias podem, paradoxalmente, introduzir
novas ideias em uma cultura, enquanto, ao mesmo tempo, preservam as
formas tradicionais.
Tendo observado a posio da traduo em variados sistemas culturais,
Even-Zohar explorou, em seguida, a relao entre os textos traduzidos e o
polissistcma literrio, em dois aspectos: (1) como os textos traduzidos so
selecionados pela cultura receptora e (2) como os textos traduzidos ado
tam certas normas c funes como resultado de sua associao com outros
sistemas de lngua-alvo (Even-Zohar, 1978a: 22). Em seu trabalho inicial
com a teoria dos polissistemas, a dvida de Even-Zohar para com Tynjanov
e os formalistas russos era muito clara, e a ausncia de fatores extraliterrios pode ser notada. De acordo com a pesquisa de Even-Zohar, a seleo
parece ser determinada por condies dentro do polissistema receptor. Os
textos traduzidos so escolhidos por causa de compatibilidade com as novas
formas necessrias ao polissistema para alcanar uma completa, dinmica c
homognea identidade. Assim, as condies socioliteradas da cultura recepto
ra determinam, em parte, quais textos sero traduzidos, em primeiro lugar. Se
faltarem caractersticas como tcnicas, formas ou at gneros - Even-Zohar
fala dos vcuos em uma cultura literria - , h grande probabilidade de que
sejam importados textos que forneam esses elementos funcionais, para que o
sistema alcance plena diversidade dinmica. Do contrrio, o polissistema re
ceptor permanece imperfeito. Se, dc fato, um sistema comea a se estagnar,
a traduo pende mais uma vez para o inovador, passa para o centro cannico
e oferece ao sistema o mpeto necessrio para ele se levantar.
Quanto ao modo como a literatura traduzida influencia as normas dc
traduo de determinada cultura, Even-Zohar sugere que, quando a lite
ratura traduzida assume um a posio primria, as fronteiras entre textos
traduzidos e textos originais se difundem e as definies da traduo se
tornam liberadas, expandindo-se para incluir verses, imitaes e adapta
es. Governados por uma situao em que sua funo introduzir novo
trabalho na cultura receptora e mudar as relaes existentes, os textos tradu
zidos tendem necessariamente a reproduzir com maior preciso as formas
e relaes textuais do texto original (adequadas lngua-fonte). Se a forma
do texto estrangeiro for muito radical, muito alienante, o texto traduzido
Teoria dos polissistemas
153
Poli'j vt'/u theory
corre o risco de no ser incorporado ao sistema literrio da cultura recep
tora; entretanto, se o novo texto for vitorioso, ele tende a funcionar conto
literatura primria, e os cdigos da literatura original da cultura receptora
e da literatura traduzida so ambos enriquecidos. Se a traduo tende a
ser uma atividade secundria em determinado polissistema, a situao se
inverte: as tentativas do tradutor de encontrar modelos prontos resultam em
tradues que se conformam com as normas estticas preestabelecidas na
cultura-alvo, custa da forma original do texto. Por exemplo, de acordo
com a teoria dos polissistemas, as tradues anglo-americanas do sculo
XIX (feitas por Rossetti, Longfellow, FitzGerald) baseadas em abordagens
(como as de Matthew Arnold) que enfatizam a fidelidade forma origi
nal e s relaes textuais funcionavam como primrias. Certas tradues
modernas (a traduo contempornea da Bblia ou adaptaes de teatro),
usando abordagens (como a de Bassnett ou de Nida) que preferem encon
trar formas existentes que funcionem como equivalentes na literatura-alvo,
seriam sistemas secundrios, reforando a atual esttica dominante (mo
dernismo), em vez de importar novas ideias e tcnicas.
Even-Zohar revisou a hiptese dos polissistemas em 1977 para definir
melhor a relao entre um sistema literrio e as foras socioeconmicas de
uma sociedade. Em um ensaio intitulado Polysystem Hypothesis Revisited ,
ele escreveu:
Basta considerarmos a relao centro/periferia para podermos conciliar
heterogeneidade com funcionalidade. Portanto, a noo de hierarquia, de es
tratos, no s inevitvel, mas tambm til. Increment-la com a noo de
um sistema de sistemas, um sistema mltiplo, ou seja, cujas intersees so
mais complexas, apenas mais um passo lgico gerado pela necessidade de
elaborar um modelo mais prximo do mundo real. (Even-Zohar, 1978a:
29; ver Even-Zohar, 1990: 20-1)
A vantagem da teoria dos polissistemas que ela permite o prprio
incremento e integra o estudo de literatura com o estudo das foras sociais
e econmicas da histria. Even-Zohar usava o termo poli para possibili
tar tal elaborao e complexidade sem ter de limitar o nmero de relaes
e interconexes. Os princpios que ele utilizava para descrever relaes
dentro do sistema literrio tambm se aplicam s suas relaes com o extraliterrio (Even-Zohar, 1978a: 29-30). Seu trabalho inicial importante
para a teoria da traduo por causa da ateno e da considerao dadas ao
papel da traduo em um sistema literrio, papel este tradicionalmente
154
Teorias Contemporneas da Traduo
Contcmporary Tmnshition Thcories
ignorado por tericos literrios, em geral. Entretanto, ele prprio admite
que a hierarquia descrita, o meio pelo qual as tradues eram escolhidas
e o modo como funcionavam no sistem a literrio eram simplistas de
mais, e a teoria precisava de reform ulao. A medida que evolui, a teoria
dos polissistem as entra em uma nova fase, na qual fatores extraliterrios
como patronagem, condies sociais, economia e manipulao industrial
esto sendo correlacionados ao modo como as tradues so escolhidas e
funcionam em um sistem a literrio. A pesar do fato de sua teoria permitir
expanso, o trabalho e as hipteses de Even-Zohar tendiam a enfocar o
literrio, como dem onstra seu trabalho mais recente formulando univer
sais baseados em suas descobertas.
Sendo a meta das teorias estruturais estabelecer as regras e leis que
governam qualquer sistema, encontrar os padres da manifestao super
ficial investigada, a abordagem de Even-Zohar, a despeito de seu aparente
enfoque em heterogeneidade e diferena, e por causa de certas pressuposi
es tericas, apresenta esses universais. Even-Zohar l o texto da malha
cultural e tenta descobrir aquelas regras que regulam o sistema da hete
rogeneidade cultural, o polissistema. Com isso, ele eleva a abordagem
formalista a um patamar superior: sua teoria se torna um formalismo de
formas. Em bora ele presum a que os sistem as literrios so compostos
de mltiplos sistemas divergentes e sofrem mudana constante, no corao de
sua teoria, h um todo completamente integrado e significativo. Embora
os subsistemas concorrentes estejam em constante estado dc fluxo, eles
tambm se correlacionam com outros elementos e sistemas formando uma
estrutura complexa, porm unificada. Even-Zohar no analisa nem classifi
ca textos nicos; pelo contrrio, ele analisa textos mltiplos e as complexas
intra e inter-relaes em que entram quando formam um todo altamente
estratificado, mas unificado. Para ele, a cultura a mais alta estrutura hu
mana organizada.
A tendncia a generalizar e estabelecer leis universais uma das par
tes mais polmicas da teoria de Even-Zohar. Em seu ensaio Universais o f
Literary Contacts, ele lista 13 desses universais derivados de seus dados
novos, o primeiro dos quais - tocios os sistemas literrios se empenham
em se tomar polissistmicos (Even-Zohar, 1978 a: 43, itlicos no origi
nal) - serve para ilustrar sua abordagem. Ao observar os dados pela primei
ra vez, em especial a traduo, pareceu-lhe que certos polissistemas no
eram estratificados ou no continham determinados elementos ou subsiste
mas. Uma anlise mais apurada, contudo, revelou que esse no era o caso;
Teoria dos polissistemas
155
Polysytem fheory
que, na verdade, a estratificao estava sempre presente e que nenhuma
literatura funcionava como um todo no estratificado, levando-o formu
lao do primeiro universal da histria cultural. Tais concluses no s
se desviam perigosamente para a terminologia terica tradicional - que se
baseia na uniformidade, nas veracidades eternas e nos sistemas homlogos mas tambm tendem a reforar muitas noes tradicionais da definio de
literrio e reificar os sistemas literrios dos sistemas fortes. O trabalho
de Even-Zohar talvez o mais importante at hoje na rea de teoria da
traduo; ele usa as noes de equivalncia de traduo e funo liter
ria, mas no as remove da histria nem prescreve um modelo de traduo
que transcenda o tempo. Seu trabalho altamente inovador e manifesta a
natureza temporal de pressuposies estticas, examinando as tradues
propriamente ditas dentro do contexto sociolgico maior. uma obra que
presta uma significativa contribuio no s para a teoria da traduo, mas
tambm para a literria, pois demonstra a im portncia da traduo no
contexto m aior especfico dos estudos literrios e na evoluo da cultura
em geral.
Apesar dos avanos feitos por Even-Zohar, vrios problemas menores
com a teoria dos polissistemas podem ser notados. O primeiro problema,
que ele reconhecia, sua tendncia a propor universais baseados em parcas
evidncias. Uma anlise mais extensa de relaes textuais e culturais deve
ser feita antes que os universais sejam apresentados de maneira convin
cente. As contradies em seus dados demonstram a natureza efmera do que
ele tenta articular. Por exemplo, ele afirma, com sua habitual veemncia,
que nenhuma estrutura literria em nvel algum jam ais foi adotada pelo
sistema no cannico antes de se tornar material comum do sistema can
nico (Even-Zohar, 1978a: 17). No entanto, em sua anlise da literatura
francesa do fim do sculo XIX, por exem plo, os dados parecem indicar
outra coisa: a literatura pornogrfica era espalhada pela literatura no
consagrada antes de quaisquer traos dela serem adotados pelo cnone.
Even-Zohar talvez tenha adotado o form alism o russo posterior sem o
devido senso crtico, apresentando uma hierarquia de relaes na qual
as ideias inovadoras gotejam , at residir, por fim, nas estagnadas formas
da literatura popular. Suas evidncias sugerem que geralm ente ocorre
ao menos um a relao mais dialtica de interao mtua, ou que, em
alguns casos, o movimento oposto - isto , o popular influenciando o
cannico - , em grande parte, verdadeiro.
156
Teorias Contemporneas da Traduo
Contemporar y Tramlation Tl>eorles
Isso nos remete ao problema relacionado da adoo no crtica da
estrutura formalista, perpetuando conceitos como literariedade, que so
subjacentes, mas parecem imprprios ao modelo complexo de Even-Zohar
dos sistemas culturais. Apesar de seu modelo de base histrica, ele retinha
um conceito de fatos literrios , fundado em um sistema de valores for
malista de desfamiliarizao, talvez contradizendo sua prpria tese de que
os textos literrios dependem da cultura. Essa pressuposio influenciou
seu conceito de relaes hierrquicas em uma sociedade, suas definies
de primrio e secundrio, que ainda retm resduos ideolgicos de um
sistema anistrico de julgar a literatura, a despeito de todas as afirmaes
contrrias. Se a literatura traduzida parece funcionar como primria, tanto
quanto secundria, o mesmo no se aplicaria literatura infantil, aos ro
mances policiais, aos contos folclricos? Dentro do contexto terico do
modelo de Even-Zohar, os contos folclricos sempre sero relegados a um
status secundrio, pois no desenvolvem a forma ou o gnero. Embora os
personagens e as tramas mudem, os conlos no sofrem alterao de estru
tura e, por isso, nunca podem ocupar uma posio primria na hierarquia.
Contudo, h evidncias suficientes que documentam sistemas literrios nos
quais o conto oral altamente valorizado.
Alm disso, o problema de localizar o referente se aplica teoria dos
polissistemas de Even-Zohar tanto quanto ao formalismo. Apesar de admi
tir tal possibilidade, Even-Zohar raramente associa os textos s condies
reais de sua produo, mas apenas a modelos estruturais hipotticos e ge
neralizaes abstratas. O extraliterrio continua ausente nessa anlise. O ob
jeto significado - o contedo, o significado, ainda que arbitrrio - partilhado
entre o autor e o leitor no est presente no modelo de Even-Zohar; sua
anlise enfoca o significante e o modo como ele interage formalmente com
outros sistemas literrios/culturais de significao. Uma teoria que aborda
s a forma e a funo sistem tica no completa. Em termos de teoria da
traduo, o problema de referncia, de como os signos so traduzidos sem
ocultar ou distorcer a coisa a que os signos se referem, permanece. Em
um sistema com diferentes signos tendo diferentes associaes culturais,
como podem ser atenuadas as perdas de referncias? Ser que as ideias
se desenvolvem independentemente da literatura? O prprio Even-Zohar
parece partilhar da crena de jxembaum e Tynjanov de que a literatura se
desenvolve de maneira autnoma, de acordo com regras prprias; embora
ele admita o incremento de sua teoria, tambm afirma que o sistema lite
rrio , em grande extenso, autnomo - um sistema autorregulador - e
Teoria dos polissistemas
157
Polysyit'm theory
que a estratificao realizada pelas inter-relaes dentro do sistema
(Even-Zohar, 1978a: 30). Ele tenta 1er os textos mltiplos da vida cultural
de uma sociedade com semelhantes pressuposies formalistas de que os
formalistas russos traziam aos textos individuais.
Por fim, a metodologia e o discurso de Even-Zohar limitam o escopo
de sua investigao. Ele afirma observar de maneira objetiva o intercm
bio de sistemas, eliminar toda parcialidade, descrever racionalmente e
ordenar fenmenos literrios. Sugere que uma abordagem no elitista
c no avaliativa pode eliminar iodos os tipos de parcialidades (EvenZohar, 1978a: 28, itlicos no original). De alguma forma, ele situa sua
teoria acima de outras teorias da traduo, o que lhe d uma perspectiva
independente dos fenmenos de traduo. Essa total objetividade, claro, c
impossvel, ainda mais considerando-se a natureza do tema. Sua metodolo
gia de fazer regras, desenvolver hipteses, test-las, chegar a um consenso
dos estudiosos histricos literrios qualificados (aqueles que concordam
com o mesmo mtodo cientfico) pode, na verdade, at fechar os caminhos
de investigao. Enquanto o contedo da teoria de Even-Zohar dialti
co e desafiador s teorias que universalizam e homogenezam, sua meto
dologia tambm o leva a concordar, de um modo geral, com as teses assim
comprovadas que servem de fatos literrios.
Embora seu argumento seja convincente e bem sustentado, a formu
lao de princpios de Even-Zohar s vezes contradiz aquilo que ele est
tentando provar. Ele acumulou dados novos, que tendem a desacreditar as
velhas teorias e exigir nova interpretao, retendo, no entanto, uma estru
tura conceituai e uma abordagem cientfica que o foram a fazer essas afir
maes universais. Essa propenso a generalizar, principalmente com to
poucos dados em que basear uma concluso, gera o risco de que os elemen
tos para anlise s entrem em seu modelo quando encontrarem um lugar no
todo estrutural do polissistema. Com a unidade postulada desde o comeo
e um mtodo cientfico que visa eliminao de contradies, a metodolo
gia pode vir a limitar e obscurecer aquilo que ela alega estar abrindo. Sis
temas que no seguem as regras e leis do polissistema estrutural so vistos,
portanto, como imperfeitos . Modelos no conformativos tm vcuos
que precisam ser preenchidos para chegar completude. O sistema todo
se baseia em ordem, regularidade e na habilidade do investigador para ex
plicar, de modo satisfatrio, todos os fenmenos. O subtexto implcito na
teoria de Even-Zohar nos lembra as formas platnicas e a esttica clssica,
amenizando as contradies e eliminando aquilo que no se encaixa. O que
158
Teorias Contemporneas da Traduo
Contempornry Transia ti011 Tbeori.es
, afinal, aquele sistema completo, dinmico, homogneo com o qual todos
os outros sistemas so comparados? Contradies na realidade e proble
mas de criao literria so resolvidos por sua metodologia; variaes
so reguladas; os textos so vistos como mais ou menos inovadores e
classificados dc acordo.
Apesar de tais reservas, a teoria dos polissistemas dc Even-Zohar de
monstra um avano no desenvolvimento de estudos de traduo e na teoria
da traduo, de um modo geral. Diferentemente dos modelos anteriores, o
sistema de Even-Zohar no especfico ao texto e no analisa textos indi
viduais, isolados de seu contexto cultural. Para ele, um texto no alcana o
nvel hierrquico de determinada cultura por causa de alguma beleza ine
rente ou verdade eterna, mas sim (1) por causa da natureza do polissistema
da cultura receptora e suas circunstncias histricas sociais/literrias, e (2)
da diferena entre certos elementos do texto e normas culturais. Um texto
nunca totalmente autnomo (embora se postule que todo o sistema literrio
o seja); o texto j est sempre envolvido cm uma mirade de relaes com ou
tros elementos de outros sistemas tanto no centro quanto s margens de um
todo cultural. O avano terico da teoria dos polissistemas para os estudos
de traduo deve ser evidente: em vez dc apresentar um conceito esttico dc
como deveria ser uma traduo, Even-Zohar varia sua definio de equiva
lncia e adequao de acordo com a situao histrica, libertando a dis
ciplina das restries que tradicionalmente limitavam suas teorias anteriores.
Expandindo as fronteiras tericas da tradicional teoria da traduo, baseada,
com frequncia, em modelos lingusticos ou teorias literrias no desenvol
vidas, e inserindo literatura traduzida em um contexto cultural maior, EvenZohar abriu caminho para a teoria da traduo avanar e se estender alm da
esttica prescritiva. Essa abertura foi seguida por seu colega, Gideon Toury,
que enfocou o componente de traduo do modelo de Even-Zohar e come
ou a busca por uma nova teoria da traduo.
G ideon Toury:
um a teoria da traduo voltada para o texto-alvo
A obra de Gideon Toury pode ser dividida em dois perodos: o primei
ro de 1972-1976 e reportado em 1977 em Normot sei tirgum ve-hci tirgum
1m sifrnti le-ivrit ba sanim 1930-1945 [Normas de traduo e traduo li
terria para o hebraico 1930-1945] envolve um estudo sociolgico deta
lhado das condies culturais que afetam a traduo de novelas em lngua
Teoria dos polissistemas
159
Po/ysytcm theory
estrangeira para o hebraico no perodo 1930-1945 (ampliado, depois, para
incluir literatura infantil); o segundo, de 1975 a 1980 e resumido em uma
srie de escritos reunidos em 1980 e publicados como In Sectrch ofo Theory of
Trcmslation, consiste em uma tentativa de desenvolver uma teoria de traduo
mais abrangente, baseada em descobertas a partir de seus estudos de campo. O
primeiro projeto foi iniciado com Itamar Even-Zohar e usou a estrutura da
teoria dos polissistemas; o segundo estudo, embora ainda baseado na teoria
dos polissistemas, apresenta hipteses tericas que distinguem o modelo
de Toury daquele de seu predecessor.
O estudo de campo inicial de Toury estava no escopo de um projeto
maior chamado A histria da traduo literria para o hebraico, con
duzido pela Universidade de Tel Aviv, na poca (Toury, 1980: 123). Seu
estudo catalogou as tradues da fico em prosa do ingls, russo, ale
mo, francs e idiche para o hebraico em um perodo de 15 anos e gerou
dados quantitativos, por exemplo, acerca do nmero de escritores traduzi
dos, nmero de livros traduzidos de cada autor e o nmero de tradutores
e editores envolvidos no processo. Uma das metas do estudo de campo
era descobrir as decises tomadas no decorrer do processo de traduo,
por meio do que ele esperava discernir um sistema de regras governando
a traduo nesse polissistema especfico. Como j postulava Popovic, a
razo esteticamente determinada para certas decises envolvendo traduo
se faziam mais visveis nas mudanas entre o texto-fonte e o texto-alvo.
A anlise das mudanas mostrou que havia poucas alteraes lingusticas
em operao durante o perodo, e essas poucas omisses e pouqussimas
adies eram irrelevantes para a identidade do texto. Mais mudanas foram
notadas quanto escolha de palavras e ao estilo, resultando na descoberta
de normas textuais, como, por exemplo, uma tendncia para elevar o
texto escolhendo palavras que reflitam o estilo mais elevado dentre as
alternativas possveis.
Ironicamente, de acordo com o estudo de Toury, a lingustica e a est
tica tinham um papel bastante nfimo no processo de traduo; na verdade,
Toury descobriu que os textos, na maioria, eram escolhidos por razes ideo
lgicas. Eram demonstradas preferncias por obras sociais e at socialis
tas, por certos temas e assuntos e, claro, por escritores judeus, enquanto
poucas escolhas baseadas em critrios estticos foram identificadas. Toury,
concordando com Even-Zohar, percebeu que os textos escolhidos por ra
zes literrias e para os quais se encontravam equivalentes modelos lite
rrios formais tendiam a ocupar e moldar o centro do sistema de traduo
160
Teorias Contemporneas da Traduo
Contemperarv 7 'wnslation Theories
dentro do polissistema hebraico. No entanto, alm da inovao formal dos
textos centrais, outros elementos em comum com todos eles tambm foram
observados: por exemplo, sua atitude didtica e a concordncia geral
com as normas de traduo (e tambm a aplicao quase rgida delas). Os
acidentes tambm tiveram um papel importante em termos de textos sele
cionados c textos publicados, bem como para os equivalentes lingusticos
encontrados ou no. Todavia, apesar das mudanas nos textos e da falta de
conformidade com as teorias lingusticas e literrias predeterminadas, os
textos traduzidos, segundo Toury, ainda funcionavam como tradues no
polissistema hebraico. Os textos que entravam no sistema hebraico na for
ma de traduo tinham equivalncia lingustica e funcional apenas parcial
ao texto-fonte, embora fossem aceitos na cultura-alvo como tradues e
ocupassem todas as posies, do centro at a periferia. Apesar dessa falta
geral de conformidade com os modelos tericos de equivalncia de tra
duo, exemplos de tradues errneas, consideradas inadequadas na
cultura-alvo, eram considerados raros. Por outro lado, exemplos de com
pleta equivalncia lingustica ao texto-fonte eram mais raros ainda, e os
casos de quase adequao ao texto-fonte, quando ocorriam, costumavam
ser acidentais (Toury, 1980: 137). O motivo para a falta geral de interesse
pela fidelidade ao texto-fonte, conclui Toury, no era uma indiferena
por parte dos tradutores s relaes textuais dentro desse texto, mas sim
que sua principal meta era alcanar tradues aceitveis na cultura-alvo.
As decises operacionais eram, portanto, um resultado natural de uma pre
ferncia pela meta teleolgica inicial dos tradutores; as mudanas eram
ditadas pelas condies culturais do sistema receptor.
No foi toa, portanto, que, ao voltar a ateno para o desenvolvi
mento de uma teoria de traduo, Toury encontrasse defeitos nos modelos
tericos existentes, orientados pela fonte. Seguindo Even-Zohar em seu
uso da traduo para descobrir regras acerca do sistema literrio em geral,
Toury tentou detectar e descrever m elhor todas essas leis - lingusticas,
literrias e sociolgicas - que regem a traduo. Os resultados de seu es
tudo de campo o tornaram ctico quanto s teorias abstratas envolvendo
autores, tradutores e leitores ideais. Evitando um a predefinio de como
deveria ser uma traduo e observando tradues reais em um contexto
cultural real, ficou claro para ele que as teorias estticas de transferncia
literria e mesmo as descries objetivas por pares de possibilidades
lingusticas no explicam os vrios fatores que, sem dvida, influenciam
o produto da traduo.
Teoria dos polissistemas
161
Polysvtem feory
O contexto terico contra o qual Toury dirigiu seu projeto dominado
por modelos de traduo que apresentam uma definio de equivalncia
como sendo funcional-dinmica. Ele sugeria que, apesar de avanadas em
relao s definies lingusticas da equivalncia de traduo, tais teorias
ainda eram orientadas pela fonte e invariavelmente diretivas e norma
tivas porque s reconheciam casos corretos e tipos (Toury, 1980: 3940; 1981: 14). A acuidade da traduo, a adequao do texto equivalente
na segunda lngua, , de acordo com essas teorias, sempre medida pelo
grau de correspondncia com o texto-fonte, tentando-se reconstruir as
relevantes caractersticas funcionais - sejam elas elementos lingusticos
ou literrios - do texto-fonte. A tradio concebe que as exigncias para
a traduo so determinadas pelo texto-fonte e, como resultado, acabam
sendo idealizadas. A teoria de Toury se ope a teorias que se baseiam em
uma nica identidade unificada e abstrata ou uma devida interpretao de
desempenho igual. Seu modelo se fundamenta na diferena e pressu
pe diferenas estruturais entre as lnguas: todo sistema lingustico e/ou
toda traduo textual diferem de qualquer outro em termos de estrutura,
repertrio, normas de uso, etc. (Toury, 1980: 94, itlicos no original).
Apresentando poios hipotticos de total aceitabilidade na cultura-alvo em
um extremo e total adequao ao texto-fonte no outro, Toury localiza a
traduo sempre no meio: nenhuma traduo inteiramente aceitvel
cultura-alvo porque sempre apresentar novas informaes e formas que
desfamiliarizam esse sistema; tampouco a traduo inteiramente ade
quada verso original, porque as normas culturais causam desvios das
estruturas do texto-fonte. No curso da histria, a crtica traduo tem
sido caracterizada por sua tendncia a apontar falhas do tradutor porque
o texto em si nunca encontra os padres ideais dos dois poios abstratos:
sob um ponto de vista lingustico, sempre se podem apontar erros e propor
solues melhores; sob o ponto de vista literrio, os elementos funcionais
podem invariavelmente ser julgados como menos dinmicos ou inovadores
que as caractersticas do texto-fonte.
Considerando a traduo sob o ponto de vista da cultura-alvo, entre
tanto, Toury argumentava que a equivalncia da traduo no um ideal
hipottico, mas uma questo emprica. A verdadeira relao entre um
texto-fonte e um texto-alvo pode ou no refletir a relao abstrata postu
lada; no entanto, o texto traduzido existe como um artefato cultural para a
substituio de um texto-fonte por uma verso aceitvel na cultura recepto
ra. Satisfeito em identificar as causas do desvio do padro, o projeto terico
162
Teorias Contemporneas da Traduo
C o iia n p o r n r y
'1 'm ushU iou
Thcories
dc Toury c unificado pela aceitao de textos traduzidos sem um julgamen
to de suas solues como corretas ou incorretas. Somente se analisarmos
textos traduzidos a partir dc seu contexto cultural-lingustico, poderemos
compreender o processo de traduo. Toury argumenta que as tradues
em si no tm identidade fixa; como esto sempre sujeitas a diferentes
fatores contextuais socioliterrios, elas devem ser vistas como tendo ml
tiplas identidades, dependentes de foras que ditam o processo de deciso
em um momento especfico. Distanciando-se de modelos que apresentam
concepes nicas de equivalncia da traduo, Toury sugere uma estrutu
ra terica diferente na qual se podem conceituar fenmenos considerados
como traduo. Tomando emprestado de Ludvvig Wittgenstein o conceito
de famlia de semelhanas, Toury agora v os textos originais contendo
agrupamentos dc propriedades, significados, possibilidades. Todas as tra
dues privilegiam determinadas propriedades/significados custa dc ou
tros, e o conceito de um a traduo correta deixa dc ser uma possibilidade
real (Toury, 1980: 18). Efetivamente, Toury consegue projetar o conceito
de uma teoria de traduo para alm das margens de um modelo restrito
fidelidade ao original, ou de relaes nicas, unificadas, entre o texto-fonte
e o alvo. Traduo torna-se um termo relativo, dependente das foras da
histria e da teia semitica cham ada cultura. Em correspondncia, a funo
da teoria da traduo alterada, cessando sua busca por um sistema do qual
se pode julgar o produto e agora se concentrando no desenvolvimento de
um modelo que ajude a explicar o processo que determina a verso final.
Os estudiosos dos primeiros estudos de traduo, que tentavam ser
objetivos e estudar textos efetivamente traduzidos na cultura-alvo, tambm
se encontravam implicados no paradigma das teorias de traduo estti
cas, orientadas pela fonte, as quais Toury rejeita. Por trs da definio de
traduo,, conforme definida pelos primeiros estudos, afirma Toury, est
o conceito de James Holmes de metatexto, e, embora tal conceito te
nha sido elaborado por Anton Popovic (e outros) e revisado por Van den
Broeclc (e outros), os textos traduzidos ainda eram vistos pelos primeiros
tericos como uma espcie de metatexto, medido e avaliado em compa
rao com o texto-fonte ou alguma interpretao idealizada daquela ver
so inicial (Toury, 1980: 39). Toury queria expandir as fronteiras inclusive
do que os estudiosos iniciais j haviam incrementado, afastando-se ainda
mais de construes hipotticas que tendem a estudar textos traduzidos
isoladamente. Em contraste com outra teoria determinada pelo texto-fonte
(TF), Toury apresentou uma teoria de texto-alvo (TA) para traduo, no
Teoria dos polissistemas
163
Polysytem rhcovy
enfocando uma noo de equivalncia como exigncia postulada, mas sim
as reais relaes construdas entre o texto-fonte e sua substituio fac
tual (Toury, 1980: 39). Ele no rejeita o trabalho da lingustica contrastiva
nem as abordagens semitico-funcionais; limitaes lingusticas/literrias,
claro, operam e condicionam a natureza do produto da traduo. Afirma,
porm, que tais regras e leis so apenas um grupo de fatores que podem
ser mais poderosos que outros fatores. A meta final da teoria de Toury era
estabelecer uma hierarquia de fatores inter-relacionados (restries) que
determinam (governam) o produto da traduo. Em suma, Toury exigia
que a teoria da traduo inclusse fatos cultural-histricos, um conjunto
de leis que ele chama de normas para traduo.
Ocupando o centro da teoria de Toury c operantes em todos os estgios
do processo de traduo, essas normas se mediam entre sistemas de equiva
lncia potencial. Em seu texto The Nature and Role o f Norms in Literary
Translation, ele explica sua definio das normas para traduo e descreve
sua metodologia. Uma determinada sociedade tem normas mltiplas e con
flitantes, todas interconecladas com outros sistemas em funcionamento, mas,
se as situaes recorrem com regularidade, alguns padres comportamentais
podem ser estabelecidos. Assim, em termos de traduo, se quisermos dis
tinguir tendncias regulares, precisamos estudar no apenas textos indivi
duais, mas sim tradues mltiplas do mesmo texto original, medida que
ocorrem em uma cultura receptora em diferentes pocas da histria. Toury
distingue entre trs espcies de normas para traduo: preliminares, iniciais
e operacionais. Normas preliminares envolvem fatores, tais como aqueles
que regulam a escolha da obra e a estratgia geral de traduo em um polissistema. Como a definio de traduo varia historicamente, certas perguntas
preliminares precisam ser respondidas antes de estabelecermos o contexto
cultural que sustenta o processo de traduo. Qual a poltica de traduo
da cultura-alvo? Qual a diferena entre traduo, imitao e adaptao para
o perodo especfico? Que autores, perodos, gneros, escolas so preferidos
pela cultura-alvo? A traduo intermediria ou em segunda mo permitida?
Quais so as lnguas mediadoras permitidas? As normas iniciais categori
zam a escolha do tradutor individual de se submeter ou ao texto original, com
suas relaes textuais e normas, ou s normas lingusticas e literrias da cul
tura-alvo, ou a uma combinao de ambas. As normas iniciais so colocadas
no topo da hierarquia de normas operacionais porque, se forem consistentes,
influenciaro todas as outras decises de traduo. Normas operacionais
so as decises em si, feitas durante o processo de traduo, algumas das
164
Teorias Contemporneas da Traduo
Contem[>orary Translntimi 'lhcori.cs
quais discutidas no estudo de campo de Toury de fico em prosa traduzida
em hebraico: normas matriciais determinando local, acrscimos e omis
ses e normas textuais revelando preferncias lingusticas e estilsticas. A
teoria dos polissistemas sustenta o modelo de Toury: em termos de normas
iniciais, a atitude do tradutor em relao ao texto-fonte afetada pela posio
do texto no polissistema literrio da cultura-fon te; em temos de normas ope
racionais, todas as decises so influenciadas pela posio - central ou peri
frica - defendida pela literatura traduzida no polissistema da cultura-alvo.
Em meio discusso das normas para traduo c da metodologia para
determin-las, Toury tambm apresenta um novo conjunto de premissas
tericas que parecem contradizer seu intento original. Semelhante metodo
logia de Lefevere em Translating Poetry: Seven Strategies and ci Blueprint,
Toury define normas de traduo examinando comparativamente vrias tra
dues de um texto original, feitas em pocas diferentes por vrios traduto
res. A comparao revela as diferentes definies de traduo, as prioridades
dos tradutores e as regras geralmente subconscientes que influenciam o pro
cesso de deciso. Por ironia, a tcnica de comparao de Toury no envolve
textos reais. Com o intuito de fazer uma srie de comparaes e medir as
mudanas reveladoras das normas que as determinam, ele invoca um terceiro
texto ideal e invariante que a traduo apropriada, no baseada em uma
comparao com os textos originais e comprometidos com a histria, mas
em teoria abstrata lingustica e literria (Toury, 1978: 93; 1980: 58). Toury
j apresentou a hiptese de que nenhuma traduo inteiramente aceitvel
cultura-alvo por causa de seus elementos estruturais e verbais alienantes,
tampouco adequada ao texto-fonte por causa do novo contexto cultural em
que se encontra. Entretanto, para determinar a posio do texto traduzido
entre os poios extremos do texto-fonte e do texto-alvo, ele tambm afirma a
necessidade de uma invariante de comparao ideal, subjacente ao texto
em questo e a toda a sua teoria em geral:
Assim, o conceito transformado de adequao encontra seu uso principal na
metodologia de comparao TA-TF. Na estrutura metodolgica, ele concebido
como uma entidade hipottica construda sobre a base de uma anlise sistmica
(em termos de texto) do TF e usada como a invariante de comparao (isto ,
como tertium comparationis). (Toury, 1980: 49, itlicos no original)
Contradizendo tudo o que sua teoria parecia explicar at ento,
essa invariante hipottica no concebida como alguma coisa subjetiva
mente determinada ou historicamente condicionada, mas sim como algo
Teoria dos polissistemas
165
Po/ysytrw thcory
que existe cm outro reino, como uma forma literria/lingustica literal, a
qual os seres humanos (bilngues) tm a habilidade para intuir. De modo
surpreendente, Toury recorre ao conceito de competncia e dos universais
formais de Chomsky:
Eu afirmaria que a ocorrncia de formas interlinguais cm traduo advm
da prpria definio desse tipo dc atividade/produto, sendo assim um uni
versal de traduo' formal. [Para a diferena entre as formas substantivas e
formais de universais, cf. Chomsky (Aspects ofihe Theory ofSyntax), 1965:
28-9.] Ademais, h situaes em que a interlngua como um todo, ou pelos
certos tipos/graus dela, no est apenas presente na traduo como evidncia
viva do universal, mas ainda preferida s formas puras da lngua-alvo
(LA). (Toury, 1980: 72, itlicos c parnteses no original)
O recurso dos universais formais em uma teoria at ento material
e orientada por performance um passo inesperado. Todo o projeto de
Toury sc volta para desconstruir modelos de traduo tericos estticos,
orientados pela fonte. No entanto, essa construo hipottica parece baseada
nessa mesma teoria orientada pelo texto-fonte, completamente esttica e
incondicionada pela evoluo literria, exatamente o oposto do que sua
teoria evolucionria prope. Por um lado, ele defende a premissa de que
todo sistema literrio c diferente de todos os outros em termos de estrutura
e normas de uso; por outro lado, ele sugere que a mesma forma universal
estrutural subjaz dois diferentes sistemas dc lnguas. Esse o ponto crucial
do debate terico na atual teoria da traduo, e Toury adota as duas posi
es. Como isso possvel?
O trabalho de Toury se baseia na teoria dos polissistemas, que por
sua vez se fundamenta no pensamento conceituai do formalismo russo.
Seu uso de universais formais, de invariantes de comparao, embora
surpreendente, tem um fundamento implcito na teoria. Apesar dos esfor
os para incluir divergentes condies scio-histricas, h uma tendncia
ao formalismo puro, subentendida nessa teoria historicamente determi
nada. A teoria de Toury evolui a partir de seus predecessores formalistas e
estruturalistas e, como tal, traz certas noes absolutas que limitam a estru
tura conceituai. Seu modelo histrico inclui numerosos outros conceitos:
os textos traduzidos so vistos como fatos empricos, as normas culturais
so definidas como regras estticas, no contraditrias, que influenciam a
gerao dos textos em si, e as mltiplas tendncias de perodos histricos
so reduzidas a leis comportamentais unificadas. Tem-se a impresso, por
166
Teorias Contemporneas da Traduo
Contemporary Tnws/iifion Thcories
exemplo, quando se l sua concluso dos estudos da fico em prosa tra
duzida para o hebraico, que suas cinco ou seis normas se aplicam a to
dos os textos includos no estudo. Sua anlise documenta a conformidade,
no as excees; talvez mais interessante c mais reveladora da natureza da
traduo fosse uma lista de todas as excees s regras. Alm disso, tanto
Even-Zohar quanto Toury ainda confinam suas anlises a entidades cha
madas literrias e, apesar dc afirmaes contrrias, tendem a separar o
subsequente polissistema literrio de outros sistemas significantes em uma
cultura. Toury, assim como Even-Zohar, que o precedeu, inclina-se para
o estruturalismo e, embora aparentemente accite o fato de que todas as
lnguas so diferentes, sugere que, por trs dessa diferena, h uma forma
estrutural unificada c universal. Por causa de nossas diferenas lingusticas
e normas culturais, no podemos articular essa forma, mas, como compe
tentes falantes bilngues, ns ainda a conhccemos.
Felizmente, a teoria de Toury no depende da existncia do tertium
comparationis para funcionar. Estudiosos dos estudos de traduo nas d
cadas de 1980 e 1990 usavam na prtica o modelo de Toury, apesar das
contradies tericas. Em uma anlise crtica do livro de Toury, In Search
ofa Theory o f Trcinslcition, Ria Vanderauwera percebeu que o prprio Toury
ignorou suas tendncias formalistas ao aplicar sua teoria:
Informaes acerca dessas normas tambm podem provir de material extratextual (afirmaes de tradutores, organizadores, editores, crticos), mas
cm primeiro lugar e acima de tudo por meio de um estudo comparativo entre
o texto-fonte e o texto-alvo. Toury insiste que isso deveria acontecer por
meio de tertium comparationis, um hipottico terceiro texto, uma invariante
de comparao. Considero isso uma complicao desnecessria c um res
qucio do impulso da formalizao que permeou a lingustica e a semitica.
Ironicamente, em seus dois valiosos estudos de caso que concluem o livro,
Toury no faz uso desse tertium comparationis. (Vanderauwera, 1982: 52)
A parte da teoria da traduo de Toury adotada pelos estudos de
traduo enfoca as norm as socioliterrias que governam a cultura-alvo e
influenciam diretamente o processo de traduo. Vrios aspectos de sua
teoria contriburam para o desenvolvimento na rea: (1) o abandono de
noes um a um de correspondncia, bem como a possibilidade de equi
valncia literria/lingustica (exceto por acaso); (2) o envolvimento de ten
dncias literrias no sistema cultural alvo na produo de qualquer texto
traduzido; (3) a desestabilizao da noo de um a mensagem original com
Teoria dos polissistemas
167
Polysyfem hcory
identidade fixa; (4) a integrao do texto original com o texto traduzido em
uma rede semitica de sistemas culturais que se intersectam. Em princpio,
os estudos de traduo adotam o aspecto da performance da teoria de Toury, vendo a traduo como um processo pelo qual os sujeitos de uma cultu
ra se comunicam com mensagens traduzidas, determinadas primariamente
por restries culturais locais. Uma inescapvel infidelidade c presumida
como uma condio do processo; os tradutores no trabalham em situaes
ideais e abstratas nem desejam ser inocentes, mas possuem interesses lite
rrios e culturais prprios e querem que seu trabalho seja aceito em outra
cultura. Assim, eles manipulam o texto-fonte para informar, bem como se
conformar s restries culturais existentes.
E studos de traduo na dcada de 1980
Desde o livro de Toury publicado em 1980, o enfoque dos estudos de
traduo passou da teoria para o trabalho descritivo. Um grupo bem defi
nido, com interesses semelhantes, comeou a se reunir com regularidade
(geralmente em encontros da Associao Internacional dc Literatura Com
parada). A maior parte das discusses girava em torno de como melhorar
os mtodos para descrever a traduo literria e determinar comportamen
to normativo cultural e traducional. S assim, afirmavam eles, poder-se-ia
retornar teoria. Infelizmente, muitas das discusses se perderam ou nun
ca foram publicadas, o que torna a coletnea de 1985 publicada porTheo
Hermans e intitulada The Manipulation o f Literaure um registro valioso.
Na introduo, resumindo as premissas bsicas do grupo, Hermans argu
menta que o trabalho de Itamar Even-Zohar, em particular, est diretamen
te associado nova abordagem e sugere que os estudiosos participantes
compartilham dc uma viso de literatura como um sistema complexo e
dinmico; uma convico de que deveria haver um contnuo intercmbio
entre modelos tericos e estudos de casos prticos; uma abordagem de tra
duo literria descritiva, orientada para o alvo, funcional e sistmica; e um
interesse nas normas e restries que determinam a produo e a recepo
da traduo (Hermans, 1985: 10-11; ver Hermans, 1999:31-45).
Essa abordagem em prica orientada para o alvo dependia e deri
vava de estudos de casos, motivo por que os interesses metodolgicos
em descrever tradues se tornaram cada vez m ais im portantes. Jos
Lambert e Hendrik van G orp ofereceram um relato de seus esforos, es
boando um modelo m uito complexo em On Describing Translations,
168
Teorias Contemporneas da Traduo
Contempomry Translation Jheorics
em The Mcmipidcition o f Literature . Em suma, eles sugeriam que todos os
aspectos relevantes funcionais da atividade de traduo em seu contexto
histrico precisavam ser observados com cautela. Assim, o autor, o texto, o
leitor e as normas literrias em um sistema literrio deveriam ser justapos
tos a um autor, texto, leitor e normas literrias em outro sistema literrio. O
elo, ou a relao, entre os dois sistemas era aberto, e Lambert e Van Gorp
argumentavam que as predies em torno das relaes deveriam, a princ
pio, se ater a um nvel mnimo. S aps um cuidadoso estudo e a anlise
das normas dominantes do sistema-alvo, a natureza da relao poderia ser
determinada. Lambert e Van Gorp invocavam no apenas a necessidade
de um estudo da relao entre autores, textos, leitores e normas nos dois
sistemas divergentes, mas tambm das relaes entre autores e as intenes
dos tradutores, entre autores e outros escritores no sistema-fonte e alvo,
entre os diferentes sistemas literrios e at entre os diversos aspectos socio
lgicos, incluindo publicao e distribuio (Lambert e Van Gorp, 1985:
43-5). A pesar de admitir que o processo utpico - impossvel resumir
todas as relaes geradas Lam bert e Van Gorp sugeriam que o estudioso,
estabelecendo prioridades, pode encontrar um meio de ser sistemtico em
vez de intuitivo.
A vantagem da abordagem sistmica sobre as anteriores mais bem
demonstrada, talvez, por sua aplicao. Desenvolveu-se em Leuven, Blgica,
uma escola centrada nesses estudos de caso e no trabalho descritivo. Lam
bert, Lieven D Hulst, Katrin van Bragt e estudantes de ps-graduao
na Universidade de Leuven, por exemplo, tm pesquisado Littrature et
Traduction en France, 1800-1850 (DTIulst, Lambert & Bragt, 1979; ver
tambm D Hulst, 1982: Lambert, 1982; Bragt, 1982). Vrios outros estu
dantes tm escrito teses de mestrado baseando-se em modelos descritivos.
Lefevere; Hermans e Van den Broeck estavam pesquisando a traduo para
o holands em um perodo semelhante ao do estudo francs. Outros ainda
enfocavam relaes intraculturais das literaturas na Blgica. Quase nada,
porm, foi publicado; e esse silncio , em si, problemtico. Dois livros
prometidos a respeito da pesquisa em Leuven - um resumo detalhado do
projeto de pesquisa sobre Literatura e Traduo na Frana em 1800-1850
e outro de Van Bragt acerca de seu estudo das tradues de The Vicar of
Wakefield - nunca se materializaram.
Fl artigos, contudo, indicando o rum o da pesquisa. Lambert
fala de insights obtidos a p artir da pesquisa de tradues para o fran
cs no sculo XIX, em um artigo cle 1986 intitulado Les Relations
Teoria dos polissistemas
169
Po/vsvtcm fheory
Littraires In/ernationales Comme Problme de Rception e em seu artigo
de 1988 Twenty Years o f Research on Litercuy Translation at lhe Katholieke
Universiteit Leuven. No desenvolvimento do sistema literrio francs, Lam
ber! argumentava que a motivao por trs da escolha de texto e poltica
de traduo estava diretamente relacionada com o sistema de gnero na
cultura-alvo (Lambert, 1988: 131). Regras c polticas de gnero ocupavam
um papel claro e central na poltica literria da poca, na qual a literatura
traduzida ocupava a funo de importao literria, influenciando, assim,
as complexas relaes de importaes c exportaes na tradio liter
ria. Em seguida, ele comparava tais interferncias literrias com uma
situao diferente na literatura belga/francesa em busca de regularidades
cm comportamento sistmico. Ele v a possibilidade de verificar melhor
tais hipteses estudando a situao em outros pases europeus. Enfocando
normas e modelos, diz ele, os estudiosos so capazes de encontrar o
fundamento para a comparao que esto procurando (Lambert, 1988:
132). As normas determinam o tipo de relaes traducionais; cada passo
do processo de traduo regido por normas. S quando os pesquisadores/
estudiosos conhecem as normas preliminares e operacionais, conseguem
ver os princpios que moldam o texto subsequente. A contribuio terica
na dcada de 1980 por parte da teoria dos polissistemas e dos estudos de
traduo pode ter sido a descoberta de como importante estabelecer, em
primeiro lugar, quais normas ditam o comportamento da traduo, antes de
analisar tradues especficas (cf. Hermans, 1991). Para Lambert e o grupo
belga/holands, as normas determinam o modo como o material estrangei
ro importado e domesticado . Assim, a prpria definio de traduo
passa a depender de normas e do modo como estas funcionam em qualquer
sistema/sociedade.
Kitty van Leuven-Zwart, ex-presidente do Departamento de Estudos
de Traduo na Universidade de Amsterd, tambm comeou com o argu
mento de Toury, segundo o qual o ramo descritivo deve enfocar a investiga
o das normas e estratgias, mas argumenta que a comparao sistemtica
de tradues e fontes-texto foi negligenciada pelos seguidores de Toury em
Leuven. Ela sentia que muitos pesquisadores no tinham um sistema de
descrio, o que tornava suas afirmaes a respeito de normas e estratgias
inverificveis. Ela, ento, elaborou um sistema para a comparao e descri
o de tradues que detecta mudanas em um nvel microestrutural (pa
lavras, frases e oraes), relaciona as consequncias dessas mudanas no
nvel macroestrutural (personagens, eventos, tempo e outros componentes
170
Teorias Contemporneas da Traduo
Confanporm y 1 'rans/ation Thcorics
significativos) e os categoriza (Van Leuven-Zwart, 1984; 1989: 154-55).
Em contraste com boa parte do trabalho macro para micro em andamen
to na Alemanha, a abordagem de Van Leuven-Zwart pode ser caracterizada
como sendo micro para macro . Comeando com o conceito neutro de
mudana de Popovic e estendendo o inventrio de Miko para categorizar
eventos que incluam no s alteraes estilsticas, mas sintticas, semn
ticas c pragmticas, ela desenvolveu um modelo muito complexo c difcil,
com grandes nmeros de categorias e subcategorias, que seus estudantes
- cerca de 70 participaram (a maioria trabalhando em tradues de prosa
do espanhol do sculo XX para o holands) na dcada de 1980 - usavam
para descrever a traduo. Seu mtodo, na verdade, no apenas mostrou
que toda palavra contm mudanas, mas que frequentemente as palavras
ou frases traduzidas m ostram mltiplas alteraes. Essas mudanas eram
vistas no como erros de traduo ou violaes de regras de equivaln
cia, mas sim como a prpria regra. De acordo com o estudo de Amsterd,
70% das tradues chegavam a um nmero de 100% de mudanas (Van
Leuven-Zwart, 1990: 88). Essas mudanas, ela alega, no deixariam de
causar impacto no texto, em nvel macroestrutural. Elaborada basicamente
para ajudar os tradutores praticantes a compreender melhor o processo de
traduo e contribuir para os estudos descritivos, a pesquisa de LeuvenZwart tambm documentou certas complexidades no vistas do processo
de transferncia cultural, promovendo um valioso insight no quanto na
tureza da traduo, mas sim da prpria natureza da lngua. Infelizmente, a
pesquisa teve vida curta, pois Kitty van Leuven-Zwart adoeceu e teve de se
afastar. Alm disso, sua metodologia era to complexa que os estudantes
em outras universidades no conseguiam aprend-la e implement-la.
Podemos ver, porm, como o ramo descritivo dos estudos de traduo
da dcada de 1980, por sua vez, influenciou a teoria. Na busca por regula
ridades em fenmenos de traduo em situaes culturais reais, as prprias
definies dos fenmenos investigados mudaram; conceitos tradicionais
foram abalados e a teoria evoluiu. Muita discusso se seguiu, no sentido
de reavaliar a definio de um texto traduzido. O grupo holands/flamengo
compreendeu que as tradues s vezes se escondem dentro do modelo
estrangeiro. No cotidiano, por exemplo, as pessoas ocasionalmente recor
rem a uma traduo sem se conscientizar disso. Casos limtrofes como
as pseudotradues (traduo quando no existe um texto original; Toury,
1984, 1995) e tradues por meio de uma lngua mediadora (tradues
secundrias; Toury, 1988) foram estudadas. Tradues no identificadas
Teoria dos polissistemas
171
Polysytem thcory
como tais por uma cultura, incluindo casos extremos de atividade traducional, como adaptaes de filmes, verses, imitaes ou falsas tradues,
foram includas nas pesquisas (Lambert, 1989a). Termos no traduzveis
em uma traduo (nomes prprios, etc.) pareceram ser bem mais predomi
nantes do que se previa no incio.
A medida que a pesquisa se expandia para incorporar novos fenme
nos, maiores campos de referencias se faziam necessrios para a realizao
de mais investigaes. Os dados indicavam que as tradues eram muito
mais difceis de identificar do que aparentavam, no comeo. Como resul
tado, no podiam ser investigadas sem o recurso dc uma investigao de
outros tipos de discurso. Definies do que a sociedade e os elos entre
sociedade e lngua tambm estavam sendo discutidas. Perguntava-se se as
tradues deveriam ser estudadas como textos, como conceitos ou como
sistemas (Toury, 1986). As relaes traducionais entre o texto-fonte e o
texto-alvo foram substitudas por redes de relacionamentos e conceitos de
intertextualidade (Toury, 1986; Lambert, 1989a). Se havia um ponto dc con
crdia quanto teoria de estudos dc traduo, era que o campo requer uma
teoria aberta, menos envolvida em definies a priori e mais envolvida
em questionar. Se em qualquer momento a teoria em uso no se mostras
se produtiva, excluindo certos fenmenos traducionais ou limitando cer
tos discernimentos, os pesquisadores dos estudos de traduo tendiam a
rejeit-la ou revis-la. As perguntas ou questes levantadas, por sua vez,
influenciavam projetos de pesquisa para o acmulo dc mais dados. O apelo
de Holmes em The Nanie and Nature ofTranslation Studi.es (1972/5) para
que houvesse uma teoria dialtica evolucionria interagindo com pesquisa
descritiva tinha sido escutado.
O trabalho da teoria dc sistemas de Even-Zohar e de Toury ajudou os
estudos de traduo a derrubarem certas barreiras conceituais e encontrar um
mtodo para descrever melhor as tradues. Os dados oriundos da pesquisa
descritiva sustentam uma maior especulao terica. Even-Zohar no s nos
permitiu entender melhor o processo de traduo, mas tambm foi o nico
terico de sistemas que reconheceu a importncia da traduo no estudo de
qualquer literatura individual. Entretanto, em muitos aspectos, ele parecia
quase dogmaticamente comprometido com a teoria dos polissistemas, que,
como outra forma de estruturalismo, limita aquilo que ela pode conceituar. A
afirmao emprica sobre a qual se fundamentou a teoria dos polissistemas,
isto , a de que ela observa textos reais em um sistema-alvo, parece estar
se dissolvendo luz das recentes investigaes. A premissa de Even-Zohar
172
Teorias Contemporneas da Traduo
C onfanjw tirv Tnins/iifioii Throncs
para anlise objetiva de fatos literrios parece ainda menos sustentvel.
Surpreendentemente, ele sc manteve em silncio durante a dcada de 1980,
e suas contribuies tericas tiveram uma notvel ausncia. Embora seu m
todo seja til para estudar os textos traduzidos, Van Bragt, Lambert, Van
Leuven-Zwart e outros parecem abertos a diferentes interpretaes tericas
dos dados e outras possibilidades tericas acerca da natureza da traduo.
Toury e Even-Zohar parecem sempre inserir caractersticas e normas sist
micas em sistemas cada vez mais abrangentes, cuja hierarquia concebida
a partir de suas pressuposies iniciais. Lambert e Hermans, por outro lado,
embora partam de uma posio semelhante dentro da teoria dos sistemas,
mostram-se mais inclinados a observar os dados e ver como eles se encai
xam sem pressuposies, reconhecendo que os fatos observados podem ou
no se enquadrar na estrutura hierrquica. Enquanto retm uma abordagem
sistmica e mantm um raciocnio indutivo, Lambert pode estar sugerindo
que o sistema concebido talvez no funcione como o estudioso investigador
pensava, e se abre para o estudo de outro comportamento padronizado
que pode ajudar a explicar os fenmenos traducionais. Apesar de ser um dos
maiores defensores da teoria dos polissistemas na dcada de 1980, Lambert e
seus colegas de Leuven esto, ao mesmo tempo, reavaliando a terminologia,
as estruturas hierrquicas, as noes fixas do que uma traduo.
Estudiosos de traduo na Inglaterra e na Amrica, como Bassnett,
Lefevere (que se mudou para a Am rica no incio dos anos de 1980), David
Lloyd e Maria Tymoczko parecem estar se distanciando ainda mais do modelo
de polissistemas de Even-Zohar, o qual eles consideram demasiado formalstico e restritivo. Adotando um modelo de estudos culturais, eles enfocam tanto
as instituies dc prestgio e poder em determinada cultura quanto os padres
na traduo literria. Enquanto a hiptese da teoria dos polissistemas usada
por esse ramo anglo-americano dos estudos de traduo, estes tambm suge
rem que outras consideraes devem ser includas. Em uma srie de artigos
nas ltimas duas dcadas, todos escritos desde sua mudana para os Estados
Unidos, Lefevere, por exemplo, abandonou a abordagem indutiva e cientfica,
em favor de um mtodo mais dedutivo e menos formalista. Embora se distan
ciasse do vocabulrio dos polissistemas, ele introduziu um novo conjunto de
termos para analisar melhor a influncia do extraliterrio sobre o literrio.
Em 1981, no artigo Beyond the Process: Literary Translation iii Lierature and Literary Theory, Lefevere argumentou que os sistemas literrios
no ocorrem em um vcuo, e sua lista de predecessores ele acrescenta
o nome de Pavel Medvedev, que localizava o sistema literrio dentro do
Teoria dos polissistcmas
173
Po/vs vicia theory
meio ideolgico de urna era (Lefevere, 1981a: 56). O livro de Medvedev,
publicado em 1928, The Formal Method in Literary Scholarship, que se
tornou o modelo para a ciencia da ideologia, talvez tenha sido escrito,
na verdade, por Mikhail Bakhtin. No artigo, Lefevere comea no s a
examinar mudanas lexicais e a introduo de artifcios literarios por inter
medio da traduo, mas tambm a fazer perguntas a respeito das presses
ideolgicas sobre o tradutor e das estratgias que o tradutor usa para in
fluenciar o meio intelectual. Por ideologia, Lefevere entende um con
junto de discursos que disputam por interesses que, de alguma forma, so
relevantes para a manuteno ou interrogao de estruturas de poder vitais
para toda urna forma de vida social e histrica (Eaglelon, 1985: 116; ci
tado por Lefevere, 1988-9: 59). O conjunto dominante de discursos podia
ser manifesto, como foi o caso 110 Leste da Europa por muitos anos, mas
geralmente funcionava oculto, como talvez seja a situao em muitos pa
ses ocidentais. Enquanto vrios subsistemas - inclusive 0 literrio - se
digladiam por interesses conflitantes, todos se submetem, consciente ou
inconscientemente, a uma ideologia predominante, prpria da sociedade
em determinado ponto da histria.
Em outro artigo de 1981, Translated Literature: Towards ati Integrated
Theory, Lefevere se expressa menos em termos de teoria dos polissistemas
e mais em termos de estudar as tradues existentes e construir gramticas
histricas para descrever fenmenos traducionais . Com o intuito de mostrar
como o componente ideolgico limita o discurso literrio, ele introduziu o
conceito do texto refratado, pelo qual se refere a textos que foram proces
sados para determinado pblico (crianas, por exemplo) ou adaptados para
determinada potica ou ideologia (Lefevere, 1981b: 72). Verses condensa
das e adaptadas de clssicos para 0 pblico infantil ou para a televiso podem
ser caracterizadas como as formas mais bvias de refraes. Na Alemanha,
durante o perodo nazista e no que era a Alemanha Oriental, muitos textos de
escritores como Ileine e Schiller costumavam, com frequncia, ser refrataclos
para se adequar a uma potica ou ideologia especficas. Tais refraes, po
rm, so menos bvias. Lefevere, por exemplo, escreveu um artigo chamado
Mother Courages Cucwnbers: Text, System and Refraction in a Theory o f
Literature (l 982b), que mostra como a obra de Brecht foi refratada 110 Oci
dente para se conformar melhor s predominantes normas artsticas e ideolo
gias no mundo anglo-americano. Outro bom exemplo de como as restries
ideolgicas influenciam a produo de textos literrios pode ser encontrado
no artigo de David Lloyd, Translator as Refractor; Towards a Re-reading o f
174
Teorias Contemporneas da Traduo
Gontemporary Tmmlaiion Tljeories
James Clarence Mangan as Transiator (1982), no qual ele aplicou o conceito
de refrao de Lefevere no s a grande parte dos escritos de Mangan, mas
tambm ao campo mais amplo da literatura irlandesa em geral no sculo
XIX. As questes levantadas pelo ramo anglo-americano nesse ponto no
ignoram o fato de que os textos traduzidos introduzem novos artifcios lite
rrios em outros sistemas literrios, mas tambm sugerem que as refraes
esto muito mais presentes em fenmenos sociolgicos maiores. Hm 1984,
no artigo That Sructure in the Dialect ofMan Interpreted, Lefevere definiu
e acrescentou o conceito de patronagem ao seu modelo, a fim de investigar
melhor tais presses ideolgicas. Por patronagem, ele se refere a qual
quer espcie de fora que possa scr influente em encorajar e propagar, mas
tambm em desencorajar, censurar e destruir obras de literatura (Lefevere,
1984: 92). Patronos, diz ele, podem ser indivduos, como os Mdici ou Lus
XIV; grupos, como um rgo religioso ou partido poltico; ou instituies,
como editoras ou sistemas escolares.
Quando seu artigo Why Waste our Time on Rewrites foi publicado na
coletnea de Hermans de 1985, The Manipidation o f Literature, o tom dc
Lefevere era muito mais acessvel ao leitor, e ele evitou o vocabulrio cien
tfico caracterstico do discurso da teoria dos polissistemas. Tambm parou
de tentar ser puramente objetivo em suas investigaes, argumentando que
ningum pode escapar prpria ideologia e sugerindo que as disciplinas
que alegam objetividade so desonestas. Ele levantou questes em torno
das distines entre literrio e no literrio, em especial as que so feitas por
aqueles que ditam o discurso literrio em determinada sociedade. Lefevere
se distanciou de qualquer teoria que visse a literatura como determinista e
que fizesse previses a respeito de sua evoluo. Ele introduz, por outro lado,
o termo estocstico, palavra grega que se refere tanto ao procedimento
quanto conjectura e, literalmente, o procedimento por meio da objetivao
habilidosa, para descrever um sistema cuja evoluo envolve probabilida
de e variveis aleatrias. Lefevere sentia tambm que o estudo de sistemas
literrios no podia ser separado do estudo de outros sistemas de poder, tais
como o educacional. E, mais importante, pela primeira vez dentro da pers
pectiva de estudos de traduo, ele reconhecia que o estudo de sistemas lite
rrios no pode ser restrito ao seu desenvolvimento euro-americano.
O melhor exemplo de um estudioso usando a metodologia e a nova
terminologia de Lefevere foi o artigo de M aria Tymoczko, de 1986,
Translation as a Force fo r Literary Revolution in lhe Twelfth-Centwy
Shiftfrom Epic to Romance (Tymoczko, 1986). Ela no apenas examinou
Teoria dos polissistcmas
175
Po/ys ytan ihcory
novos artifcios literrios introduzidos cultura francesa por intermedio
da traduo, mas ainda usou conceitos como patronagem e foras socioe
conmicas em ao durante o perodo para explicar a evoluo sistmica.
Ela usou a hiptese dos polissistcmas para exam inar as alteraes no sis
tema literrio introduzidas pela traduo c reconheceu mudanas em g
nero, mtrica e estratgias de rima. Mas tambm viu mudanas adicionais
que no podiam ser explicadas por meio de um a metodologia formalista:
as inovaes no sculo XII de fato incluam novas estruturas de valo
res, mudanas no papel das mulheres e a introduo do amor romntico.
Usando a term inologia de Lcfcvere, ela traou a evoluo do sistema de
patronagem, m ostrando que, no fim do sculo XII, a posio dos cantores
picos havia cado e os patronos passaram a favorecer, no lugar deles,
os tradutores letrados, adaptadores e autores. Tymoczko explicou tais
mudanas contextuai izando o sistema literrio dentro do sistema socio
econmico, incluindo fatores como o poder crescente da classe clerical,
as universidades emergentes e a importncia da traduo para facilitar
a comunicao entre regies francesas, inglesas, escandinavas, irlande
sas, galesas e outras especficas da cultura francesa (Tymoczko, 1986:
18-19). A traduo, portanto, tinha um papel crucial, formal e ideolgico,
no emergente sistema escrito. A sociedade da classe alta se tornou mais
segura durante esse perodo, e as tradues serviam tanto para oferecer
trabalho aos subempregados como para satisfazer a demanda das classes
aristocrticas de novas ideias. Os tradutores, argumenta Tymoczko, no
eram partes desinteressadas, mas tentavam garantir vantagem no siste
ma de patronagem, e assim se conformavam e participavam da mutvel
ideologia da poca. Usando raciocnio indutivo, mas tambm o dedutivo,
ela mostrou como a literatura escrita era receptiva e refletiva de foras
ideolgicas, bem como poetolgicas.
G ideonT oury:
estudos descritivos de traduo e alm
Desde a publicao de In Secirch ofa Theory ofTrcmslation (1980), as
verses atualizadas da teoria dos polissistcmas chegaram com Polysystem
Studies (1990), de Even-Zohar, e Descriptive Translation Studies and
Beyond (1995), de GideonToury. Os estudiosos tinham grande expectativa
da referncia ao alm dos estudos descritivos, pois, na dcada de 1980,
176
Teorias Contemporneas da Traduo
Contemhmiry Transhit ion J/jcorirs
muitos projetos se estendiam na enumerao de detalhes como semelhan
as, diferenas e mudanas, mas pouco explicavam por que tais caracte
rsticas ocorriam em tradues. A teoria dos polissistemas, que alegava
descrever e gerar uma teoria que explicasse e previsse, prometia suprir
novas respostas. Infelizmente, os novos livros de Even-Zohar e Toury rearticulam, mas no desenvolvem, ideias da dcada de 1970. Em Translation
in Systems (1999), Theo Hermans, lamentando essa perda de inovao, es
creve que ambos revisavam, refinavam e redefiniam posies anteriores,
mas continham muito pouco que fosse novo em termos tericos e meto
dolgicos, e mal se envolviam com ideias e vises concorrentes (1999:
14). No livro de Toury, muitos captulos - por exemplo, The Nature and
Role o f Norm s in Translation - perm anecem em grande parte intactos, e a
seo alm compreende apenas 20 das 300 pginas do livro.
Embora no oferecesse grandes novidades, o livro de Toury passou
por uma produtiva reviso, principalmente no aspecto do mtodo. Pensador
meticuloso e incisivo, Toury convincente na defesa de sua abordagem
do texto-alvo para estudar a traduo, argumentando que, como as tradu
es so invariavelmente iniciadas pela cultura-alvo, esse , ento, o ponto
onde as observaes devem comear. Ele tambm oferece estratgias para
mapear o texto-alvo para os segmentos do texto-fonte, de forma mais siste
mtica que ecltica. Toury detecta as fraquezas nas tentativas dos outros es
tudiosos de descrever e no hesita em apontar variveis no consideradas.
Por exemplo, em uma ilustrao que permeia todo o livro, Toury discute
o modo como os estudiosos descritivos tradicionais, como Dagut (1976) e
Newmark (1981), classificam metforas em trs categorias: (1) metfora
para a mesma metfora; (2) metfora para metfora diferente e (3)
metfora para no-metfora (Toury, 1995: 82-3). Toury, porm, considera
tal sistema de classificao incompleto, comprometido por estudiosos cuja
anlise procede do texto-fonte. Mesmo usando o texto-fonte como ponto
de partida, ele acrescenta uma quarta possibilidade: (4) a omisso total da
metfora. E, quando consideramos a cultura-alvo, surgem mais duas possi
bilidades: (5) no-metfora para metfora e (6) a nova adio de metfora
onde antes no havia nenhuma. A abordagem do texto-alvo estende, por
tanto, o escopo da observao e o baseia firmemente na anlise dos textos
traduzidos propriamente ditos. Estudos realizados usando-se tal metodolo
gia sistemtica s podem melhorar o conhecimento na rea e incrementar
nosso entendimento dos fenmenos de traduo.
Teoria dos polissistemas
177
Poiys vfvni r/.vory
Entretanto, esse traballio comparativo envolve invariavelmente a
comparao com um padro, usando certa postulao de equivalncia, um
problema que Toury ainda no resolveu. Em sua teoria revisada, a noo
de Toury da invariante de comparao no s est presente, como foi empur
rada mais para o centro do modelo. Embora Toury tenha mudado um pouco
a terminologia da discusso, agora a chamando de um postulado funcionalrelacional de equivalncia, ela citada s vezes como invarivel, cons
tituindo ainda no mais que uma construo hipottica. A maioria dos
estudiosos usa o texto-fonte como artifcio de medida., mas Toury no. Em
vez disso, ele pede aos estudiosos que mapeiem todo o escopo das possibi
lidades de traduo para derivar - usando a metodologia apropriada - o que
ele agora chama de conceito subjacente de traduo . Ele escreve:
Uma vez estabelecidas para uma srie de segmentos cm pares c agrupadas
com base nos resultados das comparaes em si, as relaes de traduo se
riam, ento, referidas ao conceito de traduo subjacente ao texto como um
todo. Isso ser feito por meio de uma noo de equivalncia de traduo, que
tenha emergido como constituinte da norma para o par de textos em questo.
(Toury, 1995: 37)
Assim, o artifcio de medida para o traballio comparativo derivado
pelos prprios tradutores e estudiosos, na medida em que produzem tra
dues consideradas mais ou menos aceitveis, adequadas, timas
e apropriadas. Apesar de questionar noes de equivalncia entre todo o
campo de estudos da traduo, e dos paradigmas histricos invocados pelo
prprio Toury para estudar evoluo cultural, o livro continua ignorando a
subjetiva e potencialmente incestuosa derivao do conceito-chave de sua
teoria. Com certeza, grupos marginais logo compreendero a dificuldade
de fazer com que qualquer grupo de estudiosos e tradutores se mobilize,
aps um consenso ter sido alcanado em torno desse conceito subjacente.
Mais perturbador o desejo de Toury de estabelecer um novo con
junto de leis coerentes que possam ser usadas para explicar e prever o
comportamento da traduo. A terminologia e as formulaes de Toury se
fundamentam fortemente em Polysystem Studies (1990), de Even-Zohar,
no qual as leis de interferncia literria (Laws o f Literary Interference)
(1990: 53-72) foram elaboradas pela primeira vez. Essas leis, chamadas
em tom presunoso de universais no trabalho anterior de Even-Zohar, e
agora, em tom ainda mais presunoso, de leis, so teoricamente geradas
178
Teorias Contemporneas da Traduo
Contciuponiry Tm mhitwn Theorivs
a partir de descobertas descritivas que constituem a meta da teoria dos
polissistemas. Toury escreve:
As descobertas cumulativas de estudos descritivos deveriam possibilitar a
formulao de uma serie de leis coerentes que afirmariam as relaes ineren
tes entre todas as variveis consideradas relevantes para a traduo. (Toury,
1995: 16)
Relembrando a descrio tripartite de James Holmes dos estudos de
traduo (ver seo sobre Holmes), que envolvia interao mtua entre os
ramos aplicados, descritivos e tericos, o modelo de Toury coloca os estu
dos descritivos na posio central, ou em seus termos, de piv. Das des
cries, os estudiosos derivam a teoria, ou as generalizaes, ou as leis
que governam a atividade de traduo. Hm reciprocidade, portanto, as leis
efetuam futuras descries e se estendem ao ramo aplicado, influenciando
tanto a prtica quanto o treino para a traduo. Assim, o conceito de Toury de
teoria deriva das cincias, particularmente das cincias exatas, tais como
fsica e qumica, e muito diferente de teoria segundo a definio nos
campos da filosofia, da literatura e dos estudos culturais. Podemos ver a
natureza formulaica das leis de Toury. Ele escreve: Cada lei relacional,
quando descoberta e devidamente formulada, ter uma forma condicional
inequvoca do seguinte tipo: se X, ento m aior/m enor a probabilidade
de Y (1995: 265, negrito no original).
O captulo Alm cita apenas duas leis derivadas de dcadas de
pesquisa baseada em texto e que so altamente controvertidas. A primei
ra diz: cm traduo, textemas do texto-fonte tendem a se converter em
reprtenlas na lngua-alvo (ou cultura-alvo) (268). Como a linguagem
dessa lei particularm ente densa, Toury reformula: em traduo, rela
es textuais obtidas no original costumam ser modificadas, s vezes a
ponto de ser totalmente ignoradas, em favor de opes [mais] habituais
oferecidas pelo repertrio-alvo (268). Embora essa formulao seja mais
clara, os tradutores praticantes talvez no acreditem no que veem. Alguns
tradutores podem modificar o original por necessidade, mas a maioria
no ignora totalm ente aspectos do texto original. Como a lngua ainda
crptica - relaes textuais obtidas - , Toury reformula a orao mais
uma vez: em traduo, itens tendem a ser escolhidos em um nvel que
inferior quele no qual as relaes textuais foram estabelecidas no textofonte (268). Essa verso d uma ideia melhor do que Toury quer dizer: os
tradutores, quando procuram equivalentes, costumam generalizar quando
Teoria dos polissistemas
179
Poiysyfem theory
no conseguem encontrar o termo especfico, extraindo de opes dispo
nveis na cultura-alvo. Embora muito mais aceitveis, as excees, com
certeza, existem. Os tradutores nem sempre ignoram aspectos do textofontc, mas s vezes no h termos disponveis; por isso, fazem o melhor
que podem. Mesmo assim, as pressuposies hierrquicas sugeridas pela
palavra inferior continuam perturbadoras. Com a formulao final de
Toury, podemos ver como o sistema opera, garantindo o status marginal da
traduo: quanto mais perifrico esse status, mais a traduo se acomo
dar aos modelos e repertrios estabelecidos (271). Embora tal afirmao
possa ser verdadeira com relao a muitas culturas europeias ocidentais no
sculo XX, poucos estudiosos dos estudos da traduo estariam dispostos
a fazer tais generalizaes entre todas as culturas de seu tempo.
A segunda lei oferecida por Toury diz, de incio: Em traduo, os
fenmenos pertencentes composio do texto-fonte tendem a ser trans
feridos para o texto-alvo (275). Tal noo parece verdadeira, podendo
inclusive servir como definio da prpria atividade da traduo; entre
tanto, a generalidade dessa formulao pode no dar um novo insight
aos estudiosos. Se reformulada, podemos enxergar melhor o intento de
Toury: quanto mais a composio de um texto for vista como um fator
na formulao de sua traduo, mais se pode esperar que o texto-alvo
mostre traos de interferncia (276). Toury est discutindo a interfern
cia da traduo, ou, nos termos de Venuti, como os elementos estran
geiros entram no texto-alvo. Essa lei foi apresentada pela primeira vez
como hiptese por Itam ar Even-Zohar em Papers in HistricaI Poetics
(1978a) e reform ulada como uma srie de dez leis em Polysystem Studies
(1990: 53-72). Quanto mais os tradutores levam em conta o texto-fonte,
mais elementos eles so capazes de transferir, uma noo que a maioria
dos tradutores consideraria lgica e vlida. Uma formulao posterior,
no entanto, afirma: Mesmo considerando o texto-fonte um fator crucial
na formulao de sua traduo, os tradutores srios seriam menos afe
tados por sua com posio (277). Ironicamente, parece que Toury no
acha bom levar o texto-fonte em considerao, pois pode provocar uma
maior interferncia. Por trs, alguns dos m elhores tradutores devem es
tar se remoendo: tradutores srios so aqueles menos afetados pela
composio do texto original? No h algo fora de ordem aqui? E como
se identifica um tradutor srio? Existe uma forte tradio de traduo,
incluindo m uitos tradutores srios que se em penham em transmitir as
pectos do original. As leis de Toury parecem mais apropriadas para os
180
Teorias Contemporneas da Traduo
( ]onlcnipv<try Transltiiion V.uvr/vs
tradutores funcionalistas no mundo de lngua alem. Na verdade, em
Descriptive Translation Stiiclies anel Beyoncl (1995), a maior parte do
material acrescido reflete o envolvimento de Toury com os estudiosos de
traduo alemes, principalm ente da escola funcionalista.
Toury termina a seo discutindo sua segunda lei com a formulao
final: a tolerncia de interferncia e da a durabilidade de suas mani
festaes - tende a aum entar quando a traduo feita de uma lngua/
cultura m aior ou altamente prestigiosa, ainda mais se a lngua/culturaalvo for m enor ou fraca em qualquer outro sentido (278). Vemos aqui
seu princpio de interferncia inserido na estrutura da teoria de sistemas,
quando ele experimenta generalizaes entre as culturas. Permanecem
as minhas objees s hierarquias sugeridas pela term inologia de maior/
menor, superior/inferior, prestigiosa/no prestigiosa. O problema que
Toury est formulando leis baseadas em hipteses ventiladas no incio
da dcada de 1970, e essas hipteses no mudaram muito com o passar
dos anos. Embora os dados de Toury paream sustentar suas afirmaes,
dados recentes oriundos dos Estados Unidos divergem muito. Por exem
plo, as editoras nos Estados U nidos - um pas cuja cultura no fraca
ou m enor - so muito mais propensas a publicar um texto maia/guatemalteco ou norte-africano/berbere aberto interferncia, que contenha
elementos estrangeirizantes e seja diferente do status cjuo, do que uma
traduo que amenize as diferenas culturais e adapte textos a gneros e
estilos aceitveis. E esse no um fenmeno recente. Como argumentei
em Translation, Counter-culture and The Fifties in the USA (1996), a d
cada de 1950 nos Estados U nidos foi um perodo de grande estabilidade
e conservadorismo. Eisenhower era o presidente, a Amrica suburbana
crescia, o pas estava em paz, a prosperidade econmica subia e o nvel
de desemprego era baixo. Os Estados Unidos constituam uma das duas
superpotncias militares e desfrutavam de um rico espectro de gneros
literrios. Entretanto, havia um a intensa atividade de traduo de resis
tncia, a partir da im portao de escritores surrealistas e experimentais
da Europa e da Amrica Latina, incluindo Pablo Neruda, Antonio Macha
do, Cesar Vallejo, Federico Garcia Lorca, Gunnar Ekelf, Georg Trakl,
Henri Michaux e Ren Char. Esses autores estavam sendo traduzidos
por prestigiosos escritores e tradutores como Robert Bly, James Wright,
Gary Snyder, Rolfe Hum phries, Langston Hughes, W. D. Snodgrass, W.
S. Merwin e Willis Barnstone, que evitavam conscientemente a poesia
convencional e as convenes literrias do perodo.
Teoria dos polissistemas
181
P ohs\'fx;u ibcory
Nesse perodo, a traduo servia no como fator conservador, refle
tindo normas culturais e literrias da poca, mas sim como fator progres
sivo, desafiando e tentando mudar aquelas mesmas normas, importando
novas normas e ideias. Se a revoluo dos anos de 1960 for um indicativo,
a traduo foi uma das ferramentas mais importantes que conduziam
mudana cultural. Esses dados contradizem as descobertas de Toury e, com
certeza, mais estudos precisam ser realizados antes que tais generalizaes
possam ser feitas.
As leis de Toury baseadas em dcadas de pesquisa tambm no con
sideram com seriedade as pesquisas conduzidas por estudiosos canadenses,
latino-americanos ou estudiosos de pases em desenvolvimento; tampouco
levam em conta o conhecimento marxista, feminista, ps-colonial ou psestrutural. Como a antropologia e a etnologia vm revelando, as tradi
cionais abordagens e metodologias cientficas e objetivas s podem
observar o que seus mtodos lhes permitem, empobrecendo, em muito, sua
cincia. O que a teoria de Toury revela tem menos a ver com fenmenos
de traduo e mais com a cultura dos pesquisadores usando seus mtodos.
Embora Toury tente no ser prescritivo em sua anlise de traduo, sua pre
ferncia por tradues funcionais, por traduo orientada para o texto-alvo,
facilmente visvel em suas concluses.
No captulo seguinte, veremos como os estudiosos mais versados nas
teorias de desconstruo e ps-coloniais expem as limitaes da teoria dos
polissistemas e oferecem novas alternativas. Apesar da tentativa de Toury
de mostrar que os estudiosos esto chegando a um consenso, a maioria das
descobertas dos estudos de traduo na dcada de 1980 parecia divergir
das suas. Embora ele afirme o contrrio, os estudiosos da traduo tendiam
a ver as tradues menos como um fato emprico - um texto concreto, de
finido pela cultura-alvo - e mais como um complexo conjunto de relaes
traducionais em qualquer situao. O texto traduzido passou a ser visto,
cada vez mais, como dependente de famlias e semelhanas, bem como se
autoescrevendo em outras famlias e semelhanas. Pesquisas descritivas
dos estudos de traduo na dcada de 1980 mostraram como o texto tradu
zido est inscrito na teia mutvel de intertextualidade e como os fatos da
traduo parecem ser mais construdos que materiais. Enquanto os estudos
de traduo se definiam como um a cincia institucional com o intuito de
ganhar apoio do governo, da academia e at de setores privados, as pes
quisas do grupo belga/holands e do ramo tangencial anglo-americano pa
reciam estar preparando o terreno para a anlise ps-estruturalista. Como
182
Teorias Contemporneas da Traduo
Contemporary Translation Uoeories
fenmeno, a traduo parece subverter qualquer abordagem sistemtica de
seu prprio estudo e pode, de fato, subverter-se a si mesma, continuamente
evoluindo, medida que so articuladas afirmaes que a categorizam. O
captulo seguinte abordar uma possibilidade para maior considerao - a
de desconstruo, que oferece meios de ver os fenmenos de traduo que
os estudiosos, at pouco tempo atrs, sistematicamente evitavam.
Você também pode gostar
- Historia Do PortuguêsDocumento8 páginasHistoria Do Portuguêsfb.tnr100% (1)
- Procedimentos Técnicos Da TraduçãoDocumento72 páginasProcedimentos Técnicos Da Traduçãoadriano brito100% (4)
- Introdução à historiografia da linguísticaNo EverandIntrodução à historiografia da linguísticaAinda não há avaliações
- Processo de Descolonização LinguisticaDocumento13 páginasProcesso de Descolonização LinguisticaWagner Faquineti100% (1)
- Psicologia Da Educação Marcus ViniciusDocumento30 páginasPsicologia Da Educação Marcus ViniciusMonicaBueno100% (1)
- Merton - Estrutura Social e Anomia - MertonDocumento37 páginasMerton - Estrutura Social e Anomia - MertonSilvana Mariano100% (3)
- A invisibilidade do tradutor: Uma história da traduçãoNo EverandA invisibilidade do tradutor: Uma história da traduçãoAinda não há avaliações
- Resenha: Por Um Caráter Transgressor Na Linguística Aplicada e Seu Alcance IndisciplinarDocumento3 páginasResenha: Por Um Caráter Transgressor Na Linguística Aplicada e Seu Alcance IndisciplinarLara Souza100% (1)
- As concepções de leitura e a produção do sentido no textoDocumento14 páginasAs concepções de leitura e a produção do sentido no textoAnaAinda não há avaliações
- Investigando o processo tradutórioDocumento16 páginasInvestigando o processo tradutórioZubalo100% (1)
- Fichamento 2 - A Diacronia Nas Formas Fonológicas Adjancentes e Nos ImputsDocumento5 páginasFichamento 2 - A Diacronia Nas Formas Fonológicas Adjancentes e Nos ImputsArthur HenriqueAinda não há avaliações
- Metodologia de Pesquisa em LiteraturasDocumento10 páginasMetodologia de Pesquisa em LiteraturasMatheus SmxAinda não há avaliações
- Teoria Do Dinheiro e CréditoDocumento46 páginasTeoria Do Dinheiro e CréditomanoeljgAinda não há avaliações
- Exercicios No KarateDocumento33 páginasExercicios No KarateEmmanuel Demidover Sousa FerreiraAinda não há avaliações
- ECO - Dizer Quase A Mesma CoisaDocumento19 páginasECO - Dizer Quase A Mesma CoisaHadassa Praciano Matos100% (1)
- Poética Da Tradução - Do Sentido À SignificânciaDocumento10 páginasPoética Da Tradução - Do Sentido À SignificânciaJulianaBilhalvaAinda não há avaliações
- Critica Literaria - Aula 01Documento16 páginasCritica Literaria - Aula 01Rosa Do Sertão100% (1)
- Linguística e Poética: Funções da LinguagemDocumento3 páginasLinguística e Poética: Funções da LinguagemJuscelino Alves de OliveiraAinda não há avaliações
- Máscaras contraditórias dos poetas românticosDocumento2 páginasMáscaras contraditórias dos poetas românticosTábita AraújoAinda não há avaliações
- Edwin Gentzler, DesconstruçãoDocumento26 páginasEdwin Gentzler, DesconstruçãoBack Becket100% (3)
- Pym, Anthony - Explorando Teorias Da Tradução-Perspectiva (2017)Documento162 páginasPym, Anthony - Explorando Teorias Da Tradução-Perspectiva (2017)Joao Gomes100% (1)
- A Criação Literária: Formas em ProsaDocumento196 páginasA Criação Literária: Formas em ProsaBruno Fauth Bertoluci100% (1)
- Antoine Berman e a tradutologiaDocumento14 páginasAntoine Berman e a tradutologiaWilliam Campos da Cruz0% (1)
- Percalços Nos Caminhos Da Tradução: Entrelaçando Ideias.Documento215 páginasPercalços Nos Caminhos Da Tradução: Entrelaçando Ideias.Andre Aguiar100% (1)
- Nomenclatura Gramatical Brasileira - 50 Anos DepoisDocumento5 páginasNomenclatura Gramatical Brasileira - 50 Anos DepoisMarina ResendeAinda não há avaliações
- Da Literatura Maranhense-OrigemDocumento4 páginasDa Literatura Maranhense-Origemvanessa araujoAinda não há avaliações
- Os (Inter)Discursos na Formação Docente em LetrasNo EverandOs (Inter)Discursos na Formação Docente em LetrasAinda não há avaliações
- O campo literário moçambicano: tradução do espaço e formas de insílioNo EverandO campo literário moçambicano: tradução do espaço e formas de insílioAinda não há avaliações
- A Identidade Linguística Brasileira e Portuguesa: Duas Pátrias, uma Mesma Língua?No EverandA Identidade Linguística Brasileira e Portuguesa: Duas Pátrias, uma Mesma Língua?Ainda não há avaliações
- A variação linguística no contexto socialDocumento21 páginasA variação linguística no contexto socialJamille SuarhsAinda não há avaliações
- O Narrador em Chico Buarque e Ruy GuerraNo EverandO Narrador em Chico Buarque e Ruy GuerraAinda não há avaliações
- AS CIÊNCIAS DO LÉXICO - Novo - WebDocumento423 páginasAS CIÊNCIAS DO LÉXICO - Novo - Webjane keli Almeida100% (1)
- Letramentos sociais de Brian Street analisadosDocumento10 páginasLetramentos sociais de Brian Street analisadosDenilson Lopes100% (2)
- MELLO - Renato - Análise Do Discurso & LiteraturaDocumento377 páginasMELLO - Renato - Análise Do Discurso & LiteraturaTita NigríAinda não há avaliações
- As Literaturas Africanas de Língua Portuguesa: um percurso de cantos e desencantosDocumento13 páginasAs Literaturas Africanas de Língua Portuguesa: um percurso de cantos e desencantosGustavo TanusAinda não há avaliações
- Literatura e Ensino - Tânia Ramos e Gizelle Corso PDFDocumento104 páginasLiteratura e Ensino - Tânia Ramos e Gizelle Corso PDFGong Li ChengAinda não há avaliações
- Ensino de gramática e variação linguísticaDocumento16 páginasEnsino de gramática e variação linguísticafernanda136Ainda não há avaliações
- Guia Literaturas Africanas PDFDocumento134 páginasGuia Literaturas Africanas PDFFlavioMCAinda não há avaliações
- Cap. 1 - A Construção Do Ponto de Vista Por Meio de Formas ReferenciaisDocumento12 páginasCap. 1 - A Construção Do Ponto de Vista Por Meio de Formas ReferenciaisManoelFilhuAinda não há avaliações
- Moreira, Walter - Lexicologia, Terminologia, Ontologia e Representação DocumentáriaDocumento18 páginasMoreira, Walter - Lexicologia, Terminologia, Ontologia e Representação DocumentáriaAna paivaAinda não há avaliações
- Atitudes Linguísticas e Avaliações Subjetivas de Alguns Dialetos BrasileirosNo EverandAtitudes Linguísticas e Avaliações Subjetivas de Alguns Dialetos BrasileirosAinda não há avaliações
- Saussure (LINGUISTICA)Documento38 páginasSaussure (LINGUISTICA)LEOSYLVA100% (1)
- A língua de Eulália - análise sociolingüísticaDocumento50 páginasA língua de Eulália - análise sociolingüísticajoserivaldoAinda não há avaliações
- Letramento Literário na Escola: A Poesia na Sala de AulaNo EverandLetramento Literário na Escola: A Poesia na Sala de AulaNota: 2 de 5 estrelas2/5 (1)
- Encenações nas aulas de língua espanhola: uma intervenção didáticaNo EverandEncenações nas aulas de língua espanhola: uma intervenção didáticaAinda não há avaliações
- A Questão Da Língua Revisitando Alencar FaracoDocumento30 páginasA Questão Da Língua Revisitando Alencar FaracoAnonymous 7lzlspAinda não há avaliações
- Língua portuguesa e lusofonia em contextos de transformaçãoNo EverandLíngua portuguesa e lusofonia em contextos de transformaçãoAinda não há avaliações
- Literatura Brasileira do Romantismo ao ModernismoDocumento155 páginasLiteratura Brasileira do Romantismo ao ModernismoMarilene FerreiraAinda não há avaliações
- Percursos da poesia brasileira: Do século XVIII ao século XXINo EverandPercursos da poesia brasileira: Do século XVIII ao século XXIAinda não há avaliações
- O Latim Culto e o Latim VulgarDocumento14 páginasO Latim Culto e o Latim VulgarCorvinvsAinda não há avaliações
- Análise Linguística e Literária - Teoria e Prática PDFDocumento158 páginasAnálise Linguística e Literária - Teoria e Prática PDFRicardo Leandro Flores Ricalde100% (1)
- Literatura em tradução: perspectivas teórico-críticas e analíticasNo EverandLiteratura em tradução: perspectivas teórico-críticas e analíticasNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Espaços Possíveis Na Literatura BrasileiraDocumento17 páginasEspaços Possíveis Na Literatura Brasileirapedrinhopimenta100% (1)
- A Linguística Textual E O Ensino De Língua PortuguesaNo EverandA Linguística Textual E O Ensino De Língua PortuguesaAinda não há avaliações
- Novos olhares sobre a América Latina dos anos 60-70Documento263 páginasNovos olhares sobre a América Latina dos anos 60-70alamedaitu100% (1)
- Aspectualização Pela Análise de TextosDocumento233 páginasAspectualização Pela Análise de TextosNatália Rocha100% (1)
- TextosDocumento196 páginasTextosVictor SilvaAinda não há avaliações
- Introdução à EconomiaDocumento6 páginasIntrodução à EconomiaDeyvison Dias SantosAinda não há avaliações
- A Psicologia Do JuizDocumento135 páginasA Psicologia Do JuizDiocélio MarquesAinda não há avaliações
- Insurgências Poéticas PDFDocumento429 páginasInsurgências Poéticas PDFVinícius Meneses100% (1)
- Avaliação e Performance, Por Maria Cristina Franco FerrazDocumento14 páginasAvaliação e Performance, Por Maria Cristina Franco FerrazLouise CarvalhoAinda não há avaliações
- Engenheiros, Mulheres, Matemáticos: Interesses e Disputas Na Profissionalização Da Matemática Na BahiaDocumento320 páginasEngenheiros, Mulheres, Matemáticos: Interesses e Disputas Na Profissionalização Da Matemática Na BahiaAndré Luís Mattedi DiasAinda não há avaliações
- Acidentes de Trabalho Uma Abordagem SociológicaDocumento17 páginasAcidentes de Trabalho Uma Abordagem SociológicaManuel RodriguesAinda não há avaliações
- As Dificuldades de Aprendizagem (Griffo)Documento18 páginasAs Dificuldades de Aprendizagem (Griffo)Lucas MachadoAinda não há avaliações
- 2007 - JACKSON R e SORENSEN G-Debates Metodologicos Abordagens Clássicas Versus Positivistas-InDEXADODocumento27 páginas2007 - JACKSON R e SORENSEN G-Debates Metodologicos Abordagens Clássicas Versus Positivistas-InDEXADOAnna MorenoAinda não há avaliações
- Enfermagem Pre Hospitalar - Afirmacao Profissional 2012 TeseDocumento271 páginasEnfermagem Pre Hospitalar - Afirmacao Profissional 2012 TeseAnonymous 8KhCZtAinda não há avaliações
- Avaliação de Professores. Visões e Realidades. Actas Da Conferência InternacionalDocumento84 páginasAvaliação de Professores. Visões e Realidades. Actas Da Conferência InternacionalCCAP - Conselho Científico para a Avaliação de ProfessoresAinda não há avaliações
- 2011 0707 Ebook Dialogo LaDocumento384 páginas2011 0707 Ebook Dialogo LaRafael de la DehesaAinda não há avaliações
- Tópicos de Lógica Fuzzy e Biomatemática - Laécio Carvalho de Barros PDFDocumento392 páginasTópicos de Lógica Fuzzy e Biomatemática - Laécio Carvalho de Barros PDFaldairlucasAinda não há avaliações
- Introdução à SocializaçãoDocumento26 páginasIntrodução à SocializaçãoFrancisco WalkerAinda não há avaliações
- Análise do urbanismo norte-americano e a Strip em VenturiDocumento64 páginasAnálise do urbanismo norte-americano e a Strip em VenturiDiana SantanaAinda não há avaliações
- Resumo MinayoDocumento10 páginasResumo MinayoIsadora Minozzo100% (1)
- Diáspora Contemporânea e Suas ImplicaçõesDocumento208 páginasDiáspora Contemporânea e Suas ImplicaçõesKleyton PereiraAinda não há avaliações
- Relações educativas entre crianças quilombolas e não quilombolasDocumento355 páginasRelações educativas entre crianças quilombolas e não quilombolasWallace FerreiraAinda não há avaliações
- Tendências teóricas sobre corpo e educação na pesquisa brasileiraDocumento16 páginasTendências teóricas sobre corpo e educação na pesquisa brasileiraFabrício LeomarAinda não há avaliações
- O papel do psicólogo clínico numa equipa de saúde mental infantilDocumento7 páginasO papel do psicólogo clínico numa equipa de saúde mental infantilPetraAlexandraAinda não há avaliações
- O conceito de Sensemaking e sua natureza organizacionalDocumento16 páginasO conceito de Sensemaking e sua natureza organizacionalLuciane GodóiAinda não há avaliações
- Almerida, Santos & Trindade - Representações e Práticas Sociais, Contribuições Teóricas e Dificuldades Metodológicas PDFDocumento11 páginasAlmerida, Santos & Trindade - Representações e Práticas Sociais, Contribuições Teóricas e Dificuldades Metodológicas PDFalbertoprassAinda não há avaliações
- Cap 01 PsicogeneseDocumento26 páginasCap 01 PsicogeneseLisane CruzAinda não há avaliações
- A Teoria Etica de Kant Questoes de Escolha MultiplaDocumento28 páginasA Teoria Etica de Kant Questoes de Escolha MultiplaJoao LealAinda não há avaliações
- Habitar A Escola e Suas Margens: Geografias Plurais em ConfrontoDocumento214 páginasHabitar A Escola e Suas Margens: Geografias Plurais em ConfrontoLucas GarciaAinda não há avaliações