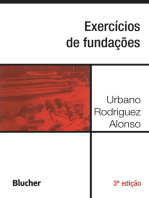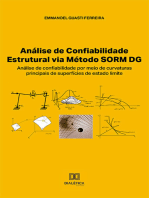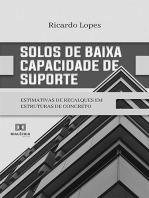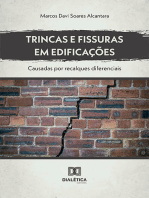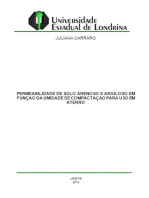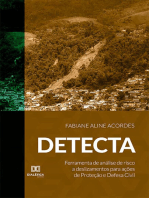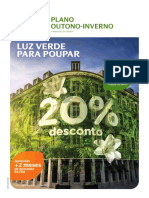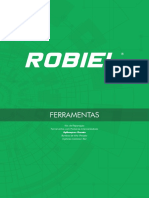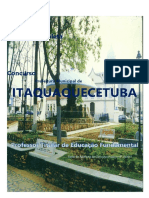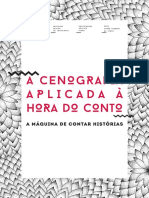Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Apostila - Geraldo UFJF
Enviado por
Bruno LopesDescrição original:
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Apostila - Geraldo UFJF
Enviado por
Bruno LopesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
NOTAS DE AULA DA
DISCIPLINA
PAVIMENTAO
TRN 032
Verso: 06.2
AUTOR:
Prof.
GERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA MARQUES
FACULDADE DE ENGENHARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
CAMPUS UNIVERSITRIO CEP 36036-330
CP 422 JUIZ DE FORA MG
e-mail: geraldo.marques@ufjf.edu.br
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transportes e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
SUMRIO
Captulo 1 - O PAVIMENTO RODOVIRIO
1.1 - Funes do pavimento
1.2 - Aspectos funcionais do pavimento
1.3 - Classificao dos pavimentos
1.3.1- Pavimentos flexveis:
1.3.2 - Pavimentos rgidos:
1.3.3 - Pavimentos semi-rgidos (semi-flexveis):
1.4 - Nomenclatura da seo transversal
1.4.1 - Sub-leito:
1.4.2 - Leito:
1.4.3 - Regularizao do sub-leito (nivelamento):
1.4.4 - Reforo do sub-leito:
1.4.5 - Sub-base:
1.4.6 - Base:
1.4.7 - Revestimento:
1.4.8 - Acostamento:
1
2
3
3
4
4
6
6
6
6
6
6
7
7
7
Captulo 2 - PROJETO DE PAVIMENTAO
2.1 - Estudos geotcnicos
2.1.1- Reconhecimento do subleito
2.1.2 - Estudo das ocorrncias de materiais para pavimentao
2.2 Dimensionamento do Pavimento
2.2.1 As cargas rodovirias
2.2.2 Dimensionamento de pavimentos flexveis (mtodo do
DNIT)
9
9
18
26
26
41
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transportes e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Captulo 3 - BASES E SUB-BASES FLEXVEIS
50
3.1 - Terminologia das bases
3.2 - Construo das camadas do pavimento
3.2.1 Operaes preliminares
3.2.2 - Operao de construo de sub-bases e bases
50
57
57
57
Captulo 4 - ESTABILIZAO DOS SOLOS PARA FINS DE
PAVIMENTAO
64
4.1 - Conceito de estabilizao para rodovias e aeroportos
4.2 - Objetivo
4.3 - Importncia
4.4 - Estudos e anlises
4.5 - Mtodos de estabilizao
4.6 - Estabilizao solo-cimento
4.6.1 - Tipos de misturas de solos tratados com cimento
4.6.2 - Mecanismos de reao da mistura solo-cimento
4.6.3 - Fatores que influenciam na estabilizao solo-cimento
4.6.4 - A dosagem do solo-cimento
4.6.5 - A nova norma de dosagem solo-cimento (NBR 12253)
4.6.6 - Execuo na pista (Seno, 1972)
4.6.7 - Operaes bsicas para solo-cimento in-situ
4.7 - Estabilizao solo-cal:
4.7.1 - A mistura solo-cal
4.7.2 - Mecanismos de reao da mistura solo-cal
4.7.3 - Fatores que influenciam no processo de estabilizao dos
solos com cal
4.7.4 - Tipos de estabilizao com cal
4.8 - Estabilizao solo-betume
4.8.1 - Tipos de misturas
4.8.2 - Principais funes do betume
4.8.3 - Teor de betume
4.8.4 - Mtodos de dosagem
4.9 Estabilizao granulomtrica
4.9.1 - Mtodos de misturas
4.9.2 - Mtodo analtico
4.9.3 - Mtodo das tentativas
64
64
64
64
65
66
66
67
68
69
71
76
78
81
82
82
83
83
83
83
84
84
84
84
85
85
86
88
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transportes e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Captulo 5 - AGREGADOS PARA PAVIMENTAO
90
5.1 - Produo de agregados
5.2 - Operao na pedreira
5.3 - Amostragem de agregados
5.4 - Propriedades qumicas e mineralgicas dos agregados
5.4.1 - Propriedades qumicas de agregados
5.4.2 - Propriedades mineralgicas
5.5 - Propriedades fsicas dos agregados
5.5.1 - Tenacidade, resistncia abrasiva e dureza
5.5.2 - Durabilidade e sanidade
5.5.3 - Forma da partcula e textura superficial
5.5.4 - Limpeza e materiais deletrios
5.5.5 - Afinidade ao asfalto
5.5.6 - Porosidade e absoro
5.5.7 - Caractersticas expansivas
5.5.8 - Polimento e caractersticas de atrito
5.5.9 - Densidade especfica / massa especfica
5.5.10 - Anlise granulomtrica
91
92
93
94
95
96
100
102
104
105
106
108
109
109
109
110
114
Captulo 6 - MATERIAIS ASFLTICOS
122
6.1 - Definies
6.2 - Classificao quanto aplicao
6.3 Classificao quanto origem
6.4 Asfaltos para Pavimentao
6.4.1 - Cimento Asfltico do Petrleo (CAP)
6.4.2 - Asfaltos Diludos
6.4.3 - Emulses Asflticas
6.4.4 - Asfaltos Modificados (Asfaltos Polmeros)
6.5 - Asfaltos Industriais
6.6 - Principais funes do asfalto na pavimentao
6.7 Servios de imprimao / pintura de ligao
6.7.1 - Imprimao
6.7.2 - Pintura de ligao
122
123
123
123
123
129
131
132
132
133
133
133
136
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transportes e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Captulo 7 - ENSAIOS EM MATERIAIS ASFLTICOS
137
7.1 - Ensaios em Cimentos Asflticos do Petrleo (CAP)
7.1.1 - Determinao de gua
7.1.2 - Determinao do teor de betume em CAP
7.1.3 - Determinao da Consistncia de materiais asflticos
7.1.4 - Determinao da Ductilidade de materiais asflticos
7.1.5 - Ensaio da mancha (ensaio Oliensis ou Spot Test)
7.1.6 - Determinao do Ponto de Fulgor
7.2 - Ensaios em Asfaltos Diludos e Emulses
7.2.1 - Determinao da destilao de asfaltos diludos
7.2.2 - Ensaio de Flutuao
137
138
138
138
143
144
145
145
146
146
Captulo 8 - REVESTIMENTOS
147
8.1 - Principais funes
8.2 - Terminologia dos revestimentos
8.2.1 - Concreto de cimento
8.2.2 - Macadame cimentado
8.2.3 - Paraleleppedos rejuntados com cimento
8.2.4 - Em solo estabilizado
8.2.5 - Revestimento de alvenaria polidrica / paraleleppedos
8.2.6 - Blocos de concreto pr-moldados e articulados
8.2.7 - Macadame betuminoso
8.2.8 - Tratamentos superficiais
8.2.9 - Concreto asfltico (CBUQ)
8.2.10 - Pr-misturado quente (PMQ)
8.2.11 - Areia asfalto quente
8.2.12 - Camada porosa de atrito (CPA)
8.2.13 - Stone matrix asphalt (SMA)
8.2.14 - Pr-misturado a frio
8.2.15 - Areia asfalto a frio
8.2.16 - Lama asfltica
8.2.17 - Misturas graduadas
8.2.18 - Areia asfalto no leito
8.3 - Revestimentos flexveis por penetrao
8.3.1 - Tratamento superficial simples
8.3.2 - Tratamento superficial duplo
8.3.3 - Tratamento superficial triplo
147
149
149
149
149
149
149
149
150
150
150
150
150
151
151
151
151
152
152
152
152
152
157
158
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transportes e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
8.3.4 - Macadame betuminoso por penetrao direta.
8.4 - Revestimentos flexveis por mistura
8.4.1 - Concreto Asfltico (Concreto Betuminoso Usinado a
Quente-CBUQ)
8.4.2 - Pr-Misturado a Quente (PMQ)
8.4.3 - Argamassas asflticas
8.4.4 - Pr-Misturado a Frio (PMF)
8.4.5 - Areia-asfalto a frio
8.4.6 - Lama-asfltica (no revestimento)
8.4.7 - Misturas graduadas
8.4.8 - Areia-asfalto no leito
8.5 - Revestimentos flexveis em solo estabilizado (revestimento
primrio)
8.6 - Revestimentos de alvenaria polidrica / paraleleppedos
158
160
161
161
161
162
162
165
165
165
166
166
Captulo 9 - CONCRETO ASFLTICO
169
9.1 - Equipamentos utilizados
9.2 - Distribuio e compresso da mistura
9.3 - Controles
9.4 - Propriedades bsicas
9.5 - Constituio da mistura
9.6- Parmetros de interesse
9.7 - Dosagem do concreto asfltico
9.8 - O Ensaio Marshall para misturas asflticas
9.9 - Controle do teor timo de ligante e granulometria
170
172
173
174
174
175
176
183
184
Captulo 10 - A DEFORMABILIDADE EM MISTURAS ASFLTICAS
186
10.1 Introduo
10.2 - O comportamento dinmico de misturas asflticas
10.3 - O Ensaio de trao diametral indireta
10.4 - O Conceito de Mdulo de Resilincia de Misturas Asflticas
10.5 - O Conceito de Mdulo de Resilincia de Solos
10.6 - O equipamento para determinao do Mdulo de Resilincia
de Misturas Asflticas
10.7 - O equipamento para determinao do MR de Solos
10.8 - Referncias Bibliogrficas
186
187
188
190
193
166
194
199
203
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Captulo 1
O PAVIMENTO RODOVIRIO
Em obras de engenharia civil como construes de rodovias, aeroportos, ruas, etc, a
superestrutura constituda por um sistema de camadas de espessuras finitas,
assente sobre o terreno de fundao, considerado como semi-espao infinito e
designado como sub-leito (SENO, 1997).
Segundo SANTANA (1993), Pavimento uma estrutura construda sobre a superfcie
obtida pelos servios de terraplanagem com a funo principal de fornecer ao usurio
segurana e conforto, que devem ser conseguidos sob o ponto de vista da engenharia,
isto , com a mxima qualidade e o mnimo custo.
Para SOUZA (1980), Pavimento uma estrutura construda aps a terraplanagem por
meio de camadas de vrios materiais de diferentes caractersticas de resistncia e
deformabilidade. Esta estrutura assim constituda apresenta um elevado grau de
complexidade no que se refere ao clculo das tenses e deformaes.
1.1 - Funes do pavimento
Segundo a NBR-7207/82 da ABNT tem-se a seguinte definio:
"O pavimento uma estrutura construda aps terraplenagem e destinada, econmica
e simultaneamente, em seu conjunto, a:
a) Resistir e distribuir ao subleito os esforos verticais produzidos pelo trfego;
b) Melhorar as condies de rolamento quanto comodidade e segurana;
c) Resistir aos esforos horizontais que nela atuam, tornando mais durvel a
superfcie de rolamento."
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
1.2 - Aspectos funcionais do pavimento
Quando o pavimento solicitado por uma carga de veculo Q, que se desloca com
uma velocidade V, recebe uma tenso vertical o (de compresso) e uma tenso
horizontal o (de cisalhamento), conforme figura 01 (SANTANA, 1993).
A variadas camadas componentes da estrutura do pavimento tambm tero a funo
de diluir a tenso vertical aplicada na superfcie, de tal forma que o sub -leito receba
uma parcela bem menor desta tenso superficial (p1).
A tenso horizontal aplicada na superfcie exige que esta tenha uma coeso mnima.
Figura 01 - Cargas no Pavimento (SANTANA, 1993)
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
1.3 - Classificao dos pavimentos
Essencialmente pode-se classificar a estrutura de um pavimento em:
1.3.1- Pavimentos flexveis:
So aqueles constitudos por camadas que no trabalham trao. Normalmente so
constitudos de revestimento betuminoso delgado sobre camadas puramente
granulares. A capacidade de suporte funo das caractersticas de distribuio de
cargas por um sistema de camadas superpostas, onde as de melhor qualidade
encontram-se mais prximas da carga aplicada. Um exemplo de uma seo tpica
pode ser visto na figura 02, a seguir.
No dimensionamento tradicional so consideradas as caractersticas geotcnicas dos
materiais a serem usados, e a definio da espessura das vrias camadas depende
do valor da CBR e do mnimo de solicitao de um eixo padro(8,2 ton.).
Figura 02 - Seo Transversal Tpica de Pavimento Flexvel
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
1.3.2 - Pavimentos rgidos:
So constitudos por camadas que trabalham essencialmente trao. Seu
dimensionamento baseado nas propriedades resistentes de placas de concreto de
cimento Portland, as quais so apoiadas em uma camada de transio, a sub-base.
A determinao da espessura conseguida a partir da resistncia trao do
concreto e so feitas consideraes em relao fadiga, coeficiente de reao do
sub-leito e cargas aplicadas. So pouco deformveis com uma vida til maior. O
dimensionamento do pavimento flexvel comandado pela resistncia do sub-leito e
do pavimento rgido pela resistncia do prprio pavimento. Seo caracterstica pode
ser visto na figura 03.
Figura 03 - Seo Transversal Tpica de Pavimento Rgido
1.3.3 - Pavimentos semi-rgidos (semi-flexveis):
Situao intermediria entre os pavimentos rgidos e flexveis. o caso das misturas
solo-cimento, solo -cal, solo-betume dentre outras, que apresentam razovel
resistncia trao.
Para (MEDINA,
pavimentos:
1997),
consideram-se
tradicionalmente
duas
categorias
de
- Pavimento flexvel: constitudo por um revestimento betuminoso sobre uma base
granular ou de solo estabilizado granulometricamente.
- Pavimento rgido: construdo por placas de concreto (raramente armado) assentes
sobre o solo de fundao ou Sub-base intermediria.
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Quando se tem uma base cimentada sob o revestimento betuminoso, o pavimento
dito semi-rgido. O pavimento reforado de concreto asfltico sobre placa de concreto
considerado como pavimento composto.
Segundo MEDINA (1997), perde-se o sentido a definio das camadas quanto s suas
funes especficas e distintas umas das outras, medida que se passou a analisar o
pavimento como um sistema de camadas e a calcular as tenses e deformaes.
A partir da comeou-se a considerar a absoro dos esforos de trao pelas
camadas de rigidez como o concreto asfltico.
Ainda, segundo MEDINA (1997), A mecnica dos pavimentos uma disciplina da
engenharia civil que estuda os pavimentos como sistemas em camadas e sujeitos a
cargas dos veculos. Faz-se o clculo de tenses, deformaes e deslocamentos,
conhecidos os parmetros de deformabilidade, geralmente com a utilizao de
programas de computao. Verifica-se o nmero de aplicaes de carga que leva o
revestimento asfltico ou a camada cimentada ruptura por fadiga (figura 04)
Figura 04 Tenses no pavimento (MEDINA, 1997)
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
1.4 - Nomenclatura da seo transversal
A nomenclatura descrita a seguir refere-se s camadas a aos componentes principais
que aparecem numa seo tpica de pavimentos flexveis e rgidos.
1.4.1 - Sub-leito:
o terreno de fundao onde ser apoiado todo o pavimento. Deve ser considerado e
estudado at as profundidades em que atuam significativamente as cargas impostas
pelo trfego (de 60 a 1,50 m de profundidade).
Se o CBR do sub-leito for <2% , ele deve ser substitudo por um material melhor,
(2%CBR20) at pelo menos 1 ,00 metro.
Se o CBR do material do sub -leito for 20% , pode ser usado como sub -base.
1.4.2 - Leito:
a superfcie do sub-leito (em rea) obtida pela terraplanagem ou obra de arte e
conformada ao greide e seo transversal.
1.4.3 - Regulariz ao do sub-leito (nivelamento):
a operao destinada a conformar o leito, transversal e longitudinalmente. Poder
ou no existir, dependendo das condies do leito. Compreende cortes ou aterros at
20 cm de espessura.
1.4.4 - Reforo do sub-leito:
a camada de espessura constante transversalmente e varivel longitudinalmente, de
acordo com o dimensionamento do pavimento, fazendo parte integrante deste e que,
por circunstncias tcnico econmicas, ser executada sobre o sub-leito regularizado.
Serve para melhorar as qualidades do sub-leito e regularizar a espessura da sub-base.
1.4.5 - Sub-base:
Camada complementar base. Deve ser usada quando no for aconselhvel executar
a base diretamente sobre o leito regularizado ou sobre o reforo, por circunstncias
tcnico-econmicas. Pode ser usado para regularizar a espessura da base.
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
1.4.6 - Base:
Camada destinada a resistir e distribuir ao sub -leito, os esforos oriundos do trfego e
sobre a qual se construir o revestimento.
1.4.7 - Revestimento:
camada, tanto quanto possvel impermevel, que recebe diretamente a ao do
rolamento dos veculos e destinada econmica e simultaneamente:
- a melhorar as condies do rolamento quanto comodidade e segurana;
- a resistir aos esforos horizontais que nele atuam, tornando mais durvel a
superfcie de rolamento.
Deve ser resistente ao desgaste. Tambm chamada de capa ou camada de desgaste.
1.4.8 - Acostamento:
Parte da plataforma contgua pista de rolamentos, destinado ao estacionamento de
veculos, ao transito em caso de emergncia e ao suporte lateral do pavimento.
Nos pavimentos rgidos tambm so feitas as operaes de regularizao do sub-leito
e reforo, quando necessrio. A camada de sub-base tem o objetivo de evitar o
bombeamento dos solos do sub-leito. A placa de concreto de cimento tem a funo de
servir ao mesmo tempo como base e revestimento.
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Captulo 2
PROJETO DE PAVIMENTAO
Segundo o DNER (1996) um Projeto de Engenharia tem sua verso final intitulada
Projeto Executivo e visa, alm de permitir a perfeita execuo da obra, possibilitar a
sua visualizao, o acompanhamento de sua elaborao, seu exame e sua aceitao
e o acompanhamento da obra. O processo comporta trs etapas que se caracterizam
pelo crescente grau de preciso: Estudos Preliminares; Anteprojeto e Projeto
Executivo.
Estudos Preliminares: Determinao preliminar, por meio de levantamento expedito
de todas as condicionantes do projeto das linhas a serem mais detalhadamente
estudadas com vistas escolha do traado. Tais estudos devem ser subsidiados pelas
indicaes de planos diretores, reconhecimentos, mapeamentos e outros elementos
existentes.
Anteprojeto - Definio de alternativas, em nvel de preciso que permita a escolha
do(s) traado(s) a ser(em) desenvolvido(s) e a estimativa do custo das obras.
Projeto Executivo - Compreende o detalhamento do Anteprojeto e perfeita
representao da obra a ser executada, devendo definir todos os servios a serem
realizados devidamente vinculados s Especificaes Gerais, Complementares ou
Particulares, quantificados e orados segundo a metodologia estabelecida para a
determinao de custos unitrios e contendo ainda o plano de execuo da obra,
listagem de equipamentos a serem alocados e materiais e mo-de-obra em correlao
com os cronogramas fsicos e financeiros.
Na fase de anteprojeto so desenvolvidos, ordinariamente os Estudos de Trfego,
Estudos Geolgicos, Estudos Topogrficos, Estudos Hidrolgicos e Estudos
Geotcnicos.
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Na fase de projeto so complementados os estudos e desenvolvidos o Projeto
Geomtrico, Projeto de Terraplenagem, Projeto de Drenagem, Projeto de
Pavimentao, Projeto de Obra-de-Arte Especiais, Projeto de Intersees, Projeto de
Obras Complementares (envolvendo, Sinalizao, Cercas e Defensas) e Projeto de
Desapropriao.
Neste captulo ser abordado o Projeto de Pavimentao
2.1 - Estudos geotcnicos
a parte do projeto que analisa o comportamento dos elementos do solo no que se
refere diretamente obra. Os estudos geotcnicos, de um modo gerral podem ser
assim divididos:
Reconhecimento do subleito
Estudos de jazidas
Estudos de Emprstimos
Sondagens para obras de arte
Estudos
Correntes
Estudos Geotcnicos
Estudos
Especiais
Estudo de fundaes
Estudo de taludes
Estudo de macio para tneis
Os estudos geotcnicos para um Projeto de Pavimentao compreendem:
- Reconhecimento do Subleito
- Estudos de Ocorrncias de Materiais para Pavimentao
2.1.1- Reconhecimento do subleito
Para o dimensionamento de um pavimento rodovirio indispensvel o conhecimento
do solo que servir para a futura estrutura a ser construda. Este solo de fundao,
chamado subleito, requer ateno especial, atravs de estudos geotcnicos, que
possibilitam o seu reconhecimento, identificao e quantificao das suas
caractersticas fsicas e mecnicas assim como a obteno dos parmetros
geotcnicos necessrios ao dimensionamento da estrutura.
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
A espessura final do pavimento, assim como os tipos de materiais a serem
empregados so funo das condies do subleito. Quanto pior forem as condies do
subleito, maior ser a espessura do pavimento, podendo muitas vezes, ser requerida a
substituio parcial do mesmo, com troca por outro de melhores condies.
O estudo do reconhecimento do solo do subleito, normalmente feito em estradas com
terraplanagem concluda embora haja tambm, uma tendncia no sentido de que todos
os estudos tratados sejam feitos previamente terraplanagem. Desta forma o projeto
da rodovia englobaria os projetos de terraplanagem e pavimentao.
a) Objetivos
O estudo do subleito de estradas de rodagem com terraplenagem concluda tem como
objetivo o reconhecimento dos solos visando caracterizao das diversas camadas e
o posterior traado dos perfis dos solos para efeito do projeto de pavimento (DNER,
1996).
Nestes estudos so fixadas as diretrizes que devem reger os trabalhos de coleta de
amostras do subleito, de modo que se disponha de elementos necessrios para o
projeto de pavimentao.
b) Seqncia dos servios
O reconhecimento do subleito normalmente feito em trs fases:
Inspeo expedita no campo:
Nesta fase so feitas sondagens superficiais no eixo e nos bordos da plataforma da
rodovia para identificao dos diversos horizontes de solos (camadas) por intermdio
de uma inspeo expedida do campo.
Coleta de amostras / ensaios:
Estas amostras visam fornecer material para a realizao dos ensaios geotcnicos e
posterior traado dos perfis de solos. So definidos a partir dos elementos fornecidos
pela inspeo expedia do campo.
Traado do perfil longitudinal:
De posse dos resultados dos ensaios feitos em cada camada ou horizonte de cada
furo, traa-se o perfil longitudinal de solos constituintes do subleito estudado.
10
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
c) Inspeo expedita de campo
Este item foi extrado de DNER (1996)
Para a identificao das diversas camadas de solo, pela inspeo expedita no campo,
so feitas sondagens no eixo e nos bordos da estrada, devendo estas, de preferncia,
serem executadas a 3,50 m do eixo. Os furos de sondagem so realizados com trado
ou p e picareta.
O espaamento mximo, entre dois furos de sondagem no sentido longitudinal, de
100 m a 200 m, tanto em corte como em aterro, devendo reduzir-se, no caso de grande
variao de tipos de solos. Nos pontos de passagem de corte para aterro devem ser
realizados tambm furos de sondagem.
A profundidade dos furos de sondagem ser, de modo geral, de 0,60 m a 1,00 m
abaixo do greide projetado para a regularizao do subleito. Furos adicionais de
sondagem com profundidade de at 1,50 m abaixo do greide projetado para
regularizao podero ser realizados prximos ao p de talude de cortes, para
verificao do nvel do lenol de gua (ver Projeto de Drenagem) e da profundidade de
camadas rochosas.
Em cada furo de sondagem, devem ser anotadas as profundidades inicial e final de
cada camada, a presena e a cota do lenol de gua, material com excesso de
umidade, ocorrncia de mica e matria orgnica.
Os furos de sondagem devem ser numerados, identificados - com o nmero de estaca
do trecho da estrada em questo, seguidos das letras E, C ou D, conforme estejam
situados no bordo esquerdo, eixo ou bordo direito. Deve ser anotado o tipo de seo:
corte, aterro, seo mista ou raspagem, com as iniciais C, A, SM, R.
Os materiais para efeito de sua inspeo expedita no campo, sero classificados de
acordo com a textura, nos seguintes grupos:
- Bloco de rocha: pedao isolado de rocha que tenha dimetro superior a 1 m;
- Mataco: pedao de rocha que tenha dimetro mdio entre 25cm e 1m;
- Pedra de mo: pedao de rocha que tenha dimetro mdio entre 76 mm e 25 cm;
- Pedregulho: frao de solo entre as peneiras de 76 mm (3") e de 2,0 mm (n 10);
- Areia:
. Grossa: frao de solo entre as peneiras de 2,0 mm (n 10) e 0,42 mm (n 40);
. Fina: frao de solo entre as peneiras de 0,42 mm (n40) e 0,075 mm (n 200);
- Silte e Argila: frao de solo constituda por gros de dimetro abaixo de 0,075mm.
So usadas, na descrio das camadas de solos, combinaes dos termos citados
como, por exemplo, pedregulho areno-siltoso, areia fina-argilosa, etc.
Devero tambm ser anotadas as presenas de mica e matria orgnica.
11
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
As anotaes referentes a Bloco de Rocha, Mataco e Pedra de Mo, complementaro
a descrio das camadas, quando for o caso.
Para a identificao dos solos pela inspeo expedita, so usados testes expeditos,
como: teste visual, do tato, do corte, da dilatncia, da resistncia seca, etc. A cor do
solo elemento importante na classificao de campo. As designaes "siltoso" e
"argiloso" so dadas em funo do I.P., menor ou maior que 10, do material passando
na peneira de 0,42 mm (n 40). O solo tomar o nome da frao dominante, para os
casos em que a frao passando na peneira n 200 for menor ou igual a 35%; quando
esta frao for maior que 35%, os solos so considerados siltes ou argilas, conforme
seu I.P. seja menor ou maior que 10.
Todos os elementos referidos, obtidos durante a inspeo expedita, so anotados no
"Boletim de Sondagem" (Figura 1)
d) Coleta de amostras e execuo dos ensaios
Este item foi extrado de DNER (1996)
A medida que forem sendo executadas as sondagens e procedida a inspeo expedita
no campo, so coletadas amostras para a realizao dos seguintes ensaios de
laboratrio:
- Granulometria por peneiramento com lavagem do material na peneira de 2,0 mm (n
10) e de 0,075 mm (n 200);
- Limite de Liquidez;
- Limite de Plasticidade;
- Limite de Contrao em casos especiais de materiais do subleito;
- Compactao;
- Massa Especfica Aparente "in situ";
- ndice Suporte Califrnia (ISC);
- Expansibilidade no caso de solos laterticos.
A coleta das amostras deve ser feita em todas as camadas que aparecem numa seo
transversal, de preferncia onde a inspeo expedita indicou maiores espessuras de
camadas. Para os ensaios de caracterizao (granulometria, LL e LP) coletada, de
cada camada, uma amostra representativa para cada 100 m ou 200 m de extenso
longitudinal, podendo o espaamento ser reduzido no caso de grande variao de tipos
de solos. Tais amostras devem ser acondicionadas convenientemente e providas de
etiquetas onde constem a estaca, o nmero de furo de sondagem, e a profundidade,
tomando, depois, um nmero de registro em laboratrio.
Para os ensaios de ndice Suporte Califrnia (I.S.C.) retira-se uma amostra
representativa de cada camada, para cada 200 m de extenso longitudinal, podendo
este nmero ser aumentado em funo da variabilidade dos solos.
12
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
As determinaes de massa especfica aparente seca "in situ" do subleito e retiradas
de amostras para o ensaio de compactao, quando julgadas necessrias so feitas
com o espaamento dos furos no sentido longitudinal, no eixo e bordos, na seguinte
ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, etc. As determinaes nos bordos devem
ser em pontos localizados a 3,50 m do eixo. Mediante comparao entre os valores
obtidos "in situ" e os laboratrios, para cada camada em causa, determina -se o grau de
compactao.
Para materiais de subleito, o DNER utiliza o ensaio de compactao AASHTO. normal,
exigindo um grau mnimo de compactao de 100% em relao a este ensaio, sendo o
I.S.C. determinado em corpos-de-prova moldados nas condies de umidade tima e
densidade mxima correspondentes a este ensaio.
Em geral, o I.S.C. correspondente a estas condies avaliado mediante a moldagem
de 3 corpos-de-prova com umidades prximas a umidade tima.
Para fins de estudos estatsticos dos resultados dos ensaios realizados nas amostras
coletadas no subleito, as mesmas devem ser agrupadas em trechos com extenso de
20 km ou menos, desde que julgados homogneos dos pontos de vista geolgico e
pedolgico.
e)Traado do perfil longitudinal / apresentao dos resultados
Segundo o DNER (1996) os resultados dos ensaios de laboratrios devem constar de
um "Quadro - Resumo de Resultados de Ensaios" (Figura 2), notando-se que, para dar
generalidade ao modelo, figuram ensaios que podem no ser feitos durante o
reconhecimento do subleito.
Com base no "Quadro-Resumo", feita separadamente, para cada grupo de solos da
classificao TRB, uma anlise estatstica dos seguintes valores:
Percentagem, em peso, passando nas peneiras utilizadas no ensaio de
granulometria. Geralmente so analisadas as percentagens, passando nas
peneiras n 10, n 40 e n 200.
LL
IP
IG
ISC
Expanso (ISC)
O DNER tem utilizado o seguinte plano de amostragem para a anlise estatstica dos
resultados dos ensaios:
13
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Chamando X1, X2, X3 ...., X n, os valores individuais de qualquer uma das
caractersticas citadas, tem-se:
Xmax = X +
1,29
+ 0,68
N
X=
X min = X
1,29
0,68
N
X
N
(X - X)
N 1
onde:
N
= Nmero de amostras
X
= valor individual
X
= mdia aritmtica
= desvio padro
Xmin. = valor mnimo provvel, estatisticamente
Xmx. = valor mximo provvel, estatisticamente
N 9 (nmero de determinaes feitas)
Outros critrios de anlise estatstica para a determinao de valores mximos e
mnimos provveis podero ser utilizados desde que devidamente justificados.
A anlise estatstica dos diversos grupos de solos encontrados no subleito pode ser
apresentada, conforme o Quadro da Figura 3.
Um perfil longitudinal com indicao dos grupos de solos pode ser visto na figura 4.
B O L E T I M DE S O N D A G E M
Procedncia:
Data
Sondador:
Interessado:
Finalidade:
Estaca
Furo n
Posio
Profundidade
total
Figura 1 Boletim de Sondagem (DNER, 1996)
14
Descrio
N
Visto:
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
SUBTRECHO:
Figura 2 Quadro Resumo dos Resultados dos Ensaios
15
Q U A D R O -R E S U M O D O S
RESULTADOS DOS ENSAIOS
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
ANLISE DOS SOLOS DO SUBTRECHO n _______
ESTACA _________
A ESTACA __________
Figura 3 Anlise Estatstica dos Resultados (DNER, 1996)
16
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Figura 4 Exemplo de Perfil Longitudinal (DNER, 1996)
17
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
2.1.2 - Estudo das ocorrncias de materiais para pavimentao
Nesta fase so feitos estudos especficos nas Jazidas da regio prxima construo
da rodovia que sero analisadas para possvel emprego na construo das camadas
do pavimento (regularizao do sub-leito, reforo, subbase, base e revestimento ).
Estes estudos so baseados nos dados da Geologia e Pedologia da regio e podem
ser utilizados fotografias areas, mapas geolgicos, alm de pesquisa com os
moradores da regio, reconhecimento de jazidas antigas, depsitos aluvionares s
margens dos rios, etc. Durante os trabalhos feita tambm a localizao das fontes de
abastecimentos de gua.
O termo Jazida denomina todo depsito natural de material capaz de fornecer
matria-prima para as mais diversas obras de engenharia e o termo Ocorrmcia
empregado quando a matria-prima ainda no est sendo explorada
O DNER fixa modo como deve ser procedido o estudo de jazidas. Normalmente so
feitas em duas etapas :
- Prospeco preliminar
- Prospeco definitiva
Os prximos itens fora adaptados do Manual de Pavimentao do DNER (DNER, 1996)
a) Prospeco preliminar
A prospeco feita para se identificar as ocorrncias que apresentam a possibilidade
de seu aproveitamento, tendo em vista a qualidade do material e seu volume
aproximado. A prospeco preliminar, compreende:
- Inspeo expedita no campo;
- Sondagens; e
- Ensaios de laboratrios.
Assim sendo nas ocorrncias de materiais julgados aproveitveis na inspeo de
campo, procede-se de seguinte modo:
Delimita-se, aproximadamente, a rea onde existe a ocorrncia do material;
Faz-se 4 e 5 furos de sondagem na periferia e no interior da rea delimitada,
convenientemente localizados at profundidade necessria, ou compatvel com
os mtodos de extrao a serem adotados;
18
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Coleta-se em cada furo e para cada camada, uma amostra suficiente para o
atendimento dos ensaios desejados. Anota-se as cotas de mudana de camadas,
adotando-se uma denominao expedita que as caracterize. Assim, o material
aparentemente imprestvel, constituinte da camada superficial, ser identificado
com o nome genrico de capa ou expurgo. Os outros materiais prprios para o uso,
sero identificados pela sua denominao corrente do lugar, como: cascalho,
seixos, etc;
Faz-se a amarrao dos furos de sondagem, anotando-se as distncias
aproximadas entre os mesmos e a posio da ocorrncia em relao rodovia em
estudo.
Figura 5 Esquema de Locao de Jazida
Uma ocorrncia ser considerada satisfatria para a prospeco definitiva, quando os
materiais coletados e ensaiados quanto a:
Granulometria por peneiramento com lavagem do material na peneira de 2,0 mm
(n 10) e de 0,075 mm (n 200);
Limite de Liquidez LL.;
Limite de Plasticidade LP;
Equivalente de Areia;
Compactao;
ndice Suporte Califrnia - ISC;
ou pelo menos, parte dos materiais existentes satisfizerem as especificaes vigentes,
ou quando houver a possibilidade de correo, por mistura, com materiais de outras
ocorrncias.
As exigncias para os materiais de reforo do subleito, sub -base e base estabilizada,
so as seguintes:
19
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Para reforo do subleito: caractersticas geotcnicas superiores a do subleito,
demonstrados pelos ensaios de I.S.C. e de caracterizao (Granulometria, LL, LP).
Para sub-base granulometricamente estabilizada: ISC > 20 e ndice do Grupo IG = 0
para qualquer tipo de trfego.
Para base estabilizada granulometricamente:
Limite de Liquidez mximo: 25%
ndice de Plasticidade mximo: 6%
Equivalente de Areia mnimo: 30%
Caso o Limite de Liquidez seja maior que 25% e/ou ndice de Plasticidade, maior que 6,
poder o solo ser usado em base estabilizada, desde que apresente Equivalente de
Areia maior que 30%, satisfaa as condies de ndice Suporte Califrnia e se
enquadre nas faixas granulomtricas citadas adiante. O ndice Suporte Califrnia
dever ser maior ou igual a 60 para qualquer tipo de trfego; a expanso mxima
dever ser 0,5%. Poder ser adotado um ISC at 40, quando economicamente
justificado, em face da carncia de materiais e prevendo-se a complementao da
estrutura do pavimento pedida pelo dimensionamento pela construo de outras
camadas betuminosas.
Quanto granulometria, dever estar enquadrada em uma das faixas das
especificaes:
TIPOS
PENEIRAS
2
1
3/8
N 4
+N 10
N 40
N 200
100
30-65
25-55
15-40
8-20
2-8
100
75-90
40-75
30-60
20-45
15-30
5-15
II
C
D
% em peso passando
100
100
50-85
60-100
35-65
50-85
25-50
40-70
15-30
25-45
5-15
10-25
100
55-100
40-100
20-50
6-20
100
70-100
55-100
30-70
8-25
A prospeco preliminar das pedreiras realizada mediante as indicaes geolgicas,
procurando-se avaliar no local por meio de sondagens e de levantamento expeditos:
- O volume de capa ou de expurgo da pedreira;
- A altura e a largura da frente de explorao de rocha aparentemente s da pedreira.
b) Prospeco definitiva
A prospeco definitiva das ocorrncias de materiais compreende:
- Sondagens e coleta de amostras
- Ensaios de laboratrio
- Avaliao de volume das ocorrncias
20
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Sondagens e coleta de amostras
Uma vez verificada a possibilidade de aproveitamento tcnico-econmico de uma
ocorrncia, com base nos ensaios de laboratrio - realizados nas amostras coletadas
nos furos feitos de acordo com a prospeco preliminar, ser, ento, feito o estudo
definitivo da mesma e sua cubagem. Para isso, lana-se um reticulado com malha de
30 m ou mais de lado, dentro dos limites da ocorrncia selecionada, onde sero feitos
os furos de sondagem.
Ensaios de laboratrio
Em cada furo da malha ou no seu interior, para cada camada de material, ser feito um
Ensaio de Granulometria por peneiramento, de Limite de Liquidez de Limite de
Plasticidade e de Equivalente de Areia (quando for indicado).
No caso de existirem camadas com mais de 1,00 m de espessura, deve-se executar os
ensaios acima citados, para cada metro de profundidade dessa camada. Para
determinao do ndice Suporte Califrnia (ISC) a mesma orientao dever ser
seguida, ensaiando-se materiais de furos mais espaados, se for o caso.
O Ensaio de ndice Suporte Califrnia para ocorrncia de solos e materiais granulares,
feito utilizando os corpos-de-prova obtidos no ensaio de compactao, ou os trs que
mais se aproximem do ponto de massa especfica aparente mxima, de acordo com o
mtodo padronizado do DNER.
Quando solicitado, so realizados tambm ensaio de Determinao de Massa
Especfica Aparente "in situ" do material "in natura".
Avaliao de volume das ocorrncias cubagem
Com a rede de furos lanada (de 30 em 30m) e com a profundidade de cada furo e
cada horizonte, pode-se calcular o volume de cada tipo de material encontrado na
jazida.
As quantidades mnimas de materiais de ocorrncia a serem reconhecidas, para cada
quilmetro de pavimento de estrada, so aproximadamente as seguintes:
Regularizao e reforo do subleito .............. 2 500m3
3
Sub-base ..................................................... 2 000m
3
Base ...........................................................
2 000m
3
Areia ...........................................................
300m
3
Revestimento (Pedreiras) ...........................
500m
21
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
No que se refere s pedreiras, ser obedecido o que recomenda a Norma ABNT
6490/85 (NB-28/68), para "Reconhecimento e Amostragem para Fins de
Caracterizao das Ocorrncias de Rochas".
A coleta de amostras de rochas para serem submetidas aos ensaios correntes de
Abraso Los Angeles, Sanidade e Adesividade realizada atravs de sondagens
rotativas ou ento, quando a ocorrncia assim o permitir, por extrao por meios de
furos com barra-mina e explosivos no paredo rochoso.
Quando for necessrio, os ensaios correntes podero ser complementados pelos
exames de Lmina e de Raio X do material coletado.
A cubagem do material poder ser realizada por auscultao a barra-mina. Quando
necessrio, poder ser providenciado o lanamento de um reticulado com lados de
10m a 20m aproximadamente. Admite-se que seja considerado como rocha, o macio
abaixo da capa de pedreira.
c) Apresentao dos resultados
Os resultados das sondagens e dos ensaios dos materiais das amostras das
ocorrncias de solos e materiais granulares so apresentados atravs dos seguintes
elementos:
Boletim de Sondagem (Figura 1)
Quadro-resumo dos Resultados dos Ensaios (Figura 2)
Anlise Estatstica dos Resultados (Figura 6)
Planta de Situao das Ocorrncia (Figura 7)
Perfis de Sondagem Tpicos (Figura 8)
Geralmente para cada ocorrncia apontada a designao de J-1, J-2 etc...
Os resultados das sondagens e dos ensaios dos materiais rochosos (Pedreiras) so
tambm apresentados de maneira similar s ocorrncias de solos e materiais
granulares, sendo apontado para cada pedreira a designao de P1, P2 etc... (Ver
exemplo anexo).
A apresentao dos resultados complementada mediante um esquema geral de
todas as ocorrncias e das fontes de abastecimento de gua do trecho estudado,
conforme mostrado no exemplo anexo.
22
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Figura 6 - Anlise Estatstica dos Resultados
23
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
SUBTRECHO:
Figura 7 - Planta de Situao das Ocorrncias
24
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
PROPRIETRIO DA REA
A u sncia de materiais deletricos
Figura 8 - Perfis de Sondagem Tpico
25
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
2.2 Dimensionamento do Pavimento
Neste item ser estudado o dimensionamento de pavimentos flexveis. Ser abordado
o mtodo de dimensionamento adotado pelo DNER (DNIT) denominado mtodo do
Engenheiro Murilo Lopes de Souza. Todo o procedimento de dimensionamento aqui
apresentado foi retirado do Manual de Pavimentao do DNER (DNER, 1996), tendo
sido modificado apenas a numerao dos itens para adaptao a estas notas de aula.
Na parte inicial ser apresentado o estudo sobre as cargas rodovirias, obtido das
seguintes referncias: DNER (1996), SOUZA (1980) e NEVES (2002).
2.2.1 As cargas rodovirias
As cargas dos veculos so transmitidas ao pavimento atravs das rodas dos
pneumticos. Para efeito de dimensionamento de pavimentos o trfego de veculos
comerciais (caminhes, nibus) de fundamental importncia. No projeto geomtrico
so considerados tanto o trfego de veculos comerciais quanto o trfego de veculos
de passageiros (carro de passeio), constituindo assim o trfego total.
a) Os eixos
As rodas dos pneumticos (simples ou duplas) so acopladas aos eixos, que podem
ser classificadas da seguinte forma:
Eixos Simples:
Um conjunto de duas ou mais rodas, cujos centros esto em um plano transversal
vertical ou podem ser includos entre dois planos transversais verticais, distantes de
100 cm, que se estendam por toda a largura do veculo. Pode-se ainda definir:
EIXO SIMPLES DE RODAS SIMPLES: com duas rodas, uma em cada extremidade (2
pneus); e
EIXOS SIMPLES DE RODAS DUPLAS: com quatro rodas, sendo duas em cada
extremidade (4 pneus).
Eixos Tandem:
Quando dois ou mais eixos consecutivos, cujos centros esto distantes de 100 cm a
240 cm e ligados a um dispositivo de suspenso que distribui a carga igualmente entre
os eixos (balancin). O conjunto de eixos constitui um eixo tandem. Pode-se ainda
definir:
26
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
EIXO TANDEM DUPLO: com dois eixos, com duas rodas em cada extremidade de
cada eixo (8 pneus). Nos fabricantes nacionais o espaamento mdio de 1,36 m;
EIXO TANDEM TRIPLO: com trs eixos, com duas rodas em cada extremidade de
cada eixo (12 pneus).
(a)
(b)
Figura 9 Exemplos de Eixos Simples (a) e Tandem duplo (b)
b) Os veculos
No Brasil os veculos comerciais devem obedecer a certos limites e as cargas por eixo
no podem ser superiores a determinados valores, segundo a legislao em vigor.
Quem regulamenta estes limites para as cargas mximas legais a chamada lei da
balana. Segundo NEVES (2002) esta lei tem o nmero original 5-105 de 21/09/66 do
CNT (Cdigo Nacional de Trnsito), que depois foi alterada por:
- Decreto N 62.127 de 16/10/68;
- Com modificaes introduzidas pelo Decreto N 98.933 de 07/02/90;
- Lei N 7.408 de 25/01/85, que fixava uma tolerncia mxima de 5%.
Cdigo de Trnsito Brasileiro atravs da Lei No 9.043 de 23/09/97 e da Resoluo No
12 de 6/12/98 do CONTRAN regulamentou as seguintes cargas mximas legais no
Brasil:
Eixo
Dianteiro simples de roda simples
Simples de roda simples
Tandem duplo
Tandem Triplo
Duplo de Tribus
Carga Mxima Legal
6t
10 t
17 t
25,5 t
13,5 t
27
Com Tolerncia de 7,5 %
6.45 t
10,75 t
18,28 t
27,41 t
14,51
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
O dimensionamento do pavimento feito com base na carga mxima legal. Ainda
pose-se encontrar as seguintes limitaes:
- Peso bruto por eixo isolado: 10 ton. quando o apoio no pavimento se d em 4 pneus e
5 ton. quando o apoio no pavimento se d em 2 pneus.
- Peso bruto por conjunto de 2 eixos tandem de 17 ton., quando a distncia entre dois
planos verticais que contenham os centros das rodas estiver compreendida entre
1,20m e 1,40m.
- Peso bruto por conjunto de 2 eixos no em tandem de 15 ton., quando a distncia
entre dois planos verticais que contenham os centros das rodas estiver compreendida
entre 1,20m e 1,40m.
- Peso bruto total por veculo ou combinao de veculo de 40 ton. Nenhuma
combinao poder ter mais de 2 unidades.
Se a distncia entre dois planos paralelos contenham os centros das rodas de dois
eixos adjacentes for inferior a 1,20m, a carga transmitida ao pavimento por esses dois
eixos em conjunto no poder ser superior a 10 ton. Se a distncia for superior a
2,40m, cada eixo ser considerado como se fosse isolado e poder transmitir ao
pavimento 10 ton de carga.
Para o DNER, os veculos podem ser classificados em veculos leves e veculos de
carga ou comerciais. Segundo NEVES (2002) os veculos so assim denominados:
Veculos leves:
CARRO DE PASSEIO, automveis e utilitrios leves (Kombi, Pick-up), todos com dois
eixos e apenas rodas simples com dois pneumticos por eixo (total de 4 pneus).
Dividem-se em duas subclasses: Automveis e Utilitrios (furges, Kombi e Pick-up).
CAMINHO LEVE (2C-Leve): inclui caminhonetes e caminhes leves com dois eixos,
sendo o dianteiro de rodas simples e o traseiro de rodas duplas, 6 pneus, (tipo 608, F
4000, etc.), alm de veculos de camping leves;
Veculos de carga ou comerciais:
NIBUS, para transporte de passageiros, compreendendo:
- nibus Urbano e nibus de Viagem (similar ao Caminho 2C), com dois eixos: o
dianteiro de rodas simples e o traseiro de rodas duplas (6 pneus);
- Tribus: nibus com trs eixos (similar ao Caminho 3C), com eixo dianteiro de rodas
simples e traseiro especial, compreendendo conjunto de um eixo de rodas duplas e
outro de rodas simples (8 pneus).
28
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
CAMINHO DE DOIS EIXOS, EM UMA S UNIDADE (2C-Pesado): esta categoria
inclui os caminhes basculantes, de carroceria, ba e tanque, veculos de camping e
de recreao, veculos moradia, etc, tendo dois eixos com rodas simples no dianteiro e
rodas duplas na traseira (6 pneus);
CAMINHO DE TRS EIXOS, EM UMA S UNIDADE (3C): todos os veculos que,
em um mesmo chassi, tenham trs eixos. Esta categoria inclui caminhes betoneira,
caminhes basculantes pesados, caminhes de carroceria e bas longos, etc, tendo
trs eixos: dianteiro de rodas simples e traseiros (tandem duplo ou no) de rodas
duplas (10 pneus);
CAMINHO DE QUATRO EIXOS, EM UMA S UNIDADE (4C): todos os veculos que,
em um mesmo chassi, tenham quatro eixos (geralmente basculantes de minrios): eixo
dianteiro de rodas simples e traseiro (tandem) de rodas duplas (14 pneus). Raro.
Caminhes com semi-reboques (carretas):
CAMINHO COM SEMI-REBOQUE COM TRS EIXOS (2S1): veculos com trs
eixos, formados por duas unidades, sendo que uma das quais um cavalo motor (com
dois eixos) e o reboque com eixo (10 pneus).
CAMINHO COM SEMI-REBOQUE, COM QUATRO EIXOS (2S2): veculos com
quatro eixos, consistindo de duas unidades, uma das quais um cavalo motor (com
dois eixos) e o reboque com 2 eixos (tandem duplo), com 14 pneus;
CAMINHO COM SEMI-REBOQUE, COM CINCO EIXOS (2S3): veculos com cinco
eixos, constitudos por duas unidades, uma das quais um cavalo motor (com dois
eixos), e o reboque com 3 eixos (tandem triplo), com 18 pneus;
CAMINHO COM SEMI-REBOQUE, COM CINCO EIXOS (3S2): veculos com cinco
eixos, constitudos por duas unidades, uma das quais um cavalo motor (com trs
eixos, sendo o traseiro duplo), e o reboque com 2 eixos (tandem duplo), com 18 pneus;
CAMINHO COM SEMI-REBOQUE, COM SEIS EIXOS (3S3): veculos com seis
eixos, constitudos de duas unidades, uma das quais um cavalo motor (com trs
eixos, sendo o traseiro tandem duplo), e o reboque com 3 eixos (tandem triplo), com 22
pneus;
29
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Caminhes com reboques (Romeu e Julieta ou TREMINHO):
CAMINHO TRACIONANDO UNIDADES MLTIPLAS, COM CINCO EIXOS OU
MENOS (2C2/2C3/3C2): veculos com cinco eixos ou menos, constitudos por duas
unidades, uma das quais a unidade motora, com vrias configuraes;
CAMINHO TRACIONANDO UNIDADES MLTIPLAS, COM SEIS EIXOS (3C3):
veculos de seis eixos, constitudos por duas unidades, uma das quais a motora, em
vrias configuraes;
CAMINHO TRACIONANDO UNIDADES MLTIPLAS, COM SETE EIXOS OU MAIS
(3C4): veculos com sete ou mais eixos, constitudos por duas unidades ou mais, uma
das quais a motora;
Caminhes especiais:
BITREM (3S2S2): unidade tratora e 2 semi-reboques, com 4 conjuntos de eixos (7
eixos individuais);
TRITREM (3S2S2S2): unidade tratora e 3 semi-reboques, com 5 conjuntos de eixos (9
eixos individuais);
RODO-TREM (3S2C4): unidade tratora e 1 semi-reboque, e um reboque, com total de
5 conjuntos de eixos (9 eixos individuais).
CAMINHES COM SEMI-REBOQUE DE VRIOS EIXOS - para grandes cargas;
SEMI-REBOQUE 3 S 1 - Raro.
Outros: MOTOCICLETAS, TRICICLOS, BICICLETAS, CARROAS, ETC.
30
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Figura 10 Tipos de Veculos e Carga Mxima Legal (NEVES, 2002)
31
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
c) rea de contato entre pneumtico e pavimento
Quando os pneus so novos a rea de contado elptica, tornando-se velhos a rea
toma o formato retangular. Pode ser expressa da seguinte forma:
A= P
K.p
onde A rea de contato
P Carga atuando sobre pneumtico
p Presso de enchimento do pneumtico
k Fator que leva em considerao a rigidez do pneu (1 a 1,3)
d) - O trfego rodovirio
No estudo do trfego rodovirio so comuns as seguintes definies:
Volume de trfego: Nmero de veculos que passa em um ponto da rodovia, em
determinado intervalo de tempo: hora, dia, ms, ano.
Volume mdio dirio (Vm ou VMD): Nmero de veculos que circulam em uma estrada
durante um ano, dividido pelo nmero de dias do ano
Volume dirio de trfego
Capacidade de trfego de uma faixa : Nmero mximo de veculos de passageiros que
podem passar por hora na faixa de trfego.
Para o dimensionamento do pavimento os dois primeiro so mais importantes.
e) Crescimento do trfego
O projeto de um pavimento feito para um perodo de tempo, denominado perodo P,
expresso em anos. No incio do perodo P admite -se um volume inicial de veculos
denominado Vo.
Durante o decorrer do perodo de utilizao da rodovia o volume de veculos tender a
aumentar, aparecendo da as denominaes de trfego Atual, trfego Desviado e
trfego Gerado. No final do perodo P o volume final de veculos chamado de
trfego final, designado pelo termo Vt.
32
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
O crescimento do trfego durante o perodo de utilizao da rodovia poder ser
previsto atravs projees matemticas, que so baseadas no volume de veculo
inicial, perodo de projeto, taxa de crescimento anual, dentre outros. As duas formas de
crescimento do trfego mais utilizadas so as seguintes:
Crescimento em progresso aritmtica ou crescimento linear
Vt = 365 x P x Vm
Vm = Vo ( 2 + P.t) K
2
onde
Vt Volume total de trfego para um perodo P
Vm Volume mdio dirio
Vo Volume mdio dirio no ano anterior ao perodo considerado
t Taxa de crescimento anual
k Fator que leva em considerao o trfego gerado e desviado
Trfego Gerado: o trfego que surge pelo estmulo da pavimentao, restaurao ou
duplicao da Rodovia. Normalmente gerado por empreendimentos novos
(Indstrias, Mineraes, etc) atrados pelas boas condies de transporte.
Trfego Desviado: o trfego atrado de outras rodovias existentes, em funo da
pavimentao, restaurao ou duplicao da Rodovia.
Crescimento em progresso geomtrica ou crescimento exponencial
Vt = 365 x Vo x (1 + t)P - 1 K
t
f) O conceito de eixo padro rodovirio
Como em uma rodovia trafegam vrios tipos de veculos com variadas cargas em cada
eixo foi necessrio introduzir o conceito de Eixo Padro Rodovirio. Este eixo um eixo
simples de rodas duplas com as seguintes caractersticas:
Carga por Eixo (P): 18 Kips = 18.000 lb = 8.165 Kgf = 8,2 tf = 80 KN
Carga por roda (P/4): 4,5 Kips = 4.500 lb = 2.041 Kgf = 2,04 tf = 20 KN
Presso de Enchimento dos Pneus (p): 80 lb/Pol2 = 5,6 Kgf/cm2
Presso de Contato Pneu-Pavimento (q): 5,6 Kgf/cm2
Raio da rea de Contato Pneu-Pavimento (r): 10,8 cm
Afastamento entre Pneus por Roda (s): 32,4 cm
33
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Figura 11 Eixo Padro Rodovirio
g) Estudo do trfego
Para efeito de dimensionamento de pavimentos, existem dois parmetros de grande
interesse:
Nmero de eixos que solicitam o pavimento durante o perodo de projeto n
n = Vt x FE
Onde:
FE Fator de Eixo: o nmero que multiplicado pela quantidade de veculos d o
nmero de eixos. calculado por amostragem representativa do trafego em
questo, ou seja:
FE = namost
Vtamost
Nmero N
Representa o nmero de repeties de carga equivalente a um eixo de 8,2 ton tomado
como padro (Eixo Padro Rodovirio). Este o parmetro de maior importncia na
maioria dos mtodos e processos de dimensionamento de pavimentos. definido da
seguinte maneira:
N = n x FC
Sendo FC (Fator de carga) o nmero que multiplicado pelo nmero de eixos d o
nmero equivalente de eixos padro. conseguido atravs de grficos especficos e
funo da valor da carga de eixo (simples, tandem duplo, tandem triplo). A Figura 12,
d os fatores de equivalncia de operao entre eixos simples e "tandem", com
diferentes cargas e o eixo simples padro com carga de 8,2t (18.000 lbs).
O valor a ser adotado em projeto dado pela seguinte expresso:
34
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
FC = Pj x FCj
100
Onde:
Pj Porcentagem com que incidem cada categoria de veculos j
FCj Fator de carga para cada categoria de veculo j
Concluso
n = Vt x FE (1)
N = n x FC (2)
(1) em (2)
N = Vt x FE x FC
N = 365 x P x Vm x FE x FC
Obs.: (FE x FC Tambm chamado de FV)
Figura 12 Fatores de equivalncia de Operaes
35
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
h) - Exemplos numricos
1) Calcular o nmero N a ser utilizado no dimensionamento do pavimento de uma
rodovia que ter um volume mdio dirio de 2500 veculos para um perodo de projeto
de 10 anos. Uma amostragem representativa do trfego para esta rodovia contou com
300 veculos comerciais, distribudos da seguinte forma:
200 veculos com 2 eixos; 80 veculos com 3 eixos e 20 veculos com 4 eixos. As
porcentagens com que incidem eixos simples e tambm por diferentes categorias de
peso, so dados no quadro abaixo.
Eixos
Simples
(t)
2
4
6
10
Eixos
Tandem
(t)
10
16
Total
% de ocorrncias na
amostragem
(Pi)
41
28
14
14
Frequncia
295
202
101
101
Fator de
equivalncia
de carga (FCj)
0,003
0,04
0,30
3,00
Fator de
Carga
(FC)
0,0012
0,0112
0,0420
0,4200
2
1
100
14
7
720 (n)
0,6
6,0
-
0,0120
0,0600
0,5464
Soluo:
a) Clculo do nmero total de eixos da amostragem (n)
n = 200 x 2 + 80 x 3 + 20 x 4 = 720
b) Clculo de FE
n amost = Vt amost x FE
FE = 720 / 300 ?
FE = 2,4
c) Clculo de FC
FC = 0,5464 (coluna 5)
d) Clculo do N
N = 365 x P x Vm x FE x FC
N = 365 x 10 x 2500 x 2,4 x 0,5464
N = 1,19 x 107
36
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
2) (SOUZA, 1980)
Uma estrada apresenta um volume de trfego, nos dois sentidos, de 2Vo = 4000
veculos por dia com a seguinte distribuio:
Carros de passeio
30%
Caminhes leves
4%
Caminhes mdios
55%
Caminhes pesados
6%
nibus
0%
Reboques e semi-reboques
5%
Considerando um perodo de projeto de 10 anos, Vm = 3000 veculos, e tomando como
base os dados de pesagem apresentados no quadro abaixo, pede-se:
1) Calcular os fatores de veculos (FV) de acordo com os fatores de equiv. do DNER.
2) Determinar o nmero N, considerando o trfego total.
3) Determinar o nmero N, considerando apenas o trfego comercial.
Dados de uma estao de pesagem para veculos pesados:
Caminhes Mdios (FEi = 2,00)
Eixos Simples
(t)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Porcentagem
(P ji )
6
32
18
9
5
3
3
7
9
4
2
1
1
100
Fator de
Equivalncia (FCj )
0,004
0,020
0,050
0,100
0,300
0,500
1,000
2,000
3,500
6,000
10,00
15,00
Obs.: j Carga; i Categoria
37
Equivalncia
(P ji ) (FCj )
0,128
0,360
0,450
5,000
0,900
1,500
7,000
18,00
14,00
12,00
10,00
15,00
84,338
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Caminhes Pesados (FEi = 2,00)
Eixos Simples
(t)
2
3
4
5
6
Eixos Tandem (t)
3
5
6
7
8
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
Porcentagem
(P ji )
3
8
26
13
1
Fator de
Equivalncia (FCj )
0,005
0,020
0,050
0,100
0,300
Equivalncia
(P ji ) (FCj )
0,012
0,120
1,300
1,300
0,300
1
2
2
1
1
1
1
2
1
3
5
7
10
6
3
1
1
1
100
0,005
0,020
0,060
0,100
0,200
1,000
2,000
2,600
4,000
6,000
7,000
10,00
15,00
20,00
30,00
35,00
55,00
70,00
0,005
0,040
0,120
0,100
0,200
1,000
2,000
5,200
4,000
18,00
35,00
70,00
150,0
120,0
90,00
35,00
55,00
70,00
658,697
38
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Reboques e Semi-Reboques (FEi = 3,00)
Eixos Simples
(t)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Eixos Tandem (t)
5
6
7
14
16
17
18
19
20
21
22
Porcentagem
(P ji )
2
11
13
16
4
2
4
7
8
5
5
6
3
1
Fator de
Equivalncia (FCj )
0,004
0,020
0,050
0,100
0,300
0,500
1,000
2,000
3,500
6,000
10,00
15,00
25,00
Equivalncia
(P ji ) (FCj )
0,044
0,260
0,800
0,400
0,600
2,000
7,000
16,00
17,50
30,00
60,00
45,00
25,00
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
100
0,020
0,060
0,100
2,600
6,000
7,000
10,00
15,00
20,00
30,00
35,00
0,040
0,060
0,100
2,600
6,000
14,00
10,00
15,00
20,00
30,00
35,00
337,404
Soluo
Obs.: Consideram-se desprezveis as repeties de eixo devidas as cargas de carros
de passeio e caminhes leves.
1) Clculo do FV
Calcula -se FVi (para cada categoria) da seguinte forma:
- Caminhes Mdios: 100 (FCi) = 84,338 FCi = 0,84338
FVi = (FEi ) x (FCi) = 2 x 0,84338 = 1,68676
- Caminhes Pesados:
100 (FCi) = 658,697 FCi = 6,58697
FVi = (FEi ) x (FCi) = 2 x 6,58697 = 13,17394
- Reboques e SR: 100 (FCi) = 337,404 FCi = 3,37404
FVi = (FEi ) x (FCi) = 3 x 3,37404 = 10,12212
FV = (P j ) x (FVi)
100
FV = 0,55x1,69 + 0,06x13,17 + 0,05x10,12
FV = 2,22
39
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
2) Clculo de N (Trfego total)
N = 365 x P x Vm x FV
N = 365 x 10 x 3000 x 2,22
N = 2,4 x 107
3) Clculo de N (Trfego comercial)
Caminhes leves
Caminhes mdios
Caminhes pesados
Reboques e SR
Soma
Porcentagem do
trfego total
4%
55%
6%
5%
70%
Porcentagem do
trfego comercial
5,7%
78,6%
8,6%
7,1%
100%
Vm = 0,70 x 3000 = 2100 veculos
FV = 0,786x1,69 + 0,086x13,17 + 0,071x10,12 = 3,18
N = 365 x P x Vm x FV
N = 365 x 10 x 2100 x 3,18
N = 2,4 x 107
40
FVi
Desprezvel
1,68676
13,17394
10,12212
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
2.2.2 Dimensionamento de pavimentos flexveis (mtodo do DNIT)
O mtodo tem como base o trabalho "Design of Flexible Pavements Considering Mixed
Loads and Traffic Volume", da autoria de W.J. Turnbull, C.R. Foster e R.G. Ahlvin, do
Corpo de Engenheiros do Exrcito dos E.E.U.U. e concluses obtidas na Pista
Experimental da AASHTO.
Relativamente aos materiais integrantes do pavimento, so adotados coeficientes de
equivalncia estrutural tomando por base os resultados obtidos na Pista Experimental
da AASHTO, com modificaes julgadas oportunas.
O subleito
A Capacidade de Suporte do subleito e dos materiais constituintes dos pavimentos
feita pelo CBR, adotando-se o mtodo de ensaio preconizado pelo DNER, em corposde-prova indeformados ou moldados em laboratrio para as condies de massa
especfica aparente e umidade especificada para o servio.
O subleito e as diferentes camadas do pavimento devem ser compactadas de acordo
com os valores fixados nas "Especificaes Gerais", recomendando-se que, em
nenhum caso, o grau de compactao deve ser inferior a 100%.
Os materiais do subleito devem apresentar uma expanso, medida no ensaio C.B.R.,
menor ou igual a 2% e um C.B.R. 2%.
Classificao dos materiais empregados no pavimento.
a) Materiais para reforo do subleito, os que apresentam:
C.B.R. maior que o do subleito
Expanso 1% (medida com sobrecarga de 10 lb)
b) Materiais para sub -base, os que apresentam:
C.B.R. 20%
I.G. = 0
Expanso 1% (medida com sobrecarga de 10 1bs)
c) Materiais para base, os que apresentam:
C.B.R. 80%
Expanso 0,5% (medida com sobrecarga de 10 1bs)
Limite de liquidez 25%
ndice de plasticidade 6%
41
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Caso o limite de liquidez seja superior a 25% e/ou ndice de plasticidade seja superior a
6; o material pode ser empregado em base (satisfeitas as demais condies), desde
que o equivalente de areia seja superior a 30.
Para um nmero de repeties do eixo -padro, durante o perodo do projeto N 5x106,
podem ser empregados materiais com C.B.R. 60% e as faixas granulomtricas E e F
j citadas.
Os materiais para base granular devem ser enquadrar numa das seguintes faixas
granulomtricas:
PENEIRAS
2
1
3/8
N 4
N 10
N 40
N 200
100
30-65
25-55
15-40
8-20
2-8
Percentagem em peso passando
B
C
100
75-90
40-75
30-60
20-45
15-30
5-15
100
50-85
35-65
25-50
15-30
5-15
100
60-100
50-85
40-70
25-45
10-25
A frao que passa na peneira n 200 deve ser inferior a 2/3 da frao que passa na
peneira n 40. A frao grada deve apresentar um desgaste Los Angeles igual ou
inferior a 50. Pode ser aceito um valor de desgaste maior, desde que haja experincia
no uso do material.
Em casos especiais podem ser especificados outros ensaios representativos da
durabilidade da frao grada.
Para o caso de materiais laterticos, as "Especificaes Gerais" fixaro valores para
expanso, ndices de consistncia, granulometria e durabilidade da frao grada.
O trfego
O pavimento dimensionado em funo do nmero equivalente (N) de operaes de
um eixo tomado como padro, durante o perodo de projeto escolhido.
Fator climtico regional
Para levar em conta as variaes de umidade dos materiais do pavimento durante as
diversas estaes do ano (o que se traduz em variaes de capacidade de suporte dos
materiais) o nmero equivalente de operaes do eixo-padro ou parmetro de trfego,
N, deve ser multiplicado por um coeficiente (F.R.) que, na pista experimental da
AASHTO, variou de 0,2 (ocasio em que prevalecem baixos teores de umidade) a 5,0
(ocasies em que os materiais esto praticamente saturados). possvel que, estes
42
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
coeficientes sejam diferentes, em funo da diferena de sensibilidade variao do
nmero N; possvel, ainda, pensar-se num fator climtico que afetaria a espessura do
pavimento (em vez do nmero N), e que seria, ao mesmo tempo, funo desta
espessura.
O coeficiente final a adotar uma mdia ponderada dos diferentes coeficientes
sazonais, levando-se em conta o espao de tempo em que ocorrem.
Parece mais apropriado a adoo de um coeficiente, quando se toma, para projeto, um
valor C.B.R compreendido entre o que se obtm antes e o que se obtm depois da
embebio, isto , um valor correspondente umidade de equilbrio. Tem-se adotado
um FR = 1,0 face aos resultados de pesquisas desenvolvidas no IPR/DNER.
Coeficiente de equivalncia estrutural
So os seguintes os coeficientes de equivalncia estrutural para os diferentes materiais
constitutivos do pavimento:
Componentes do pavimento
Coeficiente K
Base ou revestimento de concreto betuminoso
Base ou revestimento pr-misturado a quente, de graduao densa
Base ou revestimento pr-misturado a frio, de graduao densa
Base ou revestimento betuminoso por penetrao
Camadas granulares
2,00
1,70
1,40
1,20
1,00
-Solo cimento com resistncia compresso a 7 dias, superior a 45 kg/cm2
1,70
-Idem, com resistncia compresso a 7 dias, entre 45 kg/cm2 e 28 kg/cm2
1,40
-Idem, com resistncia compresso a 7 dias, entre 28 kg/cm2 e 21 kg/cm2
1,20
Nota: Pesquisas futuras podem justificar mudanas nestes coeficientes.
Os coeficientes estruturais so designados, genericamente por:
Revestimento
Base
Sub-base
Reforo
: KR
: KB
: KS
: KRef
43
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Espessura mnima de revestimento
A fixao da espessura mnima a adotar para os revestimentos betuminosos um dos
pontos ainda em aberto na engenharia rodoviria, quer se trate de proteger a camada
de base dos esforos impostos pelo trfego, quer se trate de evitar a ruptura do prprio
revestimento por esforos repetidos de trao na flexo. As espessuras a seguir
recomendadas, visam, especialmente, as bases de comportamento puramente granular
e so definidas pelas observaes efetuadas.
N
N 106
Espessura Mnima de Revestimento Betuminoso
Tratamentos superficiais betuminosos
106 < N 5 x 106
5 x 106 < N 107
Revestimentos betuminosos com 5,0 cm de espessura
107 < N 5 x 107
N > 5 x 107
Concreto betuminoso com 10,0 cm de espessura
Concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura
Concreto betuminoso com 12,5 cm de espessura
No caso de adoo de tratamentos superficiais, as bases granulares devem possuir
alguma coeso, pelo menos aparentes, seja devido capilaridade ou a entrosamento
de partculas.
Dimensionamento do pavimento
O grfico da Figura 13 d a espessura total do pavimento, em funo de N e de I.S. ou
C.B.R.; a espessura fornecida por este grfico em termos de material com K = 1,00,
isto , em termos de base granular. Entrando-se em abcissas, com o valor de N,
procede-se verticalmente at encontrar a reta representativa da capacidade de suporte
(I.S. ou C.B.R.) em causa e, procedendo-se horizontalmente, ento, encontra-se, em
ordenadas, a espessura do pavimento.
Supe-se sempre, que h uma drenagem superficial adequada e que o lenol d'gua
subterrneo foi rebaixado a, pelo menos, 1,50 m em relao ao greide de
regularizao.
No caso de ocorrncia de materiais com C.B.R. ou I.S. inferior a 2, sempre prefervel
a fazer a substituio, na espessura de, pelo menos, 1 m, por material com C.B.R. ou
I.S. superior a 2.
A espessura mnima a adotar para compactao de camadas granulares de 10 cm, a
espessura total mnima para estas camadas, quando utilizadas, de 15 cm e a
espessura mxima para compactao de 20 cm.
A Figura 14 apresenta simbologia utilizada no dimensionamento do pavimento, Hm
designa, de modo geral, a espessura total de pavimento necessrio para proteger um
44
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
material com C.B.R. ou I.S. = CBR ou IS = m, etc., hn designa, de modo geral, a
espessura de camada do pavimento com C.B.R. ou I.S. = n, etc.
Mesmo que o C.B.R. ou I.S. da sub-base seja superior a 20, a espessura do pavimento
necessrio para proteg-la determinada como se esse valor fosse 20 e, por esta
razo, usam-se sempre os smbolos, H20 e h20 para designar as espessuras de
pavimento sobre sub-base e a espessura de sub-base, respectivamente.
Os smbolos B e R designam, respectivamente, as espessuras de base e de
revestimento.
Uma vez determinadas as espessuras Hm, Hn, H20 , pelo grfico da Figura 43, e R pela
tabela apresentada, as espessuras de base (B), sub-base (h20) e reforo do subleito
(hn), so obtidas pela resoluo sucessiva das seguintes inequaes:
R KR + B K B ? H20
R KR + B K B + h20 KS ? Hn
R KR + B K B + h20 KS + hn K Ref ? H m
Acostamento
No se dispe de dados seguros para o dimensionamento dos acostamentos, sendo
que a sua espessura est, de antemo, condicionada da pista de rolamento, podendo
ser feitas redues de espessura, praticamente, apenas na camada de revestimento. A
solicitao de cargas , no entanto, diferente e pode haver uma soluo estrutural
diversa da pista de rolamento.
A adoo nos acostamentos da mesma estrutura da pista de rolamento tem efeitos
benficos no comportamento desta ltima e simplifica os problemas de drenagem;
geralmente, na parte correspondente s camadas de reforo e sub-base, adota -se,
para acostamentos e pista de rolamento, a mesma soluo, procedendo-se de modo
idntico para a parte correspondente camada de base, quando o custo desta camada
no muito elevado. O revestimento dos acostamentos pode ser, sempre, de categoria
inferior ao da pista de rolamento.
Quando a camada de base de custo elevado, pode-se dar uma soluo de menor
custo para os acostamentos.
Algumas sugestes tm sido apontadas para a soluo dos problemas aqui
focalizados, como:
a) adoo, nos acostamentos, na parte correspondente camada de base, de
materiais prprios para sub -base granular de excepcional qualidade, incluindo solos
modificados por cimento, cal, etc.
45
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
b) considerao, para efeito de escolha de revestimento, de um trfego nos
acostamentos da ordem de, at 1% do trfego na pista de rolamento.
Pavimentos por etapas
Muitas vezes, quando no se dispe de dados seguros sobre a composio de trfego,
conveniente a pavimentao por etapas, havendo ainda a vantagem de, ao se
completar o pavimento para o perodo de projeto definitivo, eliminarem-se as pequenas
irregularidades que podem ocorrer nos primeiros anos de vida do pavimento.
A pavimentao por etapas especialmente recomendvel quando, para a primeira
etapa, pode-se adotar um tratamento superficial como revestimento, cuja espessura ,
perfeitamente desprezvel; na segunda etapa a espessura a acrescentar vai ser ditada,
muitas vezes, pela condio de espessura mnima de revestimento betuminoso a
adotar.
Figura 13 - Espessura Total do Pavimento
46
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Figura 14 - Simbologia Utilizada
Exemplo Numrico
Dimensionar o pavimento de uma rodovia em que N=6x107 , sabendo-se que o sub-leito
possui um isc=6%, dispondo-se de material de sub-base com isc=40% e para base de
isc=80%.
1 Soluo:
a)Revestimento para N=6x10 Espessura = 12,5 cm de CBUQ ou CAUQ
(Tabela de espessura mnima de revestimento betuminoso que depende do nmero N)
b)Determinao de H40 e H6 (figura 13 Espessura Total do Pavimento)
Os ndices 40 e 6 indicam o ndice de Suporte Califrnia de cada camada. Porm, no
se tem no grfico isc>20%, logo, usa-se isc=20%, assim se ter H20 que equivaler ao
H40 do exemplo.
Assim: H20 = 30 cm e H6 = 65 cm.
c)Como N>10, ao se utilizar a inequao, deve-se usar um fator de segurana de 1,2
multiplicando a espessura de proteo da sub-base. Tem-se:
R x KR + B x K B H20 x 1,2 12,5 x 2,0 + B x 1,0 30 x 1,2
B 11 cm B = 15 cm (Espessura mnima exigida pelo DNIT)
R x KR + B x K B + h20 x K SB H6 12,5 x 2,0 + 15 x 1,0 + h20 x 1,0 65
h20 25 cm
Onde K o coeficiente de equivalncia estrutural ( 1,0 K 2,0)
47
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
2 Soluo: Adotar base B = 20 cm
R = 12,5 cm
12,5 x 2,0 + 20 x 1,0 + h20 x 1,0 65 h20 20 cm
48
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
3 Soluo: Se adotar R = 15 cm
15 x 2,0 + B x 1,0 30 x 2,0 B 6 cm B = 15 cm (mnimo exigido DNIT)
15 x 2,0 + 15 x 1,0 + h20 x 1,0 65 h20 20 cm
4 Soluo: Se houver possibilidade de material para Reforo do Sub-Leito com
isc=12%
H12 = 42 cm 12,5 x 2,0 + B x 1,0 30 x 1,2 B 11 B = 15 cm
12,5 x 2,0 + B x 1,0 + h20 x 1,0 42 h20 2 cm h20 = 15 cm
12,5 x 2,0 + B x 1,0 + h20 x 1,0 + href x 1,0 65
href 10 cm href = 15 cm
49
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Captulo 3
BASES E SUB-BASES FLEXVEIS
3.1 - Terminologia das bases
As Bases podem ser agrupadas segundo a seguinte classificao:
Rgidas
Concreto de cimento
Concreto Compactado com Rolo (CCR)
Macadame cimentado
Semi-rgidos
Solo-cimento - solo melhorado com cimento
Solo-cal - solo melhorado com cal
Base Granular Tratada com Cimento (BGTC)
Pela correo granulomtrica
Com adio de ligantes betuminosos
Com adio de sais minerais
Com adio de resinas
Solos estabilizados
Flexveis
Brita graduada
Solo-brita
Macadame hidrulico
Macadame betuminoso
Alvenaria polidrica
Paraleleppedo
50
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
a) Base de Concreto de Cimento
Executada atravs da construo de placas de concreto, separadas por juntas
transversais e longitudinais. O concreto lanado e depois vibrado por meio de placas
vibratrias e/ou vibradores especiais. Em um pavimento rgido esta camada tem as
funes de base e revestimento e ser estudada no captulo sobre pavimentos rgidos.
b) Concreto Compactado com Rolo (CCR)
Concreto com baixo consumo de cimento, consistncia seca e trabalhabilidade que
permite o adensamento por rolos compressores. Suas principais vantagens so:
Baixo consumo de cimento
Pouco material fino
Transporte por betoneira ou caminho basculante (produo prxima obra)
Especificado pela resistncia trao na flexo ou compresso
Consistncia seca
Adensado com rolo compressor
c) Macadame Cimentado
Uma camada de brita espalhada sobre a pista e sujeita a uma compresso, com o
objetivo de diminuir o nmero de vazios, tornando a estrutura mais estvel. Logo aps
lanada uma argamassa de cimento e areia que penetra nos espaos vazios ainda
existentes. O produto assim formado tem caracterstica de um concreto pobre.
d) Solo-Cimento
uma mistura de solo, cimento Portland e gua, devidamente compactada, resultando
um material duro, cimentado e de elevada rigidez flexo. A porcentagem de cimento
varia de 5 a 13% e depende do tipo de solo utilizado. Solos argilosos exigem
porcentagens maiores de cimento. O resultado da dosagem a definio da
quantidade de solo, cimento e gua de modo que a mistura apresente caractersticas
adequadas de resistncia e durabilidade. A dosagem requer a realizao de alguns
ensaios de laboratrio, sendo a resistncia compresso axial o parmetro mais
utilizado. Ser estudado no captulo sobre estabilizao dos solos para fins de
pavimentao.
A figura 15 mostra a preparao de um trecho em solo-cimento .
51
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Figura 15 Trecho executado em solo-cimento
e) Base Granular Tratada com Cimento (BGTC)
uma mistura de agregados minerais, cimento Portland e gua. Tem procedimento
de mistura e execuo semelhante ao solo -cimento. A mistura de agregados
constituda de produtos de britagem e areias, muito semelhante a uma brita
graduada. O teor de cimento menor que de um solo-cimento por se tratar de
mistura granular. Normalmente a gua incorporada aos agregados na prpria
usina de mistura, podendo tambm ser incorporada na prpria pista. A compactao
feita mediante rolagem com vibrao.
f) Solo Melhorado com Cimento
Mistura de solo e pequena quantidade de cimento objetivando causar ao material
natural uma modificao de suas caractersticas de plasticidade (reduzindo o IP) e
tambm promover um ganho de resistncia mecnica. Outra modificao que importa
52
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
ao solo a alterao da sensibilidade gua, sem causar necessariamente uma
cimentao acentuada. A porcentagem de cimento varia de 1 a 5% e o ensaio mais
empregado para a definio da qualidade da mistura o CBR. As bases feitas dessa
forma so consideradas flexveis.
g) Solo-Cal:
uma mistura de solo, cal e gua. Tambm pode ser acrescido a esta mistura uma
pozolana artificial, chamada fly-ash, que uma cinza volante. Geralmente, solos de
granulometria que reagem com a cal, proporcionando trocas catinicas, floculaes,
aglomeraes, produzem ganhos na trabalhabilidade, plasticidade e propriedades de
carter expansivo. Estes fenmenos processam-se rapidamente e produzem
alteraes imediatas na resistncia ao cisalhamento das misturas. As reaes
pozolnicas resultam na formao de vrios compostos cimentantes que aumentam a
resistncia e a durabilidade da mistura. A carbonatao uma cimentao fraca.
h) Solo Melhorado com Cal
a mesma idia do solo -cal, porm neste caso h predominncia dos fenmenos que
produzem modificaes do solo, no que se refere sua plasticidade e sensibilidade
gua, no oferecendo mistura caractersticas acentuadas de resistncia e
durabilidade. As bases feitas desta maneira so consideradas flexveis.
i) Solo Estabilizado por Correo Granulomtrica:
Tambm chamada de estabilizao granulomtrica, estabilizao por compactaro
ou estabilizao mecnica. So executadas pela compactao de um material ou de
misturas apropriadas de materiais que apresentam granulometria deferente e que so
associados de modo a atender uma especificao qualquer. o processo mais
utilizado no pais.
Quando o solo natural no apresenta alguma caracterstica essencial para
determinado fim de engenharia, usual melhor-lo atravs da mistura com outros que
possibilitem a obteno de um produto com propriedades de resistncia adequadas.
j) Solo Estabilizado com Adio de Ligantes Betuminosos
uma mistura de solo, gua e material betuminoso. A modalidade solo-betume
engloba mistura de materiais betuminosos e solos argilo-siltosos e argilo-arenosos. A
presena do material betuminoso vai garantir a constncia do teor de umidade da
compactao na mistura, propiciando tambm uma impermeabilizao no material. A
obturao dos vazios do solo dificulta a ao de gua capilar devido criao de uma
pelcula hidrorrepelente que envolve aglomerados de partculas finas.
53
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Nas chamada areia betume a funo do material betuminoso gerar fora de
natureza coesiva, uma vez que as areias no possuem estas caractersticas. Tambm
encontramos designaes como Solo-alcatro e Solo-asfalto.
k) Solo Estabilizado com Adio de Sais Minerais
Assim como o cimento, a cal e o betume, a adio de sais minerais faz parte dos
estudos de estabilizao qumica. O cloreto de sdio e o de clcio podem ser
misturados ao solo com o objetivo de modificar alguns ndices fsicos, melhorando
suas caractersticas resistentes. No Brasil utilizado o cimento com uma proporo de
at 5% , conforme visto anteriormente.
l) Solo Estabilizado com Adio de Resinas
Nestes casos adicionada ao solo uma resina para fazer a funo de material ligante.
Como exemplo pode-se citar a lignina que proveniente da madeira, utilizada na
fabricao do papel. A utilizao de resinas, assim como de sais minerais para fins de
estabilizao so de pouco uso no Brasil.
m) Brita Graduada
Tambm chamada de brita corrida. uma mistura de brita, p de pedra e gua. So
utilizados exclusivamente produtos de britagem que vem preparado da usina (figura
16). Este tipo de material substituiu o macadame hidrulico.
Tambm encontramos a designao bica corrida que uma graduao da brita
corrida, porm todo o material proveniente da britagem passado atravs de uma
peneira com malha de um dimetro mximo, sem graduao uniforme.
Figura 16 Foto de uma pedreira em atividade produzindo materiais para
execu o de base de brita graduada
54
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
n) Solo Brita
uma mistura de material natural e pedra britada. Usado quando o solo disponvel
(geralmente areno -argiloso) apresenta deficincia de agregado grado (retido na #
10). A pedra britada entra na mistura para suprir esta deficincia, aumentando as
caractersticas de resistncia do material natural. (figura 17)
Figura 17 Preparao e execuo de Trecho em solo-brita
o) Macadame Hidrulico
Sua execuo consiste no espalhamento de uma camada de brita de graduao
aberta que compactada para a reduo dos espaos vazios. Em seguida espalha-se
uma camada de p de pedra sobre esta camada com a finalidade de promover o
55
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
preenchimento dos espaos vazios deixados pela brita. Para facilitar a penetrao do
material de preenchimento, molha-se o p de pedra (tambm pode ser usado solo de
granulometria e plasticidade apropriado) e promove-se outra compactao. Esta
operao repetida at todos os vazios serem preenchidos pelo p de pedra.
Este tipo de procedimento foi substitudo pela pedra britada, que j vem preparada da
usina. (figura 18).
Figura 18 Execuo de trecho em macadame hidrulico
p) Macadame Betuminoso
O macadame betuminoso por penetrao consiste do espalhamento do agregado, de
tamanho e quantidades especificadas, nivelamento e compactao. Em seguida
espalhado o material betuminoso que penetra nos vazios da agregado,
desempenhando a funo de ligante. Todas estas operaes so executadas na
prpria pista.
A base feita por meio de macadame betuminoso chamada de base negra e ser
vista no captulo sobre revestimentos.
56
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
q) Alvenaria Polidrica ou Paraleleppedo
So pedras irregulares ou paraleleppedos assentados num colcho de areia sobre
uma sub-base. Podem funcionar como base, quando um outro revestimento usado
sobre sua superfcie. Tambm so usados como revestimento final, desempenhando,
as funes de revestimentos.
3.2 - Construo das camadas do pavimento
3.2.1 Operaes preliminares
a ) Regularizao do sub-leito
So operaes de corte ou aterro para conformar transversal e longitudinalmente a
estrada. Engloba pista e acostamento com movimentos de terra mximo de 20 cm de
espessura.
Os principais servios a serem executados so a busca da umidade tima e a
compactao at atingir 100% de densidade aparente mxima seca.
b) Reforo do sub-leito
O reforo do sub-leito executado sobre o sub-leito regularizado. As caractersticas do
material a ser utilizado devem ser superiores ao do subleito e largura de execuo
desta camada igual da regularizao ou seja ( pista + acostamento ).
3.2.2 - Operao de construo de sub-bases e bases
As operaes aqui descritas podem ser aplicadas para construo de sub-bases e
bases estabilizadas granulometricamente, solo-brita, brita graduada, havendo alguns
pequenos detalhes que diferem para cada caso em particular.
As bases em cimentadas (solo-cimento, BGTC, CCR) sero consideradas
separadamente
a) Escavao, carga e descarga
Os tratores produzem o material na jazida e armazenam numa praa. As carregadeiras
retiram o material da praa e carregam os caminhes. Estes ltimos transportam o
material da jazida at a pista, descarregando em pilhas.
57
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
b) Empilhamento
Ao descarregar o material na pista, os caminhes formam pilhas.
c) Mistura e espalhamento
Mistura
No caso de haver 2 ou mais materiais a serem utilizados, procede-se a mistura antes
do espalhamento. A mistura pode ser feita com o emprego de:
- Mquinas agrcolas e motoniveladora (Patrol)
- Mquinas mveis: equipamento pulvimisturador (pulvimix) ou usina mvel
- Mquinas estacionrias ou usinas fixas.
Espalhamento
feito com o emprego de motoniveladora. A espessura solta do material a ser
espalhado pode ser calculada, sendo funo da espessura da camada acabada (Figura
19)
= M/V M = .V
Ms = Mc
s . (1 x 1 x es) = c . (1 x 1 x ec)
c
es = ec
s
Onde:
Ms Massa solta
Mc Massa compactada
ec Espessura compactada (normalmente a de projeto + 1 cm para raspagem )
es Espessura solta
c Densidade compactada (de laboratrio mx)
s Densidade solta: determina-se o peso de um volume conhecido.
O controle da espessura durante o espalhamento e feito atravs de linhas e estacas.
58
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Figura 19 Esquema de Espalhamento de Material na Pista
Para o caso de dois ou mais materiais (mistura) a espessura solta pode ser calculada
da seguinte forma:
M M = ec M c M
M1 =
(1)
X
MM
100
(2)
M2 =
(1) (2)
Y
MM
100
M1 = X / 100 x ec M x c M esM1 x sM1 = X / 100 x ecM x c M
M2 = Y / 100 x ec M x c M esM2 x sM2 = Y / 100 x ecM x c M
Ento :
X
c
ecM M
100
s M 1
Y
c
=
ecM M
100
s M 2
es M 1 =
es M 2
O volume de material solto (Vs) a ser importado para a pista calculado da seguinte
maneira:
Vs = es x L ?
xE
59
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Onde : E extenso do trecho
L largura da pista
es espessura solta
O nmero de viagens necessrias (N) para transportar o material para a pista assim
determinado:
N = Vs / q
Onde q = capacidade de cada caminho .
O espaamento das pilhas (d) (Figura 20) determinado da seguinte maneira:
d=E/N
Figura 20 Esquema do Espalhamento de Pilhas
As operaes de mistura e espalhamento podem ser executadas por Pulvimisturadoras
e Usinas Mveis onde os materiais empilhados so carregados, pulverizados,
misturados e espalhados diretamente na estrada, na espessura solta desejada. A figura
05 mostra um esquema destas operaes.
Tambm podem ser utilizadas Usinas Fixas, onde as misturas de materiais, as
propores corretas, a granulometria, a adio de gua e aditivo so controladas e
permitem a produo de volumes maiores de materiais misturados.
d) Pulverizao
Esta operao normalmente utilizada em materiais de natureza coesiva. Podem ser
usados escarificadores, grades de disco, arados, ou mesmo uma pulvimix.
As funes principais da pulverizao so:
- destorroar o material sem promover quebra de partculas.
- Mistura de gua ou aditivo ao solo (solo cimento).
- Fazer aerao do solo quando a hcampo encontra-se acima da hot
60
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
e) Umidificao ou secagem
Operao feita por caminho pipa munidos de bombas para enchimento. Se o
caminho for munido de distribuidor de gua de presso, pode-se calcular a quantidade
de gua a ser misturada ao solo para deixa-lo na condio de hot.
Se o caminho for munido de distribuidor de gua por gravidade, a umidificao feita
por tentativas. Pode-se usar tambm a pulvimisturadora para misturar gua ao solo. O
controle da umidade na pista normalmente feita pelo mtodo do Speedy ou frigideira.
Aps a distribuio da gua, em vrias passadas, pelo caminho pipa, a
homogeneizao da mistura feita com grade de disco ou motoniveladora (Patrol).
f) Compactao no campo
A aplicao de energia no campo pode ser feita utilizando-se os seguintes meios:
Por presso ou rolagem:
So utilizados vrios tipos de rolos, onde o princpio bsico : p = P / A
Onde : P peso do equipamento
A rea de contato
p presso de compactao
Rolo Liso:
- para solos granulares
- para acabamento
Rolo Pneumtico (presso varivel):
- pneu vazio maior rea : menor presso
- pneu cheio menor rea : maior presso
Rolo P de Carneiro:
- para solos argilosos
- compacta de baixo para cima
Por impacto ou percusso:
So utilizados bate-estacas, martelos automticos ou sapos mecnico. Usados em
locais de difcil acesso: perto de edifcios, valetas, ruas, caladas.
Por vibrao:
So considerados por vibrao quando os impactos impostos pelo equipamento so
maiores que 500 r.p.m (1500 e 2000 r.p.m). A vantagem deste tipo de compactao a
61
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
possibilidade de compactao de espessuras maiores devido ao efeito das ondas de
propagao de energia. A grande desvantagem a possibilidade de se causar danos
ao equipamento quando se compacta um solo j compactado. So utilizados os
seguintes rolos:
- Rolo Liso vibratrio
- Rolo P-de-carneiro vibratrio
- Placas vibratrias
A execuo da compactao deve ser conduzida de forma adequada, observando-se o
formato da superfcie a ser compactada:
- Trechos em tangente a compactao deve ser feita dos bordos para o eixo. Este
procedimento justificado pelo acmulo de material que se dar no centro da pista.
- Nos trechos em curva a compactao deve ser feita do bordo interno para externo .
O controle da compactao feito em duas etapas:
Ao se iniciar um servio de compactao, controla-se preliminarmente o nmero de
passadas, a espessura das camadas e o teor de umidade (mtodo de campo). Ao se
definir estes parmetros experimentalmente passa-se a controlar o grau de
compactao (GC).
O grau de compactao encontrado atravs da seguinte relao:
GC = d campo x 100% (mtodo do frasco de areia o mais usado)
d max
Este controle feito, normalmente de 100 em 100m, alternando-se o local de
verificao, ou seja, o controle feito na sequncia: bordo direito, eixo, bordo
esquerdo, eixo, bordo direito, ...
Quando o GC encontrado menor que o especificado (p.e GC < 100%), deve -se abrir
todo o trecho compactado, escarificando-o, e repetindo-se todas as operaes de
compactao novamente.
A espessura de compactao mnima de 10cm e a mxima de 20cm.
O teor de umidade deve ser controlado de 100 em 100m, tolerando-se uma variao de
2% em relao ao valor da umidade tima do solo.
g) Controles
Controle tecnolgico (Recomendaes do DNIT)
62
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Para regularizao e reforo do sub-leito
Ensaios de caracterizao : de 250 em 250m ou 2 ensaios por dia .
ISC ou CBR : de 500 em 500m ou 1 ensaio para cada 2 dias.
GC : de 100 em 100m ( massa esp. aparente in situ )
Para sub-base e base :
Ensaios de caracterizao : de 150 em 150 m
CBR : de 300 em 300 m
GC : de 100 em 100 m
EA : de 100 em 100 m . Se LL > 25 e/ou IP > G ( base)
Controles Geomtricos (Recomendaes do DNIT)
Para regularizao e reforo do sub-leito
+ 3 cm em relao s cotas do projeto
+ 10 cm em relao largura da plataforma
at 20% na flecha de de abaulamento
Para sub -base e base
+ 2 cm em relao s costas de projeto
idem anterior
idem anterior
Aceitao ( Anlise Estatstica)
Os parmetros especificados para as variadas fases da construo de sub-bases e
bases (granulometria, LL, IP, CBR, GC, etc) devem ser submetidos a uma anlise
estatstica para aceitao.
Os valores mximos e mnimos decorrentes da amostragem a serem confrontados com
os valores especificados sero calculados pelas frmulas de controle estatstico
recomendadas pelo contratante.
h) Acabamento
So feitos os ajustes finais, com pequenos servios de acabamento, limpeza,
correes da seo transversal, varredura, etc.
63
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Captulo 4
ESTABILIZAO DOS SOLOS PARA FINS DE
PAVIMENTAO
4.1 - Conceito de estabilizao para rodovias e aeroportos
Estabilizar um solo significa conferir-lhe a capacidade de resistir e suportar as cargas e
os esforos induzidos pelo trfego normalmente aplicados sobre o pavimento e
tambm s aes erosivas de agentes naturais sob as condies mais adversas de
solicitao consideradas no projeto.
4.2 - Objetivo
Compreende todos os processos naturais e artificiais aplicados aos solos, objetivando
melhorar suas caractersticas de resistncia mecnica, bem como garantir a constncia
destas melhorias no tempo de vida til das obras de engenharia.
4.3 - Importncia
O domnio das tcnicas de estabilizao pode conduzir a sensveis redues nos
tempos de execuo das obras, viabilizando a industrializao do processo construtivo,
propiciando uma economia substancial para o empreendimento.
4.4 - Estudos e anlises
Essencialmente, a estabilizao de um solo consiste de um estudo da resistncia do
solo e da suplementao necessria desta resistncia. Baseado neste estudo
64
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
escolhido um mtodo qualquer para a suplementao da resistncia, e isto feito
segundo anlises econmicas e tcnicas do problema em questo.
4.5 - Mtodos de estabilizao
Devido s disparidades e semelhanas nos processos e mecanismos utilizados para a
estabilizao de solos, adota -se a natureza da energia transmitida ao solo como um
critrio para a classificao dos mtodos de estabilizao. Desta forma podem ser
citados os seguintes tipos de estabilizao: mecnica, granulomtrica, qumica,
eltrica e trmica.
Alm destes, tem surgido nos ltimos tempos, uma grande variedade de outros
mtodos e processos construtivos que visam oferecer ao solo, caractersticas de
resistncia e melhoria de suas qualidades naturais e que podem ser classificados como
Mtodos especiais de estabilizao:
Solos Reforados com Geossintticos; Solo pregado; Colunas Solo-Cal; Colunas SoloBrita; Compactao Dinmica; Jet Grounting; Compaction Grounting; Drenos Verticais
de Areia; Micro Estacas; Estabilizao Via Fenmenos de Conduo em Solos.
A Estabilizao Mecnica visa dar ao solo (ou mistura de solos) a ser usado como
camada do pavimento uma condio de densificao mxima relacionada a uma
energia de compactao e a uma umidade tima. Tambm conhecida como
estabilizao por compactao. um mtodo que sempre utilizado na execuo das
camadas do pavimento, sendo complementar a outros mtodos de estabilizao.
A Estabilizao Granulomtrica consiste da alterao das propriedades dos solos
atravs da adio ou retirada de partculas de solo. Este mtodo consiste,
basicamente, no emprego de um material ou na mistura de dois ou mais materiais, de
modo a se enquadrarem dentro de uma determinada especificao. Tambm
chamada de Estabilizao Granulomtrica.
A Estabilizao Qumica quando utilizada para solos granulares visa principalmente
melhorar sua resistncia ao cisalhamento (causado pelo atrito produzido pelos contatos
das superfcies das partculas) por meio de adio de pequenas quantidades de
ligantes nos pontos de contato dos gros. Os ligantes mais utilizados so o Cimento
Portland, Cal, Pozolanas, materiais betuminosos, resinas, etc.
Nos solos argilosos (coesivos) encontramos estruturas floculadas e dispersas que so
mais sensveis a presena de gua, influenciando a resistncia ao cisalhamento.
comum a adio de agentes qumicos que provoquem a disperso ou floculao das
partculas ou uma substituio prvia de ctions inorgnicos por ctions orgnicos
hidrorrepelentes seguida de uma adio de cimentos.
65
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
A Estabilizao Eltrica consiste na passagem de uma corrente eltrica pelo solo a
estabilizar. As descargas sucessivas de alta tenso so usadas no adensamento de
solos arenosos saturados e as de baixa tenso contnua so usadas em solos argilosos
empregando os fenmenos de eletrosmose, eletroforese e consolidao eletroqumica.
No tem sido utilizada em pavimentos.
A Estabilizao Trmica feita atravs do emprego da energia trmica por meio de
congelamento, aquecimento ou termosmose. A soluo do congelamento normalmente
temporria, alterando-se a textura do solo. O aquecimento busca rearranjos na rede
cristalina dos minerais constituintes do solo. A termosmose uma tcnica de drenagem
onde se promove a difuso de um fluido em um meio poroso pela ao de gradientes
de temperatura. Tambm no utilizada em pavimentos.
4.6 - Estabilizao solo-cimento
Solo-cimento o produto endurecido resultante da mistura ntima compactada de solo,
cimento e gua, em propores estabelecidas atravs de dosagem racional, executada
de acordo com as normas aplicveis ao solo em estudo.
No Brasil, o solo cimento passou a ser utilizado a partir de 1940 na rea de
pavimentao. e em 1948 j havia aplicao na construo de paredes de solocimento.
Mais de meio sculo de experincia brasileira com a tecnologia do solo-cimento
possibilitaram o aparecimento de variadas aplicaes dentro das obras de engenharia
como: Pavimentao de ruas e estradas; passeios para pedestres; quadras esportivas;
revestimento de barragens; silo -trincheira; terreiros de caf; obras de conteno;
canalizao e proteo de pontes; habitao (tijolos, blocos, lajotas, paredes
monolticas, fundaes e pisos).
4.6.1 - Tipos de misturas de solos tratados com cimento
Toda mistura envolvendo solo e qualquer teor de cimento tem sido erroneamente
chamado de mistura solo -cimento. Existem trs diferentes tipos de misturas de solo
estabilizado com cimento, sendo o solo -cimento, apenas uma delas:
a) Mistura de solo-cimento
Produto obtido pela compactao e cura de uma mistura ntima de solo, cimento e
gua, de modo a satisfazer a critrios de estabilidade e durabilidade exigidos.
66
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
b) Solo melhorado com cimento (modificado com cimento)
Quando um solo mostrar-se economicamente invivel de ser estabilizado com cimento,
ainda poder ser utilizado para fins de pavimentao atravs da adio de pequenas
quantidades de cimento (1 a 5%), que visam modificar algumas de suas propriedades
fsicas, por exemplo, baixar o ndice de plasticidade atravs do aumento do LP e da
diminuio do LL ou diminuir as mudanas de volume e inchamento do solo.
c) Solo-cimento plstico
Material endurecido formado pela cura de uma mistura ntima de solo, cimento e
quantidade suficiente de gua para produzir uma consistncia de argamassa. A
quantidade de gua no solo-cimento apenas para permitir uma boa compactao e
completa hidratao do cimento. No solo-cimento plstico a quantidade de cimento
aproximadamente 4% a mais para satisfazer os critrios de durabilidade e estabilidade
exigidos e tambm devido a maior quantidade de gua necessria para deixar a
mistura na consistncia de argamassa.
4.6.2 - Mecanismos de reao da mistura solo-cimento
O processo de estabilizao do solo com o cimento ocorre a partir do desenvolvimento
das reaes qumicas que so geradas na hidratao do cimento (mistura do cimento
com gua). A partir da, desenvolvem-se vnculos qumicos entre as superfcies dos
gros do cimento e as partculas de solo que esto em contato com o mesmo.
Sendo assim, durante o processo de estabilizao do solo com cimento, ocorrem dois
tipos de reaes: as reaes de hidratao do cimento Portland e as reaes entre os
argilominerais e a cal liberada na hidratao do cimento ( C3S, -C2S, C3A, C4AF +
H2O). Estas reaes podem ser exemplificadas da seguinte forma:
a) Reaes de hidratao do cimento
C3S + H 2O C3S2Hx (gel hidratado) + Ca(OH)2
Ca(OH)2 Ca++ + 2(OH)Se o PH da mistura abaixar: C3S2Hx CSH + Cal
b) Reaes entre a cal gerada na hidratao e os argilominerais do solo:
Ca++ + 2(OH)- + SiO2 (Slica do solo) CSH
Ca++ + 2(OH)- + Al2 O3 (Alumina do solo) CAH
As ltimas reaes so chamadas pozolnicas e ocorrem em velocidade mais lenta. O
CSH um composto cimentante semelhante ao C 3S2Hx.
67
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Nos solos granulares desenvolvem-se vnculos de coeso nos pontos de contato entre
os gros (semelhante ao concreto, porm o ligante no preenche todos os espaos).
Nos solos argilosos a ao da cal gerada sobre a slica e alumina do solo resulta o
aparecimento de fortes pontos entre as partculas de solo.
Surge ento a seguinte questo: Por que os solos granulares respondem melhor
estabilizao com cimento? Porque nos solos argilosos a reao da cal gerada na
hidratao e os argilominerais ocasionam uma queda no PH da mistura, afetando a
hidratao e o endurecimento do cimento. Se o PH abaixar, o composto C3S2Hx reage
novamente formando CSH e cal. Como o C3S2Hx responsvel pela maior parte da
resistncia da mistura solo-cimento, o aparecimento do CSH indesejvel quando
provm deste composto, sendo benfico apenas quando origina -se das reaes da cal
com os argilominerais. Portanto as reaes de hidratao do cimento so as mais
importantes e respondem pela maior parte da resistncia final alcanada para a
mistura. Nos solos argilosos a resistncia devido s reaes pozolnicas se do s
custas de um decrscimo de contribuio da matriz cimentante.
4.6.3 - Fatores que influenciam na estabilizao solo-cimento
Por envolver aspectos fsico-qumicos tanto do cimento quanto do solo, este tipo de
estabilizao influenciada por inmeros fatores:
a) Tipo de solo
Todo solo pode ser estabilizado com cimento, porm os solos arenosos (granulares)
so mais eficientes que os argilosos por exigirem baixos teores de cimento.
b) Presena no solo de materiais nocivos ao cimento
A presena de matria orgnica no solo afeta a hidratao do cimento devido
absoro dos ions de clcio gerado, resultando uma queda no PH da mistura.
Os sulfatos geralmente encontrados nas guas do solo combinam com o aluminato
triclcico do cimento hidratado formando o sulfo-aluminato de clcio (sal de Candlot)
que ocupa grande volume, provocando quebra de ligaes cimentcias.
c) Teor de cimento
A resistncia da mistura solo-cimento aumenta linearmente com o teor de cimento,
para um mesmo tipo de solo. O teor de cimento depende do tipo de solo, quanto maior
a porcentagem de silte e argila, maior ser o teor de cimento exigido. Para alcanar o
valor ideal do teor de cimento para um tipo de solo, deve -se recorrer aos
procedimentos de dosagem.
68
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
d) Teor de umidade da mistura
Assim como nos solos naturais, as misturas solo-cimento exigiro um teor de umidade
que conduza a uma massa especfica seca mxima, para uma dada energia de
compactao. O acrscimo de cimento ao solo tende a produzir um acrscimo no teor
de umidade e um decrscimo na massa especfica seca mxima, devido a ao
floculante do cimento. O teor de umidade timo que conduz mxima massa
especfica seca no necessariamente o mesmo para a mxima resistncia. Este
ltimo est localizado no ramo seco para os solos arenosos e no ramo mido para os
solos argilosos.
e) Operaes de mistura e compactao
A demora de mais de duas horas entre a mistura e a compactao pode trazer
significantes decrscimos tanto na massa especfica seca mxima quanto na
resistncia do produto final.
O decrscimo na massa especfica seca mxima causado pelo aumento do PH da
gua quando esta entra em contato com o cimento, causando floculao das partculas
de argila. Se o tempo mistura-compactao for grande, so produzidos grandes
quantidades de argila floculada, que ir absorver da compactao. Recomenda-se que
a compactao deva iniciar-se logo aps a mistura e complementada dentro de duas
horas.
f) Tempo e condies de cura
Como no concreto, a mistura solo -cimento ganha resistncia por processo de
cimentao das partculas durante vrios meses ou anos, sendo maior at os 28 dias
iniciais. Neste perodo deve ser garantido um teor de umidade adequado mistura
compactada.
Diferente do concreto, a temperatura de cura deve ser elevada para propiciar elevadas
resistncias. Durante as reaes pozolnicas, a temperatura tende a elevar-se. Nos
pases de clima quente pode-se empregar um teor de cimento menor para atingir a
mesma resistncia compresso que seria alcanada em um pais de clima frio.
4.6.4 A dosagem do solo-cimento
Solo-cimento o produto endurecido resultante da mistura ntima compactada de solo,
cimento e gua, em propores estabelecidas atravs de dosagem racional, executada
de acordo com as normas aplicveis ao solo em estudo. (ABCP, 1986)
Dosagem de solo-cimento a seqncia de ensaios realizados com uma mistura de
solo, cimento e gua, seguida de interpretao dos resultados por meio de critrios
69
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
preestabelecidos, sendo o resultado final, a fixao das trs varveis citadas (ABCP,
1986).
Em 1935, a Portland Cement Association (PCA) fez as primeiras tentativas para criao
de normas para a mistura solo-cimento. Em 1944 e 1945 a ASTM e AASHO,
respectivamente, adotaram o mtodo de dosagem idealizado pela PCA.
Aqui no Brasil, j em 1941, a ABCP publicou mtodos anlogos que constavam
procedimentos anlogos ao da PCA. Em 1962, foram feitas algumas modificaes
(simplificaes) na Norma Geral de Dosagem do Solo-Cimento, dando origem
chamada Norma Simplificada de Dosagem Solo-Cimento.
Em 1990, aps ter sido estudada e aprovada pela comisso de estudos da ABCP
(Associao Brasileira de Normas Tcnicas), surgiu a nova norma de dosagem de
mistura solo-cimento que recebeu o nmero de registro NB 01336, designada Solocimento - dosagem para emprego como camada de pavimento (NBR 12253).
As normas brasileiras baseiam-se nos mtodos de dosagem da Portland Cement
Association (PCA) e na comprovao dos resultados de um grande nmero de obras
executadas e em uso, com uma enorme variedade de solos, desde 1939.
Sero mostrados aqui, os procedimentos para dosagens de mistura solo-cimento pela
nova norma (NBR 12253) assim como breve resumo das antigas Norma geral e
Norma Simplificada.
Breve resumo da norma geral de dosagem solo-cimento
A dosagem de uma mistura solo-cimento pode ser considerada como experimental,
onde diferentes teores de cimento so empregados nos ensaios e a anlise dos
resultados indica o menor deles capaz de estabilizar o solo sob a forma de solocimento.
Como resumo das principais operaes pode-se citar:
a) Identificao e classificao do solo
b) Escolha do teor de cimento para ensaio de compactao
c) Execuo do ensaio de compactao do solo-cimento
d) Escolha dos teores de cimento para o ensaio de durabilidade
e) Moldagem do corpo de prova para o ensaio de durabilidade
f) Execuo do ensaio de durabilidade por molhagem e secagem
g) Escolha do teor de cimento adequado em funo dos resultados do ensaio
70
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Breve resumo da norma simplificada de dosagem do solo-cimento
A durao do ensaio de durabilidade por molhagem e secagem pode ser apontada
como a maior desvantagem da aplicao da norma geral para uma dosagem de solocimento. Procurou-se ento uma correlao entre o ensaio de durabilidade e outro
ensaio mais simples.
A PCA (Portland Cement Association), baseada em anlises estatsticas dos resultados
de ensaios de durabilidade e ensaios de compresso simples aos 7 dias criou a norma
simplificada de dosagem solo-cimento. Esta anlise foi baseada em amostras de 2438
solos arenosos. (ABCP, 1986)
O fundamento do mtodo foi extrado dos resultados desta srie de resultados, onde foi
constatado que um solo arenoso, com determinada granulometria e massa especfica
aparente mxima seca, requerer o mesmo teor de cimento indicado pelo ensaio de
durabilidade se alcanar uma resistncia compresso aos 7 dias superior a um
determinado valor especificado.
Aplicao da Norma Simplificada
Esta norma simplificada s aplicvel a solos que satisfaam ao mesmo tempo s
seguintes condies:
- Possuir no mx. 50% de material com dimetro mdio menor que 0,05mm (Silte +
Argila).
- Possuir no mx. 20% de material com dimetro mdio menor que 0,005mm (Argila).
Mtodos Empregados
- Mtodo A: Usado quando toda amostra original passar na peneira de 4,8mm.
- Mtodo B: Usado quando parte da amostra original de solo ficar retida na peneira
4,8mm (material passante na peneira 19mm).
Sequncia de Dosagem
a) Ensaios preliminares de solo
b) Ensaio de compactao do solo-cimento (hot e d max)
c) Determinao da resistncia compresso simples aos 7 dias
d) Comparao entre a resistncia compresso simples mdia obtida e a
resistncia compresso simples admissvel para o solo em estudo.
4.6.5 - A nova norma de dosagem solo-cimento (NBR 12253)
Baseado na experincia brasileira adquirida ao longo dos anos, o uso dos solos a
serem utilizados nas bases e sub -bases de solo-cimento restringiu-se aos tipos A1, A2,
A3 e A4. Desta forma os solos siltosos e argilosos foram descartados devido a
dificuldades do processo de execuo.
71
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Todo tipo de solo pode, a princpio, ser estabilizado com cimento, porm os solos finos
requerem teores elevados de cimento, tornando-se assim inadequados para fins de
estabilizao devido ao fator econmico.
Devido a esta limitao da utilizao dos solos finos para a estabilizao solo-cimento,
eliminou-se tambm o ensaio de durabilidade por molhagem e secagem. Surgiu da a
necessidade de criao de um novo procedimento de dosagem mais preciso.
(Nascimento, 1991).
Procedimentos de dosagem
a) Ensaios preliminares do solo:
Visando sua identificao e classificao, utiliza-se a classificao HRB e somente os
solos tipo A1, A2, A3 e A4 so estudados para a mistura solo-cimento, descartando-se
assim os solos argilosos e siltosos.
b) Escolha do teor de cimento para ensaio de compactao
baseado no quadro a seguir. Este quadro foi retirado da Norma Geral de dosagem e
pode ser usado quando no se tenham experincias anteriores com o solo em questo.
Classificao do solo
A1-a
A1-b
A2
A3
A4
Teor de Cimento.
Sugerido em Massa ( % )
5
6
7
9
10
c) Execuo do ensaio de compactao
Feito para obteno de hot e dmax para o teor de cimento indicado.
d) Determinao do teor de cimento para ensaio de compresso simples.
Para solos que apresentam 100% de material passante na peneira de 4.8 mm utilizar a
Figura 21 a seguir. Para solos que apresentam at 45% de material retido na peneira
de 4.8 mm utilizar a Figura 22 a seguir.
72
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Figura 21 - Teor de Cimento em Massa Indicado
Figura 22 - Teor de Cimento em Massa Indicado
73
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
e) Moldagem de 3 corpos de prova (no mnimo) para o teor de cimento
selecionado
Para execuo do ensaio de compresso simples. Podem ser moldados corpos-deprova com um ou mais teores de cimento. Aps a moldagem os corpos de prova
devem ser submetidos ao perodo de cura.
f) Execuo do ensaio de compresso simples (MB 03361 - NBR 12025)
g) Resultado da dosagem.
Aps a execuo dos ensaios de compresso simples, calcula -se a mdia aritmtica
das resistncias compresso simples correspondentes a um mesmo teor de cimento.
No considerar os corpos de prova cuja resistncia compresso se afaste mais de
10% da mdia calculada. O nmero de corpos de prova mnimo para clculo da mdia
dois.
O teor de cimento a ser adotado, capaz de estabilizar uma camada de pavimento
atravs de uma mistura solo-cimento, ser o menor dos teores que fornea resistncia
mdia compresso simples aos 7 dias igual ou superior a 2.1 Mpa ( 2100 Kpa ).
O valor de 2.1 Mpa foi fixado por ser um nmero j consagrado no meio rodovirio
devido ao bom desempenho dos pavimentos conseguido com solos estudados com
este valor de resistncia.
Para a determinao do teor de cimento a ser adotado permitida a interpolao dos
dados de modo a indicar o valor mnimo de resistncia compresso mdia
especificado de 2.1 Mpa. A extrapolao de dados no permitida.
O teor mnimo recomendado pela norma de 5%. Para se transformar o trao obtido
em peso (% massa) em volume (% volume) utilizar o baco da figura 23.
74
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Figura 23 - baco de Transformao do Teor de Cimento em Massa em Teor de
Cimento em Volume (%)
h) Exemplos numricos
1) Considerar um solo com os seguintes resultados prvios de laboratrio:
- Granulometria:
Pedregulho grosso: 10%
Pedregulho fino:
5%
Areias grossa:
23%
Areia fina:
33%
Silte:
6%
Argila:
23%
% pass. # n 200: 32%
- ndices de consistncia:
LL = 25%
LP = 19%
IP = 6%
- Massa especfica (agregado grosso): 2630 Kg/cm3
- Absoro (agregado grado): 1,2%
- Umidade do solo mido: 3%
75
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
2) Determinar o teor de cimento indicado para a realizao do ensaio de compresso
simples para o solo com as seguintes caractersticas:
- Pedregulho fino: 3%
- Areia grossa: 12%
- Areia fina: 60%
- Silte: 7%
- Argila: 18%
- Classificao segunda a HBR: A2
- Aps execuo do ensaio de compactao: dmax = 1930 g/cm3
hot = 11,2 %
3) Para o exemplo acima, supondo que tenha sido executado o ensaio de compresso
simples com os teores de 5%, 6% e 7%, qual o teor que voc adotaria como definitivo
com base nos seguintes resultados:
CP 01 (5%) RCS = 2080 Kpa
CP 02 (6%) RCS = 2355 Kpa
CP 03 (7%) RCS = 2400 KPa
4) Determinar o teor de cimento indicado para a realizao do ensaio de compresso
simples para o solo com a seguintes caractersticas:
- Pedregulho grosso: 20%
- Pedregulho fino: 3%
- Areia grossa: 19%
- Areia fina: 31%
- Silte: 12%
- Argila: 15%
- Classificao segunda a HBR: A1a
- Aps execuo do ensaio de compactao: d max = 2000 g/cm3
hot = 8,7 %
5) No exemplo anterior, supondo terem sido moldados 3 corpos de prova com os teores
de cimento de 4%, 5% e 6% e estes submetidos a ensaios de compresso simples,
cujos resultados encontram-se abaixo, determine qual o teor adotado para o caso em
anlise.
CP 01 (4%) RCS = 1860 Kpa
CP 02 (5%) RCS = 2080 Kpa
CP 03 (6%) RCS = 2150 KPa
4.6.6 - Execuo na pista (Seno, 1972)
A mistura solo-cimento pode ser executada de duas formas:
Mistura no local:
com material da prpria estrada
com material vindo de fora
Mistura em Central:
usinas fixas: Betoneira, grandes centrais
usinas mveis: Pulvi-mix
76
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
As misturas feitas em usinas fixas (centrais de usinagem) constituem um processo
mais eficiente, uma vez que o produto final praticamente perfeito e muito mais rpido
que o processo de mistura na pista.
A utilizao de usinas de solo-cimento justificada em funo da quantidade do servio
a ser executado, no sendo utilizada para pequenas quantidades. As instalaes de
uma usina de solo-cimento so praticamente as mesmas de uma usina de solos
convencional, podendo-se destacar os seguintes componentes principais:
a) Silos de solos
Depsitos destinados a receber o solo (ou solos) que sero utilizados na mistura,
construdos de madeira ou chapa metlica, normalmente em forma de tronco de
pirmide.
A calibrao feita pelo processo usual onde a comporta de sada aberta com
diversas alturas, anotando-se a quantidade que se escoa em um determinado tempo.
Com os pares de valores Abertura da comporta x Produo horria pretendida,
traados em um grfico, obtm-se a abertura necessria do silo. Esta calibrao
tambm pode ser feita em funo da quantidade de material que cai em um espao
linear de um metro da esteira transportadora. Neste caso varia-se a abertura da
comporta ou a velocidade de transporte das correias.
b) Silo de cimento
Geralmente em formato cilndrico, tem a funo de armazenar o cimento a ser usado
na mistura. Para grandes volumes de mistura, o carregamento do cimento feito
diretamente dos caminhes transportadores por meio de suco. Nestes casos
recomendado a utilizao de cimento a granel. O processo de calibrao deste silo
similar ao de solo.
c) Correias transportadoras
So as responsveis pelo transporte dos solos e do cimento dos silos at o misturador.
Devem ter uma inclinao suficiente para levar os materiais desde as comportas dos
silos at a boca do misturador.
d) Depsito de gua:
Reservatrio destinado a fornecer gua para que a mistura solo-cimento j saia da
usina com o teor timo de umidade. Dependendo da distncia at o local da obra este
teor pode ser majorado, para haver uma compensao devido as perdas por
evaporao.
77
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
e) Misturador
o compartimento destinado a execuo da mistura propriamente dita do solo com o
cimento e gua. Normalmente constitudo por eixos dotados de ps (paletas) que
giram em sentidos contrrios, jogando os materiais contra as paredes do
compartimento. A mistura da gua pode ser feita continuamente (junto com o solo e o
cimento) ou logo aps a mistura seca (solo e cimento).
Na figura 24 mostrado um esquema de funcionamento de uma usina de solo-cimento.
Figura 24 - Esquema de uma usina de Solo-Cimento (Seno, 1972)
4.6.7 Operaes bsicas para solo-cimento in-situ
Nas misturas de solo-cimento feitas no local (mistura in situ) destacam-se as seguintes
operaes bsicas:
1)Pulverizao e determinao da umidade natural
2)Distribuio e espalhamento do cimento
3)Mistura do cimento com o solo pulverizado
4)Adio de gua mistura do solo-cimento
5)Mistura do solo-cimento umedecido
6)Compactao e acabamento
7)Cura
8)Preparo para execuo do novo trecho
78
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
a) Pulverizao e homogeneizao do solo
O material vindo da jazida (ou j escarificado ) deve ser pulverizado e homogeneizado
at que 80% do material mido esteja reduzido a partculas de dimetro inferior a 4,8
mm .Usa-se Patrol, grade de disco, Pulvi-mix,etc.
b) Distribuio e espalhamento do cimento
Aps a regularizao do solo pulverizado em toda a seo transversal espalha-se o
cimento (em sacos) nas quantidades projetadas, distribuindo-os uniformemente por
toda a superfcie de modo a assegurar posterior espalhamento por processo mecnico.
Um esquema da distribuio manual dos sacos se cimento pela seo transversal
mostrado na figura 25. Este esquema ser utilizado no exemplo numrico ao final deste
assunto.
Figura 25 - Esquema de Distribuio Manua l do Cimento na pista (Seno, 1972)
c) Mistura do cimento com o solo pulverizado
Executada atravs de escarificadores e pela lmina da Patrol. A mistura do solo com o
cimento dever ocorrer em toda a espessura da camada, repetidas vezes at se
conseguir uma tonalidade uniforme em toda a espessura.
Em seguida a mistura deve ser nivelada obedecendo ao greide e a seo transversal.
d) Adio de gua a mistura
Dever ser feita progressivamente. aconselhvel que a umidade no aumente mais
de 2% em cada passada do Carro-tanque. O caminho Pipa deve ser equipado,
79
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
quando possvel, com dispositivo de controle de gua por presso. Desta forma podese calcular a quantidade de gua a ser distribuda (funo tambm do teor de umidade
do solo) em cada passada. Pode-se ajuntar a gua ao solo pulverizado na vspera,
antes da adio do cimento, at atingir uma umidade prxima da hot . Tolera-se uma
variao de 0,9 a 1,1 vezes o teor indicado (hot).
e) Mistura do solo-cimento umedecida
Feita por Pulvi-mix ou grade de disco. Na fase final a umidade deve ser controlada de
40 em 40 m. Qualquer deficincia deve ser corrigida.
f) Compactao e acabamento
Para solos arenosos deve-se empregar rolos pneumticos ou lisos e para solos
argilosos o rolo p-de-carneiro deve ser usado no incio e os pneumticos ou lisos
usados ao final. A espessura de compactao no deve ser menor que 5cm. A camada
superficial deve ser mantida na umidade tima ou ligeiramente acima e feita a
conformao do trecho ao greide e abaulamento desejados.
Aps a concluso da compactao deve ser feito um acerto final na superfcie para
eliminao de salincias, no podendo fazer correes de depresso atravs de adio
de material. Pode-se usar grades de dentes ou escova metlica.
g) Cura
Aps a compactao o trecho dever ser protegido por um perodo de 7 dias. Usa-se
cobrir o trecho com uma camada de solo de mais ou menos 5 cm ou capim (10 cm) que
devero ser mantidos unidos para conservao da umidade. Tambm pode ser usado
material betuminoso para proteo.
h) Controles de Execuo
Sendo feitas as misturas na pista ou em usinas, so realizados os seguintes controles
tecnolgicos: Granulometria; ensaio de finura do cimento; grau de pulverizao; teor de
cimento; teor de umidade; massa especfica aparente In situ; ensaio de compactao;
ensaio de resistncia compresso.
Tambm so feitos os controles Geomtricos necessrios em relao largura da
plataforma, flecha de abaulamento e espessura mdia.
i) Exemplo numrico
Deseja-se construir uma camada de base de um pavimento rodovirio
cimento. A execuo dever ser feita na prpria pista, uma vez que no se
usina misturadora nas proximidades da obra. A seguir so dados
caractersticas tcnicas dos materiais, do projeto e dos equipamentos
80
em solodispe de
todas as
a serem
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
utilizados. Determine: a quantidade de solo a ser importado para a pista (n de viagens,
espessura solta, espaamento p/ descarga), a quantidade de cimento (massa de
cimento, n de sacos, espaamento dos sacos) e a quantidade de gua (volume de
gua, nmero de viagens do carro-pipa) a ser utilizado no processo construtivo.
L
extenso do trecho = 30 Km
ec
espessura compactada = 15 cm
L
largura da plataforma = 8m
c
teor de cimento em volume = 10%
ci
densidade do cimento = 1,42 g/cm3
max sc densidade mxima do solo-cimento = 2,00 g/cm3
s
densidade do solo solto = 1,50 g/cm3
Hosc umidade tima do solo -cimento = 11%
Hn
umidade do solo natural = 4%
He
perda por evaporao = 2%
q
capacidade dos caminhes transportadores = 6 m3
Q
capacidade das irrigadoras = 8000 l
Referncias Bibbliogrficas
1) ABCP. Dosagem das misturas de solo-cimento - Normas de dosagem. ET 35, So
Paulo, 1986.
2) Nascimento, A. A. P.; Junior, F. A. Solo -cimento - a nova norma de dosagem. 29
Reunio Anual de Pavimentao, So Paulo, 1991.
3) Seno, W. Pavimentao Escoloa Politcnica de So Paulo, Vol 1 e 2, 2 edio,
So Paulo, 1972.
4.7 - Estabilizao solo-cal:
A Cal um aglomerante resultante da calcinao de rochas calcrias (calcrios ou
dolomitos), a uma temperatura inferior do incio de fuso do material.
Dentre as vrias opes de aplicao da cal pode-se citar: dar plasticidade s
argamassas, construo de sub-bases e bases, fabricao de tijolos, blocos e painis.
O esquema de produo da cal pode ser assim resumido:
CaCO3 (calcrio) + calor
CaO + CO2
CaCO3MgCO3 (dolomito) + calor
CaOMgO + 2CO2
CaO xido de clcio no hidratado cal clcica ou calctica
CaOMgO cal dolomtica
81
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
O processo de hidratao da cal acontece da seguinte maneira:
CaO + H 2O
Ca(OH)2 (cal clcica hidratada) + calor
CaCO3MgCO3 + H 2O Ca(OH)2MgO (cal dolomtica hidratada) + calor
4.7.1 - A mistura solo-cal
uma tcnica de estabilizao utilizada em vrios pases. Suas principais funes so:
- Melhoria permanente das caractersticas do solo;
- Aumenta a resistncia ao da gua;
- Melhoria do poder de suporte;
- Melhoria da trabalhabilidade de solos argilosos.
Ao misturar a cal ao solo em condies timas de umidade, ocorrem reaes qumicas
que provocam alteraes fsicas nos mesmos, tais como:
- O ndice de plasticidade (IP) cai;
- O limite de plasticidade (LP) aumenta e o limite de liquidez (LL) cai;
- A frao do solo passante na peneira n80 (0,42mm) decresce;
- A contrao linear e expanso decrescem;
- A gua e a cal aceleram a desintegrao dos torres de argila durante a
pulverizao, tornando os solos mais trabalhveis;
- A resistncia compresso aumenta;
- Aumento da capacidade de carga;
- Facilita a secagem do solo em reas alagadias;
-Nas bases e sub -bases estabilizadas com cal, produz uma barreira resistente
penetrao da gua por gravidade e promove rpida evaporao da umidade
existente.
4.7.2 - Mecanismos de reao da mistura solo-cal
a) Troca catinica: A adio de cal ao solo provoca substituio de ctions
monovalentes por ctions bivalentes.
b) Floculao e aglomerao: As reaes provocam diminuio da dupla camada
resultando na floculao das partculas argilosas.
c) Reaes pozolnicas: Reao da slica e alumina do solo com a cal, formando os
agentes cimentantes, que so os responsveis pelo aumento de resistncia na mistura
solo-cal.
d) Carbonatao: A cal reage com dixido de carbono da atmosfera formando
carbonatos de clcio e/ou magnsio, que so compostos cimentantes fracos.
82
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
4.7.3 - Fatores que influenciam no processo de estabilizao dos solos
com cal
a) Tipo de cal empregado:
Pode-se empregar tanto cal virgem quanto cal hidratada. Cales calcticas hidratadas
produzem menores resistncias que cales dolomticas hidratadas.
b) Tipo de solo:
Solos finos correspondem melhor estabilizao com cal que solos granulares porque
uma maior superfcie especfica refletir em reaes mais intensas entre a cal e as
partculas de solo. A mineralogia do solo tambm influencia nas reaes.
c) Tempo de cura:
Ganhos muito pequenos de resistncia nas idades iniciais e maiores desenvolvimentos
para maiores perodos de tempo.
d) Influncia da temperatura:
Quando a cura for a baixas temperaturas, o aumento de resistncia lento, a
temperaturas normais a velocidade maior, e a altas temperaturas (60C) as
resistncias evoluem rapidamente.
4.7.4 - Tipos de estabilizao com cal
a) Solo modificado com cal: visa reduzir a plasticidade do solo e aumentar a
trabalhabilidade.
b) Solo cimentado com cal: visa obter um material com maior resistncia e
durabilidade.
No existe no Brasil metodologia para dosagem e dimensionamento de misturas solocal. Para misturas que apresentam ganhos de resistncia, o ensaio de compresso
simples utilizado para dosagem. A avaliao da capacidade de suporte das misturas
solo-cal feita mediante o ensaio de ISC (CBR). Normalmente so utilizados
procedimentos de dosagem experimentais.
4.8 - Estabilizao solo-betume
uma mistura de materiais betuminosos (emulso, asfaltos lquidos, alcatres) e solos
argilo-siltosos ou argilo-arenosos para trabalharem como material estabilizado para
base ou sub -base, impermeabilizando o solo e aumentando o seu suporte.
83
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
4.8.1 - Tipos de misturas
- Areia-asfalto ou areia-betume: a mais difundida, com facilidade de controle da
qualidade e economicamente mais competitiva.
- Solo-betume: seu controle mais rigoroso, maior teor de betume e com funes de
impermeabilizao.
4.8.2 - Principais funes do betume
a) Quando usado em solos granulares (areia-betume):
A funo do ligante gerar foras de natureza coesiva ao solo, aumentando de certa
forma o seu valor de suporte.
b) Quando usada em solos argilosos (solo -betume):
A funo do ligante garantir a constncia, na mistura, do teor de umidade de
compactao, promovendo uma ao impermeabilizante. Esta ao realizada tanto
pelo obturamento dos canalculos do solo, por onde poderia ocorrer uma ao capilar
da gua, como pela criao de pelculas hidrorrepelentes envolvendo agregao de
partculas finas que impedem que a gua penetre na mistura.
4.8.3 - Teor de betume
Varia em torno de 4 a 6% em peso de solo seco, sendo funo da quantidade de argila,
silte, areia, vazios e densidade do solo.
Quanto mais fino o solo, maior ser a quantidade de betume requerida. Quando usado
em excesso, diminui a estabilidade e passa a agir como lubrificante.
4.8.4 - Mtodos de dosagem
Existem alguns mtodos que podem ser utilizados, sendo todos extrados da literatura
americana: Mtodo Califrnia modificado; Mtodo Hubbard Field; Ensaio do
penetrmetro de cone; Ensaio do valor do suporte Flrida; Ensaio do ndice de suporte
Texas.
84
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
4.9 Estabilizao granulomtrica
Neste item sero abordados os processos pelos quais se misturam dois ou mais
agregados de granulometrias diferentes de modo a enquadr-los em uma
especificao qualquer. comum a apresentao da especificao em faixas de
trabalho onde so mostrados os limites inferior e superior da granulometria. Desta
forma, a granulometria ideal a ser alcanada ou exigida aquela que representar o
ponto mdio dos limites extremos.
Os projetos de mistura de agregados so muito utilizados na execuo de bases e subbases estabilizadas granulometricamente, em misturas betuminosas ou quaisquer
outras misturas que envolvam dois ou mais materiais de granulometrias diferentes
(misturas solo-cimento, solo -cal, macadames, etc.).
Os solos arenosos so, de um modo geral, facilmente destrudos por aes abrasivas,
quando analisados separadamente, devido a falta do ligante. J os solos argilosos,
tambm analisados separadamente, so muito deformveis, com baixa resistncia ao
cisalhamento, quando absorvem gua. Na prtica, comum e necessrio misturarmos
estes dois tipos de solos, ou seja, solos com caractersticas granulares e solos com
caractersticas coesivas, para obtermos uma mistura com propriedades ideais de
resistncia e trabalhabilidade.
Surgiram ento duas idias bsicas para as tcnicas de correo de algumas
propriedades dos solos atravs da manipulao de suas granulometrias:
a) Hiptese de graduao ideal: Em geral, a uma maior compacidade corresponde uma
maior resistncia. As diferentes formas das partculas tm grande influncia neste
conceito.
b) Hiptese de Binder: Nesta, alm de levar em cinta a hiptese anterior, considera-se
o solo constitudo de duas fraes (agregado e ligante) onde busca-se o mximo de
compacidade para cada frao.
4.9.1 - Mtodos de misturas
Para se atender uma determinada granulometria, exigida por uma especificao
qualquer, e dispondo-se de dois ou mais materiais, podemos construir um material
ideal que seja uma mistura conveniente dos outros materiais. Para a perfeita execuo
desta mistura em causa, depe-se de alguns processos de clculo, quais sejam:
- MTODO ANALTICO
- MTODO DAS TENTATIVAS
- MTODOS GRFICOS:
- MTODO DO TRINGULO EQUILTERO
- MTODO DE RUTHFUCHS
- MTODO DAS COMPOSIES SUCESSIVAS
85
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
4.9.2 - Mtodo analtico
Sendo dados os agregados A, B, C, ..., com, respectivamente x%, y%, z%, ..., passante
numa srie de peneiras e desejando-se projetar uma mistura M com m1 %, m2%, m3 %,
..., passante na mesma srie de peneiras, pode-se sempre estabelecer um sistema de
N equaes em que uma delas :
x% + y% + z% + ... = 100
E as outras N - 1 equaes so do tipo:
x An + y Bn + z Cn + ... = mn
100
100
100
Onde:
x,y,z, ... Porcentagens de cada material (A,B,C, ...) que entrar na mistura
para se obter o material M
An,Bn,Cn, Porcentagens passantes nas n peneiras de uma srie
mn
Porcentagens passantes, requeridas pela especificao, para as
n peneiras da srie
n
nmero de peneiras de uma srie (N - 1)
Exemplo numrico e especificao
Executar uma mistura com os materiais 1, 2 e 3 de modo a satisfazer a especificao
dada a seguir, utilizando o mtodo analtico.
Peneiras
(Pol.)
(mm)
1
3/4
1/2
3/8
n 4
n 10
n 40
n 80
n 200
25,40
19,10
12,70
9,50
4,80
2,00
0,42
0,18
0,074
% em Peso Passante
Mat 1
Mat 2
Mat 3
100
88
75
53
31
17
8
6
3
100
95
70
40
0
100
83
52
Especificao
% Peso Pass.
Especificao
Ponto Mdio
100
80 - 100
65 - 95
45 - 80
28 - 60
20 - 45
10 - 32
8 - 20
3-8
100
90
80
62
44
32
21
14
5
Soluo
Armam-se tantas equaes quantas forem o nmero de peneiras:
86
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Equaes:
1) 100x + 100y + 100z = 100
2) 88x + 100y + 100z = 90
3) 75x + 100y + 100z = 80
4) 53x + 100y + 100z = 62
5) 31x + 100y + 100z = 44
6) 17x + 95y + 100z = 32
7) 8x + 70y + 100z = 21
8) 6x + 40y + 83z = 14
9) 3x + 0y + 52z = 5
Resolvendo o sistema:
1-2
100x + 100y + 100z = 100
88x + 100y + 100z = 90
12x
= 10 ento x = 10 / 12 = 83,33 %
1-3
100x + 100y + 100z = 100
75x + 100y + 100z = 80
25x
= 20 ento x = 20 / 25 = 80,00 %
1-4
100x + 100y + 100z = 100
53x + 100y + 100z = 62
47x
= 38 ento x = 38 / 47 = 80,85 %
1-5
100x + 100y + 100z = 100
31x + 100y + 100z = 44
69x
= 56 ento x = 56 / 69 = 81,15 %
Adotando-se um valor mdio para x = 80 %
5-6
31x + 100y + 100z = 44
17x + 95y + 100z = 32
14x + 5y
= 12 ento y = (12 - 14 x 0,80) / 5 = 16%
z = 100 - 80 - 16 = 4%
Outra opo:
de (9) vem: 3 x 0,80 + 52z = 5 ento z = (5 - 3 x 0,80) / 52 = 5%
y = 100 - 80 - 5 = 15%
Soluo final: x = 80% y = 16% z = 4% ou x = 80% y = 15% z = 5%
Com as porcentagens encontradas para cada material, calcula-se a granulometria do
material M e compara-se com a especificao.
87
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Peneiras
1
3/4
1/2
3/8
n 4
n 10
n 40
n 80
n 200
% em Peso Passante
Material M
0,80 x 100 + 0,15 x 100 + 0,05 x 100 = 100
0,80 x 88 + 0,15 x 100 + 0,05 x 100 = 90,40
0,80 x 75 + 0,15 x 100 + 0,05 x 100 = 80,00
0,80 x 53 + 0,15 x 100 + 0,05 x 100 = 62,40
0,80 x 31 + 0,15 x 100 + 0,05 x 100 = 44,80
0,80 x 17 + 0,15 x 95 + 0,05 x 100 = 32,85
0,80 x 8 + 0,15 x 70 + 0,05 x 100 = 21,90
0,80 x 6 + 0,15 x 40 + 0,05 x 83 = 14,95
0,80 x 3 + 0,15 x 0 + 0,05 x 52 = 5
Especif.
% Peso Pass.
100
80 - 100
65 - 95
45 - 80
28 - 60
20 - 45
10 - 32
8 - 20
3-8
Especif.
Pto. Mdio
100
90
80
62
44
32
21
14
5
Para o caso de trs materiais e trs faixas granulomtricas, tem-se:
Peneiras
Mat 1
Ag. Grado (Ret.# 10)
Ag. Miudo (#10 e #200)
Filler (Pass. # 200)
% na Mistura
a = 83
b = 14
c=3
x
% em Peso Retido
Mat 2
Mat 3
d=5
e = 95
f=0
y
g=0
h = 48
i = 52
z
Especificao
M1 = 68 (80-55)
M2 = 27 (17-37)
M3 = 5 (3-8)
Seguindo-se uma formulao especfica para o caso de trs equaes e trs
incgnitas, temos os seguintes va lores para o exemplo dado:
x = (M2-h)(d-g) - (M1-g)(e-h) = (27-48)(5-0)-(68-0)(95-48) = (-21x 5)-(68x 47) = - 3301
(b-h)(d-g) - (a-g)(e-h)
(14-48)(5-0)-(83-0)(95-48) (-34x 5)-(83x 47) -4071
x = 81,08%
y = (M2-h) - x(b - h) = (27-48) - 0,8108 (14 - 48) = -21 + 27,57 = 6,57
(e-h)
( 95 - 48 )
47
47
y = 13,97%
z = 1 - ( x + y ) = 1 - ( 0,8108 + 0,1397 )
z = 4,95%
4.9.3 - Mtodo das tentativas
Neste processo so feitas tentativas sucessivas para se determinar as porcentagens
com que cada material deve entrar na mistura. Aps cada tentativa so feitas algumas
comparaes com a especificao a atender. As operaes so repetidas at
conseguir o atendimento satisfatrio da especificao.
88
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
O sucesso deste mtodo depende da primeira tentativa. Quando se trabalha com trs
agregados com granulometrias prximas do agregado grado, agregado mido e filer,
recomenda-se como regra prtica para a primeira tentativa as seguintes correlaes:
M1 Agregado Grado X %
M2 Agregado Mido Y %
X = 2Y
M3 Filer
Z%
Z=5%
Por exemplo: X= 65%; Y= 30%; Z= 5% ou X= 60%; Y= 35%; Z= 5%; etc.
A metodologia consiste dos seguintes passos, de acordo com o quadro abaixo:
1- Arbitrar a primeira tentativa. Para o exemplo dado: X= 65%; Y= 30%; Z= 5%
2- Preencher as colunas 2, 5 e 8 com a granulometria de cada material a ser misturado
3- Preencher as colunas 3, 6 e 9, somando os resultados na coluna 11
4- Comparar os valores da coluna 11 com os da coluna 14 (faixa granulomtrica
especificada)
5- Comparar os valores da coluna 11 com os da coluna 13 (ponto mdio da
especificao)
6- Caso a primeira tentativa no tenha atendido a especificao fazer nova tentativa
baseada nos resultados encontrados at o momento. Analisar quais os materiais a
serem diminudos na mistura e quais a serem aumentados. Para o exemplo dado:
X= 80%; Y= 15%; Z= 5%
7- Preencher as colunas 4, 7 e 10, somando os resultados na coluna 12
8- Comparar os valores da coluna 12 com os das colunas 14 e 13
Obs: No caso de 4 materiais, a primeira deve ser feita segundo o seguinte esquema:
M1 e M2 Brita 1 e 2 X%
M1 e M2 Dobro de M3
M3
Areia
Y%
M1 M2
M4
Filler
Z%
M4 = 5%
1
M1
3
Penei
ras
M2
4
M3
7
5
65%
80%
100
65,00
80,00
3/4
88
57,20
1/2
75
3/8
10
5%
5%
11
12
13
14
1
Tent
2
Tent
Ponto
Mdio
Espec
.
30%
15%
100
30,00
15,00
100
5,00
5,00
100,0
100,0
100
100
70,40
100
30,00
15,00
100
5,00
5,00
92,20
90,40
90
80-100
48,75
60,00
100
30,00
15,00
100
5,00
5,00
83,75
80,00
80
65-95
53
34,45
42,40
100
30,00
15,00
100
5,00
5,00
69,45
62,40
62
45-80
n 4
31
20,15
24,80
100
30,00
15,00
100
5,00
5,00
55,15
44,80
44
28-60
n 10
17
11,05
13,60
95
28,50
14,25
100
5,00
5,00
44,55
32,85
32
20-45
n 40
5,20
6,40
70
21,00
10,50
100
5,00
5,00
31,20
21,90
21
10-32
n 80
3,90
4,80
40
12,00
6,00
83
4,15
4,15
20,05
14,95
14
8-20
n200
1,95
2,40
0,00
0,00
52
2,60
2,60
4,55
5,00
3-8
89
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Captulo 5
AGREGADOS PARA PAVIMENTAO
O material aqui apresentado sobre agregados foi extrado do relatrio final do 1
Seminrio de Qualificao Acadmica ao Doutorado do autor, apresentado ao
Programa de Engenharia Civil (PEC) da COPPE / UFRJ. Maiores detalhes podem ser
vistos em MARQUES (2001).
Segundo o ASPHALT INSTITUTE (1989) a quantidade de agregado mineral em
misturas asflticas de pavimentao geralmente de 90 a 95% em peso e 70 a 85%
em volume e esta parcela mineral em parte a responsvel pela capacidade de
suporte de cargas dos revestimentos, influenciando assim o desempenho dos
pavimentos. Na pavimentao asfltica o agregado tambm usado comumente na
base e eventualmente na sub -base. Na pavimentao rgida o agregado usado na
confeco do concreto de cimento Portland.
De acordo com a NBR 9935, que determina a terminologia dos agregados, o termo
agregado definido como material sem forma ou volume definido, geralmente inerte,
de dimenses e propriedades adequadas para produo de argamassa e concreto.
J WOODS (1960) define agregado como sendo uma mistura de pedregulho, areia,
pedra britada, escria ou outros materiais minerais, usada em combinao com um
ligante para formar um concreto, uma argamassa, etc.
Quanto classificao dos agregados segundo sua natureza, encontra-se a seguinte
classificao como sendo a mais usada no Brasil, na qual os agregados so divididos
em Naturais: aqueles que so utilizados tal como se encontram na natureza, salvo
operaes de britagem e lavagem como, por exemplo, os cascalhos, saibros, areias; e
em artificiais: aqueles que resultam de uma alterao fsica ou qumica de outros
materiais, como a escria de alto forno, argila expandida, ou que exige extrao como
o caso das rochas, sendo a pedra britada o tipo mais comum.
90
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Segundo ROBERTS et al (1996), os agregados usados em construo rodoviria so
largamente obtidos de depsitos de rochas naturais. As rochas naturais ocorrem como
afloramentos ou prximo superfcie ou como depsitos de agregados ao longo de
velhos extratos aluvionares. As rochas naturais so classificadas pelos gelogos em 3
grupos dependendo da sua origem: gneas (magmticas), sedimentares e
metamrficas. Outros tipos de agregados que s vezes so usados em misturas a
quente so os agregados leves, produzidos pelo aquecimento de argila a temperaturas
muito altas e escrias, normalmente produzidas nos alto-fornos durante a produo de
ao. Estes dois agregados artificiais produzem boa resistncia ao escorregamento
quando usados em misturas a quente.
Denomina-se ocorrncia o depsito natural de pedregulho ou areia possvel de
emprego em rodovias, tambm chamadas de cascalheiras. Quanto origem geolgica
as ocorrncias podem ser classificadas como residual, elico, ou aluvial; quanto
formao, em bancos (acima do terreno), minas (abaixo do terreno), de rio, de mar.
No Brasil existe abundncia de depsitos de saibro, e pouca ocorrncia de depsitos
de areia (climas ridos).
Areias quartzosas de formao elica so bastante puras (mais de 90% de teor de
slica), porm exibem granulometria uniforme e fina. Areias quartzosas de origem fluvial
no so to puras (80 a 85% de slica), mas apresentam em geral granulometria
adequada aos trabalhos de pavimentao rodoviria. As areias de depsitos
residurios apresentam boa granulometria, porm seu grau de pureza est na faixa de
70%.
Segundo MARTINS (1995) grande parte das rochas duras exploradas para a indstria
de construo encontra-se em reas de alto valor paisagstico ou em reas de
preservao ambiental, sendo necessrio um planejamento cuidadoso para minimizar
perturbaes ambientais e danos paisagem. No h escassez previsvel de recursos
de rocha para produo de brita no Brasil, a despeito da extrao anual (estimada)
superar 100 milhes de metros cbicos e do consumo per capita ser muito baixo,
denotando uma enorme demanda reprimida.
Em regies que apresentam escassez de material para produo de britas,
como a regio norte do Brasil, por exemplo, possvel o uso de argila
expandida com agregado para utilizao em servios de pavimentao.
5.1 - Produo de agregados
As caractersticas fsicas dos agregados como resistncia, abraso e dureza so
determinadas pelas caractersticas da rocha de origem. Entretanto, o processo de
produo nas pedreiras podem afetar significativamente a qualidade dos agregados,
91
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
pela eliminao das camadas mais fracas da rocha e pelo efeito da britagem na forma
de partcula e graduao do agregado.
Em quase toda pedreira existe uma camada de solo sobrejacente que deve ser
removido antes que a rocha s seja encontrada. Esta parte superficial e no
aproveitvel na produo de britas designada por estril.
5.2 - Operao na pedreira
O propsito bsico da operao em uma pedreira a remoo da rocha s atravs de
dinamite e ento usar uma srie de britadores e outras unidades para reduzir o material
em um nmero suficiente de componentes de modo a produzir os materiais de
construo utilizveis no pavimento. Tambm desejvel produzir agregado britado
que tenha formato cbico e no achatado ou alongado.
A Figura 26 mostra o esquema do processo de operao em uma pedreira que
normalmente usa um britador de mandbula como britador primrio e um britador de
cone como secundrio.
Figura 26 Esquema Simplificado do processo de Britagem (ROBERTS et al, 1996)
92
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
A rocha, removida da superfcie da pedreira depois de dinamitada, transportada para
o britador por um caminho. O material mais fraco normalmente se quebra em
pequenos pedaos e so removidos antes da britagem. O britador de mandbula
(primrio) quebra a rocha em tamanhos que possam ser trabalhados pelos outros
britadores. Aps a britagem primria, a prxima operao peneirar os agregados em
vrios tamanhos. O material maior que 1 (25,4mm) colocado no britador de cone
para britagem adicional. O material menor que 1 (25,4mm) e maior que (19 mm)
estocado. O material menor que (19mm) levado para um segundo peneirador para
separaes futuras. O material maior que (19 mm), que ainda aparecer retornado
ao britador de cone para nova britagem. O material menor que (19mm) peneirado
e estocado em 3 pilhas separadas: material entre 3/4 e 3/8 (9,5mm), entre 3/8 e # n
4 (4,8mm) e menor que 4,8mm. Esta uma descrio de operao de britagem muito
simplificada que identifica os mtodos que so normalmente usados para britar
agregados e separ-los em tamanhos comerciais. A maioria das operaes nas
centrais de britagem apresenta maior complexidade que estas descritas, ou
apresentam procedimentos diferentes, porm a operao sempre feita com britadores
e peneiradores. Outras centrais apresentam a capacidade de lavar os agregados em
certos pontos da operao.
Durante a operao de britagem essencial que as propriedades do produto final
sejam consistentes. Quando a rocha removida de vrias localizaes na pedreira, as
propriedades fsicas dos agregados podem variar substancialmente. Controle de
qualidade durante as operaes de britagem devem assegurar que as propriedades
fsicas dos agregados no variem excessivamente. O ideal que a quantidade de
material que alimenta as operaes de britagem deve ser aproximadamente constante.
O aumento da vazo de fluxo de material do britador, normalmente resulta em mais
transbordamento de agregado mais fino sobre as peneiras. Este excesso resulta em
um estoque de material mais fino.
O britador primrio produz uma reduo mecnica inicial de 8 (200mm) para 1
(25,4mm). Os britadores secundrio e tercirio reduzem os agregados at o tamanho
desejado.
5.3 - Amostragem de agregados
Antes de se fazer qualquer ensaio em agregados, as amostras devem ser obtidas da
origem usando tcnicas de amostragem prprias.
Para projeto de misturas asflticas so usadas amostras representativas e para
controle de qualidade so tomadas amostras aleatrias. Se amostras representativas
no so tomadas, todos os ensaios conduzidos nos agregados no tem sentido, e isto
pode resultar em um projeto ou execuo de mistura asfltica com m qualidade,
resultando em um desempenho insatisfatrio.
93
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Amostras de agregados so normalmente tomadas de pilhas de estocagem, correias
transportadoras, silos quentes ou s vezes de caminhes carregados. O pessoal
encarregado da amostragem deve evitar coletar material que segregue quando obtido
de pilhas de estocagem, caminhes ou silos. Conseqentemente, o melhor local para
obter uma amostra de uma correia transportadora, entretanto, a largura total de fluxo
na correia deve ser amostrada, uma vez que o agregado tambm segrega na correia.
Uma amostra representativa obtida pela combinao de um nmero de amostras
aleatrias por toda parte em um perodo de tempo (um dia para amostras em correias)
ou tomando amostras de vrias locaes em pilhas de estocagem e combinando estas
amostras. As amostras devem ser tomadas de modo que o efeito da segregao seja
minimizado nas pilhas. O agregado no fundo da pilha usualmente mais grado que
no resto da pilha. O mtodo preferido de amostragem em uma pilha escalar seu lado,
entre o fundo e a ponta, remover o agregado superficial e obter uma amostra debaixo
da superfcie. s vezes necessrio colocar uma tbua acima do local a ser amostrado
para evitar que o agregado caia sobre a rea que est sendo amostrada.
No Brasil, as normas que tratam de amostragem de agregados so a NBRNM 26
(antiga NBR 7216) e a PRO 120/97 do DNER. Em ambas so fixadas as exigncias
para amostragem de agregados no campo.
Utiliza-se a norma intitulada Reduo de amostra de campo de agregados para
ensaios de laboratrios, NBRNM 27 (antiga NBR 9941) que fixa condies exigveis na
reduo de amostra de agregado formado no campo, para ensaios de laboratrio.
A PRO 257/99 do DNER descreve o estudo e amostragem de rochas em pedreiras
para fins rodovirios.
5.4 - Propriedades qumicas e mineralgicas dos agregados
Segundo ROBERTS et al (1996) so as propriedades fsicas dos agregados que
determinam principalmente a adequao para o uso em misturas asflticas e em menor
extenso as propriedades qumicas. So propriedades fsicas/mecnicas bsicas a
densidade, porosidade e a resistncia. Propriedades qumicas/fsico-qumicas tais
como umidade, adeso e descolamento so funo da composio e estrutura dos
minerais no agregado. Uma compreenso da mineralogia e identificao de minerais
pode produzir informaes sobre propriedades fsicas e qumicas potenciais de um
agregado para um determinado uso, e pode ajudar a evitar o uso de um agregado que
tenha constituintes minerais nocivos. Exigncias em especificaes devem ser
selecionadas para que os agregados que tenham componentes minerais indesejveis
no sejam aceitos para uso.
94
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
5.4.1 - Propriedades qumicas de agregados
As propriedades qumicas de um agregado identificam a composio qumica e/ou
determinam as transformaes que um agregado pode estar sujeito devido ao
qumica. Composies qumicas de agregados baseadas em anlises qumicas so
usualmente dadas em termos de xidos, sem considerao se tais xidos esto
atualmente presentes na amostra. Estes dados podem no trazer informaes quanto
composio mineral e s vezes podem ser confusos. Alguns agregados contm
substncias que:
1 So solveis em gua (ex. gesso)
2 So sujeitas oxidao, hidratao e carbonatao
3 Podem reagir com os componentes do Cimento Portland, mas a reatividade de
alguns agregados com o cimento asfltico no conclusivamente estabelecida.
Propriedades qumicas de agregados tm pequeno efeito no desempenho, exceto
quando elas afetem a adeso do ligante asfltico ao agregado e a compatibilidade com
aditivos antidescolamento que podem ser incorporados ao ligante asfltico (ROBERTS
et al, 1996).
A adeso do cimento asfltico ao agregado e o deslocamento do filme asfltico pela
gua um fe nmeno complexo segundo ROBERTS et al (1996), envolvendo
interaes fsico-qumicas entre muitos parmetros. Vrias teorias tm sido sugeridas
para explicar os mecanismos de adeso e adesividade (descolamento). Porm
nenhum deles pode ser completamente exp licado e mais de um mecanismo pode
ocorrer ao mesmo tempo. A afinidade dos agregados ao asfalto melhor analisada na
seo seguinte que aborda as propriedades fsicas dos agregados, especialmente no
que diz respeito ao descolamento e aos danos causados pela presena de gua.
Existem grandes evidncias que indicam que alguns agregados parecem ter mais
afinidade pela gua que pelo cimento asfltico, e os filmes asflticos nestas partculas
de agregados podem tornar-se destacados (separados) ou no aderidos depois de
exposto gua. Estes agregados so chamados hidroflicos e eles tendem a ser cidos
na natureza. Por outro lado, agregados que tem afinidade com cimento asfltico so
chamados hidrofbicos e eles tendem a ser bsicos na natureza. comumente aceito
que a natureza da carga eltrica da superfcie dos agregados, quando em contato com
gua, afete significativamente a adeso entre o agregado e o cimento asfltico e sua
resistncia ao dano por umidade.
A maioria dos agregados silicosos tais como arenito, quartzo e cascalho tornam-se
negativamente carregados na presena de gua, enquanto materiais calcrios
conduzem carga positiva na presena de gua.
Muitos agregados contm ambos tipos de carga porque eles so compostos de
minerais tais como slica com carga negativa e tambm clcio, magnsio, alumnio ou
ferro com carga positiva. Agregados tpicos que conduzem cargas misturadas incluem
95
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
basaltos e calcrios silicosos. Dolomita exemplo de caso extremo de agregado
eletropositivo e quartzo exemplo de agregado eletronegativo.
As normas brasileiras que visam avaliar caractersticas qumicas de agregados esto
relacionadas diretamente ao concreto de cimento Portland. Apesar destas normas
serem utilizadas mais freqentemente para concreto de cimento Portland, dependendo
da necessidade, estes ensaios podem ser solicitados para agregados a serem usados
em misturas asflticas. Dentre vrios ensaios pode-se citar: Verificao da reatividade
potencial pelo mtodo qumico (NM 28), Determinao de sais, cloretos e sulfatos (NM
50), Reatividade potencial de lcalis em combinaes cimento -agregado (NBR 9773).
5.4.2 - Propriedades mineralgicas
A maioria de agregados composta de uma combinao de minerais. Dentre os
minerais mais importantes pode-se citar os minerais de slica (quartzo), os feldspatos
(ortoclsio, plagioclsio), os minerais ferromagnsicos (muscovita, vermiculita),
minerais carbonatados (calcita, dolomita) e minerais arglicos (ilita, caulinita e
montmorilonita).
Minerais
Segundo FRASC e SARTORI (1998) durante o processo de diferenciao geoqumica
da terra, que resultou na formao da sua parte slida mais externa (crosta terrestre),
dez elementos ali se concentraram, totalizando cerca de 99% da sua composio. O
oxignio (46,6%) e o silcio (28,2 %) so os elementos mais comuns nos minerais
formadores de rochas, chamados de silicatos. Os demais so: Al (8,2%), Fe (5,6%), Ca
(4,2%) e outros (Na, K, Mg, Ti e P). Embora j tenham sido descritas e classificadas
mais de 2000 espcies minerais, apenas um pequeno nmero formador das rochas.
Rochas gneas
So chamadas de rochas gneas ou magmticas aquelas resultantes da solidificao
de material rochoso, parcial ou totalmente fundido, denominado magma, gerado no
interior da crosta terrestre. As rochas formadas em profundidade no interior da crosta
terrestre so chamadas plutnicas ou intrusivas e as que so formadas na superfcie
terrestre pelo extravasamento da lava so chamadas de vulcnicas ou extrusivas
(FRASC e SARTORI, 1998).
96
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Segundo FRASC e SARTORI (1998) as rochas magmticas so as mais utilizadas
em construo civil no Brasil. Os granitos e os basaltos so, respectivamente, as
rochas plutnicas e vulcnicas mais abundantes no Brasil.
Rochas sedimentares
Segundo FRASC e SARTORI (1998) as rochas sedimentares so resultantes da
consolidao de sedimentos, como partculas minerais provenientes da desagregao
e do transporte de rochas preexistentes ou da precipitao qumica, ou ainda da ao
biognica. Constituem uma camada relativamente fina ( 0,8 Km) da crosta terrestre.
Os folhelhos, arenitos e calcrios constituem 95% das rochas sedimentares e
compem as bacias sedimentares como do Paran, Amazonas e outras.
Rochas metamrficas
So derivadas de outras preexistentes que, no decorrer dos processos geolgicos,
sofreram mudanas mineralgicas, qumicas e estruturais, no estado slido, em
resposta a alteraes das condies fsicas (temperatura, presso) e qumicas,
impostas em profundidades abaixo das zonas superficiais de alterao e cimentao,
ou seja, no domnio das transformaes diagenticas (FRASC e SARTORI, 1998).
Desta forma, a Tabela a seguir sintetiza os minerais e as rochas associados e descritos
por FRASC e SARTORI (1998). A prxima tabela mostra a composio mineral
mdia comumente encontrada nos agregados das principais rochas, segundo
ROBERTS et al (1996).
97
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Principais Rochas e Constituintes Minerais (FRASC e SARTORI, 1998)
Minerais
Silicatos
Neossilicatados
Olivina
Granada
Titanita
Zirco
Rochas gneas
No silicatos
Elementos
nativos
Grafita
Inossilicatos
Piroxnios
Augita
Hiperstenio
Anfiblios
Sulfetos
Pirita
xidos e
Hidrxidos
Magnetita
Hematita
Ilmenita
Limonita
Goethita
Hornblenda
Filossilicatos
Bauxita
Pirolusita
Micas
Muscovita
Biotita
Argilominerais
Caulinita
Montmorilonita
Ilita
Clorita
Serpentinita
Talco
Tectossilicatos
Feldspatos
F.
Potssico
Carbonatos
Granitos
Riolitos
Rochas
Sedimentares
Dentrticas
Ruditos
Dioritos
Andesitos
Sienitos
Traquitos
Fonlitos
Basaltos
Gabros
Diabsios
Anortositos
Peridotitos
Piroxenitos
Piroclsticas
Calcita
Dolomita
Halides
Antracito
Folhelho
PirobetuMinoso
Evaporitos
Chert
Diatomitas
Gipso
Plagioclsios
Slicas
Quartzo
Calcednia
Opala
Feldspatides
Nefelina
Zelitas
Analcita
98
Hornfels
Serpentinito
Esteatitos
Conglomerados
Brecha
Arenitos
Quartzo
arenito
Arcseo
Grauvaca
Lutitos
Siltito
Follhelho
sltico
Ritmito
Calcrios e
Dolomitos
Carvo
Turfa
Linhito
Carvo Mineral
Halita
Sulfatos
Rochas
Metamrficas
Ardsia
Filito
Xistos
Gnaisses
Migmatitos
Mrmores
Quartizitos
Anfibolitos
Calciossilicatos
Cataclasitos
Brechas
Tectnicas
Milonitos
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Composio Mineral Mdia das Rochas (Roberts et al, 1996)
Rocha
Quartz Ortoclsio
o
Rochas gneas
Granito
30
41
Diorito
8
7
Gabro
0,5
Diabsio
Riolito
32
45
Traquito
3
42
Andesito
0,6
Basalto
Rochas metamrficas
Quartzito
84
3
Feldspato46
27
Quartzito
Hormblenda
10
16
-Gnaisse
Granito37
32
Gnaisse
Biotita-Xisto
34
13
Mica-Xisto
37
16
Ardsia
29
4
Mrmore
3
0,2
Amfibolito
3
1
Rochas Sedimentares
Arenito
79
5
Feldspato35
26
Arenito
Calcrio46
3
arenito
Silex
93
Calcrio
6
Dolomito
5
-
Plagioclsio
Augita
Hormblenda
Bio- Muscovita
tita
Epdoto Vidro
8
30
44
44
3
1
48
36
3
28
46
2
14
35
27
9
0,7
6
3
-
3
4
2
3
0,5
-
3
0,1
2
-
1
5
1
2
8
3
-
2
0,4
0
13
21
1
-
2
2
2
5
2
1
15
45
11
3
1
0,2
8
1
70
38
13
1
3
26
55
Calcita= 96
0,2
2
2
2
12
0,3
2
0,2
0,6
1
2
Calcita= 42
Dolomita = 8
Dolomita = 82
Calcita= 1
Calcita= 83
Calcita= 11
Em sua maioria, os agregados so compostos de muitos minerais, com composies
variveis. Mesmo com agregados de mineralogia uniforme, as propriedades podem
ser alteradas pela oxidao, hidratao, lixiviao, intemperismo ou coberturas
estranhas. Entretanto, a mineralogia no pode produzir sozinha uma base para
predizer o comportamento de um agregado em servio. Exames petrogrficos so
teis, e desempenho anterior de agregados similares sob condies ambientais e de
carregamento semelhantes pode ser til na avaliao de agregados.
O quartzo e o feldspato so minerais duros e resistentes ao polimento e so
normalmente encontrados em rochas gneas, tais como granito e granito -gnaisse. Por
outro lado calcita e dolomita que ocorrem em calcrio so exemplos de minerais
macios. O calcrio tem uma alta porcentagem de materiais macios que tendem ao
polimento mais rapidamente que a maioria dos outros tipos de agregados.
A instruo de ensaio do DNER IE 006/94 denominada Anlise petrogrfica de
Materiais Rochosos Usados em Rodovias pode dar indicao da presena de
99
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
minerais que podem dar s rochas uma tendncia maior ou menor ao polimento
quando usada como agregados para fins rodovirios.
A NBR 7389 trata da Apreciao Petrogrfica de Materiais Naturais para Utilizao
como Agregado em Concreto e descreve procedimento semelha nte ao anterior, porm
a finalidade o uso para concreto de cimento Portland. Com esta finalidade existe
tambm a NM 54.
Para entendimento dos constituintes mineralgicos dos agregados deve ser consultada
a TER 198/87 (Terminologia) do DNER ou a NBRNM 66 (antiga NBR 9942) que
adotada pelo DNER pelo processo de referncia.
O outro fator que afeta a utilizao dos agregados em misturas betuminosas, at certo
grau relacionado Mineralogia, a presena de coberturas superficiais e outras
substncias deletrias. Estas substncias deletrias podem incluir argila, xisto argiloso,
silte, xidos de ferro, gesso, sais dissolvidos e outras partculas frgeis que afetam a
ligao com o asfalto. Tambm podem aumentar a susceptibilidade umidade de uma
mistura asfltica e no devem ser usados a menos que a quantidade de matria
estranha seja reduzida por lavagem ou por outros meios.
Um dos efeitos mais importantes da mineralogia dos agregados no desempenho de
misturas asflticas segundo ROBERTS et al (1996) a adesividade da pelcula de
asfalto brita e a resistncia ao descolamento por ao da gua. A ligao entre o
cimento asfltico e os agregados melhor com certos tipos de minerais. Num primeiro
instante, o cimento asfltico normalmente se liga melhor aos agregados carbonatados
(calcrio) que aos agregados silicosos (cascalhos).
Apesar da ligao do cimento asfltico no ser boa em relao a determinados tipos de
agregados, esta ligao pode ser melhorada atravs da adio de determinadas
substncias tais como cal, p calcrio ou os agentes melhoradores de adesividade,
tambm chamados dopes. Estes materiais associados aos agregados fazem com que
a ligao do cimento asfltico seja aumentada, possibilitando misturas asflticas
melhores.
5.5 - Propriedades fsicas dos agregados
Agregados para misturas asflticas so usualmente classificados pelo tamanho como
agregados grados, midos e fileres mineral. A ASTM C294 Nomenclatura descritiva
dos constituintes dos agregados minerais naturais define agregado grado como
partculas retidas na peneira n 4 (4,8mm), agregado fino como aquele que passa na
peneira n 4 e filer mineral como o material com um mnimo de 70% passante na
peneira n 200 (0,075mm). As especificaes americanas SUPERPAVE do programa
SHRP definem o material passante na peneira n 200 (0,075mm) como dust, podendo
ser traduzido como p para diferenciar de termo filer. Outras agncias usam a peneira
n 8 (2,36mm) como o Instituto de Asfalto ou a peneira n 10 (2,0mm) como a linha que
divide os agregados grados dos midos.
100
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Para o DNER considera-se agregado grado aquele cujas partculas ficam retidas na
peneira de 2,0 mm (n 10), agregado mido aquele cujas partculas ficam retidas entre
as peneiras de 2,0 mm (n 10) e 0,075 mm (n200). O filer ou material de enchimento
aquele que deve ter pelo menos 65% passante na peneira de 0,075 mm (n 200). A
Especificao de Material EM 367/97 Material de enchimento para misturas
betuminosas do DNER determina uma faixa granulomtrica para o filer, onde o
material deve ser 100% passante na peneira de 0,42 mm (n 40), ter entre 95 e 100%
de material passante na peneira de 0,18 mm (n 80) e entre 65 e 100% passante na
peneira de 0,075 mm (n 200). Cita como exemplos de filer o cimento Portland, o p
calcrio e a cal hidratada.
A NBR 9935 que define os termos relativos a agregados em concreto de cimento
Portland adota como agregado grado todo material granular com pelo menos 95%, em
massa, dos gros retidos na peneira de 4,8 mm (n 4), agregado mido aquele com
pelo menos 95% em massa que passa pela peneira de 4,8 mm (n 4). O filer definido,
segundo esta especificao, como todo material granular que passa na peneira de 0,15
mm (n 100).
Agregado para misturas asflticas geralmente deve ser: duro, tenaz, forte, durvel
(so), bem graduado, ser constitudo de partculas cbicas com baixa porosidade e
com superfcies limpas, rugosas e hidrofbicas. A adequao de agregados para uso
em misturas asflticas determinada pela avaliao das seguintes caractersticas:
1 Tenacidade
2- Resistncia Abrasiva
3- Dureza
4- Durabilidade
5- Sanidade
6- Forma da Partcula (lamelaridade e angulosidade)
7- Textura Superficial
8- Limpeza / Materiais Deletrios
9- Afinidade ao asfalto
10- Porosidade e Absoro
11- Caractersticas expansivas
12- Polimento e Caractersticas Friccionais
13- Tamanho e graduao
14- Densidade Especfica / Massa Especfica
Todas estas caractersticas tambm so abordadas de alguma forma pelas normas
brasileiras, atravs de vrios mtodos de ensaios, instrues de ensaios,
especificaes de servio e materiais e procedimentos de rgos rodovirios como o
DNER ou pela ABNT (Associao Brasileira de Normas Tcnicas).
KANDHAL et al (1997) afirmam que muitos dos ensaios de agregados correntes foram
desenvolvidos para caracterizar as propriedades dos agregados empiricamente sem,
101
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
necessariamente, ter relaes fortes com o desempenho do produto final (tais como
misturas asflticas) que incorpore agregado.
5.5.1 - Tenacidade, resistncia abrasiva e dureza
Os agregados devem transmitir as cargas de rodas s camadas sobrejacentes por
intermdio do atrito interno e tambm devem ser resistentes abraso e ao polimento
devido ao trfego. So sujeitos fragmentao (quebra) e ao uso abrasivo durante sua
produo, transporte e compactao das misturas asflticas. Eles devem ser duros e
tenazes para resistir a britagem, degradao e desintegrao quando estocados,
manipulados atravs de algum equipamento durante a produo de uma mistura
asfltica, espalhadas no pavimento, compactados com rolos e quando solicitados por
caminhes (ROBERTS et al 1996).
A Abraso Los Angeles uma medida preliminar da resistncia do agregado grado
degradao por abraso e impacto; entretanto, segundo ROBERTS et al (1996),
observaes de campo no mostram uma boa relao entre a perda de abraso Los
Angeles e o desempenho. Este ensaio no satisfatrio para uso em escrias, cinzas
vulcnicas ou outros agregados leves. A experincia mostra que muitos destes
agregados produzem excelente desempenho mesmo com valor de abraso Los
Angeles alto. Um detalhe que deve ser observado quando se utilizam agregados com
alto valor de abraso Los Angeles em misturas asflticas a produo de p durante
sua manipulao e a produo da mistura asfltica. O alto ndice de p poder causar
problemas ambientais assim como problemas no controle da mistura.O ensaio LA foi
originalmente desenvolvido no meio dos anos 20 pelo Laboratrio Municipal de ensaios
da Cidade de Los Angeles, Califrnia.
A tenacidade e resistncia abrasiva so tratadas por algumas normas brasileiras,
mesmo que indiretamente atravs das metodologias citadas abaixo. Nestes ensaios,
os agregados so submetidos a algum tipo de degradao mecnica e medida a
alterao provocada, principalmente na granulometria original, ao final da
degradao. Desta forma, as caractersticas de tenacidade, resistncia abrasiva e
at mesmo de dureza dos agregados so presumidamente avaliadas. Em virtude
destas caractersticas de procedimentos serem semelhantes nestes ensaios, foram
assim agrupados:
- DNER ME 035/98 ou NBRNM 51 Agregados determinao da abraso Los
Angeles
- DNER ME 197/97 ou NBR 9938 Agregados determinao da resistncia ao
esmagamento de agregados grados
- DNER ME 096/98 Agregado grado avaliao da resistncia mecnica pelo
mtodo dos 10% de finos
- DNER ME 397/99 Agregados determinao do ndice de degradao
Washington IDW
102
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
- DNER ME 398/99 Agregados determinao do ndice de degradao aps
compactao Proctor IDP
- DNER ME 399/99 Agregados determinao da perda ao choque no aparelho
Treton
- DNER ME 401/99 Agregados determinao do ndice de degradao de rochas
aps compactao Marshall, com ligante IDML e sem ligante IDM
As especificaes brasileiras para servios de pavimentao que envolvem o uso de
agregados como execuo de camadas de base e revestimento, normalmente
limitam o valor da Abraso Los Angeles (LA) entre 40 e 55%.
Agregados de algumas regies do Brasil, como por exemplo a regio do municpio
do Rio de Janeiro, apresentam o valor da abraso Los Angeles muito acima de
55%, em alguns casos, chegando a 65%. Devido impossibilidade de se encontrar
agregados com este parmetro atendido nas proximidades da obra, muitas rodovias
foram pavimentadas usando-se os agregados da regio do Rio de janeiro, embora
estivessem em desacordo com a especificao vigente, mas com a autorizao do
DNER para tal procedimento. O trecho da BR-040, prximo ao municpio do Rio de
Janeiro, foi assim constitudo.
Em virtude desta experincia e de outras em que agregados com abraso Los
Angeles acima do limite superior foram usados e o desempenho ao longo dos anos
mostrou-se satisfatrio quanto a este parmetro, o DNER passou a recomendar a
execuo de outros ensaios a serem conduzidos nos agregados que
apresentassem o valor da abraso Los Angeles acima do limite superior
especificado. A indicao destes ensaios assim com a adoo de valores limites
para os mesmos foram sugeridos em recente pesquisa do IPR-DNER (IPR, 1998).
Estes ensaios mais recentes so os seguintes: DNER ME 397/99, DNER ME
398/99, DNER ME 399/99, DNER ME 400/99 e DNER ME 401/99 que sero
descritos a seguir.
A tabela a seguir apresenta para estes mtodos de ensaios para agregados mais
recentemente padronizados no Brasil os valores limites que foram estabelecidos em
recente pesquisa do DNER (IPR, 1998).
103
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Mtodos de Ensaios de Caractersticas Mecnicas e Valores de Aceitao de
Agregados (IPR, 1998)
Mtodos de Ensaios
Valores Limite Tentativa
DNER ME 35/94 Agregado determinao da
LA 65%
abraso Los Angeles
DNER ME 399/99 Agregados determinao da
T 60%
perda ao choque no aparelho Treton
DNER ME 96/98: Agregado grado avaliao da
10% Finos 60 KN
resistncia mecnica pelo mtodo dos 10% de
finos
ME 401/99 Agregados determinao do ndice
IDM c/ Ligante 5
de degradao de rochas aps compactao
IDM s/ Ligante 8
Marshall, com ligante IDML e sem ligante IDM
ME 398/99 Agregados determinao do ndice
IDP 6
de degradao aps compactao Proctor IDP
ME 397/99 Agregados determinao do ndice
IDW 30
de degradao Washington IDW
E 60
ME 197/97 ou NBR 9938 Agregados
determinao da resistncia ao esmagamento de
agregados grados
5.5.2 - Durabilidade e sanidade
Os agregados tambm devem ser resistentes ao quebramento ou desintegrao
quando sujeitos ao umedecimento e secagem e/ou congelamento e degelo. Se a
cobertura de cimento asfltico permanece intacta, estes ciclos de intemperismo no
afetam significativamente as misturas asflticas. Entretanto, a gua pode penetrar nas
partculas de agregados se alguma degradao da mistura asfltica ocorreu durante a
construo. Partculas frgeis e fracas que se quebram durante a compactao
produzem fcil acesso para a gua. A gua tambm pode penetrar se a mistura
asfltica apresentar descolamento (WU et al 1998).
Segundo ROBERTS et al (1996) os agregados devem ser resistentes ao colapso ou
desintegrao sob a ao de molhagem e secagem e/ou congelamento e degelo
(intemperismo).
A durabilidade e a Sanidade podem ser avaliadas pelas normas brasileiras atravs
das seguintes normas:
- ME 089/94 Agregados: Avaliao da durabilidade pelo emprego de Solues de
Sulfato de Sdio ou de Magnsio
- ME 400/99 Agregados Desgaste aps fervura de agregado ptreo natural
104
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
A norma ME 089/94 fixa o modo pelo qual se determina a resistncia
desintegrao dos agregados sujeitos a ao do tempo, pelo ataque de solues
saturadas de sulfato de sdio ou de magnsio.
As especificaes brasileiras para servios de pavimentao que envolvem o uso de
agregados, como camadas de base e revestimento, aconselham que no se deve
utilizar agregados que apresentem perda superior a 12% em 5 ciclos.O ensaio de
sanidade tem a inteno de produzir uma estimativa da resistncia do agregado
ao do intemperismo.
5.5.3 - Forma da partcula e textura superficial
Para uso em misturas asflticas as partculas de agregados devem ser mais cbicas
que planas (chatas), finas ou alongadas. Em misturas compactadas, as partculas de
forma angular exibem um maior intertravamento e atrito interno, resultando
consequentemente em uma maior estabilidade mecnica que partculas arredondadas.
Por outro lado, misturas que contm partculas arredondadas, tais como a maioria dos
cascalhos naturais e areias, tem uma melhor trabalhabilidade e requerem menor
esforo de compactao para se obter a densidade requerida. Esta facilidade de
compactar no constitui necessariamente uma vantagem, visto que as misturas que
so mais fceis de compactar durante a construo podem continuar a densificar sob
ao do trfego, levando deformaes permanentes devido aos baixos ndices de
vazios e fluxo plstico (ROBERTS et al, 1996).
Tanto a forma da partcula como a textura superficial tambm influencia na
trabalhabilidade e na resistncia da mistura asfltica. Uma textura superficial rugosa,
como uma lixa, encontrada na maioria das rochas britadas tende a aumentar a
resistncia e requerem cimento asfltico adicional para superar a perda de
trabalhabilidade, quando comparada com agregados de superfcies lisas como
cascalhos e areias de rio. Vazios na massa compactada de agregados de textura
rugosa tambm so normalmente altos produzindo espao adicional para o cimento
asfltico. Agregados de textura lisa podem ser mais facilmente cobertos pelo filme
asfltico, mas o cimento asfltico forma usualmente ligaes mecnicas mais fortes
com os agregados de textura rugosa (ROBERTS et al, 1996).
No Brasil, os ensaios que so utilizados para avaliar a forma de partcula e textura
superficial de agregado grado so os seguintes:
- ME 086/94 Agregado determinao do ndice de forma
- ABNT NBR 7809 Agregado Grado determinao do ndice de forma pelo
mtodo do paqumetro
105
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
No Brasil no existe ensaio especfico que determine a forma de partcula ou a
textura superficial de agregados finos. O Mtodo ME 086/94 do DNER, citado
anteriormente s aplicvel para agregados acima de 4,8mm (ou 3,2mm segundo a
direo menor). A NBR 7809 tambm no contempla agregados midos por ser
impraticvel o procedimento para partculas pequenas.
5.5.4 - Limpeza e materiais deletrios
Para ROBERTS et al (1996) a limpeza refere-se ausncia de certos materiais
estranhos e deletrios que tornam os agregados indesejveis para misturas asflticas.
Lavar agregados sujos pode reduzir a quantidade de matria estranha indesejada a um
nvel aceitvel. Estes materiais objetivamente incluem vegetao, xisto argiloso,
partculas frgeis, torro de argila, argila cobrindo partculas de agregados e s vezes,
excesso de p da operao de britagem.
Para KANDHAL et al (1997) a limpeza tem a ver com as coberturas presentes
nas partculas de agregado ou o excesso de partculas mais finas que 75m
(peneira N 200), ao passo que material deletrio se refere a partculas
individuais que so feitas de materiais inadequados ou insalubres.
Alm da anlise petrogrfica, j citada, outros ensaios podem ser usados para
identificar e medir a quantidade de materiais deletrios.
Com a introduo das regulamentaes ambientais e a adoo subsequente de
sistemas de coleta de p, passou a existir um retorno da maior parte dos finos para as
misturas asflticas.
Segundo KANDHAL et al (1998) os finos podem influenciar o desempenho de misturas
asflticas nas seguintes circunstncias:
1 dependendo do tamanho das partculas, os finos podem atuar como um filer ou
como um componente do ligante asfltico. Em certos casos pode-se uma mistura muito
rica em asfalto (gorda) levar a fluncia e/ou a deformao permanente. Em muitos
casos a quantidade de cimento asfltico usado deve ser reduzida para prevenir a perda
de estabilidade ou uma exsudao.
2 Alguns finos tem um considervel efeito sobre o cimento asfltico fazendo-o atuar
como um cimento asfltico mais rgido comparado ao cimento asfltico puro e isso
afeta o desempenho da mistura asfltica no comportamento fadiga.
3 Alguns finos tornam as misturas asflticas sensveis ao dano induzido por umidade.
As normas Brasileiras que tratam deste assunto so as seguintes:
- ME 054/97 Equivalente de areia
- ME 082/94 Solos determinao do limite de plasticidade
- ME 122/94 Solos determinao do limite de lquidos
- ME 266/97 ou NBR 7219 - Agregados determinao do teor de materiais
pulverulentos
106
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
- ME 055/95 Impurezas orgnicas na areia
- NBR 7220 Agregados determinao de impurezas hmicas em agregado
mido
- NM 32 Agregado Grado mtodo de ensaio de partculas friveis
- NBR 7218 Agregados: Determinao do teor de argila em torres e materiais
friveis
O ensaio ME 054/97 Equivalente de Areia determina a proporo relativa de finos no
agregado fino ou em solos. O ensaio de equivalente de areia foi desenvolvido por
Hveen para determinar a quantidade de argila presente no agregado fino prejudicial
ao desempenho de misturas asflticas. usado para determinar a proporo relativa
de finos plsticos e p em agregados finos.
Os ensaios ME 082/94 e ME 122/94 determinam o limite de plasticidade e o limite
de liquidez de solos. A determinao do ndice de plasticidade (IP) se faz pela
subtrao do Limite de Plasticidade (LP) do Limite de Liquidez (LL). O IP uma
medida do grau de plasticidade dos finos (material passante na peneira n 200) e
pode indicar indiretamente a quantidade e o tipo de finos plsticos. Este parmetro
(IP) utilizado pelo DNER para medir o grau de plasticidade dos solos quando estes
so usados como agregados finos nos servios de pavimentao. As especificaes
de servios para confeco de camadas do pavimento limitam os valores para estes
parmetros. Para bases estabilizadas granulometricamente (DNER ES 303/97), o
LL dever ser inferior ou igual a 25% e o IP deve ser inferior ou igual a 6. Para
outros tipos de camadas os limites podem ser diferentes destes citados.
O ensaio ME 266/97 ou NBR 7219 prescreve o mtodo para a determinao de
materiais pulverulentos presentes em agregados destinados ao preparo do
concreto. Esta norma define como materiais pulverulentos as partculas minerais
com dimenso inferior a 0,075 mm, inclusive os materiais solveis em gua,
presentes nos agregados.
O ensaio ME 055/95 determina o teor de impurezas orgnicas presente em areias.
mais utilizado na dosagem de concretos de cimento Portland.
A NBR 7220 da ABNT prescreve o mtodo de determinao colorimtrica de
impurezas orgnicas hmicas em agregado mido, tambm destinado ao emprego
em concreto de cimento Portland.
A NM 32 da ABNT define o mtodo para determinao da porcentagem de
partculas friveis presentes no agregado grado para concretos de cimento
Portland.
A NBR 7218 da ABNT prescreve o mtodo para a determinao do teor de argila
em torres e materiais friveis, eventualmente presentes em agregados, destinados
ao preparo do concreto de cimento Portland.
107
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
5.5.5 - Afinidade ao asfalto
A presena de finos plsticos na poro fina dos agregados de misturas asflticas pode
induzir descolamento na mistura quando exposta gua ou umidade.
A presena de p e cobertura de argila no agregado grado e/ou fino pode inibir a
cobertura entre o cimento asfltico e o agregado e produzir canais para a penetrao
da gua. O cimento asfltico fica sobre a cobertura de p e no entra em contato com a
superfcie do agregado resultando em descolamento da mistura asfltica.
Existe tambm a hiptese de que algum material argiloso muito fino possa causar
deslocamento pela emulsificao do cimento asfltico na presena de gua. Finos
plsticos em excesso tambm podem enrijecer o cimento asfltico, e
conseqentemente levar a mistura asfltica a trincamento por fadiga.
O ensaio de Azul de Metileno um mtodo francs, recomendado pela Associao
Internacional de Lama Asfltica (ISSA) para avaliar a quantidade de argila nociva do
grupo das montmorilonitas, matria orgnica e hidrxido de ferro presentes em
agregados finos.
O equivalente de areia mede a quantidade relativa de partculas de argila em um
agregado fino. O ensaio do Azul de Metileno determina a quantidade e a natureza do
material potencialmente prejudicial, tal como argila ou matria orgnica, que pode estar
presente em um agregado.
De todos os mtodos avaliados para medir suscetibilidade umidade, o AASHTO T
283 Resistncia de mistura betuminosa compactada ao dano induzido de umidade
(Ensaio de Lottman modificado) o mais usado e sua confiabilidade considerada
melhor que numerosos outros mtodos testados.
Nas normas brasileiras, a avaliao do descolamento da pelcula asfltica devido a
exposio gua ou umidade feita atravs dos ensaios de adesividade. O DNER
recomenda os mtodos ME078/94 Agregado grado Adesividade a ligante
betuminoso e o ME 079/94 Agregado Adesividade a ligante betuminoso
O DNER ME 078/94 fixa o modo pelo qual se verifica a adesividade de agregado
grado ao ligante betuminoso. Define -se adesividade de agregado ao material
betuminoso como a propriedade que tem o agregado de ser aderido por material
betuminoso. verificada pelo no deslocamento da pelcula betuminosa que recobre o
agregado, quando a mistura agregado-ligante submetida, a 40 C, ao de gua
destilada, durante 72 horas.
O DNER ME 079/94 uma norma que descreve mtodo para determinar adesividade
de agregado a ligante betuminoso. aplicado para agregado passante na peneira com
0,59 mm de abertura. Neste ensaio a adesividade avaliada pelo no deslocamento da
pelcula betuminosa que recobre o agregado, quando a mistura agregado-ligante
108
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
submetida ao da gua destilada fervente e s solues molares de carbonato de
sdio ferventes.
A ABNT prescreve os mtodos NBR 12583 Agregado grado verificao da
adesividade a ligante betuminoso e NBR 12584 Agregado mido verificao da
adesividade a ligante betuminoso para a avaliao da adesividade. Os procedimentos
so semelhantes aos descritos anteriormente.
5.5.6 - Porosidade e absoro
Segundo KANDHAL et al (1997) nenhum dado significativo de pesquisa ainda
apropriado para indicar alguma relao entre a absoro de gua do agregado e o
desempenho da mistura asfltica que utilize aquele agregado. O valor mximo
permitido para a absoro de gua pelos estados americanos varia muito: de 2 a 6%.
No Brasil, absoro de agregados grados determinada pelas normas ME 195/98
ou NBR 9937/87 Agregados - determinao da absoro e da massa especfica de
Agregado grado
A normas DNER ME 084/95 e NM 52 da ABNT que tratam da determinao da
densidade de agregados midos no tratam da determinao da absoro. Mas
para agregados midos existe a NM 30 da ABNT denominada Agregado mido
Determinao da absoro de gua.
5.5.7 - Caractersticas expansivas
Um mtodo que mede caracterstica de inchamento, no sentido de empolamento de
agregado o ME 192/97 ou NBR 6467 Agregados determinao do inchamento
de Agregado mido. O inchamento do agregado mido o fenmeno da variao
do volume aparente, provocado pela absoro de gua livre pelos gros e que
incide sobre a sua massa unitria. Este tambm um ensaio mais usado durante os
procedimentos de dosagem de concreto de cimento Portland, onde o inchamento da
areia deve ser determinado para uma precisa quantificao volumtrica do trao.
Existem outros ensaios que medem expansibilidade de solos como a ME 029/94
Solos- determinao da expansibilidade ou o prprio ensaio para a determinao
do ndice de Suporte Califrnia (ISC ou CBR) atravs da ME 049/94.
5.5.8 - Polimento e caractersticas de atrito
Teor de cal/carbonatos e exigncias de resduos insolveis so includos em
especificaes para restringir a quantidade de agregados carbonatados usados em
misturas superficiais e/ou restringir os agregados de mineralogia calcria usada em
109
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
misturas superficiais. A inteno destas restries assegurar que algum mineral
resistente ao polimento (silicoso) esteja exposto na interface superfcie/pavimento/
pneu.
No Brasil, exige-se um procedimento para avaliao da superfcie de rolamento
durante a construo e operao do revestimento. A ES 313/97 do DNER Concreto
Betuminoso que especifica o uso e aplicao do concreto asfltico, recomenda o
uso do Pndulo Britnico e do ensaio de Mancha de Areia no item sobre condies
de segurana. Neste item, recomenda-se que o revestimento acabado dever
apresentar VRD (valor de Resistncia Derrapagem) superior a 55 medido com
auxlio do Pndulo britnico. Ainda existe a avaliao pelo -meter que a mais
utilizada pelo Ministrio da Aeronutica Brasileiro.
O pndulo britnico um equipamento tipo impacto dinmico usado para medir a perda
de energia quando uma ponta de borracha propelida sobre uma superfcie de teste. O
equipamento apropriado tanto para laboratrio quanto para ensaios em campo sobre
superfcies planas e para amostras obtidas de ensaios com rodas de polimento
acelerado.
O ensaio da Mancha de Areia a forma mais difundida de se medir a macrotextura (O
Pndulo Britnico mede a microtextura).
Este ensaio de medio pontual sobre a superfcie da pista. Segundo PEREIRA
(1998), apesar do seu baixo rendimento, o valor da altura de areia adotada em muitos
pases e so definidos limites aceitveis em funo de vrios tipos de superfcies e das
classes das vias. Outros equipamentos baseados em tcnicas de medio sem
contato, raio laser, tambm so utilizados para avaliar a macrotextura em nvel de
rede, mas suas medies so sempre correlacionadas com a altura de areia para cada
tipo de revestimento.
O -meter um equipamento que consiste de um reboque constitudo por 3 rodas
montadas em uma estrutura metlica triangular. Nele registram-se as informaes
referentes s condies de atrito da pista de forma contnua.
5.5.9 - Densidade especfica / massa especfica
Segundo PINTO (2000) as relaes entre quantidade de matria (massa) e volume so
denominadas massas especficas, e expressas geralmente em ton/m3, kg/dm3 ou g/cm3
e as relaes entre pesos e volumes so denominados pesos especficos e expressos
geralmente em KN / m3 .
A expresso densidade, comum na engenharia, se refere massa especfica e
densidade relativa a relao entre a densidade do material e a densidade da gua a
4C. Como esta igual a 1 kg/dm3 , resulta que a densidade relativa tem o mesmo valor
que a massa especfica (expressa em g/cm3 , kg/dm3 ou t/m3 ), mas adimensional.
110
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Como a relao entre o peso especfico de um material e o peso especfico da gua a
4C igual relao das massas especficas, comum se estender o conceito de
densidade relativa relao dos pesos e se adotar como peso especfico a densidade
relativa do material multiplicada pelo peso especfico da gua (PINTO, 2000).
O termo Densidade e Massa Especfica so freqentemente usados, o que sugere que
eles tenham o mesmo significado, embora isto seja tecnicamente incorreto.
A densidade relativa (Specific Gravity) de um agregado a razo do peso de uma
unidade de volume do material para o peso do mesmo volume de gua temperatura
de 20 a 25 C (aproximadamente 23C) (1)
Teoricamente tem-se a seguinte equao que define a Densidade Relativa:
Densidade Relativa =
Peso
.
volume (peso unitrio de gua)
Como no sistema mtrico o peso unitrio da gua 1g por ml, ento temos:
Densidade Relativa = Peso .
Volume
Deste modo a Densidade relativa seria ento adimensional.
O termo massa especfica, usual no Brasil, definido pelo Sistema Internacional (S.I.)
como density. J o termo densidade definido pelo S.I. por mass density. Em
ambos, as unidades so Kg/m3 , g/m3, etc. e so designados por .
O termo peso especfico usado no Brasil definido por weight density pelo S.I.
designado por e a unidade N/m3 . O termo specific Weight incorreto segundo o
S.I.
O termo densidade especfico usualmente empregado no Brasil definido por
relative density pelo S.I. e designada por d. obtida dividindo-se a massa especfica
do material (agregado) pela massa especfica da gua a 4 C. portanto
adimensional. O termo specific gravity incorreto segundo o S.I.
Portanto, os termos portugueses que melhor atendem ao S.I. seriam, conforme
MEDINA (2001):
: densidade mssica
densidade ponderal
d: densidade relativa
Para agregados, so comuns as seguintes definies:
Densidade Especfica Real (Gsa): a razo entre o peso seco em estufa, ao ar, de
uma unidade de volume de um material impermevel a uma temperatura fixa e o peso
de um volume igual de gua destilada livre de gs a uma temperatura fixa. Gsa
normalmente usada para clculos (transformao) de peso para volume dos fileres
111
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
minerais somente, visto que os valores do Gsa desta frao so muito difceis de
obter.
Densidade Especfica Aparente, Seca (Gsb): A razo entre o peso seco em estufa,
ao ar, de um volume unitrio de um material permevel (incluindo tanto vazios
permeveis quanto impermeveis para o material) a uma temperatura fixa e o peso de
um volume igual de gua destilada livre de gs a uma temperatura fixa.
Densidade Especfica Aparente na Condio Saturada Superfcie Seca (Gsb ssd):
a razo entre o Peso SSS ao ar de um volume unitrio de um material permevel
(incluindo tanto vazios permeveis e impermeveis normal para o material) a uma
temperatura fixa e o peso de igual volume de gua destilada livre de gs a uma
temperatura fixa. Esta densidade especfica raramente usada nos projetos de
misturas betuminosas a quente.
Densidade Especfica Efetiva (Gse): a razo entre o peso seco em estufa ao ar de
um volume unitrio de um material permevel (excluindo vazios permeveis ao asfalto)
a uma temperatura fixa e o peso de um volume igual de gua destilada livre de gs a
uma temperatura fixa.
Os Ensaios para determinao da Densidade / Massa Especfica de Agregados so os
seguintes:
- Para Agregados Grados as normas americanas que tratam do assunto (ASTM C127
e AASHTO T85) sugerem as seguintes expresses para determinao da densidade
relativa de agregados grados:
Gsa =
A
A-C
Densidade Real
(1)
Gsb =
A
B-C
Densidade Aparente
(2)
Absoro = (B - A) x 100
A
Onde:
(3)
A = Peso do agregado seco em estufa
B = Peso do agregado na condio saturada superfcie seca aps 24h de
imerso em gua
C = Peso do agregado imerso em gua
O mtodo de ensaio adotado pelo DNER (ME-081/94) para determinao de
densidades relativas tem os procedimentos anlogos aos das normas americanas, j
citadas e descritas anteriormente. Porm, a equao (1) determinada pelo DNER e
por PINTO (1996) como sendo a densidade real do gro. A equao (2)
denominada por densidade aparente do gro.
112
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
A NBR 9937 da ABNT, designada por Agregados - determinao da absoro e da
massa especfica de agregado grado define procedimento para a obteno da massa
especfica na condio seca (s) e massa especfica na condio saturada superfcie
seca (sss), assim como da absoro (a).
O procedimento de ensaio idntico ao do DNER e das normas americanas j citadas,
ou seja, so feitas 3 determinaes de peso: peso seco (A), peso na condio saturada
superfcie seca (B) e peso imerso (C). A expresso que define a massa especfica seca
(s) a seguinte:
s = A .
B-C
Ou seja, a mesma que o DNER define como Densidade Aparente do Gro e que as
normas americanas chamam de Gsb.
J a expresso que define a massa especfica da condio saturada superfcie seca
(sss) a seguinte:
sss = B ,
que difere das demais, anteriormente citadas
BC
Esta expresso a mesma empregada pela ASTM C127 na definio do termo GsbSSD
(Bulk Specific Gravity Saturated Surface Dry)
A expresso para a absoro a mesma em todas as referncias, ou seja:
a = B - A x 100.
A
Portanto, pelas normas brasileiras o termo densidade real numericamente maior
que a densidade aparente. Nas normas americanas o termo apparent specific gravity
(traduzido como densidade relativa aparente) numericamente maior que a bulk
specific gravity (traduzida como densidade relativa global). Dessa forma o termo em
ingls bulk que significa aparente e o termo apparent comparado ao termo real
em portugus, uma vez que os vazios que so impermeveis no tm como serem
mensurados, da no ser possvel obter a densidade real absoluta. Muito cuidado devese tomar com estes termos durante os clculos das misturas asflticas.
- Para agregados midos o DNER indica um procedimento para determinao da
densidade relativa de agregados midos (ME 084/94) e o denomina de densidade real
dos gros. Este procedimento semelhante ao do ensaio para determinao da
Massa especfica aparente seca (s) de solos (ME 094/94) e faz uso do picnmetro
de 500ml. A densidade real do gro calculada pela seguinte expresso:
DT =
x at1
at
P2 - P1
at1 . (P4 - P1) - ( P3 - P2)
at2
113
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Onde:
P1 = Peso do picnmetro limpo e seco (P1)
P2 = Peso do picnmetro mais amostra
P3 = Peso do picnmetro mais amostra e gua, aps fervura (mede T1)
P4 = P2 = Peso do picnmetro mais gua (mede T2)
at1 = densidade relativa da gua na temperatura T1
at2 = densidade relativa da gua na temperatura T2
at = densidade relativa da gua na temperatura T desejada
Quando se trabalha com mistura de 2 ou mais fraes (ou 2 ou mais agregados) podese computar um valor para a densidade relativa mdia atravs de um valor mdio
ponderado das vrias fraes (agregados) que constituem a mistura, pela seguinte
equao:
G = P1 + P2 + ... + Pn
P1 + P2 + ... + Pn
G1 G2
Gn
(7)
onde:
G = Densidade relativa mdia (aparente ou global)
G1, G2, ... , Gn = Valores das densidades relativas para as fraes (agregado)
1, 2, ... , n (aparente ou real)
P1, P2, ... , Pn = Porcentagem em peso das fraes (agregado) 1, 2, ... , n.
Em relao aos valores de G1, G2,...,Gn usados na equao (7), PINTO (1996)
recomenda que estes valores sejam obtidos pela mdia entre a densidade real e a
aparente para agregados grados e midos e pelo valor da densidade real
para o
filer mineral usado. Segundo o ASPHALT INSTITUTE (1995) estes valores devem ser
tomados pelo Gsb (densidade aparente) dos constituintes da mistura.
A maioria das misturas betuminosas contm vrios agregados diferentes (pedregulho,
areia, filer, etc.) que so combinados para encontrar a graduao desejada.
Usualmente, estes agregados tm densidades especficas diferentes que necessitam
serem combinados para determinar as relaes peso-volume das misturas. (ROBERTS
et al 1996).
A densidade especfica aparente de filer mineral difcil de se determinar corretamente
at o presente segundo ROBERTS et al (1996). Entretanto, a densidade especfica
aparente do filer pode ser usada e o erro ser desconsiderado.
5.5.10 - Anlise granulomtrica
A graduao do agregado a distribuio dos tamanhos de partculas expressa em
porcentagem do peso total. A graduao obtida fazendo-se passar o material atravs
de uma srie de peneiras empilhadas com aberturas progressivamente menores, e
pesando-se o material retido em cada uma.
114
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Para ROBERTS et al (1996), no entanto, expressar a graduao como uma
porcentagem do volume total mais importante, porm a graduao como uma
porcentagem do peso mais fcil e j um padro tradicional. As graduaes pelo
volume e peso so aproximadamente iguais. Se existem grandes diferenas nas
densidades especficas dos agregados usados para uma mistura em particular, ento a
graduao deve ser determinada como uma porcentagem do volume total.
A graduao de um agregado pode ser graficamente representada por uma curva
granulomtrica na qual a ordenada a porcentagem total de peso passante em um
dado tamanho sobre uma escala aritmtica, enquanto que a abscissa o tamanho da
partcula plotada sob uma escala logartmica. As peneiras que tm designao em
polegadas (3/4, 3/8, etc.) significam que a abertura das malhas aquela referida.
Quando a designao por n da peneira (n 10, 4, 40, 80, 200, etc.) significa que
existe aquele n de aberturas por polegada quadrada, levando-se em considerao a
espessura do fio usado na malha da peneira. A peneira n 10, por exemplo, significa
que em 25,4mm2 de malha existem 10 orifcios. O tamanho do orifcio menor que
1/10 de polegada, uma vez que a espessura do fio deve ser descontada.
A graduao talvez a propriedade mais importante de um agregado. Ela afeta quase
todas as propriedades importantes de uma mistura incluindo rigidez, estabilidade,
durabilidade, permeabilidade, trabalhabilidade, resistncia fadiga, resistncia por
atrito e resistncia ao dano por umidade. Por isso, a graduao a primeira
considerao num projeto de mistura asfltica e as especificaes usadas pela maioria
dos estados americanos colocam limites na graduao do agregado que pode ser
usado numa mistura asfltica.
A graduao de um agregado pode ser expressa como a porcentagem passante total,
porcentagem retida total (ou acumulada) ou porcentagem retida (porcentagem do total
que passa numa peneira e retida na imediatamente inferior).
Usualmente as graduaes so expressas como porcentagem passante total, que
indica o percentual total de agregado em peso que passa em cada uma das peneiras.
A percentagem retida total o somatrio do peso retido em cada uma das peneiras. A
porcentagem retida, de dois tamanhos sucessivos de peneiras ou porcentagem
individual de cada tamanho o percentual retido em peso em cada peneira.
Em todas as especificaes de pavimentos asflticos de mistura a quente
estabelecido que as partculas de agregado devam estar dentro de uma gama de
tamanhos e que cada tamanho de partcula esteja presente em certa proporo. Esta
distribuio dos vrios tamanhos de partculas do agregado conhecida como
graduao do agregado ou graduao da mistura. Para se determinar se uma
graduao satisfaz ou no s especificaes, necessrio compreender como feita a
medio do tamanho das partculas.
Para ROBERTS et al (1996) a melhor graduao para uma mistura betuminosa
aquela que proporcione um arranjo das partculas mais denso. Com a mxima
115
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
densidade ter-se-ia aumento na estabilidade, atravs do aumento dos contatos
interpartculas e se reduziria os vazios no agregado mineral. Porm, devero existir
suficientes espaos vazios para permitir que o cimento asfltico seja incorporado para
assegurar durabilidade e para evitar exsudao e/ou afundamento. Misturas densas
tambm so mais sensveis a pequenas variaes do teor de asfalto.
Tm sido propostas numerosas graduaes ideais para densidade mxima. Uma das
mais conhecidas aquela proposta por Fuller e Thompson em 1907, conhecida por
Curva de Fuller na qual a equao para a densidade mxima a seguinte: P = (d/D)n x
100 onde d o dimetro da peneira em questo, P a porcentagem total passante ou
mais fina que a peneira, D o tamanho mximo do agregado e n um coeficiente
varivel. Para se obter a densidade mxima de um agregado o coeficiente n deve ser
igual a 0,5.
No incio dos anos 60, a FHWA (Federal Highway Administration) introduziu um grfico
de graduao de agregados que baseado na Curva de Fuller mas usa o expoente
0,45 na equao. Este grfico muito conveniente para determinar a linha de
densidade mxima e para ajustar a graduao do agregado. Usado este grfico a linha
de densidade mxima pode ser obtida facilmente ligando atravs de uma reta a origem
do grfico (canto inferior esquerdo) at o ponto da porcentagem total do tamanho
nominal mximo. O tamanho nominal mximo definido como o maior tamanho de
peneira, acima do qual nenhum material retido. A FHWA recomenda que este grfico
seja usado como parte do processo de dosagem de misturas asflticas.
Exemplos desta forma de apresentao da granulometria pode ser vista nas figuras
27 e 28.
Figura 27 Modelo da forma grfica de representao da granulometria utilizada pela
FHWA
116
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Figura 28 Linha de densidade mxima e pontos de controle utilizando o grfico de
potencia 0,45
A maioria das especificaes para misturas asflticas americanas requer agregados de
graduao bem graduados ou graduao densa, com metade da curva
aproximadamente paralela Curva de densidade mxima.
Outro problema, citado por ROBERTS et al (1996), frequentemente causado por
graduao no adequada de agregado a produo de misturas fracas (sensveis).
Estas misturas no podem ser compactadas de maneira normal, porque elas so lentas
no desenvolvimento de estabilidade suficiente para suportar o peso do equipamento de
compactao. Na curva granulomtrica destas misturas nota-se uma corcunda perto
da peneira n 40 e uma inclinao quase plana entre as
peneiras n 40 e n 8. Isto usual quando se usam areias naturais mal graduadas.
A anlise granulomtrica por lavagem uma medida mais precisa da verdadeira
graduao, mas a determinao a seco mais rpida e frequentemente usada para
estimar a graduao real. Quando se usa o mtodo a seco, a quantidade medida de
material passante na peneira 200 significativamente menor que a quantidade real da
mistura de agregado. Para agregados limpos, o mtodo a seco pode ser preciso desde
que a quantidade de material passante na peneira 200 seja baixa.
O peneiramento a seco usualmente satisfatrio nos ensaios de rotina de agregados
graduados. Se o agregado contem p muito fino ou argila, que pode agarrar s
117
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
partculas gradas de agregado, deve ser feita a anlise por peneiramento com
lavagem.
Por vrias razes, principalmente aquelas associadas com a obteno da mxima
densidade e propriedade de vazios desejada, certos limites de graduao so
usualmente exigidos dos agregados para uso em misturas asflticas. Por ser
improvvel que um simples material natural ou britado alcance estas especificaes,
dois ou mais agregados de diferentes graduaes so tipicamente misturados para
alcanarem os limites especificados. Agregados so tambm separados em tamanhos
para produzir caractersticas de manuseio. Misturas de agregados grados e midos
em um estoque resulta em segregao. Conseqentemente, agregados devem ser
separados em tamanhos, por exemplo 3/4 a 3/8 (19 a 9,5 mm), 3/8 a n 4 (9,5 a 4,8
mm) e menor que n 4 (4,8 mm) antes de transportar e estocar. Outra razo para a
mistura de agregados que freqentemente mais econmico (nos EUA) combinar
materiais naturais e processados para alcanar as especificaes do que usar
materiais totalmente processados (ROBERTS et al, 1996).
Segundo a NBR 7211 - Agregado para concreto, define-se como agregado mido o
material cujos gros passam pela peneira de 4,8 mm (n 4) e ficam retidos na peneira
de 0,075 mm (n 200) e agregado grado aquele cujos gros ficam retidos na peneira
de 4,8 mm. Esta mesma norma determina que a granulometria dos agregados midos
seja dividida em 4 zonas (1, 2, 3, e 4 ) e a dos agregados grados em 5 graduaes (0,
1, 2, 3 e 4).
Segundo o Prof. Murilo Lopes de Souza, assim como no caso dos solos, existe uma
escala granulomtrica para os agregados. Esta classificao, normalmente seguida nos
servios de pavimentao, fixa como agregado grado a frao retida na peneira de
2,00 mm (n 10), designada frao pedregulho e como agregado mido a frao que
passa na peneira de 2,00 mm e fica retido na peneira de 0,075 mm (n 200), designada
frao areia. A frao que passa na peneira de 0,075 mm chamada de filer ou
material de enchimento.
A NBR 7217, denominada: Agregados - Determinao da composio granulomtrica,
define duas grandezas bastante utilizadas no estudo dos agregados, quais sejam:
a) Dimenso mxima caracterstica:
Grandeza associada a distribuio granulomtrica do agregado, correspondente
abertura nominal, em mm, da malha de peneira da srie normal ou intermediria, na
qual o agregado apresenta uma porcentagem retida acumulada igual ou imediatamente
inferior a 5% em massa. Este termo costumeiramente chamado de Dimetro
Mximo e tambm pode ser designado pela abertura nominal de uma peneira pela
qual a porcentagem passante seja igual ou imediatamente superior a 95% em massa.
b) Mdulo de finura: Soma das percentagens retidas acumuladas em massa de um
agregado, nas peneiras da srie normal, dividida por 100. Relembrado a NBR 5734 118
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Peneiras para ensaio, a srie normal e intermediria so assim constitudas, de acordo
com o tamanho nominal das aberturas (em mm):
Srie Normal: 76 - 38 - 19 - 9,5 - 4,8 - 2,4 - 1,2 - 0,6 - 0,3 - 0,15
Srie Intermediria: 64 - 50 - 32 - 25 - 12,5 - 6,3
O cimento Portland considerado um filer, do ponto de vista granulomtrico, bastante
usado nas misturas betuminosas, mas em concreto de cimento considerado como
elemento aglutinante (ligante).
Os resultados de anlises granulomtricas de um agregado pode ser apresentado sob
a forma tabular (Quadro 1) ou de curva granulomtrica (Figura 2), geralmente sob a
forma de percentagem total passante em cada peneira.
Para o DNER :
- pedrisco: 6,4 mm > d > 2,00 mm
- p de pedra : d < 2,00 mm
As curvas granulomtricas podem se apresentar segundo duas formas tpicas:
A granulao descontnua aquela na qual existe uma fa lta ou deficincia de certa
frao de tamanho de partculas ( curva 3 da Figura 28).
A granulometria contnua aquela onde esto presentes todos os tamanhos de
partculas, desde o tamanho mximo at o mnimo ( curva 1,2,4 e 5 da Figura.28).
a forma adequada e preferencial de se trabalhar em pavimentao, pois evita a
segregao no decorrer do processo construtivo. So classificadas em:
Curvas de graduao densa (fechada): So aqueles que contm de forma adequada
todas as fraes granulomtricas (curva 1) e satisfazem a equao de Fuller-Talbot :
P = 100 (d/D)n
onde:
P : percentagem, em peso, que passa na peneira de abertura d
d : dimetro da abertura da peneira
D : dimetro mximo do agregado
n : expoente que varia de 0,4 a 0,6 .
Para valores de n abaixo de 0,4 , h excesso de finos (curva 5) e acima de 0,6 h
deficincia de finos (curva 2). Misturas densas apresentam pequena percentagem de
vazios e boa estabilidade.
Curvas de graduao aberta: so aquelas onde existe uma deficincia de finos,
sobretudo de material que passa na # 200. Satisfazem a equao de F.T. para n > 0,6.
(curva 2)
119
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Curvas de graduao uniforme: so aqueles que apresentam curva granulomtrica
onde o tamanho mximo. prximo do tamanho mnimo. (curva 4). Satisfazem a
equao de F.T. para n>>>>0,6.
Os agregados cujo tamanho mnimo est acima da # 4 so chamados de agregados
tipo macadame (one size agregades).
Outra maneira de estimar a graduao dos agregados atravs do coeficiente de
curvatura (Cc) onde os agregados de graduao densa devem apresentar um Cc
compreendido entre 1 e 3 .
Cc =
( D30)2
D10 x D60
Onde :
Cc : coeficiente de curvatura
D30 : tamanho correspondente a porcentagem passante de 30%
D10 : tamanho correspondente a porcentagem passante de 10%
D60 : tamanho correspondente a porcentagem passante de 60%
Os exemplos citados neste item esto expostos no Quadro a seguir e na Figura 29.
Exemplos Numricos
Dimetro (Peneiras)
Pol (n)
(mm)
1
3/4
1/2
3/8
1/4
n 4
n 10
n 40
n 200
25,40
19,10
12,70
9,50
6,35
4,80
2,00
0,42
0,074
Agreg.
01
100
86
71
61
50
44
28
13
6
120
% em
Agreg.
02
100
84
68
57
47
40
23
7
0
Peso
Agreg.
03
100
83
65
52
52
52
34
16
7
Passane
Agreg.
04
100
64
26
0
Agreg.
05
100
80
50
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
PENEIRAS
0,075
0,15
0,18
0,3
0,42
0,6
1,2
2,0
2,4
4,8
9,5
12,7
19,1
25,4
38,1
100
90
% Passante
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,01
0,1
Agreg.1
Agreg.2
1
Abertura (mm)
Agreg.3
Figura 29 Curvas granulomtricas t picas
121
Agreg. 4
10
Agreg.5
100
Peneiras
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Captulo 6
MATERIAIS ASFLTICOS
O asfalto um dos mais antigos materiais utilizados pelo homem. Na Mesopotmia era
usado como aglutinante em servios de alvenaria e estradas e como impermeabilizante
em reservatrio de gua e salas de banho. Tambm so encontradas citaes na bblia
a respeito do uso de material betuminoso na arca de No (Gnesis 3,14).
As primeiras aplicaes de asfalto para fins de pavimentao foram feitas na Frana
(1802), Estados Unidos (1838) e Inglaterra (1869). O emprego de asfalto derivado do
petrleo iniciou-se a partir de 1909.
6.1 - Definies
Asfalto : Material de consistncia varivel, cor pardo-escura, ou negra, e no qual o
constituinte predominante o BETUME, podendo ocorrer na natureza em jazidas ou
ser obtido pela refinao do Petrleo.
Betume: Mistura de hidrocarbonetos pesados, obtidos em estado natural ou por
diferentes processos fsicos ou qumicos, com seus derivados de consistncia varivel
e com poder aglutinante e impermeabilizante, sendo completa mente solvel no
bissulfeto de carbono (CS2) ou tetracloreto de carbono (CCL4).
122
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
6.2 - Classificao quanto aplicao
Asfaltos para pavimentao:
a) Cimentos Asflticos (CAP)
b) Asfaltos Diludos (AD)
c) Emulses Asflticas (EA)
d) Asfaltos Modificados (Asfaltos Polmeros)
Asfaltos industriais:
a) Asfaltos Oxidados ou Soprados
6.3 Classificao quanto origem
Asfaltos naturais: Ocorrem em depresses da crosta terrestre, constituindo
lagos de asfalto (Trinidad e Bermudas). Possuem de 60 a 80% de betume.
Rochas asflticas: O asfalto aparece impregnando os poros de algumas rochas
(Gilsonita) e tambm misturado com impurezas minerais (areias e argilas) em
quantidades variveis. O xisto betuminoso pode ser citado como exemplo de
rocha asfltica.
Asfaltos de petrleo: Mais empregado e produzido, sendo isento de impurezas.
Pode ser encontrado e produzido nos seguintes estados:
a) Slido
b) Semi-slido
c) Lquido: Asfalto dissolvido e Asfalto emulsificado
Alcatro: Proveniente do refino do alcatro bruto, que se origina da destilao
dos carves durante a fabricao de gs e coque. Esto em desuso no Brasil a
mais de 25 anos.
6.4 Asfaltos para Pavimentao
6.4.1 - Cimento Asfltico do Petrleo (CAP)
Segundo LEITE (2003) o CAP por definio um material Adesivo termoplstico,
impermevel gua, viscoelstico e pouco reativo, ou seja:
123
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
- Termoplstico: possibilita manuseio a quente. Aps resfriamento retorna a condio
de viscoelasticidade.
- Impermevel: evita a penetrao de gua (chuva) na estrutura do pavimento,
forando o escoamento para os dispositivos de drenagem
- Viscoelstico: Combina o comportamento elstico (sob aplicao de carga curta) e o
viscoso (sob longos tempos de aplicao de carga)
- Pouco reativo: Quimicamente, apenas o contato com o ar propicia oxidao lenta,
mas que pode ser acelerado pelo aumento da temperatura.
a) Composio qumica do CAP
O CAP tem um nmero de tomos de carbono que varia de 24 a 150, com peso
molecular de 300 a 2000, contendo teores significantes de heterotomos (nitrognio,
oxignio, enxofre, vandio, nquel e ferro) que exercem papel importante. constitudo
de compostos polares e polarizveis (capazes de associao) e de compostos no
polares (hidrocarbonetos aromticos e saturados). Na figura seguinte pode-se ver a
estrutura hipottica de uma molcula de asfalto (LEITE, 2003)
Figura 30 - Estrutura hipottica de uma molcula de asfalto (LEITE, 2003)
No fracionamento do CAP, encontramos 4 categorias principais:
Hidrocarbonetos Saturados (S)
Hidrocarbonetos Aromticos (A)
Resinas (R)
Asfaltenos (A)
Os 3 primeiros so denominados de maltenos e sendo os 2 primeiros compostos no
polares e os 2 ltimos compostos polares e polatizveis. Os asfaltenos so formados
devido a associaes intermoleculares e so responsveis pelo comportamento
reolgico do CAP. Tem maior peso molecular e maior teor de heterotomos. Sua
estrutura constituda de poliaromticos, com encadeamento de hidrocarbonetos
naftnicos condensados e cadeias curtas de saturados.
124
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Os CAPs so sistemas coloidais constitudos por uma suspenso de micelas de
asfaltenos, peptizadas pelas resinas num meio oleoso (leos saturados e aromticos)
em equilbrio.
Na figura seguinte podemos ver a representao da estrutura coloidal do cimento
asfltico (LEITE, 2003)
Figura 31 - Representao da estrutura coloidal do cimento asfltico (LEITE, 2003)
Segundo LEITE (2003) este esquema conduz a formao de aglomerados, resultantes
de associaes intermoleculares dos compostos polares e polatizveis, responsvel
pelo carter Gel (mais consistente). As foras intermoleculares responsveis por esta
aglomerao so mais fracas que as ligaes covalentes. Estas foras so oriundas de
atrao dipolo-dipolo induzidas pelos heterotomos. A variao da temperatura pode
modificar o equilbrio acima alterando o comportamento viscoelstico.
a) Obteno
Antigamente os asfaltos eram obtidos em lagos e poos de petrleo e com a
evaporao das fraes leves restava um material residual com caractersticas
adequadas aos usos desejados.
Atualmente a obteno do asfalto feita atravs de refinao (refinamento) do
petrleo. A quantidade de asfalto contida num petrleo pode variar de 10 a 70%.
O processo de refinamento depende do tipo e rendimento em asfalto que o mesmo
apresenta. Se o rendimento for alto, apenas utilizada a destinao vcuo. Se o
rendimento em asfalto for mdio, usa-se a destilao atmosfrica e destilao vcuo.
Tendo um rendimento baixo em asfalto utilizam-se destilao atmosfrica, destilao
vcuo e extrao aps o 2 estgio de destilao.
125
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
O processo mais usado o da destilao em duas etapas, que consiste numa
separao fsica dos vrios constituintes do petrleo pela diferena entre seus pontos
de ebulio e de condensao. A seguir mostrado um esquema do refino de asfalto
proveniente de petrleos mdios:
Figura 32 Produo de asfalto em dois estgios de destilao
Sntese do processo de refino:
1- Bombeamento do tanque, aquecimento, entrada na torre de destilao onde
parcialmente vaporizado.
2- As fraes mais leves vaporizam e sobem na torre. No topo, aps separao formase a gasolina e o gs liquefeito de petrleo (GLP). A queda de temperatura ao longo
da torre provoca condensao, sendo retirados lateralmente, neste ponto, produtos
especificados (querosene, leo diesel).
3- As fraes mais pesadas, ainda em estado lquido, vo para o fundo, sendo
novamente aquecidas para entrada na torre de funcionamento vcuo.
4- Na torre de destilao vcuo a temperatura e o vcuo so controlados de modo a
permitirem o ajuste da consistncia desse resduo, obtendo-se assim o asfalto.
A produo do CAP depende do tipo de petrleo. A composio do petrleo varia em
relao aos teores de fraes destilveis e resduo. Portanto a composio do CAP
depende do tipo e processo de refino do petrleo e estes so de base naftnica e
intermediria (LEITE, 2003).
- Base Naftnica: Alto teor de resduo e destilao em 1 estgio.
Ex.: Petrleos Venezuelanos (Boscan e Bachaquero) e o Brasileiro Fazenda Belm
- Intermedirios: Destilao em 2 estgios: atmosfrico e a vcuo.
Ex.: Petrleo do Oriente Mdio (Kwait, Kirkuk, rabe pesado) e o Brasileiro Cabinas
126
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Para se produzir CAP pode ser utilizado um ou mais tipos de petrleo (mistura). Aps a
destilao, o resduo pode ser misturado com outras correntes para acerto da
consistncia. Sendo pouco viscoso (mole) adicionam-se resduos de desasfaltao ou
faz-se sopragem. Para os muito viscosos (duros) misturam-se gasleos pesados
b) Classificao
Os cimentos asflticos de petrleo podem ser classificados segundo a viscosidade e a
penetrao. A viscosidade dinmica ou absoluta indica a consistncia do asfalto e a
penetrao indica a medida que uma agulha padronizada penetra em uma amostra em
dcimos de milmetro. No ensaio penetrao se a agulha penetrar menos de 10 dmm o
asfalto considerado slido. Se penetrar mais de 10 dmm considerado semi-slido.
A Resoluo ANP N 19, de 11 de julho de 2005 estabeleceu as novas Especificaes
Brasileiras dos Cimentos Asflticos de Petrleo (CAP) definindo que a classificao
dos asfaltos se dar exclusivamente pela Penetrao. Os quatro tipos disponveis
comercialmente so os seguintes:
CAP 30/45; CAP 50/70; CAP 85/100 e CAP 150/200
O par de vapores significa os limites inferior e superior permitidos para a Penetrao,
medida em dcimos de milmetro.
A antiga classificao por Viscosidade ficou suprimida a partir desta resoluo. Os
antigos asfaltos CAP 7; CAP 20 e CAP 40 passaram a ser denominados pelo
parmetro Penetrao e no mais a Viscosidade.
c) Especificaes
A seguir so mostradas as especificaes atuais para os cimentos asflticos
produzidos no Brasil segundo a classificao por penetrao.
127
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Especificaes dos Cimentos Asflticos de Petrleo (CAP) Classificao por Penetrao
RESOLUO ANP N 19, de 11de julho de 2005
LIMITES
CARACTERSTICAS
MTODOS
UNIDADES
CAP 30-45
CAP 50-70
CAP 85-100 CAP150-200 ABNT ASTM
Penetrao (100 g, 5s, 25C)
0,1mm
30 - 45
50 - 70
85 - 100
150 - 200
NBR
6576
D5
Ponto de amolecimento, mn
52
46
43
37
NBR
6560
D 36
Viscosidade Saybolt Furol
NBR E 102
14950
a 135 C, mn
192
141
110
80
a 150 C, mn
90
50
43
36
40 - 150
30 - 150
15 - 60
15 - 60
a 177 C
OU
Viscosidade Brookfield
cP
NBR D4402
15184
a 135C, SP 21, 20 rpm, mn
374
274
214
155
a 150 C, SP 21, mn.
203
112
97
81
a 177 C, SP 21
76 - 285
57 - 285
28 - 114
28 - 114
ndice de susceptibilidade
trmica (1)
(-1,5) a
(+0,7)
(-1,5) a
(+0,7)
(-1,5) a
(+0,7)
(-1,5) a
(+0,7)
235
235
235
235
NBR
11341
% massa
99,5
99,5
99,5
99,5
NBR D2042
14855
cm
60
60
100
100
NBR
6293
D 113
Ponto de fulgor mn
Solubilidade em tricloroetileno,
mn
Ductilidade a 25 C, mn
Efeito do calor e do ar (RTFOT)
a 163 C, 85 min
Variao em massa, mx (2)
D 92
D 2872
% massa
0,5
0,5
0,5
0,5
Ductilidade a 25 C, mn
cm
10
20
50
50
NBR
6293
D 113
Aumento do ponto de
amolecimento, mx
NBR
6560
D 36
Penetrao retida, mn (3)
60
55
55
50
NBR
6576
D5
128
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Observaes:
(1) O ndice de susceptibilidade trmica obtido a partir da seguinte equao:
ndice de susceptibilidade trmica = (500) (log PEN) + (20) (T C) - 1951
120 - (50) (log PEN) + (T C)
onde: (T C) = Ponto de amolecimento
PEN = penetrao a 25 C, 100g, 5 seg.
(2) A Variao em massa, em porcentagem, definida como:
M= (Minicial - Mfinal)/ Mfinal x 100
onde: Minicial = massa antes do ensaio RTFOT
Mfinal = massa aps o ensaio RTFOT
(3) A Penetrao retida definida como
PEN retida= (PENfinal/ PENinicial) x 100
onde: PENinicial = penetrao antes do ensaio RTFOT
PENfinal = penetrao aps o ensaio RTFOT
d) Aplicaes
Deve ser livre de gua, homogneo em suas caractersticas e conhecer a curva
viscosidade-temperatura.
Para utilizao em pr-misturados, areia-asfalto e concreto asfltico deve-se usar: CAP
30/45, 50/70 e 85/100. Para tratamentos superficiais e macadame betuminoso deve-se
usar CAP150/200.
e) Restries
No podem ser usados acima de 177 C, para evitar possvel craqueamento trmico do
ligante. Tambm no devem ser aplicados em dias de chuva, em temperaturas
inferiores a 10 C e sobre superfcies molhadas.
6.4.2 - Asfaltos Diludos
Tambm conhecidos como Asfaltos Recortados ou Cut Backs. Resultam da diluio
do cimento asfltico por destilados leves de petrleo. Os diluentes funcionam como
veculos proporcionando produtos menos viscosos que podem ser aplicados a
temperaturas mais baixas que o CAP.
a) Obteno
Os asfaltos diludos so obtidos por meio de um devido proporcionamento entre CAP e
diluente, feita em um misturador especfico, seguindo o seguinte esquema:
129
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Figura 33 Esquema de produo do asfalto diludo
b) Classificao
Os diluentes evaporam-se aps a aplicao e o tempo necessrio para evaporar
chama-se Cura. De acordo com a cura, podem ser classificados em:
CR
CM
CL
Cura Rpida
Cura Mdia
Cura Lenta
Solvente: Gasolina
Solvente: Querosene
Solvente: Gasleo (no se usa mais)
Cada categoria apresenta vrios tipos com diferentes valores viscosidade cinemtica,
determinadas em funo da quantidade de diluente:
CR-70; CR-250; CR-800; CR-3000
CM-30; CM-70; CM-250; CM-800; CM-3000
A quantidade mdia de CAP e diluente so as seguintes:
Tipo CM
Tipo CR
% CAP
CM-30
CM-70
CM-250
CM-800
CM-3000
CR-70
CR-250
CR-800
CR-3000
52
63
70
82
86
%
Diluente
48
37
30
18
14
130
Nomenclatur
a
MC-0
MC-1
MC-2
MC-4
MC-5
Antiga
RC-0
RC-1
RC-2
RC-4
RC-5
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
6.4.3 - Emulses Asflticas
um sistema constitudo pela disperso de uma fase asfltica em uma fase aquosa
(direta) ou de uma fase aquosa em uma fase asfltica (inversa): CAP + gua + Agente
Emulsivo.
a) Obteno
A emulso asfltica conseguida mediante a colocao de CAP + gua + Agente
Emulsivo (Emulsificante ou Emulsificador) em um moinho coloidal, onde conseguida
a disperso da fase asfltica na fase aquosa atravs da aplicao de energia mecnica
(triturao do CAP) e Trmica (aquecimento do CAP para torn-lo fluido). O esquema
de produo mostrado na figura a seguir.
Figura 34 Esquema de produo de emulso asfltica
O agente emulsificante tem a funo de diminuir a tenso interfacial entre as fases
asfltica e aquosa, evitando que ocorra a decantao do asfalto na gua. A quantidade
de emulsificante varia de 0,2 a 1%. Os agentes geralmente utilizados so o Sal de
Amina, Silicatos Solveis ou no Solveis, Sabes e leos Vegetais Sulfonados e
Argila Coloidal.
A quantidade de asfalto da ordem de 60 a 70% e o tamanho das partculas de asfalto
dispersas varia de 1 a 10 micras.
b) Classificao
Quanto carga da partcula
- Catinicas
- Aninicas
- Bi-inicas
- No-inicas
Quanto ao tempo de ruptura
- Ruptura Rpida
- Ruptura Mdia
- Ruptura Lenta
131
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
As emulses aninicas so aquelas que apresentam molculas eletronegativamente
carregadas e as catinicas apresentam molculas eletropositivamente carregadas.
A ruptura das emulses ocorre quando so colocadas em contato com agregados e o
equilbrio que mantinha os glbulos do asfalto em suspenso na gua rompido. A
gua evapora e o asfalto flocula se fixando no agregado.
A cor das emulses antes da ruptura marrom, tornando-se depois preta. O tempo de
ruptura depende da quantidade e tipo de agente emulsivo. As emulses asflticas
normalmente utilizadas em pavimentao so as catinicas diretas, sendo classificadas
quanto a utilizao em: RR-1C; RR-2C; RM-1C; RM-2C; RL-1C; LA-1C; LA-2C
Esta classificao depende da viscosidade Saybolt Furol, teor de solvente,
desemulsibilidade e resduo de destilao.
6.4.4 - Asfaltos Modificados (Asfaltos Polmeros)
So obtidos a partir da disperso do CAP com polmero, em unidade apropriada.
Os polmeros mais utilizados so: SBS (Copolmero de Estireno Butadieno); SBR
(Borracha de Butadieno Estireno); EVA (Copolmero de Etileno Acetato de Vinila);
EPDM (Tetrapolmero Etileno Propileno Diesso); APP (Polipropileno Attico);
Polipropileno; Borracha vulcanizada; Resinas; Epx; Poliuretanas; etc.
Os polmeros aceleram o comportamento reolgico do asfalto conferindo elasticidade e
melhorando suas propriedades mecnicas. Suas principais vantagens:
- Diminuio da suscetibilidade trmica
- Melho r caracterstica adesiva e coesiva
- Maior resistncia ao envelhecimento
- Elevao do ponto de amolecimento
- Alta elasticidade
- Maior resistncia deformao permanente
- Melhores caractersticas de fadiga
Devido a estas vantagens, tem sido muito utilizado em servios de impermeabilizao e
pavimentao.
6.5 - Asfaltos Industriais
Asfaltos Oxidados ou Soprados
So asfaltos aquecidos e submetidos a ao de uma corrente de ar com o objetivo de
modificar suas caractersticas normais, a fim de adapt-los para aplicaes especiais.
So usados geralmente para fins industriais como impermeabilizantes.
132
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
6.6 - Principais funes do asfalto na pavimentao
a) Aglutinadora: Proporciona ntima ligao entre agregados, resistindo ao
mecnica de desagregao produzida pelas cargas dos veculos.
b) Impermeabilizadora: Garante ao revestimento vedao eficaz contra penetrao da
gua proveniente da precipitao.
c) Flexibilidade: Permite ao revestimento sua acomodao sem fissuramento a
eventuais recalques das camadas subjacentes do pavimento.
6.7 Servios de imprimao / pintura de ligao
6.7.1 - Imprimao
Tambm chamada de Imprimadura ou Prime-Coat. Consiste na aplicao de uma
camada de material asfltico sobre a superfcie de uma base concluda, antes da
execuo de um revestimento asfltico qualquer. (DNER - ESP.14/71).
Figura 35 Esquema da imprimao
a) Funes da imprimao
a) Promover condies de ligao e aderncia entre a base e o revestimento.
b) Impermeabilizao da base.
c) Aumentar a coeso da superfcie da base pela penetrao do material asfltico (de
0,5 a 1,0cm).
133
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
b) Tipos de asfaltos utilizados na imprimao
So utilizados asfaltos diludos de baixa viscosidade, afim de permitir a penetrao do
ligante nos vazios da base.
So indicados os asfaltos diludos tipo CM-30 e CM-70.
c) - Execuo da imprimao
Varredura da pista
So utilizadas vassouras mecnicas rotativas ou vassouras comuns , quando a
operao feita normalmente, com finalidade de fazer a limpeza da pista retirando os
materiais finos que ocupam os vazios do solo.
Tambm pode ser usado o jato de ar comprimido.
Quando a base estiver muito seca e poeirenta pode-se umedecer ligeiramente antes da
distribuio do ligante.
Aplicao do asfalto
Feita por meio do caminho espargidor de asfalto (figura 36), que um caminho
tanque equipado com barra espargidora e caneta distribuidora, bomba reguladora de
presso, tacmetro e conta giro da bamba de ligante.
A quantidade de material aplicado da ordem de 0,7 a 1,0 l/m2 .
A temperatura de aplicao do material betuminoso fixada para cada tipo de ligante
em funo da viscosidade desejada. As faixas de viscosidade recomendadas so de 20
a 60 segundos Saybolt Furol.
Deve-se evitar a formao de poas de ligantes na superfcie da base pois o excesso
de ligante retardar a cura do asfalto prejudicando ao revestimento.
Nos locais onde houver falha de imprimao o revestimento tender a se deslocar. O
complemento dos trechos onde ocorreram falhas feito pela caneta distribuidora.
Antes do incio da distribuio do material betuminoso os bicos devem ser checados e
verificar se todos esto abertos e funcionando.
134
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Figura 36 Exemplo de caminho espargidor
Controles de execuo
O controle de quantidade de ligante aplicada uma atividade de muita importncia,
pois a quantidade requerida de ligante atingida atravs da compatibilizao entre a
velocidade do caminho e a velocidade da bomba para se espargir o asfalto. O controle
de quantidade aplicada na pista feita de 2 maneiras.
1) Controle com rgua: Mede-se atravs de uma rgua graduada colocada dentro do
tanque de asfalto a quantidade gasta de ligante para executar um determinado trecho,
obtendo-se a taxa em litros em l/m2.
2) Controle da bandeja ou folha de papel: Coloca-se uma bandeja ou folha de papel
(rea conhecida) sobre a superfcie a ser imprimada. Aps a passagem do espargidor
recolhe-se a bandeja (ou papel) e determina-se a quantidade de ligante distribuda
atravs da diferena de peso antes e depois da passagem do caminho.
O controle da uniformidade da distribuio um controle visual onde observado se
no houve nenhuma falha na distribuio do ligante detectando pontos onde houve
excesso ou falta de ligante na superfcie. O excesso deve ser eliminado atravs do
recolhimento e as falhas devem ser preenchidas atravs da caneta distribuidora ou
regador.
135
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
6.7.2 - Pintura de ligao
Tambm chamada de Tack-Coat. Consiste na aplicao de uma camada de material
asfltico sobre a base ou revestimento antigo com a finalidade precpua de promover
sua ligao com a camada sobrejacente a ser executada.
a) Tipos de asfaltos utilizados na pintura de ligao
- Emulses asflticas dos tipos:
Ruptura rpida: RR-1C e RR-2C
Ruptura mdia: RM-1C e Rm-2C
- Asfaltos diludos
CR-70 (exceto para superfcies betuminosas)
b) Execuo da pintura de ligao
Varredura da pista: idem imprimao
Aplicao do asfalto
Tambm feita pelo caminho espargidor. A quantidade de material aplicado da
ordem de 0,5 l/m2. A temperatura de aplicao funo da viscosidade desejada e
deve permitir a formao de uma pelcula extremamente delgada acima da camada a
ser recoberta. As faixas de viscosidade recomendadas so as seguintes:
- Para asfalto diludo : 20 a 60 segundos saybolt-furol.
- Para emulses : 25 a 100 segundos saybolt-furol.
O excesso de ligante pode atuar como lubrificante ocasionando ondulaes do
revestimento a ser colocado.
Controles de execuo
- Controle da quantidade: Pelo processo da rgua ou bandeja (idem imprimao)
- Controle da uniformidade: (idem imprimao).
Bibliografia:
LEITE, L. F. M. Curso Bsico Intensivo de Pavimentao Urbana Mdulo Bsico
Ligantes Asflticos. Rio de janeiro, 2003.
136
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Captulo 7
ENSAIOS EM MATERIAIS ASFLTICOS
Teoricamente a caracterizao dos materiais betuminosos deveria basear-se em
coeficientes reolgicos. Reologia a cincia que estuda a variao, no tempo, das
relaes tenso-deformao.
Conforme a natureza do material, intensidade e magnitude do esforo aplicado, os
corpos podem apresentar deformaes elsticas, viscosas ou de escoamento.
Na prtica, usam-se ensaios facilmente executveis, devidamente normalizados, que
fornecem medidas aproximadas do comportamento do material, sob determinadas
condies.
A aceitao dos materiais betuminosos depende da execuo de numerosos ensaios
de rotina que pouco esclarecem a respeito das caractersticas qumicas dos materiais
betuminosos. Estes ensaios fundamentam-se em clculos probabilsticos, seguindo
condies preconizadas que devem ser seguidas a rigor. Ao final deste captulo so
apresentadas as especificaes atuais para materiais betuminosos.
7.1 - Ensaios em Cimentos Asflticos do Petrleo (CAP)
O CAP no apresenta ponto de fuso definido. O aumento da temperatura altera seu
estado fsico de slido para lquido. Comportam-se como corpos visco-elsticos no
intervalo de temperatura de servio.
137
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
7.1.1 - Determinao de gua
O teor de gua deve ser pequeno nos materiais betuminosos, a fim de que no
espumem quando aquecidos acima de 100 C.
Nos CAPs esse controle processe-se pela exigncia de que no espumem quando
aquecidos a 177 C.
Um ensaio simples para a verificao da presena de gua no CAP consiste em se
aquecer uma quantidade de CAP, observando o aparecimento de um borbulhar na
superfcie. Caso aparea a formao de bolhas, conclui-se que o CAP continha alguma
quantidade indevida de gua.
O ensaio denominado Determinao de gua em Petrleo e outros materiais
betuminosos (MB-37/1975) fixa o modo de proceder-se verificao de gua existente
em Petrleo e materiais betuminosos atravs de destilao.
7.1.2 - Determinao do teor de betume em CAP (NBR 14855)
Este ensaio d uma idia da quantidade de betume puro e da qualidade do asfalto.
chamado de ensaio da Solubilidade e utiliza-se o frasco de Erlenmeyer. No cimento
asfltico do petrleo a frao solvel no CCl4 ou CS2 representa os ligantes ativos do
asfalto.
- Nos CAPs : 99,5 % solvel no CS2 ou CCl4.
- Nos CANs : 60 a 80 % solvel no CS2 ou CCl4.
- Nos Alcatres: 75 a 88 % solvel no CS2 ou Ccl4.
As etapas principais do ensaio so as seguintes:
a) Pesar a amostra de asfalto antes do ensaio
b) Dissolver a amostra em um solvente (CS2 ou CCl4 )
c) Filtrar o material para remoo da parcela insolvel
d) Secar e pesar a parte insolvel
A diferena entre o peso inicial e o peso insolvel, expressa em %, representa a
solubilidade do CAP.
7.1.3 - Determinao da Consistncia de materiais asflticos
A temperatura altera significativamente o estado fsico ou de consistncia dos asfaltos,
sendo por isso considerado um material termo-plstico. Desta forma, este material
deveria ser estudado sob o ponto de vida da Reologia que um ramo da fsica que
138
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
trata do estudo de deformao e do fluxo (ou fluncia) dos materiais quando sujeitos a
um carregamento qualquer, levando em considerao o tempo de durao desse
carregamento.
No caso especfico dos asfaltos, alm do tempo de aplicao da carga, tambm a
temperatura um fator de fundamental importncia no comportamento desse material
devido ao fato destes serem termosensveis.
A Consistncia pode ser medida atravs de vrios parmetros, como por exemplo:
Penetrao, Ponto de Amolecimento, Coeficiente de Viscosidade (?), Viscosidade
Saybolt, , etc.
a) Determinao da Penetrao de materiais asflticos (NBR 6576)
Este ensaio mede a consistncia do CAP pela penetrao de uma agulha de
dimenses padronizadas, em dcimos de milmetros, submetida a uma carga prestabelecida de 100 g durante 5 segundos a uma temperatura de 25 C.
Este ensaio d uma idia da consistncia para fins de classificao. Existem outras
condies para a realizao do ensaio, sendo funo das propriedades dos asfaltos,
como por exemplo: 0 C, 200g e 60 seg. ou 46,1 C, 50g e 5 seg.
Esquema do ensaio:
Figura 37 Esquema do ensaio de Penetrao
b) Ponto de Amolecimento - mtodo do anel e bola (NBR 6560)
Tambm destinado a medir a consistncia dos CAPs , medindo a evoluo da
consistncia com a temperatura. Indica a que nveis de dureza os asfaltos tem uma
certa consistncia. Este ensaio arbitrrio pois o amolecimento de um material
betuminoso no se d a uma temperatura definida, havendo mudana gradual da
consistncia com a elevao da temperatura.
139
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
As etapas principais do ensaio so as seguintes:
a) Moldagem de um corpo de prova de asfalto em um anel de lato com 5/8 (15,9 mm)
de dimetro interno e 1/4 (6,35 mm) de altura.
b) Imergir o anel com o material betuminoso em gua de modo que a base fique a 1
(25,4 mm) do fundo do recipiente. A temperatura da gua deve ser mantida em 5 C.
c) Colocar uma esfera de ao com 3/8 de dimetro (9,53mm) pesando 3,5 g sobre a
superfcie do anel.
d) Fazer a temperatura da gua subir razo de 5 C por minuto.
O ponto de amolecimento a temperatura da gua para a qual o material betuminoso
amolecido for empurrado para baixo, devido ao peso da esfera, no momento que tocar
o fundo do recipiente.
Figura 38 Esquema do ensaio do Ponto de Amolecimento
c) Determinao do ndice de Suscetibilidade Trmica
O ndice de Suscetibilidade Trmica (IST) ou ndice de Pfeiffer Van Doormal (PVD)
dado pela seguinte expresso que correlaciona o valor da Penetrao e do Ponto de
amolecimento.
PVD =
500 x log PEN + 20 PA 1951
120 50 log PEN + PA
Onde
PA: Ponto de Amolecimento: a temperatura na qual a consistncia de um
ligante asfltico passa do estado plstico (ou semi-slido) para o estado
lquido.
PEN: Penetrao do asfalto (em 0,1mm)
140
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
De um modo geral pode-se afirmar o seguinte:
Para PVD < (- 2): Asfaltos que amolecem muito rapidamente com o aumento da
temperatura e tendem a ser quebradios em baixas temperaturas.
Para PVD > (+ 2): Asfaltos oxidados com baixssima suscetibilidade trmica e no
so indicados para servios de pavimentao.
Para os asfaltos produzidos no Brasil, normalmente se tem: - 2 < PVD < +1. A s
especificaes atuais para asfaltos brasileiros (Resoluo ANP N 19, de 11de julho de
2005) estabelecem os seguintes limites para o PVD: - 1,5 < PVD < +0,7.
Acima da temperatura correspondente ao seu Ponto de Amolecimento, os CAPs
apresentam comportamento Newtoniano ou aproximadamente Newtoniano (Santana e
Gontijo).
Abaixo do Ponto de Amolecimento, a at cerca de 0C, os CAPs podem apresentar um
fluxo Newtoniano at um fluxo muito complexo.
Para temperaturas muito baixas (inferiores a 0C) e pequenos tempos de aplicao de
cargas, o comportamento dos CAPs de um slido praticamente elstico.
d) Determinao da viscosidade Saybolt-Furol (NBR 14950)
Este ensaio tambm mede a consistncia dos materiais betuminosos. As consistncias
indicadas para as operaes de mistura, espalhamento e compactao so medidas
em termos de viscosidades.
So utilizados aparelhos denominados viscosmetros, que se destinam a medir a
resistncia ao escoamento de um fluido. Existem 2 mtodos para a determinao da
viscosidade:
- Mtodo emprico: Utiliza o viscosmetro Saybolt, determinando-se a viscosidade
Saybolt Furol (Fuel and Roads Oils) onde a unidade o segundo (SSF).
- Mtodo absoluto: Utiliza os viscosmetros capilares ou de placas paralelas,
determinando-se a viscosidade cinemtica, onde a unidade o Poise (P) ou Stokes.
No viscosmetro de placas paralelas pode-se observar a lei de Newto n para os fluidos:
A resistncia ao deslocamento relativo das partes de um lquido proporcional
velocidade com que estas partes se separam uma da outra.
A viscosidade uma medida da consistncia que o material apresenta ao movimento
relativo de suas partes ou ainda de sua capacidade de fluir.
141
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
a caracterstica inerente ao material de opor-se ao fluxo ou deslocamento de uma
partcula sobre partculas adjacentes devido a uma espcie de atrito interno do
material.
Figura 39 Esquema do viscosmetro de placas paralelas
=
Onde:
= Coeficiente de viscosidade ou Viscosidade
= Tenso cisalhante
= /t = Velocidade de deformao transversal ou distoro, sendo t o
tempo gasto para que ocorra uma deformao transversal .
A viscosidade saybolt exprime o tempo , em segundos, que uma determinada
quantidade de material leva para se escoar em determinada temperatura e em
condies padronizadas.
So comumente utilizadas as temperaturas de 25, 50, 60 e 82,2 C para asfaltos
diludos e emulses e para cimentos asflticos a viscosidade medida a 135 C.
As especificaes para o cimento asftico do petrleo fixam os seguintes valores
mninos:
142
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Cimento
Asfltico
CAP 30/45
CAP 50/70
CAP 85/100
CAP 150/200
Viscosidade (seg) Viscosidade (seg) Viscosidade (seg)
a 135C - min
a 150C - mn
a 177C
192
90
40-150
141
50
30-150
110
43
15-60
80
36
15-60
O ensaio para determinao da viscosidade Saybolt pode ser assim resumido:
a) Aquecer o leo do viscosmetro at obter a temperatura de ensaio
b) Inserir uma rolha no fundo do viscosmetro
c) Filtrar a amostra (peneira n 100) diretamente no viscosmetro, preenchendo at
nvel do bordo.
d) Agitar a amostra at a temperatura do ensaio atravs de um termmetro
e) Colocar o frasco receptor, de volume fixo de 60 ml sob o viscosmetro e retirar a
rolha
f) Marcar o tempo em segundos at o escoamento da amostra atingir o menisco de
referncia. Este tempo a viscosidade
7.1.4 - Determinao da Ductilidade de materiais asflticos (NBR 6293)
Ductilidade a propriedade de um material suportar grandes deformaes
(alongamento) sem ruptura. Tem por finalidade, este ensaio, medir a resistncia
flexibilidade.
A medida da ductilidade dada pela distncia (em cm) que um corpo de prova de
material betuminoso, em condies padronizadas, submetido a um esforo de trao,
tambm em condies especificadas, se rompe.
A maioria dos cimentos asflticos para pavimentao tem ductilidade superior a 100.
As especificaes para o CAP fixam os seguintes valores:
Cimento Asfltico
Ductilidade (cm)
mnimo
60
60
100
100
CAP 30/45
CAP 50/70
CAP 85/100
CAP 150/200
A sequncia do ensaio a seguinte:
143
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
a) Moldagem de um corpo de prova que dever conter uma seo transversal de 1
cm2. O asfalto dever ser peneirado previamente na peneira n 50 (0,3mm).
b) Colocao do corpo de prova moldado imerso em gua no ductilmetro. A
temperatura da gua dever ser mantida a 25C.
c) Uma extremidade do corpo de prova fica fixa parede do aparelho e a outra presa
a uma parte mvel que ir se mover com uma velocidade de trao de 5 cm por
minuto.
d) O material betuminoso no deve ficar em contato com a superfcie da gua ou com o
fundo do ductilmetro. A imerso em gua utilizada para evitar a catenria do
filamento que formado.
A medida da ductilidade tomada coma a distncia mxima que o corpo de prova
conseguir se estender at o momento da ruptura. Deve-se tomar a mdia de trs
determinaes para o valor da ductilidade final.
Figura 39 - Esquema do ensaio de Ductilidade
7.1.5 - Ensaio da mancha (ensaio Oliensis ou Spot Test)
Destina-se a verificar se o processo de destilao utilizado aceitvel. Mede a
instabilidade coloidal criada nos asfaltos por um superaquecimento ou destruio das
estruturas.
Sua finalidade eliminar (desqualificar) um asfalto que no processo de refinao tenha
sofrido Craqueamento (quebra da cadeia original de hidrocarbonetos). Asfaltos
craqueados so susceptveis as intempries.
O ensaio constitui-se dos seguintes passos:
a) Dissoluo de amostra de asfalto em nafta ou solvente (CCl4)
b) Coloca-se uma gota dessa mistura sobre folha de papel filtro
- se a mancha apresentar colorao homognea (uniformemente marrom), o
resultado negativo, ou seja, o material aceitvel.
- se a mancha apresentar uma parte mais escura no centro ou colorao
heterognea, o resultado positivo, sendo o material recusado.
144
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
7.1.6 - Determinao do Ponto de Fulgor (NBR 11341)
Ponto de Fulgor a temperatura na qual os vapores originados pelo aquecimento do
produto asfltico se inflamam quando em contato com uma chama padronizada.
a temperatura limite que pode o material asfltico atingir em obra sem risco de
incndio. um indicativo da presena de certos constituintes volteis indesej veis no
asfalto. um ensaio de segurana.
As especificaes atuais do CAP fixam o valor de 235C para o ponto de fulgor.
O ensaio realizado no Vaso Aberto de Cleveland e constitui-se dos seguintes passos:
a) Encher o vaso at a linha de marcao com o material betuminoso
b)Acender a chama de ensaio (dimetro aproximado de 4 mm)
c) Aquecer a amostra a uma razo de 14 a 17 C por minuto no incio do ensaio e a
5,5 C por minuto nos ltimos 28 C antes da provvel temperatura do ponto de
fulgor.
d) Aplicao de chama nos ltimos 28 C a cada 2,8 C. A chama deve cruzar o centro
da amostra em linha reta, perpendicularmente ao dimetro que passa pelo
termmetro, a 2 mm da superfcie, durante 1 segundo.
e) Anotar a temperatura quando aparecer um fulgor na superfcie da amostra
Este ensaio exige preciso, devendo considerar o resultado como suspeito quando
duas determinaes diferirem mais de 8,3 C pelo mesmo operador ou mais de 16,7 C
quando realizados por dois laboratrios.
Obs.: Para materiais que tenham ponto de fulgor inferior a 80 C procede-se o ensaio
do ponto de fulgor atravs do Vaso Aberto de TAG.
7.2 - Ensaios em Asfaltos Diludos e Emulses
Alm dos ensaios utilizados na caracterizao dos Cimentos Asflticos do Petrleo,
existem uma srie de ensaios para os Asfaltos Diludos e Emulses Asflticas:
- Asfaltos Diludos: Pontos de fulgor, viscosidade, destilao, mancha, flutuao,
resduo asfltico de penetrao 100.
- Emulses Asflticas: Ensaios de desemulso ou ruptura, viscosidade, sedimentao,
determinao das cargas das partculas, PH, mistura com cimento, resduo de
destilao, peneiramento, resistncia ao da gua.
145
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
7.2.1 - Determinao da destilao de asfaltos diludos (MB-43/1965)
Neste ensaio determina-se a quantidade de volteis destilados temperaturas
preestabelecidas, quantidade e qualidade do resduo.
Tambm determina-se a natureza e quantidade do diluente do cimento asfltico
empregado. Se a maior parte dos diluentes se destilam a baixas temperaturas, tm-se
produtos de cura rpida. Acontecendo o contrrio, tm-se asfaltos de cura lenta e
mdia.
A quantidade de resduo final permite determinar qual o tipo de asfalto usado em cada
classe de asfalto diludo. expressa em % por volume (Resduo da destilao a
360C)
Os passos principais do ensaio podem ser assim resumidos:
a) Preparar 200 ml de amostra (Asfalto diludo)
b) Aplicar aquecimento atravs uma chama
c) Recolher o material destilado em proveta graduada e anotar a leitura dos volumes
recuperados dos diluentes nas temperaturas especificadas ( 225, 260 e 316 C)
d) Quando atingir 360 C apagar a chama e verter o resduo em um recipiente. Esta
operao deve ser executada no mximo em 10 segundos
e) O resduo, por volume, a 360 C ser anotado como diferena entre o volume da
amostra original e o volume do destilado total a 360 C.
7.2.2 - Ensaio de Flutuao
Neste ensaio medida a consistncia de materiais betuminosos de consistncia
intermediria, especialmente os asfaltos diludos de cura lenta, onde a consistncia do
resduo muito pequena, no podendo ser medida pelo ensaio de penetrao. Este
ensaio feito com o resduo de destilao. Os passos principais do ensaio so:
a) Moldar o material em um pequeno colar de lato:
b) Deixa-se o corpo de prova resfriar at 5 C em imerso em gua
c) Anexar o colar no fundo do flutuador
d) Mede-se o tempo em segundo para que a temperatura amolea o material betuminoso e permita que ele flua para dentro do flutuador
e) Quanto maior o nmero, maior a consistncia.
146
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Captulo 8
REVESTIMENTOS
Revestimento a camada do pavimento destinada a receber diretamente a ao do
trfego, devendo ser, tanto quanto possvel, impermevel, resistente ao desgaste e
suave ao rolamento. Tambm chamada CAPA ou camada de desgaste .
8.1 - Principais funes
- Melhorar as condies de rolamento quanto ao conforto.
- Resistir s cargas horizontais, tornando a superfcie de rolamento mais durvel. As
cargas horizontais so ocasionadas pela frenagem e acelerao.
- Tornar o conjunto impermevel, mantendo a estabilidade.
8.2 - Terminologia dos revestimentos
Os revestimentos podem ser agrupados de acordo com o seguinte esquema:
147
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Rgidos
Concreto de Cimento
Macadame Cimentado
Paraleleppedos Cimentados
Em Solo Estabilizado
Por Calamento
Alvenaria Polidrica
Paraleleppedos: Pedra, Madeira, Cermica
Blocos de Concreto Pr-Moldados e Articulados
Betuminosos
Por Penetrao
Macadame Betuminoso
Tratamentos Superficiais Betuminosos (TSS, TSD, TST)
Por Mistura
A Quente
Concreto Asfltico (CA)
Pr-Misturado a Quente (PMQ)
Argamassa Asfltica (Areia Asfalto)
Camada Porosa de Atrito (CPA)
Stone Matrix Asphalt (SMA)
Flexveis
A Frio
Em Central
Pr-Misturados (PMF)
Argamassas asflticas (Areia Asfalto)
Micro Revestimento Asfltico
Lama Asfltica *
No Leito
Misturas Graduadas
Argamassas Asflticas (Areia Asfalto)
* No considerado revestimento
148
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
8.2.1 - Concreto de cimento
Mistura de cimento Portland, agregado grado, areia e gua devidamente adensado e
espalhado formando placas de concreto, separadas por juntas de dilatao.
Funcionam como base e revestimento.
8.2.2 - Macadame cimentado
J visto na terminologia das bases.
8.2.3 - Paraleleppedos rejuntados com cimento
J visto na terminologia das bases, porm o rejuntamento feito com argamassa de
cimento.
8.2.4 - Em solo estabilizado
o chamado revestimento primrio. Aps a terraplanagem colocado um material
com determinada composio granulomtrica, comumente denominado saibro ou
cascalho , e que apresenta alguma plasticidade atravs da relao fino-grosso.
Adiciona-se gua e procede-se compactao. dito estabilizado porque a
granulometria deve ser estudada de modo a proporcionar resistncia estrada. Novos
cascalhamentos podem ser executados, por cima do revestimento antigo. muito
comum o uso em estradas vicinais, estradas de fazendas e pequenos acessos rurais.
Tambm podem ser adicionados sais minerais e resinas, como nas bases
estabilizadas.
8.2.5 - Revestimento de alvenaria polidrica / paraleleppedos
O Pavimento de Alvenaria Polidrica consiste de um revestimento de pedras
irregulares/paraleleppedos, assentadas por processo manual, rejuntadas com areia,
betume e assentes sobre um colcho de areia ou de solo estabilizado.
8.2.6 - Blocos de concreto pr-moldados e articulados
Consiste de revestimento de blocos de pr-moldados (bloquetes), assentados por
processo manual, rejuntados com areia ou betume, assentes sobre o colcho de areia
ou p de pedra ou sub -base de solo estabilizado.
Os componentes e processo construtivo: so semelhantes ao do revestimento de
alvenaria polidrica e paraleleppedos.
O formato dos bloquetes pode ser variado: quadrado, hexagonal, tipo macho-fmea,
de encaixe.
149
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
8.2.7 - Macadame betuminoso
So os revestimentos betuminosos por penetrao direta que consiste no
espalhamento e compresso de uma camada de brita de granulometria apropriada
seguida de aplicao do material betuminoso. O material betuminoso penetra nos
vazios do agregado e um novo espalhamento de brita feito, para preenchimento dos
vazios superficiais, seguido de nova compresso.
8.2.8 - Tratamentos superficiais
So os revestimentos betuminosos por penetrao invertida com aplicao de material
betuminoso seguida de espalhamento e compresso de agregado de granulometria
apropriada. Sua espessura aproximadamente igual ao dimetro do agregado
empregado. Pode ser executado com os objetivos de impermeabilizao, modificar a
textura de um revestimento existente ou como revestimento final de um pavimento.
Quando a operao executiva do tratamento simples repetida duas ou trs vezes,
resultam os chamados tratamentos superficiais duplos e triplos.
8.2.9 - Concreto asfltico (CBUQ)
um revestimento flexvel, resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de
agregado mineral graduado, material de enchimento (fler) e material betuminoso
espalhado e comprimido a quente. Durante o processo de construo e
dimensionamento, so feitas rigorosos exigncias no que diz respeito aos
equipamentos, granulometria, teor de betume, estabilidade, vazios etc. considerado
um revestimento nobre.
8.2.10 - Pr-misturado quente (PMQ)
Consiste na mistura ntima, devidamente dosada, de material betuminoso e agregado
mineral em usina e na compresso do produto final, quente, por equipamento
apropriado.
Quando os pr-misturados so executados em usinas tm-se os plant mixere quando
o ligante e o agregado so misturados e espalhados na pista ainda quente tm-se os
hot mixou hot laid.
8.2.11 - Areia asfalto quente
Consiste na mistura de areia com um produto betuminoso obtido em usinas fixas. A
areia utilizada, normalmente a passante na # 10 (2mm), embora 2 ou 3 areias
possam ser misturadas para se obter a granulometria desejada. Pode ser executada
em duas camadas. Apresenta o inconveniente de produzir uma superfcie lisa e macia,
ocasionando problemas de escorregamento. Pode-se usar pedrisco para tornar a
superfcie mais spera.
150
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
8.2.12 Camada porosa de atrito (CPA)
Camada de macrotextura aberta com elevada capacidade de drenagem atravs de
uma estrutura de alto ndice de vazios (18 25%).
Suas principais vantagens so:
- Reduo dos riscos de aquaplanagem
- Reduo das distncias de frenagem sob chuva
- Aumento de distncia de visibilidade. E diminuio da cortina de gua (spray)
- Menor reflexo luminosa
- Maior percepo de sinalizao vertical durante a noite
- Reduo dos nveis de Stress do usurio
8.2.13 Stone matrix asphalt (SMA)
Revestimento caracterizado por elevada % de agregados grados, que formam uma
estrutura descontnua semelhante a uma parede de pedra de elevado atrito interno. Os
vazios do esqueleto mineral so preenchidos com ligante modificado por polmeros,
fler mineral e fibras orgnicas.
Suas principais vantagens so:
-Melhoria das condies mecnicas do pavimento: Resistncia
deformao,
fissurao e desgaste
-Melhoria das caractersticas funcionais como resistncia derrapagem, reduo do
spray e reflexo de luz.
8.2.14 - Pr-misturado a frio
o produto obtido da mistura de agregado mineral e emulso asfltica ou asfalto
diludo, em equipamento apropriado, sendo a mistura espalhada e comprimida a frio.
Os agregados tambm no so aquecidos. A mistura obedece a mtodos de
dimensionamento prprios e so produzidos em usinas simplificadas, sem a existncia
de secadores, ou atravs do uso de betoneiras.
Neste tipo de mistura permitida a estocagem durante certo perodo de tempo. Muito
utilizado em servios de conservao, mas tambm pode ser usado como
revestimento final, porm com qualidade inferior. Podem ser designados pelo nome de
cold laid. Dependendo da granulometria, pode ter as designaes: pr-misturado a
frio denso ou aberto.
8.2.15 - Areia asfalto a frio
a mistura de asfalto diludo ou emulso asfltica e agregado mido, na presena ou
no de material de enchimento, em equipamento apropriado. O produto espalhado e
comprimido a frio.
151
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
8.2.16 - Lama asfltica (no considerada revestimento)
uma associao (mistura), em consistncia fluida, de agregados ou misturas de
agregados midos, fler (ou material de enchimento) e emulso asfltica, devidamente
espalhada e nivelada.
geralmente empregada no rejuvenescimento de pavimentos asflticos (pavimentos
desgastados) ou como camada de desgaste e impermeabilizante nos tratamentos
superficiais ou macadame betuminoso. Por apresentar condies de elevada
resistncia derrapagem, devido a seu alto coeficiente de atrito, tambm
empregada na correo de trechos lisos e derrapantes.
A espessura final da ordem de 4mm e a compactao executada pelo prprio
trfego.
A lama asfltica no considerada um revestimento propriamente dito e sim um timo
processo para preservar e manter revestimentos betuminosos.
8.2.17 - Misturas graduadas
Consiste em mistura, na prpria pista, de agregado de granulometria determinada com
um produto betuminoso lquido. So usados asfaltos diludos ou emulso. Por serem
feitos no prprio leito so tambm chamados de pr-misturados na pista ou RoadMixer.
8.2.18 - Areia asfalto no leito
Similar s misturas graduadas, porm usando-se apenas o agregado mido (areia) e o
material betuminoso (asfa lto diludo ou emulso).
8.3 - Revestimentos flexveis por penetrao
8.3.1 - Tratamento superficial simples
uma camada de rolamento constituda de material betuminoso e agregado na qual o
agregado colocado uniformemente sobre o material betuminoso, aplicado numa s
camada.
A penetrao do asfalto de baixo para cima. A espessura final aproximadamente
igual ao dimetro mximo do agregado. (max. 38mm; mais comum: 25mm).
Utilizao:
-Melhorar condies de um pavimento existente. (Liso derrapante)
-Camada de rolamento.
-Rejuvenescer e enriquecer um pavimento antigo ressecado e gasto.
152
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
a) Propriedade dos agregados
Devem ser limpos e isentos de p para no prejudicar a adeso do betume. O tamanho
deve ser o mais uniforme possvel. As partculas menores so cobertas pelo betume,
as grandes que no so aderidas pelo ligante podem causar ricochete, perigoso ao
trfego. A forma ideal a piramidal ou cbico
A dureza depende da natureza do trfego e tipo de rocha. O desgaste Los Angeles
no deve ser superior a 40%.
Os tipos mais usados so: pedra britada, escria britada e cascalho, seixos rolados.
b) Propriedade dos ligantes
Os fatores que mais influenciam na escolha dos ligantes so: temperatura da superfcie
de aplicao, temperatura ambiente, umidade e vento, condies da superfcie, tipos e
condies do agregado e equipamento utilizado.
No espalhamento devem ser suficientemente fluidos para aplicao uniforme sobre a
superfcie. No espalhamento dos agregados tambm devem estar fluidos para aderir
aos agregados, com adeso inicial rpida entre agregado, ligante e superfcie da
rodovia.
Aps concluso devem ter viscosidade adequada para reter o agregado no lugar.
Os materiais betuminosos mais empregados so:
1- Cimento asfltico do petrleo: tipo CAP-7 e CAP-150/200.
2- Asfalto diludo : tipo CR-250.
3- Emulso asfltica: RR-2C.
As temperaturas da aplicao dependem dos tipos de ligante e so fixadas em funo
da viscosidade:
CAP : 20 a 60 SSF.
AD : 20 a 60 SSF.
E.A : 20 a 100 SSF.
c) Mtodos de dosagem
1- Mtodo direto para a determinao da taxa de agregado
Ensaio da placa: espalha-se o agregado sobre uma placa de rea conhecida de modo
a formar uma superfcie uniforme obtendo-se ento a taxa em kg/m2 ou l/m2 (3
determinaes) .
153
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
2- Mtodo de Hanson (indireto) para determinao da taxa de ligante e agregado.
A espessura da camada de agregados aps compactao deve ser igual a espessura
mdia da menor dimenso (ALD).
A ALD funo do tamanho mdio do agregado (tamanho de 50% Passante), obtido
na curva granulomtrica e do ndice de cubicidade.
A dosagem do agregado feita da seguinte maneira:
VA = 1,84 x ALD onde: Va Volume da camada solta de agregado em l/m2.
ALD em mm.
A dosagem do ligante assim determinada:
VL = 0,133 x ALD
onde: VL Volume de ligante em l/m2.
ALD em mm.
Exemplo (Figura 40):
Esp. mdia do agregado = 7/16 1,11 cm
ndice de cubicidade: 20
Pelo grfico dado a seguir: ALD = 0,31 7,87 mm. Ento:
VA = 1,84 x 7,87 = 14,5 l/m2.
VL = 0,133 x 7,87 = 1,05 l/m2.
3- Mtodo Podest-Tagle (indireto) para determinao da taxa de ligante
Conhecido como a regra 9-5-3 e a dosagem obedece s relaes:
Para TSS - TSD - TST:
Quantidade total de ligante
Volume total do agregado solto ( l/m2 )
Para TSD - TST:
1 Aplicao de Bet.
tamanho max. efetivo do agregado grado (mm)
Para TST:
2 Aplicao de betume
volume do agregado grado (l/m2 )
154
9
100
=
5
100
=
3
100
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Figura 40 - Grficos utilizados no Mtodo de Hanson
d) Equipamentos utilizados
1- Distribuidor de Betume sob presso
So veculos equipados com tanques para depsito de material betuminoso. Estes
tanques so providos de condutores, termmetros, anteparos de circulao, porta de
visita, tubo de ladro.
As funes de bomba so: Encher o tanque; circular material na barra espargidora e
tanque; espalhar material atravs da barra espargidora e espalhador manual; conduzir
material da barra espargidora para o tanque e bombear o material do tanque para o
recipiente de armazenamento.
2- Espalhador de agregados
O espalhamento dos agregados poder ser feito de vrias maneiras, como por
exemplo:
- Atravs da portinhola traseira do caminho bascula nte
- Espalhador giratrio
- Espalhador mecnico (Spreader)
- Espalhador de agregado auto propulsor
155
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
3- Rolos Compressores
Preferncia para rolos pneumticos. Os rolos tandem liso normalmente so evitados
pois as rodas lisas formam espcie de ponte sobre as partculas maiores causando
pequenas depresses. Podem esmagar partculas maiores causando deteriorao do
revestimento.
A compactao deve ser feita at se garantir a reteno do agregado no material
betuminoso. Deve ser paralisada quando houver esmagamento.
e) Sequncia construtiva (figura 41)
-Preparo da pista
-Aplicao do ligante betuminoso
-Espalhamento do agregado
-Compresso
-Varredura por arrasto final
f) Abertura do trfego
Quando for usado asfalto diludo deve-se jogar agregado fino sobre a superfcie (
24h). Quando for usado CAP o trfego pode ser aberto logo aps o espalhamento do
agregado porem com trfego controlado.
Para abrir trfego junto com a compactao a velocidade mxima de 10 km/h e aps
24 horas continuar controlando com velocidade aproximada de 40 km/h.
g) Especificaes (DNER)
Agregado
Material
Betuminoso
Faixa
Granulomtrica
Quantidade
Tipo
Quantidade
7 kg/m2
vrios
0,5 l/m2
12 kg/m2
vrios
0,8 l/m2
12 kg/2
vrios
0,8 l/m2
h) Controles
-Para a q uantidade dos materiais (Asfalto e agregado).
-Temperatura de Aplicao.
-Quantidade de material betuminoso
-Uniformidade de aplicao.
-Controle geomtrico.
156
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Figura 41 - Esquema de Execuo de Tratamento Superficial Simples (Santana,1994)
8.3.2 - Tratamento superficial duplo
Consiste de duas aplicaes sucessivas de material betuminoso sobre uma base
previamente preparada, cobertas, cada uma, por agregado mineral.
As propriedades dos ligantes e agregados, os equipamentos assim como os controles
so os mesmos indicados para o Tratamento Superficial Simples
157
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
a) Sequncia construtiva
- Primeira aplicao de ligante
- Primeira aplicao de agregado
- Primeira compactao e varredura por arrasto
- Segunda aplicao de ligante
- Segunda aplicao de agregado
- Compactao e varredura por arrasto final
b) Especificaes (DNER)
- Granulometria: especfica para 1 e 2 camadas
- Ligantes: 1 camada: 1,3l/m2 ; 2 camada 1,0 l/m2
- Agregado: 1 camada: 25 kg/m2 ; 2 camada: 12 kg/m2.
8.3.3 - Tratamento superficial triplo
Camada de rolamento composta de material betuminoso e agregado na qual o
agregado grado aplicado uniformemente sobre uma aplicao inicial de material
betuminoso e seguido de duas aplicaes subsequentes de material betuminoso
cobertas respectivamente por agregados mdios e midos.
a) Especificaes (DNER)
- Granulometrica: especificar para 1, 2, e 3 camada.
- Ligantes: 1 camada: 1,5 l/m2 ; 2 camada: 1,5 l/m2 ; 3 camada: 0,5 l/m2 .
- Agregados: 1 camada: 36 kg/m2 ; 2 camada: 16 kg/m2 ; 3 camada: 7 kg/m2
8.3.4 - Macadame betuminoso por penetrao direta.
Consiste em duas aplicaes alternadas de ligantes betuminoso sobre agregados de
tamanhos e quantidades especificados, devidamente espalhados, nivelados e
compactados.
a) Materiais empregados
Material betuminoso:
Agregados:
CAP-7; CAP 150/200
Emulso asfltica: RR-1C e RR2C
Pedra britada, cascalho ou seixo rolado.
b) Equipamentos para execuo
Idem dos Tratamentos Superficiais
158
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
c) Sequncia construtiva (figura 42)
- Preparo da pista: pista nivelada, base pronta, imprimada e varrida.
- Espalhamento do agregado grado: Recomenda-se o espalhador mecnico
completado as falhas manualmente.
- 1 Compresso: apenas do agregado espalhado
- 1 Aplicao de material betuminoso
- Espalhamento do agregado mdio
- 2 compresso:
- 2 Aplicao de material betuminoso
- Espalhamento de agregado mido
- 3 Compresso.
d) Especificaes
As quantidades a serem aplicadas so as indicadas em especificao prpria, porm
valores exatos devem ser fixados no projeto.
As quantidades de material em geral so da ordem de:
- Material betuminoso: 1,0 l/m2 por centmetro de espessura.
- Agregado mineral: Esp. de 2,5 cm : 30 l/m2
Esp. de 7,5 cm : 90 l/m2
e) Controles
Os controles tecnolgicos empregados so os seguintes:
-Qualidade do material betuminoso: Ensaios de viscosidade, ponto de fulgor, etc
-Qualidade dos agregados: Granulometria, Los Angeles, durabilidade
-Temperatura de aplicao do ligante: verificado no caminho
-Quantidade de ligante: Rgua graduada ou bandeja
-Quantidade de agregado
-Uniformidade de aplicao.
Os controles geomtricos so os seguintes:
10% de variao da espessura de projeto para pontos isolados
159
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Figura 42 - Sequncia de Operaes na Construo do Macadame Betuminoso
8.4 - Revestimentos flexveis por mistura
As misturas asflticas so tradicionalmente classificadas em:
a) Misturas a quente: realizadas com CAP ou CAN, que so produtos semi-slidos na
temperatura ambiente, sendo confeccionadas, espalhadas e compactadas em
temperaturas bem acima da ambiente (T>90C). Os agregados tambm so aquecidos.
b) Misturas a frio: So aquelas realizadas com asfaltos liquefeitos (Emulso asflticas e
asfaltos diludos) que podem ser ligeiramente aquecidos (T 50 C). Os agregados
normalmente no so aquecidos e a mistura sempre espalhada e compactada
temperatura ambiente.
160
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
As principais vantagens e desvantagens das misturas a quente e a frio podem ser
assim resumidas:
Vantagens
Vantagens
- mais durveis
- no se aquece o
- menos sensveis a ao da
agregado
gua
- permitem estocagem
Mistur - apresentam envelhecimento Misturas - simplicidade de
as
a
lento
instalao
a
Frio
- suportam bem o trfego
- baixo custo de
Quente pesado
fabricao
- no exigem cura
- simplicidade no
processo construtivo
Desvantagens
Desvantagens
- difcil fabricao
- maior desgaste
-exigem aquecimento do
- envelhecimento mais
agregado
rpido
- alto custo de fabricao
- exigem cura da mistura
- equipamento especial no
processo construtivo
- no permitem estocagem
8.4.1 - Concreto Asfltico (Concreto Betuminoso Usinado a Quente-CBUQ)
Ser estudado exclusivamente do captulo 9
8.4.2 - Pr-Misturado a Quente (PMQ)
So as misturas asflticas constitudas por agregados e argamassa asfltica. Se forem
preparados com especificaes mais exigentes recebem o nome de concreto asfltico
(CBUQ).
Se as caractersticas desta mistura forem menos nobres recebem o nome de prmisturado a quente (PMQ) .
No confundir Concreto Betuminoso mal executado com PMQ. O PMQ um CBUQ
sem controle, de caractersticas menos nobres. No existe especificao rgida de
projeto.
161
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
8.4.3 - Argamassas asflticas
So as misturas asflticas constitudas de agregado mido, material betuminoso (CAP),
podendo ou no ter o filer.
Areia-asfalto a quente
Consiste na mistura, a quente, em usina apropriada de agregado mido, cimento
asfltico, com presena ou no de material de enchimento (filer). O espalhamento e
compresso so feitos a quente.
Os materiais normalmente empregados so:
- Material betuminoso: CAP 20 ou CAP 40
- Agregado mido: areia ou p de pedra, ou mistura.
- Filer: materiais minerais no plsticos e inertes: Cimento, p calcrio, cal extinta.
O projeto de mistura feito atravs do Mtodo Marshall ou Hubbard Field.
Quando a mistura tem a presena de filer, pode ser chamada de Sheet Asphalt,
quando no tem material de enchimento na sua constituio normalmente chama de
areia-asfalto.
A espessura final aps compactao no deve ultrapassar 5 cm, sendo normalmente
utilizada como revestimento ou como camada de regularizao ou nivelamento. As
especificaes indicam trs faixas granulomtricas. Duas ou mais areias podem ser
misturadas para se obter a granulometria desejada.
O processo construtivo idntico ao do CBUQ, podendo ser distribudas em duas
camadas, e os controles tambm so os mesmos.
Seu principal inconveniente deixar a superfcie lisa e macia, tornando-a escorregadia.
Pode-se usar pedrisco para tornar a superfcie mais spera.
8.4.4 - Pr-Misturado a Frio (PMF)
a mistura preparada, em usina apropriada, com agregado mineral e ligante asfltico
liquefeito (geralmente emulso asfltica catinica), espalhada e compactada na pista a
temperatura ambiente, podendo ser usada em revestimento e base.
Pr-Misturado a Frio Aberto (PMFA):
o PMF com pouca ou nenhuma quantidade de agregado mido e filer. Depois de
compactado apresenta grande teor de vazios. Pode ser designado pelo nome de PrMisturado Tipo Macadame, suja composio da mistura pode ser enquadrada em seis
faixas granulomtricas. A especificao DNER-ES 106/80 trata deste tipo de mistura.
162
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Pr-Misturado a Frio Semi-Denso(PMFsD):
o PMF com mdia quantidade de agregado mido e filer.
Pr-Misturado a Frio Denso (PMFD):
o PMF com aprecivel quantidade de agregado mido e filer. Aps compactado
apresenta baixo teor de vazios.
Estes dois ltimos tipos (mais fechados) so conseguidos atravs da escolha
conveniente da faixa granulomtrica de modo a aumentar ou diminuir o ndice de
vazios. A especificao DNER-ES 105/80 apresente mais seis faixas granulomtricas
para a composio da mistura.
a) Materiais
- Agregado mineral: Mistura de materiais que atendam as especificaes prprias,
constituda de agregado grado, agregado mido e filer.
- Ligante : normalmente so utilizadas Emulses asflticas do tipo: RL-1C, RM-1C e
RM-2C. Em algumas situaes pode ser usado Asfalto Diludo tipo CR-250 (para
pr-misturados densos) porm a maioria das aplicaes no Brasil feita com
Emulses Asflticas
b) Dosagem
O mtodo Marshall o mais utilizado, sendo inclusive normalizado pelo DNER atravs
do mtodo de ensaio DNER-ME 107/80 (Ensaio Marshall para misturas betuminosas a
frio com emulso asfltica).
c) Equipamentos
So utilizadas usinas tipo pugmil ou multmix ou betoneiras. Dispensam uso de
secadores e apresentam dispositivo para umedecimento da mistura, Silos e Correias
transportadoras. A Figura 43 mostra o esquema de uma misturadora de PMF.
Para espalhamento do mistura na pista podem ser usado acabadora automotriz,
distribuidor de agregado ou motoniveladora (patrol).
Os compactadores mais utilizados so os rolos lisos tandem, pneumtico e vibratrio
liso. O transporte feito por caminhes basculante.
163
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Figura 43 - Esquema de uma usina para PMF
d) Processo construtivo
A rolagem feita aps incio da ruptura (ou cura) do ligante.
permitida a estocagem por certo perodo de tempo (depende do ligante). Em
dias de chuva, pode-se produzir material.
O aspecto durante confeco e espalhamento apresenta uma cor amarronzada,
aps a ruptura do ligante (emulso) a colorao modifica-se para preto.
e) Controles de execuo (similares ao CBUQ)
- Qualidade da emulso: viscosidade, sedimentao, etc.
- Qualidade dos agregados: granulometria, Los Angeles, durabilidade, etc.
- Controle do teor de ligante: ensaio de extrao.
- Controle da graduao da mistura: aps ensaio extrao do betume.
- Controle das caractersticas Marshall da mistura.
- Controle de compactao: corpo-de-prova extrado c/ sonda rotativa ou anis de ao.
- Controle de espessura
- Controle do acabamento
164
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
8.4.5 - Areia-asfalto a frio
Mistura de asfaltos diludos ou emulses asflticas com agregado mido, na presena
ou no de material de enchimento, em equipamento apropriado. O produto espalhado
e comprimido a frio. Aguardar 2 horas aps espalhamento da massa na pista.
8.4.6 - Lama-asfltica (no revestimento)
uma associao (mistura) em consistncia fludica, de agregado ou misturas de
agregados midos, filer (material de enchimento) e emulso asfltica, (LA-1C, LA-2C)
devidamente espalhada e nivelada.
a) Emprego
- Rejuvenescimento de pavimentos asflticos: quando estes se encontrarem
desgastados ou envelhecidos.
- Camada de desgaste e impermeabilizante: principalmente nos tratamentos
superficiais ou macadames betuminosos.
- Correo de trechos lisos e derrapantes: devido s suas condies de elevada
resistncia derrapagem ou seja, apresenta um alto coeficiente de atrito.
b) Execuo
- Em equipamento apropriado.
- Espalhamento direto da mistura sobre a superfcie antiga.
- Espessura final em torno de 4mm
- No necessrio compactao, o prprio trfego se encarrega desta atividade.
8.4.7 - Misturas graduadas
Consiste em mistura, na prpria pista, de agregados de granulometria especfica com
um produto betuminoso lquido. So utilizados asfaltos diludos ou emulso asfltica.
Processo construtivo
- preparo da base
- espalhamento do agregado
- 1 aplicao de agregado
- mistura (esparrame) com moto-niveladora, grade, fazendo eiras
- aplicao complementar de betume
- compactao.
- 2 aplicao de agregado mido e betume
- Podem-se usar mquinas mveis (pulvimix)
165
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
8.4.8 - Areia-asfalto no leito
Similar ao anterior, porm usa-se apenas agregado mido (areia) e o material
betuminoso (Asfalto Diludo ou Emulso Asfltica).
8.5 - Revestimentos flexveis em solo estabilizado (revestimento
primrio)
So aqueles feitos logo aps a terraplanagem, onde o material lanado sobre um
subleito regularizado, apresentando uma determinada granulometria, normalmente um
saibro ou cascalho. Este material tambm dever apresentar alguma plasticidade
atravs da relao fino-grosso.
Processo executivo
- Distribuio do material sobre a pista e espalhamento atravs de motoniveladora por
toda a seo transversal.
- Pode ou no haver compactao
- Tambm podem ser adicionados estabilizantes (sais minerais e resinas) como nas
bases estabilizadas.
8.6 - Revestimentos de alvenaria polidrica / paraleleppedos
Consiste de um revestimento de pedras irregulares/Paraleleppedos, assentadas por
processo manual, rejuntadas com areia/betume e assentes sobre um colcho de areia
ou sub-base de solo estabilizado.
a) Componentes
Espelho
Meio-Fio
Pedras irregulares /
Paraleleppedos
15 a 18 cm
Sub-Base
Figura 44 - Componentes Principais de Alvenaria Polidrica / Paraleleppedo
166
40 cm
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Guia: uma pea prismtica de rocha ou concreto, com seo retangular ou
trapezoidal, destinada a limitar a pista pavimentada, proteger o calamento e evitar
o deslocamento dos poliedros e paraleleppedos.
Meio-fio: o conjunto de guias assentadas e alinhadas ao longo das bordas da
pista.
Espelho: a parte do meio fio, na face livre, aproximadamente vertical, que constitui
o ressalto entre o nvel do pavimento e o da calada ou passeio.
Cordo (tento): a pea da rocha ou de concreto, com seo retangular ou
trapezoidal, destinada a ser assentada com o piso coincidindo com a superfcie dos
poliedros e dos paraleleppedos, com a finalidade de proteger os bordos do
pavimento ou amarrar determinadas sees do mesmo.
Pedras mestras: so os primeiros poliedros ou paraleleppedos assentados em
alinhamentos paralelos ao eixo da pista, destinados a servir de guia para o
assentamento dos demais.
b) Materiais
As pedras polidricas tero uma face para rolamento, aproximadamente plana e que
se inscreva em crculos de raios entre 5 e 10 cm e altura entre 10 e 15 cm. Os
paraleleppedos devero apresentar aproximadamente 10x20x15 .
Os meios-fios tero sees aproximadamente retangulares, com dimenses
mnimas de 18 cm de piso, 40 cm de altura e 80 cm de comprimento quando reto e
60 cm de comprimento quando curvo e sero aparelhados no piso e no espelho.
Os cordes ou tendes tero seo aproximadamente retangular, com dimenses
mnimas de 12 cm no piso, 30 cm na altura e 50 cm no comprimento e sero
aparelhados no piso.
Se usar areia para o colcho, esta dever ter partculas limpas, duras e durveis,
preferencialmente silicosas, isentas de torres de terra e de outras substncias
estranhas. Quando empregada uma sub -base estabilizada, esta dever satisfazer
as especificaes para este tipo de servio.
Para o rejuntamento pode ser usado cimento asfltico de penetrao 50-60.
c) Processo construtivo
- Preparo do subleito: feito de acordo com as normas e especificaes para
regularizao do subleito
167
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
- Execuo dos meios-fios: dever ser aberta uma vala para assentamento das
guias, ao longo dos bordos do subleito preparado, obedecendo ao alinhamento,
perfil e dimenses estabelecidas no projeto.
- Assentamento das pedras polidricas /paraleleppedos: sobre o leito preparado
ser espalhada uma camada uniforme de areia ou p de pedra, numa espessura
mxima de 8cm, destinada a compensar as irregularidades e desuniformidades das
pedras polidricas e/ou paraleleppedos.
Blocos de concreto pr-moldados e articulados
Consiste do assentamento de blocos de concreto pr-moldado (bloqueetes) atravs de
processo manual, rejuntados com areia ou betume sobre colcho de areia ou p de
pedra ou sub-base de solo estabilizado.
Componentes e processo construtivo: idem ao anterior
Formato das peas (Bloquetes): retangulares, hexagonais, tipo macho e fmea, de
encaixe, etc. A figura 45 mostra alguns detalhes do processo construtivo para estas
ltimas solues por calamento.
Figura 45 - Detalhes do Processo Construtivo
168
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Captulo 9
CONCRETO ASFLTICO
Tambm chamado de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). um
revestimento flexvel, resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de
agregado mineral graduado, material de enchimento (filer) e material betuminoso,
espalhada e comprimida a quente.
a mistura de mais alta qualidade, em que um controle rgido na dosagem, mistura e
execuo deve atender a exigncias de estabilidade, durabilidade, flexibilidade e
resistncia ao deslizamento preconizados pelas Normas Construtivas.
Propriedades fundamentais das misturas de concreto betuminoso: Durabilidade,
flexibilidade, estabilidade e resistncia ao deslizamento.
Pode ser composto de: Camada de nivelamento, camada de ligao (Binder) e camada
de desgaste ou rolamento, conforme Figura 46.
Figura 46 - Tipos de Utilizao do Concreto Asfltico
169
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Geralmente so utilizados os seguintes materiais na composio de um concreto
asfltico:
- Materiais betuminosos: CAP 30/45, 50/70, 85/100.
- Agregados grados: Pedra Britada, escria britada, seixo rolado britado ou no
- Agregados midos: areia, p de pedra ou mistura de ambos.
- Filer: Cimento Portland, cal, p calcrio, que atendem a seguinte granulometria:
Peneiras
n40
n80
n200
% mnima passante
100
95
65
9.1- Equipamentos utilizados
As usinas para estas misturas betuminosas podem ser descontnuas (de peso) ou
usinas contnuas (de volume). Devero ter unidade classificadora de agregado,
misturadores capazes de produzir mistura uniforme, termmetro na linha de
alimentao de asfalto, termmetro para registrar a temperatura dos agregados. A
Figura 47 mostra o esquema geral de funcionamento de uma usina contnua
(volumtrica).
Os depsitos de material betuminoso so providos de dispositivos para aquecer o
material (serpentina eltrica) e no devem ter contato com chamas.
Os depsitos para agregado so divididos em compartimentos (silos).
As acabadoras so usadas para espalhar e conformar a mistura nos alinhamentos, nas
cotas de projeto e abaulamentos requeridos. A Figura 48 mostra uma acabadora em
funcionamento.
Os equipamentos para compresso normalmente usados so os rolos metlicos lisos,
tipo tandem ou rolos metlicos liso vibratrio com carga de 8 a 12 ton e rolos
pneumticos auto-propulsores que permitam a calibragem dos pneus de 35 a 120
lib/pol2, com peso variando de 5 a 35 ton.
Os caminhes basculantes so usados para transporte da mistura devem ser providos
de lonas.
170
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Figura 47 - Esquema de uma Usina Contnua
Figura 48 - Acabadora de Asfalto Auto -Propulsora
171
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
9.2- Distribuio e compresso da mistura
A temperatura de aplicao depende do tipo de ligante, sendo que as especificaes
para o concreto asfltico fixam as faixas de viscosidade para o espalhamento e
compresso. Conhecendo-se a curva Viscosidade-Temperatura do ligante betuminoso
(CAP) utilizado, determina-se a temperatura ideal para as operaes de espalhamento
e compresso atravs de correlao com o valor da viscosidade indicada na
especificao.
A especificao para CBUQ do DNER (DNER-ES-313/94) determina que a viscosidade
do CAP para espalhamento e compactao deve estar entre 75 e 95 SSF.
Normalmente os limites para a aplicao do CBUQ devem estar entre 107 C e 177 C.
Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10 a 15C acima da
temperatura do ligante.
A temperatura ambiente deve estar acima de 10 C e tempo no chuvoso.
A rolagem deve ser iniciada com baixa presso dos pneus e sendo aumentada aos
poucos. A medida que se eleva a presso dos pneumticos a rea de contato pneupavimento vai diminuindo, causando uma maior presso de compactao. Esta
operao deve ser feita dos bordos para o eixo (nos casos de trechos em tangente) e
do bordo mais baixo para o mais alto (nos casos de trechos em curva). Cada passada
deve recobrir pelo menos a metade da largura rolada anteriormente.
Abertura ao trfego deve ser feita somente aps o completo resfriamento da mistura.
A Figura 49 mostra o esquema de distribuio de presso dos rolos pneumticos e a
Figura 50 mostra o esquema de recobrimento de duas passadas consecutivas.
Figura 49 - Distribuio de Presso atravs de Rolos de Pneus
172
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Figura 50 - Esquema de Recobrimento de Compactao de Rolos Pneumticos
9.3- Controles
Normalmente so feitos os seguintes controles:
- Qualidade do material betuminoso: feita atravs dos ensaios de Penetrao, Ponto de
Amolecimento, Viscosidade, Ponto de Fulgor.
- Qualidade dos agregados: feita atravs dos ensaios de Granulometria, Los Angeles ,
ndice de Forma, Equivalente de areia, etc.
- Quantidade de ligante na mistura: feita mediante o ensaio de Extrao de betume, em
amostras coletadas na pista para cada 8 horas de trabalho.
- Controle da graduao da mistura de agregados: pelo ensaio de granulometria dos
agregados resultantes da extrao de betume (enquadrar nas especificaes).
- Controle das caractersticas Marshall da mistura: normalmente exige-se 2 ensaios
Marshall com 3 corpos de prova cada, por dia de produo, retiradas depois da
acabadora e antes da rolagem. A estabilidade, a fluncia e os demais parmetros
medidos, devem ser comparados com os valores da dosagem.
- Controle da compactao: pode ser feita atravs de anis metlicos (10 cm de
dimetro altura do pavimento - 5mm). Aps a compresso mede-se a densidade
aparente e compara-se com a de projeto. Tambm pode-se comparar a densidade
aparente de projeto com a de corpos de prova extrados aps a compactao
atravs de sondas rotativas.
- Controle da temperatura: dever ser controlada a temperatura do agregado no silo
quente da usina, do ligante na usina, da mistura betuminosa na sada do misturador
da usina e da mistura no momento do espalhamento e incio da rolagem.
- Controle da espessura: permite-se uma variao de 10% da espessura de projeto.
- Controle do acabamento da superfcie: permite-se uma tolerncia de 0,5 cm entre
dois pontos.
173
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
9.4- Propriedades bsicas
Estabilidade: a habilidade da mistura oferecer resistncia deformao sob o efeito
da aplicao de cargas. Simboliza a resistncia ao cisalhamento da mistura, onde o
atrito desenvolvido no arcabouo slido e a coeso fornecida pelo betume.
O atrito depende da granulometria, forma e resistncia dos agregados.
A coeso funo da velocidade com que se processa o carregamento, da rea, da
viscosidade do betume, da temperatura, etc.
Durabilidade: a resistncia oferecida pela mistura ao desagregadora de agentes
climticos e foras abrasivas resultantes da ao do trfego.
Fatores determinantes: teor de betume e resistncia a abraso do agregado.
Flexibilidade: a habilidade da mistura fletir repentinamente sem que ocorra ruptura e
de acomodar-se aos recalques diferenciais ocorridos nas camadas de base.
Resistncia ao deslizamento: a habilidade da superfcie da mistura evitar o
deslizamento dos pneus. funo da qualidade do agregado, do teor de betume e
textura superficial.
9.5 - Constituio da mistura
Uma mistura de concreto asfltico pode ser representada esquematicamente da
seguinte forma.
Vazios
Mb
Mf
Vv
Asfalto
Vb
Filer
VAM
Vf
Mt
Vt
Maf
Agregado Fino
Vaf
Mag
Agregado Grado
Vag
174
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
9.6- Parmetros de interesse
a) Densidade Aparente da mistura ( d )
d=
M
M - Ma
sendo:
M = massa do corpo de prova
Ma = massa do corpo de prova imerso em gua.
Finalidades:
- Clculo da % de vazios do agregado mineral ( exigncia de projeto ).
- Controle de compactao durante a construo.
b) Densidade Mxima Terica da mistura (DMT)
a densidade da mistura asfltica suposta sem vazios. a relao entre a massa total
da mistura (100%) e os volumes correspondentes ao cheios da mistura:
DMT =
Mt
Vb + Vf + Vaf + Vag
DMT=
100
.
%b + %f + %af + %ag
Db Df Daf
Dag
Sendo:
%a, %f, %af, %ag % com que cada componente que entra na mistura
Db , D f , D af , D ag
Densidade (real ou aparente) de cada componente da
mistura
c) Porcentagem de Vazios na mistura ( Vv )
a relao entre o volume de vazios ocupado pelo ar e o volume total da mistura.
Misturas com elevada % Vv podem levar a ocorrncia de oxidao excessiva do ligante
betuminoso, reduzindo a vida til do concreto asfltico, alm de proporcionar
permeabilidade ao ar e gua.
Misturas com baixo % Vv levam a ocorrncia do fenmeno da exsudao.
Vv = D - d 100
D
d) Porcentagem de Vazios do Agregado Mineral ( VAM )
o volume total de vazios dado pela soma dos vazios da mistura mais o volume
ocupado pelo asfalto.
Este parmetro de grande interesse. Se uma mistura betuminosa sofrer uma
consolidao devido a ao do trfego, sua plasticidade poder ficar acrescida, pois a
% de betume que preenchia os vazios dos agregados pode tornar-se excessiva, devido
175
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
reduo do volume de vazios. Este fenmeno poder levar o revestimento a
deformao, deslocamentos e rupturas.
A % VAM normalmente fixada em funo do dimetro mximo do agregado da
mistura:
VAM = Vv + Vb.
VAM = D - d 100 + d % b
D
db
e) Relao Betume-Vazios
Esta relao indica qual a porcentagem de vazios do agregado mineral preenchida
por betume.
% RBV =
Se VAM = 100
Se VAM = 0
Vb 100%
VAM
ou
%RBV = VAM - Vv
VAM
todos os vazios da mistura estariam preenchidos de asfalto.
mistura sem asfalto.
9.7 - Dosagem do concreto asfltico
Aps a definio dos materiais a serem empregados na mistura asfltica (agregados,
filer e tipo de ligante) passa-se a dosagem do concreto betuminoso, onde o teor de
asfalto residual o item fundamental.
Para a dosagem do concreto betuminoso, normalmente devem ser vencidas as
seguintes etapas:
1 - Escolha dos agregados e material betuminoso
2 - Determinao das porcentagens com que os agregados (grosso e fino) e filer
devem contribuir na mistura de modo a atender as especificaes com relao a
granulometria. Este item j foi visto no item mistura de agregados onde foram
estudados vrios mtodos de mistura (analtico, grficos, tentativas).
3 - Determinao do teor timo de betume. Esta operao pode ser feita por
tentativas, aonde se vai variando o teor de asfalto e comparando os resultados de
ensaios de estabilidade para vrios teores estudados. Existem outros processos que
do idia bem aproximada do teor de asfalto como o mtodo da rea especfica ou o
mtodo dos vazios.
4 - Comparao da mistura estudada com as exigncias das especificaes com
relao aos vazios de ar, vazios do agregado mineral, granulometria e estabilidade.
No sendo satisfeitas estas condies, dosa-se novamente a mistura.
176
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Na dosagem do concreto betuminoso podem ser usados vrios mtodos como por
exemplo: Marshall, Hubbard Field, Triaxial, Hveem, Ruiz e mais recentemente a
metodologia SUPERPAVE do programa americano SHRP.
Os organismos rodovirios brasileiros (DNER, DERs , etc) recomendam o mtodo
Marshall para dosagem do concreto betuminoso. Este mtodo foi criado pelo
Engenheiro Bruce Marshall e baseia-se na determinao da estabilidade empregando o
princpio do corte em compresso semiconfinada. Este processo utilizado tanto para
projeto de misturas como para controle de campo.
O mtodo Marshall
a) Estudo da mistura de agregados
Nesta fase preliminar so determinadas as principais caractersticas dos agregados
escolhidos como por exemplo a massa especfica real e aparente dos agregados, a
porcentagem de vazios dos agregados e a granulometria.
Conhecidos os materiais e estando de acordo com as especificaes, passa-se ao
estudo da mistura dos agregados, de modo a atenderem especificao
granulomtrica do Concreto Asfltico, ou seja, os agregados devem ser misturados em
propores de modo a se enquadrarem nas faixas granulomtricas pr-estabelecidas
(vide especificaes para o Concreto Asfltico do DNER, dadas a seguir).
b) Determinao do teor timo de ligante
Utilizando-se agregados razoavelmente bem graduados, os vazios existentes entre as
partculas devero ser preenchidos com ligantes. O teor de asfalto deve ser
progressivamente aumentado de modo a preencher os vazios de ar at que os espaos
vazios do agregado mineral estejam cheios ao mximo permitido. Ao se aumentar o
teor de ligante alm de um certo ponto, no se conseguir uma mxima consolidao.
A medida que se varia o teor de ligante, a densidade, a estabilidade, a fluncia, a
porcentagem de vazios da mistura, a relao betume-vazios tambm sofre variao. O
teor timo de ligante ser aquele que satisfizer, ao mesmo tempo, os limites
especificados para os vrios parmetros de interesse.
O teor timo de ligante pode ser expresso atravs da porcentagem de asfalto, em peso,
em relao mistura ou atravs da porcentagem de asfalto, em peso, em relao aos
agregados.
Suponhamos 3 materiais (Agregado grado = 65%, Agregado mido = 31% e Filer =
4%) que satisfaam a uma determinada faixa granulomtrica. Suponhamos tambm
que a porcentagem encontrada para o asfalto seja 6%, sobre 100% da mistura de
agregados. Temos ento duas maneiras de explicitar o trao da mistura:
177
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Brita:
65%
Areia: 31%
Cimento: 4%
100%
Asfalto: 6%
106%
65% / 106% = 61,32%
31% / 106% = 29,25%
4% / 106% = 3,77%
6% / 106% = 5,66%
100%
Ex.:
65
106
x
100 x = 100 x 65
106
x = 61,32
c) Determinao dos parmetros de interesse e das caractersticas
Marshall da mistura
No ensaio Marshall o principal aspecto de interesse a anlise de fatores como
densidade, vazios, estabilidade e fluncia.
So moldados Corpos de Prova com teores crescentes de asfalto (4 a 8%). As
propores de agregados e filer so definidas previamente atravs de estudo
especfico. Os corpos de prova tm a forma cilndrica, apresentando aproximadamente
10 cm de dimetro e 6,35 cm de altura e so compactados atravs de soquete que age
sobre a mistura em um cilindro padronizado.
Aps a confeco dos corpos de prova podem ser calculados os seguintes parmetros:
Densidade Real e Aparente (D,d), Porcentagem de Vazios (%vv), Porcentagem dos
Vazios do agregado Mineral (%VAM) e Relao Betume-Vazios (RBV).
Feitos estes clculos iniciais, os corpos de prova so aquecidos at atingirem 60 e
submetidos aos ensaios de Estabilidade e Fluncia Marshall.
Entende-se por estabilidade como sendo a grandeza que mede a resistncia da massa
asfltica aplicao de carga. Determina a carga mxima que a massa asfltica pode
suportar.
O ensaio de estabilidade Marshall feito por cisalhamento e no por compresso, pois
sendo o concreto asfltico uma camada de rolamento, o maior esforo solicitante
dado pela ao do trfego, que de cisalhamento, devido s cargas horizontais.
Normalmente expresso em Kg.
A fluncia a medida do quanto a massa asfltica pode andar (esmagar, deformar)
sob ao cisalhante sem se romper. a medida da elasticidade da massa.
Se uma massa asfltica andar muito, acarretar esmagamento da mistura e em
consequncia, ondulao pista. inconveniente tambm que a massa asfltica
ande pouco, pois ao sofrer ao de elevado carregamento, sem capacidade de
mover-se, pode trincar.
A determinao da Resistncia Trao e do Mdulo de Resilincia do concreto
asfltico ser vista no captulo 10.
178
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
d) Especificaes do DNIT (DNIT-ES 031/2006)
Granulometria
Caractersticas especficas
179
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Vazios do Agregado Mineral
e) Curvas de projeto de misturas de concreto asfltico pelo mtodo
Marshall
Porcentagem de vazios (%Vv)
Vv
(%)
t4
teor de asfalto (%)
Relao betume-vazios (RBV)
RBV
(%)
t5
teor de asfalto (%)
180
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Densidade aparente (d)
d
(Kg /m3)
t3
teor de asfalto (%)
Porcentagem de vazios do agregado Mineral (% VAM)
VAM
(%)
t6
teor de asfalto (%)
Estabilidade Marshall (E)
E
(Kgf)
t1
teor de asfalto (%)
Fluncia (f)
f
(mm)
ou
1/100
t2 teor de asfalto (%)
181
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Para o traado dos grficos considerada a mdia de trs determinaes para cada
parmetro. Quando uma determinao apresentar um valor muito discrepante em
relao s outras duas, pode-se tomar a mdia apenas destas duas.
f) Determinao do teor timo de ligante
O teor timo de ligante adotado como sendo o valor mdio dos seguintes teores de
asfalto:
a) Porcentagem de asfalto correspondente mxima Estabilidade
b) Porcentagem de asfalto correspondente mxima Densidade Aparente
c) Porcentagem de asfalto correspondente mdia dos limites estabelecidos nas
especificaes para a Porcentagem de Vazios
d) Porcentagem de asfalto correspondente mdia dos limites estabelecidos nas
especificaes para a Relao Betume-Vazios
Teor timo de Asfalto = t1 + t3 + t4 + t5
4
Observaes:
1) Aps a definio do teor timo de asfalto deve -se estabelecer uma faixa de trabalho
para este valor. Para o CBUQ esta variao normalmente de 0,3%.
2) O teor timo de ligante assim determinado deve ser conferido em todas as curvas
traadas, e caso no satisfaa alguns dos limites impostos pelas especificaes, uma
nova mistura dever ser adotada.
g) Exemplo numrico
Determinar o teor timo de asfalto para um CBUQ que esta sendo dosado pelo mtodo
Marshall. A mistura de agregados ficou enquadrada na faixa C do DNER e o asfalto
utilizado foi um CAP 85/100 (densidade de 1,031 g/cm3). O produto final dever
atender as seguintes especificaes:
Emim = 350 Kgf (75 golpes)
f = 2 a 4,5 mm
%Vv = 3 a 5 %
RBV = 75 a 82 %
Depois de feita uma previso inicial para o teor timo de asfalto, foram moldados os
corpos de prova para 5 teores diferentes de asfalto e os valores mdios determinados
para os parmetros fsicos de interesse se encontram no quadro a seguir:
182
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
CAP
(%)
4,5
5
5,5
6
6,5
E
(Kgf)
400
550
800
800
600
f
(mm)
2,0
2,6
3,2
3,9
4,3
d
(g/cm3)
2,25
2,27
2,30
2,32
2,30
D
(g/cm3)
2,47
2,43
2,40
2,38
2,35
Vv
(%)
8,91
6,58
4,17
2,52
2,13
VAM
(%)
18,73
17,59
16,43
16,02
16,63
RBV
(%)
52,43
62,59
74,62
84,27
87,19
Soluo
a) Curvas de projeto para os 5 teores estudados:
E
teor de asfalto
Vv
teor de asfalto
RBV
teor de asfalto
teor de asfalto
9.8 O Ensaio Marshall para misturas asflticas
Este mtodo de ensaio fixa o modo pelo qual se determina a estabilidade e a fluncia
de misturas betuminosas a quente utilizando-se o aparelho Marshall.
O ensaio (em linhas gerais) segue os seguintes passos:
183
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
a) Moldagem de 3 corpos de prova para cada teor estudado
- Pesar aproximadamente 1200 g de agregados a serem usados.
- Secar os agregados em estufa (105 a 110 C) e separ-los em fraes
- Aquecer o ligante at a temperatura que conduza a uma viscosidade Saybolt de 85
10 seg.
- Aquecer os agregados at uma temperatura de 28 C acima da temperatura do
ligante.
- Misturar agregados e ligantes
- Compactar a mistura (a quente) no molde:
-A temperatura de compactao dever ser aquela correspondente a uma
viscosidade Saybolt de 140 15 seg.
-O corpo de prova deve ter as seguintes medidas: 10cm e h = 6,35 0,13cm.
-A mistura colocada no molde e so dados 15 golpes com esptula na periferia
da amostra e 10 no centro.
-Promover 50 golpes com soquete padronizado (para presso de pneus at 7
Kg/cm2) ou 75 golpes com o mesmo soquete (para presso de pneus de 7 a 15
Kg/cm2).
-O soquete pesa 4540g e a altura de queda de 45,72cm.
-O molde de compactao (anel) invertido e repetido o mesmo nmero de
golpes na outra face do corpo de prova.
- O corpo de prova ento retirado do molde e colocado em repouso temperatura
ambiente.
b) Determinao da estabilidade e fluncia
- Os corpos de prova j confeccionados so imersos em gua a 60 C.
- Aps 30 a 40 minutos os corpos de prova so retirados da gua, secados e colocados
no molde de compresso.
- O molde com o corpo de prova (semiconfinamento) levado prensa Marshall e
adaptado o medidor de fluncia. A velocidade de aplicao de carga promovida pela
prensa de 5 cm/min.
- A aplicao do carregamento se d pela elevao do mbolo.
- Durante o processo de carregamento e ruptura do corpo de prova so feitas as
seguintes leituras:
Carga de ruptura no anel dinamomtrico (em Kgf) Estabilidade Marshall
Diferena de leitura de deformao no medidor de fluncia Fluncia
9.9 - Controle do teor timo de ligante e granulometria
Durante a confeco e execuo de uma mistura betuminosa surge a necessidade e a
obrigao de se controlar alguns parmetros principais que foram definidos durante o
processo de dosagem.
184
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Para isto, normalmente utilizado um ensaio especfico, realizado por meio de um
extrator centrfugo conhecido por Rotarex, que promover a separao da parte
granular da parte ligante de uma amostra da mistura em questo. Aps esta separao
pode-se conferir a proporo de agregados e a proporo de asfalto da mistura e
confrontar estes resultados com os de projeto.
O ensaio (em linhas gerais) segue a seguinte sequncia:
- Coleta da mistura betuminosa ( 1000 g). Esta coleta pode ser feita na usina de
fabricao da mistura ou no prprio local de aplicao, dependendo do objetivo do
controle.
- Colocar a amostra em estufa por um perodo de uma hora (100 a 120 C)
- Pesar a amostra (1000 g) e colocar dentro do extrator de betume junto com papel
filtro.
- Verter no interior do extrator 150ml de solvente (Tetracloreto de carbono CCl4 ou
bissulfeto de carbono ) e deixar e m repouso por 15min.
- Colocar um Becker sob o tubo lateral de escoamento.
- Aplicar movimento rotativo no prato centrifugador, a uma velocidade gradativa, at
que a soluo de betume e solvente venha escoar-se pelo tubo lateral.
- Aps esta primeira fase, o aparelho paralisado e adicionado uma nova poro de
solvente (150ml) sobre a mistura no interior do prato.
- Estas operaes so repetidas at que o solvente saia completamente limpo no tubo
lateral.
- Aps o ltimo ciclo de centrifugao o prato com o material que sobrou (agregados)
levado para estufa (80 a 100 C) para secagem e eliminao do solvente ainda
presente nos agregados.
- Depois de seco o agregado pesado.
- A diferena de peso da amostra antes e aps o ensaio indica o peso do betume
(asfalto) extrado.
- O clculo da porcentagem de betume (teor de betume) dado pela seguinte
expresso:
P = Peso do betume extrado x 100
Peso da amostra total
- O agregado recuperado (restante) submetido a um ensaio de granulometria para
verificao e conferncia da faixa granulomtrica empregada.
185
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Captulo 10
A DEFORMABILIDADE EM MISTURAS ASFLTICAS
O material apresentado neste captulo foi retirado de MARQUES (2004) que a
tese de doutoramento do presente autor. No item 2.1 de MARQUES (2004) feita a
reviso de literatura sobre mdulos de deformabilidade de misturas asflticas.
Grande parte do texto, figuras e expresses foram mantidos conforme o original,
porm a seqncia de itens foi simplificada.
Por se tratar do mesmo autor, as referncias bibliogrficas aqui citadas foram
consultadas durante a feitura do trabalho original. Para maiores detalhes e
informaes sugere-se consultar diretamente em MARQUES (2004) uma vez que
estas notas de aulas tm um carter informativo geral para o curso de graduao.
10.1 - Introduo
A previso das tenses e deformaes provenientes do trfego e do clima que
atuam na estrutura de um pavimento feita por mtodos de clculo que levam em
considerao os esforos atuantes e as caractersticas de deformabilidade dos
materiais que compem o pavimento. O conhecimento das respostas estruturais dos
materiais (misturas asflticas e solos) s tenses impostas modernamente obtido
pelo Mdulo de Resilincia (MR) que pode ser estabelecido por ensaios de
laboratrio.
Para se efetuar a anlise de deformabilidade de uma estrutura necessrio
conhecer as relaes entre tenso e deformao de seus materiais constituintes.
Sob esse enfoque reside o princpio da mecnica dos pavimentos. O mdulo de
deformabilidade dos materiais que compem as camadas do pavimento e do
subleito um dos elementos mais importantes para este fim.
186
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Segundo MEDINA (1997), tanto o pavimento quanto o subleito esto sujeitos a uma
solicitao dinmica provenientes de cargas de diferentes intensidades e variadas
frequncias ao longo do dia e do ano. Os ensaios de carga repetida procuram
reproduzir estas condies (dinmicas) de campo, com a amplitude e o tempo de
pulso do carregamento dependendo da velocidade do veculo e da profundidade
que se deseja calcular as tenses e deformaes.
O Mdulo de Resilincia MR anlogo ao mdulo de elasticidade E, sendo ambos
definidos como relao entre tenso ( ) e deformao ( ). A diferena que o
Mdulo de Resilincia determinado em ensaio de carga repetida. Valores de pico
das tenses e das deformaes recuperveis que ocorrem nos ensaios so usados
para calcular a constante elstica resiliente.
10.2 - O comportamento dinmico de misturas asflticas
Para FONSECA (1995), existem vrios procedimentos de laboratrio para se
analisar o comportamento dinmico de misturas betuminosas, podendo-se citar: (a)
mdulo complexo (dinmico); (b) o mdulo elstico (flexo) e (c) mdulo diametral
(resiliente ou indireto). Estes procedimentos de testes no produzem valores de
mdulos equivalentes apesar de definirem de maneira comum o mdulo como
sendo uma razo entre a tenso dinmica aplicada e a correspondente deformao
recupervel.
A determinao do Mdulo de Resilincia de concreto asfltico pode ser feita por
vrios tipos de ensaios de cargas repetidas. Os ensaios mais comumente usados
so os seguintes:
1- ensaio de trao uniaxial
2- ensaio de compresso uniaxial
3- ensaio de flexo em viga
4- ensaio de trao diametral indireta
5- ensaio de compresso triaxial
Segundo BARKSDALE et al (1997) as camadas constituintes de um pavimento tm
sees anisotrpicas nas quais as propriedades nas direes radiais so iguais,
mas na direo vertical so diferentes. Da a variedade de ensaios para tentar
avaliar as propriedades mecnicas ao longo da altura das camadas.
WALLACE e MONISMITH (1980) dizem que para uma descrio adequada das
caractersticas resilientes de um material, so requeridos cinco parmetros:
1- deformao vertical devido a um incremento na tenso vertical
2- deformao radial devido a um inc remento na tenso vertical
3- deformao radial devido a um incremento na tenso radial
4- deformao vertical devido a um incremento na tenso radial
5- deformao radial devido a um incremento na tenso radial em uma
direo perpendicular deformao.
187
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Estes autores afirmam que o ensaio triaxial mede o primeiro e s vezes o segundo
parmetro, ao passo que o ensaio diametral mede uma composio do terceiro e do
quinto parmetro com peso aproximadamente igual sendo dado para cada
parmetro.
10.3 - O Ensaio de trao diametral indireta
Segundo LOBO CARNEIRO (1996), a necessidade de se determinar a resistncia
trao do concreto foi inicialmente para pistas de estradas de rodagem, onde o
concreto normalmente no armado e trabalha trao por flexo. No Brasil sempre
se adotou para ensaiar o concreto a resistncia a compresso de corpos-de-prova
cilndricos, e para o controle da resistncia trao, o ensaio por flexo de vigotas.
Este foi usado no controle das pistas de vrios aeroportos utilizados para envio de
carga e pessoal da Amrica para a Europa durante a 2 Guerra Mundial, como os de
Natal e Recife.
At 1942 ensaiava-se o concreto a trao unicamente pelo mtodo das vigotas e foi
ento que surgiu um fato novo, um fato fortuito segundo LOBO CARNEIRO (1996), que
se no fosse o caso de uma igreja talvez ele nunca tivesse se preocupado com o
problema. Surgiu a necessidade de ser retirada da sua posio original uma igreja que
ficava na rua de So Pedro para a construo da atual Avenida Presidente Vargas na
cidade do Rio de Janeiro. O eixo da Avenida. Presidente Vargas deveria ser colocado
em rigoroso alinhamento com a Av. do Mangue e para isto foi necessrio pegar trs
ruas paralelas a Rua da Alfndega, uma dela era a rua de So Pedro. A igreja ficava na
esquina da rua So Pedro com a rua dos Ourives, atual rua Miguel Couto e era
chamada igreja de So Pedro dos Clrigos. Era uma igreja histrica, muito importante,
com estilo barroco do sculo XVIII, a primeira igreja construda no Brasil com planta
elptica, curvilnea, no retangular, a segunda a Igreja do Rosrio dos Pretos em
Ouro Preto (LOBO CARNEIRO, 1996)
Segundo o relato de LOBO CARNEIRO (1996), a empresa Estacas Franki fez uma
proposta de transportar a igreja da rua de So Pedro para a outra esquina, a
aproximadamente dez metros, fazendo rolar a igreja sobre rolos de concreto. Como as
paredes da igreja tinham em torno de um metro de espessura, a idia inicial consistia
em ir demolindo a parte inferior das paredes e substituindo-as por concreto. Ao final
deste processo, toda a base das paredes ficaria com uma fita de concreto debaixo da
qual estariam rolos de concreto e a igreja seria empurrada por meio de macacos. A
opo por rolos de concreto se deu pelo fato da empresa de estacas j ter feito
semelhante servio na Europa com rolos de ao, mas durante a guerra (1943) era difcil
obter este material, ento teve-se a idia de fazer rolos de concreto, mas no se sabia
calcular a capacidade cortante de um rolo de concreto.
Por intermdio e sugesto do professor Dirceu Veloso a empresa de estaqueamento
solicitou ao Instituto Nacional de Tecnologia (INT), que fizesse ensaios nesses rolos de
concreto. No INT, o professor Lobo Carneiro iniciava sua carreira, e para sua surpresa,
188
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
o rolo de concreto se abriu em duas metades ao ser submetido ao carregamento na
mquina de compresso na posio diametral. Ele relata que achou aquela situao
muito estranha e foi buscar a compreenso do fato em livros de teoria da elasticidade e
diz j que a ruptura se d segundo esse estudo por trao, eu tive a idia de usar os
mesmos corpos cilndricos de concreto que se usa para determinar a resistncia a
compresso na condio vertical, colocados deitados sobre a maquina e determinar a
resistncia a trao.
Surgiu assim a idia deste ensaio que hoje em dia conhecido como ensaio de trao
indireta ou ensaio de resistncia a trao por compresso diametral. Segundo LOBO
CARNEIRO (1996) os franceses chamam de ensaio de fendilhamento, mas em todo o
mundo ele conhecido como Brasilian test, ensaio brasileiro.
O professor Lobo Carneiro apresentou este ensaio na 5 reunio da Associao
Brasileira de Normas Tcnicas, de 20 a 23 de setembro de 1943. Ele frisa a
importncia deste evento e conseqentemente a data de sua realizao (setembro de
1943) porque 10 anos depois foi descoberto que um japons, chamado Akazawa, tinha
apresentado a mesma proposta de ensaio no Japo, dois meses depois em novembro
de 1943. Naquela poca no havia comunicao entre o Japo e o Brasil e s se
soube deste fato 10 anos depois.
Ainda em 1943 o diretor do INT foi convidado para ir a Paris com mais 14 diretores dos
grandes laboratrios de pesquisa sobre estruturas e materiais do mundo para fundar
uma associao que recebeu o nome de RILEM Reunio Internacional de
Laboratrios de Ensaios de Materiais. Ele pediu ento ao professor Lobo carneiro que
traduzisse para o Francs o artigo apresentado na reunio da ABNT, e o levou e
distribuiu aos chefes dos principais laboratrios do mundo. O outro autor do artigo era
Aguinaldo Barcelos.
O mtodo foi adotado pela ASTM em 1966, aps ter sido provisrio desde 1962.
Tambm foi adotado pelo Comit Europeu do Concreto em 1964 e pela RILEM em
1966, tornando-se mtodo internacional adotado pela ISO (International Standart
Organization) atravs do mtodo ISO 4108 de 1980.
No Brasil este ensaio regulamentado pelo DNIT por meio do mtodo de ensaio
DNER ME138/94. Este mtodo de ensaio prescreva o modo pelo qual se determina
a resistncia trao, de corpos-de-prova cilndricos de misturas asflticas, atravs
do ensaio de compresso diametral.
Um esquema do ensaio pode ser visto na figura 51. Como os nveis de tenses de
trao ao longo do plano diametral vertical so relativamente uniformes pode-se
calcular a tenso de trao pela seguinte expresso:
t =
2F
dt
189
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Onde:
t = Tenso de Trao (Kg/cm2 ou MPa)
F = Fora aplicada ao longo do dimetro vetical (Kg ou N)
d = Dimetro do Corpo-de-prova
t = Espessura do corpo-de-prova
Figura 51- Ensaio de Trao Indireta para misturas asflticas (PINTO e
PREUSSLER, 1980)
10.4 - O Conceito de Mdulo de Resilincia de Misturas Asflticas
Segundo PINTO e PREUSSLER (1980) o ensaio de trao indireta ou compresso
diametral, conhecido como "ensaio brasileiro", desenvolvido por Lobo Carneiro e
Barcellos no Brasil e independentemente por Akazawa no Japo, para determinar a
resistncia trao de corpos-de-prova de concreto de cimento, atravs de solicitao
esttica tambm passou a ser usado internacionalmente para determinao do mdulo
de elasticidade dinmico de misturas betuminosas e materiais cimentados a partir da
dcada de 70.
O ensaio dinmico consiste em se solicitar uma amostra cilndrica, por uma carga de
compresso F distribuda ao longo de duas geratrizes opostas, sob frisos de cargas, e
medir as deformaes resilientes ao longo do dimetro horizontal, perpendicular
carga F aplicada repetidamente (Figura 1). As deformaes diametrais e horizontais
so medidas atravs de medidores eletromecnicos tipo LVDT. (PINTO e
PREUSSLER, 1980). Este tipo de medida da relao x passou a ser designado de
mdulo de resilincia ou resiliente.
190
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
O Mdulo de Resilincia definido pela expresso:
s
MR = t
?
Onde:
MR Mdulo de deformao resiliente
t - Tenso de trao aplicada dinamicamente
- Deformao especfica resiliente para um determinado nmero de aplicao
da tenso
No plano diametral horizontal e perpendicular a carga F, conforme visto na figura 52,
ocorrem as tenses x e y, expressas por:
2F d2 4x 2
sx =
td d2 + 4x 2
2F
4d4
sy =
td d2 + 4x 2
Onde:
t = altura da amostra
d = dimetro da amostra
x = abscissa do ponto considerado
x = tenso de trao
y = tenso de compresso
Figura 52 - Tenses de Trao e Compresso no Plano Diametral Horizontal no ensaio
de compresso diametral (PINTO e PREUSSLER, 1980).
As expresses para a deformao x no dimetro horizontal a seguinte:
2F 4d4 16d2 x 2
x =
+ (1 )
2
2
Etd d + 4x 2
191
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Ao se integrar a expresso acima no intervalo de (-d/2 , +d/2) e considerando um
dimetro de 10,16 cm, obtm-se o deslocamento total :
d/ 2
Exdx = Et ( + 0,2734)
F
d / 2
O valor do Mdulo de Resilincia pode ento ser obtido:
F
E=
( + 0,2734)
t
Onde:
t = altura da amostra
d = dimetro da amostra
= coeficiente de Poisson
No plano diametral vertical tambm ocorrem tenses x e y, conforme pode ser visto
na figura 53 expressas por:
2F
x =
td
2F 2d
2d
y =
+
1
td d 2y d + 2y
Figura 53 - Tenses de Trao de Compresso no Plano Diametral Vertical no ensaio
de compresso diametral (PINTO e PREUSSLER, 1980)
O mdulo de elasticidade ou resiliente de amostras cilndricas de dimetro conhecido
quando submetidas ao ensaio de compresso diametral por meio de um friso curvo
pode ser calculado pelas seguintes expresses: (PINTO e PREUSSLER,1980 e
MEDINA, 1997):
192
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
MR =
F
(0,9976 + 0,2692)
t
para d = 10,16 cm
MR =
F
(0,999 + 0,2712)
t
para d = 15,24 cm
O ensaio de Mdulo de Resilincia tornou-se rotineiro em muitos laboratrios por
representar uma propriedade fundamental das misturas asflticas na estimativa da
vida de fadiga e para os dimensionamentos racionais, sendo de uso generalizado
em todo o mundo (MOTTA, 1998).
No Brasil, os procedimentos para execuo do ensaio do mdulo de resilincia em
misturas asflticas so fixados pela norma DNER ME 133/94. Atualmente, a
Comisso de Asfalto do Instituto Brasileiro do Petrleo (IBP) est atualizando e
padronizando os procedimentos executivos na elaborao de uma nova norma
brasileira para o ensaio de mdulo de resilincia.
10.5 - O Conceito de Mdulo de Resilincia de Solos
Segundo MEDINA e MOTTA (20005) o estado de tenses em um elemento do
subleito ou camada do pavimento varia com a posio da carga mvel. Quando esta
se posiciona verticalmente acima do elemento, tm-se as tenses normais principais
horizontais e verticais (3 = h e 1 = v ) conforme figura 54.
Figura 54 Variaes de Tenses Causadas por uma Carga Mvel
O ensaio triaxial feito a tenso confinante constante (3) e a tenso vertical
varivel (1) da seguinte forma:
1 = 3 + d
(8)
193
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Onde d a tenso de desvio varivel
O Mdulo de Resilincia MR no ensaio triaxial de cargas repetidas definido da
seguinte forma:
MR = d
1
Onde d a tenso desvio (1 - 3 ) e 1 a deformao resiliente axial
(vertical):
1 = h
h0
Onde h o deslocamento vertical mximo e h0 a altura inicial de
referncia do corpo-de-prova cilndrico.
10.6 - O equipamento para determinao do Mdulo de Resilincia
de Misturas Asflticas
O mdulo de resilincia (MR) de misturas asflticas obtido do equipamento ora
solicitado determinado atravs de ensaios dinmicos de compresso diametral a
cargas repetidas por trao indireta e obtido pela relao entre a tenso de trao
normal ao plano vertical diametral e a respectiva deformao especfica resiliente
nesse plano.
Neste item sero mostrados detalhes do equipamento pretendido como montagem,
preparao, execuo e obteno dos resultados de interesse. As informaes aqui
contidas foram extradas de MARQUES (2004) que trabalhou com este equipamento
no qual foi apoiada toda a sua tese de doutorado.
a) O Equipamento
O equipamento constitudo das seguintes partes:
Prensa constituda por montantes, base e cabea, com calha de apoio e friso de
aplicao de carga.
Sistema pneumtico com controle automatizado dos carregamentos e aquisio de
dados.
Sistema de medio de deformao (deslocamento diametral horizontal) do corpo
de prova, constitudo de: dois transdutores mecano-eletromagnticos tipo LVDT
(linear variable differential transformer) de contato; quadro suporte para fixao dos
transdutores, preso por garras ao longo dos dimetros horizontais das faces do
corpo de prova cilndrico.
194
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Sistema de controle e aquisio de dados constitudo por micro-computador
equipado com software especialmente desenvolvido para controle e execuo de
ensaios em misturas asflticas como mdulo de resilincia, fadiga, creep esttico e
creep dinmico (figura 55)
Sistema automtico para controle de temperatura, constitudo de cmara climtica,
sensor tipo termopar e regulador eltrico que permite variar a temperatura numa
faixa de 5C a 80C. Os sistemas de carregamento e medio so operados no
interior da cmara.
Figura 55 - Sistema de controle e aquisio de dados (VIANNA, 2002)
b) Montagem do ensaio
A montagem do equipamento e a fixao dos corpos-de-prova para a execuo do
ensaio segue os seguintes passos:
Prender o quadro-suporte por meio de duas garras nas faces externas do corpo de
prova cilndrico que se encontra apoiado horizontalmente segundo uma diretriz.
Colocar o corpo-de-prova na base do prtico metlico, apoiado no friso cncavo
inferior
Assentar o pisto de carga com o friso superior em contato com o corpo de prova
diametralmente oposto ao friso inferior.
Fixar e ajustar os transdutores LVDTs de modo a obter a leitura inicial dentro da
faixa linear.
Na figura 56 pode ser vista uma sequncia dos procedimentos de montagem do ensaio
do mdulo de resilincia e a figura 57 destaca um ensaio sendo realizado mostrando
em detalhes o prtico metlico (A) e a cmara de ensaios com controle de temperatura
(B).
195
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Figura 56 Sequncia da montagem do ensaio de MR em mistura asfltica
Figura 57 Viso completa de um ensaio de mdulo de resilincia em misturas
asflticas.
196
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
c) Aplicao do carregamento repetido
Todo o processo de aplicao das cargas repetidas pelo pisto de cargas controlado
por um software especialmente desenvolvido para a realizao dos ensaios de cargas
repetidas.
O primeiro passo preencher os dados de informao do ensaio na tela inicial do
programa, tais como: nmero da amostra, origem, nmero do corpo de prova, dimetro
e altura do corpo de prova, temperatura, etc. Nesta tela tambm aparecem registradas
as constantes dos LVDTs utilizados, e as constantes para a correo da presso do
pisto. Um exemplo desta tela pode ser visto na figura 58.
Figura 58 - Tela inicial do software para execuo do ensaio de mdulo de resilincia
Ao se confirmar os dados iniciais, passa-se rotina para ajuste dos LVDTs em que
uma leitura inicial tomada devendo estar os LVDTs indicando uma leitura dentro da
faixa de trabalho permitida para os mesmos.
Aps checar se est tudo em ordem, d-se incio a aplicao de carga na amostra.
Nesta fase que se define qual a presso inicial a ser aplicada no cilindro de presso
pelo pisto assim como o valor do incremento de presso. O valor da fora aplicada
obtido em funo das dimenses do mbolo do cilindro e da presso utilizada.
197
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
d) Determinao do valor do mdulo de resilincia
Segundo MEDINA (1997) o mdulo de resilincia pode ser expresso em funo da
fora vertical aplicada, do deslocamento horizontal medido, do coeficiente de Poisson
do material e das dimenses do corpo de prova. Utiliza -se a expresso (6), mostrada
anteriormente, para a definio do mdulo de resilincia em corpos de prova com 10,16
cm de dimetro.
MR =
F
(0,9976 + 0,2692 )
t
Onde:
MR = Mdulo de resilincia (MPa)
F = Carga vertical repetida aplicada diametralmente no corpo de prova (N)
t = Altura do corpo de prova
= Deslocamento resiliente (mm)
= Coeficiente de Poisson
Ao ser aplicado o carregamento, os valores do deslocamento resiliente horizontal do
corpo-de-prova so captados pelos LVDTs. O valor da fora vertical efetivamente
aplicada calculado pelo sistema. A altura do corpo de prova fornecida pelo operador
na fase inicial de identificao da amostra. O coeficiente de Poisson tambm definido
pelo operador na fase da aplicao de carga.
O mdulo de resilincia s registrado quando o valor do deslocamento superior a
um valor mnimo dependente da sensibilidade do LVDTs ( 0,003 mm). Ao se atingir
este valor mnimo de deslocamento, o sistema faz o registro do MR dos 5 ou 10 golpes
seguintes. O nmero de golpes registrados depende da % de variao que se
estabeleceu para os valores obtidos nos deslocamentos seguidos. Aps a aplicao
dos golpes da primeira fase, o sistema pausado por 10 segundos e uma nova
sequncia de golpes aplicada. So feitas 3 fases de aplicao de carregamento para
a definio do valor do MR para um corpo-de-prova. O valor mdio das trs fases de
determinaes indicado como o valor final do MR para o corpo de prova ensaiado. A
figura 59 mostra o resultado final obtido para um ensaio de MR feito em um corpo-deprova.
198
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Figura 59 Exemplo de uma tela de apresentao final do resultado do ensaio de
mdulo de resilincia.
10.7 - O equipamento para determinao do Mdulo de Resilincia
de Solos
O equipamento para determinao do mdulo de resilincia de solos e agregados
o mesmo j descrito anteriormente ou seja, as partes constituintes so as mesmas
acrescentado-se apenas a cmara triaxial de carregamento repetido de grandes
dimenses. Este componente utilizado no lugar da prensa de aplicao de cargas
descrita no item 10.6.
O sistema pneumtico com controle automatizado dos carregamentos e aquisio de
dados o mesmo j descrito.
O sistema de controle e aquisio de dados tambm o mesmo j descrito em que um
mdulo especial para ensaios em solos e agregados disponibilizado. Desta forma o
sistema completo do equipamento executa 5 ensaios diferentes: 4 em misturas
asflticas (mdulo de resilincia, fadiga, creep esttico e creep dinmico) e um em
solos e agregados (ensaio triaxial de cargas repetidas).
Sistema de medio de deformao (deslocamento axial vertical) do corpo de prova
difere um pouco daquele descrito para misturas asflticas. Neste caso os transdutores
mecano-eletromagnticos tipo LVDT (linear variable differential transformer) so
199
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
fixados no cabeote do corpo-de-prova e os mesmos tm ligao com o exterior da
cmara.
Na figura 60 pode ser visto o porte metlico (A) e a cmara de compresso triaxial de
carregamento repetido.
Figura 60 Detalhe da cmara triaxial de carregamento repetido
a) Execuo do ensaio
O ensaio triaxial de cargas repetidas inicia-se com a preparao dos corpos-deprova que geralmente so obtidos por compactao por impacto em molde
tripartidos verticalmente. Aps a compactao determinada a massa do corpo-deprova. Os passos seguintes podem ser assim resumidos:
- Colocar o corpo-de-prova (CP) sobre uma pedra porosa ainda envolvido pelo
molde cilndrico tripartido;
- Desmoldar as trs partes do cilindro
- Envolver o CO com uma membrana de borracha
200
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
- Colocar o CP sobre a base da clula triaxial
- Fixar os LVDTs ao cabeote
- Colocar o cilindro da clula triaxial
- Assentar a tampa da clula triaxial nas hastes
- Conectar a haste ao pisto de carga
- Encaixar os mangotes de ar comprimido para aplicao das tenses desvio e
confinante
- Ligar o ar comprimido
- Ligar sistema de aquisio e reproduo de dados
- Fazer ajuste fino dos LVDTs com o auxilio das hastes rosqueadas
- Iniciar o condicionamento com aplicao de 500 pulso de carga em 3 estgios de
aplicao de tenso desvio e confinante
- Ajustar novamente os LVDTs e iniciar o ensaio
- Aplicar 18 ciclos de carga com 10 aplicaes de carga por ciclo
- Aps aplicao do ltimo ciclo de cargas verificar os valores e grficos no monitor
- Retirar o CP e coloca-lo em uma cuba metlica, verificar a massa e leva-lo para
estufa
- Determinar a umidade do CP
b) Determinao do valor do mdulo de resilincia
Diferentemente do ensaio em misturas asflticas, o valor do mdulo de resilincia
no um valor nico. Para cada ciclo em cada uma das 10 aplicaes de carga, o
par de valores de tenso de desvio e tenso confinante utilizado para obteno do
mdulo de resilincia atravs da aplicao da equao (9).
Com isto se obtm o valor do mdulo de resilincia como uma funo da tenso de
desvio, da tenso confinante ou de ambas. Dependendo do tipo de solo (argilosos
ou finos e granulares ou arenosos) se utilizam modelos de desempenho para o
mdulo de resilincia.
O modelo que tem sido normalmente empregado para retratar o comportamento de
um solo granular o seguinte:
MR = K 1.3K2
Onde:
MR = Mdulo de resilincia
3 = Tenso confinante
K1, K2 = constantes ou parmetros de resilincia determinados em ensaios
triaxiais de carga repetida
O esquema da figura 61 mostra a representao tpica da classificao resiliente de
solos granulares segundo o modelo acima descrito.
201
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Figura 61 Representao tpica do Mdulo de Resilincia de um solo granular
O comportamento dos solos finos normalmente retratado por modelos que
correlacionam o mdulo de resilincia com a tenso de desvio (d) atravs das
seguintes expresses:
MR = K 2 + K 3 [ K1 - d ]
MR = K 2 + K 4 [ d - K1 ]
K1 > d
K1 < d
(13)
(14)
Onde:
MR = Mdulo de resilincia
d = Tenso de desvio (1 - 3)
K1, K2, K3, K4 = constantes ou parmetros de resilincia determinados em
ensaios triaxiais de carga repetida
Uma representao tpica do mdulo de resilincia para solos finos pode ser vista
na figura 62.
202
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
Figura 62 Representao tpica do Mdulo de Resilincia de um solo fino
10.8 - Referncias Bibliogrficas
BARKSDALE, R. D., ALBA, J., KHOSLA, N. P., KIM, R. e RAHMAN, M.S., 1997,
Laboratory Determination of Resilient Modulus for Flexible Pavement Design.
In: Project 1-28, Final Report, Georgia Tech Project E20-634, USA.
CARVALHO, Carlos A.B. (1997). Estudo da Contribuio das Deformaes
Permanentes das Camadas de Solo na Formao das Trilhas de Roda num
Pavimento Flexvel. Escola de Engenharia de So Carlos, USP, So Carlos,
SP. Tese de Doutorado.
FONSECA, O. A., 1995, Development of a Time-Dependent model for the Dynamic
Modulus of Asphalt Mixes. Ph.D. dissertation, University of Maryland,
Maryland, USA.
LOBO CARNEIRO, 1996, Entrevista gravada.
MARANGON, M. E COURI, M. S. Caractersticas de Alguns Solos Laterticos de
Ocorrncia na Zona da Mata Mineira. Relatrio final de pesquisa FAPEMIG
PROC. TEC 0850/99, 2003.
MARANGON, M., 2004 Proposio de Estruturas Tpicas de Pavimentos para Regio
de Minas Gerais Utilizando Solos Laterticos Locais a Partir da Pedologia,
Classificao MCT e Resilincia. Tese de D.Sc., COPPE/UF RJ, Rio de Janeiro,
RJ, Brasil.
203
Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia Departamento de Transporte s e Geotecnia
TRN 032 - Pavimentao Prof. Geraldo Luciano de Oliveira Marques
MARQUES, G. L. O.; GERMANO, A. M. E PERE IRA, F. N. P. Estudo de PrMisturado a Frio Utilizando Agregados da Regio de Juiz de Fora-MG.
Relatrio final de pesquisa CNPQ / Programa PIBIC -UFJF, 1998.
MARQUES, G. L. O. E MOREIRA, V. M.T. Utilizao dos Agregados da Regio de
Juiz de Fora no Estudo de Dosagem de Pr-Misturado a Frio. Relatrio final
de pesquisa FAPEMIG PROC. TEC 1078/96 , 1998.
MARQUES, G. L. O. E MORAIS, W. M. Estudos de Deformaes Permanentes em
Pr-Misturados a Frio Atravs de Ensaios Estticos. Relatrio final de
pesquisa FAPEMIG PROC. TEC 1415/97 , 1999.
MARQUES, G. L. O., 2004, Utilizao do Mdulo de Resilincia como Critrio de
Dosagem de Mistura Asfltica; Efeito da Compactao por Impacto e Giratria.
Tese de D.Sc., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
MEDINA, J., 1997, Mecnica dos Pavimentos. 1 edio, 380 p. Rio de Janeiro-RJ,
Editora UFRJ.
MEDINA, J. e MOTTA, L. M. G. 2005, Mecnica dos Pavimentos. 2 edio, 570 p. Rio
de Janeiro-RJ, Editora UFRJ.
MOTTA, L. M. G., 1998, Contribuio para a Estimativa do Mdulo Resiliente de
Misturas Asflticas. In: 14 Encontro de Asfalto, Instituto Brasileiro do Petrleo,
Rio de Janeiro-RJ.
MOTTA, L. M. G., MEDINA, J., SOUSA, A. M., 2002, Caractersticas de Fadiga e
Resilincia de Concretos Asflticos Brasileiros. 16 Encontro de Asfalto, IBP
2402, Instituto Brasileiro de Petrleo e Gs, Rio de Janeiro, 03-05 dezembro.
PINTO, S., PREUSSLER, E. S., 1980, Mdulos Resilientes de Concretos Asflticos .
Departamento Nacional de Estradas de Rodagens Instituto Pesquisas
Rodovirias DNER - IPR, Rio de Janeiro.
WALLACE, K., MONISMITH, C. L., 1980, Diametral Modulus Testing on Nonlinear
Pavement Materials. Association of Asphalt Paving Technologists, vol. 49,
Louisvile, Kentucky, USA.
VIANNA, A. A. D., 2002, Contribuio para o Estabelecimento de um Material
Padro e de Metodologia para Calibrao de Equipamentos de Ensaios
Dinmicos. Tese de M.Sc., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
204
Você também pode gostar
- Análise de confiabilidade estrutural via método SORM DG: análise de confiabilidade por meio de curvaturas principais de superfícies de estado limiteNo EverandAnálise de confiabilidade estrutural via método SORM DG: análise de confiabilidade por meio de curvaturas principais de superfícies de estado limiteAinda não há avaliações
- Operacao Atapa Buracos ITn2 WebDocumento18 páginasOperacao Atapa Buracos ITn2 WebJorge RosalAinda não há avaliações
- Polímeros reforçados com fibras na construção civil: Dimensionamento de sistemas de reforço e armaduras não metálicas à flexão e ao cisalhamento segundo normas ACINo EverandPolímeros reforçados com fibras na construção civil: Dimensionamento de sistemas de reforço e armaduras não metálicas à flexão e ao cisalhamento segundo normas ACIAinda não há avaliações
- Solos de baixa capacidade de suporte: estimativas de recalques em estruturas de concretoNo EverandSolos de baixa capacidade de suporte: estimativas de recalques em estruturas de concretoAinda não há avaliações
- Fundações - Aula 1Documento40 páginasFundações - Aula 1GuilhermeVenturimAinda não há avaliações
- Trincas e Fissuras em Edificações: causadas por recalques diferenciaisNo EverandTrincas e Fissuras em Edificações: causadas por recalques diferenciaisAinda não há avaliações
- Apostila Barragens 05-2003Documento180 páginasApostila Barragens 05-2003Herbert de SousaAinda não há avaliações
- Permeabilidade De Solo Arenoso E Argiloso Em Função Da Umidade De Compactação Para Uso Em AterroNo EverandPermeabilidade De Solo Arenoso E Argiloso Em Função Da Umidade De Compactação Para Uso Em AterroAinda não há avaliações
- Análise Modal Operacional: a metodologia de análise de vibrações estruturais aplicada em um píerNo EverandAnálise Modal Operacional: a metodologia de análise de vibrações estruturais aplicada em um píerAinda não há avaliações
- Resíduos Sólidos Na Construção Civil E Seu DestinoNo EverandResíduos Sólidos Na Construção Civil E Seu DestinoAinda não há avaliações
- Manutenção de Vias em Minas a Céu Aberto: e suas relações causaisNo EverandManutenção de Vias em Minas a Céu Aberto: e suas relações causaisAinda não há avaliações
- Parâmetros de projeto de alvenaria estrutural com blocos de concretoNo EverandParâmetros de projeto de alvenaria estrutural com blocos de concretoAinda não há avaliações
- Reologia do Concreto: Fatores influentes para previsão da retração e fluênciaNo EverandReologia do Concreto: Fatores influentes para previsão da retração e fluênciaAinda não há avaliações
- Barragens de rejeitos de mineração: governança dos riscos para prevenção de danos socioambientaisNo EverandBarragens de rejeitos de mineração: governança dos riscos para prevenção de danos socioambientaisAinda não há avaliações
- Solos MolesDocumento186 páginasSolos MolestandytlAinda não há avaliações
- Mecânica Dos Solos - CompactaçãoDocumento12 páginasMecânica Dos Solos - CompactaçãoSantiago LacerdaAinda não há avaliações
- Aula 2 - Revisão de Mecânica Dos SolosDocumento26 páginasAula 2 - Revisão de Mecânica Dos SolosAryelle Barbosa de SouzaAinda não há avaliações
- Tratamento de Fundação para Barragens de ConcretoNo EverandTratamento de Fundação para Barragens de ConcretoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Prova Final - Estabilidade de TaludesDocumento5 páginasProva Final - Estabilidade de Taludesyohn17Ainda não há avaliações
- Modulo de Elasticidade de Solo Arenoso CompactadoDocumento12 páginasModulo de Elasticidade de Solo Arenoso CompactadoTayssa MarquesAinda não há avaliações
- Projetos em Sistemas ConstrutivosDocumento47 páginasProjetos em Sistemas ConstrutivosGislaine Pereira do NascimentoAinda não há avaliações
- Compactacao AterrosDocumento17 páginasCompactacao AterrosRhuan BitencourtAinda não há avaliações
- Mecânica Dos Solos PDFDocumento111 páginasMecânica Dos Solos PDFHamilton CostaAinda não há avaliações
- Geoslope Jean Setembro 2018Documento63 páginasGeoslope Jean Setembro 2018defrAinda não há avaliações
- Interacao Solo EstruturaDocumento10 páginasInteracao Solo EstruturaWilliam PiñerezAinda não há avaliações
- Lista de Exercícios PermeabilidadeDocumento3 páginasLista de Exercícios PermeabilidadeFelipe MichelinAinda não há avaliações
- Recalque em Solos MolesDocumento1 páginaRecalque em Solos MolesMari MoreiraAinda não há avaliações
- Lista Exercícios PercolaçãoDocumento11 páginasLista Exercícios Percolaçãovictor leviAinda não há avaliações
- Apostila Estradas II PDFDocumento214 páginasApostila Estradas II PDFJosivaldoRodriguesAinda não há avaliações
- Aula 03 - Estabilização Dos Solos para Fins de PavimentaçãoDocumento36 páginasAula 03 - Estabilização Dos Solos para Fins de PavimentaçãoNathan OliveiraAinda não há avaliações
- Esforços Laterais em Estacas Submetidas A Sobrecargas Assimetricas - Vila Dos AtletasDocumento10 páginasEsforços Laterais em Estacas Submetidas A Sobrecargas Assimetricas - Vila Dos AtletasLuan FeijóAinda não há avaliações
- NBR 8036 - Programação de Sondagens de Simples Reconhecimento Dos Solos para Fundação de EdifíciosDocumento3 páginasNBR 8036 - Programação de Sondagens de Simples Reconhecimento Dos Solos para Fundação de EdifíciosSetor CivilAinda não há avaliações
- Estacas Premoldadas PDFDocumento35 páginasEstacas Premoldadas PDFRoubier SousaAinda não há avaliações
- Tecnologias Construtivas PDFDocumento75 páginasTecnologias Construtivas PDFFernando CalegariAinda não há avaliações
- DETECTA: ferramenta de análise de risco a deslizamentos para ações de Proteção e Defesa CivilNo EverandDETECTA: ferramenta de análise de risco a deslizamentos para ações de Proteção e Defesa CivilAinda não há avaliações
- Melhoramento de Solo Com Colunas de Solo BritaDocumento11 páginasMelhoramento de Solo Com Colunas de Solo BritamateusripolAinda não há avaliações
- Maria José - Obras de Terra Vol.IDocumento109 páginasMaria José - Obras de Terra Vol.IThiago100% (1)
- MARANGON 2018 Capítulo 07 Capacidade de Carga Dos Solos 2018Documento18 páginasMARANGON 2018 Capítulo 07 Capacidade de Carga Dos Solos 2018Camila SantosAinda não há avaliações
- RADIERDocumento8 páginasRADIERTayane Fernandes100% (2)
- Manual Estaca FrankiDocumento49 páginasManual Estaca Frankiheltonsilva13Ainda não há avaliações
- Lista 2-ENG 110 PDFDocumento4 páginasLista 2-ENG 110 PDFAguidaSouzaAinda não há avaliações
- Caracterização e modelagem geotécnica do fenômeno das terras caídas no ambiente AmazônicoNo EverandCaracterização e modelagem geotécnica do fenômeno das terras caídas no ambiente AmazônicoAinda não há avaliações
- Relatório - Ensaio de Adensamento UnidimensionalDocumento23 páginasRelatório - Ensaio de Adensamento UnidimensionalDaniela LimaAinda não há avaliações
- Solos MolesDocumento48 páginasSolos MolesR2M Engenharia100% (1)
- Patologias em Revestimentos AsfálticosDocumento17 páginasPatologias em Revestimentos AsfálticosRaphael Freitas100% (3)
- Muro Reforçado Com Geossintético PDFDocumento81 páginasMuro Reforçado Com Geossintético PDFThiago Pires Sampaio0% (1)
- USO DOS GEOSSINTÉTICOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL - Benevenuto - Sobrinho - Neto - 2017Documento20 páginasUSO DOS GEOSSINTÉTICOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL - Benevenuto - Sobrinho - Neto - 2017Pedro Victor Garcia de OIiveira100% (1)
- Mecânica Dos Solos I (31eec9) PDFDocumento130 páginasMecânica Dos Solos I (31eec9) PDFtecnicoengen100% (3)
- Estudo de Resíduos da Construção Civil para Concreto Estrutural Aplicado em Lajes Pré-MoldadasNo EverandEstudo de Resíduos da Construção Civil para Concreto Estrutural Aplicado em Lajes Pré-MoldadasAinda não há avaliações
- Norma Brasileira ABNT NBR 6118Documento19 páginasNorma Brasileira ABNT NBR 6118Lilian SokoloskiAinda não há avaliações
- Manual v1 - MS 151 - Ensaio Triaxial DinâmicoDocumento80 páginasManual v1 - MS 151 - Ensaio Triaxial DinâmicoUdo SantosAinda não há avaliações
- Investigação GeotécnicaDocumento123 páginasInvestigação GeotécnicaGustavoCovaleskyAinda não há avaliações
- 04 MS Unidade 03 Compressibilidade e Adensamento 2013 PDFDocumento30 páginas04 MS Unidade 03 Compressibilidade e Adensamento 2013 PDFEwerton TavaresAinda não há avaliações
- Ensaio de PalhetaDocumento20 páginasEnsaio de PalhetaalexandremtbAinda não há avaliações
- 4 - Técnicas de PavimentaçãoDocumento59 páginas4 - Técnicas de PavimentaçãoPaulo Alberto Ramos Sousa100% (1)
- Dosagem ABCP 25MPaDocumento10 páginasDosagem ABCP 25MPaDuduca VendedoraAinda não há avaliações
- Métodos de Investigacao Do SoloDocumento25 páginasMétodos de Investigacao Do SoloMayara PadilhaAinda não há avaliações
- Direitos Humanos - Rev05Documento25 páginasDireitos Humanos - Rev05Bruno LopesAinda não há avaliações
- Tarefa 4.2 - Projeto - de - PesquisaDocumento7 páginasTarefa 4.2 - Projeto - de - PesquisaBruno LopesAinda não há avaliações
- Aula 00 PDFDocumento45 páginasAula 00 PDFBruno LopesAinda não há avaliações
- Direito Proc. PenalDocumento6 páginasDireito Proc. PenalBruno LopesAinda não há avaliações
- DPP Rev01Documento14 páginasDPP Rev01Bruno LopesAinda não há avaliações
- NBR 12254 - 1990 - Execu+º+úo de Sub Base Ou Base de Solo CimentoDocumento5 páginasNBR 12254 - 1990 - Execu+º+úo de Sub Base Ou Base de Solo CimentoLucas BastosAinda não há avaliações
- ErgonomiaDocumento6 páginasErgonomiaBruno LopesAinda não há avaliações
- Análise de Critérios de Sucesso em ProjetosDocumento19 páginasAnálise de Critérios de Sucesso em ProjetosmunychAinda não há avaliações
- Piau EngenhariaDocumento4 páginasPiau EngenhariaBruno LopesAinda não há avaliações
- Uma Declaração de AmorDocumento1 páginaUma Declaração de AmorBruno LopesAinda não há avaliações
- Anexo 3 Modelo ArtigoDocumento5 páginasAnexo 3 Modelo ArtigotallentoAinda não há avaliações
- Uma Declaração de AmorDocumento1 páginaUma Declaração de AmorBruno LopesAinda não há avaliações
- Modelo Artigo CientificoDocumento3 páginasModelo Artigo CientificoTchaisyAinda não há avaliações
- Compact A CaoDocumento28 páginasCompact A CaoGuilherme AugustoAinda não há avaliações
- 2º Trabalho - DESMONTE DE ROCHA - Seminário - 2011 - 2Documento1 página2º Trabalho - DESMONTE DE ROCHA - Seminário - 2011 - 2Bruno LopesAinda não há avaliações
- Captura de Ecrã 2023-02-17 À(s) 17.42.41Documento6 páginasCaptura de Ecrã 2023-02-17 À(s) 17.42.41carolinaaraujgmail.comAinda não há avaliações
- Material Animadora Turma IIDocumento82 páginasMaterial Animadora Turma IIkenolaboves100% (4)
- Diagramação de Material DidáticoDocumento11 páginasDiagramação de Material DidáticoSirlene Lopes100% (1)
- Article 393344 1 10 20221008Documento13 páginasArticle 393344 1 10 20221008LucaxS2 OPAinda não há avaliações
- Lava e Seca Samsung WD6000 Smart (Wi-Fi) Porta Crystal Blue Com Ecobubble e Lavagem A Seco WD11J64E4AX Inox Look - 11kg CasasDocumento1 páginaLava e Seca Samsung WD6000 Smart (Wi-Fi) Porta Crystal Blue Com Ecobubble e Lavagem A Seco WD11J64E4AX Inox Look - 11kg CasasMuriel JhonataAinda não há avaliações
- Catálogo Ferramentas CommonRail 19858846Documento29 páginasCatálogo Ferramentas CommonRail 19858846neilAinda não há avaliações
- Catálogo Gases Industriais 2018 PDFDocumento14 páginasCatálogo Gases Industriais 2018 PDFcarrilholuizAinda não há avaliações
- Sentença Usucapião 1Documento7 páginasSentença Usucapião 1ambp1907Ainda não há avaliações
- Ufcd 8924Documento28 páginasUfcd 8924Filipa Santos0% (1)
- Microsoft Word - Exercício 58 Resolvido e ComentadoDocumento14 páginasMicrosoft Word - Exercício 58 Resolvido e ComentadoEduardo Oliveira QueirozAinda não há avaliações
- Avaliação Final OPLMB 2022 2Documento8 páginasAvaliação Final OPLMB 2022 2Ronildo NascimentoAinda não há avaliações
- Memórias Póstumas de Brás CubasDocumento3 páginasMemórias Póstumas de Brás CubasCamila Juliana SantanaAinda não há avaliações
- Trabalho de HistoriaDocumento13 páginasTrabalho de HistoriaRafaella BatistaAinda não há avaliações
- Captura de Tela 2023-07-07 À(s) 11.50.42Documento148 páginasCaptura de Tela 2023-07-07 À(s) 11.50.42NatháliaSantosAinda não há avaliações
- Ebook Completo Subindo Campanha No Facebook AdsDocumento76 páginasEbook Completo Subindo Campanha No Facebook AdsIvan BachieggaAinda não há avaliações
- Apostila DroneDocumento27 páginasApostila DroneFabiano Alves654p vgyy77Ainda não há avaliações
- Apostila FundamentalDocumento421 páginasApostila FundamentalMick Wolf Classic's100% (2)
- FichaBD ExemplodeTesteDocumento3 páginasFichaBD ExemplodeTesteTomás MarchãoAinda não há avaliações
- Apostila Caldos e MolhosDocumento19 páginasApostila Caldos e MolhosLuiz AlbertoAinda não há avaliações
- Exercícios Testes Diagnósticos INI 2020 Sem RespostasDocumento4 páginasExercícios Testes Diagnósticos INI 2020 Sem RespostasFrancis Almeida Macario BarrosAinda não há avaliações
- A Cenografia Aplicada À Hora Do ContoDocumento175 páginasA Cenografia Aplicada À Hora Do ContoAndrea BarcelosAinda não há avaliações
- Homônimos e ParônimosDocumento13 páginasHomônimos e ParônimosJhully RavaniAinda não há avaliações
- 42 - Manual Empilhadeira Elétrica Lotvs ECL - OS e OS-4DDocumento74 páginas42 - Manual Empilhadeira Elétrica Lotvs ECL - OS e OS-4DMichele Araujo DaihaAinda não há avaliações
- TCC - Bitcoin Um Estudo Sobre A Moeda Digital e Seus Impactos Na Sociedade PDFDocumento20 páginasTCC - Bitcoin Um Estudo Sobre A Moeda Digital e Seus Impactos Na Sociedade PDFRenataAinda não há avaliações
- Elementos Da ComunicaçãoDocumento3 páginasElementos Da ComunicaçãoVilante MarquesAinda não há avaliações
- Roteiro PodcastDocumento9 páginasRoteiro Podcasthelder maia100% (2)
- POMPEIA - Na Presença Do Sentido LivroDocumento127 páginasPOMPEIA - Na Presença Do Sentido LivroJessica Pacheco100% (2)
- NBR ISO 4309 - CABOS DE AÇOS-Instalação e InspeçãoDocumento47 páginasNBR ISO 4309 - CABOS DE AÇOS-Instalação e InspeçãoCaio Cézar0% (1)
- DesviaDocumento4 páginasDesviaednayraAinda não há avaliações
- Educação Especial e Inclusão EscolarDocumento5 páginasEducação Especial e Inclusão EscolarMax Mário Andrade GuimarãesAinda não há avaliações