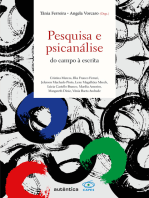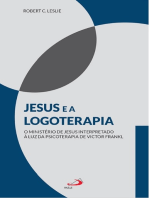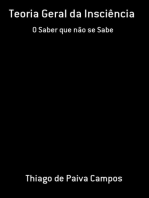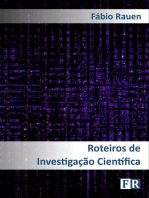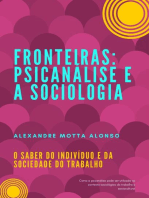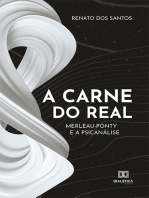Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Psicanálise É Uma Ciência PDF
Enviado por
Mariah GuerraDescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Psicanálise É Uma Ciência PDF
Enviado por
Mariah GuerraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A psicanlise uma cincia
e o discurso analtico uma prxis?
Tania Coelho dos Santos
Tania Coelho dos Santos
Psicanalista
membro da Resumo: Proponho neste artigo que a psicanlise no sentido abso-
cole de la Cause luto insere-se no campo da cincia. Com a topologia, os matemas,
Freudienne e da
Associao Mundial
as frmulas da sexuao e os ns borromeanos, Lacan insistiu em
de Psicanlise, separar as estruturas do sentido. Fao uma distino entre cincia
professora associada e prxis, admitindo que a psicanlise se divide entre uma e outra.
IV do PPGTP/
Entretanto, se a psicanlise no sentido absoluto uma experincia
UFRJ, bolsista
de Produtividade que conduz a uma existncia expurgada de sentido, tal distino
Cientfica do CNPq merece ser reexaminada.
1C., editora de Palavras-chave: Psicanlise, cincia, prxis, estrutura, sentido.
aSEPHallus, Revista de
Orientao Lacaniana
Abstract: Is psychoanalysis a science and the analytical speech a
praxis? I propose in this article that psychoanalysis is, in its absolute
sense, within the field of science, since with topology, mathemes,
formulas of sexualization and borromean knots, Lacan insisted on
separating these structures of the meaning. I make a distinction
between science and praxis, admitting that psychoanalysis is di-
vided between one and other. However, if psychoanalysis is in
the absolute sense an experience that leads to a meaningless
existence, we better reexamine this distinction.
Keywords: Psychoanalysis, science, praxis, structure, meaning.
gora (Rio de Janeiro) v. XVI n. 2 jul/dez 2013 299-312
08 Tania 33.indd 299 4/12/2013 10:49:35
300 Tania Coelho dos Santos
Cincia e prxis: Lacan versus Freud?
Parto da distino entre cincia e prxis, admitindo que a psicanlise se divide
entre uma e outra. Adoto como orientao a definio de Miller acerca da psican-
lise no sentido absoluto: uma experincia que conduz a uma existncia expurgada
de sentido. Recordo que, de acordo com Lacan, o nascimento da cincia uma
mutao decisiva que, por intermdio da fsica, fundou a cincia no sentido
moderno, sentido que se postula como absoluto (1998, p.869). Miller (2010,
p.57), ao se referir experincia psicanaltica no sentido absoluto, emprega
a mesma expresso que Lacan quando se referiu Cincia. Cabe esclarecer
que o existente, ao qual ele se refere, Um-corpo marcado pelo significante.
Ideia, alis, que exatamente o contrrio de nossa prtica, pois, se o existente
um significante solitrio, o trabalho analtico contraria o autismo da solido do
significante. Existiria, por conseguinte, uma antinomia interna entre o horizonte
da psicanlise o real na medida em que exclui todo sentido e que se escreve
por meio da disjuno S1//S2 e a prtica, que opera por meio da conexo
S1-S2, engendrada pela interpretao. Proponho aqui que a psicanlise no sen-
tido absoluto insere-se no campo da cincia, medida que, com a topologia,
os matemas, as frmulas da sexuao e os ns borromeanos, Lacan insistiu em
separar as estruturas do sentido:
Que a cincia repouse, no como se diz sobre a quantidade, mas sobre o nmero,
a funo e a topologia o que no deixa dvida. Um discurso que se chama cincia
encontrou o meio de se construir atrs do muro. S que acredito dever nitidamente
formular, e nisso creio estar de acordo com tudo que h de mais srio na construo
cientfica, que estritamente impossvel dar ao que quer que se articule em termos
algbricos ou topolgicos, a sombra de um sentido. (LACAN, 1971-72b, aula de
03/02/1972, p.68-69)
Podemos afirmar que, ao final de sua anlise, um ser falante aproxima-se
de reconhecer o sem sentido de sua existncia. Isto a mesma coisa que cir-
cunscrever o significante arbitrrio no qual se enraza um acontecimento, o
sinthoma ou a maneira singular de cada um usufruir de Um-corpo. Em nossa
prtica, acreditamos que existe uma relao entre o sentido e o real por meio
do sintoma. Se no fosse essa crena no sintoma, a operao analtica careceria de
qualquer ancoragem legtima no real. A psicanlise se reduziria ao exerccio de
uma narratologia, inspirada numa posio nominalista ou ps-moderna no que se
refere relao entre o significante e o real. A prtica psicanaltica realista; seu
realismo se ancora no fato de que as representaes, os sentidos ou as verdades
variam, mas o sintoma permanece razo pela qual ns o consideramos, na
nossa prtica, como equivalente ao real.
gora (Rio de Janeiro) v. XVI n. 2 jul/dez 2013 299-312
08 Tania 33.indd 300 4/12/2013 10:49:35
A psicanlise uma cincia e o discurso analtico uma prxis? 301
Se h alguma coisa que eu sou, est claro que que eu no sou nominalista. Quero
dizer que no parto do seguinte, que o nome seja alguma coisa que se cola, assim,
sobre o real. [...] No se trata de ser realista no sentido em que se era na Idade M-
dia, no sentido do realismo dos universais, pois se trata de levar em conta isto, que
nosso discurso cientfico no encontra o real, seno na medida em que ele depende
da funo do semblante. (LACAN, 1971-2006, p.28)
Proponho que a prtica da ordem do semblante, diferentemente da pers-
pectiva da psicanlise como uma cincia cujo horizonte o real sem sentido. Um
semblante um tratamento do real pelo simblico, ele mistura razo e sensibi-
lidade. Afirmar que a psicanlise uma prxis no a diferencia propriamente da
cincia. Prxis um termo amplo que designa uma ao realizada pelo homem
(...) que o pe na condio de tratar o real pelo simblico. (LACAN, 1964/65-
1985, p.14). O semblante precisa tocar o real, conectar-se com ele, mobiliz-lo,
comov-lo. Lacan, ao final de seu ensino, aspirava que a psicanlise fosse um
discurso que no seria semblante, que tal como a cincia engendrasse efeitos
no real. Esta aspirao, ao longo de seu ensino, marcada por uma constante
ambiguidade, justificada, talvez, pela necessidade de manter uma dicotomia entre
cincia e prtica. Como interpretar suas ltimas declaraes sobre este tema? No
Seminrio XXIV, Linsu que sait de lune bvue saile mourre, Lacan se manifesta sobre
este tema conforme se segue:
A psicanlise eu o disse e eu o repeti recentemente no uma cincia. Ela
no tem seu estatuto como cincia e no pode seno aguard-lo, esper-lo. Mas
um delrio do qual ns esperamos que ele porte uma cincia. um delrio do qual
esperamos que se torne cientfico. (...) Podemos aguardar muito tempo, eu digo
porqu, simplesmente porque no h progresso e aquilo que esperamos no foro-
samente aquilo que recolhemos. um delrio cientfico portanto, e esperamos que
ele porte uma cincia mas, isso no significa que jamais a prtica analtica portar
esta cincia. (LACAN, 11/01/1977, p.52)
Diferentemente deste voto ambguo, em seu Seminrio intitulado Le moment
de conclure, a questo retorna da seguinte maneira:
O que tenho a lhes dizer, que a psicanlise para ser levada a srio, apesar de
que no uma cincia. No mesmo uma cincia de jeito nenhum. Pois, o mais
enfadonho, como mostrou superabundantemente o assim chamado Karl Popper, no
uma cincia porque irrefutvel. uma prtica. (LACAN, 15/11/1977, p.9)
gora (Rio de Janeiro) v. XVI n. 2 jul/dez 2013 299-312
08 Tania 33.indd 301 4/12/2013 10:49:35
302 Tania Coelho dos Santos
E o que seria uma cincia no ltimo ensino de Lacan? Trata-se do cam-
po no qual a representao se separa completamente do Gozo do Outro (JA).
O Gozo do Outro est fora da linguagem, fora do simblico. O Gozo do Outro
o impossvel. Somente o campo onde nasce a cincia pode preench-lo. Esta
pequena citao contribui para esclarecer um pouco esta tese:
(...) s a partir do momento em que Galileu fez pequenas correspondncias de
letra a letra com uma barra de intervalo, por meio das quais definiu a velocidade
como relao entre espao e tempo, foi que se pode sair de tudo o que havia de
intuitivo e travado na noo de esforo, para chegar ao primeiro resultado que era
a gravitao. (LACAN, 1974, p.33)
Apenas a ideia de que o livro da natureza est escrito com caracteres ma-
temticos permite precisar que esse discurso o cientfico apresenta a di-
menso do simblico esvaziada do imaginrio. A cincia parte da letra. por
essa razo que deposito alguma esperana no fato de que se passando de toda
representao, talvez cheguemos a ter dados mais satisfatrios sobre a vida.
(LACAN, 1974/2011, p.33).
Na conferncia publicada com o ttulo de A terceira, o real da psicanlise
coincide em parte ou inteiramente com o da cincia: Suponham que no hou-
vesse nada de impossvel no real os cientistas fariam uma careta e ns tam-
bm. Mas quanto caminho foi preciso percorrer para ver isso. Durante sculos
acreditou-se que tudo era possvel. (1974/2011, p.16). O real no o mundo.
No h nenhuma esperana de alcan-lo por meio da representao. O real no
o universal, no se pode dizer todos so. Ele s todo, no sentido de que
cada um dos seus elementos idntico a si mesmo. As letras (S1) e o objeto (a)
escrevem justamente esta identidade de si a si. O significante-unidade funda-
mental, pois lalngua precipita-se na letra, na escrita, na cifrao que engendra
o sintoma a partir de algo do real que no cessa de se escrever: a pr-maturao,
o desamparo e a morte.
E o que seria a letra? unicamente o que nos abre o acesso ao real. apenas
por meio dela que captamos o que haveria de mais vivo ou de mais morto na
linguagem. A biologia lacaniana no a mesma que a freudiana. Em A terceira ele
se mostra surpreso com o fato de que algo de real, a prpria vida, se estrutura
como um n. tambm surpreendente, Lacan observa, que no exista na natureza
(nem na anatomia, nem nas plantas trepadeiras) nenhuma imagem natural do
n. O DNA e a letra seriam homlogos em sua estrutura e igualmente estranhos
ao campo da representao.
Foi no Seminrio XX, Mais ainda, que Lacan estabeleceu essa homologia
curiosa entre a letra e o grmen, que nos d a chave dessa relao entre a vida
gora (Rio de Janeiro) v. XVI n. 2 jul/dez 2013 299-312
08 Tania 33.indd 302 4/12/2013 10:49:35
A psicanlise uma cincia e o discurso analtico uma prxis? 303
e a estrutura do n. Ela repercute em outra clave a distino que Freud efetuou
entre o germoplasma e o somatoplasma. Para Freud (1914), o indivduo seria
atravessado pela diviso entre as pulses de autoconservao interessadas na
sua sobrevivncia e as pulses sexuais que veiculam o desejo imortal da espcie
de crescer e se reproduzir, consagrando a vida do indivduo morte. Encontrei
em Miller esta proposio que explicaria porque a letra anloga ao grmen:
Primeiramente porque sendo a letra aquilo que, do significante, se inscreve no
corpo, ela incorporada. (...) Em segundo lugar, essa letra no o soma e, por
ltimo, a durao da letra se estende alm da vida (1999, p.45).
O DNA na biologia gentica a metfora do real, assim como a cadeia bor-
romeana a metfora do real no campo da psicanlise. Lacan prope substituir
a energtica freudiana por esta nova metfora, que no uma ideia porque no
uma representao, uma escrita que no se presta imaginao. Por qu?
Em primeiro lugar, porque Freud no teria fundado efetivamente uma energ-
tica. De acordo com Miller (2010), Lacan pensava que a ideia de neurnios e de
passagens de energia enquanto verdade ltima do inconsciente, seria da ordem
da imaginao.
Diferentemente de Freud, ele pretende forar uma nova escrita com valor
traumtico, pois a metfora da cadeia borromeana no seria uma ideia que floresce
de modo espontneo apenas devido ao que faz sentido, isto , ao imaginrio.
Um novo tipo de ideia, destaca Miller (2010), que se assenta sobre a disjuno
entre o simblico e o imaginrio, recordando a citao que se segue extrada do
Seminrio 23: Eu inventei o que se escreve como real. Naturalmente, o real,
no suficiente escrev-lo real. Muita gente o fez antes de mim. Mas este real,
eu o escrevi sob a forma do n borromeano, que no um n mas uma cadeia
que tem certas propriedades (LACAN, 1975/76-2005, p.129-130).
Ou ainda, como sublinha Miller (2010, p.68): (...) para que haja corte
epistemolgico, para que haja cincia, preciso que o simblico seja separa-
do do imaginrio. Mas, em contrapartida, do corte com o imaginrio que
procedem as confuses do simblico. O fato de no ter apoio no imaginrio,
introduz confuses e lapsos diversos no simblico. Portanto, se supomos que
o imaginrio e o simblico so disjuntos, torna-se necessrio introduzir uma
terceira dimenso, o real, para conect-los:
Na forma mnima sob a qual tracei esta cadeia, preciso ao menos trs elementos.
O real, isto consiste em chamar um destes trs de real. Estes trs elementos tal como
eles esto enodados, em realidade encadeados, fazem metfora. No nada mais
do que metfora da cadeia. (LACAN, 1975/76-2005, p.129-130)
gora (Rio de Janeiro) v. XVI n. 2 jul/dez 2013 299-312
08 Tania 33.indd 303 4/12/2013 10:49:35
304 Tania Coelho dos Santos
De que real se trata no ltimo ensino de Lacan? o que se aproxima do que
Freud define como reminiscncia. Diferentemente da rememorao, trata-se de
uma impresso no sistema nervoso, ou, ao que no ensino de Lacan da ordem da letra.
A rememorao consistiria na constituio de redes de memria que se tranam.
Lacan procura estabelecer a memria em bases novas, mediante alguma coisa
que se encadeia ao invs de se tranar. De um lado Lacan faz a crtica da ideia
de que o smbolo j estaria pr-formado no imaginrio. A origem smbolo o
significante e no a imagem. De outro, critica a energtica freudiana por estabe-
lecer uma relao direta entre os neurnios investidos com a energia psquica e
o inconsciente, o que anularia a dimenso do real. A energtica freudiana estaria
baseada na suposio de que o imaginrio est no simblico e o simblico no
imaginrio isso que funciona e que constitui a realidade:
Em contrapartida, para Lacan, essa relao entre o simblico e o imaginrio
condicionada por um termo suplementar: o real, sem o qual no se tem nem reali-
dade, nem funcionamento. nesse sentido que ele pode dizer meu real condiciona
a realidade. (MILLER, 2010, p.71)
Ou, dizendo de outro modo: para que um dizer seja ouvido, no basta a
emisso fonadora (fala) que mobiliza o corpo preciso que o auditor escute
(oua). A realidade precria, pois existe entre um e outro um abismo. Para
efetuar a fuso entre imaginrio e simblico, preciso um acontecimento real.
O inconsciente freudiano, diferentemente, seria por completo redutvel a um
saber falado que, no mnimo, pode ser interpretado. O S1, ao representar o sujeito
verdadeiramente, isto , para um S2, implica que o dizer conforme a realidade.
A realidade o que funciona verdadeiramente. Vejamos porque Lacan pretende
que a instncia do saber renovada por Freud sob a forma do inconsciente no
supe obrigatoriamente de modo algum o real do qual ele se serve.
A introduo desta terceira dimenso, a do real, implica supor que a lngua criada
a cada ato de fala logo, no existe inconsciente transindividual, nem inconsciente
de uma lngua. O inconsciente sempre particular. E, neste sentido, o inconsciente
real. O sentido que vale para um, no vale necessariamente para os outros. Esta
a razo pela qual Lacan dir que: O que constitui em si uma energtica que
preciso achar um truque para obter a constante. (LACAN, 1975/76-2007, p.130).
O truque conveniente, aquele que funciona, que obtm xito, o que chamamos
de realidade: (...) eu penso na medida em que meu pensamento mais que um
sintoma que o falo possa ser suporte suficiente para o que Freud concebia como
energtico. (Idem, p.134)
gora (Rio de Janeiro) v. XVI n. 2 jul/dez 2013 299-312
08 Tania 33.indd 304 4/12/2013 10:49:35
A psicanlise uma cincia e o discurso analtico uma prxis? 305
Alis, a realidade no o termo mais essencial para se contrapor ao real.
mais importante diferenciar o real com o qual o imaginrio e o simblico
esto enlaados no n borromeano, isto , no sinthoma, daquilo que da reali-
dade serve para estabelecer a cincia. E finalmente, o real um rgo que no
tem nada a ver com o rgo carnal. O inconsciente freudiano no deixa de ser
referido ao corpo. Indiscutivelmente o que Freud entendia por pulso remete
materialidade da energtica no psiquismo:
... conceito situado na fronteira entre o mental e o somtico, como representante
psquico dos estmulos que se originam dentro do organismo e alcanam a mente,
como uma medida da exigncia feita mente no sentido de trabalhar em consequ-
ncia de sua ligao com o corpo. (FREUD, 1915-1974, p.142)
Lacan, diferentemente, argumenta que a funo do real deve ser distin-
guida dele. A menos que o inconsciente seja real. No a mesma coisa supor
que existe uma constante que suporta a mediao entre os significantes por
exemplo, Deus, o Nome do Pai, o prximo (Nebenmesch), o Outro da linguagem,
ou o princpio do prazer/realidade e advogar que no h Outro do Outro,
que o Outro no existe, que o real um furo no simblico, razo pela qual
sem lei. No primeiro caso, trata-se da psicanlise como uma prxis, situada no
mbito da realidade, no ponto em que existe funcionamento e xito. disso
que se trata quando Lacan definia a prxis como: tratar o real pelo simblico.
O que a mesma coisa que supor que o inconsciente transferencial. supor
que aquele que fala enderea seu dizer a algum. Mas, se cada ato de fala, em
princpio, no quer dizer nada para ningum, no se estaria mais sob a hege-
monia da transferncia. Entretanto, se um ato de fala alcana tornar-se um dizer,
no poder deixar de se submeter s regras da lgica ao princpio da no
contradio que podero confirm-lo ou desdiz-lo.
O ltimo ensino de Lacan traz consideraes bastante embaraosas sobre o
pensamento de Freud. Os cursos de orientao lacaniana de Miller so muitas
vezes indispensveis ao trabalho de construo da lgica do pensamento de La-
can neste perodo do seu ensino em particular, no que se refere ao tema da
diferena entre a psicanlise no sentido absoluto e sua prtica. Freud estabeleceu
o mtodo psicanaltico como um instrumento de pesquisa do inconsciente.
Considerava-se muito mais inclinado pesquisa do que afeioado aos objetivos
teraputicos. No se pode imputar Freud a ideia de que a psicanlise tem a
ambio de reconduzir realidade, ao funcionamento, ao xito psicoteraputico.
Nada menos freudiano. Sua formulao de um princpio mais alm do princpio
do prazer assegura e sobre isto Freud parafraseia Gethe que no h nada,
nem no cu, nem na terra, preparado para que o homem seja feliz.
gora (Rio de Janeiro) v. XVI n. 2 jul/dez 2013 299-312
08 Tania 33.indd 305 4/12/2013 10:49:35
306 Tania Coelho dos Santos
O estatuto da psicanlise foi definido por Freud por meio de um paradoxo.
A inveno freudiana, embora faa parte da Weltanshuung da cincia, teria in-
troduzido nela um objeto que questiona os poderes da racionalidade cientfica:
a realidade psquica. O sonho, o inconsciente e o sintoma so fices que se
alimentam do desejo de um pai. Nutrem-se do sentido religioso, afastando-se
do real sem sentido que anima a pesquisa cientfica. O desamparo a fonte
desta grande aspirao libidinal e moral da espcie humana. O pai uma fico
verdadeira, mas a verdade, para Freud, no equivale ao real. O real no campo
da teoria psicanaltica o circuito que a pulso descreve repetidamente bus-
cando o objeto, sentido evanescente, que se anuncia, no permanece e escapa.
Ao real da psicanlise freudiana impossvel atribuir um sentido. A ideia de que
a pulso de morte visa retornar ao inanimado to somente uma metfora do
real. Todo o percurso freudiano comeou por estabelecer que a grande verdade
revelada pelo inconsciente a do pai sedutor no passa de uma fantasia, de
primeira mentira (proton pseudos) histrica, um sintoma. No temos a, justamente,
o princpio de uma duplicidade de estatuto entre a psicanlise, como cincia da
pulso, e de sua prtica, enquanto estruturada pelas fices do inconsciente que
sustentam os sintomas? No o sintoma o nico real no qual o psicanalista,
desde Freud at Lacan, acredita?
No se pode dizer que as verdadeiras cincias se distinguem da psicanlise
porque abolem toda a dimenso da crena. Porque no seria a cincia, tambm
ela, uma fico? Por mais identificado com a razo universal que um ser humano
aspire vir a ser, no poder eliminar em sua subjetividade os restos, as marcas,
as evidncias e a presso do profundo desamparo que a causa de seus desejos
infantis. E essa tambm a fonte da religio, que engendra a crena em um pai
protetor. A cincia prolonga esta necessidade de superar o desamparo por outros
meios, apostando nos poderes da razo. Acreditar na razo no seria equivalente
a acreditar em Deus? Na cincia, a crena na natureza toma o lugar da crena em
Deus. Quando a psicanlise reduz o Nome do pai ao inconsciente, no mesmo
golpe ela destitui a crena na universalidade e na neutralidade da razo. Lacan
reduz a cincia a uma futilidade sem nenhum peso na vida, embora ela tenha
resultados impressionantes, como, por exemplo, a televiso:
Para que o imaginrio se exfolie, preciso somente reduzi-lo ao fantasma. O im-
portante que a cincia, ela mesma, somente um fantasma e que a ideia de um
despertar propriamente impossvel. (15/11/1977a, p.15)
gora (Rio de Janeiro) v. XVI n. 2 jul/dez 2013 299-312
08 Tania 33.indd 306 4/12/2013 10:49:35
A psicanlise uma cincia e o discurso analtico uma prxis? 307
Cincia e discurso: Lacan versus Lacan?
Se no existe saber que no seja marcado pelo pecado de origem da f e, se deste
pecado original nem a cincia escapa, haveria alguma diferena a conservar entre
cincia e discurso? Para formalizar a questo, parto de um aforismo de Lacan
que aparenta contradizer minha tese. No Seminrio 16, intitulado De um Outro ao
outro, o autor afirma que: a essncia da teoria psicanaltica um discurso sem
palavras. (1968/69-2006, p.11). No haveria nenhuma distino a fazer entre
um matema que uma reduo da verdade estrutura esvaziada de sentido
e um discurso sem palavras. A definio lacaniana de discurso, justamente,
no prescinde de palavras? Se um discurso no precisa de palavras, em que ele
se distingue de uma frmula cientfica?
Devemos conferncia Quest-ce quun auteur?, proferida por Michel Foucault
(1969), a tese de que a psicanlise no uma cincia. De acordo com Foucault,
Freud e Marx teriam sido instauradores de novas discursividades, distintas de
outra prtica discursiva, a da cincia. Uma verdade estabelecida, que pode ser
muitas vezes demonstrada no campo da cincia, no precisa garantir sua auten-
ticidade referindo-se ao indivduo que a estabeleceu. Torna-se, por assim dizer,
annima. A fsica de Newton, de Galileu ou de Einstein no precisa retornar ao
ato de fundao deste campo do conhecimento para reconhecer a validade de
uma proposio. De modo diverso, ao ato de instaurao da psicanlise como
uma discursividade seria preciso retornar muitas vezes, para estabelecer o valor
de verdade dos avanos e progressos desse campo do saber.
Poderamos argumentar, contra a tese de Foucault, que a fsica de Galileu, a
mecnica de Newton, a teoria da relatividade de Einstein ou a mecnica quntica
de Bohr so tambm discursos que no se desprendem jamais de suas origens, do
Nome do Pai, do nome prprio de seu inventor. A psicanlise no a lingustica,
ainda que no se possa desvencilh-la da importncia do nome de Ferdinand
de Saussure, mas o saber inconsciente estrutura-se como a linguagem. O que
que faz da lingustica uma cincia? o que Lacan explica nas Conferncias de
Saint-Anne:
Eu me servi disso porque era realmente necessrio para introduzir o que concer-
ne ao discurso analtico, servi-me sem escrpulo das trilhas que teriam podido
se exaltar cedo demais e fazer vocs retornarem lama cotidiana, eu lembrei que
no se afirmou coisa alguma digna desse ttulo lingustico como cincia, no se
afirmou coisa alguma que parea ter a lngua, nem mesmo a fala, como objeto,
no se afirmou seno na condio de jurarem entre si, entre linguistas, de nunca,
nunca mais porque no fizemos outra coisa durante sculos nunca mais,
nem de longe, fazer aluso origem da linguagem (LACAN, 1971-72a, aula de
3/2/1972, p.61)
gora (Rio de Janeiro) v. XVI n. 2 jul/dez 2013 299-312
08 Tania 33.indd 307 4/12/2013 10:49:35
308 Tania Coelho dos Santos
Quando Foucault se referia psicanlise como uma discursividade, muito
provavelmente tomava como uma condio essencial ao seu progresso a estra-
tgia lacaniana de refundar a psicanlise por meio da retrica pica do resgate
das origens. O famoso retorno a Freud, foi, na verdade uma releitura da obra
freudiana luz da funo e do campo da fala e da linguagem. Lacan defendia a
necessidade de voltar s origens, argumentando que os ps-freudianos desviaram-
se dos princpios fundamentais da cincia que Freud inventou. Foi este gesto que
levou Foucault a supor que a psicanlise no seria uma cincia, no gozaria do
anonimato de uma verdade que pode ser muitas vezes demonstrada e que de-
penderia do gesto de retornar s origens, ao texto, citao, para refundar-se.
Acredito que no devemos confundir a psicanlise no sentido absoluto com o
discurso analtico. A prxima citao sublinha o que Lacan entende por discurso:
uma estrutura que se funda na funo de S1 (significante mestre), que, articu-
lado a um S2 (o saber) constitui o sujeito ( |S , dividido entre dois significantes:
S1-S2), operao que produz o objeto a como um resto ou um excesso (mais
de gozar). Essa estrutura ergue-se sobre um pano de fundo, comum a qualquer
cincia, que o real impossvel. Todo discurso semblante. Todo discurso uma
arquitetura que pretende abordar o real pela via do simblico. Todo discurso
aspira agir sobre o real e produzir efeitos:
O que eu gostaria de dizer mais livremente que fazendo aluso, nesse escrito, ao
discurso analtico, sobre o qual eu me encontro em posio de abrir o caminho,
evidentemente na medida em que o considero como constituindo, pelo menos
potencialmente, essa espcie de estrutura que designo com o termo discurso, isto
, aquilo pelo qual, pelo efeito puro e simples da linguagem, se precipita num
lao social. Isso foi percebido sem necessidade da psicanlise. exatamente o
que chamamos, na linguagem corrente, ideologia. (LACAN, 1971-72a, aula de
4/5/1972, p.96)
Como entender essa equivalncia entre tudo isso que se precipita como efeito
puro da linguagem, o discurso que uma estrutura, o lao social e a ideologia?
Seria alguma coisa prxima da leitura de Althusser (1970) sobre a ideologia na
filosofia de Marx? De acordo com este autor, Marx concebe a estrutura da socie-
dade em dois nveis ou instncias, articulados por uma determinao especfica:
a infraestrutura econmica e a superestrutura. Esta ltima, por sua vez, com-
porta outras duas instncias: jurdico-polticas (Estado e Direito) e ideolgicas
(moral, religio, poltica). A superestrutura serve reproduo das condies
de produo que se relaciona com a atividade do Estado e de seus aparelhos
ideolgicos. O objetivo comum assegurar a submisso da fora de trabalho
ordem estabelecida. Os aparelhos ideolgicos esto diretamente implicados na
gora (Rio de Janeiro) v. XVI n. 2 jul/dez 2013 299-312
08 Tania 33.indd 308 4/12/2013 10:49:35
A psicanlise uma cincia e o discurso analtico uma prxis? 309
manuteno do lao social (escola, igreja, famlia, direito, poltica, cultura). Por
isso, a ideologia dominada pelas presses do interesse no conhece reconhece.
Serve s finalidades prtico-sociais, e no produo de conhecimento como
faz a cincia. O objetivo da ideologia forjar uma viso de mundo que integra
elementos simblicos disjuntos e at contraditrios.
A psicanlise enquanto um discurso, o discurso analtico, faria parte dos apa-
relhos ideolgicos do Estado? Serviria reproduo dos laos sociais estabelecidos
por meio desta forma histrica chamada famlia? No poderamos aproxim-la
da noo foucaultiana de dispositivo? Enfim, como propunha Foucault (1977),
a psicanlise seria apenas uma das tecnologias perversas e polimorfas do poder
sobre os corpos e as sexualidades? Afinal, a estrutura do discurso um semblante,
rene razo e sensibilidade. De um lado serve para excluir o real impossvel, isto
, o gozo ou a pulso de morte. De outro, rene o sintoma (S1-S2) e o fantasma
( |S <>a) numa frmula de dois andares. Por analogia ao aparelho conceitual
marxista, podemos sonhar que o sintoma a superestrutura, enquanto que o
fantasma sua infraestrutura libidinal. A estrutura do discurso uma forma-
lizao das relaes edipianas. Recordo a correspondncia de cada uma dessas
letras com um dos termos em jogo no Complexo de dipo: S1 (Nome do Pai),
S2 (saber/desejo da me), |S (sujeito dividido) e objeto a (mais de gozar). De
acordo com Lacan, este discurso uma mquina que no se reduz a recalcar
(Urverdrng) o gozo, rejeitando-o ao campo do impossvel. Trata-se tambm de
uma mquina produtiva na qual o gozo recuperado sob a forma do lucro, da
mais-valia (mais de gozar). No temos aqui uma equivalncia entre a definio
lacaniana de discurso e a definio althusseriana de aparelho? No se trataria
tambm da mesma coisa que Foucault chamou de dispositivo?
Cincia, real, pulso de morte versus ideologia,
Nome do Pai, inconsciente
Se esta hiptese vale alguma coisa, somos conduzidos a levantar duas questes: ou
a cincia um discurso entre outros (muito embora Lacan no tenha designado
nenhum dos discursos como discurso da cincia) ou o discurso analtico uma
prtica no sendo, portanto, uma cincia. Isto nos reconduziria hiptese
inicial de que haveria uma dicotomia interior ao campo da psicanlise. De um
lado, a psicanlise no sentido absoluto uma cincia que aborda o real tal como a
lgica, excluindo dele todo o sentido. De outro, ela uma prtica que consiste em
interpretar o sintoma, que uma exceo regra de que no real no h sentido.
O sintoma, enquanto conjuno entre o real e o sentido, indica-nos que o real do
qual tratamos em nossa prtica no o mesmo real (uma existncia expurgada
de sentido) que o horizonte da psicanlise no sentido absoluto.
gora (Rio de Janeiro) v. XVI n. 2 jul/dez 2013 299-312
08 Tania 33.indd 309 4/12/2013 10:49:35
310 Tania Coelho dos Santos
Muitas vezes abordei o tema da dualidade, ao final da anlise, entre a di-
menso que terminvel e aquela que se mostra interminvel. Freud nomeia
o impasse analtico por meio do rochedo da castrao. Homens e mulheres
defendem-se da feminilidade (Weiblichkeit) por meio da cicatriz do complexo de
castrao. Para Freud, a sexuao conduz angstia de castrao nos homens
e reivindicao (Penisneid) do falo nas mulheres. As duas atitudes so defesas
contra a feminilidade. O termo feminilidade equivale ao real impossvel em
Lacan. Lembrando, entretanto, que:
A pulso de morte o real na medida em que ele s pode ser pensado como im-
possvel. Quer dizer que, sempre que ele mostra o nariz, ele impensvel. Abordar
este impossvel no poderia constituir uma esperana, posto que impensvel,
a morte e o fato de a morte no poder ser pensada o fundamento do real.
(LACAN, 1975/76-2011, p.121)
O que nos traz de volta sua aspirao de que a cadeia borromeana (ou
o n borromeano) seja uma escrita que funcione como metfora do real. Ela
seria expurgada de sentido. Ela no seria uma ideia, pois no se trata de uma
representao. Ela seria uma escrita equivalente morte e vida enquanto irre-
presentveis. Seria equivalente ainda feminilidade (horizonte inatingvel do
processo analtico) e pulso de morte. Esta ltima, todavia, no uma vontade
obscura de destruio ou de retorno ao inanimado como as metforas energ-
ticas freudianas propem. Ela relativa ao Outro que no existe, mais alm da
hiptese do inconsciente e da suposio do Nome do Pai, isto , de Deus:
A hiptese do inconsciente, sublinha Freud, s pode se manter na suposio do
Nome do Pai. certo que supor o Nome do Pai Deus. Por isso a psicanlise,
ao ser bem sucedida, prova que podemos prescindir do Nome do Pai. Podemos
sobretudo prescindir com a condio de nos servirmos dele. (LACAN, 1975/76-
2011, p.133)
discutvel que a prtica analtica possa conduzir a uma existncia expurgada
de sentido. At porque, isso redundaria em tornar possvel o impossvel. Nesta
medida, a psicanlise fracassa em atingir seu horizonte absoluto. Ser por essa
razo que Lacan se mostra to resistente em admiti-la ao campo da cincia? Se
esse o caso, porque essa ambio em produzir uma escrita que equivalha ao
real? Ser que se trata apenas de sua resposta sintomtica a Freud?
Falo do real como impossvel na medida em que creio justamente que o real
enfim creio, se esse meu sintoma, digam-me , preciso diz-lo bem, o real sem
gora (Rio de Janeiro) v. XVI n. 2 jul/dez 2013 299-312
08 Tania 33.indd 310 4/12/2013 10:49:36
A psicanlise uma cincia e o discurso analtico uma prxis? 311
lei. O verdadeiro real implica a ausncia de lei. O real no tem ordem. (LACAN,
1975/76-2011, p.133)
A inveno lacaniana do real sua reao ao inconsciente, ou sua resposta
sintomtica elucubrao freudiana definida por ele como o ato de elevar ao
grau de simbolismo seu prprio sinthoma. Gesto que, tal como o do cientista no
campo da cincia, consiste em esvaziar ao mximo aquilo que o sintoma possa
ter de reproduo ideolgica dos discursos e laos sociais fundados na tradio,
convidando cada psicanalista a inventar a psicanlise novamente.
Recebido em 15/8/2013. Aprovado em 26/9/2013.
Referncias
ALTHUSSER, L. (1970). Ideologia e os aparelhos ideolgicos do Estado. Lisboa:
Editorial Presena.
FOUCAULT, M. (1969 /1983). Quest-ce quum auteur? Conferncia
pronunciada na Sociedade Francesa de Filosofia em 22 de janeiro de
1969, Revista Littoral, Paris, 9 de junho.
. (1977). Histria da sexualidade volume I A vontade de saber. Rio de
Janeiro: Graal.
FREUD, S. (1974 e 1976) Edio standard das obras completas de Sigmund Freud.
Rio de Janeiro: Imago.
[1932 (1933) 1976] A questo de uma Weltanschauung, v.XXII, p.193-
222.
[(1915)1974]. Os instintos e suas vicissitudes, v.XIV, p.129-164.
LACAN, J. (1965/66-2011). La science et la verit, in Ecrits. Paris:
Seuil.
. (1964/65-1985). O Seminrio Livro XI, Os quatro conceitos
fundamentais. Rio de Janeiro: Zahar Editores.
. (1971/72a). O saber do psicanalista. Publicao do Centro de
Estudos Freudianos de Recife, s/d.
. (1971/72b- 2011). Le Seminaire. Livre XIX: ou pire. Paris:
Seuil.
. (1974/75). Le Seminaire XXII: R.S.I. Paris: ditions de La
Association Freudienne Internationale, s/d.
. (1974-2011). La Troisme. Rvue de la Cause Freudienne, Nouvelle Revue
de Psychanalyse 79, Navarin Editeur, p.11-33.
. (1974-2011). A Terceira. Opo Lacaniana, Revista Brasileira Internacional
de Psicanlise, 62, dez/2011, p.11-36.
. (1975/76- 2005). Le Seminaire. Livre XXIII: le sinthome, Paris: Seuil.
. (1975-76- 2011). O Seminrio Livro 23 O sintoma. Rio de Janeiro:
Zahar Editores.
gora (Rio de Janeiro) v. XVI n. 2 jul/dez 2013 299-312
08 Tania 33.indd 311 4/12/2013 10:49:36
312 Tania Coelho dos Santos
. (1976-77). Le Seminaire. Livre XXIV: Linsu que sait de lune bvue saile
mourre. Paris: ditions de La Association Freudienne Internationale,
s/d.
. (1977-78). Le Seminaire XXV: le moment de conclure. Paris: ditions de
La Association Freudienne Internationale, s/d.
MILLER, J.-A. (1999). Elementos de biologia lacaniana, Belo Horizonte: EBP.
. (2010). Perspectivas do Seminrio 23 de Lacan: O sinthoma. Rio de Ja-
neiro: Zahar Editores.
. (2011). Perspectivas dos escritos e dos outros escritos de Lacan: entre desejo e
gozo, Rio de Janeiro: Zahar Editores.
. (2012). O real no sculo XXI. Opo Lacaniana Revista Brasileira
Internacional de Psicanlise, 63, jun, p.11-20.
. (2013). O real sem lei.Opo Lacaniana Revista Brasileira Internacional
de Psicanlise, 65, abril/2013, p.9-24.
Obras consultadas
COELHO DOS SANTOS, T. (2009). Semblante e discurso: estrutura e
verdade na cincia e na psicanlise, Latusa Revista da Escola Brasileira de
Psicanlise, 14, p.39-52.
. (2011). A dimenso real da insero na ordem simblica. aSE-
PHallus Revista de Orientao Lacaniana (Online), VI (11), nov./2010, abr.,
1-17. Disponvel em www.isepol.com/asephallus.
. (2011). A materialidade da letra e o realismo da estrutura na
psicanlise de orientao lacaniana, in LO BIANCO, A. C. (Org.)
A materialidade da psicanlise. Rio de Janeiro: Contracapa, p.81-100.
. (2012). Existe uma nova doutrina da cincia na psicanlise de
orientao lacaniana?, in .; MARTELLO, A.; SANTIAGO, J.
(Orgs.) De que real se trata na clnica psicanaltica? Psicanlise, cincia e discursos
da cincia. Rio de Janeiro: Cia de Freud, p.35-62.
. (2012). O real sem sentido nas cincias em geral e na psicanlise
em particular. aSEPHallus Revista de Orientao Lacaniana, VII (13), nov/2011,
abr,.12-29. Disponvel em www.isepol.com/asephallus.
. & LOPES, R. G. (2013). Psicanlise, cincia e discurso. Rio de Janeiro:
Cia. de Freud.
COTTET, S. (2012). Um bien dire pistemologique. Du concept dans la
clinique, La Cause du Dsir, Nouvelle Revue de Psychanalyse, 80, mars, Navarin
Editeur, p.16-22.
. (2013). Em ligne avec Serge Cottet, in La science est votre verit La
Cause du Dsir, Nouvelle Revue de Psychanalyse, 84, mai, Navarin Editeur,
p.12-22.
LICITRA-ROSA, C. (2009). Il nya danalyste qu ce que ce dsir [du
savoir cientifique] lui vienne. Lettre mensuelle, 280, Paris: cole de la
Cause Freudienne, 16-19.
Tania Coelho dos Santos
taniacs@openlink.com.br
gora (Rio de Janeiro) v. XVI n. 2 jul/dez 2013 299-312
08 Tania 33.indd 312 4/12/2013 10:49:36
Você também pode gostar
- Psicanálise e PesquisaDocumento14 páginasPsicanálise e PesquisaDOMENICA DE MELO SILVAAinda não há avaliações
- A Letra Na Ciência e Na Psicanálise - Luciano Elia.Documento14 páginasA Letra Na Ciência e Na Psicanálise - Luciano Elia.Heliane SilvaAinda não há avaliações
- Arqueologia da vida psíquica e a psicanálise freudiana nas relações extra-indivíduoNo EverandArqueologia da vida psíquica e a psicanálise freudiana nas relações extra-indivíduoAinda não há avaliações
- Verdade e sofrimento: psicanálise, ciência e a produção de sintomasNo EverandVerdade e sofrimento: psicanálise, ciência e a produção de sintomasAinda não há avaliações
- Nádia Martins Maria Beatriz Rangel - Psicanálise, Ciência, Pesquisa e ClínicaDocumento11 páginasNádia Martins Maria Beatriz Rangel - Psicanálise, Ciência, Pesquisa e ClínicaAnna AbdalaAinda não há avaliações
- Aguiar, F. - Questões Epistemolóicas e Metodolóicas em PsicanáliseDocumento27 páginasAguiar, F. - Questões Epistemolóicas e Metodolóicas em PsicanáliseLeandro Nogueira Dos ReisAinda não há avaliações
- Epistemologia em PsicanáliseDocumento15 páginasEpistemologia em PsicanálisemaelisonAinda não há avaliações
- DUNKER, C. - Ontologia Negativa em Psicanálise - Entre Ética e Epistemologia PDFDocumento13 páginasDUNKER, C. - Ontologia Negativa em Psicanálise - Entre Ética e Epistemologia PDFAlbertoMedeirosAinda não há avaliações
- O laço social próprio à psicose: abordagem freudiana - lacanianaNo EverandO laço social próprio à psicose: abordagem freudiana - lacanianaAinda não há avaliações
- 4729-Texto Do Artigo-18918-1-10-20180605Documento14 páginas4729-Texto Do Artigo-18918-1-10-20180605Francisco XavierAinda não há avaliações
- 2 A Transferência Na Pesquisa em Psicanálise Lugar Ou Excesso - Luciano Elia-RespostaDocumento10 páginas2 A Transferência Na Pesquisa em Psicanálise Lugar Ou Excesso - Luciano Elia-RespostaFabiano LeiriasAinda não há avaliações
- Jesus e a logoterapia: O ministério de Jesus interpretado à luz da psicoterapia de Viktor FranklNo EverandJesus e a logoterapia: O ministério de Jesus interpretado à luz da psicoterapia de Viktor FranklNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Qual Sujeito de Uma Análise Caroline e MariannaDocumento11 páginasQual Sujeito de Uma Análise Caroline e MariannaMorgana Luiza GranellaAinda não há avaliações
- Os processos de subjetivação como objeto de estudo da Psicologia: a dialética sujeito-objeto na constituição da ciência psicológicaNo EverandOs processos de subjetivação como objeto de estudo da Psicologia: a dialética sujeito-objeto na constituição da ciência psicológicaAinda não há avaliações
- Discurso e Psicose Contribuicoes para ADocumento8 páginasDiscurso e Psicose Contribuicoes para ADanielle RochaAinda não há avaliações
- Psicanálise e Sua Epistemologia: Profa. Dra. Carolina MolenaDocumento13 páginasPsicanálise e Sua Epistemologia: Profa. Dra. Carolina MolenaCrislainne da SilvaAinda não há avaliações
- Henri Bergson e Seus Conceitos de duraÇÃo, Inteligência e intuiÇÃo para Problematizar A PsicologiaDocumento8 páginasHenri Bergson e Seus Conceitos de duraÇÃo, Inteligência e intuiÇÃo para Problematizar A PsicologiaTiago QuartucciAinda não há avaliações
- A Verdade Na Fronteira Entre Psicanálise e CiênciaDocumento5 páginasA Verdade Na Fronteira Entre Psicanálise e CiênciaIngrid VenturaAinda não há avaliações
- Ciencia e Psicanalise Artigo para A Revista PhoenixDocumento4 páginasCiencia e Psicanalise Artigo para A Revista PhoenixolivertateAinda não há avaliações
- Antonio Godino Cabas PDFDocumento4 páginasAntonio Godino Cabas PDFJavier Ladrón De Guevara Marzal100% (1)
- P Topologia Pedro BerangerDocumento5 páginasP Topologia Pedro BerangerdepbiraAinda não há avaliações
- Psicanáslise e NeurociênciaDocumento11 páginasPsicanáslise e NeurociênciaDouglas Naegele100% (1)
- Texto Complementar - Sem Data - Alguns Fundamentos Da Entrevista em PsicanaliseDocumento8 páginasTexto Complementar - Sem Data - Alguns Fundamentos Da Entrevista em PsicanalisefeepivaAinda não há avaliações
- CANGUILHEM, Georges. Que É A Psicologia (Impulso)Documento18 páginasCANGUILHEM, Georges. Que É A Psicologia (Impulso)Flavia BessaAinda não há avaliações
- O Eneagrama - Helen PalmerDocumento13 páginasO Eneagrama - Helen PalmerCamila NunesAinda não há avaliações
- A Ciência e A Verdade - A Partir Da Psicanálise PDFDocumento12 páginasA Ciência e A Verdade - A Partir Da Psicanálise PDFViviane TorquatoAinda não há avaliações
- Estruturas Clínicas - Cap. 1 AlfredoDocumento19 páginasEstruturas Clínicas - Cap. 1 AlfredoMariana SavioAinda não há avaliações
- Ciencia Psicose e ForaclusãoDocumento18 páginasCiencia Psicose e ForaclusãoRenata SucupiraAinda não há avaliações
- Sobre Identidade e Identificação em PsicanáliseDocumento3 páginasSobre Identidade e Identificação em Psicanáliseanon_933054966Ainda não há avaliações
- A Contra-TransferênciaDocumento14 páginasA Contra-TransferênciaCa KZ100% (1)
- Aula Magna Londrina GoldenbergDocumento39 páginasAula Magna Londrina GoldenbergLF BottoAinda não há avaliações
- 11 Fundamentos Da Técnica Psicanalítica Cap 11Documento21 páginas11 Fundamentos Da Técnica Psicanalítica Cap 11Edison BuenoAinda não há avaliações
- Bion: Transferência, transformações, encontro estéticoNo EverandBion: Transferência, transformações, encontro estéticoAinda não há avaliações
- Lacan e A democraciaFINAL - Imprensa - Unlocked (Arrastado)Documento6 páginasLacan e A democraciaFINAL - Imprensa - Unlocked (Arrastado)PedroCostaAinda não há avaliações
- Epistemologia Da Psicanálise Elementos para o Debate: Enciclopédia BritânicaDocumento9 páginasEpistemologia Da Psicanálise Elementos para o Debate: Enciclopédia BritânicaPe AmeixaAinda não há avaliações
- Filosofia e ParapsicologiaDocumento5 páginasFilosofia e ParapsicologiaVanderlei Dallagnolo100% (4)
- FRONTEIRAS: PSICANÁLISE E A SOCIOLOGIA: O SABER DO INDIVÍDUO E DA SOCIEDADE DO TRABALHONo EverandFRONTEIRAS: PSICANÁLISE E A SOCIOLOGIA: O SABER DO INDIVÍDUO E DA SOCIEDADE DO TRABALHOAinda não há avaliações
- 141725-Texto Do Artigo-278233-1-10-20171218Documento10 páginas141725-Texto Do Artigo-278233-1-10-20171218Cássia FernandesAinda não há avaliações
- Livro 30 de Ago. de 2023 (1) IntroDocumento14 páginasLivro 30 de Ago. de 2023 (1) IntroCleidiane LimaAinda não há avaliações
- Livro Psi CC5Documento566 páginasLivro Psi CC5Pedro BarcelosAinda não há avaliações
- O Real Da Psicanálise Escapa À Literalização Da Ciência: ResumoDocumento13 páginasO Real Da Psicanálise Escapa À Literalização Da Ciência: ResumoAntonio WundervaldAinda não há avaliações
- A Psicanálise e Seu Lugar Entre As Ciências - SirleideDocumento14 páginasA Psicanálise e Seu Lugar Entre As Ciências - SirleideSirleide CintraAinda não há avaliações
- A Interpretacao Na Psicanalise Lacaniana PDFDocumento12 páginasA Interpretacao Na Psicanalise Lacaniana PDFjr1234Ainda não há avaliações
- Hudson Andrade - MetodologiaDocumento4 páginasHudson Andrade - MetodologiaHudsonVieiradeAndradeAinda não há avaliações
- Corpo e Pulsão Marcus Do Rio TeixeiraDocumento13 páginasCorpo e Pulsão Marcus Do Rio TeixeiraArthur EduardoAinda não há avaliações
- 5 Ferreira Et Al 2015Documento16 páginas5 Ferreira Et Al 2015Ju OliveiraAinda não há avaliações
- BLANCHOT, Maurice. O Livro Por VirDocumento24 páginasBLANCHOT, Maurice. O Livro Por VirMariah GuerraAinda não há avaliações
- Hans. Ângela VorcaroDocumento24 páginasHans. Ângela VorcaroMariah GuerraAinda não há avaliações
- Jerusalinsky PDFDocumento10 páginasJerusalinsky PDFMariah GuerraAinda não há avaliações
- A Terceira Jacques Lacan PDFDocumento22 páginasA Terceira Jacques Lacan PDFMariah Guerra100% (2)
- Ciranda de PedraDocumento169 páginasCiranda de PedraMariah GuerraAinda não há avaliações
- Fundamentos de Metodologia Da InvestigaçãoDocumento47 páginasFundamentos de Metodologia Da InvestigaçãoatauffoAinda não há avaliações
- Notas Sobre Prefácio Da Segunda Edição Da Crítica Da Razão PuraDocumento3 páginasNotas Sobre Prefácio Da Segunda Edição Da Crítica Da Razão PuraÀlis SandrAinda não há avaliações
- Equipando Santos PDFDocumento31 páginasEquipando Santos PDFJosy Romeu SantanaAinda não há avaliações
- A Palavra Do Mestre - Joel Goldsmith - Trad Giancarlo SalvagniDocumento177 páginasA Palavra Do Mestre - Joel Goldsmith - Trad Giancarlo SalvagniCarlos Roberto Pacheco Pacheco100% (6)
- A Abertura Da PalavraDocumento11 páginasA Abertura Da PalavraGabriel PinheiroAinda não há avaliações
- Leitura Dinâmica - Pedro AugustoDocumento73 páginasLeitura Dinâmica - Pedro AugustoRicardo HenriqueAinda não há avaliações
- As Sete Faces Do Dr. LaoDocumento134 páginasAs Sete Faces Do Dr. Laosam radAinda não há avaliações
- Unidade e Multiplicidade em HeraclitoDocumento4 páginasUnidade e Multiplicidade em HeraclitoLeo PenaAinda não há avaliações
- Aprenda A Programar UltimaversaoDocumento57 páginasAprenda A Programar Ultimaversaopollux_masterAinda não há avaliações
- Porque Não Existe Gênero Jornalístico InterpretativoDocumento16 páginasPorque Não Existe Gênero Jornalístico Interpretativolia seixasAinda não há avaliações
- Filhos de Zadoque Parte 3 FinalDocumento3 páginasFilhos de Zadoque Parte 3 FinalDionildo DantasAinda não há avaliações
- Verdade Absoluta (Spencer W. Kimball)Documento9 páginasVerdade Absoluta (Spencer W. Kimball)Lima SousaAinda não há avaliações
- Ética, Politica e ReligiãoDocumento552 páginasÉtica, Politica e ReligiãoJair Araújo100% (1)
- Andy WarholDocumento9 páginasAndy WarholzifbAinda não há avaliações
- Osho Coragem e Prazer de Viver PerigosamenteDocumento79 páginasOsho Coragem e Prazer de Viver PerigosamenteJoana PoppeAinda não há avaliações
- Exame de Filosofia 2013. 2 FaseDocumento11 páginasExame de Filosofia 2013. 2 FaseAntónio GomesAinda não há avaliações
- Sobre o Infinito, o Universo e Os Mundos (1584)Documento95 páginasSobre o Infinito, o Universo e Os Mundos (1584)Klaus SimmonsAinda não há avaliações
- Lista 01 - RLM - Definição de Proposição-Carlos-HenriqueDocumento34 páginasLista 01 - RLM - Definição de Proposição-Carlos-Henriquehenryvital7kAinda não há avaliações
- Teoria Do Conhecimento 1222909362165757 8Documento16 páginasTeoria Do Conhecimento 1222909362165757 8Leonor FerreiraAinda não há avaliações
- Namoro e AmizadeDocumento2 páginasNamoro e AmizadeHêdu RibeiroAinda não há avaliações
- Influências Filosóficas Na PsicologiaDocumento12 páginasInfluências Filosóficas Na PsicologiaGabriel RossiAinda não há avaliações
- O Semblante, o Corpo e o Objeto - Giselle Falbo KosovskiDocumento13 páginasO Semblante, o Corpo e o Objeto - Giselle Falbo KosovskiRobsonAinda não há avaliações
- Maria Cecília Baij - OSB - A Vida de São JoséDocumento252 páginasMaria Cecília Baij - OSB - A Vida de São JoséAntonio Magela Carvalho Garcia100% (1)
- A Ciência e A Reforma Protestante - Resumo Por Guilherme v. R. CarvalhoDocumento11 páginasA Ciência e A Reforma Protestante - Resumo Por Guilherme v. R. Carvalhoal_cfAinda não há avaliações
- Resumo ProIC-2013 - Vol 1Documento651 páginasResumo ProIC-2013 - Vol 1silviayonamineAinda não há avaliações
- JulioCesar AChave PDFDocumento135 páginasJulioCesar AChave PDFVinícius50% (2)
- 2006 10 - Um Caminho Simples - Dalai LamaDocumento48 páginas2006 10 - Um Caminho Simples - Dalai LamaDeco Fernandes100% (1)
- GOBRY, Ivan. Vocabulário Grego Da Filosofia PDFDocumento83 páginasGOBRY, Ivan. Vocabulário Grego Da Filosofia PDFJoão Pedro Braga Sant'Anna100% (1)
- Armadura de Deus Parte 1,2,3,4,5,6Documento6 páginasArmadura de Deus Parte 1,2,3,4,5,6Mabrofa AforbaAinda não há avaliações
- O Evangelho Segundo O Espiritismo PDFDocumento397 páginasO Evangelho Segundo O Espiritismo PDFAliceAinda não há avaliações