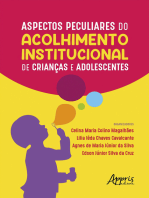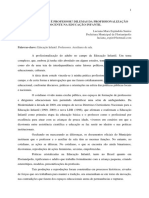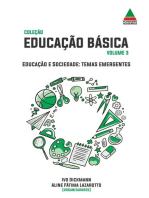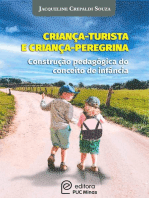Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
13a09 PDF
13a09 PDF
Enviado por
Dias ManuelTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
13a09 PDF
13a09 PDF
Enviado por
Dias ManuelDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Revista Lusfona de Educao, 2009,13, 135-153
Da Excluso Incluso:
Concepes e Prticas
Maria Odete Emygdio da Silva*
O caminho da excluso incluso das crianas e
dos jovens com necessidades educativas especiais
est relacionado com as caractersticas econmi-
cas, sociais e culturais de cada poca, as quais so
determinantes para o modo como se perspectiva
a diferena. Excluso, segregao, integrao e, nos
tempos actuais, incluso, marcam um percurso,
ao qual esto subjacentes concepes e prticas,
relativamente s quais, no caso da incluso, en-
tendida como educao inclusiva, a formao de
professores um dos factores fundamentais sua
implementao.
Palavras-chave
Segregao; integrao;
incluso educativa; edu-
cao inclusiva; anlise de
necessidades de formao
*
Doutorada em Educao.
Professora da Univer-
sidade Lusfona de
Humanidades e Tecnolo-
gias e membro da UID
Observatrio de Polticas
e Contextos Educativos.
dotidasilva@yahoo.com
revistaEDU13FINALfinal2.indd 135 23-06-2009 15:35:01
Revista Lusfona de Educao, 13, 2009
136
As caractersticas econmicas, sociais e culturais de cada poca tm determinado
o modo como se tem olhado a diferena. Do pensamento mgico-religioso dos
tempos remotos divinizao no Egipto, da eliminao na Grcia e em Roma ao
abandono e ao sentimento de horror (Leito, 1980: 12) vivido na Idade Mdia, a
histria da Humanidade mostra-nos que as sociedades tm experimentado grandes
dificuldades em lidar com a diferena, seja esta fsica, sensorial ou psquica. O
caminho da excluso incluso tem sido longo e penoso e muito h ainda para
fazer.
Com este artigo pretendemos fazer uma reflexo acerca do percurso escolar
das crianas e jovens com necessidades educativas especiais (NEE), situando-o
relativamente s concepes que lhe esto subjacentes e s prticas que, de acordo
com alguma investigao a este propsito (Vieira, 1995; Madureira, 1997; Leite,
1997; Correia, 1997, citados por Silva, 2001; Rodrigues, 2006; Silva, 2001, 2007), a
escola tem desenvolvido para o seu atendimento.
Da excluso segregao
A deficincia era, para os egpcios, indiciadora e portadora de benesses e, por
isso, divinizava-se. Para os gregos e para os romanos pressagiava males futuros,
os quais se afastavam, abandonando ou atirando da Rocha Tarpeia, as crianas
deficientes.
Na Idade Mdia, a sociedade, dominada pela religio e pelo divino, considerava
que a deficincia decorria da interveno de foras demonacas e, nesse sentido,
muitos seres humanos fsica e mentalmente diferentes e por isso associados
imagem do diabo e a actos de feitiaria e bruxaria foram vtimas de perseguies,
julgamentos e execues (Correia, 1997: 13). Na verdade, a religio, com toda a
sua fora cultural, ao colocar o homem como imagem e semelhana de Deus, ser
perfeito, inculcava a ideia da condio humana como incluindo perfeio fsica e
mental (Mazzotta, 1986: 16).
Os tempos medievais viram surgir, contudo, as primeiras atitudes de caridade
para com a deficincia a piedade de alguns nobres e algumas ordens religiosas
estiveram na base da fundao de hospcios e de albergues que acolheram
deficientes e marginalizados. No entanto, perdurou ao longo dos tempos e, em
simultneo com esta atitude piedosa, a ideia de que os deficientes representavam
uma ameaa para pessoas e bens. A sua recluso, que se processou em condies
de profunda degradao, abandono e misria, foi vista, por conseguinte, como
necessria segurana da sociedade.
Nos sculos XVII e XVIII, a mendicidade proliferava em todas as grandes cidades
europeias. S em Paris, durante a Guerra dos Trinta Anos, havia mais de 100.000
mendigos. Como forma de atrair a caridade, compravam-se nos asilos, crianas
deficientes de tenra idade, que eram barbaramente mutiladas e abandonadas sua
sorte quando, com o avanar da idade, deixavam de ter utilidade.
Revista Lusfona de Educao
revistaEDU13FINALfinal2.indd 136 23-06-2009 15:35:02
Silva: Da Excluso Incluso
137
Relativamente aos deficientes mentais, o abandono era total. Os que sobreviviam
eram remetidos para orfanatos, prises ou outras instituies do Estado. Uma
Ordem Real de 1606 refere que no Htel Dieu, um hospital de Paris que acolhia
deficientes mentais, a degradao era total: em leitos miserveis, dormiam juntas
vrias pessoas, independentemente das condies de sade que apresentassem.
Como se fosse uma barraca de feira, o Centro Bethlem era visitado, em 1770, por
um pblico que pagava para entrar e para apreciar o espectculo.
Ao longo do sculo XIX e da primeira metade do sculo XX, os deficientes
foram, assim, inseridos em instituies de cariz marcadamente assistencialista. O
clima social era propcio criao de instituies cada vez maiores, construdas
longe das povoaes, onde as pessoas deficientes, afastadas da famlia e dos vizinhos,
permaneciam incomunicveis e privadas de liberdade. (Garca, 1989, citado por
Jimnez, 1997).
As concepes ps-renascentistas que vieram dar fundamento Escola Nova,
as transformaes sociais que comearam a verificar-se, na Europa, a conscincia
de que deficincia mental e doena mental no podem ser confundidas, o que
s viria a acontecer a partir dos estudos de Esquirol, em 1818, foram marcos
relevantes para a educao das pessoas com deficincia, nomeadamente atravs do
interesse que alguns mdicos educadores, como Itard, Seguin e Maria Montessori
lhe consagraram. As causas divinas ou demonacas que empenharam sacerdotes,
feiticeiros e exorcistas cederam, assim, lugar a causas do foro biolgico, sociolgico
ou psicolgico, da competncia. de mdicos e, mais tarde, de psiclogos e de
educadores.
A institucionalizao teve, pois, numa fase inicial, um carcter assistencial. A
preocupao com a educao surgiu mais tarde, pela mo de reformadores sociais,
de clrigos e de mdicos, com a contribuio de associaes profissionais 1 ento
constitudas e com o desenvolvimento cientfico e tcnico que se foi verificando,
de que os testes psicomtricos de Binet e Simon, cuja escala mtrica da inteligncia
permitia avaliar os alunos que iam para escolas especiais, so um exemplo. Surgem
instituies para surdos 2, mais tarde para cegos 3 e muito mais tarde para deficientes
mentais 4 e as primeiras obras impressas no mbito da deficincia, Reduo
das Letras e Arte de Ensinar os Mudos a Falar, de Bonet, e Doutrina para os
Surdos-Mudos, de Ponce de Lon. De referir, a ttulo de curiosidade, expresses
utilizadas no mbito da educao de pessoas com deficincia, tais como Pedagogia
dos Anormais, Pedagogia Teratolgica, Pedagogia Curativa ou Teraputica,
Pedagogia da Assistncia Social, Pedagogia Emendativa, que se mantiveram at
ao final do sculo XIX (Mazzotta, 1996).
A poltica global consiste agora em separar e isolar estas crianas do grupo
principal e maioritrio da sociedade. H uma necessidade, bvia e compre-
ensvel, de evidenciar empenho na resoluo do problema: comeam a surgir
instituies especiais, asilos, em que so colocadas muitas crianas rotuladas
e segregadas em funo da sua deficincia. (Correia, 1997: 13)
Revista Lusfona de Educao
revistaEDU13FINALfinal2.indd 137 23-06-2009 15:35:02
Revista Lusfona de Educao, 13, 2009
138
Nesta fase da educao especial de cariz mdico-terapeutico reconhece-
se o direito educao especializada e reabilitao. No entanto e, apesar da
crescente preocupao com a educao destes alunos, cuja interveno decorria
de um diagnstico mdico-psico-pedaggico, o processo de coloc-los numa
escola de ensino especial ou numa classe especial no deixava de ser um processo
segregativo.
Em Portugal, correspondendo a esta fase de institucionalizao, foi criado, em
1822, o Instituto de Surdos, Mudos e Cegos, a que se seguiram dois asilos para cegos,
dois institutos para cegos e dois institutos para surdos. S posteriormente, em
1916, surgir o Instituto Mdico-Pedaggico da Casa Pia de Lisboa, que funcionou
como Dispensrio de Higiene Mental e mais tarde como Centro Orientador e
de Propaganda Tcnica dos Problemas de Sade Mental e Infantil de todo o pas.
Em 1941 foi criado o Instituto Antnio Aurlio da Costa Ferreira e, nos anos
sessenta, apareceram as primeiras Associaes de Pais: a Associao Portuguesa de
Pais e Amigos de Crianas Mongolides, em 1962, mais tarde chamada Associao
Portuguesa de Pais e Amigos de Crianas Diminudas e, posteriormente, em 1965,
Associao Portuguesa de Pais e Amigos do Cidado Deficiente Mental. Fundaram-
se, por outro lado, Centros de Educao Especial e tambm Centros de Observao,
os quais dependiam do Ministrio dos Assuntos Sociais.
Na dcada de quarenta do sculo XX assistiu-se, ainda, construo de centros
para pessoas com deficincias, mas a partir dos anos sessenta do mesmo sculo,
os pressupostos tericos e as prticas de institucionalizao comearam a ser
questionados. As transformaes sociais do ps-guerra, a Declarao dos Direitos
da Criana e dos Direitos do Homem, as Associaes de Pais ento criadas e a
mudana de filosofia relativamente educao especial, que estiveram na origem
da fase da integrao, contriburam para perspectivar a diferena com um outro
olhar.
Da segregao integrao
Vrios foram os factores que contriburam para questionar a institucionalizao
das pessoas deficientes. Entre outros, o desenvolvimento de associaes de
pais, deficientes e voluntrios, que reivindicaram, nomeadamente em nome
da Declarao dos Direitos do Homem e dos Direitos da Criana, a que no
foi alheia a luta das minorias pelos seus direitos, lugar na sociedade para os
deficientes. A consciencializao, por parte da sociedade, da desumanizao, da
fraca qualidade de atendimento nas instituies e do seu custo elevado, das longas
listas de espera, das investigaes sobre as atitudes negativas da sociedade para
com os marginalizados e dos avanos cientficos de algumas cincias, permitiu
perspectivar, do ponto de vista educativo e social, a integrao das crianas e
dos jovens com deficincia (Jimnez, 1997), qual estava subjacente o direito
educao, igualdade de oportunidades e ao de participar na sociedade. Para tal,
Revista Lusfona de Educao
revistaEDU13FINALfinal2.indd 138 23-06-2009 15:35:02
Silva: Da Excluso Incluso
139
defendia-se um atendimento educativo diferenciado e individualizado, de forma a
que cada aluno pudesse atingir metas semelhantes, o que implicava a necessidade
de adequar mtodos de ensino, meios pedaggicos, currculos, recursos humanos
e materiais, bem como os espaos educativos, tendo em conta que a interveno
junto destes alunos, respeitando a sua individualidade, deveria ser to precoce
quanto possvel e envolver a participao das famlias.
integrao subsistiu o princpio da normalizao, definida, nos finais da
dcada de cinquenta do sculo XX, por Bank-Mikkelson, director dos Servios
para Deficientes Mentais da Dinamarca e, posteriormente, includo na legislao
daquele pas, como a possibilidade de que o deficiente mental desenvolva um
tipo de vida to normal quanto possvel. Nirje (1969), director da Associao
Sueca Pr Crianas Deficientes, perspectivou este conceito de um modo mais
abrangente, defendendo a introduo de normas o mais parecidas possvel com as
que a sociedade considerava como adequadas na vida diria do subnormal, como
designou as pessoas com deficincia (Jimnez, 1997).
O conceito de normalizao estendeu-se a outros pases da Europa e Amrica
do Norte nos anos setenta do sculo XX, nomeadamente atravs de Wolfensberger
(1972), no Canad. Normalizar, na famlia, na educao, na formao profissional,
no trabalho e na segurana social, consistia, assim, em reconhecer s pessoas com
deficincia os mesmos direitos dos outros cidados do mesmo grupo etrio, em
aceit-los de acordo com a sua especificidade prpria, proporcionando-lhes servios
da comunidade que contribussem para desenvolver as suas possibilidades, de
modo a que os seus comportamentos se aproximassem dos modelos considerados
normais.
A integrao escolar decorreu da aplicao do princpio de normalizao
e, nesse sentido, a educao das crianas e dos alunos com deficincia deveria
ser feita em instituies de educao e de ensino regular. A integrao escolar
comeou a ser uma prtica corrente nos pases da Europa do Norte nos anos
50 e 60 e. nos E.U.A., a partir de 1975, aps a aprovao pelo Congresso da
Public Law 94-142 (The Education for All Handicapped Children Act) 5. Esta
lei defendia educao pblica e gratuita para todos os alunos com deficincia,
avaliao exaustiva e prticas no discriminatrias quer cultural quer racialmente,
a colocao dos alunos num meio o menos restritivo possvel, a elaborao de
planos educativos individualizados que deveriam ser revistos anualmente pelos
professores, encarregados de educao e rgos de gesto da escola, a formao
de professores e outros tcnicos e o envolvimento das famlias no processo
educativo dos seus educandos (Correia, 1991). A sua reviso, em 1990, que lhe
alterou o nome para Individuals with Disabilities Education Act, incluiu mais duas
categorias que no tinham sido contempladas no anterior documento: autismo
e traumatismo craniano, a utilizao do termo disability como substituto de
handicape a obrigatoriedade de as escolas se envolverem na transio dos seus
alunos para a vida activa (idem).
Revista Lusfona de Educao
revistaEDU13FINALfinal2.indd 139 23-06-2009 15:35:03
Revista Lusfona de Educao, 13, 2009
140
Em Inglaterra, com o Warnok Report Special Education Needs, publicado em
1978 e legislado em 1981 pelo Education Act, deu-se mais um passo de enorme
relevo relativamente integrao escolar. De acordo com este documento, as
dificuldades de aprendizagem que se verificavam em uma de cada cinco crianas
dependiam de vrios factores e no significavam necessariamente uma deficincia,
podendo, no entanto, agravar-se, se no houvesse uma interveno educativa
adequada. Nesse sentido, propunha-se que fosse feita uma reavaliao dos alunos
que estavam em escolas do ensino especial, que os professores do ensino regular
fossem consciencializados relativamente integrao escolar e que se tivesse em
conta a importncia da articulao entre os diversos actores que interferiam no
processo educativo destas crianas.
Porm, o maior contributo do Relatrio Warnock consistiu na introduo do
conceito de necessidades educativas especiais, o que representou um contraponto
s categorizaes existentes at ento, que eram, sobretudo, do foro mdico e
psicolgico. De acordo com este documento e, em conformidade com o Education
Act, um aluno tem necessidades educativas especiais quando, comparativamente
com os alunos da sua idade, apresenta dificuldades significativamente maiores
para aprender ou tem algum problema de ordem fsica, sensorial, intelectual,
emocional ou social, ou uma combinao destas problemticas, a que os meios
educativos geralmente existentes nas escolas no conseguem responder, sendo
necessrio recorrer a currculos especiais ou a condies de aprendizagem
adaptadas (Brennan, 1990). Acentuava-se, por conseguinte, aquilo de que os alunos
precisavam, em contexto escolar, para obviar s suas dificuldades em aprender
e a responsabilidade da escola em fornecer os meios que facilitariam o acesso
aprendizagem, os quais consistiam
no fornecimento de meios especiais de acesso ao curriculum atravs de
equipamento, instalaes ou recursos, modificaes do meio fsico ou tcnicas
de ensino especial; acesso a um curriculum especial ou adaptado; ateno
especial estrutura social e ao clima emocional nos quais se processava a
educao. (Relatrio Warnock, 1978: 3.40).
A integrao, conceito a que esto subjacentes trs dimenses - scio-tica,
jurdico-legislativa e psicolgica-educacional - (Bayliss, 1995, citado por Bairro,
1998), fundamentou-se em pressupostos, segundo os quais todos os indivduos
se desenvolvem atravs da mesma sequncia de estdios, independentemente das
dificuldades que apresentem, dependendo o seu desenvolvimento dos mesmos
factores necessrios a todas as pessoas: ambiente precoce rico, estimulante e
abundante (Hunt), ambiente de aprendizagem activo, incluindo uma forte nfase
na prtica e participao a partir dos primeiros anos e da em diante (Piaget e
Bruner) (Sprinthall & Sprinthall, 1993: 570).
Historicamente, a integrao escolar das crianas e jovens com NEE pode
ser vista tendo em conta dois momentos: a interveno centrada no aluno e a
Revista Lusfona de Educao
revistaEDU13FINALfinal2.indd 140 23-06-2009 15:35:03
Silva: Da Excluso Incluso
141
interveno centrada na escola. As primeiras experincias de integrao destes
alunos em classes regulares corresponderam interveno centrada no aluno. O
apoio decorria em salas prprias para o efeito, aps um diagnstico do foro mdico
ou psicolgico. Era equacionado de modo a no provocar qualquer perturbao na
turma do ensino regular, nomeadamente porque a permanncia destes alunos na
escola no acarretava mudanas a nvel do currculo, nem a nvel das estratgias
pedaggicas utilizadas. A interveno estava a cargo de professores especialistas,
de psiclogos e de terapeutas.
Na dcada de 80 do sculo XX, com os trabalhos desenvolvidos no mbito do
Ano Internacional do Deficiente (1981) reconheceu-se o direito igualdade de
oportunidades, o direito integrao e o direito normalizao das crianas e
dos jovens deficientes, isto , a sua plena participao numa sociedade para todos,
o que correspondeu interveno centrada na escola. As causas dos problemas
educativos comearam a ser perspectivadas, no em termos do indivduo, mas em
termos da situao educativa, esta considerada globalmente. O esforo de mudana
passou a centrar-se na problemtica mais alargada do ensino e da aprendizagem.
Pedia-se escola que respondesse individualidade de cada aluno e s necessidades
educativas especiais de cada um. Privilegiou-se o papel do professor do ensino
regular, o professor especialista passou a ser considerado como mais um recurso
da escola. O encaminhamento para uma instituio de educao especial s deveria
ser feito em ltima anlise, esgotada a capacidade de resposta no ensino regular.
O processo de integrao no sistema regular de ensino teve assim, como
objectivo, normalizar o indivduo, a nvel fsico, funcional e social, pressupondo a
proximidade fsica, a interaco, a assimilao e a aceitao.
Embora tenham ocorrido algumas experincias pontuais nos anos sessenta
deste sculo, s a partir dos anos setenta do mesmo que comeou a surgir
legislao, em Portugal, que foi definindo, a pouco e pouco, o regime de integrao
progressiva de alunos cegos, surdos e deficientes motores, primeiro nos ensinos
preparatrio (actual 2 Ciclo) e secundrio e s um ano depois no ensino primrio,
como ento se designava o 1 Ciclo de escolaridade. tambm nesta dcada que
as classes especiais, criadas pelo Instituto Antnio Aurlio da Costa Ferreira, em
1944, foram transformadas em salas de apoio, nas quais, como o prprio nome
indica, professores especializados atendiam os alunos com necessidades educativas
especficas, que estavam integrados em turmas de ensino regular.
A entrada de Portugal na actual Unio Europeia, em 1986, a publicao da Lei
de Bases do Sistema Educativo em 14 de Outubro de 1986, o DL 3/87, de 3 de
Janeiro, que estabeleceu a regionalizao dos servios do Ministrio da Educao, e
a Reforma do Sistema Educativo, foram acontecimentos particularmente relevantes
para a educao especial. A entrada para a ento Comunidade Econmica Europeia
traduziu-se em apoios tcnicos e financeiros. A Lei de Bases do Sistema Educativo
consagrou a educao especial como uma modalidade de educao. O DL 3/87, de
3 de Janeiro, regionalizou os servios do Ministrio da Educao, criando Direces
Revista Lusfona de Educao
revistaEDU13FINALfinal2.indd 141 23-06-2009 15:35:03
Revista Lusfona de Educao, 13, 2009
142
Regionais de Educao, que ficaram, entre outras incumbncias, com as estruturas
de educao especial a seu cargo.
Em 1988, a oficializao das Equipas de Educao Especial, caracterizadas como
servios de educao especial a nvel local, cujas funes consistiam no despiste,
observao e encaminhamento, desenvolvendo atendimento directo, em moldes
adequados, de crianas e jovens com necessidades educativas decorrentes de
problemas fsicos e psquicos (Despacho Conjunto 36/SEAM/SERE, de 17/08) e a
escolaridade obrigatria para todos os alunos, instituda pelo DL 35/90, de 25 de
Janeiro, constituram tambm marcos significativos para o processo de integrao..
Este documento, reconhecendo que a taxa de escolarizao destes alunos era
muito baixa, props como medidas, o seu alargamento a todos os estabelecimentos
dependentes de instituies pblicas, privadas e cooperativas de educao especial,
o princpio da gratuitidade consagrado para o ensino bsico, bem como reforo de
apoio social aos alunos e s suas famlias.
de referir que na dcada de oitenta do sculo XX, proliferaram servios
no mbito das dificuldades de aprendizagem ou mesmo da deficincia, de que os
Servios de Apoio s Dificuldades de Aprendizagem, mais tarde convertidos em
Unidades de Orientao Educativa, as classes de apoio pedaggico sob a tutela
do Instituto Antnio Aurlio da Costa Ferreira, as Equipas de Educao Integrada,
posteriormente convertidas em Equipas de Educao Especial, e os Ncleos de
Apoio Deficincia Auditiva e Deficincia Visual so alguns exemplos.
No entanto, o documento mais significativo da integrao em Portugal foi o
DL 319/91, de 23 de Agosto, regulamentado, posteriormente, pelo Despacho 173/
ME/91, de 23 de Outubro. semelhana do Warnok Report introduziu o conceito
de necessidades educativas especiais, permanentes ou temporrias, que substituiu
as categorizaes do foro mdico at ento utilizadas. Responsabilizou a escola
do ensino regular pela educao de todos os alunos, e atribuiu um papel mais
explcito aos pais na orientao educativa dos seus filhos. Este documento definiu,
pela primeira vez, um conjunto de medidas a aplicar aos alunos com necessidades
educativas especiais 6, as quais deveriam ser expressas num Plano Educativo
Individual que, nas situaes mais complexas, remetia para a medida ensino
especial e para um Programa Educativo. O encaminhamento para uma instituio
de educao especial, tambm previsto, era o ltimo dos recursos e s deveria ter
lugar quando a escola comprovadamente no tivesse capacidade de resposta.
A integrao, em Portugal, inseriu-se dentro da poltica de integrao da
Unio Europeia, que se perspectivou de acordo com trs tendncias: a que partiu
do princpio de que a escola regular deveria organizar-se de modo a atender
as necessidades individuais de todos os seus alunos 7, a que considerou que a
integrao era um factor de normalizao que no era exclusivo da escola regular 8
e a que defendeu os dois sistemas 9 (Gaspar, 1995). Teve incio em 1981, no Ano
Internacional do Deficiente, embora s em 1990 se tenham tomado medidas mais
generalizadas a este respeito.
Revista Lusfona de Educao
revistaEDU13FINALfinal2.indd 142 23-06-2009 15:35:04
Silva: Da Excluso Incluso
143
As questes relativas deficincia saram, assim, da esfera da religio e do
misticismo para a cincia, passando a ser perspectivadas no como um atributo
divino mas como um desvio biolgico e, nesse sentido, o seu tratamento implicava
a reabilitao e a educao (Pessoti, 1984), de acordo com um padro estabelecido
como norma. Os conceitos de normalidade e de reabilitao estiveram, deste
modo, na gnese de medidas e de prticas de integrao, a qual partiu do princpio
que deveria ser a pessoa com deficincia a modificar-se, segundo os padres
vigentes na sociedade.
Apesar do ntido progresso em relao s atitudes e s prticas de segregao
do passado, estas formas de participao social e educativa s responderam em
parte aos direitos destas pessoas, na medida em que exigiam pouco da sociedade.
Em termos educativos, a investigao a este propsito (Sameroff & Mackenzie, 2003;
Zipper, 2004, citados por Bairro, 2004) veio comprovar que o comportamento dos
alunos com necessidades educativas especiais muda em funo das expectativas
das pessoas que cuidam deles e, tambm, quando interagem com pares a quem, por
sua vez, vo modificar o comportamento.
Os modelos ecolgico-sistmicos e transacionais vieram revelar que o desen-
volvimento humano s se entende e evolui de forma contextualizada, o que
sustenta a fundamentao do modelo inclusivo de educao, na medida em
que as crianas aprendem, sobretudo quando se actua sobre o meio ambiente
por forma a que encontrem oportunidades de aprendizagem ricas, adultos
envolventes e pares estimulantes e organizadores. (Bairro, 2004: 14).
Estas perspectivas conduzem a um novo olhar sobre as teorias do handicap
biolgico, na medida em que no deixam margem de dvida para o papel da
sociedade, a quem compete introduzir modificaes e adaptaes, de modo
a acolher todos os que dela possam estar excludos, por motivos econmicos,
culturais, tnicos, polticos, intelectuais, religiosos ou outros.
Da integrao incluso
Ao declarar o ano de 1981 como o Ano Internacional das Pessoas com
Deficincia, a Organizao das Naes Unidas e a Carta para os Anos 80, proclamada
pela Rehabilitation International e recomendada pela Assembleia Geral das Naes
Unidas, contriburam para o aprofundamento das concepes e das prticas
relativamente incluso social. Esta Carta de princpios sobre as prioridades
internacionais, desenvolvida com base numa ampla consulta a nvel internacional
relativamente deficincia, preveno e reabilitao, definiu, como metas a atingir,
a participao total e a igualdade para as pessoas deficientes de todo o mundo, ou
seja o direito de partilhar a vida social normal da sua comunidade, com tudo o que
lhe est subjacente.
Revista Lusfona de Educao
revistaEDU13FINALfinal2.indd 143 23-06-2009 15:35:04
Revista Lusfona de Educao, 13, 2009
144
As Naes Unidas, com base nesta Carta, desenvolveram, por seu lado, um
Programa Mundial de Aco relativo s Pessoas Deficientes, defendendo que
o princpio da igualdade de direitos entre deficientes e no deficientes implica
que as necessidades de cada indivduo tenham igual importncia, que essas
necessidades devero constituir a base do planeamento das sociedades e
que todos os recursos devem ser empregues de modo a garantir a todo o
indivduo igual oportunidade de participao. As polticas para o deficiente
deveriam garantir o seu acesso a todos os servios comunitrios. (Programa
Mundial de Aco para as pessoas deficientes, ponto 25)
A aceitao e a valorizao da diversidade, a cooperao entre diferentes e a
aprendizagem da multiplicidade so, assim, valores que norteiam a incluso social,
entendida como o processo pelo qual a sociedade se adapta de forma a poder
incluir, em todos os seus sistemas, pessoas com necessidades especiais e, em
simultneo, estas se preparam para assumir o seu papel na sociedade.
O percurso at incluso passou por um conjunto de decises e medidas
tomadas no seio de organizaes e agncias internacionais, como as Naes Unidas
e a Unesco, que tiveram extraordinria importncia na introduo progressiva
de polticas sociais favorveis sua implementao. De referir, neste sentido, a
Declarao Mundial sobre Educao para Todos, realizada em Jomtien, na Tailndia,
em 1990 10 e, em particular, a Conferncia Mundial sobre Necessidades Educativas
Especiais: Acesso e Qualidade, em 1994, organizada pelo governo de Espanha
em cooperao com a Unesco, que decorreu em Salamanca 11, a Cimeira Mundial
sobre Desenvolvimento Social, que aconteceu em Copenhaga, em 1995, o Frum
Mundial de Educao que teve lugar em Dakar, em 2000 12, a Declarao de Madrid,
em 2002, na sequncia do Ano Europeu das Pessoas com Deficincia 13 e, mais
recentemente, a Declarao de Lisboa, em 2007. Esta Declarao decorreu da
audio parlamentar Young Voices: Meeting Diversity in Education, no quadro
da presidncia portuguesa da Unio Europeia, que a organizou com a Agncia
Europeia para o Desenvolvimento em Necessidades Especiais de Educao 14.
A nvel educativo, os antecedentes da incluso remontam a 1986, quando
Madeleine Will, na altura Secretria de Estado para a Educao Especial do
Departamento de Educao dos EUA, preocupada com o elevado nmero de
alunos matriculados nas escolas pblicas que apresentavam necessidades educativas
especiais (10%) e com dificuldades de aprendizagem e/ou de comportamento (10 a
20%), fez um discurso apelando implementao de novas estratgias relativamente
a estes alunos. Estas estratgias passavam, entre outras medidas, pela cooperao
entre os professores do ensino regular e os do ensino especial, que permitisse
uma avaliao das dificuldades de cada aluno e o recurso a medidas educativas que
se julgassem mais adequadas para cada situao. Nasceu, assim, um movimento, o
Regular Education Iniciative, segundo o qual e, na perspectiva de Madeleine Will, a
classe do ensino regular deveria adaptar-se de forma a que os alunos da educao
Revista Lusfona de Educao
revistaEDU13FINALfinal2.indd 144 23-06-2009 15:35:04
Silva: Da Excluso Incluso
145
especial fossem atendidos nas salas do ensino regular, sempre que possvel, com
a colaborao da educao especial e de outros servios especializados (Correia,
1997).
O movimento a favor da incluso foi fortemente impulsionado pela Declarao
de Salamanca, aprovada pelos representantes de vrios pases e organizaes
internacionais, em 1994, a que j nos referimos atrs. Defendendo que
a escola regular deve ajustar-se a todas as crianas independentemente das
suas condies fsicas, sociais, lingusticas ou outras, isto , crianas com
deficincia ou sobredotadas, crianas de rua ou crianas que trabalham, crian-
as de populaes imigradas ou nmadas, crianas pertencentes a minorias
lingusticas, tnicas ou culturais e crianas de reas ou grupos desfavorecidos
ou marginais. (UNESCO, 1994: 6).
Este documento contribuiu decisivamente para perspectivar a educao de
todos os alunos em termos das suas potencialidades e capacidades, para o que,
currculos, estratgias pedaggicas e recursos a utilizar adequados, organizao
escolar facilitadora destas medidas e da cooperao entre docentes e comunidade,
so condies fundamentais a ter em conta.
Segundo a European Agency for Development in Special Needs Education
(2003), verificam-se, na Europa, trs tendncias relativamente poltica de incluso
escolar dos alunos com necessidades educativas especiais: a One Track Approach,
onde se inserem pases que desenvolvem polticas e prticas orientadas para a
incluso no ensino regular de quase todos os alunos 15, a Multi Track Approach,
prpria dos pases que seguem uma abordagem mltipla para a incluso 16 e a Two
Track Approach, que se caracteriza pela existncia de dois sistemas educativos
distintos 17.
Em Portugal, o Despacho 105/97, de 1 de Julho, fundamentando-se no modelo
canadiano de mtodos e meios (Porter, 1991), apontava, pela primeira vez, para
uma filosofia de escola inclusiva. Entre outras orientaes, definia o perfil e
as funes dos professores de apoio educativo, designao que introduziu para
substituir a de professor de educao especial, utilizada at ento. Estes docentes,
embora pertencessem administrativamente s escolas onde eram colocados por
destacamento, dependiam pedagogicamente das equipas de coordenao de apoios
educativos, constitudas por dois ou trs professores colocados por concurso
pblico. Estas equipas, que eram uma extenso no terreno das respectivas Direces
Regionais de Educao a que pertenciam, abrangiam as escolas do ensino bsico
e secundrio da rede pblica bem como os jardins de infncia da rede pblica e
privada de uma determinada rea geogrfica.
A reformulao deste documento, em 2005, alterou para professores de
educao especial, de novo, a designao que o Despacho atrs referido tinha
introduzido, embora explicitasse claramente a inteno de uma escola inclusiva.
Estes professores passaram a concorrer a agrupamentos de escolas, entretanto
criados, ficando a sua colocao responsabilidade dos conselhos executivos
Revista Lusfona de Educao
revistaEDU13FINALfinal2.indd 145 23-06-2009 15:35:04
Revista Lusfona de Educao, 13, 2009
146
respectivos. Esta situao alterou-se em 2006, com a criao de um quadro de
professores de educao especial, que pertencem a um grupo de docncia gerido
pelo agrupamento de escolas onde so colocados por concurso pblico e, nalguns
casos especiais por destacamento, por um perodo mnimo de trs anos.
Estas medidas integram-se no quadro geral legislativo que tem sido produzido,
de que os documentos relativos autonomia das escolas, gesto flexvel do
currculo, ao projecto educativo da escola e ao projecto curricular de turma,
organizao dos estabelecimentos de ensino em agrupamentos verticais, ao apoio
a alunos com dificuldades de aprendizagem e, muito recentemente, educao
especial 18, so alguns dos exemplos.
Do ponto de vista legislativo, tm-se criado, em Portugal, condies para que
todos os alunos, mesmo os que tm problemticas mais complexas, como o caso
da multideficincia, da surdocegueira e das perturbaes do espectro do autismo,
possam frequentar a escola regular. Nesse sentido, foram criadas Unidades de
Atendimento para estes alunos, que so, na sua essncia, salas de recursos para
toda a escola. Estas unidades so intervencionadas, tambm, na generalidade das
situaes, por tcnicos da rea da sade e da reabilitao, a partir de projectos de
parceria que algumas instituies fizeram com os agrupamentos de escolas e com
as equipas de coordenao de apoios educativos, enquanto estas existiram, e que
actualmente esto enquadradas legalmente pelo DL 3/08, de 7/01, que as considera
como uma das modalidades especficas de educao 19. Designadas como unidades
de ensino estruturado para alunos com perturbaes do espectro do autismo
e como unidades de apoio a alunos com multideficincia e com surdocegueira
congnita, so criadas, de acordo com este documento, por despacho do director
regional de educao da respectiva direco regional de educao, por proposta
do conselho executivo do agrupamento de escolas que pretende implement-las,
ouvido o conselho pedaggico respectivo (DL 3/08, de 7/01).
Desde 1997, com a publicao do Despacho 105/97, de 1/07, que a incluso
escolar uma inteno, ainda que este documento apenas a apontasse
implicitamente. Assistiu-se, no entanto, a alguns desvios quanto s designaes
que os sucessivos Normativos foram adoptando, como j referimos atrs, que,
em termos conceptuais, podem ser significativos, embora sejam coerentes com
o enquadramento em que se inserem. O apoio educativo e os professores de apoio
educativo, como a Declarao de Salamanca os definia e como eram designados no
Despacho 105/97, de 1/07, deram, assim, lugar aos professores de educao especial
e educao especial, em consonncia, de resto, com a estruturao da Direco
Geral de Inovao e Desenvolvimento Curricular, em Maro de 2007, em quatro
Direces de Servios, uma das quais a Direco de Servios de Educao
Especial e de Apoios Scio-Educativo.
O conceito de educao especial, conquanto que enquadrado num propsito
de incluso, como o caso do DL 3/08, de 7/01, implica um subsistema dentro de
um sistema e, nesse sentido, remete-nos para uma abordagem multitrack aproach,
Revista Lusfona de Educao
revistaEDU13FINALfinal2.indd 146 23-06-2009 15:35:05
Silva: Da Excluso Incluso
147
desviando-se da concepo anteriormente adoptada, que vinha na linha seguida no
mbito da integrao, a one track approach (European Agency for Development
in Special Needs Education, 2004).
Embora esta seja uma das tendncias a nvel europeu que, de acordo com a
mesma fonte, tenda a ser a mais adoptada.
(...) estar includo muito mais do que uma presena fsica: um sentimento
e uma prtica mtua de pertena entre a escola e a criana, isto , o jovem
sentir que pertence escola e a escola sentir que responsvel por ele
(Rodrigues, 2003: 95).
Neste sentido, a interveno, em nome da incluso, pode tender a centrar-se
no aluno, tal como o modelo de integrao preconizava, mantendo-se, deste modo,
prticas que, ao invs de contriburem para a incluso, podem ser excludentes.
Colocar alunos em contextos separados de aprendizagem, na base do apoio
assegurado por professores de educao especial, negar a esses alunos a
oportunidade de poderem, no contexto da turma, interagir com os colegas
e a desenvolverem as competncias acadmicas e sociais que s esses con-
textos proporcionam. (Leito, 2006: 12).
evidente que sem a existncia de certos recursos, como o caso das unidades
de ensino estruturado ou de apoio, dificilmente alguns dos alunos que as integram
poderiam estar no ensino regular, atendendo especificidade das problemticas
que tm. No entanto, numa perspectiva de escola inclusiva, importante que
estas salas onde as referidas unidades se situam sejam percepcionadas como um
recurso que est ao servio da comunidade escolar e que os alunos para quem
foram criadas faam as actividades que so capazes de realizar nas suas turmas de
origem, com os seus colegas do ensino regular, como a legislao, alis, prev. De
outro modo, corre-se o risco de estas unidades serem entendidas como salas de
como, de resto, j acontece com mais frequncia do que seria desejvel 20. E nesse
sentido que, em nome da incluso, podem fomentar-se prticas de excluso.
Incluso educativa e educao inclusiva
Incluso educativa e educao inclusiva correspondem a processos diferentes
no que diz respeito s prticas que lhes do suporte. Como temos vindo a referir,
no restam dvidas quanto ao propsito da legislao portuguesa no que diz
respeito incluso escolar dos alunos com necessidades educativas especiais.
Para alm das modalidades especficas de educao que j referimos, tambm
o DL 3/08, de 7/01, semelhana do DL 319/91, de 23/08, que foi revogado,
define as medidas educativas para estes alunos: apoio pedaggico personalizado,
adequaes curriculares individuais, adequaes no processo de matrcula e de
avaliao, currculo especfico individual e tecnologias de apoio, medidas que no
so particularmente diferentes das que o anterior decreto consignava.
Revista Lusfona de Educao
revistaEDU13FINALfinal2.indd 147 23-06-2009 15:35:05
Revista Lusfona de Educao, 13, 2009
148
A educao inclusiva parte do pressuposto de que todos os alunos esto
na escola para aprender e, por isso, participam e interagem uns com os outros,
independentemente das dificuldades mais ou menos complexas que alguns possam
evidenciar e s quais cabe escola adaptar-se, nomeadamente porque esta atitude
constitui um desafio que cria novas situaes de aprendizagem. Nesse sentido,
a diferena um valor (Ainscow, 1998) e a escola um lugar que proporciona
interaco de aprendizagens significativas a todos os seus alunos, baseadas na
cooperao e na diferenciao inclusiva.
educao inclusiva est subjacente a atitude com que se perspectiva tal
como a prtica pedaggica dos professores e a organizao e gesto da escola
e das turmas. No que diz respeito atitude, o modo como se perspectivam e
prospectivam as necessidades especiais determinante para o percurso dos
alunos. Quanto prtica pedaggica dos professores, a flexibilizao curricular
e a pedagogia diferenciada centrada na cooperao, bem como estratgias como
a aprendizagem cooperativa, so medidas que permitem dar resposta a todos os
alunos, no contexto do seu grupo-turma.
Medidas como estas, que passam por atitudes, s quais, obviamente, esto
inerentes valores e, por prticas que esto em consonncia com esses valores,
implicam que a escola esteja ou se organize neste sentido. assim que a liderana
dos rgos de gesto, que promove ou no a cooperao entre professores, os
alunos e os encarregados de educao, e sabe gerir ou no as parcerias com outras
instituies da comunidade onde est inserida e outras necessrias, como as da
rea da sade e da psicologia, fundamental para a construo da escola inclusiva,
desde logo, e para a implementao da educao inclusiva ou, pelo contrrio, para
a manuteno de uma escola que, em nome da incluso, mantm e refora prticas
segregativas.
No entanto,
trabalhar com todos os alunos, no mesmo espao, ainda que em cooperao
com a educao especial e outros tcnicos, no uma tarefa linear, que pos-
sa ser implementada sem uma retaguarda de suporte que ajude reflexo
sobre o processo. Na ausncia de apoio s dificuldades que vo sentindo, as
escolas vo respondendo como sabem e como podem a populaes cada
vez mais diversificadas, como resultado da emigrao que tem havido nos
ltimos anos. Encontrar, no mesmo espao, crianas portuguesas, brasileiras,
orientais, africanas, da Europa de leste, algumas das quais no falam portugus,
uma situao comum. Responder a estes e queles que de entre estes tm
necessidades educativas especiais, numa perspectiva de educao inclusiva,
sendo um desafio que indiscutivelmente contribui para a melhoria do ensino,
uma competncia indiscutivelmente difcil. (Silva, 2007).
por esta razo que a formao contnua de professores, neste mbito,
fundamental para que no se continue a trabalhar, na melhor das intenes, com
os alunos, famlias e comunidade, sem grande preocupao com o enquadramento
Revista Lusfona de Educao
revistaEDU13FINALfinal2.indd 148 23-06-2009 15:35:05
Silva: Da Excluso Incluso
149
dessa interveno. No entanto, no chega ficar por aces de formao compactadas,
dirigidas para certos aspectos, de que a utilizao da Classificao Internacional
de Funcionalidade, Incapacidade e Sade constitui um bom exemplo. A incluso
escolar vai muito para alm da referenciao das necessidades educativas especiais
dos alunos e da implementao de programas especficos, ainda que estes tenham
responsveis pela sua aplicao e avaliao. Os aspectos prticos e imediatos que
resultam da legislao nova que apela ao desempenho de competncias especficas
tm de ser alvo de sesses de formao isso indiscutvel. Mas, ficar por aqui
insuficiente. So demasiadas as questes que problemticas como as perturbaes
do espectro do autismo, a multideficincia e a surdocegueira levantam a nvel da
prtica a que obrigam, sobretudo se a escola tiver em conta que a mesma no deve
ser desenvolvida descontextualizada do projecto de vida que se pretende para
cada um desses alunos, de acordo com as suas potencialidades, as possibilidades
das famlias e a capacidade de resposta que as escolas tm. E nesse sentido,
importante ouvir os professores e perceber as dificuldades com que se confrontam,
que so prprias de cada contexto onde ocorrem.
A anlise de necessidades: uma estratgia de formao
para a incluso escolar
A incluso escolar dos alunos com necessidades educativas especiais e, na
verdade, quando falamos de incluso no seria necessrio estar a especificar
qualquer populao, no depende nem se restringe, naturalmente, formao
contnua dos professores. No entanto, esta um dos factores fundamentais para
a sua implementao, como a investigao comprovou relativamente integrao
e como tem vindo a comprovar no que diz respeito incluso (Vieira, 1995;
Madureira, 1997; Leite, 1997; Correia 1997, citados por Silva, 2001); Rodrigues,
2006; Silva, 2005; 2007)
Alguns resultados tm mostrado que os professores se sentem desconfortveis,
inseguros e ansiosos quando tm de lidar com alunos diferentes (Sprinthall &
Spinthall, 1993; Vayer e Rocin, 1992; Glat, 1995; Bruce e Bergen, 1997, citados por
Silva, 2001) e, nesse sentido, a sua resistncia (Silva, 2007) incluso pode estar
relacionada com a falta de preparao que dizem ter (Godofredo, 1992, citada por
Glat, 1995; Correia, 1997; Bruce e Bergen, 1997; Ainscow, 1998).
A valorizao de estratgias de formao e de ensino tradicionais, a dificuldade
na operacionalizao de prticas diferentes das habitualmente relacionadas com o
ensino tradicional e a insegurana relativamente implementao de estratgias
activas de aprendizagem so, assim, valores e prticas relativamente incluso,
que alguma pesquisa tem evidenciado (Almeida & Rodrigues, 2006). Os resultados
da investigao a propsito da relevncia da formao contnua, dizem-nos, por
outro lado, que esta contribui para uma mudana de atitude em relao aos alunos
com NEE (Sprinthall & Sprinthall, 1993; Siegel, Janna, Jausovec e Norbert, 1994;
Malouf, 1995; Bergen e Bruce, 1997, citados por Silva, 2001), para o aumento da
Revista Lusfona de Educao
revistaEDU13FINALfinal2.indd 149 23-06-2009 15:35:06
Revista Lusfona de Educao, 13, 2009
150
auto-confiana dos professores (Larivee, 1981, citado por Vieira, 1995; Smith, 1987,
citados por Silva, 2001), para a aquisio de competncias no desempenho da
prtica pedaggica (Sprinthall & Sprinthall, 1993; Malouf, 1995, citados por Silva, 2001)
e para o desenvolvimento de conhecimentos (Yap, 1992, citado por Silva, 2001).
Atitudes de receio, resistncia e preocupao, que os professores se auto-
atribuem, bem como de indiferena por aprendizagens formais, de indisciplina e
de alheamento, que atribuem aos alunos com necessidades educativas especiais,
dificuldades na prtica pedaggica como identificar e avaliar necessidades
educativas especiais, enquadrar legal e conceptualmente estas situaes e, mais
operacionalmente, planificar as aulas tendo em conta os alunos que seguem o
currculo comum, os que tm adequaes curriculares individuais e, nalguns casos,
currculos especficos individuais 21, o que implica perceber capacidades para
preparar actividades, seleccionar contedos e articular com outros intervenientes,
que dizem sentir, evidenciam a importncia de reflexo sobre estas questes, a
nvel da formao (Silva, 2001, 2007).
No entanto, tambm como a investigao a este respeito tem mostrado, esta
deve respeitar os interesses, as motivaes, os desejos, no limite, as expectativas
dos professores, cumprindo, assim, o princpio bsico da formao de adultos
(Charlot, 1976). Nesse sentido, a anlise de necessidades uma estratgia que
contribui para pr em evidncia e reflectir sobre questes subjacentes incluso,
envolvendo os professores ao longo do processo em que decorre.
Esta modalidade de formao perspectiva-se segundo duas lgicas, que assentam
em paradigmas diferentes: o do crescimento e o de resoluo de problemas (raut,
1984, citado por Silva, 2001). De acordo com o primeiro, as necessidades so
familiares ao formador, que as ajusta com os professores, decorrendo o programa
de formao desta regulao. Todos os momentos do processo da identificao
regulao porque envolvem a reflexo sobre dificuldades ou mesmo sobre
expectativas relativamente formao, so formativos. Na ptica do paradigma
de resoluo de problemas, as necessidades emergem, no correspondem
necessariamente a qualquer conceptualizao prvia do formador, cujo papel
o de despolet-las. Tm por base, de um modo geral, problemas para os quais
necessrio encontrar uma resposta. O programa de formao vai, assim, sendo
construdo.
As necessidades podem ser desejos, expectativas ou interesses, conforme
decorram da exigncia do funcionamento das organizaes, da expresso das
expectativas dos indivduos ou grupos e dos interesses sociais (Barbier e Lesne,
1977).
No que diz respeito s necessidades de formao dos professores, as mesmas
podem decorrer das exigncias do sistema educativo, definindo-se, assim, a partir
de lacunas e carncias ou a partir da introduo de inovaes, como o caso
da incluso escolar de alunos com NEE; da percepo dos docentes, o que as
remete para desejos, preferncias, expectativas ou problemas que os professores
encontram a nvel da sua prtica pedaggica e/ou a nvel da escola; das exigncias
Revista Lusfona de Educao
revistaEDU13FINALfinal2.indd 150 23-06-2009 15:35:06
Silva: Da Excluso Incluso
151
do sistema educativo e das percepes dos professores, caso em que a definio
do conceito de necessidades depende do problema em causa. Percebe-se, assim,
que esta modalidade de formao implica que se defina previamente o conceito
de necessidade que se toma como referncia, ao qual est subjacente o modelo da
sua determinao e os instrumentos que lhe do suporte.
Independentemente da perspectiva em que assente, a anlise de necessidades
de formao contribui para reflectir sobre vrias questes que a incluso, de
acordo com a investigao que tem sido feita a este propsito, levanta. Equacionar
a(s) resposta(s) a um problema ou devolver os dados para que sejam pensados, de
novo, tendo em vista a sua reformulao, so processos enriquecedores para todos,
porque permitem troca, partilha e reflexo sobre preocupaes muito prprias,
que os estdios de desenvolvimento da carreira docente ajudam a compreender
melhor. As diferentes preocupaes podem constituir um excelente ponto de
partida para perceber a diferena, o valor que a mesma encerra e a importncia
da sua desmistificao.
Como dissemos atrs, a incluso no depende, apenas, da formao de professores,
mas sem formao que contribua para atenuar receios e mitos socialmente
construdos e d segurana relativamente a prticas que necessariamente tm de
ser implementadas, dificilmente teremos uma escola para todos na sua verdadeira
acepo, isto , uma escola que responda aos seus alunos de acordo com as
potencialidades e as capacidades de cada um.
Notas
1
Associao Americana de Instrutores de Cegos, fundada em 1871; Associao Americana de Deficincia
Mental, que data de 1876.
2
Criadas por Ponce de Lon; Preire, LAbb de Lpe.
3
Criada por Valentin Hauy.
4
As classes de aperfeioamento surgem em Frana, em 1907, na sequncia da escolaridade obrigatria e
da escala mtrica da inteligncia, desenvolvida por Binet e Simon.
5
A Lei Federal (Public Law 94-142) definida, de acordo com Sprinthall & Sprinthall (1993:559), como a
Magna Carta da educao para todas as crianas que tm sido excludas das classes normais em funo
da sua condio deficiente.
6
Artigo 2 - Medidas do Regime Educativo Especial, constitudas por a) Equipamentos especiais de com-
pensao; b) Adaptaes materiais; c) Adaptaes curriculares; d) Condies especiais de matrcula; e)
Condies especiais de frequncia; f) Condies de avaliao; g) Adequao na organizao das classes ou
turmas; h) Apoio pedaggico acrescido; i) Ensino Especial.
7
Reino Unido, Dinamarca, Itlia, Espanha, Grcia e Portugal.
8
Frana, Blgica e Luxemburgo.
9
Irlanda, Alemanha e Holanda.
10
De acordo com este documento, a escola regular constitui o meio mais eficaz para combater atitudes
discriminatrias, evitar o desajustamento dos alunos situao escolar, o desajustamento especfico
situao pedaggica e o desajustamento personalidade do professor.
11
De acordo com a Declarao de Salamanca, as diferenas humanas so normais, pelo que no devem ser
os alunos a adaptar-se ao ensino, mas o ensino a adaptar-se s suas necessidades.
12
Neste Frum, foi acordado que todas as pessoas tm o direito de beneficiar de uma educao que satisfa-
a as suas necessidades bsicas de aprendizagem, aprender e assimilar conhecimentos, aprender a fazer, a
conviver e a ser, uma educao que tenha como objectivo principal o desenvolvimento dos seus talentos,
das suas capacidades e da sua personalidade, tendo em vista a melhoria da sua vida.
Revista Lusfona de Educao
revistaEDU13FINALfinal2.indd 151 23-06-2009 15:35:06
Revista Lusfona de Educao, 13, 2009
152
13
A Declarao de Madrid enfoca a necessidade de igualdade de oportunidades e de acesso de todas as
pessoas, relativamente aos recursos da sociedade, tais como a educao inclusiva, as novas tecnologias,
a sade e os servios sociais, o desporto, actividades de lazer, bens e servios de defesa dos consumido-
res.
14
De acordo com o grupo de jovens que participou na Cimeira Compete-nos construir o nosso futuro. Temos
de remover barreiras dentro de ns e dos outros. Temos de crescer para alm da nossa deficincia ento o
mundo aceitar-nos- melhor.
15
Chipre, Espanha, Grcia, Islndia, Itlia, Noruega, Sucia, Portugal.
16
Dinamarca, Frana, Irlanda, Luxemburgo, ustria, Finlndia, Reino Unido, Letnia, Liechtenstein, Repblica
Checa, Estnia, Litunia, Polnia, Eslovquia, Eslovnia.
17
Blgica, Suia.
18
DL 3/08, de 7/01.
19
A educao e ensino bilingue de alunos surdos e a educao e ensino de alunos cegos e com baixa viso
so outras das modalidades especficas de educao definidas pelo DL 3/08, de 7/01.
20
A ttulo de exemplo, refere-se frequentemente as unidades para o ensino estruturado de alunos do es-
pectro do autismo como sala teacch.
21
De acordo com a terminologia do DL 3/08, de 7/01.
Referncias bibliogrficas
Ainscow, M. (1998). Necessidades Especiais na Sala da Aula um Guia para a Formao de Professores. Lisboa:
Instituto de Inovao Educacional.
Almeida, A. M. C & Rodrigues, D. (2006). A Percepo dos Professores do 1 CEB e Educadores de Infncia
sobre Valores Inclusivos e suas Prticas In D. Rodrigues (org.) Investigao em Educao Inclusiva. Cruz
Quebrada: Faculdade de Motricidade Humana, vol. 1.
Bairro, J. (2004). Prefcio In Pereira (2004) Polticas e Prticas Educativas O Caso da Educao Especial e do
Apoio Scio-Educativo nos anos 2002 a 2004. Lisboa: Fundao Liga Portuguesa dos Deficientes Motores.
Bairro, J et al. (1998). Os Alunos com Necessidades Educativas Espaciais: Subsdios para o Sistema de Educao.
Lisboa: Ministrio da Educao, Conselho Nacional de Educao.
Barbier, J. M. & Lesne, M. (1977). LAnalyse des Besoints en Formation. Champigny-sur-Marne: R. Jauze
Bergen, B. (1997). Teacher Attitudes Toward Included Special Education Students and Co-Teaching, In ERIC
Reports. Washington: US Department of Education.
Brennan, W. K. (1990). Curriculum for Special Needs. England: Milton Keynes.
Correia, L. M. (1991). Dificuldades de Aprendizagem: Contributos para a Clarificao e Unificao de Conceitos.
Porto: APPORT
Charlot, B. (1976). Ngotiation des Besoins: Ncssit ou Impasse? ducation Permanente, 34, 17-33.
Correia, L. M. (1990). Educao Especial em Portugal. Educao Especial e Reabilitao, vol 4, 60-65.
Correia, L. M. (1991). Dificuldades de Aprendizagem: Contributos para a Clarificao e Utilizao de Conceitos.
Porto: APPORT.
Correia, L. M. (1997). Alunos com Necessidades Educativas Especiais nas Classes Regulares. Porto:
Porto Edi-
tora.
European Agency for Development in Special Needs Education (2004). Special Education across Europe in
2003: Trends in 18 European Countries. Cord. EIJER (Ed). Dinamarca.
Gaspar, M. T. (1995). A Educao Especial nos Pases da Unio Europeia. Educao, 10, 70-78.
Glat, R. (1995). A Integrao Social dos Portadores de Deficincias: Uma Reflexo. Rio de Janeiro: Sette letras,
vol I.
Jimnez, R. B. (1997). Uma Escola para Todos: A Integrao Escolar. In Bautista (org) Necessidades Educativas
Especiais. Lisboa: Dinalivro.
Leito, F. R. (2006). Aprendizagem Cooperativa e Incluso. Lisboa: Edio do autor
Leito, F. R. (1980). Algumas Perspectivas Histricas sobre Educao Especial. Ludens, 4, 3.
Malouf, D. & Pilato (1991). The SNAP System for Inservice Training of Regular Educators. Final Project Re-
port. In ERIC Reports. Washington: U.S. Department of Education.
Mazzotta, M. (1986). Educao Escolar Comum ou Especial? So Paulo: Livraria Pioneira Editora.
Revista Lusfona de Educao
revistaEDU13FINALfinal2.indd 152 23-06-2009 15:35:07
Silva: Da Excluso Incluso
153
Nirge, B. (1969). The Normalization Principle and its Management Implications. In Kugel & Wolfensberger
(ed) Changing Patterns in Residential Services for the Mentally Retarded. Washington: US GPO
Pereira, F. (2004). Polticas e Prticas Educativas O Caso da Educao Especial e do Apoio Scio-Educativo nos anos
2002 a 2004. Lisboa: Fundao Liga Portuguesa dos Deficientes Motores
Pessoti, I. (1984). Deficincia Mental: da Superstio Cincia. So Paulo: EDUSP
Porter, G. (1991). The Methods and Resource Teacher: A Collaborative Consultant Model. In Changing Cana-
dian Schools. Canada: Toronto
Rodrigues, D. (1995). Dimenses da Metodologia de Interveno com Crianas com Necessidades educati-
vas especiais. A Inovao em Educao Especial. Lisboa: Sociedade Portuguesa de Cincias da Educao
Rodrigues, D. (Org.) (2003). Perspectivas sobre Incluso. Da Educao Sociedade. Porto: Porto Editora.
Rodrigues, D. (2006) (org). Investigao em Educao Inclusiva. Cruz Quebrada: Faculdade de Motricidade
Humana, vol 1.
Sanches, I. & Teodoro, A. (2006). Incluso Escolar: Conceitos, Perspectivas e Contributos. Revista Lusfona
de Educao, 8, 63-83.
Siegel, Janna, Jausovec & Norbert (1994). Improving Teachers Attitudes toward Students with Disabilities. In
ERIC Reports. Washington: US Department of Education.
Silva, M. O. E. (2007). Incluso: Concepes e Prticas nos ltimos Dez Anos Relato de uma Experincia, Confe-
rncia proferida na Universidade Federal do Rio Grande do Norte: III Ciclo de Estudos e Debates sobre
Educao Inclusiva, 1 e 2 de Outubro.
Silva, M. O. E. (2004). Reflectir para (Re)Construir Prticas. Revista Lusfona de Educao. 4, 51-60.
Silva, M. O. E. (2003). A Anlise de Necessidades de Formao na Formao Contnua de Professores: um
Contributo para a Integrao e Incluso dos Alunos com NEE no Ensino Regular. In R. Baumel (Org.)
Educao Especial: Do Querer ao Fazer (pp. 53-69). So Paulo: Avercamp.
Silva, M. O. E. (2001). A Anlise de Necessidades de Formao na Formao Contnua de Professores: Um Caminho
para a Integrao Escolar. So Paulo: Biblioteca Digital de Teses e Dissertaes da Universidade de So
Paulo. Disponvel em http://www.teses.usp.br
Sprinthall, N. & Sprinthall, R. C. (1993). Psicologia Educacional. Lisboa: MacGraw-Hill.
UNESCO (1994). Declarao de Salamanca e Enquadramento da Aco: Necessidades Educativas Especiais. Sa-
lamanca: Unesco.
Vayer, P. & Roncin (1992). Integrao da Criana Deficiente na Classe. Lisboa: Instituto Piaget.
Vieira, M. T. (1995). A Integrao Escolar Uma Prtica Educativa. Educao, 10, 16-21.
Warnock, H. M. (1978). Special Education Needs: Report of the Comittee of Enquire into the Education of Handi-
capped Children and Young People. London: Her Magesty Stacionary Office.
Wolfensberger, W. (1972). The Principle of Normalization in Human Services. Toronto: National Institute of
Mental Retardation.
Revista Lusfona de Educao
revistaEDU13FINALfinal2.indd 153 23-06-2009 15:35:07
Você também pode gostar
- Educação Inclusiva no Brasil (Vol. 6): Legislação e ContextosNo EverandEducação Inclusiva no Brasil (Vol. 6): Legislação e ContextosAinda não há avaliações
- Breve Análise de Um Serviço de Acolhimento Institucional (SAI) : Experiência Na Casa Da Criança Menino JesusDocumento40 páginasBreve Análise de Um Serviço de Acolhimento Institucional (SAI) : Experiência Na Casa Da Criança Menino JesusNatalia BragaAinda não há avaliações
- Aspectos Peculiares do Acolhimento Institucional de Crianças e AdolescentesNo EverandAspectos Peculiares do Acolhimento Institucional de Crianças e AdolescentesAinda não há avaliações
- Infância e Seus Lugares: Um Olhar MultidisciplinarNo EverandInfância e Seus Lugares: Um Olhar MultidisciplinarAinda não há avaliações
- História, Deficiência e Educação EspecialDocumento7 páginasHistória, Deficiência e Educação EspecialFlora ZauliAinda não há avaliações
- História Da Educação EspecialDocumento11 páginasHistória Da Educação Especialleprechaunzinho100% (1)
- Aspectos Psicológicos Da Pessoa Com Necessidades EspeciaisDocumento48 páginasAspectos Psicológicos Da Pessoa Com Necessidades EspeciaisAlana OliveiraAinda não há avaliações
- Auxiliar de Sala e Professor PDFDocumento11 páginasAuxiliar de Sala e Professor PDFribeiroviniciusAinda não há avaliações
- Educação Especial e Inclusão EscolarDocumento63 páginasEducação Especial e Inclusão EscolarKARLA CRISTINA SILVA SOUSA100% (1)
- Ciclo 2 Fundamentos Da Educação Inclusiva 2Documento8 páginasCiclo 2 Fundamentos Da Educação Inclusiva 2Augusto50% (2)
- Evolução Histórica Da Educação EspecialDocumento4 páginasEvolução Histórica Da Educação EspecialFátima NunesAinda não há avaliações
- TEXTO 5 - Da Exclusão À Inclusão - Concepções e PraticasDocumento19 páginasTEXTO 5 - Da Exclusão À Inclusão - Concepções e PraticasYasmim Janies Xavier SoaresAinda não há avaliações
- Breve Historial Sobre Educacao EspecialDocumento8 páginasBreve Historial Sobre Educacao EspecialMaryline PauloAinda não há avaliações
- Fundamentos e Contextos Da Educação Especial e Inclusão EscolarDocumento30 páginasFundamentos e Contextos Da Educação Especial e Inclusão EscolarJacilene Maria Conceição florentino100% (1)
- Inclusão Na Educação InfantilDocumento23 páginasInclusão Na Educação InfantilAlexsandra da RosaAinda não há avaliações
- Pedagogia Dos Anormais Do Século Xix Ao Início Do Século XX Cuidar e Normalizar para EducarDocumento15 páginasPedagogia Dos Anormais Do Século Xix Ao Início Do Século XX Cuidar e Normalizar para EducarJonatas SouzaAinda não há avaliações
- O Contexto Socioeducacional Na Perspectiva Da Inclusao Debora Margot Unidades 3e4-1Documento61 páginasO Contexto Socioeducacional Na Perspectiva Da Inclusao Debora Margot Unidades 3e4-1Monika PicançoAinda não há avaliações
- Educação de Alunos Com Necessidades EspeciaisDocumento60 páginasEducação de Alunos Com Necessidades EspeciaisJosiCristina100% (1)
- Apostila de NEEDocumento23 páginasApostila de NEEÁlvaro António SortaneAinda não há avaliações
- Apostila de NEEDocumento22 páginasApostila de NEEDu4rt3mzAinda não há avaliações
- Breve Historial Da Educacao EspecialDocumento21 páginasBreve Historial Da Educacao EspecialAgeu Lutero JaimeAinda não há avaliações
- Fundamentos Da Deficiência e Da Educação EspecialDocumento18 páginasFundamentos Da Deficiência e Da Educação EspecialRsinhafAinda não há avaliações
- Historico DeficienciaDocumento16 páginasHistorico Deficiencianeygbi1Ainda não há avaliações
- Edu Especial Inclusiva m1Documento24 páginasEdu Especial Inclusiva m1simonevesperAinda não há avaliações
- (Apostila de NEEDocumento24 páginas(Apostila de NEEjoaquim Mateus ZamboAinda não há avaliações
- Texto 2 - O Abandono de Crianças Ou A Negação Do ÓbvioDocumento18 páginasTexto 2 - O Abandono de Crianças Ou A Negação Do ÓbvioGiulia PaganiniAinda não há avaliações
- Mat Did A Tico 93599Documento35 páginasMat Did A Tico 93599francoisebomAinda não há avaliações
- TCC 07Documento11 páginasTCC 07Donaldo QuissicoAinda não há avaliações
- Guia de Estudo-Educação InclusivaDocumento21 páginasGuia de Estudo-Educação InclusivaNaurarry SipaubaAinda não há avaliações
- O Abandono de Crianças Ou A Negação Do Óbvio1Documento21 páginasO Abandono de Crianças Ou A Negação Do Óbvio1Carlos da Costa de JesusAinda não há avaliações
- Historia Da Educação Especial Do Brasil.Documento7 páginasHistoria Da Educação Especial Do Brasil.Pierina Modanezi100% (1)
- Anais 077 087Documento11 páginasAnais 077 087Ana Carolina BarrocoAinda não há avaliações
- A Educação Especial No Brasil Acontecimentos PDFDocumento12 páginasA Educação Especial No Brasil Acontecimentos PDFMuriel PaulinoAinda não há avaliações
- Artigo Vania Teodoro Silva JunqueiraDocumento25 páginasArtigo Vania Teodoro Silva JunqueiraValeria LannaAinda não há avaliações
- Apostila Educação EspecialDocumento38 páginasApostila Educação EspecialClayse Nunes75% (4)
- Educação Especial No Brasil Desenvolvimento HistóricoDocumento16 páginasEducação Especial No Brasil Desenvolvimento Históricomayaraeneto0% (1)
- Educacao Infantil e LeisDocumento20 páginasEducacao Infantil e LeissilsylvaAinda não há avaliações
- PTG Educação InclusivaDocumento27 páginasPTG Educação InclusivaValdrea da SilvaAinda não há avaliações
- Da Exclusão À Inclusão Trajetória Da Educação EspecialDocumento13 páginasDa Exclusão À Inclusão Trajetória Da Educação EspecialMichelliPossmozerAinda não há avaliações
- O Debate Sobre A DiferençaDocumento16 páginasO Debate Sobre A DiferençaMicaeleBariottoDEFabioDidoleAinda não há avaliações
- Educação Inclusiva Artigo (6883)Documento10 páginasEducação Inclusiva Artigo (6883)Os QuímicosAinda não há avaliações
- Slide Da Unidade - Educação Especial No Brasil e No MundoDocumento28 páginasSlide Da Unidade - Educação Especial No Brasil e No MundoJulieneGraciollaAinda não há avaliações
- Aspectos Psicológicos Da Pessoa Com Necessidades Especiais PDFDocumento43 páginasAspectos Psicológicos Da Pessoa Com Necessidades Especiais PDFwiara gil alcon de souza75% (4)
- Breve Historial Da Educacao Especial - 2021 PDFDocumento20 páginasBreve Historial Da Educacao Especial - 2021 PDFRavy da Alcina100% (1)
- O Abandono de Crianças Ou A Negação Do ÓbvioDocumento18 páginasO Abandono de Crianças Ou A Negação Do Óbvioalgoz36Ainda não há avaliações
- REVISÃODocumento10 páginasREVISÃOLusilvia MartinsAinda não há avaliações
- A Assistência À Infância Na Passagem para o Século XXDocumento18 páginasA Assistência À Infância Na Passagem para o Século XXGeysa CharlionAinda não há avaliações
- Fundamentos Historicos e Conceituais Ed Especial-Inclusiva PDFDocumento17 páginasFundamentos Historicos e Conceituais Ed Especial-Inclusiva PDFStella MarquesAinda não há avaliações
- Aula Cress 20101Documento24 páginasAula Cress 20101TaMireS BaTisTaAinda não há avaliações
- Psicologia e Educação EspecialDocumento8 páginasPsicologia e Educação EspecialLudimila SantosAinda não há avaliações
- Aula 02 Libras - Marcos Histoticos PDFDocumento13 páginasAula 02 Libras - Marcos Histoticos PDFjulianoaraujoxAinda não há avaliações
- Fluxo A Rotina Na Educao InfantilDocumento14 páginasFluxo A Rotina Na Educao InfantilDenise de Amorim RamosAinda não há avaliações
- Educação InclusivaDocumento98 páginasEducação InclusivaAnna Clara VianaAinda não há avaliações
- Unidade I - Aspectos Históricos Da Inclusão Escolar PDFDocumento24 páginasUnidade I - Aspectos Históricos Da Inclusão Escolar PDFJuliana SechinatoAinda não há avaliações
- M1 - Parte Prática - RecorteDocumento10 páginasM1 - Parte Prática - RecortePaulo FernandesAinda não há avaliações
- Educação E Sociedade: Temas EmergentesNo EverandEducação E Sociedade: Temas EmergentesAinda não há avaliações
- Criança - turista e criança - peregrina: Construção pedagógica do conceito de infânciaNo EverandCriança - turista e criança - peregrina: Construção pedagógica do conceito de infânciaAinda não há avaliações
- Higiene, educação e assistência no fim do império: O caso do asilo de meninos desvalidos (1875-1889)No EverandHigiene, educação e assistência no fim do império: O caso do asilo de meninos desvalidos (1875-1889)Ainda não há avaliações
- O impacto da prática de esportes na formação psicossocial da criança e do adolescenteNo EverandO impacto da prática de esportes na formação psicossocial da criança e do adolescenteAinda não há avaliações
- O conceito de perfectibilidade na pedagogia de Jean-Jacques RousseauNo EverandO conceito de perfectibilidade na pedagogia de Jean-Jacques RousseauAinda não há avaliações