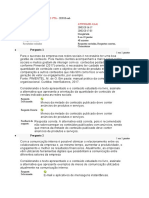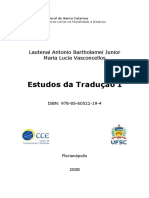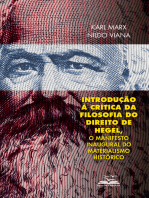Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Invisibilidade-Fidelidade - Ruth Bohunovsky
Invisibilidade-Fidelidade - Ruth Bohunovsky
Enviado por
Amanda MoreiraTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Invisibilidade-Fidelidade - Ruth Bohunovsky
Invisibilidade-Fidelidade - Ruth Bohunovsky
Enviado por
Amanda MoreiraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A (im)possibilidade da “invisibilidade”...
51
A (IM)POSSIBILIDADE DA “INVISIBILIDADE” DO
TRADUTOR E DA SUA “FIDELIDADE”: POR UM
DIÁLOGO ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA DE
TRADUÇÃO
Ruth Bohunovsky1
UNICAMP
O objetivo deste trabalho consiste em discutir, e comparar,
abordagens recentes de alguns teóricos de tradução, e de tradutores,
sobre dois conceitos ligados ao trabalho tradutório: a “fidelidade”
entre o texto traduzido e o texto de partida e a “invisibilidade” à
qual estaria sujeito - ou não - o tradutor. Apontarei para o fato de
que, enquanto nos trabalhos teóricos de diferentes vertentes atuais
as discussões acerca dos dois referidos conceitos se distanciam,
claramente, de uma visão tradicional, isto é, essencialista, os
comentários de alguns tradutores reconhecidos evidenciam uma
visão já considerada ultrapassada por parte dos teóricos a esse
respeito. Tentarei argumentar, baseando-me sobretudo em textos
de Rosemary Arrojo e em observações dos próprios tradutores,
que, ao defender uma visão tradicional/essencialista relativa à
“fidelidade” e à “invisibilidade”, os tradutores trabalham contra
seu próprio interesse declarado, ou seja, sair do “segundo plano”
no qual se encontram no âmbito literário. Com tal argumentação,
viso a propor um diálogo mais aprofundado entre a teoria e a prática,
que, no meu entender, contribuiria para a valorização do trabalho
tradutório.
Nas últimas décadas, os estudos da tradução têm passado por
várias mudanças de orientação. Sem dúvida, já se encerrou o boom
52 Ruth Bohunovsky
científico que marcou, depois da Segunda Guerra Mundial, várias
áreas humanas, como a lingüística, a psicologia, a antropologia e,
também, os estudos da tradução. Baseando-se no suposto caráter
científico da lingüística, a “ciência da tradução” foi marcada, grosso
modo, pela visão de que o processo de tradução seria um mero
transporte de significados que deveria se tornar “objetivo” através
de um “método” ou um “tertium comparationis” a ser desenvolvido.
Pode-se citar John C. Catford, Eugene Nida, Karl-Heinz Freigang
e Otto Kade como alguns dos representantes dessa vertente que,
geralmente, entendeu o texto original como “um objeto estável,
‘transportável’, de contornos absolutamente claros, cujo conteúdo
podemos classificar completa e objetivamente” (Arrojo [2000: 12]).
A partir dessa visão essencialista, a tarefa do tradutor teria sido
apenas “transportar” o significado supostamente inerente ao
original, sem inferir nele, sem “interpretar” o texto de partida
(ibid.: 13). Os três princípios básicos que definiriam uma “boa”
tradução e que foram sugeridos por Alexander Fraser Tytler, já
em 1791, podem ser vistos como características, também, da
tendência lingüística-científicista dos estudos da tradução (cf. Arrojo
[2000: 13]):
1) a tradução deve reproduzir em sua totalidade a idéia do texto
original;
2) o estilo da tradução deve ser o mesmo do original; e
3) a tradução deve ter toda a fluência e a naturalidade do texto
original.
Partindo de tais “princípios” de tradução, fica evidente que o
objetivo principal do tradutor deveria ser ficar o mais “fiel” ao
original em sua totalidade e ficar “invisível” no texto traduzido,
pois o objetivo fundamental de qualquer tradução seria a
“reprodução” do “original” em outro código.
A (im)possibilidade da “invisibilidade”... 53
Depois do boom científico, a área tem sido marcada por
diferentes tendências teóricas. Atualmente, destacam-se, para citar
apenas as mais importantes, os “estudos descritivos da tradução”2 e
aqueles que se orientam pelo pensamento da Deconstrução,
promovendo diálogos com o Pós-Colonialismo3 , a Psicanálise4 , o
Pós-Estruturalismo5 , os Estudos de Gênero6 , os Estudos Culturais,
entre outros. Marcos Siscar e Cristina C. Rodrigues, na Apresentação
da revista ALFA sobre “Tradução, Descontrução e Pós-
Modernidade”, dão uma idéia da extensão das mudanças ocorridas
nesse contexto, quando mencionam que “tradução tem significado
[...] muito mais do que um processo de transferência lingüística;
tradução tem também buscado dizer a nossa maneira de relação
com o mundo, em seus diversos tipos de determinação” (2000: 6).
Tanto o conceito da “fidelidade” como o da “invisibilidade” têm
sido repensados nas discussões desenvolvidas no campo dos estudos
da tradução das últimas décadas. Cito, a seguir, dois trechos de autores
do panorama brasileiro da área que ilustram as mudanças teóricas
que ocorreram em relação a esses conceitos, como também no que
diz respeito à tradução em geral e ao papel do tradutor. Em As
(In)Fidelidades da Tradução, Francis Henrik Aubert destaca que
[p]arece evidente que não se pode exigir uma fidelidade àquilo
que é por definição inacessível: no caso em pauta, a mensagem
pretendida7 do emissor original. Mesmo a mensagem virtual8
não é diretamente acessível [...]. Assim, a matriz primária
da fidelidade há de ser, por imposição dos fatos, a mensagem
efetiva9 que o tradutor aprendeu enquanto um entre vários
receptores do texto original, experiência individual e única,
não-reproduzível por inteiro nem mesmo pelo próprio receptor-
tradutor, em outro momento ou sob outras condições de
recepção. (1994: 75).
Se essa citação já sugere que a visão do tradutor como mero
“transportador” de significados estáveis não é mais representativa
54 Ruth Bohunovsky
para as discussões mais recentes sobre o tema, as seguintes
observações de Arrojo corroboram essa observação. Como pondera
essa teórica,
é impossível resgatar integralmente as intenções e o universo
de um autor, exatamente porque essas intenções e esse universo
serão sempre, inevitavelmente, nossa visão daquilo que possam
ter sido. [...] O autor passa a ser, portanto, mais um elemento
que utilizamos para construir uma interpretação coerente do
texto. [...] O foco interpretativo é transferido do texto, como
receptáculo da intenção “original” do autor, para o intérprete,
o leitor, ou o tradutor. [...] Significa que, mesmo que tivermos
como único objetivo o resgate das intenções originais de um
determinado autor, o que somente podemos atingir em nossa
leitura ou tradução é expressar nossa visão desse autor e suas
intenções. [...]. Em outras palavras, nossa tradução de qualquer
texto, poético ou não, será fiel não ao texto “original”, mas
àquilo que considerarmos ser o texto original, àquilo que
considerarmos constituí-lo, ou seja, à nossa interpretação do
texto de partida, que será [...] sempre produto daquilo que
somos, sentimos e pensamos. (2000: 40-44).
Como tentei ilustrar com as citações de Aubert e Arrojo, no
âmbito das discussões teóricas sobre tradução mais recentes, a
“fidelidade” na tradução não é mais entendida como a tentativa de
“reproduzir” o texto de partida, mas está sendo relacionado à
inevitável interferência por parte do tradutor, à sua interpretação e
manipulação do texto. O tradutor é entendido como um sujeito
inserido num certo contexto cultural, ideológico, político e
psicológico - que não pode ser ignorado ou eliminado ao elaborar
uma tradução. O tradutor tornou-se “visível”. Nesse sentido, é
exemplar o trabalho de Lawrence Venuti. Conhecido por sugerir
“traduções estrangeirizadoras”, esse teórico propõe interferências
declaradas, motivadas politicamente, nas traduções. Essa postura
só é possível porque Venuti já parte do pressuposto de que o tradutor,
A (im)possibilidade da “invisibilidade”... 55
inevitavelmente, “aparece” em qualquer tradução. Haroldo e
Augusto de Campos, com suas traduções “antropofágicas”, podem
ser mencionados aqui como outros teóricos/tradutores que
valorizam a interferência do tradutor. É interessante mencionar,
também, que mesmo num livro mais recente de um teórico
geralmente atribuído à vertente lingüística-cientificista dos estudos
da tradução, Wolfram Wilss, lemos que a tradução é
“consideravelmente determinada pela personalidade do tradutor”10
(1996: 5), e que o texto de partida “é manipulado pela visão de
texto [do tradutor], seus usos, habilidades e experiências lingüísticas,
suas capacidades de resolver problemas, sua rotina, criatividade e
sua empatia (ibid.: 145). Além disso, esse teórico afirma que a
tradução é “uma rede muito delicada de fatores pessoais, textuais,
socioculturais, históricos e mentais” (ibid.: 76).
Diante desse quadro - que sugere uma certa unanimidade entre
teóricos de tradução, de tendências bastante diversas, no que diz
respeito à impossibilidade de se realizar uma tradução “fiel” ao
“original”, isto é, recuperar, de uma maneira absolutamente neutra
e objetiva, os significados supostamente inerentes a um texto de
partida - parece-me interessante discutir a visão de tradutores sobre
esse tema. Para isso, baseio-me num artigo do jornal O Estado de
São Paulo, intitulado “Traduzir, caminho árduo de quem ama a
palavra”, publicado em 11 de março de 2001. Nesse artigo, que
aborda aspectos do trabalho prático de tradução, vários tradutores
comentam acerca de suas experiências profissionais e suas visões
sobre tradução. Salta aos olhos o fato de que, diferentemente dos
teóricos supracitados, os tradutores parecem defender uma visão
tradicional e essencialista em relação à fidelidade e ao papel do
tradutor. Rita Desti, tradutora do português para o italiano, entre
outros dos livros de José Saramago, é apresentada como “defensora
ferrenha da fidelidade total” e relata tentar “transferir o sentido de
cada palavra e reproduzir o nível do texto”. Não se poderia
parafrasear melhor a visão essencialista concernente à tradução,
discutida acima, visto que “transferir o sentido de cada palavra”
56 Ruth Bohunovsky
só poderia ser possível se cada palavra tivesse um sentido estável
inerente - pressuposto descartado há muito tempo pela maioria dos
teóricos de tradução. Além da “fidelidade”, encontram-se, no
mesmo artigo, também comentários de tradutores com respeito à
sua suposta “invisibilidade”. Carlos Nougué, tradutor da obra do
mexicano Carlos Fuentes para o português, é citado com as palavras
“claro que devemos ficar invisíveis”. Essa opinião é defendida,
também, por Nancy Rozenchan, tradutora do hebraico para o
português, que “também valoriza a invisibilidade”. A autora do
referido artigo, Fernanda Dannemann, parece concordar com tal
visão, pois enfatiza que se deve “considerar [..] que o
desaparecimento do tradutor nas linhas do texto nada mas é do que
uma das provas do seu talento e característica fundamental para
que, muitas vezes, sejam aprovados pelos autores das obras”.
Como indicam essas citações, os tradutores entrevistados para
o referido artigo parecem aderir a uma concepção de tradução que
corresponde muito mais àquela de teóricos como Nida ou Catford
que àquela defendida por teóricos mais contemporâneos. Assim, a
observação de Desti de que, no trabalho tradutório, tentaria
“transferir o sentido de cada palavra” corresponde à exigência de
Nida de que o tradutor teria de “transportar os componentes
semânticos” de um texto (Nida [1975], apud Wilss [1981: 140]). A
partir de tal concepção de tradução, a “invisibilidade” do tradutor
seria, obviamente, uma conseqüência lógica da sua “fidelidade”
ao original. No entanto, encontram-se, no mesmo artigo, outras
observações dos tradutores que revelam o caráter problemático de
tal concepção teórica. Por exemplo, Rozenchan, embora
“valorizando a fidelidade”, menciona que “[n]ão adianta ser
extremamente fiel ao estilo do autor e deixar o texto desagradável”.
Essa tradutora explica que “se vê obrigada a pequenas alterações,
já que o hebraico é uma língua de estrutura muito diferente da
nossa”. Ou seja, ao traduzir, a tradutora vê-se obrigada a decidir
entre elaborar uma tradução “fiel” ao estilo lingüístico do texto de
partida ou uma versão “fiel” à sua legibilidade. Ela não deixa dúvida
A (im)possibilidade da “invisibilidade”... 57
a qual das duas possibilidades dá preferência, pois esclarece que
“faz parte do [...] trabalho [do tradutor] tornar o texto legível”. No
entanto, a “legibilidade” de um texto traduzido não depende, de
maneira alguma, da sua “fidelidade” à forma lingüística do
“original”, mas das convenções literárias da “comunidade
interpretativa” - para usar a denominação de Stanley Fish (1980) -
a qual se dirige a tradução. Ou seja, o que a argumentação de
Rozenchan evidencia é que, embora ela mesma declare procurar
ser “fiel” ao “original”, ela evidencia apenas sua “fidelidade” a
uma determinada concepção textual e a um determinado objetivo
seu, já que poder-se-ia pensar também um tradutor que prefere
ficar “fiel” à forma lingüística e lexical do “original”, em
detrimento da legibilidade da tradução, como no caso de Venuti. O
fato de ter de tomar essa decisão, com a qual todo tradutor está
inevitavelmente confrontada, põe em xeque, também, a suposta
“invisibilidade” do tradutor, visto que a maneira como o texto
traduzido será recebida e lida pelos leitores depende do trabalho do
tradutor, não do autor do “original”. A esse respeito lemos, no
referido artigo jornalístico, um comentário de Lia Wyler, tradutora
de Harry Potter no Brasil. Ela reclama que “[n]as críticas, [os
tradutores são] lembrados apenas quando a tradução não é tida como
satisfatória; se não for o caso, [seu] trabalho é creditado ao autor
do livro, como se ele mesmo tivesse escrito, em português, um
texto literário ‘sem chavões’, ou ‘num estilo seco’”.
A partir das observações citadas acima, permite-se a
argumentação de que, por um lado, a “invisibilidade” do tradutor
parece ser o objetivo principal de muitos tradutores, embora, por
outro lado, os mesmos tradutores expõem uma certa insatisfação a
esse respeito, pois mostram-se conscientes de que a avaliação
literária de um texto traduzido porá em discussão um texto de sua
autoria, não uma “reprodução” de um texto com altas qualidades
literárias escrito em outro “código” e cujos supostos significados
teriam sido apenas “transportados” para o texto de chegada. Ou
seja, enquanto defendem, à primeira vista, uma visão tradicional,
58 Ruth Bohunovsky
baseada na suposta estabilidade do significado de palavras ou textos,
e a necessidade de o tradutor ficar “fiel” ao original, e “invisível”,
apresentam também observações que põem em questão sua própria
visão teórica. Com tais observações, os tradutores citados
corroboram, talvez contra sua própria intenção, as propostas
teóricas de autores como Arrojo, que argumenta que “nenhuma
tradução - mesmo aquelas que pretendem o contrário - conseguirá
preservar intactos os significados originais de um texto [...] ou de
um autor, mesmo porque esses significados serão sempre
‘apreendidos’ ou considerados dentro de uma determinada
perspectiva ou de um determinado contexto” (1992: 103).
O ideal da “fidelidade” e da “invisibilidade” do tradutor, já que
nunca alcançado, sempre acarretará a imagem do trabalho tradutório
como algo imperfeito, inferior, como já aponta Arrojo ao observar
que a partir de uma visão essencialista, ou logocêntrica, “qualquer
tradução será sempre ‘infiel’, em algum nível e para algum leitor,
sempre ‘menor’, sempre ‘insatisfeito’, em comparação a um
original idealizado e, por isso mesmo, inatingível” (1993: 29).
Para deixar mais clara essa questão, podemos nos referir à
tradutora Dominique Aury. Como ela evidencia, no seu prefácio
do livro Os problemas teóricos da tradução, de George Mounin
(1975), essa tradutora considera seu próprio trabalho como
inferior, pois menciona que a “operação através da qual um texto
escrito numa língua se torna susceptível de ser lido em outra
constitui, sem dúvida, em ato vagamente indecente, pois o bom
tom exige que ele passe despercebido” (ibid.: 7). Aury ilustra
bem que o tradutor, partindo de uma visão tradicional de
“fidelidade” e “invisibilidade”, sempre fará um trabalho
imperfeito, pois caberá a ele tentar “as aproximações mais ou
menos bem sucedidas, os furores de fidelidade, os entusiasmos
mal recompensados, [...] o impossível” (ibid.: 11). Já a partir de
uma visão pós-estruturalista de tradução, tal “impossibilidade”
de cumprir a exigência da “fidelidade” e “invisibilidade” - que
torna a tradução um trabalho “indecente” - se torna exatamente o
A (im)possibilidade da “invisibilidade”... 59
aspecto que valoriza o trabalho do tradutor. Essa mudança fica
mais clara a partir da observação de Arrojo de que
traduzir [...] implica [...], em primeiro lugar, reconhecer seu
papel essencialmente ativo de produtor de significados e de
representante e intérprete do autor e dos textos que traduz.
Além desse reconhecimento, é claro, cabe ao tradutor assumir
a responsabilidade pela produção de significados que realiza e
pela representação do autor a que se dedica. Ou seja, terá que
estar sintonizado com o ideário de seu tempo e lugar e,
conseqüentemente, com a visão que esse tempo e lugar lhe
permitem ter do texto e do autor que interpreta. (1992: 104).
Os tradutores citados no artigo mencionado criticam que ainda
se encontram no “segundo plano” no âmbito literário e que, “salvo
aqueles cuja fama já ultrapassou as fronteiras do anonimato”, não
terem seus nomes mencionados nas capas das livros por eles
traduzidos (cf. “Traduzir, caminho árduo de quem ama a palavra”,
O Estado de São Paulo, 11 de março de 2001). Mas, não parecem
refletir sobre o fato de que sua própria postura teórica em relação
ao seu trabalho está estreitamente ligada a tal situação. A partir
disso, me parece relevante argumentar em favor de um diálogo,
ainda inexistente em grande escala, entre a teoria e a prática na
área de tradução, pois ainda não perdeu validade a observação de
Arrojo, de há quase dez anos, de que,
enquanto os tradutores persistirem em não refletir sobre o
trabalho delicado e complexo que realizam e enquanto não se
decidirem a cuidar das condições e dos rumos de seu ofício,
terão que aceitar o destino de marginalização que essas
instituições lhes reservam. Somente a partir da
conscientização desses profissionais acerca do poder autoral
que exercem e da responsabilidade que esse poder implica, as
relações perigosas que têm organizado tradutores e traduções
poderão se tornar mais honestas. (1993: 31-32).
60 Ruth Bohunovsky
Notas
1. A autora é doutoranda na área de tradução do Instituto de Estudo da Linguagem
(IEL), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
2. Para uma discussão aprofundada sobre essa vertente, cf., por exemplo, Susan
Bassnett-McGuire (1980) ou Theo Hermanns (1985, 1999).
3. Cf., p. ex., Douglas Robinson (1997).
4. Cf., p. ex., Arrojo (1993); Maria Paula Frota (2000).
5. Cf., p. ex., Arrojo (1992, 2000).
6. Cf. Lori Chamberlain (1988).
7. Nota da autora: Conforme Aubert, a “mensagem pretendida” seria “aquilo que o
emissor ‘quis dizer’, ou seja, sua intenção comunicativa” (1994: 73).
8. Nota da autora: Aubert define a “mensagem virtual” como o “conjunto de
leituras possíveis a partir da expressão lingüística efetivamente gerada” (1994: 73).
9. Nota da autora: Segundo Aubert, a “mensagem efetiva” seria “aquela que se
realiza na recepção, no destinário, condicionada em parte pela expressão lingüística,
em parte pelo saber e pela intenção receptiva do interlocutor” (1994: 73).
10. A tradução é minha.
A (im)possibilidade da “invisibilidade”... 61
Bibliografia
AUBERT, Francis Henrik. As (In)Fidelidades da Tradução: Servidões e autonomia
do tradutor. Campinas, S.P.: Editora da Unicamp, 1994.
ARROJO, Rosemary. Oficina de tradução, a teoria na prática, São Paulo: Ática,
2000. [1. ed. 1986]
_____.(org.). O signo desconstruído. Campinas: Pontes, 1992.
_____.Tradução, desconstrução e psicanálise, Rio de Janeiro: Imago, 1993.
CHAMBERLAIN, Lori. “Gender and the Metaphorics of Translation”, 1988, in:
VENUTI, Laurence (org.). The Translation Studies Reader, Nova Iorque: Routledge,
2000.
FISH, Stanley. Is There a Text in This Class?, Cambridge, Massachusetts, Londres,
Inglaterra: Harvard University Press, 1980.
FROTA, Maria Paula. A singularidade na escrita tradutora: linguagem e
subjetividade nos estudos da tradução, na lingüística e na psicanálise, Campinas:
Pontes, 2000.
HERMANS, Theo. The Manipulation of Literature: Studies in Literary Translation,
Londres & Sydney: Croom Helm, 1985.
_____. Translation in Systems: Descriptive and System-oriented Approaches
Explained, Manchester: St. Jerome, 1999. [1. ed. 1963]
MOUNIN, George. Os problemas teóricos da tradução (traduzido por H. de
Lima Dantas), São Paulo: Editora Cultrix, 1975. (1. ed. 1963)
62 Ruth Bohunovsky
ROBINSON, Douglas. Translation and E0mpire: Postcolonial Theories Explained.
Manchester: St. Jerome, 1997.
WILSS, Wolfram (org.). Übersetzungswissenschaft, Darmstadt: Wissen schaftliche
Buchgesellschaft, 1981.
_____.Knowledge and Skills in Translator Behaviour, Amsterdã e Filadélfia: John
Benjamins Publ., 1996.
Publicações periódicas
ALFA - Revista de Lingüística, Tradução, Desconstrução e Pós-Modernidade.
SãoPaulo: Universidade Estadual Paulista, v. 44, n. esp., p. 1-207, 2000.
DANNEMANN, Fernanda. Traduzir, caminho árduo de quem ama a palavra.
Estado de São Paulo, São Paulo, 11 março 2001, caderno 2/Cultura, p. D4.
Você também pode gostar
- Resposta A4 COMUNICAÇAODocumento6 páginasResposta A4 COMUNICAÇAOmarilia xavierAinda não há avaliações
- LIVRO - Aprenda Falar ChinêsDocumento164 páginasLIVRO - Aprenda Falar ChinêsTalita BarrosoAinda não há avaliações
- A invisibilidade do tradutor: Uma história da traduçãoNo EverandA invisibilidade do tradutor: Uma história da traduçãoAinda não há avaliações
- Dois Irmãos - PreviewDocumento7 páginasDois Irmãos - PreviewÉrico AssisAinda não há avaliações
- Dois Irmãos - PreviewDocumento7 páginasDois Irmãos - PreviewÉrico AssisAinda não há avaliações
- Direitos Fundamentais Virgilio AfonsoDocumento142 páginasDireitos Fundamentais Virgilio AfonsoMayron Muniz100% (2)
- Questionário I ArtesDocumento3 páginasQuestionário I ArtesMarcia CristinaAinda não há avaliações
- O Modo Hegemonico de Produção Do CuidadoDocumento14 páginasO Modo Hegemonico de Produção Do CuidadoCarla NaturezaAinda não há avaliações
- Regras Relativas À Constituição Dos Tipos SociaisDocumento2 páginasRegras Relativas À Constituição Dos Tipos SociaisLucas Melo67% (3)
- 4049-15506-1-PB A Prova Do EstrangeiroDocumento17 páginas4049-15506-1-PB A Prova Do Estrangeirocintiafreitag100% (1)
- Teoria Da TraduçãoDocumento17 páginasTeoria Da TraduçãoRômulo Queiroz100% (1)
- 2017 Capliv MhtorresDocumento21 páginas2017 Capliv MhtorresMariana FreitasAinda não há avaliações
- 5 - Conceitos de TraduçãoDocumento32 páginas5 - Conceitos de TraduçãoLeonardo SouzaAinda não há avaliações
- 3interfaces Tradutor LinguainglesaDocumento13 páginas3interfaces Tradutor LinguainglesaCarlos Sabino CaldasAinda não há avaliações
- Pride & PrejudiceDocumento7 páginasPride & PrejudiceRosane Seixas MachadoAinda não há avaliações
- RICOEUR Paul Sobre A Traducao Traducao de PatriciaDocumento5 páginasRICOEUR Paul Sobre A Traducao Traducao de PatriciaMatheus D Antonio Saraiva RenomiereAinda não há avaliações
- Antoine BermanDocumento14 páginasAntoine BermanWilliam Campos da Cruz0% (1)
- Olga BelovDocumento9 páginasOlga BelovELVIS BORGES MACHADOAinda não há avaliações
- Marcelo Tápia - 'Transcriação Como Plagiotropia' (2017)Documento13 páginasMarcelo Tápia - 'Transcriação Como Plagiotropia' (2017)FlavioQuintilianoAinda não há avaliações
- A Tradução Literária - Paulo Henriques BrittoDocumento12 páginasA Tradução Literária - Paulo Henriques BrittoVinicius Soares CarvalhoAinda não há avaliações
- Traducao e Contexto LiterarioDocumento20 páginasTraducao e Contexto LiterariorallanAinda não há avaliações
- Albertina Vicentini - Questões Sobre Tradução PDFDocumento16 páginasAlbertina Vicentini - Questões Sobre Tradução PDFDelcides MarquesAinda não há avaliações
- Teorias Da TraduçãoDocumento10 páginasTeorias Da Traduçãoleonardolorenzoni100% (1)
- Oficina de Tradução, Versão e Interpretação em InglêsDocumento20 páginasOficina de Tradução, Versão e Interpretação em InglêsSabrina De LazariAinda não há avaliações
- Paul Ricoeur, Linguagem, Finitude e TraduçãoDocumento8 páginasPaul Ricoeur, Linguagem, Finitude e TraduçãoLeonardo FontesAinda não há avaliações
- Heterogeneidade e Função Trad.Documento17 páginasHeterogeneidade e Função Trad.Felipe Hack de MouraAinda não há avaliações
- Modelo de Resenha PDFDocumento4 páginasModelo de Resenha PDFMagno AugustoAinda não há avaliações
- A Tradução Literária em Roma - Questões de Identidade e AlteridadeDocumento11 páginasA Tradução Literária em Roma - Questões de Identidade e AlteridadeJoão Jorge PereiraAinda não há avaliações
- Filosofia Da Tradução - Tradução de Filosofia - o Princípio Da IntraduzibilidadeDocumento37 páginasFilosofia Da Tradução - Tradução de Filosofia - o Princípio Da IntraduzibilidadeJuliana CecciAinda não há avaliações
- Os Fragmentos de Heráclito e Os Limites Da Tradução Alexandre CostaDocumento17 páginasOs Fragmentos de Heráclito e Os Limites Da Tradução Alexandre CostaChristian ChagasAinda não há avaliações
- BRISSET Hibridização de CulturasDocumento24 páginasBRISSET Hibridização de CulturasEvandro Oliveira MonteiroAinda não há avaliações
- Baygon, Gerente Da Revista, SETA-2007-159Documento4 páginasBaygon, Gerente Da Revista, SETA-2007-159yurislvaAinda não há avaliações
- Artigo - A Tradução Comentada em Contexto Acadêmico - ZavagliaDocumento22 páginasArtigo - A Tradução Comentada em Contexto Acadêmico - ZavagliaGeraldo de Oliveira Alló NettoAinda não há avaliações
- Dialnet TraducaoECriacao 4925330Documento24 páginasDialnet TraducaoECriacao 4925330Diana SorgatoAinda não há avaliações
- Mauri Furlan - Possibilidade(s) de Tradução (Ões)Documento23 páginasMauri Furlan - Possibilidade(s) de Tradução (Ões)brunoAinda não há avaliações
- Arrojo, As Questões Teóricas Da Tradução e A Desconstrução Do Logocentrismo - in - o Signo DesconstruídoDocumento4 páginasArrojo, As Questões Teóricas Da Tradução e A Desconstrução Do Logocentrismo - in - o Signo DesconstruídoTatiany Pertel Sabaini DalbenAinda não há avaliações
- Pensar A Tradução Com SchleiermacherDocumento4 páginasPensar A Tradução Com SchleiermacherVinícius DiasAinda não há avaliações
- Cadernos CLE 50 Paulo OLIVEIRADocumento70 páginasCadernos CLE 50 Paulo OLIVEIRAPaulo OliveiraAinda não há avaliações
- Um Olhar Sociológico Sobre A TraduçãoDocumento10 páginasUm Olhar Sociológico Sobre A TraduçãoAdriane EspindulaAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento22 páginas1 PBSara Luiza HoffAinda não há avaliações
- O Leitor-Modelo de Umberto Eco e o Debate Sobre Os Limites Da InterpretaçãoDocumento18 páginasO Leitor-Modelo de Umberto Eco e o Debate Sobre Os Limites Da InterpretaçãoTarcyanie SantosAinda não há avaliações
- Estudos Da Traducao IDocumento53 páginasEstudos Da Traducao ISaimony LittleAinda não há avaliações
- Clarissa Prado Marini - de Walter Benjamin A Nos Jours (2013)Documento5 páginasClarissa Prado Marini - de Walter Benjamin A Nos Jours (2013)mamoellerAinda não há avaliações
- Jose Horta NunesDocumento7 páginasJose Horta NunesCamila OliveiraAinda não há avaliações
- Texto 3 - GrifadoDocumento8 páginasTexto 3 - GrifadoLari carolineAinda não há avaliações
- Por Uma Abordagem Enunciativa Da Tradução. NUNES PDFDocumento10 páginasPor Uma Abordagem Enunciativa Da Tradução. NUNES PDFchelly.sAinda não há avaliações
- Texto Base Estudos Traducao I PDFDocumento54 páginasTexto Base Estudos Traducao I PDFAmanda RamosAinda não há avaliações
- "Tinha Uma Tradução No Meio Do Caminho", de Marília GarciaDocumento11 páginas"Tinha Uma Tradução No Meio Do Caminho", de Marília GarciaMarília Garcia100% (1)
- Resenha Cinematográfica - UM GÊNERO TEXTUALDocumento10 páginasResenha Cinematográfica - UM GÊNERO TEXTUALpatriciaxunhaAinda não há avaliações
- Adam - A Análise Textual Dos Discursos - Entre Gramáticas de Texto e Análise Do DiscursoDocumento14 páginasAdam - A Análise Textual Dos Discursos - Entre Gramáticas de Texto e Análise Do DiscursoRafaela DefendiAinda não há avaliações
- Administrador, Jose Roberto Oshea Cad 36 v3 PdfaDocumento16 páginasAdministrador, Jose Roberto Oshea Cad 36 v3 Pdfaalexandre ferreiraAinda não há avaliações
- RENKEN Je Ne Sais Plus Ce Que Je Lis La Traduct PTDocumento24 páginasRENKEN Je Ne Sais Plus Ce Que Je Lis La Traduct PTMarcia LabresAinda não há avaliações
- Tymoczko - Ideologia e A Posição Do Tradutor - 2013Documento34 páginasTymoczko - Ideologia e A Posição Do Tradutor - 2013Cristian MacedoAinda não há avaliações
- Enunciado e SentidoDocumento15 páginasEnunciado e SentidoPaula Marin CrespoAinda não há avaliações
- Fichamento Introdução Ao Sublime em LoginoDocumento6 páginasFichamento Introdução Ao Sublime em LoginoClara PedrosaAinda não há avaliações
- 3686 10506 1 PBDocumento6 páginas3686 10506 1 PBJosuéAinda não há avaliações
- Notas Sobre A Tradução Literária - Benedito AntunesDocumento10 páginasNotas Sobre A Tradução Literária - Benedito AntunesFlávio FreitasAinda não há avaliações
- Notas Do Tradutor e Processo TradutórioDocumento2 páginasNotas Do Tradutor e Processo TradutórioJanayna MagalhãesAinda não há avaliações
- Analise Da Traducao de Jose J Veiga Do CDocumento8 páginasAnalise Da Traducao de Jose J Veiga Do CTatiane RochaAinda não há avaliações
- Análise Do Discurso - ResenhaDocumento4 páginasAnálise Do Discurso - ResenhaVerinalda FreitasAinda não há avaliações
- Descriptive Translation StudiesDocumento16 páginasDescriptive Translation StudiesAna Paula CyprianoAinda não há avaliações
- A antropodiceia rousseauniana: teologia-política-laicidadeNo EverandA antropodiceia rousseauniana: teologia-política-laicidadeAinda não há avaliações
- Entremeios da Análise do Discurso e Estudos da Tradução: uma análise discursiva das traduções de manuais de smartphonesNo EverandEntremeios da Análise do Discurso e Estudos da Tradução: uma análise discursiva das traduções de manuais de smartphonesAinda não há avaliações
- Cálculo & Jogo: metáforas para a linguagem na filosofia de Ludwig WittgensteinNo EverandCálculo & Jogo: metáforas para a linguagem na filosofia de Ludwig WittgensteinAinda não há avaliações
- Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel: O manifesto inaugural do materialismo históricoNo EverandIntrodução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel: O manifesto inaugural do materialismo históricoAinda não há avaliações
- Tradução como conceito: Universalidade, negatividade, tempoNo EverandTradução como conceito: Universalidade, negatividade, tempoAinda não há avaliações
- Mon. Linguagem Não-BináriaDocumento81 páginasMon. Linguagem Não-BináriaÉrico AssisAinda não há avaliações
- Os Jogos de Palavras Na TraducaoDocumento5 páginasOs Jogos de Palavras Na TraducaoÉrico AssisAinda não há avaliações
- Fontes Dicionário MilitarDocumento5 páginasFontes Dicionário MilitarÉrico AssisAinda não há avaliações
- Projeto Caminhos de Iracema 2009 - 20013Documento8 páginasProjeto Caminhos de Iracema 2009 - 20013Catarine Dos SantosAinda não há avaliações
- Resenha - Multiletramentos Na Escola - Heráclito XavierDocumento1 páginaResenha - Multiletramentos Na Escola - Heráclito XavierAne Cristina ThurowAinda não há avaliações
- Professoras Orientadoras e Suas Temáticas - Uergs 2020Documento2 páginasProfessoras Orientadoras e Suas Temáticas - Uergs 2020Viviane Castro CamozzatoAinda não há avaliações
- Entre A Oralidade e A Escrita - Lisa Earl CastilloDocumento293 páginasEntre A Oralidade e A Escrita - Lisa Earl CastilloMário Júnior100% (2)
- Livro - O Exército Na História Do Brasil - Forum - GeneallDocumento3 páginasLivro - O Exército Na História Do Brasil - Forum - GeneallXzecavAinda não há avaliações
- Resumos SIDGDocumento223 páginasResumos SIDGkrafyaAinda não há avaliações
- RevisaoDocumento5 páginasRevisaoCris BragaAinda não há avaliações
- Atividade InglesDocumento2 páginasAtividade InglesPabloPokeZika GameplaysAinda não há avaliações
- Padre Mario Da LixaDocumento4 páginasPadre Mario Da LixaAgr D. Dinis-odivelas Pombais100% (1)
- Deuses AfricanosDocumento33 páginasDeuses AfricanosEdna GomesAinda não há avaliações
- Roteiro de Ensino Religioso 9º AnoDocumento5 páginasRoteiro de Ensino Religioso 9º AnoCristiane Sena GomesAinda não há avaliações
- Atividade A População IndígenaDocumento2 páginasAtividade A População IndígenaTatiane GonçalvesAinda não há avaliações
- A Diferença Entre Os Termos Hebraicos Betulah e 'AlmahDocumento5 páginasA Diferença Entre Os Termos Hebraicos Betulah e 'AlmahJosé Mauro CorrêaAinda não há avaliações
- Teoria InstitucionalDocumento25 páginasTeoria Institucionalleydervan100% (1)
- Resolucao 11 - 2010 Patrimonio Movel e ImovelDocumento4 páginasResolucao 11 - 2010 Patrimonio Movel e ImovelLuis BembeleAinda não há avaliações
- A Música Como Facilitadora No Processo de Ensino Aprendizagem SlidesDocumento22 páginasA Música Como Facilitadora No Processo de Ensino Aprendizagem SlidesIsabel MarinoAinda não há avaliações
- Cuidado Com As PalavrasDocumento3 páginasCuidado Com As PalavrasJaime Assis Castro100% (2)
- Prova Historia 3 AnoDocumento3 páginasProva Historia 3 AnoPâmela QueirozAinda não há avaliações
- Av2 - Cultura e ContemporaneidadeDocumento2 páginasAv2 - Cultura e Contemporaneidadebeatriz almeidaAinda não há avaliações
- Figurativismo e Neoexpressionismo BarriguinhaDocumento15 páginasFigurativismo e Neoexpressionismo BarriguinhaJorge FernandesAinda não há avaliações
- Carlos Walter Porto-Gonçalves - A Nova Questão Agrária e A Reinvenção Do CampesinatoDocumento12 páginasCarlos Walter Porto-Gonçalves - A Nova Questão Agrária e A Reinvenção Do CampesinatoTássio RiosAinda não há avaliações
- Francisco José - Cristianismo e Positividade No Jovem HegelDocumento128 páginasFrancisco José - Cristianismo e Positividade No Jovem HegelPatrick CoimbraAinda não há avaliações
- RV Gis - Revista Virtual de Gestão de Iniciativas Sociais - .Documento12 páginasRV Gis - Revista Virtual de Gestão de Iniciativas Sociais - .Antony GustavAinda não há avaliações
- Enciclopédia: Seguir A Jesus Sem ReligiaoDocumento131 páginasEnciclopédia: Seguir A Jesus Sem ReligiaoDiegoMelazo100% (4)