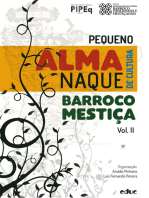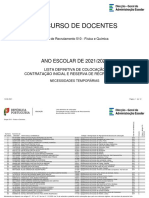Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Arquitetura Indigena
Arquitetura Indigena
Enviado por
Luigi FrancoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Arquitetura Indigena
Arquitetura Indigena
Enviado por
Luigi FrancoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
14
ARQUITETURA INDIGENA
ALMEIDA F. W. 1, YAMASHITA, A. C.².
Resumo: Frente à grande diversidade das culturas indígenas no Brasil, seria impossível
estudar cada uma em particular, devido também (e principalmente) à precariedade dos
dados disponíveis. Além do mais, a existência de uma tradição construtiva não significa
necessariamente que se possa apresentar uma única solução arquitetônica. Com o passar
do tempo, as formas de arquétipos deram origem a uma série de variantes, o que faz
com que o número das soluções se potencialize. Por isso nos limitaremos a algumas das
tipologias já estudadas e que poderão servir de ilustração da grande variedade de
tipologias existentes ou extintas. Abordaremos itens que se relacionam e juntos formam
o universo da habitação indígena, pesquisa essa que seria impossível, sem um estudo
antropológico, pois a habitação indígena é a entidade física onde a cultura e todas as
expressões que a envolvem são praticadas.
PALAVRA-CHAVE: Arquitetura, indígena, região sul.
INDIGENOUS ARCHITECTURE
Abstract: Knowing the great diversity of indigenous cultures in Brazil, it would be
impossible study each one in particular, because also (and especially) the precariousness
of data available. Furthermore, the existence of a building tradition does not mean
necessarily be able to present a unique architectural solution. To Over time, the
archetypal forms have given rise to a number of variants, which makes with the number
of solutions are leverage. Therefore we will limit ourselves to some of the typologies
have been studied and may serve as an illustration of the wide variety of typologies
existing or extinct. Discuss items that are related and together form the universe of
indigenous housing, this research would be impossible without a study anthropological,
because housing is the indigenous culture where physical entity and all expressions that
involve are practiced.
Keywords: Architecture, indigenous southern.
INTRODUÇÃO
ALDEIAS:
A forma mais simples de organização da aldeia é da casa unitária, em que toda a tribo
vive num só teto. É o caso dos tucanos, que habitam a fronteira entre Brasil e Colômbia.
1
Acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo (UNIGRAN)
² Docente do Curso de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil e Agronomia (UNIGRAN), E-mail:
eliasipr@hotmail.com
Revista de Ciências Exatas e da Terra UNIGRAN, v2, n.2, 2013
15
Essa casa tem um formato retangular, com um dos lados menores fechado por uma
semicircunferência. A cobertura é de duas águas, que chegam quase até o solo,
permitindo a presença de paredes da altura de uma pessoa. A casa tem duas portas, uma
na fachada principal, que da para o rio, e a outra nos fundos, dando para as plantações.
O interior é dividido por biombos de folhas de palmeira trançadas, formando nichos.
Cada nicho é ocupado por uma família nuclear, e distribuído segundo o status que a
família ocupa na comunidade. A parte central da construção é dividida em duas partes
fundamentais: a da frente, pintada de amarela, é reservada para os homens, e a de trás,
pintada de vermelho, é própria das mulheres.
A forma mais comum de assentamentos indígenas são as aldeias formadas por varias
construções. A cultura mais estudada que adotou esse tipo de solução é a tupiguarani.
Originária do médio Amazonas, essa cultura tem representantes desde o Alto-
Solimões até as bacias do Paraguai e do Uruguai (onde são conhecidos como guaranis).
O que tornou essa cultura a mais conhecida foi à crença no Mirá, paraíso terrestre tido
como situado nas terras do sol nascente. Em consequência de vários movimentos
messiânicos que surgiam “naturalmente” quando a tribo se tornava muito grande, uma
parte da população iniciava peregrinação ruma ao leste que terminava com a chegada ao
oceano. Não podendo mais continuar com a caminhada, acabavam por ocupar toda a
costa, do Oiapoque ao Chuí, o que levou os europeus a acreditar que era a única cultura
existente no país na época da chegada.
Por suas dimensões continentais, o Brasil contém uma grande diversidade de
ecossistemas, o que resultou no aparecimento de uma grande variedade de soluções
arquitetônicas para a moradia. Uma das mais interessantes foi a das casas subterrâneas e
semi-subterrâneas, espalhadas por toda a América. No Brasil foram construídas nas
regiões elevadas da Mata Atlântica, entre o Sul de Minas Gerais e a região serrana do
Rio Grande do Sul.
No extremo sul do país, nas campinas pampiana, os índios gaicurus desenvolveram uma
técnica de surpreendente atualidade para a construção de suas casas, chamadas de
toldos.
MATERIAIS E MÉTODOS
AS CASAS
Revista de Ciências Exatas e da Terra UNIGRAN, v2, n.2, 2013
16
Casas com planta baixa circular:
A cobertura é cônica (independente da parede) colocada sobre esteios verticais.
Foi vista por entre os Makuxí, do rio Rupununi, e ainda entre os Tiriyó. Às vezes, a
parede não chegava a ser revestida. Tais casas são também encontradas entre os
Wapitxâna, Patamona e Arekuna (Taulipáng). Estes índios, aliás, têm também outras, de
planta baixa elíptica, apresentando cobertura em duas águas. Das duas extremidades da
cumeeira partem secções cônicas verticais que atingem as paredes nas extremidades
circulares da elipse.
Os Tiriyó apresentam grande variedade de tipos de casa (tomando-se a planta baixa e a
cobertura), o que é explicado como resultado do contato destes índios com outras tribos
amazônicas. Existem variantes de a mencionada moradia circular com cobertura cônica,
designada como cupular: mune, tukúxipan e timákötö. A segunda corresponde de modo
geral ao tipo visto entre os Makuxí do Rupununi, embora a forma da cobertura da casa
dos Tiriyó seja menos cônica e mais próxima de um zimbório ou cúpula. A primeira
forma mune, cupular também, não apresenta diferenciação entre parede e cobertura. A
terceira, similar ao mencionado exemplo Makusí, tem esteios verticais, laterais, não
revestidos.
Casas de planta baixa circular e cobertura em cúpula eram igualmente encontradas entre
os Xavantes (Jê) do Brasil Central.
Revista de Ciências Exatas e da Terra UNIGRAN, v2, n.2, 2013
17
Casa Tiriyó – Planta baixa circular
Casa Tiriyó – Corte
Revista de Ciências Exatas e da Terra UNIGRAN, v2, n.2, 2013
18
Casa Xavante – Planta baixa circular
Casas com planta baixa elíptica:
Aparece também entre os Tiriyó, com cobertura de duas águas. Outro exemplo Tiriyó é
a casa taotíntö, de planta baixa em elipse (entretanto incompleta), aberta em uma das
extremidades, também apresentando esteios laterais obliquamente dispostos. A forma
em elipse incompleta era corrente no Uaupés: era assim a maloca dos Tuyúka no rio
Tiquié, alto Uaupés. Entretanto, no decurso de meio século, a planta baixa foi sendo
gradualmente modificada, até tomar forma retangular, em virtude da substituição da
extremidade arredondada (na fachada posterior), por um acabamento semelhante ao
frontal.
Um tipo de habitação foi encontrado em 1888, acima da embocadura dos rios Jacaré e
Tapauá, constituída de estrutura próxima àquela de planta baixa em elipse incompleta,
assentada em balsas de troncos e varas. Os Paumarí morariam nelas ao tempo das
cheias, no meio das lagoas. As aldeias constituíam de 8 a 12 dessas casas-embarcações,
podendo cada uma abrigar uma ou duas famílias.
Além dos casos mencionados, ocorrem habitações de planta baixa elíptica, sem
distinção entre parede e cobertura, no alto Xingu. Apresentam seção transversal em
abóbada de berço e seção longitudinal em asa de cesto. A distância entre casas
contíguas numa aldeia do alto Xingu é de cerca de 5 ou 20 metros.
Revista de Ciências Exatas e da Terra UNIGRAN, v2, n.2, 2013
19
Casa Tiriyó – Planta baixa elíptica.
A casa antropomorfa:
A casa xinguana é comparada ao corpo humano ou animal, de sexo masculino.
Para que permaneça em equilíbrio, na posição correta, ou seja, em pé, deve ter bons pés
plantados no chão, e pernas firmes. Daí, os esteios principais da casa – aqueles disposto
nos focos centrais de uma elipse – ser chamados “pernas” da casa. A parte da
construção correspondente ao trecho médio superior da fachada principal é relacionada
ao peito e o setor oposto, na fachada posterior é considerado como as “costas” da casa.
Os “pés” da casa são considerados como sendo o trecho junto do solo, formado pela
carreira de caibros enterrados como os paus fincados em pé, para fazer as paredes. Os
semicírculos laterais, correspondentes aos setores íntimos da casa, são chamados as
“nádegas” da casa. A cumeeira esta relacionada ao alto da cabeça, não exatamente a
parte mais alta, mais sim, ao trecho entre o alto da cabeça e a testa. As ripas são
consideradas como as “costelas” da casa e a palha ao que reveste os cabelos ou pelos.
Revista de Ciências Exatas e da Terra UNIGRAN, v2, n.2, 2013
20
Antropomorfismo da casa xinguana – Planta baixa e corte.
A grande maloca Tukâno:
O local de implantação da maloca (“casa-aldeia”) é sempre o rio, frequentemente
situado junto a uma corredeira onde se formam amplos remansos e profundas lagoas.
Esse espaço é dividido em três partes: o de rio acima, designado como lugar dos
homens; o de rio abaixo, lugar das mulheres. E, ainda, um lugar intermediário,
frequentado tanto por homens como por mulheres, onde podem ter lugar relações
sexuais. É também nesse local que o pajé realiza seu aprendizado e oficia em certos
rituais. Como se acredita que todos os rios correm para o leste, diz-se que a maloca tem
um lado do levante e um lado poente.
É construída através de trabalho comunal executado pelos membros de um ou mais sibs
patrilineares que deverão ocupá-la. A construção leva cerca de três meses com a
utilização de madeira e folhas de palmeira. Em primeiro lugar, são levantados fortes
esteios, aos quais se prendem vigas-travessões. Acima dessa estrutura, coloca-se a
Revista de Ciências Exatas e da Terra UNIGRAN, v2, n.2, 2013
21
cobertura em duas águas. A planta resulta ser retangular alongada, ocorrendo tanto uma
extensão longitudinal quanto transversal maior, toma-se como ponto de referência a
cumeeira, ortogonal ao rio.
A maloca Tukâno tem duas portas, uma na fachada principal que dá para o rio, e outra
na fachada posterior. O interior da casa é dividido por tabiques de folhas de palmeira
trançadas, ocupando as famílias nucleares os nichos próximos às paredes, situados na
metade traseira. Aos membros do sibs de status mais alto é reservada a área próxima ao
meio da casa. A parte da frente é destinada aos visitantes.
Antiga casa-aldeia Tukâno – Cortes e fachadas.
Casas com planta baixa retangular:
Com cobertura e parede contíguas, e tendo forma ogival na secção reta, foi vista entre
os grupos Karib do alto rio Barima. Casas de planta baixa retangular também eram
encontradas entre os Aruak, Warrau e Karib do Demerara, bem como entre os Galibí
(Karib) de Caiena e ainda Makuxí. Algumas formas Tiriyó apresentam planta retangular
com cobertura em duas águas.
Revista de Ciências Exatas e da Terra UNIGRAN, v2, n.2, 2013
22
Casa Tiriyó – Planta baixa retangular.
Casas com planta baixa poligonal:
As casas dos Marúbo e Mayorúna, grupos de língua pano da fronteira Brasil-Peru,
apresentam respectivamente planta decagonal e hexagonal.
A Shabono dos Yanomamis
Revista de Ciências Exatas e da Terra UNIGRAN, v2, n.2, 2013
23
Shabono é como chamam os Yanomami, a aldeia-casa permanente, ocupada por um
grupo de parentes, ou teri.
Essa aldeia-casa tem forma circular ou poligonal, correspondendo cada lado do
polígono à residência de uma família, ou nano.
A shabono dura apenas um ou dois anos, ou porque as folhas começam a romper-se, ou
porque se torna necessário queimar a aldeia a fim de destruir baratas, aracnídeos e
outras pragas invasoras. Não existem tipos distintos dessa aldeia-casa, mas apenas
diferentes tamanhos de um único tipo de shabono, cujo dimensionamento é função do
numero de pessoas que abriga. A cobertura das unidades de moradia é articulada de
modo a formar uma única superfície que abriga a todas. É um cone truncado em sua
parte superior onde permanece aberto para a penetração da luz solar na praça central,
bem como para exaustão da fumaça.
A cobertura executada para tapar o grande vão central chega a atingir 15 metros de
diâmetro. Utilizam como revestimento da mesma apenas as pínulas das folhas de
palmeira, o que a torna bastante leve. Preocupam-se em proteger esse teto contra os
ventos, lançando sobre ele varas compridas e galhos; e também, utilizam-se da magia
protetora dos xamãs. O local escolhido para a construção da shabono deve ser bem
drenado, de preferência em alguma elevação do terreno.
Escolhido o lugar de implantação, os Yanomami tratam da limpeza do terreno e da
construção de uma aldeia temporária, composta de abrigos, onde vivem até o termino
definitivo da shabono. Cabe ao homem localizar, cortar e transportar a madeira para o
local, bem como edificar e revestir a shabono. À mulher é reservada a tarefa de coletar
os cipós a serem empregados na amarração, bem como as folhas de palmeiras para o
revestimento.
A estrutura de cada shabono se constitui de quatro esteios fincados no terreno: dois
interiores, com 1,50m de altura, distando estes dos anteriores cerca de 2,40m a 2,70m. é
colocada a terça única sobre os esteios de dentro; sobre os exteriores é colocado o
frechal. Numerosos caibros de bitola estreita – com comprimento variando entre 6 a 9
metros, conforme o raio de circunferência que define a shabono -, são sobrepostos à
terça e ao frechal. Os caibros mantêm entre si intervalo de aproximadamente a metade
da altura dos esteios interiores, os caibros ultrapassam frechal e terça, formando ângulo
de 25° a 30°, com o plano horizontal do terreno. O pequeno beiral que apresenta a
cobertura evita que as águas das chuvas escorram sobre a parede externa da construção.
Revista de Ciências Exatas e da Terra UNIGRAN, v2, n.2, 2013
24
Os caibros formam também um grande balanço de 4,50m de comprimento, ou mais,
além da terça, cobrindo parcialmente o pátio interno da aldeia.
Toda a estrutura é amarrada com cipó, e de cipó também são confeccionadas as ripas da
cobertura. Tais ripas são esticadas paralelamente umas às outras, interligando a base ao
topo. Cada cipó amarrado recebe isoladamente o revestimento de pínulas de
28 folhas de palmeira. Segue-se outro cipó no qual as pínulas são presas à fiada anterior.
Quando as fiadas de pínulas atingem a altura da terça é construído um andaime, no pátio
da aldeia, para efetuar-se o revestimento, em toda a extensão dos caibros. É pendurada
no topo da cobertura, a cerca de 6 metros de altura, uma franja do mesmo material de
revestimento, à qual a funciona como pingadeira. Com efeito, sem essa franja, as águas
da chuva escorreriam de modo a molhar o local de colocação de redes.
Aldeia-casa Yanomami – Planta baixa – encaibramento.
A casa-aldeia dos Marúbo
Cada unidade constitui um grupo local. Há, entretanto, agrupamentos de malocas,
localizadas em colinas vizinhas, ou sobre uma só colina, constituindo também,
Revista de Ciências Exatas e da Terra UNIGRAN, v2, n.2, 2013
25
provavelmente, um grupo local. Não as constroem nos postos indígenas. Aí, cada
família nuclear habita casas sobre pilotis.
Uma semelhança entre casa Marúbo e casa alto-Xinguana seria o antropomorfismo que
ambas conotariam, conforme se depreende da terminologia de partes da construção e de
acordo com as noções indígenas. Os Marúbo identificariam a casa ao corpo do Xamã,
assim como a do alto Xingu seria assimilada a um ser masculino (ou andrógino), dotado
de enfeites e pintura corporal que o humanizam.
A casa-aldeia Marúbo é construída segundo um modelo padrão, cuja planta tem forma
poligonal, irregular, de dez lados. Apresenta simetria em relação a um eixo longitudinal,
em cujas extremidades são colocadas as portas da referida maloca. Os lados
intermediários do decágono, situados nas extremidades de um eixo transversal, são
maiores que os demais. Suas medidas variam entre 9 e 31 metros de comprimento, 7 e
17 metros de largura e cerca de 8m de altura.
A maloca apresenta um total de 24 esteios: 8 centrais e 16 periféricos, dispostos da
seguinte maneira: os centrais, mais elevados, são colocados em duas fileiras paralelas de
4 esteios. Mantém-se uma distancia constante entre eles, deixando-se a meio da
construção um corredor em toda sua extensão longitudinal. Existem 8 esteios laterais
chamados txibi toba nati, dispostos paralelamente a esses do centro ao longo dois 2
lados maiores do polígono. Tomando-se quaisquer dimensões da maloca, maiores ou
menores, há 4 esteios que chamamos intermediários, dispostos entre os anteriores e os
que se seguem em ângulos formados pelos lados menores do polígono. Outros quatro
esteios, aos quais chamamos umbrais, designados pelos índios coití, estão dispostos dois
a dois nos extremos da construção, a cada lado das portas.
Algumas terças são amarradas sobre encaixes localizados nos topos dos
esteios: as centrais e as laterais têm o mesmo comprimento do lado maior da
construção; as que correspondem aos lados menores do polígono são chamadas repã
pisque. Quatro travessões paralelos são assentados e amarrados sobre as terças centrais,
unindo dois a dois os esteios correspondentes. As saliências por elas produzidas na face
externa da cobertura de palha são chamadas de cape marechquicá, isto é, semelhante às
saliências da barriga do jacaré. Os caibros são colocados por cima das terças, amarrados
a elas com cipó por meio de um laço denominado mai mãtsisca, que significa “unha de
preguiça”. Os caibros que formam as águas dos lados maiores são os caya txipá. Os
correspondentes às águas dos lados menores apoiam-se nos caibros frontais extremos.
Revista de Ciências Exatas e da Terra UNIGRAN, v2, n.2, 2013
26
Outros cano txipá se apoiam, por sua vez, nos caibros laterais: correspondem aos lados
menores do polígono. Os quatro caibros frontais que incidem, dois a dois, sobre os
esteios-umbrais são chamados bosecti anõ nechá, e sustentam as vergas do mesmo
nome, em numero de duas, uma para cada porta. Estas vergas apoiam-se nos caibros que
incidem sobre os esteios dos umbrais, e não diretamente sobre eles. As soleiras e os seis
caibros que incidem sobre as vergas (três para cada uma) são chamados aresró, sendo
que as centrais correspondem aos espigões. A amarração desses caibros frontais é feita
em laço que forma desenhos losangulares.
A cumeeira é sustentada pelos caibros relativos aos lados maiores do polígono.
A estrutura das paredes é formada por paus finos verticais, fincados no chão, com cerca
de um metro de altura tocando os caibros em suas extremidades. Esta união é reforçada
por uma vara longitudinal, à qual estes paus e caibros são amarrados.
Aldeia Marúbo: “Maloca de Paulo” – Rio Paraguaçu
Revista de Ciências Exatas e da Terra UNIGRAN, v2, n.2, 2013
27
Casa-aldeia Marúbo – Corte e fachada.
Revista de Ciências Exatas e da Terra UNIGRAN, v2, n.2, 2013
28
Casa-aldeia Marúbo – Planta baixa decagonal.
TECNOLOGIA INDÍGENA
Técnicas construtivas, materiais aplicados e adaptações ao meio são partículas do
contexto da tecnologia indígena. Geralmente as técnicas e materiais empregados se
assemelham entre as tribos. O que difere algumas vezes são as formas aplicadas e o
mais importante a adaptação que a tecnologia sofreu em relação a região climática que a
tribo esta inserida, pois encontra realidades diferentes de composição natural, e
consequentemente na disponibilidade de materiais diferentes e condições metrológicas
diferentes que interferem e ditam a forma e o emprego da tecnologia.
Conclusões:
As construções indígenas, resultado de uma evolução de centenas ou milhares de anos
pela interação do homem com o ambiente no qual vive, proporcionam informações
importantes sobre como é possível a sobrevivência em clima equatorial úmido sem
necessidade de recorrer a meios de condicionamento artificial.
No caso da arquitetura indígena, nos deparamos com uma arquitetura vernacular, na
qual os próprios ocupantes desenvolveram, com material local, formas e estruturas que
não destoam com o ambiente.
Quando estudamos as terras da América do sul, encontramos um clima totalmente
diferente: do norte de Roraima até o estado de São Paulo, estamos em um clima
equatorial ou tropical, no qual a variação de temperatura entre o dia e a noite é superior
à variação da temperatura entre o período mais frio e o período mais quente do ano. Em
grande parte da região, o calor, e não o frio, é o elemento do qual o homem deve se
Revista de Ciências Exatas e da Terra UNIGRAN, v2, n.2, 2013
29
proteger, e a umidade é o grande vilão do conforto. É nesse contexto que surge a
arquitetura indígena, feita de estruturas leves, permeáveis ao ar, que retira o calor em
excesso e, principalmente, remove a umidade, que embolora e mofa qualquer coisa.
Referências Bibliográficas:
Habitações indígenas, Caiuby Novaes, Sylvia (org.), - Nobel, Ed. da Universidade de
São Paulo, 1983.
Suma etnológica brasileira - 2- tecnologia indígena – 2° edição - Coordenação: Ribeiro
G.,Berta - Editora vozes, 1987 .
Weimer, GUNTER - Arquitetura popular brasileira. – Ed. Martins Fontes - 2005
O Xingu dos Vilas Boas – Organização e edição: Cristina Muller, Luiz Octávio Lima e
Moíses Rabinovici – Ed. Metalivros - 2002
http://www.mrdavilaarchitecture.com/Projekte/indios/comunidades%20ind%EDgenas_
port.html
Revista de Ciências Exatas e da Terra UNIGRAN, v2, n.2, 2013
Você também pode gostar
- Michael Harner-O Caminho Do XamaDocumento242 páginasMichael Harner-O Caminho Do XamaLeonardo Torres96% (25)
- Paulo No Caminho de Damasco PDFDocumento297 páginasPaulo No Caminho de Damasco PDFIsteferson Rosa de Melo100% (2)
- FavasdocDocumento19 páginasFavasdocJosé Carlos Cavalheiro83% (6)
- John Walker - Primeiramente ApóstolosDocumento57 páginasJohn Walker - Primeiramente ApóstolosAndré Luiz Silva Schuindt100% (1)
- Arquitetura Pré-Colonial - Alysson, Rafael L, Keli, ElaraDocumento51 páginasArquitetura Pré-Colonial - Alysson, Rafael L, Keli, ElaraAlysson Velozo BachAinda não há avaliações
- Ceramica TupiguaraniDocumento7 páginasCeramica TupiguaraniRenata CarvalhoAinda não há avaliações
- CHIQUINHA Machuca - Canto-E-Piano PDFDocumento5 páginasCHIQUINHA Machuca - Canto-E-Piano PDFJHBernardoAinda não há avaliações
- FilosofiaDocumento430 páginasFilosofiaCarlos Eduardo BeloteAinda não há avaliações
- Abya Yala!: Genocício, resistência e sobrevivência dos povos originários do atual continente americanoNo EverandAbya Yala!: Genocício, resistência e sobrevivência dos povos originários do atual continente americanoAinda não há avaliações
- Arquitetura Indigena BrasilDocumento51 páginasArquitetura Indigena BrasilHilario Kixa Zelaro100% (1)
- Técnicas ConstrutivasDocumento21 páginasTécnicas ConstrutivasLara SousaAinda não há avaliações
- TÉCNICAS CONTRUTIVAS INDÍGENAS - Marcelo AssunçãoDocumento30 páginasTÉCNICAS CONTRUTIVAS INDÍGENAS - Marcelo AssunçãoNarrima CarneiroAinda não há avaliações
- Aby Warburg SerpenteDocumento24 páginasAby Warburg SerpenteValdir Prigol100% (1)
- Linhas Da QuimbandaDocumento11 páginasLinhas Da QuimbandaO9AREAPER100% (1)
- Arquitetura Afro BrasileiraDocumento26 páginasArquitetura Afro BrasileiraLuciana XavierAinda não há avaliações
- Aula 1 - Arquitetura Povos OriginaisDocumento169 páginasAula 1 - Arquitetura Povos OriginaisAna Paula Gurgel100% (3)
- Historia Da Idade ModernaDocumento50 páginasHistoria Da Idade ModernaJoão Dordio100% (2)
- Projeto de PesquisaDocumento10 páginasProjeto de PesquisaarquivosdamariaoctaviaAinda não há avaliações
- (Arqueologia Medieval) FrequênciaDocumento6 páginas(Arqueologia Medieval) FrequênciaVasile BilanAinda não há avaliações
- Teste HistóriaDocumento2 páginasTeste HistóriaThaina Massardi50% (2)
- Arquitetura Indígena BrasileiraDocumento33 páginasArquitetura Indígena BrasileiradjairjuniorAinda não há avaliações
- Arquitetura Indígena No BrasilDocumento7 páginasArquitetura Indígena No BrasilEda Angélica de SouzaAinda não há avaliações
- Tupiniquins e CaetésDocumento20 páginasTupiniquins e CaetésRafael SoaresAinda não há avaliações
- Arquitetura Indígena No Brasil - Leitura ComplementarDocumento9 páginasArquitetura Indígena No Brasil - Leitura Complementardenis.artslpAinda não há avaliações
- Arquitetura Indígena BrasileiraDocumento4 páginasArquitetura Indígena BrasileiraNanda RodriguesAinda não há avaliações
- Artigo Sobre Arquitetura Vernacular No B PDFDocumento19 páginasArtigo Sobre Arquitetura Vernacular No B PDFhubermann505Ainda não há avaliações
- 132489-Texto Do Artigo-253117-1-10-20170516Documento12 páginas132489-Texto Do Artigo-253117-1-10-20170516AlanAndersonAinda não há avaliações
- Catálogo 23.1Documento32 páginasCatálogo 23.1Ana ClaraAinda não há avaliações
- História Antiguidade Pré ApontamentosDocumento24 páginasHistória Antiguidade Pré ApontamentosConstança TarranaAinda não há avaliações
- 3 de Primatas A Humanos - Ruben YguaDocumento79 páginas3 de Primatas A Humanos - Ruben YguaEvaldoMerimAinda não há avaliações
- 07 Arquitetura VernacularDocumento30 páginas07 Arquitetura VernacularDraulio AraujoAinda não há avaliações
- Os Sítios de Habitação e Seus Materiais - RGSDocumento40 páginasOs Sítios de Habitação e Seus Materiais - RGSJéssie GreissenAinda não há avaliações
- Pré-História e PrimitivoDocumento6 páginasPré-História e PrimitivoApollo MartinsAinda não há avaliações
- A Casa Brasileira Do Período Colonial À Arquitetura ModernaDocumento14 páginasA Casa Brasileira Do Período Colonial À Arquitetura ModernaLorena Porto LorenaAinda não há avaliações
- Viveiros de Castro - Amazonia AntropizadaDocumento3 páginasViveiros de Castro - Amazonia AntropizadaBela LugosiAinda não há avaliações
- Habitações Da AntiguidadeDocumento39 páginasHabitações Da AntiguidadeÍbera Aquitetura0% (1)
- Aula 04 - CRUZ, C. F. (2008) LidoDocumento11 páginasAula 04 - CRUZ, C. F. (2008) Lidomariana nogueiraAinda não há avaliações
- Hapc TesteDocumento8 páginasHapc TesteConstança TarranaAinda não há avaliações
- 27372-Texto Do Artigo-94923-2-10-20200804Documento16 páginas27372-Texto Do Artigo-94923-2-10-20200804EliseuAinda não há avaliações
- Arquitetura Pré-HistoriaDocumento6 páginasArquitetura Pré-HistoriaKeven NascimentoAinda não há avaliações
- A Casa Brasileira Do Período Colonial À Arquitetura ModernaDocumento14 páginasA Casa Brasileira Do Período Colonial À Arquitetura Modernalovemusicmari100% (1)
- A Evolucao Do Cavalo Na HistoriaDocumento11 páginasA Evolucao Do Cavalo Na HistoriaDanniel Cabral Leão FerreiraAinda não há avaliações
- As Cidades Perdidas Da Amazônia - Scientific American Brasil - Duetto EditorialDocumento3 páginasAs Cidades Perdidas Da Amazônia - Scientific American Brasil - Duetto Editorialalex lottiAinda não há avaliações
- AldeiaDocumento3 páginasAldeiaEmille DiasAinda não há avaliações
- Cabalzar - TuyukaDocumento10 páginasCabalzar - TuyukadecioguzAinda não há avaliações
- DOURADO. Vegetação e Quintais Da Casa BrasileiraDocumento19 páginasDOURADO. Vegetação e Quintais Da Casa BrasileiraLígia MauáAinda não há avaliações
- Thau - Ar.m1.17 - Atv - 01 - Murilo BonderDocumento3 páginasThau - Ar.m1.17 - Atv - 01 - Murilo BondermurilobonderAinda não há avaliações
- A Habitação - E A Sua Evolução Ao Longo Dos TemposDocumento10 páginasA Habitação - E A Sua Evolução Ao Longo Dos TemposBrandyCroftsAinda não há avaliações
- Moradia Indígenas - Caracterísitcas - Texto ComplementarDocumento12 páginasMoradia Indígenas - Caracterísitcas - Texto Complementardenis.artslpAinda não há avaliações
- Nova Escola: ArqueologiaDocumento4 páginasNova Escola: ArqueologiaClayton BaroneAinda não há avaliações
- Electra Enlutada 1931 de Eugene Oneill O TragicoDocumento16 páginasElectra Enlutada 1931 de Eugene Oneill O TragicoPedro SalesAinda não há avaliações
- Hab 1 - UnipDocumento48 páginasHab 1 - UnipAmanda FrancineAinda não há avaliações
- Crónica Sobre A Evolução Do Território em Tempos Pré-Medievais - Luis PinhoDocumento9 páginasCrónica Sobre A Evolução Do Território em Tempos Pré-Medievais - Luis PinholuisilvapinhoAinda não há avaliações
- 369 Guia de Leitura Historias Dos Maoris Um Povo Da Oceania PDFDocumento7 páginas369 Guia de Leitura Historias Dos Maoris Um Povo Da Oceania PDFAnonymous OudadsrAinda não há avaliações
- Cultura MacuaDocumento13 páginasCultura MacuaJoaquim Rodrigues Agonia100% (2)
- Atividade America Colonial - AlunoDocumento3 páginasAtividade America Colonial - AlunoDouglasDionatanGomesAinda não há avaliações
- Pesquisa de GeografiaDocumento8 páginasPesquisa de Geografiamariana crocelliAinda não há avaliações
- Trabalho Arquitetura IndigenaDocumento8 páginasTrabalho Arquitetura IndigenaalbertoarsAinda não há avaliações
- Arquitetura CivilDocumento5 páginasArquitetura Civilrafaela.gomesdesouzaAinda não há avaliações
- A Construção Da Casa No BrasilDocumento9 páginasA Construção Da Casa No BrasilmaryloubrasilAinda não há avaliações
- À Sombra Dos Muxarabis - Corpo de TextoDocumento11 páginasÀ Sombra Dos Muxarabis - Corpo de TextoDiogo FornelosAinda não há avaliações
- Hidrelétricas e Povos Indígenas: O Caso Apucaraninha -: Volume I - A EELSA e a Eletricidade para a Pequena Londres e RegiãoNo EverandHidrelétricas e Povos Indígenas: O Caso Apucaraninha -: Volume I - A EELSA e a Eletricidade para a Pequena Londres e RegiãoAinda não há avaliações
- Hidrelétricas e Povos Indígenas: O Caso Apucaraninha. "Pedagogia da Nacionalidade": Indigenismo e Ação Kaingang no Posto Indígena ApucaranaNo EverandHidrelétricas e Povos Indígenas: O Caso Apucaraninha. "Pedagogia da Nacionalidade": Indigenismo e Ação Kaingang no Posto Indígena ApucaranaAinda não há avaliações
- História do desmatamento da Floresta com Araucária: agropecuária, serrarias e a Lumber Company (1870-1970)No EverandHistória do desmatamento da Floresta com Araucária: agropecuária, serrarias e a Lumber Company (1870-1970)Ainda não há avaliações
- 303 20130709060343-Resultado Preliminar 2 Fase GeralDocumento124 páginas303 20130709060343-Resultado Preliminar 2 Fase GeralLucilene Sampaio SouzaAinda não há avaliações
- Apostila de Datas Comemorativas MiDocumento27 páginasApostila de Datas Comemorativas MiPriscila silvaAinda não há avaliações
- Crónica de D. João I - Contextualização HistóricaDocumento25 páginasCrónica de D. João I - Contextualização Históricamjoao387113Ainda não há avaliações
- Musicas Mais TocadasDocumento5 páginasMusicas Mais TocadasAnonymous 6Qv4EcAinda não há avaliações
- Modernismo 3 GeraçãoDocumento3 páginasModernismo 3 GeraçãoPaula BorgesAinda não há avaliações
- 50 Filmes Sobre Ditadura Completos e TrailersDocumento4 páginas50 Filmes Sobre Ditadura Completos e TrailersM Sousa RodriguesAinda não há avaliações
- Escrevendo Contra A CulturaDocumento19 páginasEscrevendo Contra A CulturaAmanda Fievet100% (1)
- Questões Barroco ArcadismoDocumento4 páginasQuestões Barroco ArcadismoAndréa Sousa Silveira SilvaAinda não há avaliações
- Unidades - Organicas - Pafc - Que - Integraram o Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular em 2017 - 2018Documento6 páginasUnidades - Organicas - Pafc - Que - Integraram o Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular em 2017 - 2018Anabela A.Ainda não há avaliações
- O Que É A CrismaDocumento12 páginasO Que É A CrismaProerd AgresteAinda não há avaliações
- Psa 1° RCC 2023 OkDocumento70 páginasPsa 1° RCC 2023 OkJoao NunesAinda não há avaliações
- Trabalho Sobre A OceaniaDocumento24 páginasTrabalho Sobre A OceaniaRenan MarquesAinda não há avaliações
- Tema A Importancia Da Oração em Nossa VidaDocumento7 páginasTema A Importancia Da Oração em Nossa VidaBinhoAinda não há avaliações
- Atlas Do Censo Demográfico 2010Documento18 páginasAtlas Do Censo Demográfico 2010Kátia RangelAinda não há avaliações
- Evangelho Segundo JoãoDocumento11 páginasEvangelho Segundo JoãoGrazielly SilverioAinda não há avaliações
- CARTA - Retiro Da Catequese 2018Documento1 páginaCARTA - Retiro Da Catequese 2018airtonfelix100% (1)
- UlissesDocumento3 páginasUlissesDiogo MorgadoAinda não há avaliações
- Mensagem 163 - Agar No DesertoDocumento2 páginasMensagem 163 - Agar No DesertoDiário Do Levita BrasiliaAinda não há avaliações
- Israelitas - Retornando À Torah - Herança Israelita (2) - Tribos de Yehudah - Judá e LeviDocumento5 páginasIsraelitas - Retornando À Torah - Herança Israelita (2) - Tribos de Yehudah - Judá e LeviMarcos LuzAinda não há avaliações
- Listas Coloc CI 2021 510Documento12 páginasListas Coloc CI 2021 510maia8775Ainda não há avaliações
- Edital 2022 10 Ampla SEDocumento55 páginasEdital 2022 10 Ampla SEingridkelly91Ainda não há avaliações
- Desviados Do Caminho Do Senhor JesusDocumento22 páginasDesviados Do Caminho Do Senhor JesusDAVID ALEXANDRE ROSA CRUZAinda não há avaliações
- Filosofia IIDocumento105 páginasFilosofia IIpoliciamilitarpmpi2022Ainda não há avaliações








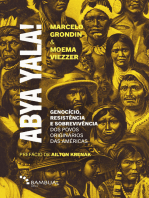





















































![Os Lengua-Maskóy [Enxet] do chaco Paraguaio](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/687696715/149x198/3b5d2267a1/1701089300?v=1)