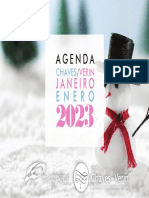Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Artigo O Vídeoensaio Como Signo Do Cinema
Artigo O Vídeoensaio Como Signo Do Cinema
Enviado por
Marcelo GuerreiroDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Artigo O Vídeoensaio Como Signo Do Cinema
Artigo O Vídeoensaio Como Signo Do Cinema
Enviado por
Marcelo GuerreiroDireitos autorais:
Formatos disponíveis
temática ISSN 1807-8931
O vídeo ensaio como signo do cinema
Video essay as a sign of cinema
Luiz Gustavo Vilela TEIXEIRA1
Resumo
O vídeo ensaio, vídeos que usam a própria linguagem do audiovisual para lhe escrutinar
criticamente, é uma poderosa ferramenta crítica para análise cinematográfica. Cabe
questionar, porém, quais são seus artifícios como fenômeno comunicacional, posto que
ele se articula a priori como fluxo, não como obra estanque, ao nascer de outras obras e
refletir sobre elas. Este breve texto irá abordar o vídeo ensaio, conceituado a partir de
Timothy Corrigan, Arlindo Machado e Phillip Dubois, tomando as lentes da semiótica
peirceana, através dos conceitos de Fernando Andacht.
Palavras-chave: Vídeo Ensaio. Semiótica. Every Frame a Painting.
Abstract
The video essay, videos that use the audiovisual language to critically scrutinize itself,
can be a powerful tool for cinematographic analysis. It is worth questioning, however,
what are its devices as a communicational phenomenon, since it is articulated a priori as
a flow, not as a fixed work, when other works are born and reflect on them. This short
text will address the video essay, conceptualized from Timothy Corrigan, Arlindo
Machado and Phillip Dubois, taking the lenses of Peircean semiotics, through the works
of Fernando Andacht.
Keywords: Video Essay. Semiotics. Every Frame a Painting.
Introdução
A crítica de cinema típica, textual, traz em si o problema fundamental do meio
de expressão. Há um notável salto cognitivo ao se usar texto para discutir imagens em
movimento, o que cria evidente ruído no debate social. Consideremos, por exemplo, a
diferença entre uma crítica cinematográfica e a literária. Esta trabalha com texto, usando
o mesmo meio e código para refletir sobre seu objeto de análise, enquanto aquela exige
1
Doutorando em Comunicação e Linguagens (UTP). Professor do Curso de Comunicação Social –
Jornalismo da FATEC-PR. Beneficiário da taxa PROSUP/CAPES. E-mail: luizgvt@gmail.com
ANO XVII. N. 08. AGOSTO/2021 – NAMID/UFPB http://periodicos.ufpb.br/index.php/tematica/index 91
temática ISSN 1807-8931
um grande poder de descrição, por parte do crítico, e de abstração, por parte do leitor,
para questionar as imagens que busca analisar.
Um fenômeno, porém, parece atacar justamente a questão central deste salto
cognitivo ao usar as imagens em movimento para questionar elas próprias. Muitos
nomes são usados para descrever estes filmetes de crítica de cinema. Vídeo ensaio,
vídeo ensaio crítico ou mesmo ensaio videográfico. Para fins de claridade, adoto aqui o
primeiro, ‘vídeo ensaio’, que foi popularizado pelo jornalismo cultural anglófono (video
essay) ao divulgar e refletir sobre o impacto destes trabalhos. De modo sintético o
Vídeo Ensaio envolve o processo de retrabalhar um filme ou um conjunto de filmes de
forma a criar uma obra com discursos próprios. Este novo trabalho é, por sua vez,
construído com finalidades que podem ser didáticas, poéticas ou uma amálgama dos
dois (GRANT, 2017). Exemplos práticos podem ser encontrados no canal do YouTube
Every Frame a Painting, criado pelo editor Tony Zhou e pela animadora Taylor Ramos.
As sequências dos filmes a serem escrutinados, mesmo em novo contexto, são
as mesmas. Essa é, afinal, uma das características inerentes da reprodutibilidade
cinematográfica, como apontado por Walter Benjamin em seu ensaio seminal “A Obra
de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica” (1985). Fora do contexto original,
todavia, e recontextualizada com outro propósito que não o seu original – como parte
integral de um projeto cinematográfico que se cristaliza em determinado contexto no
tempo e no espaço –, a sequência (pensada aqui como unidade dramática) deixa de ser
um signo ligado à narrativa (tomando, claro, o cinema narrativo, seja ficcional ou
documental, como ponto de partida), para se tornar algo diferente. Geralmente um
testemunho do gênio ou reconhecimento de alguma característica autoral do diretor, mas
não apenas isso.
O cinema se torna parte do mundo ao existir e, assim, pode ser usado pelas
suas próprias ferramentas para ser reorganizado e retrabalhado. É uma noção próxima
da forma como Pier Paolo Pasolini pensa sobre a relação entre o mundo e o cinema. O
diretor, roteirista, poeta, ensaísta e teórico “escreve sobre o modo em o cinema reproduz
a realidade: ‘a realidade não seria afinal de contas mais que o cinema em estado de
natureza’ ou ‘o que representa o cinema é a realidade através da realidade’”
ANO XVII. N. 08. AGOSTO/2021 – NAMID/UFPB http://periodicos.ufpb.br/index.php/tematica/index 92
temática ISSN 1807-8931
(ANDACHT, 2016, p. 6. Tradução nossa2). Se a realidade é o cinema em estado bruto,
o cinema é o vídeo ensaio em estado bruto.
Cabe questionar, porém, se, quando usado pelo vídeo ensaio, o cinema já não integra a
realidade – o mundo, portanto. Esta ideia, de considerar o cinema como parte do mundo
e então passível de semiose ficará mais clara ao longo deste artigo.
O vídeo ensaio
Os vídeos ensaios, em sua atual formulação, são fenômenos recentes, ligados à
disponibilidade de plataformas de publicação e exibição de vídeos de forma
descentralizada e de softwares de edição de imagens ao alcance de praticamente
qualquer pessoa. Por outro lado, há, historicamente, uma série de experiências que
trabalham com a reconfiguração do cinema com fins poético-didáticos. Um dos mais
notáveis, por exemplo, é o História(s) do Cinema (Histoire(s) du cinema, 1988-1998),
de Jean-Luc Godard, escrutinado tanto por Phillip Dubois (2018) quanto por Gabriela
Almeida (2018) em trabalhos que são referência neste texto. O vídeo ensaio, porém, é
um fenômeno intimamente ligado à popularização das tecnologias digitais, permitindo
que qualquer um possa retrabalhar diferentes filmes, sem depender, como Godard, de
um equipamento de montagem ou edição específicos e um acordo de produção e
exibição com um canal de televisão.
Apesar do nome, vídeo ensaio, ter sido criado sem o rigor acadêmico, ele
oferece parâmetros interessantes para pensarmos alguns de seus gestos processuais e
efeitos de sentido. Coincidentemente ou não, alguns pesquisadores que se dedicaram a
refletir tanto sobre “vídeo” quanto sobre “ensaio” (em particular o filme-ensaio) vão
descrever a ambos como uma forma de pensamento. Comecemos pelo vídeo, primo,
primeiro magnético e depois digital, do cinema – no sentido em que sua aplicação
inicial está em capturar imagens que estão latentes no mundo. Arlindo Machado
(2011b) enquadra esta reflexão partindo da noção de especificidade da mídia ao afirmar
que o vídeo:
2
“escribe sobre el modo en que el cine reproduce la realidad: ‘la realidad no sería a fin de cuentas más
que el cine en estado de naturaleza’ o ‘lo que representa el cine es la realidad a través de la realidad’”
ANO XVII. N. 08. AGOSTO/2021 – NAMID/UFPB http://periodicos.ufpb.br/index.php/tematica/index 93
temática ISSN 1807-8931
(...) deixa de ser concebido e praticado apenas como uma forma de
registro ou de documentação, nos sentidos mais inocentes do termo,
para ser encarado como um sistema de expressão pelo qual é possível
forjar discursos sobre o real (e sobre o irreal). Em outras palavras, o
caráter textual, o caráter de escritura do vídeo, sobrepõe-se lentamente
à sua função mais elementar de registro. (MACHADO, 2011b, p. 173)
O vídeo existe, portanto, para além da simples apreensão da imagem. Ele se
constitui como discurso sobre o mundo ao articular estas imagens. Talvez o melhor
exemplo contemporâneo se dê em programas de notícias que usam outros programas de
notícias como fonte3 para suas imagens. O vídeo reexamina os mundos, discursivos ou
não, que haviam sido captados anteriormente permitindo a criação e/ou revelação de
novos discursos que estavam latentes nas imagens originais. Em outro texto,
MACHADO (2011a) interroga o vídeo em sua materialidade a partir das distorções
espaço-temporais nas imagens do cinema, da película. “O tempo já não é mais, como
era no cinema, aquilo que se interpõe entre um fotograma e outro, mas aquilo que se
inscreve no próprio desenrolar das linhas de varredura e na sua superposição no quadro”
(MACHADO, 2011a, p. 115).
Ao abraçar o tempo enquanto valor distorcivo na própria imagem, o vídeo se
torna fluido, arredio, avesso a definições. “No momento em que se tentava apreendê-lo
ou construí-lo, o vídeo escapava por entre os dedos, como a areia, o vento ou a água (...)
como se aquilo que chamáramos de ‘vídeo’ não tivesse sido no fundo nada mais que
uma transição, uma ilusão, um modo de passagem” (DUBOIS, 2018, s/p). Ainda assim,
o vídeo não apenas existia, como resistia, não só como um suporte para a exibição
doméstica de filmes que tempos antes estavam no cinema. E então, se existe urge
classificá-lo.
Dubois (2018) resolve, em parte, este problema justamente ao “considerá-lo
como um pensamento, um modo de pensar. Um estado, não um objeto. O vídeo como
um estado-imagem, como forma que pensa (e que pensa não tanto o mundo quanto as
imagens do mundo e os dispositivos que as acompanham)” (s/p). O que o vídeo pensa é
o próprio cinema – partindo aqui da noção mais ampla possível de cinema, justamente
pela sua transitoriedade, tornando fluida e fugidia a montagem cristalizada dos filmes,
permitindo que eles se articulem, revelem a si mesmos. Demandando, enfim, que o
cinema pense.
3
Os exemplos mais óbvios são o Greg News e sua matriz original The Last Week Tonight com John
Oliver, ambos produzidos e veiculados pelo HBO.
ANO XVII. N. 08. AGOSTO/2021 – NAMID/UFPB http://periodicos.ufpb.br/index.php/tematica/index 94
temática ISSN 1807-8931
Se o vídeo, enquanto um estado, fornece o substrato material para o
pensamento, o ensaio permite a postura reflexiva. Para Timothy Corrigan (2015) o
filme-ensaio, que é sua tradução em audiovisual, é “um teste da subjetividade
expressiva por meio de encontros experienciais em uma arena pública, cujo produto se
torna afiguração do pensar ou pensamento como um discurso cinematográfico e uma
resposta do espectador” (2015, p.33). É a tradução, para o procedimento audiovisual, do
que Adorno já havia apontado quando discutiu o ensaio textual, escrevendo, ele próprio
em formato ensaístico, que ele, o ensaio, "leva em conta a consciência da não-
identidade, mesmo sem expressá-la; é radical no não-radicalismo, ao se abster de
qualquer redução a um princípio e ao acentuar, em seu caráter fragmentário, o parcial
diante do total" (ADORNO, 2003, p. 25). Ou, como supõe Arlindo Machado ao refletir
sobre o filme-ensaio:
Não se trata então de dizer, se quisermos seguir o raciocínio de
Adorno, que o ensaio se situa na fronteira entre literatura e ciência,
porque, se pensarmos assim, estaremos ainda endossando a existência
de uma dualidade entre as experiências sensível e cognitiva. O ensaio
é a própria negação dessa dicotomia, porque nele as paixões invocam
o saber, as emoções arquitetam o pensamento e o estilo burila o
conceito. (MACHADO, 2003, s/p)
Ainda que apresente o filme-ensaio como uma derivação do documentário – o
que exclui muito do trabalho de realizadores de afiliação claramente ensaística, mesmo
que frequentemente no campo da ficção, como Jean-Luc Godard e Peter Greenaway –
Arlindo Machado (2003) também o considera como uma articulação entre um sujeito
criador e o mundo. Segundo o pesquisador brasileiro, o interesse no documentário está
em “quando ele se transforma em ensaio, em reflexão sobre o mundo, em experiência e
sistema de pensamento, assumindo, portanto, aquilo que todo audiovisual é na sua
essência: um discurso sensível sobre o mundo” (2003, s/p). O ensaio, em sua forma
audiovisual, se torna um gênero dialético por natureza, ao emergir como produto da
fricção entre a subjetividade do autor e o mundo observado por ele.
Parece problemático classificar o ensaio fílmico como gênero ou
como categoria, uma vez que ele quer afirmar-se tão livre que não
admite se configurar como tal. Creio, porém, na pertinência de pensar
o ensaísmo como uma sensibilidade, uma inflexão, e mapear os gestos
formativos e os dispositivos criativos que perpassam estas obras, já
que tanto os estudos sobre o ensaio na literatura quanto no cinema
ANO XVII. N. 08. AGOSTO/2021 – NAMID/UFPB http://periodicos.ufpb.br/index.php/tematica/index 95
temática ISSN 1807-8931
assinalam uma preponderância das questões estético-formais em todo
discurso que se apresenta de modo ensaístico. (ALMEIDA, 2018, p.
35)
A proximidade do vídeo com o cinema torna o primeiro um veículo ideal para
que o segundo revele a si mesmo. Parte pela incorporação das convenções de sintaxe
que fazem do cinema uma linguagem, como cortes, planos, enquadramentos,
travellings, profundidade de campo, zoom, raccords e assim por diante. Parte pela
possibilidade de manipular mais livremente a imagem, com o uso de fusões, câmera
lenta, mudanças de cor, incrustação, lettering, voice over ou efeito estroboscópico (para
ficar apenas em alguns mais evidentes). Estas possibilidades fazem do vídeo uma lente
de aumento que permite o escrutínio do cinema.
Evidentemente que essas manipulações são também possíveis no cinema –
talvez o maior exemplo seja o chroma key, que permite a colocação de um cenário
digital, que não é muito diferente das técnicas de projeção de fundo, muito populares no
cinema hollywoodiano clássico. A questão é que estes artifícios são capazes de forçar a
linguagem cinematográfica a se reexaminar.
Como Catherine Grant coloca nos keynotes de sua palestra sobre vídeos
ensaios para a abertura da Socine de 2017, “parafraseando Walter Benjamin, campeão
de tais métodos, se toda crítica é uma experiência sobre a obra de arte, a crítica de
cinema contemporânea está literalizando essa experiência e gerando digitalmente novos
quadros audiovisuais para os tipos de possibilidades perceptivas” (GRANT, 2017, s/p).
Na mesma palestra, a pesquisadora inglesa aponta ainda que “ao contrário dos textos
escritos, eles não precisam se excluir das formas específicas de produção de
significados cinematográficos para ter seus efeitos de conhecimento sobre nós”
(GRANT, 2017, s/p).
Em seu artigo Dissolves of Passion: Materially Thinking Through Editing in
Videographic Compilation, Grant (2016) reflete sobre como através do simples ato de
isolar as dissoluções de Desencanto (Brief Encounter, 1945), de David Lean, ela foi
capaz de revelar algo que estava enterrado no filme. “Foi através da edição das edições
que eu descibri não apenas quanto da história do filme é contada nestes espaços entre as
ANO XVII. N. 08. AGOSTO/2021 – NAMID/UFPB http://periodicos.ufpb.br/index.php/tematica/index 96
temática ISSN 1807-8931
cenas, mas também no quanto a nossa experiência audiovisual destes segmentos
(supostamente) entre-narrativa podem ser” (GRANT, 2016: s/p. Tradução nossa4).
Como película, afinal, as imagens estão em geral solidificadas sob a pressão
dos desejos do diretor. Ao se tornarem vídeo, podendo ser reconfiguradas, as imagens
revelam a si mesmas. Pensam sobre si mesmas.
Sob o signo do vídeo
O que interessa discutir aqui é como não são exatamente os filmes que resistem
através da reconfiguração do vídeo ensaio (pensando que o signo é aquilo que resiste
diante do processo de semiose), mas sim o estilo do diretor que, soterrado pela narrativa
e pela linguagem do cinema, se encontra de forma latente em sua obra. As cenas, ao
serem isoladas e reorganizadas em novo contexto, comparadas com outras que da
mesma forma foram isoladas e reorganizadas em novo contexto, conseguem ressaltar o
estilo do diretor, o pensamento do filme, o que se configuraria em um gesto autoral5. Se
o signo pode ser pensado como “qualquer coisa que conduz alguma outra coisa (seu
interpretante) a referir-se a um objeto ao qual ela mesma se refere (seu objeto), de modo
idêntico, transformando-se o interpretante, por sua vez, em signo” (PEIRCE, 1990, p.
74), podemos pensar no estilo (objeto) como aquilo que resiste no vídeo ensaio
(interpretante) através do cinema (signo).
A semiótica peirceana apresenta relevo e interesse ao operar como método de
análise fílmica, permitindo “observar de perto um trabalho artístico, um artefato da
mídia, a fim de analisar a atuação da mediação, a reflexão elaborada, sobre isso”
(ANDACHT, 2012, p. 70). Mais até: a semiótica interessa como forma de entender
como se dá o processo de reconfiguração sígnica do cinema pelo vídeo ensaio – ainda
que o autor dessa citação se preocupe em afirmar que seu trabalho não passa pela mera
aplicação de um modelo semiótico para análise fílmica.
4
“It was through editing edits that I was discovering not only how much of a film story is told in these
spaces between shots, but also just how audio-visual our experience of theses (supposedly) in-between-
narrative segments can be”
5
A Política dos Autores é um termo cunhado pelos então jovens críticos da Cahieurs du Cinema nos anos
60 e 70, defendendo grosso modo que o estilo do diretor aparece na relação da câmera com a rigorosa
organização dos corpos e objetos dispostos no espaço diante dela (i.e.: Mise em Scène).
ANO XVII. N. 08. AGOSTO/2021 – NAMID/UFPB http://periodicos.ufpb.br/index.php/tematica/index 97
temática ISSN 1807-8931
O modelo da significação triádica ou semiótica desenvolvido por C.S.
Peirce (1836-1914) baseia-se na análise fenomenológica de toda
experiência possível, quer concreta quer imaginária, em somente três
valências ou componentes: qualidades, fatos e regularidades. Estes
três elementos estão na base do funcionamento da representação ou
semiose, que podemos considerar como um metabolismo do real pela
ação de diversos signos. (ANDACHT, 2014, p. 12)
A noção de “metabolismo do real” interessa muito aqui. O que é o vídeo ensaio
senão a manifestação do cinema metabolizado? Neste sentido, consideremos um editor
de cinema, como o é Tony Zhou, criador do já mencionado Every Frame a Painting. Ao
assistir aos filmes de Akira Kurosawa, para tomar um exemplo dos diversos trabalhos
que estão disponibilizados no canal do YouTube, lhe chama atenção as inventivas
formas como o mestre nipônico usa o movimento para aumentar os efeitos de sentido de
seu cinema. Ao pensar sobre Bong Joon-ho, é o contraste entre a capacidade de
meticulosas composições do diretor sul-coreano com as cenas infinitamente picotadas
do cinema hollywoodiano que se tornam seu foco. Ou ainda, ao refletir sobre a obra de
Steven Spielberg, lhe saltam aos olhos os elaborados planos-sequência (Spielberg Oner)
que não chamam atenção sobre si nos filmes, mas servem para ampliar a fluidez da
espectatorialidade. E, finalmente, o fazer o vídeo ensaio Buster Keaton – The Art of the
Gag, Zhou isola uma série de pequenas cenas em que Keaton foi particularmente
criativo em suas piadas visuais, sempre fundamentas na fisicalidade do ator/diretor.
Buster Keaton – The Art of the Gag6 tem apenas oito minutos e trinta e quatro
segundos. O objetivo é demonstrar como Buster Keaton criava um mundo com regras
próprias com a única finalidade de provocar uma gargalhada do público, quase como
uma piada interna que só funciona quando o espectador está diante da projeção.
Descrever reduz o encantamento. É preciso ver. O vídeo ensaio começa demonstrando
visualmente os traços da influência de Keaton, mesmo um século depois, comparando
imagens de seus filmes com os de Wes Anderson, Jackie Chan e o estilo de
interpretação de Bill Murray (deadpan), demonstrando que seus enquadramentos,
acrobacias e interpretação impassível seguem atuais. Em seguida, o vídeo ensaísta o
nomeia como um dos três grandes comediantes do cinema mudo – apesar de Zhou não
6
A ironia de usar texto para discutir como o vídeo ensaio se articula como operador de sentido da imagem
sobre a imagem, partindo de uma certa dívida da crítica textual, não passa despercebida. Ainda assim, é
necessário passar pela descrição em texto de como estas imagens se articulam para fins didáticos. É
possível sempre, porém, ao estilo machadiano, pular os próximos parágrafos e assistir aos vídeos ensaios
no YouTube ou Vimeo diretamente.
ANO XVII. N. 08. AGOSTO/2021 – NAMID/UFPB http://periodicos.ufpb.br/index.php/tematica/index 98
temática ISSN 1807-8931
mencionar quem são, estamos falando, evidentemente, de Charlie Chaplin e Harold
Lloyd.
Este talvez seja um dos mais didáticos dos vídeo ensaios do Every Frame a
Painting. Parte de reflexões do próprio Keaton sobre seu trabalho. Se a média do
cinema mudo era usar 240 painéis de texto por filme, revela o diretor, ele usou no
máximo 56. Tanto o humor quanto o desenrolar dramático eram dados pela ação visual,
pelos gestos e pantomima, ou, como o próprio Keaton diz no vídeo, “eliminamos as
legendas o mais rápido possível se pudéssemos contar [a história] através da ação”. Daí
em diante, Zhou esclarece as regras estabelecidas por Keaton em seu cinema.
A primeira é nunca se repetir. “Cada queda é uma oportunidade para a
criatividade”, diz Zhou enquanto vemos três quedas radicalmente diferentes de Keaton.
A segunda envolve o posicionamento de câmera. Talvez este seja o momento em que
vídeo é mais bem usado enquanto suporte para o escrutínio do cinema. Aqui, vemos a
mesma cena em dois ângulos diferentes – uma provavelmente rejeitada no corte final do
filme e incluída em material extra nos lançamentos de DVDs. A cena envolve Keaton
fugindo de um grupo de perseguidores. Ele sobe no estepe de um carro, na parte de trás,
esperando ser levado. O carro parte, mas ele fica. O estepe era, na verdade, um anúncio
de uma borracharia. Na versão descartada a câmera está diante do carro que parte e só
então vemos Keaton por inteiro. Na versão oficial, percebemos antes do personagem
que o carro partiu, que é de onde se extrai o humor.
Por fim, a principal regra do universo de Keaton. O mundo não apenas é plano,
com pouca profundidade de campo (ainda que vez por outra haja atuação em
profundidade), ele também é limitado existencialmente pelo quadro. O que não existe
para a câmera, não existe para os personagens. Segundo Zhou, isso leva a criação de
piadas que se aproximam de truques de mágica, revelando a afiliação de Keaton com o
vaudeville. Seriam o que o próprio diretor chama de “gags impossíveis”, que teriam
sido abandonadas quando sua equipe começou a produzir longas, já que estas piadas
quebram as regras do mundo, afetando a relação do espectador com a narrativa (o pacto
de suspensão da descrença). O que o levou a se aprofundar no que chamou de "gags
naturais", que surgiam dos próprios personagens e situações, mas sempre aberto ao
improviso.
O discurso sobre o estilo de Buster Keaton nasce do confronto de suas
imagens. Seus filmes nunca tiveram uma montagem de diversas quedas, ou incluíram
ANO XVII. N. 08. AGOSTO/2021 – NAMID/UFPB http://periodicos.ufpb.br/index.php/tematica/index 99
temática ISSN 1807-8931
duas versões da mesma cena, como no famoso primeiro corte de Vida de um Bombeiro
Americano (Life of an American Fireman, 1903), de Edwin S. Porter. É o vídeo que
permite a justaposição destas sequências. E se nos seus contextos originais elas servem
ao propósito humorístico ou dramático, ao serem recontextualizadas, permitem que algo
outrora oculto seja revelado.
Tudo o que percebemos e o que simultaneamente interpretamos, num
processo contínuo, é o resultado de nossa subjetividade, de nossas
muito humanas limitações – dos preconceitos e de nossa capacidade
restringida de perceber o mundo – mas também é o resultado de algo
externo a nós. O que chamamos de realidade surge de signos que têm
nossa cara, bem pode-se dizer, mas que possuem além dessa marca, o
rosto do mundo, a alteridade que caracteriza a ação dos signos.
(ANDACHT, 2014, p. 15)
O vídeo ensaio só existe como uma visão íntima, particular e crítica de um
indivíduo sobre a obra de outro. O vídeo ensaísta se torna um filtro pelo qual a obra, ou
o conjunto delas passa a ser reapresentada de outra maneira. Curiosamente, o efeito
final dos vídeos é um alinhamento com a noção de Política dos Autores definida pelos
críticos franceses ao longo das décadas de 1960 e 1970, em que eles buscavam uma
série de recorrências e maneirismos nos trabalhos de diferentes diretores, ligando isso a
uma noção de estilo (BERNARDET, 1994). O estilo é, então, um elemento de
iconicidade – ou seja, que opera no nível da semelhança, da aparência e é, portanto,
reconhecível em sua recorrência – por resistir ao processo de reconfiguração inerente ao
vídeo ensaio.
Uma semiótica das formas videográficas deve, portanto, ser capaz de
dar conta desse fundamental hibridismo do fenômeno da significação
na mídia eletrônica, da instabilidade de suas formas e da diversidade
de suas experiências, sob pena de reduzir toda a riqueza do meio a um
conjunto de regras esquemáticas e destituídas de qualquer
funcionalidade. (MACHADO, 2011b, p. 176)
Ao se articular como um fenômeno que se coloca no meio do processo
comunicacional, a mera existência do vídeo ensaio demole a ideia binária e direta do
modelo matemático de comunicação7. O vídeo ensaísta não é apenas receptor porque
7
Modelo criado por Claude Shannon e Warren Weaver, em 1949, que define a comunicação como um
processo direto entre um Emissor que emite uma Mensagem através de um Meio para um Receptor.
ANO XVII. N. 08. AGOSTO/2021 – NAMID/UFPB http://periodicos.ufpb.br/index.php/tematica/index 100
temática ISSN 1807-8931
emite, mas não é apenas emissor, porque precisa receber antes. O modelo fechado não
sustenta um processo que de início se apresenta em maior complexidade.
A pesquisa de José Luiz Braga (2006) demonstra como a sociedade se organiza
para enfrentar a mídia, criando um sistema crítico de resposta que, em algum momento,
se torna institucionalizado. Ao refletir sobre a crítica de cinema, chega a apontar como o
espectador comum, ao acumular conhecimento e horas na sala de cinema, se torna capaz
de articular suas próprias reflexões sobre as obras. O vídeo ensaio é a expressão máxima
deste processo, considerando que está ao alcance de qualquer pessoa, mas encontra sua
melhor fruição quando o vídeo ensaísta compreende melhor a linguagem audiovisual
(em oposição ao crítico tradicional que precisa ser versado na história e linguagem do
cinema e se expressar bem na escrita, operando também como tradutor).
Se falarmos de efeitos de sentido, é preciso introduzir a noção
peirceana do interpretante. Em vez de o significado ser uma das duas
faces de uma folha, uma concepção espacial estática e preestabelecida,
como no modelo saussuriano, a natureza do signo interpretante é
processual: trata-se de um efeito gerado pelo signo ao longo do tempo,
e que por ter natureza sígnica, ele também tem o poder de gerar outros
signos. (ANDACHT, 2015, p. 81)
O modelo de comunicação que opõe emissor e receptor não se sustenta diante
do vídeo ensaio. O fenômeno só existe justamente por funcionar como um fluxo de
comunicação e, portanto, se apresentar como semiose. A obra, através do tempo, gera a
reflexão sobre ela, interpretante, logo o vídeo ensaio é a materialização do potencial do
interpretante, mesmo que, ao ganhar vida, se torne ele também signo. Cabe questionar,
então, qual seria o apelo indicial do vídeo ensaio, ou seja, o que do objeto (cinema)
resiste/escapa, através do signo (vídeo ensaio), que é o ponto de interesse.
O índice é um tipo de signo que tem uma relação de existência com
aquilo que ele representa, sua produção não é nem voluntária nem
controlada (ex. o suor, ficar vermelho de vergonha ou ficar pálido). É
por tal motivo que o índice é usado na mídia contemporânea para
sustentar a promessa de que o espectador terá acesso ao elemento mais
íntimo e oculto do ser humano, sua alma. O signo cujo funcionamento
baseia-se numa relação existencial com aquilo que representa é o
índice ou signo indicial. Nas mídias, este tipo de signo possui a função
de dar acesso ao âmbito mais recôndito e autêntico do humano, qual
seja, a contemplação da alma, de si mesmo. Esse é o maior troféu
semiótico que aguarda no extremo do arco-íris confessional dos vlogs,
onde quer que estes sejam produzidos. (ANDACHT, 2015, p. 91)
ANO XVII. N. 08. AGOSTO/2021 – NAMID/UFPB http://periodicos.ufpb.br/index.php/tematica/index 101
temática ISSN 1807-8931
Os trechos dos filmes originais usados para compor o vídeo ensaio possuem
uma característica indicial. Através da reconfiguração, possível pela reedição, eles
poderão revelar o que estava latente nas obras, como demonstrado pela descrição do
vídeo ensaio Buster Keaton – The Art of the Gag. Essa latência, uma característica
interna de estilo recorrente que é isolada nos filmes, é justamente o elemento que a
crítica francesa irá identificar como capaz de conferir ao diretor o status de autor8.
Considerações finais
Ao longo deste texto apresentamos alguns dos preceitos fundantes do vídeo
ensaio, nos termos em que se manifestam contemporaneamente. Ou seja, discutimos sua
forma-vídeo, a recontextualização de imagens que estavam solidificadas em obras do
audiovisual, em oposição a sua forma-ensaio, o produto da fricção entre um autor, um
ser criador, e o mundo. Mundo este que já se vê assombrado pelas imagens produzidas
sobre ele próprio. Há uma convergência na conceituação tanto de “vídeo” quanto de
“ensaio” para a noção de pensamento, de discurso articulado a partir de sua relação
entre um indivíduo e o mundo a sua volta.
Para apreender a relação entre o vídeo ensaio e o mundo (audiovisual/cinema)
uma possibilidade de análise se dá pela semiótica peirceana, em que a relação de devir
contínuo entre a obra audiovisual e seu escrutínio são verificadas como fenômeno
sígnico mediada tanto pela tecnologia quanto pela linguagem cinematográfica. O
pensamento semiótico se revela particularmente preciso para o exame dos efeitos de
sentido gerados pela existência do vídeo ensaio.
Um fenômeno tão complexo quanto a elaboração de um vídeo ensaio, que parte
da dinâmica entre produção, apropriação e reconfiguração de imagens que é típica da
contemporaneidade, não pode ser explicado através do binarismo simplista dos modelos
de comunicação tradicionais. Prever um emissor e um receptor é, no mínimo,
problemático considerando que são diferentes obras que serão reconfiguradas ao gerar
uma terceira obra, ao mesmo tempo independente e interdependente das outras. Através
de seu modelo triádico, a semiótica peirceana oferece uma saída ao descrever a
8
Nova ironia: a herança literária do cinema e da crítica empresta seus elementos para definir a noção de
‘autoria’. O mesmo Vídeo-Ensaio que legitima a política dos autores, também é responsável por libertar a
crítica dos grilhões do texto, da literatura, portanto.
ANO XVII. N. 08. AGOSTO/2021 – NAMID/UFPB http://periodicos.ufpb.br/index.php/tematica/index 102
temática ISSN 1807-8931
comunicação naturalmente como um fluxo constante, que só existe através da
reconfiguração técnica, ética e estética da informação.
Pensar o vídeo ensaio em termos de fluxo semiótico permite criar uma ponte
com a Política dos Autores, posto que é o estilo dos diretores que irá oferecer
resistência, se apresentando como valor indicial, partindo dos filmes e sobressaindo ao
ser reconfigurado pelos vídeo-ensaístas. Esta constatação já demonstra o valor da
análise semiótica para a reflexão do vídeo ensaio enquanto fenômeno cultural
contemporâneo.
Referências
ADORNO, Theodor W. O ensaio como forma (pág. 15-45). In: Adorno, W.T, Notas
de
Literatura I. Tradução Jorge de Almeida, Ed. 34, Coleção espírito crítico, 2003
ALMEIDA, Gabriela. O ensaio fílmico ou o cinema à deriva. São Paulo: Alameda,
2018.
ANDACHT, Fernando. ¿Qué puede aportar la semiótica triádica al estudio de la
comunicación mediática? Revista Galáxia. São Paulo, Online, n. 25, p. 24-37, jun.
2013.
ANDACHT, Fernando. Signos mesmerizadores no documentário de E. Coutinho. In.
BIEGING. Patricia, BUSARELLO, Raul Inácio, AQUINO, Victor (Orgs.).
Perspectivas da Comunicação. São Paulo: Pimenta Cultural. 2014.
ANDACHT, Fernando. Pasolini y Peirce: encuentro de dos pensadores herejes em el
campo de los signos. In. PENAFRIA, Manuela, BAGGIO, Eduardo Tulio, GRAÇA,
André Rui e ARAUJO, Denize Correa. Propostas para a Teoria do Cinema - Teoria
dos Cineastas - Vol2. Covilhã, Portugal: Universidade da Beira Interior. 2016.
ANDACHT, Fernando. Uma abordagem semiótica e indicial da identidade na era de
YouTube. Intexto, Porto Alegre, UFRGS, n. 34, p. 79-98, set./dez. 2015.
BENJAMIN, Walter. A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica in. Obras
Escolhidas - Magia e Técnica, Arte e Política. São Paulo: Editora Brasiliense, 1985.
BERNARDET, Jean-Claude. O autor no cinema. São Paulo: Brasiliense/EDUSP,
1994.
BRAGA, José Luiz. A sociedade enfrenta sua mídia: dispositivos sociais de crítica
midiática. São Paulo: Paulus, 2006.
ANO XVII. N. 08. AGOSTO/2021 – NAMID/UFPB http://periodicos.ufpb.br/index.php/tematica/index 103
temática ISSN 1807-8931
CORRIGAN, Timothy. O filme-ensaio: Desde Montaigne e depois de Marker.
Campinas: Papirus Editora, 2015.
DUBOIS, Philippe. Cinema, video, Godard. São Paulo: Cosac Naify, 2018.
GRANT, Catherine. The shudder of a cinephiliac idea? videographic film studies
practice as material thinking. Revista Aniki, v.1, nl (2014). Acesso em
http://aim.org.pt/ojs/index.php/revista/article/view/59
GRANT, Catherine. Critical practice on the move: audiovisual approaches to cinema
and screen media studies. Keynote da palestra da Socine, 2017. Acesso em
https://catherinegrant.org/2017/10/24/keynotelecture-at-socine2017/
GRANT, Catherine. Dissolves of Passion: Materially Thinking Through Editing in
Videographic Compilation. In. KEATHLEY, Christian, MITTELL Jason (Orgs). The
videographic essay: criticism in sound and image. Caboose; Edição: 1, 2016.
MACHADO, Arlindo. Anamorfoses cronotópicas ou a quarta dimensão da imagem. In.
PARENTE, André (Org). Imagem-máquina: a era das tecnologias do virtual. Rio de
Janeiro: Editora 34, 2011a.
MACHADO, Arlindo. O Filme-Ensaio. In. INTERCOM – Sociedade Brasileira de
Estudos Interdisciplinares da Comunicação XXVI Congresso Brasileiro de Ciências da
Comunicação – BH/MG – 2 a 6 Set 2003. Acesso
em:http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/1868450877361748090053890711836232
551.pdf
MACHADO, Arlindo. Pré-cinemas & pós-cinemas. São Paulo: Papirus Editora,
2011b.
OLIVEIRA JR., L. C. G. A mise en scène no cinema: do clássico ao cinema de fluxo.
1. ed. Campinas: Papirus, 2013.
PEIRCE, Charles Sanders. Semiótica. São Paulo: Editora Perspectiva, 1990.
RAMOS, Taylor, ZHOU, Tony. Buster Keaton: the art of the gag. 2015. (8m34s).
Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=UWEjxkkB8Xs&t=14s>.
ANO XVII. N. 08. AGOSTO/2021 – NAMID/UFPB http://periodicos.ufpb.br/index.php/tematica/index 104
Você também pode gostar
- Como fazer documentários: Conceito, linguagem e prática de produçãoNo EverandComo fazer documentários: Conceito, linguagem e prática de produçãoAinda não há avaliações
- Documentario Conceitos Linguagem História PDFDocumento21 páginasDocumentario Conceitos Linguagem História PDFCamila CabelloAinda não há avaliações
- Cinema SimDocumento157 páginasCinema SimEduardo100% (1)
- Como Fazer Documentários: Conceito, Linguagem e Prática de ProduçãoDocumento10 páginasComo Fazer Documentários: Conceito, Linguagem e Prática de ProduçãoLais TeixeiraAinda não há avaliações
- Como Criar Roteiro para Podcast - Passo A PassoDocumento7 páginasComo Criar Roteiro para Podcast - Passo A PassoMarcelo GuerreiroAinda não há avaliações
- Cinema e AudiovisualDocumento16 páginasCinema e AudiovisualKaio Vinícius Bussinguer SenraAinda não há avaliações
- Tabela Nacional TradutoresDocumento3 páginasTabela Nacional TradutoresTF TFAinda não há avaliações
- O Filme Ensaio e A Sua ContemporaneidadeDocumento10 páginasO Filme Ensaio e A Sua ContemporaneidadeSuz FigsAinda não há avaliações
- TCC DocumentárioDocumento45 páginasTCC DocumentárioFlávio CavalcanteAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido - FILMEDocumento2 páginasEstudo Dirigido - FILMEgizelejacome100% (1)
- 【ASSISTIR HD】▷ Encanto 【2021】 Dublado Filme Online Grátis em PortuguêseDocumento5 páginas【ASSISTIR HD】▷ Encanto 【2021】 Dublado Filme Online Grátis em Portuguêsegarnet1300% (12)
- A Lenda Do Cavaleiro Sem CabeçaDocumento1 páginaA Lenda Do Cavaleiro Sem CabeçaNidiane Caroline Valmorbida PaimAinda não há avaliações
- Videodocumentário e VideorreportagemDocumento15 páginasVideodocumentário e VideorreportagemRafael AlmeidaAinda não há avaliações
- 11-Videoarte No Brarsil - MaríliaXavier PDFDocumento9 páginas11-Videoarte No Brarsil - MaríliaXavier PDFVachevertAinda não há avaliações
- Pessoa Fernão Ramos o Que DocumentarioDocumento11 páginasPessoa Fernão Ramos o Que DocumentarioKit Menezes100% (1)
- (Artigo) Matéria e Linguagem - Modelos de Produção de Sentidos No Filme - Revista SísifoDocumento11 páginas(Artigo) Matéria e Linguagem - Modelos de Produção de Sentidos No Filme - Revista SísifothayenneAinda não há avaliações
- Filme Documentário, Leitura DocumentarizanteDocumento21 páginasFilme Documentário, Leitura Documentarizantesaullo fariasAinda não há avaliações
- LIMA, Marília. Videoarte No Brasil - História e ConceitosDocumento9 páginasLIMA, Marília. Videoarte No Brasil - História e ConceitoscdouglasmartinsAinda não há avaliações
- Documentação CinematográficaDocumento23 páginasDocumentação CinematográficaMariana MüllerAinda não há avaliações
- Analise de Filmes - Conceitos e MetodologiasDocumento11 páginasAnalise de Filmes - Conceitos e MetodologiasCEZAR 03Ainda não há avaliações
- Cinema de Ficção e Não-Ficção - CompletoDocumento41 páginasCinema de Ficção e Não-Ficção - CompletoTaís Monteiro100% (1)
- Wallacealmeida, CINEMA DOCUMENTÁRIODocumento25 páginasWallacealmeida, CINEMA DOCUMENTÁRIOLucas Henrique De SouzaAinda não há avaliações
- 3863 13255 1 SMDocumento8 páginas3863 13255 1 SMchenrique-siqueiraAinda não há avaliações
- Os Signos Do Real No Cinema de Eduardo Coutinho, Manuscrito Public. en Revista Devires, 2007Documento17 páginasOs Signos Do Real No Cinema de Eduardo Coutinho, Manuscrito Public. en Revista Devires, 2007andreaAinda não há avaliações
- Observational Cinema IntroducãoDocumento7 páginasObservational Cinema IntroducãoGabriela CoutinhoAinda não há avaliações
- AULA2 - O Filme FilosofaDocumento15 páginasAULA2 - O Filme FilosofaMarta Cavalcante FerreiraAinda não há avaliações
- Analise de Filmes - Conceitos e Metodologias-With-Cover-Page-V2Documento11 páginasAnalise de Filmes - Conceitos e Metodologias-With-Cover-Page-V2Danilo DiasAinda não há avaliações
- Imagofagiaespanhol 2Documento15 páginasImagofagiaespanhol 2Andrea França MartinsAinda não há avaliações
- Algumas Questões Sobre o Documentário e Outros Tantos EquívocosDocumento4 páginasAlgumas Questões Sobre o Documentário e Outros Tantos EquívocosmanuelapenafriaAinda não há avaliações
- 121-Texto Artigo-657-1-10-20150219Documento10 páginas121-Texto Artigo-657-1-10-20150219martim cunhaAinda não há avaliações
- A BarbosaDocumento51 páginasA BarbosaIallif NatanAinda não há avaliações
- Fragmentos de Memória Reinscrição de Significados em Documentários de CompilaçãoDocumento18 páginasFragmentos de Memória Reinscrição de Significados em Documentários de CompilaçãoPatricia de Oliveira IuvaAinda não há avaliações
- Documentários - Recortes Históricos Construídos Como Verdades Absolutas em Uma Realidade Interdependente - Max SawayaDocumento10 páginasDocumentários - Recortes Históricos Construídos Como Verdades Absolutas em Uma Realidade Interdependente - Max SawayaMax SawayaAinda não há avaliações
- Historia VideoclipeDocumento15 páginasHistoria VideocliperamiropissettiAinda não há avaliações
- Cliches e o Processo de Criacao de ImageDocumento13 páginasCliches e o Processo de Criacao de ImageThamires MarianeAinda não há avaliações
- Encenação No Documentário ElenaDocumento13 páginasEncenação No Documentário ElenaHelena OliveiraAinda não há avaliações
- A Perdição Do Tempo: Criação Audiovisual Com o Celular.Documento15 páginasA Perdição Do Tempo: Criação Audiovisual Com o Celular.Victor Finkler LachowskiAinda não há avaliações
- Questão DuboisDocumento2 páginasQuestão DuboisMari CorrêaAinda não há avaliações
- Gomes, Fabio - A Relação Paradoxal Entre o Documentário e o Filme Etnográfico. Os Casos Inovadores de Jean Rouch e Chris MarkerDocumento110 páginasGomes, Fabio - A Relação Paradoxal Entre o Documentário e o Filme Etnográfico. Os Casos Inovadores de Jean Rouch e Chris MarkerAndré LuizAinda não há avaliações
- Video e StorytellingDocumento19 páginasVideo e StorytellingjoaoAinda não há avaliações
- ALMEIDA - Arquivo em Cartaz PDFDocumento6 páginasALMEIDA - Arquivo em Cartaz PDFRafael de AlmeidaAinda não há avaliações
- A Linguagem Audiovisual o Pensar Por ImagensDocumento6 páginasA Linguagem Audiovisual o Pensar Por ImagensRafaela GonçalvesAinda não há avaliações
- Introdução Ao DocumentárioDocumento3 páginasIntrodução Ao Documentáriogustavogaglione5Ainda não há avaliações
- 01 LinguagemAudiovisualDocumento3 páginas01 LinguagemAudiovisualKelviaAinda não há avaliações
- Geminis, 08 - #596 - A Dramaturgia Como Principio Realizador (Rubens)Documento23 páginasGeminis, 08 - #596 - A Dramaturgia Como Principio Realizador (Rubens)Ester Marçal FérAinda não há avaliações
- A Argumentacao Retorica No Genero FilmicoDocumento17 páginasA Argumentacao Retorica No Genero FilmicoCarlos AfonsoAinda não há avaliações
- 183011-Texto Do Artigo-474803-1-10-20210309Documento13 páginas183011-Texto Do Artigo-474803-1-10-20210309BrunaCallegariAinda não há avaliações
- NOGUEIRA, Laise - IMAGENS DE HORROR EM FILMES DE GUERRA.Documento55 páginasNOGUEIRA, Laise - IMAGENS DE HORROR EM FILMES DE GUERRA.Matheus FelipeAinda não há avaliações
- Capítulo II - Modalidades de DocumentáriosDocumento13 páginasCapítulo II - Modalidades de Documentáriosinabi.artesAinda não há avaliações
- Metanarrativa 01Documento11 páginasMetanarrativa 01Vanessa GarciaAinda não há avaliações
- eperiodicos,+FAMECOS 2020 1 35896Documento13 páginaseperiodicos,+FAMECOS 2020 1 35896WandryuuuAinda não há avaliações
- 894-Texto Artigo-4000-1-10-20220705Documento23 páginas894-Texto Artigo-4000-1-10-20220705juliana bentoAinda não há avaliações
- Teoria Realista e DocumentárioDocumento29 páginasTeoria Realista e DocumentáriomanuelapenafriaAinda não há avaliações
- Videodocumentário e VideorreportagemDocumento15 páginasVideodocumentário e VideorreportagemRafael Almeida100% (2)
- A Arte Da Apropriacao No Video EnsaioDocumento36 páginasA Arte Da Apropriacao No Video EnsaioMarcelo GuerreiroAinda não há avaliações
- A Crítica de Cinema Entre o Realismo e A Ideologia: Bazin, Kracauer, AdornoDocumento7 páginasA Crítica de Cinema Entre o Realismo e A Ideologia: Bazin, Kracauer, Adornorodcassio@hotmail.com100% (1)
- Documentário e Suas ExpecificidadesDocumento9 páginasDocumentário e Suas ExpecificidadesFlávio CavalcanteAinda não há avaliações
- Resenha Louis Comolli Sobre Ficção e DocumentarioDocumento6 páginasResenha Louis Comolli Sobre Ficção e DocumentarioMarcelo LopesAinda não há avaliações
- Penafria Manuela FilmeDocumento3 páginasPenafria Manuela FilmeFlávio MatosAinda não há avaliações
- Documentário e Representação - Desnaturalizando Uma EvidênciaDocumento15 páginasDocumentário e Representação - Desnaturalizando Uma EvidênciaDenis CarlosAinda não há avaliações
- QUANDO O INTELECTUAL INTERVÉM NA REALIDADE Possibilidades CinematográficasDocumento15 páginasQUANDO O INTELECTUAL INTERVÉM NA REALIDADE Possibilidades CinematográficasalexandrocfAinda não há avaliações
- A Monarquia no Cinema Brasileiro: Metodologia e Análise de Filmes HistóricosNo EverandA Monarquia no Cinema Brasileiro: Metodologia e Análise de Filmes HistóricosAinda não há avaliações
- Documentário, Espaço e Tempo: das instalações de arte contemporânea ao CVR (Cinematic Virtual Reality)No EverandDocumentário, Espaço e Tempo: das instalações de arte contemporânea ao CVR (Cinematic Virtual Reality)Ainda não há avaliações
- EMIA Ebook Fundamentos V2Documento38 páginasEMIA Ebook Fundamentos V2Marcelo GuerreiroAinda não há avaliações
- Experimentos de EnsinoDocumento84 páginasExperimentos de EnsinoMarcelo GuerreiroAinda não há avaliações
- José Luiz Braga - A Sociedade Enfrenta Sua MídiaDocumento5 páginasJosé Luiz Braga - A Sociedade Enfrenta Sua MídiaMarcelo GuerreiroAinda não há avaliações
- 4309-Texto Do Artigo-10057-2-10-20110928Documento4 páginas4309-Texto Do Artigo-10057-2-10-20110928Marcelo GuerreiroAinda não há avaliações
- A Arte Da Apropriacao No Video EnsaioDocumento36 páginasA Arte Da Apropriacao No Video EnsaioMarcelo GuerreiroAinda não há avaliações
- Linguagem Mente e Sociedade - o Lugar Da Intencionalidade Coletiva Na Filosofia de John SearleDocumento16 páginasLinguagem Mente e Sociedade - o Lugar Da Intencionalidade Coletiva Na Filosofia de John SearleMarcelo GuerreiroAinda não há avaliações
- Livro EducomDocumento476 páginasLivro EducomMarcelo GuerreiroAinda não há avaliações
- Vítor Hugo Lima AlvesDocumento134 páginasVítor Hugo Lima AlvesSimone EvanAinda não há avaliações
- T3 - (Re) Nasce Uma Estrela - Nic CageDocumento3 páginasT3 - (Re) Nasce Uma Estrela - Nic CageJoão Paulo CamposAinda não há avaliações
- AGENDA Janeiro Chaves 2023Documento16 páginasAGENDA Janeiro Chaves 2023Joana CoelhoAinda não há avaliações
- Atividades Academicas II Parte 2Documento4 páginasAtividades Academicas II Parte 2GilmarAinda não há avaliações
- AAA Escalas FinaisDocumento1 páginaAAA Escalas FinaisJeferson NicolauAinda não há avaliações
- Abracadabra - INTERPRETAÇÃO DO FILMEDocumento1 páginaAbracadabra - INTERPRETAÇÃO DO FILMEGraciane Pastorio PartichelliAinda não há avaliações
- Roteiro 8 BDocumento3 páginasRoteiro 8 BRosenete AyresAinda não há avaliações
- Designer de Produção No CinemaDocumento2 páginasDesigner de Produção No CinemaManuel ChavesAinda não há avaliações
- Ate o Ultimo Homem - Google SearchDocumento1 páginaAte o Ultimo Homem - Google SearchHudson MoreiraAinda não há avaliações
- Resumen Clase 18 - Tus Clases de Portugues PDFDocumento4 páginasResumen Clase 18 - Tus Clases de Portugues PDFFernanda Santana VergaraAinda não há avaliações
- Commédia DellarteDocumento9 páginasCommédia DellarteRafaela Maria França GuimarãesAinda não há avaliações
- Resenha de Filme - MetodologiaDocumento5 páginasResenha de Filme - MetodologiaIgor Noia SarnagliaAinda não há avaliações
- Livro Extraordinário ResumoDocumento2 páginasLivro Extraordinário ResumoNycollas Siebra0% (1)
- baygon,+Gerente+da+revista,+Danielle CarvalhoDocumento15 páginasbaygon,+Gerente+da+revista,+Danielle CarvalhoFernandaLemeAinda não há avaliações
- O Documentário Autoetnográfico Do Projeto Vídeo Nas Aldeias, de Juliano José de AraújoDocumento18 páginasO Documentário Autoetnográfico Do Projeto Vídeo Nas Aldeias, de Juliano José de AraújoPedro RochaAinda não há avaliações
- Cadernos Do Cineclube Comum - 1Documento51 páginasCadernos Do Cineclube Comum - 1brunoAinda não há avaliações
- Ateneu QuadrinhosDocumento3 páginasAteneu Quadrinhosstefanifagundes000Ainda não há avaliações
- As Pessoas Também Perguntam: Notícias Vídeos Imagens MapsDocumento1 páginaAs Pessoas Também Perguntam: Notícias Vídeos Imagens MapsMaria Eliza Menezes CustódioAinda não há avaliações
- Marvel United Conquistas Do Marvel United 166662Documento7 páginasMarvel United Conquistas Do Marvel United 166662Willy MarquesAinda não há avaliações
- A Atuação de Clown No TeatroDocumento13 páginasA Atuação de Clown No TeatroAndréa FloresAinda não há avaliações
- Catálogo Eastwood PDFDocumento308 páginasCatálogo Eastwood PDFLuigiMalteseAinda não há avaliações
- SuspenseDocumento11 páginasSuspenseAlexandra Barbosa AlencarAinda não há avaliações
- CreepshowDocumento5 páginasCreepshowumapessoinha336Ainda não há avaliações
- Atividades Relato Aluno PDFDocumento4 páginasAtividades Relato Aluno PDFLuciana Biazus AranaAinda não há avaliações
- Uma Visita À Direção de Arte No Cinema BrasileiroDocumento14 páginasUma Visita À Direção de Arte No Cinema BrasileiroJohn Tavares MariaAinda não há avaliações
- CadernoD Ano 7 Edicao 38Documento12 páginasCadernoD Ano 7 Edicao 38FatimaNaderAinda não há avaliações