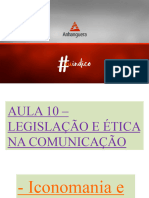Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Cultura Da Visualidade e Estratégia de (In) Visibilidade
Enviado por
thatakTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Cultura Da Visualidade e Estratégia de (In) Visibilidade
Enviado por
thatakDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Revista da Associação Nacional dos
Programas de Pós-Graduação em Comunicação
Cultura da visualidade e
estratégias de (in)visibilidade1
Rose de Melo Rocha2
ESPM/SP e PUCSP
rrocha@espm.br
Resumo: Explorando uma ambigüidade constitutiva do termo “imagem” o
artigo discute alguns de seus modos de existência na contemporaneidade,
considerando as dinâmicas de reprodutibilidade, a lógica própria aos
aparelhos de enunciação visual e as relações estabelecidas com mediações
tecnológicas. Ao considerar a penetração das imagens no cotidiano e a
transformação do próprio imaginário em imagem tangível, problematiza o
conceito “cultura da visualidade”, postulando ser necessário, para tal,
promover-se a discriminação entre visual e visível ou, dito em outras
palavras, entre visualidade e visibilidade.
Palavras-Chave: Imagem. Visualidade. Visibilidade.
Abstract: Exploring a constituent ambiguity of the term “image” the article
argues some of its contemporary moods, considering the dynamic of
reproducibility, the logic of visual apparatus and the relations established
with technological mediations. Considering the penetration of the images in
every-day-life and the transformation of imaginary in tangible image, put in
question the concept of “culture of visuality”, claiming to be necessary, for
such, to discriminate visuality and visibility.
Keywords: Image. Visuality. Visibility.
1 Apresentado no Grupo de Trabalho “Comunicação e Cultura” do XV Encontro da Compós
(Unesp, Bauru, SP, junho de 2006).
2 Professora e pesquisadora do Mestrado em Comunicação e Práticas de Consumo da ESPM/SP
e da PUCSP.
Revista da Associação Nacional dos
Programas de Pós-Graduação em Comunicação
Résumé: Explorant une ambiguïté constitutive du terme « image » l'article
discute certains de ses modes contemporains, vu le dynamique de la
reproductibilité, de la logique de l'appareil visuel et des relations établies avec
des médiations technologiques. Vu la pénétration des images dans la vie
quotidienne et la transformation d'imaginaire dans l'image réelle, mise en
question le concept de « culture du visualité», prétendant être nécessaire,
pour tels, distinguer le visualité et la visibilité.
Mots- clés: Image. Visuality. Visibilité.
Resumen: Explorando una ambigüedad constitutiva del término “imagen” el
artículo discute algunas de sus disposiciones contemporáneas, en vista del
dinámico de la reproducibilidad, de la lógica del aparato visual y de las
relaciones establecidas con mediaciones tecnológicas. En vista de la
penetración de las imágenes en la vida cotidiana y de la transformación de lo
imaginario en imagen tangible, cuestiona el concepto de “cultura del
visualidad”, demandando ser necesario, para tales, discriminar visualidad y
visibilidad.
Palabras-clave: Imagen. Visualidad. Visibilidad.
1. Sobre modos de existência das imagens
Algumas palavras têm por destino uma existência marcada por intrigante
ambigüidade: embora densamente imersas no dia-a-dia e em nosso cotidiano discursivo,
possuem uma dimensão etérea, dispersiva, fluída. É o que acontece com a palavra
“imagem”. Falamos, produzimos, consumimos e vivemos cercados por imagens.
Imaginamos imagens. Criamos imagens. Até mesmo transformamos imagens imaginadas
em concretas representações. E vice-versa. Somos capazes de sonhar com nossa própria
imagem. Algumas imagens, por seu turno, são pura simulação. O trânsito é intenso e os
contrabandos de significação ininterruptos.
www.compos.com.br/e-compos Dezembro de 2006 - 2/14
Revista da Associação Nacional dos
Programas de Pós-Graduação em Comunicação
Damos bom dia ou abominamos nossos espelhos. Às vezes duvidamos: sou eu
mesmo ali, sou eu mesmo esta imagem? Outras blasfemamos: este espelho é cruel! Sou
muito melhor do que esta imagem que avisto! Em algumas, é a eles que perguntamos:
espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais perfeito do que eu?
Edgar Morin (1997), em uma belíssima análise do encanto que cerca as imagens,
postula que nada nos é mais sedutor do que a transformação do banal e do comezinho em
registro imagético. Um duplo sentido cerca a “impressão de realidade” desta forma obtida,
seja na fotografia, no cinema e, mais recentemente, na televisão e nas mídias digitais,
embora estas últimas não tenham sido abordadas pelo autor. Morin, explorando a
transformação do já visto em imagem – em espetáculo de imagens –, destaca do processo a
experiência da fotogenia, esta “qualidade que reside, não na vida, mas na imagem da vida”
(MORIN, 1997, p. 33).
Não por acaso, desenvolvemos relações da mais densa afetividade com nossos
aparelhos de enunciação imagética: alguns preferem cumprimentar suas tevês, outros
escolhem se emocionar com imagens capturadas por câmeras digitais. Nada surpreendente
se, retomando Morin (2000), notarmos que neste plano da produção imagética somos
transportados para um momento mágico, no qual a posse da representação equivaleria –
por contigüidade – à posse do representado.
Como apontado por Tom Sherman (1997), no delicioso artigo “Machines R Us...”,
cercamo-nos de equipamentos eletrônicos como bebês desesperadamente carentes, ávidos
pela ampliação de nossa zona de conforto. Bebês dominadores e antropomórficos, diga-se
de passagem, que carregam seus objetos tecnológicos como madames conduzem seus
perfumados “lulus”.
Mais fiéis do que cães, mais humanizadas que qualquer humano, tão amáveis
quanto o mais prestimoso companheiro, mais reais que o mais fascinante “amigo
imaginário”, mais disponíveis que qualquer analista, assim seriam as máquinas, aquelas
mesmas que, ao chamarmos de nossas, também agregam valor àquilo que chamamos de
nós mesmos.
www.compos.com.br/e-compos Dezembro de 2006 - 3/14
Revista da Associação Nacional dos
Programas de Pós-Graduação em Comunicação
Para Sherman, a relação de confiabilidade que se estabelece com o universo
maquínico permite uma sugestiva redefinição da dicotomia público/privado. Naquela que
autores contemporâneos vêm definindo como uma cultura da conectividade,
[d]ependemos das máquinas para olhar para fora e (...) para olhar
para dentro. Então, para ficar em segurança, vamos nos certificar
de que estamos off-line quando olhamos para dentro, on-line
quando estamos olhando para fora. Vamos tentar ter certeza de
que ninguém pode olhar para dentro quando estamos olhando
para fora. (SHERMAN, 1997, p.71).
Em tal contexto, não é de se estranhar o fascínio experimentado ao nos tornarmos
espectadores de imagens geradas através do registro obtido por câmeras ocultas. O
inelutável sucesso dos flagrantes exibidos em programas televisivos apenas confirma e
torna exponencial tal encanto. É também digno de nota o prazer com que proprietários de
telefones celulares portadores de câmera fotográfica registram, a seu bel prazer e de modo
“despistado”, pessoas que as cercam, sejam estas suas amigas ou mesmo absolutamente
desconhecidas. Vivendo da perversão sugerida por esta limiaridade, encontramos
igualmente os paparazzi, sequiosos por transformar em imagem pública (on-line) a
intimidade off-line de celebridades.
São máquinas que nos acompanham, são máquinas que nos protegem – de nós e
dos outros –, são máquinas que nos colocam em relação – conosco e com os outros,
consentida ou compulsoriamente – e, o que agora nos interessa, são máquinas que nos
fazem ver, que nos fazem ser vistos e que nos permitem vermos-nos sendo vistos. “O
estranho nisso tudo” – provoca Sherman – “é que nos tornamos tão dependentes de
nossas máquinas para nos ajudar a ver e compreender o mundo, que dependemos de
nossas máquinas para nos ajudar a ver a nós mesmos” (SHERMAN, 1997, p.71). Mas,
afinal, quem observa quem?
Porteiros divertem-se com sua contemporânea ocupação de guardiões de imagens
privadas. Assaltantes de condomínios de luxo não se esquecem de levar consigo as mais
determinantes provas do crime: as fitas do circuito interno de televigilância. Alguns aceitam
o convite e sorriem quando estão sendo filmados. Outros adoram fazer gestos obscenos
www.compos.com.br/e-compos Dezembro de 2006 - 4/14
Revista da Associação Nacional dos
Programas de Pós-Graduação em Comunicação
para domésticos panópticos. Alguns olham para todos os lados. Outros desviam os olhos.
Alguns preferem não olhar. Há aqueles que nada conseguem enxergar.
Todos têm na ponta da língua a óbvia constatação: imagens visuais assumiram um
lugar determinante nas sociedades contemporâneas. Estamos inexoravelmente cercados
por imagens visuais tecnicamente mediadas. Vivemos com o mundo na ponta do olho. O
mundo, por sua vez, só nos sabe se nos puder ver. Para que nos veja transformamo-nos, às
vezes a contragosto, em imagens dotadas de visualidade. Estranha mutação. Inversão
radical de quaisquer iconoclastia só se ganha materialidade visual abdicando-se de
densidade corpórea. Dispensamos o espírito do tempo para mais intensamente mergulhar
no espírito do olhar.
Segundo Baitello Junior (2005), em seus estudos sobre a iconofagia, são agora as
imagens que buscam pelos olhos humanos. Enquanto as consumimos, elas nos consomem:
Alimentar-se de imagens significa alimentar imagens,
conferindo-lhes substância, emprestando-lhes os corpos.
Significa entrar dentro delas e trasnformar-se em personagem
(recorde-se aqui a origem da palavra “persona” como “máscara
de teatro”). Ao contrário de uma apropriação, trata-se aqui de
uma expropriação de si mesmo. (BAITELLO JUNIOR, 2005, p.
97).
A despeito de tão intensa proximidade, a despeito da permissividade que nos lança
a este processo de consumação, poucos são capazes de nomear com clareza o que vem a
ser a imagem; raríssimos aqueles que as conseguem precisamente definir. De onde parte
esta indefinição? Por que cada vez mais foram se agregando a este conceito adjetivações e
qualificações?
Se o grande impasse vivido em uma cultura da visualidade é o de conseguir
encontrar os olhos para ver, será igualmente justo diagnosticar na crescente estetização da
cultura um dos mais nodais focos de onde se abalam os pilares conviviais de sociedades
fundadas na negociação entre cidadãos autóctones. A crise ética não é estranha à
cenarização compulsória do social.
Na abordagem de Bauman (2004), a liquefação dos vínculos potencializada pelo
advento da proximidade virtual – e, acrescentaríamos, pela profusão visual –, se não
www.compos.com.br/e-compos Dezembro de 2006 - 5/14
Revista da Associação Nacional dos
Programas de Pós-Graduação em Comunicação
significa a supressão do contato, ocasiona o estabelecimento de contratos de
relacionamento essencialmente fluídos. As conexões são muitas, mas também muitíssimo
breves. O rol de contatos é enorme, mas por vezes parece difícil perceber estes outros com
os quais nos conectamos em sua materialidade fenomêmica.
No universo da comutação a existência pulveriza-se em bits e a corporalidade
fractaliza-se em imagem. O olhar que possibilita o encontro é o mesmo que reafirma a
distância entre os corpos e a efemeridade da comunhão. E seguimos nos encontrando: aos
solavancos, em trânsito, submersos no transe de uma visualidade excessiva, nesta erótica
das miradas que tende a dispensar a erotização do face-a-face.
Não há justa medida possível se aceitarmos que todas as medidas são possíveis. Se
tudo é cenário, o verdadeiro jogo é aquele que se dá nos bastidores e, astutamente, a
indústria midiática, seja ela voltada ao entretenimento ou à informação, esforça-se para
transformar os bastidores em espetáculo visualmente visível, ao modo de uma
neutralização da real percepção do protagonismo que ali possa realizar-se.
Assim, em uma potente força de homogeneização, amalgamadas pela mesma
lógica do espetáculo, tornam-se visíveis negociatas políticas, falcatruas econômicas, crises
conjugais de estrelas televisivas. E o que é grave, ao pensarmos no impacto de tal ação,
refere-se exatamente à indiferenciação aí gerada, ao convite à indiscriminação da natureza e
dos diversos alcances daquilo que está sendo visibilizado.
Aprofundando tal possibilidade reflexiva, Baitello Junior (2005) sugere que
A cultura das imagens (e a transformação de toda a natureza
tridimensional em planos e superfícies imagéticas) abre as portas
para uma crise de visibilidade, dificultando aqui não apenas a
percepção das facetas sombrias, mas até mesmo, por saturação,
aquelas regiões iluminadas. Assim, como toda visibilidade
carrega consigo a invisibilidade correspondente, também a
inflação e a exacerbação das imagens agrega um desvalor à
própria imagem, enfraquecendo sua força apelativa e tornando
os olhares cada vez mais indiferentes, progressivamente cegos,
pela incapacidade da visão crepuscular e pela univocidade
saturadora das imagens iluminadas e iluminadoras. (BAITELLO
JUNIOR, 2005, p.85)
www.compos.com.br/e-compos Dezembro de 2006 - 6/14
Revista da Associação Nacional dos
Programas de Pós-Graduação em Comunicação
Mario Perniola (2000) detecta uma “socialização do imaginário” própria das
sociedades midiáticas3. Historicizando o conceito de simulacro, imagem sem protótipo e
sem identidade, “construção artificiosa que não possui original e que é incapaz de ser (...)
ela mesma um original”, Perniola afirma que ele “encontra as condições para uma plena
realização nos meios de comunicação de massa contemporâneos” (PERNIOLA, 2000, p.
140). Segundo o filósofo,
Os meios de comunicação de massa, até o momento, têm em
geral negado o seu caráter de simulacro. Ao considerar a si
próprios como “espelho da realidade” ou do futuro diante de
um público ainda profundamente impregnado de nostalgias
metafísicas, chegaram às aberrações hiper-realistas e hiper-
futuristas4. Mas o seu valor não consiste na satisfação de
pretensões metafísicas; ao contrário, ele implica precisamente o
abandono de tais pretensões. Os meios de comunicação não
podem ser a representação da realidade ou do futuro, porque
são, antes de tudo, condições da experiência social presente e
futura.(PERNIOLA, 2000, p.140)
2. Visualidade e visibilidade
Tomando por motivadores estes panoramas imagéticos, torna-se possível
problematizar o corrente conceito de “sociedade da visualidade”, inúmeras vezes utilizado
para se descrever a contemporaneidade desde um ponto de vista dos impactos sócio-
culturais de sua produção imagética.
Nossa primeira postulação é a de que, ao promover a visualidade, a produção
excessiva, ininterrupta e indiscriminada de imagens dotadas de materialidade e/ou
externalidade visual, nossas sociedades midiáticas engendram um paradoxo: quanto maior e
mais extensiva a profusão de visualidades, menor e menos intensiva é a possibilidade de
3 Podemos, ainda, analisar a mídia, e não só os meios massivos, dialogando com outro conceito,
desta vez moriniano. É possível percebê-la em sua qualidade de “duplo”, de imagem material
dotada de qualidade mental.
4 Associadas, pelo autor, ao clássico embate entre iconoclastia e iconofilia: “os iconófilos
contemporâneos são os realistas e os hiper-realistas dos meios de comunicação; os iconoclastas
são os hiperfuturistas da autenticidade e da verdade alternativa. Em ambos permanecem
operantes, a seu malgrado, as premissas filosóficas de seus predecessores religiosos.”
(PERNIOLA, 2000, p. 130).
www.compos.com.br/e-compos Dezembro de 2006 - 7/14
Revista da Associação Nacional dos
Programas de Pós-Graduação em Comunicação
visibilidade. O que muito se mostra pouco se dá a ver. A visualidade excessiva é uma
estratégia de invisibilidade.
A pulsão escópica assim realizada – no imperativo de um exibicionismo
compulsório – coaduna-se a um tácito impedimento. Exibir-se em profusão é parte de uma
artimanha irônica e cínica: mostrar-se em excesso sem nunca se revelar. Falastrões
imagéticos são hábeis simuladores de veracidade. Mas, em verdade, nada há neles de
exatamente verdadeiro. Antes, o que ali fascina é o falso absoluto, o tudo artificial, o
opulentamente construído.
Culturas da visualidade legitimam uma transimagética, uma imagerie que só se torna
crível exatamente por ser simulada, sequer almejando algo similar à verossimilhança.
Vejam, o real não foi esquadrinhado pelas aparências. Sequer nelas reside o lugar de onde
se seduziria o olhar. O que nos encanta não é o cenário. Aguardamos, isto sim, a ocupação,
em primeiro plano, da vívida encenação de uma “fastamagoria” de bastidores.
A visualidade comporta um movimento pendular. Em um pólo, as representações
impossíveis; em outro, o que só se dizima ao se representar:
Lyotard [1994], de modo brilhante, relata em minúcias o alcance e a trágica
destruição operada pelas políticas de esquecimento. E estas o são, essencialmente, políticas
de imagens, imagens que desconstróem memórias e naufragam imaginários. Penso,
complementarmente, que a desconstrução opera-se igualmente pela evocação, por estas
esplendorosas e insistentes políticas de aparecimento levadas a cabo pela cultura das
mídias.
Sou eu o que vejo no espelho, de manhã, ao, sonolenta, escovar
os dentes? Sou o que escrevo, sou as imagens que de mim
capturaram as câmeras do telejornal local, sou mais
verdadeiramente eu no click da polaroid, no instantâneo abrigado
na carteira de motorista, nos desapercebidos registros do circuito
interno de tevê instalado no prédio em que moro? Onde estou,
se estou em toda parte? Talvez somente as imagens conheçam
minha verdade. E a guardam para si. (ROCHA, 2005)
Tendo por base as observações acima registradas, estar-se-ia, ao que parece, diante
de variados contratos imagéticos. Procura-se ora por uma ordenação, ora é-se surpreendido
www.compos.com.br/e-compos Dezembro de 2006 - 8/14
Revista da Associação Nacional dos
Programas de Pós-Graduação em Comunicação
por uma sensação de hiper-realismo, como se a visualidade se tornasse mais real do que o
real, como se ele, perdendo em potência de vinculação, cedesse lugar à sensibilização das
imagens.
Analisando especificamente a imagem televisual, Jean-Marc Vernier (1988) propõe
classificá-la a partir de três ordens, cada qual com um específico contrato de visibilidade,
"implicando certa forma de crença, de adesão, um julgamento daquilo que se mostra,
visando um telespectador ideal e prevendo um modo específico de relação deste com as
imagens". Na primeira ordem, da "imagem-profundidade", o contrato visa a credibilidade
das imagens, conferindo-lhes um caráter tátil, na remissão ao que seria uma "infância da
televisão", quando se tomavam as coisas como de fato seriam, na presunção de uma
objetividade pura.
Na segunda ordem, da "imagem-superfície", o contrato é o do espetáculo, baseado
na necessidade e na primazia da mise-en-scène. Progressivamente, escreve Vernier, são os
fragmentos de imagem que se dão a ver, conduzindo-nos à terceira ordem, da "imagem-
fragmento". Nesta, o contrato de visibilidade é energético, pulsante, é pura sensação. "Para
o telespectador o mundo não é mais do que uma colagem de imagens, combinatório de
intensidades visuais".
O limite do olhar, na oscilação entre as três ordens, sendo que a última tende a
engolfar as demais, conduz-nos a um estado de suspense ininterrupto: imaginamos ver o
real, e o que vemos é sua encenação; pensamos desfrutar de um teatro, quando, na
verdade, o que se vê é real; em outros casos, gostaríamos que o real fosse uma encenação.
Movimento ambíguo que, colocando em relevo, em mobilização incessante e fracionada a
capacidade perceptiva, não possibilita que se saiba ao certo o que de fato nos aguarda e,
menos ainda, o que será capaz de nos chocar. Em uma situação de paroxismo, os contratos
são forjados na intensidade: a intensidade visual importa mais do que a intenção de
visibilidade.
De modo a desenvolver este argumento, gostaria de elencar alguns dos vetores
que, segundo percebo, podem ser associados ao que aqui se entende por visibilidade. Creio
que, ao falarmos em visível, pressupomos não apenas uma qualidade daquilo que se dá a
www.compos.com.br/e-compos Dezembro de 2006 - 9/14
Revista da Associação Nacional dos
Programas de Pós-Graduação em Comunicação
ver, que se constrói enquanto materialidade sígnica e efetividade simbólica. Penso,
complementarmente, que visibilidade refere-se a uma “visualidade portadora de
legibilidade” e, igualmente, de um estatuto hierarquicamente estabelecido e socialmente
acordado de credibilidade.
Visibilidade associa-se, portanto, a mecanismos sócio-culturais partilhados que
conferem, a determinadas imagens visuais, a qualidade de partícipes de sistemas de crença e
de leitura visual reconhecíveis e reconhecidos. O que é visível remete menos ao que se
tornou imagem visual e mais àquela visualidade que, via jogo societal e estratégias
comunicacionais, é reconhecida como dotada de valor de troca simbólico e de relevância
comunicativa. Visibilidade, finalmente, apenas se realiza e se consuma no momento do
consumo, da recepção, da codificação, da interpretação e da tradução. É, ainda, um recorte
significante particular feito em um todo visual múltiplo e abrangente.
Recorrendo a elementos históricos oferecidos pelas teorias da visão e da
representação encontramos, desde os momentos mais primordiais, a tensão entre
visualidade e visibilidade. Como exposto por autores como Régis Debray (1993) e Edgar
Morin (2000), a imagem visual, em sua origem arcaica, ergue-se na suposição da
invisibilidade: as pinturas nas ossadas que antecediam o sepultamento, os templos
tumulares egípcios, cujo acesso se vetava aos vivos.
Posteriormente, representar-se-iam os próprios mortos. A eles, e a eles apenas, era
assegurado o direito à visibilidade – lembrem-nos aqui da etimologia da palavra: imago, em
uma de suas acepções, diz respeito à máscara de cera que se fazia dos que já haviam
abandonado a vida. Se retornarmos ainda mais além, chegando às chamadas pinturas
rupestres, encontraremos a mesma lógica.
As grutas serviam de suporte não para o retrato, para o registro instantâneo do que
era visto. Na verdade, o que se depreende das inscrições é uma tentativa de tornar visível o
já vivido – o ato sexual, o eclipse solar – ou, em outros casos, de se exercitar em
visibilidade o que, futuramente, tornar-se-ia visualidade tangível – o encontro com a fera
desconhecida, o enfrentamento armado, a caçada.
www.compos.com.br/e-compos Dezembro de 2006 - 10/14
Revista da Associação Nacional dos
Programas de Pós-Graduação em Comunicação
Nas sociedades da visualidade excessiva, passado e futuro parecem, em verdade,
condenados à total invisibilidade. O que se dá a ver é uma intensidade visual absolutamente
presentificada. Excesso rima aqui com anestésico. A cultura da visualidade, encantada pela
força de externalização da produção imaginária acaba colocando em risco parte de seu
magma de subjetivação e de memória.
Talvez fosse interessante considerarmos não apenas a existência de em um jogo
entre o visível e o (in)visível mas, igualmente, discriminar a tênue linha que demarca a
passagem da visualidade à visibilidade. Se a visualidade delimita uma experiência cultural,
falar em visibilidade pressupõe uma estratégia essencialmente política. Pressupõe-se
analisar como, nas culturas da visualidade, constroem-se e se agenciam políticas de
(in)visibilidade.
Penso, no segundo caso, que estamos diante de dispositivos de poder que, de
modo sutil e não menos efetivo, constroem, em presença, não o que o olho vê, mas,
fundamentalmente, o que a visão reconhece como fato relevante. Pressupõe-se, pois, que a
visibilidade, como fato de visão, ultrapassa e reconfigura a consciência objetiva do que é
visto, ganhando corpo e referencialidade palpável exatamente um convite ao exercício,
guiado, de uma consciência subjetiva.
Nestes termos, cabe esclarecer que visibilidade diz respeito tanto a um processo –
de educação do olhar – quanto a um progresso – no exercício da interpretação e na
afirmação da subjetividade. Deve-se ainda proceder a algumas discriminações. Se se pensar
em termos da comunicação produzida massivamente (a tevê aberta, como um de seus mais
notórios paradigmas) –, encontramos uma estratégia de visibilidade sendo forjada,
intencionalmente aplicada desde o modo de produção das imagens visuais até a lógica de
sua veiculação.
Também a encontraremos nos específicos contratos de visibilidade tacitamente
estabelecidos entre consumidores e os diferentes veículos, acordando-se o que é digno de
visibilidade e, obviamente, o que se deve manter invisibilizado. A relação entre a eficácia
comunicativa dos produtos midiáticos e a inserção em macro-processos de visibilidade,
articulando modos de ver, direcionamentos do olhar, imagens visuais e textuais, oferecem
www.compos.com.br/e-compos Dezembro de 2006 - 11/14
Revista da Associação Nacional dos
Programas de Pós-Graduação em Comunicação
poderosas senhas de acesso à aquisição de visibilidade sócio-cultural, cada vez mais
perpassada pelos hábitos de consumo.
Ambas, compondo um incessante diálogo, fazem ressoar modelos ideais de
comportamento, sugestões acerca de estilo de vida, parâmetros de apresentação corporal e,
obviamente, um verdadeiro álbum imagético que se oferece como referencial para
construções identitárias.
Se seguirmos o raciocínio proposto por Arthur Kroker e David Cook (1991),
poder-se-ia aí identificar a operação de uma estratégia midiática de estetização de princípios
mercadológicos. Segundo nossos autores, a mídia, enquanto aparato social abrangente,
melhor coloniza a psicologia individual sendo um "determinador de estados de espírito"
[mood setter]. À propagação de imagens coaduna-se, portanto, um gerenciamento sensorial e
comportamental decisivo, compondo um guia sobre como sentir e como se sentir.
As imagens assim compartilhadas são formas seriais de "modos de ser", espectros a
serem alegremente consumidos. Embora analisem especificamente a televisão, a
interpretação de Kroker e Cook é pertinente para abranger o significado de diferentes
cenas midiáticas. Na proposição dos pesquisadores, a tevê, e segundo sugerimos, a mídia,
pode ser definida como expressão paroxística da forma-mercadoria, "vivendo finalmente (como
Marx profetizou) como uma pura imagem-sistema, como uma imagem televisiva espectral"
(KROKER e COOK, 1991, p.268). A reificação, nestes termos, é solapada pela linguagem
da significação.
Mais do que excesso ou pura e simples obscenidade das imagens, trata-se, em
resumo, da inserção original das imagens na malha cultural e nas interações sociais
contemporâneas. O consumo de imagens/sensações e de imagens/estilos-de-vida consolida um
verdadeiro mercado de imagens5.
5 A comunicação midiática propriamente dita – de alcance maciço, mas não massivo – nos
permite identificar estratégias de visibilidade mais sofisticadas. É caso de algumas experiências na
internet e nas tevês fechadas, é o caso das revistas segmentadas, dos serviços e produtos
customizados.
www.compos.com.br/e-compos Dezembro de 2006 - 12/14
Revista da Associação Nacional dos
Programas de Pós-Graduação em Comunicação
Também pelas brechas se faz a visibilidade. Os ativistas de culture jamming6, citando
apenas um exemplo, valem-se da visualidade excessiva para ali construir sua proposta de
legibilidade. Como pequenos gênios destampam as garrafas de grandes marcas, revelando e
dando visibilidade, invariavelmente, à mitologia negativa dos produtos e serviços
anunciados7.
As flash mobs8, por sua vez, servem-se do fluxo urbano e das redes tecnológicas para
dar visibilidade a sua assumida e divertida efemeridade. Nas ruas da cidade, grafiteiros
também exercitam uma astuciosa ação de visibilidade. Alguns optam por contrapor-se à
lógica do excesso, da poluição visual. Outros, ainda mais argutos, ocupam-se de uma
guerrilha lingüística codificada e hermética. Escolhem representar o irrepresentável e
transformam o silêncio em grito de palavra.
6 Trata-se da “prática de parodiar peças publicitárias e usar os outdoors para alterar drasticamente
suas mensagens” (Klein, 2002:308).
7 No emblemático trabalho de Klein (2002), encontramos que “o termo (...) foi cunhado em 1984
pela banda de audiocolagem Negativland, de San Francisco. (...) Uma boa jam, em outras
palavras, são raios X do subconsciente de uma campanha, revelando não um significado oposto,
mas a verdade mais profunda oculta sob as camadas de eufemismos publicitários” (Klein, 2002:
309).
8 Mobilizações instantâneas realizadas em centros urbanos de todo o mundo, valem-se, para sua
convocação, do contato através de Internet e telefonia celular. Lembremos aqui que o mesmo
recurso está sendo utilizado como meio de mobilização nos recentes conflitos envolvendo jovens
filhos de migrantes ocorridos em Paris, obviamente que a serviço de uma ação de proposta e
efeito diverso.
www.compos.com.br/e-compos Dezembro de 2006 - 13/14
Revista da Associação Nacional dos
Programas de Pós-Graduação em Comunicação
Referências bibliográficas:
Baitello, Norval. A era da iconofagia. Ensaios de comunicação e cultura. São Paulo,
Hacker, 2005.
Bauman, Zygmunt. Amor líquido. Sobre a fragilidade dos laços humanos. Rio de
Janeiro, Jorge Zahar, 2004.
Debray, Régis. Vida e morte da imagem. Petrópolis, Vozes, 1993.
Klein, Naomi. Sem logo. A tirania das marcas em um planeta vendido. Rio de Janeiro,
Record, 2002.
Kroker, Arthur e Cook, David. The postmodern scene. Excremental culture and
hyper-aesthestics. Montréal, New World Perspectives, 1991.
Lyotard, Jean-François. Heidegger e os judeus. Petrópolis, Vozes, 1994.
Morin, Edgar. O paradigma perdido. Lisboa, Europa-América, 2000.
Morin, Edgar. O cinema ou o homem imaginário. Lisboa, Relógio D´Água, 1997.
Perniola, Mario. Pensando o ritual. Sexualidade, morte, mundo. São Paulo, Studio
Nobel, 2000.
Rocha, Rosamaria Luiza (Rose) de Melo. “Imagens limiares e seus fabulosos
fabuladores”. Paper apresentado no XIV Encontro Anual da Compôs. Niterói,
UFF, 01 a 04 de junho de 2005.
Sherman, Tom. “Machines R Us...”. In: Domingues, Diana (org.). A arte no século
XXI. A humanização das tecnologias. São Paulo, Unesp, 1997, pp. 70-78.
Vernier, Jean-Marc. "Trois ordres de l'image télévisuelle". Quaderni, nº 4, primavera
de 1988. Paris, CREDAP, Université Paris Dauphine, pp. 9-18 (tradução da
autora).
www.compos.com.br/e-compos Dezembro de 2006 - 14/14
Você também pode gostar
- 193201-Texto Do Artigo-537298-1-10-20220121Documento21 páginas193201-Texto Do Artigo-537298-1-10-20220121Daniel AbathAinda não há avaliações
- O Universo Das Imagens Tecnicas ABSTRAÇÃO SEG CAPDocumento4 páginasO Universo Das Imagens Tecnicas ABSTRAÇÃO SEG CAPJoão Victor CoserAinda não há avaliações
- Artefatos Visuais Fotograficos PossibiliDocumento14 páginasArtefatos Visuais Fotograficos PossibiliGustavo TinéAinda não há avaliações
- Dança Sélfica - ZUM - ZUMDocumento6 páginasDança Sélfica - ZUM - ZUMtheloniousarielAinda não há avaliações
- Comunicação na Prática: Olhares ContemporâneosNo EverandComunicação na Prática: Olhares ContemporâneosAinda não há avaliações
- Fazer Cartaz de CinemaDocumento52 páginasFazer Cartaz de CinemaasabrancoAinda não há avaliações
- Trajetória – Filosofia, Sociologia, Antropologia, Comunicação E EducaçãoNo EverandTrajetória – Filosofia, Sociologia, Antropologia, Comunicação E EducaçãoAinda não há avaliações
- 5910-Texto Do Artigo-19606-1-10-20091006Documento6 páginas5910-Texto Do Artigo-19606-1-10-20091006VanessaC.RodriguesAinda não há avaliações
- As Técnoimgens e Seu Poder de ManipulaçãoDocumento2 páginasAs Técnoimgens e Seu Poder de ManipulaçãoLanhause EclipseAinda não há avaliações
- Slides de Aula - Unidade IIDocumento33 páginasSlides de Aula - Unidade IIvictoriabeserra3Ainda não há avaliações
- Fotolivros Textos em Relacao As FotografiasDocumento246 páginasFotolivros Textos em Relacao As Fotografiasfrancisco_f_ribeiro_3Ainda não há avaliações
- Selfie e Teoria Critica: CONSIDERAÇÕES ACERCA DO TRABALHO COM IMAGENS EM PSICOLOGIADocumento8 páginasSelfie e Teoria Critica: CONSIDERAÇÕES ACERCA DO TRABALHO COM IMAGENS EM PSICOLOGIAfran_coccoAinda não há avaliações
- Políticas da imagem: Vigilância e resistência na dadosferaNo EverandPolíticas da imagem: Vigilância e resistência na dadosferaAinda não há avaliações
- Fotografia e Audiovisual - Imagem e PensamentoDocumento246 páginasFotografia e Audiovisual - Imagem e PensamentoGreidys100% (1)
- Cópia de TCCDocumento10 páginasCópia de TCCa.linemirandaAinda não há avaliações
- Ver e Ser Visto: Considerações Psicanalíticas sobre as Redes SociaisNo EverandVer e Ser Visto: Considerações Psicanalíticas sobre as Redes SociaisAinda não há avaliações
- Estratégias Da VisibilidadeDocumento14 páginasEstratégias Da VisibilidadeelysianvelaAinda não há avaliações
- Laboratório de Redação: Tecnologia e Comportamento SocialDocumento2 páginasLaboratório de Redação: Tecnologia e Comportamento Sociallui100% (1)
- Símbolos Do Inferno: Imagens de Lugar Nenhume de AlgumlugarDocumento24 páginasSímbolos Do Inferno: Imagens de Lugar Nenhume de AlgumlugarJônathas AraujoAinda não há avaliações
- Por Um Manifesto PósfotograficoDocumento13 páginasPor Um Manifesto PósfotograficoCarol MendozaAinda não há avaliações
- Imagem Polida Imagem PoluidaDocumento181 páginasImagem Polida Imagem PoluidasamáhphotoAinda não há avaliações
- O Imaginal Publico Samuel MateusDocumento20 páginasO Imaginal Publico Samuel MateusJoão HelderAinda não há avaliações
- ROJO e MOURA 2019 Cap-4Documento118 páginasROJO e MOURA 2019 Cap-4Mariana Spagnolo MartinsAinda não há avaliações
- BELTING, Hans - 2006 - Imagem Mídia e Corpo PDFDocumento13 páginasBELTING, Hans - 2006 - Imagem Mídia e Corpo PDFedgarcunhaAinda não há avaliações
- Belting - Imagem Midia Corpo - IconologiaDocumento22 páginasBelting - Imagem Midia Corpo - IconologiaCinthia MendonçaAinda não há avaliações
- HiperrealidadeDocumento4 páginasHiperrealidadeMarina Prado FerreiraAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento28 páginas1 PBAnderson De JesusAinda não há avaliações
- Rosto Didi HubermanDocumento15 páginasRosto Didi HubermanRenata LimaAinda não há avaliações
- 2010 Calado, Isabel. I ConeDocumento4 páginas2010 Calado, Isabel. I Conerobertorodrigues2004Ainda não há avaliações
- Forma e Percepcao VisualDocumento10 páginasForma e Percepcao VisualdvictorinoAinda não há avaliações
- O Fascínio e A Alienação No Ciberespaço Uma Perspectiva Psicanalítica Nádia LaguardiaDocumento13 páginasO Fascínio e A Alienação No Ciberespaço Uma Perspectiva Psicanalítica Nádia LaguardiaMarina LadeiraAinda não há avaliações
- Maciel, M. Do R. G. G.. Imagem Virtual Que Artefato Cultural É EsseDocumento21 páginasMaciel, M. Do R. G. G.. Imagem Virtual Que Artefato Cultural É EsseDavid CristianoAinda não há avaliações
- 3953livro É Isso AiDocumento107 páginas3953livro É Isso AiTony OliveiraAinda não há avaliações
- Teorico - Leitura de Imagem IDocumento30 páginasTeorico - Leitura de Imagem IMarcelo HerinqueAinda não há avaliações
- Bodynets AndrelemosDocumento17 páginasBodynets Andrelemosapi-3817705Ainda não há avaliações
- Aula 10 - Legislação e Ética Na ComunicaçãoDocumento35 páginasAula 10 - Legislação e Ética Na ComunicaçãoDUFF'sAinda não há avaliações
- OLHAR FOTOGRAFICO - Jane - Maciel - 1Documento15 páginasOLHAR FOTOGRAFICO - Jane - Maciel - 1Fábio LucenaAinda não há avaliações
- Projeto de PesquisaDocumento16 páginasProjeto de PesquisaGabriel Almeida Da SilvaAinda não há avaliações
- No Tecido Dos Mitos AntigosDocumento8 páginasNo Tecido Dos Mitos Antigosa.linemirandaAinda não há avaliações
- Vinhetas de Abertura de Telenovelas e o Hyper-Real: Uma Aproximação Do SonhoDocumento18 páginasVinhetas de Abertura de Telenovelas e o Hyper-Real: Uma Aproximação Do SonhopaulonegriuemAinda não há avaliações
- Imagens No Ensino de Historia - Ana Heloisa MolinaDocumento16 páginasImagens No Ensino de Historia - Ana Heloisa MolinaMaria Júlia Fonseca NascimentoAinda não há avaliações
- Black Mirror, Internet Das Mentes e EducaçãoDocumento20 páginasBlack Mirror, Internet Das Mentes e EducaçãoTairex boAinda não há avaliações
- O Sujeito ContemporâneoDocumento10 páginasO Sujeito ContemporâneoLuciana De Oliveira FreitasAinda não há avaliações
- O Poder Da ImagemDocumento4 páginasO Poder Da ImagemLuís Artur Leite100% (1)
- Pesquisa EACHSADocumento5 páginasPesquisa EACHSAMarina Prado FerreiraAinda não há avaliações
- A Forma Do RealDocumento6 páginasA Forma Do RealMorena PanciarelliAinda não há avaliações
- A Sociedade do Silício: Inteligência artificial e a proteção da intimidadeNo EverandA Sociedade do Silício: Inteligência artificial e a proteção da intimidadeAinda não há avaliações
- Fotografias em Instagram Imagens de Praticas CorpoDocumento14 páginasFotografias em Instagram Imagens de Praticas Corpokarine AlmeidaAinda não há avaliações
- Imagens Endógenas e Imaginação SimbólicaDocumento15 páginasImagens Endógenas e Imaginação SimbólicaMaria Joana CasagrandeAinda não há avaliações
- Selfies & Nudes - A Indistinção Entre o Corpo e A Imagem - Artigo Publicado Como EpílogoDocumento13 páginasSelfies & Nudes - A Indistinção Entre o Corpo e A Imagem - Artigo Publicado Como EpílogoDanilo PatzdorfAinda não há avaliações
- Borges & Borges - Instagram e A Simulação Na Era Da Hiper-RealidadeDocumento10 páginasBorges & Borges - Instagram e A Simulação Na Era Da Hiper-RealidadeHenrique FernandesAinda não há avaliações
- Computação Do Invisivel - Rui MatosoDocumento18 páginasComputação Do Invisivel - Rui MatosoRui MatosoAinda não há avaliações
- Como Ler Uma ImagemDocumento3 páginasComo Ler Uma ImagemJc RuzzaAinda não há avaliações
- ANimação Contemporânea Uso Do 3DDocumento11 páginasANimação Contemporânea Uso Do 3DfellipegtxAinda não há avaliações
- Fotografia Nas Representacoes e Transformacoes Contemporaneas PDFDocumento13 páginasFotografia Nas Representacoes e Transformacoes Contemporaneas PDFEduardo AugustoAinda não há avaliações
- Projeto Final Imagens Manipulamos Ou Somos Manipuladosvinicius PDFDocumento8 páginasProjeto Final Imagens Manipulamos Ou Somos Manipuladosvinicius PDFVinicius LopesAinda não há avaliações
- ArtigoDocumento24 páginasArtigoLeandro Freitas MenezesAinda não há avaliações
- Cultura Urbana, Linguagem Visual e Publicidade No Rio ModernoDocumento17 páginasCultura Urbana, Linguagem Visual e Publicidade No Rio ModernothatakAinda não há avaliações
- Dossie Imagem e Cultura Visual 2236-3459-Heduc-19!47!00027Documento3 páginasDossie Imagem e Cultura Visual 2236-3459-Heduc-19!47!00027thatakAinda não há avaliações
- Comunicação OrganizacionalDocumento16 páginasComunicação OrganizacionalBruna Muniz IzidoroAinda não há avaliações
- Feedback Do Superior Hierarquico e Criatividade: o Efeito Moderador Dos Valores CulturaisDocumento117 páginasFeedback Do Superior Hierarquico e Criatividade: o Efeito Moderador Dos Valores CulturaisthatakAinda não há avaliações
- Cultura Urbana, Linguagem Visual e Publicidade No Rio ModernoDocumento17 páginasCultura Urbana, Linguagem Visual e Publicidade No Rio ModernothatakAinda não há avaliações
- Apresentação Da Aula Sobre FeminismoDocumento7 páginasApresentação Da Aula Sobre FeminismothatakAinda não há avaliações
- Helena Vieira - FeminismoDocumento12 páginasHelena Vieira - FeminismothatakAinda não há avaliações
- Bibliografia para Curso Do IREE - Julho - 2020Documento3 páginasBibliografia para Curso Do IREE - Julho - 2020thatakAinda não há avaliações
- Propostas Mulheres Na Constitui oDocumento1 páginaPropostas Mulheres Na Constitui othatakAinda não há avaliações
- A História Secreta Da Rede GloboDocumento183 páginasA História Secreta Da Rede GloboDaniel AlejandroAinda não há avaliações
- Yogananda CuraDocumento61 páginasYogananda Curaapi-3696849100% (7)