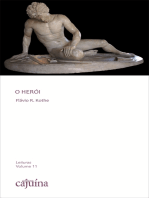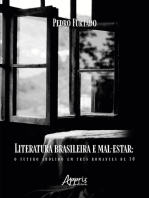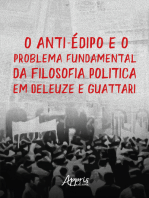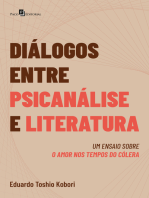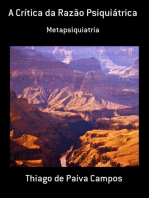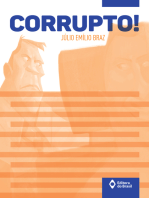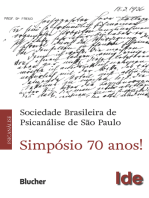Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Cult 248 - Por Que Amamos Paulo Leminski
Enviado por
Maria Gabriela0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
17 visualizações53 páginasTítulo original
Cult 248 – Por Que Amamos Paulo Leminski
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
17 visualizações53 páginasCult 248 - Por Que Amamos Paulo Leminski
Enviado por
Maria GabrielaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 53
Sumário
coluna
Bianca Santana
Marcia Tiburi
Wilson Gomes
especial Paulo Leminski
dossiê Aníbal Quijano, o mundo a partir da América Latina
Apresentação
A tenacidade da inquietude
O tempo na obra de Aníbal Quijano
O feminismo decolonial
A colonialidade e Porto Rico
estante cult
colaboraram nesta edição
coluna
Fome coletiva por nossa história escondida
BIANCA SANTANA
Memórias da plantação, de Grada Kilomba, foi o livro mais vendido na livraria
oficial da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, em 2019. Não é pouca
coisa celebrar, pelo segundo ano consecutivo, uma mulher negra como autora
mais vendida na festa literária mais importante do país. E, além da autoria, é
importante atentar para o conteúdo da publicação.
Editado pela primeira vez na Alemanha, em 2008, o livro, escrito em inglês,
é fruto da tese de doutorado em filosofia de Grada, defendida na Freie
Universität Berlin. Nele, são apresentadas análises de episódios de racismo
cotidiano, partindo da ideia de bell hooks de que a história pode “ser
interrompida, apropriada e transformada através da prática artística e literária”.
Ao apresentar relatos de discriminação racial sofridos por Grada e mais
duas mulheres negras que entrevistou, a autora propõe uma atualização do
trauma do passado escravocrata. Assim, o racismo cotidiano teria cronologia
atemporal: o presente estaria constantemente assombrado pelo passado invasivo
da escravidão.
Na perspectiva de Grada, cada vez que uma vizinha ou um vizinho do
prédio onde vivo faz questão de perguntar em que apartamento eu trabalho como
empregada doméstica – já que não lhes parece possível que uma mulher negra
seja moradora do mesmo prédio de apartamentos que eles –, atualiza-se o projeto
colonial de que determinados lugares não são para determinadas pessoas.
Até pouco tempo atrás, era uníssona no Brasil a ideia de uma democracia
racial. Um processo de negação, como Grada demonstra também na instalação
The Dictionary, em exibição na Pinacoteca de São Paulo até 30 de setembro.
Depois da negação, viriam culpa, vergonha e reconhecimento, para então ser
possível a necessária reparação do que foi a escravização de pessoas negras.
Enquanto algumas pessoas, entre elas o presidente da República, seguem no
processo de negação do que foi o regime escravocrata no Brasil e do racismo
estruturante que vivemos, há muitas outras pessoas brancas em processo de
culpa, vergonha ou reconhecimento da nossa tragédia. Não vejo a hora de
falarmos seriamente sobre reparação.
Grada conta que inúmeras vezes é acusada de excesso de subjetividade,
como se não produzisse teoria séria o bastante para os parâmetros da academia.
Sobre isso, argumenta que qualquer forma de saber que não se enquadra na
ordem eurocêntrica de conhecimento tem sido rejeitada, sob o argumento de não
constituir ciência. Uma das facetas do epistemicídio de que trata Sueli Carneiro
em sua tese de doutorado: “(...) o epistemicídio é, para além da anulação e
desqualificação do conhecimento dos povos subjugados, um processo persistente
de produção da indigência cultural: pela negação ao acesso à educação,
sobretudo de qualidade; pela produção da inferiorização intelectual; pelos
diferentes mecanismos de deslegitimação do negro como portador e produtor de
conhecimento e de rebaixamento da capacidade cognitiva; pela carência material
e/ou pelo comprometimento da autoestima pelos processos de discriminação
correntes no processo educativo. Isto porque não é possível desqualificar as
formas de conhecimento dos povos dominados sem desqualificá-los também,
individual e coletivamente, como sujeitos cognoscentes. E, ao fazê-lo, destitui-
lhes a razão, a condição para alcançar o conhecimento ‘legítimo’ ou
‘legitimado’”.
Acessar educação de qualidade, firmar uma autoestima da própria
capacidade intelectual, valorizar conhecimentos variados de pessoas negras
seriam, portanto, passos importantes para barrar tal epistemicídio. Para Grada – e
concordo totalmente –, a escrita de mulheres negras é uma estratégia potente de
descolonização. Pela escrita em si: “(...) enquanto escrevo, e me torno a
narradora e a escritora da minha própria realidade, a autora e a autoridade na
minha própria história. Nesse sentido, eu me torno a oposição absoluta do que o
projeto colonial predeterminou”. Mas também pela possibilidade de valorização
e reconhecimento desta escrita, colocando as mulheres negras como sujeitos
cognoscentes, produtoras de conhecimento legítimo e legitimado. Escrever
possibilitou que Grada se opusesse ao projeto colonial: multiartista
internacionalmente reconhecida, apesar de filha de trabalhadora doméstica.
Memórias da plantação ser o livro mais vendido da Flip coloca um tijolo
importante na árdua construção de mulheres negras como produtoras de
conhecimento.
Coletivo de vozes
Inspirada por Grada Kilomba, bell hooks, Sueli Carneiro e uma série de
outras intelectuais negras que têm traçado um mesmo percurso coletivo de
ampliação e disseminação de nossas vozes, organizei a antologia Vozes
insurgentes de mulheres negras: do século XVII à primeira década do século
XXI, publicada pela Mazza Edições e pela Fundação Rosa Luxemburgo e
disponível de forma gratuita e aberta na internet. A obra inclui 24 textos de
mulheres negras brasileiras: carta, trecho de romance, artigos de jornal, diários,
letras de música, ensaios, artigos acadêmicos, conto, crônica, discurso, poema,
entrevista.
A intenção foi reunir, em um único volume, vozes de mulheres que
romperam com o silenciamento que lhes foi imposto, primeiro pela condição de
escravizadas, depois pelo colonialismo, pelo racismo, pelo sexismo, pelas
discriminações e pela desigualdade de classes. Acredito que publicar, ler e
estudar a produção intelectual dessas mulheres crie novas epistemologias,
valorizando o conhecimento produzido por elas e também as valorizando,
individual e coletivamente, como sujeitos de conhecimento. Uma oportunidade
de adensar raízes para nos fortalecer diante do trauma da escravidão, mas
também para avançar da negação e da culpa rumo ao reconhecimento e à
esperada reparação.
Esperança Garcia. Maria Firmina dos Reis. Antonieta de Barros. Eunice
Cunha. Maria de Lurdes Vale Nascimento. Laudelina de Campos Mello.
Carolina Maria de Jesus. Neusa Maria Pereira. Leci Brandão. Dona Ivone Lara.
Lélia Gonzalez. Mãe Stella de Oxóssi. Jovelina Pérola Negra. Beatriz
Nascimento. Benedita da Silva. Luiza Bairros. Elisa Lucinda. Nilma Bentes.
Sueli Carneiro. Cida Bento. Jurema Werneck. Matilde Ribeiro. Cidinha da Silva.
Conceição Evaristo. Mulheres que utilizaram, e utilizam, a escrita como
possibilidade de serem autoras e autoridades de suas próprias vidas, mas também
do pensamento social brasileiro. Oposições absolutas do que o projeto colonial
predeterminou.
Mais que reconhecimento da importância desses escritos, vivemos um
momento de fome coletiva por essas histórias. Que a fome crie cada vez mais
oportunidades de publicação e coloque cada vez mais pessoas negras nas listas
de autoras e autores mais vendidos.
Quantas mulheres negras você já leu?
coluna
A questão ética
MARCIA TIBURI
Infelizmente ética enquanto tema tem se tornado um assunto ultrapassado, da
mesma forma que sua prática.
No entanto, seja como teoria ou como prática, trata-se de uma questão cuja
urgência se coloca mais uma vez e a cada dia e que, algumas vezes, como na
atual história do Brasil, precisa ser recolocada como questão institucional e
política. No contexto dos retrocessos e atrasos vividos em nosso país, é preciso
neste momento dar um passo atrás e recuperar uma reflexão que vem se
perdendo ou que, pior ainda, vem sendo propositalmente apagada.
A urgência da ética não deve ser vista como um sinal do fracasso da cultura
humana, como se a ideia de humanidade fosse uma abstração ultrapassada.
Antes, a urgência sinaliza para o necessário movimento da vida humana no
tempo histórico e geopolítico no planeta que habitamos.
Alguns teóricos permanecem separando a ética da política desde
Maquiavel, cuja teoria enuncia que “os fins justificam os meios”. É a formulação
teórica da objetificação do mundo, do poder acima de tudo e todos. A gravidade
da sentença por trás da qual há séculos de reflexão fez com que a análise da
política tratasse a ética como uma questão secundária, como se já não fizesse
parte dela.
A ética ficou perdida como uma teoria ligada ao individualismo, ao
pragmatismo e ao liberalismo. A ética de Espinosa tentava estabelecer a conexão
entre determinismo e liberdade, ou seja, a potencialidade humana para a ação no
contexto em que o que somos e podemos ser já estava programada em muitos
sentidos. Já filósofos críticos sempre se voltaram para ela em períodos mais
tardios, como podemos ver em Adorno e Foucault, teóricos que, naquele
momento de suas teorias, recuperaram o âmago da experiência da vida
consciente em nosso planeta. Theodor Adorno chamou a ética de “triste ciência”
porque já não teria seu objeto original para analisar, a vida justa. Foucault voltou
aos filósofos da Antiguidade clássica, tentando recuperar questões relacionadas à
formação do sujeito.
Não é por acaso que esses filósofos tenham retornado ao momento no
passado em que a ética foi primeiro colocada como teoria. Não se trata apenas da
densidade daquelas propostas teóricas que até hoje nos provocam a pensar, mas
sobretudo de um gesto. O gesto de começar de novo. O trabalho do pensamento
é um trabalho de início, o trabalho de reiniciar para que o processo possa ser
feito corretamente. É o trabalho de voltar atrás, de começar de novo. O que
Hegel colocou como pergunta pelo início da filosofia pode ser lido dessa
maneira. É preciso partir do começo. E o começo é a simplicidade do pensar,
que, em um primeiro momento, ainda não pensa, apenas contempla.
Em termos amplos, a ética, assim como os temas filosóficos de modo geral,
precisa ser sempre recolocada porque não podemos jamais pressupor uma
espécie de alfabetização conceitual por parte de todos os seres humanos. Nesse
sentido, uma coisa é estudar as teorias éticas e fazer evoluir a discussão em uma
esfera acadêmica e de análise histórica em contextos nos quais especialistas
falam entre si. Outra coisa é a complexa difusão das teorias que, de modo geral,
não é garantia de nenhuma evolução no mundo da vida cotidiana. E outra coisa
ainda é a urgência de recolocar a questão da relação entre teoria especializada e
prática cotidiana. Afinal, é na vida cotidiana que a ética como teoria é posta à
prova. A questão ética é, nesse sentido, uma questão política complexa, tanto
que muitos hoje preferem não se envolver com ela.
No analfabetismo conceitual comum ao mundo da vida, costumamos
reduzir a ética à moral e deixar de lado seu problema fundamental, que diz
respeito ao sujeito da ação, em um mundo no qual a robotização humana parece
uma meta universal.
coluna
O ciclo de agressão ideológica da nova política
WILSON GOMES
Em 3 de junho de 2017, 20 delegados do PT atacaram Miriam Leitão em um voo
para São Paulo. Começaram puxando o coro de “terrorista, terrorista!”, depois
passaram às ofensas, aos esbarrões na cadeira em que ela estava sentada, aos
gestos de humilhação. Em julho de 2019, Carlos Schroeder, coordenador
artístico da 13ª Feira do Livro de Jaraguá do Sul (SC), lamentava em entrevista
ter tido que cancelar o convite feito ao casal Miriam Leitão e Sérgio Abranches,
uma vez que se sentiu intimidado pela enxurrada de mensagens de repúdio
recebidas, muitas delas com ameaças. Em café da manhã com a imprensa
estrangeira em 19 de julho, foi a vez de o presidente da República dizer que a
jornalista não só integrou a luta armada como se dirigia ao Araguaia para se
juntar à guerrilha quando foi merecidamente presa pelo regime militar, aos 19
anos, e que ela mente ao dizer que foi submetida a abusos ou a tortura.
A agressão, com motivação ideológica, de alvos considerados adversários
ou inimigos já é de casa neste Brasil em que todo mundo virou torcedor
partidário, na hipótese benigna, ou combatente engajado na guerrilha política, na
hipótese mais extrema. Naturalmente, é fácil para a opinião pública condenar a
razia ideologicamente motivada contra os adversários, mas só a do outro lado.
De modo que hoje a agressão ideológica faz par constante com a indignação
seletiva: as pessoas estão prontas para a condenação veemente quando a
agressão parte de uma facção, assim como para a indulgência (ou até para a
defesa do agressor) quando é o seu lado que está implicado.
Isso, contudo, é só metade da história. Na verdade, há um sistema de
retroalimentação de conflito político que precisa tanto dos eventos de agressão
como da seletividade da indignação que os acompanha. Funciona assim: a
jornalista foi insultada por petistas, há dois anos, por bolsonaristas, no início de
julho, e pelo próprio Bolsonaro, em seguida. O ato será universalmente
reprovado? Todos firmarão uma posição pela tolerância, pelo respeito às
diferenças e pela vontade de dialogar, certo? Não. Primeiro vêm os aloprados do
esculacho ou o presidente tosco e sem noção, depois vem a multidão de
coniventes em redes sociais, com aplausos ou afirmações de que “não aconteceu
nada demais” ou “fomos maldosamente interpretados”. O que, por sua vez, será
a deixa para um terceiro tipo de ação, que tentará faturar para a própria causa em
cima da onda de indignação coletiva/absolvição seletiva. Trata-se dos
aproveitadores de clima de indignação, pessoas que militam no fluxo da
indignação coletiva para conseguir afirmar a superioridade da própria causa ou,
mais comumente ainda, desferir outro ataque moral contra a causa adversária,
mesmo à custa de alimentar o ódio, o ressentimento e o desejo de retaliação. O
que faz com que ciclo autodestrutivo de imbecilidade e ofensas funcione em
moto-contínuo.
Nos anos em que acompanho as conversas políticas em ambientes sociais
digitais, consegui identificar os quatro tipos mais comuns de aproveitadores de
clima de indignação, que se especializaram em parasitá-lo para promover ainda
mais atrito político. Os episódios com Miriam Leitão nos oferecem um excelente
caso para ilustrar a tipologia.
O primeiro tipo, e dos mais comuns, é o indicador de omissões. O seu
modus operandi consiste em indicar uma lacuna de indignação de determinado
grupo com o intuito de polemizar e rebaixar a posição daquele grupo, que, não
por acaso, é o seu adversário. “Cadê as feministas todas pra defender a Miriam
Leitão do ataque que sofreu dos militantes petistas no voo?” É necessário ter
havido falta de indignação do grupo X com relação ao evento Y? Não. O
objetivo não é constatar, mas dar um exemplo de como o grupo X não tem
superioridade moral nas suas causas porque pratica “indignação seletiva”.
Assim, qualquer clima de indignação social é útil para “desmascarar” o grupo
que se detesta. Em geral, o sommelier de indignação nem sequer presta
solidariedade à vítima, o foco está no ataque ao inimigo moral.
O segundo tipo é o transferidor de culpa. “Quem fomentou este clima de
radicalização em que vivemos foi a Globo. A Miriam Leitão é uma infeliz vítima
da própria empregadora.” Não se trata de negar que a pessoa é vítima de
alguma coisa, mas de dizer que os seus algozes imediatos não foram os reais
culpados do ataque. A culpa é transferida para uma estrutura, uma instituição,
circunstâncias, alguma coisa mais importante e muito além dos atacantes
eventuais. E como a vítima tem a ver com essa estrutura realmente maligna, nem
que seja por vínculo profissional, no fundo tem parte da culpa pelo que lhe
acontece. Os agressores, não, uma vez que, embora tenham vitimado alguém
singularmente, são na verdade as grandes vítimas históricas da Estrutura do Mal.
Quem mandou trabalhar na Globo?
O terceiro tipo é o sommelier de indignação coletiva, com meia
solidariedade à vítima e meia defesa da agressão. “Não que eu ache justo o que
Miriam Leitão diz ter sofrido, mas ela se posicionou contra os escrachos
sofridos por Guido Mantega, por exemplo?”. Como a vítima não ofereceu
empatia em caso semelhante, não há razão para que a violência sofrida por ela
seja objeto da nossa indignação. Se ela, a vítima, pratica indignação seletiva, por
que eu devo lhe oferecer indignação integral? Não. O que vou fazer é esfregar
em sua cara as suas próprias falhas morais, agora que ela também foi vítima.
Com isso, reforço os valores do meu grupo e continuo atacando meus inimigos,
usando a vítima como exemplificação. A ideia de que se possa indignar contra
algo injusto, com base em princípios, é desconhecida desta perspectiva. Deve-se
oferecer empatia apenas a quem foi legal quando eu precisei. Ou seja, aos
nossos.
O quarto tipo é o que exibe, jactante, a sua recusa à empatia com a vítima.
“Minha solidariedade aos milhões de trabalhadores brasileiros que são
agredidos verbalmente todos os dias pela golpista Miriam Leitão.” Dizem que a
hipocrisia é a última homenagem que o vício presta à virtude. Pois aqui não há
mais hipocrisia, as coisas estão explícitas, quem vocês pensam que é vítima, não
é vítima coisa alguma, é algoz. O que precisa ser desqualificado aqui não é o
grupo X que não compareceu ao ato coletivo de indignação, como no primeiro
tipo, mas a própria presumida vítima, que não vale nada.
E assim vamos nós, a agressão atrai a seletividade na indignação, atrás da
qual vêm os aproveitadores e parasitas de seletividade para gerar mais treta, mais
atrito, mais polarização e, por conseguinte, mais motivação para novos atos de
vigilantismo político. Nada pode resultar de construtivo nisso tudo. Mas é essa
eletricidade no ar, gerada por um estado permanente de beligerância, o que
alimenta multidões de novos interessados e de novos participantes da política
nos dias que correm. A treta e a agressão são o combustível da nova política.
especial Paulo Leminski
Por que amamos Paulo Leminski?
TARSO DE MELO
Sucesso: a mais espantosa de todas as palavras que nos remetem ao universo da
poesia de Paulo Leminski. O poeta curitibano, nascido em 1944 e morto em
1989, que completaria 75 anos neste 24 de agosto, fez e faz muito sucesso. E a
aproximação entre poesia e sucesso no caso dele pode ser expressa em números
grandiosos: Toda poesia, reunião de seus livros de poesia lançada em 2013, já
bateu 170 mil exemplares, apenas na edição de papel (custa 62,90 reais neste
país em que um programa social que distribui 89 reais por família causa tanta
alegria – e ódio). Há também edição digital vendida pela própria editora e, claro,
outras formas de circulação, digamos, “não registradas”, que podem levar esse
número a casas ainda mais admiráveis.
Muito antes disso, em 1983, quando Leminski, “pequeno poeta de
província” até então, que circulava praticamente em autoedição em Curitiba,
reuniu pela primeira vez seus poemas numa edição comercial em Caprichos &
relaxos, também foi um estrondo para os padrões da poesia: várias edições em
poucos anos, somando dezenas de milhares de livros. De lá pra cá, o cachorro
louco sempre fez chover no piquenique de quem diz que poesia é para poucos.
Leminski, sem dúvida, é para muitos.
A poesia de Leminski fez e faz a cabeça dos públicos mais diversos, não
apenas do leitor habitual de poesia treinado nas artimanhas do verso e para além
dele. E nada aí se deu por acaso, porque fazer a poesia chegar ao público mais
amplo possível era uma das “duas obsessões” de Leminski: “a fixação doentia na
ideia de inovação e a (não menos doentia) angústia quanto à comunicação”
(como disse no ensaio “Teses, tesões”). É curioso que, na sequência e também
em outros textos, Leminski diga que não poderia haver conciliação entre
inovação (formal, de vanguarda) e comunicação (efetiva) na poesia, porque foi
justamente o que fez desde seus primeiros poemas.
Leminski pensou e, à sua maneira, teorizou muito sobre essa questão (de
seus Ensaios e anseios crípticos, destaco “O boom da poesia fácil” e “Tudo, de
novo”), mas principalmente buscou em seus versos essa conciliação. Vem daí,
por exemplo, o mergulho cada vez mais fundo no universo da canção. Leminski
afirmou que a grande poesia de sua época está nos discos, não nos livros, e
passou a vida fazendo parcerias musicais, algumas de bastante sucesso (com
Caetano Veloso e Guilherme Arantes, entre tantos outros), e não escondia a
vocação de seus poemas para saltarem dos livros para os palcos e discos. Basta
lembrar a pequena nota de abertura de Caprichos & relaxos (“Aqui, poemas para
lerem, em silêncio,/ o olho, o coração e a inteligência./ Poemas para dizer, em
voz alta./ Poemas, letras, lyrics, para cantar./ Quais, quais, é com você,
parceiro.”) ou a nota ao poema “para que leda me leia”, já em Distraídos
venceremos (“Este poema já foi musicado duas vezes. Uma por Moraes Moreira,
outra por Itamar Assumpção. Que tal você?”). Leminski não apenas sabia que a
aproximação com a poesia dos discos levaria seus versos mais longe, mas queria
que cada um de seus leitores, na verdade, fosse seu parceiro nessa travessia da
página ao canto.
Não se pode dizer, contudo, que o sucesso das canções catapultou Leminski
para fora dos muros altos da poesia do livro. Pelo contrário, a impressão que
tenho é de que ele é um caso raro de sucesso como poeta de livro e que o
interesse do público por suas investidas para além do livro (discos, vídeos,
grafitti, guardanapos) e mesmo para além dos próprios livros de poesia (prosas,
biografias, traduções, ensaios, resenhas, cartas) é um fruto da paixão que seus
poemas despertam. O “leitor” de Leminski, a meu ver, faz o caminho contrário
ao do “ouvinte” de Vinicius de Moraes: neste caso, quem admira as canções
procura os livros, mas, no caso de Leminski, é a paixão pelo poema na página
que joga luz sobre tudo o mais que ele fez.
No campo da poesia, Leminski é nosso “último fenômeno editorial”, como
afirma Paulo Ferraz num artigo que rastreia as formas como Leminski, dentro e
fora de seus poemas, lidou com a indústria cultural (“O caminho dos meios”, no
livro Neste instante: novos olhares sobre a poesia brasileira dos anos 1970, org.
Viviana Bosi e Renan Nuernberger). E é por isso que, agora que o poeta faria 75
anos, precisamos começar pela constatação de seu sucesso para responder a uma
pergunta que me faço há mais de duas décadas, desde quando caiu em minhas
mãos pela primeira vez um livro do Polaco: por que amamos Paulo Leminski?
O próprio Leminski dá alguns caminhos para pensar sobre as paixões que
sua poesia desperta. Em 1986, na palestra “Poesia: paixão da linguagem”
(publicada em Os sentidos da paixão, org. Adauto Novaes), ele afirma: “As
línguas amam seus poetas porque, nos poetas, se realizam os seus possíveis. Um
Fernando Pessoa, um Maiakóvski, um Pound, um cummings, um Cabral, um
Khliebnikov, um Augusto de Campos são poetas que conduzem sua língua aos
extremos limites de expressão dela, quase assim na fronteira, no abismo do
incomunicável”. Antes disso, em 1985, no documentário Ervilha da fantasia, de
Werner Schumann, Leminski havia formulado essa ideia de modo
significativamente diferente:
“Todos os povos amam seus poetas. Eu não sei se todos os povos amam
seus cientistas, mas todos os povos amam seus poetas. No Brasil, poetas como
Vinicius de Moraes, Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Milton
Nascimento e seus parceiros são pessoas amadas. Os poetas são amados por
milhões. Por que os povos amam seus poetas? É porque os povos precisam
disso. Os poetas dizem uma coisa que as pessoas precisam que seja dita. O poeta
não é um ser de luxo, ele não é uma excrescência ornamental, ele é uma
necessidade orgânica de uma sociedade. A sociedade precisa daquilo, daquela
loucura para respirar. É através da loucura dos poetas, através da ruptura que
eles representam, que a sociedade respira.”
Comparando essas duas passagens, sempre me chamou atenção que, na de
1985, Leminski diz que “os povos amam seus poetas” e, como exemplo, cita
poetas dos discos, ao passo que, na de 1986, ele diz que “as línguas amam seus
poetas” e, aí, cita poetas dos livros. Aqui, nos livros, os poetas levam a língua ao
extremo – ecoando o tema da inovação. Ali, nos discos, os poetas dizem o que o
povo precisa que seja dito – tocando o tema da comunicação. Leminski, ao
mergulhar em suas duas obsessões, tenta atingir a síntese entre esses dois amores
– da língua e do povo – pelos poetas. Sua missão (seu sacerdócio, podemos
dizer) como poeta parece se orientar o tempo todo por esse desejo de ser amado,
de ser lido e adorado por muitos leitores. Se, por um lado, “poesia é um ato de
amor entre o poeta e a linguagem”, por outro, é no leitor (no receptor, como
Leminski diria) que esse ato de amor se completa. Isso ajuda a entender por que
Leminski investiu a vida numa espécie de obra total, em que os poemas são o
eixo principal de um feixe de relações com as palavras em muitas línguas, que
envolve canções, ensaios (anseios), resenhas, traduções, biografias, prosa,
palestras e múltiplas intervenções públicas. Nas várias faces dessa obra total
encontramos um poeta dedicado à busca incansável pelo sentido, mas não menos
incansável na busca pela forma de comunicação desse sentido a seu público.
Quando Leminski diz “tudo/ que/ li/ me/ irrita/ quando/ ouço/ rita/ lee”, está
também insinuando que não pretende escrever poemas que fechem as portas de
seus livros para o público gigantesco da “rainha do rock”. Isso não significa,
entretanto, que Leminski tenha simplesmente colocado sua poesia a serviço do
“pop”. É bem mais complexo que isso. Escrever poemas com a antena ligada na
poesia que alcançava um público mais amplo (a poesia da música, da MPB ao
rock e ao pop) fez com que Leminski encontrasse e afiasse sua forma de falar
com o leitor.
A poesia de Leminski está longe de ser superficial, mas o poeta sempre
soube, como poucos, explorar a superfície do poema – sua primeira e mais
imediata camada – como um convite, um chamariz, uma isca para que o leitor
caia em seu abismo. A forma concentrada, as rimas muitas vezes fáceis, o humor
ligeiro, a leveza no traço – tudo isso leva o leitor para a arena de Leminski e, daí,
ele não sai ileso. O poema de Leminski, efetivamente, comunica – e essa
comunicação, a meu ver, começa no cuidado com que a primeira camada do
poema é feita para atrair o ouvido, o olho e a inteligência do leitor, que depois
vão deparar com muitas outras camadas.
No poema “Sacro lavoro”, de O ex-estranho, o poeta sintetiza suas duas
obsessões – inovação e comunicação – ao afirmar que suas mãos “transformam
palavras/ num misto entre o óbvio e o nunca visto”. O “óbvio” é o que permite a
comunicação, a informação redundante, mas com ele vem sempre o “nunca
visto”, a inovação formal e mesmo de conteúdo que o poema esconde/revela sob
a camada “facilitadora”. Por mais óbvio que pareça, há sempre o nunca visto ali.
Já em 1983, Leyla Perrone-Moisés notava com precisão: “Samurai e malandro,
Leminski ganha a aposta do poema, ora por um golpe de lâmina, ora por um
jogo de cintura. Tão rápido que nos pega de surpresa; quando menos se espera, o
poema já está ali. E então o golpe ou a ginga que o produziu parece tão simples
que é quase um desaforo”. E o próprio Leminski, praticante de artes marciais,
gostava de se referir à sua poética em termos assim: “com a exatidão e a precisão
de um golpe de karatê”, o poema seria sempre uma espécie de reação espontânea
à provocação externa, que carregaria em si anos e anos de preparo, de treino, de
silenciosa vigília.
Sem dúvida, essa busca por um poema que inove e comunique foi a grande
paixão de Leminski. A tentação que atravessa tudo o que ele fez. Talvez por
isso, em sua geração, nenhum outro poeta pensou tanto sobre poesia (em geral) e
sobre sua própria poesia. Mas Leminski nunca foi o acadêmico, o tratadista, o
cientista da poesia. Foi, na verdade, o “pensador selvagem” da poesia,
absolutamente consumido pela tarefa de “escrever melhor, mais fundo, mais
exato, mais inesquecível”.
Tudo o que Leminski escreveu e traduziu (e traduzir, para ele, sempre foi
escrever um livro próprio a partir do livro de algum autor com quem se
identificava) conflui para as profundezas de sua própria criação poética e,
justamente por isso, há tanto trânsito entre seus diversos livros: os poemas
ecoam nos ensaios, nas biografias, nas traduções, e vice-versa. Em todos os seus
gestos, Leminski estava perseguindo o poeta que queria ser. Isso explica
também, em parte, que tenha influenciado tanto a recepção de sua obra, que
comumente repete suas próprias palavras para defini-lo, girando em torno de
imagens que ele usou para falar de si mesmo e de sua poesia, muitas vezes nos
próprios poemas. Alice Ruiz, na introdução ao Ex-estranho, anota: “não há o que
dizer sobre esta poesia que ela mesma já não diga”.
E essa é mesmo a sensação que temos ao frequentar sua fortuna crítica: com
raras exceções, escrever sobre Leminski tem sido reafirmar a imagem que ele
difundiu ao lado (e dentro) de seus poemas. As confluências entre capricho e
relaxo (estampada na capa de seu principal livro), província e pop, latim e
vanguarda, samurai e malandro, desbunde e erudição, entre outras, a que tanto se
recorre para explicar a poesia de Leminski, foram forjadas pelo próprio poeta
nas longas e frias madrugadas de Curitiba e dão o tom do que se diz sobre sua
obra. (Se isso pode facilitar, de alguma maneira, o passeio pelos livros de
Leminski, há sempre o risco de que não se veja para além do que o próprio poeta
quis destacar – mas isso é um assunto que não cabe aqui.)
Volto à questão: por que amamos Paulo Leminski? Por que tantos leitores
se apaixonam pela poesia por trás do vasto bigode que enfeitava seu rosto e
agora ilustra dezenas e dezenas de milhares de capas de seu livro mais vendido?
Ele diria que é pela forma como nos leva para passear – sem medo, com alegria
– à beira do “abismo do incomunicável”. Ou porque respiramos mais e melhor
através de sua loucura. Pode ser. Mas amamos Leminski porque ele parece o
amigo que tem sempre a palavra certa para dizer quando estamos cheios de tudo,
tirando-nos do apuro pela porta mais improvável, desarmando nossas certezas e
limites. Hoje, 30 anos depois de sua morte, pensando no que Leminski seria aos
75 anos, acho que era isso que ele queria: que sua paixão pela poesia vivesse em
cada poema e se metamorfoseasse numa paixão do leitor pela poesia – a dele,
claro, mas também toda a poesia que ele amou como poucos.
dossiê Aníbal Quijano, o mundo a partir da América Latina
Apresentação
CARLA RODRIGUES E DANILO ASSIS CLÍMACO
Coincidindo com a queda do regime soviético e com o quinto centenário da
chegada de povos ibéricos ao que viria a ser a América, o já então renomado
intelectual peruano Aníbal Quijano elaborava uma compreensão ousada da
história da modernidade e do capitalismo. Nela, a América Latina aparecia como
a primeira identidade moderna, um imenso território sócio-histórico de grande
heterogeneidade, que se transformou, nas primeiras décadas após 1942, em um
continente diante do qual os povos do Atlântico norte-oriental passariam,
lentamente, a construir uma identidade comum. A América não só irrigou o
agora Velho Mundo com o ouro e a prata que impulsionaram de forma inédita o
intercâmbio comercial e humano entre seus territórios, como também permitiu
que este mundo – como bem mostra Rita Segato neste dossiê – pudesse abrir-se
à modernidade, entendida como a possibilidade de construção de um futuro pelas
mãos humanas.
É assim que Europa e América surgem em relação. Uma relação de enorme
violência, cujo significante maior é raça, a criação colonial para legitimar formas
de violência de caráter genocida, já não mais admitidas na Europa em formação,
que pudessem ser praticadas além-mar. “Índios” e “negros”, estes provenientes
da África e associados à escravidão e aqueles aborígenes e submetidos à
servidão ou à tributação, tiveram seus corpos e territórios usurpados e seu
trabalho explorado à exaustão na produção de artigos para um mercado
internacional que alcançaria toda a face da Terra.
A sorte da Europa, como havia dito Aimé Césaire, foi ser um cruzamento
de caminhos. Primeiro entre Ásia e África – como Jack Goody, entre outros,
demostrou – e, a partir do século 16, também entre os ditos Novo e Velho
Mundos. Os povos, as formas de ser e conhecer, os produtos materiais e culturais
e as riquezas que circularam pelos territórios acima do Mediterrâneo foram
dando forma a um continente cujo estatuto como tal não se desprende
imediatamente de sua geografia. Mas, ao contrário de sua história, a narrativa
sobre si construída pela Europa é endógena, fruto de um desenvolvimento
autônomo iniciado com a Grécia clássica e culminado, não sem os percalços de
toda epopeia, na modernidade capitalista. Um irrealismo de tamanha dimensão
se transformou, no entanto, em um sentido comum não somente para os povos
situados na já consolidada Europa, mas também para os de outras regiões do
mundo, que, no novo imaginário, não podiam ser mais do que camponeses
iletrados ou povos caçadores-coletores, carentes de historicidade própria e,
consequentemente, impossibilitados de verem reconhecidas suas contribuições
ao que vinha se constituindo como modernidade.
Em conjunto, temos que a dita globalização se inicia com a América,
gerando um padrão de poder que foi se consolidando como capitalista, moderno,
eurocêntrico e, principalmente, colonial, uma vez que sua condição de
possibilidade passava pela extrema exploração dos povos racializados como não
brancos, assim como pela plena desumanização que desse lugar à emergência
dos europeus/brancos como os únicos povos com história. O fato de que o
padrão de poder continuasse o mesmo ainda após a independência dos países
colonizados foi o que exigiu de Quijano a invenção do neologismo
colonialidade, em torno do qual esse dossiê se escreve a fim de discutir a
atualidade do tema e também seu movimento de intensificação, que ocorre em
períodos de crise e no início de um novo ciclo de exploração – como o que
estamos vivendo.
A influência dessa contribuição deixou-se sentir rapidamente no debate
latino-americano e além, alcançando o reconhecimento de nomes fundamentais
do pensamento contemporâneo, como Enrique Dussel, Arturo Escobar, Michael
Hardt, Toni Negri, Rita Segato, Ángel G. Quintero-Rivera, Immanuel
Wallerstein e Catherine Walsh. É também relevante recordar que Quijano foi,
ainda nos anos 1950, um dos responsáveis pelo resgate da obra de José Carlos
Mariátegui, ultrajada pela terceira internacional stalinista imediatamente após
sua morte em 1936. A reivindicação mariateguiana de um socialismo
indoamericano, que unificasse as lutas operárias com a vitalidade da força
comunal andina, foi para Quijano um antídoto ante o socialismo realmente
existente e a democracia liberal. Em embates políticos de dimensões muito
diversas – da defesa das lutas pela recuperação de terras nos Andes na década de
1960 à articulação internacional contra o capitalismo; da defesa da forma
comunitária de gestão política em um bairro marginal de Lima à planificação de
uma aliança de esquerdas para a candidatura à presidência do líder camponês
Hugo Blanco –, Quijano defendeu sempre o estabelecimento de formas
horizontais de luta, que convocaram uma participação massiva, em diálogo, e
ativa das pessoas e comunidades submetidas pelo padrão de poder. Não
totalmente por acaso, estava na Alemanha Oriental reunido com grupos
socialistas dissidentes quando o muro do Berlim ruiu.
O texto que abre este dossiê, de Danilo Assis Clímaco, organizador da
maior antologia de Quijano – Cuestiones y horizontes: de la dependencia
histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder (2014) –
brinda-nos com uma trajetória biográfica, política e acadêmica do autor, que
começa com o efervescente ambiente político dos Andes peruanos dos anos
1940 e chega até seus últimos escritos sobre a emergência dos heterogêneos
movimentos anticapitalistas nas últimas décadas.
Rita Segato, a intelectual de maior projeção no campo da esquerda latino-
americana contemporânea, recentemente encarregada de abrir a Feira do Livro
de Buenos Aires –honra em geral mais ao alcance de prêmios Nobel do que de
cientistas sociais – traz instigantes reflexões sobre a questão do tempo na obra de
Quijano. Por meio de três conceitos principais do autor (“reoriginalização”,
“horizontes abertos” e “regresso do futuro”), ela propõe que se pense a retomada
das lutas contemporâneas dos povos indígenas como vetores históricos
interrompidos pela conquista e pela colonização.
Segato conclui o artigo com reflexões sobre como a obra de Quijano lhe
permitiu historicizar o gênero. Apesar de sua prévia consciência sobre o caráter
histórico do gênero e de seu trabalho feminista ter atravessado a América várias
vezes e em vários sentidos – dos Andes argentinos ao Xangô de Recife, dos
feminicídios de Ciudad Juárez às mulheres indígenas brasileiras –, foi somente
em seu encontro com a crítica de Quijano à colonialidade do poder que ela pôde
ter uma compreensão de como o lento tempo do gênero se movia em articulação
com a colonial-modernidade. O diálogo entre o feminismo e a crítica à
colonialidade do poder pode parecer surpreendente em um primeiro momento,
dado que Quijano se refere relativamente pouco às questões de gênero, como
também observa Susana de Castro em seu artigo. No entanto, é também verdade
que, na última década, Quijano mostrou-se entusiasmado tanto com o
movimento político feminista como com seus alcances teóricos. Contudo, seus
escritos sobre gênero, embora não estivessem mal encaminhados, eram ainda
insatisfatórios – para ele mesmo e, em especial, para as feministas. Em todo
caso, a fertilidade da obra de Quijano não passou despercebida a um grande
número de pesquisadoras que trouxe a questão da colonialidade para o centro das
discussões feministas na América Latina.
Por isso, além das reflexões de Segato, trazemos também um artigo de
Susana de Castro, no qual a professora dialoga com a obra de María Lugones
para refletir acerca da proposta de unificação de duas análises teóricas – a teoria
feminista interseccional e a teoria da colonialidade do poder – a fim de enfrentar
o que Lugones chamou de sistema colonial moderno de gênero. Em seu texto,
Susana valoriza a conclusão de Lugones como instrumento para pensar a
situação contemporânea de opressão: a necessidade de uma mudança de
paradigma que nos permita compreender “a magnitude do gênero na
desintegração das relações comunitárias e igualitárias, do pensamento e da
autoridade no processo coletivo de tomada de decisões e na economia”.
Por fim, o dossiê apresenta o artigo “A colonialidade e Porto Rico” de
Ángel G. Quintero-Rivera, o maior nome dos estudos sobre a musicalidade e a
dança no Caribe. Neste ano ele acrescentou aos muitos de seus reconhecimentos
um segundo prêmio Casa de las Américas pelo livro ¡Saoco salsero! O el swing
del sonero mayor, um estudo sociológico sobre Ismael Rivera, o maior salsero
de Porto Rico. Quintero-Rivera observa que, provindo dos Andes, onde a
resistência à colonialidade tem como base a sólida relação da comunidade com
seu território, era difícil para Quijano entender a forma como os povos africanos
haviam encontrado forças para resistir à extrema violência da escravidão.
Entender a dimensão da música e do ritmo, de um saber cuja memória fica
resguardada pelo corpo, foi o que permitiu a Quijano compreender também a
base específica e necessária tanto da resistência negra como de suas capacidades
de construir vidas sociais alternativas ao poder. Esse também foi um
acontecimento crucial para que Quijano iniciasse suas reflexões sobre a
corporalidade e sua relação com o processo de invenção da “raça” como
instrumento político instaurador da colonialidade.
Por tudo isso, o dossiê “Aníbal Quijano, o mundo a partir da América
Latina” pretende contribuir com reflexões que, além de recuperar a importância
desse pensador na e para a América Latina, também tomam como ponto de
partida que o conceito de colonialidade pode estar diretamente ligado a
renovadas concepções de lutas políticas. Estas trazem sabedorias das
experiências de um passado de opressão, o qual se reatualiza em um contexto
tanto de eliminação de camadas inteiras de população atingidas por pobreza,
desemprego e violência, como de precarização das condições de vida. Isso
somado parece apontar para mais um longo ciclo de destruição a ser evitado.
A tenacidade da inquietude
DANILO ASSIS CLÍMACO
Aníbal Quijano é um Miles Davis no pensamento de esquerda latino-americano:
irrequieto, plural e persistente, participou com fôlego de maratonista por mais de
cinquenta anos nos principais debates latino-americanos e mundiais,
contribuindo com reflexões sempre pertinentes, frequentemente extraordinárias,
para a compreensão do mundo em sua heterogeneidade. Nas últimas décadas,
seu trabalho foi especialmente reconhecido pela teorização da “colonialidade”,
neologismo necessário para evidenciar que o padrão de poder mundial, além de
capitalista, moderno e eurocentrado, é marcado de forma indelével pela lógica
colonial, que classificou a população mundial mediante “raças” – processo
iniciado com a colonização da América, o espaço/tempo que deu origem a nosso
período histórico.
Quijano nasceu em 1930 em Yanama, nos Andes centrais peruanos, onde
viveu sua infância e adolescência entre os povos quéchuas, cujas terras vinham
sendo usurpadas desde que, em finais do século 19, os capitais ingleses e
estadunidenses haviam enriquecido os latifundiários. Com a Crise de 1929, esses
capitais se retraem e as lutas camponesas vão lentamente se ampliando e tecendo
redes em nível nacional até chegar nos anos 1950-60 e deixar todo o país em
crise. No quintal de sua casa, Quijano assistia a reuniões em que seu pai, diretor
da escola bilíngue local (quéchua-castelhano), escutava e assessorava os
camponeses. A efervescência política contagiava toda a vida provinciana,
infundindo em seus habitantes a segurança de que, por obra deles, e não devido
aos brancos das cidades, um novo Peru estava em construção. Daí nasceu, com
certeza, a confiança de Quijano na capacidade popular latino-americana de
enfrentar o poder e reinventar a vida social em toda sua amplidão.
Em 1947, Quijano se mudou para Lima, onde estudou Letras, História e
Direito na Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sendo também um dos
maiores líderes estudantis contra a ditadura de Manuel Odría (1948-56), o que o
levou por períodos prolongados à prisão. Apaixonado por poesia e pela
narrativa, aprendeu português, francês, alemão e inglês para ler os clássicos
dessas línguas no original. Custou-lhe renunciar aos estudos literários para ser
cientista social, mas, se escolheu a sociologia como “sua” disciplina, foi por
acreditar que ela permite o estudo de todo o social, incluindo a arte. Esteve
sempre muito preocupado com as tendências sociológicas de viés empirista, que
se limitam a compreender os fragmentos da vida social, assim como com as
tendências que apresentam uma totalidade coerente, onde o todo e suas partes se
encaixam.
Para Quijano, toda existência social é resultado do encontro de diferentes
vetores históricos, os quais se articulam de forma irregular mediante conflitos
que, mesmo sendo infindáveis, passam a ter uma forma reconhecível, com
alguns grupos superando outros na capacidade de determinar os rumos da vida
conjunta: é o estabelecimento de um padrão de poder que outorga um caráter de
totalidade a determinado espaço social, sem homogeneizar as diferenças
histórico-sociais que o compõem. Tal compreensão sociológica permite um
pensamento atento tanto às tendências gerais da sociedade e do poder como com
as especificidades de cada fenômeno humano.
Em 1964, Quijano concluiu seu doutorado com um trabalho precioso, muito
original, sobre a cholificación [No Peru, cholo(a) é a forma coloquial de
denominar aqueles(as) andinos(as) que participam, também, do mundo
urbanizado. O termo muitas vezes é pejorativo], ou seja, sobre o caráter
indefinidamente transicional da sociedade peruana, na qual o andino e o
ocidental se imbricam sem pretender uma síntese. Apesar de raras vezes ter
relacionado suas pesquisas com a experiência pessoal, fica evidente que esta
marcou seus escritos da época – relativos às relações urbano-rurais, às lutas
camponesas e à marginalidade urbana. Alguns desses seus primeiros textos
foram escritos já no Chile, quando se integrou à Comissão Econômica para a
América Latina e o Caribe (Cepal), e foram de grande importância não somente
para a guinada marxista na teoria da dependência, mas também para que se
compreendesse que a dependência vai além do político-econômico, abarcando
todas as dimensões da vida social.
Com o firme propósito de contribuir com as forças que queriam ultrapassar
pela esquerda o regime militar nacionalista de Juan Velasco Alvarado, Quijano
retornou ao Peru em 1971. De 1972 a 1983, dirigiu a revista Sociedad y Política,
publicando análises de longo alcance sobre a realidade peruana e mundial,
acreditando na possibilidade de uma iminente revolução socialista global. Com
intelectuais e sindicalistas, fundou o Movimento Revolucionário Socialista
(MRS), que contribuiu para o período intenso de lutas no país e cujas principais
conquistas foram a greve geral de 1979 e o fim de treze anos de governos
militares. Durante esse período, e principalmente a partir da participação do
MRS na luta da Comunidade Autogestionada de Villa El Salvador – fundada por
povos andinos na cidade de Lima – teorizou sobre a “socialização do poder”: a
necessidade de que as práticas democráticas sejam constitutivas das lutas sociais.
A força comunitária andina, cuja vitalidade extraordinária havia sido constatada
décadas antes por intelectuais como José Carlos Mariátegui, passou a ocupar
cada vez mais espaço em suas reflexões.
No entanto, o longo período de lutas sociais no Peru, cujo início ele
testemunhara na infância, foi interrompido pela rearticulação neoliberal e pela
insuficiente compreensão das esquerdas sobre a mudança histórica. A ditadura
de Morales Bermúdez (1975-1980) – que havia derrubado a de Alvarado pela
direita e se aliado ao Plano Condor – terminou quando se iniciou o “intercâmbio
terrorista” entre o Sendero Luminoso e o Exército, que por sua vez resultaria na
ditadura de Alberto Fujimori, prolongada até o ano 2000. Trinta anos de
repressão, assassinatos e exílios de líderes políticos e intelectuais tiveram como
resultado o achatamento dos horizontes intelectuais e políticos para os peruanos.
O país dos dois pensadores políticos de maior influência na América Latina
durante a primeira metade do século 20, Mariátegui e Víctor Raúl Haya de la
Torre, aderiu ao neoliberalismo mais empobrecedor.
Já no início dos anos 1980, Quijano compreendeu que o período de lutas se
encerrava e recolheu-se, mas sem intenção de rendimento: “Foi um período de
isolamento terrível, muitos de nós sentimos por mais de uma vez sermos uma
minoria de um”. Aceitou que o marxismo clássico tinha suposto uma camisa de
força, mas não renegou Marx e menos ainda aceitou a inevitabilidade do
capitalismo. Argumentou que a hegemonia do liberalismo na América Latina
não demoraria a ser contestada, pois não havia a possibilidade de que os povos a
aceitassem de forma prolongada. Procura literatura sobre novas formas de
organização social e parece sentir-se especialmente convocado a repensar a
América Latina dentro da história mundial. Recorre a Mariátegui, a José María
Arguedas, a Gabriel García Márquez e a análises históricas heterogêneas,
propondo uma compreensão universal da modernidade: este período histórico
revolucionário para a humanidade, no qual nossa espécie se percebe pela
primeira vez como construtora de seu próprio futuro, foi certamente centralizado
e impulsado pela Europa, mas esteve longe de ser uma produção exclusivamente
sua. A modernidade, propõe Quijano, é uma conjunção de saberes e formas de se
relacionar com o mundo, produzidas por muitas e heterogêneas vias históricas e
sociais, embora sistematizada e dirigida pelo interesse de elites localizadas na
Europa.
É assim que ele teoriza o eurocentrismo, não como um mero etnocentrismo
que atribuiria uma superioridade da Europa sobre os povos de outros
continentes, mas sim como um processo contínuo de usurpação, pelas elites
europeias e seus descendentes, das riquezas imateriais e materiais produzidas
mundo afora. A sorte da Europa, como tinha dito Aimée Césaire, foi ser um
cruzamento de caminhos.
A partir destas reflexões, Quijano propôs a categoria de “colonialidade do
poder” para designar o elemento central sobre o qual se baseava o novo período
histórico iniciado com a América: a classificação da população mundial pela
ideia de raça. A inédita codificação da diferença entre colonizadores e
colonizados mediante uma categoria pretensamente biológica foi o que permitiu
a exploração máxima dos “indígenas” (serventes ou tributários) e dos “negros”
(escravizados), gerando uma riqueza sem precedentes que permitiria aos países
localizados na parte nordeste do Atlântico expandirem suas práticas
colonizadoras a todo o globo terrestre, criando-se as condições para que as
relações capitalistas determinassem (sem homogeneizar) as práticas econômicas
e sociais mundiais.
A ideia de colonialidade é, nesse sentido, oposta ao conceito de pós-
colonial, sendo seu objetivo justamente evidenciar que o colonial persistiu para
além das colônias e impregnou todo padrão de poder daí em diante. O termo
raça só veio a ser impugnado quando deu lugar a um genocídio na Europa. Não
faltaram, no entanto, substitutivos: cultura, etnia, civilização são comumente
usados para negar a interdependência das experiências sociais, de modo que a
Europa seja apresentada, ainda nos dias de hoje, como uma criação endógena,
iniciada com a Grécia Antiga. Dessa forma, o resto da humanidade vê ao mesmo
tempo como deslegitimadas sua história, sua contribuição no mundo
contemporâneo e a dignidade de suas opções autônomas de futuro. Só assim
podemos compreender, por exemplo, por que a escravidão continua se
expandindo ou por que é possível destruir parcelas gigantescas de territórios
indígenas sem que haja uma solidariedade internacional ampla o suficiente para
impedi-lo.
Nos últimos anos, Quijano havia deixado de se considerar uma minoria de
um. Não negava que as lutas contemporâneas eram ainda incipientes e incertas,
mas reconhecia com empolgação que o futuro voltara: percebia uma imaginação
política muito saudável, consciente da necessidade de construir, no dia a dia, um
mundo inteiramente novo e aberto. Acreditava, em especial, na riqueza do
encontro entre as lutas pelo território por parte dos povos indígenas e a
compreensão cada vez mais generalizada de que a vida em nosso planeta está
sendo ameaçada pelas elites humanas. Quijano faleceu em 31 de maio de 2018,
aos 87 anos. Após a crise de 2008 evidenciar os limites do neoliberalismo, sua
obra vem sido lida com um interesse ainda maior. Foi velado e enterrado ao som
de música andina por dezenas e dezenas de amigos e amigas na Casona de San
Marcos, o prédio histórico da universidade em que estudou, ensinou e lutou.
O tempo na obra de Aníbal Quijano
RITA SEGATO
Tratarei aqui de três conceitos de Aníbal Quijano com relação ao tempo:
“reoriginalização”, “horizonte aberto como destino” e “regresso do futuro” –
este último, um conceito original e sofisticado com o qual ele introduz outra
forma de temporalidade. Em seguida, abordarei como a perspectiva da
colonialidade do poder me permitiu mostrar a incidência do tempo nas relações
de gênero, isto é, entender a historicidade de uma estrutura tão estável quanto o
gênero – apesar de eu ter sempre afirmado que o gênero é histórico, e não
biológico, não tinha sido verdadeiramente capaz de visualizar a inflexão
histórica nessa estrutura até me encontrar com a perspectiva da colonialidade.
Primeiro tema: a reoriginalização ou o giro epistêmico. É central, na
perspectiva da colonialidade do poder, essa ideia da reoriginalização do mundo
e, com ela, da subjetividade a partir do evento da conquista e da colonização. O
giro decolonial ocorre quando se revela diante de nós a impossibilidade de narrar
o processo da conquista e da colonização sem usar um vocabulário posterior ao
acontecimento, já que, quando o narramos, nós nos encontramos já em um
mundo reoriginalizado, um mundo novo, que pode falar apenas com categorias
que não existiam antes. Por exemplo, dizemos que a Espanha descobriu a
América, mas esse enunciado é insustentável, pois “Espanha” não existia antes
de “América”. Se formos conferir a cronologia, veremos com espanto que o
reino de Castela chega à ponta sul da península, termina sua conquista e começa
a unificação do que virá a ser a nação espanhola precisamente em 1492. Quer
dizer que o processo da anexação territorial chega à costa sul do território
peninsular e continua do outro lado do mar, sem solução de continuidade.
Trata-se então de um mesmo processo: conquista e colonização nas duas
costas são parte de um processo contínuo, ininterrupto. Em uma maravilhosa
entrevista publicada na Revista Illa, em 1991, Quijano afirma que Espanha,
América, o índio, o negro, o branco, a modernidade e o capital nasceram no
mesmo dia. Eis aí a reoriginalização do mundo, o momento em que aparece uma
nova grade léxica, categorial, com a qual vemos e classificamos as entidades do
planeta e narramos os fatos do passado. Esse é também o momento em que uma
grande quantidade de povos do nosso continente e da África – alguns deles de
alta tecnologia e com formas de organização de Estado, e outros com
cosmologias complexas, mas cujas escolhas históricas os levaram a rejeitar a
acumulação de excedente, a emergência de uma classe gestora e a tecnologia,
isto é, uma variedade de povos imensa – em muito pouco tempo se transformou,
na nova grade categorial, em “os índios” e “os negros”. Na América,
transformaram-se indistintamente em “índios” os astecas, os incas e os povos das
terras baixas de organização comunitária. Na África, povos como o grande
império iorubá e os pigmeus, tão diferentes entre si, passaram a ser classificados
indistintamente, em pouquíssimo tempo, como “negros”.
O termo reoriginalização denomina, portanto, o estabelecimento de uma
grade categorial com a qual classificamos a realidade de uma nova forma,
instalando um mundo que vai surgir muito rapidamente e que, ao se estabelecer,
inaugura um tempo novo. O outro aspecto dessa virada é a inversão que, no
diálogo com Immanuel Wallerstein, é introduzida na ideia de sistema-mundo –
inversão que leva, a partir do giro decolonial, a sempre preceder o termo
modernidade com o termo colonial, fixando a expressão colonial-modernidade
para lembrar de forma inequívoca que a precondição indispensável e o pontapé
inicial da modernidade foram o processo de conquista e colonização. Há duas
razões para isso.
Em primeiro lugar, sem conquista do que na nova grade terminológica viria
a ser “América”, não haveria os minerais ouro e prata, que permitiriam a
acumulação primitiva da fase inicial do capital: sem as minas de prata de Potosí
(Bolívia) não haveria capitalismo. Além disso, até o evento colonial, todas as
invenções técnicas e os descobrimentos científicos ocorridos no Velho
Continente eram autorizados com base no passado, a âncora da legitimidade
residia na história sagrada. A Igreja tinha a chave do futuro a partir de seu
patrimônio de um sagrado fundacional. Quando a América emerge na grade
epistêmica, aparece pela primeira vez o valor do descobrimento, o valor do
novo. Aí, a âncora do valor se instala no futuro e na novidade. A legitimidade e a
autorização de todo invento e invenção virão então do futuro, de sua promessa
futurista. Isso transfere o critério de valor do passado para o futuro. E não existe
ideia de modernidade nem de modernização sem que se instale o valor do futuro
e do novo. Essa é a viragem essencial da reoriginalização, que funda um novo
tempo.
O segundo conceito é o de horizonte, ou talvez horizontes. O horizonte
aberto como destino. Lembro que, em 2008, durante uma ocupação da reitoria da
universidade em que eu estudava, escrevi a Quijano: “Estamos ocupando a
reitoria”. E ele respondeu: “Ah, o vento da história está passando por aí...”. Ele
concebia que a agitação no planeta passava por diferentes lugares em diferentes
momentos: havia momentos de quietude e outros em que soprava o furacão da
história, movendo as peças, chacoalhando o chão, agitando aqui e ali. Ele
escrevera sobre utopia em diferentes ensaios, mas, em tempos recentes, a
imagem passara a ser a de horizonte. A utopia, infelizmente, está fechada de
antemão. A noção de um “dever ser” e uma definição desse dever ser tornam-se
inevitavelmente autoritários. Por isso, nos escritos recentes, Aníbal Quijano
falava mais de um horizonte de destino, aberto. A ideia de horizonte é a da vida
e da história em movimento, sem sequestro por uma ideia de futuro previsto, de
futuro imperativo. Um movimento sem captura pelo fim. É o vento da história
que atravessa a cena de maneira sempre incerta. A incerteza é a própria utopia. A
confiança de que a história resiste a qualquer captura. Descrevo essa experiência
como “fé histórica”, movimento aleatório que não pode ser aprisionado. Essa é a
noção de horizonte em Aníbal Quijano, que vai lentamente substituindo ou
modificando a noção habitual de utopia como um dever ser do futuro. Sabemos
apenas do presente, e podemos no presente – o futuro é aberto.
A terceira ideia, seminal, é a do “regresso do futuro” – e sei o quanto custou
a Quijano chegar a essa proposição. Vou citar um trecho de um texto meu sobre
ele: “Sua sugestiva noção de um regresso do futuro, de um horizonte que volta a
se abrir ao caminho da história dos povos depois da dupla derrota à destra e
sinistra do projeto de Estado liberal capitalista e do despotismo burocrático
(comunista), derrota que não é outra que a da hegemonia do eurocentrismo que
controla ambos projetos”. No momento em que acaba o mundo bipolar, Aníbal
sente-se liberado dessas lealdades que, à esquerda e à direita, nos aprisionaram e
nos impediram de pensar livremente. Os povos de estrutura comunitária e
coletiva – os povos indígenas, o mundo camponês-indígena, para denominá-lo
de uma forma mais ampla – tinham sofrido essa dupla derrota, a partir tanto do
Estado liberal-capitalista como do despotismo burocrático do socialismo real.
Derrota ante a hegemonia do eurocentrismo que controlava ambos projetos. No
período pós-Guerra Fria, uma variedade de povos que se acreditavam extintos,
estimulados pela aparente benevolência da era multicultural, mostra-se existente.
A emergência contemporânea do sujeito histórico índio ou, mais exatamente, o
retorno do camponês ao índio, assim como a desconstrução da mestiçagem, são
um sinal de que o padrão da colonialidade está começando a se desmontar. Há
uma reidentificação em curso de camponeses a indígenas, de mestiços a índios e
negros, e uma retomada das linhagens da não brancura por parte das pessoas.
As reemergências indígenas dos huarpes, quilmes, diaguitas e tupinambá,
que se esconderam durante as Repúblicas e não na fase colonial, revelam a
imensa inteligência estratégica desses povos, que foram capazes de sobreviver a
quinhentos anos de massacre. Sem dúvida, souberam o que fazer em cada
conjuntura histórica para não desaparecer. Foi com as Repúblicas que entraram
em aparente extinção. No Brasil, foram os tupinambás; na Argentina, os huarpes
foram considerados extintos há duzentos anos e um dia eles saíram de sua
clandestinidade: “Não somos camponeses, não somos pastores, somos os
huarpes”. Essa é a importância da categoria do regresso do futuro. Fica claro,
então, que a continuidade das soluções comunitárias para a vida que tinha sido
suprimida, obstruída, abre caminho no presente – depois da crise dos paradigmas
de esquerda e direita.
Possibilita-se assim uma combinação entre formas de vida arcaicas que se
revitalizam e projetos históricos do presente que nelas se enraízam. Essa é a
ideia do regresso do futuro, um futuro que tinha sido impedido, represado. Não
há restauração nem nostalgia, mas liberação dos projetos históricos de povos
diversos, freados pelo patrão da colonialidade. Abre-se essa possibilidade de
regresso do futuro, do futuro que não pôde ser, mas que agora poderá – é nosso
passado que vem a caminho... Não é nostalgia de uma Idade de Ouro, nem de
uma perda, muito menos engessamento dos costumes. Não se trata do bom
selvagem de uma origem impoluta, nem é culturalismo – uma das formas do
fundamentalismo –, trata-se de um trajeto histórico recuperado e reatado a partir
do presente. É a recuperação de uma cena histórica interceptada em seu devir e
reinstalada agora como o projeto histórico de povos interceptados pela
conquista, pela colonização e pela colonialidade que se instalaram.
Para concluir, o cruzamento com a perspectiva da colonialidade mostra a
incidência da história numa estrutura de tão longa duração e tão estável como é a
ordem patriarcal. Meu esforço em articular minha análise prévia sobre a
violência de gênero com a perspectiva da colonialidade deve-se a uma
interpelação do próprio Quijano, que se mostrava insatisfeito ao mesmo tempo
com o único texto que tinha escrito a respeito, e também com a contribuição
feita por Maria Lugones, que negava a existência de um patriarcado pré-colonial.
Quijano me pediu, então, que eu cruzasse os estudos de gênero com a
perspectiva da colonialidade, e assim escrevi “Género y colonialidad: en busca
de claves de lectura y de un vocabulario crítico decolonial”. Ali analiso minhas
experiências de mais de dez anos acompanhando as oficinas da Fundação
Nacional do Índio (Funai) em diversos estados, inicialmente sobre o tema do
fomento às tarefas produtivas das mulheres indígenas e, a partir de 2006,
divulgando entre elas a Lei Maria da Penha.
Vi, durante esse período, como o aumento da violência contra as mulheres
indígenas acompanhou o avanço da frente estatal, empresarial, mediática, cristã.
O Estado benfeitor avançava na sua oferta de direitos e recursos: educação,
documentação das pessoas, saúde, acesso às leis etc., mas junto com essa
colonização beneficente, o tecido comunitário ia se destruindo e as evidências de
violência doméstica extrema iam aumentando. Como o genocídio, o feminicídio
também é moderno. Com a erosão da ordem comunal, dava-se a transformação
da vida doméstica comunitária em família nuclear, íntima e privada. Esse
espaço, antes povoado por múltiplas presenças e, portanto, bem vigiado pelo
olhar coletivo, encapsulava-se mais e mais. Diante da evidência da violência
intrafamiliar, os caciques respondiam dubitativos sobre sua capacidade de atuar
“na casa dos outros”, sob o argumento da autonomia: “é a casa deles!”. A família
se encapsulava sob nossos olhos. O mundo comunitário é um mundo dual, coeso
pela lei de reciprocidade, e explicitamente hierárquico, no qual as tarefas
masculinas têm maior prestígio. Mas, nesse mundo, o espaço das mulheres tem
uma ontologia plena e é dotado de capacidade política própria. O espaço
doméstico – cena das tarefas, dos rituais, dos jogos e das deliberações entre as
mulheres, que acabarão incidindo na vida coletiva – tem uma autonomia, uma
blindagem, e uma política própria. Nessa ordem dual, há dois espaços: o das
tarefas dos homens e o das tarefas das mulheres. Na transição para a colonial-
modernidade, a dualidade se transforma em binarismo e no mundo do um e seus
outros. O sujeito universal, ícone do “normal” e normativo, e suas anomalias. A
mulher passa a ser o outro do homem, da mesma forma que o negro e o índio
serão vistos como o outro do branco, as sexualidades LGBTTTIQ+ como o outro
da sexualidade heteronormativa – e toda diferença será vista em relação ao
“normal”, porque estamos no mundo do um e de suas anomalias.
Dessa forma, graças à perspectiva da colonialidade do poder, é possível
entender a inflexão colonial na organização social, na vida comunitária, na
organização por gênero. O trânsito para a colonial-modernidade é um processo
pelo qual o espaço das tarefas masculinas passa a ser uma esfera englobante que
sequestra tudo o que é dotado de capacidade política. O Estado e a esfera pública
são então a última etapa da história dos homens, enquanto o espaço das mulheres
ou o espaço doméstico é expropriado de toda capacidade política e se transforma
na margem, no resto, um resíduo da política. Hoje, as marchas das mulheres nas
ruas são a explosão dessa capacidade política alternativa, represada, quase
extinta pela transição colonial-moderna. Uma reação à sua obstrução pela
intervenção colonial.
O feminismo decolonial
SUSANA DE CASTRO
O feminismo decolonial surge no bojo da discussão trazida pelo feminismo
negro estadunidense a respeito da invisibilidade das demandas das mulheres
negras na luta pela igualdade de direitos. Ignoradas como representantes das
mulheres, por causa da predominância do feminismo liberal branco, e ignoradas
como representantes das pessoas negras, pela predominância do ativismo negro
masculino, as feministas negras cunharam o termo interseccionalidade para
destacar a especificidade da dupla opressão à qual estão submetidas: a racial e a
de gênero. Além disso, as “mulheres de cor” (women of colour), isto é, latinas,
asiáticas e indígenas que vivem nos Estados Unidos, sofrem também da
intersecção da dupla opressão – racial e de gênero –, mas a opressão racial que
sofrem tem um caráter étnico-racial; seus corpos racializados representam o
pertencimento a uma cultura periférica, subdesenvolvida, atrasada. Assim como
as mulheres negras eram solidárias aos homens negros, pois compartilhavam
com eles a experiência do racismo estrutural, as mulheres latinas
compartilhavam com os homens latinos a pouca valorização das culturas não
europeias. Negras, latinas, indígenas, asiáticas criticam o feminismo branco da
segunda onda que se arvorava a falar em nome de todas as mulheres, ignorando
os diversos matizes (raça, etnia, orientação sexual) da opressão de gênero.
No final da década de 1990, intelectuais latino-americanos que lecionavam
nos Estados Unidos criaram o grupo Modernidade/Colonialidade, que
reivindicava a tese segundo a qual a modernidade europeia surgiu graças à ação
colonial nas Américas. Para esses autores, o conceito marxista de classe não
conseguia explicar satisfatoriamente o fenômeno da desigualdade social nos
países latino-americanos, porque lhe faltaria a dimensão da experiência colonial.
A estratificação social contemporânea dos países latino-americanos reflete uma
herança colonial na medida em que segue um padrão racial. Para Aníbal
Quijano, um dos intelectuais mais importantes desse grupo, a modernidade
europeia forja o conceito de raça para diferenciar os nativos dos europeus.
Desde a “invenção” da América, a diferença colonial, entre colonizado e
colonizador, determinava a distribuição dos cargos na administração colonial.
Essa diferença colonial perdura após a independência desses países na medida
em que os chamados “nacionais” reproduzem a mentalidade do colonizador:
supervalorizam os hábitos e costumes europeus (colonialidade do ser),
supervalorizam o suposto saber acadêmico, científico, europeu, pois “universal”,
subestimando o alcance dos saberes locais (colonialidade do saber) e,
finalmente, mantêm a economia desses países submetida à mesma lógica
colonial de divisão internacional do trabalho, subordinando os países periféricos
aos ditames do capitalismo global (colonialidade do poder).
O giro decolonial promovido pelo grupo Modernidade/Colonialidade
representa certamente um marco fundamental para a teoria e a crítica do
pensamento social e filosófico do continente latino-americano, mas havia entre
seus formuladores uma cegueira com relação à importância da questão de
gênero. Assim como os marxistas, os decolonialistas não levavam em
consideração que a permanência da diferença colonial pode estar fundada tanto
na ordem econômica capitalista e na geopolítica do conhecimento, como nas
relações de gênero. Em outras palavras, não questionam o papel subalterno das
mulheres nas relações sociais e políticas, como se isso fosse algo intrínseco ao
sexo e não o resultado de uma ação política colonial. Para a filósofa Maria
Lugones, a introdução das expressões de gênero marcadas pela oposição entre as
tarefas e comportamento dos dois sexos, cabendo à mulher o ambiente
doméstico separado do ambiente social e político, foi mais um dos instrumentos
de dominação colonial, visto que com a introdução do patriarcado se conseguiu
silenciar uma parcela significativa da população que certamente possuía outro
entendimento sobre a economia, a agricultura e a política.
Causa espanto a Lugones que os homens vitimados pela violência da
colonialidade do poder sejam indiferentes ao sofrimento das mulheres de suas
comunidades, sobre as quais pesam tanto a opressão e o controle do poder
capitalista eurocêntrico e global a seu corpo racializado como a opressão e o
controle por causa de seu gênero. Para ela, os homens vítimas do poder
capitalista não percebem as transformações profundas que a opressão de gênero
trouxe a suas comunidades, o que agrava ainda mais a situação de dependência e
subalternidade diante do capitalismo global.
A teoria política decolonial de Aníbal Quijano acerca do padrão capitalista
de colonialidade do poder teve papel central em denunciar a finalidade política e
econômica do racismo no contexto do capitalismo global. A criação do conceito
moderno de raça no bojo da expansão mercantil europeia serviu aos interesses
“do controle do sexo e seus produtos, do trabalho, da
subjetividade/intersubjetividade e do conhecimento”. Nesse sentido, é
historicamente incompleta a classe como categoria que explica o sistema
exploratório capitalista. Os explorados não são apenas os trabalhadores brancos
assalariados, mas antes deles os corpos racializados e escravizados de índios e
negros. Lugones reconhece a dívida do feminismo decolonial para com a teoria
do padrão colonial do poder de Quijano. Sua explicação da origem da categoria
de raça como ferramenta de dominação dos povos não europeus pelo sistema
capitalista global é essencial para a crítica decolonial ao feminismo branco
eurocêntrico hegemônico. Mas, para a filósofa argentina, sua abordagem das
relações de gênero a partir apenas da disputa pelo “controle do sexo e seus
produtos” está comprometida com a perspectiva heterossexualista e patriarcal do
capitalismo global eurocentrado.
Tanto a teoria feminista interseccional como a teoria da colonialidade do
poder abordam a questão da dupla violência, racial e de gênero, vivida pelas
mulheres de cor, mas suas perspectivas são muito generalistas, faltando-lhes a
dimensão da vivência concreta. A proposta de Lugones é unificar as duas
análises teóricas em torno do que chamou de sistema colonial moderno de
gênero. Para Lugones: “A redução do gênero ao privado, ao controle sobre o
sexo e seus recursos e produtos é uma questão ideológica apresentada
ideologicamente como biológica, parte da produção cognitiva da modernidade
que conceitualizou a raça como ‘generificada’ e o gênero como ‘racializado’, de
modo particularmente diferenciado entre os/as europeus/brancos/as e as pessoas
colonizadas não brancas/os. A raça não é nem mais mítica nem mais fictícia que
o gênero – ambos são ficções poderosas”.
Num primeiro momento, Quijano não se deu conta de que, ao definir o
âmbito do “controle sexual e dos seus produtos” como a marca da dominação
capitalista global, estava assumindo a perspectiva “clara”, “hegemônica”, que
reduz a mulher a seu caráter biológico, reprodutivo, ignorando completamente
sua participação na vida social e política.
A conclusão de Lugones é poderosa demais para ser ignorada. Trata-se da
necessidade de homens e mulheres de cor realizarem uma mudança total de
paradigma a fim de compreenderem “a magnitude do gênero na desintegração
das relações comunitárias e igualitárias, do pensamento e da autoridade no
processo coletivo de tomada de decisões e na economia”. A exclusão sistemática
das mulheres do âmbito social e político das comunidades foi uma forma
estratégica do capitalismo global de exercer seu controle e domínio nas
sociedades coloniais, desestruturando suas formas de organização comunitária e
política. Desqualificar a capacidade cognitiva da mulher e reduzir seu papel ao
de mãe, definir sua personalidade e caráter como sendo essencialmente passivo
por oposição ao modo ativo e masculino de ser, facilitou a dominação capitalista
na medida em que inferiorizou as mulheres colonizadas, representadas como
fêmeas, e não como mulheres, enquanto não seguissem o modelo monogâmico,
heterossexual e passivo do patriarcado. Nada disso, entretanto, se fazia presente
nas sociedades pré-coloniais. Os gêneros não estabeleciam entre si essa relação
hierárquica e excludente na divisão das tarefas e as relações não eram definidas
pela escolha sexual.
O patriarcado, portanto, é um elemento fundamental do capitalismo
eurocêntrico global. Graças a ele, foram introduzidas entre os povos colonizados
as categorias biologizadas e binárias de gênero, nas quais não havia espaço para
uma expressão de gênero que não estivesse em conformidade com a norma
europeia. Todos os comportamentos desviantes eram colocados no lado oculto,
marginalizado.
Acredito que o feminismo decolonial nos oferece ferramentas
hermenêuticas poderosas para resgatarmos de dentro do campo das ciências
sociais, da literatura e da filosofia as vozes esquecidas e ocultadas dessas
mulheres que negaram o mandamento patriarcal de que se retirassem da vida
pública, e que por isso deixaram registros de outras formas de viver e encarar a
vida em sociedade.
A colonialidade e Porto Rico
ÁNGEL G. QUINTERO-RIVERA
Tendo alcançado notoriedade por suas contribuições aos debates sobre
dependência, classes sociais, Estado e política na América Latina, em 1982 o
Centro de Investigaciones Sociales da Universidad de Puerto Rico (CIS-UPR)
convidou Aníbal Quijano para ser pesquisador visitante. Desde então, a história
cultural e social-intelectual deste país, que ele visitou muitas vezes depois,
esteve presente em suas vivências, reflexões e horizontes, a ponto de Quijano
dizer, aberta e repetidamente, que, de suas identidades, “a de boricua (porto-
riquenho) é uma das mais entranhadas” (1999).
Gostaria de compartilhar com o leitor as relações de Quijano e Porto Rico
no importante desenvolvimento de suas análises sobre a colonialidade e suas
sempre renovadas contribuições. Utilizarei amplamente seu ensaio “Fiesta y
poder en el Caribe” (1999), no qual se evidencia que muitos processos
caribenhos têm referências mais próximas do Brasil do que do mundo andino. O
artigo, relativamente pouco conhecido, foi publicado em San Juan, tendo sido
reproduzido como prólogo de meu livro Cuerpo y cultura: Las músicas
“mulatas” y la subversión del baile (2009).
Antes, um detalhe revelador: o primeiro escrito de Quijano nas ciências
sociais, de 1962, é um artigo-obituário sobre C. Wright Mills, o que é
significativo por muitas razões, e gostaria de mencionar uma delas. Um dos
primeiros livros de Wright Mills foi sobre Porto Rico, mais especificamente
sobre nosso nomadismo; The Puerto Rican Journey (1950) constitui um primeiro
vínculo entre nosso país e Quijano. Seu contexto andino – de velhas civilizações
arraigadas territorialmente – não havia imprimido em seu consciente e
subconsciente esse rasgo cultural que os caribenhos levam à flor da pele. Nosso
mundo popular se conformou por meio de movimentos massivos de população,
como foram o tão dramático tráfico de escravos, as revoltas cimarronas
(quilombolas) e as migrações entre regiões do Caribe e, depois, para as
metrópoles nos séculos 20 e 21. Tendo experimentado e compartilhado a vida
diária em Porto Rico ao menos em três ocasiões entre os anos 1970 e 1990, e
cinquenta anos após The Puerto Rican Journey, Quijano escreverá no ensaio
antes mencionado: “A migração boricua aos Estados Unidos, como a de todos os
caribenhos, de algum modo antecedeu a subversão cultural mundial que vai
produzindo hoje as migrações a partir do mundo da colonialidade para os centros
do poder mundial”.
Antes de suas longas estadias, Quijano conheceu Porto Rico no início dos
anos 1970, como parte de programas que pretendiam mostrar aos latino-
americanos a exemplaridade da modernização porto-riquenha à moda de Weber:
centrada no reformismo modernizador de uma depurada burocracia racional (que
denominam administração pública); o programa de “industrialização por
convite” (em que o capital estrangeiro não era conceitualizado como “extrator” –
ou explorador –, mas como aliado, provedor de empregos e conhecimentos
manufatureiros); serviços sociais tipo welfare state; eleições livres; e amizade e
harmonia com a “democracia” liberal estadunidense. Ele nunca havia me
contado isso – até uma nota de pêsames pela morte de meu pai, em 1992. Ali,
me confessava ter tido suas primeiras lições no que Arcadio Díaz-Quiñones
chamaria de “el arte de bregar” (a arte de lidar). Reavaliou políticas de
aprendizado de como relacionar-se com o Império, então muito desacreditadas
pela esquerda; admirou, contava-me, meu pai (então na direção do Ministério de
Educação) por essas titânicas mas muito sossegadas tentativas de elaborar
criativamente políticas educativas próprias, que fortalecessem a democratização
e as identidades nas brechas da política colonial, diante nada menos da mais
poderosa nação imperial. Começava a perceber, em Porto Rico, como era ser
latino-americano (com hífen).
Porto Rico tinha conseguido então desenvolver uma universidade moderna
de qualidade. Enriquecida nas humanidades com o exílio da derrotada República
espanhola de Juan Ramón Jiménez, Américo Castro, Pau Casals… e nas ciências
sociais, nos anos 1940 e 1950, por latino-americanos e latino-americanistas
como José Medina Echavarría, Jorge Ahumada, Jorge Millas, os venezuelanos
Luis Lander e José Agustín Silva Michelena, entre tantos outros.
O populismo modernizador de Luis Muñoz Marín – que, junto com José
Figueres Ferrer na Costa Rica e Rómulo Betancourt na Venezuela, formavam
então o que denominaram “o triângulo democrático” no Caribe – representou
uma espécie de último bastião do Novo Trato (New Deal) do presidente
Roosevelt. Como tal, atraiu cientistas sociais de um novotratismo de esquerda
desde meados dos anos 1940, ávidos por estudar e colaborar com a
transformação social modernizadora democrática, sem a qual consideravam
inevitável uma “catástrofe revolucionária do derramamento de sangue”. Assim,
muitas das primeiras pesquisas de antropólogos e historiadores do “Primeiro
Mundo” que seriam mais adiante muito importantes no desenvolvimento das
ciências sociais latino-americanas foram levadas a cabo na UPR: Sidney Mintz,
Eric Wolf, Gordon Lewis e o andinista John Murra, por exemplo. E, já com
importantes contribuições no Brasil, Richard Morse. O paradigma analítico ao
redor da economia de plantação começou a ter seu auge no Caribe, com
paralelos evidentes ao dependentismo: uma estrutura de produção – a plantação
– era colocada no cerne da análise social, e essa estrutura produtiva estava
intrinsecamente vinculada à história econômica da expansão colonial europeia, e
depois da expansão dos Estados Unidos. Na escravidão racial norte-americana e
em suas posteriores sequelas, a engrenagem da produção correspondia à sua
inserção no mercado capitalista mundial, o que gerava contínua dependência na
economia e subordinação política. Mas essa literatura, produzida no Caribe mais
por antropólogos do que por economistas, colocava a cultura no centro de suas
indagações.
Os estudos sobre a Dependência concentraram seus significados e
implicações entre a economia e a política. As pesquisas de Quijano sobre o
fenômeno cholo – relativo ao carácter subversivo da reidentificação étnica dos
imigrantes indígenas andinos em Lima –, preocupação inclusive prévia aos
escritos dependentistas, incorporavam, como os estudos caribenhos da plantação,
o olhar a partir – e a importância analítica – da etnicidade e da cultura. E aqui
está um segundo vínculo fundamental entre Quijano e Porto Rico. Suas
pesquisas sobre o cholo, um tanto ignoradas nos debates econômicos-políticos
do dependentismo, encontraram ressonância na mulataria boricua, o que
dialeticamente reforçou nos trabalhos de Quijano a consciência de sua
pertinência.
Pouco se observou sobre o fato de que vários criadores iniciais dos estudos
da Dependência começaram suas pesquisas com trabalhos sobre a escravidão.
No Brasil, Octavio Ianni, Fernando Henrique Cardoso, Lúcio Kowarick... e na
América Latina, também Quijano. Mas enquanto para a maioria isso foi o pano
de fundo inicial das preocupações histórico-estruturais de uma desigualdade
dependente, no trabalho de Quijano as vivências dessas pesquisas de arquivo
(fortalecidas pela experiência porto-riquenha) seguiram no cerne de suas
teorizações, e a historicidade do constructo “raça” foi a pedra angular de suas
interpretações do padrão de poder, das lutas sociais e da possível emancipação
do eurocentrismo. Como expressa em seu trabalho mais citado dos últimos anos,
publicado no fértil livro editado por Edgardo Lander, A colonialidade do saber:
“Um dos eixos fundamentais desse padrão de poder é a classificação social
da população mundial de acordo com a ideia de raça, uma construção mental que
expressa a experiência básica da dominação colonial e que desde então permeia
as dimensões mais importantes do poder mundial, incluindo sua racionalidade
específica, o eurocentrismo. Esse eixo tem, portanto, origem e caráter colonial,
mas provou ser mais duradouro e estável que o colonialismo em cuja matriz foi
estabelecido. Implica, consequentemente, um elemento de colonialidade no
padrão de poder hoje hegemônico.”
Agora, qual foi o papel de sua experiência em Porto Rico no dito
desenvolvimento conceitual? Somente haviam transcorrido duas semanas do
estabelecimento de Quijano em Porto Rico em 1982 quando faleceu o grande
timbaleiro Rafael Cortijo, figura fundamental na subversão musical de
afrodescendentes em toda América Latina. Lembro de ter levado Aníbal ao
enterro. Cito suas palavras:
“A formidável experiência pessoal que foi para mim me fundir na multidão
de milhares de ‘negro/as’ (entre aspas, para que não se perca a colonialidade do
termo) que marchavam e cantavam no enterro de Rafael Cortijo. Pela primeira
vez podia sentir diretamente o que tinha sido apenas uma suspeita prolongada
durante quase três décadas, desde quando, nos arquivos peruanos, perguntava
aos documentos coloniais como faziam os escravos ‘negros’ para continuar
vivendo, torturados, humilhados e ofendidos, sem trégua e sem medida.
No cortejo funerário do grande músico boricua, comecei a entender que o
mais poderoso descobrimento dos ‘negros’ na América era o ritmo contra o
sofrimento, a porta para a outra margem.”
Conversamos muitas vezes sobre como os afrossaberes do ritmo corporal
quebravam a dualidade subjacente ao padrão racista de poder. Como o corpo na
dança era sujeito fazedor de cultura, e como a dança sincopada era uma maneira
de expressar esteticamente no espaço a multiplicidade de tempos na rítmica
sonora. Continuando com seu ensaio clássico de 2000:
“Sem essa ‘objetivização’ do ‘corpo’ como ‘natureza’, de sua expulsão do
âmbito do ‘espírito’ (...) seria dificilmente explicável (...) a duradoura hegemonia
mundial do eurocentrismo. Somente as necessidades do capital como tal não
esgotam, não poderiam esgotar, a explicação do caráter e da trajetória dessa
perspectiva de conhecimento.”
A “objetivação” do “corpo” como “natureza” abre todo um âmbito
fundamental de análise da colonialidade nas relações de gênero. A
expressividade corporal será entendida apenas como uma chamada da natureza
‘selvagem’ à concupiscência, no lugar de rítmicos afrossaberes comunicativos e
da arte da sedução. Pondo em diálogo o dito “clássico” com o escrito porto-
riquenho do ano anterior:
“Como todos os quilombolas deste mundo, sabia eu (...) que há uma relação
entre música e sociedade/cultura. Mas, até então, meu saber não havia deixado
de ser intelectual e não tinha me permitido entrar inteiro, corporalmente, no
escondido espaço no qual o poder e as pessoas jogam a sua vida a cada dia.
Porque o ritmo era exatamente isso: um espaço-tempo de confrontação entre o
poder e a corporeidade (...) Desde então, no curso de minhas muitas estâncias
boricuas, enquanto me familiarizava com os sons de todos os caribenhos da
América, foi se cristalizando em mim a ideia de corporeidade, liberada, por fim,
da velha prisão eurocentrista da dualidade corpo-alma, matéria-espírito, razão-
emoção. Saindo dessa prisão de longa duração, a corporeidade emergia radiante
como sede e modo de ser humano neste mundo e despia sua relação com o
poder.”
Aníbal continua:
“Caribe (...) é o nome de uma geografia do som e da dança, e das formas de
vida que ajuda a criar, comum à costa sudeste de Estados Unidos, às Antilhas, à
costa colombiana e venezuelana, ao Nordeste brasileiro, a toda a costa do
Equador e às costas norte e sul do Peru. Hoje, seu ritmo começou a se expandir
pelo mundo, subvertendo os mais guardados labirintos das sociedades
repressivas. O ritmo ‘negro’ que nasceu na resistência contra o sofrimento na
América é o som da subversão do poder em todo o mundo.”
E, retomando suas experiências da Puerto Rican Journey:
“Na migração humana deste tempo, são as relações sociais diárias que estão
em crise, as que produzem processos de reetnificação, de reidentificação
inacabada, quilombola, toda uma subversão cultural. Ser ‘latino-americano’
(lembrem, com hífen) no atual coração maior do eurocentro, é uma subversão
idêntica a ser ‘afro-americano’ ou ‘nativo-americano’. Porque as lutas de
liberação da sociedade têm agora outro ponto de partida, partem do cenário
maior da confrontação: a luta contra a colonialidade do poder, contra a
classificação ‘racista/etnicista’ das gentes do mundo, eixo central do padrão de
poder mundial do capitalismo colonial/moderno.”
Quis contribuir para este dossiê sobre Aníbal Quijano com algumas chaves
para adentrarmos na dimensão porto-riquenha das análises e utopias de um dos
mais importantes sociólogos de nosso tempo.
estante cult
Dinâmicas de emergência
PETER PÁL PELBART
O primeiro aspecto que chama a atenção neste livro vigoroso é a intersecção
tensa entre a tradição dialética alemã e a filosofia francesa dita “pós-
estruturalista”. Vladimir Safatle tem clara consciência da hostilidade de toda
uma geração com respeito a Hegel. É bem possível, como ele supõe, que tal
hostilidade tenha sido dirigida menos a Hegel do que a uma imagem que se
cristalizou a seu respeito na França. Fazem parte dessa imagem aspectos como
sua suposta teleologia, um necessitarismo, a totalização, a primazia da
identidade, em suma, o que se convencionou chamar de filosofia da
representação. Deleuze, para tomar o exemplo escolhido pelo autor, talvez tenha
brigado mais com a imagem um tanto caricata de Hegel do que com sua
filosofia. Em outras palavras, talvez tenha recusado sobretudo os efeitos dessa
imagem – seus espectros. Como dizia sobre o assunto, brincando: “Il faut bien
que quelqu’un joue le rôle du vilain!” (Afinal, alguém precisa desempenhar o
papel do vilão!). E talvez Deleuze tenha atribuído a esse espectro de Hegel o
papel do vilão na construção de seu próprio sistema aberto.
Portanto, a decisão de desmontar a interpretação de Deleuze sobre Hegel
tem aqui sua pertinência e legitimidade. Daí o empenho em mostrar que a
contradição não é mera contrariedade, que a atualização do infinito pelo Espírito
não se apoia num fundamento nem culmina na identidade, mas, ao contrário,
dissolve o fundado num abismo, cuja superação é inquietude absoluta, puro
mover-se-a-si-mesmo; que o ressentimento não está presente em Hegel, já que
seu tempo é o da cicatrização das feridas e não fixação no dolo. Enfim, o
capítulo sobre Deleuze reitera que o movimento dialético é destruição da
identidade posta, ainda que implique a reinscrição da destruição, e que a
teleologia da dialética é a própria imanência do movimento que ela desvela.
Todo o restante do capítulo, sobre a univocidade, a multiplicidade, a imanência,
é sumamente interessante, e percebe-se com clareza um esforço não de acentuar
a contraposição entre Deleuze e Hegel, mas de assinalar as convergências.
Não me cabe objetar nada a esse empreendimento, não apenas por falta de
competência, mas por não ver sentido em aguçar um contraste quando o autor
faz o contrário, no limite encontrando um Deleuze embutido em Hegel, ou em
germe nele, ou um Hegel embutido em Deleuze, mais do que o filósofo da
diferença o imaginava. Quantas vezes Deleuze mesmo fez algo semelhante com
os autores que estudou? Como ele próprio dizia, enrabar um autor e fazer-lhe
filhos monstruosos. Talvez seja algo dessa ordem que Safatle se propôs encenar
entre ambos.
Mas o momento em que detecto um limite inultrapassável nessas operações
está na seguinte frase do autor: “Para a dialética, não há transformações locais,
há apenas transformações globais. Isso significa que transformações locais que
não se organizam em uma contradição global perdem sua realidade e têm
sobrevida momentânea; elas serão frágeis e completamente efêmeras.
Transformações locais devem ser agenciadas enquanto modalidades de
contradição em relação à estrutura genérica de nossa situação atual. Pois apenas
a contradição pode fazer emergir aquilo que, do ponto de vista dos modos de
determinação da situação atual, não pode existir, não pode ser contado, não tem
determinação possível (...) Por isso, a dialética é um pensamento da
produtividade imanente da contradição”.
Ora, não nos devolve essa priorização absoluta da contradição e de sua
prerrogativa produtiva a uma matriz que o autor tentou reabrir, pluralizar,
mostrando outras dinâmicas de emergência? Será que não se reintroduz aquilo
que Deleuze deplora em Hegel, a subjugação da Diferença à Contradição? Como
ficamos se tudo devesse ser lido a partir da contradição, e referido à Contradição
maior? Quando Deleuze lembra que uma sociedade se define menos por suas
contradições do que por suas linhas de fuga, quando põe o acento menos no
futuro da revolução do que no devir revolucionário das gentes, não estaríamos
nas antípodas dessa visão enunciada com tamanha assertividade?
Retomemos tudo isso a partir de um ponto anterior presente no livro:
“Sabemos como Adorno termina por elevar a não-identidade a conceito central
da dialética exatamente no momento histórico em que filósofos como Deleuze e
Derrida insistiam que pensar a diferença deveria ser compreendido como a tarefa
filosófica central da contemporaneidade. Essa convergência involuntária
respondia, na verdade, a um diagnóstico histórico-social comum. Todas essas
experiências filosóficas se constroem a partir do pressentimento da crise do
Estado do bem-estar social (o verdadeiro horizonte no interior do qual se move,
por exemplo, um projeto como O anti-Édipo) e, principalmente, de crença em
sua superação necessária. Ou seja, a emergência da diferença como problema
filosófico central nos anos 1960 é indissociável da crise iminente de um sistema
de organização econômica, o capitalismo de Estado, com seus regimes de
reprodução material de formas de vida encarnados na indústria cultural e no
conjunto de práticas terapêuticas de adaptação que crescem no interior de certa
‘cultura psicanalítica’. Essa emergência é a mobilização da filosofia como força
crítica capaz de empurrar a revolta para a consolidação de uma forma de vida
por vir. Ou seja, por mais que muitos queiram recusar tal realidade [de crise de
um sistema], os setores mais comprometidos com transformações sociais do
pensamento alemão e do pensamento francês acabarão por convergir em suas
estratégias de diagnóstico social, mesmo que tais convergências de estratégias
produzam modelos de reconstrução da potencialidade crítica do pensamento
radicalmente distintas. Mas isso ao menos nos mostra como uma recuperação da
dialética como modelo de pensamento crítico precisa ser pensada a partir das
críticas feitas pelo pensamento francês contemporâneo. Pois a crítica do
pensamento francês à dialética consiste em afirmar que ela destrói a diferença
que ela mesma procura produzir ao submetê-la à contradição; ela cala o infinito
que ela mesma procura atualizar ao submetê-lo à negatividade. As estratégias da
dialética acabariam, assim, por reinstaurar as formas de vida que ela própria
julgava ultrapassar, e não poderia ser diferente em um pensamento incapaz de se
livrar das amarras do sujeito, da consciência, da história mundial, do Estado, da
representação, entre outros. Seus esquemas conceituais nunca poderiam garantir
uma verdadeira perspectiva materialista, com suas forças, contingências, fluxos e
intensidades.” E conclui: “tais críticas não devem ser simplesmente
desqualificadas, mas devem ser respondidas. Há de se reconstruir a dialética a
partir delas”. É todo o trabalho admirável a que se propõe o autor.
Afinal, a dialética negativa visa preservar a dialética das armadilhas da
conciliação, sobretudo quando se apresentam como superação. Daí o sentido da
negatividade: não é apenas reativa – para usar esse termo tão presente no
vocabulário de Deleuze – ou, como dizem alguns, niilista. Assim como a não-
identidade é uma figura subjetiva que na sua leitura não equivale a privação,
nem ausência, nem falta de. Com isso, ressalto o procedimento engenhoso
presente nesta obra. O negativo em Hegel não é tão reativo nem tão conciliatório
quanto é considerado e o negativo em Adorno não é tão niilista quanto poderia
parecer, já que ele pode ser lido, e a meu ver é sua aposta final, como espaço de
emergência (“A relação negativa à totalidade não é aporia de uma crítica
totalizante, que irá necessariamente se realizar como niilismo ou como teologia
negativa, mas modo de emergência”). A dialética da emergência que o autor
propõe como interpretação mais ousada desfaz a suposta dimensão reativa ou
niilista da negatividade bem como a dimensão conciliatória da superação,
tangenciando uma via outra que desemboca, por assim dizer, na... diferença que
parecia até então elidida.
Não é à toa que Deleuze comparece aí como interlocutor privilegiado. O
autor percebe a riqueza e a promessa embutidas nessa direção, mesmo usando
seu próprio instrumental. Em certo sentido, isso também vale para os demais
conceitos. Ainda que encontre apoio em Lacan para repensar o estatuto do
sujeito, ao trabalhar a noção de desamparo ou des-identificação, e em Adorno, a
não-identidade, ou em outros a noção de despossessão, ou de errância, não
estamos tão longe da destituição do sujeito identitário, tal como pensa a geração
de franceses, desde Blanchot, Bataille até Foucault ou Deleuze e Derrida, cada
qual a seu modo. Se tomo Deleuze, para a heteronomia sem servidão temos a
prevalência da noção blanchotiana de dehors como elemento central para
repensar a subjetividade, assim como para a não-identidade temos os múltiplos
eus, ou sujeitos larvares, ou o sujeito na adjacência dos agenciamentos, para a
errância, o nomadismo, os múltiplos devires, para a emergência, o foco na
invenção, desde Bergson, ou a noção de Diferença entendida antes como
diferenciação, isto é, processualidade, atualização a partir do virtual, mas
também a preservação do virtual enquanto virtual. Há correlações, apesar do
acento distinto – que consiste num tom mais subtrativo, de um lado, e mais
proliferante, de outro. Ainda assim, se cruzam.
Cito aqui a afirmação do livro: “A negatividade do movimento dialético é,
na verdade, a manifestação da emergência da noção de infinito”. Fácil lembrar a
frase de Deleuze em O que é a filosofia: “O problema da filosofia é de adquirir
uma consistência, sem perder o infinito no qual o pensamento mergulha”. Ou
ainda: “A utopia não se separa do movimento infinito: ela designa
etimologicamente a desterritorialização absoluta”. Não tenho certeza de que seja
o mesmo infinito que está colocado aqui, já que um parece referir-se a uma
totalidade, o outro a uma velocidade infinita, ao movimento infinito. Mas
também aqui talvez se encontrem, no que assim está definido: “explode-se a
finitude e pode emergir uma totalidade verdadeira em sua processualidade
contínua capaz de instaurar objetos em movimento imanente”. Mas há totalidade
e totalidade. Postular a totalidade num momento em que o Estado nacional era
um ganho de racionalidade e de direito em relação aos interesses locais é muito
diferente de falar em totalidade numa época, como a nossa, de afirmação global
da falsa universalidade do Capital. Ainda assim, a totalidade verdadeira,
argumenta o livro, contra a falsa totalidade, não se exprime na forma das
positividades. Portanto, pensar a totalidade como sistema aberto ao desequilíbrio
periódico e infinito, apto à reconfiguração posterior dos elementos singulares, é
sair da perspectiva positiva-racional-progressiva. A totalidade é, portanto,
processualidade, autotransformação.
Mencionados esses elementos todos, não é à toa que Dar corpo ao
impossível se recusa a colocar os franceses no saco da ideologia francesa, já que
devem ser preservados como aliados e podem ativar aproximações,
apropriações, encavalamentos incessantes. Penso que essa escolha é sábia e
fecunda, dá testemunho de uma abertura real e desafia o partidarismo filosófico
sem ceder minimamente no cultivo de suas fontes próprias.
Digo isso porque me chama atenção a total afinidade que experimentei ao
longo dos últimos anos com as posições políticas do autor, sem que as diferenças
teóricas de fundo me incomodassem minimamente. Não que elas fossem
indiferentes, mas parece que, com instrumentos diferentes, chegávamos a
apreciações tão convergentes que não raro me perguntei como isso era possível.
Claro está que todo o trajeto do autor está marcado por uma preocupação
com as condições da ação política, e parte de O circuito dos afetos já tocava
nesse ponto, ao focar nos corpos afetivos e políticos e na incorporação como
incontornável para pensar o político. Em suma, tal engajamento diz muito da
perspectiva do autor sobre o papel do intelectual hoje. Conhecemos a discussão
entre Foucault e Deleuze a respeito do intelectual específico em substituição ao
intelectual genérico, pretenso porta-voz da consciência humana em geral.
Também conhecemos a bela posição de Adorno sobre a função desintegradora
do intelectual, que a teoria crítica teria deixado de lado e que cabe resgatar,
apostando no aprofundamento das potencialidades revolucionárias do presente,
ou nos processos de emergência ou, ainda, no desafio de pensar a sociedade
capitalista a partir de sua plasticidade revolucionária imanente.
É de admirar o canteiro de obras no qual Safatle trabalha com tamanho afinco e
energia nos últimos anos, sem ceder a nenhum pacto ou compromisso, e sem
nenhum sinal de fadiga ou resignação. O que nos atordoa não será essa energia e
acuidade que se depreende de seus textos num momento em que a atmosfera ao
redor anda tão impregnada de desânimo? Mas como não reconhecer e até louvar
certa desmesura, quando tantos desafios se colocam à filosofia, e tantos perigos a
rondam?
colaboraram nesta edição
Ángel G. Quintero-Rivera é doutor em Economia e Ciências Políticas pela
London School of Economics e professor da Universidad de Puerto Rico
Bianca Santana é escritora, jornalista, pesquisadora, doutoranda em Ciência da
Informação pela USP, autora de Quando me descobri negra (SESI-SP)
Carla Rodrigues é doutora em Filosofia pela PUC e professora da UFRJ
Danilo Assis Clímaco é doutor em Estudos Latinoamericanos pela Universidad
Nacional Autónoma de México e professor de antropologia na Universidad
Nacional Mayor de San Marcos
Dico Kremer é fotógrafo publicitário com 40 anos de mercado nacional e
internacional
Manuela Eichner e Zé Vicente são artistas e trabalham com colagem desde
2005. Tanto em parceria como em suas pesquisas individuais, investigam a
expansão da ideia de colagem
Orlando Azevedo é fotógrafo documental, especializado em expedições e
projetos de longa duração
Peter Pál Pelbart é doutor em Filosofia pela USP e professor da PUC-SP
Rita Segato é doutora em Antropologia Social pela Queen’s University Belfast,
professora emérita da UnB e diretora da Cátedra Aníbal Quijano do Museu
Reina Sofía
Rosana Paulino é doutora em Artes Visuais pela USP, artista visual,
pesquisadora e educadora
Susana de Castro é doutora em Filosofia pela Ludwig Maximilian Universität
München e professora da UFRJ
Tarso de Melo é poeta e advogado, doutor em Filosofia do Direito pela USP,
autor de Alguns rastros (Martelo) e Íntimo desabrigo (Alpharrabio/Dobradura)
Vilma Slomp é fotógrafa, com atuação no campo do fotojornalismo e da
fotografia autoral
Wilson Gomes é doutor em Filosofia, professor titular da Faculdade de
Comunicação da UFBA e autor de A democracia no mundo digital: história,
problemas e temas (Edições Sesc SP)
Table of Contents
coluna
Bianca Santana
Marcia Tiburi
Wilson Gomes
especial Paulo Leminski
dossiê Aníbal Quijano, o mundo a partir da América Latina
Apresentação
A tenacidade da inquietude
O tempo na obra de Aníbal Quijano
O feminismo decolonial
A colonialidade e Porto Rico
estante cult
colaboraram nesta edição
Você também pode gostar
- Literatura Brasileira e Mal-Estar: O Futuro Abolido em Três Romances de 30No EverandLiteratura Brasileira e Mal-Estar: O Futuro Abolido em Três Romances de 30Ainda não há avaliações
- Entre o pavor e o prazer: infância homoafetiva na literatura brasileiraNo EverandEntre o pavor e o prazer: infância homoafetiva na literatura brasileiraAinda não há avaliações
- Na Poesia Viva: A Poesia Contemporânea em Frente e VersoNo EverandNa Poesia Viva: A Poesia Contemporânea em Frente e VersoAinda não há avaliações
- Poesia e mito: Os textos que Freud baniu de "A interpretação dos sonhos"No EverandPoesia e mito: Os textos que Freud baniu de "A interpretação dos sonhos"Ainda não há avaliações
- Bebês com deficiência física e parentalidade: Implicações para o desenvolvimento infantilNo EverandBebês com deficiência física e parentalidade: Implicações para o desenvolvimento infantilAinda não há avaliações
- O Anti-Édipo e o Problema Fundamental da Filosofia: Política em Deleuze e GuattariNo EverandO Anti-Édipo e o Problema Fundamental da Filosofia: Política em Deleuze e GuattariAinda não há avaliações
- "A Gente só é, e Pronto!" Uma Análise Linguístico-Discursiva sobre os Impactos da Lgbtifobia na EscolaNo Everand"A Gente só é, e Pronto!" Uma Análise Linguístico-Discursiva sobre os Impactos da Lgbtifobia na EscolaAinda não há avaliações
- Diálogos entre psicanálise e literatura: Um ensaio sobre o amor nos tempos do cóleraNo EverandDiálogos entre psicanálise e literatura: Um ensaio sobre o amor nos tempos do cóleraAinda não há avaliações
- A compreensão do mérito da função paterna na organização do trabalhoNo EverandA compreensão do mérito da função paterna na organização do trabalhoAinda não há avaliações
- Proposta Didática - Artigo de Divulgação CientíficaDocumento17 páginasProposta Didática - Artigo de Divulgação CientíficaIgor Guterres100% (1)
- Revista Continente Multicultural #270: O cérebro eletrônico faz tudo?No EverandRevista Continente Multicultural #270: O cérebro eletrônico faz tudo?Ainda não há avaliações
- Ilustrações na ficção de Jorge Amado: Floriano Teixeira e Clóvis GracianoNo EverandIlustrações na ficção de Jorge Amado: Floriano Teixeira e Clóvis GracianoAinda não há avaliações
- A Serviço de Deus?: a resistência da bancada da bíblia ao reconhecimento legal da família homoafetivaNo EverandA Serviço de Deus?: a resistência da bancada da bíblia ao reconhecimento legal da família homoafetivaAinda não há avaliações
- A falência do narrador: ou quem está narrando a história?No EverandA falência do narrador: ou quem está narrando a história?Ainda não há avaliações
- Fronteiras do Des-amparo e as vicissitudes da pandemiaNo EverandFronteiras do Des-amparo e as vicissitudes da pandemiaAinda não há avaliações
- Adriana Da Silva Thoma: Cartas e Escritas de Amizade e DocênciaDocumento155 páginasAdriana Da Silva Thoma: Cartas e Escritas de Amizade e DocênciaEditora Pimenta CulturalAinda não há avaliações
- Assimétricos: Textos militantes de uma pessoa com deficiênciaNo EverandAssimétricos: Textos militantes de uma pessoa com deficiênciaAinda não há avaliações
- Mulheres, Linguagem e Poder: Estudos de Gênero na Sociolinguística BrasileiraNo EverandMulheres, Linguagem e Poder: Estudos de Gênero na Sociolinguística BrasileiraAinda não há avaliações
- SOS Brasil: Atendimento psicanalítico emergencialNo EverandSOS Brasil: Atendimento psicanalítico emergencialAinda não há avaliações
- Estudos atuais em Psicologia e Sociedade: Volume 1No EverandEstudos atuais em Psicologia e Sociedade: Volume 1Ainda não há avaliações
- Trecho do livro Chamamento ao povo brasileiro: Capítulo 1 da parte 3 – Chamamento ao povo brasileiro (1968)No EverandTrecho do livro Chamamento ao povo brasileiro: Capítulo 1 da parte 3 – Chamamento ao povo brasileiro (1968)Ainda não há avaliações
- Eis o Mundo Encantado que Monteiro Lobato Criou: Raça, Eugenia e NaçãoNo EverandEis o Mundo Encantado que Monteiro Lobato Criou: Raça, Eugenia e NaçãoAinda não há avaliações
- A criação original: A teoria da mente segundo FreudNo EverandA criação original: A teoria da mente segundo FreudAinda não há avaliações
- Estudos interdisciplinares e as políticas de ações afirmativas: Pesquisas em raça e gênero no BrasilNo EverandEstudos interdisciplinares e as políticas de ações afirmativas: Pesquisas em raça e gênero no BrasilAinda não há avaliações
- Delírios frásicos de Orepse Écov: A sublimação de um surto psicóticoNo EverandDelírios frásicos de Orepse Écov: A sublimação de um surto psicóticoAinda não há avaliações
- A ofensiva sensível: neoliberalismo, populismo e o reverso da políticaNo EverandA ofensiva sensível: neoliberalismo, populismo e o reverso da políticaAinda não há avaliações
- Solidao Modo de Usar CAP1 DunkerDocumento19 páginasSolidao Modo de Usar CAP1 DunkerMariana AlmeidaAinda não há avaliações
- Módulo 2 - O Processo EditorialDocumento24 páginasMódulo 2 - O Processo EditorialRafael SilvaAinda não há avaliações
- Cult #228 - Marx e As Crises Do CapitalismoDocumento37 páginasCult #228 - Marx e As Crises Do CapitalismobrunaAinda não há avaliações
- Cult Especial 9 - Hannah Arendt (Autores, Vários)Documento30 páginasCult Especial 9 - Hannah Arendt (Autores, Vários)Lupercio SilvaAinda não há avaliações
- Cult 262 - O Que É o Feminismo Decolonial by Vários AutoresDocumento43 páginasCult 262 - O Que É o Feminismo Decolonial by Vários AutoresLuana TellesAinda não há avaliações
- Cult 222 Antonio Gramsci (Autores,...Documento43 páginasCult 222 Antonio Gramsci (Autores,...lourenildoAinda não há avaliações
- 255 - Lélia GonzalezDocumento36 páginas255 - Lélia GonzalezLoci MassalaiAinda não há avaliações
- Cult #233 - Hilda HilstDocumento36 páginasCult #233 - Hilda HilstCora ConcursandoAinda não há avaliações
- Cult 261 - Walter BenjaminDocumento40 páginasCult 261 - Walter BenjaminMaria GabrielaAinda não há avaliações
- Cult 260 - A Atualidade Estratégica Da SemióticaDocumento39 páginasCult 260 - A Atualidade Estratégica Da SemióticaMaria GabrielaAinda não há avaliações
- Cult Especial 6 - Queer (Vários Autores (Autores, Vários) ) (Z-Library)Documento73 páginasCult Especial 6 - Queer (Vários Autores (Autores, Vários) ) (Z-Library)Andressa RosaAinda não há avaliações
- Cult 250 Vamos Falar Sobre SuicídioDocumento53 páginasCult 250 Vamos Falar Sobre SuicídioMaria GabrielaAinda não há avaliações
- Cult #253 - Especial Sigmund FreuDocumento29 páginasCult #253 - Especial Sigmund Freulucas brian marquesAinda não há avaliações
- Cult 238 - A Psicanálise Entre Feminismos e Femininos by Autores, VáriosDocumento63 páginasCult 238 - A Psicanálise Entre Feminismos e Femininos by Autores, VáriosJessica Pacifico dos reisAinda não há avaliações
- Cult 249 - A Psicanálise No Brasil by Autores, Vários (Autores, Vários)Documento56 páginasCult 249 - A Psicanálise No Brasil by Autores, Vários (Autores, Vários)janarj100% (2)
- Cult 258 - Cancelamento Da CulturaDocumento47 páginasCult 258 - Cancelamento Da CulturaMaria GabrielaAinda não há avaliações
- Cult #251 - Parentabilidade e Vulnerabilid - Autores, VariosDocumento50 páginasCult #251 - Parentabilidade e Vulnerabilid - Autores, VariosGabrielle Prado0% (1)
- Cult 239 - Graciliano RamosDocumento61 páginasCult 239 - Graciliano RamosMaria GabrielaAinda não há avaliações
- Cult 209 - Marilena ChauiDocumento48 páginasCult 209 - Marilena ChauiMaria Gabriela50% (2)
- Cult 193 - Teoria QueerDocumento83 páginasCult 193 - Teoria QueerMaria GabrielaAinda não há avaliações
- Cult 191 - Michel FoucaultDocumento106 páginasCult 191 - Michel FoucaultMaria Gabriela0% (1)
- Cult 217 - Especial Angela Davis by Vários AutoresDocumento100 páginasCult 217 - Especial Angela Davis by Vários AutoresEster Estevão da SilvaAinda não há avaliações
- Hegel, Friedrich - Cultura - Dossiê Deslocamentos de Hegel - 56 PagDocumento52 páginasHegel, Friedrich - Cultura - Dossiê Deslocamentos de Hegel - 56 PagPatrícia AvilaAinda não há avaliações
- Cult 184 - O Poder Da PsiquiatriaDocumento95 páginasCult 184 - O Poder Da PsiquiatriaMaria Gabriela100% (2)
- Cult 185 - Judith Butler by Autores, VáriosDocumento51 páginasCult 185 - Judith Butler by Autores, VáriosGe NomAinda não há avaliações
- A Arte de Falar Da Morte para Criancas ( - Paiva, Lucelia ElizabethDocumento238 páginasA Arte de Falar Da Morte para Criancas ( - Paiva, Lucelia Elizabethlamicasc100% (4)
- Cult 179 200 Anos de KierkegaardDocumento75 páginasCult 179 200 Anos de KierkegaardMaria GabrielaAinda não há avaliações
- Tes2 PDFDocumento35 páginasTes2 PDFJoao FerreiraAinda não há avaliações
- As Perspectivas E Desafios Do Pluralismo Jurídico Na América LatinaDocumento21 páginasAs Perspectivas E Desafios Do Pluralismo Jurídico Na América LatinaCrisAinda não há avaliações
- Cms Files 21176 1692712394e-Book Apostas de Cores 24 25Documento20 páginasCms Files 21176 1692712394e-Book Apostas de Cores 24 25lu.backups156Ainda não há avaliações
- Simulado 2 Ano AtualizadoDocumento2 páginasSimulado 2 Ano AtualizadoElanne ReginaAinda não há avaliações
- TCC Diabetes CorreçãoDocumento45 páginasTCC Diabetes CorreçãoMarcos BenezarAinda não há avaliações
- Cap 01 Bateman SnellDocumento25 páginasCap 01 Bateman SnelltoizimAinda não há avaliações
- Liv93322 PDFDocumento156 páginasLiv93322 PDFLilca Moraira ChavesAinda não há avaliações
- Ava HisDocumento9 páginasAva HisSimone RibeiroAinda não há avaliações
- CONTRATO DE EMPREITADA Rural ModeloDocumento4 páginasCONTRATO DE EMPREITADA Rural ModelonelsonjunqueiraAinda não há avaliações
- A Luta Contra A Ditadura - em QuadrinhosDocumento61 páginasA Luta Contra A Ditadura - em QuadrinhosGuizo VermelhoAinda não há avaliações
- Exercicio Avaliativo 6 Ano PDFDocumento1 páginaExercicio Avaliativo 6 Ano PDFFrancisco Rodrigues VianaAinda não há avaliações
- Apostila 3.1.11Documento25 páginasApostila 3.1.11Barbara SilvaAinda não há avaliações
- As Ferramentas Do AprendizDocumento17 páginasAs Ferramentas Do AprendizMarcos Paulo MesquitaAinda não há avaliações
- Casos Direito Comercial II 9-10 (Insolvência)Documento8 páginasCasos Direito Comercial II 9-10 (Insolvência)Marco CorreiaAinda não há avaliações
- Crescendo em Oração - Abnério Cabral - 01.08.2021Documento5 páginasCrescendo em Oração - Abnério Cabral - 01.08.2021Raimundo ReisAinda não há avaliações
- 02 Padarie - 1Documento10 páginas02 Padarie - 1Jamila Mancilha100% (1)
- ACEPIPESDocumento8 páginasACEPIPESAndré Pereira RodriguesAinda não há avaliações
- CD Junto As AguasDocumento13 páginasCD Junto As AguasCelso Magalhães100% (1)
- Cap0010-Eletrodinâmica - Geradores e Motores Elétricos.Documento20 páginasCap0010-Eletrodinâmica - Geradores e Motores Elétricos.Gustavo ApellanizAinda não há avaliações
- Código de Ética FebrapilsDocumento5 páginasCódigo de Ética FebrapilsFernando Parente Jr.Ainda não há avaliações
- Salas de Recursos MultifuncionaisDocumento3 páginasSalas de Recursos MultifuncionaisThiago Da Silva GomesAinda não há avaliações
- A Bíblia Do Treino de Braços - Parte IDocumento3 páginasA Bíblia Do Treino de Braços - Parte Ihotwrists100% (1)
- Educação Física No BrasilDocumento3 páginasEducação Física No BrasilCelsoLimaAinda não há avaliações
- Planos de Celular Tim Família 3 Linhas Ou Mais - Maio 2023Documento1 páginaPlanos de Celular Tim Família 3 Linhas Ou Mais - Maio 2023Marcela LoboAinda não há avaliações
- Cadastro Usuario Formas Acesso EbconsigDocumento2 páginasCadastro Usuario Formas Acesso EbconsigDeyvid DenerAinda não há avaliações
- Primeiro Concílio de Niceia - Wikipédia, A Enciclopédia LivreDocumento6 páginasPrimeiro Concílio de Niceia - Wikipédia, A Enciclopédia Livrealex lotti100% (1)
- Caderno AgenciamentosDocumento476 páginasCaderno AgenciamentosMarcio LuzoAinda não há avaliações
- Trabalho Final de Faianca Portuguesa CanDocumento28 páginasTrabalho Final de Faianca Portuguesa Cangyq248ymtqAinda não há avaliações
- A Construção Da Autoridade Docente... Silva e AbudDocumento22 páginasA Construção Da Autoridade Docente... Silva e AbudDaniele AlvarengaAinda não há avaliações
- O PinheirinhoDocumento12 páginasO PinheirinhoceuvazAinda não há avaliações