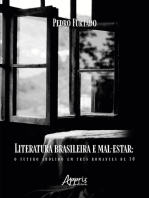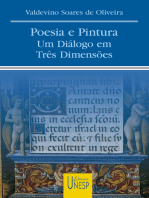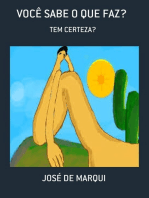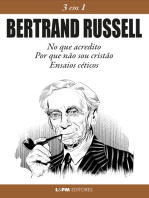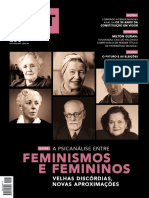Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Cult 193 - Teoria Queer
Enviado por
Maria Gabriela0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
38 visualizações83 páginasO artigo discute os desafios de adaptar obras literárias para o cinema. Diretores relatam que é necessário desapegar de personagens e subtramas que funcionam no livro, mas não no cinema, para evitar que o filme fique confuso. Também é importante respeitar a essência da obra e traduzir pensamentos dos personagens em ações, sem tentar recriar fielmente cada detalhe, o que quase nunca funciona. No final, o espectador deve esperar por uma experiência diferente da leitura, e não a versão em imagens exata do liv
Descrição original:
Título original
Cult 193 – Teoria Queer
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoO artigo discute os desafios de adaptar obras literárias para o cinema. Diretores relatam que é necessário desapegar de personagens e subtramas que funcionam no livro, mas não no cinema, para evitar que o filme fique confuso. Também é importante respeitar a essência da obra e traduzir pensamentos dos personagens em ações, sem tentar recriar fielmente cada detalhe, o que quase nunca funciona. No final, o espectador deve esperar por uma experiência diferente da leitura, e não a versão em imagens exata do liv
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
38 visualizações83 páginasCult 193 - Teoria Queer
Enviado por
Maria GabrielaO artigo discute os desafios de adaptar obras literárias para o cinema. Diretores relatam que é necessário desapegar de personagens e subtramas que funcionam no livro, mas não no cinema, para evitar que o filme fique confuso. Também é importante respeitar a essência da obra e traduzir pensamentos dos personagens em ações, sem tentar recriar fielmente cada detalhe, o que quase nunca funciona. No final, o espectador deve esperar por uma experiência diferente da leitura, e não a versão em imagens exata do liv
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 83
Sumário
cinema
A arte de transformar palavras em imagens
coluna
Marcia Tiburi
Manuel da Costa Pinto
Alcir Pécora
Welington Andrade
Heitor Ferraz Mello
especial Julio cortázar
inédito
retrato do artista Marcelo Ariel
perfil Beatriz Preciado
dossiê Teoria queer
Nossos corpos nos pertencem
Crítica à hegemonia heterossexual
O potencial político da Teoria queer
Queer o quê? Ativismo e estudos transviados
A teoria queer e os desafios à moldura do olhar
entrevista Leticia Sabsay
entrevista Laurence Philomène
entrevista Laerte Coutinho
livros
Retratos da MPB
colaboraram nesta edição
cinema
A arte de transformar palavras em imagens
FRANTHIESCO BALLERINI
A ideia parece sedutoramente infalível: levar aos cinemas a história de
um livro bem sucedido de críticas ou de vendas e tentar repetir o êxito.
Um pensamento tão antigo quanto o próprio cinema. Em Hollywood ou
em qualquer cinema autoral do mundo, milhares de livros são adaptados
por ano nas telas. No entanto, são raros os casos bem sucedidos, ou seja,
de obras cinematográficas melhores ou apenas à altura da fonte literária.
Sem falar na frustração de grande parte dos adoradores de quadrinhos –
da DC Comics e da Marvel – e das franquias literárias como Harry
Potter que, ao assistir à versão cinematográfica, reclamam que “certas
partes do livro/quadrinho não estão ali” ou “o filme foi superficial ou
omitiu algum personagem”.
O desafio de transpor a literatura para o cinema é grande. Marcos
Jorge, diretor de filmes premiados como Estômago (2007) e Corpos
celestes (2011), estreia no próximo mês de outubro o filme O duelo ,
último trabalho do ator José Wilker e uma adaptação do romance Os
velhos marinheiros ou o capitão de longo curso, de Jorge Amado. “Logo
depois de ler o romance e de declarar-me interessado pelo projeto, recebi
da Warner Bros. e da Total Filmes um roteiro em inglês, escrito há
bastante tempo por um roteirista americano quando da compra dos
direitos pela WB. Bem, não posso dizer que tenha me entusiasmado pelo
texto, que além de ser excessivamente distante do romance de Amado,
apresentava um olhar francamente estrangeiro sobre a história. Coloquei
como condição para realizar o filme que eu escrevesse um novo roteiro,
partindo exclusivamente do livro de Amado e abandonando o texto
anterior. Eles concordaram e em janeiro de 2010 fui a Salvador para
fazer pesquisas e começar a escrever o novo roteiro”, diz Marcos Jorge,
que tomou cuidado de não ficar excessivamente preso à obra literária,
respeitando a linguagem e o que funciona no cinema. “Muito embora eu
tenha modificado duas características importantes do romance (tempo e
espaço), meu roteiro é certamente um tributo à prosa de Amado, pois ele
derivou diretamente dela. Tomei, sim, a liberdade de modernizar
diversos aspectos da história e de deixar vaga e metafórica a sua
ambientação, mas acredito que justamente por isso fui muito fiel ao
‘espírito’ do livro, que conta uma história universal e, em seu sentido
mais profundo, atemporal. De fato, durante todo o trabalho de escritura
do roteiro, embora eu escrevesse sozinho, eu me senti trabalhando em
dupla, como se tivesse o mestre baiano ao meu lado.”
A transposição para o cinema significa também desapego a
personagens, subtemas e subtramas que funcionam no livro. Do
contrário, a obra cinematográfica corre um grande risco de ficar confusa
e prolixa. “Grande parte do trabalho de adaptar o romance foi escolher o
que colocar na tela e o que deixar somente no livro. Acontece que Os
velhos marinheiros é um romance longo e intricado, onde diversos
níveis narrativos se sobrepõem e onde desfila uma enorme variedade de
personagens. Adaptá-lo com total fidelidade teria dado como resultado
uma série e não um longa-metragem. Infelizmente era necessário
escolher e simplificar. Assim sendo, decidi me concentrar no âmago da
história, no conflito entre Vasco e Chico Pacheco, cortando do filme
tramas e personagens deliciosos. Perdas que, tenho certeza, podem
lamentar quem conhece o romance, mas que certamente não interferirão
no julgamento de quem estará vendo o filme”, explica o diretor, que
considera também como desafio extra o orçamento que terá para adaptar
a obra e a duração do filme imposta pelos mecanismos de distribuição e
exibição. “É fácil constatar que a literatura se baseia na ‘palavra’,
enquanto o cinema tem seu fundamento na ‘imagem’. A consequência é
que a literatura naturalmente conta com o pensamento dos personagens e
do narrador (seus monólogos interiores) para ajudá-la a construir os
personagens e contar a história, enquanto o cinema deve expressar tudo
através da ação e do diálogo. Ok, o cinema às vezes se utiliza da voice
over para expressar o monólogo interior, mas este é um recurso extremo,
que para funcionar deve ser extremamente justificado e transformado em
linguagem específica. Então, ao adaptar uma obra literária para o
cinema, o roteirista deve, em geral, ‘traduzir’ em ações uma série de
coisas que o escritor expressou através do pensamento de seus
personagens. E isso não é fácil”, complementa.
De fato, se não houver liberdade do roteirista em escolher o que de
melhor funciona do livro no cinema, as chances de errar são grandes.
Mas há exemplos notórios de casos bem sucedidos nessa transposição.
Talvez o melhor exemplo de filme que superou sua obra original, um
livro, seja O iluminado (1980), de Stanley Kubrick. O diretor adquiriu os
direitos de adaptação da obra de Stephen King, mas não só resolveu
pincelar só aquilo que ele achava que funcionava nas telas, como
também criou múltiplas e requintadas camadas de sofisticação na
fotografia, direção de arte e edição, que fazem do filme uma obra maior
do que o livro. Isso fez com que Stephen King renegasse o livro e
brigasse com o diretor. Anos mais tarde, resolveu capitanear uma série
baseada em seu próprio livro, que fora um retumbante fracasso.
Autor de livros como O invasor e Eu receberia as piores notícias de
seus lindos lábios , que viraram filmes, Marçal Aquino, que roteirizou
suas próprias obras, diz que fazer referência excessiva aos livros no
roteiro atrapalha. “Acho que, em resumo, o maior desafio é criar algo à
altura do livro, num outro universo de linguagem, que é o audiovisual.
Para isso, é preciso buscar a essência do livro, que é o que importa –
fidelidade, nesse caso, me parece ocioso, já que falamos de dois reinos
muitos distintos”, diz.
Marco Dutra, vencedor do Festival de Cannes pelo curta Um ramo
(2007) e com duas indicações em Cannes pelo longa Trabalhar cansa
(2011), adaptou o romance A arte de produzir efeito sem causa , de
Lourenço Mutarelli, no filme Quando eu era vivo , lançado no início
deste ano e estrelado por Antonio Fagundes, Marat Descartes e Sandy.
Para ele, o importante é trabalhar com liberdade, mas respeitar o sentido
geral do livro. “Não conseguiria trabalhar na lógica Harry Potter,
quando o diretor e roteirista devem prestar contas o tempo todo ao autor
do livro e ao produtor. Tive que cortar uma parte ótima do livro, quando
o protagonista recebe pacotes misteriosos, ricos graficamente, mas que
seriam dispersivos no cinema. Sinto, por conhecidos que gostam de
livros-franquias como O senhor dos anéis e o próprio Harry Potter , que
eles querem ver na tela o que viram no livro, o que força um ciclo de
interferência cada vez maior dos autores literários nas obras
cinematográficas”, diz. Mas Marco cita exemplos de transposições bem
sucedidas. “ Encurralado , de Steven Spielberg, baseado no conto de
Richard Matheson, é um exemplo excelente. O bebê de Rosemary ,
adaptado do romance de Ira Levin, é quase uma versão integral do livro,
algo raríssimo e muito difícil, mas que funcionou. Já em Os pássaros ,
Alfred Hitchcock pouco se baseou no conto de Daphne Du Maurier, mas
também funciona”, diz Dutra.
Thais Fujinaga, diretora dos curtas L (2011) e Os irmãos Mai (2013),
ganhadores de mais de sessenta prêmios internacionais, nunca adaptou
um livro para o cinema, mas como roteirista de formação e docência,
lembra que quase sempre o filme perde em profundidade de
personagem. “As três adaptações de Anna Karenina ao cinema nem
chegam perto da profundidade psicológica gigantesca da obra de Tolstoi.
Cinema é sempre um recorte, uma decisão no que focar, o que é uma
decisão difícil”, diz ela, que só recomenda a interferência do autor do
livro na escrita do roteiro quando a relação entre ambas for sincera e
aprazível, do contrário, o resultado será ruim. “É uma ilusão de qualquer
espectador achar que irá ver a versão em imagens de um livro. Também
é uma ilusão do profissional de cinema achar que um livro bom garante
uma boa obra cinematográfica, ou é uma vantagem diante de um roteiro
original”, comenta Thais.
A lógica, portanto parece ser a seguinte: gostou muito de um livro,
pense duas vezes antes de ver sua versão nas telas. E se decidir por fazê-
lo, espere por uma outra experiência, quase autônoma às palavras que
você tanto gostou de ler.
coluna
Linchamento
MARCIA TIBURI
O linchamento é um tipo de violência em cuja base estão tensões sociais
profundas que, embora possam explicá-lo, não servem de desculpa.
Alguma “desculpa”, no entanto, está sempre no cerne do linchamento.
Ela é relativa à ação conjunta na qual todos agem em torno de um
curioso acordo acerca da verdade que rege o motivo do linchamento.
O ato de linchar é um tipo de violência hedionda. Em primeiro lugar,
por sua desproporção. Crime praticado por um grupo contra alguém
indefeso, ele põe em jogo o procedimento do “todos contra um”. Em
segundo lugar, por sua fatalidade. Escapar de um linchamento só é
possível por milagre. No meio do coletivo, não surge quem ouse
defender a vítima. Ninguém vai contra a maioria. A ação não admite
dúvida nem reflexão. Por isso, quem pode fica quieto.
Mas como se forma o grupo do linchamento? O que leva alguém a
participar do ato? Três elementos combinam-se entre si permitindo a
ação. O primeiro e mais fundamental é a anulação da subjetividade:
quem participa de um linchamento não é capaz de pensar no que faz; em
segundo lugar, a ausência de compaixão, a capacidade humana de se
colocar no lugar do outro, de imaginar a dor do outro; e, por fim, o
desejo de fazer parte da massa. Um estranho “ter lugar” pode chamar
qualquer um a destruir alguém “junto” aos outros. Experimentamos isso
nas audiências televisivas de reality shows em que o potencial
exterminador está em jogo – como nos mostrou Silvia Viana em seu
livro Rituais de sacrifício (Boitempo, 2013).
A CUMPLICIDADE NO LINCHAMENTO
É preciso colocar a questão do tipo de “comunidade” que lincha. O que
alguém está fazendo no ato de linchar é, para ele, mais do que certo. Mas
ele, ao mesmo tempo, se ampara no gesto do outro. Há uma covardia de
fundo no ato do linchamento que ninguém pode deixar de ver. Que o
conjunto esteja fazendo algo, o mesmo que cada um, representa prova
suficiente da justificativa do ato para quem dele participa. Perguntar se
sua ideia e seu gesto poderiam ser diferentes é impossível para o dono da
razão. Não há desconfiança no processo, só há verdade. A consequência
é que cada um se sente autorizado a matar. Mas nunca sozinho, sempre
com ajuda de alguém.
A “malta” espontânea é formada por individualidades cheias de ódio
que encontram no coletivo seu lugar: o lugar onde cada um deixa surgir
o impulso paranoico que pode haver dentro de si. Aquele que se gestou
numa experiência infeliz com o outro. É ele que age covardemente na
ação do linchamento sempre contando com um álibi. A comunidade que
mata ergue-se sobre a cumplicidade na covardia.
A hipótese do agente cruel coletivo é de que o “linchado” é algum tipo
de criminoso hediondo. Mas como quem comete o crime do linchamento
pode se sentir superior ao criminoso hediondo? Logo, na lógica do
assassinato, o outro tem que morrer. Por que o linchador poderia punir o
outro criminoso com as próprias mãos? O linchador pratica contra a
vítima a culpa da qual ele mesmo é o portador. Culpa da qual ele pensa
livrar-se no ato de espancar até a morte. O processo é de inversão. O
linchador expurga o próprio ódio jogando-o para cima de um
desconhecido indefeso. O criminoso é o outro, então ele é
imediatamente punido. O outro que o paranoico odeia é que deve expiar
o seu crime.
Fabiane Maria de Jesus, dona de casa, foi morta num linchamento no
Guarujá em 2014. André Luiz Ribeiro, professor, escapou por pouco
quando corria no Rio de Janeiro e foi confundido com um assaltante. Já
sabemos da banalidade da vida e da morte em nossa cultura. Mas o que
autoriza uns e outros ao assassinato? O aval. É a mesma lógica da
corrupção generalizada. Porque “o outro faz, eu também estou
autorizado a fazer”. Matar covardemente e sem pensar é um ato cada vez
mais fácil.
coluna
O bardo Ubaldo
MANUEL DA COSTA PINTO
Ao final da coluna da edição passada, em que descrevi a saga do
manuscrito de Os 120 dias de Sodoma , do marquês de Sade, prometi
que retomaria o assunto neste mês. Fica para setembro, pois a morte de
João Ubaldo Ribeiro, em 18 de julho, impõe a homenagem ao autor de
dois livros fundamentais da literatura brasileira: Sargento Getúlio e Viva
o povo brasileiro .
Antes, vale lembrar que ele esteve presente num marco histórico da
CULT: em maio de 2002, quando a revista passou a ser dirigida por
Daysi Bregantini, o primeiro autor entrevistado na nova fase da CULT
foi João Ubaldo, que acabava de lançar Diário do farol .
Na entrevista, aliás, perguntado por Luís Antônio Giron se fora
assombrado pelo diabo ao escrever esse romance – em que um ex-padre
licencioso destila as memórias de suas perversões –, João Ubaldo
disparou: “O diabo não me prestigia muito. Ou acha que já estou no
bolso ou sou mesmo inexpugnável”.
Inexpugnável talvez seja o termo para descrever a obra desse escritor
que adotava a uma postura anti-intelectual e que flertou com a literatura
de entretenimento – mas que nem assim conseguiu rechaçar o olhar de
críticos que viram nele um inventor pertencente à linhagem de
Guimarães Rosa e Paulo Leminski.
João Ubaldo fazia pouco, por exemplo, das análises que viam em Viva
o povo brasileiro uma alegoria da história do Brasil, preferindo dizer,
em tom de galhofa, que escrevera esse romance de proporções épicas em
resposta ao desafio de fazer um livro que parasse em pé – o que de fato
ocorre, já que estamos falando de um tijolo com mais de seiscentas
páginas... Mas que Haroldo de Campos tenha definido o escritor como
“o bardo Ubaldo” justamente num ensaio que aproxima aquele catatau
do Catatau , de Leminski, é mais uma prova de que a presença
bonachona e risonha do escritor baiano não passava de despiste.
Quem conviveu com ele sabe qual era o tamanho de sua erudição e de
seu domínio linguístico, que se estendia ao inglês: João Ubaldo foi um
caso raro de escritor que traduziu as próprias obras para outro idioma – o
que é mais surpreendente se pensarmos que os livros em questão eram
Sargento Getúlio e Viva o povo brasileiro , com suas dificuldades
sintáticas e vocabulares.
Sargento Getúlio é a fábula moral com fundo sociopolítico sobre um
militar que, encarregado de levar um subversivo da Bahia a Sergipe,
recebe durante o percurso uma contra-ordem que ele desafia, tornando-
se também um insurgente. Nesse livro de 1971, Ubaldo contrapõe uma
realidade social marcada pelo coronelismo a uma ideia pundonor que se
coloca acima de conchavos e conveniências – convertendo essa “história
de aretê” (conforme a epígrafe, que remete ao termo grego para
“virtude”) num violento fluxo verbal que materializa a “hybris”, a
desmedida que precipita o destino do herói em tantas tragédias gregas.
Com Sargento Getúlio , portanto, temos a pedra de toque dos
melhores livros de João Ubaldo, mostrando com sua obra é uma
confluência da temática do romance regionalista, enraizado no Nordeste,
com um regionalismo de caráter mitologizante, atravessado por
reminiscências arcaicas e narrativas orais – conforme veremos em Viva
o povo brasileiro , de 1984.
Em obras posteriores, Ubaldo fez de sua ilha natal, Itaparica, um
microcosmo grande como o mundo – com elementos da tradição e da
contemporaneidade. Em O sorriso do lagarto (1989), Itaparica surge
como lugar assombrado por experimentos genéticos que representam a
face sinistra da modernidade. O feitiço da Ilha do Pavão (1997) se passa
numa ilha suspensa no tempo, espaço utópico em que inquisidores e
quilombos sintetizam um imaginário barroco. No já citado Diário do
farol , as reminiscências lúbricas do padre estão recheadas de perversões
políticas ligadas à repressão do regime militar.
São obras que, comparadas a Sargento Getúlio e Viva o povo
brasileiro , não apresentam o mesmo padrão de invenção poética, mas
que, como mostra seu último romance – O albatroz azul (2009), retorno
a Itaparica e às memórias dos moradores, que inspiraram muitas de suas
personagens – fazem parte de uma mitologia pessoal, com seus
momentos anedóticos e seus ápices de furor inventivo.
coluna
Da arte de ser obnóxio
ALCIR PÉCORA
Em 1997, o historiador Quentin Skinner deu sua aula inaugural em
Cambridge tendo como tema as ideias de um grupo de autores ingleses
do século 17, como James Harrington, Marchamont Nedham, Algernon
Sidney, entre outros, os quais, inspirados pela leitura de pensadores
romanos, como Salústio, Tito Lívio, Sêneca, Tácito etc., defendiam a
ideia de que só era possível ser livre num Estado livre. A argumentação
inicial se encontra em Salústio, quando afirma que “para os reis, bons
cidadãos são objetos de maior suspeita que os maus, e o virtus de outros
parece sempre alarmante”.
Desse modo, o maior mérito dos regimes republicanos não poderia ser
medido pela sua capacidade de obter poder ou riqueza, mas sim pela de
assegurar e promover a liberdade de seus cidadãos. O pressuposto da
noção de liberdade aqui colocada é a de que o bem por ela representado
pode ser perdido de duas maneiras. Uma, quando o poder do Estado é
usado para coagir o cidadão a fazer o que não está prescrito por lei, o
que caracteriza tirania. Outra, quando, mesmo sem sofrer coerção aberta,
o cidadão permanece numa condição de dependência política, ficando
exposto ao perigo de ser privado da liberdade e até de sua vida. Neste
caso, mesmo que os governantes optem por não exercer a coerção, o
terrível está em que tal opção exista. Quer dizer, o fato de que os
governantes possuam poderes arbitrários a seu alcance implica em
reconhecer que o gozo da liberdade civil está dependente da boa vontade
deles – uma situação que, para os “neorromanos”, equivale a “viver em
servidão”.
Para Nedham, qualquer sistema de poder no qual o direito de cada
homem está depositado na vontade de outro é tirania, processo de
escravização. Sidney considera que basta a possibilidade da sujeição à
coerção arbitrária para que haja imediata perda de liberdade. Os poderes
discricionários dos governantes, mesmo sem ser exercidos, são ameaça
constante aos súditos individuais. Para eles, a menos que cada cidadão
viva sob um sistema de “autogoverno”, isto é, atinente a leis, mas não a
homens, terá de viver como “escravo”.
Está claro, portanto, que os neorromanos repudiam o pressuposto do
liberalismo clássico de que a força é a única forma de interferência na
liberdade individual, pois, para eles, a condição de dependência é
“fonte” e “forma” de constrangimento constante. “Ser escravo” não é
apenas trabalhar sem direito a pagamento ou sofrer coerção brutal, mas
estar em dependência da vontade de outro. Viver em condição de
dependência já implica em limitação drástica do que cada um pode dizer
ou fazer. Quando tal condição se instala na sociedade civil, a principal
“arte” de um cidadão passa a ser, como diz Sidney, “tornar-se
subserviente” e “submisso”. Citando Tácito, afirma que, em tal regime,
todas as “preferências” são dadas “àqueles mais propensos à
escravidão”, o que faz com que os adeptos do poder absoluto sejam
basicamente gente de caráter “obnóxio”.
Na Roma antiga, o termo latino obnoxius era usado para referir os que
viviam a mercê de outros, os “subjugados”, ou, enfim, “os que não
tinham vontade própria”. Relido pelos neorromanos ingleses, o termo
passa a descrever “a conduta servil que se espera daqueles que vivem
sob o domínio de príncipes e oligarquias governantes”. Ou seja, diz
respeito não apenas à fraqueza do caráter privado, mas à combinação
desta com a expectativa estrutural gerada por um Estado que fomenta e
produz a condição de dependência de seus cidadãos em relação a ele.
Neste raciocínio, bajuladores e gente servil não são mera contingência
da vida dos Estados autoritários; ao contrário, são o modelo de cidadão
sonhado por sociedades que não identificam a liberdade do Estado ou a
comunidade livre com o autogoverno de cidadãos.
Ao ler, hoje, teorias com tal exigência de independência do cidadão e
de não interferência do poder na vida privada fora de uma estrita
determinação legal produzida por legisladores representativos, o espanto
é inevitável. Skinner explica-o, em parte, ao observar que, com a
“ascensão do utilitarismo clássico no século 18, e com o uso de
princípios utilitaristas para sustentar boa parte do Estado liberal no
século seguinte, a teoria dos Estados livres caiu cada vez mais em
descrédito, até que, por fim, deslizou quase inteiramente para fora da
vista”. Desde então, quem combate o Estado produtor de obnóxios passa
a ser visto não mais como pessoa honrada, mas teimosa e briguenta; não
enérgica, mas insensível.
Significa que predominou a perspectiva utilitarista que postula que a
liberdade só é ameaçada em situações de coerção aberta ou de
confinamento físico. Significa também que o “obnóxio” se tornou o
modelo global de comportamento individual – o que vale para a vida
civil, e, como não poderia deixar de ser, também para a vida cultural.
coluna
Um palco impregnado de história
WELINGTON ANDRADE
Em decorrência da excelente fase que atravessava a cultura no país nos
anos 1960, a cidade de São Paulo assistiu, naquela década efervescente,
à inauguração de inúmeros teatros. Se, em 1946, a maior reclamação da
classe teatral era a escassez de casas de espetáculo – funcionavam na
cidade à época, de acordo com levantamento realizado por Sábato
Magaldi, apenas três teatros: o Boa Vista, o Santana e o Municipal –,
cerca de duas décadas depois, esse cenário iria mudar radicalmente,
quando a capital paulistana testemunhou em um único ano, 1964, o
surgimento de quatro novos edifícios teatrais: o Teatro da Hebraica, o
Líder, o Esplanada e o Teatro Aliança Francesa.
Inaugurado, ainda de acordo com o registro de um de nossos maiores
críticos e historiadores do teatro, “com um show, em que tomaram parte
Ruth de Souza, Nathalia Timberg, Jô Soares, Sérgio Cardoso e Tônia
Carrero”, o Teatro Aliança Francesa viria a se transformar em um
importante equipamento cultural da cidade, não somente por estar ligado
às atividades de cultura e extensão promovidas por uma instituição com
o estatuto pedagógico e intelectual da Aliança Francesa, mas também
por ter acolhido, em seus cinquenta anos de existência, um bom número
de espetáculos nacionais e estrangeiros que acabaram entrando para a
história das artes cênicas no Brasil.
Na área da dramaturgia brasileira, as bem-sucedidas temporadas de
Fala baixo, senão eu grito , de Leilah Assunção, em 1969, com Marília
Pêra; Um grito parado no ar , de Gianfrancesco Guarnieri, em 1973,
com Othon Bastos; Muro de arrimo , de Carlos Queiroz Telles, em
1975, com Antônio Fagundes; e Bodas de papel, de Maria Adelaide
Amaral, em 1978, com Jonas Mello e Regina Braga, comprovam o vigor
da programação teatral do espaço e a sensibilidade de quem respondia
por ela.
Na esfera do repertório internacional, destacam-se as montagens de A
megera domada , de William Shakespeare, dirigida em 1965 por
Antunes Filho, com Eva Wilma; Morre o rei , de Ionesco, cuja estreia
foi assistida pelo próprio dramaturgo, em 1982; Ascensão e queda da
cidade de Mahagonny , de Bertolt Brecht e Kurt Weill, pelo Teatro do
Ornitorrinco, em 1984; e Solness, o construtor , de Henrik Ibsen,
encenada pelo TAPA em 1988, com direção de Eduardo Tolentino de
Araújo, tendo Paulo Autran à frente do elenco. A respeito do TAPA,
aliás, vale destacar a excelente e profícua experiência de residência
artística que o grupo conduziu no teatro da Aliança por mais de uma
década, apresentando um repertório desenvolvido sob o signo da
perspectiva histórica, característica tão cara à atuação da companhia.
Vale destacar também a importância de um edifício teatral para a
preservação da memória cultural e urbanística da cidade. (A trajetória de
São Paulo pode ser contada por meio da história de seus teatros).
No dia 27 de agosto próximo, o Teatro Aliança Francesa dá início à
comemoração de suas cinco décadas de existência com uma
apresentação especial de Não se brinca com o amor , de Alfred de
Musset (autor por quem Machado de Assis nutria uma admiração toda
especial), dirigida por Anne Kessler, da Comédie Française. Outras
atividades igualmente estimulantes aos amantes da cena teatral, e
também da cultura francesa, estão programadas para este segundo
semestre.
Nos dias atuais, em que os teatros começam a migrar, discreta e
paulatinamente, para os grandes shopping centers da cidade (terá o
fenômeno o mesmo desdobramento do que já ocorreu com as salas de
cinema?), o Teatro Aliança Francesa resiste como um teatro de rua.
Registre-se seu heroísmo. Resiste também como um teatro incrustado no
velho centro de São Paulo, uma região outrora inquieta e boêmia, que
hoje vive abandonada à própria sorte. Registre-se sua altivez. E resiste,
por fim, como um teatro cuja programação investe em um repertório de
grande qualidade, que não faz concessão a nenhuma espécie de
modismo. Registre-se sua mais que bem-vinda prontidão crítica.
Sobretudo em uma época de tantas frivolidades como a nossa.
coluna
A morte no gerúndio
HEITOR FERRAZ MELLO
Antes de morrer, o poeta Carlos Drummond de Andrade havia deixado
uma pasta de poemas com o título “Farewell”. Era a sua despedida
pública e irônica da poesia. O livro foi publicado em 1996, quase dez
anos depois de sua morte. Mas há poetas, ao contrário de Drummond e
sua pastinha de inéditos, que vão se desenraizando lentamente ao
aproximar-se da morte, com consciência de que a indesejada das gentes
já ronda sua morada. Morrer se torna uma arte da palavra: é esse embate
que interessa ao poeta. É o caso do português Herberto Helder, que aos
oitenta e quatro anos, lança mais um novo volume de poemas, A morte
sem mestre , publicado em maio deste ano pela Porto Editora. Ainda no
ano passado, ele já nos havia surpreendido com Servidões , um dos mais
belos livros da língua portuguesa, publicado pela Assírio & Alvim.
Ao ler os dois livros, na sequência, o que se percebe é o confronto do
homem, cuja vitalidade não deixa de surpreender, com o seu fim, com os
dias contados, a “morte no gerúndio”. Não se sabe quando, nem como,
mas a qualquer hora pode ser “interrompida a canção ininterrupta”. Com
o avanço da idade, o ponto de vista muda: não é mais o homem que vê a
morte, mas a morte que passa a olhá-lo, como ele escreve em um dos
poemas de Servidões : “octagenário apenas, e a morte só de pensá-la
calo,/ é claro que a olhei de frente no capítulo vigésimo,/ mas não nunca
nem jamais agora:/ agora sou olhado, e estremeço/ do incrível natural de
ser olhado assim por ela”.
Muito longe de ser um aprendizado para a morte, já que sua poesia
passa longe de qualquer ensinamento ou certeza concreta (sua linguagem
nos propõe enigmas, focos de luz e desconfiança, e não soluções), os
dois livros parecem realizar, com alguma urgência, uma espécie de
balanço da vida. Uma vida, se for possível dizer assim, cuja referência
central é o poema, esse objeto da linguagem que sobrevive ao homem,
ou como ele diz, numa das belas páginas do recente A morte sem mestre
: “Tão fortes que sobreviveram à língua morta,/ esses poucos poemas
acerca do que hoje me atormenta,/ décadas, séculos, milénios,/ eles
vibram, e entre os objectos técnicos do apartamento,/ rádio, tv,
telemóvel,/ relógios de pulso,/ esmagam-me por assim dizer com a sua
verdade última/ sobre a morte do corpo”.
Os dois livros poderiam ser lidos como se um fosse desdobramento do
outro – foi Herberto Helder, uma das vozes mais intensas da lírica
moderna, que sonhou com o “poema contínuo”, uma unidade absoluta,
que envolve corpo e cosmos. Sua obra, desde A colher na boca , de
1961, foi sendo construída nessa continuidade, tanto é que muitas vezes
seus poemas não têm títulos e formam uma sequência, algumas vezes
numerada e em outras não. Tomar a obra completa nas mãos, como
Ofício cantante , é deparar-se com um volume de mais de seiscentas
páginas e que forma um todo: como se fosse um épico do lirismo, pois
se há um núcleo que atrai todos os seus temas é a poesia lírica e seus
questionamentos. Como ele escreveu em Photomaton & Vox , obra em
prosa de 1979, que pode ser considerada sua súmula poética, “É na
linguagem que a experiência se vai tornando real. Sem ela não há uma
efectiva imagem do mundo”.
A poesia de Helder tem essa força e energia que pedem, como ele diz
em seu novo livro, “o bom leitor impuro”, aquele que se envolve em seu
erotismo, sempre tão presente, em seu humor (outra marca dessa poesia
absoluta) e em suas desconcertantes imagens, que abrem brechas no
corpo das palavras, e as tiram do lugar apaziguado em que muitas vezes
se encontram no cotidiano. Como diz Maria Lúcia Dal Farra, em
posfácio para a antologia brasileira O corpo o luxo a obra , publicada
em 2009, pela Editora Iluminuras, com organização de Jorge Henrique
Bastos, a obra de Helder nasce de “uma desconfiança básica do real”, e
ele construiu, como ela diz, “a partir de tal suspeita, uma maneira
absolutamente rigorosa de dizer o arbitrário, um jeito de fazer cada
palavra ser, com segurança, outra coisa que não ela mesma”.
Seus dois livros recentes continuam dando prova de sua inquietação.
O corpo e o sangue ainda correm pela mão, pela caneta Bic com a qual
ele escreve seus versos. A idade não o tornou o ser aplastado e inóspito,
como muitos poetas velhinhos brasileiros e sua rala sabedoria doméstica.
Seu desejo, ou não, já que a contradição faz parte de sua poética, está
belamente expresso num dístico, que é um fragmento de poema de A
morte sem mestre : “e encerrar-me todo num poema,/ não em língua
plana mas em língua plena”.
especial Julio cortázar
Ecologia poética de Cortázar
REYNALDO DAMAZIO
O último livro publicado em vida por Julio Cortázar (1914-1984), no
mesmo ano de sua morte, foi a extraordinária reunião de poemas Salvo
el crepúsculo , com textos escritos ao longo de sua carreira e que o
acompanharam como uma espécie de caderno de anotações à margem da
prosa e de seu percurso intelectual, um contraponto discreto e refinado à
obra de ficção que o notabilizou.
Aquilo que muitos intérpretes consideram, com certa ingenuidade, ser
o teor fantástico, ou surreal, na prosa do autor de O jogo da amarelinha
(“ Rayuela ”, 1963), pode ser entendido também como uma poética
longamente pensada e experimentada na linguagem, sempre
multifacetada, inclusive na crítica e no ensaio. No cerne das imagens
labirínticas e dos enredos aparentemente desconcertantes de Cortázar,
havia a consciência do caráter analógico que está na raiz da poesia e que
confere ao literário um campo de infinitas combinações e surpresas. Para
além da representação do mundo, ainda que sob uma perspectiva autoral,
existe a possibilidade de recriar os fatos, ou simplesmente instaurar
novas dimensões do real, em permanente construção.
O título do livro Salvo el crepúsculo foi retirado de um haicai do poeta
japonês Matsuo Bashô (1644-1694), que diz: “Este caminho/ já ninguém
o percorre/ salvo o crepúsculo”. Escolha de saída emblemática para um
livro que recolhe a maior parte da poesia escrita pelo escritor argentino,
já próximo da morte, perfazendo quase um balanço dessa produção
subterrânea, paralela à ficção. Também é significativa, no poema de
Bashô, a alusão ao caminho abandonado, que pode ser a memória, ou
toda experiência que deixamos passar sem a devida consideração, os
pormenores, o inesperado, a singularidade, o espanto e o encantamento.
Dado que será fundamental para a obra ficcional de Cortázar.
Ao explicar a proposta do conjunto de poemas compilados no livro,
Cortázar afirma que não queria “mariposas presas num cartão”, mas que
buscava “uma ecologia poética”, para observar-se de longe e às vezes se
reconhecer “a partir de mundos diferentes, a partir de coisas que só os
poemas não haviam esquecido e me guardavam como velhas fotografias
fiéis”. Ainda na mesma breve apresentação, o autor revela o critério
bastante subjetivo que utilizou para dar forma à antologia: “não aceitar
outra ordem que a das afinidades, outro cronologia que a do coração,
outro horário que o dos encontros casuais, os verdadeiros”. O tom
pessoal, quase íntimo, parece contrastar com a elaboração sofisticada de
seus ensaios, ou a tessitura experimental e exigente de seus contos, mas
se levarmos em conta a poesia que realizou e suas reflexões sobre o
assunto, é possível notar que existe uma fina sintonia nesse imenso e
original projeto literário, como um fio de Ariadne que conduz a travessia
do poeta e do prosador através da linguagem.
Os poemas de Cortázar falam da própria poesia, do cotidiano, de
mitos e personagens lendários, das vertigens do sentimento amoroso, de
Buenos Aires e Paris, obviamente, da arte, do jazz, do tango, de como o
tempo se torna uma grande fantasia, ou um temível pesadelo, de cenas
banais que se transformam em pequenas epifanias, numa mistura nem
sempre equilibrada de lirismo, melancolia, humor e crítica. As
referências são as mais diversas, no tempo e no estilo, de Rimbaud a
Clarice Lispector, de Yeats a e. e. cummings, de uma canção de Joni
Mitchell a Louis Aragon, de Shelley a Laurence Stern, a lista poderia se
multiplicar e intercambiar ao infinito.
O poeta Cortázar traça correspondências entre coisas do pensamento e
da realidade para mostrar que a razão não é a ordenadora soberana de
nossas condutas e que os modos de entendimento são atravessados pelo
lúdico, pela fantasia, pelo caos dos sentidos que o poético desnuda. Num
curto e belo poema metalinguístico do livro, Cortázar escreve:
“Encharcado de abelhas,/ no vento sitiado de vazio,/ vivo como um
ramo,/ e no meio de inimigos sorridentes,/ minhas mãos tecem a lenda,/
criam o mundo esplêndido,/ esta vela estendida”. A obsessão pela deriva
na história, a mínima, pessoal, e a da sociedade, fantasmagórica, como
se o sentido não estivesse em parte alguma, ou em todo lugar, para
escrever a vida, ou extrair da vida a sua escrita própria, seu discurso
vivo. Fazer com que o vivido se escreva e seja escritura. O escritor é
aquele que cria mundos esplêndidos e vive cercado pelo vazio.
Em outro momento, num dos vários sonetos presentes no livro,
Cortázar define o amor como uma “estátua leal, de costas para o futuro,/
com um nome infinito e repetido/ de pedra e sonho e nada”. Imagem que
lembra o anjo de Paul Klee, citado por Benjamin em suas famosas
“Teses sobre o conceito de história”, de 1940, aqui transplantado para o
cenário amoroso e sua precariedade humana e terrena, em fecho
mallarmaico.
Nessa alternância de formas e dicções, de temas e tons, que pode ir do
mais grave ao coloquial, ou do confessional ao reflexivo, percebe-se nos
poemas de Cortázar a tentativa de dar conta de muitos elementos que
gravitam entre as questões que norteiam sua obra, como a polissemia, o
deslocamento de perspectiva e de foco narrativo, a instabilidade do
discurso racional, o desenraizamento, a sobreposição temporal, a
correspondência de imagens, vozes e ambientação, os cortes abruptos de
clima, ambiente, fluxo discursivo. Em livros como Histórias de
cronópios de famas (1962), Último round (1969) e Prosa do
observatório (1972), é evidente a contaminação da prosa pela poesia, de
uma prosa porosa ao poético, musical e lúdica.
No belo e revelador ensaio “Por uma poética”, de 1954, Cortázar
revela sua visão sobre a poesia e de como ela se estrutura
historicamente, enquanto recurso de linguagem baseado no mecanismo
da analogia, ou da metáfora. A partir da referência a antropólogos, como
Lévy-Bruhl e Charles Blondel, e a muitos poetas, o escritor defende que
a proximidade entre o poeta e o homem primitivo se dá pelo
“estabelecimento de relações sólidas entre as coisas por analogia
sentimental, pois certas coisas são às vezes o que outras são, porque se
para o primitivo existe árvore-eu-sapo-vermelho, também para nós, de
súbito, o telefone que toca num quarto vazio é o rosto do inverno ou o
cheiro de luvas onde houve mãos que hoje moem seu pó”.
Enquanto a progressão da racionalidade eliminou do nosso horizonte
de pensamento “a cosmovisão mágica”, substituída “pelo método
filosófico-científico”, o poeta representa “o prosseguimento da magia
em outro plano”, como um “fazedor de intercâmbios ontológicos”, uma
vez que “o poeta e suas imagens constituem e manifestam um único
desejo de salto, de irrupção, de ser outra coisa”. Essa projeção no outro,
em outra experiência que também é sua, por apropriação ou
transfiguração, leva Cortázar a definir “que todo verso é encantamento,
por mais livre e inocente que se ofereça, é criação de um tempo e um
estar fora do ordinário, uma imposição de elementos”. Até parece que o
autor estava definindo, de maneira oblíqua, sua própria ficção, ou nos
dando uma pista de como o poético estaria na essência de seu processo
criativo, aquela “ecologia poética”, e fertiliza a experimentação com a
linguagem.
Publicado em 2009, com edição de Aurora Bernárdez e Carles
Alvarez Garriga, o livro Papeles inesperados traz um alentado volume
de textos inéditos de Cortázar, guardados pelos herdeiros, com uma
pequena seção final de poemas, demonstrando ainda sua persistente
escrita dessas notas à margem, como a mosca insistente, que o poeta
matou tantas vezes, “em Casablanca, Lima, Constantinopla,
Montparnasse”, em espaços variados, como “um bordel, na cozinha,
sobre um pente, no escritório, neste travesseiro”, tantas mortes
recorrentes do inseto, num quase apelo kafkiano, em que o poeta
confessa: “eu, como minha única vida”.
Ainda naquele ensaio sobre o poético, Cortázar escreve que “a
admiração pelo que pode ser nomeado ou aludido engendra a poesia, que
se proporá precisamente a essa nominação, cujas raízes de clara origem
mágico-poética persistem na linguagem, grande poema coletivo do
homem”. Um trecho do ensaio-poema-diário-de-viagem Prosa do
observatório , entre muitos possíveis, ilustra a preocupação de Cortázar
com a função poética da linguagem: “desde logo a inevitável metáfora,
enguia ou estrela, desde logo cabide da imagem, desde logo ficção, ergo
tranquilidade nas bibliotecas e poltronas; como quiseres, não há outra
maneira aqui de ser um sultão de Jaipur, um bando de enguias, um
homem que levanta o rosto para o aberto da noite ruiva”.
Quando se retirou pelas estradas de Provença em sua perua “Fafner”
para revisar as provas de O livro de Manuel , no verão de 1972, Cortázar
escreveu um livrinho notável de apontamentos, que registram suas
inquietações sobre a própria obra, a vida, a literatura e a realidade ao
redor, não só a da paisagem, como a que vinha pelo rádio, em boletins
de notícias a cada quarto de hora, “o diário de uma rotina de escritor”.
Material precioso e raro para adentrar a intimidade da criação, os
impasses, as referências, a construção da narrativa, dos personagens, a
memória, a porosidade aos fatos, a tragédia nas Olimpíadas de Munique,
poesia e política, histórica e psique, tudo a reclamar “algo como uma
osmose com o circundante”. Poesia como outro lado da moeda da prosa,
“região onde as coisas renunciam à sua solidão e se deixam habitar”, que
pode ser “uma casa tomada”, um “bestiário”, um “octaedro”.
inédito
Último solo
JULIO CORTÁZAR
S ou panamenha e há tempos vivo com Bix. Escrevo e passo para a linha
seguinte: ninguém irá acreditar, se acreditassem, seriam como eu e não
conheço ninguém assim. Não exatamente eu, mas ao menos como eu. O
que é uma vantagem, porque dessa maneira posso escrever sem que me
importe que leiam ou não, que ao final queime isto com o último fósforo
do último cigarro, ou que o deixe abandonado na rua, ou que o dê para
qualquer um, para que faça o que der na telha; tudo estará distante, tão
distante de mim e de Bix.
Escrevo porque não há mais o que fazer e porque é certo ou parecerá
certo para alguém que seja como eu. Existem, esbarro neles perto ou
longe na vida. Nem todos vivem atados ao que lhes ensinaram. Veja,
Rimbaud disse que havia se apaixonado por um porco e os professores
dizem que era um grande poeta, o fazem provavelmente sem convicção,
porque devem pensar assim para não parecerem idiotas. Porém, eu sei
que era um grande poeta e Bix também o sabia, ainda que jamais tenha
lido uma linha em francês e eu tinha que lhe traduzir Rimbaud, ao que
ele colocava a mão na cabeça e ficava pensando, ou ia até o piano e
começava a tocar essa coisa que agora se chama In a Mist e que era sua
maneira de dizer que entendia a poesia francesa, porque entendia
Debussy e como quase tudo lhe chegava pela música, essa era a única
maneira de entender certas coisas, a vida, por exemplo, a ordem disso
que chamo realidade e que ele entendia somente por dó maior ou fá
sustenido, soprando docemente seu trompete ou indo ao piano para
deixar nascer Lost in a Fog, queimando os lábios com o cigarro
esquecido pelas mãos, aranhas que teciam e teciam no teclado até que
tudo acabava em um xingamento e num salto, eu sempre tinha por perto
um tubo de creme para curar-lhe os lábios, depois nos beijávamos
sorrindo e ele voltava a xingar porque lhe doía e porque o trompete ia
lhe doer ainda mais à noite, quando tivesse que tocar no Blue Room por
oitenta dólares a apresentação.
“Vaocaralho”, como dizia tio Ramon, que juntava palavras e as fazia
soar como uma chicotada na bunda, não é que me custe escrever, porque
como não me dou nenhum trabalho e esta máquina desliza, como o rum
que já leva horas deslizando, tudo acontece em uma fita que vejo
sozinha, não porque escreva às cegas, mas nem sequer olho para o papel,
prefiro seguir meus dois dedos que saltam de cima pra baixo, a mão
esquerda que corta a fita e passa para o outro tópico, tenho um abajur
Tiffany que me enche o papel, a cara e as mãos de manchas alaranjadas,
verdes, azuis; escrever é como dançar música lenta com Bix no Phoenix,
ser parte de, ser parte de quê, ser parte disso que nos une a todos, sem
que ninguém saiba que está junto e que somente esta noite estará com as
outras partes, porque ainda que voltemos ao Phoenix, já não será igual,
como as ondas em Waikiki, uma atrás da outra após milhões de anos e
nenhuma igual à outra, quem poderia dizer que uma onda contém o
mesmo número de gotas de água que as outras ondas, ou o formato ou a
alegria ou o desenho da crista ou o jeito de quebrar nessa praia onde Bix
gostava de ficar dormindo e eu fumava observando-o, pequeno e feio,
com aquele quê de alemão que havia se grudado ao maldito sobrenome e
em alguns gestos herdados do pai ou dos tios, os Beiderbecke com suas
árvores de Natal e os bolos perfumados da mãe de Bix, esses eruditos
metidos até a alma em pleno Middle West, alemães com camisas de
cowboys, falando americano e mais patriotas que o próprio Thomas
Jefferson.
“Vaocaralho”, dizia tio Ramon, vaocaralho a Alemanha que nunca
ouviu falar de Bix porque ele já era daqui; nunca entendi porque não
trocava o sobrenome como fizeram outros músicos, Eddie Lang, por
exemplo. Que eu me chamasse Macieira dava uma alegria enorme a Bix,
lhe havia tirado do sério a coisa quando expliquei o que queria dizer, se
contorcia em risos e depois me apertava contra ele e dizia Linda, Linda
Macieira, Linda Macedo, Pé de Maçã, Deliciosa Torta de Maçã, no final,
ficava com Torta de Maçã, e quase sempre depois disso começava a
comer-me porque nada lhe dava mais prazer que o doce de maçãs com
cerveja, me chupava o nariz repetindo “Torta de Maçã”, “Torta de
Maçã”, e eu lhe soprava em plena boca e ele se jogava para trás
maldizendo e me chamando de cretina, esculpindo-me a “Torta de
Maçã” que eu lhe havia deixado na boca, pobrezinho.
Conheci Bix na mesma época em que conheci Omar, na casa de meus
paizinhos (escrevo paizinhos porque me faz sorrir, é cômico falar de
paizinhos quando se pensa nesses escaravelhos peludos que me criaram
entre freiras e me rachavam a chicotadas quando eu vinha aos domingos
e esquecia um absorvente ao lado do vaso sanitário, asquerosa
repugnante – mamãe –, é preciso ensinar o respeito a esta indecente –
paizinho querido–), mas ao menos em casa havia a televisão e alguém
que aos domingo eu poderia esperar sentada na sala, sabendo que Omar
viria me ver, a família querida jogava dominó na sala de jantar e eu
esperava sozinha a hora em que anunciavam Omar e eu ia escorregando
na cadeira e esperava que, mais uma vez, Omar entrasse em primeiro
plano e começasse a falar, a olhar-me, dissimulando com um discurso
qualquer, povo de Panamá, queridos amigos, qualquer coisa para os que
enchiam os estádios e auditórios, porque o que ele queria era somente
me olhar e tinha que dizer as piores baboseiras para que ninguém desse
conta de que havia vindo à TV para observar-me, eu o esperava estirada
no sofá, ele começava a falar, seus olhos de tigre verde me cravavam e
eu lhe sorria, Omar, Omar, deixava ele me observar enquanto levantava
a saia aos poucos, deixando-o ver-me, ia mostrando-lhe tudo, pouco a
pouco, sem pressa, porque Omar ia ficar meia hora dizendo baboseiras
para os outros, mas eu tinha inventado o código, a cada tantas palavras,
escolhia as que Omar estava dizendo somente para mim enquanto me
cravava seus olhos de tigre e lhe tremiam os músculos das têmporas,
suas mãos que se erguiam como que para me alcançar, para fazer o que
eu estava fazendo diante dele enquanto ele olhava e falava.
Pelo espelho era possível ver a porta da sala de jantar e saber em que
momento teria que me endireitar, baixar a saia, Omar compreendia
porque também podia ver pelo espelho da TV, às vezes meu pai, mais
frequentemente minha mãe, que vinha como que desconfiada, ou ambos,
olhando e dizendo esta menina, quem diria que ia se interessar tanto pela
política, se me dissessem a irmã Filotea, mas não é bom nessa idade,
“vaocaralho” dizia tio Ramon da sala de jantar, já largaram a partida
novamente, com vocês não se pode jogar.
Claro que Bix não podia me olhar como Omar, nos tempos de Bix não
havia televisão, mas que importava?, ele chegara no mesmo dia em que
meu primo Freddie voltou dos Estados Unidos com uma pilha de discos
de jazz e começou a querer manusear-me, até que ganhou um soco na
cara que nem te conto, o fez parar longe, depois ficamos amigos porque
conheceu Rosália e os três nos juntávamos na casa de Rosália enquanto
eu escapava das freiras e Freddie nos dava palestras sobre jazz
tradicional, Dixieland e essas coisas, e ia colocando discos, ninguém
sabia nada de Bix e de mim, Freddie falava dele baixando a voz e
contando sua vida, como havia morrido jovem e carcomido pelo gim,
como aquele solo de trompete em I’m coming, Virginia, e Rosália sim,
sim, claro, e então Bix, como Omar, aproveitava para olhar-me à sua
maneira, tocando, somente para mim, cada solo, vindo até a mim pela
música como depois viria e entenderia Rimbaud através de seu piano,
apenas ele e eu, enquanto Rosália e Freddie se beijavam em pleno tutti
de Paul Whiteman, quando Bix apenas se mostrava um momento para
ver-me através daquele solo e dizer-me o que tantas vezes me diria
depois, “deliciosa torta de maçã, tortinha de maçã, doce torta de maçã”.
Entre eles não havia incômodo, a cada tantos domingos Omar vinha
ver-me pela TV e Bix na casa de Rosália, roubei um dos discos de
Freddie para ouvir sozinha em casa, mamãe reclamava, essa música,
menina, parece coisa de negros, onde está a melodia?, tira esse horror ou
te tomo à força, o escondia cada vez em um lugar diferente e, no final,
meio que iam se acostumando a Jazz me Blues, que era justo o que eu
ouvia baixo em meu quarto em um toca-discos imundo que Juanita Leca
havia me emprestado, quando foram ouvidos os gritos de papai, que
falava ao telefone com tio Ramon e falavam de Omar, não entendia
porque papai engasgava, falava de notícias no rádio, e quando entendi e
soube que o helicóptero havia se estatelado e que buscavam o corpo de
Omar, fiquei como se me tirassem todo o sangue, o disco com Jazz me
Blues girava e girava em silêncio, tirei-o do prato, o abracei e vi pelo
espelho a tela vazia da TV e sem mais nem menos já não me veria, tinha
os olhos feitos em pedaços, já não me veria nunca mais.
Na sala, mamãe chorava aos gritos, deixei o disco em uma mesa e saí
para caminhar pela rua, cheguei às freiras, me meti em meu quarto e
somente bem mais tarde lembrei que havia abandonado o disco, que
tampouco Bix me veria se o perdesse e de repente não importava se
fosse quebrado ou jogado fora, como fizeram em seguida os
escaravelhos peludos.
Não importava nada porque algo aconteceu naquela noite, que eu
mesma não sei, não é que não queira escrevê-lo, mas não sei, algo como
se Omar tivesse me levado com ele, vá saber para onde, e tudo deixou de
doer, creio que dormi ou que sonhei acordada tudo isso, de repente não
havia tempo nem Omar, senti o primeiro aviso de minha menstruação, o
repuxo suave que sempre me exasperava por todo o trabalho com os
absorventes e o resto, mas agora não, era como se afinal compreendesse
que Omar me mostrava um caminho, como se nunca houvesse estado
apaixonado por mim e, em troca, me mostrasse outra coisa, uma forma
de me fazer entender que Bix seguiria sempre ali, que somente Bix
seguia agora, ali, e que tudo dependeria de que fosse buscá-lo como
nunca buscara a Omar, que apenas me observava pela TV, mas sem
outra coisa, sem isso que agora eu sentia no peito, no ventre que
começava a doer-me mais e mais, isso que escrevo sem compreender e
que é como se Omar me mostrasse o caminho para chegar a Bix.
Sou panamenha e tenho quarenta anos. Não havia completado dezoito
quando encontrei Bix, depois disso que anda mais acima da página e que
não releio porque sei que não posso dizer nada a ninguém ou a quase
ninguém (escrevo por esse “quase”, suponho, o que importa?). Já então
era o que os escaravelhos peludos (um deles já estava morto) chamavam
de puta, ou seja, que aos dezessete, e no último ano com as freiras,
aceitei o encontro com Pedro, aquele da garagem, que tinha talvez vinte
e cinco anos, mas que me agradava talvez porque era menino como Bix
nas fotos e, além do mais, fui ao seu quartinho encardido levando um
disco de Bix que o fiz colocar enquanto ele tirava minhas roupas e terá
sido casualidade, mas quando justamente comecei a gritar de dor, Bix
entrava em seu solo de Royal Garden Blues e segui gritando, porém
agora a dor se transformava, se enchia de ouro, finalmente era de Bix,
era assim ainda que o estúpido do Pedro me bajulasse com o orgulho de
ter-me cravada em sua cama e desejasse começar de novo e eu lhe
dissesse ok, antes volte a pôr um disco, e ele ficava me olhando como
que pensando que eu era um tanto idiota ou anormal.
Por duas vezes disse que sou panamenha, o que parece coisa de novata
na máquina, mas é que somente repetindo isso posso seguir adiante e
chegar logo a essa cidade de Ohio ou de Maryland onde estavam
tocando Bix e seus rapazes, é isso o que me obriga a chapar tudo isso
com palavras como às vezes me chapo com hash, porque isto também
sois vós e não sei, te digo como se te acariciasse o sexo ou te lambesse
devagar a orelha, não sei, mas queria tanto que não fizesses perguntas,
não peço que acredite porque tampouco eu acredito, não se trata de
acreditar ou não acreditar e sim pensar que é possível não ser um
escaravelho peludo e deixar que as coisas aconteçam na página como à
sua maneira está acontecendo na rua ou na praça aqui ao lado.
Naquela noite não foi possível me aproximar de Bix porque havia
gente demais, porém, na manhã seguinte, o encontrei no restaurante do
hotel bebendo um café, meio que perdido em algo que devia interessar-
lhe no teto, e sem pedir permissão sentei na cadeira logo em frente, pus
minha mão sobre a dele e disse: sabe, quero que saibas, já faz tanto
tempo que me observas que não posso mais. E lentamente ele baixou os
olhos do teto, dava para sentir que o olhar deslizava no ar como uma
frase de trompete e ele disse ok, se é assim, por que não toma um café
comigo e me observa?
Para mim, Freddie havia explicado que Bix havia sido, como direi, um
cara problemático, ainda que ninguém parecesse saber grande coisa do
que lhe passava, simplesmente não era feliz e, fora o jazz, vivia sozinho,
ao lado de muita gente, é claro, porém sozinho e bebendo cada vez mais.
Não sabíamos e também os outros músicos não sabiam se se resolvia
com putas ou não funcionava bem com mulheres, mas havia tido uma
espécie de namorada salvadora, na qual todos depositavam enorme
confiança como acontece sempre quando se quer bem a um amigo que
anda fodido e se acha que esse tipo o irá salvar de andar como um
vagabundo. Mas isso foi depois, agora Bix andava só em todas as rodas
com a orquestra e desde as cinco da tarde os olhos iam ficando de vidro,
Trum e os outros tinham que vigiá-lo para que não desaparecesse do
hotel na hora do trabalho. “Torta de Maçã”, disse quando lhe expliquei
meu nome, é quase pior que meu nome, sim, vamos ao caso.
Como não falava muito, precisei inventar qualquer coisa e comecei a
mencionar discos, que afinal era unicamente de onde ele havia me
observado até agora, e vi que balançava a cabeça e que em alguns
momentos parecia não entender alguns nomes; quando me dei conta do
porquê – foi algo que tive que aprender aos poucos, tão difícil não falar
do que eu queria, mas ele não, por exemplo, a namorada salvadora —,
bem, então comecei a falar do show da noite anterior e disse que iria ao
próximo. Torta de Maçã, disse Bix, espero que não sejas uma dessas
fanáticas que não perdem um, é algo que nunca pude suportar, duas
vezes o mesmo rosto no meio da plateia me tira até a vontade de viver,
sinto como se fosse necessário repetir os solos que toquei na noite
passada e isso é algo que não farei jamais na vida. Ainda que, sabe-se lá,
disse olhando a xícara vazia de café, quem sabe numa dessas noites não
começo a copiar a mim mesmo, não seria o primeiro.
— Não quero ser um rosto para você — disse maliciosamente, e
adoraria que ele tivesse me chutado por debaixo da mesa. Comprarei
perucas, não me reconhecerás jamais.
— Adeus — disse Bix, jogando algumas moedas sobre a mesa e me
dando as costas.
Naquela noite sentei junto ao palco e nem sequer troquei o vestido. O
vi entrar atrás dos outros e me ver quase em seguida, cravando-me os
olhos, e depois aconteceu algo estranho: Bix levou o trompete à boca
como se fosse aquecê-lo pouco antes de começar e quase num sussurro
tocou três ou quatro compassos de seu solo em Jazz me Blues. Lembro
que naquela noite esse tema não foi tocado, era para mim e soube que
Bix havia me perdoado. O segui na roda, mas sem nunca me aproximar
dele, na quarta apresentação tocou no meu ombro e no intervalo me
mostrou o bar com um...
Tradução de Cassiano Viana.
retrato do artista Marcelo Ariel
Territórios mutantes: a poesia de Marcelo Ariel
CLAUDIO DANIEL
Marcelo Ariel é um estudioso de tradições filosóficas do Oriente, como
o sufismo, o budismo, o taoísmo, e um leitor atento de autores
considerados herméticos, como o romeno Paul Celan, o inglês William
Blake e o português Herberto Helder, com quem compartilha o intenso
lirismo amoroso e uma visão herética da espiritualidade, que celebra o
corpo, a vida e o estar no mundo, com toda a sua beleza e crueldade. O
autor, que vive em Cubatão, cidade industrial da Baixada Santista,
pertence, cronologicamente, à chamada Geração 90, mas só começou a
publicar os seus poemas em livro na década seguinte, sempre por
pequenas editoras: Me enterrem com a minha AR15 saiu em 2007 pela
Dulcineia Catadora, numa bem cuidada edição artesanal, e o Tratado
dos anjos afogados saiu em 2008, pela Letra Selvagem. Nessas obras, o
poeta retrata um duro cotidiano de chacinas, favelas incendiadas e
desastres como o conhecido episódio de Vila Socó, em 1984, provocado
pelo vazamento numa das tubulações da Refinaria Artur Bernardes, que
destruiu quinhentas moradias populares e causou centenas de mortes (o
número permanece desconhecido até hoje). No poema Vila Socó
libertada, por exemplo, o autor escreve: “(depois do fogo)/ no outro dia/
(sem poesia)/ as crianças (sub-hordas)/ procuram no meio do desterror/
botijões de gás/ para vender”. Em outra composição, intitulada “O soco
na névoa”, Marcelo Ariel, utilizando técnicas de closes, cortes e
montagens da linguagem narrativa do cinema, escreve: “No jardim
esquizocênico,/ Nas balas perdidas,/ No perfume/ das granadas/
explodindo no bar/ das Parcas:/ Num Eclipse-invertido/ seguido de uma
chuva fina por dentro/ do olhar/ da criança recém-esquecida/ nesse bar-
iceberg para o ‘Bateau Ivre’ no sangue/ dos amantes-kamikazes”.
INSÓLITAS SENSAÇÕES E PAISAGENS
O desenho ácido da violência urbana, porém, é apenas uma das facetas
da obra de Marcelo Ariel. O livro Retornaremos das cinzas para sonhar
com o silêncio (São Paulo: Patuá, 2014) reúne boa parte da produção do
poeta e é uma excelente oportunidade mergulharmos nesse universo de
insólitas sensações e paisagens, construídas por um hábil artesão que
sabe explorar a dimensão sonora, visual, quase tátil, das palavras, em
composições como esta: “só o silêncio/ intocado o enobrece,/ mas não/
queda-silêncio-esquecimento/ do lugar-esquife,/ ou queda-silêncio-
equívoco/ apenas/ queda-símbolo/ para o alto-fundo-horizonte-escuro/
de seu Letes”. O uso dos travessões e dos cortes sintáticos, além da
estranheza com que revestem o discurso, confere agilidade ao ritmo
prosódico das linhas e cria ideias pela inusitada associação de termos
(lugar-esquife, queda-silêncio-equívoco). O poeta não deseja apenas
despertar uma planejada reação emocional ou sensorial no leitor, mas
também convidá-lo à reflexão, à cumplicidade intelectual capaz de
reconstruir o poema, descortinando outras possibilidades de leitura e
interpretação. Suas imagens poéticas são altamente sugestivas,
aproximando-se tanto da tradição barroca quanto do simbolismo e do
surrealismo – relidos pelo poeta de maneira livre, pessoal e instigante.
Fazendo um paralelo entre a linguagem poética de Marcelo Ariel e a de
Herberto Helder, Claudio Willer observa: “Em comum com o
extraordinário poeta português, a fusão ou hibridação de objetos e seres
vivos, a ruptura de limites das coisas e dos corpos, as imagens luminosas
como ‘osso do oceano’”.
Será o Paraíso ou Isto não é um Salmo
Ó Energia destilada do invisível
nadando em círculos no visível, sereno
o esqueleto
a visita
Ó pano do sono acordado
este sudário
chamado ‘eu te amo’
deixa marcas telegráficas
no corpo,
no âmbar de tua face,
no tempo e em suas entranhas
onde miríades de chamas
cantam no corpo as cinzas da infância
e os olhos dominados
por essa névoa
que do Nada até a Luz
sobe
‘Se tens razão, usa somente o coração’
canta o arco-íris branco
dentro da mão
até que sem pele
e sem ossos
o silêncio acorde
nosso verdadeiro corpo
de sonho, horizonte e pó de ouro
Nas cidades vazias
dominadas
pelo azul-breu
uma flôr ajudará a não-pensar
estes que não verão mais
com os olhos
mas através dos olhos
Te saúdam
Ó Fronteiras entre os países
dissolvidas por um beijo
dissolvidas por um beijo
Sim, José sonhou antes
com esta migração da voz
dos profetas para o centro
de nossa leveza olvidada
ser ampliado até alcançar a compaixão
do próprio ar
servindo de escada
para a luz
do nosso olhar
depois disso
o fim da economia
a extinção das categorias sombrias:
A guerra, o relógio e o dinheiro
Será melhor do que o Paraíso
e no fundo do nosso ser
sempre soubemos disso
porque podemos pensar
com falso triunfo e pesar
e profundo sorriso
que nenhum de nós
estará lá
A Palestina visitada por Arcanjos
O canto dos pássaros
mais alto do que o barulho
das explosões
Bancos quebrados
no lugar de ossos
Soldados com flautas
no lugar das armas
deitados nos campos
debaixo da sombra das árvores
Difícil será distinguir quem
está flutuando de quem está caminhando
Judeus, árabes e ciganos
misturados
festejando
o fim das fronteiras
entre o Estado como obra de arte
e o Éden reencontrado
perfil Beatriz Preciado
A política do desejo
CARLA RODRIGUES
U m pênis de borracha, um vibrador, uma prótese, um suplemento. Um
consolo, como se diz na linguagem popular. É a partir desse objeto que
Beatriz Preciado começa aquilo que se tornou seu texto mais famoso e
mais instigante, o Manifesto contrassexual: práticas subversivas de
identidade sexual , tradução livre para o título de seu primeiro livro,
lançado em 2000 na França, onde ela vive e trabalha; na Espanha, onde
nasceu, em 1970; e nos EUA, onde se formou. O pênis de borracha é
evocado como noção conceitual para cumprir função análoga à mais-
valia no pensamento de Karl Marx. “Tomando partido da estratégia de
Marx, esta pesquisa sobre sexo toma como eixo temático a análise de
algo que pode parecer marginal: um objeto de plástico que acompanha a
vida sexual de certas lésbicas e de certos gays queers , e que até agora
foi considerado como uma ‘simples prótese inventada como paliativo
para a incapacidade sexual das lésbicas’. Estou falando do dildo ”,
escreve ela. Dildo é um termo em inglês que poderia ser traduzido por
consolo em português, mas também em espanhol, e a decisão de
Preciado de mantê-lo em inglês vem da sua possibilidade de dupla
significação como designação para pessoa estúpida e desprezível.
Repete, aqui, o gesto de ressignificação de queer – de ofensivo a
transgressivo (veja dossiê a partir da página 30).
Dali em diante, virá aquilo que chamo de política do desejo, em dois
sentidos possíveis do termo. Preciado se apresenta como autora de uma
política do desejo, e encarna, ela mesma, a figura de uma ativista política
do desejo. Dessa dupla injunção sai um trabalho cujo princípio é a
retirada da natureza como dado ordenador do pensamento sobre a
sexualidade, questão debatida por um conjunto de pensadores nos quais
Preciado se inspira, ao mesmo tempo em que deles se afasta.
Preciado fez sua graduação em teoria de arquitetura na Universidade
de Princenton e sua pós-graduação em Filosofia e teoria de gênero na
New School for Social Research, em Nova York. Voltou para a Europa
– mais exatamente, para a prestigiada Escola de Altos Estudos – a
convite do filósofo Jacques Derrida, de quem foi aluna no final dos anos
1990. Hoje leciona na Universidade Paris 8 e dirige o projeto
“Tecnologias de gênero” no Museu de Arte Contemporânea de
Barcelona. Sua inserção universitária é feita a partir do questionamento
dos cânones acadêmicos, assim como seu debate com a teoria feminista
se dá numa perspectiva de crítica. É nesse ponto que vale a pena situá-la
não apenas como uma aluna prodígio de Derrida – ênfase muito comum
nas pequenas biografias que circulam sobre ela – mas sobretudo como
uma herdeira de algumas posições mais radicais do pensamento pós-
estruturalista francês.
Quando se vale de um pênis de borracha como objeto central de seu
discurso contra a naturalização da diferença sexual, Preciado recorre a
dois termos a partir dos quais se pode aproximá-la de Derrida:
suplemento e prótese. É no contexto da publicação de Gramatologia ,
em 1967, que o filósofo franco-argelino funda aquilo que Patrice
Magnilier chama de um “verdadeiro momento filosófico”, ao qual a
filosofia do século 20 voltará incessantemente. É ali que, entre outras
questões, Derrida propõe repensar a noção tradicional de escrita como
mero suplemento da fala, esta sim, imediatamente ligada à verdade, para
pensar a ordem do discurso como suplemento ou prótese. “A
contrassexualidade recorre à noção de suplemento, como foi formulada
por Derrida, e identifica o pênis de borracha como o suplemento que
produz aquilo que supostamente deve completar”, postula Preciado no
manifesto.
Quando uso a expressão “ordem do discurso” estou buscando uma
aproximação com outro filósofo marcante na trajetória do pensamento
de Preciado, Michel Foucault. Deste francês ela se vale para pensar uma
definição biopolítica dos corpos e a produção do gênero, do sexo e da
sexualidade como técnicas de domínio criadas na modernidade, com as
quais Preciado quer romper. Faz disso uma estratégia intelectual, sem
dúvida, mas também uma forma de pensamento encarnado, expresso no
“próprio” corpo, aspas aqui para indicar a impossibilidade dessa
“propriedade” tão tida como natural.
Estamos de volta ao pênis de borracha e sua simbolização de
suplemento, daquilo que interroga a propriedade do masculino como
lugar de posse e propriedade, e automaticamente, nas formas opositivas,
lançaria o feminino como lugar de ausência e impropriedade. Se, como
bem observa Marie-Hélène Bourcier no prefácio do manifesto, é a partir
de deslocamentos que o pensamento de Preciado se escreve, esses pares
cuja integridade parecia se manter ainda intacta são o alvo de seus
deslocamentos. Geográficos, linguísticos, temáticos. Seja como ativista,
seja como artista, seja como acadêmica, interessa a Preciado interrogar a
produção de identidades sexuais e a normalização da heterossexualidade,
projeto que a Teoria queer na qual ela se inclui pretende confrontar.
Voltamos ao pênis de borracha, agora na aproximação da noção de
mais-valia no pensamento marxista. Que não se enganem os críticos de
Preciado ou da Teoria queer – e são muitos –, porque não há
ingenuidade nessa analogia. Ao contrário, de fato a crítica ao
capitalismo e a sua força normalizadora de corpos, comportamentos e
discursos será o motor do pensamento da autora. Capitalismo aqui
entendido como estrutura de subordinação a um projeto heterossexual,
normativo, de corpos a serviço da produção e da reprodução, projeto
fundamentado em um ideal de natureza questionado pelo pênis de
borracha como noção política mobilizadora. Contrassexualidade passa a
ser, assim, uma forma de repensar a naturalidade dos corpos, e por isso
apresentada em forma de um manifesto – a exemplo dos manifestos das
vanguardas artísticas do início do século 20 –, que postula a
inautenticidade da origem, a impropriedade do próprio.
Chega aqui o momento de indicar uma das singularidades da obra de
Preciado. Irreverente e transgressora, ela encarnou o questionamento
sobre identidade de gênero numa experiência em que se fez cobaia.
Durante duzentos e trinta e seis dias, se auto-aplicou testosterona, o
hormônio produzido pelos testículos, sem seguir nenhum tipo de
protocolo médico prévio. “Com esta intoxicação voluntária, quis mostrar
que meu gênero não pertence nem à minha família, nem ao estado, nem
à indústria farmacêutica. É uma experiência política”, escreve ela no
livro em que narra o que chamou de droga sexual. Os efeitos também
foram políticos. Com a testosterona, sentiu-se mais lúcida, enérgica,
desperta, e passou a se perguntar por que esses efeitos devem ser
considerados “masculinos”.
“Tomei a testosterona não para me tornar homem, mas para
acrescentar uma prótese molecular à minha identidade transgênero”,
relata em Viciada em testosterona: sexo, droga e biopolítica na era da
farmacopornografia , tradução livre para Testo Junkie: Sex, Drugs and
Biopolitics in the Pharmacopornographic Era , publicado em 2008 na
França e ampliado na edição americana, em que Preciado desenvolve a
noção de farmacopornografia. Trata-se de um mecanismo ampliado dos
dispositivos disciplinares identificados por Foucault. Para vigiar o corpo,
observa ela, já não há mais necessidade de hospital, quartel ou prisão,
porque, com os hormônios sintéticos, as técnicas de controle se instalam
no corpo, ferramenta definitiva da vigilância.
“O corpo tem um espaço de extrema densidade política, é o universal
no particular. Trata-se de resistir à normalização da masculinidade e da
feminilidade em nossos corpos, e de inventar outras formas de prazer e
de convivência”, argumenta Preciado, cujas imagens do rosto com certo
ar andrógino, marcado por um fino bigode, confirmam a ideia de uma
política encorpada.
Herdeira muito próxima da filósofa Judith Butler – apenas quatorze
anos mais velha que Preciado –, um ponto as separa. Preciado bebe
numa fonte anarquista espanhola que molda de maneira diferente sua
entrada no debate sobre gênero. Nesse ponto, se pode voltar pela última
vez ao pênis de borracha, o dildo inspirador do Manifesto contrassexual
. Quando Preciado nasceu, em 1970, o debate da segunda onda feminista
já ia avançando em torno da necessidade de distinção entre sexo/gênero,
instrumento teórico estratégico para apontar a fabricação de uma
diferença sexual que fundamentava o ontológico no biológico. Nos anos
1990, quando Preciado ainda está começando seus estudos em torno da
questão, Butler publica o seu hoje consagrado Problemas de gênero ,
marco da necessidade de questionamento da distinção sexo/gênero como
ainda ligada ao modelo heteronormativo. Neste contexto, Preciado chega
para propor uma contrassexualidade que afirma o desejo não mais
limitado ao prazer sexual proporcionado aos órgãos reprodutores – que
fundamentariam a diferença sexual –, mas uma política do desejo capaz
de sexualizar todo o corpo, lugar de resistência a toda normatividade.
dossiê Teoria queer
Nossos corpos nos pertencem
N o sentido tradicional, “teoria” designa um conjunto de saberes que
pretende compreender os acontecimentos, demostrando e definindo
como as coisas são. Por ter como objetivo colocar-se fora desse registro
tradicional, a Teoria queer apropriou-se de um termo – queer – capaz de
singularizá-la. Designação pejorativa para gay, queer poderia ser
traduzido por “bicha” ou “viado”, carregados do preconceito e da
violência contra homossexuais. É parte de uma estratégia teórica valer-
se da significação preconceituosa a fim de criticar teorias que
pretenderam dizer como as coisas são, sem perceber que a descrição
teórica do mundo não se dá de forma neutra, mas está comprometida
com um projeto de poder normativo e regulador.
Este dossiê temático reúne três artigos e duas entrevistas com
pensadores identificados com a Teoria queer, a fim de mostrar sua
amplitude – o queer atravessa áreas de saberes como a sociologia, a
filosofia, a história, a antropologia e a comunicação –, sua relevância
política e sua importância contemporânea ao afirmar o corpo como
objeto de regulações e campo em disputa. Suas origens estão nos
movimentos libertários dos anos 1970, como conta o sociólogo Richard
Miskolci em um artigo cujo conteúdo histórico se mistura a uma arguta
análise crítica. Entre os aspectos que impulsionam o surgimento da
Teoria queer estão autores que passam a pensar o exercício da
sexualidade como política e uma produção acadêmica que percebe a
necessidade de problematizar a heterossexualidade, ressignificada como
heteronormatividade.
Ao mapear escolas e autores, Richard Miskolci aponta para uma
pesquisadora brasileira, Guacira Louro Lopes, pioneira nos estudos
queer no país, na tradução de autoras como Judith Butler e Joan Scott, e
detentora de uma especificidade que marca a sua entrada nesse campo de
estudos: sua articulação com a área da educação. Em entrevista a Carla
Rodrigues, ela explica o termo queer como “uma espécie de disposição
existencial e política, um conjunto de saberes que se construíram e se
constroem fora das sistematizações tradicionais”. Subversivo e
provocador, o queer pretende questionar o que costuma ser
inquestionável e levou Guacira a repensar não apenas os currículos,
programas e estratégias da educação, mas a educação no seu sentido
mais amplo.
Se a emergência dos estudos queer se dá a partir do questionamento
de uma ideia de natureza que fundamenta a sexualidade – ideia que
emerge da crítica a pares opositivos como natureza/cultura,
feminino/masculino, normal/patológico, sexo/gênero –, a socióloga
argentina Letícia Sabsay, entrevistada por Andrea Lacombe e Emma
Song, desenvolve esse e outros argumentos para discutir um dos
aspectos mais radicais da Teoria queer: denunciar a restrição das
liberdades em relação ao que fazemos com nossos corpos, como
queremos e como podemos usá-los. Lutar contra a normalização torna-se
uma pauta para além dos interesses específicos de homossexuais e
amplia-se como uma questão política contemporânea.
Em seguida, o artigo de Berenice Bento discute dois pontos essenciais
para o dossiê. Primeiro, a dificuldade de tradução do termo queer. Seu
uso em inglês apontaria para uma subordinação aos teóricos norte-
americanos, o que contradiz a ideia de um pensamento contra-
hegemônico. Ainda assim, Berenice tem argumentos interessantes para a
manutenção de queer. O segundo ponto notável de seu artigo é o debate
sobre pessoas trans, aquelas cujos corpos interrogam a naturalização dos
gêneros imposta a partir da existência de uma determinada genitália.
Encerra o dossiê o texto de Karla Bessa, ao recuperar nos estudos
fílmicos imagens que interrogaram a sexualidade além dos modelos
tradicionais do amor romântico, heterossexual, monogânico e conjugal.
Nas telas e nos textos, o espírito transgressor da Teoria queer. Os
gêneros, padrões, modelos e normas que atravessam a sexualidade fazem
dela um caminho único de interrogação do capitalismo pela sua face
mais perversa, a do controle da singularidade dos corpos.
Crítica à hegemonia heterossexual
RICHARD MISKOLCI
A s origens da Teoria queer remontam ao fim da chamada Revolução
Sexual, dos movimentos liberacionistas feministas e gays e do – hoje
sabemos – curto período de despatologização da homossexualidade,
retirada da lista de enfermidades da Sociedade Psiquiátrica Americana
em 1973. No início da década de 1980, Monique Wittig analisava a
mente hétero, Adrienne Rich denunciava o caráter compulsório da
heterossexualidade enquanto Michel Foucault trabalhava nos volumes
finais de sua história da sexualidade, quando emergiu a epidemia de
AIDS e, com ela, o maior pânico sexual de nossa história.
A homossexualidade passava a ser repatologizada em termos
epidemiológicos. Deixara de ser vista como uma forma de loucura, mas
passava a ser encarada como suposto vetor de contaminação coletiva.
Néstor Perlongher abre seu livro O que é AIDS? (1987) afirmando que
um fantasma rondava o Ocidente, portanto, parafraseando Marx e Engels
em O Manifesto Comunista , para analisar o que criava o espectro do
desejo homossexual. Seu feito nesse livro curto e certeiro foi
compreender a epidemia em seus aspectos político-sociológicos
sublinhando como a AIDS servia de subterfúgio para uma perseguição
renovada ao desejo homossexual e um reordenamento da sexualidade
sob o controle heterorreprodutivo.
Foi em meio ao refluxo conservador detonado pela epidemia que
pensadores/as de diversos países desenvolveram análises inovadoras
sobre a hegemonia política heterossexual. Enquanto no Brasil, em meio
ao retorno à democracia, discutia-se a criação de um sistema universal
de saúde e desenvolveram-se respostas públicas à epidemia que, mais
tarde, resultariam em um dos melhores programas de AIDS do mundo,
nos Estados Unidos a resposta governamental à urgência de saúde
pública foi desarticulada e empreendedores morais reeditaram cruzadas
anti-homossexuais.
Lá, a resposta da sociedade civil foi a criação de movimentos como o
ACT-UP e o Queer Nation e, ao mesmo tempo, na academia, muitos/as
intelectuais passaram a refletir sobre o cenário político e cultural em
que, de forma renovada e potencializada, a homossexualidade ressurgia
como uma espécie de ameaça à coletividade. No Brasil, Perlongher foi
uma voz quase solitária em seu radicalismo político que denunciava os
intuitos biopolíticos que ganhavam força e passavam a moldar até
mesmo a área de pesquisa em sexualidade. Em muitos outros países,
vozes como a de Perlongher ecoaram enquanto no contexto norte-
americano chegaram a formar um conjunto mais ou menos articulado de
intelectuais cujas reflexões, a partir de 1991, começaram a ser chamadas
de Teoria queer .
O uso de uma injúria ( queer ) dirigida a homossexuais e, em especial,
a dissidentes de gênero, para denominar uma corrente de reflexão denota
o impulso ressignificador e insurgente que dava origem a um
pensamento radical sobre a sexualidade. É possível compreender a
Teoria queer como um rótulo que busca abarcar um conjunto amplo e
relativamente disperso de reflexões sobre a heterossexualidade como um
regime político-social que regula nossas vidas. Tratam-se de regulações
sexuais e de gênero socialmente impostas que criam e mantêm
desigualdades de toda ordem, em especial no menor reconhecimento
político e de direitos daquelas pessoas cuja sexualidade e/ou o gênero
entram em desacordo com as normas vigentes. A ordem política e
cultural da heterossexualidade compulsória garante os privilégios
políticos, culturais e até econômicos daqueles/as que vivem dentro de
suas prescrições.
Desde fins da década de 1960, autores/as em diversos contextos
nacionais começaram a compreender a sexualidade como política e
socialmente criada, portanto não mais como sendo da esfera do
biológico, psíquico ou natural. No entanto, boa parte dessa produção
acadêmica emergente se configurou como estudos de minorias, os quais
– no intuito de criar pesquisas sobre sexualidades dissidentes – deixaram
de problematizar a heterossexualidade. Em outras palavras, até contra
seus intuitos, boa parte dos estudos gays e lésbicos serviram para reiterar
a visão hegemônica de que a heterossexualidade seria a ordem natural do
sexo.
O feito do pensamento queer foi superar esse enquadramento criando
um pensamento político voltado para a crítica da ordem social como
também uma ordem sexual. Autores/as como Eve Kosofsky Sedgwick,
Judith Butler, David M. Halperin e Michael Warner forneceram um
novo vocabulário para compreender sexualidade, gênero, desejo e
relações de poder. Termos como “heteronormatividade” e
“heterossexismo” e noções como a de uma epistemologia do armário e a
de uma matriz heterossexual alargaram nossa compreensão da
sexualidade e do gênero, suas articulações, assim como suas relações
com outras diferenças e desigualdades.
No final do milênio algumas pesquisadoras brasileiras começaram a
incorporar criativamente esse vocabulário, dentre as quais se destaca
Guacira Lopes Louro, profissional da área da educação que travou
contato com fontes queer durante um período de pesquisa na
Universidade da Califórnia. Louro sintetizaria suas reflexões em um
influente artigo publicado na Revista Estudos Feministas, em 2001:
“Teoria queer : uma política pós-identitária para a educação”. A
acolhida dessa vertente de pensamento na área educacional tem relação
direta com o processo de universalização do ensino básico no Brasil e a
consequente emergência de problemáticas de gênero, sexualidade e raça-
etnia sufocadas durante o regime militar.
A recepção brasileira da Teoria queer se deu – desde o início –
articulada às nossas necessidades e problemáticas buscando incorporá-la
em práticas sociais. Na década de 2000, a disseminação queer se deu de
forma progressiva e transversal nas mais diversas áreas do
conhecimento: da educação passando pela sociologia, a psicologia, a
comunicação, a antropologia, a história, a linguística e ecoando até em
áreas mais sisudas como o direito. Em 2007, com a publicação da
primeira compilação de estudos queer brasileiros na revista Cadernos
Pagu , já estava consolidada nossa incorporação de um novo léxico
teórico, a expansão do espectro de sexualidades reconhecidas e se
antevia uma possível sofisticação das demandas políticas envolvendo as
homossexualidades e as dissidências de gênero.
A CRÍTICA À TEORIA SOCIAL
Atualmente, questões de gênero e sexualidade ganham reconhecimento e
centralidade em pesquisas nas mais diversas áreas do conhecimento e,
graças às fontes queer , não apenas na forma do estudo de supostas
minorias sexuais, antes questionando a própria pressuposição de que a
heterossexualidade seria a ordem natural do desejo. Há pouco mais de
duas décadas, a hegemonia heterossexual passou a ser contestada não
apenas em termos políticos, mas inclusive como tendo delimitado por
mais de um século o que compreendemos como a sociedade ou a cultura.
As ciências humanas construíram seu campo de investigação, teorias e
conceitos assentados na heterossexualidade. A antropologia, a ciência
política e a sociologia partiram da pressuposição de que a
heterossexualidade instituía os limites da vida social e do que seria
possível investigar. Até mesmo a psicanálise, com sua noção mais
dinâmica de sujeito, mesmo despatologizando o desejo homossexual
criou teorias que apontam para a heterossexualidade como o
desenvolvimento esperado e normal do sujeito. Em comum, ciências
sociais e psicanálise partilham de uma ontologia do social baseada em
um suposto tabu do incesto, o qual além de nunca ter sido efetivo serviu
para ocultar uma outra proibição primária: a do desejo homossexual.
As ciências humanas, desde fins do século 19, delimitaram o social e
o psíquico como sinônimos de heterossexualidade, no fundo, uma ordem
política e social fundada no desejo masculino voltado para a reprodução.
Dentro desse círculo mágico sob o controle masculino e heterossexual
formas de desigualdade de gênero e sexuais foram – no máximo –
abordadas como questões minoritárias, leia-se secundárias e apenas
solucionáveis sob a ótica dominante. A Teoria queer , bebendo nas
fontes feministas, gays e lésbicas mais radicais da década de 1970 e
1980, desafiou essa ontologia do social trazendo ao discurso seus limites
e interesses. Primeiro, pela já conhecida crítica ao fato de que o tabu do
incesto mascara a proibição histórica da homossexualidade desde o
século 19 criando uma espécie de mito originário da cultura que torna a
heterossexualidade inquestionável.
Na perspectiva queer , a heterossexualidade não é natural, tampouco
seu domínio desprovido de relações de poder. Elementos teóricos e
conceituais adequados permitem que elas sejam objeto de análise crítica.
A sociedade ou a cultura como as conhecemos delimitaram os limites do
pensável, mas como observou Judith Butler em Problemas de gênero , o
impensável não está fora da cultura, antes dentro dela, apenas de forma
dominada. É possível pensar de forma insurgente pelas bordas do social,
na região que foi propositalmente foracluída dele e, muitas vezes,
relegada até mesmo ao reino do abjeto.
Os estudos queer têm se caracterizado por criarem conhecimento a
partir do abjeto, por meio do que a sociedade considera como
ameaçando sua visão idealizada sobre si própria. Nesse sentido, o abjeto
vai além da sua definição psicanalítica como a esfera do que causa
náusea e nojo e alcança a de um espaço-condição que problematiza
versões idealizadas que se instituíram como o que a maior parte da teoria
social ainda compreende como sociedade. Em suma, a Teoria queer
provê ferramentas conceituais e teóricas para desconstruir ontologias do
social e da cultura construídas em uma perspectiva masculinista e
heterossexual.
De forma geral, há ao menos duas características dos estudos queer
que permitem compreender seu poder analítico: o método
desconstrutivista e a problematização do sujeito. Enquanto as ciências
sociais, em seu intuito de desnaturalizar o social, têm como marca
formas variadas de construtivismo social e histórico, o pensamento
queer aposta na desconstrução como meio mais afeito a esse mesmo
empreendimento. A despeito das boas intenções, o construtivismo social
tendeu a corroborar o que buscou compreender enquanto a
desconstrução parte da crítica da ordem existente para problematizá-la.
Além disso, nas ciências sociais e humanas, a concepção de sujeito
dominante é pouco dinâmica em comparação à da psicanálise, a qual,
por sua vez, é marcada por limites como uma hegemonia da perspectiva
masculina sobre a psique assim como da tendência à heterossexualização
do sujeito. Na perspectiva queer , é possível reconstituir o pensamento
psicanalítico por meio de uma nova topografia psíquica não-masculinista
e não-heterossexista. Assim, por meio da desconstrução e uma
concepção de sujeito mais sofisticada, abre-se espaço para a superação
do construtivismo social assim como do histórico binarismo que marca a
teoria social há mais de um século: a oposição estrutura versus ação
social.
Ao menos no Brasil, onde as ciências sociais historicamente se
distanciaram da psicanálise, a relação entre o social e o psíquico tendeu
a permanecer uma zona cinza que impede a exploração dos contextos em
que se dá a generificação e a sexualização dos sujeitos, sobretudo em sua
fase formativa, a qual tende a ser achatada por concepções como a de
“socialização primária”. Mesmo lidando com sujeitos adultos,
predominam análises baseadas em pressuposições correntes, apenas
sofisticadas pela exploração de seus componentes culturais e históricos.
Como já mencionado, a incorporação da Teoria queer entre nós se
iniciou pela educação, portanto em uma área historicamente afeita à
reflexão sobre a formação dos sujeitos. Desde Paulo Freire sabemos que
a educação pode servir a intuitos emancipadores, os quais, como prova a
obra de Guacira Lopes Louro, também podem abranger a esfera da
sexualidade e do gênero visando à desconstrução de desigualdades e
injustiças. A atenção crítica à educação como dispositivo normalizador,
mas também como promissora área de resistência à normalização, faz
pensar em outras áreas historicamente disciplinadoras, como a de saúde.
Encontramos aí a atenção comum às práticas sociais normalizadoras
como o que Teresa de Lauretis denominou de tecnologias de gênero.
Não é mero acaso que, no Brasil, onde historicamente a população
tendeu a ser vista como caso de polícia e objeto de punição, com o
retorno à democracia a partir de 1985, foram justamente a saúde e a
educação os primeiros serviços conquistados pelo povo brasileiro. Em
outras palavras, ainda que historicamente – nos países centrais – essas
áreas tenham criado o que Michel Foucault denominou de dispositivo
disciplinar, aqui, entre nós, eles tornaram-se uma conquista democrática
e se disseminaram de forma diversa. Nosso alcance retardatário à saúde
se deu por meio de um sistema universal que, apesar de não ser perfeito,
é um dos mais justos do mundo assim como a expansão do ensino se deu
mais próxima das demandas “de baixo” do que dos intuitos
normalizadores “do alto”.
Talvez isso ajude a compreender porque boa parte dos estudos queer ,
entre nós brasileiros/as, tenha focado em demandas de reconhecimento e
direitos envolvendo a educação e a saúde. Estudos que atualmente não
encerram toda a abrangência das investigações queer nacionais que se
estendem também às pesquisas sobre mídia, sobre o movimento LGBT,
literatura, cinema, áreas psi . Em comum, é possível reconhecer uma
perspectiva crítica à normalização sexual e de gênero, a qual se
intersecta com outras diferenças de forma que o queer dos trópicos tem
se transformado em um saber crítico às chaves analíticas que ignoram o
papel da hegemonia heterossexual na criação de desigualdades e
injustiças.
O potencial político da Teoria queer
CARLA RODRIGUES
P ioneira dos estudos queer no Brasil, pioneira na tradução de
pensadoras feministas como Joan Scott e Judith Butler, a professora
Guacira Lopes Louro avisa que se sente “pouco confortável” com o
qualificativo de “pioneira”. “Afinal, não me parece muito queer assumi-
lo, não é?”, diz, demonstrando a efetiva ligação entre teoria e prática,
entre academia e ativismo. Há alguns anos, conta ela, um conjunto de
condições proporcionou seu contato com a Teoria queer. Na medida em
que que percebia seu potencial provocativo, levou a discussão para os
espaços acadêmicos em que atuava, especialmente o Grupo de Estudos
de Educação e Relações de Gênero (GEERGE) e o Programa de Pós
Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Uma especificidade marca a sua entrada nos estudos queer : sua
articulação com a área da educação. “São dois campos aparentemente
muito distintos, por vezes até contraditórios”, explica ela nesta
entrevista.
Sua área de atuação é a educação, o que mostra a amplitude
disciplinar da Teoria queer , mas também me leva a perguntar qual
a importância de estudar Teoria queer na educação?
Acredito que a importância ou o alcance que o pensamento queer pode
ter no campo da educação depende do modo como o compreendemos.
Considerar o queer como uma espécie de termo guarda-chuva que abriga
todas identidades não-heterossexuais e comportamentos ou práticas que
se desviam das normas regulatórias da sociedade talvez implique uma
redução do seu impacto. Prefiro ver o queer como uma espécie de
disposição existencial e política, uma tendência e também como um
conjunto de saberes que poderiam ser qualificados como “subalternos”,
quer dizer, saberes que se construíram e se constroem fora das
sistematizações tradicionais, saberes predominantemente desconstrutivos
mais do que propositivos. Tenho repetido que os estudos queer
(juntamente com outros estudos contemporâneos) vêm promovendo
novas políticas de conhecimento cultural. Assim se amplia (e muito) a
potencialidade de sua articulação com a educação. O movimento e os
estudos queer podem nos levar a questionar sobre o que conhecemos e
sobre o que desconhecemos, ou melhor, sobre o que nos permitimos
conhecer e sobre o que deixamos de conhecer, o que ignoramos. Se
repetimos, tantas vezes, que o queer (como movimento e como
pensamento) é subversivo e provocador, no campo do conhecimento e
da educação isso pode nos levar a fazer perguntas que usualmente não
são feitas, a questionar o que costuma ser inquestionável. Enfim, pode
nos levar a ir além do conhecimento estabelecido, legitimado e
autorizado. A potencialidade dessa “disposição queer ” me parece,
então, imensa para pensar não apenas os currículos, programas e
estratégias da educação formal ou acadêmica, mas para pensar o campo
da educação num sentido muito mais amplo.
Como tradutora, você pode me ajudar a compreender por que não
há tradução brasileira para queer ? É uma decisão ideológica?
Não tenho uma boa resposta para esta pergunta. Já fui questionada,
várias vezes, sobre a conveniência (ou inconveniência) da manutenção
do termo em inglês; já observei, também, tentativas que vêm sendo
feitas para traduzi-lo. Queer é um termo que foi assumido e reapropriado
por militantes e intelectuais com o propósito de subverter a carga
pejorativa com que eram designados todos os “estranhos” ou os fora da
norma. Ressignificado, ele passou a ser usado para afirmar uma
diferença que não quer ser integrada; em seguida seu sentido se alargou
e queer passou a sugerir um movimento perturbador, passou a sugerir
transgressão, ambiguidade, entre-lugar (ou não-lugar). Deslizamentos de
significado podem acontecer (e acontecem) num mesmo espaço
linguístico e cultural, mais ainda se pensarmos que as teorias e conceitos
“viajam”, deslocam-se e entram em contato e interação com outros
espaços, misturam-se a culturas e contextos distintos daqueles em que
foram cunhados. Por outro lado, não dá para esquecer que as palavras
também carregam vestígios ou rastros dos significados anteriores.
Olgária Matos afirmou, certa vez, que “traduzir uma língua em outra,
uma cultura em outra, requer preservar aquilo que as faz estrangeiras,
suas zonas de obscuridade e incomunicabilidade”. Talvez não seja
possível (ou quem sabe, desejável) encontrar, em português, uma
expressão que efetivamente traduza e consiga contemplar toda a carga
subversiva e perturbadora que o queer em inglês pode sugerir. O
movimento e o pensamento queer que está se fazendo no Brasil vem
encontrando espaços e formas de expressão que, ao mesmo tempo em
que mantêm o tom transgressivo e provocador iniciais, manifestam-se
com cores, práticas e modos próprios daqui. Por tudo isso, continuo
achando muito complicado encontrar um termo que dê conta do leque de
possibilidades teóricas e políticas implicadas em “queer ” e, com a
provisoriedade e precariedade que lhe são tão caras, ainda prefiro usá-lo
tal como o conheci. Talvez se possa tirar proveito dessa zona de
incomunicabilidade.
O que há de político – para além do debate sobre sexualidade – em
questionar a normatividade de gênero?
Quando se passa a dizer que não apenas o gênero, mas também o sexo é
culturalmente construído, quando alguém sugere, como faz Judith
Butler, que “talvez o sexo tenha sido, desde sempre, gênero, de maneira
que a distinção sexo/gênero não é, na verdade, distinção alguma”, está se
pondo em risco noções fortemente enraizadas na lógica e na existência
de todos. Na medida em que se questiona a normatividade do gênero e
da sexualidade se põe em xeque algo que pode ser visto como um dos
“pilares” do modo como pensamos e vivemos. A lógica binária que
define os sujeitos como macho ou fêmea também implica que os gêneros
serão dois e que a sexualidade deve ser exercida com alguém de
sexo/gênero oposto. A heteronormatividade que dá suporte a essa lógica,
como todas as outras normas, se exercita de modo silencioso, invisível,
disseminado. Se ousamos colocar esse binarismo “fundante” em
questão, se ousamos pensar em multiplicidade de gêneros e
sexualidades, então outras dimensões da constituição dos sujeitos, outras
dimensões da vida podem também ser perturbadas, multiplicadas,
complexificadas. Há, pois, um potencial político muito expressivo e
intenso no debate em torno da normatividade de gênero e da
sexualidade.
Queer o quê? Ativismo e estudos transviados
BERENICE BENTO
O convite da revista Cult para contribuir neste dossiê, levou-me a
relembrar a força que textos de algumas teóricas queer tiveram em
minha trajetória. Revi meus dilemas provocados pela falta de um suporte
teórico para minhas angústias durante a produção de minha tese de
doutorado. Naquele momento, nos início do anos 2000, pouquíssima
bibliografia tinha sido traduzida para o português. Fosse pelo tema da
minha pesquisa (transexualidade) ou pelo recorte teórico que elegi para
interpretá-la (estudos queer ), sentia um frio na barriga quando pensava
que teria que enfrentar uma banca no meu Programa de Pós-gradução
em Sociologia. Quando me perguntavam sobre o tema de minha
pesquisa e eu dizia do que se tratava, eu escutava geralmente, um
“hummm... mas você não está fazendo uma tese de Psicologia?”. A
mesma estranheza era notável quando eu tentava explicar os meus
aportes teóricos: “ Queer ?! O que é isto?”. Talvez um dos maiores
dramas dos trabalhos considerados pioneiros seja a falta de espaços mais
consolidados para o diálogo, dimensão fundamental para a produção
científica.
Em 1999, comecei a fazer meu trabalho de campo em um hospital que
realizava cirurgias de transgenitalização (também conhecida como
“mudança de sexo” ou “cirurgia de redesignificação sexual”). A
literatura que dispunha em português hegemonicamente considerava as
experiências trans (transexuais, travestis, transgêneros, crossdressing,
drag queen, drag king) como expressões de subjetividades transtornadas.
Eu vivi durante meses uma profunda dissintonia entre o que eu lia e o
que via. Não encaixava. As pessoas trans descritas pela literatura oficial
(principalmente a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria) eram
deprimidas, suicidas, demandavam as cirurgias para se tornarem pessoas
“quase normais”, ou seja, heterossexuais. Por essas análises e descrições,
havia uma profunda diferença entre as pessoas trans e as pessoas não
trans. Do outro lado, eu via uma força e um desejo dionisíaco de
felicidade entre as pessoas trans que frequentavam esse hospital e que
esperavam um parecer que as diagnosticassem como “transtornadas de
gênero” e as autorizassem a fazer as cirurgias.
A minha convivência não se limitava ao mundo do hospital. Foram
horas, dias, meses de convivência com pessoas que tinham uma agência
e jogos de cintura para lidar com situações limite de humilhação que
poucas vezes encontrei nas pessoas não trans. Afinal, se não tivessem
essa capacidade não sobreviveriam, pois, geralmente são expulsas de
casa e de todas as instituições sociais normatizadas ainda muito jovens.
Não demorou muito para eu concluir que o problema da literatura
ensinada nas universidades padecia de um problema: os seus
formuladores não sabiam nada, absolutamente nada, dos sujeitos que
diziam interpretar. Eram pequenos fragmentos pinçados das visitas das
pessoas trans aos consultórios e que eram lidos por uma determinada
concepção de normalidade de sexualidade e de gênero.
Foi com uma alegria quase infantil que eu li os textos de Judith Butler
e outras teóricas queer . A partir daquele momento, o dispositivo
transexual (como eu nomeei os saberes produzidos pelo saber/poder
médico voltados para o controle e patologização das experiências trans)
passaram a ser lidos como uma poderosa engrenagem que objetivava dar
suporte à concepção segundo a qual nossas identidades sexuais e de
gênero seriam um reflexo de estruturas naturais (hormônios,
cromossomos, neurais). A patologização das experiências ou expressões
de gênero fora da norma começou a se configurar como um mecanismo
que assegura a própria existência da naturalização das identidades.
Logo depois, eu fiz parte de minha pesquisa em coletivos trans
espanhóis. Era comum escutar as pessoas nas reuniões contando os
absurdos que os psicólogos tinham lhes perguntado: “Você é muito
emocional?”, “Você gosta de cozinhar?”. Para produção de um parecer
que iria autorizar as pessoas trans a fazer a cirurgia, os especialistas
acionavam os mapas socialmente construídos para definir o que é ser um
homem e ser uma mulher e que pretende coincidir masculinidades =
homens e feminilidades = mulheres. A autorização para fazer a cirurgia
demora, no mínimo, dois anos. Durante esse período o/a candidato/a
(assim é como identificam as pessoas trans que esperam a cirurgia) tem
uma rotina semanal de idas ao hospital. O protocolo é organizado em
torno de três questões; 1) a exigência do teste de vida (os/as
candidatos/as passam a usar as roupas apropriadas para o gênero com o
qual se identifica); 2) a terapia hormonal; 3) os testes de personalidade
(HIP, MMPI, Haven e o Rorscharch). Além das sessões de terapia e dos
exames clínicos. Enfim, uma parafernália discursiva voltada à
permanente patologização das experiências trans.
São os operadores da saúde mental (principalmente os psicólogos) que
têm o poder de autorizar ou não uma cirurgia de transgenitação. Como
diagnosticar se uma pessoa é trans? Por um conjunto de práticas (a
forma de vestir, como demonstram praticamente seus sentimentos, quais
brinquedos gostavam quando eram criança). E como definir que uma
pessoa não é trans? Pela prática. São os meus atos diários que levam o
outro a me reconhecer socialmente como homem ou mulher. Poucas
pessoas têm acesso visual ao meu corpo nu, mas socialmente eu sou
reconhecida como mulher porque repito atos socialmente estabelecidos
como próprios ao de uma mulher.
Não existe um processo específico para a constituição das identidades
de gênero para as pessoas trans. O gênero só existe na prática, na
experiência, e sua realização se dá mediante reiterações cujos conteúdos
são interpretações sobre o masculino e o feminino em um jogo, muitas
vezes contraditório e escorregadio, estabelecido com as normas de
gênero. O ato de pôr uma roupa, escolher uma cor, acessórios, o corte de
cabelo, a forma de andar, enfim, a estética e a estilística corporal são
atos que fazem o gênero, que visibilizam e estabilizam os corpos na
ordem dicotomizada dos gêneros. Os/as homens/mulheres não trans se
fazem na repetição de atos que se supõe sejam os mais naturais. Através
da citacionalidade de uma suposta origem, trans e não trans se igualam.
Nossos corpos são fabricados por tecnologias precisas e sofisticadas que
têm como um dos mais poderosos resultados, nas subjetividades, a
crença de que a determinação das identidades está inscrita em alguma
parte dos corpos.
Os textos queer me ajudaram a compreender que: 1) não existe
diferença entre os processos de formação entre os ditos “normais” e os
“anormais”; 2) a naturalização dos gêneros é um dos mais poderosos
recursos acionados pelo Estado (e sustentado pelo poder/saber médico e
pelos saberes psi ) na manutenção de estruturas hierárquicas e
assimétricas dos gêneros; 3) a demanda das pessoas trans não é para se
tornarem “heterossexuais consertados”, mas funda-se no reconhecimento
de uma identidade de gênero diferente da imposta socialmente a partir da
presença de uma determinada genitália; 4) a natureza das identidades de
gênero é não serem naturais.
MEUS DESENCONTROS COM OS ESTUDOS/ATIVISMO QUEER S: OS DILEMAS
DA TRADUÇÃO
Nos últimos meses tenho vivido em Nova York e assistido a palestras
sobre diversas dimensões da teoria e ativismo queer . Nos centros de
estudos que eram dedicados às questões de gays, lésbicas e transgêneros
(identidade local para “abrigar” a multiplicidade de expressões de
gênero) também passaram a adotar o Q (queer ) em suas siglas. No
movimento social também é comum escutarmos LGBTQ (lésbicas, gays,
bissexuais, transgêneros e queer ). A primeira conclusão: os
estudos/ativismo queer conseguem um nível de adesão pulsante se
comparada ao contexto brasileiro. Reivindicar uma não-identidade, lutar
contra as identidades essencializadas, afirmar-se queer no ativismo,
construir teorias com esta nomeação, faz sentido no contexto local. Mas
como traduzir o queer para o contexto brasileiro? Qual a disseminação
deste campo de estudos no Brasil? Se eu perguntar para qualquer pessoa
no Brasil “você é queer ?”, provavelmente escutarei “o que é queer ?”.
Os estudos/ativismo queer se organizam em torno de alguns eixos: 1)
desnaturalização das bioidentidades (coletivas e individuais); 2) ênfase
nas relações de poder para interpretar as estruturas subjetivas e objetivas
da vida social; 3) a permanente problematização das binariedades, 4)
prioridade à dimensão da agência humana, 5) crítica ao binarismo de
gênero (masculino versus feminino) e sexual (heterossexual versus
homossexual). Estes pontos não podem ser tributados originalmente aos
estudos queer . A questão da prática como modalidade explicativa da
vida social, por exemplo, e que nos estudos/ativismo queer assumirá o
nome de teoria da performance, marca um debate nas Ciências Sociais
conhecido como a clássica tensão entre indivíduo versus sociedade. O
que me parece original nessa perspectiva teórica e política é a relação
que passa a estabelecer com os insultos que funcionaram historicamente
como dispositivos discursivos que calaram, produziram vergonha e
medo entre os gays, as lésbicas e as pessoas trans.
O desejo de ser amado, respeitado, incluído, faz com que os sujeitos
“anormais” passem a desejar o desejo daquele que admiramos, mesmo
que isso signifique uma profunda violência subjetiva. O reconhecido,
nestes termos, não acontece mediante a afirmação da diferença, mas pela
submissão ao desejo do outro, que passa a me constituir como sujeito no
mundo. Muitas vezes escutamos uma criança insultando outra de
“bicha” ou de “sapatão”. Ela provavelmente não sabe nada sobre o que
significa estes termos, mas entende que é uma coisa feia, e chega a esta
conclusão pelas fisionomias de nojo e ódio dos seus pais ao proferirem
estas palavras.
A bicha, o sapatão, a trava, o traveco, a coisa esquisita, a mulher-
macho, devem ser eliminados. Isso faz com que haja um horror, um
medo profundo de ser reconhecido como aquilo que retiraria de si
qualquer possibilidade de ser amado/a. Conforme apontei em outro
momento, nossas subjetividades são organizadas a partir de um
heteroterrorismo reiterado. A formação de nossas identidades sexuais e
de gênero não tem nada de natural, neural, hormonal, tampouco idílica.
E assim, o desejo de amor, pertencimento e acolhimento faz com que,
na perspectiva do inclusão via assimilação, o silêncio e a invisibilidade
sejam as respostas possíveis ao heteroterrorismo. O que o queer propõe?
Que se interrompa a reprodução das normas sociais através da
incorporação política do outro-abjeto.
Acredito que “o pulo do gato” que os estudos/ativismo queer
inauguram, é olhar para o “senhor” e dizer: “eu não desejo mais teu
desejo. O que você me oferece é pouco. Isso mesmo, eu sou bicha, eu
sou sapatão, eu sou traveco. E o que você fará comigo? Eu estou aqui e
não vou mais viver uma vida miserável e precária. Quero uma vida onde
eu possa dar pinta, transar com quem eu tenha vontade, ser dona/dono
do meu corpo, escarrar no casamento como instituição apropriada e
única para viver o amor e o afeto, vomitar todo o lixo que você me fez
engolir calada/o.”
Neste momento, a dialética (binária) do senhor e escravo tem que
acertar suas contas com um terceiro termo: o abjeto. No entanto, o outro-
abjeto sempre esteve presente, como ente fantasmagórico fazendo seu
trabalho incessante de produção da vergonha e garantindo, assim, por
sua presente-ausência, a reprodução das normas de gênero.
“ Queer ” só tem sentido se assumido como lugar no mundo aquilo
que serviria para me excluir. Portanto, se eu digo queer no contexto
norte-americano é inteligível, seja como ferramenta de luta política ou
como agressão. Qual a disputa que se pode fazer com o nome “ queer ”
no contexto brasileiro? Nenhuma.
Em alguns textos eu tenho trabalhado com a expressão “estudos
transviados”. A minha língua tem que fazer muita ginástica para dizer
queer e não sei se quem está me escutando compartilha os mesmos
sentidos. Ser um transviado no Brasil pode ser “uma bicha louca”, “um
viado”, “um travesti”, “um traveco”, “um sapatão”. Talvez não
tivéssemos que enfrentar o debate da tradução cultural se reduzíssemos
os estudos transviados ao âmbito (muitas vezes) bolorento da academia,
transformando-o em um debate para iniciados, mas aí seria a própria
negação deste campo de estudos que nasce com o ativismo, tensiona os
limites do considerado normal e abre espaço para uma práxis
epistemológica que pensa novas concepções de humanidade.
Ao mesmo tempo, eu me questiono: se entrássemos em um consenso
acadêmico/ativista sobre a importância de ruminar antropofagicamente
os estudos/ativismo queer e decidíssemos que iríamos nomeá-lo de
“estudos/ativismo transviados”, ainda assim, esbarraríamos em outra
tensão: a hegemonia de uma concepção essencializada das identidades.
Um dos pilares deste campo de estudos/ativismo é a desnaturalização
das identidades sexual e de gênero e tem como pressuposto para
entender os arranjos identitários a noção de diferença. Os movimentos
sociais (mulheres, gays, lésbicas e, podemos incluir, os negros)
hegemonicamente alimentam a máquina do biopoder do Estado ao
demandar políticas específicas para corpos específicos, retroalimentando
a noção de identidades essenciais. E a legitimidade da demanda só existe
se são corpos essencializados que a profere.
Ainda soa como uma esquisitice homens que se afirmam feministas,
mulheres trans que se confrontam com um feminismo conservador que
negam a possibilidade de se viver o gênero fora dos marcos das
identidades genitalizados (onde mulher/vagina e homem/pênis seriam as
expressões legítimas e normais das feminilidades e masculinidades).
Contraditoriamente, os movimentos sociais que demandam mais
políticas públicas referendadas nas supostas diferenças naturais estão
reforçando o poder do Estado no controle e seleção das vidas.
Seja pelos dilemas da tradução ou pelas “idiossincrasias” que marcam
a academia e os biomovimentos sociais brasileiros, devemos reconhecer
a dificuldade que os estudos/ativismo transviados têm encontrado para
se consolidar no contexto nacional e parece que há um buraco entre a
academia brasileira (espaço de recepção dos estudos queer ) e os
movimentos sociais. Depois de quase quinze anos do meu encontro com
estes estudos, ainda escuto com frequência: “ Queer o quê?”
A teoria queer e os desafios à moldura do olhar
KARLA BESSA
S e é preciso ainda hoje, apesar das ponderações e críticas, destacar a
força original da abordagem queer é porque consta em suas
potencialidades propor algo além da inclusão da diversidade sexual, ou
seja, propor estudos direcionados para novas identidades de gênero,
formas de conjugalidade, gestões, afetos, ou práticas eróticas singulares.
Ir além da visibilidade de evidências de que existem outros modos de
lidar com o corpo e os prazeres e tentar des-exotizar nossa compreensão
sobre estas práticas. Trata-se de expandir o caráter de atuação do gênero
para além dos palcos, questionando a existência de um gênero primeiro,
a partir do qual se baseariam as manufaturas exageradas ou imperfeitas
(o gênero fabricado nos camarins ou nas salas de cirurgia).
Questiona-se assim os padrões de perfeição e originalidade que
constituem o pretenso gênero verdadeiro e a respectiva sexualidade nele
presumida. É por isso que, na perspectiva queer , uma mulher trans não
é menos mulher do que uma que tenha sido assim designada desde o
nascimento. A diferença é política e não da ordem da natureza humana,
o que nos leva a outro importante raciocínio queer : afinal, o que é o
humano em um mundo de buscas e transformações que fazem da
tecnologia subjetiva e corporal um diálogo com outras tecnologias
criadas a partir das intervenções humanas, no tempo/espaço de sua
condição?
A constituição de uma análise fílmica interessada na perspectiva queer
correu paralela e em mútua sintonia com outros grandes temas e áreas
dos estudos feministas e de gênero. A crescente importância dos estudos
de cultura visual no interior da ampla área dos estudos culturais e o
desenvolvimento de algumas ferramentas conceituais para lidar com
representações visuais gerou um promissor impulso no interior de outras
áreas de conhecimento para pensarem a gestão das imagens de um ponto
de vista ideológico (num primeiro momento) e, posteriormente, como
discursos, ou seja, não mais inversão/distorção de uma realidade
exterior, mas o jogo de poder entre representações em disputa.
Os primeiros estudos feministas na área da crítica cinematográfica
datam dos anos 1970 e abalaram o modo de pensar o filme, antes
entrincheirado em teorias sobre realismo, autores, gêneros, marxismo e
formalismo. Levantaram perguntas sobre quem produz, para qual
audiência e como utilizam os recursos técnicos e culturais para construir
uma imagética e narrativa fílmica. Questionaram a presunção de valores
e as atribuições de relação causal direta entre atividade/passividade e
masculinidades e feminilidades de modo estereotipado. Esses estudos
analisaram estruturas narrativas que mascaram, infantilizam e/ou
idealizam mulheres e homens e suas respectivas sexualidades. Pautaram-
se por leituras psicanalíticas, para problematizarem a construção
subjetiva das personagens e dos enredos. Penso aqui nos trabalhos de
Mary Ann Doane, Dana Polan, Teresa de Lauretis, Laura Mulvey,
apenas para citar as que conseguiram maior divulgação no meio
acadêmico, tanto pelo impacto de suas pesquisas, quanto pelo modo
como o mercado das citações opera na produção acadêmica.
No entanto, a ótica dessas primeiras incursões pressupunha um foco,
praticamente universalizado: a maneira clássica de pensar gênero como
uma relação entre homens/mulheres, ainda que pluralizando a categoria
mulher, mantendo pressupostos básicos da divisão entre sexo/gênero. Os
efeitos dessa perspectiva no interior da análise cinematográfica foram
questionados, por exemplo, em pesquisas que mostravam o limite de
categorias como male gaze (olhar masculino), formulada por Laura
Mulvey, que não previa a possibilidade de haver na audiência desejos
considerados masculinos por parte de mulheres lésbicas. O prazer de
olhar e a fascinação com o corpo feminino em seus possíveis contornos
poéticos e eróticos não era uma prerrogativa apenas de homens, muito
menos seguia a mesma lógica voyeurística. No final dos anos 1980, Jane
Ganes escreveu uma importante crítica, sugerindo que pensar as
opressões relativas a preferências sexuais extrapola as críticas marxistas
aos mecanismos fetichistas do capitalismo, em especial, ao modo de
analisar a indústria cultural. Seu interesse, naquele momento, era
construir uma visão que possibilitasse perceber onde e como a
racialização de corpos (negros, latinos, asiáticos) interceptava e produzia
reiteradas conexões relativas às hierarquizações da organização da
sexualidade, para além da desigualdade de gênero.
O tema do corpo racializado e sexualizado volta em outro grande tema
dos estudos fílmicos – o debate sobre as estrelas de cinema. Se por um
lado muitos estudos dessa época estavam preocupados com as suas
estratégias de produção e circulação, Richard Dyer e Mandy Merck
interessaram-se sobretudo pelo fato de que certas personagens e seus
respectivos atores/atrizes passaram a fazer parte do imaginário de
“subculturas”, como os jogos de identificações de gays e lésbicas com
atrizes como Judy Garland, Marilyn Monroe, Joan Crawford, Marlene
Dietrich e Paul Robeson. Ambiguidade, tensão erótica e o jogo de
revela-esconde desejos apresentam, nessas primeiras análises, a
importância que tinha o ato de “se produzir”, visto como imitação, base
da noção performativa de gênero. Ao mesmo tempo, o prazer visual
adquirido através dessas e outras tantas estrelas hollywoodianas vinha de
uma certa compreensão partilhada de que entrelinhas de gestos e falas
abriam oportunidades de leituras queer dos dramas e sensibilidades
encenados em primeiro plano em termos convencionais (solidão, vínculo
amoroso, paixão, desejo, fidelidade), deixando os desvios e perversões
apenas como possíveis insinuações.
No Brasil, temos o que eu chamaria de tríade queer avant la lettre .
Não que tenham sido produzidos inspirados pelos novos ventos dos
festivais de diversidade sexual, o que seria uma anacronia. Eu os
considero queer s por problematizarem cinematicamente a sexualidade
para além dos modelos do amor romântico, dos prazeres convencionais e
do modo de tratar desejo como algo restrito à noção de conjugalidade
baseada na monogamia e nas atrações e prazeres direcionados para
parceiros de sexo oposto. Além disso, por deslocarem o lugar comum do
jogo masculino/feminino e por problematizarem a relação entre
sexualidade, política e formas de dominação que se exercem conjugando
políticas racializantes e instituição da família como instituição
heteronormativa, enfim, por não fazerem concessões, docilizando corpos
e desejos para o conforto da audiência.
A insaciável e voraz Ângela Carne e Osso (Helena Ignez), do filme de
A mulher de todos (Rogério Sganzerla, 1969), é uma personagem ímpar
no nosso cinema brasileiro. Representa ao meu ver um chamado
importante para o debate sobre o quanto a sexualidade pesa na
constituição de valores morais prescritos na noção de ordem e progresso.
A estratégia cênica, simples e sem grandes torções metafóricas, consistiu
no uso do charuto como objeto fálico, que dimensiona o apetite sexual
desenfreado de Ângela na ordem de sua virilidade. Sua masculinidade
libidinal a torna um ser andrógino, perigosa porque indomável e, ao
mesmo tempo, uma travesti sem que essa travestilidade ganhe
visibilidade em termos de gênero ou de orientação do desejo. A
fantasiosa ilha dos prazeres permite o jogo entre gênero e sexualidade.
No entanto, para meu desgosto, a única cena (rápida) lésbica do filme
veio marcada por um óbvio travestimento, enquadrada em tom de orgia.
Alegoria política ou não, as aventuras sexuais de Ângela carne e osso,
além de provocarem os limites de idealizações de feminilidades e
masculinidades, tanto corpóreas quanto simbólicas, abrem-se para uma
apreciação sobre fetiche (a primeira cena é um selo nesta direção) e
voyeurismo. As tomadas e sua respectiva edição surpreendem, quando,
por exemplo, a personagem encara a câmera/espectador, como quem diz
“eu sei que estou sendo vista”, quebrando o clímax, insistindo na
performatividade de suas experiências. Destitui assim, a onisciência do
narrador em off que conduz o sentido do que se dá a ver de Angela. Sua
força vibrante repousa exatamente nesse complemento: carnal, sem
sentimentalismos, essencialismos, sem se aprisionar a categorizações.
Além de Ângela, tivemos também a Rainha Diaba (Antonio Carlos da
Fontoura, 1974). Nossa rainha (Milton Gonçalves) desdramatiza sua
condição marginal de negra, gay, drag e senhor do tráfico. A atuação de
Milton Gonçalves evidencia o jogo de ambiguidades entre
masculinidades e feminilidades que gera, deliberadamente ou não,
instabilidade de gênero. As oscilações entre docilidade e rudeza,
meiguice e excentricidade (sem medo de ser carnavalesca enquanto
administra duramente seus aliados e subordinados) criam o
estranhamento. Não estamos diante de algo (alguém) comum. Uma festa
de travestis colore a tela de plumas e paetês. É uma das cenas mais belas
do filme, tanto por trazer vida e alegria ao sóbrio mundo do crime –
desvirilizando a imagem do traficante, bandido, marginal, cuja
masculinidade é inscrita na ordem do jogo “violência gera poder” –
quanto por revelar uma outra esfera de sociabilidade, irmandade, criando
camadas de submundo dentro do submundo. Quem são os pares da
Rainha? A narrativa não aprofunda, mas dá a entender que os laços que
sustentam e estabilizam as relações não passam pelo crivo de
instituições como a família; nem mesmo a parceria amorosa está atada a
parcerias sexuais. O rearranjo da noção de pertencimento, confiança e
solidariedade passa pela condição limite de exposição à fragilidade e
precariedade da travestilidade. O filme não é nenhum libelo político
sobre vida e condição travesti, não tem intenção de representar
demandas de afirmação. Expõe com despudor a ambiguidade e
ambivalência de valores, por isso, não vitimiza ou culpabiliza o jogo de
violências que toma conta do morro. Desmoraliza tanto a sexualidade
quanto a vontade de poder. Leva a situação ao extremo, à margem da
margem.
Finalmente temos Bauer, ou melhor, a luta de Vera (1986) para viver
Bauer. O filme de Sérgio Toledo talvez seja o mais reconhecido
internacionalmente como parte da rara filmografia até a década de 1980
a abordar o tema da transexualidade. A personagem instiga pelo grau de
seriedade e certeza quanto ao modo como quer viver sua sexualidade e
seu corpo. Desconcerta justamente aí, onde pensamos que pudesse haver
um lado cômodo na busca por um conforto afirmativo de gênero. O que
Vera/Bauer apresenta em pormenores é o cotidiano, o detalhe da coerção
à estabilidade de gênero. Ser feminina na busca da harmonia com o
corpo, como sendo o biológico o determinante da conduta, da
vestimenta, do gesto, requer um trabalho contínuo de educação,
autopercepção. As insistências da instituição FEBEM para evitar a
masculinização das meninas internas, tornam visíveis tanto as estratégias
de disciplinarização que marcam a constituição do corpo generificado
(definido em termos de gênero) quanto insinuam o desprezo para com o
próprio corpo feminino, passível das violências invisíveis dos servidores
que as “guardam” e, supostamente, protegem.
As crises da personagem com as marcas sexuais, escamoteadas com
vestimentas, que a tornam aos olhos dos outros uma mulher (seios,
vagina) ficam mais doloridas quando, no contato erótico-amoroso, sua
parceira Clara cobra acesso tátil e visual ao seu corpo. Dar-se ao toque
naquilo que convencionalmente constitui o feminino, ainda que por
prazer ou amor, era sentido por Bauer como uma violação. A
materialidade que a constitui a oprime. Ela percebe saída na intervenção
e transformação, via cirurgia. Algo inacessível, dada a sua condição de
ex-detenta e subempregada. A carne é o limite quando o simbólico
desmorona. Os amparos, oriundos das personagens que lhe acolhem
nessa angustiante travessia, são insuficientes porque o drama, vivido por
Bauer no singular, requer condições sociais completamente ausentes de
sua perspectiva naquele momento. Se Bauer não tem espaço para viver
em Vera e Vera não sabe viver sem Bauer, encurtar o sofrimento parece
ser a única porta viável à personagem. No entanto, a narrativa conduz a
um final com um toque de mistério.
Vera/Bauer tentou nos sensibilizar para algo que, no final dos anos
1980, estava formulando um novo vocabulário. Quase duas décadas
depois, a presença de transexuais e transgêneros em filmes mudou
muito. Hoje há mais de duzentos e cinquenta e seis festivais dedicados à
cultura e filmografia GLBTQ. Destes, pelo menos uns treze estão em
funcionamento na América do Sul (Argentina, Venezuela, Colômbia,
Peru, Chile, Bolívia, Uruguai, Brasil). Na década de 1990, o Mix Brasil
da Diversidade foi o grande pioneiro; na última década, vimos pipocar,
em diferentes estados, festivais e mostras (algumas competitivas, outras
não) que promovem direta ou indiretamente exibições e debates em
torno de gênero, sexualidade e diversidade sexual. Dentre as várias
iniciativas eu citaria o For Rainbow e o Curta o Gênero de Fortaleza, o
DIV.A (dedicado à animação), Mostra Possíveis Sexualidades de
Salvador, Festival CLOSE (Porto Alegre), Rio Festival Gay de Cinema
(R.J). Alguns são iniciativas de grupos GLBTQ outros de
estudantes/pesquisadores (Cinepagu - Unicamp); ou de ONGs e
institutos de arte e cultura (Dragão do Mar, Fábrica de Imagens).
Um dos focos principais dos festivais criados no Brasil, mas não só
aqui, é a relação entre política sexual e direitos humanos. Talvez seja por
isso que filmes como o encantador curta metragem O olho e o zarolho
(J. Vicente & R. Guerra, 2013), o surpreendente O amor que não ousa
dizer seu nome (Barbara Roma, 2013), bem como o experimental e
irreverente Vestido de Laerte (Cláudia Priscilla e Pedro Marques, 2012)
tenham sensibilizado uma plateia ampla de frequentadores desses
festivais. Nessa direção, falta maior investimento em arquivos que
tragam para esses novos espaços de projeção a história das produções
audiovisuais independentes, como por exemplo, o importante trabalho
produzido por Rita Moreira.
Há uma estética queer ? Esta pergunta já fora formulada logo no
início da criação dos festivais (estética gay) e reformulada a partir do
debate iniciado nos anos 1990 com B. Ruby Rich, sobre o New Queer
Cinema . Ainda hoje se pergunta o que foi/é novo no cinema queer . Não
vejo consenso entre os diversos autores que se dispuseram a qualificar a
estética ou a proposta política para um cinema queer ; definir o que é
seria circunscrever um potencial que pode nos surpreender. Afinal, trata-
se de um campo de invenções, mais do que da indústria cinematográfica
em si ou das grandes corporações midiáticas. A qualidade primordial:
filmes que problematizem nossas convenções e verdades acerca da
sexualidade e do gênero, rompendo binarismos (“homem versus
mulher”, “heterossexualidade versus homossexualidade” etc).
Uma das razões para o crescimento do cinema queer em vários países
nos últimos anos foi o barateamento da produção fílmica com o uso de
câmeras digitais e softwares de edição. A ideia na cabeça e a câmera na
mão continua sendo um potencial transgressor que libera a criatividade
para fora dos esquemas narrativos e cinemáticos dos filmes de alto
custo, produzidos nos grandes estúdios de cinema. Outro fator que
impulsionou a produção foi o contexto da AIDS nos anos 1980 e a
tentativa de dar novos significados e formular outras representações para
os estigmas que marcaram a correlação entre homossexualidade e
doença. Em termos de Brasil, eu agregaria a estes fatores levantados por
Rich o fato de que temos vivido nos últimos anos uma terrível
contradição. A presença midiática, em especial através da TV, de
programas como Big Brother, novelas, séries dos canais fechados, que
fazem uma espetacularização da imagem de personagens, gestos (toda a
mídia em torno do “beijo gay/lésbico da novela das oito”) que, se por
um lado ajudam na promoção da visibilidade dos que questionam a
normatização da heterossexualidade, por outro desencadeam reações
violentas, como perseguições políticas e ataques verbais por parte de
religiosos ortodoxos que consideram qualquer sexualidade/afetividade
fora da norma uma afronta e instigam seus fiéis à prática do assédio
moral e da vigilância coercitiva.
Diversificam-se os meios de produção/divulgação de imagens,
narrativas da cultura audiovisual e do cinema digital. Crescem as formas
de compartilhamento de toda essa produção através de redes sociais em
diferentes formatos de telas, das menores, como as de celulares, às
maiores, os cinemas. Por isso mesmo, cresce a disputa e acirram-se as
lutas no campo das representações. O apelo da crítica queer é justamente
o de sensibilizar nosso olhar para enfrentar esses novos campos de
batalha.
entrevista Leticia Sabsay
Des-heterossexualizar a cidadania é ainda uma
frente de batalha
ANDREA LACOMBE E EMMA SONG
A cidadania – aqui entendida como um conjunto de direitos civis – é
marcada pela sexualidade e construída sobre o paradigma heterossexual,
consequência de um modelo de vida que naturaliza a relação entre o
sujeito e a heterossexualidade. Esse é um dos pontos principais do
trabalho da professora argentina Leticia Sabsay (na foto), socióloga
especializada em estudos de gênero, professora da Universidade de
Londres, integrante do grupo de pesquisa “Vulnerabilidade e
Resistência” dirigido pela filósofa Judith Butler na Universidade de
Columbia. Nesta entrevista, ela fala sobre como a dimensão queer se
apresenta como uma estratégia política mais radical para fazer frente ao
momento político conservador, contrário a todo reconhecimento e
inclusão da diversidade sexual.
A noção de cidadania sexual é parte do que poderíamos denominar
como uma “maquinaria da colonização” ou há uma leitura
específica que se direcione à dos direitos humanos e sexuais?
Quando falamos do conceito de cidadania sexual, as primeiras coisas
que nos vêm ao imaginário são as leis como as do casamento igualitário,
identidade de gênero e basicamente uma quantidade de demandas que
têm a ver com a inclusão e reconhecimento dos direitos sexuais das
chamadas minorias, ou sexualidades não-heteronormativas. É necessário
deixar claro que a cidadania sempre foi sexual; quando ela não está
marcada pela sexualidade, geralmente é construída com base no
pressuposto heterossexual. Quando não é sexual, tende a ser
heteronormativa, porque está montada sobre um modelo de sujeito e um
modelo de vida que é concebido como “naturalmente” heterossexual.
Por sua vez, há necessidade de se generizar a cidadania, porque
quando ela não é generizada, tende a ser masculina. Também é preciso
sexualizá-la, isto é, “des-heterossexualizá-la” ou “des-
heteronormativizá-la”. Creio que este é um campo político que não se
pode abandonar.
O problema se dá quando todas as demandas de liberdade sexual e de
justiça sexual passam a ser reduzidas ao discurso do direito, e este
aparece como o único âmbito que pode dar conta de todo o imaginário
do que é uma demanda de justiça e liberdade sexuais. Aqui temos um
problema, porque o discurso dos direitos pode envolver algumas coisas e
excluir outras.
Se nosso horizonte de ideias de justiça e liberdade sexuais se esgota
em direitos específicos de reconhecimento, estamos deixando sempre
muitas situações e muita gente de fora. Por outro lado, a cidadania
sexual é um conjunto de direitos e o direito é sempre normalizador, é
uma moeda de duas faces.
Depois das leis de casamento igualitário e de identidade de gênero,
você poderia identificar os grupos ou as demandas políticas que
permanecem de fora?
O caso do trabalho sexual, de alguma maneira, é o sintoma de que há
algo que não está funcionando bem nessa ideia de liberdade e justiça,
que o que se inclui e se reconhece tem a ver com uma ideia muito
particular; uma sexualidade muito higienista , monogâmica, sã, prolixa,
que não se encarrega de outras visões que têm a ver com questões de
desejos e prazeres não-normativos, que não se esgotam na orientação
sexual, ou nas hierarquias sociais, de condição de vida, de classe. Como
se regula esse direito? Essa é outra instância que, evidentemente, a luta
pelos direitos não alcança. O caso do trabalho sexual, da prostituição,
marca o sintoma de tudo o que envolve essa cidadania sexual, tão liberal
quanto higiênica. Liberal, porque segue pensando nesse sujeito abstrato
do Liberalismo, e também no sentido de que não exerce papel no social.
A lei de casamento é exemplar nesse sentido, posto que, segundo
muitos, se converte numa variação que reforça a heteronorma. Eu vejo
que ela faz as duas coisas: varia e altera a heteronorma. Mas,
independentemente disto, o que se reforça é a norma do casamento,
incluindo os ideais de monogamia, fidelidade e cônjuge como o modelo
ideal de viver e compartilhar a vida, que, além disso, conserva certas
normas em torno da vida sexual. O trabalho sexual está fora deste
universo, de uma sexualidade marcada pela monogamia, o higienismo, a
presunção de que temos uma identidade sexual única e nítida.
Então por que a lei do casamento, por exemplo, é um direito a que não
podemos nos opor? Porque, no meu ponto de vista, a lei do casamento
tem menos a ver com o reconhecimento do direito de um coletivo
particular do que com um ideal antidiscriminatório e universalista. Outra
questão é se o casamento deve ser a única forma de reconhecimento e
proteção por parte do Estado para formações que se relacionam com a
organização de cadeias afetivas ou de cuidado mútuo, de
responsabilidades mútuas, uma noção ampliada de família. São lutas
distintas. Deve haver casamento para todos, mas pregando que essa
relação não seja o único ideal e figura que dê legitimidade às formas
variadas de intimidade e de organização de cuidado e sustento mútuo da
vida cotidiana das pessoas.
Esses problemas são evidentes na hora de pensar em asilo político por
razões de orientação sexual. No momento em que colocamos em pauta
leis internacionais e tratados de asilo, esse é um debate muito
importante. Quando alguém chega de outro background cultural pedindo
asilo a algum país da União Europeia, por exemplo, há um processo de
tradução cultural para que a pessoa que afirma ter sido perseguida por
razões de orientação sexual possa construir-se como alguém legível,
oficial, como uma vítima de perseguição aos olhos da polícia das
fronteiras desse país.
Estamos assistindo a uma reconfiguração de coalizões de demandas
e atores emergentes como ambientalistas, jovens contra a repressão
policial e trabalhadores sexuais, mas o que nos preocupa é que a
demanda que vai se legitimando implique numa
heteronormatização, que deixa fora das agendas as reivindicações
mais libertárias, relativas a práticas sexuais dissidentes. Como você
vê esta situação em termos de demandas por configuração de
sujeitos e de políticas sexuais?
Muitas vezes, nessas políticas de coalizão, as possibilidades de incluir
um coletivo que questiona uma moralidade sexual, vêm ao custo de que
estes coletivos renunciem à inclusão de suas demandas na agenda do
momento, com a promessa de incluí-las mais tarde; isso que você disse
sobre a heteronormatização é a demanda que precisa ser enfrentada na
formação de coalizões, entretanto, é muito difícil lutar por espaço na
agenda das políticas de coalizão.
As agendas dos grupos mais vulneráveis ou daqueles que desafiam
questões mais profundas, relativas à moralidade sexual, são sempre
deixadas para depois. A hegemonia do discurso recorrente habilitou um
movimento conservador muito forte contra o trabalho sexual. Associar
“prostituição” e tráfico de pessoas é uma das vias pelas quais, por
exemplo, o trabalho sexual se naturaliza como heterossexual, já que a
tradição do tráfico de pessoas vem da interpretação da mulher como
objeto, de um esquema muito clássico – de um sujeito masculino ativo
no marco do patriarcado – no qual as mulheres não têm outro papel a
não ser de objeto, sendo subjugadas, instrumentalizadas e usadas para
fins sexuais.
Esse discurso funciona também num contexto pós-colonial, onde se
repete essa versão heterossexualizada do neocolonialismo: de um lado,
um sujeito ativo e dominante, representante da dominação de um
“Ocidente avançado”; do outro, a emblemática “mulher vítima de uma
sociedade tradicional”, sem assistência nenhuma. Na realidade, na União
Europeia, o discurso antitráfico funciona como uma política
antimigratória, que evita a entrada de trabalhadores sexuais na Europa.
O reforço da cooptação do debate sobre trabalho sexual com o do tráfico
de pessoas foi fortemente impulsionado em nível internacional quando a
ONU promulgou o Protocolo de Palermo contra o tráfico de pessoas, no
ano 2000.
O paradigma do tráfico sexual funciona com medidas concretas e
regulamentações legais para legitimar as campanhas conservadoras
contra o trabalho sexual. É absolutamente ineficaz aos fins que diz ter, e
vulnerabiliza, precariza ainda mais as pessoas que diz defender,
proteger, e as que pretende resgatar. O discurso do tráfico de pessoas se
sustenta com esse argumento de que, na realidade, há uma tentativa de
“salvar” e defender as mulheres em situação de exploração. A única
coisa que esse discurso faz é piorar as condições de vida dessa
população.
Primeiramente, a eles é negada a palavra: se uma trabalhadora sexual
diz “a escolha é minha, eu decidi”, ela será desautorizada, sua palavra
será interpretada como a de um tipo de vítima de Síndrome de
Estocolmo, de alguém supostamente incapacitado ou que não conta com
a autonomia moral necessária para ser considerado como sujeito de
direito no sentido clássico, como alguém que pode falar e atuar por si
mesmo.
Uma desresponsabilização?
Totalmente. Essa destituição opera também na indústria do resgate, ou
da Igreja, nessa história de que elas são levadas, trazidas, se apropriam
delas. Isso é tráfico sexual, não? Movem seus corpos, vão de um lado
para o outro, de casa em casa, totalmente destituídas de suas
subjetividades. O discurso do tráfico de pessoas, em particular o
discurso abolicionista do feminismo, parte do pressuposto de que
nenhum sujeito em possessão de suas faculdades poderia escolher,
jamais, dedicar-se ao trabalho sexual, argumento moral que não tem
lógica. Ao mesmo tempo em que é necessário defender que a ideia de
trocar sexo por dinheiro é um trabalho, como defendem todos os
sindicatos e associações de trabalhadorxs sexuais, também se deve
problematizar a noção de escolha. As escolhas feitas por nós como
sujeitos estão relacionadas às condições sociais; também é certo que há
grupos mais vulneráveis que outros, e com menos possibilidade de
escolha que outros. Em que condições se elege e em que condições se
pode escolher um trabalho? Não é somente pensar em escolher o
trabalho sexual, mas nas condições em que este foi escolhido, o que as
medidas punitivas, proibitivas e abolicionistas não permitem pensar.
Quais poderiam ser as estratégias políticas que visam rearticular os
grupos de defesa dessas opiniões?
Efetivamente, estamos num momento político que vai percorrendo
regiões distintas com um discurso conservador. Onde há uma dimensão
do queer e uma dissidência sexual mais radical para que haja a formação
de estratégias políticas que a representem? Essa volta conservadora
contra o aborto não vem sozinha, mas carrega a força crescente do
discurso do tráfico de pessoas em todas as campanhas, a tendência à
perseguição do trabalho sexual e medidas contrárias ao reconhecimento
e à inclusão da diversidade sexual.
Na Irlanda, todas as campanhas pró-vida e contra o aborto ressurgiram
fortemente. Na Espanha, o governo do Partido Popular tentou anular a
lei do casamento igualitário. As manifestações que aconteceram na
França quando a lei do casamento foi discutida, em 2013, foram
impressionantes. Por isso eu digo que, com base nos movimentos de
dissidência sexual, temos que pensar com cuidado em como intervir; não
é para fazer campanhas com um objetivo único, mas para formar
coalizões por um lugar mais queer .
É preciso denunciar essa tendência de restringir as liberdades a
respeito do que fazemos com nossos corpos e como queremos usá-los.
Há muitas restrições legais que quase sempre criam distâncias sociais e
precarizam ainda mais quem já faz parte desse grupo. Nesse contexto, a
campanha pelo aborto seria reintroduzida. A lei do aborto é
fundamental, sobretudo para aquelas pessoas que não podem pagar por
clínicas ilegais, que só atingem uma minoria. O aborto é um assunto de
classe.
É necessário se perguntar sobre a ingerência e os papeis que o Estado
deveria ou não ter sobre os corpos das pessoas. Como ter um Estado que
proteja e habilite ao mesmo tempo? Essa sempre é uma tensão difícil;
por um lado, o Estado protege certos direitos ou assegura a provisão e
justa distribuição de certos recursos sociais (acesso à saúde, à educação
etc.), mas, ao mesmo tempo, não deve ter a ingerência sobre como
utilizamos nossos corpos. Esta é uma discussão que aparece a todo
tempo em grupos: como articular as demandas ao Estado para que haja
menos controle possível por parte dele? Como fazer para que o Estado
seja suficientemente democrático para cuidar sem controlar?
Como você acha que se pode rearticular a Teoria queer junto a
outros conceitos como o de descolonização, ou colocar em foco as
questões do pós-colonialismo proveniente de lugares de língua
inglesa?
Falando em política, é válido citar minha experiência plurinacional e
anticolonialista do Estado boliviano, historicamente bastante valiosa. Há
uma discussão na região Andina sobre o que implicaram as políticas de
construção nacional em função da mestiçagem que ocorreu nas culturas
e povos originários, de onde veio essa estrutura de nação moderna. A
região da América Latina é muito diversificada, e, apesar de possuir uma
história de colonização comum, também apresenta trajetórias de
modernização, em certo sentido, paralelas, porém diferentes.
A história de escravidão no Brasil, relativa à colonização portuguesa,
por exemplo, é muito diferente da experiência da região Andina, do
Cone Sul. A vinculação entre identidade nacional e mestiçagem, no caso
do Brasil, é diferente da região Andina (que também não é homogênea,
se olhada de perto), e do caso da Argentina, onde a Campanha do
Deserto [ política implantada pelo governo de tomada do território de
povos naturais da região do Pampa e da Patagônia ] se configura como
o emblema de uma política massiva de genocídio. Essa diversidade torna
difícil pensar numa generalização sobre a descolonização, que é também
diferente de uma oposição política ao modelo neocolonial.
Do ponto de vista acadêmico, creio que as teorias de descolonização
de Walter Mignolo, Ramón Grosfoguel ou de Boaventura de Sousa
Santos – com suas ideias de epistemologias fora do usual – são muito
mais problemáticas. Epistemologicamente, um lugar de enunciação
(neste caso, o do “outro” na colonização) não garante, necessariamente,
um lugar mais verdadeiro ou mais justo. É certo que, como dizia Audre
Lorde, não se pode desmantelar a casa do amo com suas próprias
ferramentas; precisamos de desobediência epistemológica, mas esta não
se adquire com a exterioridade absoluta em que creio que estão
pensando esses teóricos descoloniais.
Tradução de Patrícia Homsi
entrevista Laurence Philomène
Delicadeza transviada
PEDRO CAMARGO
A pesar da pouca idade, a fotógrafa canadense Laurence Philomène,
vinte e um anos, já apresenta uma obra que afronta o conceito de gênero
binário cristalizado na sociedade. Ela começou a fotografar e publicar
seu trabalho na internet aos quatorze anos. O que se entende por
masculino funde-se com o seu oposto em fotografias delicadas que se
alinham à cultura queer . Em entrevista à revista CULT, por e-mail, ela
conta sobre seu processo criativo e suas fotos, publicadas neste dossiê.
Quais são as suas principais referências estéticas?
Em geral, eu me inspiro a partir de combinações de cores. Eu gosto de
rosa, azul, lilás, pêssego e também de várias coisas que vão desde Maria
Antonieta, passando por Wolfgang Tillmans, até grupos de garotas da
década de 1960. Eu também gosto de todos os tipos de boneca, elas
sempre foram uma grande fonte de inspiração para mim.
Alguma experiência pessoal te ajudou no desenvolvimento do seu
trabalho?
Eu sofro de uma doença crônica no rim que me acompanhou por toda a
vida e, devido a isso, passo muito do meu tempo sozinha em casa.
Acredito que, como uma adolescente, eu usei a fotografia para escapar,
de alguma forma. Quando estava sozinha em casa, fotografava para me
distrair. Conforme fui crescendo, ser queer definitivamente influenciou
meu trabalho. Eu também me identifico como assexual. Acredito que
isso me ajude a criar uma nudez fotográfica que não é inerentemente
sexual. Eu acho que os corpos humanos são lindos e é isso que quero
mostrar no meu trabalho.
Você sofre algum tipo de preconceito ou discriminação em resposta
ao desafio que oferece para as concepções de gênero?
Sim e não – eu me cerco de pessoas que dividem os mesmos ideais que
eu. Meus amigos e seguidores aceitaram meu trabalho e concordam com
ele. Entretanto, eu fotografei a série Feminine identities [Identidades
femininas] para um trabalho de faculdade e meus professores não
entenderam verdadeiramente de onde tudo aquilo vinha. Eu imagino
que, por virem de uma geração mais antiga, eles não foram expostos a
essas ideias de gênero fluido e por isso acabam ficando mais confusos.
Quando e como você entrou em contato com essas ideias?
Eu acredito que sempre fui interessada pela cultura queer . Não consigo
realmente destacar um momento específico quando eu comecei a me
interessar pelo ativismo queer . Eu tirei fotos do meu amigo, Vejas,
alguns anos atrás usando maquiagem e pelo menos acho que foi aí que a
ideia para Feminine Identities surgiu. Desde então, eu continuei
seguindo nessa linha.
Você é uma ativista política da cultura queer ?
Na minha vida pessoal, sim. Na fotografia, não necessariamente. Eu
quero criar um trabalho que seja bonito e faça as pessoas pensarem por
um momento. Eu creio que, por causa do assunto que tratam, elas serão
vistas como políticas, e estou bem com isso, mas esse não é
necessariamente o meu objetivo original. Na minha vida pessoal, em
contrapartida, eu quero ser uma ativista queer , especialmente dos
direitos das mulheres transexuais.
entrevista Laerte Coutinho
Vestidos de Laerte
PEDRO CAMARGO
Como artista, você é unanimidade. E como cidadã?
Não rola nenhuma unanimidade, nem como artista nem como cidadã.
Meu trabalho é questionado de várias formas e minha “atuação” como
pessoa transgênera também.
A esse respeito, aliás, vem acontecendo uma determinada
movimentação, uma espécie de corporativismo em torno da pertinência
das denominações transgêneras.
Há, ali, quem defenda uma legitimidade exclusiva, restrita a travestis e
transexuais, com o consequente traçado de limites territoriais – onde
pessoas “não-alinhadas” não estarão incluídas.
É uma pena, porque bate de frente com a vocação transgressora da
ideia de transgeneridade, como um movimento de desmanche do bi-
generismo e da rigidez das identidades.
Você é mais assediada por homens ou por mulheres?
Esta pergunta faz supor que há uma fila de assédio que possa ser
tabulada. Não há… Entre homens, mulheres e todas as nuances, sou
assediada e assedio com bastante moderação.
Acredita que as mulheres são mais frágeis e precisam de proteção?
Não mesmo. O fato de ter massa corporal menor – na média – não
implica em fragilidade e necessidade de proteção.Ideias como esta
embasam políticas de segregação, como os banheiros por gênero, os
“vagões rosa” em trens e metrôs; o que essa política pretende (e realiza)
é o exercício da dominação e controle das mulheres e de seus corpos.
Defende o aborto?
Defendo o direito a recorrer ao aborto, sim. Os conservadores é que
dizem que isso é “defesa do aborto”. Uma sutileza retórica muito
eficiente.
Você segue as tendências de moda ou cria seus próprios figurinos?
Ai de mim!, não sigo moda nenhuma. Vou procurando segundo uma
ideia meio confusa de um compromisso entre as roupas que me
apetecem e a ideia que faço do meu corpo.
Acabo compondo um certo figurino, que varia de acordo com a
trajetória que venho fazendo.
Já usei coisas bem de vovó, de hippie, de tia louca.
Comprar roupa e me vestir não é exatamente um momento de
relaxamento, mas gosto do desafio e desfruto o resultado, quando chego
a ele.
Pode falar sobre seus desejos sexuais?
Há uns dez anos – finalmente – reconheci a parte do meu desejo que se
refere a homens.
Foi com eles que comecei minha vida sexual, na juventude.
O fato de ter passado toda a vida adulta negando e escondendo esse
fato deixa marcas, claro.
Hoje em dia, procuro me conduzir de modo natural, compreendendo
as dificuldades que tenho, mas tentando não me submeter a elas.
O vagão rosa do metrô vai ser instituído em São Paulo: o que você
acha disso?
Falei ali atrás, é o que penso. Uma tentativa de controlar a mulher e seu
corpo, disfarçada de política de proteção.
Fora que se trata também de uma construção prática do bi-generismo,
que joga para escanteio todas as mulheres que não pareçam claramente
“femininas” e todas as pessoas transgêneras.
Gostaria de mencionar aqui que aquele pensamento “corporativista”
de que falei – a visão que exclui todas as pessoas que não são travestis
ou transexuais (como drag-queens, transformistas, crossdressers,
agêneros etc.) – adota em relação a situações como o vagão rosa a
mesma atitude que em relação ao uso dos banheiros: reivindica-se o
direito de serem consideradas mulheres, mas não a natureza
segregacionista dessas instituições.
É um neo-bi-generismo.
livros
Retratos da MPB
GABRIELA SOUTELLO
Não há ordem cronológica nem biografias. Muito menos se consegue
distinguir alguma especificidade musical ou identificações marcantes
entre os personagens escolhidos. Ainda assim, o livro Retratos sonoros ,
do fotógrafo Daryan Dornelles, surge como representação planificada da
música brasileira. Cerca de cento e cinquenta e quatro imagens foram
selecionadas para integrar a coletânea. Entre os retratados estão Paulinho
da Viola, Martinho da Vila, Tiê e Karina Buhr, tão contrastantes quanto
Mr. Catra sem camisa e Chico Buarque de terno vermelho. Também
estão lá o rodado Luiz Melodia e o novato Pélico, fotografado dos
joelhos para cima, com folhas caindo sobre seu corpo.
A cada página, os rostos capturados pela câmera de Daryan dão forma
a um momento ou estilo musical diferente, seja samba rock, jazz ou
música baiana. Mas, o fotógrafo adverte, não se trata de uma tentativa de
separar as fases da música. É apenas um livro autoral de fotos, aquelas
de sua preferência. Além do talento que dedica aos cliques, Daryan é
apaixonado por música – tem mais de oito mil discos em sua casa – e faz
dela tema recorrente em seu cotidiano.
O fotógrafo assina várias capas de disco e já produziu pelo menos
duzentos e cinquenta retratos de personagens da música brasileira. Antes
de fazer as fotos, Dornelles pesquisa o trabalho do artista e procura ouvir
toda a música que ele já produziu, com o sentido de conhecer e refletir
sua personalidade nas lentes. São essas impressões que despontam no
livro, formando um painel segmentado do Brasil musical.
CONVERSA COM O AUTOR
De que maneira música e imagem podem se misturar?
O que importa principalmente nas músicas são as composições e os
intérpretes, mas as imagens sempre estiveram associadas a elas. Isso está
na história dos Stones, por exemplo, da Madonna, do George Michael e
mesmo dos Beatles, à época dos terninhos e motocicletas. Há uma
programação visual para a banda ou o artista e um quê de imagem em
tudo por trás do som. A imagem é um elemento importante para a
própria popularização da música.
O que te inspira e instiga nos rostos?
Tem rosto que tem história. Caetano tem história, Gil e Dominguinhos
têm história. Tanto o artista quanto eu mesmo daqui a pouco vamos
embora, mas uma das motivações é a de que o retrato está ali para ficar.
Outro elemento motivador é imaginar que um artista novo vai crescer.
Além de estar disposto a aparecer de outra maneira, o novo está mais cru
para as coisas. Essa crueza é interessante porque pode ser comparada
com a crueza do primeiro disco.
colaboraram nesta edição
Andrea Lacombe é argentina e pesquisadora do Núcleo de Estudos de
Gênero Pagu/Unicamp
Berenice Bento é professora da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte
Carla Rodrigues é professora da Universidade Federal do Rio Janeiro
Cassiano Viana é jornalista e editor da revista Minotauro
Eclair Antonio Almeida Filho é professor na Universidade de Brasília
Emma Song é argentina e ativista feminista pró-sexo
Franthiesco Ballerini é jornalista e coordenador geral da Academia
Internacional de Cinema
Gabriel Monteiro é artista plástico e estudante de jornalismo
Karla Bessa é professora na Universidade King’s College
Laerte Coutinho é cartunista e roteirista
Reynaldo Damazio é editor, poeta e crítico literário
Richard Miskolci é professor da UFSCAR e autor do livro Teoria
queer: um aprendizado pelas diferenças
Toni D’Agostinho é caricaturista, ilustrador e sociólogo
Você também pode gostar
- A falência do narrador: ou quem está narrando a história?No EverandA falência do narrador: ou quem está narrando a história?Ainda não há avaliações
- Box Obras de Edgar Allan Poe 1 - Histórias ExtraordináriasNo EverandBox Obras de Edgar Allan Poe 1 - Histórias ExtraordináriasAinda não há avaliações
- Livro Bonecas QuebradasDocumento101 páginasLivro Bonecas QuebradasMayra Montenegro100% (1)
- A Loucura Histérica: Uma Variante da Estrutura HisterianaDocumento16 páginasA Loucura Histérica: Uma Variante da Estrutura HisterianaRosanaMárciaAinda não há avaliações
- Do Humor: elementos tetraédricos do risoNo EverandDo Humor: elementos tetraédricos do risoAinda não há avaliações
- Literatura Brasileira e Mal-Estar: O Futuro Abolido em Três Romances de 30No EverandLiteratura Brasileira e Mal-Estar: O Futuro Abolido em Três Romances de 30Ainda não há avaliações
- A Literatura e MalDocumento5 páginasA Literatura e MalBruno ArenaAinda não há avaliações
- Ética dos devires em Deleuze e GuattariDocumento114 páginasÉtica dos devires em Deleuze e GuattariAline Ariana Alcântara AnacletoAinda não há avaliações
- O Inconsciente teatral: psicanálise e teatro: homologiasNo EverandO Inconsciente teatral: psicanálise e teatro: homologiasAinda não há avaliações
- Diálogos entre psicanálise e literatura: Um ensaio sobre o amor nos tempos do cóleraNo EverandDiálogos entre psicanálise e literatura: Um ensaio sobre o amor nos tempos do cóleraAinda não há avaliações
- Cult 2020 05Documento52 páginasCult 2020 05Jorge Alexandre Oliveira Alves100% (4)
- Poesia e pintura: Um diálogo em três dimensõesNo EverandPoesia e pintura: Um diálogo em três dimensõesAinda não há avaliações
- O desejo homoerótico no conto brasileiro do século XXDocumento267 páginasO desejo homoerótico no conto brasileiro do século XXFernanda Gomes100% (1)
- Solidao Modo de Usar CAP1 DunkerDocumento19 páginasSolidao Modo de Usar CAP1 DunkerMariana AlmeidaAinda não há avaliações
- Fase Espelho-LacanDocumento3 páginasFase Espelho-LacanAdriana TenórioAinda não há avaliações
- Cinema e Antropoceno: Novos sintomas do mal-estar na civilizaçãoNo EverandCinema e Antropoceno: Novos sintomas do mal-estar na civilizaçãoAinda não há avaliações
- Um passeio esquizo pelo acompanhamento terapêuticoDocumento49 páginasUm passeio esquizo pelo acompanhamento terapêuticoBruna de JesusAinda não há avaliações
- Na Poesia Viva: A Poesia Contemporânea em Frente e VersoNo EverandNa Poesia Viva: A Poesia Contemporânea em Frente e VersoAinda não há avaliações
- O Monolinguismo Do OutroDocumento56 páginasO Monolinguismo Do OutroLucas VieiraAinda não há avaliações
- Bion no Brasil: supervisões e comentáriosNo EverandBion no Brasil: supervisões e comentáriosAinda não há avaliações
- Clown Ou Palhaço PDFDocumento150 páginasClown Ou Palhaço PDFJoao_SouzaAinda não há avaliações
- Leitura psicanalítica do filme O Show de TrumanDocumento3 páginasLeitura psicanalítica do filme O Show de TrumanMingus9Ainda não há avaliações
- Em busca da singularidade perdida: uma jornada imanenteNo EverandEm busca da singularidade perdida: uma jornada imanenteNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Análise da Narrativa JornalísticaDocumento16 páginasAnálise da Narrativa JornalísticaPaola SeveroAinda não há avaliações
- Discurso, Cinema e Educação: Metáforas Visuais em Abril DespedaçadoNo EverandDiscurso, Cinema e Educação: Metáforas Visuais em Abril DespedaçadoAinda não há avaliações
- Bertrand Russell: 3 em 1: No que acredito, Por que não sou cristão, ensaios céticosNo EverandBertrand Russell: 3 em 1: No que acredito, Por que não sou cristão, ensaios céticosAinda não há avaliações
- Versos Fanchonos, Prosa Fressureira: uma antologia (1860-1910)No EverandVersos Fanchonos, Prosa Fressureira: uma antologia (1860-1910)Ainda não há avaliações
- HQ Paulo FreireDocumento40 páginasHQ Paulo FreireAnna Luiza ReisAinda não há avaliações
- Jovens Werthers - Antropologia Dos Amores e Sensibilidades No Mundo EmoDocumento256 páginasJovens Werthers - Antropologia Dos Amores e Sensibilidades No Mundo EmoBianca MoraesAinda não há avaliações
- História pessoal e sentido da vida: historiobiografiaNo EverandHistória pessoal e sentido da vida: historiobiografiaAinda não há avaliações
- Dogma 95Documento24 páginasDogma 95RubensMuseuAinda não há avaliações
- Jean-François Lyotard - O Pós-ModernoDocumento61 páginasJean-François Lyotard - O Pós-Modernojosé geraldo100% (2)
- Cult #233 - Hilda HilstDocumento36 páginasCult #233 - Hilda HilstCora ConcursandoAinda não há avaliações
- Cult 261 - Walter BenjaminDocumento40 páginasCult 261 - Walter BenjaminMaria GabrielaAinda não há avaliações
- Entrevista com Judith Butler e exercício de escrita sobre identidadeDocumento37 páginasEntrevista com Judith Butler e exercício de escrita sobre identidadebrunaAinda não há avaliações
- Cult 260 - A Atualidade Estratégica Da SemióticaDocumento39 páginasCult 260 - A Atualidade Estratégica Da SemióticaMaria GabrielaAinda não há avaliações
- Cult Especial 9 - Hannah Arendt (Autores, Vários)Documento30 páginasCult Especial 9 - Hannah Arendt (Autores, Vários)Lupercio SilvaAinda não há avaliações
- Cult 249 - A Psicanálise No Brasil by Autores, Vários (Autores, Vários)Documento56 páginasCult 249 - A Psicanálise No Brasil by Autores, Vários (Autores, Vários)janarj100% (2)
- Cult 262 - O Que É o Feminismo Decolonial by Vários AutoresDocumento43 páginasCult 262 - O Que É o Feminismo Decolonial by Vários AutoresLuana TellesAinda não há avaliações
- 255 - Lélia GonzalezDocumento36 páginas255 - Lélia GonzalezLoci MassalaiAinda não há avaliações
- A psicanálise, um estranho no ninhoDocumento29 páginasA psicanálise, um estranho no ninholucas brian marquesAinda não há avaliações
- Cult 222 Antonio Gramsci (Autores,...Documento43 páginasCult 222 Antonio Gramsci (Autores,...lourenildoAinda não há avaliações
- Cult 258 - Cancelamento Da CulturaDocumento47 páginasCult 258 - Cancelamento Da CulturaMaria GabrielaAinda não há avaliações
- Cult 209 - Marilena ChauiDocumento48 páginasCult 209 - Marilena ChauiMaria Gabriela50% (2)
- Cult 250 Vamos Falar Sobre SuicídioDocumento53 páginasCult 250 Vamos Falar Sobre SuicídioMaria GabrielaAinda não há avaliações
- Cult Especial 6 - Queer (Vários Autores (Autores, Vários) ) (Z-Library)Documento73 páginasCult Especial 6 - Queer (Vários Autores (Autores, Vários) ) (Z-Library)Andressa RosaAinda não há avaliações
- As múltiplas crises no Brasil e o papel do direitoDocumento50 páginasAs múltiplas crises no Brasil e o papel do direitoGabrielle Prado0% (1)
- Cult 248 - Por Que Amamos Paulo LeminskiDocumento53 páginasCult 248 - Por Que Amamos Paulo LeminskiMaria GabrielaAinda não há avaliações
- Cult 239 - Graciliano RamosDocumento61 páginasCult 239 - Graciliano RamosMaria GabrielaAinda não há avaliações
- Disco de Arnaldo Antunes traz parcerias e canções inéditasDocumento95 páginasDisco de Arnaldo Antunes traz parcerias e canções inéditasMaria Gabriela100% (2)
- Hegel, Friedrich - Cultura - Dossiê Deslocamentos de Hegel - 56 PagDocumento52 páginasHegel, Friedrich - Cultura - Dossiê Deslocamentos de Hegel - 56 PagPatrícia AvilaAinda não há avaliações
- Por um quilombo no Congresso: a representatividade negra e a eleição de 2018Documento63 páginasPor um quilombo no Congresso: a representatividade negra e a eleição de 2018Jessica Pacifico dos reisAinda não há avaliações
- A Arte de Falar Da Morte para Criancas ( - Paiva, Lucelia ElizabethDocumento238 páginasA Arte de Falar Da Morte para Criancas ( - Paiva, Lucelia Elizabethlamicasc100% (4)
- Entrevista com Barbara Cassin sobre sua obra e a sofística gregaDocumento106 páginasEntrevista com Barbara Cassin sobre sua obra e a sofística gregaMaria Gabriela0% (1)
- Cult 217 - Especial Angela Davis by Vários AutoresDocumento100 páginasCult 217 - Especial Angela Davis by Vários AutoresEster Estevão da SilvaAinda não há avaliações
- Cult 185 - Judith Butler by Autores, VáriosDocumento51 páginasCult 185 - Judith Butler by Autores, VáriosGe NomAinda não há avaliações
- Entrevista com Marco BellocchioDocumento75 páginasEntrevista com Marco BellocchioMaria GabrielaAinda não há avaliações
- Grupo Record - Lista de PreçosDocumento21 páginasGrupo Record - Lista de Preçossousagleydison2Ainda não há avaliações
- Performance e escrita performáticaDocumento10 páginasPerformance e escrita performáticaPedro Ivo AlvarezAinda não há avaliações
- O Misterio Henri Pick - David FoenkinosDocumento260 páginasO Misterio Henri Pick - David FoenkinosIsabel BarbosaAinda não há avaliações
- O cordel empoderado de Salete MariaDocumento20 páginasO cordel empoderado de Salete MariaStelio Torquato LimaAinda não há avaliações
- Roteiro de Apresentações - Café LiterárioDocumento8 páginasRoteiro de Apresentações - Café Literáriogabierm2006Ainda não há avaliações
- A Rainha do IgnotoDocumento4 páginasA Rainha do IgnotoAmandaAinda não há avaliações
- CADERNOS DE PROVA Vestibular 2024 - E3-PIDocumento32 páginasCADERNOS DE PROVA Vestibular 2024 - E3-PImurilobdslives5Ainda não há avaliações
- Língua Portuguesa - Adjuntos adverbiaisDocumento4 páginasLíngua Portuguesa - Adjuntos adverbiaisGabriela LopesAinda não há avaliações
- Diálogo inacabadoDocumento1 páginaDiálogo inacabadoFlavia MoraisAinda não há avaliações
- ExethanterDocumento2 páginasExethanterCarlos EduardoAinda não há avaliações
- Localizar informações em textos de diferentes gênerosDocumento48 páginasLocalizar informações em textos de diferentes gênerosLuana LimaAinda não há avaliações
- EXERCICIO 3° ANO (09-03-2023) - Genero Textual No InglesDocumento2 páginasEXERCICIO 3° ANO (09-03-2023) - Genero Textual No InglesMário André De Oliveira CruzAinda não há avaliações
- A saudade de um amor impossívelDocumento2 páginasA saudade de um amor impossívelalexmelo28Ainda não há avaliações
- Resumo O Mistério de La CañadaDocumento5 páginasResumo O Mistério de La CañadaScribdTranslationsAinda não há avaliações
- Exaltação do lavor poéticoDocumento3 páginasExaltação do lavor poéticoLarissa SharonAinda não há avaliações
- PDF 04395 3 Ordm Ano 2024 Completo WebDocumento369 páginasPDF 04395 3 Ordm Ano 2024 Completo WebROBERTO MARCELINOAinda não há avaliações
- O Desejo Do Magnata - M.C Mari CardosoDocumento569 páginasO Desejo Do Magnata - M.C Mari CardosoDiego de MelloAinda não há avaliações
- Simulado 7 AnoDocumento3 páginasSimulado 7 AnoGustavo Jardel ConradAinda não há avaliações
- E Folio ADocumento4 páginasE Folio Amaria_666Ainda não há avaliações
- O Cordão Encarnado: uma leitura Severina de João Cabral de Melo NetoDocumento633 páginasO Cordão Encarnado: uma leitura Severina de João Cabral de Melo Netoluis eustaquio soaresAinda não há avaliações
- FP Mensagem1Documento5 páginasFP Mensagem1Francisco OliveiraAinda não há avaliações
- Viúva Loura anuncia procura por companhiaDocumento5 páginasViúva Loura anuncia procura por companhiaFrederica EvangelineAinda não há avaliações
- Comunicado 48 Livro de Leitura de Portugues Lembrete 8 Ano PDFDocumento1 páginaComunicado 48 Livro de Leitura de Portugues Lembrete 8 Ano PDFNATILA ABRAHAO100% (1)
- Ricardo Reis e Álvaro de CamposDocumento11 páginasRicardo Reis e Álvaro de CamposInês LopesAinda não há avaliações
- Júpiter e Saturno no céuDocumento2 páginasJúpiter e Saturno no céuNathany Ferreira CoutoAinda não há avaliações
- A POESIA MEDIEVAL P+üG. 192 AT+ë 199.Documento8 páginasA POESIA MEDIEVAL P+üG. 192 AT+ë 199.Weberty FariasAinda não há avaliações
- Fábula É Um Texto Narrativo CurtoDocumento1 páginaFábula É Um Texto Narrativo CurtoDanubia BatistaAinda não há avaliações
- Magia ProibidaDocumento3 páginasMagia ProibidaAlessandro NunesAinda não há avaliações
- 1 (Ef08li03)Documento4 páginas1 (Ef08li03)Jack AdriAinda não há avaliações
- Quinhentismo REVISAODocumento16 páginasQuinhentismo REVISAOLD RodriguesAinda não há avaliações