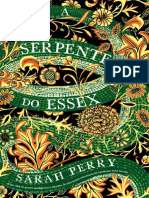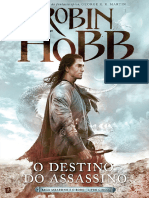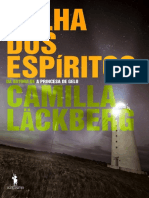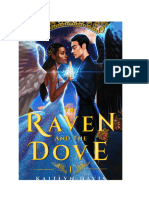Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Jesuita de Lisboa - Titus Muller
Enviado por
N MD0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
7 visualizações433 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
7 visualizações433 páginasA Jesuita de Lisboa - Titus Muller
Enviado por
N MDDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 433
Ficha Técnica
Título original: Die Jesuitin von Lissabon
Tradução: Paulo Rêgo
Revisão: Ayala Monteiro
Adaptação portuguesa da capa: Carlos Miranda/Oficina do Livro, Lda.
Designer de capa: Mediabureau Di Stefano, Berlim
Mapa de Lisboa: Joris Hoefnagel © bridgemanart.de
Ilustrações: iStockphoto © Joachim Angeltun
ISBN 9789895559169
CASA DAS LETRAS
uma marca da Oficina do Livro – Sociedade Editorial, Lda.
uma empresa do grupo LeYa
Rua Cidade de Córdova, 2
2610-038 Alfragide
Tel: 21 041 74 10, Fax: 21 471 77 37
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlim, 2010
Publicado com o acordo de Rütten&Loening, uma chancela da
Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
Todos os direitos reservados de acordo com a legislação em vigor
E-mail: info@casadasletras.leya.com
www.casadasletras.leya.com
www.leya.pt
Esta edição segue a grafia do novo acordo ortográfico.
A magnífica cidade de Lisboa teve durante muito tempo a re-
putação de ser bela e grande; mas um quarto de hora foi
quanto bastou para ser devastada. Oh, que coisa medonha de
se ver! Que horror!
Jornal Leipziger Zeitung, 6 de Dezembro de 1755
PRIMEIRO LIVRO
1
O mar erguia-se em paredes de água e a ventania uivava através
dos sombrios desfiladeiros. As cristas das ondas desfaziam-se em
escuma. Os relâmpagos derramavam a sua claridade e eram
novamente engolidos pela noite.
O Fortune, um navio inglês de três mastros, flutuava por entre
aquelas primordiais forças da natureza como se de um pedacinho
de madeira se tratasse. A tormenta puxava-o violentamente para
cima e soprava a espuma ao longo de cada um dos lados da proa,
as vagas enrolavam-se nele de lado, abatiam-se sobre o barco e
afundavam o convés sob toneladas e toneladas de água. O navio
inclinou-se, assim permanecendo por alguns terríveis instantes. Por
fim, voltou a endireitar-se, permitindo que a água gorgolejasse para
fora da amurada. Um trovão estrondeou. A tempestade precipitou o
barco lá para baixo, para a escuridão, como se quisesse empurrá-lo
a pique para o fundo do mar.
O comandante Wrightson amarrara-se firmemente à roda do
leme. Tentava fazer com que o barco seguisse de frente contra as
ondas, enquanto os mastros despidos iam rangendo. Os
marinheiros, com os seus rostos encharcados e lustrosos,
esfalfavam-se a bombear a água para fora.
No interior do navio, Antero Moreira de Mendonça ajoelhou-se
diante do seu beliche, afundou as mãos debaixo da enxerga de
palha e pôs-se a rezar:
– Não me deixes morrer! Não me deixes morrer, meu Deus! Ainda
não. Ainda não estou pronto.
A água chapinhava em redor das suas pernas. Tanto as meias
como os calções estavam encharcados.
As ondas embatiam com estrondo contra as paredes do casco,
era como se as pranchas de madeira fossem rebentar. Antero sentia
um gosto adocicado na boca. Ergueu-se e cambaleou até à escada.
Dos degraus ia pingando água. Agarrou a madeira molhada e trepou
rumo ao convés.
A escotilha junto ao extremo superior da escada, empurrada de
fora pela força do vento, ofereceu-lhe resistência. Foi com toda a
sua força que Antero se apoiou contra ela, tendo conseguido abri-la
pouco menos do que uma mão-travessa. Então, o vento arrancou-
lhe a portinhola da mão. Num instante a escotilha abriu-se por
completo, e o temporal, frio e húmido, veio de encontro ao seu peito.
Trepou para o exterior. O vento arrastou-o. Antero deixou-se cair
sobre as mãos e os joelhos, e seguiu de gatas até junto da
amurada. Um marinheiro berrou algo, mas Antero apenas conseguiu
aperceber-se de que a sua boca se movia, já que a tempestade lhe
arrancava as palavras dos lábios. Antero abraçou a amurada.
Estava tudo negro. Onde acabava o céu? Onde começava o mar?
Um relâmpago iluminou os contornos das vagas. O coração de
Antero parou por momentos. A altura dos negros monstros excedia
a dos mastros do navio! Sentiu algo que lhe irrompeu pela garganta
e vomitou.
O marinheiro desatou a amarra que, por segurança, o mantinha
preso a uma das bombas e, curvado para a frente, correu na direção
de Antero. Nesse momento, uma vaga inundou o convés. Antero
deixou de conseguir ver fosse o que fosse. Ficou à mercê da água
fria do mar. Quando voltou a conseguir ver alguma coisa, os seus
olhos depararam-se com o marinheiro. Fora derrubado e
arremessado contra um dos mastros. Voltou a erguer-se a custo.
Chegou junto de Antero.
– Vá para baixo! – berrou-lhe ele ao ouvido.
Curvou-se e agarrou-o, tentando afastá-lo da amurada. Antero
não largou a estrutura de madeira sem oferecer alguma resistência.
Foi arrastado de volta para onde viera e obrigado a descer a
escada. O marinheiro fechou depois a escotilha sobre a cabeça
dele.
As suas pernas estavam moles como massa de pão. Mais do que
descer a escada, foi caindo por ela abaixo. Foi parar no meio da
água. Esta corria para trás e para a frente, de uma parte do
compartimento para a outra, consoante o lado para o qual o navio
se inclinasse. Obviamente aqueles que estavam a bombear não
conseguiam dar conta do recado.
«Vai-se acumulando cada vez mais água no interior do navio até
irmos ao fundo», pensou. O sabor do vomitado que sentia na boca
recordou-lhe a carne em salmoura que havia comido na noite
anterior. Não pretendia morrer com aquele repugnante gosto na
boca. Foi chapinhando com os pés até junto do beliche, retirou a
garrafa de vinho do Porto do armário a um canto, tirou-lhe rolha e
bebeu.
– Antero Moreira de Mendonça, és mesmo uma desilusão – disse
em voz alta –, uma desilusão de todo o tamanho.
Voltou a guardar a garrafa bojuda e de seguida também ele,
assim encharcado como estava, se recolheu ao beliche. As ondas
embatiam com força no casco do navio, bem próximo da sua
cabeça. Baloiçava para cima e para baixo, a tempestade embalava-
o.
A alguém como ele, Antero sabia que Deus, ao rogar-lhe o
regresso à tranquilidade, nem sequer daria ouvidos. De resto, ele
nem sequer se fiava no auxílio de Deus. Era um maldito de um
contrabandista, um homem sem fé. Se fosse parar ao fundo do mar
no interior daquele barco, aguardavam-no depois os austeros anjos
e o Juízo Final. Qual serpente, o medo carcomia-lhe as entranhas.
Sentia tonturas e estremecia de frio e cansaço.
– Lamento… – sussurrou, pensando no seu herbário, no livro de
apontamentos com os desenhos de escaravelhos, nos serões que
passara no observatório astronómico dos Jesuítas em Lisboa. – Em
tempos dediquei-me à investigação, meu Deus. Era um daqueles
que andavam em busca dos Teus vestígios. Por favor, não Te
esqueças disso.
Dalila aproximou da sua cara o lenço de rosto de Antero e inalou o
odor deste, tomando-o como se de um remédio se tratasse: a água
do mar e a acerba fragrância masculina. Se Leonor se desse conta
de que ela lhe tinha roubado o lenço, iria enfurecer-se. E Antero? Se
soubesse que o seu lenço de rosto era cheirado por outra que não
aquela a quem ele o dera, como iria reagir? Talvez ele também a
pudesse amar a ela, Dalila. Afinal, Leonor e ela eram irmãs gémeas.
Era idêntico o aspecto dos seus rostos e dos seus corpos, ainda que
o caráter de cada uma delas fosse bem diferente.
A chama da vela combatia a escuridão do quarto. No exterior, a
chuva fustigava as portadas. Dalila afagava suavemente com a mão
por cima da coberta. A respiração da pequenita era regular. Estaria
a dormir?
– Os relâmpagos não nos conseguem acertar?
Afinal ainda não adormecera.
– Já te expliquei isso, querida – sussurrou Dalila. – Aqui estamos
a salvo.
– Como se chama isso? O que nos protege?
– Pára-raios. – Dalila acariciava o tufo de cabelo ruivo da
pequenina. O cabelo desta cintilava à luz da vela. No meio da
enorme cama, parecia carecer de protecção. Dalila acrescentou: –
Foi um senhor inteligente que o descobriu, e agora já nada de mal
poderá acontecer-nos. Repara só como está aconchegado aqui
dentro, enquanto lá fora faz aquele temporal! Temos a vela, está
quente, e estamos aqui a seco.
Ouviu-se o estrondo de um trovão. Tateando, a mão da pequenita
procurou a de Dalila.
– Ficas aqui?
Dalila pegou na mão da criança e acariciou-a.
– Fico. Não tenhas medo.
Tinha pena da menina. Fora concebida por um qualquer nobre
libidinoso e uma criada e depois deixada a crescer algures, bem
longe. Seria de certeza apenas em troca de uma soma exorbitante
que o seu pai sustentava a menina, e incumbira expressamente a
austera cozinheira de se ocupar da pequenina. Não podia saber que
a sua filha estava aqui em baixo, pois trataria logo de dizer «Não há
nada de que uma rapariga nobre possa andar à procura aqui nos
aposentos da criadagem, Dalila!» A casa encontrava-se dividida,
nos andares superiores estava o céu, era aí que eles habitavam, e
lá em baixo ficava o inferno, onde vivia a criança ilegítima que
ninguém queria. E, no entanto, a menina pertencia presumivelmente
também à nobreza! Uma criança nobre que crescia nos aposentos
da criadagem, entre tachos, caixotes do lixo e a gamela dos cães.
O cão também não conseguia adormecer. Olhava em silêncio na
direção da janela, para lá da qual os relâmpagos iluminavam a noite.
Ainda bem que ele fazia companhia à pequenina de noite e de dia.
Era como se lhe substituísse o pai e a mãe. Por vezes, parecia a
Dalila que aquele inteligente animal o sabia.
Virou-se para o lado e voltou a cheirar o lenço de rosto de Antero.
Pelo seu nariz absorvia o odor a aventuras. Aquele homem era
mesmo livre. Percorria alegremente os confins do mundo.
– Que tens tu aí? – perguntou a pequenita.
Dalila estremeceu.
– É só um lenço – respondeu, escondendo-o junto do peito.
Foi acordado por uma voz.
– Quer que lhe sirva a comida, sir, ou deverei lançá-la já borda
fora?
O retumbar deixara de se fazer ouvir. O barco rangia
pacatamente, entregando-se à ondulação. Olhou para cima, para a
escotilha. Uma lamparina que emitia uma luz avermelhada iluminava
o rosto do grumete. O rapaz esboçou um sorriso trocista.
Antero apalpou as suas roupas. Estavam frias e hirtas.
– Tira esse sorriso da cara, rapazola, ou vou aí e é à pancada que
to tiro – ao dizer isto, enganou-se na pronúncia que fingia ter. – Eu
subo. É claro que consigo manter a comida no estômago.
Tinha sobrevivido. Era evidente que, enquanto dormia, a
tempestade se havia acalmado. Antero desceu do beliche. Era já só
em pequenas poças que a água se acumulava no chão. Apoiou-se
na mesa. Trepou escada acima com dificuldade. Era costume os
passageiros comerem à mesa do comandante e dos oficiais.
Desconfiava de que fora o próprio Wrightson a dar ordens para que
a comida lhe fosse sempre servida na cabina, para que ele próprio
ficasse a salvo de quaisquer suspeitas de estarem combinados,
caso o empreendimento desse para o torto.
Era obviamente impensável pô-lo a comer junto da tripulação, já
que isso iria fomentar a insatisfação entre os marinheiros, uma vez
que, enquanto passageiro, ele recebia uma alimentação melhor do
que a deles. Aos marinheiros era servida carne fria pela manhã e de
resto comiam uma mistura que consistia de água e farinha, a que
davam o nome de «caldo indiano». Ele, pelo contrário, recebia
refeições quentes e bem condimentadas, semelhantes às que
seriam servidas numa estalagem de nível médio. De resto, não
havia razão alguma para o isolar do contacto com os oficiais, a não
ser o facto de o comandante Wrightson estar assim a tentar
proteger-se de quaisquer danos. A falta de confiança deste no
sucesso daquele empreendimento era algo que irritava Antero. Das
duas uma: ou se estava naquilo de corpo e alma e se respondia por
isso, ou deixava-se ficar a coisa.
Quando ele subiu para o exterior, através da escotilha, o grumete
estendeu-lhe um tabuleiro, sobre o qual havia um púcaro de
madeira, com biscoitos em redor.
– Hoje quer comer aqui fora ao ar livre, sir? – perguntou. Deixara
de fazer aquele sorriso trocista.
Antero já estava farto do bojo do navio. Sentia necessidade de ver
o céu. Queria ter a sensação de que ainda se mantinha vivo.
– Deixa o tabuleiro aí – disse e desta feita a pronúncia voltou a
sair-lhe melhor.
O grumete colocou o tabuleiro sobre o rebordo elevado da
escotilha.
– Quer que também deixe a luz aqui?
Antero olhou em redor. O vento continuava a soprar com força e
havia nuvens negras a cobrirem o céu. Junto ao horizonte adquiriam
um brilho avermelhado. Próximo do navio conseguia, mesmo só
com a crepuscular luminosidade matinal, vislumbrar a espuma nas
vagas, embora o mar se apresentasse agora mais liso e vasto.
– Não é necessário. Não tarda a ficar claro. Espera.
Voltou a descer e foi buscar o livro de apontamentos, que estava
debaixo da enxerga de palha. Já lá em cima, junto à lamparina,
sentou-se na borda da escotilha, retirou o livro do cabedal que o
envolvia, humedeceu a ponta do lápis de carvão e escreveu:
Quinta-feira, 30 de Outubro de 1755. Violenta tempestade.
Cristas das vagas que se abatem sobre o navio, vento com a
força de um furacão. O Fortune resistiu.
Sexta-feira, 31 de Outubro de 1755, alvorada. Mar encrespado.
Espuma no cimo das ondas. O vento continua forte.
Arrumou o livro dos apontamentos no bolso junto ao peito e disse:
– Obrigado. Podes ir.
Quando o grumete se foi embora com a luz, Antero pegou num
pedaço de biscoito e levou-o à boca. Estava humedecido e fora
barrado com manteiga e sal. Antero mastigou, pegou no púcaro e
bebeu. Um vinho de taberna de sabor azedo misturou-se com a
saliva pastosa dos restos do biscoito.
O contrabando no porão do Fortune tinha um valor de pelo menos
trinta mil réis. Depois de entregar a carga ao homem, iria descansar
uns dias. Visitaria Leonor. E Samira.
Antero aspirou profundamente para os seus pulmões o ar fresco
do mar. Tudo haveria de correr bem. Esta era a época dos
contrabandistas. Quem conseguiria vigiar a vastidão dos mares
mundiais? Ninguém era capaz de tal coisa. Os mares eram livres.
Só os portos podiam ser controlados, mas até mesmo aí havia
sempre maneira de se esgueirar. De noite era simplesmente
impossível abranger com a vista a totalidade de um porto grande
como o de Lisboa. Por entre as chalupas que traziam os marinheiros
de regresso aos seus navios, depois de um serão passado a
emborracharem-se, por entre os botes que conduziam os oficiais até
junto das suas famílias, ninguém conseguia distinguir um barco a
remos com contrabando.
Ainda assim, bem no fundo do seu coração custava-lhe tudo
aquilo. Contrabando não era algo que gostasse de fazer. Teria
preferido dedicar-se à exploração do enigmático continente
meridional, a Terra Australis incognita, e pelo caminho trataria de
cartografar e fazer o reconhecimento das ilhas até então
desconhecidas. De que lhe serviriam aqueles ridículos
apontamentos que ia tomando? Precisava de instrumentos, de um
barómetro, de um sextante, não de madeira, atreita a ficar
empenada por causa da humidade do ar marítimo, mas antes de
metal, que permitia o máximo de exactidão possível. O comandante
Wrightson ainda navegava com a vara-de-jacob. No entanto, a
posição poderia ser determinada com muito mais facilidade com
recurso a um sextante. E com um barómetro, quanto não se poderia
investigar com um instrumento desses! Teria gostado de poder
medir a pressão atmosférica durante a tempestade do dia anterior.
Por que razão diminuía essa pressão quando se aproximava uma
borrasca? E como se comportaria esta durante a tempestade?
Adiante, onde as nuvens tocavam a água, houve algo que
produziu um clarão. Antero olhou atentamente nessa direção. E eis
que brilhava de novo! Virou-se para a popa. Onde, no meio da
escuridão, se conseguia distinguir a roda do leme, nada se movia.
Pôs-se de pé e encaminhou-se para a parte posterior do navio.
– Viu a luz, comandante?
A figura atarracada à roda do leme permaneceu imóvel. O
comandante nem sequer virou a cabeça na sua direcção.
– Nos últimos tempos tem havido piratas holandeses activos por
estas bandas. É possível que sejam eles a trocar sinais, para nos
apanharem desprevenidos – disse Antero.
– São as fogueiras, junto à costa, que assinalam o acesso ao
Tejo.
– Tem a certeza? A tempestade afastou-nos da rota.
– Não é a primeira vez que navego para Lisboa.
«Nem eu», pensou Antero. Teve de reprimir a resposta. É certo
que preferia usar o porto da cidade do Porto para os seus negócios,
mas Lisboa era a sua terra natal. Dispunha de bons contactos na
capital. A densa barba que deixara crescer, bem como a pele
tisnada do sol e da presença no mar, haviam-lhe modificado o
aspecto. Desde que não negligenciasse a necessidade de ter uma
certa cautela, poderia despreocupadamente visitar os seus
parceiros de negócios. Viajara já de Exeter para Lisboa, de
Dartmouth, Plymouth, Ipswich e Yarmouth. E, claro, também de
Londres, como desta vez.
– A nossa carga teria interesse para piratas. Poderiam ter sido
avisados.
– Os piratas interessam-se é por ouro e prata, não querem saber
de tapetes de lã e meias.
O tom resmunguento das respostas do comandante não lhe
agradou. Estaria com dúvidas? Uma palavra irrefletida diante das
autoridades portuárias e o empreendimento de ambos estaria
arruinado.
– E então o tecido de twill que foi carregado e aquele requintado
pano negro? Os tecidos ingleses vendem-se sempre muito bem – o
comandante permaneceu em silêncio. – Não dormiu a noite toda,
pois não?
– Dormi quatro horas. O meu timoneiro é um homem de
confiança.
O convés do navio não era um bom local para se falar de coisas
secretas. Por todo o lado andavam os marinheiros a afadigarem-se,
lá em cima nas vergas, na popa, na proa ou junto dele, porventura
até mesmo no exterior do navio, a verificar o costado, a ver se o
casco não ficara danificado pela tempestade. Tinha de falar com o
comandante, mas sem que ninguém os escutasse.
– Faz-lhe diferença que eu vá num instante ver a minha
mercadoria? Receio que possa ter ficado molhada.
– A minha cabina está seca. A sua mercadoria está em óptimas
condições.
Teria ele entendido?
– Ainda assim, deixe-me dar uma vista de olhos. Ficaria bem mais
tranquilo.
Sem dizer palavra, o comandante ergueu as mãos da roda do
leme e estendeu-lhe uma chave que se encontrava presa numa fita
em redor do pescoço. Segurava a fita acima da cabeça.
Antero aceitou a chave e pegou no lampião, que emitia uma
luminosidade débil, pendurado junto ao comandante, na
superstrutura por baixo da vela da mezena.
– Posso…?
Mexeu na rodinha metálica de modo a fazer subir a mecha. De
imediato ficou tudo mais claro. As velas devolveram o brilho da luz
umas às outras. Estavam enfunadas, o Fortune navegava a bom
ritmo. Quando a tempestade se começara a fazer sentir, as velas
haviam sido recolhidas para que não se rasgassem. Os marinheiros
deveriam ter voltado a subi-las enquanto ele dormia, as grandes
velas quadradas, de través, cinco em cada um dos dois mastros
mais à frente, e as velas da mezena, inclinadas e dispostas
longitudinalmente. Dois homens continuavam ainda empoleirados
nas velas quadradas a verificar a tensão das escotas.
Cheirava a sargaço. Sobre as tábuas do convés havia poças de
água lamacenta, que reflectiam a luz do lampião, e algas
espalhadas. A tempestade deveria tê-las arrancado ao fundo do
mar.
Ouviam-se gargalhadas, vindas do refeitório da tripulação. Os
marinheiros deveriam estar a comer e iam dizendo graçolas. Soava
como se sentissem aliviados por ter escapado com vida à
tempestade. Talvez o comandante, para festejar, mandasse distribuir
uma dose extra de rum.
Antero desceu a escada que conduzia à cabina do comandante. A
peça mais luxuosa da cabina era uma cómoda bojuda, dotada de
ferragens chanfradas. As gavetas de madeira apresentavam-se
enceradas e, iluminadas pela luz do lampião, brilhavam. Por cima da
cómoda estava pendurado um mapa dos territórios britânicos da
América do Norte. Fora o mapa que, há duas semanas, aquando do
primeiro contacto, havia revelado a Antero que o comandante seria
subornável. Sonhava poder vir, na sua velhice, a estabelecer-se nos
territórios ultramarinos.
A cabina estava, com efeito, seca. Antero sentiu inveja. Parecia
que o comandante tinha celebrado um pacto com a tempestade,
como se ele fosse misteriosamente mantido a salvo, enquanto as
forças da natureza tentavam acabar com a vida do resto da
tripulação do navio. Talvez, porém, se desse apenas o caso de a
cabina do comandante ter a melhor localização possível naquela
embarcação. Antero pousou o lampião sobre a mesa e curvou-se
sobre o pesado baú colocado por baixo das janelas da popa. Inseriu
cuidadosamen- te a chave na fechadura. Rodou-a uma vez e depois
uma outra. A fechadura abriu-se. Ergueu a tampa do baú. Era ali
que estavam os pacotes dos membros da tripulação. A qualquer
marinheiro era permitido fazer um pouco de tráfico por sua própria
conta desde que as quantidades envolvidas se mantivessem
pequenas. Para que não chegasse a haver contrabando, cabia aos
comandantes guardar a mercadoria.
Antero pôs de lado alguns desses pacotes. Retirou do baú o seu
embrulho e colocou-o em cima da mesa. Uma após a outra, foi
enovelando as tiras de cabedal que serviam de invólucro. As folhas
de tabaco crepitavam. Um suave aroma ascendeu às suas narinas,
provocando um leve prurido no nariz. Antero levantou as folhas de
cima, pondo a descoberto as de baixo, e apalpou-as. Eram grandes.
Estavam secas, tanto que delas até se esmigalhavam pequenos
pedaços. Iriam indispor os funcionários da Coroa. O rei português
reclamava para si o monopólio do comércio do tabaco. Se os
guardas portuários revistassem a bagagem dos membros da
tripulação e a dele, o passageiro, deparar-se-lhes-ia aquela
descoberta, enfurecer-se-iam e isso desviar-lhes-ia a atenção.
Deste modo, a grande carga de tabaco no porão não seria posta a
descoberto.
Sob as folhas de tabaco havia ele arrumado os seus livros, os
dois volumes da nova obra de Carl Nilsson Lineu, chamada Species
Plantarum. Inseridas no meio desses livros havia folhas com os
desenhos que ele mesmo, Antero, fizera. Destacavam-se das folhas
impressas do livro e acrescentara-as sempre que acreditava ter
encontrado uma planta que não figurava entre as espécies descritas
por Lineu. Dava-lhe gozo descobri-las. Em tempos havia tido esse
prazer mais amiúde, nessa altura tinha de se contentar com uma
publicação chamada Hortus Cliffortianus, na qual apenas surgiam
descritas duas mil e quinhentas espécies. Actualmente era já mais
difícil conseguir encontrar uma omissão no minucioso trabalho de
investigação realizado pelos botânicos. Um dia haveria de enviar os
seus resultados a Lineu, para a Suécia, e talvez este viesse a usá-
los para completar a sua obra.
A par dos livros e das folhas de tabaco estava o pacote com os
seus pertences. Abriu-o e retirou de lá o seu relógio de bolso de
prata. O mostrador indicava seis horas e trinta e nove minutos. Era
uma sensação estranha ter noção da hora certa ali no meio do mar.
O comandante precisava de saber as horas com exactidão para
poder determinar a longitude, quatro minutos equivaliam a um grau,
por isso olhava regularmente para o relógio do navio. Para além
disso, porém, qual era afinal o significado de um minuto no mar?
O relógio fora a única recordação que mantivera. A única coisa
que ainda o ligava àquele perverso passado.
A voz do comandante, com o seu tom mal-humorado, fez-se ouvir
nas suas costas.
– Lá em baixo a água atingiu duas caixas, nessas a mercadoria
ficou molhada. O resto permanece intacto. A minha parte mantém-
se inalterada.
– Isso vemos depois.
Antero nem sequer se virou. Ia passando os dedos sobre a
superfície arredondada do vidro do mostrador do relógio e através
das janelas da popa olhava para o mar.
O comandante Wrightson chegou-se. Aproximou-se tanto que
Antero pôde sentir o calor da respiração dele na nuca.
– Escute lá, a si poderá dar gozo não cumprir a lei. Para mim não
é bem assim! Se vierem passar revista ao meu navio e encontrarem
as caixas, nunca mais poderei voltar a navegar. Vão é mandar-me
executar!
Antero virou-se então. As pontas dos narizes de ambos quase se
tocaram.
– Acha então que nesse caso eu serei poupado? Durante esta
viagem, as nossas vidas dependem uma da outra. E bem que
gostaria de saber se a minha continua em mãos em que eu possa
confiar.
– E que tem a perder? Há anos que está habituado a apostar tudo
numa única carta. Eu esfalfei-me a trabalhar até chegar a este
posto, fiz sacrifícios, fi-los a minha vida inteira. Nem sequer entendo
bem por que razão arrisco tudo isso pelo seu dinheiro.
Os pelos esbranquiçados das suíças do comandante tremiam e a
pele da sua face, coberta de poros grossos, enrubescera.
Antero voltou a virar-se para a mesa e embrulhou os seus
pertences.
– O melhor é recompor-se rapidamente. Quando chegarmos ao
porto será demasiado tarde – voltou a colocar o embrulho no baú. –
E, no que diz respeito à minha vida, não pense que me comecei a
dedicar ao contrabando por vontade. Eu quis seguir os estudos.
Quis ler e aprofundar os conhecimentos sobre o modo como o
mundo, esta gigantesca máquina, funciona, mas impediram-me de
fazê-lo. Acha, porventura – prosseguiu ele, virado para o baú –, que
não tenho sonhos? Tenho-os, tal como você. Há de chegar o dia em
que me deixo destas viagens, e nessa altura começará para mim a
vida que sempre quis, aquela que me negaram o direito a ter.
Os marinheiros iam baixando baldes presos a cordas, os quais
dançavam sobre as ondas, e não era fácil recolher água quando a
embarcação navegava velozmente. Repetidas vezes desceram os
homens baldes presos a cordas até estes acertarem nas vagas no
ângulo correto e nelas mergulharem. Içavam-nos de seguida, já
cheios, e lançavam a água sobre as tábuas do convés. Com a ajuda
de vassouras varriam-na de novo para fora, fazendo-a passar pela
abertura abaixo da amurada. A sujidade ia fluindo para o exterior.
Dali a pouco o convés brilhava como um espelho. Os cabos foram
reunidos e arrumados. Marinheiros treparam às velas quadradas e
verificaram se tudo estava em conformidade.
O comandante Wrightson preparou o Fortune para entrar no porto
de Lisboa. Aparentemente pretendia disfarçar a culpa que sentia.
Queria, por meio do seu navio, projectar para o exterior uma
imagem de pureza, para que a terrível mácula no porão passasse
despercebida. Que cobarde! Se alguma coisa conseguisse alcançar
com aquilo seria apenas que o navio desse ainda mais nas vistas.
Que sorte tinham aqueles que contrabandeavam à grande, dirigindo
os seus próprios navios! Para esses não havia comandantes
medrosos que lhes estragassem os planos.
A costa estendia-se já de um extremo ao outro do horizonte. A
meio dessa linha revelava-se a foz do Tejo. A fortificada cidadela de
Cascais impunha a sua presença à esquerda, apoiada por outras
estruturas defensivas ao longo da costa, concebidas para fazer
frente a ataques vindos do Atlântico. A luz da alvorada projectava
um brilho avermelhado sobre as muralhas e as torres.
A uma distância igual à do alcance da voz passou por eles um
paquete, ultrapassando-os, muito embora o próprio Fortune
navegasse a uma boa velocidade. Os paquetes eram navios
imbatíveis em questões de maneabilidade e velocidade. Era isso
que lhes conferia segurança face à ameaça da pirataria. Isso e os
seus canhões. Só do lado que estava virado para si, Antero contou
doze escotilhas para peças de artilharia. Portanto, o navio dispunha
de vinte e quatro canhões no convés de armas, que podiam disparar
sobre os costados de navios inimigos. Além disso, viu ainda duas
outras peças de artilharia na popa, com as quais se podia atirar
sobre eventuais perseguidores. Alguns passageiros acenaram. Ele
ergueu a mão em jeito de cumprimento.
Refletira já por diversas vezes acerca dos paquetes. Estabeleciam
ligações regulares entre Falmouth e Lisboa. Dantes os comerciantes
com representações estabelecidas em Portugal costumavam
expedir a sua correspondência para a Grã-Bretanha por meio de
diversas cópias entregues a diferentes navios, para garantirem que
pelo menos uma delas chegaria sã e salva às mãos do destinatário.
Hoje em dia já só se enviava o original no paquete. Podia-se confiar
que este alcançaria a Inglaterra. Um progresso admirável.
Ao navio confiavam os comerciantes não apenas a sua
correspondência. Havia a bordo uma bolsa diplomática. Era no
interior desta que os comerciantes depositavam pequenos
pacotinhos, que continham moedas de ouro, porventura ouro em pó
ou até mesmo em barras. O correio ordinário era aberto em Lisboa
para efeitos de verificação, pelo que não se revelava seguro. A
bolsa diplomática, porém, era entregue a bordo pelo agente da
companhia de navegação dona do paquete, que representava em
Lisboa o administrador-geral dos Correios de Londres. Ninguém
abria essa bolsa. Era como que um viajante inviolável que percorria
a distância entre os dois países.
Se Antero alguma vez conseguisse apoderar-se daquela bolsa!
Com o produto desse roubo poderia viver em descanso para todo o
sempre. No entanto, havia algo que no seu interior o impedia de tal
coisa. Não era um ladrão. Ficava-se pelo contrabando. Subtraía-se
à cobrança de impostos e desrespeitava os acordos comerciais.
Esquivava-se, quando muito, ao pagamento das taxas portuárias ou
das somas exigidas pelas feitorias.
É claro que, indiretamente, estava a roubar dinheiro, ao defraudar
cidades e reinos do pagamento dos respetivos impostos. Apenas lhe
parecia menos reprovável pelo simples facto de não o fazer a uma
única pessoa. Há meio ano, porém, o limiar do aceitável era bem
mais exigente. Cada vez lhe era mais fácil imaginar-se a roubar.
Restos daquilo que havia sido a sua crença rumorejavam no seu
interior. Decerto que Deus acharia o seu comportamento
abominável. Ainda que fosse apenas por desespero que ele
pecasse, ainda que o fizesse somente na medida do que a sua
situação lho exigia, não deixava de considerar errado o acto de
roubar. No fundo, contrabandear nem sequer era coisa que quisesse
fazer, vira-se obrigado a isso; se assim não fosse, já há muito que,
numa universidade, seria assistente de algum matemático, de um
físico ou de um botânico. «É assim mesmo que as coisas
acontecem», pensou ele, «é assim que escorregamos para o fundo
do poço e nos tornamos criminosos. Foi nisso mesmo que me
transformei. Um criminoso.»
Navegaram foz adentro. De ambos os lados, avistava-se terras de
pastagem. Casas isoladas no meio de ilhas verdes formadas por
árvores. Pomares trepavam as encostas. Campos onde se semeava
batata-doce eram cavados por escravos, sendo assim preparados
para o suave inverno que se avizinhava. A maioria deles tinha a pele
de cor negra.
Antero voltou a virar-se na direção do mar. Via velas minúsculas,
espalhadas por todo o horizonte. Navios mercantes dos mais
diversos países dirigiam-se para Lisboa. Muito embora tivesse há
anos deixado a velha pátria, não deixava de sentir orgulho. A capital
do Reino de Portugal era uma das maiores cidades da Europa, de
importância igual à de Londres, Paris e Nápoles, e no que dizia
respeito ao comércio era, sem qualquer dúvida, o lugar mais
importante do mundo. Depois de Vasco da Gama descobrir o
caminho marítimo para a Índia, tinham os navios, carregados de
pimenta, canela, noz-moscada e pérolas, transformado Lisboa na
rainha de todas as cidades mercantis. Desde então, ela governava
com sageza e benevolência. O seu nome era conhecido em todos
os lugares da Terra. Lisboa era rica, a urbe enchera-se até à
saciedade com o ouro e as pedras preciosas do Brasil. Nela se
realizavam os melhores mercados. Tudo o que o coração
ambicionasse poderia ser encontrado em Lisboa.
Belém surgiu à vista. A igreja e o mosteiro dos monges Jerónimos
destacavam-se na sua brancura diante do azul céu matinal. Na
margem do rio, a Torre de Belém enfrentava as vagas. A torre
defensiva, com quatro andares, encontrava-se completamente
cercada de água. Com os seus canhões dominava o acesso
marítimo a Lisboa. Navio algum conseguiria passar diante dela, uma
vez que os guardas daquela fortificação recebessem ordens para o
afundar.
Soprava uma brisa quente, vinda de terra. Transportava o odor da
batata-doce e da terra. Gaivotas vinham juntar-se ao Fortune.
Acompanhavam-no, lançando os seus chamamentos de modo bem
audível, e revoluteavam em torno dos seus mastros. O dia estava
bom, prometia uma chegada aprazível e lucrativa.
Tudo estava a correr como planeado: tinham conseguido trazer
para bordo o contrabando sem que os guardas portuários ingleses
disso se tivessem apercebido. E em Lisboa tinha Antero os seus
parceiros de negócios. Trataria de conseguir que as caixas fossem
descarregadas durante a noite, sem dar nas vistas.
O Fortune ia passando ao largo de diversas colinas. Para lá da
proa podia já avistar-se uma autêntica floresta de mastros e velame.
Por detrás, revelava-se Lisboa. As instalações portuárias de
Alcântara ocupavam uma vasta área. Havia ali centenas de navios
ancorados. Sobre as colinas erguiam-se, rumo ao céu e até perder
de vista, palácios, residências e igrejas.
Havia nos Portugueses um pouco de todos os povos, de Celtas,
Fenícios, Gregos, Romanos, Germanos e Mouros. Era isso que
fazia de Lisboa uma grande cidade. Os seus costumes, a sua
língua, desenvolvida na base do latim vulgar, que as tropas de
ocupação romanas haviam falado. Possuía, no entanto, também
muitas palavras de origem árabe. O vigor de vários povos
concentrara-se neste lugar e transformara Lisboa numa metrópole.
Mais de trinta mil casas cobriam as colinas. Roupa lavada de
diversas cores estava pendurada a secar em estendais de ferro,
diante das janelas, já que o espaço nos pátios e no interior das
casas não chegava para tal. Algumas delas chegavam a erguer-se a
uma altura de seis andares. As muralhas em redor de Lisboa
contavam com setenta e sete torres de vigia. No cimo de uma das
colinas, qual trono, erguia-se o castelo, construído à maneira dos
Mouros.
Cheirava penetrantemente a alcatrão vegetal e a piche. Durante
um momento, Antero susteve a respiração. Estavam a calafetar um
navio ali perto. O piche aquecido até soltava vapor. Era grande o
perigo de incêndio aquando da realização destes trabalhos, pelo
que a calafetagem era efectuada diante do porto, com os navios
fundeados.
Uma vasta escadaria branca orlava o palácio real e descia até à
margem do rio, para lá desta havia fileiras de árvores e fontes
decorativas. Lisboa, a capital do Reino de Portugal, resplandecia em
toda a sua riqueza.
Passaram a marcação. Em todos os portos existia uma marcação
que os navios não deveriam ultrapassar caso não pretendessem
carregar ou descarregar mercadorias. Quem não transpusesse essa
bóia poderia abandonar o porto sem ficar obrigado ao pagamento
das taxas portuárias. No entanto, uma vez passada a bóia, já não
havia como voltar atrás.
O comandante Wrightson chegou-se junto dele. Trazia vestido o
seu melhor jaquetão azul. Os botões de latão reluziam. O seu rosto,
porém, apresentava-se empalidecido.
– Tire duma vez a mercadoria da cabeça! – pronunciou Antero em
voz baixa. – Não pense mais nisso. Você tem de projectar um ar
confiante.
– Não me devia ter metido nisto – o comandante percorreu as
suíças com a palma da mão bem aberta. – Toda a minha vida fui um
homem honrado, ouviu? Que bicho me terá mordido para me pôr
agora a fazer uma coisa destas?
O comandante falava como se sentisse medo, no entanto os seus
olhos mantinham-se frios. Antero sentiu uma contração na barriga
que interpretou como um aviso. Havia ali algo que não batia certo. O
comandante estava a tentar iludi-lo.
– Não precisa de tentar enganar-me, comandante. Você já antes
fez contrabando. Não é verdade?
– É a minha primeira vez. Nunca antes me tinha metido nisto. Só
que sinto saudades da minha filha. Quero ir ter com ela à Luisiana.
Não posso esperar mais tempo.
«Luisiana?»
Mas isso era uma colónia francesa. O mapa pendurado na cabina
do comandante era dos territórios ultramarinos britânicos. Era
mentira o que ele ali estava a contar! Quereria ele prejudicá-lo?
Pretenderia roubar-lhe a mercadoria? Se assim fosse, poderia ter
retalhado a garganta de Antero quando ainda estavam em alto mar,
lançando-o de seguida borda fora. Para se conseguir ver livre da
mercadoria, precisava dos contactos que ele, Antero, possuía em
Lisboa. Não podia simplesmente descartá-lo do negócio.
Antero fitou o comandante minuciosamente. Não deixaria de tê-lo
debaixo de olho até que a mercadoria fosse descarregada do navio.
2
As rodas da carruagem, revestidas com uma chapa de ferro,
aproximaram-se dela. Dalila encostou-se completamente à parede.
Por um triz não foi atropelada. Porque não prestava ela atenção?
Estava sempre com ele na ideia.
Afastou-se do muro e continuou a descer até à Rua Nova dos
Mercadores. Numa travessa viu um rapaz a fazer o pino e andar de
pernas para o ar, enquanto ia sendo incitado pelos seus amigos.
– Consigo até ali à frente. Vejam bem! – exclamava ele, já com a
cara toda vermelha.
Frente à entrada da próxima casa, diante da qual Dalila passou,
estava sentada uma anciã, que ia desfazendo pão em pedaços para
uma tigela de leite. Pousou-a no chão. O seu gato, já velho e com o
pelo desgrenhado, chegou-se junto dela para vir comer.
Uma menina acocorou-se e, cheia de curiosidade, ficou a ver o
gato a comer.
– Que idade tem ele?
Dalila estacou. Ficou fascinada pelo acto de contemplação da
menina, que tinha um rosto sujo e pequenino, os olhos castanhos,
grandes como nozes. Os seus dedos desenhavam círculos na areia
enquanto observava o gato.
– Tem dezoito anos – respondeu-lhe a anciã.
– Porque lhe dás pão?
– Ele já não consegue apanhar pássaros.
A menina levantou o olhar, fitando a anciã.
– E porque não?
– Passa a maior parte do tempo a dormir. Está velho e cansado –
a anciã afastou do rosto uma madeixa de cabelo branco. – Além
disso, já não tem dentes. Quando ele boceja podes ver que lhe
faltam os quatro caninos grandes. Como pode, assim, matar
pássaros à dentada?
– E ele gosta de pão?
A anciã acenou afirmativamente com a cabeça.
– Posso fazer-lhe uma festa?
– Claro que sim.
Com todo o cuidado, a pequenita passou a mão sobre o pelo
eriçado. O gato consentiu, continuando a comer como se nada
fosse.
– Gatinho velho e lindo – disse a menina.
Como seria ser mãe? Daria banho à menina e comprar-lhe-ia
roupas bonitas. Ensinar-lhe-ia a entrançar grinaldas de flores. Todas
as noites haveria de cantar com ela.
No entanto, o homem que Dalila amava nada sabia a respeito
dela. Sentia uma afinidade entre ambos, um sentimento que a
dominava inteiramente, ao passo que ele calhara com a mulher
errada. A sua irmã gémea tinha sangue-frio e era calculista, era
pretensiosa, altiva e superficial. Nada tinham a ver um com o outro.
Como era possível que ele amasse Leonor e não ela?
Não conseguiu deixar de pensar no beijo que ele dera à sua irmã
durante a sua última visita, um beijo nos lábios. Sentira um fogo a
arder na barriga. Havia algo naquele mundo que não batia certo.
Deus deveria estar distraído, não prestava atenção.
No fim do íngreme desfiladeiro formado por aquela rua
resplandecia o Tejo, um vasto tapete de água azul repleto de navios.
Se ela pudesse fugir com Antero! Se conseguisse esgueirar-se para
o interior do seu navio e, na companhia dele, navegar para longe da
irmã! Lá fora, no mar, ele logo abriria os olhos. Iria reparar nela,
Dalila, e dar-se conta do quanto andara cego.
O Senhor tinha aqui algo a fazer. Tinha de ajudá-la.
Através da Rua Nova dos Mercadores avançava uma interminável
massa de gente, que murmurava, gritava e ria. Deixou-se mergulhar
nela e virou de seguida à esquerda. De ambos os lados da rua
erguiam-se barracas que se ofereciam à multidão. Alguns desses
pequenos comerciantes haviam-se estabelecido nas escadas das
casas. Podia-se-lhes comprar malas, cestos, adornos, tachos, facas.
Outros comerciantes ainda tinham tâmaras e cerejas para oferecer.
Cheirava a bacalhau assado. Sobre este espalhava-se o odor a
sabão em pó. As lavadeiras, nos pátios, espalhavam-no na água
das suas tinas, era o odor mais típico dos bairros mais pobres da
cidade. Desde que estava apaixonada por Antero, apreciava este
cheiro. Identificava-se com os pobres. Tal como ela, eles eram
infelizes.
Dalila gostava de estar em Alfama, o bairro dos estivadores e das
lavadeiras, das prostitutas, dos ladrões e dos jornaleiros. Desde
sempre fora esta a zona da cidade onde paravam os que a
sociedade colocava à margem. Viviam aqui mouros empobrecidos,
aleijados, zarolhos e judeus convertidos.
Lisboa assemelhava-se a um anfiteatro que descia em direção à
água. O porto era o palco. Cinco colinas rodeavam o grande vale
onde se situava o centro da cidade, dispostas como se fossem as
galerias de um teatro. Alfama, no entanto, situava-se mais na
retaguarda, igualmente perto do rio, porém excluída. A cidade ficava
de costas viradas para ela. Só a Inquisição é que aparecia com
frequência em Alfama, onde ia à caça de judeus que se
mantivessem fiéis às suas velhas práticas, que lhes eram proibidas.
Sobre os degraus de uma escada, um comerciante havia exposto
centenas de figuras de santos pintadas de várias cores. A maioria
delas representava Santo António, o padroeiro da cidade. Cada uma
das figuras do santo segurava o Menino Jesus no braço esquerdo e
no direito um livro e um lírio. Ainda assim, nem todas as figuras
eram iguais. Dalila segurou numas quantas individualmente e
observou-as. Um Santo António lançava um olhar irado, ao passo
que outro soltava uma lágrima, o terceiro tinha uma madeixa de
cabelo a tapar-lhe parte do rosto, ao quarto a tinta que coloria o
hábito de monge já estalara. O quinto, no entanto, que ela segurava
nas mãos, agradou-lhe logo à primeira. Sorria para o Menino, que
segurava no braço, e de resto estava ileso. Dalila perguntou o
preço.
– Dois tostões.
Saída do manto do comerciante, estendeu-se uma mão magra e
seca. Por debaixo das pregas da capa era impossível reconhecer os
traços do seu corpo. Qual a magreza do homem, ao certo? Vendia
aquelas figuras e ele próprio mais não era do que uma sombra.
– Dou-lhe um.
O homem magro olhou-a, como que a avaliá-la.
– Preferiria mesmo que fossem dois.
Claro, o vestido de seda. Revelava que ela provinha de um meio
abastado.
Disso não se lembrara ela, mas também não importava. Procurou
duas moedas de prata da sua bolsa e entregou-lhas.
Ele sorriu.
– A generosidade assenta mesmo bem no seu rosto.
Dalila pressionou a figura contra o seu peito e voltou a misturar-se
na multidão. O Santo António teria de ajudá-la. Teria de chamar a
atenção de Deus para ela, antes que a intimidade entre Antero e
Leonor crescesse. Ela mesma cumpriria a sua parte, para começar
bastaria que tivesse um pouco de auxílio divino. Aprenderia com as
artimanhas da própria irmã.
Dalila olhou em redor. Ali em frente, aquilo não era uma
alfaiataria? A fachada estava coberta de azulejos e, por cima da
porta pendia uma tesoura de bronze. Dalila seguiu em frente, na
direção da porta. Junto à entrada estava afixada à parede uma folha
de papel.
Prócurace venddora!
Devrá çaber excrever e fazê contas.
A folha tinha já um aspecto sujo e envelhecido. Em Alfama,
seriam poucos os que saberiam ler.
Entrou na loja e fechou a porta atrás de si. Estava fresco o
ambiente no interior, onde se encontravam expostas peças ao gosto
da moda burguesa: uma casaca de tecido azul-escuro, coletes
ingleses de cores claras, bem como ainda diversos rolos de tecidos
de lã.
– Façam favor…!
Dalila olhou em redor. Não estava ali ninguém? Espreitou para a
sala contígua. Aí estavam pendurados jaquetões verdes e
castanhos e capuzes engomados. Cheirava a amido de batata. A
alfaiataria não era o sítio certo para ela fazer compras. Para
conseguir impressionar Antero, precisaria de vestidos de cetim e
damasco. Além disso, um leque pintado e um lenço de peito num
tecido transparente, tal como Leonor os usava.
Leonor superava-a no que tocava à escolha de cores e ao modo
de usar os acessórios. Como se colocava um lenço de peito de
modo a que este revelasse mais do que na verdade cobria? Como,
munida de um leque, se fingia ir acidentalmente de encontro a um
homem, como se arregalava muito os olhos, sinalizando assim a
consciência da própria culpa?
Ela não dominava qualquer destas habilidades. Jamais lhe
ocorriam quaisquer gracejos insinuantes. Olhava de modo ansioso,
mas nunca atrevido. E, no momento decisivo, as saias armadas
deslocavam-se desajeitadamente para onde não deviam e lá ficava
ela em desalinho. Em questões de moda, fora ela desde sempre
pouco dotada.
E então a utilização de pintura no rosto! A pele deveria ser
maquilhada de modo a parecer pálida, para se conseguir um efeito
de delicadeza e fragilidade. O ideal consistia em ter uma pele de
aspecto translúcido. Para criar esta impressão, Leonor mandava
desenhar a azul as linhas das veias. Em simultâneo, porém,
deveriam as faces apresentar um vermelho forte, já que um rubor de
aspecto natural era o sinal distintivo das prostitutas e havia que
distanciar-se delas. Restava apenas saber como se conseguia por
fim evitar fazer a figura de uma boneca esborratada de vermelho.
Deveria estar relacionado com a distribuição da cor, com o sítio
exato onde esta era aplicada e com a quantidade que se usava.
Se Antero preferia mulheres que tivessem um aspecto exterior
perfeito, então Dalila jamais o conseguiria conquistar. Essa ideia
tinha no seu pescoço o efeito de um garrote apertado. Esgueirou-se
para a sala contígua e ajoelhou-se a um canto, junto a um cabide
com jaquetões pendurados. Apertou a figura do santo com toda a
firmeza que conseguiu reunir.
– Santo António – sussurrou –, por favor escuta a minha oração.
Preciso da tua ajuda! Dirige a atenção de Deus para o meu coração
que sangra! Não é possível que Antero ame a minha irmã, ela é a
mulher errada para ele! Irá desapontá-lo, sabes isso bem. Ele
merece uma melhor. Atrevo-me a ter esperança de ser eu... de
talvez ser eu... – o seu coração vacilava. – Podes fazer com que ele
olhe para mim e me veja como realmente sou? Ainda que eu não
tenha qualquer aptidão para centrar em mim a atenção dos homens.
Por favor, ajuda-me, faz com que ele repare em mim e me... me
ache bem. Que tipo de vestido deverei comprar? Que vestido lhe
agradaria?
A porta bateu.
Dalila ergueu-se rapidamente. Espreitou por entre os jaquetões
para o espaço principal da loja. O homem magro e seco que lhe
tinha vendido a figura! Trancou a porta de entrada, agindo como se
fosse ele o dono da alfaiataria e como se pretendesse ficar a sós
com a pessoa que o acompanhava, sem serem incomodados.
O acompanhante era um homem com o rosto largo.
– Que queria a filha do barão de ti? – perguntou-lhe o tal homem.
Referia-se a ela. Dalila susteve a respiração. Não ousou sequer
mexer-se, permanecendo onde estava.
– Comprou uma figura de um santo – respondeu o magro e seco,
enquanto esfregava o nariz aquilino. – Foi só isso.
– Não subestimes as mulheres.
– Ela não suspeita de nada.
– Para onde se dirigiu?
– Perdi-a de vista no meio da multidão – respondeu o magro e
seco. – Mas acredita no que te estou a dizer, ela só veio aqui fazer
compras.
O acompanhante retirou o tricórnio da cabeça e passou a mão
pelo cabelo negro como as penas de um corvo. As unhas dos seus
polegares tinham o comprimento de um bico de abutre. Embora
estivessem bem cuidadas, o aspecto do conjunto era repugnante.
Envergava roupas caras e lustrosas.
– Ontem vi o barão. Não confio nele. Ele há de hesitar.
– Deste de caras com ele. O barão é um bom ator. Se alguma vez
esse homem hesitou, então terá sido uma manobra para iludir.
Como achas que ele faz a exploração das suas plantações nas
propriedades que tem no Brasil? Recorre aos índios. E esses
morrem como moscas, porque não aguentam a dureza dos
trabalhos forçados. Achas que o barão se preocupa com isso? Ele
tratou de contratar comerciantes de escravos que capturam novos
índios e mandou transportar centenas de africanos para a América
do Sul.
– Mas onde será afinal Oldenberg o sítio que lhe dá o nome? Não
sei nada disso.
Estavam realmente a falar acerca do pai dela. Mas com que
modos o faziam! Não poderiam dar-se conta da sua presença ali.
Dalila recolheu-se ainda mais no canto onde se escondera.
– É um título honorífico alemão. Há dois anos, foi nomeado
primeiro barão de Oldenberg por um tal Frederico-Augusto, príncipe-
bispo de Lübeck.
– Portanto, isso não quer dizer nada.
– Esse Frederico Augusto é o irmão do rei sueco! – vociferou o
alfaiate. – E o barão é de tal modo rico que o ouro lhe nasce dos
bolsos. Até há pouco tempo detinha o monopólio real do comércio
de tabaco em Portugal. E há vinte e oito anos que pertence à Ordem
de Cristo, sabias disso?
– Nesse caso, a razão pela qual foi aceite na ordem já pertence à
história e já há muito não tem qualquer relevância.
– Heitor, ele é o nosso homem.
– Só estás a ver se consegues agradar à jesuíta.
– Agradar…! – o alfaiate fez um gesto que dava a entender que
não. – Com alguém como eu não se envolveria. Mas ela é esperta.
O que aí anda a maquinar pode transformar Portugal por completo.
– O melhor é termos um plano alternativo. Eu vou tratar disso
mesmo. Depois, logo vemos qual de nós alcança primeiro o objetivo.
– Um plano alternativo? Tens noção de há quanto tempo a jesuíta
anda a trabalhar o barão?
Heitor desaferrolhou a porta, assentou o tricórnio na cabeça e
partiu, sem sequer se despedir.
Logo que o outro homem saiu, o magro e seco tratou de, com
força, bater com o punho no balcão. Uma alfineteira caiu ao chão.
Ele deu-lhe um pontapé e atirou-a na direção de Dalila. Com passos
largos abandonou a alfaiataria.
Dalila fitou o Santo António e não ousou sequer respirar.
Ainda não há muito que as âncoras do Fortune tinham tocado o
fundo do rio quando da margem, junto às muralhas, partiu um bote
rumo ao navio de três mastros, conduzido por quatro remadores. Na
popa estavam sentados dois guardas portuários, na proa um outro
homem. Os guardas portuários vinham sempre em grupos de dois,
para prevenir os subornos. O homem na proa deveria pertencer à
Inquisição. O tempo que gastavam naqueles disparates!
O olhar de Antero percorreu o porto. O Tejo estendia-se diante de
Lisboa como se fosse um pequeno mar. A luz do Sol causava na
água, de um verde-azulado, a cintilação própria de um diamante.
Entre os imponentes bojos dos navios, as gaivotas baloiçavam
sobre as ondas, como se estivessem à espera de alguma coisa.
Os guardas portuários olhavam atentamente para o navio que
tinham em frente. Conseguiam ver Antero, de pé, encostado à
amurada. Eis que chegara a hora decisiva. Teria agora mesmo de
se fazer passar por um viajante francês, forçando o contrabandista
ao exílio nos recantos mais profundos da sua consciência.
Antero respirou fundo. Como veria um visitante de França o porto
de Lisboa? Um visitante que aqui tivesse vindo pela primeira vez?
Com um ar curioso, debruçou-se sobre a amurada. Olhou em redor,
enquanto assobiava baixinho uma melodia francesa.
Em redor do Fortune estavam fundeadas embarcações de carga,
holandesas, chamadas fluyts e esbeltas pinaças francesas. Para as
bandas do porto militar, conseguia ver fragatas e um couraçado
recheado de canhões. Mais atrás, quatro corvetas eram embaladas
pelas vagas.
Ao longe, a frota do Brasil aguardava. Seriam possivelmente uns
cinquenta navios, sobretudo galeões, cujos castelos da popa se
erguiam em altura, bem acima do nível das águas. Ao pé destes, as
naus e caravelas, mais pequenas e mais antigas, tinham um
aspecto miserável. Nas proximidades, a escolta, formada por oito
imponentes navios de guerra, velava por todas essas embarcações.
Quando vinha do Brasil, um comboio daqueles deveria valer alguns
sete ou oito milhões de coroas de ouro. A proteção da escolta era
uma necessidade. Só formando uma flotilha poderiam os navios
resistir aos ataques dos piratas.
A Companhia do Comércio do Brasil trocava pau-brasil por
farinha, vinho, peixe seco e azeite, que depois eram levados para o
Brasil. Outros comerciantes, que, com os seus navios, se haviam
juntado ao comboio, traziam açúcar das plantações de cana, para
além de cacau, peles de bovinos e ouro. Os bens que abasteciam
um território inteiro eram transportados por mar. Antero conhecia
bem esse negócio.
Voltava-se sempre à discussão sobre se não seria melhor acabar
de vez com o comboio. As desvantagens daquele procedimento
eram óbvias: quando os navios chegavam a Portugal, eis que o
mercado ficava por algum tempo saturado com os produtos vindos
do ultramar. Quem ousasse encetar a viagem sozinho, numa outra
altura do ano, poderia, com os mesmos produtos, ver os seus
ganhos multiplicados.
Ou então quem ousasse contrabandear, ao arrepio de todas as
determinações, proibições e cobranças de impostos. Antero forçou-
se a reprimir tais ideias. Não poderia agora, enquanto
desempenhava aquele papel, cometer quaisquer deslizes.
Distendeu os membros e fingiu observar o bote dos guardas
portuários sem qualquer medo, sem se deixar tomar pela sensação
que nem sequer deveria olhar nessa direção.
O bote passou junto de um batelão carregado com tonéis que
haviam sido impermeabilizados e estavam agora a ser
transportados para a margem. Os guardas portuários examinaram-
nos com um ar severo. Os tonéis poderiam conter fosse o que
fosse: peles, vinho, especiarias, azeite, ou cereais, mercadorias
descarregadas de um navio mercante. Ou estavam vazios e iriam
ser enchidos com água potável e provisões.
– Está a ver aquele couraçado ali? – o carpinteiro de bordo
chegou-se junto dele. – Três cobertas, noventa e oito canhões. É
uma loucura, não é? Em tempos, ainda se faziam abordagens aos
navios inimigos em alto mar. Hoje em dia, navegam por aí esses
colossos.
– Mas ainda acontecem abordagens, os piratas…
– Disparate! Já ninguém pensa em abordagens. As frotas
colocam-se uma em frente da outra, formando duas longas filas de
navios – colocou as palmas das mãos uma junto da outra. – Depois
desatam as bocas-de-fogo a disparar, até que um dos lados se
retire, por já ter os mastros a voarem-lhe junto das orelhas.
– Ah, sim… Surpreendente.
– Os navios mais pequenos já só são necessários porque lá para
o fim da fila já nem se consegue ver o navio-almirante! Por isso, os
pequenos servem para retransmitir os sinais das bandeiras, e de
resto para mais nada. Compare lá a montanha que é este navio com
aquelas corvetas ali. Tem noção de que só neste couraçado está
reunida uma floresta inteira de carvalhos? E depois mais uns
quantos milhares de quilos de ferro dos canhões. A tripulação, os
víveres, a pólvora, o chumbo… É um milagre que o navio flutue com
tamanha segurança.
O bote deteve-se. Ali estavam eles. Os remadores recolheram os
remos. Pelas escadas de corda que o comandante mandara prender
à amurada a bombordo treparam os guardas portuários para o
navio. Seguiu-se-lhes o fiscal da Inquisição. Conhecia-o? Antero
examinou de passagem o rosto dele. Não.
Enquanto os marinheiros andavam descalços e até mesmo os
oficiais do navio mais não tinham nos pés do que calçado simples
com atacadores, os sapatos dos três homens exibiam dispendiosas
e brilhantes fivelas. Ambos os guardas portuários recolheram os
respectivos chapéus debaixo do braço e esboçaram uma vénia
diante do comandante.
– Bem-vindo a Lisboa, senhor comandante.
Enquanto isso, o terceiro homem retirou do bolso, preso a uma
corrente prateada, o seu relógio e, com um ar carrancudo, olhou
para o mostrador. As unhas dos seus polegares eram pontiagudas e
compridas. Antero olhou para ele com atenção. Aquele relógio era
semelhante ao seu, do mesmo modo que um ovo se assemelha a
outro.
Foi como se um prego em brasa se lhe cravasse no cérebro. Tudo
o que nele havia do francês de há pouco evaporou-se por instantes.
Era apenas e só o contrabandista, a ratazana que é perseguida e
encurralada. Tinham enviado um discípulo de Malagrida.
3
«Um lobo à caça», foi o pensamento que passou pela cabeça de
Antero. À exceção das invulgares unhas dos polegares, a impressão
criada pelo homem era a de alguém civilizado. Tanto o jaquetão
como o colete exibiam uma fila de botões de formato semiesférico.
Das mangas da sua casaca saíam punhos de renda, e em redor do
pescoço havia um lenço branco. Os discípulos de Malagrida tinham
de se apresentar bem vestidos, afinal de contas era nos melhores
círculos que se moviam. Não deixavam, porém, de ser, na verdade,
feras sob disfarce.
Por baixo do calção trazia vestidas meias até ao joelho
imaculadamente brancas. Usava ainda uma peruca. Não, o cabelo
era mesmo dele! Um homem que quisesse dar-se ao respeito
jamais saía à rua sem uma peruca. A opinião das pessoas não era
com certeza algo que o preocupasse. Tinha autoconfiança e era
senhor de si mesmo.
Antero não admitia atribuir este encontro ao acaso. Dirigiu-se ao
estranho.
– Permita-me que o cumprimente – a pronúncia francesa saiu-lhe
irrepreensível. – O meu nome é Jean. Sou passageiro deste navio e
esta é a minha primeira visita a Portugal. Que será que devo fazer
quando chegar ao porto? Deverei comunicar a minha presença
algures?
O olhar impassível do estranho ficou preso no seu rosto.
– Que quer dizer com isso?
– Em Portugal, segundo se diz, a Inquisição anda sempre no
encalço das pessoas. Pronuncia-se sobre todo e qualquer passo
que se queira dar. Não quereria, logo de início, começar por fazer
qualquer coisa mal.
Os marinheiros, agitados, faziam-lhe sinais. Os seus rostos
estavam lívidos.
Antero não vacilou sequer. Acrescentou ainda:
– Ouvi dizer que qualquer um me pode denunciar. O meu próprio
criado, o meu notário ou qualquer pessoa que passa na rua, gente
que eu nem sequer conheço. Isso é verdade?
– Melhor será que se mantenha de boca fechada, homem – o
estranho dirigiu-se ao comandante. – Nome e nacionalidade do
navio?
– Chama-se Fortune, respeitável senhor, e é sob pavilhão
britânico que navegamos. – O comandante Wrightson trouxe a
manga até junto da boca e tossiu.
– O nome do proprietário?
– Adam Bromley.
– Número de passageiros? Número de tripulantes?
– Um passageiro, trinta e quatro marinheiros.
– Religião?
– Somos todos protestantes, à excepção de Robert Scott, o
grumete, esse é católico.
O estranho inspirou vigorosamente.
– Muito bem. – Examinou os marinheiros como se estes fossem
demónios. – Existem livros a bordo? Imagens?
– Não, respeitável senhor.
Antero acercou-se do comandante e do estranho e fingiu-se
horrorizado.
– Você é... Quero dizer, está a fazer essas perguntas por
pertencer à Inquisição? Mas isto é terrivelmente desagradável para
mim. Como poderia eu saber que trabalha para a Inquisição? Por
favor, não quero que pense que tenho uma má opinião a seu
respeito, não era minha intenção ofender os costumes do seu
país…
– Deixemos a coisa assim – interrompeu-o o estranho. – Você fala
como se a sua vida dependesse disso.
– Teria a gentileza – começou um dos guardas portuários – de
nos mostrar a carga, senhor comandante? Talvez o seu
contramestre possa fazê-lo, o meu colega poderá acompanhá-lo. Se
entretanto pudéssemos ir preenchendo os documentos do navio
para a alfândega…?
– Claro que sim. Vamos até à minha cabina – o comandante
afastou-se na companhia do guarda portuário. O inquisidor seguiu-
os na direção da cabina do comandante, enquanto o segundo
guarda portuário se dirigiu, na companhia do contramestre, para
junto das escotilhas de carga.
O homem de Malagrida é que não! Antero engoliu em seco.
Aquele iria exigir ao comandante que lhe mostrasse os pacotes com
mercadorias que pertenciam aos membros da tripulação, acabaria
por ver o relógio no seu pacote e de imediato aperceber-se-ia de
que ali havia algo que não batia certo.
– Caro senhor inquisidor – disse ele e apressou-se a segui-los. –
Permite-me que fale consigo um instante?
O estranho estacou.
– Que mais quer?
Antero atraiu-o à parte.
– Revelar-lhe um segredo. É para isso que aqui está, para sondar
e revelar a existência de segredos, não é assim?
O estranho franziu a testa.
– Diga.
– Foi sobretudo tecidos ingleses que carregámos. Mas também
sacas com meias de malha e alguns tapetes de lã.
– Isso não me diz respeito.
– A questão é: o que irá o comandante receber a bordo quando a
carga tiver sido vendida?
– De certeza que me vai responder a isso já de seguida.
Antero falava em tom de segredo:
– Ainda que, com isto, esteja a falar contra o interesse dele, eu
revelo-lho. Ele compra sal de Setúbal ou de Aveiro e transporta-o
para o mar Báltico. Lá é bastante procurado, pois precisa-se dele
para salgar os arenques. Um negócio astucioso. De seguida leva do
Báltico para Inglaterra madeira e pez para a construção naval.
– Está a fazer-me perder tempo.
– Espere! Esta é apenas a história que se vê. Na verdade, porém,
o comandante é contrabandista! Neste navio não irá descobrir nada,
mas eu sei onde encontrará. Isto com certeza que lhe interessa…
– Vá ter com os guardas portuários e conte-lhes essa história.
Contrabandistas é coisa que não me interessa.
– É mesmo? Ele contrabandeia livros! Daqueles que figuram no
Índice dos Livros Proibidos da Inquisição. Vende-os depois às
escondidas, e a preços escandalosos, aqui no seu país.
Nos olhos do estranho surgiu um brilho incandescente.
– Onde tem ele os livros?
– O conhecimento tem o seu preço. Quanto está disposto a pagar
para que eu coloque a minha vida em risco e lhe mostre o
esconderijo?
Um guarda portuário saiu através da escotilha da cabina do
comandante para o exterior. Trazia na mão direita algumas folhas de
tabaco, a mão esquerda segurava um relógio, que oscilava,
suspenso.
– Isto pertence-lhe? – perguntou ele, dirigindo-se a Antero.
O discípulo de Malagrida olhou para o relógio, depois, fixamente,
para o rosto de Antero e disse:
– Tabaco? E quer-me você falar de contrabando?
No convés, atrás dele, surgiu o comandante. Trazia uma
expressão séria.
A fera não reagira ao relógio? Como seria isso possível?
Naquele terrível e singular momento, Antero apercebeu-se de
tudo. Aquele jogo mortífero ostentava a assinatura de Malagrida.
Este tinha enviado os seus esbirros no seu encalço: o comandante
Wrightson, que lhe contara uma patranha acerca das colónias e da
sua velhice, para o atrair para junto da armadilha. O homem com as
garras, que fingia pertencer à Inquisição.
Pelo canto do olho, Antero observou as escadas de corda.
Resvalavam de um lado para o outro, por cima da amurada. Eram
os remadores que estavam a subir para bordo. Deveriam
surpreendê-lo por trás. Com o cotovelo desferiu um golpe na laringe
do estranho. O falso inquisidor agarrou-se de imediato ao pescoço e
cambaleou para trás, como que a estertorar. Saltando três passos
bem largos, Antero estava já junto da amurada. Passou as pernas
para o lado de fora e deixou-se cair.
A superfície da água rasgou-se sob o seu peso, como se de um
tecido se tratasse. O rio recebeu-o com um abraço gelado. Diante
dos seus olhos, um turbilhão de bolhas de ar e partículas em
suspensão girava na água. Voltou à superfície, resistindo à
ondulação, para inspirar uma golfada de ar. Com toda a pressa que
conseguiu afastou-se do navio a nado.
A partir das escadas de corda os remadores lançaram-se à água
e seguiram no seu encalço. Eram bons nadadores. Com duas
vigorosas braçadas Antero conseguiu elevar a parte superior do
corpo acima da superfície da água. Com o punho, aplicou um golpe
na têmpora do remador que mais de perto o perseguia. Uma dor
invadiu-lhe a mão, mas o homem ficou para trás, deixando-se
afundar. As pálpebras tremeram-lhe, era evidente que lutava para se
manter consciente. O segundo remador aproximou-se. Antero
descreveu um movimento na direção deste, mas infelizmente a água
travou o ímpeto da pancada que desferiu. Com os braços, o
remador envolveu a cabeça de Antero e forçou-o a mantê-la debaixo
de água.
Deu com o cotovelo na barriga do remador. Ouviu-o produzir um
gemido abafado, mas ainda assim o outro manteve-o
inexoravelmente bem preso. Antero aproximou as suas mãos dos
braços cruzados do remador e tentou afastá-los. Não conseguiu,
porém, libertar a cabeça. O ar já escasseava. Revolta, a água
estava já cheia de espuma. Mergulhou os dentes na carne do braço
do outro. Um gorgolejar de dor. O amplexo do remador enfraqueceu.
A água começou a ficar tingida de sangue. Antero mordeu de novo
com força. Conseguiu libertar-se.
Embora mal conseguisse aguentar por lhe faltar o ar, teve de se
obrigar a mergulhar ainda mais fundo. Nadou debaixo de água na
direção do imponente bojo do Fortune. Os seus membros
estremeciam. Precisava de ar! Engoliu alguma daquela água
salobra. Com as últimas forças que lhe restavam mergulhou sob o
casco da embarcação. A madeira escura estava repleta de algas.
Conseguiu aperceber-se da presença de mexilhões negros.
Esfolaram-lhe a pele das costas, provocando-lhe lacerações,
quando roçou no casco ao atravessar para o outro lado do navio.
Antero sentiu que começava a perder os sentidos. Ao nadar, os
movimentos foram-se tornando mais breves, os braços e pernas
mexiam-se como que convulsivamente. Por fim, voltou a subir até à
superfície. Foi junto ao leme que reapareceu. Sentiu um acesso de
tosse que se anunciava, mas esforçou-se por não tossir. Embora se
sentisse estonteado e os pulmões parecessem estar em brasa,
procurou manter uma respiração regular.
Assim tão junto da popa, do interior do navio não o conseguiriam
ver, para além de haver o grande casco da embarcação a separá-lo
dos remadores. Com certeza não tardariam a adivinhar para onde
ele teria nadado. Sentia-se mal-disposto. Que quantidade de água
teria engolido? Doíam-lhe os braços e as esfoladelas nas costas.
Levou as mãos aos pés e tirou os sapatos. Largou-os, deixando-os
ali a boiarem. A pinaça diante dele conseguiria mergulhar por baixo
dela para passar para o lado de lá? O instinto de sobrevivência
fustigou o seu corpo.
Cinco vezes inalou ele vigorosas golfadas de ar, mergulhando de
seguida. Voltou a ficar cercado pela água azul-escura. Via gaivotas
a flutuarem à superfície, como se o céu fosse feito de vidro. Não
poderia aproximar-se demasiado delas, pois, se se espantassem e
voassem, revelariam a sua presença.
Logo após algumas braçadas teve a sensação de que a vida
estava prestes a extinguir-se dos seus membros. Precisava de
respirar, e imediatamente! Para fortalecer a firmeza da sua
convicção imaginou aquilo que o esperaria, se surgisse à tona de
água: tiros, golpes de baioneta, os estertores e a morte. Continuou a
mergulhar.
O pai adorava tabelas de cálculo. Fazer contas de cabeça seria
mais rápido e o pai era bom nisso. Apesar de tudo, Dalila via-o, dia
após dia, debruçado sobre as tabelas de cálculo. Preferia confirmar
nas tabelas os resultados das suas contas. Nelas surgiam
impressos, preto no branco. Mantinham-se ali, quietinhos no seu
lugar, à espera de, assim que necessários, serem chamados.
Martinho Velho da Rocha Oldenberg seguia com o indicador
coluna abaixo e, murmurando baixinho, lia um valor.
– Pai – disse ela –, é importante.
Ele franziu a testa e, com ênfase, disse:
– Cinquenta e quatro.
Por cima do tecido azul de seda que revestia a parede estavam
pendurados quadros do famoso Peter Paul Rubens. Não agradavam
a Dalila. Para ela, os corpos neles retratados assemelhavam-se a
róseos lombos de porco. Ali ao lado, Leonor tocava cravo, o som
esgueirava-se por entre as portas abertas. Tocava sem qualquer
sentimento. As notas sucediam-se numa sequência mecânica, não
lhes introduzia qualquer efeito artístico, de hesitação, não tinha um
fôlego próprio. Apesar de tudo, o professor elogiava-a. Desde
sempre que, junto dos homens, as portas se tinham aberto para a
sua irmã.
O pai levantou o olhar das tabelas.
– Que se passa?
– Estive numa alfaiataria. Em Alfama. Inadvertidamente, escutei
uma conversa quando lá estava.
– Sim, Dalila.
O olhar dele estava fixado no vazio. Queria voltar para os
números. Não lhe interessava o que ela tinha para lhe dizer.
Aqueles olhos grandes! A brancura dos globos oculares era
atravessada por pequenos capilares vermelhos. Via-se-lhe nos
olhos que trabalhava muito. A pele em redor estava repleta de
rugas, e os próprios globos oculares repousavam numa cama de
tecidos avermelhados. Dormia menos do que devia.
– Estavam a falar de ti. Disseram que te estão a «trabalhar» –
informou Dalila.
– Às vezes também digo isso acerca das pessoas com quem faço
negócios. Não é razão para se ficar preocupado.
– Um deles era magro como um esqueleto, acho que era o
alfaiate a quem pertence a loja. Dizia que o ouro te nasce dos
bolsos.
O pai esboçou um sorriso.
– É essa a fama de que gozamos, minha filha, nunca te tinhas
dado conta disso? E é bom que assim seja. Ainda que a maior parte
da fortuna esteja investida, eles deverão saber que possuímos
dinheiro para o que der e vier.
– Os homens falaram de ti num tom negativo. Isso é coisa que se
percebe.
– E como vão as tuas lições de música? A improvisação das
vozes intermediárias em relação à melodia e ao baixo, já estás a
consegui-la? Cada vez mais se escreve esse tipo de peças
musicais, segundo dizem. Assim sendo, deverão aprender, a Leonor
e tu. Sai-me caro, o professor, como sabes, ele também é
compositor e dá concertos. Quero que vocês se esforcem bastante.
Ela apoiou as suas mãos sobre a secretária.
– Pai, porque não acreditas quando te digo que esta gente te
queria mal?
– És uma rapariga, Dalila! Uma jovem mulher! Não fui abençoado
com a sorte de ter um filho. É a realidade com que me devo
resignar. No entanto, isso não quer dizer que as minhas filhas
tenham de se comportar como homens. Ninguém espera de ti que te
interesses pelos meus negócios. De qualquer modo, não os
entenderias. Melhor será que te preocupes com o modo como te
comportas, com a tua boa reputação e com as artes! E, da próxima
vez que haja uma receção, trata de ser menos mal-humorada com
os homens. Toma a Leonor como exemplo. Ela sabe bem aqueles
que, enquanto jovem mulher, deverão ser os seus interesses. E
desse modo não tardará a entrar-me aqui em casa um bom genro.
Dalila cerrou firmemente os maxilares.
– Não acredito que estejas a dizer isso a sério.
– Não te consigo entender – suspirou ele. – Que pretendes tu
afinal? Comerciante é coisa que não podes vir a ser. Enfim, mas que
estiveste tu a fazer em Alfama?
– É verdade que nas nossas plantações os índios morrem às
centenas?
– Todos nós morremos quando chega a nossa hora. Os nossos
escravos não são exceção. Achas que fico satisfeito? De cada vez
que um índio exala o seu último fôlego, isso representa uma perda
para mim – o pai olhou-a fixamente nos olhos. – Não quero que vás
mais a essa alfaiataria. Não te metas nos meus negócios.
Por pouco que o peito não lhe rebentou, tal a fúria que sentiu.
Como podia ele falar assim com ela? Para ele, ela não representava
senão mais um dos seus negócios. Um contrato de casamento.
Tinha vontade de lhe lançar em cara que o dever dele era amá-la,
isso sim, tinha era de amá-la!
– Estavam a falar de uma jesuíta, pai. Soou como se ela fosse
tentar enganar-te.
Ele esboçou uma careta trocista com a boca.
– Não há mulheres entre os Jesuítas. A Companhia de Jesus só
aceita homens. Estás a fantasiar!
As mãos dela tremiam. Como podia ele não a levar a sério?
Furiosa, deu meia-volta e abandonou a sala. Desde que nascera
que enfrentara a vida sozinha. A mãe estava permanentemente no
estrangeiro, em visitas a familiares. O pai vivia para o seu
património. Administrava-o, multiplicava-o e aperfeiçoava-o, isso era
tudo o que contava para ele.
Jerónimo, um dos escravos domésticos negros, veio ter com ela.
Trazia consigo uma salva de prata com cachos de uvas.
– Como se sente hoje, menina Dalila?
– Mal. O pai é impossível comigo. Para ele, as filhas não têm
qualquer valor.
– Quer que lhe dê um tiro? – exibia os seus resplandecentes
dentes brancos.
– Não estás a falar a sério, pois não?
– Eu sou metade de uma espingarda. Quando eu era criança,
houve um guerreiro da Costa do Ouro que nos entregou, a mim e ao
meu irmão, a troco de uma espingarda, a um comerciante de
escravos português. Assim, já que sou metade de uma espingarda,
o mínimo que posso fazer é dar um tiro. Não é verdade?
Dito isto, riu-se.
Que tinha dito o pai? «Não tardará a entrar-me aqui em casa um
bom genro.» Estaria a referir-se a Antero? «Se Antero se casar com
Leonor», pensou ela, «não vou ser capaz de sobreviver, isso vai
definitivamente partir-me o coração.»
Qual baleia de peito estreito, a pinaça flutuava sobre a água. Antero
não foi capaz de mergulhar por baixo do seu casco. Era demasiado
profundo. Nadou à superfície, enquanto ia respirando. Inspirava e
continuava a nadar. Por detrás da pinaça, ainda à tona de água,
descansou um pouco.
Depois voltou a mergulhar, contornando as fluyts, as caravelas,
nadou, foi-se escondendo, continuou a nadar, até o seu corpo
arrefecer completamente e os músculos tremularem de exaustão.
Por fim, alcançou a margem. Só quando chegasse às ruelas de
Lisboa e se pusesse a salvo no pátio interior de uma casa qualquer
é que poderia permitir-se descansar. Rastejou sobre as pedras que,
amontoadas, protegiam o cais de cargas e descargas, rumo a terra
firme. As pedras estavam quentes.
Antero olhou em redor. O Fortune continuava lá adiante, no Tejo,
meio escondido por detrás da pinaça francesa, e tudo parecia
calmo. No porão estavam caixotes com tabaco. Caixotes que lhe
pertenciam. No entanto, teria de dá-los como perdidos. Dali não iria
ele receber um único real. Poderia dar-se por contente ter
conseguido escapar do navio com vida.
Dois estivadores carregavam arcas às costas sob cujo peso até
mesmo um cavalo correria o risco de sucumbir. Limitaram-se a virar
brevemente para ele os seus rostos suados e avermelhados. Um
deles assoou-se à própria mão. As vagas embatiam
ininterruptamente no mármore que revestia o Cais da Pedra. O sol
aquecia as costas de Antero. Não podia, porém, repousar.
Arrastou-se para longe do cais. Sentia os músculos das pernas
retesados e rijos, como que prestes a rasgarem-se a qualquer
momento. As pernas pesavam-lhe como se fossem sacas de
cereais. O mesmo se aplicava aos braços. A boca estava seca e, a
cada inspiração, doíam-lhe os músculos do peito.
Iria dar nas vistas ao andar pelas ruas com a pele das costas
esfolada e as roupas molhadas. Melhor seria se se misturasse com
a multidão numa praça. A partir daí poderia escolher para o seu
plano de fuga um qualquer de entre diversos caminhos, tornando-se
assim mais difícil segui-lo.
O Terreiro do Paço confinava com o porto. Um dos lados que o
delimitava abria-se para a água. Havia um grande burburinho nessa
praça. Centenas de pessoas negociavam preços, elogiavam as
mercadorias ou criticavam-nas aos gritos. De pés descalços, Antero
pisou uma bosta de ovelha. Espinhas de peixe e folhas de milho já
em decomposição ficavam-lhe presas na sola dos pés.
Na parte frontal da praça, o mercado do peixe, havia cestos
repletos de mercadoria até à borda.
– O meu peixe é tão fresco que o barco onde veio ainda nem
lançou amarras! – gabava-se uma das varinas.
Ia sendo vaiada pelas outras, que furiosamente gritavam:
– Sardinhas! Pargos!
Demasiado tarde. Os clientes já se haviam juntado em redor dela
para ver o peixe. Em Portugal, ir às compras era coisa de homem.
Outrora não se dera conta disso, só depois de ter conhecido a
Inglaterra é que reparou na diferença. O peixe, no entanto, era
vendido apenas por mulheres. Mais outra regra. Em Portugal,
existiam regras válidas ainda que não fossem expressamente
enunciadas.
Os potenciais compradores fitavam os peixes, cortados às
metades e salgados, e distinguiam a mercadoria boa daquela que
não estava em condições, os grandes dos mais pequenos, os que já
estavam secos daqueles que, cozinhados, iriam saber melhor.
Punham de parte os bacalhaus que, na Terra Nova, haviam sido
maltratados pelos pontapés dos enfardadores. Pegavam nos
robalos pela boca. Quase afundavam os narizes nas entranhas dos
pargos para as cheirar. As vendedeiras precisavam de convencer os
fregueses da qualidade da mercadoria que ali tinham, pois os
preços não eram negociados, todos os dias eram fixados pelos
inspectores do mercado, os almotacéis.
Antero olhou para cima, para a torre do relógio no palácio real.
Fora construída havia poucos anos. Quando Antero virara costas à
cidade, ainda a torre estava envolta em andaimes. O relógio deveria
provar que, com o tempo, o rei mudava. No entanto, ele
praticamente não vivia no Paço da Ribeira. O palácio era uma
espécie de gruta de Ali Babá, nada mais. Antero já lá estivera
dentro, há seis anos, integrava então o séquito de Malagrida. Aquele
monumental edifício de planta quadrangular encontrava-se até à
mais recôndita das salas repleto de móveis indianos, porcelanas
chinesas, tapeçarias, livros e dispendiosos modelos arquitetónicos
de igrejas e palácios romanos. Sob os tetos decorados com
aplicações de estuque estavam penduradas pinturas de Correggio e
Ticiano. Ali eram guardados tesouros que gerações e gerações de
reis haviam acumulado. Aquele palácio nada tinha a ver com os
novos tempos.
O relógio da torre fez soar o meio-dia. À medida que cada uma
das badaladas ia soando, diminuía a actividade na praça e o
burburinho, até que por fim, à décima segunda pancada no sino,
reinou o silêncio. As pessoas ajoelharam-se e tomaram nas mãos
os respectivos rosários. Com movimentos dos lábios que não
produziam qualquer som, disseram as suas orações. Também
Antero fletiu os joelhos, para não dar nas vistas. Entrelaçou os
dedos das mãos, como se entre as palmas segurasse um rosário, e
fez como se estivesse a rezar. No entanto, apenas fingiu fechar os
olhos. Espreitou através das fendas que as suas pálpebras
formavam para verificar se vinham perseguidores no seu encalço.
Em todo o mercado apenas cerca de uma dúzia de pessoas não
se ajoelhara. Deviam ser protestantes. Respeitosamente tinham
descoberto a cabeça e aguardavam que os seus parceiros de
negócios terminassem as orações.
Ali ao lado havia cabeças de cabrito a assar sobre brasas de
carvão. Durante a oração, o rosto do dono da barraca de comes e
bebes esboçou um esgar de súplica. Era óbvio que existia uma
qualquer culpa que tinha de confessar. Da bacia com as brasas
subia também uma nuvem de fumo. As cabeças de cabrito ficaram
negras por baixo, as iguarias estavam a queimar-se! Não se daria
ele conta disso? Era impossível que não lhe cheirasse! O odor da
carne carbonizada penetrava no interior do seu nariz, era como se
agulhas finas o picassem.
Na sua mente uma recordação ganhou contornos dolorosamente
bem definidos, provocando-lhe lágrimas que lhe preencheram os
olhos. Sentiu o cheiro a carne queimada. Viu Julie a arder. Ouviu-a a
gritar. Encostada à estaca, contorcia-se de dor.
Arregalou os olhos, engoliu em seco e limpou o suor do rosto.
Algumas pessoas estavam já a terminar as suas orações. Antero
ergueu-se e, por entre a multidão, atravessou o Terreiro do Paço.
Precisava de roupas e de dinheiro para poder sair de Lisboa. Não
poderia ir ter com a sua mãe, mas sim com Cirilo, o comerciante de
chá a quem nos últimos anos ele tinha vendido a maior parte da
mercadoria contrabandeada. Esse, por certo, ajudá-lo-ia.
Antero subiu a colina. Passou por uns velhos sentados diante das
suas casas sobre uns banquinhos de madeira a jogar dominó. Com
os seus aquosos olhos de anciães, os homens fitaram-no como se
tivessem pena dele. Andava por ali como o mais miserável de entre
os miseráveis, sem sapatos, com as roupas rasgadas. No que dizia
respeito a Lisboa, aquela era mesmo a sua realidade. Não possuía
aqui nada mais a não ser aquela camisa esfarrapada e os calções
molhados. Como haveria ele de conseguir pagar o que devia? Só
regressando a Londres poderia recorrer ao pequeno pecúlio que
possuía.
Não estava habituado a andar descalço. Sentia as pedras lisas da
calçada nas solas dos pés. Por entre as juntas das mesmas
brotavam ervas. Do pátio interior, ouvia-se o estridular de uma
cigarra. Não conseguiu deixar de se lembrar de quando, em criança,
passeava por Lisboa e ia observando o mundo. Tinha-se então dado
conta de milhares de minúsculos detalhes. Mas nessa altura ele era
fraco e havia sempre quem se aproveitasse e espezinhasse aqueles
que eram assim.
Chegaria o dia em que ele se vingaria pela morte de Julie e pela
vida passada em fuga.
Uma mulher levava um cão a passear pela trela. O animal
arrastou-a na direção de Antero, mas a mulher ralhou-lhe e puxou-o
para junto de si. Por pouco que Antero não reparava no pano verde
que pendia de uma haste, sobre a rua. Significava que o
comerciante também vendia a sua mercadoria a clientes individuais,
já que, de resto, a rua era dominada pelos grossistas. Era aqui a loja
do comerciante de chá.
Entrou. O aroma dos chás de ervas preenchia aquele espaço. O
comerciante estava curvado sobre uma mesa larga, coberta por um
pano de cor ocre, e discutia com um cliente.
– Porque não acredita no que lhe digo? Este chá preto é
proveniente dos montes Wuyi, na província de Fukien. É este chá
que os Ingleses vendem como bohea. E não é só, este é um chá
imperial! Sabe o que é chá imperial?
Contrariado, o cliente resmungou qualquer coisa.
– Eu explico-lhe. Só as primeiras folhinhas, as mais tenras,
colhidas pelos camponeses chineses, são usadas para produzir o
chá imperial. São muito procuradas e consideradas uma
preciosidade! Sobretudo quando assim pequenas.
– Com este pó preto já ninguém consegue saber se as folhas
eram grandes ou pequenas – rosnava o obeso cliente. Revolvia com
o dedo o conteúdo da caixa, forrada a folha de chumbo, que estava
em cima da mesa, a qual continha um pó formado por pequenas
aparas negras. – Nem sequer se sabe se foi misturada alguma coisa
mais barata, folhas de videira secas, sei lá eu…!
– Escute lá, o chá preto tem de ser cortado em pedaços pe-
quenos, é um modo de fabrico completamente diferente do do chá
verde! Quer provar uma chávena, com xarope? Vai poder ver por si
mesmo que eu estava a dizer a verdade. Chá imperial do melhor!
– Não, não quero provar nada. Mande levar a caixa a minha casa.
Se me tiver passado a perna, não voltará a vender uma onça de chá
que seja aqui em Lisboa, eu próprio me certificarei disso – deu
meia-volta e preparou-se para ir embora. Ao avistar Antero, ficou
perplexo. Repugnado, olhou-o de cima a baixo.
– Não tenho nada para ti – declarou Cirilo. – Desaparece.
Antero manteve-se imóvel. Depois de o cliente abandonar a loja,
disse:
– Pensa lá melhor.
O comerciante arregalou os olhos.
– Jean?
– Dá-me roupas e dinheiro. Não vais arrepender-te.
– Tens a certeza de que ninguém te seguiu? Há aí alguém que te
quer caçar.
– Sei disso.
– Um homem com as unhas dos polegares abominavelmente
compridas perguntou por ti. Não me soou que pretendesse ter uma
conversa simpática contigo.
– O Malagrida está por detrás disto.
Cirilo empalideceu.
– Mala... O profeta? Andas às turras com os Jesuítas? Estás
perdido!
– Dá-me roupas.
– Não estou a entender. Que interesse tem para o grande
Malagrida um contrabandista como tu?
– Não ouviste? Preciso de roupas e de dinheiro.
– Aqui não tenho roupas. – Apontou para os saquinhos e as
caixas nas prateleiras. – Só chá.
Antero saltou por cima da mesa. Agarrou o comerciante pelo
colarinho e puxou-o para junto de si.
– Vais ajudar-me. Despe-te, ou eu próprio trato disso enquanto tu
vais dar os bons-dias e bater às portas do Inferno!
– Não estás bom da cabeça? Queres que fique nu a vender chá?
Deu-lhe um encontrão, afastando-o de si.
– A tua loja não me diz respeito. Fecha-a, chama um vizinho, diz-
lhe que foste roubado! Trata-se de uma questão de vida ou de
morte. Vá, despe-te.
Por um breve instante, o olhar do comerciante dirigiu-se para
baixo.
Antero olhou por baixo do balcão. Antes que Cirilo pudesse
alcançar o florete, ele mesmo agarrou-o. A fria peça de ferro
ajustou-se ao seu punho. Encostou a ponta da lâmina do florete à
barriga do comerciante.
– Queres pregar uma partida ao teu velho parceiro de negócios?
Pensa bem nisso antes de tentares fazê-lo.
– Perdeste a cabeça, Jean.
– Despe-te.
Cirilo hesitou.
Com firmeza, Antero pressionou-lhe a lâmina contra a barriga. O
tecido da camisa rasgou-se.
– Achas que não levo isto até ao fim? Olha que te enganas.
O suor escorria já pela cara do comerciante de chá. Os olhos
adquiriram uma expressão apática.
– Jean, por favor, sabes que tenho mulher e filhos.
– Faz o que te digo.
O comerciante soltou cuidadosamente a camisa do calção.
Foi então que Antero ouviu um ruído vindo da rua. Seria o tilintar
de sabres?
– Pára! – ordenou Antero. Levantou o pano e escondeu-se
debaixo da mesa. A lâmina do florete estava apontada às partes
baixas de Cirilo. – Desfiro um golpe se disseres uma palavra errada
que seja. Até mesmo se eles me descobrirem por estares a
transpirar, a gaguejar ou por baixares o olhar. Se eu morrer, tu
morres comigo.
Naquele preciso momento, abriu-se a porta da loja. O chão
tremeu sob os passos pesados de vários homens.
– Onde está ele? – perguntou uma voz grave.
Diante da mesa sob a qual Antero se encontrava acocorado,
viam-se várias meias até ao joelho, impecavelmente brancas.
4
Era pelas primeiras horas da manhã que a sua pequena dona
cheirava melhor. Deitou a cabeça sobre a almofada dela. O cabelo
da pequena dona fazia-lhe cócegas no focinho. Inspirou
profundamente o seu odor. A touca escorregara-lhe da cabeça e a
sua pele exalava um cheiro adocicado. De entre todos os humanos,
era ela quem ele mais gostava de farejar.
A sua pequena dona abriu os olhos e bocejou. Ergueu a cabeça.
– Bento! – ela riu-se e disse mais qualquer coisa na língua dos
humanos.
Sacudiu-se. Talvez o seu bafo quente a tivesse feito arrepiar-se.
Era frequente ela ficar com pele-de-galinha quando o ar que ele
expirava lhe era soprado sobre a nuca.
Quando as boas pessoas erguiam os braços no ar, tal equivalia a
um convite para a brincadeira. Ele saltou para cima da cama e
lambeu-lhe o rosto. Ela espirrou, empurrou-o para o chão e, com a
manga, limpou a testa.
– Bento!
Desta feita as suas palavras soaram como uma censura. Que
havia ele feito de mal? Pisara a cama dela. Aquela cama elevada
era reservada à sua pequena dona. Ele, Bento, tinha de ficar lá em
baixo. Era preciso saber qual a sua posição, qual o seu lugar na
matilha. E, se assim fosse, tudo estaria bem. Abanou a cauda em
jeito de reconciliação e ladrou.
– Vai buscar a bola! – disse-lhe a sua pequena dona.
Lançou-se na direção da bola, procurou-a detrás da arca e trouxe-
a na boca até junto dela.
– Muito bem – afagou-lhe a cabeça.
Ele adorava que ela o elogiasse e lhe fizesse festas. A mão dela
transmitia um calor agradável que lhe percorria a pelagem.
Conhecia sete brinquedos pelo nome: bola, boneca, cavalo, sapato,
pote, fantoche e tambor. Neste último ele não podia tocar, para não
estragar a pele.
Um cheiro pungente agitava-se no ar do quarto. Como haveria ele
de conseguir desfrutar da mão da sua pequena dona? Estava ali um
rato, conseguia identificá-lo perfeitamente pelo cheiro. Sabia bem
onde os ratos tinham os seus esconderijos: na cozinha, no quarto da
cozinheira e na sala onde os criados fumavam. Sabia que dormiam
debaixo da soleira da despensa e que à noite, por detrás do móvel
da cozinha, se punham a mordiscar pedacinhos de chouriço e
migalhas de pão.
Bento escapou-se por debaixo da mão da sua pequena dona e
abriu a porta, empurrando-a com a cabeça. O cheiro a rato
intensificou-se. Seguiu-o até à sala de refeições dos criados. Se
conseguisse esgueirar-se por detrás do aparador! Este
acompanhava a curvatura da parede e, mesmo abaixo do tecto
dessa divisão, estendia sobre a loiça uma espécie de baldaquino de
madeira entalhada. Bento enfiou o focinho no espaço que mediava
entre o aparador e a parede. Com o olho direito conseguiu ver um
objecto metálico com que os humanos limpavam os candeeiros.
Fora ali deixado, ao abandono, estava envolto em cotão. Ratos foi
coisa que não viu. Mas tinham ali estado.
Com o focinho, pôs-se à procura pelo chão. Foi então que detetou
uma forte pista olfativa. Seguiu-a escada abaixo. Junto à porta
traseira da casa teve de esperar até que um criado saísse para ir
despejar o lixo da cozinha. O cheiro conseguiu distraí-lo,
convidando-o a seguir o criado. Foi a custo que se controlou e
voltou a concentrar-se na pista do rato.
Tinha estado ali.
Não, ali.
Estranho. Encontrava não apenas uma, mas várias pistas
olfativas da presença de ratos, todas elas bem frescas. Seguiu-as
até chegar à rua. Como poderia ser que, bem a meio do dia,
houvesse ali fora tantos ratos a andarem pela rua?
Por detrás da porta da casa vizinha havia um seu semelhante que
o chamava. Ladrava, insultava-o, tentava, com recurso a todos os
meios possíveis, chamar a atenção de Bento. Este, porém,
mantinha-se firme. À beira da rua, farejava o ar que inspirava. Por
todo o lado o cheiro de ratos. Além disso, o vestígio de odores que
ele desconhecia. Odores estranhos, perniciosos. Deixavam-no
confundido. Capazes de lhe pôr em pé os pelos da nuca.
Que animal era esse que exalava tais odores? Farejou de novo.
Naquele momento, estreitou-se-lhe o coração. Ganiu. Aqueles
odores anunciavam alguma desgraça. Os flancos do tronco de
Bento estremeceram de agitação.
– Ele não estava no Fortune? – perguntou o comerciante de chá.
– Fugiu. Sei que ele veio ter contigo.
– Não veio, juro que não! Não sou o único com quem ele tem
negócios.
– Negócios! – o homem de Malagrida fungou. – Vocês enganaram
o rei. O contrabando é um acto de traição! – e acrescentou: – Ficas
avisado, meu amigo. Não tentes brincar comigo. Eu ganho sempre e
aquele que perde não se dá nada bem.
Antero observou os sapatos negros dos soldados, os coletes
amarelos, as coronhas das espingardas. Os seus casacões eram
azuis e os canhões das mangas vermelhos. E lá estava o jesuíta
que estivera no navio. Reconheceu-o pela voz, bem como pelas
fivelas brilhantes dos sapatos. Se o jesuíta se inclinasse para lançar
uma vista de olhos sob a mesa, estava tudo acabado.
– Caso ele aqui apareça, tratarei de saber quais as suas
intenções e informá-lo-ei de imediato – a voz de Cirilo soava como
que entalada na sua garganta.
O homem de Malagrida acercou-se da mesa. Os seus sapatos
quase tocavam nos joelhos de Antero.
– Não estás a entender. Se não o apanharmos, aquilo que
combinámos não vale de nada. Já te esqueceste de como gemeste?
De como rastejaste pelo chão diante de mim? Se não o tivermos até
ao meio-dia, acabou-se o negócio. Irás então expiar as
consequências dos teus actos, que é como as coisas devem ser.
Que estava aquele ali a dizer? Antero podia ter saído do navio
calmamente, descarregado as caixas a coberto da noite e seria
agora um homem livre e abastado, bastando para tal que aquele
infame comerciante de chá tivesse mantido a boca fechada! Daí o
pavor dele quando Antero ali surgira, daí a rapidez com que tentara
agarrar o florete. Aquele homenzinho peçonhento! Aquele porco
negociante ganancioso! Como recompensa, haveria de lhe enfiar a
lâmina na barriga. Era só esperar até que os soldados se fossem
embora.
– Heitor, bem sei que você é um homem severo e justo. Dê-me
algum tempo que eu trato de descobri-lo. Não vai ficar desiludido.
– Vais tu tratar de descobri-lo, a ele? Não deves ter mesmo noção
alguma de quem ele realmente é.
– Verifico sempre aqueles com quem faço neg... Aqueles em
quem preciso de depositar confiança. Ele chama-se Jean e é…
– O nome dele é Antero Moreira de Mendonça! – interrompeu-o o
jesuíta. – Era o braço-direito de Malagrida, o seu discípulo, o seu
sucessor!
Ficaram calados. Após um longo silêncio, Cirilo disse em voz
baixa:
– Não sabia isso.
– Não me venhas dizer que queres interrogá-lo – rosnou Heitor. –
Não penses que consegues fazer-lhe seja o que for. Cometi um
único erro, que foi ter olhado para o relógio, e bastou isso para ele
se nos escapar. É capaz de identificar toda e qualquer fraqueza.
Quando ele vier ter contigo, fazes o que ele te disser. E só de
seguida me vais procurar. Nem sequer tentes passar-lhe a perna.
Deu meia volta, os sapatos afastaram-se.
Antero esperou. Quando também o tilintar dos floretes se afastou,
saiu donde estava escondido de gatas e ergueu-se. Mantinha a
lâmina pressionada contra o peito de Cirilo.
– Tu entregaste-me.
O comerciante de chá estava pálido. Os ombros, contraídos, bem
próximos do pescoço.
– Não sabia... Queriam dar cabo de mim. Teria sido enforcado.
Pensei para mim mesmo que acabarias por conseguir ver-te livre
deles.
– Disparate. Pensaste que nunca mais me verias, porque eles me
iam despachar num instante.
– Mas afinal sempre conseguiste escapar-te a eles agora. Cumpri
bem a minha parte, não se deram conta de nada. Podes fugir!
Antero sentiu o sangue subir-lhe à cabeça. Levou a outra mão ao
punho do florete e pressionou com força a ponta da lâmina contra o
peito do outro tipo. O comerciante de chá recuou até junto da
parede. Antero acompanhou-o. Entre dentes, proferiu com ênfase:
– Não tenho dinheiro, não tenho mercadoria, nem um navio que
me leve para longe daqui. Malagrida está a dar-me caça.
Consegues entender isso? Fazes a mais pequena ideia da
dificuldade que já foi fugir-lhe a primeira vez?
Cirilo tentava respirar com dificuldade.
– De certeza… que vais conseguir… uma segunda vez – dizia,
arquejante.
– Ah, sim? Da última vez Malagrida não fazia a mais pequena
ideia que eu pretendia largá-lo. Pude preparar tudo com calma.
Agora sabe onde estou e aquilo que pretendo fazer. Tens noção do
que isso significa? A Companhia de Jesus possui colégios,
noviciados e missões por todo o lado, em Itália, na Sicília, em
França, na Alemanha, no Brasil, até mesmo na Índia. Quarenta e
uma províncias! Os Jesuítas estão por todo o lado.
– Posso dar-te dinheiro. Poderias subornar alguém.
Aquele fracalhão havia destruído a sua vida. O ignorante tinha-lhe
aniquilado a valiosa possibilidade de fuga, o recomeço que já há
muito andava a preparar. Antero sentia vontade de lhe espetar o
florete e deixá-lo fixado à parede.
– Subornar alguém, é?
– Com a quantidade de dinheiro certa pode comprar-se qualquer
um.
– Ah, sim? Já alguma vez ouviste falar de obediência cega? De
obedecer como se deixasses de ter qualquer desejo, vontade
própria? E quem não tem vontade própria, também não quer
dinheiro. É assim que os Jesuítas se deixam comandar pelos seus
superiores, como se fossem cegos. É esse o seu voto, o juramento
que prestam. Ainda hoje me lembro dele, de cor e salteado, de tal
modo nos é inculcado. Os Jesuítas têm de renegar o seu próprio
raciocínio, obedecem cegamente àquilo que o superior lhes ordenar.
É impossível suborná-los.
– Peço-te por tudo… – choramingou Cirilo. – Sei bem que cometi
um erro terrível, mas suplico-te, tem piedade! Não me mates.
Arrependo-me da imbecilidade que cometi. Quem me dera poder
voltar atrás com as minhas acções.
«Oh, sim, e eu com as minhas», pensou Antero. Quantas vezes
se arrependera já da decisão de se juntar aos Jesuítas! Não se
tivesse ele deixado deslumbrar pelo poder e os conhecimentos da
Companhia de Jesus e Julie continuaria viva. Centímetro a
centímetro, foi baixando o florete.
– Vais fazer exatamente aquilo que eu te disser.
Os olhos de Cirilo encheram-se de lágrimas. Acenou que sim com
a cabeça.
– Vou, com certeza. Cumprirei à letra o que mandares.
– Enches um saquinho com o dinheiro que guardas aqui na loja.
Enches um outro saco com chá, o melhor que tiveres. E depois
despes-te.
Que esperava Malagrida que ele fizesse? Decerto contava que
Antero tentasse abandonar a cidade, por terra ou por mar. A
dificuldade maior consistia em vigiar o porto, por isso seria lá que
ele colocaria a maior parte dos homens. Mandaria seguir a sua mãe
e trataria de descobrir todos aqueles que tivessem feito negócios
com ele nos últimos anos.
O comerciante de chá entregou a Antero a camisa, os calções e
as meias. Nu tinha o aspecto de uma criança, mas com quarenta
anos e coberta de pelos.
Antero despiu as roupas rasgadas, frias e húmidas que trazia.
Enquanto vestia o calção do comerciante de chá, ordenou:
– Deixa tudo para trás. Leva apenas a tua mulher e as crianças, e
desaparece para a província. Ou melhor ainda, para além-mar. Têm
de abalar imediatamente. – Vestiu a camisa. Cheirava bastante a
suor. – Não digas a ninguém para onde vais. Chegado às colónias
adoptas um novo nome.
– Mas... a loja! – balbuciou Cirilo.
– Esquece a loja. Esquece a vida que conheceste até aqui.
Malagrida é implacável. Aqui já não tens qualquer futuro.
Cirilo vestiu a camisa rasgada de Antero. Depois, enfiou os
calções. De seguida, começou a encher um saco com chá.
5
Juntara-se uma multidão em redor do Chafariz de El-Rei. Antero
misturou-se nela. Precisava de tempo para tomar alento, tempo para
forjar um plano. A turba iria mantê-lo ocultado, a salvo dos esbirros
de Malagrida.
Pousou as bolsas que levava. As mangas da camisa eram
demasiado curtas, via-se logo que não lhe pertencia. Arregaçou as
mangas até aos cotovelos. Assim já parecia melhor. E com as
pernas? Também os calções lhe ficavam demasiado curtos. Só lhe
chegavam até às rótulas, ao passo que as meias, por sua vez, não
alcançavam sequer a altura dos joelhos. Joelhos à mostra. Um
absurdo. Tinha de comprar roupas novas.
Uma criança desatou a chorar. Antero ergueu a cabeça. A
multidão estava reunida em semicírculo em redor de um tabique de
madeira, no qual alguém desenhara com giz os contornos de uma
figura humana. Junto à parede, um homem com os braços esticados
segurava uma boneca bem alto, encostando-lhe uma faca à
garganta.
– Só vou devolvê-la quando alguém estiver disposto a ficar de pé,
encostado a esta parede – anunciou ele.
A multidão riu-se. A criança começou a chorar ainda mais alto.
– Ninguém se atreve?
– A minha boneca… – chorava a criança.
Uma mulher com cabelos ruivos avançou de entre a multidão e
disse:
– Pobre criança. Eu ofereço-me.
«É claro que ela é sua assistente», pensou Antero, «já está tudo
assim combinado.» O choro da criança, porém, era com certeza
verdadeiro. Lágrimas corriam-lhe pela face abaixo, e quando lhe foi
devolvida a boneca, recebeu-a e abraçou-a fortemente, como se
fosse uma criança de peito acabada de arrancar às garras de um
lobo.
Com teatral vagar, o homem foi prendendo diversas facas ao seu
cinto.
– Abram alas! – pediu ele.
Afastou-se do tabique e da mulher ruiva, que se encostara à
silhueta desenhada sobre a madeira. A multidão deixou um espaço
aberto para ele. De repente virou-se e lançou uma faca, que passou
junto ao pescoço da mulher e se cravou na madeira. A multidão
ficou respeitosamente em silêncio. O lançador sacou da próxima
faca, pegando-lhe pela lâmina, e arremessou-a. Em rápida
sucessão, as facas espetaram-se na madeira, bem junto da mulher,
à esquerda e à direita do peito, à esquerda e à direita das pernas.
O homem segurou a última faca na mão, demoradamente.
Aguardou que todos ficassem em completo silêncio. Então lançou-a.
Sibilante, alojou-se na barriga da mulher. Esta esbugalhou os olhos.
Então deu um passo em frente e o seu vestido sofreu um rasgão.
Ela, porém, estava incólume. Com uma precisão milimétrica ele
atingira o tecido junto ao corpo da mulher, prendendo-o ao tabique.
A multidão aplaudiu. O homem entregou o seu tricórnio à ruiva. Esta
passeou-se por ali enquanto fazia a recolha. Ninguém ficou
surpreendido por ser ela a recolher o dinheiro para ele.
Solicitamente, os espectadores lançavam moedas de cobre para o
interior do chapéu, moedas de cinco ou de três réis.
Antero deu meia-volta. Sentia a boca seca. Tinha de beber
qualquer coisa. A seguir, logo conseguiria pensar com mais clareza.
Acercou-se do chafariz. Iluminados pelo Sol, os arcos de mármore
do Chafariz de El-Rei projectavam no chão sombras bem definidas.
Através de seis calhas, a água fluía rumo ao rio; os pequenos
regatos reuniam-se a meio caminho e passavam a formar uma
corrente mais grossa.
Antero pousou as bolsas à sombra e estendeu os braços. Deixou
que o líquido tépido se vertesse sobre os seus pulsos. Foi então
que, atrás de si, ouviu uma voz a gritar:
– Não vos envergonhais? A vida de uma mulher é posta em jogo,
para que a vossa vontade de sensações seja satisfeita! Tem de se
pôr um fim a todas estas sacrílegas distrações, os combates de
boxe, as patuscadas e bebedeiras e as danças! Gabriel Malagrida
adverte todos os habitantes de Lisboa: se estes não se abstiverem
das suas más ações, uma grande desgraça irá assolar a cidade!
Um jesuíta! Antero curvou-se para chegar à fonte. O jesuíta não
poderia ver a sua cara. Juntou as mãos como que formando uma
taça e esperou até que estas se enchessem de água. De seguida
ergueu-as para junto da sua boca e bebeu. Após alguns goles,
parou de beber e deteve-se, espantado. Teve de cuspir a água.
Sabia a enxofre! Cheirou as mãos. Tinha nelas esse odor.
A fonte era abastecida por canais subterrâneos. Quem seria
capaz de alcançá-los? E porque haveria de envenenar uma fonte à
qual tanta gente ia beber? Quem quisesse causar dano a uma única
pessoa, não procederia assim. Para além do seu inimigo, estaria
também a lesar demasiadas pessoas inocentes.
Com cautela, Antero olhou em redor. A multidão ocultava-o do
pregador da Companhia de Jesus. Pegou nas bolsas e pôs-se de
pé. Seguiu junto à margem do Tejo, até chegar ao Chafariz dos
Cavalos. Aí a água fluía das bocas de cavalos, cujas cabeças ali se
encontravam representadas, para o interior de uma bacia e a água
que transbordava era vertida em pequenos regatos para a rua. Com
uma das mãos recolheu alguma da água e provou-a. Também tinha
um pungente sabor a enxofre.
Passava-se algo estranho em Lisboa. Talvez pudesse vir a
aproveitar-se disso para um plano de fuga.
Junto ao chafariz estavam algumas mulheres a conversar.
– Desculpem – perguntou-lhes ele –, já se deram conta que a
água da fonte tem um sabor estranho? Desde quando está assim?
– Compre-a ali aos aguadeiros – respondeu-lhe uma mulher
barriguda, com um nariz largo.
– Onde a vão eles buscar?
– Ao Largo do Rato. São os aguadeiros com as barricas
pequenas, vermelhas e de madeira.
Claro, o aqueduto. Pouco antes da sua fuga fora terminada a
última parte do percurso, do vale de Alcântara até à Mãe-d’Água. A
canalização percorria as ruas de Lisboa, conduzindo a água até ao
centro da cidade. Portanto, a água vinda de fora não estava
contaminada.
– Pode dizer-me desde quando a água do Chafariz dos Cavalos
sabe a enxofre?
– Desde ontem. Isso depois passa. Houve qualquer coisa que a
contaminou.
Quatro soldados vinham a descer a rua marginal. Apressou-se a
esconder-se detrás da mulher corpulenta. Malagrida socorria-se dos
serviços que os militares lhe prestavam, com Heitor tinham sido
também enviados soldados. Bastava prometer-lhes que lhes
entregaria um contrabandista e eles não hesitavam em ajudá-lo.
A mulher virou-se para trás, olhando de frente para ele.
– Que está aí a fazer?
Antero pôs-se a espreitar por cima do ombro dela. O vento
agitava o frouxel branco que adornava as orlas dos chapéus dos
soldados. Na ponta das espingardas estavam montadas baionetas.
Os quatro homens olhavam atentamente em seu redor.
Lançou-se ao chão, caindo sobre os joelhos. Desse modo a
mulher cobria-o totalmente dos olhares dos soldados. Reprimiu um
vómito.
– A água! Não devia tê-la bebido.
– Ah, qual quê… Ontem também bebi dela um belo trago. E não
foi por isso que tive de me pôr a vomitar.
– Sinto-me mal, vou ter de vomitar!
À esquerda e à direita da mulher corpulenta apareceram os
soldados. Apontaram as baionetas na direção dele. Um, uma
espécie de anão com os dentes tortos, disse:
– É ele.
Dalila hesitou. Diante da porta da livraria estava um homem que lia
alto a Gazeta de Lisboa. Em seu redor, reunira-se uma pequena
multidão, que o escutava. Segurava o jornal diante da cara e
declamava:
– Edward Hay, o novo cônsul-geral de Inglaterra, é recebido
atenciosamente por toda a cidade.
Aqueles que o escutavam desataram às gargalhadas.
Dalila esgueirou-se por detrás do grupo e entrou apressadamente
na livraria. Quando fechou a porta atrás de si, soou uma campainha.
Descendo quatro degraus, entrava-se numa sala repleta de
prateleiras e de livros com grossas lombadas. Também os havia
mais pequenos, que mal chegavam a um palmo de altura. Alguns
desses livros estavam por encadernar, não eram mais do que meros
maços de papel. Outros tinham encadernações de cabedal, a
maioria delas castanhas, algumas, poucas, brancas. Mais abaixo,
nas estantes, havia in-fólios do tamanho de uma roda de carruagem.
Cheirava a papel e a gordura.
Um homem calvo surgiu da porta traseira. Sorriu para ela.
– Seja bem-vinda, jovem senhora. Como posso servi-la?
Havia preparado com antecedência aquilo que iria dizer, mas
ainda assim foi com dificuldade que os seus lábios o pronunciaram.
– Queria saber mais sobre um certo assunto.
Sabia de antemão que o homem ensaiaria um sorriso malicioso.
Tomá-la-ia por lasciva.
– Oh, tenho aqui livros maravilhosos, ilustrados com gravuras em
cobre. E trabalho em conjunto com um bom encadernador, que pode
reunir tudo numa bela encadernação. Revestido a couro, o livro
ficará um verdadeiro tesouro. Possui um ex-líbris que pretendesse
aplicar no livro?
– Que é isso, um ex-líbris?
O sorriso desapareceu. De seguida, o livreiro substituiu-o por
outro ainda mais largo, mas o seu sorriso possuía agora algo
artificial, algo forçado.
– É uma marca que assinala que o livro é propriedade sua. Muitos
colecionadores encomendam a um artista notável a conce-ção do
seu ex-líbris, sendo este depois gravado na encadernação de couro
com um carimbo metálico aquecido ao fogo. Também pode ser uma
vinheta, colada na lombada do livro. Ou então, se ainda está a dar
os primeiros passos neste mundo dos livros, peça que lhe escrevam
uma folha e eu colo-lha na guarda da capa. Em qualquer dos casos,
o seu livro passará assim a ser um exemplar único. Vai ver que
colecionar livros é uma ocupação que vale a pena.
É claro que ela sabia o que é um ex-líbris, mas jamais lhe
entregaria o seu. Não para este tipo de livro.
– Não estou preocupada com o aspecto exterior – mentiu ela.
– Também vendo os livros brochados, encadernados em papel,
isso serve perfeitamente, tem toda a razão. Você não é uma
daquelas pessoas para quem no livro só conta a lombada dourada.
O importante é o conteúdo, não é verdade?
Já teria ele percebido aquilo que ela pretendia? Sentiu a face
enrubescer-se. Parecia ter o rosto em brasa.
– Queria comprar um livro proibido – anunciou ela, enquanto ele
assobiava. – Queria… – não havia nada a fazer. Se queria
conquistar Antero, teria de dizê-lo. – Queria adquirir um livro erótico.
O olhar do livreiro passeou-se, de cima a baixo, pelo corpo dela.
– Como sabe, a Inquisição mantém uma censura apertada. A
minha oferta de livros não compreende esse tipo de conteúdo
duvidoso. Caso tivesse livros desses para vender, iria parar à
cadeia.
– Sei bem que existem esses livros – insistiu Dalila. – E sei que os
tem – não o sabia, mas já seria uma ajuda se projectasse uma
imagem de confiança. – Foi uma amiga que mo contou.
O livreiro pôs-se a coçar a nuca. Lançou-lhe um olhar crítico.
– Pois bem, é tal como afirma, jovem senhora. Por acaso tenho
aqui um único exemplar de uma tradução de L’École des Filles. Um
livro obsceno. Mas a uma senhora de sólido carácter não é
prejudicial informar-se acerca da depravação do mundo, não é
verdade?
– É assim mesmo – sentia-se como se, a qualquer momento, lhe
fossem rebentar os vasos sanguíneos, tal era a força com que o
coração dela batia.
– Pretende então comprá-lo já brochado?
– Não vale a pena ter uma encadernação cara para um livro que
depois ficará sempre escondido – quebrou-se-lhe a voz. Pigarreou e
depois acrescentou: – Embrulhe-mo em papel vulgar.
– Feche os olhos.
– Porquê?
– É melhor que não fique a saber qual é o meu pequeno
esconderijo.
Ela obedeceu. Não tardou a que, à sua esquerda, escutasse um
ruído de algo a ser arrastado. O livreiro soltou um gemido. Ela
pestanejou. O homem estava acocorado e segurava dois in-fólios no
colo, que obviamente retirara da estante. Enfiara o braço numa
fenda que havia na estante e alcançou os outros. Retirou de seguida
um maço de papéis. Ela voltou a fechar os olhos. O homem deu uns
passos na sua direcção. Ela ouviu-o pousar o livro sobre a mesa. O
papel produziu uma espécie de rangido.
– Aqui tem – anunciou ele. – São três mil réis. Nada tenho a opor
se quiser pagar com ouro.
Ela abriu os olhos. O livreiro apresentou-lhe um embrulho branco.
Três mil! Um preço exorbitante, mas Antero merecia-o. Entregou ao
comerciante dois cruzados de ouro e dois de prata, o que equivalia
a dois mil seiscentos e oitenta réis. O resto pagou com moedas de
cobre, pegou no embrulho e subiu os degraus que conduziam à
porta. Nunca mais voltaria a entrar nesta livraria. Oxalá o livreiro não
viesse mais tarde a reconhecê-la ao passar por ela na rua.
Ao abrir a porta, foi traída pelo som da campainha. O homem que
estava a ler o jornal virou-se na sua direção. Evitou cruzar o olhar
com ele e apressou-se a seguir caminho junto à parede do prédio.
Era como se o pequeno embrulho que levava debaixo do braço
estivesse cheio de pólvora e pudesse explodir a qualquer instante.
Se alguém a apanhasse com aquilo nas mãos, a sua reputação
estaria para sempre arruinada.
Antero observou cuidadosamente os soldados. Não poderiam saber
que era ele o homem que procuravam. Pelo menos teriam algumas
dúvidas, afinal de contas nunca antes o haviam visto.
– Ainda bem que você aí está – disse ele, ofegante. – A água do
chafariz está envenenada…
– Levanta-te, homem!
Antero ergueu-se. Fingiu cambalear, ficou de pé, de pernas
afastadas, os joelhos ligeiramente flectidos.
– Sinto náuseas. Não sei... Acho que preciso de...
– Não precisas de nada – o anão agarrou-o pelo braço. – Vens é
connosco.
Arregalou muito os olhos.
– Acha que fui eu? Não tenho nada a ver com isso! – segurou nas
suas bolsas e tentou desembaraçar-se do soldado que o agarrava. –
Estas mulheres são testemunhas, a água do chafariz já estava
inquinada mesmo antes de eu dela ter bebido!
Puxaram-no dali para fora.
Quando se afastaram o suficiente das mulheres, a ponto de estas
não conseguirem já ouvi-los, Antero adoptou uma postura mais
rígida e, com um tom de voz alterado, disse:
– Façam o favor de me largar. Mas que ideia é a vossa, a
arrancarem-me assim ao meu trabalho?
– A nossa ideia é que o teu lugar é numa prisão.
– Como assim?
– És um maldito de um contrabandista. Há uma meia hora
trataram os guardas portuários de te pôr a descoberto, saltaste de
bordo de um navio e nadaste até à margem. Gente como tu acha
sempre que nos consegue fazer de parvos!
Antero riu-se.
– Senhores soldados, há aqui um mal-entendido. Não haveria a
minha roupa de estar fria e húmida se eu tivesse saltado para a
água há meia hora?
Um dos soldados apalpou o tecido.
– Na realidade, ele está seco.
– Para truque não é nada jeitoso. Ele mudou de roupas – o anão
observou-o cuidadosamente. – Sobrancelhas finas, femininas.
Barba cerrada. Um sinal na face. E falta a peruca. A descrição
coincide. É ele o tal.
– Com essa descrição podia ser qualquer um! – respondeu ele.
– Por que razão te escondeste atrás das mulheres se nada tens a
temer? – perguntou o anão. – E depois ainda a história da água do
chafariz envenenada. Não caio nessa. És tu o tal contrabandista.
As melhores mentiras eram aquelas que estavam próximas da
verdade. Antero disse:
– Sou jesuíta. Dediquei-me à defesa e à disseminação da fé e ao
progresso das almas no quadro dos ensinamentos cristãos. A água
do chafariz sabe mesmo a enxofre. Usei isso como metáfora para a
água que jamais consegue satisfazer-nos a sede. As mulheres
estavam quase a declarar-se dispostas a participar nos nossos
exercícios. E quer arrancar-me daqui! Sabe, é que como jesuíta não
me é permitido estar sozinho com mulheres num espaço fechado. A
rua é o melhor local para a missionação.
– Muito bem, dizes que és jesuíta. Uma jogada inteligente, já que
a Companhia de Jesus nem sequer usa um hábito. Então, diz lá em
que consistem esses exercícios de que estás a falar? É que o meu
tio participou nisso. Sei bem do que estás a falar, amiguinho!
– Através dos exercícios tornamo-nos indiferentes às coisas
mundanas, ficando assim disponíveis para nos decidirmos pelo
Senhor. Na primeira semana, meditamos acerca da propensão do
ser humano para o pecado e, em particular, sobre os nossos
próprios pecados. Alcançamos assim a compreensão da
misericórdia de Deus. Na segunda semana, refletimos sobre a vida
de Jesus, na terceira, sobre o seu sofrimento e a sua ressurreição.
O anão franziu a testa.
– Hmm… – fez ele, e largou-o.
Os Jesuítas eram poderosos. Ninguém podia dar-se ao luxo de se
pôr de mal com eles.
– A quarta semana destina-se à contemplação do amor –
prosseguiu Antero. – Aprendemos que o ser humano deverá
procurar Deus em todas as coisas. Cada um dos que aqui moram
em Lisboa deveria, ao menos uma vez, experimentar estes
exercícios. Transformar-se-ia assim num verdadeiro representante
de Deus. O meu superior, o reitor do colégio jesuíta local, considera
muito importante que precisamente as mulheres também…
– E por que razão estão as suas costas a sangrar? – interrompeu-
o um dos soldados. – A camisa está a ficar tingida de sangue.
Virou-se para o soldado e franziu o sobrolho.
– Ora pense lá! Alguém que queira, por assim dizer, vergastar os
outros para os acordar não deverá descurar a sua própria vida
espiritual.
– Não estou a perceber – disse o soldado, piscando os olhos.
Os seus companheiros levantaram a mão e, com impulso,
levaram-na ora atrás do ombro esquerdo, ora atrás do ombro direito:
era como se estivessem a fustigar-se. O rosto do soldado
estremeceu. Olhou respeitosamente para Antero.
– Ah, perdão, senhor padre.
– Não há qualquer problema. Desejo-lhe muito sucesso na busca
por esse contrabandista. Que Deus vos acompanhe.
– Um momento – o anão agachou-se e estendeu a mão, puxando
as meias de Antero. Não cobriam as pernas até à altura das bainhas
dos calções. – Uma estranha forma de vestir para um jesuíta. A
ordem valoriza bastante o uso de roupa adequada, ouvi dizer. Não
tem vergonha de andar por aí nesses propósitos?
– Nós adaptamo-nos ao modo de vestir das populações a que
prestamos ajuda. Na Índia, os Jesuítas vestem-se como os
brâmanes, ou como os párias e também podem ter o aspecto de
monges budistas ou de mandarins chineses, com chapéus redondos
e rabo-de-cavalo, de acordo com a região para a qual os seus
superiores os tiverem enviado. Acredita que a amizade com os
índios da América do Norte seria possível se não estudássemos a
língua dos Hurões e se não nos adaptássemos aos seus modos de
vida? É precisamente assim que eu faço: levo uma vida de pobreza
e em nada me diferencio das camadas mais baixas da população de
Lisboa.
– Pobreza, pois sim. A tua bolsa parece antes estar bem cheia de
dinheiro. Não tens nada a opor que eu lhe deite uma espreitadela,
não?
Antero estremeceu. Logo que o soldado visse o dinheiro de Cirilo,
iria tudo por água abaixo: estendeu a mão para a bolsa, agarrou
nela…
Antero largou a bolsa, precipitou-se para uma ruela à esquerda,
correndo encosta acima, afastando-se da margem do Tejo. Os
sapatos apertavam-lhe terrivelmente os pés, eram demasiado
pequenos. Em pânico, lançou um olhar por sobre o ombro. No início
da ruela os soldados mordiam os invólucros dos cartuchos, deitando
de seguida a pólvora para o cano das espingardas. Malditos! Voltou
a olhar para a frente. Nunca mais surgia uma travessa onde
pudesse virar? De certeza que depois de enfiarem a pólvora no
cano, já se lhes haviam seguido as balas, já tinham erguido as
armas e estavam a fazer pontaria.
Um tiro fez vibrar o ar. O estrondo chegou até ele, ecoando pelas
paredes da ruela. Antero corria, as suas pernas calcavam o chão
com força. Ia correndo em ziguezague para lhes dificultar a pontaria.
De novo fez-se ouvir o estrondo de um tiro.
Doía-lhe alguma coisa? Teria a sua caixa torácica sido atingida
por uma daquelas balas de ferro? Ainda ia a correr ou estava já em
queda? No interior da sua cabeça, apenas um vermelho-claro.
Corria e continuava a correr. A ruela parecia-lhe cada vez mais
íngreme, não queria deixá-lo alcançar o cimo, corcovava-se e
impedia-o de se pôr a salvo.
Um terceiro disparo. Na parede junto a ele rachou-se um azulejo.
Pedaços de cerâmica foram projectados contra o seu braço. Ainda
tinham mais um tiro, o anão estava a fazer uma pontaria certeira às
suas costas e seguia cada um dos seus movimentos com o cano da
espingarda.
Um ruela lateral! Antero saltou para a esquerda. Era apenas uma
estreita subida por entre as casas. Peças de roupa estavam
penduradas em cordas diante das janelas das casas. Sentia uma
estreiteza cada vez maior no tórax. O ar não lhe chegava. Voltou a
virar para o lado. A saliva tinha um sabor adocicado. Diante dos
seus olhos, assistia a uma dança de manchas vermelhas.
Esgueirou-se para a entrada de uma das casas e cruzou os
braços sobre os pulmões, que lhe provocavam dores lancinantes.
Teria de se esconder algures até que os esbirros de Malagrida se
cansassem. A única pessoa acerca da qual os Jesuítas nada
sabiam era Leonor. Sempre que a visitara tinha tido extremo
cuidado e jamais falara acerca dela fosse com quem fosse.
Só que, em relação a ele, Leonor não poderia dar-se conta de
qualquer alteração. Teria de se manter assim, sem saber de nada.
6
A parede entre os aposentos de dormir de Dalila e de Leonor, no
Palácio Oldenberg, feita de madeira pouco espessa, fora ali
acrescentada após a construção para dividir em dois um salão
maior. Dalila conseguia ouvir cada palavra que Leonor pronunciasse
com a sua voz aguda e, se se esforçasse um pouco, lograva
também perceber aquilo que Antero lhe respondia. Há horas que os
dois conversavam. Era sobretudo a sua irmã gémea quem falava.
O pai delas sabia que um homem fora visitar Leonor. Ele
permitira-o. Leonor abrira muito os olhos, em tom de súplica,
acrescentando ainda o seu sorriso de menina, e o pai autorizara-lhe
o namorico, do mesmo modo que sempre lhe permitia quase tudo,
ao passo que com Dalila se mostrava severo. E claro que Leonor
não lhe dissera que Antero era contrabandista, um inimigo dos
comerciantes.
A vida revelava-se cheia de injustiças. Se alguém o sabia, ela,
Dalila, seria uma dessas pessoas.
Poderia contar ao pai quem era Antero, só que depois este
proibiria o contrabandista de voltar a pôr o pé naquela casa e ela
nunca mais voltaria a vê-lo. O pai poderia, porventura, até fazer com
que ele fosse preso. Assim sendo, o melhor era ficar calada.
Ergueu a cadeira e, sem fazer barulho, pousou-a junto à parede.
De seguida, retirou o espelho com a moldura dourada do gancho
onde estava pendurado. Colocou-o de parte e sentou-se. O coração
a bater com força, inclinou-se para o sítio onde rasgara o papel de
parede e fizera um buraco na madeira para poder espiar o interior
do quarto da irmã. Pôs-se a espreitar.
Um doce pesar ia tomando lugar nas suas entranhas. Antero
estava de pé diante dela. Parecia que os olhos castanhos dele
estavam a observá-la. Como ela amava aquele rosto de aventureiro,
aqueles olhos, que eram ternos e pareciam teimar em não combinar
com aquela arrojada barba.
– Que acha? – perguntou Leonor. – Devo mandar fora o armário
do meu avô? Talvez em tempos as pessoas tenham tido orgulho
nestas coluninhas e pilastras. Hoje em dia, essas tralhas estão
reservadas ao povo, que não tem qualquer noção de gosto. A
nobreza voltou a usar armários bem simples.
– Não preste atenção ao que as pessoas dizem – Antero lançou
um olhar em redor do quarto. – Armários simples não correspondem
às suas necessidades. Por exemplo, que faria sem a sua
escrivaninha?
Leonor chegou-se junto do móvel, com dezenas de gavetas e
divisões. Passou suavemente a mão sobre a madeira polida.
– É verdade. Onde haveria eu de pôr as cartas, os utensílios de
escrita, os cosméticos, as joias? De certeza que não guardaria isso
dentro de um simples armário. A escrivaninha é algo que se
consegue perfeitamente suportar. Sem pedras semipreciosas, quase
sem pretensões – suspirou. – Os novos tempos estão aí! Devo
também dizer-lhe que já não estou muito satisfeita com este palácio.
Faz-me falta a privacidade, um espaço só para mim. Está a ver?
Neste piso todas as divisões se seguem umas às outras, salas,
antessalas, salões, espaços de passagem, aposentos de dormir,
tudo num único alinhamento, e os criados atravessam todos eles
diariamente no desempenho das suas funções.
Leonor fazia parecer que era ela a senhora daquele palá- cio!
Nem uma palavra acerca do pai ou da mãe, nem acerca dela, Dalila.
Desde sempre fora esse o forte de Leonor: ver-se a si mesma como
o centro do mundo. Ao acreditar firmemente na sua própria
importância, seduzia outros e levava-os a cumprirem as suas
vontades.
Bocejou. Leonor era capaz de abrir a boca de um modo
incrivelmente amplo ao fazê-lo, quase parecia que o maxilar
acabaria por se deslocar. Começou por pôr a mão diante da boca.
Depois, porém, afastou-a e deixou que Antero lhe visse a garganta.
Por alguns longos instantes manteve-se aberta, aquela boca de
hiena, como se Leonor se tivesse transformado num animal. Mal
voltou a fechá-la, assumiu novamente forma humana. Já só nos
seus olhos cintilava ainda algo de animal, tendo isso a pouco e
pouco acabado por se extinguir.
– Está cansada. Vou andando.
Ela sorriu.
– Quer mesmo ir? Assim a meio da tarde?
Com passos lentos e solenes dirigiu-se para ele. Ao avançar,
movimentava as saias armadas de modo a que estas oscilassem
para cima e para baixo, pondo-lhe os tornozelos a descoberto. Até
se conseguia ver o saiote debruado a renda. Dalila enrubesceu de
fúria. Aquela descarada!
Ele franziu a testa.
– Sabe, não a consigo entender – disse Antero.
A vermelhidão que lhe tomou o rosto revelou que a oferta de
Leonor não deixara de produzir o seu efeito.
– Que quer dizer com isso?
Leonor riu-se e, ao fazê-lo, tinha a ponta da língua entre os
dentes, o que a transformava numa jovem menina encantadora.
Ele mantinha o olhar preso nela.
Ela saboreava cada instante, examinava a expressão facial de
Antero. Então, de repente, virou-lhe as costas e disse:
– Pode voltar na semana que vem.
Dispensou-o, expressando-o com cada fibra do seu corpo.
– Não sei se então ainda estarei na cidade – a voz soou rouca, e
a impressão que ele deixava era de insegurança, como um
adolescente no primeiro encontro com a sua adorada. – E hoje à
noite? – perguntou.
– Não – respondeu Leonor, num tom frio. – Não sou uma dessas.
– Bem sei que não, e fico feliz por isso. Por vezes questiono-me
por que razão me faz o que faz. Começa por me atrair e depois volta
a empurrar-me para longe. Tenho a sensação de que nunca consigo
alcançar o seu coração.
Ela virou-se na direção dele e acercou-se. Quando estava diante
de Antero, colocou as mãos deste sobre o seu peito. Deixou-se ficar
assim durante bastante tempo, a olhá-lo.
– Perdoe-me.
Um sorriso furtivo desenhou-se no rosto dele. Inclinou-se e beijou-
a. Como podia ele deixar-se deslumbrar daquela maneira? O
perfume oriental de Leonor devia tê-lo toldado.
Ela soltou-se do beijo. A passo apressado, aproximou-se
intempestivamente da parede, na direção de Dalila. Acocorou-se e,
com um ar irritado, fixou o olhar naquela fresta.
– Achas que eu não sei que estás a observar-me? – virou-se para
Antero. – A minha irmã… – explicou ela. – Ela é uma mimada e não
tem qualquer gosto. Tenha cuidado com ela.
Dalila saltou da cadeira. Recuou e afastou-se da parede,
estremecendo de vergonha. Nem sequer ousava respirar. Que
haveria Antero de pensar a respeito dela agora? Como podia Leonor
expô-la daquele modo? Dalila abandonou o quarto e correu
apressadamente através do vestíbulo.
Então a porta do quarto de Leonor abriu-se.
– Não queremos ser incomodados durante as próximas horas –
disse Leonor. – Escusas sequer de bater à porta, está fechada.
Dalila apressou-se escada abaixo. Levava o coração contraído.
Por que razão a sua irmã lhe fazia aquilo? Uma criada cruzou-se
com ela. Dalila disse-lhe:
– Vai chamar o professor de música. É urgente. Preciso de uma
hora extra.
A criada fez uma vénia e pôs-se de imediato a caminho.
A sala de música estava fresca. Dalila abriu a tampa do cravo.
Sentou-se diante deste, voltou a erguer-se, puxou o banco
almofadado para junto do instrumento e voltou a sentar-se.
Começou a tocar.
O cravo respondia obedientemente ao movimento das suas mãos.
Exprimia os acordes ora como um suspiro, ora como uma
exclamação. Ela tocava qual possessa. Sabia perfeitamente que
Antero a conseguia escutar. Cada uma daquelas notas deveria
anunciar-lhe o desesperado amor que por ele sentia.
Quando Dalila deu por terminado o coral de Bach intitulado Nun
ruhen alle Wälder, ouviu atrás de si a voz do professor de música.
– Não sabia que possuía uma tal musicalidade.
– Não acredito que o consiga interpretar assim todos os dias.
Ele inclinou-se para a frente e agarrou numa pasta que se
encontrava sobre uma mesinha de apoio. Durante uns instantes
folheou o seu conteúdo, de seguida pousou uma nova folha de
música sobre a estante.
– Tente lá tocar Allein zu dir, Herr Jesu Christ. Será por se tratar
de obras corais alemãs? Porventura conseguirão elas despertar em
si o sangue dos seus antepassados… Deveríamos há muito ter
experimentado Lieder alemãs.
Dalila tocava. No interior da sua cabeça, acompanhava a cantar:
Apenas de ti depende, meu Antero
A esperança que, na Terra, sentir tento;
Sei que és tu que me consolas,
Nenhum outro consolo me dá alento.
Imprimiu bastante ternura à melodia. Interpretou-a de modo ao
mesmo tempo sonoro e suave, como se repicassem sinos. Imaginou
para si mesma que, no quarto da sua irmã, Antero ergueria a
cabeça e pôr-se-ia a escutar os sons, acabando por perguntar:
«Mas quem está a tocar?»; em resposta, Leonor teria de admitir
tratar-se da sua irmã.
Mas claro que não! Leonor afirmaria que era o professor que
estava a tocar. Nesse mesmo momento, tudo nela se foi abaixo e
terminou com dificuldade a peça que estava a tocar, enganou-se,
atamancou. Depois disse:
– Não me sinto bem. Não creio que venha a aproveitar grande
coisa do resto desta lição de música. Obrigada por ter vindo assim
tão em cima da hora.
– Sabe, há um instrumento novo, chama-se piano. Com ele é
possível variar o timbre dos sons, tal como acontece num violino ou
numa flauta. Poderia assim introduzir ainda mais sentimento na sua
interpretação, fazendo as notas soar ora mais baixo ora mais alto,
tocando com delicadeza ou firmeza, com hesitação ou ligeireza.
Talvez queira pedir ao seu pai que compre um piano? Há oito anos,
Johann Sebastian Bach avaliou, no Palácio de Potsdam, os pianos
de um tal Silbermann, referindo-se a eles de modo bastante
favorável. Não tivesse morrido dali a pouco tempo e decerto ele
próprio teria dado concertos neste novo instrumento. Embora o
público ainda não esteja preparado para este novo passo, chegará o
dia em que o piano de cauda irá substituir o cravo, até mesmo nas
salas de concerto. Estará a menina à altura de mudar para esse
novo instrumento? É como se tivesse sido criado para si!
– Acha que sim? – perguntou ela, fixando o olhar mais adiante.
– Pense nisso – o professor de música ergueu-se e fez uma
vénia. – Menina Dalila, a sua interpretação proporcionou-me hoje
uma extraordinária alegria. Fiquei impressionado consigo.
Manteve-se sentada frente ao cravo até ele se ir embora. De
seguida, esgueirou-se até junto da porta de Leonor. Não deveria ser
visível qualquer sombra através da frincha de baixo, pelo que se
manteve de pé ao lado da porta, inclinando o tronco de modo a
conseguir encostar o ouvido à madeira branca, com ornamentos
pintados a tinta dourada.
Não ouviu nada. Nada de palavras, nada de risos. Só poderia
querer dizer uma coisa: estavam a beijar-se. Como que fulminada
por um raio, a certeza arreigou-se nela até à medula. A irmã estava
a seduzir Antero, e ele admitia-o!
Dalila apressou-se a passar diante da porta e entrou no seu
quarto. Três passos bastaram para que chegasse junto da cama e
foi para cima desta que se lançou. Soluçava. A almofada absorveu
as suas lágrimas. Pressionou a boca contra ela e disse em voz
baixa:
– Antero, amo-te – pronunciar as palavras proporcionou-lhe alívio.
– Amo-te. Amo-te. Amo-te.
O Santo António não estava a esforçar-se o suficiente. Dalila
ergueu-se e dirigiu-se ao genuflexório. O tecido azul que revestia a
travessa de madeira recebeu com suavidade a pressão dos seus
joelhos. De entre a grande quantidade de figuras que lhe
pertenciam, retirou uma pequena que representava o santo daquela
cidade, colocando-a de seguida sobre a travessa superior do
genuflexório, a qual, habitualmente, lhe servia para pousar as mãos
e o livro de orações.
– Desiludiste-me, António. Vê lá se te esforças mais! Só assim
poderás voltar a olhar para o Menino – rodou-lhe para trás a cabeça
de madeira que fora fixada ao tronco, de modo a que o santo ficasse
a olhar para as próprias costas. No entanto, ele teve de continuar a
segurar o Menino Jesus nos braços, diante do seu peito. Parecia ser
uma postura deveras desconfortável e dolorosa. – Vê lá se, por fim,
tomas providências. Queres que se me quebre o coração? Que eu
morra? – pronunciou-o uma vez mais. – Queres tu que eu morra?
Sim, era assim mesmo que se sentia. Como se o coração se lhe
quebrasse. Tinha diante dos olhos a cura de que precisava. Antero
estava ali! Deus, porém, negava-lho. Leonor mantinha aprisionada
entre as suas garras aquela dádiva que a ela, Dalila, pertencia.
Leonor tomara-o para si, tal como Jacob fizera com o direito de
primogenitura.
Dalila jamais suspeitara de que a sua vida pudesse alguma vez vir
a assumir contornos tão trágicos. Também não sabia que poderia vir
a amar assim tanto. Antes de encontrar Antero pela primeira vez, o
mais que sentira fora uma débil solicitude em relação ao seu pai e a
Leonor, bem como uma ligeira nostalgia pela mãe ausente. Aquilo
que agora lhe quebrava o coração era uma força maior do que a
angústia ou o anseio. Cada pensamento dedicado a Antero agitava
pungentemente o seu âmago.
Colocou a figura do santo no seu lugar, entre os demais, e pôs-se
de pé. Sentia um aperto na garganta. Enxugou as lágrimas que de
novo lhe brotavam dos olhos. Como haveria ela de continuar a
viver? Onde iria buscar a perseverança, onde iria recolher as forças
para os dias que tinha pela frente?
Talvez ajudasse vê-los, Leonor e ele, a beijarem-se. Se se
expusesse a uma quantidade de dor tal que o amor se convertesse
em raiva, conseguindo assim em pouco tempo começar a odiar
Antero, talvez assim viesse a melhorar. Sentia demasiada
compaixão para com ele. Estava na mão dele decidir se pretendia
manter-se junto a Leonor e sucumbir à sua perfídia. Eram estes
pensamentos que tinha de promover, eram eles que a ajudariam.
Chegou-se junto da parede. «Sê corajosa!», disse para si mesma.
«Observa bem.» Inclinou-se para a frente e aproximou o rosto do
papel de parede. No entanto, no sítio onde fizera o rasgão estava
tudo escuro. A irmã pendurara ali algo para tapar o buraco.
Então a coisa era mesmo séria. Não queriam ser vistos! Leonor
despira-se para ele. Antero afagava o peito dela. Acariciava-lhe o
ventre, as costas. Dalila sentiu o fel disparar no seu interior. Não era
capaz de suportar aquela ideia.
Lembrou-se dos olhos dele, da emudecida tristeza que
carregavam. Leonor estava a aproveitar-se dele. A debilidade de
Antero era evidente, mas talvez existissem boas razões para tal.
Quem sabia o que já lhe sucedera? Leonor, ao invés de consolá-lo e
ajudá-lo a reerguer-se, abatera-se sobre ele com felina eficácia,
numa altura em que Antero nem conseguia defender-se.
Ela não poderia deixar que tal acontecesse.
– Já chega – declarou.
Tinha de libertá-lo das garras de Leonor. Estava firmemente
decidida no seu propósito. Faria o que fosse necessário para ajudar
Antero.
Antero fechou a porta da cocheira atrás de si e, encostado à parede,
deixou-se escorregar até o traseiro embater vigorosamente no chão.
O ambiente aqui estava mais frio e cheirava a madeira e ao breu
usado para untar. O ar fresco devolveu a lucidez ao seu
entendimento.
Não fora sua intenção ficar à mercê dos encantos de Leonor.
Nunca passara de um pequeno galanteio, destinado a encobrir as
suas visitas a Samira. Dissera a si mesmo que o que estava a fazer
por ela era bom, que, ao dirigir-lhe elogios, tal serviria para a
fortalecer. Fora assim que apaziguara a sua consciência. No
entanto, ela sabia tirar partido do seu corpo de modo a aliciá-lo a
fazer coisas que não se compadeciam com a realidade de um
namorico simulado. Tirava partido do seu sorriso, dos seus olhos, do
seu pescoço esguio. Colocara-lhe os dedos frios em redor da nuca e
beijara-o.
Antero passou as mãos pelo rosto. Pelo menos uma coisa
conseguira: Leonor não se apercebera de que havia perseguidores
no seu encalço. Não tinha a mínima noção de quem ele era. O
palácio do barão e das suas filhas gémeas permanecia um
esconderijo seguro para Samira.
Ergueu-se. No centro da cocheira estavam duas berlindas, com
rodas de grandes proporções. Alguém na corte de Frederico
Guilherme I de Brandeburgo inventara, em Berlim, aquele novo tipo
de carruagem e não demorara muito até esta ter conquistado as
preferências nos demais reinos.
Junto às berlindas havia ainda as liteiras do barão, pequenas
cabinas cujo interior era revestido a tecido dourado. Era assim que
se fazia transportar para o café, onde ia beber uma chávena de café
e, por detrás de um jornal, se escondia dos escritores, efabuladores,
jogadores e mandriões. Antero estudara em pormenor os hábitos do
barão antes de esconder Samira junto dele.
Dirigiu-se para a entrada de serviço dos criados. Bento desatou a
ladrar antes mesmo de ele bater à porta. Ainda assim, Antero bateu.
Passados alguns instantes, a cozinheira veio abrir. Ao vê-lo,
franqueou-lhe a entrada.
– Entre. Ninguém o vai incomodar.
Depois de ele entrar, a cozinheira fechou a porta. Bento seguia-o,
metia-se por entre as suas pernas, abanando a cauda. Antero
afagou o pelo do cão.
– És bom a montar guarda. Boa, Bento!
– A Samira está a brincar no quarto dela – disse alguém.
Desconhecia aquela voz. Desconfiado, levantou o olhar. Uma
mulher sorriu na sua direção.
– Quem é ela? – perguntou ele.
– A nova criada de quarto – explicou a cozinheira. – Está cá há
uma semana.
A criada fez uma cortesia. O seu rosto era redondo e as pestanas
compridas e arqueadas.
Pressionou os lábios um contra o outro. Havia algo no aspecto da
jovem mulher que o perturbara. Como se alguém lhe tocasse, de
ligeiro, no coração. Àquele toque seguiu-se um puxão. Ao puxão
seguiu-se uma estocada.
– És judia?
– Sou cristã-nova, senhor – revelou, hesitante. – Como sabe?
Olhou para a cozinheira.
– Esta criada tem de ir embora. Uma cristã-nova! Perante a
Inquisição, o alemão é intocável, até aí está tudo muito bem, mas
assim a própria casa fica na mira deles. Hão-de vir atrás dela. Vai
levantar suspeitas, vai haver vigilância, interrogatórios! Já antes
cometi o erro de ser pouco cuidadoso, e o preço que tive de pagar
por isso foi bem alto. A mim não me voltará a acontecer segunda
vez.
– Senhor, ela é uma boa trabalhadora! E é de confiança, além de
reservada – a cozinheira lançou um olhar compassivo para a criada
de quarto.
– Não sabes do que estás a falar. Não se trata aqui de um
emprego, isto é uma questão de vida ou de morte. Não pode
acontecer nada a Samira!
– Pai! – a pequenita surgiu junto à porta, à sua esquerda, e correu
na direção dele.
Acocorou-se e apanhou-a. A pele macia do rosto da pequenina
encostou-se à sua bochecha.
– Como senti a tua falta! – pegou nela ao colo e descreveu um
círculo com a criança nos braços. Aos seus pés, Bento corria de um
lado para o outro e ladrava.
– A tua barba faz cócegas! – exclamou ela.
Antero estendeu os braços bem alto, acima da cabeça, fazendo
com que Samira parecesse flutuar. Ela rejubilava de prazer.
Pousou-a sobre os seus ombros.
– O cavalinho só anda se lhe deres de comer.
Com a sua mãozinha, Samira deu-lhe uma palmadinha na boca.
Ele fingiu mastigar. Depois disse:
– Mais!
Com as mãos formou uma concha que lhe pôs diante dos lábios.
Ele começou por fazer de conta que comia dali, mas de seguida
apertou os dedos dela entre os lábios e, a brincar, mordeu-os.
Samira soltou um grito e apressou-se a recolher a mão. Desatou às
gargalhadas. Foi à cautela que voltou a oferecer-lhe a mão, que ele
tratou de mordiscar. Ela riu-se e fugiu com os dedos.
Depois comentou:
– Olha só, o Bento está esquisito. Ainda há bocado também se
pôs a fazer aquilo – comentou ela.
Antero olhou em redor. O cão estava junto à porta e observava-a
como se a qualquer momento esta se fosse abrir. O seu pelo eriçou-
se. Rosnou. Depois, de repente, recuou e emitiu alguns ganidos.
Levantou cuidadosamente o focinho e farejou. Voltou a ganir e
recuou ainda mais. Entalou a cauda entre as pernas traseiras. Era
evidente que o cão estava com medo.
– Está sossegado, Bento.
Antero pousou Samira no chão.
– Eu faço isso – disse a cozinheira. – Vá ali para a despensa.
Antero abriu a estreita porta e fechou-a atrás de si. Ficou envolto
pela escuridão. Cheirava a enchidos e a queijo. Ninguém deveria
suspeitar da ligação que havia entre ele e a pequenita. Preferia
deixar-se apanhar.
A porta estreita foi aberta por fora pela cozinheira.
– Não está ali ninguém – disse ela. – Também não sei o que se
passa com o Bento.
Antero espreitou para a rua, para as traseiras do palácio. Com
efeito, não estava ali ninguém. Inalou profundamente uma lufada de
ar. Que farejava Bento, afinal? Estaria o cão doente? Porventura
poderiam os cães ficar doentes do focinho e farejar coisas que nem
sequer existiam.
Em todo o caso, a cidade estava invulgarmente silenciosa. As
cigarras permaneciam em silêncio e não se ouvia o chilrear dos
pássaros. Os animais são capazes de pressentir os fenómenos
naturais antes mesmo dos seres humanos. Quando uma
tempestade se aproximava, os andorinhões voavam baixinho, bem
junto ao chão, embora no céu não se visse uma nuvem que fosse.
Sentia a falta do seu livro de apontamentos, que aqueles eventos
exigiam ser registados, que deveria poder observá-los e anotá-los
com rigor, para de seguida poder tirar as suas conclusões.
Primeiro, fora a água que sabia a enxofre, depois, os animais, que
agiam como se estivessem tresloucados. Algo de errado se passava
com Lisboa.
7
Leonor olhou para as íngremes ruas que da parte baixa da cidade
subiam pelas colinas. Casas ocupavam as encostas como se
fossem cogumelos. Entre elas vicejavam jardins. Lisboa consistia
num denso emaranhado de pedra e ferro e árvores cobertas de pó.
Milhares de pessoas movimentavam-se nas suas ruelas. Nos
seus rostos, Leonor não observava outra coisa que não fosse
ganância. À sua esquerda, um comerciante de marfim gabava as
virtudes dos pentes, caixas esféricas, flautas e pulseiras que tentava
vender.
– Presentes maravilhosos para as senhoras! Veja só! Não deixe
de comprar!
Um homem com pronúncia inglesa demonstrou interesse pelas
pulseiras. Duas ruas mais adiante, conseguiria comprar o mesmo
por metade. A ignorância do indivíduo renderia ao comerciante um
lucro exorbitante.
No meio da multidão havia larápios à coca, em busca de vítimas.
Leonor reconhecia-os devido aos seus olhares rápidos e vigilantes,
com os quais se entendiam entre si. Os pedintes fingiam paralisias.
Os comerciantes trapaceavam nas pesagens. Os vendedores de
fruta viravam para cima o lado bom da sua mercadoria e escondiam
no fundo, longe do olhar de quem comprava, aquilo que estava
podre.
Cada um andava em busca de uma vantagem, esforçava-se por
obter riqueza fosse por que meios fosse, lícitos ou ilícitos. Nada via
que não fosse ele próprio, a sua vida, os seus progressos, o seu
ínfimo e ávido coração.
Até mesmo a fé era vivida desse modo. Negociava-se com Deus
por pequenos favores, ofereciam-se velas, orações e joelhos
esfolados em troca da posse de bens, da felicidade no amor e de se
ser poupado a doenças. Ninguém tinha a mais pequena ideia da
grandiosa luta entre o bem e o mal que furiosamente varria o
planeta.
Raramente havia pessoas que conseguissem ver mais além.
Gabriel Malagrida era um deles. Para ele, o horizonte não tinha
limites. Sentia curiosidade por coisas que não lhe rendiam
directamente qualquer proveito. Possuía a capacidade de conduzir
destinos e ler nas entrelinhas dos sistemas de poder. A Companhia
de Jesus era forte porque Gabriel Malagrida era forte.
Leonor voltou a reclinar-se no assento da liteira e soltou a cortina,
que tornou a cobrir a janela e escureceu aquele pequeno mundo
baloiçante. Os carregadores acreditavam que ela se dirigia a um dos
seus muitos namoricos. Eles que continuassem a acreditar nisso
mesmo.
Bateu com a palma da mão na parede da liteira. O baloiçar
terminou. A liteira foi cuidadosamente pousada no chão. Um dos
carregadores abriu a porta e ajudou Leonor a sair.
– O resto sigo sozinha a pé – disse ela.
– Deveremos ficar à espera, menina Leonor?
– Não.
Os carregadores fizeram uma vénia, pegaram nas varas e
ergueram a liteira. Leonor ficou a observá-los, enquanto se
afastavam, até desaparecerem no meio da multidão que preenchia a
rua, e depois ainda esperou mais um pouco. Por fim, começou a
caminhar na dire-ção do Bairro Alto de São Roque, o bairro dos
Jesuítas.
– Vou só visitar alguém na cidade e estou de volta não tarda. Não
vou partir para alto mar – disse Antero enquanto afagava o rosto de
Samira. Com uma expressão de bravura, a pequenita acenou com a
cabeça.
Antero espreitou pela porta dos criados. A rua estava livre.
Caminhou até à esquina, depois manteve-se do lado direito da rua.
Passou por moradias e grandes casas. Uma multidão avançava na
sua direção, sacerdotes e membros de ordens religiosas, seguidos
de uma carroça puxada por cavalos. Num instante, recolheu-se na
entrada de um prédio.
Os cavalos levavam xairéis negros sobre o dorso. Em cima da
carroça seguia um caixão, coberto por um pano preto. Pessoas
notáveis acompanhavam o cortejo à direita e à esquerda da carroça.
Por fim, seguia-se um grupo de mulheres e homens vestidos de
preto, cada um deles com uma vela acesa na mão.
Não pôde deixar de pensar na morte do seu pai. Sentira medo,
outrora, ao entrar na igreja, cujas janelas estavam cobertas por
panos negros, quando sobre o catafalco se procedia ao ofício de
defuntos, rodeados pelo tremeluzir das velas. Com o seu
entendimento de criança não conseguira perceber a razão de ser
daqueles ornamentos negros, ficara com a ideia de que se estava a
consagrar o morto à escuridão.
Os cavalos passaram ao lado dele. O falecido devia ser uma
pessoa abastada e de elevado estatuto social; habitualmente eram
apenas alguns familiares e amigos que acompanhavam o caixão,
transportado aos ombros por vários homens. De que servia tudo
aquilo ao morto? Para ele já tudo acabara.
Se nesse mesmo dia as balas dos soldados lhe tivessem
acertado, também ele estaria agora deitado num caixão. Sentia a
falta de Deus. Sem Ele, a vida parecia-lhe algo frio e insignificante.
Árvores, pessoas, animais… Como eram efémeros todos eles na
ausência de um Criador que os tivesse despertado para a vida e
que lhes emprestasse sentido e dignidade. Sem Ele, nada mais
eram do que frutos do acaso. Despojos do tempo que, rumorejante,
passava a correr.
Por outro lado, porém, Deus parecia nada fazer. Simplesmente
não estava lá. Não impedira Malagrida de matar Julie. Porque
haveria de ter sido Ele a desviar os projécteis que lhe eram
destinados?
Antero ficou a observar o cortejo fúnebre passar. Malagrida tinha
por fim de pagar. Era algo com que ele não estaria a contar: que
Antero, ao invés de fugir, o enfrentasse, se invertesse a situação e
fosse ele a dar caça ao jesuíta. Esboçou um sorriso amargo.
A ombreira da porta começou a vibrar. Atemorizado, Antero retirou
a mão. Esticou os dedos e voltou a tocá-la. Ao toque, a ombreira
parecia um ninho de vespas com um enxame em fúria. Antero
acocorou-se e colocou a mão sobre a soleira da porta. Também esta
estremecia.
Deu um salto para a frente.
Também o chão da rua estava a tremer! Deus fizera a terra
estremecer para lhe demonstrar que afinal estava lá! Sentiu medo.
Deixou-se cair de gatas e rastejou. Sentia o tremor nos joelhos e
nas mãos. Debaixo dele, a terra estava viva. O seu coração
tremulava como as asas de um pardal.
E depois tudo parou. Antero manteve-se de gatas. Ficou à espera.
O coração continuava a tremular, mas o estremecimento da terra
passara, já nada sentia.
– Está bem – disse ele em voz baixa. – Acredito em Ti, Deus. Sei
que estás aí.
Rastejou de volta para junto da porta e sentou-se no degrau da
soleira. Tentou restabelecer a calma na respiração. Voltou várias
vezes a tentar sentir com a mão se o chão continuava sem tremer.
Tinha a boca seca. A camisa colava-se-lhe ao corpo. Antero
apalpou a ombreira da porta. Mantinha-se imóvel.
Lembrou-se do sabor a enxofre na água. Outrora, quando
pretendera vir a ser um estudioso das ciências naturais e lera
inúmeros livros, não havia ele certa vez aprendido que os tremores
de terra eram provocados por explosões subterrâneas,
desencadeadas por substâncias como o salitre e o enxofre entrarem
em contacto? A água do chafariz cheirava inequivocamente a
enxofre. A mistura de salitre, enxofre e carvão resultava em pólvora.
Afinal de contas, não eram as circunstâncias de um grande
terramoto, o estrondear, o estremecer do ar e da terra, semelhantes
ao disparo de um canhão?
Talvez este estremecimento tivesse sido algum pequeno depósito
subterrâneo de salitre e enxofre a arder. O Bento conseguira
pressenti-lo. Antecipadamente... Antero susteve a respiração.
Um aviso.
Em tempos lera a esse respeito. Um tremor de terra de grandes
proporções era geralmente precedido, nos dias anteriores, de
pequenos sismos. Aquilo que acabara de sentir fora apenas o
ameaçador prelúdio de uma grande explosão.
Os habitantes de Lisboa dedicavam-se aos seus afazeres
quotidianos, trabalhavam, bebiam, casavam-se, jogavam, dormiam,
enquanto abaixo deles uma catástrofe mortífera se preparava para
acontecer.
O corpo de Antero retesou-se. O homem que, junto ao lançador
de facas, admoestava os presentes em nome de Malagrida tinha
anunciado uma desgraça. Suspeitaria Gabriel Malagrida já da
iminência de um tremor de terra? Estaria ele a dar-se conta dos
mesmos indícios? Daí a tentativa febril de capturá-lo. Daí o
comandante ter sido subornado. Daí a armadilha que lhe fora
montada no porto. Antero não deveria sequer poder entrar em
Lisboa. O seu antigo mestre pretendia servir-se do tremor de terra
para os seus propósitos. Se aparecesse alguém que espalhasse o
aviso, lá se lhe escaparia a grande oportunidade de consolidar a sua
reputação enquanto profeta. Sabia perfeitamente que a catástrofe
iminente não passaria despercebida a Antero, que desde a infância
estudara os fenómenos da natureza, o observador a quem os
pequenos pormenores jamais escapavam.
Queria isso dizer que os primeiros abalos prévios deveriam ter
ocorrido há poucas semanas. Levantou-se. Um tremor de terra não
se limitaria a aumentar o poder de Malagrida, seria pior ainda: ele e
os outros aproveitar-se-iam dele para esmagar a liberdade que
começava a germinar, logo agora que essa frágil planta se erguia
hesitantemente em direção à luz. O mundo não estava ordenado de
modo tão rigoroso quanto os Jesuítas ensinavam, era bem mais
luminoso, bem mais misericordioso, e, acima de tudo, passível de
ser entendido. Depois de um tal juízo de Deus, as pessoas voltariam
a meter o rabinho entre as pernas, ser-lhes-ia proibido interrogarem-
se sobre fosse o que fosse. Isso não poderia acontecer!
Passou a correr diante de prédios com sete andares pintados de
azul. A fachada de alguns deles estava coberta de azulejos
brilhantes. Era coisa que só aqui se via. Em Inglaterra esses
ladrilhos de cerâmica eram usados apenas para fornos. Em Lisboa,
porém, havia que proteger as casas do ar húmido e salgado
proveniente do mar.
Que proteção havia contra um tremor que abalasse a terra com a
força de milhares de barris de pólvora? Havia que antecipar-se a ele
e que furar uma centena de poços, para deixar sair aquela temível
água sulfurosa. Esse era, porém, um empreendimento que
demoraria meses a ser concluído. Era impossível terminá-lo antes
de a perigosa centelha desencadear tudo.
Por um portão aberto observou um pátio inundado pelo sol de fim
de tarde, com palmeiras e arbustos com flores vermelhas. Toda
aquela beleza iria ser destruída. A uma esquina, um comerciante
chamava a atenção dos transeuntes para o tabuleiro que trazia
pendurado ao pescoço.
– Cabelos e lascas dos ossos de santos! Protegem do fogo e das
tempestades, dos ladrões e dos assassinos, da pestilência e da
morte súbita! – gritou ele quando Antero passou diante de si.
Bela proteção aquilo seria quando o chão desatasse a explodir…
Aproximava-se do Arsenal de Guerra. Ajustou cuidadosamente a
sua passada à de um grupo de monges oratorianos. Avançava de
modo a que estes passassem entre ele e os soldados de guarda
diante do amplo portão. Caso eles o descobrissem, a sua única
esperança era que tivessem ordens para não abandonar o seu
posto fosse por que razão fosse.
Afinal tinham de zelar pela segurança das espingardas,
armazenadas atrás deles naquele colossal edifício, pela segurança
da pólvora e dos projécteis, dos arreios da cavalaria, dos canhões.
De certeza que o Arsenal de Guerra seria o primeiro a ir pelos
ares.
Os Oratorianos falavam acerca dos seus discípulos. A ordem era
concorrente da dos Jesuítas, o rei D. João V concedera-lhe os
mesmos privilégios que aos colégios dos Jesuítas, para além de
doar dinheiro para aquisições de livros. Desde então, a ordem tinha
registado um forte crescimento. E por que razão havia tal
acontecido? Porque, em 1742, o rei sofrera um ataque de coração,
que o paralisara por completo. Depois de se restabelecer, revelou
que se devia graças a uma estátua da Nossa Senhora das
Necessidades. Em honra da Virgem Santa, que no entender do rei
lhe tinha devolvido a saúde, comprou os terrenos em que fora
erguida a Capela da Nossa Senhora das Necessidades, e fundou
uma igreja, um palácio e um hospício. Tudo isso tratou ele, depois,
de transferir para os Oratorianos. Malagrida enfurecera-se quando
em 1749 regressara do Brasil e ficara a saber de tudo. Naquela
altura, Antero tornara-se o seu braço-direito.
Diante dele franqueava-se o Terreiro do Paço. Os comerciantes
estavam naquele momento a desmontar as suas tendas. Burros e
cavalos disputavam baldes com comida. As carroças iam sendo
carregadas com as mercadorias que não tinham sido vendidas. Os
comerciantes não se haviam dado conta de que a terra tremia.
O pôr do Sol desenhava manchas de cor alaranjada nas paredes
da Ópera do Tejo. Fora inaugurada naquele mesmo ano. Da última
vez que ele visitara Lisboa ainda ali havia um estaleiro. Aquela
faustosa construção iria ter uma vida curta.
Fora no Porto que lhe haviam contado a respeito da inauguração.
A primeira récita fora a ópera Alessandro nell’India. O rei adorava
ópera. No Porto invejava-se a riqueza de Lisboa. A nova ópera viera
lançar mais achas para essa fogueira. Seiscentos lugares sentados
e quatro andares de camarotes. O do rei, diante do palco, estava
ornamentado com colunas de mármore e aplicações de ouro. O
palco era tão grande que nele podia entrar e dar a volta um coche
puxado por seis cavalos. Era isso que contavam no Porto. Naquela
altura, sentira orgulho na sua velha cidade natal.
Conseguiria ele salvá-la? Precisava de ajuda. Sem provas, o rei
jamais mandaria evacuar a cidade.
Diante de cada uma das entradas do palácio quadrangular havia
sentinelas da Guarda Real. Estavam armados com alabardas:
lanças de ferro pontiagudas, dotadas à esquerda e à direita de
lâminas em forma de meia-lua.
Teria de esperar até que Vasco viesse à porta para fumar. Não
fumava na biblioteca. Antero lançou um olhar sobre a praça. Os
últimos frequentadores do mercado apinhavam-se em redor de uma
barraca que já ali existia desde a sua infância, onde uma senhora já
idosa vendia bolinhos de farinha de trigo com recheio de creme de
amêndoas. Mergulhava-os em mel quente e por fim fritava-os em
azeite. O negócio corria-lhe bem. Junto à senhora aguardava um
aguadeiro, munido da sua barrica vermelha, à espera de que as
pessoas ficassem cheias de sede depois daquela doce iguaria.
Antero pôs-se na fila formada pelos que estavam à espera de ser
atendidos, de modo a não dar nas vistas. Ao lado dele, uma mãe
cuspiu para uma das suas mangas; tratou de seguida de limpar a
boca do filho, toda lambuzada de mel.
Antero olhou para cima. Tinha de se manter atento à porta do
palácio que conduzia à biblioteca.
Leonor sorriu para si mesma. Por todo o lado, as fileiras de casas
vicejavam desorganizadamente, porém, aqui, no Bairro Alto de São
Roque, em redor da influente igreja do mesmo nome, as ruas eram
perpendiculares umas às outras: cinco delas estavam dispostas de
norte para sul, outras duas, como que desenhadas a esquadro,
cruzavam-nas de leste para oeste. Aquele bairro demonstrava em
que sentido os Jesuítas pretendiam dirigir o Reino. Deveria ser
exercido um domínio firme, um pensamento ordenado e
fundamentado por uma estrutura inabalável.
Não havia musgo nas caleiras nem excrementos de aves a
sujarem as fachadas, as ruas estavam varridas e limpas. Aqui
viviam cidadãos abastados, que em certa medida apreciavam a
proximidade dos Jesuítas.
Passou diante da igreja jesuíta de São Roque. Visto de fora, o
edifício era simples. As janelas angulares e o telhado vermelho
davam-lhe o aspecto de uma habitação. Leonor, porém, já lá
estivera dentro. Sabia bem que tesouros abrigava. A Igreja de São
Roque era uma das mais ricas do mundo. Branca e sem qualquer
ornamentação por fora, no seu interior ostentava um verdadeiro
esplendor de ouro, prata, marfim, lápis-lazúli, mármore e alabastro.
Assim viviam os Jesuítas. Por fora, modestos e sossegados, mas
albergando verdadeiros tesouros no interior.
Em todo o mundo, era a eles que pertenciam os confessores das
casas reais, perante quem os soberanos não tinham quaisquer
segredos sendo também, por vezes, os seus conselheiros mais
próximos. A ordem estava presente onde quer que o poder fosse
exercido, chamava a si as cabeças pensantes e era responsável
pela sua instrução. E também se pensava no futuro: a Companhia
de Jesus enviava os seus representantes às culturas mais remotas
e travava amizade com povos distantes, antes mesmo de os
governantes deste mundo conseguirem estender os seus braços
nessas direções.
A Leonor agradava aquela vontade de realizar, a prontidão dos
Jesuítas em conduzirem as pessoas. O Reino de Portugal tornara-
se indolente, já só mesmo os comerciantes realizavam os seus
negócios com diligência, mas com que intenção? Queriam ganhar
dinheiro, nem mais nem menos. À Companhia de Jesus não
interessavam esses propósitos triviais, ela pretendia alcançar
objectivos mais amplos. Tratava-se aqui do sentido da existência
humana, dos povos, de orientar a humanidade no caminho que esta
deveria seguir.
A residência de Malagrida estava colada à igreja, os edifícios
haviam crescido em conjunto, como se fossem gémeos. Acima da
porta sobressaía o símbolo dos Jesuítas, uma coroa de raios
solares que envolve as letras IHS; abaixo destas, três pregos, cada
um deles a representar os votos de pobreza, celibato e obediência.
IHS simbolizava a forma grega do nome de Jesus, Iesous Xristos: o
X era transcrito por meio de um H, sendo por fim acrescentada a
última letra do nome, o S.
Leonor abriu a porta sem sequer bater primeiro. A meia altura da
larga escadaria de mármore existente no interior do edifício ia um
homem, que se virou. Era Tomás, a quem chamavam o
Alfaiate.
Ergueu a mão magra para cumprimentá-la. Sob as pregas do tecido,
aquele homem parecia nem sequer existir. Só de quando em vez se
notava a forma do osso da anca ou de um cotovelo desenhar-se no
tecido.
Seguiu-o escada acima. O ambiente no interior do edifício estava
fresco. Ao longo da escadaria havia uma linha dourada, que subia
como se pretendesse indicar-lhes o caminho rumo ao céu.
– De cada vez que aqui vêm, todos os jesuítas se arrepen- dem
do voto de celibato que fizeram – declarou Tomás, sobre o ombro.
Fingiu uma certa indiferença, mas as suas orelhas, que se
tingiram de vermelho, revelavam que vê-la lhe causava alguma
agitação.
Com os anos ela habituara-se àquilo. Deixara de irritá-la o facto
de os homens a desejarem. Aprendera a usar as ânsias deles em
seu proveito. Um homem que quisesse possuir uma mulher como
ela estaria disposto a fazer grandes esforços. Cabia-lhe saber
canalizar e aproveitar essas forças. Para tal, dispunha de uma
grande variedade de habilidades: o alimentar, o protelar, o desiludir,
o despedaçar, o redespertar de esperanças, o atiçar de invejas e,
mais importante do que tudo, todos os jogos do ciúmes a mais
poderosa força à face da Terra. Era capaz de levar um homem
saudável e seguro de si a enforcar-se. Era capaz de despedaçar
famílias, mover navios, converter a retidão em patifaria.
O padre Malagrida dominava, qual mágico, o jogo com as ânsias
dos seres humanos. Era frequente homens e mulheres fazerem algo
sem se dar conta dos verdadeiros motivos para o seu
comportamento. Gabriel Malagrida sabia o que lhes ia na alma
antes mesmo de eles disso se aperceberem. Era capaz de
identificar os seus desejos antes mesmo de eles os identificarem.
Trabalhar com ele era muito instrutivo.
Chamavam-lhe profeta porque, em Agosto do ano passado, havia
interrompido uma prédica para prognosticar a morte da rainha-mãe.
E precisamente nessa altura havia ela morrido. Desde há meses
que deixara de a visitar, fora-lhe vedado o acesso aos seus
aposentos, pois suspeitava-se de que usara a doença e o poder
dela em seu proveito. Não poderia, então, estar a par da sua
periclitante saúde. Como poderia ele ter sabido da hora da sua
morte? Ninguém era capaz de encontrar uma explicação. Os que
eram profundamente crentes passaram a venerá-lo ainda mais. Os
céticos passaram a temê-lo.
Tomás deteve-se diante da pequena porta que dava acesso ao
gabinete de estudo de Malagrida.
– Também vai falar com ele? – perguntou Leonor.
– Sim, ele mandou-me chamar.
O
Alfaiate bateu à porta. Quando do interior se ouviu um «faça
favor», ele abriu e deixou que Leonor fosse a primeira a entrar. O
espaço do gabinete era exíguo. Afixadas na parede havia duas
prateleiras, além disso uma mesa, uma cadeira e um banco
comprido forrado com um tecido bastante simples. Era tudo.
Por detrás da mesa, Malagrida ergueu-se, produzindo um arquejo.
Era umas cinco mãos-travessas mais alto do que Leonor.
– Ainda bem que pôde vir.
Um dos seus olhos apontava na direção dela, o outro estava
virado para o lado. Dava estalos com a língua ao mesmo tempo que
falava. Enquanto ia dando a volta à mesa, coçava debaixo da orla
da peruca, junto à testa, produzindo um audível roçagar. Fazia tudo
de modo audível: respirava, arrastava os pés, pigarreava. A sua
presença preenchia a totalidade do espaço daquele gabinete.
Sozinho equivalia a cem pessoas e a noção de que assim era
transbordava-lhe de todos os poros.
Leonor conseguia lembrar-se perfeitamente do modo como,
aquando do seu primeiro encontro, ele tentara atenuar a impressão
que produzia. Sorrira e dissera:
– Não se deixe incomodar pelo meu olho. Já nasceu morto. Com
o olho são vejo-a muito bem.
«Se fosse apenas o olho», pensara ela outrora. No entanto, não
demorou muito até que começasse a sentir admiração por ele.
Malagrida conseguira fazer alguma coisa de si mesmo. Apesar da
fealdade do seu corpo, lograra alcançar grande prestígio e influência
no Reino.
– Sentemo-nos! – disse.
Acompanhou-a até junto do banco. Ao Alfaiate não prestou
qualquer atenção. Quando Malagrida se sentou, a peça de
mobiliário, assente sobre delgadas pernas de madeira, produziu um
estalido.
Tomás estremeceu. O ossudo jesuíta recolheu-se junto das
prateleiras, até tocar nestas com as costas, parecendo mesmo
chegar a prender a respiração para por fim reduzir a sua presença a
nada.
– De dia para dia, você fica mais bonita – comentou Malagrida.
– Considera que é aceitável, para um padre jesuíta, dizer uma
coisa dessas?
Malagrida riu-se.
– Como assim? Não posso fazer um elogio a uma jovem
senhora?
– Os outros homens já tratam de fazê-lo vezes suficientes.
– Muito bem, muito bem – adoptou uma postura séria. – Como
vão as coisas consigo? E tem algumas novidades do cônsul-geral
britânico?
– Digamos assim: Edward Hay aprecia realizar passeios noturnos
na minha companhia.
– O seu pai tem conhecimento disso?
– O meu pai fica satisfeito por eu me movimentar nos círculos
protestantes mais ilustres. Espera conseguir encontrar-me um bom
partido. E o cônsul-geral não deixa de ser o filho do conde de
Kinnoull, ainda que, na qualidade de quarto filho, o mais novo de
todos, não venha a herdar nada.
– Quais são os planos dos Ingleses? – a curiosidade estava bem
patente nos olhos do líder dos Jesuítas.
Malagrida precisava dela. As feitorias estrangeiras mantinham o
importante comércio ultramarino, sobretudo, nas mãos dos Ingleses
e dos Alemães. Estes comerciantes eram, em grande parte,
protestantes. No tocante ao tratamento que lhes era dado pela
Inquisição, haviam conquistado privilégios e desconfiavam dos
Jesuítas. Constituíam em Lisboa uma sociedade dedicada à defesa
dos seus interesses, fechada ao exterior e avessa a tudo o que
fosse católico. Leonor, porém, enquanto filha de um comerciante
alemão, tinha acesso a tudo. Neste lugar, ela era a pessoa ideal
para espiar para Malagrida.
– Corre o boato de que Edward Hay virá a ser embaixador de
Inglaterra. Com certeza só daqui a um ou dois anos, mas já está no
caminho que o conduz ao poder.
– Mantenha-se próxima dele.
– A minha intenção não é outra senão essa – ela sorriu.
– Como estão as coisas com o Banco de Inglaterra?
– Continua a comprar grandes quantidades de ouro. Um dos seus
funcionários aqui em Lisboa, alguém que me é muito afeiçoado, deu
a entender que pretendem cunhar moedas portuguesas, que irão
depois ser postas em circulação em Portugal.
– São notícias importantes – Malagrida esfregou o queixo. – Os
Coppendale e o capelão inglês continuam a instigar contra a Igreja
Católica?
– O capelão troçou há pouco da regra especial para Portugal,
mas, como bem sabe não é forçoso que os sacerdotes entendam o
latim das orações e dos cânticos durante a missa.
O jesuíta franziu o sobrolho.
– Um erro imbecil, essa regra. Em vez disso, dever-se-ia ensinar-
lhes latim! E os Ingleses continuam a não admitir membros católicos
na feitoria?
– Sim, mantêm-se na mesma. Não são admitidos católicos, nem
mesmo os irlandeses.
– Que descaramento. Há em Lisboa mais britânicos católicos do
que protestantes, mas ainda assim são estes que se mantêm no
poder e ostentam a sua feitoria!
– São bem-sucedidos – comentou ela. – A sua riqueza cresce de
ano para ano.
– Com efeito – concordou ele. E, dirigindo-se ao Alfaiate,
perguntou: – Tomás, verifique-me lá aí quantos britânicos é que
vivem em Lisboa.
O Alfaiate retirou um livro da prateleira, abriu-o, folheou-o e, em
voz baixa, disse:
– Vários milhares. Entre eles cento e cinquenta e cinco
comerciantes e negociantes, dezasseis viúvas ligadas a casas
comerciais, cento e sessenta e cinco taberneiros e arrendatários de
lojas comerciais, alguns cabeleireiros, carpinteiros, sapateiros, um
fabricante de mostarda.
– Vou tratar disso – Malagrida virou-se para Leonor. – Entre-tanto,
preciso de si para outro assunto. Escute bem. Há cinco anos, perdi
um dos meus melhores colaboradores, uma cabeça brilhante.
Atualmente está a pôr em perigo os meus planos. Muito embora
tenha envidado todos os esforços para o impedir, ele entrou nesta
cidade. É de extrema importância que ele seja detido antes de
conseguir causar danos de maior monta.
– E que posso eu fazer?
– Ele tem uma predileção por mulheres bonitas e as mulheres
bonitas têm uma predileção por ele – dito isto, o líder dos Jesuítas
riu-se.
– Essa parece ser uma tarefa ideal para mim. Qual é o nome
dele?
– Antero.
Leonor teve naquele momento de empregar toda a sua
capacidade de dissimulação para manter o sangue-frio, de modo a
que não revelar fosse o que fosse. Antero! Não, era impossível que
fosse aquele o Antero que ela conhecia.
– Vou fixar esse nome.
Ou será que Antero não era apenas um contrabandista, sendo, ao
invés disso, capaz de levar a melhor sobre os Jesuítas? Até mesmo
sobre o profeta? Ela sempre se distinguira como superior em
relação aos seus amantes. No tocante a ele, não tinha a certeza em
relação a essa superioridade.
– Como poderei eu reconhecê-lo? – perguntou ela.
– Ele tentou alterar o seu aspecto para não ser reconhecido. Usa
agora uma barba e a sua pele ficou curtida do ar do mar. No
entanto, os olhos são delicados como os de uma mulher.
Era Antero. Leonor teve de se obrigar a manter uma respiração
tranquila. Seria ela suficientemente boa? Afinal de contas, era o
mágico em pessoa que ela estava a tentar enganar.
– Acha que sou capaz de encantá-lo?
– Há alguns anos houve uma mulher, de uma beleza semelhante
à sua, e também perante ela Antero se rendeu. Ela cegou-o por
completo.
Leonor sentiu uma pontada. Quem era aquela outra mulher? Ela,
Leonor, ainda não o tinha totalmente nas mãos, não do mesmo
modo que subjugara os outros homens. Aquela mulher exercia
sobre ele um poder ainda maior. «De uma beleza semelhante à
sua…» Queria ele com isso dizer que ela poderia realçá-la melhor?
Beleza não era atributo com que simplesmente se nascesse, as
mulheres inteligentes bem o sabiam. Era uma questão de se dar
forma ao encanto que se emanava, era por meio de um sorriso que
se acentuava o resplendor, através da postura que ele se assumia,
e também de fitas para o cabelo e vestidos e olhares.
– Muito bem – concluiu ela. – Vou tratar de encontrá-lo.
– É uma pena que a ordem não admita mulheres. Sabia que por
aqui é referida como a
Jesuíta?
Malagrida acreditava nela. Estava a mentir ao mestre. Leonor
sorriu.
– Sim, eu sei. Sinto-me honrada.
– Em tempos, em mil quinhentos e quarenta e cinco, houve um
ramo feminino da Companhia de Jesus. As Jesuítas prestavam o
mesmo juramento que nós, mas a Ordem das Filhas de Jesus só
existiu durante um ano. Dali a pouco, Inácio conseguiu que o Papa
decretasse que a possibilidade de existência de um ramo feminino
da Companhia de Jesus ficasse para sempre excluída.
– Tenho muita pena de não ser homem – comentou ela. – Trataria
logo de me juntar à Companhia de Jesus…
Alguém bateu à porta. Leonor ficou em silêncio.
– Sim? – disse Malagrida num tom penetrante.
A porta abriu-se de repente e um homem de rosto largo entrou de
imediato. Arrancou o tricórnio da cabeça e pressionou-o contra a
barriga.
– Padre, ele não está em casa do comerciante de chá, nem tão-
pouco se esconde nas tabernas do porto. Receio que se nos tenha
escapado.
O olhar de Leonor não pôde deixar de ser atraído na direção das
mãos do estranho. As unhas dos seus polegares pareciam
aumentar o comprimento do dedo para o dobro. Eram do tamanho
de cabides para pendurar roupa e tornavam-no numa pessoa
repugnante, que, para mais, tinha o descaramento de exibir assim
aquele mau gosto.
E que se passava com o ossudo Tomás? De pé junto às
prateleiras os seus olhos brilhavam. Por que razão estaria ele tão
feliz? Seria por causa daquilo que o estranho dissera? Era como se
aquele sorriso trocista se devesse ao facto de o asqueroso ter
deixado escapar um homem.
– Não sei se deverei ficar contente ou aborrecido – declarou
Malagrida.
Leonor tinha a sensação de que o olho morto a fitava, estando o
saudável dirigido para o estranho.
– Ficar contente? Como assim, padre?
– Bem, é evidente que aprendeu bem a lição comigo! Seria para
mim uma desilusão se ele se tivesse deixado apanhar por ti com
demasiada facilidade – Malagrida olhou para Leonor. – Está a ver?
Falavam de Antero! O seu coração disparou.
– Coloquei espiões por todo o lado – disse o estranho. – Até
mesmo a guarda da cidade anda à procura dele, e os guardas
portuários. Não vai conseguir sair daqui. Através dos portões não é
possível passar e pelo rio também não foge. Mas vou precisar de
mais homens para conseguir revistar as ruas a pente fino.
Malagrida pegou num lenço de seda roxo e limpou o suor da
testa.
– Para junto da mãe e do padrasto ele não vai, abomina-os. O
mais provável é que se tenha escondido algures, em algum pátio –
cerrou as pálpebras e parecia tentar divisar um mundo invisível. –
Mais cedo ou mais tarde, irá procurar Vasco. Quando todos os
caminhos se lhe revelam vedados, dirige-se sempre à Biblioteca
Real. Tem uma paixão louca por livros e está lá esse amigo que
mencionei.
– Mas como consegue ele entrar no palácio? Com certeza os
guardas não o deixarão entrar.
– Esperará até que Vasco deixe o palácio, depois esgueira-se até
junto dele e é aí que pode apanhá-lo.
O rosto do estranho iluminou-se.
– Muito obrigado, padre – fez uma vénia e abandonou a sala.
Leonor ergueu-se.
– Bem, vou também andando…
Ele fê-la voltar a sentar-se.
– Deixe-se ficar.
Se qualquer outro homem tivesse ousado segurá-la, Leonor
aplicar-lhe-ia uma bofetada. A Malagrida não fez semelhante coisa.
Havia algo nele que a impossibilitava de se defender.
– A coisa é demasiado importante para me fiar apenas em Heitor.
Pretendo que também a Leonor procure Antero. Aproveite-se do seu
vasto círculo de amigos, tente informar-se.
– Sim, padre.
– Antes de ir, só mais uma palavrinha breve a respeito do seu pai
– fitou o jesuíta ossudo junto às prateleiras. – O Tomás está a
trabalhá-lo com os argumentos certos?
– O meu pai vai concordar. Trate você de se assegurar de que
não foi a troco de nada que pus em jogo a felicidade da minha
família – disse ela.
– «A troco de nada» não seria de todo a expressão certa –
Gabriel Malagrida sorriu.
8
As gaivotas esvoaçavam em redor da cúpula da catedral. Galeões
e fluyts baloiçavam sobre o rio ali próximo, como se se preparassem
para adormecer. Uma berlinda passou diante da ópera e deteve-se.
O cocheiro ajudou uma senhora elegante a sair da carruagem. Duas
outras berlindas, esguias e providas de boas molas, chegaram até
junto da primeira.
O olhar de Antero fixou-se na porta do palácio. Um homem de
estatura baixa e cabelos brancos estava ali de pé e enchia o
cachimbo de tabaco. Antero conhecia aqueles serenos movimentos
das mãos, observara-os já centenas de vezes. Era Vasco.
Com passos apressados, chegou-se junto do bibliotecário. Vasco
riscou um fósforo para acender o tabaco no cachimbo. Sacudiu
depois a mão para apagá-lo. A seguir, aspirou o ar através do cabo
estreito e comprido do cachimbo. Dos cantos da boca deixava
escapar fumo branco.
De súbito, um chamamento, que soou como o estalido de um
chicote:
– Alto, páre!
Antero olhou em redor. O esbirro de Malagrida seguia-o, a pouco
menos de cinco metros de distância, e vinha acompanhado de
soldados, que haviam já desembainhado os seus floretes.
Antero desatou a correr. Sentia as pernas tolhidas e pesadas, já
não dispunham de mais força. Tropeçou e inclinou-se para a frente.
Vasco continuou a fumar. No fornilho do cachimbo, já o tabaco
ardia. Olhou na direcção de Antero, impassível, nada fazia a não ser
fumar. Deixou a porta do palácio entreaberta. Mal Antero se
esgueirou para o interior, Vasco fechou a porta atrás de si.
Antero ouviu a voz de Heitor, vinda do exterior:
– Em nome do padre Malagrida, chegue-se para o lado!
– Em nome do rei: não! Fique aí fora.
– Sabe com quem se está a meter? A Companhia de Jesus…
– Neste momento, a Companhia de Jesus não goza de grande
favor junto do rei – interrompeu o bibliotecário. – Não se deu conta
disso? No ano passado, Malagrida chegou-se demasiado perto da
rainha-mãe.
– Que quer dizer com isso?
– Apenas que ele deveria ter mantido a sua sede de poder mais
bem domesticada. Não lhe parece embaraçosamente revelador que
tenha de ser vedado ao confessor o acesso aos aposentos reais?
– O pai do nosso rei, Dom João V, morreu nos seus braços, e até
mesmo o Papa afirmou que João se podia considerar um homem
feliz por lhe ter sido concedido morrer nos braços deste santo
homem!
– Pois sim. A rainha-mãe, porém, não morreu nos braços dele e,
nos tempos mais próximos, no que depender de mim, mais ninguém
lá morrerá.
– Seu tolo descarado, julga que consegue deter-me? Homens,
tirem este velho do caminho!
No meio da escuridão do corredor, Antero abriu os olhos o mais
que pôde. Teria de se esconder, e rapidamente!
– Este velho – prosseguiu Vasco lá fora – é o bibliotecário real.
Pensem bem no que vão fazer, meus senhores.
– Foda-se! – exclamou Heitor.
Fez-se silêncio. Antero escutou passos de gente a afastar-se. A
porta abriu-se. Vasco entrou. Inclinou-se para pegar num recipiente
de barro, bateu nele com o cachimbo e passou frente a Antero, sem
dizer uma palavra. Abriu a grande porta que dava acesso à
biblioteca.
Antero saltou para a frente dele e agarrou-lhe a manga.
– Vasco!
Contrariado, o bibliotecário virou-se na direção de Antero.
– Queres também tratar-me com esses modos grosseiros? Os
teus camaradas jesuítas ensinaram-te umas belas maneiras!
– Perdão. Queria agradecer-te.
Vasco entrou na biblioteca. Antero seguiu-o, mas teve a
impressão de que não seria esse o desejo de Vasco, pareceu-lhe
que este preferiria ver-se livre dele. Em silêncio, o bibliotecário
dirigiu-se à sua mesa, colocou os óculos de arame sobre o nariz e
abriu o livro de registo dos empréstimos.
– Não são meus camaradas – declarou Antero.
– Tinhas as aptidões necessárias para fazeres melhor, és esperto.
Mas decidiste-te pelo poder, foste parvo. Que queres daqui? Isto já
não é a tua casa. Olha em redor! Junto de mim só há livros.
Antero levantou o olhar. A sala da biblioteca estava ornamentada
com pinturas italianas e estátuas. Nas estantes altas, feitas de pau-
brasil e dotadas de entalhes decorativos, havia livros. Setenta mil no
total. Fora o que Vasco lhe segredara ao ouvido, quando aqui
estivera pela primeira vez, ainda miúdo, perplexo diante de todo o
saber reunido naquele espaço. Setenta mil. Jamais esquecera
aquele número.
Nas lombadas dos livros havia etiquetas com uma marca, letras e
algarismos, graças aos quais se conseguia encontrá-los nas listas,
organizados por temas: obras sobre a história dos estados;
descrições das terras e das gentes dos territórios do Amazonas;
livros sobre a China e a Mongólia, sobre o Tibete e a Etiópia, e
também romances, por exemplo, As Viagens de Gulliver, de
Jonathan Swift, ou Paraíso Perdido, de Milton; livros acerca de
teologia, direito, gramática, matemática e medicina; mapas
geográficos.
O peito de Antero produziu um suspiro.
Mais adiante uma passagem dava acesso à oficina onde os livros
eram encadernados e dourados, e junto dela estavam colocadas
cadeiras e mesas, estas com pequenos tinteiros destinados a ser
usados gratuitamente pelos visitantes da biblioteca. Só o papel e as
penas deveriam ser trazidos por cada um. Papel onde fixar a
sabedoria que, tal como de uma mina, se extraía dos livros.
Antero adorava aquela mina. Tinha saudades dela e também
saudades da pessoa que outrora fora. Vasco tinha razão. Ele tomara
a sua decisão. Optara pelo caminho da violência, reprimindo em si
mesmo a delicadeza, o assombro, a curiosidade.
Encetou um passeio pela biblioteca, como que uma despedida. Ali
estavam as Constituições do Bispado de Braga. Aquele livro sempre
enchera Vasco de orgulho. Era o primeiro feito por um impressor
português.
E mais adiante estavam os romances. Tocou na Estoria de muy
nobre Vespesiano, um romance de cavalaria que ele lera. Ali estava
o Almanach Perpetuum com os seus quadros astronómicos. Aqui,
os muitos volumes das Ordenações do Reino. Mais atrás
começavam as dissertações das universidades.
Naquele canto havia uma coleção considerável de pautas
musicais de compositores portugueses e estrangeiros. E acolá, a
Biblioteca Lusitana, o primeiro dicionário bibliográfico português.
A voz de Vasco fez-se ouvir baixinho:
– Ainda falta um volume. Diogo Machado está a trabalhar nele –
apontou para o espaço vazio na estante.
Antero não se dera conta de que Vasco viera atrás de si.
Pigarreou, pois Vasco não deveria aperceber-se na sua voz que as
lágrimas estavam prestes a correr-lhe pela face.
– Trouxe-te chá.
O bibliotecário parou junto dele.
– Em Lisboa, no máximo, um em cada dois homens sabe
escrever o seu nome. Pouquíssimos são os que vão para além do
nome. Para já não falar das mulheres: nove em dez têm de fazer
uma cruz em vez de assinar o seu nome num contrato. Os artesãos
desprezam a escrita, os comerciantes só se interessam por
números. E depois há um miúdo que aparece junto de mim a querer
aprender. Um miúdo que, de preferência, até dormia na biblioteca,
para assim conseguir ler mais e, hora após hora, poder exercitar-se
no uso da pena.
Naquela altura, Vasco era apenas o segundo-bibliotecário. Em
troca de um parco salário de escriturário, que incluía habitação
gratuita e custos de iluminação, deveria abrir a biblioteca no horário
indicado, controlar os empréstimos e cuidar do catálogo. Era com
prazer que complementava o seu ordenado a ensinar a escrever
quem quisesse aprender. Era todo um complicado repertório de
gestos e movimentos que ele tratava de explicar pacientemente a
Antero: era preciso estar sentado à mesa, a uma certa distância do
papel, colocar o braço sobre a mesa e segurar na pena com os
dedos. Mergulhava-se a ponta da pena no tinteiro e fazia-se depois
esta deslizar sobre o papel, mas de modo a que não o rasgasse e
que não deixasse pingar a tinta.
As primeiras páginas que escrevera apresentavam um aspecto
terrível. Tinham ficado repletas de manchas, impressões digitais
negras, letras afogadas em tinta, mas depois fora melhorando. Não
tardou a que Vasco o mandasse copiar textos inteiros. Antero
adorava Vasco, mais até do que o seu próprio pai, já falecido.
– Vasco – começou Antero –, que fazes tu quando alguém tira um
livro e volta a colocá-lo na estante, mas no local errado?
– Nesse caso, ponho-o no seu lugar.
– Pode demorar anos até te dares conta de que está no sítio
errado, não é?
Vasco acenou afirmativamente com a cabeça.
– Estou a perceber onde queres chegar.
– Sei que foi errada a decisão que tomei outrora. Reprimi algo no
meu interior, foi aqui bem fundo que o escondi. Esse miúdo
transformou-se entretanto num homem com barba e a com a tez
bronzeada, talvez já não confies em mim porque pareço ter
endurecido, e tornado inacessível. Quero, porém, reencontrar-me.
Vou voltar a ser a pessoa que em tempos fui.
– Lá fora, os esbirros jesuítas espreitam. A eles não podes tu
dizer: «Deixem-me em paz, agora sou uma pessoa diferente.»
– Andar fugido, isso foi coisa a que me habituei, sei como fazê-lo.
Preciso de teu auxílio como bibliotecário.
Vasco olhou para ele, estupefacto.
– E como queres tu que isso aconteça?
– Ajuda-me a reunir todos os livros em que haja alguma referência
a tremores de terra!
A poltrona francesa, que no ano passado o pai lhe havia oferecido
pelo aniversário, era o local de leitura favorito de Dalila. Também lhe
chamavam duquesa e acabava por ser uma espécie de sofá com
um espaldar no outro extremo. Os escravos domésticos tinham-na
estofado com almofadas novas. Dalila estava ali deitada com todo o
conforto. Ainda assim, o seu coração não deixava de palpitar. As
suas mãos, que seguravam o livro, transpiravam. A luz da vela
iluminava debilmente as páginas, pensava que seria melhor
continuar a leitura durante o dia, mas não conseguia obrigar-se a
parar.
Aqueles eram os segredos de que a sua irmã era conhecedora. O
que ali se descrevia soava a Dalila impróprio, mas, ao mesmo
tempo, deixava-a agitada. Naquele livro obsceno, uma jovem
chamada Fanchon estava perdida de amores por um tal Robinet, o
filho de um comerciante. No entanto, como ele era bem mais
experiente do que ela, a prima mais velha de Fanchon tratou de a
esclarecer e, ao mesmo tempo, estimular o seu desejo.
As coisas indecentes de que elas falavam! Eram dadas
explicações sobre os órgãos sexuais masculinos e femininos e
sobre o coito, das mais variadas maneiras. Era descrito como se
podia prevenir uma gravidez. Fanchon dormiu com Robinet e, ao
relatar o que se passou, não poupou nos pormenores.
Dalila sentiu o rosto ruborizar-se. Fechou o livro. Não era afinal
pecado tudo aquilo? Não eram coisas de que ela só deveria ter
conhecimento quando fosse uma mulher casada? Por outro lado,
como poderia ela conquistar Antero se não concorresse em pé de
igualdade com a sua irmã? Desde sempre que Leonor se habituara
a brincar com os homens. Era versada nesses assuntos do corpo.
Dalila escondeu o livro sob as almofadas e aguardou que a sua
pulsação se acalmasse. Depois, estendeu a mão e alcançou a
campainha dourada, fazendo-a soar. Uma escrava doméstica entrou
no quarto.
– Traz uma tina para aqui e põe água a aquecer na cozinha.
Quero tomar um banho – ordenou Dalila.
– Com todo o gosto, menina Dalila. Mas a menina Leonor também
me pediu o mesmo. Vai demorar um pouco com a água, porque
teremos de pôr a caldeira ao lume por duas vezes.
Claro. Leonor preparava-se para a visita de Antero, naquela noite.
– Quero que me tragas a água quente que puseste a aquecer
para a Leonor. Ela que tome banho depois de mim. E prepara óleo
de rosas.
– Mas, menina Dalila, como vou eu explicar…
– Não explicas nada! Não lhe dizes seja o que for. Ela vai
barafustar com a demora, claro. Como recompensa pelo teu silêncio
ofereço-te um dos meus lenços mais bonitos. Podes ser tu mesma a
escolhê-lo.
– Muito obrigada, menina Dalila.
– Despacha-te!
Não tardaram a entrar dois negros, que traziam uma tina de
madeira, para dentro da qual despejaram baldes cheios de água
quente e fria. A escrava acrescentou sabão em pó e espalhou
pétalas de rosa sobre a superfície. Ajudou Dalila a despir-se e esta
saltou para o interior da tina. A água queimou-lhe as barrigas das
pernas, estava demasiado quente. Soltou um gemido.
– Quer que acrescente água fria? – apressou-se a escrava a
perguntar. Pegou num balde e deu ela a resposta.
Um corrente de água fria passou pelas pernas de Dalila.
– Está bom, já chega.
Sentou-se lentamente na tina. A frescura rapidamente deixou de
se fazer sentir. A água quente queimou-lhe ligeiramente as nádegas,
mas era uma dor agradável. Sentou-se no fundo da tina, recostou-
se e apreciou o confortável calor. Com uma esponja, a escrava
começou a lavar-lhe os ombros e a nuca. Ia mergulhando a esponja
na água e passava-a pelas costas de Dalila. O líquido quente
escorria-lhe pelas costas abaixo.
O pai nunca tomava banho. Para ele, manter-se limpo equivalia a
certificar-se de que os colarinhos e os punhos das suas camisas se
mantinham sempre impecavelmente brancos. No seu entender, era
assim que se reconhecia se uma pessoa era ou não asseada. A sua
toilette matinal consistia unicamente em esfregar-se com uma toalha
seca. A água parecia-lhe algo suspeita. Perfumava-se e isso teria de
bastar.
Dalila e Leonor pertenciam a uma nova geração. Viviam-se novos
tempos, para o pai era já demasiado tarde para adquirir novos
hábitos. Hoje em dia as pessoas tomavam banho, já há muito que a
água quente não era considerada prejudicial à saúde.
Será que Antero se lavava? Com certeza que sim. Era apenas
pouco mais velho do que elas. Não pertencia aos velhos tempos. Os
comerciantes e nobres antiquados tentavam sempre emanar uma
certa superioridade. Qualquer que fosse o empreendimento a que
se dedicassem, faziam-no numa atitude condescendente e
desdenhosa. Dalila suspeitava de que chegassem mesmo a praticar
em casa, diante do espelho: as suas vénias, os seus sorrisos, a
posição das pernas quando estavam de pé. A postura corporal dava
ares de ter sido tão estudada como a de um actor que decora a sua
entrada em cena. E, no entanto, por detrás dos seus sorrisos
escondiam o quanto se sentiam contraídos. Uma terrível tensão
subjazia a cada movimento de mão repleto de charme.
Antero era diferente. Dele emanava tranquilidade. Era ele mesmo.
Quando falava, a sua voz soava sincera. Era frequente os cantos
dos seus lábios tremerem de intensa alegria. Era capaz de sorrir,
simplesmente sorrir de prazer.
Dalila afastou algumas pétalas de rosa. Sentiu o toque aveludado
das flores.
– Quero que, depois do banho, me esfregues com o óleo de rosas
– disse à escrava.
Um odor agradável era importante, havia ela lido no livro. O ar
quente que do banho lhe chegava às narinas cheirava a sabão e às
pétalas de rosa.
Jamais ela conseguiria amar um daqueles nobres. Presenteavam-
se mutuamente com amabilidades quando, na verdade, prefeririam
arrancar os olhos uns aos outros. Diante de uma porta, debatiam
demoradamente qual deles passaria primeiro, cada um pretendia
dar a vez ao outro para assim demonstrar melhor a sua cortesia.
Que hipocrisia!
Mas como seria se não conseguisse conquistar Antero? De
repente sentiu um aperto no peito. Inspirou com força. Ah, mas tinha
mesmo de o conquistar. Amava-o. Esse pensamento provocou-lhe
uma sensação de formigueiro na barriga. Tudo nela o amava, cada
cabelo, cada dedo, cada pedacinho de pele.
Antero levantou-se, transportou uma pilha de livros para a mesa de
apoio, à esquerda, e retirou um novo livro dos que estavam à sua
direita.
Já existiam microscópios, conhecia-se as leis da gravidade, sabia-
se a respeito da aberração da luz e tinha-se formulado a teoria
cinética dos gases. Fahrenheit inventara o termómetro de mercúrio
e Celsius a escala que permitia fazer nele leituras de temperatura.
Leibniz construíra uma máquina de multiplicar, havia máquinas de
fiar e telescópios refletores. Desde o ano anterior que as gentes
abastadas mandavam aplicar uma nova invenção nas suas casas,
varas metálicas que iam desde o telhado até ao chão, protegendo-
as assim do efeito dos raios que nelas pudessem cair. Mais de
metade da superfície terrestre estava explorada e cartografada. Por
que razão se sabia tão pouco a respeito de tremores de terra?
Quando se tentava explicar este fenómeno, era como se se
estivesse a tatear no escuro.
Se conseguisse trazer luz para onde havia escuridão, Antero
ficaria na posse de uma arma com a qual se poderia libertar do
aperto a que Malagrida o havia sujeito. Tinha aquela noite para
forjar a sua arma.
Abriu um livro. Vasco acabara de lho trazer. Há horas que o
bibliotecário andava a transportar livros dos recantos mais remotos
da biblioteca, subia a escadotes, debruçava-se sobre in-fólios,
folheava as listas. Era muito o conhecimento que trazia para junto
de Antero, só que já estava obsoleto.
De acordo com as descrições, o estremecimento da terra que hoje
se dera deveria ter sido uma espécie de tremor preliminar. Mas
como era que aquilo surgia e por que razão se lhe seguiam
tremores maiores? Durante muito tempo, pensara-se que, quando
ocorria um tremor de terra, era por haver gases que se tinham
inflamado. Para chegar a essa explicação partira-se das
tempestades. O som dos trovões era semelhante ao ruído que se
ouvia aquando de um tremor de terra. E pensava-se que este
barulho resultava dos gases que se escapavam para o ar, que
formavam nuvens e depois explodiam, como se fosse pólvora,
quando ocorriam tempestades com relâmpagos.
Há três anos, porém, um deputado das colónias britânicas na
América do Norte, chamado Benjamin Franklin, teve a ideia de fazer
subir pelos céus, até junto das nuvens, um papagaio construído com
paus e pedaços de tecido. O comprido fio de cânhamo que usou foi
isolado com uma fita de seda e preso a um poste. Pendurou uma
chave no fio. Ao aproximar a mão, saltou dela uma faísca. Repetiu a
experiência, mas desta vez isolou a chave numa garrafa cheia de
água e com uma haste metálica no interior. Quando por fim tocou
nela, recebeu um choque elétrico. O papagaio conduzira a carga
negativa das nuvens até à chave. Esta carga fora depois atraída
pela carga positiva do corpo de Franklin.
Deste modo conseguiu Franklin provar que os relâmpagos que
ocorrem numa tempestade nada têm a ver com gases. São um
fenómeno elétrico. Por essa razão, passou-se a instalar os
chamados para-raios nos palácios, protegendo-os assim dos
relâmpagos que sobre eles caíssem.
No que dizia respeito a tremores de terra voltara-se à estaca zero.
Não se sabia nada de nada.
Antero abriu o livro. Tinha-lhe sido aposto um carimbo da
biblioteca na primeira página, como de resto se fizera em todos os
outros livros. Essa marca tornara-o parte integrante de uma família,
parte integrante da mina de sabedoria. O livro fora impresso em
1750, antes da experiência de Franklin. Valeria a pena continuar a
lê-lo? Escrito em inglês, o seu autor era um tal Rev. Dr. William
Stukeley e chamava-se The Philosophy of Earthquakes. Antero
começou a ler. Este tal Stukeley colocava uma questão interessante.
Será que os tremores de terra tinham origem em fenómenos
elétricos?
Ele defendia que também a Terra poderia estar dotada de uma
carga elétrica. Assim, quando uma nuvem que não estivesse
eletrizada lançasse a sua chuva sobre uma região da Terra que se
encontrasse num estado oposto, aconteceria um tremor de terra.
A investigação no domínio da eletricidade era uma atividade ainda
recente, muito continuava por descobrir. Em todo o caso, Stukeley
não apresentava quaisquer provas, nem mesmo indícios. Antero
fechou o livro. No que dizia respeito aos tremores de terra, não
havia qualquer estudo que se pudesse consultar. Era como se
alguém quisesse fazer experiências com a morte.
Era descrito com frequência que, antes da ocorrência de um
terramoto, a água de lagos e dos rios cheirara a enxofre e se tingira
de amarelo. A eletricidade não pressupunha a existência de enxofre.
O sismo deveria, de algum modo, estar ligado à água. Se grandes
quantidades de água subterrânea se encontrassem com o fogo nas
profundezas da Terra, não se produziria uma explosão de vapor?
Por outro lado, o estrondo e as sacudidelas do chão faziam lembrar
mais um tiro de canhão. Se fosse por o enxofre e o salitre se
misturarem, deveriam, em Lisboa, furar o chão o mais depressa
possível, para fazer poços e deixar sair a perigosa água sulfurosa,
conseguindo assim reduzir a pressão subterrânea.
Imaginava as enormes bolhas de ar sulfuroso que subiriam pelos
poços. Para conseguir descobrir se essa seria a solução teria de
fazer uns cem furos. Isso era impossível. Alto lá! Ele podia verificar
se em regiões com muitos poços ocorriam menos tremores de terra.
Onde havia muitos poços?
Havia regiões densamente povoadas e outras sem ninguém e
nessas, obviamente, também não existiriam poços. No entanto, o
certo é que nas regiões desérticas também ninguém se dá conta
dos tremores de terra. Não conseguia avançar.
Antero pegou num outro livro. Abriu-o e ficou como que
paralisado. O frontispício ostentava o monograma dos Jesuítas, a
coroa de raios solares em redor das iniciais IHS. Fora essa a razão
pela qual ele se decidira outrora segui-los, devido à frequência com
que aqui na biblioteca aqueles livros lhe haviam vindo parar às
mãos, livros de investigadores jesuítas no domínio da botânica, da
farmacêutica ou da zoologia.
Com uma folha de papel, Vasco marcara uma passagem do livro.
Pôs-se a lê-la. O autor afirmava que se poderia provocar tremores
de terra artificialmente, bastando para tal enterrar enxofre, limalhas
de ferro e mais algumas substâncias. Incluía instruções detalhadas.
Antero levantou o olhar. De uma vez por todas, tinha de verificar
esta teoria da mistura de enxofre e salitre. Virou-se na direção de
Vasco. O bibliotecário estava de pé num escadote, na parte traseira
da sala, e ia percorrendo as lombadas dos livros, iluminando-as com
a luz de uma vela. Antero foi ter com ele.
– Não o encontro. Ele arrumou-o no sítio errado! – vociferava
Vasco. – Nunca devia ter contratado este ajudante.
– Será que a uma hora destas ainda me consegues arranjar uma
coisa? Haverá por aí algum boticário capaz de voltar a abrir a loja
em caso de urgência?
– Sabes bem que logo que eu abandone a biblioteca, esta deixará
de ser um local seguro para estares.
– Seja como for tenho de ir. Ainda tenho um compromisso.
Vasco olhou para ele do cimo do escadote e franziu a testa em
sinal de reprovação.
– O pai dela é tu cá tu lá com o rei. Tenho de convencer o rei a
mandar evacuar a cidade.
– Muito bem – disse Vasco enquanto descia os degraus.
– Com isto evito também que Malagrida seja o único a anunciar a
catástrofe e depois se arvore por aí em grande profeta. Após o
tremor de terra, se os Jesuítas o explicarem como um castigo de
Deus para instilar medo nas pessoas e assim ampliar a influência da
ordem, trato eu de divulgar a explicação científica. Ao fazê-lo,
ponho-lhes a manha a descoberto.
– Esperei muito tempo por uma ocasião destas.
– Preciso de flor de enxofre e limalhas de ferro. E um almofariz –
pediu Antero.
– E como vais tu sair daqui? Eles têm todas as saídas vigiadas.
– Desço pela janela da cozinha, na parte traseira do palácio, onde
crescem os arbustos.
Vasco aproximou-se com a vela. Segurava-a tão próximo do rosto
de Antero que este conseguia sentir na face o calor que dela
emanava.
Sorriu de modo assustador.
– Tens aquele brilho no olhar, como dantes.
9
Sobre o palácio do barão de Oldenberg, fora dos muros da cidade,
nas imediações do Campo de Santa Clara, descera já a
tranquilidade da noite. Estava escuro. Apesar da sua riqueza, Lisboa
não possuía candeeiros nas ruas, o que há muito representava um
escândalo para os cidadãos mais abastados. Para Antero era razão
para ficar contente. Começara por ter a sensação de que era
seguido, mas passado algum tempo o seu instinto dera-lhe a
entender que podia ficar tranquilo. Atrás dele a rua estava imersa
em silêncio e via o brilho da luz de velas na janela de Leonor, no
terceiro andar. Bateu à sumptuosa porta.
Um escravo de pele negra com um candeeiro na mão veio abrir.
– Conhece o caminho?
– Muito obrigado.
Era como que um ritual. O escravo perguntava sempre e Antero
respondia-lhe. A escada estava iluminada até ao segundo andar.
Antero subiu-a sozinho. Quando ia continuar para o terceiro,
hesitou, não havia mais luzes. De lá de cima, da sala de recepções,
provinha apenas uma fraca luz de velas, que mal alumiava os
degraus. Antero acabou de subir a escada, degrau após degrau.
Para cada um dos lados da sala de recepções ficavam os aposentos
de Leonor e de Dalila, e ainda um quarto para visitas. Se ali mais
não ardia do que uma vela, talvez hoje não fosse muito bem-vindo.
Nada disso, pois lá estava Leonor, mais bela do que nunca. Trazia
a vela na mão. O seu vestido cintilava com o brilho de milhares de
pérolas, e a pele do rosto pareceu-lhe mais suave do que o
costume. O olhar que ela lhe dirigia denotava alguma insegurança,
mas estava ao mesmo tempo repleto de amor. Quereria ela
confessar-lhe alguma coisa? Ali estava ela na sala de receções,
como se o aguardasse há uma centena de anos.
Leonor apagou a vela. Com isso não havia ele contado. Ficou
envolto pela escuridão. Ouviu o roçagar do vestido e de seguida
sentiu as mãos dela no seu rosto, frescas e suaves. Dedos finos
acariciaram-lhe a face. A ternura com que ela lhe tocava! Era
agradável.
Deu-se conta da fragrância da sua pele. Cheirava a rosas. O rosto
dela estava muito próximo. Os narizes de ambos tocaram-se.
Contudo, Leonor não o beijou, puxou-o para si e abraçou-o. O ar
que exalava ao respirar ia de encontro à orelha dele. Ficou com
pele-de-galinha e sentiu, simultaneamente, o calor que invadia o seu
âmago.
– Antero – murmurou ela.
Quis responder, mas de súbito secara-se-lhe a garganta e teve de
engolir.
As mãos de Leonor haviam-se ternamente alojado nos flancos do
tronco dele. Voltou a sentir a face dela, de seguida o seu nariz, que
com meiguice tocou o seu. Por fim, ela beijou-o. A sua boca estava
quente, repleta de brandura, ligeiramente aberta, como se quisesse
soprar nele toda a vida que continha. Jamais Leonor o tinha beijado
com tamanha intimidade.
Não era Leonor. O pensamento acertou-lhe em cheio, como se
fosse um golpe que lhe desferissem. A mulher que beijava teria de
ser outra! Soltou-se dos seus braços e afastou-a. A respiração dela
estava ofegante. Os olhos dele foram-se gradualmente habituando à
escuridão e, graças à pouca luz que pelas escadas vinha do andar
inferior, conseguiu divisar o vestido dela. Começou por encolher os
ombros, descontraindo-os de seguida, e estendeu os braços, com
as mãos longe do corpo, como se ela mesma se tivesse assustado,
como se ela mesma não tivesse contado com o poder daquele
momento.
Havia algo no pescoço dela que cintilava. Trazia um colar. Leonor
jamais usava colares ao pescoço, detestava-os. Era Dalila, a irmã
gémea. Tinha beijado a irmã de Leonor, uma estranha. Ela olhou-o
fixamente. Ele estendeu a mão e tocou-lhe no braço. A mão afagou-
lhe o braço e percorreu-o, no sentido ascendente, por sobre os
ombros. Ele deu um passo em frente.
Ouviu-se algures o chapinhar de água.
De novo o aroma a rosas no ar e a doce fragrância da sua pele.
Beijou o rosto dela, as suas pálpebras, a sua testa. E de novo
aquela boca suave, quente, branda. Sentiu as mãos dela nas suas
costas.
Abriu-se uma porta.
– Antero?
A luz encandeou-os. Lá estava Leonor, de roupão, o rosto e os
cabelos ainda molhados, segurando um candelabro de três braços.
Ele recuou e olhou ora para uma, ora para outra. Não lhe ocorreu
nada que pudesse dizer. O beijo ocupava todos os seus
pensamentos.
Leonor disparou na direção de Dalila.
– Sua desgraçada! Não acredito que possas ter feito isto! – gritou,
golpeando-a sem cessar.
Dalila nem sequer ergueu os braços para se defender. Limitou-se
a ficar ali parada, a olhar para ele.
Gabriel Malagrida empurrou o banco para o lado. Ajoelhou-se e
soltou uma tábua grossa do soalho. Inseriu ambas as mãos no
buraco e trouxe de lá uma caixa de ferro amolgada. A ferrugem
cobriu os seus dedos de um pó acastanhado.
Malagrida abriu a caixa. Com um gesto de devoção retirou do
interior uma concha feita a partir de uma cabaça. De imediato viu
diante de si a margem do rio. Escutou o discreto chapinhar das
tartarugas, que dos locais onde antes haviam apanhado sol desciam
agora para a água. Viu um caimão com a bocarra aberta. Pássaros
que se passeavam dentro desta, em busca de restos de carne entre
os dentes.
Na floresta havia macacos que bramiam, papagaios que
guinchavam, garças brancas que se pavoneavam ao longo das
margens. Numa clareira junto ao rio erguiam-se cabanas
semiesféricas. Pessoas nuas saudavam-no. Acenavam-lhe.
Estavam contentes de o ver chegar.
Sentia saudades dos índios. Os seus rostos largos, os seus
corpos fortes e bonitos. Tinham pintado a pele com jenipapo e
urucu, andavam por ali como obras de arte animadas. Por entre as
cabanas em desalinho muitas de crianças brincavam no meio do pó.
Gabriel Malagrida retirou uma coroa de penas da caixa. Fora
guardada recolhida, como se fosse um leque. Tratou de abri-la.
Sumptuosas penas de arara e de papagaio apresentaram-se diante
dele. Colocou a coroa no topo da cabeça.
Depois retirou um saquinho da caixa e desatou os nós que o
mantinham fechado. Inclinou-o e deixou que, do seu interior, seis
pontas de seta de pedra, escorregassem para a palma da sua mão.
Escolheu uma das pontas e pressionou a extremidade mais afiada
contra o seu polegar. Rasgou a pele. Uma gota de sangue brotou da
pele.
– Não o quereis ouvir – murmurou. – Por isso, tereis de o sentir.
Antero estava sentado na cama como se fosse feito de pedra.
Leonor não sabia se devia bater-lhe ou abraçá-lo e consolá-lo.
Andava de um lado para o outro. O sangue corria-lhe, acelerado,
pelo corpo. Nunca, mas nunca mesmo, teria achado Dalila capaz de
um tal atrevimento. Ao longo de todos aqueles anos, a irmã sempre
se mostrara, pelo menos exteriormente, sossegada e sensata.
O estranho era que ela não precisava de fingir sentir aquela raiva.
Estava mesmo magoada. «Oh, rapariga!», pensou ela. «Leonor, é
bom que não te tenhas apaixonado por ele.»
Ficou parada.
– É claro que tu sabias que havia ali algo errado.
– Cheguei aqui acima, estavas ali, lançaste-me um olhar
apaixonado e depois apagaste a vela. Como havia eu de saber que
não eras tu?
Não foi capaz de olhá-la enquanto falava. A fisionomia dela
mantinha-se rígida.
– E ela por acaso beija como eu? Aquela parva nunca sequer
beijou fosse quem fosse! Não tem qualquer experiência!
– É verdade, foi diferente.
Sentiu-se invadida pelo calor que se apodera de quem se
enfurece.
– Nunca mais te beijarei. Como posso voltar a tocar uma boca
onde já os lábios da minha irmã se andaram a esfregar?
A expressão facial dele manteve-se inalterada.
Não o afligiria a perspectiva de não poder voltar a beijá-la? Ser-
lhe-ia isso indiferente? Estava obviamente prestes a perdê-lo para
Dalila. Era uma sensação que lhe era estranha. O normal era jamais
perder as atenções de um homem. Conseguia manter preso a si, de
corpo e alma, todo aquele que ela pretendesse.
– Queria perguntar-te uma coisa – disse ele. – Sei bem que estás
furiosa comigo, mas há algo que urge. Preciso da tua ajuda.
Podia fazer de boazinha, aquela cujo delicado coração foi ferido,
mas que é capaz de perdoar ao seu amado. Ou então mostrar-se-ia
altiva e trataria de lhe dar a entender que com ela as coisas não
eram assim e que, caso a quisesse reconquistar, tinha pela frente
uma árdua tarefa. Os homens gostavam de lutar por uma mulher
bonita. Aquilo que nada lhes custava não possuía para eles
qualquer valor.
– Sai, por favor – declarou ela. – Preciso de refletir.
Antero olhou-a.
– Sim – disse ele por fim; ergueu-se e, sem dizer palavra, deixou
o quarto.
Leonor sentia-se como que atordoada e sem forças. Chegou-se
junto da escrivaninha. Da quinta gaveta à esquerda, retirou uma
pequena caixinha azul-escura que em tempos ele lhe oferecera.
Com o polegar afagou a imagem da deusa, de um branco
marmóreo, que ali surgia representada. A caixinha continha
mouches, pequenos sinais feitos de seda, com a forma de estrelas e
luas, para aplicar na pele. No início, sempre que com ele se
encontrava, Leonor usara um desses sinais artificiais, ora na face
direita, para acentuar a covinha, ora no decote.
Sentia-se mal por Antero não estar junto dela e porque era
provável que ele tivesse ficado furioso com ela e desesperado.
Nunca antes se sentira assim. Protegera-o perante os Jesuítas, não
o traíra. E ele nada sabia a esse respeito. Se acabasse por vir a ser
necessário, sempre poderia jogar este trunfo.
Leonor apertou melhor o roupão e deixou o seu quarto. Já no
corredor, bateu à porta do de Dalila.
– Dalila, temos de falar.
Não ouviu qualquer resposta.
Levantou o trinco e entrou no quarto. Onde fora a irmã? Os
cortinados da cama estavam corridos e os cordões que
normalmente os apanhavam, pendidos. Leonor acercou-se da cama
e levantou um dos cortinados: encontrava-se vazia. Dalila
desaparecera, mas teria de voltar, para dormir. Quando regressasse
iriam ter uma conversa a sério.
Já haveria por ali mais figuras de santos? Leonor lançou um olhar
para o cantinho das orações. Numa estante junto à parede havia
dezenas de figuras de madeira pintadas, uma verdadeira coleção de
bonecas. A família secreta de Dalila crescia a olhos vistos. A própria
Leonor já assistira à irmã a falar com as estatuetas de madeira,
como se de pessoas se tratasse. A cada uma delas atribuía grandes
poderes. Os santos eram os seus aliados, já que o malvado resto do
mundo conspirava contra ela.
Leonor sentou-se na duquesa e puxou uma almofada para apoiar
as costas. Por que razão se sentia tão desconfortável ali? Estava
sentada em cima de qualquer coisa dura. Com cautela, retirou o
objecto. Um livro. Dalila parecia estar sempre a ler! Por vezes tinha
a sensação de que a irmã fugia de viver a vida tal qual ela é.
Aqueles romances e as figuras dos santos mais não eram do que
uma fuga.
Enfastiada, foi folheando o livro. Até que se deteve. Os seus olhos
fixaram-se numa palavra. Leu a frase inteira. Virou mais algumas
páginas, continuou a ler mais adiante. Credo! Mas que andava
Dalila a ler?
A porta abriu-se. Dalila entrou quarto e pousou o olhar em Leonor
e no livro. O rosto tingiu-se-lhe de vermelho.
De súbito, Leonor conseguiu aperceber-se de como a irmã se
deveria ter sentido ao longo de todos aqueles anos. Sempre ficara
na retaguarda. Tivera de assistir ao modo como Leonor encantava
os homens, como Leonor desenvolvera o seu bom gosto no tocante
a vestidos, como ela brilhava nas aulas de dança, como aprendera a
obter do seu pai tudo o que queria. Tudo isso era matéria que Dalila
não dominava. Até hoje Leonor pensara que ela simplesmente
desdenhava dessas aptidões, que desprezava, em geral, a
superficialidade das pessoas e se tomava a si mesma por melhor do
que os demais. Mas afinal não era assim. Dalila invejava as artes de
Leonor. Dalila sentia-se frágil e inferior, desejava ser como ela,
Leonor.
Seria assim?
Era essa a razão por que havia comprado aquele livro, claro!
Também ela queria saber como se lidava com os homens. E hoje
tinha pela primeira vez beijado um. Fosse lá como fosse, o facto de
ter escolhido Antero não estava certo, mas não poderia ela, Leonor,
mostrar-se mais complacente para com a irmã, que tão
desesperadamente queria ser crescida?
Fechou o livro e sorriu.
– Entra, irmã.
– Eu... – a voz de Dalila parecia sumir-se. – Eu vou é queimar
isso.
– Isto? – perguntou Leonor, apontando para o livro.
– É tudo mentira. O amor não tem nada a ver com posições na
cama.
– Então tu beijaste o meu namorado e agora o livro é que tem a
culpa?
– No livro, diz que os homens podem ser manobrados. É como se
se estivesse a dar à manivela numa daquelas máquinas
electrostáticas que têm em demonstração nos cafés para entreter os
clientes. Só que uma pessoa não é uma máquina. Não quero tratar
ninguém como tal. Sobretudo aquele que eu amo.
Leonor pôs-se de pé.
– Espero que com essa tua última frase não te estejas a referir a
Antero.
– Eu amo-o. Não posso fazer nada a esse respeito.
– Com certeza que podes. Pode bem ser que essas sensações te
atemorizem por nunca antes as teres experimentado. Julgas que
estás à mercê delas, e nada podes fazer a esse respeito, mas isso é
um disparate. Ainda vais ver que o entendimento tem uma palavra a
dizer. Não te podes apaixonar logo pelo primeiro homem que te
aparece à frente! Antero pertence-me e não o vou dividir contigo.
– Tu nem sequer o entendes – afirmou Dalila. – Ele nada tem a
ver contigo. Não és capaz de ver a tristeza que os seus olhos
exprimem? Há algo que o aflige, mas tu nada queres saber acerca
disso. Para ti ele não é mais do que um brinquedo. Comigo não
seria nada assim.
– Lamento imenso ter de te desapontar, mas, em primeiro lugar,
ele não é para mim um brinquedo e, em segundo lugar, eu amo-o e
ele ama-me a mim.
Dalila baixou o olhar.
– Não tenho assim tanta certeza. Hoje tive a sensação de que
ele... Ele não me conhecia. Bem, continua sem me conhecer.
– Nem sequer jamais te irá conhecer. Nem quer. Ele é feliz
comigo.
– E como podes tu ter a certeza disso?
Leonor agarrou com força o encosto da duquesa. A irmã estava a
dar luta com todas as armas de que dispunha. Pois bem, ela
responder-lhe-ia com lâmina bem afiada.
– Achas mesmo que o teu beijo o impressionou? Hoje ele dormiu
comigo – mentiu ela. – Nem sequer pensou mais no teu beijo.
Dalila empalideceu.
– A coisa ficou bem esclarecida. Ele decidiu-se por mim.
O luar espalhava-se nas águas do Tejo. Sobre as ondas que se
formavam junto à margem cintilavam as estrelas. As gaivotas, com
as asas firmemente chegadas ao corpo, deixavam-se embalar pela
água. Antero sentou-se debaixo de uma velha amendoeira.
Inspirava o fresco ar noturno. Cheirava a algas.
– Cometi um erro, Julie – declarou. Manteve-se em silêncio. –
Tenho saudades de ti. Todos os dias sinto saudades tuas.
Olhou na direção do rio. Fora ali que, ao longo de várias noites, se
tinham sentado à conversa durante horas a fio, em silêncio durante
horas a fio, fora ali que haviam trocado beijos e gargalhadas. Ela
ensinava-lhe palavras francesas, ele fazia troça de cada uma delas
antes de as decorar. Em troca, ela tentava imitar o português até
ele, com um beijo, a obrigar a ficar calada. Tinham ali ficado
sentados, de braço dado, felizes.
Samira fora um resultado dessas conversas. Na língua árabe, o
significado de Samira era esse: amigos que conversam à noite.
– Sempre pensei que fôssemos viver tudo isto juntos: ver como
Samira vai crescendo, sabes, e como esta noite a Lua brilha. Que
ficaríamos os dois escandalizados com a subida do preço do pão e
que teríamos de ir ao sapateiro encomendar sapatos novos para
Samira, porque uma vez mais os pés dela cresceram demasiado.
Pensei que fosses aqui estar. Ao meu lado. Até que ambos
tivéssemos os cabelos grisalhos.
O melhor seria que ele tratasse de levar Samira, de a pôr em
segurança, não só a ela como a si mesmo, e viverem os dois
algures, em tranquilidade. Os desejos de vingança não eram bons
conselheiros. Ele era pai, era responsável pela pequenina! Teriam
de ser outros a ocupar-se de Malagrida. Também a origem dos
tremores de terra acabaria por ser investigada por alguém.
Antero recordou o dia em que Julie e ele se haviam conhecido.
Fora também junto ao rio, nos bancos existentes nas imediações do
palácio. Sobre as águas iam-se cruzando os navios e o céu estava
tão limpo que era possível distinguir claramente a outra margem do
Tejo, à distância, os montes desenhavam-se no horizonte como
delicadas sombras.
Ele sentara-se num dos bancos, para refletir sobre o problema da
agulha de Buffon, acerca do qual tinha lido: numa folha de papel
desenhavam-se várias retas paralelas, cuja distância umas das
outras seria igual ao comprimento de duas agulhas. Depois
colocava-se a folha sobre o chão e lançava-se a agulha para cima
da folha, tratando-se de observar se aquela tocava ou se
atravessava sobre uma das retas. Deveria anotar-se o resultado e
repetir o lançamento. Ao efectuar mil novecentos e oitenta e cinco
lançamentos a agulha acertava sobre uma das linhas seiscentas e
noventa e oito vezes, sendo, por isso, a frequência relativa o
resultado da divisão do segundo número pelo primeiro, ou seja,
0,357. Se se dividisse dois por um menos 0,357, o resultado seria
3,11, e se o número de lançamentos fosse ainda maior seria 3,1416,
o valor de pi. Mas porquê?
Ao respirar ar fresco esperava conseguir ter boas ideias. Pegou
num dos três livros de matemática que trouxera emprestados da
biblioteca dos Jesuítas, mas estava a ter dificuldades em concentrar
neles os seus pensamentos. Levantou o olhar e pestanejou. A luz
do Sol fazia as folhas da amendoeira cintilarem como se fossem
moedas de cobre. No banco vizinho, estava sentada uma jovem a
ler. Bocejou e, ao fazê-lo, cobriu a boca e o nariz. Uma imagem
arrebatadora.
Quando se deu conta de que ele a observava, ela afastou a mão
e riu-se envergonhada.
– Está a vigiar-me?
– Não – respondeu ele, virando a cara.
Passados alguns instantes voltou a olhar para ela e, precisamente
nesse momento, ela ergueu a cabeça e também o olhou.
– Que está a ler? – perguntou ele, esperando que ela não
conseguisse aperceber-se da insegurança que a sua voz revelava. –
Um romance, presumo?
– É verdade. Gosto de mergulhar numa história. Sabe, estes
disparates modernos irritam-me! A Terra está parada. É com os
meus próprios olhos que vejo o Sol a mover-se, como todos os dias
atravessa o céu de um ponta à outra. E agora toda a gente acredita
nesta parvoíce de o Sol estar parado!
Ele ficou sem saber o que dizer. Ela tinha um aspecto tão
inteligente, como poderia proferir uma tolice daquelas?
Foi então que, efusivamente, ela desatou a rir.
– Devia ver a sua cara! – riu-se novamente. – Caiu em cheio, não
foi? É claro que sei que é a Terra que anda em redor do Sol. Mas é
tão fácil conseguir assustar alguém que lê livros sobre matemática.
Então também ele teve de rir, e era de si mesmo que se ria. Ela
agradava-lhe.
– Como se chama? – perguntou ele.
– Julie.
– É francês o nome?
Ela acenou afirmativamente com a cabeça e voltou a incliná-la
sobre o livro, para retomar a leitura.
Quando ele já temia que a conversa pudesse ter terminado, ela
passou a mão esguia sobre a madeira do banco e disse:
– Adoro estes bancos. Imagine só todas as pessoas que já aqui
se sentaram, tristes ou felizes, apaixonadas ou solitárias, jovens,
velhas. O banco oferece o seu lugar a qualquer um.
– Costuma vir para aqui? – perguntou ele baixinho.
– Sim, no verão.
No dia seguinte ele colocou uma flor de laranjeira sobre o banco,
na esperança de que ela aparecesse e a guardasse. Dali a mais um
dia, voltaram a encontrar-se e conversaram durante uma hora
inteira. E assim começou: passava as noites sem conseguir pregar
olho, não parava de pensar em Julie. Perdeu o apetite, tinha a
sensação de pairar e ver o tempo, os dias a passarem ao seu lado.
Deixou de prestar atenção quando assistia às preleções, ao invés
disso aguardava com impaciência as horas passadas junto ao rio,
ao fim do dia.
Chegou a altura em que, pela primeira vez, se sentaram os dois
no mesmo banco. Foi nesse dia que ela lhe disse:
– Sou judia.
Disse-lho assim, sem mais nem menos, com uma expressão
séria, mas não como se estivesse a justificar-se ou a pedir desculpa.
– Quer dizer cristã-nova.
Os pensamentos dele aceleraram. Embora o batismo forçado dos
judeus tivesse ocorrido há trezentos anos e desde então já só
existisse gente cristã em Portugal, os casamentos entre os
chamados cristãos-novos e os cristãos eram proibidos, de modo a
que o sangue outrora judeu não se misturasse com o sangue
cristão.
– Não, judia – insistiu ela.
– Não tem medo de admiti-lo? Os espiões da Inquisição…
– Sabe perfeitamente por que razão lho digo.
Na sua cabeça sentiu de repente um enorme vazio e o gosto que
tinha na boca era amargo.
– Quem são afinal esses Portugueses, que tanto nos odeiam? –
pergunta ela por fim. – Sabe responder a isto?
Ele abanou a cabeça.
– Em tempos, os Celtas erigiram aqui uma fortificação. Depois, mil
anos antes da vinda de Cristo, chegaram os Fenícios e construíram
um entreposto comercial, que incluía estaleiros e a prática da pesca.
Depois deles vieram os Gregos e a estes seguiram-se os Romanos.
A população ofereceu-lhes resistência durante duas centenas de
anos. Por fim, porém, os Romanos dominaram toda a Península
Ibérica e cultivaram vinhas e oliveiras. O povo autóctone foi então
convertido à fé cristã – não olhava para ele enquanto ia falando e a
sua voz vacilava. – Depois dos Romanos vieram Germanos, Alanos,
Vândalos, Suevos e por fim uma invasão dos Visigodos. Trezentos
anos mais tarde foi a vez de os Mouros dominarem a península.
Permitiram que a medicina registasse grandes avanços. No século
xiii também eles foram expulsos. Desde então o povo dá a si mesmo
o nome de português.
– Conhece bem a história.
Julie virou-se para ele.
– Como podem eles falar de pureza do sangue? Que sangue
haverá afinal de ser esse que resulta de influências celtas, fenícias,
romanas e germânicas, e ainda misturado com sangue mouro? E
como podem eles querer reservar esta terra aos cristãos, se ao
longo de séculos, ela pertenceu a outros?
Sentiu-se simultaneamente comovido e extasiado pela coragem
que ela demonstrava. Desejava ficar com ele! Sem sequer refletir,
agarrou-lhe a mão. Ela permitiu-o, e assim ficaram ali sentados até
o Sol se pôr, diante de tudo e de todos, de mãos dadas, um cristão e
uma judia. Fora a diferença das almas de ambos que o arrebatara,
mas, ao mesmo tempo, também a familiaridade que os unia, o olhar
em conjunto sobre o Tejo, sobre o mundo; já naquela altura sabia
que jamais largaria Julie.
Antero virou-se para a amendoeira e observou o coração
representado na casca. Fora Julie quem ali o gravara. Ele mostrara-
se contra, por ferir a árvore. Julie, porém, dissera:
– A árvore ficará orgulhosa de ostentar o nosso coração.
Pousou o indicador sobre o tronco e seguiu o entalhe marcado na
casca.
– Julie, a nossa pequenita… ela precisa de ti. Canta-lhe, com a
tua voz suave, uma canção de embalar.
Encostou a cabeça ao tronco da árvore e chorou.
Bento acordou. Ergueu a cabeça e espetou as orelhas. Escutou a
tranquila respiração da jovem dona. Afinal, o que o acordara?
Farejou o ar. Um certo cheiro ficou-lhe impregnado no nariz. De
imediato ficou bem acordado. O mal estava no interior da casa.
Levantou-se de um salto. Nunca antes tivera aquela sensação
com tal intensidade. Com os flancos a estremecerem empurrou a
porta que conduzia ao corredor. Pôs-se à escuta. Um silêncio de
morte preenchia a casa. Não era o silêncio da noite, nem tão-pouco
o da madrugada. Era um silêncio sem vida. Esforçou-se por escutar
melhor por entre esse silêncio. Não conseguia ouvir os bichos da
madeira a carcomer as traves. Nem as formigas com o crepitante
movimento das suas perninhas pelo chão. Também não ouvia ratos
a roerem migalhas de pão. Teriam ido todos embora? Teriam fugido
do mal?
À distância uivava um cão. Juntou-se-lhe um segundo e depois
um terceiro, o da casa vizinha, que sempre o irritava. Nas suas
vozes, conseguia perceber-se o medo. Também eles haviam sentido
o cheiro. Pelos vistos, o mal espalhara-se por toda a cidade.
Bento esticou bem alto a cabeça e respondeu aos uivos dos
outros. Tinham de ir-se embora dali. Precisava de avisar a sua
matilha. Por que razão não se davam os humanos conta do mal?
Afinal eram eles que lideravam! Estavam desatentos. Não era nada
bom pertencer a uma matilha chefiada por alguém que se revelava
fraco. Agora cabia-lhe a ele liderar os outros.
Regressou ao quarto da jovem dona, agarrou a coberta com os
dentes e puxou-a para baixo. De seguida ladrou. A jovem dona tinha
dificuldade em acordar. Ladrou mais alto.
– Bento, pára! – ordenou ela.
Aproximou-se e continuou a ladrar.
Ela sentou-se na cama e, ainda ensonada, fitou-o.
A cozinheira entrou no quarto. Agarrou Bento pelo pelo do
pescoço e arrastou-o para fora. Atravessou metade da casa a puxá-
lo, até chegarem à cozinha. Aí chegados, largou-o e ralhou-lhe.
Bento olhou para a porta. A cozinheira impedia-lhe a passagem.
Se tentasse esgueirar-se por entre as pernas dela, de certeza que
esta o agarraria e depois bater-lhe-ia. Tinha de fazer com que ela
entendesse o que se passava, que estavam em perigo. Bento
mostrou os dentes e rosnou. Depois, ladrou.
A cozinheira pegou numa colher de pau e, com ela, aplicou uma
pancada no cão, que ficou chocado com a atitude. Por que razão
estaria a bater-lhe? Ficou em silêncio e olhou-a, com uma
expressão interrogativa, mas ela bateu-lhe novamente e voltou a
bater. Doía-lhe muito. Rendido, ele deitou-se no chão, mostrou-lhe a
garganta, como que a oferecer-lha, e ganiu. Ela foi buscar a corda
na qual costumava pendurar a roupa para secar. Com gestos
ásperos, atou-a em redor do seu pescoço. Deu dois nós bem fortes
e de seguida prendeu a corda ao puxador da porta.
Indignado, voltou a ladrar. Tinham de se ir embora! Por que razão
o prendia? A cozinheira não queria mesmo que ladrasse, até porque
lhe bateu novamente com a colher de pau, mas desta vez na
cabeça. A forte pancada produziu um estrondo no interior do seu
crânio. Bento ficou em silêncio.
Com um ar ameaçador, a cozinheira mostrou-lhe o dedo
indicador. Depois, foi-se embora. Bento ganiu. Sentia ainda a pele a
arder das pancadas que levara. Continuava a sentir o cheiro do mal
e não conseguia fugir. Mas a sua matilha não se apercebia do
perigo?
Não queria ficar aqui e morrer. Bento puxou a corda. Prendia-lhe o
pescoço, como se o cortasse, mas o manípulo da porta não cedia.
Puxou-a ainda mais, descreveu círculos, usou todas as suas forças.
Parou por momentos. Estava ofegante.
Talvez conseguisse morder a corda até esta se partir. Pô-la na
boca e começou a mastigá-la. As fibras sabiam-lhe a pó. Eram
duras e secas. Humedeceu-as com a saliva. Ainda assim, ofereciam
resistência aos seus dentes.
Os uivos que se ouviam pela cidade diminuíram de intensidade.
Será que também os outros cães tinham levado pancada? Ou será
que já iam a fugir, juntamente com as suas matilhas? Ele gostava da
sua matilha. Gostava sobretudo da jovem dona.
Um dos feixes entrelaçados que formavam a corda deu de si.
Bento continuou a morder. Logo a seguir, um segundo feixe
desprendeu-se. Mordeu até já só alguns fios o prenderem à porta.
Depois soltou-se com um puxão. Correu para fora da cozinha e
desceu até à porta da rua. Estava encerrada. Continuou a descer
até à cave. Havia lá uma janela estragada, tapada provisoriamente
com uma pele de cabra. Bento saltou para cima de um velho barril
de vinho vazio e farejou a pele. Já era velha e cheirava a podre.
Desceu do barril e, depois de tomar balanço, voltou a saltar para
cima deste, atirando-se de seguida contra a janela. A pele de cabra
rasgou-se. Bento foi parar à rua, nas traseiras da casa. De imediato
deu-se conta de alguns cães que passavam diante da porta da
frente. Tal como ele, estavam em fuga. Apressou-se a segui-los.
10
Durante a noite, as traseiras do Paço da Ribeira ficavam como que
abandonadas. Durante o dia eram vendidas mercadorias raras nas
arcadas, mas agora as colunas lançavam longas sombras, e reinava
o silêncio. Sob o céu estrelado, as árvores pareciam tingidas de
negro.
Antero usava o pilão para, contra as paredes do almofariz,
esmagar, triturar e misturar as limalhas de ferro com a flor de
enxofre.
– Mais luz – pediu ele.
Vasco interrompeu a conversa com os guardas reais e segurou o
lampião mais próximo.
– Obrigado.
A mistura ia assumindo um tom esverdeado, tal como fora
descrito no livro dos Jesuítas. Deitou alguma água que tinha num
púcaro para o almofariz, pôs de lado o pilão e amassou a mistura
com os dedos até obter uma massa suave.
– E como correram as coisas com «o-pai-dela-é-tu-cá-tu-lá-com-
o-rei»? – perguntou Vasco. – Ela conseguiu-te uma audiência?
– Não. Conseguirás tu arranjar-me uma?
– Desde que trabalho na biblioteca o rei esteve cá quatro vezes.
– Quer isso dizer que nem sequer sabe qual é o teu nome.
– Com o tipo de notícia que tens para lhe comunicar, deverás
ainda assim conseguir chegar junto dele, não achas?
– Agora isto vai ser perigoso – disse Antero.
Colocou cuidadosamente a massa no buraco que fora aberto no
chão. Com as mãos lançou terra para tapá-lo. Levantou-se, e com a
ponta do pé, pressionou a terra com força.
– Achas que isso vai explodir? – perguntou Vasco, arqueando as
sobrancelhas.
– Assim relata o livro. Deverá resultar numa espécie de tremor de
terra. Quando vai isso acontecer? Não faço ideia.
Antero sentia um ardor nos olhos. Só então se deu conta de como
estava cansado. Fora um longo dia. De manhã, chegara ao porto
com o Fortune. Desde essa altura que corria perigo. Andava farto de
estar constantemente em fuga e de ter de se esconder. Se havia
reunido indícios de que um tremor de terra estava para acontecer,
tinha de comunicá-lo ao rei. Mesmo sem a ajuda de Leonor,
precisava de consegui-lo.
Quanto tempo demoraria até que aquela mistura explodisse?
Alguns momentos? Horas, talvez? Dantes os relógios mais não
tinham do que os ponteiros das horas. E mesmo assim a vida corria
bem. O tempo não estava cortado em pequenas fatias, as pessoas
não se limitavam a prová-lo, comiam dele até se fartar.
Quando não havia relógios – a não ser nas torres das igrejas –
não se dava tanta atenção ao tempo. Agora, porém, as pessoas
andavam sempre em cima dele, não lhe davam descanso. Usavam
pequenos aparelhos para o medir, dividiam-no em partes mais
pequenas e controlavam-no. E eis que ele voava mais depressa.
Porventura seria bem mais agradável se o deixassem em paz.
De súbito, fez-se ouvir um estrondo. Houve terra que foi projetada
para o ar e do chão partiu uma chama que por pouco não atingiu
Antero. Vasco e a sentinela acorreram junto dele. A chama ardia,
produzindo bastante brilho.
– Conseguiste! – rejubilou Vasco. – É assim que os tremores de
terra têm origem!
Antero abanou a cabeça.
– Não. Sabemos agora que não é assim.
Vasco olhou-o, franzindo a testa.
– Que queres dizer com isso?
Apontou para a chama, que a pouco a pouco se ia apagando.
– Eis a razão. Li uma grande quantidade de relatos de tremores
de terra, mas em nenhum deles se falava de labaredas que saem do
solo. Imagina uma quantidade cem vezes maior de enxofre e
limalhas de ferro, e um terramoto que resultasse disso. Seria
impossível as labaredas passarem despercebidas. Limitámo-nos a
criar uma situação em pequena escala. Se os sismos resultassem
disto, então teria de haver enormes paredes de fogo a subirem da
terra. O enxofre deve ser apenas um fenómeno acessório, não é a
causa de um tremor.
– E o que levou então a terra a estremecer hoje?
A chama ia-se extinguindo. Um coro de vozes exaltadas
aproximava-se, bem como o brilho de archotes. Antero levantou o
olhar nessa direção.
– Eh, lá! – gritou a sentinela. – Deixem-se ficar onde estão! Não
têm nada que se aproximar do palácio!
Era um grupo de homens. Estavam vestidos com roupas simples,
muitos deles usavam camisas remendadas. Se estavam armados,
então escondiam-no bem. Vindas do portão, acorreram as outras
sentinelas. Nem sequer deveriam ter deixado passar aqueles
homens. Pelos vistos, deveriam ter-se deixado adormecer. O guarda
que estava junto de Vasco segurou ameaçadoramente a alabarda
na horizontal.
– Para trás!
– Não queremos problemas – anunciou um dos homens. – Somos
pescadores e temos uma informação para comunicar ao rei.
– O rei encontra-se na sua residência em Belém. E, fosse como
fosse, ele não vos receberia, sobretudo assim a meio da noite.
Indeciso, o homem olhou para os seus camaradas. Pigarreou.
– Aqui o Mário deu-se conta de uma coisa, e eu fui da opinião de
que devíamos comunicá-la. É o mar. Coisa assim nunca aconteceu.
– Tudo isso de certeza que pode esperar por amanhã de manhã –
comentou o guarda. – Dirijam-se à Administração das Pescas.
Antero deu um passo em frente.
– Digam lá, o que se passa?
Os pescadores olharam para ele.
– A maré não veio.
Antero estremeceu.
– Querem dizer que a maré se atrasou?
– Não, nada disso. Há duas horas que a maré deveria ter enchido.
O mar recolheu, a maré vazou e assim ficou. Talvez seja magia.
– Não é magia nenhuma – afirmou Antero. – É uma catástrofe.
Agachou-se e pousou as palmas das mãos no chão, que parecia
manter-se imóvel. Antero inclinou a cabeça até a orelha tocar no
chão e ficou a escutar. Pareceu-lhe ouvir um retumbar grave, quase
surdo.
As sentinelas e os pescadores fitavam-no.
– Já passou – disse, pousando a mão sobre o ombro de Vasco.
– Vai, salva a tua filha – disse-lhe o bibliotecário. – Entretanto vou
procurar reunir aqui mais livros para ti.
– Livros?
Vasco apontou para o buraco no chão, que ainda ardia.
– Disseste que esta não é a solução. Por isso tens de continuar à
procura. Vais precisar de livros para poder desmentir os Jesuítas.
Vem aqui ao romper do dia, traz a tua filha e uma carroça. Depois,
tratamos de levar tudo para fora da cidade.
– Não sei se teremos assim tanto tempo.
– Então, não digas mais nada, vai!
– Abandonem todos a cidade! Se dão valor à vossa vida, vão
buscar as vossas famílias e fujam para o campo.
Afastou-se dos homens e saiu dali a correr. Já não se conseguia
ver uma estrela que fosse e, por sobre os telhados, já o céu se ia
tingindo de azul. Nas traseiras do palácio virou para a direita.
Alguém estava a segui-lo. Antero não viu quem era, mas apercebeu-
se de passos à distância. Quando ele parava, também os do outro
deixavam de se ouvir. Avaliando pelo ruído dos passos, o seu
perseguidor estava sozinho, razão pela qual não parecia aventurar-
se a confrontar Antero antes da chegada de reforços.
Séneca, Aristóteles e Plínio haviam já descrito diversos tipos de
tremores de terra. Oxalá fosse apenas um estremecimento do chão,
a que chamavam tremor. Ou então um arietatio, em que a terra
abanava de um lado para o outro, como se fosse um navio.
Aquando do pulsum o solo era deslocado em altura e, quando isso
acontecia, pedras caíam ou empenas inteiras de edifícios
desmoronavam-se, o que podia revelar-se perigoso. «Oh, meu
Deus», rezou ele, «permite que não seja um brastes!» Quando
assim era, as terras eram dilaceradas por uma explosão e
arremessadas para o alto. O pior de todos os terramotos recebia o
nome de subversio. Nesse caso, os abalos destruíam tudo. Nem
sequer queria imaginar como seria uma coisa dessas.
As casas dos bairros mais pobres estavam já em mau estado.
Jamais seriam capazes de aguentar o impacte de um tremor de
terra. Olhava para as tranquilas fachadas diante das quais ia
passando. Não deveria ele bater a todas as portas e avisar os
habitantes? Havia duzentos e setenta e cinco mil habitantes em
Lisboa. Só o rei, usando as suas tropas, seria capaz de acordá-los a
todos e levá-los a sair da cidade. Antero iria, juntamente com a
pequenita, ter com o rei para o alertar.
Avançou para a Praça do Rossio. Isso dar-lhe-ia alguma
vantagem e avanço em relação a quem secretamente o seguia. Se
quisesse manter-se escondido, o perseguidor não poderia
atravessar a vasta praça logo atrás de Antero, teria de aguardar um
pouco até que o perseguido estivesse do lado de lá. À luz do
crepúsculo matutino, aquela área parecia ainda maior do que
durante o dia. Era aqui que re realizavam as touradas e as
execuções públicas, os autos-de-fé, quando a Inquisição acendia as
fogueiras. Salvo algumas exceções, como acontecera outrora.
À cabeça da praça estava o Palácio da Inquisição. O flanco leste
da mesma era ocupado pelo Hospital de Todos-os-Santos, com
quatro claustros, incluindo um grandioso jardim. Passando os arcos
de abóbada tinha-se acesso a dormitórios e refeitórios e aos
aposentos de médicos e farmacêuticos. Como seria se daqui a
pouco tempo não restasse ali pedra sobre pedra? Através de uma
janela ouviam-se débeis gemidos que enchiam o ar matinal, de resto
estava tudo em silêncio.
Junto às igrejas ficava situada a escola. Frequentara-a dia após
dia. Quando tinha seis anos fora para a pré-escola, depois para o
liceu, até ter treze anos. Haviam sido sempre os Jesuítas a ensiná-
lo. Professores afáveis, de quem ele gostava, e professores
severos, que ele temia.
Antero ficou parado. A casa do padrasto ficava a apenas duas
travessas de distância dali. Precisava de avisar a mãe. Fora boa
para ele nos seus primeiros anos de vida. Tinha-o alimentado e
consolado, e rezado com ele todas as noites. Não podia
simplesmente abandoná-la.
Num instante virou para a Rua dos Carroceiros e daí seguiu para
a Rua dos Ingleses. Mais adiante ficava a casa dos seus pais. Há
cinco anos que ali não ia. Num pau acima da porta estava hasteada
a bandeira britânica: a cruz vermelha dos Ingleses diante da cruz
diagonal branca dos Escoceses sobre um fundo azul. A bandeira
deixava bem claro quem ali mandava. Era o padrasto quem tinha a
última palavra. Não iria ser um reencontro agradável.
Para um membro da Feitoria Inglesa, a casa era um pouco
humilhante. Os outros comerciantes residiam em edifícios com
quatro alas, com torres e grandes portas, mas esta adaptara-se ao
aspecto de muitos edifícios da cidade. Dois andares agachados sob
um telhado vermelho. A fachada ia decaindo. Era impossível não se
dar conta de que os negócios do inglês não corriam bem.
Ao longe escutava-se o uivar de um cão. Os passos do
perseguidor deixaram de se ouvir. Algures mais atrás, lá estaria ele
a vigiá-lo. Antero bateu com o punho na porta. Não ficou à espera
de ouvir alguma reação do interior, continuou, ao invés disso, a
bater.
Por fim, a porta abriu-se e tornou-se percetível a iluminação
proporcionada pela chama de uma vela através da porta
entreaberta. O padrasto não estava a usar peruca. Os cabelos
castanhos pendiam-lhe desordenadamente da cabeça. Na mão
esquerda, segurava a vela, mas na direita tinha uma pistola de cano
comprido.
– Antero? – baixou a pistola. – Uma barulheira destas de manhã
tão cedo! Está visto que continuas sem saber o que são boas
maneiras!
– Tenho de falar com a minha mãe. É urgente.
– Nesse caso volta quando for de dia.
– É importante.
O padrasto semicerrou as pálpebras.
– Estiveste a beber.
– Não temos tempo para discutir – balbuciou Antero por entre
dentes. – Estou aqui para o avisar de que um tremor de terra está
iminente.
– Tomas-me por parvo? Ninguém é capaz de prever uma coisa
dessas. Não podes, passados cinco anos, aparecer-me aqui a meio
da noite a contar uma história assim.
– É o Antero? – ouviu-se alguém dizer de dentro. – Por favor,
deixa-o entrar.
O padrasto hesitou. Por fim abriu a porta, embora com relutância.
Antero entrou. De pé nas escadas, de camisa de dormir vestida,
estava a mãe. O rosto largo e carnudo tinha ainda marcas
avermelhadas deixadas pela almofada. Será que agora eles
dormiam lá em cima, onde em tempos fora o quarto dele?
Olhou para a mãe, observando-a na sua camisa de dormir.
Engordara. Não fazia a mais pequena ideia do que tinha sido a vida
dele naqueles últimos anos.
– Mãe, estou aqui porque…
– Meu filho!
Ao invés de descer os últimos degraus e de vir abraçá-lo, limitou-
se a ficar ali de pé, a fitá-lo, como se tivesse medo dele.
– Mãe, um tremor de terra ameaça Lisboa. – Ao ver o olhar cético
do padrasto, acrescentou, dirigindo-se a este: – Deu-se conta do
estremecimento de ontem? Além disso, a água dos chafarizes é
sulfurosa e acabei de ouvir pescadores a relatarem que o mar se
recolheu e que a maré não voltou a encher. Passei a noite toda na
biblioteca e li tudo o que se sabe e está escrito acerca de tremores
de terra. Tem de abandonar a cidade e tu, mãe, também!
Uma voz fininha perguntou:
– Quem é, mamã?
Virou-se naquela direção. Diante daquele que outrora fora o
quarto dos pais estavam duas meninas e um rapaz mais novo com
caracóis escuros. O menino esfregava o olho direito e, com o
esquerdo, pestanejava e olhava-o com um ar cansado. Os
pequenos deviam ser seus meios-irmãos. Magoou-o vê-los.
Recebiam o amor que a ele tinha sido negado.
– Este é o meu filho – respondeu a mãe. – O nome dele é Antero.
Nem sequer tinham falado ao pequenito da sua existência? Fora
então assim apagado das memórias da família. Bem podia ter
poupado a vinda até ali!
As crianças observavam-no com curiosidade.
De repente a porta ressoou sob a força de murros.
– Abra ou mandamos a porta abaixo! – fez-se ouvir uma voz
abafada, vinda lá de fora. De novo murros.
O menino mais novo começou a chorar.
– Abandonem Lisboa! – instou Antero. – É mesmo sério!
Já se encontrariam na porta das traseiras à espera dele. Tinha de
procurar outra saída. Apressou-se a descer pela escada que levava
à cave. Estava escuro, mas sentiu uma corrente de ar no rosto.
Deveria haver aqui uma janela aberta. Vislumbrou o céu a brilhar
através dela. A pele estava rasgada. Subiu para cima de um barril e,
pela janela, esgueirou-se para o exterior. Era a parede lateral da
casa. Ali não tinha ninguém à espera.
Ninguém poderia saber quanto tempo ainda lhe restava. Tinha de
levar Samira para fora da cidade. Antero avançou furtivamente,
encostado à parede do prédio e, junto à esquina, pôs-se à espreita.
Os esbirros discutiam com o padrasto. Agarraram nele e afastaram-
no para o lado. Foi então que a sua mãe se lançou sobre eles.
– Deixem o meu filho em paz! – gritou ela, desferindo golpes
sobre os homens a soldo dos Jesuítas que iam mais à frente.
Um deles envolveu a garganta dela com a mão e apertou.
Atemorizada, a mulher esbugalhou os olhos. Ele continuou a
agarrar-lhe o pescoço até que, já ofegante, ela se deixou cair ao
chão. Só nessa altura a largou.
Antero cerrou os punhos. A fúria fez-lhe vir lágrimas aos olhos.
Como podiam eles tratar a sua mãe daquele modo? Queria ir ajudá-
la e atirar-se aos esbirros jesuítas, pegar-lhes pelos cabelos e
arrastá-los para fora da casa. Quatro deles estavam a agarrar o
padrasto, que se debatia, e arrastaram-no para o interior.
«Malagrida», pensou Antero, «este é um pecado que vais expiar.»
11
O sol matinal aquecia as costas de Dalila. Brilhava através da
janela e incidia sobre a toalha de mesa branca e os pratos de prata.
Os copos de cristal refulgiam. Dalila mordeu a fatia de pão de trigo e
engoliu os últimos tragos do seu chocolate. Na boca, tudo isso
formou uma mistura e foi depois engolido.
Olhou para a irmã. Desde que se conhecia que se comparava a
Leonor e nessas comparações era frequente não levar a melhor:
odiava a irmã por isso, por ela ficar sempre a ganhar. Ao mesmo
tempo, porém, adorava Leonor e não desejava nada mais
intensamente do que ser tal qual como ela.
Hoje, Leonor escolhera o vestido amarelo-dourado. Talvez o seu
estivesse à altura. A seda de damasco azul ficava-lhe bem e o laço
diante do peito concentrava em si os olhares. No entanto, com o seu
penteado, Leonor estava uma vez mais em vantagem: tinha
arranjado a peruca ao estilo francês, como o faziam as senhoras na
corte portuguesa. Dalila, por sua vez, usava os caracóis a cair, ao
estilo inglês, o que era considerado bem menos elegante – e aquele
pequeno-almoço, pelo contrário, fora pensado para ser servido com
toda a elegância. Que pretendia o pai com aquela mesa tão
ricamente posta? O seu olhar deslocou-se para o estranho, um
homem que o pai convidara. Presumia que estivesse a fazer
negócios com ele.
– Agradeço-lhe este magnífico pequeno-almoço – declarou o
homem.
– Alegra-me, Dom Nicolau Fernandes, que tenha aceite o convite
para tomar o pequeno-almoço connosco – respondeu o pai.
O homem olhou na direção de Leonor e esboçou um sorriso que
denotava insegurança.
– Todos nós nos alegramos – acrescentou o pai.
Passou as mãos sobre a casaca bordada, como se tivesse de
varrer migalhas invisíveis.
Os criados apressaram-se a sair. Trouxeram travessas e pratos
fumegantes: empadas de borrego, frango grelhado, carne de peru e
língua de vaca assada. A acompanhar havia salada, musse de
laranja, trufas assadas na brasa, pudim de amêndoa. Puseram
ainda talheres adequados.
Dalila abriu o guardanapo e colocou-o sobre o peito. O pai até
mandara colocar o talher de gala! Passou discretamente o dedo
sobre o cabo do garfo que estava junto ao seu prato. Os talheres
dourados tinham as iniciais MO. Cada pequena colher, cada um dos
garfos que estavam em cima da mesa ostentava as iniciais
gravadas no cabo.
Foram servidas ao pai a língua de vaca assada e a salada.
Leonor pediu uma empada de borrego. Dalila observou o estranho.
Teria ele acabado de discretamente lhe acenar com a cabeça? Era
impossível. Estavam todos ali sentados, rígidos, com os pulsos
delicadamente apoiados sobre a mesa, não havia lugar para tais
gestos.
– Então, meu caro – começou o pai –, onde foi que viu Dalila?
Não é com muita frequência que ela sai de casa, não tanto quanto a
sua irmã; deve então ter sido uma boa oportunidade aquela em que
a encontrou.
Dalila sentiu um calor apoderar-se dela. Qual seria a intenção do
pai? Pretenderia ele casá-la com aquele estranho? Iria ele desfazer-
se dela, para a desencalhar, quereria a família ver-se livre dela?
Não podia casar-se com aquele homem. Pois se amava Antero…!
– Foi no mercado – respondeu o estranho. Corou um pouco e
olhou para Dalila. – Fui atrás de si, tinha de descobrir quem era e
onde morava.
«Não quero nada contigo!», pensou ela. Virou-se para as
sobremesas. Deveria perceber, sem sombra para dúvidas, que ela
nada queria ter a ver com ele.
– Salada – disse o pai num tom austero e a criada que estava
atrás dele inclinou-se sobre a mesa para o servir. A pele escura dos
seus braços contrastava com a brancura da toalha de mesa. Um
pouco mais baixo, ele continuou: – Ela tem os seus momentos de
obstinação, mas há de sujeitar-se – esperou até que lhe enchessem
o prato e então espetou o seu garfo na salada. – Para quando
planeia o enlace?
Dalila estava de boca aberta.
– Não sei nada a respeito deste homem! – disse ela. – Vendes-me
simplesmente assim, pai?
– Não se trata aqui de vender seja o que for – resmungou o pai –,
terás um dote bastante considerável.
– O meu nome é Nicolau – disse o estranho, olhando-a com uma
expressão apaziguadora. Os cabelos da sua peruca formavam
caracóis, que se mantinham bem junto à cabeça. – Trabalho como
arquitecto militar para o Ministério da Guerra. Projecto e construo
fortificações e torres para peças de artilharia – de seguida dirigiu-se
ao pai: – Em relação ao seu palácio, permita-me que o felicite. Devo
dizer que não guardo boa opinião dos nobres que residem em
palácios revestidos a mármore de tons rosados. Esses palácios
nada mais são do que uma criação anómala. Tem de estar
constantemente a receber os cuidados de todo um exército de
trabalhadores. O mármore vai-se fendendo e precisa, com
frequência, de ser reparado com mástique, só que esses nobres
adoram aquela fachada resplandecente, quer o material seja o mais
adequado ou não. É algo abstruso! O seu palácio, pelo contrário…
– Mástique? – interrompeu-o Leonor. – Como se faz isso?
– É uma mistura de pó de tijolo, pez e cera e são-lhe
acrescentadas cores para simular os veios do mármore.
Jamais ela, Dalila, se casaria com este homem. Preferiria entrar
para um convento ou atirar-se ao mar.
– E não o incomoda o facto de a minha irmã ser protestante? –
perguntou Leonor.
Nicolau Fernandes inspirou e estava a preparar-se para começar
a responder, mas o pai antecipou-se-lhe.
– Nesta casa somos todos protestantes. Terá de permitir à minha
filha que ela continue a praticar a sua fé.
– Seja como for, é como se metade dela já fosse católica. –
Leonor abanou a cabeça. – Martinho Lutero considerava idolatria
orar aos santos ao invés de dirigir as preces a Deus. Dalila, porém,
possui um exército inteiro deles, ao qual recorre diariamente com
pedidos de ajuda.
– Não encaramos essas questões de modo obstinado – o pai
limpou um pouco do molho da salada dos cantos da boca. – Em
certos dias, e embora sejamos protestantes, vamos à missa
católica, hoje, por exemplo, por ser Dia de Todos-os-Santos.
Enquanto nobre e, para mais, sendo um comerciante com o meu
estatuto, é conveniente ser visto, de tempos a tempos, na catedral.
Permite-me que volte a perguntar-lhe a respeito dos seus planos?
Eu próprio terei de levar a cabo alguns preparativos.
– Um matrimónio é um passo bastante sério – referiu Nicolau
Fernandes. – Gostaria primeiro de conversar a respeito disto com o
meu patrão, Sebastião de Carvalho. Para mim, muito depende da
boa vontade e dos bons olhos com que o ministro vir este enlace.
– É evidente que sim, eu entendo. Vai ver que ele se mostrará
sobremaneira satisfeito em relação à minha família. Muito embora
as relações que estabeleci com Sua Majestade, Dom José, sejam
melhores do que as que tenho com o seu ministro da Guerra.
O estranho estremeceu. Claro, no que dizia respeito aos
mecanismos de poder do Reino o pai dela sabia movimentar-se. No
modo como sublinhara as suas palavras subentendera-se uma
espécie de aviso. Os seus olhos avermelhados, cobertos de
finíssimos vasos sanguíneos, estavam firmemente fixados nele.
– Não pretendo de modo algum que a minha ponderação seja
interpretada como ofensiva, senhor barão – disse Nicolau
Fernandes.
– Sabe, têm sido muitos os que se esforçam por ganhar a
simpatia das minhas filhas. A nossa riqueza não passa
despercebida e as raparigas são um deleite para os olhos. No
entanto, se sente algumas reticências… Não pretendo de modo
algum persuadi-lo seja do que for.
Dalila lançou o seu guardanapo sobre o prato e levantou-se.
Olhou para o estranho.
– Pretende casar e entrar para uma família em que as pessoas
não conversam umas com as outras? Sim? É isso que quer? O meu
pai nada me disse a seu respeito. E a Leonor anda a encontrar-se
com um contrabandista.
O pai virou a cabeça na direção de Leonor.
– Um contrabandista?
– Ele não é contrabandista – Leonor olhou para Dalila com toda a
calma, como se nada fosse. – A Dalila está a mentir.
– Leonor – admoestou o pai –, espero bem que sim. Essa gente
rouba o que é nosso! Dão cabo do nosso negócio!
Também Nicolau Fernandes se levantou. Empurrou a cadeira para
junto da mesa e fez uma vénia.
– Minhas caras senhoras, meu caro barão, a cortesia obriga a que
me retire. É Dia de Todos-os-Santos, há de querer preparar-se para
a ida à igreja. Agradeço o seu convite e – olhando para Dalila –
aguardo com alegria um breve reencontro.
Uma delgada nuvem, que se estendia, a todo o seu comprimento
como que em linha reta, estava patente no céu. Não se viam
pássaros em lado algum, nem nas copas das árvores, nem tão-
pouco sobre os telhados. As vergas dos navios estavam
despovoadas. Sobre as ondas do Tejo nem uma única gaivota se
deixava embalar. As vagas, porém, começaram de repente a
embater com grande força no cais, era como se uma tempestade se
anunciasse.
Só que não soprava uma brisa, por pequena que fosse.
Era sábado, dia 1 de novembro do ano de 1755. Tal como todos
os anos, por ser Dia de Todos-os-Santos, a população acorria às
igrejas, diante de cujas portas se formavam grupos de senhoras
bem vestidas. As crianças provocavam-se umas às outras e eram
repreendidas pelos respetivos pais. A cada passo que davam, os
anciães apoiavam-se nas suas bengalas e ficavam de cabeça caída.
Os nobres chegavam nos seus coches.
Antero deu-se conta de um ajuntamento de pessoas diante de um
chafariz.
– Está a borbulhar! – exclamou alguém. – A água parece ferver!
Assustou-se. Não tinha conseguido despachar-se tanto quanto
esperara. Por diversas vezes, tivera de se esconder, em escadas e
pátios interiores, dos soldados que andavam em patrulha.
– Abandonem a cidade! – gritou ele. – Todos vocês, têm todos de
fugir daqui!
Já não faltava muito até chegar junto de Samira, mas indo buscá-
la já não teria tempo para chegar junto do rei, pois Belém ficava
para lá dos limites de Lisboa. Ainda assim, alguém teria de avisar a
população da cidade. Olhou em redor. O Ministério da Guerra!
Talvez conseguisse apanhar o ministro da Guerra a caminho da
igreja. É certo que ele não tinha a mesma autoridade do que o rei,
mas usando a tropa poderia mandar evacuar a população de
Lisboa.
Antero olhou para cima, para o edifício do ministério. O para-raios
ali instalado ligava o telhado ao chão. Iluminadas pela luz do Sol, as
janelas brilhavam, tinham sido limpas havia pouco. Antero bateu à
porta. Um jovem veio abrir a porta, com as mãos sujas de tinta.
– O que deseja? – perguntou.
– Pretendo falar com o ministro, Dom Sebastião de Carvalho.
O olhar do jovem percorreu-o de cima a baixo.
– Sem aviso prévio isso é impossível. Quem é o senhor, se me
permite a pergunta?
Claro, com aquelas roupas andrajosas não tinha o aspecto de
alguém que fosse ser recebido pelo ministro. Nem sequer trazia
uma peruca empoeirada.
– Será que ele ainda aqui está? Ou será que já se dirigiu para a
igreja? Sou cientista e descobri uma coisa. O ministro deverá ter
imediatamente conhecimento disso. É algo decisivo para este país.
– Não estou a ver máquina alguma, nem quaisquer planos.
Antero tocou com a ponta do dedo na testa.
– Está tudo aqui dentro. É segredo – dirigiu um olhar penetrante
ao jovem. – Não pode ter noção da magnitude disto. Sou português,
razão pela qual me dirigi aqui em primeiro lugar. Se não quiserem
saber disto, vou ter com os Espanhóis ou com os Ingleses.
O jovem hesitou. Por fim, disse:
– Vou comunicar que está aqui, mas não lhe posso prometer que
irá ser recebido.
Abriu-lhe a porta. Antero entrou.
– Quer dizer que ele está aqui?
– Siga-me, por favor.
À esquerda e à direita da escadaria branca havia pedaços de
pedras e de cristais guardados em vitrinas e, diante de uma dessas
amostras via-se um pedaço de papel cuidadosamente escrito, que
identificava o material em causa. O ministro prezava as ciências
naturais. Isso era bom sinal.
O jovem conduziu Antero escada acima. A meio de uma parede
estava pendurado um espelho, cuja moldura era feita de uma
carapaça de tartaruga que havia sido dourada. De cada um dos
lados do espelho, viam-se pequenos armários indianos de madeira
negra polida.
Dirigiram-se para a direita e entraram numa antecâmara, onde
havia cadeirões estofados de veludo vermelho junto às paredes.
Sentados neles estavam dois homens que conversavam num tom
abafado.
– O senhor ministro está neste momento reunido com o secretário
de Estado Coutinho. Logo que a reunião termine, tratarei de
informá-lo da sua presença – disse o jovem.
– Não posso esperar tanto tempo assim.
O jovem franziu a testa.
– É um assunto da maior importância. Centenas de vidas
humanas dependem do facto de conseguirmos agir depressa.
– Como queira. O senhor ministro com certeza não apreciará o
facto de, por sua causa, eu ir incomodá-lo, o que em nada
beneficiará o seu objetivo.
Avançou até uma grande porta e acionou o manípulo tão
lentamente que parecia preparar-se para entrar na jaula de um leão
adormecido. Esgueirou-se para o interior e fechou a porta atrás de
si.
Um dos homens que esperavam, cujos cabelos da peruca
estavam enrolados em caracóis dispostos em redor do seu rosto
pálido, como se cada um deles ali tivesse sido colocado
individualmente, disse em voz baixa para o outro, sentado ao seu
lado:
– Sem querer desfazer no consolo que me dispensa, meu velho
amigo, mas que faria se a mulher com que pretende casar o não
quisesse? Ainda assim desposá-la-ia?
Deveria já há muito estar a tratar de pôr Samira a salvo. Que fazia
ele ainda aqui? Antero avançou até junto da porta do gabinete.
Quando o funcionário dali saísse e lhe dissesse que o ministro não
queria recebê-lo, empurrá-lo-ia para o lado e entraria no gabinete
mesmo sem a isso ser convidado.
– Sabe – continuou o homem a falar –, estive mesmo agora a
tomar o pequeno-almoço em casa dela. O pai ficou satisfeito com a
minha proposta. Ela, por seu turno, não se mostrou nada assim.
Outrora, dir-se-ia a propósito disto que o amor acabará por
aparecer. Comece por fazer-se o casamento e logo cada um
aprenderá a ajustar-se ao outro e a amá-lo. Hoje em dia, porém,
muitos encaram o amor como um pré-requisito para um bom
matrimónio, não é verdade? Se me casar com aquela coisinha
bonita contra a sua vontade, há de ela tomar-me por um monstro.
Na rua, lá fora, os coches passavam e faziam-se ouvir.
Dezenas e dezenas deles.
Ou então…
… não eram coches.
Lançou-se ao chão e tateou-o. O edifício estremecia. Antero
ergueu-se e abriu energicamente a porta do gabinete. Não estava
ninguém nessa sala. Havia três portas que dali davam acesso a
outras salas. O ministro e secretário de Estado haviam-se retirado
para alguma delas.
Tinha imediatamente de ir ter com Samira.
– Escute – disse ele, já na antecâmara, para o homem que se
queixava de desgostos de amor –, eu sou um cientista. Não tardará
a ocorrer um tremor de terra terrível. Estou aqui para avisar o
ministro, só que não posso esperar mais tempo. Percorra o edifício
e trate de procurá-lo! Não deixe que ninguém o demova, está a
ouvir? Diga-lhe que foi Antero Moreira de Mendonça quem o
informou, ele que mande tocar os sinos como num aviso de
tempestade!
– Um tremor de terra?
Então, como se barris de pólvora tivessem explodido, ouviu-se um
estrondo e ocorreu uma forte sacudidela. Antero olhou para o teto.
Fragmentos de reboco caíram e o pó tapou-lhe os olhos. Pestanejou
e passou a mão pelo rosto para limpá-lo. Lá fora, as pessoas
gritavam em pânico. O chão, porém, estava de novo imóvel, já não
estremecia.
– Vá! – instou ele e apressou-se a sair da antecâmara na direção
da escadaria branca.
Chegou junto do espelho e dos armários indianos. Então o
ribombar regressou. O chão tremeu, e foi então que um gigante por
três vezes bateu com o seu enorme punho sobre a Terra, o que fez
com que Antero desse involuntariamente um salto. Choveram
pedras do teto. Avançou escada abaixo aos tropeções. Samira!
Tinha de ir salvar a sua filha, de retirá-la do interior da casa onde
estava.
Ao fundo da escadaria foi deitado ao chão, que oscilava sob os
seus pés. O ruído dos desabamentos acompanhou Antero enquanto
este rastejava até à saída. As suas costas foram atingidas por
algumas pancadas fortes. Levou lá as mãos e sentiu o sangue.
Na rua, por todo o lado os prédios ruíam. Os telhados davam de
si. As paredes caíam. O barulho era ensurdecedor. As pessoas
fugiam do interior das casas, com as mãos agarravam pequenas
figuras de santos, pressionavam-nas contra o peito e, com rostos
desfigurados pelo medo, suplicavam por misericórdia. Algumas
delas lançavam-se dos andares superiores dos edifícios que se
desmoronavam, caíam na rua e aí ficavam, de pernas partidas.
Junto a Antero estava uma senhora gorda, que, de gatas, se
arrastava pela rua. Ia gemendo. De um muro caiu um bloco de
pedra que lhe esmagou a cabeça. Outras pedras ainda aterraram
nas suas costas.
Antero esforçou-se por se pôr de pé. Avançou, arrastando-se a
custo pelo meio da rua em direção ao Palácio Oldenberg. Uma
nuvem de pó envolvia tudo. Voltou a ser atirado ao chão pelo
estremecimento do solo. Em seu redor, as casas baloiçavam, como
se mais não fossem do que um campo de milho ao vento. Uma
parede abateu-se sobre ele.
Tomado pela dor, começou, por diante dos olhos, a ver tudo
vermelho, e depois já só negro. O retumbar foi ficando mais
distante. «Não!», implorou. Não podia perder os sentidos, tinha de
continuar, para salvar Samira.
Pestanejou. Com pouca nitidez captou a imagem das pessoas
que fugiam.
– Socorro – berrou. Aquele ali não era o homem que vira na
antecâmara do ministro? – Ajude-me, estou aqui preso!
O homem virou-se para ele. Inclinou-se e gritou:
– Está debaixo de um monte de escombros.
Antero estendeu a sua mão na direção dele.
– Puxe-me para fora daqui!
O homem agarrou na mão dele e puxou.
– Lamento – disse, largando-o de seguida. – Não consigo fazer
nada. – Virou-se e fugiu dali a correr.
Na cabeça de Antero girava um turbilhão. Em redor dele tudo
ficou negro.
Devido ao ribombante ruído e aos gritos de medo das pessoas, era
difícil entender o que o padre dizia. Falava agora muito alto, as suas
palavras ecoavam pela catedral: «Gaudeamus omnes in Deo.»
Leonor olhou em redor. A igreja estava completamente lotada, mas
ninguém escutava já o que o padre dizia. Amedrontados, escutaram
o barulho proveniente do exterior.
Estariam a ser disparados canhões? Teria sido o porto atacado?
Leonor tocou no ombro do pai.
– Quem poderia atacar-nos? – perguntou ela.
O pai olhou-a com uma expressão sombria.
– Isto não me agrada. Há aqui qualquer coisa que não está bem.
Então a enorme igreja de mármore recebeu subitamente um
impulso na vertical. Oscilou como um navio no alto mar, em plena
tempestade. As pessoas desataram a gritar. Levantaram-se de um
salto e de imediato foram deitadas ao chão por fortes sacudidelas.
Da cúpula soltaram-se pedras que ruidosamente, diante dos olhos
de Leonor, se abateram sobre homens e mulheres. Leonor foi
agarrada pelo pai, que a puxou na direção da saída da igreja.
– Para a porta! – gritou ela. – Temos de fugir!
Contudo, o pai não a largou. Impediu-a de desatar a correr.
Toda a gente se dirigia para a porta, as pessoas trepavam umas
por cima das outras, empurravam-se e rompiam por entre os
demais, sempre em frente, rumo à saída. O pai mantinha-se
inflexível. Arrastou Leonor até à parede lateral. Foi então que ela
entendeu o plano dele. Segurou numa pedra que se encontrava
junto a alguém que fora derrubado. Estava ensopada de sangue.
Partiu o vitral da igreja. Também o pai segurou noutra pedra, que
usou em redor do caixilho para retirar os estilhaços de vidro que aí
se mantinham presos.
– Sobe para aí – ordenou ele e ofereceu-lhe as palmas das suas
mãos, com os dedos entrecruzados. Quando Leonor assentou um
pé nas mãos do pai, este fê-la subir até junto do caixilho do vitral. Já
lá em cima, ela deu-lhe a mão e ajudou-o a trepar. Nunca teria
julgado que o pai fosse capaz de alcançar uma altura daquelas. A
verdade é que o conseguira. Atrás dele, o pó formava uma nuvem e
choviam pedras que depois formavam montes de escombros. Os
gritos daqueles que morriam chegavam até ao exterior da catedral.
Leonor permaneceu acocorada no parapeito, enquanto o pai já
saltava para o exterior.
– Anda daí! – disse ele.
Ela virou a cabeça e gritou para o interior da igreja e para a
balbúrdia que por lá reinava:
– Por aqui! Por aqui pode-se sair!
– Desce já daí, imediatamente! – ordenou-lhe o pai. – Temos de ir
para os armazéns e ver aquilo que conseguimos salvar.
Um rapaz, teria talvez dez ou onze anos, correu na direção dela a
chorar. Um forte abalo roubou-lhe o equilíbrio, mas continuou a
rastejar e conseguiu chegar à janela. Leonor estendeu-lhe as mãos.
Ajudou-o a subir e içou-o de modo a transpor o caixilho com os
afiados estilhaços de vidro que restavam. Ainda assim, fez um golpe
numa perna, do qual brotou sangue. Leonor fê-lo descer para o lado
exterior.
O pai tinha desaparecido. Ser-lhe-iam as pessoas indiferentes?
Só pensava nos seus bens, de resto mais nada lhe interessava, pelo
menos era o que parecia. Leonor voltou a olhar para o interior da
igreja. Por todo o lado havia cadáveres e escombros e, pelo meio,
pessoas que, de gatas, se arrastavam de um lado para o outro.
– Para aqui! – voltou ela a gritar.
É claro que também ela tinha esperança de que o palácio ainda
permanecesse de pé e de que os seus produtos de cosmética ainda
es-tivessem a salvo, que não tivessem caído da mesa, e de que o
espelho continuasse…
Dalila.
Se acontecesse alguma coisa a Dalila, seria unicamente ela,
Leonor, a culpada.
A Terra despertara do seu sono de milhares de anos. Revolvia-se,
para cima e para baixo. Em África, esmagou mesquitas e sinagogas.
As casas de Agadir e Rabat desmoronaram-se. Argel estremeceu e
ruiu.
Na distante cidade de Falun, a milhares de milhas de distância, os
Suecos aperceberam-se da fúria que no solo se fazia sentir. De
repente, os rios da Suíça encheram-se de lama. O lago Neuchâtel
galgou as margens. A França estremeceu. Os Alemães ouviram um
retumbar ao longe, como se de uma guerra se tratasse. Na Escócia
e no País de Gales, as colinas tremeram.
Em Lisboa, porém, a Terra escancarou as goelas. Devorou trinta
mil pessoas. Desfez as frágeis paredes das casas e destruiu
palácios, como se mais não fossem do que cabanas feitas de
fósforos. Sacudiu mosteiros. Esmagou as residências de
comerciantes.
A crosta terrestre estoirou. Um bafo quente ascendeu das
profundezas. Pedras derreteram-se. Árvores fenderam-se, portões
de ferro forjado entortaram-se. As pinturas de Rubens e de Ticiano
nada despertavam à Terra a não ser indiferença, foram por ela
atiradas para o fogo. Valiosa loiça chinesa ficou feita em pedaços.
No Paço de Bragança, a terra esmagou as joias da Coroa.
Do aqueduto, alguma da cantaria caiu de duzentos e noventa e
seis palmos de altura e veio parar às águas da ribeira de Alcântara.
As mesas de bilhar dos cafés foram esmagadas, como se mais não
fossem do que cartas de jogar. As respetivas bolas rolaram pelo
chão e desapareceram nas profundezas das fissuras.
As figuras de santos nas capelas laterais das igrejas caíram dos
pedestais. As fendas que se abriram no chão engoliram as riquezas
de Lisboa: marfim, ouro, pedras preciosas. No arquivo real, a
história de Portugal foi consumida pelas chamas. As cartas
marítimas ficaram reduzidas a cinzas.
As casas oscilavam como varas de vimeiro. Depois, as paredes
deram de si e as vigas de madeira racharam-se. As pedras dos
edifícios caíram nas ruas, já densamente repletas de pessoas. As
casas enterraram vivos os seus habitantes.
O pó encheu as bocas dos que gritavam, silenciando-as. Os que
sucumbiram amontoavam-se nas estreitas ruas, uns sobre os
outros, mortos pelas pancadas que os fragmentos da cantaria neles
desferiam, sufocados pelo fumo, carbonizados, esmagados,
calcados contra o chão. Um fumo negro espalhou-se pelos pátios e
envolveu os sobreviventes, até lhes faltar o fôlego. A Terra destruía
a grandiosa cidade de Lisboa e reclamava o sacrifício dos seus
filhos.
12
O carrasco colocou-lhe a corda em redor do pescoço e disse: –
Misturou sangue cristão com sangue judeu ao gerar uma criança
com a judia Durré. Desse modo, violou as leis sobre a pureza do
sangue. Tal como Julie Durré, a pena a aplicar será a morte.
A multidão grita. A berraria soa-lhe como uma avalanche de
pedras. Por baixo dos seus pés abre-se uma portinhola. Sente-se a
cair. A corda aperta-se em redor do seu pescoço. Ele sufoca,
esperneia e dá pontapés no ar. Ao mesmo tempo, há algo pesado
que comprime o seu peito. Antero esbugalhou os olhos.
Não havia ali nenhum carrasco. Mas por que razão continuava a
sentir-se estrangulado? Donde vinha aquele peso sobre o seu
peito? Havia pó por todo o lado. Antero estava deitado no chão, de
barriga para baixo. Um peso de toneladas jazia, imóvel, sobre as
suas costas e fazia uma pressão tal que lhe diminuía a capacidade
de respirar. Um bloco de pedra. Fincou bem os braços no chão e
tentou erguer o tronco. O peso da pedra não lho permitia.
O terramoto.
– Socorro! – gritou, e desatou a tossir. – Socorro!
Sendo uma alemã protestante, a cozinheira responsável por
Samira não teria ido à igreja naquele manhã do Dia de Todos-os-
Santos. No palácio do barão, Samira poderia ter sobrevivido e, tal
como ele, estar soterrada. Ou então vaguearia pela cidade ferida,
indefesa e amedrontada, a chamar por ele. Nunca como agora
precisara ela tanto do seu pai.
Voltou a retesar os músculos. Tratou de reunir tudo o que lhe
restava em termos de vida e de forças, concentrando-o naquele
momento de esforço. Fez força contra o chão até ficar com os
braços a doer. A pedra moveu-se. Agora não podia ceder. Fazia
inspirações breves e tentava erguê-la e desequilibrá-la para o lado.
No entanto, antes mesmo de ter conseguido alcançar metade do
que pretendia, perdeu as forças no braço esquerdo. Temendo a
morte, Antero fincou bem o braço direito no chão. O bloco de pedra
resvalou. Esfolou-lhe as costas, provocou-lhe escoriações na pele,
parou por instantes, resvalou novamente. Antero soltou um gemido
de dor. O braço tremia-lhe. Então a pedra imobilizou-se no chão, já
ao seu lado. Ouviu-se a areia ser esmagada debaixo dela.
Antero respirou. Sentiu o sabor do pó. O suor e o sangue
escorriam-lhe pelas axilas e pelo tronco. Tentou ver se conseguia
distinguir alguma coisa. Vindo de algures, um pálido raio de luz
logrou penetrar naquele inferno de pó. Debaixo dele, o chão
continuava a produzir um ruído retumbante. Tinha de sair dali.
Virou mais a cabeça. Era de acolá que vinha a luz. Uma nuvem
de pó foi soprada de encontro a ele. Antero rastejou até junto da luz.
Teve de apoiar os cotovelos no chão duro e irregular, e o seu peito
ia roçando pelas arestas das pedras por ali espalhadas.
Chegou junto de um buraco que, no meio do monte de
escombros, não tinha um tamanho maior do que o de um pulso.
– Está aí alguém? – chamou ele. Esticou o braço até fora do
buraco. – Ajudem-me, estou aqui preso!
Uma sacudidela percorreu aqueles escombros. Uma vez mais,
reboco caiu-lhe sobre os cabelos. Lá fora continuava a estrondear.
Recolheu rapidamente o braço e tentou espreitar para o exterior. Se
ao menos não houvesse todo aquele pó! Antero retirou algumas
pedras mais pequenas da abertura e fez com que rolassem para
trás de si. Ia retirando cada vez mais pedras da fenda. O buraco ia-
se tornando cada vez maior e ele conseguiu passar ambos os
braços através dele. Com a ajuda dos joelhos, impelia o corpo para
a frente. Por fim, logrou passar a cabeça para o exterior. A apertada
abertura comprimia-lhe a caixa torácica, mas, se conseguisse
empurrar com bastante força, talvez bastasse para ele se libertar.
As arestas de pedra esfolavam-lhe a pele. Empurrava, arquejava,
esperneava. Apoiou-se nos escombros e tentou levantar o tronco.
Conseguiu soltar as pernas. Antero desceu do monte de destroços.
A rua estava repleta de pedras. Eram poucas as casas que ainda se
mantinham de pé. Entre as ruínas havia pessoas mortas, ali
abandonadas como se fossem meros bonecos. Viu algures uma
mulher a chorar. Do interior de um monte de destroços, uma cabra
conseguira fazer sair a cabeça e as patas posteriores. Soltava
balidos transtornados e debatia-se.
Tentou encontrar um caminho por entre os escombros. A cada
passo que dava, doía-lhe a perna direita, arrastava-a com
dificuldade. Era por fixar os seus pensamentos em Samira que
conseguia avançar, muito embora o corpo lhe ardesse como se
queimado pelo fogo. Por todo o lado, todos aqueles cadáveres!
Fitavam-no com um olhar indiferente, os membros torcidos e
desarticulados.
«Samira está viva», dizia para si mesmo. «Está viva.»
E, no entanto, os seus olhos procuravam o seu pequeno corpo
por entre os mortos. Uma vez mais falhara, pela segunda vez a
pessoa que mais amava era-lhe arrancada das mãos, por ele não
ter estado onde devia. Não cumprira a tarefa que lhe cabia. Afinal
era ele o responsável pela pequenita! Que lhe iria Julie dizer quando
se reencontrassem na vida eterna, como iria ela olhá-lo a direito,
depois de saber qual o fim de Samira e que ele não estivera lá
presente para a defender?
Como se viesse de longe, ouviu-se um ribombar. Eram estrondos
subterrâneos. Antero foi lançado ao chão. Aterrou violentamente.
Aterrorizado, viu como o solo se deslocava por força das
sacudidelas e dos estremecimentos e perto dele abriu-se uma
enorme racha. E de novo uma forte pancada. Pedras caíram para o
interior da racha. Antero viu-as desaparecerem naquela bocejante
bocarra. Rastejou de gatas para longe, tão rapidamente quanto a
perna ferida lho permitia. Não havia maneira de o tremor terminar.
Queria arrancá-lo e levá-lo consigo para as profundezas.
E se aquilo não fosse terramoto nenhum? Seria antes o Juízo
Final, o fim do mundo? Todos os justos haviam já sido arrebanhados
para junto de Jesus Cristo, para o Céu, onde reinava o riso, a
felicidade, a paz. Só ele e as outras almas perdidas e errantes
rastejavam ainda pela Terra destruída.
No meio dos escombros havia incêndios. As chamas consumiam
as roupas, as cortinas e reposteiros, os móveis, as pinturas. Um
grupo de aspecto intimidado veio ao seu encontro. Haviam dado as
mãos uns aos outros, eram só crianças e adolescentes. No meio
deles seguia uma menina nobre com um vestido de damasco verde,
que parecia liderar o grupo. Metade da bainha do vestido estava
rasgada e pendia. O seu rosto, porém, era o de um anjo em missão
de ajuda no meio de uma catástrofe. Se um ser humano como ela
ainda por ali andava, então não podia ser o Dia do Juízo Final. Com
certeza que ela não se contava entre as almas perdidas.
– Vão para a praça do mercado! – berrou ele por cima do barulho
que reinava. – Fujam para campo aberto!
A menina acenou com a cabeça, em jeito de agradecimento, e
prosseguiu com o grupo de crianças, que iam choramingando.
Leonor ouvia gritos de socorro vindos dos destroços. No entanto,
continuou a caminhar apressadamente. Em redor dela havia
homens com os ventres rasgados, mulheres com membros
esmagados, crianças que gritavam. De cada vez que via alguém
assim, ficava convencida de ter visto Dalila entre os mortos.
Dalila ficara em casa. Não havia pronunciado uma palavra que
fosse desde o pequeno-almoço. Só quando Leonor lhe perguntou se
ela não os acompanharia à igreja é que esta lhe respondeu que
ficaria junto de Samira.
– Mas ainda cá estás quando voltarmos? – perguntara-lhe Leonor.
Dalila encolhera os ombros.
Não deveria ter incitado Nicolau Fernandes em relação à irmã,
mas o certo é que Dalila tinha começado a apaixonar-se por Antero,
o único homem, entre os seus admiradores, em quem ela estava
realmente interessada. Ao longo das últimas semanas ela
comportara-se de modo estranho, próprio de quem está enamorada.
Já pouco comia, à noite eram longas as horas que a luz se mantinha
acesa no seu quarto, e quando Antero lá ia a casa, pior ainda, a
irmã fitava-o o tempo todo ou então ficava a chorar na sala contígua,
enquanto eles os dois conversavam. As coisas não poderiam
continuar daquela maneira!
Há muito que o arquiteto andava a tentar conquistar os favores
dela, Leonor. E, de aspecto, Dalila era tal qual ela. Não fora
necessário mais do que rejeitar definitivamente Nicolau Fernandes,
indicando, no entanto, que a sua irmã gémea estaria disponível.
Que a notícia de um casamento forçado iria abalar bastante a sua
irmã era algo perfeitamente previsível. Agora o facto de a terra se
abrir em dois, logo naquele dia em que Dalila se deixara ficar em
casa, isso era algo que ninguém poderia ter previsto!
Leonor limpou o pó do rosto. Estava molhado. Devia ter
começado a chorar, mesmo sem dar por isso. «Estás a ver», pensou
ela, «agora já estou a chorar por causa de ti, minha irmã parva.» Iria
fazer Dalila pagar aquilo bem caro. Até lhe deveria ficar agradecida
por ir receber de mão beijada um homem como Nicolau, logo ela,
que era tão desajeitada naqueles assuntos. Leonor entregara-lho,
para mais um homem que se dedicara inteiramente a ela.
Havia mulheres que, diante de casas arrasadas, andavam de um
lado para o outro e, em desespero, chamavam pelos nomes dos
seus familiares. Havia homens que tentavam combater as chamas
que se erguiam das ruínas em enormes labaredas. Havias burros
que zurravam e cavalos feridos, que, desorientados, reviravam os
olhos.
Os sismos recomeçaram. E de novo voltava a reinar a confusão.
Os pais perdiam o equilíbrio. As crianças caíam ao chão, as paredes
eram destruídas, chafarizes, armazéns e casas de habitação
ficavam destroçados.
Leonor esperou por uma breve interrupção entre os abalos para
conseguir continuar a avançar. Onde estava a sua casa? Deveria
estar ali, a meia altura daquela encosta. Ergueu-se do chão e fixou o
olhar nas imediações.
Berrou bem alto o nome de Dalila. Correu até junto dos
escombros. Deteve-se à beira daquele amontoado de pedras. Onde
estavam todos? Com certeza tinham fugido com medo do terramoto.
Deviam tê-lo feito.
– Dalila! – chamou.
De todo o lado vieram, como resposta, as lamentações de feridos
que gemiam. Leonor olhou para baixo. Aos seus pés viu os
contornos de um ombro negro e uma cabeça coberta com cabelo
crespo. O resto do corpo encontrava-se coberto por pedaços de
entulho. Acocorou-se.
– Jerónimo? – tocou-lhe na cabeça e viu que tinha sangue.
Abanou o ombro do ferido. – Jerónimo!
Um gemido. Jerónimo mexeu-se. Foi a custo que se ergueu. Das
suas costas caíram pedras para o chão.
– Menina Leonor. Devo ter caído ao chão. A minha cabeça –
tocou nas fontes e de seguida olhou em redor. – Oh, Deus. O
palácio!
– Quem estava lá dentro quando a casa se desmoronou? –
perguntou ela.
– Não sei. A cozinheira descascava maçãs. Eu depenava um galo
silvestre. Para o almoço – levantou as mãos. Ainda tinha alguma
penugem lá colada. – A pequenita estava a tomar banho. Acho que
a sua irmã, a menina Dalila... – olhou para os escombros. – Ela
estava junto da Samira.
Leonor sentiu um arrepio.
– Vais ajudar-me. Vamos afastar as pedras.
Subiu para o monte de destroços e de lá ergueu uma pedra.
Arrastou-a, empurrou-a, e ela foi parar lá abaixo. Jerónimo imitou-a.
Voltou a subir e ergueu nova pedra. Iria tirá-las todas, uma a uma.
Não descansaria até que a última dali tivesse sido removida.
Na sua mente, imaginava cenários terríveis. Via-se a si mesma a
levantar parte daqueles destroços, e por baixo surgir o rosto de
Dalila, imóvel e empalidecido, os olhos esbugalhados, a boca
aberta, como para lançar um grito.
Com os braços envolveu um grande pedaço de entulho. Doeram-
lhe as costas quando o ergueu. De imediato teve de deixá-lo cair,
era demasiado pesado. O que era aquilo que, naquela brecha ali,
estava a brilhar? Estendeu a mão para a alcançar. A caixinha de
prata em forma de noz! As suas luvas! Haviam sido confecionadas
com a pele de um vitelo ainda por nascer, luvas leves e de textura
suave, para o fabrico das quais fora preciso sacrificar uma vaca
prenhe e a sua cria. E por isso mesmo tinham sido caras. E por isso
eram tão finas, a ponto de caberem numa casca de noz. Leonor
adorava-as. Guardou a noz na bolsa que trazia à cintura.
«A Dalila a sufocar debaixo dos escombros», segredava-lhe uma
voz no seu interior, «e tu à procura dos teus pertences. Tal pai, tal
filha.»
– Jerónimo! – chamou ela. – Ajuda-me a erguer esta pedra!
Temos sobretudo de remover as maiores!
Jerónimo veio até junto dela. Agarrou na pedra. Também Leonor
ajudou a segurá-la e, ao fazê-lo, chegou-se tão próximo do criado
que conseguia aperceber-se do cheiro da sua transpiração, vendo a
testa negra brilhar bem diante do seu rosto. Ele abanou a cabeça.
– Deixe isso, não é trabalho para uma senhora.
Ela largou a pedra e ele levantou-a e carregou-a dali para longe.
Jerónimo tinha os ombros largos e era um homem forte. Para ele a
pedra não seria decerto assim tão pesada.
Uma almofada azul! E aquilo ali debaixo não era a duquesa de
Dalila? No peito de Leonor o coração desatou a bater com mais
força.
– Jerónimo! – exclamou ela. – Aqui!
Iriam conseguir encontrar tudo: os livros, os vestidos, a cama de
Dalila. E no meio de tudo isso também a irmã.
O escravo olhou para a duquesa, praticamente destruída.
– Dalila estava na cozinha com Samira – disse ele. – Temos de
procurar noutro lugar. Ali adiante – apontou para outro monte de
escombros, mais alto.
Leonor trepou por ele. Reparou numa enorme pedra entre os
escombros. Teve um mau pressentimento ao vê-la, como se
soubesse que debaixo se escondia algo terrível.
Chegou-se junto dela: «Mataste a minha irmã», pensou. Uma
pedra caída da parede, a mesma que durante todos aqueles anos
as havia protegido da chuva e do vento. Uma pedra que, em silêncio
e sem resmungar, sempre cumprira a tarefa que lhe fora atribuída.
Algo deveria tê-la ofendido.
– Tenha cuidado – avisou Jerónimo –, há aqui vidros. Das
vidraças das janelas, que se partiram.
Leonor abraçou a pedra e, com toda a sua força, tentou movê-la.
Queria fazê-la rolar para o lado. Não conseguiu. Voltou a assumir a
posição em que estava.
Então surgiu um segundo par de braços, braços negros que a
ajudaram a segurar na pedra.
– Quando eu disser três – anunciou Jerónimo. – Um, dois, três!
Juntos levantaram o bloco em altura, deram um passo com ele
nas mãos e logo o largaram, deixando-o rolar pelo monte de
escombros abaixo.
Das ruínas da casa vizinha chegava até eles uma nuvem de fumo.
Havia ali um incêndio a lavrar no meio dos destroços. Leonor olhou
para baixo. Da fenda que tinham posto a descoberto ao retirar a
enorme pedra havia um rosto que a observava.
Uma boca fina e de aspecto severo. Olhos azuis. A pele sobre os
ossos malares esticada como se fosse pergaminho. A cozinheira
não pestanejava, embora parecesse que ainda estava viva. Não
mexia a boca nem a mão que, junto ao rosto, descansava entre as
pedras.
Os tremores que Leonor constantemente sentia sob os pés
converteram-se em abanões e sacudidelas. Esticou os braços para
conseguir manter o equilíbrio, mas ainda assim caiu e esfolou o
joelho nos ásperos destroços, a ponto de fazer sangue. Também
Jerónimo foi lançado ao chão.
Leonor agarrou-se aos escombros. O estremecimento da terra
atirava-a contra as pedras. Levantavam-se nuvens de pó, que se
misturavam com o fumo dos incêndios. Um pouco mais adiante
havia edifícios que, entre rangidos e estrondos, caíam sobre si
mesmos. Por todo o lado, pessoas gritavam, produzindo sons altos
e agudos. Pareciam chamamentos de animais. Soavam a dores
tremendas, a medo de morrer.
– Dalila – gritou Leonor –, se ainda estiveres viva, não tenhas
medo! Vou buscar-te!
Por fim, o sismo deixou de causar o seu retumbante efeito. Ainda
desconfiada, Leonor ergueu-se e ficou à espera, mas não voltou a
ser derrubada. Trepou até ao cimo e arrastou uma pedra para a orla
do monte de escombros. Pegou numa outra e em mais outra ainda.
Também Jerónimo levava dali pedras. Sob um desses pedaços de
destroços encontrou Leonor o fantoche da pequenita. Era agora
composto por duas partes, as pernas haviam-lhe sido decepadas.
Se os brinquedos estavam aqui e Dalila se encontrava junto da
menina, então não deveria tardar a encontrar a irmã. Iria conseguir
libertá-la antes de a terra voltar a tremer.
– Aqui mais adiante – disse ela –, aqui é que há de ser.
– Chiu – fez o escravo. Ergueu-se e, com um ar fatigado, olhou
para o vazio. – Ouça isto?
Leonor pôs-se à escuta. Ouvia-se um barulho proveniente dos
escombros. Soava a um gemido.
– Aqui – indicou Jerónimo, apontando para um pouco mais
adiante e pegando numa pedra.
Leonor correu até junto dele e também ela afastou uma.
Trabalhavam como que em êxtase. Atiravam as pedras para trás de
si e empurravam-nas do monte de destroços para baixo. Quando
conseguiram desimpedir um pouco, Jerónimo inclinou-se para o
interior da abertura e gritou:
– Alguém me consegue ouvir?
Silêncio. Depois, hesitantemente, num tom que denotava uma
incrédula esperança, ouviu-se por entre as pedras:
– Jerónimo? Estou aqui! Não consigo respirar.
A voz de Samira! Uma vaga de calor, um misto de dor e alívio,
perpassou Leonor.
– A Dalila está contigo? – perguntou.
– Sim. És tu, menina Leonor?
– Sou eu! Aguenta um pouco! Vamos buscar-te. Aguenta só mais
alguns momentos!
Retirou uma pedra e lançou-a sobre a borda do buraco que ali
haviam aberto. A próxima era demasiado pesada para poder repetir
o gesto, limitou-se a erguê-la até à borda e empurrou-a,
escorregando esta sozinha monte abaixo. As lágrimas escorriam-lhe
pelo rosto. Afinal, eram irmãs!
Jerónimo trabalhava em conjunto com ela. Levava as pedras para
baixo. Os blocos mais pesados eram transportados em con-junto
por ambos. Quando uma vez mais ergueram um enorme pedaço de
entulho, um corpo surgiu por baixo deles.
Leonor largou de imediato o que carregava. Jerónimo foi incapaz
de o segurar sozinho e caiu juntamente com o bloco de pedra. Ela
nem ligou. Leonor ajoelhou-se e afagou o corpo que ali jazia.
– Dalila – disse ela –, já tirámos os destroços, já aqui chegámos!
As costas de Dalila estavam quentes. Porém, ela não se mexia.
No seu corpo havia feridas por todo o lado.
Leonor abanou o ombro de Dalila.
– Acorda, irmã. Tens de acordar!
O corpo dela estremeceu.
– Dalila?
Estava deitada sobre a barriga, as costas esmagadas, o rosto
virado para o lado, hirto. Da sua cabeça brotava sangue. Mas não
podia ser uma ilusão, as costas destroçadas estavam a mexer-se.
Levantaram-se um pouco.
– Jerónimo? – disse uma voz fininha.
O escravo acercou-se impetuosamente, empurrou Leonor para o
lado e ergueu o corpo de Dalila.
– Ela está aqui – afirmou ele. – Está debaixo dela.
Leonor levantara-se e limitava-se a fitar o corpo que, como que
por encanto, se mexia. O escravo ergueu Dalila. Depositou-a sobre
as pedras. Tinha a zona do abdómen encharcada. A água pingava
do seu vestido.
Ali estava ela, Samira. Acocorada na tina de madeira, as pernas
recolhidas e os joelhos encostados à barriga, a tremer. Na água da
tina misturavam-se a espuma do sabão e o pó. Estava vermelha,
manchada de sangue.
– Não quero brincar mais – disse a pequenita.
Jerónimo retirou-a do interior da tina. Despiu a casaca do seu
uniforme e com ela esfregou Samira até esta ficar seca. Limpava a
água e o sangue. A criança estava incólume, os braços, as pernas,
nem um único ferimento. O sangue deveria ser todo de Dalila.
Leonor olhou para a irmã. «Dalila está morta», pensou. No
entanto, aquele era um pensamento que não conseguia entender. A
ideia permanecia nela como algo estranho, frio, como se fosse uma
coisa que só pudesse acontecer a outra pessoa qualquer.
Jerónimo pegou em Samira ao colo e pressionou-a contra o peito.
– Estás gelada! Toma, veste isto.
Depositou-a no chão, despiu a camisa sem a desabotoar e enfiou-
a no corpo da menina. Dava-lhe pelos pés. Os braços de Samira
rodearam o pescoço de Jerónimo. Aconchegou o rosto no pescoço
dele.
– Tenho medo – disse ela.
– Agora estás em segurança.
Ela ergueu a cabeça.
– A casa caiu.
– O senhor barão volta a construí-la.
Soltou-se dos braços dele, correu em direção ao cadáver e tocou-
lhe.
– Menina Dalila, o jogo já acabou. Já não precisas mais de ficar
quietinha.
Leonor acordou da sua imobilidade. Também ela se aproximou do
cadáver. Com a voz embargada, perguntou:
– Que jogo?
Samira não ligou a Leonor. Continuou a falar com a morta.
– Da próxima vez que eu tomar banho podemos voltar a brincar a
este jogo, está bem? Por favor, volta a mexer-te. Agora não quero
continuar a brincar.
– De que estás a falar? – perguntou Leonor.
– Brincámos às cavernas. Ela pôs-se assim por cima da tina,
como se fosse um telhado, e eu não podia fazer-lhe cócegas nem
molhá-la, tinha de ficar muito quietinha. Ela disse que, quando
estamos numa caverna, por vezes faz muito barulho, mas que eu
não devia ter medo. Mesmo assim, tive um bocadinho.
Um calafrio percorreu as costas de Leonor. Teria Dalila amado
assim tanto aquela criança ilegítima? Provavelmente não sabia que
o resultado ia ser tão terrível. Não pensara que iria morrer, de
certeza que não admitira isso.
Leonor sentia-se sufocar, parecia-lhe que lhe tinham enfiado uma
rolha na garganta.
Samira sacudiu o ombro da morta.
– Dalila, já não quero brincar mais. Olha só, a casa está toda
estragada, temos de construí-la outra vez!
Jerónimo acocorou-se junto dela.
– Ela não te consegue ouvir. Ela morreu.
De olhos muito abertos, Samira olhou para ele. No seu rosto lia-se
uma expressão de terror, uma certa frieza que não deveria existir no
rosto de uma criança.
– Assim como a minha mamã verdadeira?
Ele acenou afirmativamente com a cabeça.
Ela olhou para o interior da tina.
– Este sangue é dela?
Jerónimo tomou-a nos braços. A pequenita, porém, não se rendeu
ao seu abraço, permaneceu rígida. Se ao menos chorasse, se
negasse que aquilo tinha acontecido! Mas manteve-se em silêncio e
enterrou o sofrimento no seu âmago. Aquela criança já suportara
muita coisa. Demasiada.
– Samira, conheço muito bem a minha irmã – disse Leonor. –
Conheço-a desde que vim ao mundo e isso já foi há bastante tempo.
Por isso quero dizer-te uma coisa.
– O quê? – Samira pronunciou estas palavras pouco mais alto do
que se tivesse respirado.
– Ela hoje fez por ti uma coisa muito importante. Ela gostava
muito de ti.
Então a pequenita começou a soluçar. Lágrimas corriam-lhe ao
longo da face. Chorava cada vez mais alto. Na sua fraca voz podia
ler-se a dor da perda. Jerónimo tomou-a nos braços e levantou-se.
Ia-lhe dando pancadinhas nas costas tentando acalmá-la.
Leonor acocorou-se junto da irmã. Dalila tinha ainda posto aquele
colar ridículo, por muito que Leonor lhe tivesse dito que os elos
dourados fininhos não lhe ficavam bem, que o melhor era ela usar
prata, só que Dalila não quisera saber. Leonor retirou-lhe o colar do
pescoço.
– Ficas bem melhor assim, irmãzinha. Acredita em mim que ficas.
Todo o vigor desaparecera do rosto de Dalila. A irmã dera tudo
por tudo para salvar uma criança. Era algo que condizia com ela.
Sempre fora a boazinha, aquela que fazia sempre o bem, aquela
que rezava com frequência e que se dedicava a leituras edificantes.
Como se estivesse muito longe, ouviu Jerónimo a consolar a
criança. Inclinou-se para a frente e beijou a testa ainda quente de
Dalila:
– Desculpa-me. Nunca te disse o quanto gosto de ti, Dalila.
Leonor colocou o colar dourado em redor do pescoço. Era o
legado de Dalila, que era, de elas as duas, a boazinha. Dalila era
aquela que ajudava os outros. Agora deixara de existir. Leonor iria
ter de se esforçar por aprender as aptidões de Dalila, todas as
coisas que até agora desprezara. Sem que antes se tivesse dado
conta disso, o certo é que devia o seu egoísmo e as liberdades de
que gozava à irmã; por Dalila ser a sensata, Leonor pudera ser a
insensata; por Dalila ser a conciliadora, Leonor tinha sido a
zaragateira; por Dalila ter amado os pobres, Leonor desprezara-os.
«Quem sou eu agora?», perguntou Leonor. Já não tinha uma
irmã. Estava sozinha no mundo com o pai, que trabalhava o dia
todo, e a mãe, que fugira dele e que jamais voltara a casa, muito
embora jamais se cansasse de prometê-lo. Albergava agora no seu
interior um enorme pesar, e suspeitou de que esse pesar sempre lá
estivera, já desde a infância, mas que simplesmente se limitara a
tentar fugir-lhe.
– É este o pesar que sempre sentiste, irmã? – murmurou ela. –
Agora também eu consigo senti-lo.
13
Ainda ao longe conseguia ver que o Palácio Oldenberg já não
estava de pé. Antero seguia a coxear, trepava por cima das mesas
de negociantes que haviam sido derrubadas e atravessava nuvens
de fumo negras. Ia vendo diante de si imagens de Julie, como esta
depositava a pequenita nos seus braços. Fora pouco depois do
nascimento que pegara em Samira pela primeira vez. Era tão
levezinha, tão suave! «A nossa filha, Antero», havia dito Julie.
Ao longo de vários anos fora por Samira que sempre regressara a
Lisboa, para a ver e para, através de intermediários, entregar ao
barão dinheiro para a ter com ele. Durante anos, colocara em risco a
sua própria vida… e a dela também.
«Vou buscar a pequenita e tirá-la de lá», pensou Antero, «e
depois arrumo-te de vez, Gabriel Malagrida. Vais pagar pelo facto de
Samira ter crescido sem eu poder estar presente e, pior ainda, sem
a sua mãe.»
Parou, espantado. Havia ali pessoas. Aquele não era Jerónimo, o
escravo que sempre lhe abrira a porta de casa? Trazia alguém nos
braços. Samira? Estava viva! Ele trazia-a ao colo, ela estava a
chorar, Antero conseguia ouvir o tom agudo da sua voz de criança.
Quando se chegou mais perto, de repente o choro parou. Ouviu
Samira chamar:
– Papá!
Ela desatou a espernear, o escravo, estupefacto, pousou-a no
chão e a criança correu na direção dele. Antero curvou-se e
recebeu-a nos braços. Pressionou o rosto humedecido pelas
lágrimas contra o seu e, simultaneamente, riu e chorou.
– Minha querida Samira.
– Caiu tudo ao chão – soluçou ela. – Fazia muito barulho, mas a
Dalila protegeu-me. Agora há sangue por todo o lado! Pensei que
estávamos a brincar às cavernas, mas afinal não era um jogo. Ela
tomou conta de mim, para que nada me acontecesse.
– O gesto dela foi muito corajoso.
– Não queria que nenhuma pedra me acertasse, mas depois
acertaram nela – a pequenita fez um ar assustado. – Bento! Onde
está ele? – olhou em redor. – O Bento ficou debaixo da casa! –
correu para junto dos destroços. – Bento, estás a ouvir-me? Tens de
ladrar para te conseguirmos encontrar!
E ali vinha Dalila. Trazia ao pescoço o colar dourado, tal como
quando se haviam beijado. Na ausência de Julie, Dalila zelara pela
pequenita. Antero começava a sentir alguma ternura em relação a
esta mulher, pela primeira vez, desde que Julie morrera, sentia na
barriga algo estranho.
– Muito obrigado, Dalila – disse ele. – Não faz ideia do quanto
significa para mim que tenha salvo Samira.
A reação dela foi de perplexidade.
– Eu... Eu não sou...
– Não lho podia dizer. Samira é minha filha. Por favor, jure-me que
guardará para si este segredo! Tinha de mantê-la escondida.
O olhar de Dalila estava repleto de dor. Manteve o silêncio por
alguns instantes. Depois disse:
– Sim.
– Obrigado por tudo aquilo que fez.
– De todas as vezes que aqui esteve foi pela pequenita, não
pela... minha irmã? – perguntou Dalila.
Ele baixou o olhar.
– Precisava de uma razão para fazer estas visitas. Não podia
dizer que sou o pai de Samira, tê-la-ia posto em perigo. Mas não
tardará a ficar tudo resolvido.
Antero fitou-a. Sem dizer palavra, Dalila acenou afirmativamente
com a cabeça.
Leonor teria dito mil palavras. Dalila, porém, aceitou com
tranquilidade a nova situação, todas as mentiras que ele dissera.
Conseguia agora olhar diretamente para o coração dele e perceber
que fora por amor a Samira que Antero agira assim.
– Sentir-se-ão mais tremores de terra no decurso do dia – disse
ele. – Será melhor que deixe a cidade. Não posso acompanhá-la,
preciso de ir ter com um velho amigo e de tentar falar com o rei.
Repito-lhe, mil vezes obrigado pelo que fez. Espero poder um dia
demonstrar-lhe o meu reconhecimento.
Samira estava acocorada diante de um grande bloco de pedra e
tentava erguê-lo.
Antero chamou-a.
– Anda comigo, o Jerónimo vai procurar o Bento.
– Eu prometo – disse o escravo. – Vou procurar o teu cão.
– Bento! – voltou Samira a chamar.
Pôs-se à escuta e, ao ver que não tinha resposta, correu para
Antero e deixou que este lhe pegasse ao colo.
Após cinquenta ou cem passos, voltou-se. Dalila estava de pé no
mesmo sítio, ficara a vê-los afastarem-se.
Os outros cães continuaram. Bento ficou parado no cimo do monte e
olhou na direção da cidade, donde tinham vindo. Colunas de fumo
negro ascendiam para o céu. As casas estavam destroçadas.
Não era capaz de distinguir o mal, era invisível. Atravessava as
ruas, matava, sem que se conseguisse abocanhá-lo. Fugir fora a
decisão mais acertada.
O mal queria apanhá-los. Andava debaixo da terra, percorria-a e
rosnava. Lá de baixo, não parava de dar pancadas no solo, como se
quisesse furá-lo à cabeçada, para tragar e devorar um deles.
Depois, eram derrubados e caíam, e mesmo quando tentavam saltar
para fugir a força do mal teimava em deitá-los ao chão. Porém, este
não cuspia monstro algum. O mal permanecia escondido. Odiava e
temia este inimigo que não conseguia ver.
Bento farejou o cheiro da fuligem. Farejou pó de pedra. O mal
voltou a rosnar-lhe debaixo das patas. A perseguição ainda não
havia terminado. Teria de voltar para junto dos outros cães. No meio
da matilha, sentia-se mais seguro. Como ele sentia saudades da
sua antiga matilha, sobretudo da sua pequena dona!
Lançou um último olhar sobre a cidade. Levantou-se um vento
que espalhou as colunas de fumo. A luminosidade avermelhada no
extremo norte aumentou de intensidade. O vento atiçava o fogo.
Agigantou-se e assumiu a forma de um misto de chuva de faúlhas e
crepitantes labaredas que cilindravam tudo por onde passavam. O
mal percorria as ruas, arruínara casas e igrejas, e punha as pessoas
a correrem à sua frente. Quem conseguiria dominá-lo? Não havia
matilha, por muito forte que fosse, que lograsse fazer frente a tal
inimigo.
O pai arrepelava os cabelos. Corria de um lado para o outro diante
do armazém e berrava para as pessoas que iam a fugir:
– Tragam para cá toalhas molhadas! Precisamos imediatamente
de toalhas molhadas! Eu pago-lhes, não está a ouvir? Vão receber
dinheiro por umas simples toalhas!
Ninguém escutava o que ele dizia.
Leonor sentia um aperto nas entranhas por ver o desespero em
que o pai estava.
– Pai – disse ela –, tenho más notícias.
– Já sei que os outros armazéns foram destruídos, Leonor. Este é
o último que ainda está de pé. E já começa a arder ali! – Apontou
para dois edifícios mais adiante. – Como hei de eu conseguir deter
aquilo se o prédio vizinho não tarda a incendiar-se? Deus do Céu,
como estou contente por as oito mil sacas de trigo siciliano ainda
não terem chegado ao porto! Mas esta madeira de pau-brasil perde-
se toda, se o armazém pegar fogo. Percebes? O armazém é um
enorme barril de pólvora, um convite à mais pequena faísca! Temos
de molhá-lo. O edifício tem de ficar bem encharcado de fora, senão
estamos perdidos!
– Estive em casa – disse ela. – Para ver da Dalila.
Flocos de fuligem pairavam no ar diante deles. O vento espalhava
faúlhas ao longo da rua. Ouvia-se um perigoso crepitar vindo da
casa à esquerda do armazém.
– Maldição! – gritou o pai. – Estás a ver isto? Ali já está a arder! E
nós ficamos aqui parados. – Despiu a casaca debruada a ouro e
arrancou rumo à porta do prédio vizinho. Sem sequer hesitar,
irrompeu por ali adentro.
Leonor apressou-se a correr atrás dele. No interior, havia já um
fumo bastante denso. Algures, coisas crepitavam e ardiam.
– Pai? – chamou ela.
Ficou à escuta. Alguém estava a bater em alguma coisa. Deixou-
se orientar pelo som e deu com o pai no meio de fumo denso, diante
de um banco acolchoado.
Estava ali de pé, de pernas afastadas, e com a casaca tentava
apagar as chamas.
– Vá, zarpem daqui! – gritava ele. – Não há aqui nada para
consumirem!
Ela segurou-o pelos ombros e puxou-o para trás.
– Temos de sair. Queres morrer sufocado?
O pai tentou livrar-se, mas ela voltou a agarrá-lo. Ele arfava e
estava já encurvado. O fumo tinha já começado a intoxicá-lo! De
forma decidida, puxou-o para a porta. Não iria permitir que o pai
morresse ali.
– A Dalila está morta – disse ela quando chegaram lá fora. –
Encontrámo-la entre os escombros.
– Onde esteve este tempo todo, homem? – berrou o pai.
Confusa, Leonor seguiu o olhar dele. O fiel do armazém vinha a
descer a rua, acompanhado de três escravos.
– Isto aqui vai começar a arder a qualquer instante – disse o pai. –
Vamos esvaziar o armazém. O pau-brasil é demasiado pesado, o
que é uma desgraça. Quero que vão lá buscar uns caixotes de
tabaco – apontou para um dos escravos e prosseguiu: – Tu vais
buscar uma pipa de gordura de baleia derretida. Depois desta
catástrofe tudo vai ficar mais caro, até mesmo o sabão. É sempre
boa ideia ter muito por onde escolher. Leonor, numa situação destas
até mesmo uma mulher tem de pôr mãos à obra. Vai buscar um
saco de arroz. Vá, adiante!
Apressou-se a entrar no armazém. Será que não ouvira aquilo
que ela lhe dissera? Leonor correu atrás dele e dos outros homens.
No interior do armazém, estava tudo tranquilo não havia fumo.
Sentia-se como se tivesse penetrado numa espécie de libertadora
caverna, um lugar capaz de protegê-la de todo e qualquer infortúnio.
As prateleiras onde se guardavam os produtos entregavam-se a um
sono profundo: eram caixotes, embrulhos, fardos de lã por cardar,
pipas com azeite, açúcar em cones. Havia escadas que conduziam
aos andares superiores. Por todo o lado, o aromático cheiro do
tabaco. Através das clarabóias entrava alguma luz e também
faúlhas, vindas do exterior, conseguiam entrar.
– Pai, a Dalila morreu – repetiu ela. – Não ouviste o que te disse?
Olhou brevemente para ela, de seguida acenou com a cabeça, de
um modo quase impercetível. Seguiu em frente, para dar ins-truções
aos escravos.
«Está a fazer como eu durante todos estes anos», pensou ela.
«Reprime a dor por não conseguir aguentá-la.» Talvez tivesse
herdado dele essa característica. Também ela optava por não
pensar em Antero e no facto de este não a amar. Não queria pensar
em Dalila, que jazia no meio dos destroços, cujo cadáver era vigiado
apenas por Jerónimo e que não mais se mexeria.
Leonor chegou-se junto de um carregamento de pau-brasil e
afagou a casca vermelha. A madeira das árvores do Brasil era cara
e era a elas que a colónia portuguesa devia o seu nome. Do pau-
brasil extraía-se um precioso corante vermelho usado na indústria
têxtil, mas acima de tudo era com ele que os marceneiros
construíam valiosas peças de mobiliário, muito cobiçadas pela
nobreza e pelos comerciantes.
Peças de mobiliário como a duquesa de Dalila. Iria mandar
restaurá-la e atribuir-lhe um lugar de honra nos seus aposentos. De
cada vez que se sentasse nela pensaria na irmã, e de cada vez
desejaria ter passado mais tempo com ela, tê-la interrompido
aquando das suas leituras para conversarem um pouco. «Será que
alguma vez abracei a minha irmã?», perguntava-se. Não conseguiu
lembrar-se e de imediato sentiu uma grande tristeza, pois nunca
antes o havia feito, tal como tantas outras coisas para as quais era
agora demasiado tarde.
– Não fiques aí parada! – ralhou o pai. – Não temos tempo a
perder!
Leonor dirigiu-se para junto do arroz. Nas sacas, escrito em letras
grandes, podia ler-se Carolina Rice: era arroz das colónias
britânicas da América do Norte. Tentou levantar uma das sacas.
Esta nem sequer se mexeu. Assim sendo, tratou de rasgá-la e, sem
quaisquer rodeios, lançar fora uma parte do conteúdo. Grãos de
arroz espalharam-se pelo chão.
– Que estás tu a fazer? – gritou o pai, horrorizado.
Leonor pegou na saca já só semicheia e colocou-a às costas.
Assim já conseguia carregá-la. Seguiu o escravo, que levava uma
pipa aos ombros. Avançava com os joelhos fletidos. A gordura de
baleia ali contida deveria ser pesada. Atrás dela iam o pai e os
outros com grandes caixotes de tabaco.
– Para onde? – perguntou ela, soltando um gemido.
– Para a praça do mercado – respondeu o pai. – Aí o fogo não vai
chegar. – Sabia sempre o que se devia fazer. Tomar decisões
astutas era com ele.
Foram uns atrás dos outros. Cada um afadigava-se com o peso
que carregava. Onde os destroços cobriam a rua, o escravo que
seguia diante dela tentava encontrar o caminho por entre os blocos
de pedra. Leonor observava os seus pés e pisava exatamente no
mesmo sítio que ele. O escravo estava habituado a carregar coisas
e a andar a pé, saberia bem quais os pedaços de escombros que
lhe ofereciam segurança e aqueles em que poderia escorregar e
cair.
Os edifícios em redor da praça do mercado ardiam. O Paço da
Ribeira. A Alfândega. O Arsenal de Guerra. A praça estava repleta
de pessoas. Os feridos graves gritavam. De crucifixo em punho, um
sacerdote andava de grupo em grupo e ouvia as confissões dos
moribundos.
Entre os feridos e os desesperados, Leonor reconheceu D. João
de Bragança, o primo do rei. Distribuía cobertores e ajudava os
soldados a fazer ligaduras aos feridos. Conhecia-o bem, tal como a
todos aqueles que eram objeto das suas actividades de
espionagem. Sabia que ele usava elixir bucal, ao qual era
acrescentado cravinho oriundo das Molucas. Tinha conhecimento da
habitação que ele secretamente possuía na cidade, para onde se
deslocava quando não pretendia ser incomodado, a antecâmara, a
sala de jantar, a sala de convívio para o verão, a sala com
aquecimento para o inverno, os aposentos com o quarto de vestir, o
pequeno gabinete com biblioteca.
Para quem ela trabalhava, isso ele não sabia. Uma vez, naquele
mesmo gabinete com biblioteca, tinha-lhe até contado por que razão
não tinha um jesuíta como seu confessor.
– Recuso-me a aderir a esta moda! Por que razão haveria um
jesuíta de estar mais capacitado a trabalhar com a consciência?
– Mas toda a gente está de acordo com isso… – comentara ela.
– Essa reputação deve-a a Companhia de Jesus unicamente ao
facto de os seus confessores disporem de mais tempo do que os
padres comuns, que, nas suas dioceses, prestam assistência a
milhares de fiéis. As pessoas normais confessam-se uma vez por
ano, antes da Páscoa. Os penitentes ricos, os que têm um jesuíta
como confessor, dedicam-se todas as semanas a esta prática, para
melhorarem. É essa a diferença.
– Pode ser. O certo é que eles ajudam os penitentes que os
consultam a trilharem o caminho rumo à perfeição, e que nisso são
bastante bem-sucedidos.
– Não tenho assim tanta certeza. Sabe, para a nobreza, como de
resto com frequência acontece, conta mais o aspecto exterior. Ter
um jesuíta como confessor concede a reputação de se ser uma
pessoa espiritual e moralmente honesta ou de, pelo menos, estar a
caminho desse estado. Sou contra esse tipo de fingimento. Não
preciso de jesuíta algum como confessor só para ficar bem visto e
porque toda a gente o faz!
Leonor sentiu vergonha de estar a carregar uma saca de arroz
enquanto João de Bragança ajudava as outras pessoas. Se fosse
Dalila, iria imediatamente ter com ele.
A meio da praça havia homens de uniforme azul a amontoarem
caixas, presumivelmente de pólvora, provenientes do Arsenal de
Guerra, e espingardas. Alguns dos soldados haviam perdido as
suas perucas. Outros usavam-nas mas não tinham tricórnio com
penas. Ainda assim, o facto de serem vistos produzia um efeito
calmante.
– Para ali! – ordenou o pai.
Foi junto dos soldados que depositaram aquilo que carregavam. O
pai foi falar com um sargento e entregou-lhe um saquinho com
moedas. O militar acenou afirmativamente com a cabeça.
– Deixamos ficar isto tudo aqui – anunciou o pai. – Regressemos
ao armazém.
A caminho assistiram a uma rixa. Um protestante, que já antes
haviam visto em casa do cônsul-geral britânico, foi obrigado a beijar
a imagem de um santo, o povo não admitia que ele se negasse a
fazê-lo.
– É graças à tua descrença que temos de passar por esta
provação! – gritou um daqueles que o atormentavam. – Os
protestantes são uma vergonha!
O pai conduziu os escravos e o fiel do armazém para longe
daquele ajuntamento.
– Ainda temos de ir e vir pelos menos umas dez vezes. Quero que
todo o tabaco seja trazido intacto para a praça do mercado. Tal
como as coisas estão, as perdas são já devastadoras.
Tiveram de lutar para avançar por entre o fumo denso e os
destroços. A caminho, Leonor foi acometida de um ataque de tosse.
O ardor que sentia na garganta não diminuía de intensidade. Tossia
tanto que julgou que os pulmões acabariam por lhe sair pela boca.
Os escravos ampararam-na e ajudaram-na a prosseguir.
E depois detiveram-se. Haviam chegado ao destino, só que o
armazém já ardia. Os bens do pai estavam a ser consumidos pelas
chamas. Ele emudecera. Olhava para as labaredas, em silêncio.
Não tinha de dizer fosse o que fosse. Leonor sabia: ele já não podia
esquivar-se mais, pensava na sua filha Dalila.
Pessoas de todas as classes sociais procuravam refúgio no Terreiro
do Paço. Nenhuma delas estava completamente incólume. Fidalgos
ricos eram amparados por peixeiras, operários seguravam a mão de
funcionários públicos moribundos. Antero abordou um homem com
grossos braços que havia salvo uma criança de ser consumida
pelas chamas. Deveria ser um estivador.
– Teria a bondade de tomar conta da minha filha por uns
instantes?
– Pode ser – respondeu-lhe o outro.
Antero acocorou-se diante dela.
– Samira, tenho de ir falar com um velho amigo. Estou de volta
não tarda. Prometes-me que ficas aqui, junto deste homem?
Os olhos de Samira arregalaram-se de medo, mas disse que sim
com a cabeça.
Ia sendo tempo. De todas as janelas do palácio brotava já um
fumo denso. Diante das portas já não se viam guardas. Uma vaga
de calor tomou Antero de assalto. Levou uma das mangas à boca e
entrou na biblioteca, que começava a ser consumida pelas chamas.
A pele da sua cabeça retesou-se. Sentiu uma dor na ponta dos
dedos, como se estivesse a pegar diretamente em brasas
incandescentes. Por breves instantes, afastou a manga e chamou:
– Vasco!
Os livros ardiam, produzindo chamas brancas e de um amarelo-
azulado. Era como se todo aquele espaço fosse apenas fogo: as
paredes, o teto e as estantes alimentavam labaredas. Vasco correu
na direção das estantes, retirou de lá um livro, bateu com ele contra
o próprio corpo, para apagar o fogo que o consumia, e levou-o para
o meio da sala, depositando-o sobre um pedaço de serapilheira,
onde já se acumulavam alguns livros chamuscados.
Antero apressou-se a ir ter com ele.
– Vasco, vamos embora daqui!
– Só mais um!
O bibliotecário precipitou-se de novo na direção das estantes. Não
queimaria ele as mãos ao agarrar os livros que ardiam? Voltou com
um exemplar já coberto de fuligem e colocou-o junto dos demais. De
seguida cobriu os livros que fumegavam com o tecido, reunindo tudo
como se fosse uma trouxa, e tentou levantá-los.
– Ajuda-me!
Antero procurou pegar-lhe, mas nem mesmo em conjunto
conseguiram erguer tamanho peso.
– Anda, temos de ir embora daqui!
Uma estante em chamas caiu, provocando uma chuva de faúlhas.
Do teto pingava o ouro derretido da talha.
– Precisas destes livros. São eles que te vão ajudar a explicar o
tremor de terra – Vasco agarrou-lhe o braço. – Espera até os
Jesuítas terem percorrido a cidade com um cortejo de penitência. Só
depois deves aparecer com a explicação científica.
– Vem-te embora, mas agora! – ordenou Antero. Como iria ele
conseguir tirar Vasco da biblioteca sem os livros? Agarrou-o com
força. – Traz contigo um único livro, e é tudo!
Vasco olhou em redor.
– Não consigo.
– Não tens outra escolha!
Hesitante, o bibliotecário agarrou num dos livros que estavam
naquela pilha e, com as suas mãos queimadas e cobertas de
bolhas, pressionou-o contra o peito.
– Isaac Newton – disse, com voz rouca, sem sequer abrir a capa
chamuscada. Conhecia perfeitamente os seus «filhos».
O calor mordia a pele de Antero. As labaredas lambiam a sua
roupa.
– Vamos embora agora! – reiterou ele.
Agarrou Vasco pela manga da camisa, com forte impulso deu
meia-volta e correu até junto da porta através daquele mar de fogo.
Finalmente ar fresco. A praça do mercado. Gente por todo o lado.
Estava vivo.
Soltou a manga de Vasco, ajoelhou-se e inclinou o tronco para a
frente. Tossiu. O pungente fumo estava bem no interior dos seus
pulmões e não queria sair. Ao tossir, Antero tocou com a testa no
chão. Sentia a pele retesada, como se nela não coubesse. Era
como se se rasgasse sobre os ossos.
Olhou para cima e pestanejou, até conseguir ver com clareza.
– Vasco?
Antero pôs-se de pé.
– Voltou a entrar, é doido – comentou o homem que segurava
Samira pela mão.
Durante um instante foi como se o mundo inteiro sustivesse a
respiração. Depois Antero disparou. Queria ir a correr até à porta da
biblioteca, mas não conseguiu avançar um passo que fosse. O
homem agarrou-o com firmeza, mantinha a cabeça dele presa entre
a dobra do braço direito, e não o largou.
– Não volta a entrar ali! Pense na pequenina!
Antero nada podia fazer para contrariar a força daquele homem.
– Vasco! – berrou.
Uma vez mais tentou libertar-se. O homem agarrava-o com tal
força que Antero já quase não conseguia respirar.
O telhado da biblioteca colapsou, lançando uma nuvem de faúlhas
para o céu e, de seguida, levantaram-se enormes labaredas. O
pavimento da praça do mercado ganhou um brilho avermelhado que
o fogo lhe transmitiu. Sobre as pedras, bem diante dos seus pés,
estava um livro enegrecido pela fuligem.
Fitou as chamas, concentrando-se no sítio onde antes estivera a
porta. Não seria possível acontecer um milagre? Vasco poderia a
qualquer momento surgir dali a correr, enquanto, num gesto de
triunfo, segurava mais um livro e o exibia no ar. O fumo, tal como a
água, talvez resvalasse nele sem o afetar. Poderia sair dali
incólume.
A cada minuto que passava, Antero continuava a olhar fixamente
para a porta da biblioteca, que ardia, mas a sua esperança ia-se
desvanecendo.
– Ele está morto – concluiu o homem.
Antero manteve-se em silêncio.
O homem largou-o.
Antero conseguiu por fim ficar de pé. Não pronunciou uma palavra
que fosse. No interior do seu peito sentia um vazio, como se lhe
tivessem arrancado o coração. Sentia-se sozinho, embora visse
monges que carregavam pessoas feridas para a praça, homens com
bolhas resultantes das queimaduras, mulheres com contusões e
fraturas, comerciantes que traziam fardos da Rua Nova dos
Mercadores e da Rua da Confeitaria. Organizavam espaços onde
depositar as suas mercadorias. Antero, porém, encontrava-se diante
da parede de fogo que lhe havia roubado Vasco, e já nem sequer
sabia onde pertencia.
Uma mãozinha pequena e suave veio juntar-se à sua. Samira.
Olhou para a filha, para os seus cabelos ruivos. Ela confiava nele.
Contava firmemente com a proteção que Antero lhe proporcionaria.
Ergueu a cabeça e olhou em redor. As nuvens de fumo
demonstravam que havia uma frente de fogo que se aproximava.
Teria de seguir pela rua junto à margem, o último corredor disponível
para escapar ao ímpeto do fogo, e teria de se apressar.
Antero pegou no livro chamuscado e ainda quente. De seguida,
pegou em Samira ao colo.
– Obrigado – disse ele ao estivador.
– Para onde quer ir? Não vai com a criança na direção das
chamas, pois não? Aqui na praça estará em segurança. Fique aqui!
– Seguimos ao longo da margem do rio, o caminho ainda se
encontra livre. O meu amigo não terá morrido em vão.
O ambiente aqueceu no Terreiro do Paço. O fogo erguia-se até ao
céu, cercava a praça por três lados. Leonor não conseguiu deixar de
pensar em Antero. A dado momento, pensou tê-lo identificado entre
a multidão, mas logo de seguida voltou a perdê-lo de vista.
Por que razão lhes tinha ele ocultado o facto de ser o pai de
Samira? Outrora, fora através de intermediários que a pequenita
fora trazida para casa deles. Tudo fora negociado no maior dos
segredos, os custos, o contrato.
A mãe da menina deveria ter sido a tal mulher que ele tanto
amara. Isso explicava por que razão um contrabandista e
vagabundo se ocupava com tal dedicação de uma criança. Para que
ela pudesse ter vivido na casa deles, deveria o pai de Leonor ter
recebido elevadas quantias em troca.
Era-lhe penoso pensar em Antero. Nunca antes sentira algo
semelhante. Sobrevivera, sã e salva, ao terramoto, a dor que a
afligia provinha unicamente do seu coração. Seria àquilo que se
dava o nome de amor?
Recebera do pai instruções para ficar junto das mercadorias,
devendo levá-las para mais próximo da margem, se necessário
fosse. Dera-lhe dinheiro para que pudesse pagar a alguém a ajuda
necessária. O pai prometera-lhe que não se iria expor ao perigo.
Pretendia apenas verificar se a manufatura da seda, situada às
portas da cidade, ainda se encontrava de pé e queria tratar de a pôr
a salvo do fogo.
Rajadas de vento projetavam as chamas na direção das pessoas
que ali se refugiavam, as quais, entre gritos de medo, recuaram o
mais que puderam para junto do rio.
– Alguém me carrega estes caixotes para a margem, por bom
dinheiro? – gritou Leonor. Porém, ninguém lhe prestou atenção.
Pegou num dos caixotes e ergueu-o. Um vento quente como o ar
que brota de um forno soprava na direção dela. Queimava-lhe a
pele. Leonor viu-se obrigada a deixá-lo cair. Recuou para se
proteger do calor. Centenas de pessoas chegaram-se ainda mais à
margem. Os caixotes de tabaco do pai começaram a arder. Depois,
o fogo consumiu o arroz, e também da pipa que continha gordura de
baleia se erguiam labaredas. Leonor não teve outro remédio que
não fosse assistir a tudo sem nada poder fazer, e as mercadorias
dos outros comerciantes sofreram o mesmo destino. Impotentes,
estes andavam de um lado para o outro e arrepelavam os cabelos.
Os sacerdotes iam passando de um ferido ao outro e concedendo
os últimos sacramentos. Alguns, aqueles que não haviam sido
trazidos para a margem, morreram no meio das chamas, entre gritos
terríveis.
– Aqui estamos em segurança – explicou uma mãe aos seus
filhos. – O fogo só segue para onde tiver algo que possa consumir.
As pedras da calçada não ardem. – O rosto dela estava coberto de
manchas de fuligem.
Dois botes a remos chegaram-se junto da margem. A tripulação
estava armada. Com uma atitude ameaçadora, empunhavam
floretes e pistolas, e gritaram:
– Quem quiser passar para a outra margem, terá de pagar dez
coroas de prata ou cinco mil réis!
Cinco mil réis eram uma fortuna. Ainda assim, os comerciantes e
os fidalgos acorreram aos botes, para conseguirem comprar uma
viagem rumo à segurança.
Leonor retirou do saco uma moeda de cinco réis e passou os
dedos por ela. O grande V na parte de trás, a data de 1751, as
inscrições portugaliae et algarbiorum rex v. Na parte da frente,
estava representada uma cruz formada por cinco escudos, e sete
castelos e gravadas as palavras iosephus i dei gratia. Precisava de
milhares destas moedas para poder passar para a outra margem,
mas tinha consigo apenas dez.
Pelos vistos havia gente que tinha consigo toda a sua fortuna,
moedas de ouro e joias. Em pouco tempo, ambos os botes ficaram
cheios. Aqui junto à margem o fogo não poderia chegar-se a ela.
Teria apenas de aguentar o fumo denso e o calor, até o Paço, a
Alfândega e o Arsenal serem completamente consumidos pelo fogo.
Quanto tempo poderia isso durar? Horas? Ou talvez dias? Não
morreriam à sede. O rio fornecia-lhes água. Esboçou um esgar de
repugnância. Já tinha chegado àquilo. Estava pronta a beber a
conspurcada água do Tejo.
Se antes fora Antero que ela vira, onde estaria ele agora? Deveria
odiá-lo pelas mentiras que lhe contara. Elogiara-a, fingira ter
interesse nela quando falavam um com o outro. Beijara-a, ainda que
ela para ele nada significasse. No entanto, tudo isso originava que o
amasse ainda mais. Ele fizera-o para cuidar da sua filha. Mentira em
benefício de Samira.
Os botes partiram. Os remadores conduziram-nos por entre os
enormes bojos dos navios fundeados no porto e depois em direção
à outra margem, a uma distância considerável, que deixava de ser
visível quando o tempo se apresentava enevoado. Os botes não
tardaram a desaparecer no meio do fumo que se estendia sobre o
rio.
Leonor ficou estarrecida. As fluyts holandesas subiam e desciam.
As pinaças francesas oscilavam. Até mesmo as fragatas, no porto
de guerra, eram sacudidas pelas vagas. Olhou para a margem. A
água do Tejo subia pelos degraus que davam acesso à praça.
Entretanto também já mais pessoas haviam reparado nisso. Viraram
costas ao ímpeto do fogo e, atemorizadas, observaram como a água
se revolvia.
De súbito ouviu-se um ensurdecedor estrondo. Leonor viu os
cabos de amarração de uma nau caírem na água. Ter-se-iam
partido? De novo um estrondo. Outros cabos de amarração
rebentaram.
– Os navios estão a desprender-se! – exclamou um soldado.
Um galeão, do tamanho de uma casa, andava à deriva e
aproximou-se das escadas de pedra branca, nas quais as pessoas
se amontoavam. Também uma nau se acercou deles, e ainda uma
fluyt. Mais adiante outras amarras rebentaram. As vagas foram-se
tornando cada vez maiores, atirando os navios uns contra os outros.
A madeira lascava-se e fragmentava-se.
Para onde haveriam de fugir? A praça estava cercada pelo fogo.
As escadas junto à água eram agora o único local seguro. O solo
começou a estremecer.
– Está a tremer – gritou uma criança.
O pai dela acocorou-se e ordenou-lhe que também ela se
ajoelhasse nas escadas.
– Segura-te bem a mim – disse.
No degrau mais abaixo havia um grupo de homens com os braços
estendidos numa tentativa de deter o galeão. Este andava à deriva,
aproximando-se cada vez mais. Onde ainda há pouco a pedra
estava seca, atingiam as águas já à altura dos joelhos dos homens.
As mãos destes quase alcançavam o casco do navio. Então os
barcos foram levantados por um vagalhão e arremessados contra a
margem de pedra, derrubando os homens. Alguns deles caíram à
água.
Leonor desceu os degraus para os ajudar a regressarem a terra
firme, antes que fossem esmagados pelo navio ao embater na
margem. A meio caminho deteve-se, o terror pareceu congelar-lhe
os movimentos. O navio afastava-se, e com ele os homens e os
outros barcos. Era como se algo sugasse toda a água do rio que
passava diante de Lisboa.
Os degraus ficaram novamente em seco, mas restaram as
conchas e algas verdes que agora os cobriam. O Tejo formava um
vale de pele lisa, afastando-se cada vez mais. Ao longe, atrás das
nuvens de fumo, viu algo escuro. Era tão largo quanto o próprio
horizonte.
Uma parede de água.
Não tinha a certeza quanto à altura que atingia até ter visto o
modo como a parede de água arrastou os primeiros navios, engoliu-
os sem qualquer esforço. As pinaças despedaçaram-se, os mastros
foram partidos em dois. Os barcos dos pescadores redemoinhavam
na massa de água como se mais não fossem do que rolhas de
cortiça.
A onda ia-se acercando da margem, mas não havia maneira de
perder o seu ímpeto. É sabido que elas rebentam quando alcançam
a costa, mas esta não o fazia e não se enrolava sobre si mesma, e
até escureceu o céu. Na crista daquela enorme vaga a espuma
borbulhava. Os destroços de navios eram puxados para cima, os
galeões colhidos. O couraçado, no porto de guerra, foi virado de
casco para o ar; os pesados canhões caíram pesadamente na
massa de água.
Leonor deu meia volta e lançou-se a correr escada acima. Mas
para onde haveria de dirigir-se? Em direção aos incêndios? Passou
a correr diante de um chafariz e dirigiu-se a uma fileira de árvores,
no passeio diante da margem. Atrás de si ouvia os gritos que
brotavam de dezenas de gargantas. Então, com estrondo, a vaga
abateu-se sobre a margem e subiu os degraus com um ruído
gorgolejante. Olhou em redor. A onda excedia em altura tudo o que
havia em redor, o palácio que ardia, a ruína da catedral envolta em
labaredas, toda e qualquer construção erigida pela mão humana se
agachava diante do seu veemente poder. Filhos foram brutalmente
separados das mães pela sua violência. Sorveu para dentro de si
todas as pessoas que se lhe depararam.
Leonor abraçou a casca quente e fumegante do tronco de uma
árvore e entrelaçou os dedos do lado de lá. Como se fosse uma
gigantesca amiba, a parede de água suja absorvia as pranchas de
madeira dos cascos dos navios, as pedras do cais, os que nela se
afogavam.
Foi então que toda aquela primordial força da natureza se abateu
sobre Leonor. A água fria envolveu-a. Deu-se conta de ela arrancar
a árvore do chão, e estirava-lhe os membros, queria esmagar-lhe as
articulações. Contraiu cada um dos músculos do corpo. A água
encheu-lhe a boca. Engoliu-a. Abriu os olhos, mas, no meio do
turbilhão de sujidade e bolhas de ar, não conseguia sequer
aperceber-se onde estava. A impossibilidade de respirar ameaçava
fazer explodir-lhe o peito. Queria largar a árvore. Onde estavam os
seus dedos, como conseguiria ela desentrelaçá-los, como poderia o
seu cérebro ordenar-lhes que se soltassem?
Um turbilhão, bolhas de ar, espuma, o que queria dizer que estava
quase à superfície! Esticou a cabeça e levantou-a. Havia escuma
branca por todo o lado. A árvore deveria tê-la mantido à superfície.
Envolveu o tronco com as pernas e tentou erguer a parte superior
do corpo na vertical. Conseguiu pôr a cabeça acima da superfície e
respirar. Juntamente com o ar inalou também água. Teve de tossir.
Olhou em redor. A torrente avançava pela baixa da cidade.
Passara para lá das ruínas frente ao rio. Aquilo ali seria a Praça do
Rossio? Via-se ainda de pé parte de uma parede do convento dos
Dominicanos. A grande massa de água conduzia-a nessa direção.
Não tardaria a embater nessa parede.
A árvore foi de encontro ao vão de uma janela, ficando os tijolos
feitos em pedaços. Leonor foi projectada para a frente. Em pânico,
tentou agarrar-se e conseguiu suster o avanço ao alcançar um
ramo. Segurou-se firmemente a ele. A água voltou a envolvê-la,
tentando arrastá-la.
Passados alguns instantes a torrente foi cedendo. Leonor
conseguiu içar-se para a copa da árvore. Daí trepou para um friso
da parede do convento. Agora eram já só os seus pés que
permaneciam dentro de água, que lhe escorria do queixo e do
cabelo e pelas costas abaixo. Leonor ofegava.
Vindas do porto, viu chegar uma segunda e ainda uma terceira
vagas. Nas colinas, mais acima, o fogo continuava a consumir
desenfreadamente o que restava. Abaixo dela havia pranchas de
madeira a flutuarem na água, pedaços de tecido, utensílios
domésticos e plantas que haviam sido arrancadas da terra. A água
transportava consigo pessoas. Boiavam nela, rendidas e inertes, de
barriga para baixo, de braços estendidos – cadáveres.
Lisboa estava destruída.
14
Como se fosse a língua de um monstro marinho que tivesse
andado a lamber a superfície da Terra, a água retraiu-se. O monstro
engolira aquilo que lhe aprouvera. Estava agora satisfeito. Para trás
ficaram poças e charcos de água.
O caminho que conduzia a Belém assemelhava-se ao lamacento
leito de um rio. Entre árvores arrancadas pela raiz e destroços de
navios, poças de água brilhavam com os reflexos da luz. Antero
desceu com Samira da colina onde se haviam refugiado da vaga. A
cada passo que dava, sentia dores fortes no joelho direito, como se
este fosse desfazer-se. Deixou que a pequenita fosse na frente,
para que ela não se desse conta de como ele cerrava os punhos
para conseguir aguentar a dor.
A caminho, teve de erguê-la nos braços para a passar por cima
de uma árvore tombada. «Graças a Deus», pensou ele, «ela já não
está a tremer.» Quando a vaga avançara terra adentro, o corpo de
Samira tremera tanto que Antero quase não lograra segurá-la. Ela
não conseguia nadar. Tinha medo da água funda, sempre tivera,
mesmo quando se tratava apenas de passar de barco para a outra
margem.
– Onde vamos nós, papá?
– Vamos ter com o rei.
– E porquê?
Içou a perna ferida sobre o tronco molhado.
– Porque ele tem de me ajudar a combater um homem mau –
respondeu Antero.
– Posso dar os bons-dias ao rei?
– Nem pensar. Vamos esconder-te e, quando tiver feito aquilo que
tenho a fazer, vou buscar-te. Mas podes vê-lo ao longe.
Samira olhou para o rio.
– Não me quero esconder – disse. – Quero ficar junto de ti.
Pelo som produzido pelas ferraduras dos cavalos, Antero
apercebeu-se de que alguém se aproximava e virou-se. Um grupo
de homens a cavalo vinha da fumegante cidade, que ficara para
trás. Antero e a filha estavam parados junto à estrada, em cima da
erva. Alguns dos cavaleiros traziam o uniforme azul dos soldados.
Ao aproximar-se do tronco de árvore, tiveram de deixar os cavalos
seguir a passo. Antero pegou na mão de Samira e puxou-a mais
para a berma. Um deles não era o tipo que estava na antecâmara
no Ministério da Guerra? Então aquele homem com uma figura,
imponente que seguia ao seu lado deveria ser Sebastião de
Carvalho, o ministro da Guerra. Montado, o ministro assumia um
aspecto distinto. O reflexo da luz do Sol cintilava nos seus anéis
dourados.
– Fica aqui – segredou Antero para Samira. Deu um passo em
frente, de modo a pôr-se à frente dos cavalos. – Vossa Excelência,
deixe-me dar-lhe uma palavra!
– Desaparece! – ordenou o soldado que seguia mais à frente.
Manteve o cavalo apontado na sua direção, como se nada fosse.
– Vossa Excelência, senhor ministro, preciso de falar consigo.
Tem a ver com o terramoto.
Imperturbável, o grupo continuou a avançar na direção dele.
Teve de saltar para o lado para não ser derrubado pelos cavalos e
pisado pelos cascos.
– Fui o braço-direito de Gabriel Malagrida e tenho conhecimento
de planos secretos! – gritou ele.
O ministro deu uma ordem breve e detiveram-se. Deu meia volta
ao cavalo e aproximou-se de Antero. Rugas compridas, que à
esquerda e à direita do nariz se prolongavam até aos cantos da
boca, conferiam ao seu rosto uma expressão austera. Do cimo do
cavalo, o ministro olhou para Antero.
– Que tem para me dizer?
– Gabriel Malagrida quer utilizar o tremor de terra para aumentar o
seu poder. Vai assumir-se como profeta e explicar o terramoto como
um castigo de Deus.
Com os cantos da boca virados para baixo, o ministro olhou para
Samira. Sebastião de Carvalho deveria achar bastante estranho que
ele, Antero, estivesse ali com uma criança. Os pais que se
prezassem deveriam entregar os seus filhos ao cuidado de
precetores. Só as pessoas que não tinham meios é que se
ocupavam elas mesmas dos filhos e filhas. Henrique, o filho do
ministro, era com certeza educado por professores privados e
também agora, durante a catástrofe, haveria de estar junto deles.
– Ainda nem sequer sabemos se o rei sobreviveu ao terramoto e
você põe-se a tagarelar acerca de futilidades que são do
conhecimento de qualquer um. Deveria era mandar que lhe dessem
uma sova. Infelizmente não há agora tempo para isso.
Sebastião de Carvalho fez menção de dar de novo meia-volta ao
cavalo.
– O tempo é algo relativo, Excelência – insistiu Antero. – Eu
encontrava-me no seu ministério quando o tremor de terra começou
a fazer-se sentir. Fui lá para o avisar de que o sismo estava
iminente. Se me tivesse recebido, poderiam estar vivas pessoas que
entretanto já morreram.
O ministro voltou a deixar cair as rédeas. Semicerrou as
pálpebras.
– Tem mesmo a língua afiada. A sova deveria ser bem forte.
Como pretende ter sabido do tremor de terra?
– Sou cientista. Reconheci indícios. Havia enxofre na água dos
chafarizes. Animais que fugiram. As marés que não vieram.
A expressão no rosto do ministro iluminou-se.
– Quer dizer que pode explicar a razão pela qual ocorrem os
tremores de terra?
Conseguira captar a sua atenção, era já meio caminho andado.
Pelo menos o ministro já não se lhe dirigia como se estivesse a falar
com um moço de estrebaria.
– Estou quase a descobri-la – afirmou Antero. – Dê-me uma
semana.
– E quem me diz a mim que não me está a tomar por parvo? E se
foi Gabriel Malagrida quem o enviou? Pode bem ter sido essa a
razão pela qual se deslocou ao ministério.
– Há duas razões pelas quais deve confiar em mim. A primeira é
que eu sabia com antecedência que o terramoto ia ocorrer. Aquele
senhor ali – disse Antero, apontando para o homem com quem
falara na antecâmara do gabinete do ministro – é minha
testemunha. Falei com ele quando estive no ministério.
O ministro virou-se para o homem, pelo que este, contrafeito,
admitiu:
– É verdade. Ele falou-me de um tremor de terra.
– E você não me avisou? – perguntou o ministro, com ênfase. O
homem engoliu em seco.
– A segunda razão – prosseguiu Antero – é que os Jesuítas
aproveitarão o terramoto para ganhar poder. Irão explicá-lo como
uma punição imposta por Deus. Eu poderei ajudá-lo a manter o
povo calmo. Um povo intimidado é a última coisa de que Portugal
precisa num momento destes. Com a capital destruída, o Reino caiu
também por terra.
O ministro virou-se para um dos soldados.
– Desmonte. Prossiga a pé. O cavalo irá transportar o cientista e a
criança.
Obediente, o soldado desceu do cavalo. Conduziu o animal até
junto de Antero e entregou-lhe as rédeas.
Antero ergueu Samira até à sela. Enfiou o seu pé esquerdo no
estribo e subiu para o cavalo. De imediato, o ministro deu ordem
para continuarem. Seguiam a trote. Os obstáculos que surgiam no
caminho eram contornados a passo.
– É o braço-direito de Malagrida, segundo disse. Por que razão
está a agir contra ele? – perguntou o ministro.
Antero teve de refletir. Não pretendia falar acerca de Julie.
– Malagrida despreza a fraqueza. Disse-me com frequência que
eu deveria deixar de sonhar. Só que, na verdade, eu não estava a
sonhar, mas atento aos pormenores, observava-os e refletia acerca
deles. Malagrida esperava uma outra espécie de força.
– E, enquanto cientista, ele não quis mantê-lo junto de si? E por-
que não, se é essa a sua vocação?
– Julgo que ele pretendia fazer de mim um segundo Malagrida.
Havia coisas cujo significado só se entendia inteiramente depois
de serem ditas em voz alta. Antero abraçou Samira, sentada na sela
diante de si. Afagou-lhe a cabeça com a mão.
– Papá – murmurou a pequenita –, o cavalo é bonito.
Foram-se aproximando de Belém. O Mosteiro dos Jerónimos e a
igreja de pedra branca adjacente continuavam de pé, só da
balaustrada junto ao telhado haviam caído alguns pedaços, para
além de uma das torres ter ficado danificada. Também a torre
fortificada junto ao rio, com quatro andares de altura, resistira às
enormes vagas.
Iam passando diante de casas que pertenciam a aristocratas.
Algumas delas tinham fissuras nas paredes, a outras desabara o
telhado. O Palácio de Belém ainda fumegava, também aí parecia ter
ocorrido um incêndio.
Nos devastados jardins, deram com o rei, incólume e rodeado de
soldados e conselheiros. Sebastião de Carvalho indicou a Antero os
nomes destes. Estavam ali Pedro de Bragança, desembargador do
Paço, Diogo de Noronha, o estribeiro-mor, de sessenta e sete anos,
que comandava uma parte das forças militares, Fernão Teles da
Silva, o presidente do Senado de Lisboa e responsável pela
economia, e ainda o comandante supremo das tropas, o marquês
de Abrantes.
– Acha que a minha filha pode ficar à espera junto das princesas?
– perguntou Antero logo depois de desmontar.
Sebastião de Carvalho chamou um dos criados reais e ordenou:
– Acompanhe esta menina até junto das princesas. Lá deverão
tomar conta dela.
Antero deu-lhe um abraço apertado e segredou-lhe ao ouvido:
– Não tenhas medo. Daqui a nada vou buscar-te – dito isto, voltou
a colocá-la no chão.
Obediente, afastou-se, seguindo ao lado do criado, que a levava
pela mão, mas enquanto ia andando manteve a cabeça virada para
trás e ficou a olhar para ele, como se estivessem a conduzi-la ao
cadafalso. «Ela vai reparar que estão a tratá-la bem», disse Antero
para si mesmo. «Não tardará a esquecer o medo que agora sente.»
– Os soldados que desapareçam – ordenou o rei.
Tinha uma cara redonda, um queixo duplo e lábios grossos que
pareciam fazer beicinho. A casaca ficava-lhe muito justa ao corpo,
entroncado e de baixa estatura, tendo sido confecionada num tecido
de seda cinzento-clara, ornamentado com folhas e gavinhas
bordadas a dourado. O rei era um adulto e, no entanto, não deixava
de parecer uma criança mimada e rabugenta, capaz de pôr tudo e
todos a mexer quando estava insatisfeito.
– Majestade, é para vossa proteção que eles estão aqui –
respondeu o estribeiro-mor.
– Contra um tremor de terra eles nada podem fazer – replicou o
rei –, absolutamente nada.
– Numa hora difícil, deverá demonstrar a vossa proximidade às
tropas – disse o marquês de Abrantes. – Nestes dias, a ninguém
deverá ser permitido duvidar acerca de quem é que afinal tem as
rédeas na mão, e que o poder se encontra unicamente nas vossas
mãos.
O rei remexia num dos botões da sua casaca, de forma esférica,
debruado com fios dourados.
– Presumimos – disse ele, dirigindo-se aos homens que tinham
acabado de chegar – que logo à noite não poderemos deslocar-nos
para Lisboa?
O rei Dom José passava a maior parte dos dias na sua
propriedade em Belém e só ao fim do dia regressava a Lisboa para
se reunir com os seus ministros. Na verdade, delegava neles o seu
trabalho. As suas atenções eram dedicadas sobretudo à caça, à
equitação e à ópera. Antero perguntava-se se todos os reis seriam
assim.
– Hoje não vos aconselharia fazê-lo, Majestade – interveio
Sebastião de Carvalho. – E também vos recomendaria que, nos
tempos que se seguem, vos mantivésseis longe de Lisboa – olhou
para os outros conselheiros. – A cidade está destruída. O tremor de
terra, os incêndios e a enorme vaga custaram a vida a dezenas de
milhares de pessoas, centenas delas encontram-se ainda
soterradas e neste preciso momento, enquanto falamos, estão a
morrer sufocadas. Praticamente não ficou pedra sobre pedra.
Duzentas e cinquenta mil pessoas precisam de ser abrigadas e
alimentadas. Os cadáveres terão de ser retirados das ruas,
mantimentos deverão ser fornecidos, e rapidamente, caso contrário
Lisboa transformar-se-á num inferno.
– De acordo com o que descreve, prezado ministro, Lisboa já é
um inferno – comentou o estribeiro-mor.
– Que haveremos de fazer? – disse o rei, piscando os olhos. –
Um tremor de terra, está tudo destruído... Que dizia, quantos
mortos... ?
– Dezenas de milhares, Majestade.
Os conselheiros empalideceram.
– É o fim – murmurou o rei.
– Se não agirmos depressa, a situação piorará – disse Sebastião
de Carvalho. – Foi um choque, é um pesadelo, mas não nos
podemos dar ao luxo de ficar horrorizados, cada momento de
hesitação custa mais vidas humanas. Não tardará a que as pessoas
estejam a passar fome. Além disso, daqui a pouco surgirão
saqueadores a tirar partido da confusão.
– E o que aconselha? – perguntou Dom José.
– Em relação aos saqueadores? – perguntou Sebastião de
Carvalho. Ao prosseguir, foi contando com os dedos: – Em primeiro
lugar, há ouro e prata armazenados na Casa da Moeda. Isto é de
conhecimento generalizado. Eu trataria de enviar o mais depressa
possível soldados para a proteger. Vossa Majestade irá precisar de
dinheiro para comprar alimentos e materiais de construção no
estrangeiro. Em segundo lugar, as prisões têm de…
– Prezado ministro – interrompeu-o o marquês de Abran- tes –,
está a subestimar os meus oficiais. Tenho a certeza de que já há
muito se deram conta disso mesmo e de que a Casa da Moeda se
encontra já bem guardada. Tal como nós, também os oficiais sabem
que, com a frota do Brasil, acabou de chegar nova remessa de ouro.
– Acabo de vir diretamente de Lisboa, senhor marquês – replicou
o ministro. – Foi com os meus próprios olhos que vi que a maior
parte da guarnição fugiu da cidade, juntamente com o resto da
população. Neste momento, a Casa da Moeda é defendida apenas
por um jovem tenente e quatro soldados, e eu mesmo lhes prometi
que providenciaria ajuda.
– E em relação às prisões? – perguntou o rei. – Que queria dizer?
– As prisões, tal como todos os demais edifícios, sofreram
estragos com o tremor de terra. Fugiram ladrões, bem como
condenados às galés e condenados à morte. Precisamos de um
lugar seguro para os manter. Na Torre de Belém não há lugares que
cheguem. O meu arquiteto, Nicolau Fernandes, poderá ocupar-se
de erigir uma prisão provisória.
O rei acenou afirmativamente com a cabeça.
– E de que precisa? – perguntou o ministro, dirigindo-se ao
homem que Antero conhecia da antecâmara do ministério.
– Refere-se a mim? – Nicolau Fernandes engoliu em seco. – De
madeira. Pedra podemos nós ir buscar aos destroços. Preciso de
uma dúzia de homens, mais quatro ou cinco artífices experientes, e
cal para a argamassa.
– Se queremos abastecer de mantimentos duzentas e cinquenta
mil pessoas – acrescentou Sebastião de Carvalho –, temos de fazer
entrar carroças pela cidade. Para isso, os caminhos e ruas têm de
voltar a ser transitáveis. Os meus mestres-de-obras podem ocupar-
se disso, desde que lhes atribuamos soldados que os possam
ajudar.
O comandante supremo das tropas franziu a testa.
Nicolau Fernandes ergueu a mão, mas como ninguém reagiu
tratou de falar:
– Proponho que, em certas zonas da cidade, criemos vazadouros
para entulho. Aí poderemos escolher melhor os destroços, pois
decerto que ainda haverá muito que se possa aproveitar como
material de construção.
– Parece-me muito bem que esteja aqui a fazer todas essas
propostas – comentou o marquês de Abrantes –, mas a tomada
deste tipo de decisões é competência do secretário de Estado do
Reino. O Sebastião de Carvalho é responsável pelas relações com
outros reinos. Se mo permite, o abastecimento do povo, tão
castigado pelo destino, não é tarefa sua.
– Isso é verdade – concordou o estribeiro-mor. – Vossa Majestade
deveria encarregar o secretário de Estado do Reino do cumprimento
destas tarefas.
Pedro de Bragança, o desembargador do Paço, pronunciou-se:
– Também eu sou da mesma opinião.
– E eu – acrescentou Fernão Teles da Silva. – É um absurdo que
o ministro dos Negócios Estrangeiros se coloque deste modo em
primeiro plano. Está a imiscuir-se em assuntos que não lhe dizem
respeito. Tirar vergonhosamente partido da desgraça para ampliar
as suas competências! Isso é inaudito.
– Quem é afinal este estranho que você trouxe consigo? –
perguntou o marquês de Abrantes. – Por que razão tem ele de
assistir a estas nossas deliberações?
– Ele é cientista. – Sebastião de Carvalho virou-se para Antero. –
Apresente-se você mesmo.
– O meu nome é Antero Moreira de Mendonça. Investigo tremores
de terra.
Por instantes reinou um silêncio frio e hostil. Foi o rei quem lhe
pôs fim, ao colocar a mão sobre o braço de Sebastião de Carvalho e
dizer:
– Pedimos-lhe que nos deixe até que voltemos a chamá-lo.
– Com certeza.
O ministro fez uma vénia e retirou-se. Quando se afastou,
começou o rei:
– Todos sabemos que Frei Gaspar da Encarnação está doente e
que não pode já assumir as tarefas de um secretário de Estado do
Reino. Os médicos não lhe dão mais do que alguns meses de vida.
– Nesse caso – disse o presidente do Senado –, deverá ser
nomeado um sucessor. A catástrofe que assolou o nosso país exige
ações decididas.
– É isso mesmo – o Rei pegou num instrumento de aço em forma
de garfo, com dois dentes, que trazia consigo. Tocou com ele na
fivela do seu cinto e aproximou-o do seu ouvido. – Sabiam que foi o
trompetista inglês John Shore quem inventou este instrumento?
Deu-lhe o nome de diapasão. Produz um som claro e magnífico –
olharam para o rei como se este tivesse ficado louco. – O meu reino
está destruído, mas ainda me resta a música. Uma ideia
consoladora – olhando para o diapasão, declarou: – Decidimos
nomear Sebastião de Carvalho secretário de Estado do Reino, – os
presentes aproximaram-se. – Alguém tem objecções a levantar?
O estribeiro-mor pigarreou.
– Majestade, como bem sabe, eu já servi o seu pai. E deixo à sua
consideração que já o rei Dom João, com toda a sua experiência,
não gostava muito deste indivíduo. Disse-me ele certa vez que
Sebastião de Carvalho não tinha bom coração.
– E que me diz você mesmo?
– Eu pergunto como foi que ele se tornou ministro dos Negócios
Estrangeiros e da Guerra? Por intermédio da rainha, a senhora sua
mãe. Ela gostava dele por ter casado com uma austríaca. É tudo.
Se me pergunta, Majestade, acho que ele não está capacitado para
assumir um cargo de tamanha importância.
– Nem sabe o que é ser português! – prosseguiu o marquês de
Abrantes. – E é um homem destes que deverá assumir a
responsabilidade pelo Reino? Que sabe afinal a respeito de
Portugal? Começou por ser, durante quatro anos, enviado à Corte
inglesa, depois esteve outros quatro em Viena. Por todo o lado
tomou contacto com tudo o que é modernidade, que aqui quis
introduzir, contra a vontade da nobreza e da população. Iria aniquilar
ainda mais o Reino.
– É filho de um simples membro da pequena nobreza de província
– interveio o presidente do Senado, Fernão Teles da Silva. – A
nobreza jamais lhe daria ouvidos. Pode bem ser que o seu rosto
possua traços de nobreza e que tenha adotado uma postura distinta.
Não deixa, porém, de ser um arrivista. O seu irmão é um mero
sacerdote! Não fosse ele o protegido do secretário de Estado
Coutinho e jamais teria tido acesso à Corte.
– O que é afinal aquilo que o distingue? – perguntou Pedro de
Bragança, o desembargador do Paço. – Por que razão deverá ser
nomeado, precisamente ele, secretário de Estado do Reino? Que
características o habilitam para tal função?
Antero pigarreou.
– Sou apenas um cientista – começou ele –, mas eu…
– O melhor será manter-se em silêncio – interrompeu-o o
marquês de Abrantes. – É claro que, enquanto conselheiro do
ministro, tem todo o interesse que ele consiga obter o mais
poderoso cargo deste Reino. Pode bem poupar o seu discurso
interesseiro.
O rei esboçou uma expressão de desagrado.
– Deixe-o dizer aquilo que ele tem para dizer.
Que sabia ele a respeito de Sebastião de Carvalho? Não era
muita coisa, apenas o mesmo que toda a gente. Teria de dar a
entender que o sabia por experiência própria. O rei prezava aquele
ministro e Sebastião de Carvalho prezava as ciências. Se Antero o
ajudasse a tornar-se secretário de Estado, ganharia porventura o
apoio dos dois homens mais poderosos do Reino.
– Sebastião de Carvalho é um homem muito trabalhador. Bem
cedo pela manhã está já sentado à secretária e trata da
correspondência com os seus enviados. Devemos-lhe muito, por
exemplo, a reforma da legislação em relação às minas no Brasil.
Acaso já nos esquecemos como isso permitiu aumentar as receitas
e retirar poder ao incómodo Conselho Ultramarino? Quem foi afinal
que baixou os impostos sobre o tabaco e açúcar? O ministro! Desde
então, o contrabando diminuiu, uma vez que essa atividade se
tornou menos atrativa para os que a exercem. Sebastião de
Carvalho reorganizou o comércio de diamantes. E fundou a
Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que
regula o comércio com o Brasil e os direitos dos colonos e
comerciantes do Pará-Maranhão. Este homem não é um arrivista, é
um servidor do Reino de Portugal dotado de singulares aptidões e
sobremaneira diligente. Estudou história, política e direito na
Universidade de Coimbra. Portugal é a sua principal preocupação.
Com que frequência no seu gabinete se discute qual será a melhor
maneira de conseguir que o nosso pequeno país mantenha a sua
importância económica no âmbito de um sistema internacional
dominado por países maiores e mais fortes, tais como a Grã-
Bretanha, a Prússia, a França ou a Rússia! Tudo o que é, tudo o
que tem é por ele aplicado em prol de Portugal.
– Pequeno país? – o estribeiro-mor enrubesceu de fúria. – Fomos
nós que descobrimos o caminho marítimo para a Índia! Lisboa é a
cidade comercial mais importante do mundo! Dispomos de riquezas
com as quais outros reinos apenas sonham!
– A cidade comercial mais importante do mundo está reduzida a
um monte de destroços. De resto, em relação a essas questões o
melhor será entender-se diretamente com ele. Não sei exatamente o
que pensa a esse respeito.
– Mas sei eu! – afirmou o estribeiro-mor. – Considera, por
exemplo, que através do Tratado de Methuen apenas beneficiámos
os Ingleses!
Antero começou a transpirar.
– Preocupa-o bastante que já não sejamos capazes de produzir o
necessário para nos alimentarmos. O comércio colonial tornou-nos
indolentes. Temos de importar cereais, vestuário, armas e pólvora.
Muitas indústrias estão de rastos. Basta pensar em quantos navios
a nossa grande nação de navegantes construiu nos últimos anos.
Face à construção naval da Grã-Bretanha ficámos bastante para
trás.
– É uma pessoa destas – perguntou o presidente do Senado com
aspereza – que deverá vir a ser o secretário de Estado do Reino?
Alguém que nos coloca mal? Alguém que nos rouba o direito a ter
orgulho?
Olharam todos na direção do rei. Este, porém, focou o olhar no
infinito.
– Ouvimos as vossas objeções. Não se esqueçam, contudo, de
que o Reino sofreu hoje o mais rude golpe da sua história. Ter-se-á
de proceder à reconstrução e essa tarefa cabe a alguém que não
esteja preso às velhas estruturas. Sebastião de Carvalho representa
os tempos novos, a modernidade, cada um de vocês o aceitará. É
ele o homem certo para esta tarefa. Pretendemos que daqui em
diante obedeçam aos seus desejos – o rei virou-se então para o
jardim. – Ainda hoje de manhã este jardim agora destruído era um
mar de flores. O aroma das rosas e das árvores de fruto em flor
concedia tranquilidade à nossa alma – voltou a tocar com o
diapasão na fivela do cinto e aproximou-o do ouvido. – Queremos
que este jardim seja novamente replantado. Sebes de árvores de
fruto, dispostas em latada, paliçadas cobertas de videiras, ali, junto
aos carreiros. Além disso, os chafarizes têm de ser reparados, e
queremos ainda que os lagos sejam limpos – olhou para o arquiteto.
– Qual é mesmo o seu nome?
– Nicolau Fernandes, Majestade.
– Fica responsável por nos fazer isso, Dom Nicolau Fernandes.
O coração de Antero batia fortemente no interior do peito.
Chegara a altura certa.
– Majestade – disse –, posso dar-lhe uma palavrinha a sós?
O rei esboçou um esgar de contrariedade.
– É mesmo necessário?
– Aquilo que tenho para dizer deverá, de início, ser apenas Vossa
Majestade a ouvir. Depois poderá decidir a quem mais o irá dizer.
O rei abanou a mão sem grande entusiasmo.
– Deixem-nos. Todos, à exceção do cientista.
Quando os dignitários se afastaram, tratou o rei de retesar o seu
corpo.
– Vá, diga sem rodeios! – ordenou ele. – Que notícia terrível tem
para nos dar? Vai haver mais tremores de terra?
– Haverá réplicas, em todo o caso. Mas é em relação a outra
coisa que quero avisar-vos. Em relação a uma pessoa.
– E quem é essa pessoa?
– Gabriel Malagrida.
O rosto do rei adotou uma expressão carrancuda.
– O padre Malagrida foi o confessor dos nossos pais. Goza de
grande reputação entre o povo e foi muito aquilo que fez por nós no
Brasil. Pode bem ser que tenha também feito muito pela Ordem dos
Jesuítas, mas está no seu direito, ou não? Não queremos ouvir
afrontas contra ele! Já lhe vedámos o acesso aos nossos palácios,
foi castigo suficiente.
– Já não se trata apenas da Companhia de Jesus. O terramoto…
– Temos espiões na Corte de Espanha – interrompeu-o o rei –, na
de França e na de Inglaterra, e eles, na nossa. Por que não
haveriam os Jesuítas de empregar esse tipo de gente também? As
coisas são assim mesmo. E é para essas banalidades que você
pede uma audiência em privado? É claro que os Jesuítas têm
espiões que escutam os nossos conselheiros! Se por isso nos
pusermos de mal com eles, prejudicamos a reputação deles e a
nossa, e ainda conseguimos deixar o Papa furioso com o nosso
país.
– Não se trata disso, Majestade. Sei bem quem é Gabriel
Malagrida e aquilo que faz. Fui o seu braço-direito – surpreendido, o
rei franziu o sobrolho. – Permite-me que fale livremente?
– Faça favor.
– Se Vossa Majestade não agir – disse Antero –, o terramoto
causará ao nosso país danos ainda maiores do que aqueles que já
sofreu. O que confere grandeza a reinos como a Inglaterra ou a
Espanha? O comércio e as ciências. No nosso país, Majestade, são
estrangeiros que conduzem os negócios comerciais, há muito que
as maiores frotas pertencem já aos Britânicos e aos Alemães. E as
ciências estão a ser sufocadas. Em lugar algum é a Inquisição tão
poderosa quanto cá. Digo-vos então o que vai acontecer nos
próximos meses. Gabriel Malagrida explicará o terramoto como
sendo um castigo de Deus e com isso conseguirá subjugar todos
aqueles portugueses que até agora haviam duvidado dele como
profeta. Tornará o vosso povo medroso e acabarão por se perder as
ligações aos grandes reinos.
– Você dizia que é cientista. Este terramoto é um fenómeno
natural ou é um castigo de Deus?
– Deus pode provocar fenómenos naturais para nos castigar, mas
tenho a certeza de que este é explicável.
– Poderíamos prevenir futuros tremores de terra?
– É possível que sim. Terei ainda de tentar investigá-lo. É
precisamente essa a minha intenção: quem tiver a supremacia na
explicação dos terramotos será aquele que irá deter o poder. E é
Vossa Majestade que o deverá ter, não o medo instigado pelo
profeta Malagrida, o medo de castigos futuros. Só num país em que
haja liberdade é que o comércio e as ciências florescem.
– De que precisa?
– De um cavalo, para poder regressar rapidamente a Lisboa. E
uma bússola, para conseguir determinar a orientação predominante
dos destroços. Mais tarde talvez ainda algumas substâncias
químicas para realizar experiências.
– Receberá tudo isso. Nós mesmos e os nossos sacerdotes
iremos rezar para apaziguar a ira de Deus. Entretanto, investigue as
causas naturais. Se encontrar uma maneira de conseguir evitar
estas terríveis catástrofes, poderá ter a certeza do nosso apoio.
– Agradeço-vos.
O rei deu meia-volta, mas de seguida voltou a virar-se na direção
de Antero.
– E trate de arranjar provas. Temos de conseguir convencer o
povo.
Leonor vomitou água. Um jacto compacto jorrou-lhe da boca. Teve
medo de asfixiar. Quando por fim terminou e pôde voltar a respirar
normalmente, desceu da ruína, de rastos e a tremer. Sentia-se como
se todos os seus ossos estivessem quebrados. As roupas e os
cabelos fediam, ensopados que estavam com a água suja.
Por todo o lado os destroços, encharcados, deixavam escorrer
água. Era esta a calamidade de que Gabriel Malagrida falara. Tinha
anunciado o tremor de terra, há semanas que enviava os seus
noviços pelas ruas e os fazia recitar sermões de advertência.
Malagrida não era profeta nenhum. Deveria antes ser um cientista,
bem melhor até do que ela julgara.
Como poderia ele ter sabido de antemão da ocorrência de um
tremor de terra?
Os Jesuítas eram investigadores incansáveis. Haviam explorado
vastas áreas da selva brasileira, bem como a Índia, a China e o
Tibete. Dessas suas viagens tinham trazido espécimes de plantas
vivas, frutos e sementes, especiarias, partes de planta secas,
essências e extratos, ampliando assim os conhecimentos acerca do
mundo criado por Deus. Enquanto ainda havia gente incapaz de
acreditar que os relâmpagos são um fenómeno elétrico, os Jesuítas
já há muito que buscavam outras respostas.
Teria de se manter próxima de Gabriel Malagrida e de aprender o
modo como ele pensava, como descobria os segredos que
pretendia. Gabriel Malagrida, ao contrário do que a maioria dos
homens fazia, não desprezava as mulheres, e julgava-a capaz de
realizar grandes feitos.
Havia três semanas, Malagrida tinha-lhe dito o seguinte:
– Se uma catástrofe se abater sobre a cidade de Lisboa, vá ter à
margem do Tejo e encontre-se lá comigo.
Isso queria dizer que ele calculara que, ao serem destruídos
fornos e fogões, ocorreriam incêndios, mas que não previra a onda
de maré.
Teria o pai sobrevivido? A pergunta dava-lhe a volta ao estômago.
Tinha de ir procurá-lo. E que acontecera com o corpo de Dalila?
Oxalá Jerónimo tivesse conseguido salvá-lo da torrente.
Lisboa tornara-se uma cidade-fantasma. Aqui e ali algumas
pessoas trepavam pelos destroços e gritavam, em busca dos seus
familiares. Erguiam pedras, quais corvos que respigam o lixo.
Leonor olhou em redor. Era fácil perder o norte no meio de todas
aquelas ruínas. A avaliar somente pelas colinas, deveria encontrar-
se acima de Alfama. Seria aquilo o que restava da Igreja de São
Martinho? Uma pequena árvore, arrancada pela raiz, encontrava-se
no meio dos escombros.
Junto às pedras registou Leonor algum movimento. Viu uma mão
suja que tateava para conseguir sair de um buraco. Deveria ser
alguém que estava ali soterrado. Dirigiu-se até lá e tocou na mão.
De imediato, os dedos imobilizaram-se.
– Eu ajudo – anunciou ela. – Recolha a mão, para não se magoar.
Conseguiria a pessoa soterrada perceber o que ela lhe dizia?
A mão desapareceu no interior do buraco. Usando a força de todo
o seu peso, Leonor empurrou o grande bloco de pedra em que a
mão tinha tocado. A pedra cedeu, produzindo um rangido, e ela
conseguiu fazê-la rolar para o lado. Logo de seguida reapareceu a
mão e depois um braço inteiro. Leonor continuou a afastar outras
pedras. Vindo do buraco, surgiu diante dela um rosto com barba, tão
enegrecido de sujidade que o branco dos olhos se destacava. Ela
afastou-se para retirar dali mais um pedaço de pedra. Ao regressar,
o homem apoiou-se nas pedras à esquerda e à direita do buraco
para conseguir sair para o exterior.
As suas roupas estavam encharcadas.
– Obrigado – disse ele, sorrindo para Leonor. Tinha os dentes
podres. A pera que usava havia sido entrançada de modo a formar
dois rabichos. Gritou lá para baixo: – Vá, embora, não percam
tempo! – depois olhou em redor e soltou um pequeno assobio. –
Houve aqui algumas mudanças.
Atrás dele, oito homens trataram de, num instante, sair do interior
do buraco. Todos tinham barbas descuidadas e roupas rasgadas e
molhadas. Qualquer deles emanava um odor corporal fétido.
Olhavam em redor, surpreendidos.
Leonor recuou. O Paço do Limoeiro! Situado junto à Igreja de São
Martinho. O Limoeiro era a prisão onde estavam aqueles que não
tinham emenda, os que haviam sido condenados ao degredo nos
territórios ultramarinos e que aguardavam nas suas celas o dia da
partida. Acabara de libertar criminosos!
Naquele dia, porém, as diferenças sociais não contavam para
nada. Não pôde deixar de pensar em João de Bragança, que na
praça do mercado estivera a distribuir cobertores pelos feridos. No
meio daquela grande aflição, os ricos ajudavam os pobres e vice-
versa.
– Bem-vindos à liberdade – disse ela. – Aproveitem esta
oportunidade. Poderão começar uma nova vida!
– É o que vamos fazer – o homem esboçou um sorriso, tendo os
seus companheiros feito precisamente o mesmo. – Ao que parece,
os guardas foram engolidos pelo chão.
A sua mão suja agarrou o braço de Leonor.
– Foi Deus quem poupou as vossas vidas. Agradeçam ao Todo-
Poderoso!
Puxou-a para junto de si. Agarrava nela com a firmeza de uma
tenaz.
– Minha bonequinha, se soubesses quanto eu esperei para poder
ter alguém como tu nos braços! – desatou a beijar o pescoço dela. –
Cheiras a água de rosas! Estiveste mesmo a pôr-te toda bonita para
nós, não foi?
Leonor tentava libertar-se.
– Deixa-a lá – disse um dos outros homens. – Mais tarde logo
tens tempo para isso. Vamos mas é tratar de arranjar ouro enquanto
reina a confusão! – subiu para um monte de escombros e olhou em
seu redor. – Estão todos a fugir. A ralé inteirinha está a abandonar a
cidade. Melhor não podia ser.
– Seja… – concordou aquele que a atormentava. – Vamos então
à Casa da Moeda! Esta coisinha boa vem connosco. Vou esconder-
lhe um montinho de cruzados entre as mamas e depois trato-lhe da
saúde.
15
As princesas estavam a chorar. Primeiro, Samira não conseguia
perceber qual a razão, até que a mais velha das duas apontou para
uma casa de bonecas e disse:
– Quero que se volte a pôr aquilo em ordem! – olhou para um dos
lacaios. – Trata disso!
As sobrancelhas negras da princesa franziram-se com um ar
ameaçador. As lágrimas haviam já desenhado um percurso ao longo
da sua face coberta com pó-de-arroz. Examinava cuidadosamente
os esforços do lacaio para voltar a pôr de pé os armários de
bonecas derrubados.
– Lamento muito, princesa, mas esta mesa terá de ser colada –
disse ele, pegando numa da qual uma das pernas se partira.
Com um ar carrancudo, ela acenou afirmativamente com a
cabeça.
Uma ama aproximou Samira delas e disse:
– Talvez queiram brincar com esta criança até a casa de bonecas
estar reparada? Diz lá o teu nome!
– Samira – respondeu a pequenita.
As princesas olharam para ela. Atrás delas, o lacaio envidava
esforços para consertar a casa de bonecas. As amas aproximaram-
se das princesas, pretendendo limpar-lhes as caras com lenços,
mas ambas recusaram.
– Como se chamam? – perguntou ela.
– Não sabes quem somos? – perguntou a mais nova. – Que
descaramento!
A mais velha cruzou os braços e disse:
– Chamo-me Maria Doroteia e sou a filha do rei.
A mais nova também cruzou os braços e anunciou:
– Chamo-me Maria Benedita e sou também filha do rei.
– Chamam-se as duas Maria? – perguntou Samira, confusa.
– Isso são coisas que ainda não percebes – disse a mais velha. –
És demasiado nova – dirigiu-se a um outro lacaio e ordenou-lhe: –
Traz-me as joias da minha avó!
O lacaio fez uma vénia e saiu dali apressado.
– Com que queres tu brincar? – Benedita examinou-a de alto a
baixo. – Não tens brinquedos nenhuns!
– Tenho, pois – replicou Samira. – Tenho uma bola, um cavalo de
madeira, um pássaro de brincar, uma panelinha…
– E onde? – interrompeu-a Doroteia.
– Em casa.
Porém, a casa estava destruída. Ao pensar nisso, sentiu a
garganta apertada. Já não tinha quarto, nem cama, nem a sua tia
Dalila. E mesmo que tornasse a ter uma nova cama e um novo
quarto, era certo que Dalila jamais voltaria.
O lacaio trouxe uma reluzente corrente de fios de ouro e prata.
Entregou-a a Doroteia em cima de uma almofada de veludo
vermelho. Doroteia pegou nela com as pontas dos dedos e segurou-
a junto à luz.
– Estas joias são minhas – afirmou. – Herdei-as da minha avó,
que morreu no ano passado. Uso-as em ocasiões festivas. Aqui,
bem no meio, o que vês é uma grande esmeralda. Veio da Índia.
Aqui, mais abaixo, é um diamante. Puseram muitos diamantes
pequeninos aqui em redor para o brilho ser assim forte. Não tens
coisas destas. E também não és uma princesa. E não tiveste uma
avó como a nossa, a Maria Ana de Áustria.
Samira engoliu em seco. O que tinha ela afinal? Apenas o seu
pai, que de vez em quando vinha visitá-la. E nos dias entre as
visitas, quem cuidaria dela? Quem lhe daria de comer? Quem iria
pô-la a dormir e fazer-lhe festinhas na cara, como fazia a tia Dalila?
– Eu tenho um cão – disse ela. – Chama-se Bento e é muito
esperto. Se lhe disser «senta-te!», ele obedece. Se lhe disser «anda
cá!», ele vem ter comigo – As princesas ficaram em silêncio,
pasmadas. – Quando eu digo «Salta!» e aponto para o banco, ele
salta lá para cima. Vai-me buscar os meus brinquedos. O Bento
escuta o que lhe digo. Ele gosta de mim.
– Os caçadores do meu pai têm muitos cães – acrescentou a
princesa Benedita, tentando salvar a situação. Era, porém, claro que
nada mais havia a contrapor ao que já tinha sido dito.
Antero segurou a bússola junto dos destroços. Esperou que a
agulha assumisse a posição definitiva. Vacilava para cá e para lá,
até que por fim se deteve. Noroeste. Fez mais um traço a lápis na
sua lista. Dezassete vezes noroeste, vinte e quatro, nordeste, doze,
sul, dezanove, oeste, vinte e uma, leste... Não. A solução não era
aquela. O impacto do tremor de terra não tinha qualquer direção
específica, como acontece com uma tempestade, que, ao deitar
árvores abaixo, o faz a todas na mesma direção. Os edifícios de
Lisboa desmoronaram-se de modo irregular, como maçãs que caem
de uma árvore que é abanada.
Cansado, alongou os músculos das costas.
Portanto, o estremecimento não só não se devia a uma explosão
provocada por uma mistura de enxofre, salitre e limalhas de ferro,
como também os abanões não ocorriam todos numa única direção.
Talvez afinal fosse mesmo uma explosão de vapor, causada por
águas profundas que se encontrassem com o fogo subterrâneo?
Antero afastou-se das ruínas negras e molhadas. Olhou para a
Praça do Rossio. Um fluxo constante de refugiados atravessava o
campo repleto de escombros. Homens, mulheres e crianças
trepavam e avançavam por entre os blocos de pedra e as traves
rachadas. Alguns deles levavam consigo os seus haveres. Outros
serviam de apoio aos feridos. O fluxo encaminhava-se para o norte.
As pessoas estavam a fugir da cidade.
Aquela ali não era a liteira do patriarca? Até mesmo o chefe da
Igreja abandonava Lisboa. Os adornos dourados e as cortinas azuis
da liteira destoavam da cena circundante, os aleijados que se
arrastavam sobre os destroços. Enquanto os carregadores
transportavam o patriarca por cima das pedras, a liteira ficava
inclinada e ia baloiçando, o que estranhamente fazia com que ele se
tornasse um entre tantos outros, um entre aqueles que estavam em
fuga, ainda que se escondesse no interior de uma caixa.
E ele, Antero? Não podia ir. Tinha aqui uma tarefa a cumprir,
precisava de investigar o terramoto e de pôr a descoberto o segredo
da sua causa. Desde que Malagrida tomara a vida de Antero nas
suas perigosas mãos, a sua situação degradara-se cada vez mais.
Malagrida arruinara-lhe os seus estudos. Fora ele quem lhe roubara
a capacidade de se espantar. Fechara o seu coração imaculado
numa armadura de ferro, tornara-o um mentiroso. No fim de contas,
fora ele quem matara Julie.
Malagrida intervinha em todo o lado, sugava as energias dos mais
fracos e era desse modo que ele próprio ganhava força. Não havia
dúvida de que sobrevivera ao terramoto. Uma pessoa daquelas
escapa a tudo. Iria conseguir retirar da catástrofe benefícios para si.
Só de pensar nisso, Antero sentia repugnância.
«Tenho de tentar travá-lo», disse para si mesmo. «É chegada a
altura de um ajuste de contas, a hora de colocar o açaime naquele
animal. Vou aprender o modo como a Terra se comporta e subjugar
Gabriel Malagrida.»
Inspirou profundamente. O plano que traçara encheu-o de ânimo.
Iria finalmente fazer aquilo para que fora destinado.
As fontes poderiam ser a chave para o enigma. Teria de descobrir
se ainda tinham aquela água sulfurosa ou se, após o tremor de
terra, o enxofre havia desaparecido. Começaria pelo Chafariz de El-
Rei. Virou-se para a sua montada.
O cavalo desaparecera.
Tinha-o prendido à balaustrada retorcida de uma varanda, era
impossível que se tivesse desprendido sozinho. Antero correu até
ao cruzamento com a rua mais próxima. Ali estava! Um grupo de
homens levava-o pelas rédeas.
Foi atrás deles, a coxear.
– Ei, esse cavalo aí é meu!
O homem que o segurava voltou-se na sua direção. Tinha a barba
entrançada de modo a formar rabichos. Esboçou um sorriso.
– Parece-me que ele prefere ir connosco.
– Devolva-me o cavalo!
O sorriso desapareceu do rosto do homem de barba.
– Esquece isso! E se não tratares de calar já o bico, faço-te um
lanho na garganta, percebes?
Um dos homens tinha um braço em redor do tronco de uma
mulher. Cabelos de um louro-escuro, encaracolados, vestido
amarelo dourado. Não era Dalila? O gesto grosseiro e obsceno do
braço em redor do corpo dela fez com que Antero, furioso,
pressionasse os maxilares um contra o outro.
Assim esfarrapados como estavam, aqueles tipos deviam ter
acabado de se escapar de alguma masmorra. Não eram para
brincadeiras. Antero virou-se para sul, para a direção donde vinha o
fluxo de refugiados. Dirigiu-se a um soldado que ajudava uma
senhora idosa.
– Preciso da sua ajuda!
– Lamento – respondeu o soldado. – Vou levar a minha mãe para
fora, para o campo. Não está a ver? Não posso deixá-la sozinha.
– Uns meliantes têm uma mulher em seu poder, devemos fazer
alguma coisa!
O soldado abanou a cabeça.
– A cidade está amaldiçoada. Aqui já só se morre.
– Onde encontro soldados que estejam de serviço?
– De serviço? O mundo vai acabar, homem. Ninguém está a
pensar no serviço – respondeu-lhe o soldado, enquanto continuava
a amparar a idosa.
Antero procurou avançar por entre os destroços. Não podia deixar
Dalila nas mãos daqueles homens. Ao pisar uma trave molhada,
escorregou e caiu na lama. Voltou a levantar-se. Foi graças à sua
vontade férrea que conseguiu forçar-se a continuar, coxeando.
O vento que soprava de nordeste trazia consigo pedaços de
fuligem e de cinza, cujas partículas irritavam a garganta de Antero,
que tossiu. Nas colinas, as ruínas em chamas proporcionavam uma
visão aterradora. Os incêndios cobriam o céu de nuvens negras e
conferiam um brilho avermelhado àquele extenso campo de
escombros que antes fora a capital do Reino.
Ouviu-se o estampido de um tiro. Donde viera? Fora mais adiante,
mas para a sua esquerda. O pequeno porto? O cais? Onde
soassem tiros, deveria haver soldados. Antero apressou-se,
tentando avançar o mais rápido possível. Tanto quanto a forte dor no
joelho lho permitisse, seguia a coxear quando percorria áreas sem
obstáculos. Os escombros que se lhe apresentavam pela frente
eram transpostos com a ajuda das mãos.
Tudo o que da Igreja de São Pedro restava de pé era uma porta e
alguns bancos carbonizados. O resto do edifício desaparecera. A
porta não conduzia a lado algum. Ao longe, para lá da porta, via as
águas do Tejo ainda agitadas. Na crista de cada vaga boiavam
pranchas de madeira e barris.
– Nem mais um passo! – gritou alguém. – Temos espingardas e
rebentamos com as vossas cabeças se não desaparecerem daqui.
– Vamos a ter calma, tenente – respondeu uma voz rude. – Nós
somos nove, vocês são só cinco. Além disso, as vossas balas vão
acertar no corpinho desta senhora inocente.
Seriam os criminosos? Antero aproximou-se furtivamente. A Casa
da Moeda! Claro, eles queriam roubar o ouro real precisavam do
cavalo dele para transportá-lo. O andar superior da Casa da Moeda
desmoronara, mas as resistentes paredes do andar inferior
continuavam de pé, quase incólumes. As janelas estavam
protegidas com grades de ferro forjado. A enchente não lavara por
completo as paredes da fuligem que nelas se depositara em
resultado dos incêndios, o que conferia à Casa da Moeda o aspecto
de um castelo sitiado.
Protegido pela ruína carbonizada e encharcada da casa vizinha,
Antero correu na direção da fachada da Casa da Moeda. Espreitou
pela esquina dessa construção e de imediato se recolheu. Diante da
Casa da Moeda, o grupo de homens sujos e barbados agachara-se
por detrás de um monte de entulho. Mantinham Dalila presa e
usavam-na como um escudo humano.
– Cada um não pode disparar mais do que um tiro – voz rude
pertencia ao homem com a barba entrançada. – E depois dos cinco
tiros, como pretendem enfrentar-nos? Não ouviste falar de mim e da
minha gente, ó tenente? Sou Diogo Barbosa. Se brigarmos com a
força dos punhos não vai ser difícil arrumar-vos a um canto. De
certeza que foi com dificuldade que sobreviveste ao terramoto.
Queres bater a bota agora? Ninguém quer saber se as caixas que
estás a guardar foram levadas pela água ou se alguém fugiu com
elas.
– O ouro pertence ao rei. Acham que por causa do terramoto as
leis deixaram de vigorar? Nesse caso, estão bem enganados.
– A tua guarnição pôs-se a milhas! – gritou Diogo Barbosa. Já não
há aqui vivalma. Queres ficar de guarda a uma cidade com o
tamanho de Lisboa? Não te iludas. Por todo o lado se está a
saquear, os cadáveres, as lojas, os armazéns. Não és tu que o vais
impedir.
– Não podemos estar em todo o lado – respondeu o tenente –,
mas os meus homens e eu vamos defender a Casa da Moeda.
Fomos destacados para aqui e é aqui que vamos lutar e morrer, se
for preciso. Mas nesse caso é certinho que te levamos connosco,
Barbosa.
Antero voltou a espreitar cuidadosamente pela esquina. O homem
de barba empurrou Dalila para a beira do monte de entulho,
segurava-a como se fosse um pedaço de carne sem valor, embora
naquela situação servisse perfeitamente para apanhar com balas a
ele destinadas. Antero foi sentindo uma raiva crescente. Fora ela
que tinha retirado a filha dele dos escombros! Merecia a sua ajuda.
– Que vai o rei fazer com o ouro? – gritou o patife. – A maior parte
dos navios está destruída e no mercado não há nada para comprar.
Em tempos de necessidade, o ouro vale tanto quanto o pó! – logo
de seguida segredou qualquer coisa aos seus homens. Quatro deles
esgueiraram-se na direção de Antero.
Antero recolheu-se e afastou-se da esquina. Com certeza
Barbosa pretendia que os seus homens se introduzissem na Casa
da Moeda pelas traseiras. Se ali o encontrassem acabavam com ele
naquele mesmo instante.
Pegou em duas pedras e logo de seguida largou-as no chão.
– Merda! – deixou escapar.
Os quatro homens detiveram-se.
– Barbosa, está ali alguém atrás da ruína – disseram.
Antero disfarçou a voz e disse:
– Já não basta que não veja onde põe os pés, soldado! Além
disso, também não sabe ficar calado! Tem ordens para assumir
posição sem dar nas vistas e acaba por revelar a nossa localização?
– Camaradas? – gritou o tenente que estava na Casa da Moeda.
Antero arrastou o pé no chão por cima do entulho.
– Não se preocupe, tenente! – acrescentou – Estes rafeiros não
vão escapar.
– Graças a Deus!
Acocorou-se e espreitou pela esquina. Os quatro homens
regressaram para junto do monte de entulho. Barbosa, porém,
franziu a testa. Recebeu-os com indignação:
– Seus cobardes! Se ali estivessem soldados, já há muito que vos
teriam alvejado. Alguém está a tentar passar-nos a perna.
Dalila olhou na sua direção, como que suplicando ajuda. Os
quatro homens deram novamente meia volta. Que seguravam na
mão? Cada um trazia uma espécie de trouxa de tecido. Enquanto se
aproximavam, um deles deixou-a cair, mas segurou a ponta do
tecido com firmeza. O centro da trouxa caiu pesadamente, ficando
pendurado a meio caminho do chão. Tinham embrulhado pedras em
tiras de tecido, para lhes dar balanço! Não se mostrou nada
preocupado com a possibilidade de ser atingido com uma daquelas
pedras na cabeça.
«Corre daqui para fora!», berrou-lhe uma voz interior. «Foge a
sete pés!» No entanto, logo se lhe sobrepuseram amargos
pensamentos, que lhe deixariam a consciência pesada como
chumbo e que lhe impediram a fuga. Iriam fazer mal a Dalila. Como
seria capaz de continuar a viver se soubesse que tinha permitido tal
coisa?
Pôs o pior ar de mau que conseguiu. Levantou-se e pôs-se a
descoberto.
– Vocês é que escolhem. Rendam-se ou morrerão.
Os quatro homens esboçaram um sorriso. Tinham os dentes
negros.
– Já não basta que não veja onde põe os pés, soldado! – imitou
um deles. Começou a fazer a pedra girar no ar para tomar balanço,
à medida que se iam aproximando. – Achavas que conseguias
fazer-nos de parvos?
– Como queiram. Afinal decidiram morrer – afirmou Antero,
começando a caminhar na direção dos homens.
Os rostos deles mostraram-se confusos. Foi então que um
começou a rodar o braço para a pedra ganhar balanço.
– És tu que vais morrer, amiguinho!
Antero esquivou-se ao golpe. A pedra passou-lhe rente à cabeça,
emitindo um perigoso silvo. Um tufo de cabelo de Antero chegou
mesmo a ser levantado pela deslocação do ar. Antes que o próximo
pudesse atacar, projetou o corpo para a esquerda e apressou-se a
correr entre a ruína e o monte de entulho na direção da Casa da
Moeda.
Os quatro homens correram atrás dele.
Antero deu tudo por tudo. A cada passo, a perna doía-lhe. Diante
do monte de entulho virou-se para a direita, avançou a coxear para
a Casa da Moeda e gritou:
– Vá, tenente, dispare!
Pouco depois relampejou, vindo da casa, o fogo das armas.
Ouviram-se quatro tiros. Antero olhou por cima do ombro. Três dos
homens caíram. O quarto continuava a persegui-lo e, com o rosto
desfigurado pela fúria, berrou:
– Eu mato-te, porco!
Por detrás do monte de entulho, Barbosa gritou:
– Adiante, homens! As espingardas deram o que tinham a dar,
vamos direitos ao ouro!
Os restantes cúmplices precipitaram-se, por cima do monte de
entulho, rumo à Casa da Moeda.
Foi disparado um quinto tiro. Um dos criminosos caiu ao chão,
segurando o ombro enquanto gritava. Antero descreveu um círculo,
a correr, em redor do monte de entulho e, tal como esperava,
haviam deixado a mulher para trás ao iniciar o assalto.
Recebeu uma forte pancada nas costas. Uma onda de dor
perpassou-lhe o corpo, que se vergou e aterrou sobre os joelhos
com toda a força. A dor irradiava com impulsos cada vez mais
vigorosos. Antero soltou um gemido. O perseguidor deveria ter-lhe
acertado com aquela espécie de funda. Viu um pé sujo, com unhas
amareladas, avançar na sua direção. O pontapé dirigiu-se com
violência ao estômago. Todo o fôlego esvaiu-se-lhe.
Antero tateou o chão, em busca de um fragmento de entulho.
Pegou no primeiro que encontrou com tamanho suficiente e com ele
golpeou o pé do atacante. Um estremecimento percorreu o corpo do
homem. Antero voltou a bater-lhe com a pedra na perna, mas
segurando na ponta do tecido, o atacante imprimiu à pedra uma
rotação e atingiu Antero no ombro. Sentindo a pancada como se
algo lhe furasse a carne até às profundezas, Antero berrou de dor.
Depois agarrou a camisa esfarrapada do agressor e, aproveitando
o impulso para se levantar, agarrou-o pela barba e acertou-lhe com
o joelho entre as pernas. De um salto, pôs-se junto de Dalila e deu-
lhe a mão.
– Vamos embora daqui!
Enquanto se afastavam a correr, olhou para trás. O homem,
estava deitado no chão, curvado, puxava os joelhos contra a barriga
e produzia uns sons roufenhos. Para lá do monte de entulho, os
criminosos entraram na Casa da Moeda.
Levou Dalila para longe dali, na direção da margem do Tejo. Aí
chegados, virou para oeste. Correram por cima das poças, até que,
por entre as ruínas, avistaram a cúpula incendiada da catedral e as
paredes do palácio, despedaçadas pela onda, que demarcavam um
espaço vazio.
Ela recolheu a sua mão e ficou parada, de pé, ofegante.
– Não estou habituada – as faces dela apresentavam-se
enrubescidas pelo esforço. – A correr, quero eu dizer.
– Acredite que também os meus pulmões estão a arder.
Na verdade eram mais as costas que, a cada inspiração, lhe
provocavam dores, e o ombro, que fazia as dores irradiarem e
propagar-se por todo o corpo. Passou cuidadosamente a mão pela
perna. Uma mancha algures entre o azulado e o amarelado formara-
se em redor de toda a articulação do joelho. Cerrou os maxilares.
– E esta perna também já não consegue mais.
Quando voltou a erguer a cabeça, sentiu uma onda de calor
inundar-lhe o peito. Os luminosos olhos azuis dela estavam
apontados na sua direção.
– Foi muito corajoso – disse ela. – Salvou-me a vida.
Ele sorriu.
– Fez por merecer até mais do que isso, Dalila.
O olhar dela agitou-se. Estava a esconder qualquer coisa.
– Como está a sua filha? – perguntou ela.
– Ficou com as princesas reais em Belém. Ali não lhe falta nada.
– Vou procurar o meu pai. Espero que tenha sobrevivido à onda.
Agradeço-lhe novamente, do fundo do coração. Oxalá possa Deus
recompensar o seu altruísmo.
– Como está Leonor, a sua irmã?
Dalila hesitou um instante, depois virou-se para o lado e seguiu ao
longo da margem.
Antero ficou perplexo. Não conseguia perceber o comportamento
dela.
– Espere! – seguiu atrás dela, a coxear. Ao alcançá-la, reparou
que as lágrimas lhe corriam pela face abaixo.
– Tenho... de ir procurar o meu pai – repetiu ela.
– Seja o que for que tenha acontecido a Leonor, só posso dizer
que lamento terrivelmente. E estes homens, quero dizer… Aquilo
que lhe fizeram! Não será melhor eu acompanhá-la?
– Não. Por favor, deixe-me sozinha.
Ele deteve-se. Por que razão não era capaz de perceber o que se
passava na cabeça dela? Ela era-lhe uma estranha, mas, ao mesmo
tempo, o amor por ela acalentava-lhe o coração.
16
–Não vos vai faltar nada – declarou Gabriel Malagrida. – Eu sabia
que vinha aí um tremor de terra, e a tempo tratei de mandar pôr os
tesouros dos Jesuítas a salvo, fora da cidade.
As quatro figuras esfarrapadas olhavam-no com verdadeira
veneração.
– Terão comida à disposição e um teto sobre as vossas cabeças.
Antes de todos os outros começarem a construir, vou arranjar-vos
pedras e argamassa. Serão dos primeiros a ter uma casa nova.
As quatro figuras acenaram com a cabeça, em sinal de
agradecimento. Atrás deles brilhavam as traves incineradas e
encharcadas do edifício da autoridade portuária. A água pingava da
madeira e desenhava anéis numa poça escura.
– Confiam em mim?
– Confiamos em si, padre.
– Vão e misturem-se com os que fogem. Digam-lhes que os
Jesuítas estavam preparados e que eu tinha previsto a catástrofe
com exatidão para o primeiro dia de novembro.
As figuras andrajosas olharam para cima, surpreendidas.
– Vão preparar a terra para uma boa sementeira. Pregarei ao
povo, que irá novamente consagrar-se a Deus.
– Sim, padre.
– É tudo. Voltem aqui amanhã à noite.
Os outros fizeram uma vénia e retiraram-se.
Malagrida virou-se na direção do rio. O vento fustigava-lhe as
roupas. Na barcaça, com cerca de dez passos de comprimento, que
ele mandara reparar, carpinteiros martelavam, pregando pranchas
suplementares. Os seus ajudantes calafetavam as fendas com breu.
A água estava um pouco revolta, mas não mais do que em qualquer
outro dia ventoso.
Os habitantes de Lisboa ainda continuavam tolhidos pelo medo,
mas ele estava já, no seu interior, preparado para o que iria ocorrer,
pelo que conseguia agir com razoabilidade e eficácia, muito embora
aquela calamidade tivesse ocorrido há apenas algumas horas. É
claro que o terramoto o havia apanhado de surpresa também a ele,
pois convencera-se de que poderia abandonar a cidade a tempo,
logo que os indícios se avolumassem: aquele estremecimento do
chão ainda pouco pronunciado e de que mal se dava conta, as
fontes com águas alteradas. E depois surgira assim de repente, com
uma impetuosidade que nem mesmo ele fora capaz de prever.
Conseguira sobreviver e agora tinha de aproveitar, depressa e sem
hesitações, a vantagem que aquela situação lhe proporcionava,
concluindo os seus preparativos.
– Voltemos então a si, Leonor – declarou ele.
– Espere lá. Posso perguntar-lhe uma coisa?
Ele continuava virado para o rio, a observá-lo.
– Quer saber por que razão estou a mentir?
– Sim.
– Também mente quando faz os seus pretendentes acreditarem
naquilo que quer, ou não?
– É verdade – Leonor reprimiu o pensamento que a levou a
imaginar Antero. – Sinto dificuldade em explicar por que razão me
surpreende tanto ouvi-lo dizer uma mentira. Talvez tenha a ver com
o facto de até hoje eu pensar que o padre trabalhava ao serviço de
Deus.
– Eu trabalho ao serviço de Deus!
– E Ele precisa de que minta por Ele?
Gabriel Malagrida virou-se para ela.
– Pode acreditar quando lhe digo que desejaria que tal não fosse
necessário. Deus podia fazer de mim um Moisés. Um Elias – olhou-
a diretamente nos olhos. – Estou pronto. Tenho para Ele um exército
inteiro de servidores. Ofereço-Lhe a minha voz, que não é coisa de
pouca monta, e as minhas forças.
– Moisés tinha oitenta anos quando Deus o convocou. Talvez
precise de mais alguma paciência.
O líder dos Jesuítas inspirou de modo bastante audível.
– Não tenho mais tempo. Sabia que Sebastião de Carvalho
pretende encerrar as missões dos Jesuítas no Brasil? Mal se torne
secretário de Estado do Reino, irá persuadir o rei de que a nossa
influência na América do Sul é demasiado grande. Pretende que
sejam funcionários do Reino a assumirem o controlo na colónia.
– E isso seria mau?
– Os meus índios fazem-se ao mar nas suas jangadas para ir
pescar, enquanto Sebastião de Carvalho fica para aqui a fazer
intrigas. Levam consigo o arco e as setas e vão caçar para a floresta
tropical, e, sem que eles sequer disso se deem conta, um homem
de má índole faz tudo ao seu alcance em Portugal para lhes destruir
essa tranquilidade. Quer negar-lhes a nossa mão protetora. E não
se ficará por aí. O ministro pretende gradualmente retirar o poder à
Ordem dos Jesuítas. Não deverá manter-se no cargo nem três dias.
A cada dia que passa vão sendo maiores os danos que nos causa.
– Queria que, depois da catástrofe, eu viesse ter à margem do rio.
Aqui estou.
– E chegou mesmo a tempo, Leonor. Está na altura de
transformar o seu plano em realidade.
Gemidos e pedidos de ajuda faziam-se ouvir sob a escuridão do céu
noturno. No interior do que restava dos conventos situados em
zonas altas, o fogo continuava a grassar, e os palácios consumidos
pelo fogo que antes se erguiam nas encostas já só emitiam a luz
das brasas. Leonor seguiu o pai e o jesuíta através da noite. Tomás
assemelhava-se a uma gralha. O manto que o cobria esvoaçava ao
vento, as mãos magras destacavam-se deste conjunto, como se
fossem garras. O nariz, no rosto franzino, poderia perfeitamente
passar por um bico.
Um muro que se desmoronara bloqueava a escada que
pretendiam usar para descer a colina. Para a esquerda não
conseguiam continuar, por causa do fogo. Tomás virou para a
direita.
– Não entendo – perguntou o pai – por que razão ele quer falar
connosco logo nesta noite. Você tem noção de tudo o que hoje
perdemos? E de todas as tarefas que esta família tem pela frente,
se quiser sobreviver? Não posso perder nem uma hora!
– Não tardará a deixar de afligi-lo a ideia de tudo aquilo que hoje
perdeu, barão.
– Mas de que está a falar? – perguntou Leonor, que lhe custava
fazer naquele dia o papel da filha que sabia tanto quanto o pai. Não
estava habituada a vê-lo assim tão vulnerável e frágil. Preferiria tê-lo
posto logo ao corrente.
– Não te metas tu nisto – disse o pai.
– O padre Malagrida tem um plano grandioso – declarou Tomás. –
Já falei com o seu pai a respeito dele em algumas circunstâncias. O
padre Malagrida decidiu que a menina Leonor também poderia
desempenhar um papel nele. Deveria sentir-se honrada.
Obviamente que Tomás sabia que, no início, o plano até
começara por ser da autoria dela, mas o pai ignorava esse
pormenor. Acreditava que era ele mesmo que conduzia a família
rumo a uma vantajosa aliança com os Jesuítas.
– Como pode arquitetar planos numa noite como a de hoje? –
perguntou ela. – Nem temos sequer a certeza de continuar vivos!
Pode muito bem vir aí uma nova onda, ou porventura a terra voltar a
tremer. Onde havemos nós de refugiar-nos? Para onde podemos
levar o pouco que nos resta? Começa a correr o boato de que o
paiol do castelo está prestes a explodir, devido ao calor dos
incêndios. Nem sequer por lá se consegue estar seguro. E fala você
de planos secretos.
– Um homem como o padre Malagrida vê mais além do que
apenas o dia de hoje.
Chegaram junto da margem do Tejo. O reflexo da cidade em
chamas parecia dançar sobre as vagas negras. A barcaça a remos
estava amarrada diante do cais destruído. O
Alfaiate seguia à frente
deles, e subiu o passadiço. Ao chegarem junto à amurada da
embarcação, Leonor viu bancos para cerca de cinquenta
remadores. Na popa fora montada uma tenda. Diante desta,
colocados sobre suportes de ferro, dois lampiões alumiavam a cena.
O
Alfaiate apontou para a tenda:
– O padre Malagrida está ali à sua espera.
Uma escrava trocara de roupa com ela. Contudo, sentia-se como
que nua com aquele traje. Deveria ter mantido as suas, mesmo
rasgadas. Além disso, não estava sequer maquilhada, não tinha
rouge nas faces, nem tão-pouco as veias desenhadas. Um dos seus
vestidos tê-la-ia ajudado a sentir-se melhor.
O pai ficou parado em frente à tenda e pigarreou.
– Padre Malagrida?
– Entre – fez-se ouvir do interior.
O barão afastou a lona, levando o tecido encerado da tenda a
produzir um som semelhante ao de uma palmada. Leonor curvou-se
para atravessar a entrada e passar para o interior. Viu velas e uma
garrafa prateada sobre uma mesinha, junto à qual três copos
formavam uma pequena família. Malagrida encenara muito bem
aquele encontro. Se o pai ainda tivesse algumas reservas, não
tardariam a desaparecer.
O jesuíta levantou-se lentamente. Indicou-lhes um banquinho para
se sentarem.
– Sentem-se, menina Leonor, senhor barão. Fico contente que
tenham vindo.
Sentaram-se.
– De que se trata? – perguntou o pai. – O que é assim tão
importante a ponto de me ter chamado num dia como o de hoje?
O olho morto de Malagrida observava Leonor, enquanto o outro
concentrava a sua atenção no pai dela.
– Hoje, a desgraça não se limitou ao facto de a cidade ter sido
destruída. Na Corte foi também tomada uma decisão extremamente
deplorável.
Malagrida ergueu a garrafa e verteu vinho para os copos
prateados. Um deles foi oferecido a Leonor e um outro ao pai.
Ela aceitou o copo, mas não bebeu.
– Sebastião de Carvalho foi nomeado secretário de Estado do
Reino – Malagrida levou o seu copo aos lábios e bebeu. A tenda era
demasiado baixa para ele. Parecia um urso no interior da toca de
um texugo. Voltou a pousar o copo. – Como sabe, barão, tínhamos
combinado algo. Pois bem, eis chegada a altura. Já só nos falta
uma coisa, algo que a sua filha nos pode fornecer.
– Eu? – Leonor fingiu-se surpreendida.
– Eu sou comerciante, padre – interveio o pai. – Estou habituado
a negociar com mercadorias, não com promessas.
– Não precisa de me dar lições, barão. Sei perfeitamente bem
quem o senhor é – Malagrida fez algumas inspirações, produzindo
uma espécie de estertor. Depois tossiu, soltou alguma expetoração
e engoliu. Ficou em silêncio. Por fim, com um ruído sibilante,
inspirou novamente. – A minha proposta é boa. Sabe bem que não
pode recusá-la. Ninguém poderia.
– Até agora fui só eu quem fez adiantamentos. Julgo que é tempo
de me demonstrar a seriedade com que está neste negócio.
Malagrida fitou o barão, mantendo o rosto sem qualquer
expressão.
Este último fitou-o de volta com os seus olhos avermelhados.
Também a sua expressão não revelava fosse o que fosse.
– Daqui a alguns dias você será um dos homens mais poderosos
no Reino de Portugal – disse por fim o jesuíta. – E quer que lhe
demonstre qual a seriedade com que estou nisto? Fico dececionado
com essa sua mentalidade mesquinha.
– Até hoje mais não fez do que pagar-me com promessas –
afirmou o barão. – Isso só já não chega.
Malagrida arquejou.
– Muito bem, estou na disposição de lhe demonstrar a minha boa
vontade. – Sentou-se. – Lisboa está devastada. Ainda assim, alguns
edifícios escaparam incólumes ao tremor de terra. Um deles é uma
casa na Rua Formosa, que há pouco tempo se tornou propriedade
minha. – Olhou para Leonor e novamente para o barão. – Deverá
passar a ser sua.
– Vai mandar lavrar um auto de doação?
– Daria demasiado nas vistas. O meu secretário redigirá um
contrato de venda, por uma soma substancial, que você jamais terá
de me entregar.
– Quer isso dizer que irá declarar que eu lhe paguei essa soma?
Malagrida hesitou por breves instantes. De seguida, acenou
afirmativamente com a cabeça.
– Por mim pode ser.
– De acordo – respondeu-lhe o pai. – E que terá Leonor de fazer?
Leonor ergueu-se.
– Não entendo. Há milhares de pessoas a morrerem, pai, e tu
aqui a regatear por uma casa e uns planos quaisquer?
– Senta-te! – ordenou o pai.
– A tarefa irá proporcionar-lhe prazer – declarou Gabriel
Malagrida.
Ela sentou-se. Embora tudo estivesse a correr tal como desejara
e há muito andara a preparar, apertava-se-lhe o coração. Não
gostava de mentir ao próprio pai. Ainda há alguns dias nada daquilo
lhe teria colocado qualquer problema, mas havia algo no seu interior
que o tremor de terra alterara. O tremor, a morte de Dalila e todo o
sofrimento a que havia assistido. Parecia-lhe mesquinho estar ali
sentada, envolvida em intrigas, enquanto famílias e crianças e
velhos morriam em condições lastimosas.
– Antes de discutir os pormenores com o senhor seu pai, vamos a
si, menina Leonor – disse Malagrida. – Quero que se aproxime de
um funcionário da chancelaria do novo secretário de Estado do
Reino. Faça com que ele se lhe torne submisso. Tem dois dias para
cumprir a tarefa. Depois, arranja maneira de conseguir um
documento assinado pelo secretário de Estado. Um tratado político,
seja ele qual for. Deverá trazer o documento e entregar-mo.
– Como hei de eu conseguir isso?
– Menina Leonor – respondeu ele –, tem por hábito ver-se ao
espelho?
– Claro que sim.
– Então deve ter noção de que não há em Lisboa homem algum
que lhe negasse um seu desejo.
Baixou a cabeça. O elogio de Malagrida ferira-a, pois não era
completamente verdadeiro. Existia um homem capaz de rejeitar os
seus desejos.
– Ela encontrou-o – disse Malagrida depois de os visitantes se irem
embora.
No interior da tenda o
Alfaiate deu um passo em frente,
afastando-se da sombra onde estava recolhido.
– Como sabe?
– Quando ainda há pouco lhe disse que não havia homem que lhe
negasse um seu desejo, a dor que sentiu foi mais do que óbvia.
Alguém a rejeita. E quem rejeitaria uma mulher como ela? Só
conheço uma pessoa capaz disso.
– Quer dizer que ela está a enganar-nos?
– Isso não me incomoda. É bom que ela tenha esta capacidade,
irá usá-la para conseguir obter o documento do tratado – Gabriel
Malagrida passou o polegar pelos cantos da boca. – Só me deixa
um pouco inquieto o facto de Antero por aí continuar, mesmo
sabendo que eu ando no seu encalço. Isso quer dizer que ele não
me teme. Ou então significa que tem um objetivo que o leva a pôr a
vida em risco. Qualquer das duas possibilidades não nos é
favorável.
– Pode bem ser que esteja apenas à espera de uma oportunidade
melhor para se escapar da cidade.
– Não. Ele está aqui porque quer. Vivo, representa um perigo para
mim. Irei por isso ajudá-lo a morrer. Segue Leonor. Ela conduzir-te-á
até ele.
Um pisco-de-peito-azul cantava no fresco ar da manhã. O Sol ainda
ia baixo. Vertia uma luz alaranjada sobre as árvores desenraizadas
do jardim real. Aquela imagem pareceu a Leonor algo irreal, como
um conto de fadas. A cerca de seis quilómetros de distância, ardiam
as ruínas de Lisboa. Os saqueadores pilhavam os cadáveres e
escavavam as ruínas em busca de algo de valor. Aqui em Belém,
porém, apenas alguns campos de batata-doce e olivais mais para
oeste, reinava, na alvorada, um idílio tranquilo.
Ergueu a cabeça acima de uma fonte em forma de cavalo e
espreitou na direção do palácio. Diante da entrada principal havia
tendas cujo tecido tinha debruns prateados. A guarda pessoal do rei
estava em redor da tenda, em sentido, vários soldados lado a lado.
As lâminas falciformes das alabardas refletiam o sol matinal.
Ao lado do palácio, brincava um grupo de crianças, diante de um
salgueiro-chorão inclinado. Algumas das suas raízes tinham sido
postas a descoberto pela enchente, e a árvore afundara-se um
pouco. A partir do tronco, de esguelha, pendiam os ramos até ao
chão. Fora este lugar que as crianças haviam escolhido para
brincar, com amas e guardas por perto.
Um pouco mais afastada, uma menina com cabelos ruivos
entrelaçava algumas ervas de modo a formarem uma grinalda.
Deveria ser ela.
Leonor saiu de trás da fonte e, curvada, dirigiu-se, a correr, para
uma latada em arco coberta de videiras, passando por de-trás de
uma fileira de arbustos ornamentais. O salgueiro-chorão encontrava-
se agora entre ela e o grupo de adultos. Leonor colheu uma flor
vermelha de um arbusto e avançou na direção do salgueiro.
Mergulhou na sombra projetada pela copa da árvore, a qual
exalava o aroma acidulado das suas folhas. Leonor aproximou-se
furtivamente dos ramos mais à frente, cuja folhagem formava uma
cortina que dividia a penumbra da luminosidade. Cada uma das
folhinhas estava coberta de uma penugem prateada. Samira
achava-se a apenas alguns passos de distância da árvore.
Leonor murmurou o nome dela.
A pequenita ouviu-o de imediato. Observou a árvore com os olhos
muito abertos.
– Anda aqui ter comigo. Sou eu.
Após uma breve hesitação, Samira aproximou-se.
– Estou aqui. Por detrás dos ramos. Quero perguntar-te uma
coisa, mas as amas não me podem ver.
Samira chegou-se junto dos ramos. Em silêncio, olhou através
das folhas.
– Agora és um espírito das árvores, tia Dalila? – perguntou ela.
– Não sou a Dalila, sou a Leonor. E não sou nenhum espírito.
– Porque não te podem as amas ver?
– Ninguém pode saber que eu estive aqui.
A menina atravessou a cortina de folhas prateadas, o que
surpreendeu Leonor.
– Estou à procura do teu pai – disse ela. – Fazes-me um favor?
Leva-lhe esta flor, diz que fui eu que a mandei e pergunta-lhe se ele
pode aqui vir.
A pequenina fez uma careta.
– Não posso incomodá-lo – respondeu ela, afagando a relva já
seca com o pezinho descalço. – Ele está a trabalhar e disse que
tenho de ficar aqui junto das princesas.
– Onde está ele?
– No mosteiro – hesitante, estendeu a mão. – Dás-me a flor?
Leonor entregou-lha.
A pequenita olhava em redor da flor que segurava na mão. Por
fim, esgueirou-se através da cortina de folhas e fugiu dali a correr.
– Onde vais tu, Samira? – perguntaram as amas – Fica aqui!
Samira limitou-se a continuar a correr e as amas não foram atrás
dela. Quando a menina dobrou uma esquina do palácio, voltaram a
dedicar-se à conversa que haviam interrompido.
Leonor respirou fundo. Agora já só tinha de pensar como iria dá-lo
a conhecer a Antero. A mãe de Samira fora com certeza uma
mulher especial, capaz de lhe causar assombro, uma mulher do
calibre dele. Também ela, Leonor, poderia sê-lo. Só que falhara
precisamente naquilo que para Antero era importante.
O olhar de Malagrida demonstrara-lho. Quando o pai e ela haviam
deixado a tenda, o jesuíta olhara-a atentamente, daquele modo
como se observa alguém acerca de quem não se sabe se é amigo
ou inimigo. Ela deveria, de algum modo, ter-se denunciado. Ele não
voltara a mencionar Antero, mas o olhar fora inequívoco: o mago
desmascarara-a.
17
Antero segurava o livro chamuscado nas mãos. Pedacinhos negros
soltavam-se do volume e deixavam os seus dedos sujos. O livro
exalava um forte cheiro a queimado. Era o legado de Vasco, que
morrera carbonizado. O protetor dos livros acompanhara na morte
aqueles que protegia como seus filhos.
Sentia saudades do bibliotecário. Os dedos curvados pela gota,
que tranquilamente iam avançando ao longo de uma linha enquanto
lia. A voz circunspecta. As rugas em redor dos olhos. Antero
observava o rio, as enormes massas de água que indolentemente
iam passando diante de si, e engoliu em seco. As lágrimas ajudaram
a acumular a sensação de sufoco que experimentava.
Vasco jamais conseguira ultrapassar o facto de a Inquisição ter
retirado livros da sua biblioteca. A censura fora para ele algo tão
grave quanto raptar uma criança. A sua desconfiança transferira-se
depois para os poderosos Jesuítas, ao saber que estes apoiavam a
censura ao invés de combatê-la.
Antero, porém, quisera tornar-se um homem da ciência como o
padre Barnabé Cobo, o famoso jesuíta que, em 1638, trouxera da
orla oriental dos Andes para Madrid a casca das árvores peruanas
do género Cinchona, que viria a permitir curar pessoas doentes com
malária. Cobo inventara o chamado «pó dos Jesuítas», que os
doentes misturavam num líquido e bebiam para ficar curados.
Desde essa altura, milhares de vidas tinham sido salvas graças à
introdução daquele remédio.
Queria ser como Francesco Grimaldi, o físico jesuíta que
descobrira a difração da luz, a decomposição desta num prisma. Ou
como Lourenço de Gusmão, também ele jesuíta, que antes ainda de
Montgolfier fizera subir pelos ares um balão, um prodígio sem
precedentes.
Gabriel Malagrida reconhecera nele essa inclinação. Obtivera-lhe
livros que haviam sido confiscados pela Inquisição e que figuravam
na lista dos proibidos. Autorizara-o a assistir a preleções do colégio
jesuíta que versassem temas como a matemática e a física, muito
embora Antero não tivesse frequentado os dois anos de noviciado,
nem ingressado na ordem, nem tão-pouco realizado os três votos
monásticos de pobreza, obediência e castidade.
Malagrida falara-lhe da Itália, a sua pátria, da ilha de Córsega,
onde trabalhara como professor, e das suas viagens de exploração
ao Brasil. Relatara-lhe a subida que fizera do Amazonas, como
havia aprendido a língua dos indígenas, como vivera junto ao rio
Itapicuru entre os Tabajara. Descrevera-lhe animais invulgares, os
gritos agudos das aves na selva, o ar quente e húmido e as
serpentes venenosas.
Antero venerava-o, e deixou-se seduzir pelo febril desejo de se
tornar um estudioso das ciências naturais. Quando insistiu com o
líder dos Jesuítas para que este o levasse para a colónia, Gabriel
Malagrida colocara-lhe como condição que Antero iniciasse o
noviciado.
Fora então que dera o grande desgosto a Vasco. O bibliotecário
não foi capaz de aceitar o facto de o seu querido discípulo se ter
juntado aos Jesuítas. Segurara nele, abanara-o e, em tom de aviso,
dissera-lhe:
– Antero, não sabes o que estás a fazer!
– É claro que sei.
– Tens noção daquilo que te espera passados os dois anos do
noviciado? Após os votos monásticos, depois do tempo como
escolástico e de ser ordenado padre? Um homem com a tua
inteligência será admitido na elite dos professos, no cerne mais
íntimo da ordem. Terás de fazer o quarto voto!
– Qual quarto voto?
– Não é a investigação do mundo que eles pretendem, Antero.
– O que é o quarto voto?
– Nenhuma outra ordem presta este juramento. Se fores admitido
como professo, jurarás uma obediência incondicional. É isso que
eles pretendem. Os Jesuítas conduzem uma cruzada contra os
protestantes, serás meu inimigo e também dos teus pais, ver-te-ás
envolvido numa guerra que não é tua! No final de contas, terás as
mãos sujas de sangue.
Rira-se outrora do medo que o bibliotecário demonstrara. Sentia-
se invulnerável. Passado pouco tempo, Gabriel Malagrida fez dele o
seu braço-direito. A pouco e pouco, foi iniciando Antero nos
segredos da ordem.
Antero ajudou-o a adquirir espingardas, pólvora, projéteis e
floretes e a transportá-los para a América do Sul. Em nome de
Malagrida escrevia cartas àqueles que dirigiam o «Estado jesuíta»
local, explicando-lhes que tinham de constituir um exército, para se
poderem defender de tribos indígenas inimigas e dos ataques das
potências coloniais europeias. Tudo isso, porém, teria de passar
despercebido.
Conferenciou durante bastante tempo com Malagrida acerca da
melhor maneira de introduzir jesuítas em países protestantes e da
forma como estes poderiam dar início ao seu trabalho sem dar muito
nas vistas junto dos funcionários das cortes locais. Decidiram em
conjunto quais os membros da ordem a enviar para a corte de cada
soberano, para que aí pudessem trabalhar na qualidade de
conselheiros não-oficiais.
Antero enviava jesuítas para junto dos aristocratas e daqueles
que administravam centros urbanos, com vista a angariar capital
para fundar novos colégios, possibilitando assim a manutenção do
sistema de ensino da ordem.
– Estás num lugar importante – costumava Malagrida dizer-lhe. –
Portugal foi a primeira província da Companhia de Jesus. Só depois
é que vieram a Espanha, a Índia, a França, a Alemanha e outras
regiões. É aqui que a ordem tem a sua mais forte base de apoio.
Quem, se não nós, deverá assumir a liderança?
Quando Antero lhe perguntou se poderia voltar a arranjar-lhe
livros, Gabriel Malagrida remeteu o assunto para os meses
vindouros.
– Tu és inteligente, Antero, mais do que qualquer outro que eu
conheça. Irei proporcionar-te uma formação fantástica. Tem
paciência. O teu futuro está em boas mãos.
E os meses foram passando. Os outros membros da ordem
começaram a tratar Antero com respeito: não sabia dizer se era pelo
simples facto de o admirarem ou por medo de Malagrida. Quanto a
Vasco, o bibliotecário, deixou de vê-lo. À noite, quando se deitava, o
anseio pelos livros e pela investigação científica mantinha-o
acordado.
Num ameno dia de Junho, estava ele no gabinete de Malagrida à
espera do líder dos Jesuítas. Para passar o tempo, tirou um livro da
estante e começou a lê-lo, e uma palavra ficou marcada no seu
entendimento, como que a fogo: obediência. Franziu a testa.
Inácio de Loyola, o fundador dos Jesuítas, descrevia no livro
diferentes graus de obediência, que deveriam ser ensinados aos
novos membros da ordem. O nível mais elementar era puramente
exterior, a obediência de execução. Consistia unicamente em o
subordinado levar a cabo a ação que lhe fosse atribuída como
tarefa. Inácio explicava que esta era uma forma de obediência
bastante imperfeita.
O segundo nível previa que o subordinado tornasse a vontade do
seu superior a sua própria vontade. Inácio dava a isto o nome de
obediência da vontade. «Este nível proporciona já prazer no ato de
obedecer», escrevia ele.
No entanto, cada jesuíta teria de chegar ao ponto de não apenas
querer o mesmo, mas também de pensar como o seu superior. Essa
era a obediência do entendimento, o nível mais elevado, pois a
renúncia às próprias convicções era o mais difícil que poderia ser
exigido a um ser humano. E precisamente por isso era a
caraterística do jesuíta perfeito.
Antero pasmou. Sacrificar o seu próprio entendimento? Voltou a
ler a última frase.
Trata-se de uma obediência sem limites, até ao sacrifício das
próprias convicções.
O aviso de Vasco veio-lhe à memória. «Não é a investigação do
mundo que eles pretendem, Antero.» De repente tudo aquilo que
andara a fazer naqueles últimos meses para Malagrida assumiu um
sentido bem diferente.
As escolas serviam para cunhar as mentalidades dos jovens. As
universidades atraíam as mais iluminadas cabeças do país para
junto da ordem. Conselheiros políticos e confessores posicionados
nas cortes dos soberanos eram capazes de influenciar os negócios
da governação. O exército, na América do Sul, protegia não apenas
os indígenas, mas também as missões dos Jesuítas.
Foi já com o coração a palpitar fortemente que prosseguiu a
leitura:
Embora as restantes comunidades religiosas possam suplantar-
nos no que diz respeito a abstinências e vigílias, a nossa
irmandade deverá destacar-se por meio de uma obediência
perfeita e verdadeira, por meio da renúncia voluntária à opinião
pessoal.
Antero fechou o livro e voltou a colocá-lo na estante. Com as
mãos a tremerem retirou um outro e folheou-o. Chamava-se Imago
Primi Saeculi Societatis Jesu, era de 1640, e aí pôde ele ler:
É indesmentível que foi por nós iniciada uma luta enérgica e
constante em prol da religião católica e contra a heresia.
Enquanto em nós houver o mais pequeno sopro de vida que
seja, ladraremos contra os lobos para defender o rebanho
católico. Não existe a mais pequena esperança de paz, a
semente do ódio é-nos inata. Aquilo que Amílcar foi para Aníbal
é Inácio para nós: é por instigação sua que jurámos guerra
eterna aos altares.
«A semente do ódio é-nos inata», repetiu ele em pensamento.
«Jurámos guerra eterna aos altares».
– Estás pálido – comentou Gabriel Malagrida.
Antero sobressaltou-se. Não se tinha dado conta de a porta ser
aberta. Fechou o livro num ápice e voltou a colocá-lo no lugar.
– Que estavas a ler?
– Falava da obediência.
– Isso preocupa-te? – perguntou Malagrida, sorrindo. – Quem
quiser alcançar o nível da verdadeira obediência terá de despir a
sua própria vontade e vestir a do divino, que lhe é imposta pelo seu
superior. É assim que as coisas são – sentou-se diante da sua
secretária. – Mas isso não tem de te inquietar. Vais ser alguém a
quem os outros devem obediência, e não o contrário.
Antero ficou em silêncio. Pensou: «Não é a investigação que eles
pretendem. É, isso sim, a guerra contra os protestantes. Vasco tinha
razão.»
Nesse momento, Malagrida fixou nele um olhar demorado e
examinador. Era como se conseguisse ler os seus pensamentos.
– Tens de ser cauteloso, rapaz – disse ele. – Tu sabes muito, o
que faz de ti algo valioso para todas as partes envolvidas. Alguém
como tu fica facilmente dividido entre diversas frentes.
Nessa altura pensara pela primeira vez em fugir.
Antero olhou para o rio e passou as mãos sobre o livro negro e
chamuscado. Vasco estava morto.
Abriu-o e leu algumas linhas. Princípios Matemáticos da Filosofia
Natural. Nele, Isaac Newton descrevia as forças invisíveis que se
atraíam e repeliam. Tinha inventado a palavra «gravitação», que
designava uma força que os objetos com massa exercem uns sobre
os outros, tanto na Terra como também no céu, os corpos celestes
entre si.
«A força de atração diminui à medida que a distância aumenta»
leu Antero.
Levantou a cabeça e olhou em frente. E se o tremor de terra
estivesse relacionado com fenómenos elétricos? Certa vez sentira a
eletricidade no próprio corpo, ao tocar numa das máquinas que
eram expostas nos cafés para atrair visitantes. Depois dessa
experiência, o braço doera-lhe a noite inteira.
Por outro lado, a eletricidade não era natural, mas produzida por
máquinas. Na natureza, parecia só ocorrer mesmo nas descargas
dos relâmpagos. Se a Terra albergava as suas próprias cargas
elétricas, então escondia-as bem.
Antero segurou numa pedra e atirou-a ao rio. Na superfície lisa da
água, desenharam-se círculos, que se deslocavam na direção da
foz, para o mar. Atirou mais uma pedra. Formaram-se de novo
ondas circulares. Mais perto do centro possuíam contornos bem
definidos mais para o exterior, eram menos pronunciadas, até se
deixar de vê-las.
«A força de atração diminui à medida que a distância au-menta».
Pôs-se de pé. Voltou a atirar uma pedra e observou a reação da
superfície da água. E se um tremor de terra suscitasse na superfície
do planeta precisamente a mesma reação do que a pedra na
superfície da água? O estremecimento nunca era igualmente forte
em todo o lado. Havia sempre zonas em que ocorria uma terrível
devastação, ao passo que outras adjacentes eram menos afetadas.
Seria possível que o terramoto se propagasse como uma vaga que
varria a Terra, e que essa vaga fosse a pouco e pouco perdendo
força? Poderia o solo assumir a forma de uma onda?
Não vira em Lisboa onda alguma, mas possivelmente a cidade
era também demasiado grande para que se conseguisse notar a
sua presença. Porventura ter-se-ia de pensar a uma escala maior,
em termos de cida-des ou de regiões. Fosse como fosse, a
enchente viera sob a forma de uma onda, primeiro uma mais forte e
depois outras mais fracas.
Antero levantou-se de novo. Regressou ao palácio. Teria de
descobrir em que altura é que noutras cidades de Portugal se
sentira a terra tremer e se para lá do país também acontecera
alguma coisa, talvez em Espanha, em França, em África.
A quem poderia ele perguntar a esse respeito? O olhar de Antero
percorreu o jardim. O Sol que ia subindo no céu piscava entre as
copas das árvores. O orvalho brilhava sobre a relva. Havia
jardineiros a plantarem novas sebes, canteiros que reparavam as
fontes.
Diante dele, carpinteiros serravam madeira para uma paliçada
que iria ser coberta de videiras, destinada com certeza a substituir
uma daquelas que fora destruída. Nicolau Fernandes andava de um
lado para o outro e barafustava:
– Que pensam que andam aqui a fazer? – aproximou-se das
ripas. – Querem que as paliçadas apodreçam daqui a meio ano? No
jardim real não vão usar alburno! Fiz-me entender?
– É madeira de carvalho boa, Dom Nicolau Fernandes – disse um
operário de aspecto robusto.
– Mas afinal és carpinteiro ou és padeiro? Tens obrigação de
saber que a parte do alburno é mais atreita aos fungos. Seja
carvalho ou não, a madeira será num instante destruída por fungos
ou pelo caruncho. Enquanto estiveres a trabalhar para mim, não
utilizas um pedaço que seja dela para uma paliçada, a qual vai ficar
noite e dia exposta aos elementos! Já te disse que quero madeira
do cerne.
Nicolau Fernandes olhou para outro grupo de trabalhadores, que
transportava uma paliçada pronta através do jardim.
– Mais afastado do palácio – gritou ele. – Colocadas assim tão
junto às janelas, estas paliçadas são um convite para os ladrões.
Antero cerrou os punhos e passou diante deles em silêncio. Aqui
o arquiteto estava a berrar e a dar ordens, mas quando ele, Antero,
ficara preso debaixo das pedras, o outro deixara-o cobardemente
em apuros. Aparentava ali a ferocidade de um leão, quando na
realidade possuía a coragem de um piolho.
«E eu?», pensou ele. «Serei mais corajoso?» Estivera junto à
casa dos pais, perto daquele monte de destroços de paredes e
vigas de madeira rachadas. Não encontrara ali ninguém. Alimentava
a esperança de que os pais tivessem abandonado a cidade com os
seus filhos mais novos antes de o terramoto começar. Teria assim
conseguido salvar ao menos as vidas deles. A visão dos cadáveres
nas ruas era-lhe quase insuportável.
Samira veio a correr ter com ele. Trouxe-lhe uma flor vermelha.
Talvez as princesas a tivessem aborrecido e não suportasse mais
estar ao pé delas. Contudo, não parecia nada insatisfeita, pelo
contrário, estava até radiante.
Avançou na direção dela, afastando-se dos carpinteiros.
– Que se passa, minha querida?
– Disseram-me para te dar isto! – exclamou Samira, estendendo-
lhe a flor.
Uma terna declaração de amor como esta só podia ter tido origem
numa mulher: Dalila. No seu íntimo, sentiu uma comoção que o
acalentou. Pelos vistos arrependia-se de tê-lo tratado de modo tão
frio junto às ruínas da catedral em chamas. Era uma sensação
agradável ser assim tão delicadamente cortejado.
– Leva-me até ela, Samira.
– As amas não podem vê-la, disse ela, mas eu sei onde está! –
explicou Samira, e desatou a correr.
Antero seguiu-a, a coxear, em redor do palácio. Mais adiante a
pequenita desapareceu sob os ramos densamente cobertos de
folhas de um salgueiro-chorão. As princesas brincavam nas
imediações e não lhe prestaram qualquer atenção. Aos seus olhos
ele era um criado, uma daquelas criaturas insignificantes cujo único
propósito era o de cuidar do seu bem-estar. Apenas as amas lhe
lançaram olhares curiosos, ao que ele respondeu com um amistoso
aceno da cabeça. Depois, passou através da cortina de folhas
prateadas.
Dalila envergava um vestido cinzento, bastante discreto, e não
estava maquilhada. Conferia-lhe um aspecto vulnerável. Leonor
sempre se maquilhara, a sua beleza era artificial e fria. Dalila,
porém, era mais humana. A sua aparência exterior, mais simples,
tocava-o. Sorriu. Os lábios dela tinham um aspecto macio. Também
o seu olhar era doce. Teria noção de como era bela? Os traços do
seu rosto, a linha formada pelo seu queixo, tudo isso ele gostaria de
acariciar.
Algo nele revoltou-se. Não deveria pensar daquela maneira em
relação a Dalila, nem olhá-la desse modo! Sentia-se como se
estivesse em chamas e ficou furioso consigo mesmo. A fúria tinha a
ver com Julie, era uma ideia que ele preferia não aprofundar mais
naquele momento.
– Preciso de falar consigo – disse ela.
Ele sorriu.
– Samira, por favor vai ter com as princesas.
A pequenita olhou para ele e, contrariada, pôs-se a fazer beicinho.
Antero manteve o olhar fixado na filha, até que por fim ela cedeu,
esgueirou-se através da cortina de folhagem e correu na direção
das outras crianças.
– Como posso ajudá-la, Dalila?
Dalila estremeceu.
18
Tinha de dizer-lho. Só que, depois de saber quem ela era, Antero
deixaria de olhá-la da mesma maneira. Leonor já ele conhecia, dela
não esperava nada de novo. Dalila, porém, era-lhe desconhecida.
Ele estava curioso a seu respeito.
Era absurdo. Durante todos aqueles anos tivera de esconder
quem na realidade era: a sua família protestante não deveria dar
com ela a rezar o terço, e os comerciantes e membros do Governo
que espiava não deveriam saber que se encontrava com os
Jesuítas. Tivera de ocultar a sua inteligência, as suas ambições, e
agora, que finalmente pretendia revelar-se a alguém, tomavam-na
por outra.
Jogara com as ânsias e os corações dos homens, com vista a
obter as informações de que Malagrida precisava. Nenhum deles
conseguira resistir-lhe. Agora que ela já nada mais desejava que
não fosse conquistar o coração de Antero, ele amava uma outra e,
por sua vez, havia sido ele a utilizá-la para poder ver a filha.
Deveria ela mantê-lo na ilusão? Que diferença faria mais tarde ter
um nome ou ter outro? Se conseguira superar a mãe de Samira e se
ele estava completamente apaixonado por ela, Leonor, não havia
nada que fizesse que pudesse separá-los.
Por outro lado, talvez fosse precisamente a verdade aquilo que o
convencesse. Precisava de uma adversária forte, alguém por quem
pudesse ter respeito e admiração. Uma mulher em quem pudesse
confiar, até para roubar, se necessário fosse. Se lhe revelasse quem
na realidade era, ele iria tê-la em maior conta.
– Estou aqui para avisá-lo – disse Leonor. – Sei que é um
contrabandista. Prega partidas aos guardas portuários. Evita os
impostos e viola acordos comerciais.
– Está a sobrestimar as minhas capacidades – respondeu ele,
espantado.
– Deixe-se de fitas! Comigo não precisa disso. Eu mesma não sou
propriamente inocente. Há anos que trabalho como espia.
O olhar dele ensombrou-se.
– Não acredito nisso.
– Não se apercebe de que esta fachada de menina bem-
comportada é, no fundo, uma excelente máscara?
– Que quer de mim? – o tom dele endureceu, o sorriso
desaparecera já da sua face.
Que havia ela feito mal? A mãe de Samira não era uma dessas
mulheres que acompanham os maridos nas aventuras?
– Estou aqui para avisá-lo. Os Jesuítas estão a tentar caçá-lo.
Antero aproximou-se mais dela e agarrou-a pelo braço.
– Que tens tu de fazer? Atrair-me a uma armadilha? Escutar
aquilo que deixo escapar? – o seu olhar percebia-se uma tremenda
fúria.
– Nada disso. Estou aqui porque quero ajudar-te!
– Não – corrigiu ele secamente. – Estás aqui porque Gabriel
Malagrida te mandou.
– Sei que ele te procura, mas não lhe disse nada a teu respeito,
nada! Nem tão-pouco que te conheço!
– Se assim é, por que razão te mandou vir cá agora?
A mão de Antero que lhe apertava o braço provocava-lhe dor. Os
dedos dele cravavam-se na carne como pregos metálicos.
– Ele não sabe que eu vim cá – respondeu ela. – Foi por isso que
tratei de conseguir que falássemos sem ser vistos. Estou
preocupada contigo, Antero. E queria ver-te! É tudo.
Ele olhou em redor. Tinha a pele da testa enrugada.
– Não – disse com frieza. – Tens uma missão. Que te pediu ele
que fizesses? – fitou-a directamente nos olhos. – Fala!
Leonor engoliu em seco. Tinha dificuldade em conseguir aguentar
a dureza do seu olhar.
– Ele quer um tratado político – disse ela por fim. – Encarregou-
me de roubar esses documentos a Sebastião de Carvalho.
Antero soltou-a.
– Nunca mais apareças por aqui.
– Então esta é a tua verdadeira cara! – disse ela, sentindo o braço
a arder. – Usas as pessoas enquanto te convém e depois descartas-
te delas. Também te limitaste a utilizar-me. – Teve de pestanejar por
nos seus olhos se estarem a acumular lágrimas. Sentira desprezo
quando via aquilo acontecer com os homens, quando não
conseguiam conter-se, e agora ela mesma era também incapaz de
não chorar. – Fizeste de conta que estavas enamorado de mim
porque precisavas de um pretexto para entrar na nossa casa, nada
mais do que isso. Logo que deixo de ter qualquer utilidade para ti,
tratas de me repudiar.
Ele deu meia-volta.
– Leonor?
– Sim, sou a Leonor. Depois de tudo o que partilhámos, também
não te fez diferença alguma começar a cortejar a minha irmã! És...
És mesmo...
«Abominável. Repugnante. Detesto-te!»
Foi incapaz de pronunciar aquelas palavras, por medo de, ao
fazê-lo, o perder para sempre. Amava-o, mas ao mesmo tempo
desprezava-se a si mesma por isso. Não conseguia impedi-lo. O
sentimento mantinha-se presente, muito embora ele a enganasse,
maltratasse, nem sequer a merecesse.
– Mentiste-me – disse ele. – Porque andas com o colar de Dalila?
Fizeste-o para que te confundisse com ela!
– Tu é que quiseste ver a Dalila em mim. A Dalila está morta!
Lançou-se por cima da tua filha, quando começou o tremor de terra.
Todas as forças pareceram esvair-se do corpo dele.
– Isso é verdade?
Leonor permaneceu em silêncio. Antero ficou ali de pé, a olhar
para o vazio.
– E Samira sabe disso?
– Sabe.
Foi-se embora. Deixou-a ali ficar sem dizer mais uma palavra que
fosse.
– Padre! – gritavam eles. – Padre Malagrida! Ajude-nos!
– A bênção!
– Cure-nos!
– Misericórdia!
Naquela manhã, o Sol ia, por detrás dele, erguendo-se no céu. À
sua frente, junto à margem, estavam reunidos os estropiados, os
que haviam sofrido queimaduras, os moribundos, e todos
concentravam o olhar no convés daquela barcaça a remos. Agitava
a cruz sobre eles sem qualquer entusiasmo.
A visão daqueles corpos esfolados transportava-o de regresso à
sua infância. O seu pai, Giacomo Malagrida, fora um médico
conhecido. Também ele conseguira atrair multidões, mas a diferença
era que as ajudava mesmo, ao invés de simplesmente agitar a mão
no ar.
Se o seu pai ali estivesse, saberia colocar talas nos membros
partidos, envolver as escoriações e feridas em ligaduras, curar as
queimaduras com unguentos. Saberia quais as vidas que poderia
curar e quais não tinham já remédio. Tinha a destreza e os
conhecimentos necessários para mitigar o sofrimento daquelas
pessoas. Teria quinino contra as febres, pinças e ligaduras, lancetas
para as sangrias, cautérios, bisturis, serras para as amputações.
Gabriel suspirou. Outrora, quando ainda, em Como, ia à escola,
sentia desprezo pelos adultos, por causa da sua hipocrisia: na igreja
rezavam com fervor, mas na vida quotidiana mentiam, cometiam
adultério e não dirigiam uma palavra que fosse a Deus. Ele
pretendia vir a ser diferente.
No entanto, tornara-se igual a eles.
Quisera viver com Deus, como Noé, como Moisés, como José.
Pretendera empreender cada passo da sua vida em conjunto com o
Criador, com aquela entidade fascinante que, de vez em quando,
falava com um ser humano, mas que depois se mantinha em
silêncio durante séculos.
Queria voltar a ser aquele menino de escola, com a vida toda
diante de si, para poder voltar a fazer tudo melhor. As fumegantes
ruínas de Lisboa faziam-lhe lembrar Menaggio, a sua cidade natal,
em Itália. Também aí as casas se estendiam até às margens do lago
Como. Atrás destas, erguiam-se montes, muito mais altos e
imponentes do que aqui em Portugal, a água refletia as fachadas
dessas casas, os sinos das igrejas soavam, e ele decidira dedicar a
sua vida a Deus.
Olhou para os destroços. Também a sua vida era um campo de
ruínas. Aquilo que no Brasil havia feito pelos índios ia sendo
progressivamente destruído por Sebastião de Carvalho. E ele,
Gabriel, dia após dia, desiludia o Criador.
As pessoas tomavam-no por profeta. Acreditavam que podia curá-
las. Achavam que recebia mensagens de Deus. E, no entanto, ele
era mais fraco do que qualquer deles.
– Padre, tinha razão.
Virou-se para trás. Era Tomás.
– De que estás a falar?
– A menina Leonor conduziu-me até ele. Está junto do rei.
– Junto do rei? Maldito seja.
O seu antigo discípulo andava em busca de apoios.
– Padre Malagrida, há mais uma coisa.
– O quê?
– Ele tem uma filha.
– Antero é pai?
– Também não sei como conseguiu escondê-la todos estes anos.
A idade dela indica que poderia ser da judia.
– Bem – disse Malagrida, acenando com a cabeça –, muito bem.
Nuvens de cinzas escureciam o céu. A cidade arrasada afligia
Leonor. Estava tudo numa enorme confusão, carruagens desfeitas,
jardins destruídos, tabernas arruinadas, e mortos, muitos mortos,
para onde quer que se virasse.
Os cadáveres constituíam um aviso. A vida era algo frágil, Leonor
teria de refletir bem nos passos seguintes.
A colaboração com Gabriel Malagrida poderia perfeitamente
tornar-se um pesadelo. Se ele encarasse a sua mentira como uma
traição, tentaria até, porventura, desembaraçar-se dela. Tinha de
tomar providências.
Ali adiante, no Largo do Rato, iria decerto encontrar pessoas. Era
impossível que aquela grande praça estivesse repleta de destroços
e entulho, como acontecia com as ruas. Era natural que os feridos
viessem a concentrar-se ali, junto ao Convento das Trinas do Rato.
Trepou por cima de um monte de destroços. O seu coração saltou
de alegria. O Largo do Rato estava repleto de pessoas! Desceu do
monte e tentou encontrar rostos conhecidos no meio da multidão.
Edward Hay teria sido o parceiro ideal para a aliança que ela
procurava estabelecer: desconfiava dos Jesuítas e tinha o apoio da
poderosa feitoria britânica. No entanto, não conseguia vê-lo em
parte alguma. Conseguiu avistar um empregado do Banco de
Inglaterra, que pressionava um pedaço de pano contra a cabeça,
pano esse que estava encharcado em sangue. Esse teria com
certeza outras preocupações que não o destino da filha de um
comerciante alemão.
Não poderia João de Bragança estar ali? O primo do rei iria
protegê-la. Estivera em tempos apaixonado por ela, com certeza
conseguiria voltar a reavivar nele a velha chama.
Rompeu pelo meio da multidão. Na praça não havia destroços, à
exceção de um pedaço do aqueduto que caíra, uma ruína já
desligada da grande conduta, ali no meio das pessoas, seca e sem
função ao fim de apenas oito anos de funcionamento.
Ali estava Ana, a filha de um comerciante de azeite, que em
tempos Leonor usara por vezes como mensageira. Demasiado
tarde, ela já se dera conta da sua presença.
– Vai começar um serviço religioso dentro de instantes – informou
Ana. – Fica?
– É para isso mesmo que aqui estou – mentiu ela.
Ana tinha escoriações no rosto que já haviam começado a
cicatrizar e o seu vestido apresentava rasgões na zona da cintura.
– Acompanhava sempre as leituras durante a missa – disse ela –
mas o meu belíssimo missal, que junto às orações em latim tinha a
tradução em português, foi destruído pelo fogo para todo o sempre.
– É realmente uma pena – Leonor continuou a olhar em redor,
observando a multidão, enquanto ia falando. – Também perdi uma
série de coisas. Os vestidos. Os sapatos. As cartas de admiradores.
Só a minha caixinha das joias é que não: os escravos encontraram-
na entre os destroços cobertos de fuligem.
Um número considerável de pessoas reunira-se ali para assistir à
missa. Uns velhos e outros novos, uns feridos e outros incólumes,
mulheres com crianças e homens com roupas rasgadas. Hoje não
havia sacristãos de rua em rua a verificar se toda a gente cumpria o
seu dever e estava na igreja. Hoje as pessoas juntavam-se ali
porque precisavam da missa.
Quando se entoaram os primeiros cânticos, o coração de Leonor
comoveu-se. Convidava-a a baixar a guarda, a ser frágil, a render-
se à multidão, enquanto todas aquelas pessoas em conjunto
entregavam o seu coração a Deus, implorando ao Criador que os
ajudasse. Leonor, porém, não se permitia tal fraqueza. No seu
interior defendia-se do efeito daqueles lastimosos cânticos.
É claro que as pessoas iam em busca de consolo. Encontravam-
se ali ao ar livre, pois o terramoto, os incêndios e o maremoto não
tinham poupado uma única igreja, e porque esperavam conseguir
compreender por que razão a sua cidade havia sido assolada
daquela maneira.
–É estranho assim ao ar livre, não é? – murmurou Ana.
Leonor acenou em sinal de concordância, enquanto continuava a
olhar em redor.
Ana ia repetindo, quase mecanicamente, as orações que o
sacerdote ia pronunciando, pelos mortos, pelo Papa, pelo rei.
Seguiram-se o pai-nosso e a ave-maria. Naquele dia, as pessoas
rezavam com particular fervor.
Nem ao menos os que agiam bem eram recompensados por
Deus. Ele tinha permitido que Dalila morresse, enquanto tentava
salvar uma criança!
Antero era igualmente injusto. Leonor tinha-o protegido dos
Jesuítas e, como recompensa, agora desprezava-a. Ela amava-o e
andava atrás dele. Antero, por seu lado, fora durante anos ter com
ela apenas por causa de Samira.
A multidão rezava o credo:
Credo in unum Deum,
patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum.
Por que razão lhe mostrava Antero aquela antipatia? Tinha a
certeza de que ele poderia ser bastante afetuoso. De alguma
maneira, a mãe de Samira conseguira conquistar a confiança dele.
Samira não poderia ter sido um mero acidente. O cuidado que
demonstrava ter com a filha provava que era grande o sentimento
de amor que nutrira pela mãe dela.
Centenas de cabeças viraram-se na direção de uma berlinda que
chegou à praça. A carruagem era puxada por quatro cavalos. Num
dos dois da frente seguia montado um postilhão, munido de um
chicote. Trazia vestido um casacão vermelho com uma aba
comprida atrás e calçava botas negras. Atrás dele, o cocheiro
produziu um sinal sonoro para os cavalos se deterem e puxou as
rédeas. A berlinda parou. De uma plataforma na retaguarda saltou
um criado com meias brancas até ao joelho e sapatos pretos
brilhantes, que se apressou a abrir a porta da carruagem. Do interior
saiu um homem.
Leonor reconheceu-o de imediato. Sebastião de Carvalho tinha
uma presença imponente. O seu porte era distinto como o de um
príncipe. Aos lados do nariz havia longas rugas que lhe percorriam o
rosto até aos cantos da boca e lhe conferiam um aspecto austero.
Olhou em redor da praça, com um ar sério, e exortou o sacerdote a
continuar.
Era este homem que ela deveria roubar.
O padre, que começara o sermão havia pouco, pigarreou.
– A todos não ocorre outra ideia que não seja fazer uma única
pergunta: porquê? Por que razão nos terá Deus atormentado com
um tal castigo? Eu vos digo que Ele já andava entristecido com esta
cidade. Nas ruas eram contadas piadas blasfemas. Homens que
tinham contacto uns com os outros de modo obsceno. Toda a cidade
se perdia na busca da diversão e do entretenimento. Peças de
teatro, danças, lutas de galos. Vivíamos em função dos nossos
desejos. Os Ingleses trouxeram para cá o pecado dos combates de
boxe. Nós, os Portugueses, tínhamos orgulho em ser os senhores
dos mares, orgulho nas nossas possessões ultramarinas. Cada um
de vós sabe disso: Lisboa vivia desenfreadamente.
De repente, ocorreram a Leonor todas as suas mentiras. Pensou
na sua vaidade, nas horas que havia passado diante do espelho
para ver como lhe assentavam diferentes vestidos. Fora egoísta.
Fizera por merecer aquele castigo.
– Deus tinha de deitar abaixo este nosso orgulho. O tremor de
terra foi um aviso. Nos últimos anos tornou-se uma espécie de moda
acreditar que Deus se havia retirado. Muitos acreditam que Ele
deixou a Terra entregue a si mesma. Estes deístas veem agora as
suas teses claramente refutadas. Deus preocupa-se com a Terra!
Enviou um castigo terrível para despertar os seus filhos.
Na fila diante de Leonor houve alguém que comentou, em voz
baixa, com o vizinho:
– Ou então regressou. Não poderia ser assim? Deus esteve fora e
agora voltou novamente para cá.
Atrás dela fez-se ouvir uma voz forte:
– O senhor está enganado.
Leonor virou a cabeça para trás. O secretário de Estado do Reino!
– Os tremores de terra são uma coisa deste mundo – disse
Sebastião de Carvalho. – A criação do mundo foi perfeita.
Deveríamos encarar os terramotos como fenómenos naturais
passíveis de ser investigados pela ciência. Deus criou o mundo de
tal maneira que, para se manter o seu equilíbrio, é necessário que
de tempos a tempos ocorra um. Ao que parece, estes fenómenos
fazem parte do plano, do funcionamento normal, do comportamento
físico da Terra. E esta é a máquina mais perfeita que existe, pelo
que nada que nela tenha origem pode ser mau.
– Se me dá licença, senhor ministro – replicou o padre –, o senhor
considera uma coisa boa o facto de milhares de pessoas morrerem
e de uma cidade inteira ser destruída?
– A Terra não quer saber onde nós construímos as nossas
cidades. Porventura precisará de se limpar a si mesma através
destes tremores, ou as riquezas que o subsolo contém precisam de
ser renovadas, os minérios. Talvez seja necessário que um calor
capaz de proporcionar fertilidade às plantas ascenda do interior da
Terra.
– Não vê o que se passa com este planeta? Os animais comem-
se uns aos outros. Os seres humanos matam-se uns aos outros.
Passamos fome, sentimos dor, apodrecemos com doenças. A Terra
é tudo menos uma máquina perfeita. Está doente e definha há
séculos. Rebelámo-nos contra a vida. Por muito que tentemos livrar-
nos dela, logo a morte se arrasta no nosso encalço! – o sacerdote
pegou num lenço e limpou o suor da testa. – E quanto à sua
afirmação de que a Terra não quer saber onde os tremores de terra
ocorrem: estes afetam sempre cidades densamente povoadas.
Como explica isto? Há cinco anos foi Londres, há nove anos Lima,
no Peru, há sessenta anos, Port Royal. Isso não lhe suscita algum
espanto?
Durante alguns instantes pareceu que Sebastião de Carvalho
pretendia regressar ao coche e dar por terminada a discussão. Já
tinha dado meia-volta, quando de repente se voltou para trás e
declarou:
– Jesus esclareceu estas questões de uma vez por todas. Pode
lê-lo no Evangelho de São Lucas. Fala aí das dezoito pessoas que
morreram quando a torre de Siloé caiu. Eram elas mais culpadas do
que aquelas que habitam Jerusalém? A sua resposta foi que não,
não eram. O que lhe digo é que se deixe disso, de pregar sermões
sobre a fúria de Deus. Deixe de fazer listas dos pecados cometidos.
Ao invés disso, deveria ir ajudar aqueles que passam necessidades.
Isso sim, veria Deus com bem maior agrado. Ainda há pessoas
soterradas e a asfixiarem debaixo dos escombros. Milhares de
famílias não têm alojamento. A população passa fome. Não é tempo
para fazer grandes discursos, é tempo para agir!
Dito isto, Sebastião de Carvalho aproximou-se do coche e entrou.
O criado fechou a porta atrás dele.
19
Antero curvou-se. Aquela não era Leonor, ali no meio da multidão,
no Largo do Rato? Enquanto Sebastião de Carvalho se deixou cair
no assento e a carruagem iniciou o movimento, Antero espreitou
pela janela. Contudo, não conseguiu já distinguir o rosto dela entre
os muitos outros que desfilavam diante de si. Recostou-se no
assento.
Gabriel Malagrida tinha-a firmemente presa nas suas garras. Mais
tarde ou mais cedo ele iria saber que Leonor mantivera com ele,
Antero, uma relação amorosa e acabaria também por dar com a
pista de Samira. Logo após o encontro com Leonor, fora ter com
Samira e recomendara-lhe uma vez mais que não deveria sair dali
fosse com quem fosse. Obrigara-a a jurar que ficaria sempre junto
das princesas.
– Como se estivesses colada a elas. Prometes-me?
– Como se estivesse colada a elas?
– Sim. Aonde elas forem, tu vais também. Quando comerem, tu
comes também. Quando se deitarem no jardim, deitas-te também.
– Porquê, papá?
– Não irias entender se to explicasse.
Samira bateu com o pé no chão.
– Eu já não sou pequenina! Eu consigo entender! – olhou-o com
um ar zangado.
E, com efeito, como ela tinha crescido! Sempre que voltava de
uma das suas viagens marítimas assustara-se ao vê-la. De cada
uma dessas vezes aparecia diante dele uma pessoa nova. Era a
passos bem largos que se ia aproximando da adolescência. Ainda
não deixara de ser uma criança, mas quem a observasse
conseguiria já perceber que se iria tornar uma jovem belíssima.
Deveria desaparecer dali com ela, fugir para uma terra distante,
para bem longe de Gabriel Malagrida. Que ideia a dele, declarar
guerra a um amigo do Papa! Estava sozinho. Gabriel Malagrida
tinha do seu lado os jesuítas de três dezenas de países, além de
colégios, capitais inteiras, missões, confessores nas cortes,
centenas de bocas que sussurravam aos ouvidos dos soberanos.
Malagrida tinha poder. Que se poderia fazer contra alguém como
ele?
«Não podes passar a vida inteira a fugir», disse-lhe calmamente
uma voz no seu interior.
«Ah, sim?», gritou ele em resposta a essa voz. «Eu já perdi
Julie!»
«Ele persegue-te porque te teme. Malagrida conhece a tua força
melhor do que tu mesmo. Por que razão achas que em tempos fez
de ti o seu braço-direito? Olha em redor. Estás sentado num coche
dourado com o novo secretário de Estado do Reino. Também tu tens
aliados.»
– Nem sequer se sabe por onde se há de começar, não é? –
perguntou Antero.
Sebastião de Carvalho passou a mão na testa e acenou com a
cabeça em sinal de concordância.
– Temos de criar hospitais provisórios. Precisamos de camas para
os feridos. Entretanto, deveriam os militares tentar encontrar
armazéns e palheiros em redor de Lisboa. Onde o fogo não tiver
grassado deverá haver alimentos. Terão de ser confiscados e
mantidos sob supervisão dos militares para serem distribuídos pela
população. Antes de se pensar sequer em reconstruir, terá de se
garantir que as necessidades básicas das pessoas são satisfeitas.
De outro modo não conseguiremos controlar a situação.
A berlinda possuía uma boa suspensão. A cabina estreita estava
suspensa de cintas de couro, o que permitia amortecer as
oscilações resultantes das irregularidades do piso, ainda que se
ouvissem alguns rangidos. As rodas iam matraqueando nas pedras
da calçada.
– Alto! – gritou lá fora o cocheiro, fazendo com que a berlinda se
detivesse.
– É impossível que já tenhamos chegado – comentou Antero,
franzindo o sobrolho.
Sebastião de Carvalho abriu a porta e inclinou-se para fora.
– Por que razão parámos?
– É impossível passar nesta rua, senhor secretário de Estado do
Reino – respondeu o cocheiro.
– Raios! Eu bem disse que se devia tratar de desimpedir a Rua
António Maria Cardoso de imediato! Consegue dar meia-volta?
– No cruzamento deve ser possível.
As rédeas produziram um estalido e o coche voltou a avançar. O
secretário de Estado fechou a porta. Olhou para Antero.
– Se não conseguirmos desimpedir as ruas a tempo, o povo
começa a passar fome. Sem usar as ruas, jamais poderemos
transportar alimentos para a cidade em quantidade suficiente.
– Não viu as longas filas de pessoas que se encaminham para
norte, para o campo? O povo está a fugir de Lisboa – disse Antero,
passando a mão no assento revestido a veludo. Por que razão se
mostraria Malagrida tão obstinado em obter um documento com o
texto de um tratado político?
– Temos de fazê-las regressar, se necessário à força. Se Lisboa
ficar despovoada, será impossível reconstruir a cidade. Não se
reerguem mais de trinta mil casas com uma mancheia de operários.
– Uma vez que as pessoas cheguem à província, como pretende
conseguir identificar quem é de Lisboa ou não? Para isso precisaria
das listas das Finanças que identificam os contribuintes, mas essas
devem ter ardido, presumo eu.
– Vou tratar de obrigar as autoridades provinciais a enviarem
imediatamente de volta todos aqueles que lá cheguem de novo e
vou criar um sistema de controlo que regule os acessos à cidade.
Sobretudo as saídas.
– Mas essas listas arderam ou não? E como é com os tratados
políticos?
As finas sobrancelhas do secretário de Estado do Reino
franziram-se.
– Os tratados são sempre guardados por ambas as partes
contratantes, não sabia isso? Um tratado assinado com Inglaterra
encontra-se cá e em Inglaterra, um com Espanha está cá e em
Espanha. Independentemente disso, os documentos mais
importantes são guardados em caixas resistentes ao fogo. Mandei
transportá-los para Belém. Aí tratei de criar uma chancelaria
provisória numa sala contígua ao picadeiro real. Está tudo em
segurança.
– Tenho dúvidas quanto a isso. Seja lá por que razão for, Gabriel
Malagrida quer ver se mete a mão num documento desses. E do
picadeiro não deverá ter grandes dificuldades em conseguir sur-
ripiá-lo.
– E para que haveria ele de o querer? Já há muito que os seus
espiões lhe terão transmitido o teor dos acordos. Você está a querer
ver fantasmas, meu caro. Melhor será que se dedique às suas
investigações! Ouviu o que disse o padre. Precisamos de uma
explicação para o tremor de terra! Se o povo acredita que foi um
castigo, jamais voltará a reconstruir esta cidade, e mesmo que eu o
obrigue de todas as maneiras, ainda assim nada conseguirei. Tem
alguma novidade?
– É possível que sim.
Sebastião de Carvalho não deveria de modo algum ficar a saber
fosse o que fosse a respeito de Julie, nem que Samira era filha de
uma judia. Para mais agora, tendo ele sido nomeado secretário de
Estado do Reino, uma tal história não poderia vir a ser conhecida.
Para exercer cargos na Corte era necessário um certificado que
comprovasse não haver sangue judeu a circular nas veias do
detentor do cargo. Antero possuía esse certificado, que atestava a
pureza do seu sangue: era um documento emitido pela Inquisição, a
mesma instituição que mandara queimar Julie, a mulher com quem
ele nunca tinha podido casar, por lhe ser proibido desposar uma
cristã-nova, para que não ocorresse qualquer mistura de sangues.
Samira era resultado dessa mistura.
Por que razão não se punha um fim a essa lei? Já tinham
passado mais de três séculos e meio desde que em Portugal todos
os judeus haviam sido obrigados a aceitar o batismo. Ainda assim,
continuava-se a perseguir essa gente convertida à força, sob
suspeita de que se mantinham fiéis aos seus velhos costumes.
– Em que está a cismar? – perguntou o secretário de Estado.
– Questionava-me sobre se Deus não terá realmente pretendido
castigar-nos por alguma coisa.
O olhar de Sebastião de Carvalho fixou-se para além da janela,
no exterior, e o ministro acenou com a cabeça.
– Também me perguntei isso mesmo. Mas, sabe, se o Todo-
Poderoso nos quiser aniquilar, então estamos mesmo perdidos,
façamos o que fizermos. Seria coisa fácil destroçar-nos. Enquanto
Ele me permitir viver e não me abandonar por completo, faço aquilo
para que Ele me habilitou.
Ouviu-se um tiro. Antero estremeceu.
– Ladrões – disse o secretário de Estado. – Quem for apanhado
nas ruínas a roubar os bens de outras pessoas será morto a tiro.
Antero susteve a respiração. Ergueu-se.
– Por favor, deixe-me sair. Tenho de tratar de um assunto, é
urgente.
– Procura um esconderijo só para ti! – disse Benedita.
– Não – respondeu Samira.
A princesa revirou os seus olhos negros.
– És tão cansativa! As crianças pequenas são sempre assim?
«Crianças pequenas!» Ela dizia aquilo de propósito,
constantemente, pois notava que isso irritava Samira. E, no entanto,
melhor seria que ficasse calada. O lacaio aproximava-se dos
arbustos onde estavam escondidas. As princesas nunca queriam
ser elas a procurar, por isso Benedita tinha tratado de, sem rodeios,
ordenar ao lacaio que deveria ser ele a procurá-la. Este ficou parado
diante do arbusto. Com certeza que ouvira Benedita a falar.
– Estás a ver? – protestou a princesa, num tom seco. – Agora
denunciaste-nos – e depois, mais alto: – Ordeno-te que prossigas!
Não nos encontraste!
O lacaio deu meia-volta e, fingindo-se desesperado, perguntou:
– Mas onde poderão elas estar?
Mais adiante, por detrás do tronco desnudado do sobreiro, via-se
uma ponta do vestido de Doroteia. O lacaio fez de conta que não
reparou.
– Assim não dá gozo nenhum! – murmurou Samira. As princesas
estragavam tudo a dar ordens daquela maneira.
– Cala-te – ordenou Benedita.
Como podia ela fazer com que aquele aborrecido jogo acabasse?
Samira rastejou para baixo do arbusto. Havia espinhos que, através
do tecido do seu vestido, a picavam e a terra cheirava a mofo.
Escavou-a com as mãos. Tinha de haver ali minhocas, ou então
escaravelhos, qualquer coisa que pudesse enojar a princesa.
– Estou à procura da filha de Antero – disse uma voz masculina
que soava bastante amigável. – Por acaso viu-a, princesa?
– Ali em baixo – respondeu Benedita.
Samira rastejou para fora e pôs-se de pé. Sacudiu os torrões de
terra do vestido. Não era o lacaio, era um dos soldados. Vestia um
casacão azul com os canhões da mangas em vermelho e usava um
tricórnio na cabeça. As suas botas reluziam. À cintura tinha uma
espada.
– Vem comigo, o teu pai pediu-me que te levasse até junto dele –
disse a sorrir. A pele do seu rosto era amarelada, com um aspecto
febril, como se estivesse doente.
Samira hesitou. Não poderia ir com o soldado e, ao mesmo
tempo, permanecer junto das princesas. Assim sendo, perguntou:
– Benedita, vens também?
O soldado abanou a cabeça.
– Isso não pode ser – disse ele. – O teu pai quer ver-te só a ti,
sem as princesas.
– Ele disse-me que deverei ficar sempre junto delas.
O soldado riu.
– Ele também me contou o mesmo e, se tu própria o dizes, é caso
para te dar os parabéns, por seres tão ajuizada. Mas ainda assim
deves vir comigo.
Na cabeça dela andava tudo à roda. «Não vás com ninguém»
tinha dito o pai. «Com ninguém!»
– Eu fico aqui com as princesas – acabou ela por dizer. – O meu
pai que venha ele mesmo aqui buscar-me.
O soldado acocorou-se. Olhava-a agora directamente nos olhos.
– Vê lá bem, é o uniforme dos guardas do rei que tenho vestido.
Pertenço à sua guarda pessoal. Podes confiar em mim – segurou-a
pela mão, mas agarrou-a com tal rudeza que, assustada, Samira
susteve a respiração.
O soldado pôs-se de pé e segurou Samira ao colo.
– Não pode fazer isso! – os olhos encheram-se-lhe de lágrimas. –
Deixe-me, largue-me!
Deu um passo em frente, mas depois parou abruptamente.
Benedita pusera-se à sua frente.
– Saia daí – disse ele.
A princesa franziu ameaçadoramente as sobrancelhas negras.
– Larga-a imediatamente! Ela é minha amiga e eu sou a filha do
rei! Se não a largares, vou gritar até que toda a guarda venha a
correr até junto de nós.
– Mas eu faço parte da guarda – explicou ele.
– Isso não me interessa. Volta a pô-la no chão. Vou contar até
três: um… dois…
O soldado teve de pousar Samira.
– Está bem, está bem – olhou para ela. – O teu pai vai ficar muito
dececionado.
Com alguma rigidez no passo, atravessou o relvado e afastou-se,
sem sequer se voltar e olhar para trás.
– Tem-se de estar sempre de olho em ti? – perguntou Benedita. –
Nunca quererei ter filhos. São tão cansativos! Agora anda daí,
temos de encontrar um novo esconderijo.
Agarrou na mão de Samira e conduziu-a até uma fila de roseiras.
Samira, porém, não conseguia afastar o olhar do soldado. Se ele se
virasse, de certeza que o coração dela paralisaria de medo.
Cheirava a madeira queimada e a pó de pedra. Fumo brotava
daquilo que restava de uma parede. Leonor seguiu por um desvio
rumo a casa. Sentia-se suja. O que o novo secretário de Estado do
Reino dissera não lhe saía da cabeça. Ainda havia pessoas
soterradas e a asfixiar debaixo dos escombros. Milhares de famílias
não tinham alojamento. A população passava fome. A sua tarefa
consistia em aliviar esse sofrimento.
De repente, sentiu vergonha das festas que organizava, dos
namoros, dos encontros com as amigas para tomar café, dos
olhares de desprezo que deitava aos pedintes quando passeava por
Lisboa. As imprecações que a esse respeito havia segredado aos
ouvidos das amigas provocavam-lhe agora um gosto amargo.
Envergonhava-se de ter visto as pessoas apenas como meios
para alcançar um fim. Fora abençoada com extraordinárias
aptidões, mas em prol de quê havia ela utilizado essas bênçãos? A
espionagem de nada servia a quem quer que fosse, a não ser ela
mesma e à Companhia de Jesus. No fundo, a sua vida era
profundamente egoísta.
Era nesta rua que morava a sua amiga Francisca. Onde agora
apenas se viam três degraus estivera até ao dia de ontem uma
escada íngreme que conduzia à porta da casa da família Almeida.
Aquele tronco carbonizado era de uma árvore que pertencia ao
jardim, onde as crianças da família gozavam da sombra. Aquele
entrançado de ferro retorcido fora a balustrada da varanda da casa
vizinha. E ali estava o coche de Feliciano Machado, igualmente
queimado. As cintas metálicas das rodas, agora inúteis, estavam
encostadas aos escombros.
Onde estavam os Almeida, onde estava Feliciano Machado?
Leonor tinha esperança de que tivessem abandonado a cidade,
antes de o grande ímpeto dos incêndios a ter consumido. Tinha
esperança de que já ninguém estivesse soterrado debaixo dos
escombros.
Aos seus pés havia algo que, para além das ruínas, estava
estendido na rua. Eram pequenos montes negros e possuíam uma
forma que se assemelhava à de pessoas. Leonor ficou paralisada.
Apercebeu-se finalmente de algo terrível. Seria talvez...? De súbito
conseguiu ver com mais nitidez o que tinha diante de si e
reconheceu vários cadáveres carbonizados. Os seus amigos jaziam
mortos diante da respetiva casa.
Sentiu necessidade de vomitar. Recuou e ia tropeçando. Em cada
um dos cadáveres julgava conseguir reconhecer a amiga. Francisca
estropiada, Francisca carbonizada até ficar uma massa disforme e
brilhante como alcatrão. Fugiu dali a correr, tomando o cuidado de
não se aproximar de nenhum daqueles corpos negros.
«Mortos, tal como Dalila», foi a ideia que lhe atravessou a mente.
Ouviu uma criança a chorar. Leonor deteve-se. Sentiu que algo no
seu interior se movia. O irresistível desejo de praticar boas ações
parecia germinar nela. O pai apenas se preocupava em saber qual a
brevidade com que se poderia reconstruir a manufatura das sedas,
no Norte de Lisboa, e quais os estragos que as plantações de
árvores de fruto haviam sofrido. Mandou os escravos procurarem no
meio dos escombros da sua casa peças de porcelana chinesa.
Ela, porém, sentia que a sua missão era ajudar! Naqueles dias
não podia estar apenas a pensar em si mesma. Vinda das
imediações da Igreja de São Paulo, uma vozinha aguda chegava até
ela. Leonor pôs-se à escuta. O choro não parava. Não haveria ali
ninguém que pudesse consolar o infeliz? A ideia de uma criança
com a cara lavada em lágrimas poder estar sozinha entre as ruínas
provocava-lhe um aperto no coração. Encaminhou-se na direção
daquela voz chorosa. Tentou manter a trajetória tão direta quanto
possível rumo à origem da voz, ainda que isso significasse que teria
de trepar pelos destroços.
Não tardou a ouvir a criança já bem perto de si. Espreitou por
detrás de uma parede enegrecida. Viu ali um rapazinho a chorar.
Decerto não teria sequer ainda quatro anos. Duas meninas, de
olhos muito abertos, observavam-no enquanto vertia lágrimas, ao
passo que um homem, acocorado diante do rapaz, falava com ele,
tentando acalmá-lo.
Dirigiu-se grupo. Primeiro, foram as raparigas que levantaram o
olhar e passaram a mirá-la a ela. Depois foi o homem que se virou.
Pôs-se de pé.
– Graças a Deus. Foi o céu que a enviou.
– Por que razão chora o pequenito? – perguntou Leonor.
– Tem fome. Só que eu não lhe posso dar nada. Sou um simples
sapateiro. Nada mais tinha a não ser a minha loja. Sinto pena
destas crianças. Não as posso deixar ficar aqui assim.
– Mas estava a pensar deixar os seus filhos aqui?
– Não são meus filhos. Apenas se cruzaram comigo na rua. Não
sei como hei de eu mesmo conseguir sobreviver, quanto mais com
estas crianças.
Ela agachou-se e olhou para o rapazito.
– Tens fome? – o choro abrandou um pouco e ele acenou
afirmativamente com a cabeça. Leonor olhou para as meninas: –
Onde estão os vossos pais?
Elas apontaram para a enorme e chamuscada ruína da Igreja de
São Paulo e disseram:
– Estavam lá dentro. E os dele também.
Aqueles três nem sequer eram irmãos! Leonor olhou para a ruína.
Poderia alguém que estivesse sob os destroços ter sobrevivido?
Cinzas ainda quentes preenchiam cada espaço entre os escombros.
Leonor sentia o calor na pele. Deveria ter ocorrido um incêndio de
enormes proporções.
– Uma tragédia – comentou o sapateiro. – Ontem mais de cem
pessoas morreram queimadas naquela igreja.
Leonor sentiu pena das crianças. Queria fazer alguma coisa de
bom por elas. No seu interior houve uma voz que a avisou: «Vão-se
aproveitar de ti. Dás-lhes a mão e elas não tardam a levar-te o
braço. Deixa lá estar. Aqui cada um é responsável por si próprio.»
Já irritada, teve de fazer a voz calar-se. Era com cerca de quatro
anos que o pequenito ia poder ser responsável por si mesmo?
– Eu sei onde há comida. Venham comigo – disse ela.
Muitas outras pessoas nada haviam comido desde a véspera, ao
passo que a sua fome estava saciada. O pai possuía contactos fora
da cidade. Mas o que poderiam fazer aqueles cujas oficinas em
Lisboa era tudo o que tinham, ou, pior ainda, que ia acontecer às
lavadeiras, aos estivadores, aos jornaleiros?
Leonor conduziu as crianças e o sapateiro para fora da colina de
Santa Catarina. Na Rua Formosa, parou diante da única casa que
ainda se mantinha de pé. Tinha fissuras nas paredes. O pai
mandara os escravos entaiparem as janelas de baixo com tábuas.
Além disso, tratara de arranjar espingardas e floretes, com as quais
os escravos deveriam matar quaisquer saqueadores que atacassem
a casa.
– Esperem aqui, por favor – disse Leonor. – Pode haver
problemas. Quero falar primeiro com o meu pai.
O sapateiro e as crianças ficaram na orla da rua coberta de
escombros. Leonor aproximou-se da porta e tentou abri-la. Estava
aferrolhada. Teria o pai saído na companhia dos escravos? Bateu à
porta e chamou:
– Está cá alguém?
Foi com ruído que o ferrolho foi aberto. Um rosto negro surgiu na
frincha da porta.
– Menina Leonor! Já estava preocupado – disse Jerónimo,
abrindo a porta.
Leonor entrou.
– Onde está o meu pai?
O escravo apontou com o dedo para a porta ao fundo.
– Tem uma visita.
– Obrigada.
Era estranho habitar uma casa que não era a sua. Os móveis que
lá estavam tinham pertencido a outras pessoas. Nas gavetas havia
objetos pessoais que ela desconhecia. Nada sabia a respeito da
família que ali vivera. Talvez nem todos os seus membros tivessem
sobrevivido ao terramoto, pelo que a casa fora vendida a Malagrida,
pois iria sempre recordar aqueles que haviam morrido. O facto de os
donos nada terem levado parecia indicar isso mesmo.
Leonor encostou o ouvido à porta e pôs-se à escuta. Quem seria
a visita do pai?
– Como disse, os duques de Aveiro e de Lafões estão prontos. O
mesmo se aplica ao estribeiro-mor, o marquês de Marialva. A
nobreza apoia-o, barão.
– Não faz sentido avançar sem uma prova bem sólida.
– Prova essa que irá receber. Vamos tratar disso. Está na
disposição de comparecer perante o rei?
A voz soou-lhe conhecida. Parecia um pouco rouca. Diante dos
seus olhos formou-se uma imagem da pessoa: um homem seco e
magro, quase incorpóreo, com um nariz adunco: Tomás. Sentiu um
calafrio descer-lhe pelas costas. Leonor já não sabia bem de que
lado estava. Do de Gabriel Malagrida? Continuaria a ser uma
jesuíta?
– Logo que me entregue essa prova – respondeu o barão.
– Não tardará a tê-la.
Leonor ouviu passos. Apressou-se a recuar. A porta abriu-se logo
de seguida e o jesuíta saiu. Deteve-se por momentos e observou-a.
Depois, dirigiu-se para a porta. O escravo acompanhou-o até à
saída.
Os duques de Aveiro e de Lafões eram membros ilustres da
nobreza. O facto de estes fazerem parte daquele negócio deveria
convencer o pai. Sendo ele barão, não passava de peixe miúdo,
ainda que a riqueza da sua família não ficasse muito atrás da dos
duques.
Entrou na sala de estar. Agora estava arrumada, mas Leonor
ainda se lembrava bem do aspecto que apresentara naquele dia de
manhã. A mesa de jogo no canto, sobre a qual as figuras de xadrez
estavam agora ordenadamente dispostas nas respetivas filas,
apresentava-se virada do avesso e as peças espalhadas pelo chão.
As portas de vidro do armário grande tinham-se partido no decurso
do tremor de terra e a porcelana caíra para fora do móvel. Havia
cacos por todo o lado. Entretanto, o chão fora varrido e colado papel
nas portas dos armários.
O pai encontrava-se de pé junto à janela. As tábuas estavam
separadas entre si por alguma distância, Leonor não sabia se tal se
devia à escassez de madeira ou se o propósito era permitir que o
cano de uma espingarda ali pudesse ser enfiado. A luz que entrava
na divisão através dessas frinchas era aproveitada pelo pai para ler
um papel.
Era melhor nem sequer fazer qualquer pergunta a respeito do
jesuíta. Precisava da boa vontade do pai para ajudar aquelas
pessoas necessitadas, que aguardavam lá fora.
– Pai – começou ela –, queria perguntar-te uma coisa.
Ele olhou-a.
– Sim, Leonor?
– Onde conseguiste arranjar aquele lombo de vaca? E os
legumes para a salada que comemos hoje?
– Nem tudo foi destruído pelo fogo. Alguns comerciantes
conseguiram salvar parte das mercadorias.
– Presumo que custem uma fortuna.
– A nossa família sofreu pesados prejuízos com esta catástrofe,
mas eu estou a tratar de tudo. Vamos novamente pôr de pé a família
Velho da Rocha Oldenberg, acredita em mim.
Colocou-se diante da lareira e passou os dedos na pedra polida
do parapeito.
– Encontrei um homem e três crianças na cidade. Desde ontem
de manhã que não comeram nada. Gostava de lhes dar alguma
coisa. Tenho a tua autorização?
O pai franziu a testa.
– Leonor, tu conheces essas pessoas? É possível ajudar os
nossos amigos. Pelos estranhos não podemos fazer nada.
– Se todos os alimentos, ou quase todos, foram destruídos, não
irá haver uma situação de fome generalizada?
– Situação de fome? Estás a exagerar. Nunca fez mal a ninguém
fazer uns dias de jejum.
– O rapaz não tem nem quatro anos e as meninas também ainda
são novas. De certeza que não lhes irá fazer bem não terem nada
para comer.
– Não podemos matar as nossas cabeças com essas
preocupações. Isso é tarefa que cabe ao rei resolver. Ele e os seus
conselheiros irão ocupar-se das necessidades da população.
– E como irá isso ser feito?
– Isso eu não sei. Já tenho preocupações que me cheguem!
Leonor, vamos ter de nos esforçar para evitar a bancarrota, não
percebes? Está não é uma altura para gestos caridosos.
– Então quando é altura, pai? Não basta já que haja mortos nas
ruas por todo o lado? Temos ainda de deixar morrer à fome aqueles
que sobreviveram, enquanto nós próprios comemos fartamente?
– Leonor! – contrariado, bateu com a mão na mesa. – Fizemos
uma refeição frugal. Só com muito boa vontade poderemos chamar
ao nosso pequeno-almoço um grande banquete! E assim se
manterá nos próximos dias. Queres dividir o teu prato com duzentas
e cinquenta mil pessoas? Que ingenuidade é essa, afinal? Já me
soas como a tua irmã, que de preferência mandava o dinheiro pela
janela! Queres saber tudo o que perdemos em consequência do
terramoto? Queres saber quanto as reparações irão custar, os
negócios que se perderam? Não, tu só queres saber de quatro
estranhos que encontraste na cidade. A tua lealdade, Leonor,
deveria dirigir-se em primeiro lugar para a tua família!
– Não quero que fales assim da Dalila.
– Não me limito a falar, também já fiz alguma coisa. Paguei aos
Ingleses. Enquanto estamos aqui a discutir, eles estão a talhar uma
pedra de boa qualidade para a sepultura de Dalila, nos arrabaldes
da cidade. Os Ingleses, Leonor, têm um fundo de assistência a
necessitados. The Poor Box, é como lhe chamam. O tesoureiro da
feitoria deles andou para esse efeito, durante anos, a cobrar uma
taxa sobre as mercadorias. O dinheiro destinava-se aos britânicos
que ficassem em situações de necessidade, por causa de roubos de
piratas ou caso perdessem navios em alguma tempestade. Achas
que esse fundo serve agora para alguma coisa? É uma ideia
ridícula! Se toda a gente empobrece de súbito e ao mesmo tempo,
esse fundo não chega para nada, é uma gota num oceano de
necessidades.
– Olha bem para a cidade, pai! Está tudo destruído. Não podemos
viver numa casa no meio de escombros e de gente morta.
– Queres vir dar-me lições? – suspirou. O seu olhar exprimia
cansaço. – Para isso terás de te levantar mais cedo. Achas que
devo alimentar as pessoas? Tens alguma noção de quanto tempo
vai demorar até estarem construídas trinta mil casas? Demonstra-
me lá aí como hei de conseguir pagar os navios que transportam os
cereais que irão alimentar as pessoas nos próximos tempos!
Demonstra-me lá como vou comprar os cereais! Ainda que não
queiras compreender o que te digo, fica sabendo que alimentar
quatro pobres criaturas não vai fazer diferença alguma, nada se
altera, absolutamente nada.
Que poderia ela dizer em relação àquilo? O pai tinha razão, não
podiam alimentar toda a população da cidade. Era uma ilusão
querer assumir a missão de abastecer os sobreviventes. Era
impossível conseguir saciá-los a todos. Apesar de tudo, queria
ajudar as três crianças e o sapateiro. Ainda que isso pouca
diferença fizesse em relação à situação global, sentia que era a
coisa certa a fazer.
– Para aquelas quatro pessoas fará com certeza bastante
diferença – disse ela. Deu meia-volta e fechou a porta atrás de si.
Lá fora, chamou Jerónimo.
– Traz-me queijo e pão.
– O barão autorizou? – perguntou ele.
– Não – respondeu ela, resistindo ao olhar que Jerónimo lhe
impôs.
Este manteve-se em silêncio durante alguns momentos.
– Como desejar, menina Leonor – disse depois. Desapareceu e
dali a instantes voltou com dois pães e queijo embrulhado em papel.
– Deus habita no seu coração, menina Leonor. Tenho orgulho em si.
Diante da casa, as crianças devoraram o pão e o queijo. Num tom
de voz baixo, quase envergonhado, o sapateiro disse:
– Não sabe quanto isto significa para mim.
Ao mastigar, os olhos encheram-se de lágrimas.
«Dalila ficaria orgulhosa de mim», pensou Leonor. Acalentou-a a
bondade que albergava no seu interior, a mão que escrevia na sua
alma.
20
As gotas de água batiam na pele de Antero. De início não mais do
que um ligeiro rumorejar, por fim veio a chuva. O pó que tinha na
cara escorria-lhe para os olhos e provocava-lhe ardor. Antero
arrancou a peruca da cabeça. Em dias como aqueles que se viviam
que importância tinha manter a correção do aspecto exterior? A
desgraça servira para revelar aquilo que, por meio das tarefas e
rotinas diárias, eles haviam ocultado: o facto de serem mortais. A
cada dia que passava a sua existência podia terminar.
Sentia gratidão por respirar. Sentia gratidão pelos pequenos
regatos de água da chuva que corriam pelo chão empoeirado.
Sentia gratidão pelo aroma fresco e acídulo que pairava no ar. Tudo
isso lhe demonstrava que estava vivo.
Será que a chuva apagaria da pedra aquilo que lá escrevesse
com um pedaço de carvão? O melhor seria gravar mesmo a pedra,
riscando-a. Nesse caso, permaneceria legível durante alguns dias.
Tinha a barriga a dar horas, mas apressou-se e continuou a
avançar. Os seus pais não deveriam andar no meio das ruínas a
escavar em busca de coisas. Tinha de avisá-los.
A chuva avançava sobre as ruínas como um pano cintilante que
as cobrisse. Por que razão se haviam as casas desmoronado? Se a
superfície da Terra se erguia mediante o efeito de uma onda e se,
ao elevar-se, passasse a formar um plano inclinado, levando a que
os edifícios desabassem, onde estavam então as fissuras? E esses
barrancos? Para ser capaz de deitar casas abaixo, essa inclinação
deveria ser bastante considerável. Ou era antes a força dos
abanões que as fazia cair?
Se por acaso fosse a inclinação, deveria ainda ser possível ver os
efeitos causados, pois assim que uma parte da superfície da Terra
deixasse de ocupar a sua posição natural e se inclinasse, deveria
algures separar-se do resto. Se um pedaço de terra com cerca de
setecentos metros se inclinasse apenas cinco graus, afundar-se-ia
num dos lados cerca de trinta metros, mas no outro extremo ter-se-
ia de elevar os mesmos trinta metros acima dos terrenos vizinhos.
Um terramoto teria de causar enormes movimentos de terras.
Formar-se-iam taludes.
A água da chuva escorria-lhe pela nuca. Era possível que nem
sequer fosse a própria terra a tremer, mas antes a força da
gravidade que, numa determinada região, produzisse um efeito de
desestabilização sobre a superfície da Terra. Para investigar isso,
seria necessário descobrir o funcionamento exacto da força de
gravidade e qual a sua origem. Só então se poderia averiguar se
seria possível prejudicar a sua estabilidade. Era muito o trabalho
que tinha pela frente.
Deteve-se. Aquela fora a Rua dos Ingleses. Nesse caso, aquele
monte de destroços ali adiante tinha sido a sua casa. À beira dele
havia uma barraca: duas paredes improvisadas com pedras
amontoadas umas sobre as outras, uma parede traseira feita de
pedaços de madeira e um telhado de lona. Antero contornou a
barraca. A chuva tamborilava sobre a lona. Da parte da frente a
barraca estava aberta, não havia porta.
Lá dentro viu o padrasto.
– Você já voltou! – exclamou Antero.
– Sim.
– Posso entrar?
– Sim, claro.
Antero entrou para aquele espaço apertado, acercando-se
bastante do inglês. Lançou a peruca para o chão e, com ambas as
mãos, sacudiu o excesso de água do cabelo. O padrasto
apresentava escoriações, mas não estava muito ferido.
– Por que razão não ficou mais tempo fora da cidade? O
secretário de Estado do Reino quer ordenar o regresso de todos os
habitantes, mas até que isso aconteça a sobrevivência fica mais
assegurada no campo. Onde está a mãe?
O padrasto manteve o silêncio.
Antero ficou como que paralisado. Não conseguia sequer mexer-
se. O constante tamborilar da chuva tornou-se de súbito um ruído
frio e terrível. Sentiu dificuldade em respirar e não foi capaz de olhar
o padrasto de frente.
– Aconteceu-lhe alguma coisa?
Então, o padrasto respondeu-lhe:
– Há três anos, quando em Inglaterra foi introduzido o calendário
gregoriano, julguei pela primeira vez na minha vida, que tudo estava
nos eixos. Pensei que chegaria a velho na companhia de Luísa. De
repente, o meu mundo achava-se por fim em ordem, ajustado.
Estava sentado à minha secretária e acreditei que, a partir daquele
momento, todo o trabalho se tornaria mais fácil, pois na
correspondência deixaria de ter de acrescentar onze dias à data
presente por causa dos diferentes calendários. Foi então que me dei
conta de que, desde que havia conhecido Luísa, tudo se tornara
mais fácil, que era muito mais feliz! Imaginasse eu que já só a viria a
ter comigo mais três anos e teria feito tanta coisa diferente…
Ficaram em silêncio. A chuva caía sobre a lona.
– Também eu – murmurou Antero com a garganta apertada,
quase a sufocar. Deixou-se afundar até ficar com o traseiro assente
no chão.
– Naquela altura não nos disseste fosse o que fosse. Não te
despediste, nada de nada. Fazes ideia durante quanto tempo isso
amargurou a tua mãe? Questionava-se se tinha feito alguma coisa
de errado. Perguntava-me vezes sem conta por que razão tu
quererias castigá-la.
– Não podia falar dos meus planos de fuga com ninguém. Você
não conhece Malagrida.
– Se assim fosse, Antero, era fácil enviar-nos uma carta depois de
ficares em segurança.
O padrasto tinha razão. Não quisera escrever. Também não
sentira a necessidade de visitar a mãe. Ela casara-se com o inglês.
Ao fazê-lo, traíra o pai. Fora assim que ele vira esse ato. Que ele,
Antero, a magoara e que a deixara entregue a si mesma, era algo
de novo, uma ideia dolorosa.
– Que foi que lhe aconteceu?
– Queríamos dar-te tempo para poderes fugir e isso deixou os
esbirros jesuítas ainda mais furiosos. Fizeram mal à tua mãe.
Antero lembrava-se bem de como ela fora sufocada e depois se
deixara cair ao chão. Fechou os olhos.
Fora por ele que ela suportara aquilo. Por ele.
– Naquele estado mal conseguia andar. Tínhamos de parar
muitas vezes para ela descansar. O terramoto apanhou-nos quando
íamos a passar pela Nossa Senhora da Graça, diante do Convento
dos Agostinhos. Uma parte das muralhas da cidade ruiu. Uns
pedaços maiores... mataram Luísa diante dos meus olhos.
Tinha a sensação de possuir uma bola de fogo no lugar do
estômago. Jamais poderia explicar-lhe por que razão tivera outrora
de partir. Não era fácil reconciliarem-se, abraçarem-se, recordarem-
se do passado.
– Por que razão te deixaste seduzir por Malagrida? – perguntou o
padrasto.
Antero levantou-se.
– Só conheceu a minha mãe durante alguns anos. Eu lidei com
ela durante a minha vida inteira. A dor que sinto já me chega, não
precisa de tornar o sofrimento ainda maior.
O padrasto olhou para as mãos dele.
– Eu sei, também não podes fazer nada em relação a esta morte
sem sentido.
– Dirija a sua irritação contra os Jesuítas. Não tivessem eles
tentado asfixiar a mãe e ela já estaria fora da cidade quando o
tremor de terra começou.
– Mas, de resto, sempre estiveste do lado dos Jesuítas...
Era impossível. O padrasto e ele nunca se tinham entendido, e
não era agora que isso ia acontecer.
– Eu não estava do lado deles. Eu admirava Gabriel Malagrida, é
tudo.
– E logo o Malagrida! E porquê, se me é permitido perguntar?
– Ele fazia aquilo que queria, sem se preocupar com o que os
funcionários que administram os assuntos do Reino tivessem a
dizer. Isso impressionava-me. Queria agradar-lhe. Ele chamava-me
choramingas e hipersensível. Pretendia provar-lhe que também era
capaz de realizar alguma coisa. – Antero tentou torcer as mangas
molhadas.
– Foi ele quem mandou Julie para a fogueira, não foi?
– Sim. E é por isso que o vou deitar abaixo.
– Ele é poderoso.
– Mas eu conheço o modo como Malagrida trabalha. Ele irá
transformar o tremor de terra numa arma para consolidar o seu
poder, e é precisamente essa arma que eu vou usar, virando-a
contra ele.
Ficaram em silêncio.
– Enterrei a Luísa – disse o inglês. – Mesmo sem missa.
– Porquê?
– Para que não acabasse por ser atirada para uma vala comum.
Não merecia isso.
– Não, realmente não merecia.
Antero olhou para fora, para a chuva. Ali adiante, junto à esquina,
vivera o velho fabricante de cachimbos de barro, que vendia na sua
pequena loja, para além de acendedores, caixas de tabaco e rapé.
Havia almíscar, âmbar-cinzento, bergamota, flor de laranjeira, e era
precisamente assim que cheirava diante da loja: a uma mistura de
laranjas e a pele de boi-almiscarado. Entre os seus clientes
contavam-se não só senhores importantes, mas também senhoras
já idosas que não conseguiam largar o hábito de fumar e que
durante a tarde podiam ser vistas à beira da rua de cachimbo na
mão. Quando Antero ainda era rapaz, ele e o fabricante de
cachimbos sempre se haviam cumprimentado amigavelmente. Com
certeza que o velho não deveria ter sobrevivido ao terramoto. A
casa dele estava destruída, tal como a da mãe.
– Sei que a tua estima por mim nunca foi grande – afirmou o
padrasto.
Antero manteve-se calado.
– Foi por causa da minha crença religiosa que me rejeitaste?
– A nossa fé não é assim tão diferente da vossa fé protestante.
– Sabes bem que é. Os católicos acreditam que a Igreja é salva
por Jesus Cristo e que cada um é salvo individualmente desde que
pertença à Igreja. Nós acreditamos que é a crença individual em
Jesus Cristo que traz a salvação, sem se fazer qualquer desvio pela
Igreja e sem o sacerdote como intermediário. Os padres são para
vocês os guardiães da ortodoxia. Para nós, só Cristo constitui o
caminho. É com ele que travamos amizade.
– Os protestantes também têm sacerdotes.
– Amizade com Deus. Sabes o que isso significa?
O tom daquelas palavras não lhe agradou. Iria o padrasto
começar um dos seus discursos instrutivos?
– Na verdade vim porque queria avisá-lo – disse Antero. – O
exército tem ordem para atirar a matar sobre saqueadores. É
preciso provar que se é dono da casa.
– Estou a entender. Onde posso obter um documento
comprovativo?
– Junto de um magistrado, imagino eu.
Ouvia-se o rumorejar da chuva.
– Por que razão construiu uma barraca? – perguntou Antero.
– Tinha de começar de alguma maneira. Irei reconstruir a casa
quando os vizinhos regressarem e me ajudarem. Voltaremos a
erguer os edifícios desta rua, um a um, ainda que tenhamos de ficar
com as mãos em carne viva. Depois disso, voltarei para ir buscar as
crianças.
– Admiro a sua coragem, pai – declarou Antero, olhando para o
outro.
O inglês nada disse.
– Sabia que, na verdade, foi para Inglaterra que eu fugi? Vivi
cinco anos na sua velha pátria.
Continuava sem dizer nada. Estava simplesmente ali de pé, a
olhar para Antero. Ouvia-se o rumorejar da chuva.
– Que se passa?
– Isso foi coisa que nunca me chamaste – disse o inglês em voz
baixa.
– O quê?
– Pai. Acabaste de, pela primeira vez, me chamar pai.
O picadeiro real ficara incólume. Logo aquele edifício que, na
realidade, era desnecessário, se não se levasse em conta o facto de
contribuir para o divertimento do rei. Com os blocos de pedra que
haviam caído, Deus matara a mãe de Antero, que, na realidade, era
uma boa pessoa, ao passo que este picadeiro inútil tinha por Ele
sido poupado.
Pensar na mãe provocava-lhe profunda comoção. Sentia a falta
dela. Piscou os olhos de modo a impedir as lágrimas de brotarem e
levantou-se. Melhor seria distrair-se.
Acima da área do picadeiro havia uma galeria com uma
balaustrada de madeira torneada e polida. Na maior das tribunas
estava sentado o rei, acompanhado por três rapazes.
– Quem são aqueles? – perguntou Antero à sua companheira de
lugar, uma senhora pequena, mas de aspecto robusto, que se
apresentara como marquesa de Távora.
– São os «meninos de Palhavã» – respondeu ela. – Não os
conhece?
– Não. Estive fora em viagem durante bastante tempo. – Como
que a comprová-lo, apontou para a perna com o joelho rígido.
– Só no início do ano é que o rei tornou oficial o seu parentesco
com eles. São filhos ilegítimos de Dom João Quinto. Todos lhes
chamam os «meninos de Palhavã», por terem habitado num palácio
situado nessa zona. Os seus nomes são António, José e Gaspar. A
sua posição na Corte é bastante frágil, pelo que não deixam escapar
uma oportunidade de ser vistos na companhia do rei.
Também os outros nobres que usavam perucas e ocupavam as
tribunas à esquerda e à direita do rei lhe foram por ela
apresentados. Ali estava o marquês de Angeja, com o seu
avermelhado rosto de bebedor, o franzino Fernão Teles da Silva, as
respetivas esposas. Até mesmo o presidente do Desembargo do
Paço, o estribeiro-mor e o presidente do Senado estavam ali
presentes. Bem à ponta estava sentado o marquês de Abrantes, o
comandante supremo das tropas. Apenas Sebastião de Carvalho
faltava ali. O secretário de Estado do Reino fora obviamente o único
que reconhecera que, após o terramoto, o pesadelo, na realidade,
não terminara, mas antes e a bem dizer apenas começara.
– Vá lá – dissera ela a Antero. – Mostre-se a esses servidores do
dinheiro de vistas curtas. Mais tarde são eles que terão de lhe dar
ouvidos, quando estiver a explicar os tremores de terra. Será até
melhor que, mais tarde, se lembrem da sua cara, de já antes a
terem visto.
– Pensei que a ideia fosse ser eu a acompanhá-lo – respondera
ele.
O secretário de Estado do Reino olhara para ele, perplexo.
– Acha que tenho algum gosto em jogos equestres enquanto as
pessoas pelas quais sou responsável estão a perecer? É daquilo
que nestes dias decidirmos e fizermos que depende o facto de
Portugal desaparecer ou não para sempre dos mapas mundiais, só
assim se verá se o seu povo cairá para sempre em ruína ou se tem
salvação. Cada hora que passa conta.
O secretário de Estado tinha razão. Era absurdo organizar jogos
equestres numa situação como aquela. Começaram por apresentar
um número chamado A Cabeça da Medusa. Os cavaleiros
arremetiam contra uma cabeça de medusa e, a quinze passos de
distância, arremessavam uma pequena lança, sem que para tal
pudessem ultrapassar uma marca desenhada na areia.
De seguida, haviam passado a um jogo chamado Ataque ao
Estafermo, que consistia em investir contra a representação de um
mouro, de madeira, e atingir o seu escudo com uma lança, o que
fazia com que o mouro desatasse a rodar. Os cavaleiros tinham
então de tentar evitar o chicote empunhado pela figura do mouro,
que, rodando sobre si mesma, tentava açoitá-los.
Os cavaleiros estavam agora a reunir as suas montadas numa
das extremidades do picadeiro. Os corpos transpirados dos animais
reluziam. Seguravam orgulhosamente as cabeças, de cuja testa se
destacavam penachos. Seis trompeteiros chegaram-se à frente com
os seus instrumentos prateados, dos quais pendiam estandartes de
damasco verde. Um sétimo músico tocava um tímbale e estimulava
os trompetistas a formarem uma animada fanfarra. O mestre-de-
cerimónias anunciou o jogo equestre seguinte:
– Alcanzias!
Os participantes receberam escudos ovais de couro vermelho. Na
área do picadeiro entraram então escravos que carregavam cestos.
Começaram a atirar bolas de barro cozido na direção dos
cavaleiros. O grupo formado por estes não tardou a dispersar-se e
eles seguraram os respetivos escudos bem alto, de modo a não
serem atingidos pelas bolas. À medida que as primeiras foram
acertando nos escudos, ia vertendo destas um líquido que
preencheu aquele espaço com um cheiro a rosas.
O aroma fez com que Antero se recordasse de Dalila.
O homem atrás dele deixou escapar uma exclamação de
assombro.
– Grandioso! – murmurou ele. – Adoro este rei.
Era um qualquer cantor italiano famoso. Antero já tinha esquecido
o seu nome. O cantor chegara a Lisboa, acompanhado de uns
quantos dançarinos e músicos, para realizar uma récita de ópera.
Pelos vistos, dada a impossibilidade de efetuar os espetáculos, uma
vez que o edifício da ópera havia sido destruído, o rei deveria tê-lo
indemnizado generosamente: não havia outro modo de explicar toda
a boa disposição do homem.
– Se me dá licença... – disse Antero e ergueu-se.
– Vai perder o melhor! – A marquesa segurou-o ao de leve pela
manga. – Quando terá oportunidade de voltar a ver um espetáculo
destes?
– Já vi o suficiente para os próximos cem anos. Pense nas muitas
pessoas que neste preciso momento estão a lutar pela simples
sobrevivência.
Desceu as escadas, abriu uma porta que rangia e saiu para o
exterior. Começava a anoitecer. Diante do picadeiro viu várias
berlindas paradas. Os cavalos, desatrelados, andavam por ali a
pastar numa pequena área adjacente. Debaixo de uma figueira,
estavam sentados os cocheiros a beber aguardente. Iam passando
a garrafa bojuda de uns para os outros.
Um deles, mais gordo, acabara naquele momento de beber da
garrafa e perguntou a um dos companheiros:
– Que tens a dizer daquela coisa que eles bebem nos países do
Norte e do Leste? Aquela… Como lhe chamam?
– Cerveja? – perguntou o companheiro do lado. – Ouvi dizer que
põem lá papoilas, ou cogumelos, ou folhas de loureiro, tudo e mais
alguma coisa. Tentam desesperadamente dar sabor àquilo.
O gordo riu-se.
– Mas não lhes serve de nada! A cerveja continua a ter um sabor
miserável. Sabe ao mijo de um garanhão com febre.
Os cocheiros desataram a rir.
Um membro da Guarda Real, munido de uma alabarda, vigiava a
entrada lateral do picadeiro. Seria ali que estavam guardados os
tratados políticos? Na outra ponta da área adjacente onde os
cavalos pastavam, havia soldados sentados na relva. As respetivas
espingardas estavam encostadas às árvores.
Antero foi até junto dos cocheiros.
– São a minha salvação! Suplico-vos que me deixem dar um gole.
O gordo estendeu-lhe a garrafa.
Antero levou-a à boca e bebeu. À aguardente tinha sido
acrescentada água e também pimenta. O sabor era pungente.
Antero afastou a garrafa da boca e fez uma careta.
– Pff! Que mistela nojenta!
– Qual é o teu problema? Ninguém te obrigou a beber.
O gordo tirou-lhe a garrafa da mão.
– Nem conhecem a cerveja inglesa. Vivi cinco anos em Inglaterra.
A cerveja de lá sabe cem vezes melhor do que a aguardente
ordinária que aqui têm.
Os cocheiros puseram todos uma cara séria, mas logo de seguida
desataram às gargalhadas.
– Os Ingleses! Como se esses soubessem alguma coisa.
– Claro que sabem. Por exemplo, quem sabe criar ovelhas melhor
do que eles?
A risota foi ainda maior.
– Criar ovelhas! Oh, sim, isso é que é mesmo importante!
– Querem ofender-me? – resmungou Antero.
O gordo esboçou um sorriso.
– Mas será possível que uma ovelhinha se ofenda?
Antero rodou sobre os calcanhares e dirigiu-se ao guarda.
– Não pode entrar – disse este com uma voz grave.
– Sabes o que aqueles tipos ali estão a dizer de ti?
– Isso não me interessa.
Antero virou-se para os cocheiros. Estes levantaram a garrafa de
aguardente, como que para o cumprimentar, e começaram a
barregar, como se fossem ovelhas.
– Mééé! Bééé! – tal era a risota que se atiraram para o chão de
joelhos, não se tinham em pé e já choravam de tanto rir. – Bééé!
Mééé!
Antero virou-se novamente para o guarda. O homem ficou tão
furioso que o sangue lhe acorreu à face e enrubesceu. Por detrás de
Antero, os cocheiros gritavam:
– E vejam só ele a olhar para nós como uma ovelhinha, não é?
O guarda já espumava.
– Isto já foi longe de mais. – Arrancou na direção dos cocheiros. –
Mas será que ainda têm algum juízo nessas vossas cabeças ocas?
Antero esgueirou-se para o interior do edifício. Deu consigo num
corredor com paredes caiadas de branco. Havia cabeçadas
penduradas em pregos ferrugentos. Cheirava a bosta de cavalo. Era
aqui que se guardavam os acordos estabelecidos entre o Reino de
Portugal e Inglaterra, a Prússia e a Espanha?
Talvez tivesse sido boa ideia vir assistir aos jogos equestres, mas
iria prestar um serviço ainda maior ao secretário de Estado do Reino
quando lhe conseguisse provar como era fácil chegar perto dos
tratados políticos, podendo depois ajudá-lo a protegê-los de
Malagrida.
Abriu uma porta à esquerda, e olhou para o interior de uma
câmara sem quaisquer janelas. Do chão até ao teto viu selas
apoiadas em hastes afixadas na parede. Ajoelhado diante de uma
lata com um conteúdo castanho e brilhante, um adolescente estava
a engraxar uma sela.
Antero voltou a fechar a porta e avançou pelo corredor. Abriu a
porta seguinte.
– O senhor deseja…?
Um homem com uma camisa branca e limpa, sentado a uma
mesa, olhou para ele. Tinha diante de si um livro, uma série de
carimbos e um conjunto de tinteiro e pena.
– É aqui a chancelaria do Ministério do Exterior? – perguntou
Antero.
– Chamar-lhe chancelaria será talvez um exagero – respondeu-
lhe o homem. – Mas provisoriamente é aqui que se procede à
redação de alguns documentos do secretário de Estado do Reino,
sim…
Era demasiado fácil entrar e chegar até ali. Teria de pedir a
Sebastião de Carvalho que ali fossem colocados mais guardas. Se
conseguissem capturar os cúmplices de Malagrida, porventura ficar-
se-ia com alguma coisa para usar contra o líder dos Jesuítas. Era
preciso colocar-lhes uma armadilha.
– E então? O que o traz cá? – O olhar do funcionário da
chancelaria percorreu-o de alto a baixo. – Quer alguma coisa?
É claro, alguém com o seu aspecto poderia ser um mensageiro.
– Na verdade, trazia. Deveria transmitir uma mensagem, uma
missiva da maior importância. Só que entretanto fui roubado por
saqueadores. Entre eles havia um homem cuja barba estava
entrançada de modo a formar dois rabichos. Chama-se Diogo
Barbosa. É esse homem que tem agora a carta em seu poder.
– Quem foi que lhe confiou essa carta?
– O padre Malagrida.
O funcionário da chancelaria franziu a testa.
– Tudo isso soa um pouco... inverosímil.
– Não sou um dos seus mensageiros normais. Na verdade
trabalhei para ele na clandestinidade, como uma espécie de
denunciante daquilo que o povo diz por aí.
– Como espião, quer você dizer.
– Não é esse o nome que lhe damos. Seja como for, as
circunstâncias destes dias terríveis exigiram que ele me enviasse a
mim. Excecionalmente.
– Então regresse junto do seu patrão e peça-lhe que volte a
redigir essa carta. Eu é que não posso ajudá-lo.
Havia três arcas negras atrás da mesa. Era bem possível que
fosse nelas que estivessem os tratados. O secretário de Estado
falara-lhe de caixas à prova de fogo.
– Conhece o padre Malagrida?
– Pessoalmente não.
– É uma pessoa que se enfurece com muita facilidade. Pensei
que, se ao menos conseguisse cumprir a segunda metade da minha
missão, talvez isso conseguisse apaziguar a ira dele.
– Nesse caso desejo-lhe muita sorte.
– Necessito da sua ajuda – que poderia ele contar-lhe? De
preferência uma história verdadeira, à qual apenas teria de
acrescentar uma pequena mentira. Esquadrinhou as suas memórias
em busca de rumores que tivesse escutado nas tabernas junto ao
porto, e histórias que os seus recetadores lhe tivessem contado. –
Trata-se de John Bristow, sabe, o sobrinho do vice-governador da
Companhia dos Mares do Sul. É comerciante e, juntamente com a
família Ward, tem a Bristow, Ward and Company. Você…
– Poupe-se – interrompeu-o o funcionário –, seja como for não
posso ajudá-lo. Com John Bristow, o comerciante de diamantes,
nada tenho a ver, ou melhor, menos que nada, e também não lhe
vou redigir carta alguma para esse homem, não é essa a minha
função.
– Claro, mas escute-me! Os armazéns dele foram destruídos pelo
terramoto. Ele pretende reconstruí-los e continuar a sua atividade de
comerciante. Assim sendo, quer resgatar um título de dívida. Manuel
Gomes de Silva, o falecido tenente-general da Marinha, tinha
dívidas a Bristow, no valor de cento e vinte mil libras inglesas. Uma
vez que a Casa Real portuguesa, por sua vez, deve bastante
dinheiro ao falecido tenente-general, os títulos de dívida foram
endossados. E agora o comerciante de diamantes pretende obter o
seu dinheiro junto do rei.
– Que se dirija à Fazenda Real.
– Exatamente. Só que a Fazenda Real faz orelhas moucas. John
Bristow falou com o padre Malagrida, que já conhece do Brasil, onde
ele tem as suas minas. Bristow perguntou-lhe quais os trâmites
normais para resolver estes diferendos internacionais. Você deverá
ter aqui os tratados comerciais estabelecidos com Inglaterra, que
regulam estes casos.
O funcionário da chancelaria franziu os lábios, contrariado. Virou-
se para as arcas, sacou de uma chave, que colocou na fechadura
da arca mais à esquerda, virando-a de seguida. Antero escutou um
ruído metálico.
Afinal sempre estavam aqui. Realmente não era difícil chegar
junto dos tratados. Relataria ao secretário de Estado do Reino a
facilidade com que o tinha conseguido. Talvez até fosse bom não
mudar nada naquela situação. Se os homens de Malagrida
chegassem à mesma conclusão que ele ao ensaiar aquilo, sentir-se-
iam motivados a tentar realizar o roubo. Iriam morder o isco na
armadilha.
O funcionário abriu a tampa da arca e começou a retirar para cima
da mesa caixas, livros e pesadas pastas de cabedal, todas elas
identificadas com o selo real na parte da frente. Abriu algumas
caixas, uma a uma, pegou em papéis e pergaminhos. Abriu também
uma das pastas e do interior retirou uma grande folha de papel,
densamente manuscrita, que leu em silêncio.
– Aqui está – disse, por fim. – Primeiro deverá o cônsul-geral
tentar resolver o litígio com as autoridades portuguesas
competentes. Se tal não surtir efeito, poderá ele dirigir-se ao
embaixador, em Portugal, de Sua Majestade, o rei de Inglaterra. Se
também este não for capaz de resolver o litígio, o assunto será
remetido ao Secretary of State em Inglaterra.
– Quando foi o acordo celebrado? – Antero chegou-se junto à
mesa, como se pretendesse espreitar o tratado.
Bateram à porta.
O funcionário olhou naquela direção.
– Faça favor!
A porta abriu-se e entrou Nicolau Fernandes, o arquiteto. Não foi
para o funcionário da chancelaria que olhou, mas sim para Antero.
– Então sempre é verdade.
– De que está a falar?
– Se fosse a si não disparava – disse o arquiteto. – Ali fora, do
outro lado da porta, a Guarda Real só espera um sinal meu. Você
não iria longe.
– Disparar? – perguntou Antero já irritado, franzindo o sobrolho.
– Isso que esconde aí atrás das costas não é uma pistola?
Antero mostrou as mãos.
– Por que razão haveria eu de trazer uma pistola?
O arquiteto aproximou-se de Antero e disse secamente:
– Que faz você aqui? Quem lhe confiou esta missão?
– Que missão? Não sei do que está a falar.
– Que se passa aqui? – perguntou o funcionário da chancelaria
num tom austero.
– A Inquisição bem me avisou – declarou o arquiteto. – Disseram-
me que estivesse de olho nele. Que não é quem aparenta ser.
Quando se esgueirou ali do picadeiro, durante os jogos equestres,
soube logo que tinha alguma fisgada. Que pretendia ele de si?
– Queria ver este tratado – o funcionário da chancelaria entregou
o papel a Nicolau Fernandes.
É claro que Malagrida estava por detrás daquilo. E aquele
funcionário, cego de todo, entregou-lhe o tratado de mão beijada.
– Trabalho como conselheiro científico para o secretário de
Estado do Reino – declarou Antero. – Se tiver alguma objeção em
relação a mim, trate de expor o caso a ele. Até lá gostaria de lhe
pedir que parasse de me importunar com essas ofensas.
O arquiteto examinou o tratado.
– Interessante. Muito interessante – comentou. E depois, lá para
fora, chamou: – Guardas!
Um elemento da Guarda Real e mais quatro soldados entraram
no gabinete. Agarraram Antero.
– Então uma ovelha, não é? – disse o homem da Guarda Real e
cravou-lhe o joelho na barriga.
Antero dobrou-se e gemeu.
– Deixem-no em paz – ordenou uma voz.
Olhou para cima.
Heitor entrou na sala. Em redor da sua cabeça estava enrolada
uma ligadura branca, na qual se via uma mancha de sangue do
tamanho de uma sanguessuga. O seu jaquetão era adornado por
uma longa fila de botões semiesféricos. Das mangas da casaca
destacavam-se punhos de renda. Tinhas as costas arqueadas e os
ombros largos. Criava a impressão de que estava a agachar-se,
uma fera prestes a realizar um salto para atacar. Com breves
movimentos da mão arranjou o cabelo escuro, da cor do carvão.
– Já nos conhecemos, Jean – disse ele. – Ou deverei dizer
Antero?
– Malagrida nunca esquece os seus filhos, não é? – Antero teve
dificuldade em se endireitar. Continuava a sentir-se como se o
joelho do soldado da Guarda Real lhe continuasse cravado no
estômago.
– Ainda bem que aí está – disse o arquiteto. – É tal qual você
disse. Ele é um espião. Vi com os meus próprios olhos o modo
como se esgueirou até aqui para vir espreitar os tratados do
secretário de Estado do Reino.
Heitor agarrou no tratado. As unhas compridas como o bico de um
pássaro percorreram-no.
– Era isto que ele queria ver? – foi dando uma vista de olhos pelo
texto. – Terei de levar comigo este documento e mandar examiná-lo.
De outro modo, não se conseguirá saber o que ele pretendia fazer
com o tratado e por que razão queria este em particular.
– Não pode tirar daqui esse documento – objetou o funcionário da
chancelaria.
– Se o seu patrão lhe criar problemas, diga-lhe que deverá dirigir-
se à Inquisição. – Heitor abandonou a sala. Enquanto saía, ordenou:
– Levem este patife para a Torre.
Antero sentiu-se sufocar. Ainda por cima ajudara-os a obter o
tratado!
Levaram-no ao longo do estreito corredor. Os cocheiros, sentados
debaixo da árvore, ficaram a olhar embasbacados, enquanto ele era
arrastado dali para fora. Os soldados agarraram-no à esquerda e à
direita, por baixo das axilas, sendo mais propriamente carregado do
que conduzido. Era uma situação humilhante.
Malagrida conseguira manobrar as coisas de modo a apanhá-lo.
Tal como outrora com Julie, quando a pusera em xeque. Convidara-
a para uma refeição e tinha-lhe oferecido sopa. Enquanto comiam,
referira de passagem como a carne de porco ali contida realçava o
gosto. Julie não conseguira disfarçar a aversão cultivada ao longo
de toda uma vida. Uma reação quase imperceptível tornou-se a sua
perdição, revelou-a enquanto judia.
Ao longe viu as tendas reais. Aí, numa das tendas secundárias,
pernoitavam Samira e as princesas. Deveria ter aproveitado para
pôr Samira a dormir. Ela precisava dele. Afinal de contas, decidira
por fim passar a ocupar-se mais dela!
Estava, porém, a ser dali arrastado. Ansiou pela aguardente
ordinária dos cocheiros. Sentia necessidade de se embriagar, para
não ter de presenciar aquela desgraça em seu perfeito juízo.
Regressara ao tentacular amplexo de Malagrida.
21
A primeira coisa em que Leonor reparou quando, na segunda-feira
de manhã, chegou próximo da porta da rua foi o facto de cheirar
mal. Era como se a água das poças estivesse a apodrecer. O que
restava do maremoto misturava-se com as sujidades que saíam dos
canos de esgoto destruídos. Mas não era apenas isso. Um
adocicado cheiro a putrefação pairava no ar. Ao pensar qual poderia
ser a sua origem, Leonor teve de suster a respiração.
O calor abafado resultante da chuvada do dia anterior mantinha
os cheiros como que colados às ruas. Leonor dormira mal, acordara
por diversas vezes e pusera-se a pensar na irmã. Tinha saudades
de Dalila.
Também se lembrara de Antero. Sentia-se como se tivesse levado
pancada. Tudo se apresentava tão confuso! A situação estava num
impasse e ela não sabia como sair dela. A única coisa que correra
bem fora a intriga que iria guindar o seu pai aos meandros da
governação. Malagrida mandara avisá-la de que já obtivera o
tratado por outros meios.
O dia do derrube estava próximo, mas essa era uma ideia que já
não a animava. Antero odiava os Jesuítas e estes odiavam-no a ele.
Desde que soubera disso, a colaboração com a Companhia de
Jesus passara, para ela, a ter um gosto amargo capaz de lhe
estragar por completo o paladar.
O pequeno-almoço andava-lhe às voltas no estômago. Não
deveria ser do toucinho-do-céu, pois ela sempre o tinha tolerado
bem, desde criança que adorava aquele doce confecionado com
amêndoas. Contudo, fora com um peso na consciência, por causa
daqueles que passavam fome, que bebera o espesso chocolate
líquido da Nova Espanha, aromatizado com canela, e também não
deveria ter comido o queijo de Brie.
Viam-se muitas pessoas entre as ruínas. Donde tinham elas
surgido? Estariam os refugiados a regressar? Carregadas com
trouxas, percorriam as ruas e trepavam pelas pedras e hastes
metálicas retorcidas. Os seus rostos pareciam revelar que haviam
perdido toda e qualquer esperança. Viam-se também soldados entre
as pessoas: alguns deles a cavalo, trotando rua abaixo e impelindo
os animais com as esporas, ao passo que nas praças marchavam
os que iam a pé, de uniforme azul, com as espingardas ao ombro.
Leonor reparou numa família de refugiados. Sete crianças
seguiam, na companhia do pai e da mãe, junto a um carrinho de
mão. Tinham um aspecto sujo e as pernas das crianças mais novas
eram fininhas. Estavam decerto a passar fome. Era injusto. O novo
secretário de Estado do Reino exigira que todos pusessem mãos à
obra e ajudassem. Era essa a necessidade que naquele momento
se impunha. E ela, que fazia? Comia até ficar farta e sentia
saudades de Antero.
Na Praça do Rossio um grupo de homens erguia uma trave tosca.
Ao que parecia, preparavam-se para construir uma forca. Reparou
num padre e em três soldados que empurravam uma carroça. As
suas pesadas rodas ficaram presas numa viga, entre os escombros
que atravancavam a rua, razão pela qual os homens, encostados à
parte traseira da carroça, a empurravam. Leonor olhou a cena com
mais detalhe. Por entre as travessas laterais da carroça conseguiu
identificar uma mão. Mais à frente distinguiu depois um rosto cheio
de cicatrizes. Eram mortos!
Os homens não conseguiam. A mãe das sete crianças veio ajudá-
los. E, de seguida, também o marido dela. «Não», pensou Leonor,
«isso eu não faço. Não vou tocar em cadáveres.» Mesmo só dos
coveiros tinha ela já medo. Por vezes, ao abrir a porta de uma loja,
perguntava a si mesma se antes dela algum coveiro poderia ter
tocado naquele manípulo. Nessa altura estremecia, tal a
repugnância que sentia. Como conseguiria ela tocar em mortos?
«Dalila tê-los-ia ajudado!», pensou de repente. Hesitou. A repulsa
quase a sufocava, mas por fim colocou as mãos sobre as tábuas e
ajudou a empurrar.
– Quando eu disser três – anunciou o padre. – Um, dois… três!
Empurrou todo o seu peso contra a carroça. Esta subiu e depois
desceu para o lado de lá da viga.
A carroça voltou a conseguir avançar com facilidade. Leonor
largou-a e sacudiu as mãos no vestido.
– Precisamos da sua ajuda – pediu o padre. Olhou-a fixamente e,
depois dela, também o homem e a mulher. – Há um surto de tifo, por
causa da abundância de cadáveres. Temos de tratar de removê-los
antes que a cidade inteira seja dizimada.
– A minha família e eu estamos a passar fome – retorquiu o
homem. – Os soldados dizem que temos de regressar à cidade,
mas aqui não há nada! Não posso, padre. Tratar dos mortos? Mas
os vivos é que precisam de mim. Só falta que também os meus
filhos tenham de... Este terramoto só tem causado pesadelos às
crianças.
– Deixe as crianças entregues à sua mulher. Ajude-nos – o padre
ergueu as sobrancelhas e usou um tom de súplica. – Ao fim do dia,
tratarei de ver se lhe consigo arranjar alguma coisa para comer,
para si e para a sua família.
Leonor tentou retirar-se discretamente, mas foi apanhada pelo
olhar do padre.
– Por favor – pediu ele. – Não se vá embora, ajude-nos!
Fora apanhada. O padre percebera que ela quisera esquivar-se.
Afinal de contas, aquela tarefa cabia-lhe a ele, não a ela! Ele é que
era padre e recebia alguma coisa em troca dos seus serviços. Ou
então aquilo era um castigo. Fosse qual fosse a razão, ele fora
condenado a recolher e empilhar os mortos.
Precisava de distraí-lo.
– Para onde leva os cadáveres?
– Para o Tejo. Há milhares de pessoas mortas. É impossível abrir
uma cova para cada uma delas.
– Vai lançar os cadáveres ao rio? Assim sem mais?
– Vamos carregá-los em barcaças, que depois afundaremos a
meio do rio. O patriarca autorizou que, nestes dias de exceção, se
fizesse assim. Venha daí, vamos ali àquela ruína.
Leonor olhou em redor. À sua direita, o pai daquela família de sete
pessoas ia já a trepar uma parede caída, na companhia de um dos
soldados. À sua esquerda, os outros dois soldados entraram num
pátio. Se não ajudasse o padre, este teria de carregar os mortos
sozinho. Sentiu o dedo da sua consciência apontado na sua
direcção. Tinha de ajudar.
Seguiu-o através do arco que dava entrada no pátio. Junto a um
monte de destroços jazia uma mulher morta. Era impossível
reconhecer qual a causa. O padre curvou-se e segurou-a debaixo
dos braços.
– Agarre nos pés – disse ele.
Ela pegou nos pés e prontamente recolheu as mãos. Os pés
estavam gelados. Tinha tocado a coriácea pele de uma mulher
morta! Jamais voltaria a conseguir mexer naquilo.
– Vá, deixe-se disso! – insistiu o padre. – É assim que todos nós
acabamos! Todos os dias há pessoas que morrem. Pretende fechar
sempre os olhos a esta evidência?
– É horrível – disse ela.
– Isso tem a ver com o facto de originalmente termos sido criados
como imortais. Só que rebelámo-nos contra o nosso Criador e este
retirou-nos a imortalidade, foi assim que aconteceu. Até que, no dia
do Juízo Final, a recebamos de volta teremos de aprender a lidar
com a morte. Vá, agarre nos pés!
Não queria pensar que também um dia ela acabaria assim, nem
recordar Dalila, que na sua sepultura estaria já a começar a
decompor-se. Leonor agarrou naqueles pés frios. O padre ergueu o
tronco da morta e transportaram-na através do arco da entrada até à
carroça.
Do monte de escombros ali ao lado retiraram um ancião cuja
caixa torácica havia sido esmagada. Na ruína seguinte encontraram
dois homens carbonizados. As mãos de Leonor ficaram pretas. Foi
com dificuldade que conseguiram ainda equilibrar os mortos na
carroça. Empurraram-na até à margem do rio. Leonor teve de seguir
a pé, de um dos lados dela, e intervir quando algum dos cadáveres
ameaçava escorregar e cair no chão.
Cinco monges carmelitas ajudaram-nos a carregar os mortos para
uma barcaça. Deixaram aos monges a tarefa de se
desembaraçarem dos cadáveres e regressaram com a carroça
vazia. Que tarefa medonha era aquela! Transportavam pessoas
como se fossem sacas de farinha.
Quando na Baixa, depois de içarem um corpulento homem morto
com as pernas desarticuladas para a carroça, fizeram um intervalo
para tomar alento, Leonor perguntou:
– Por que razão nos castiga Deus com tal dureza? Não consigo
perceber.
– Devemos ter feito por merecer o castigo. De certeza que em
Sodoma e Gomorra as pessoas também estavam convencidas de
que faziam tudo certo, no entanto o seu modo de vida não agradava
nada ao Senhor.
Treparam pelo que restava de uma parede para ter acesso a uma
ruela. Leonor sentia um nó nas entranhas. Algo não batia certo na
explicação do padre, não se coadunava com a desgraça que
atingira Lisboa.
– Nesse caso, não deveria Deus destruir também outras cidades?
Será que Lisboa era pior do que Madrid ou Paris? E mesmo que
muitas pessoas, na capital, tenham feito por merecê-lo, foram essas
mesmas as que o terramoto matou? Quer dizer que quem
sobreviveu foram apenas pessoas boas? Se foi através do sismo
que Deus mandou executar as pessoas más, deveria ter-me matado
a mim também.
O padre ficou calado alguns instantes. De seguida disse:
– Tem razão. Perante a lei de Deus, todos nós somos culpados.
Não existe ninguém que pudesse dizer de si mesmo que é
completamente bom. Somos egoístas. Somos cegos para o
sofrimento alheio. Por isso mesmo é que Jesus Cristo morreu. Ele
pagou por todas estas faltas que cometemos.
– E por que razão enviou Deus este terrível castigo se a nossa
culpa já foi remida? Muitos foram os que se refugiaram nas igrejas.
Por que razão destruiu Ele os seus próprios santuários? Ele bem
podia ter poupado as igrejas.
– Espere lá. – o padre encontrara alguma coisa. Afastou duas
pedras. Como que paralisado, ficou a olhar para o chão. – O melhor
é cada um de nós levar um deles.
Aos pés dele estavam os cadáveres de duas crianças, de mãos
dadas. Uma delas era uma menina, talvez com cinco anos. Os
cabelos negros estavam arranjados numa coroa de tranças e os
olhos fechados. O outro corpo era de um rapaz, que mal teria três
anos. Os seus olhos estavam bem abertos. A cabeça, virada na
direção da irmã, levava a crer que, mesmo morto, olhava para ela.
Leonor estremeceu, horrorizada. Deu dois passos atrás. Era
impossível que aquelas duas crianças tivessem cometido pecados
tão graves a ponto de merecerem morrer. A morte delas era injusta,
era um equívoco terrível, Deus mostrou-se desatento e negligente
nas suas obrigações!
– A morte calha a todos – disse o padre. De repente a sua voz
enrouquecera. – Cada criatura que se aparta do Criador está
condenada a morrer, do mesmo modo que uma planta que se
subtraia à exposição ao Sol acabará por sucumbir. Algumas delas
vivem oitenta anos, e só então morrem. Outras há que morrem
jovens. Tenho a certeza de que Deus sente dor por toda e qualquer
morte. Ele é o Criador, o Deus da vida! Escute bem, na altura do
Juízo Final Ele irá ressuscitar estas duas crianças. A morte delas é
apenas provisória.
– Mas se Ele é o Deus da vida, por que razão mata? Por que
razão deixou que estas crianças morressem, antes mesmo de a vida
desabrochar nelas? É impossível que este terramoto tenha tido
origem em Deus. Foi indiscriminadamente que Ele matou!
Totalmente ao acaso!
O padre inclinou-se e colocou a menina sobre os seus ombros.
Fitou Leonor. O seu rosto estava pálido.
– É possível que tenha razão e que o terramoto não tenha sido
nenhum castigo. Foram porventura as incontroláveis forças da
natureza.
– Não poderia Ele ter protegido as crianças? Falamos tanto
acerca de anjos e rezamos para obter proteção, e depois Deus
Nosso Senhor não consegue sequer preservar duas criancinhas de
serem esmagadas por blocos de pedra que se precipitam das
alturas!
– Não sei se é Deus quem nos envia cada doença que nos aflige,
cada acidente que temos ao andar a cavalo, cada redemoinho que
ocorre no Tejo e em que alguém se afoga. Sei, no entanto, que Ele
pode evitar isso tudo. É capaz de enviar alguém para a guerra, fazê-
lo atravessar uma chuva de balas e deixá-lo ficar incólume. Milagres
desses acontecem! Mas é só raramente que o Criador intervém
deste modo. Isso depende também do quanto somos dignos.
Ela estremeceu de fúria.
– Do quanto somos dignos? Como pode falar de…
– Dignos de que os nossos atos suscitem um efeito –
interrompeu-a o padre. – Na verdade, não somos plantas que
cresceram e se mantêm fixas num determinado sítio. Ao invés disso,
podemos movimentar-nos. O nosso Criador permite-nos caminhar
rumo à sombra, afastando-nos dele. Deverá Ele seguir-nos e lançar
a luz também na sombra? Para isso, melhor seria que nos tivesse
mantido acorrentados. – Franziu as sobrancelhas. – Faz parte da
nossa dignidade a possibilidade de nos decidirmos pelo mal. E Deus
não anula as consequências desse mal. É por isso que morremos
na chuva de balas. É por isso que morremos à fome quando o
nosso vizinho rico é demasiado ávaro para connosco partilhar um
pouco da sua refeição. É por isso que nos afogamos, ficamos
doentes, morremos de frio. Esta Terra, da qual deveríamos cuidar e
que Deus nos ofereceu, tratamos nós de conduzir rumo às trevas.
Agora choramos e queixamo-nos de que está escuro e de que
estamos a sofrer. Deus não transforma numa inofensiva espiga de
trigo o cacete com que um homem mau quer sovar outro homem.
Não transforma em elogios as imprecações que saem da nossa
boca. Experimentamos as consequências da nossa maldade.
– Isso não explica nada – replicou ela. – O terramoto não pode
com certeza ter sido causado pelas pessoas ruins. Ele deveria tê-lo
evitado! Ele devia ter-nos protegido!
Não conseguia aguentar mais aquilo. Queria regressar a casa.
Sem sequer lhe dar a possibilidade de responder, deixou o padre ali
especado e foi-se embora.
Antero deixara de conseguir mover os dedos. Os grilhões de ferro
que tinha em redor dos pulsos impediam a circulação sanguínea e
as correntes que o prendiam às paredes da masmorra e mantinham
os seus braços estendidos em altura entorpeciam-lhe os membros.
A superfície escura da água chegava-lhe até aos joelhos. Há
quanto tempo estava ele com os pés mergulhados na água gelada?
Já nem os sentia. Antero cheirou o ar da torre: pedra, humidade e
cal. Quem ficasse ali prisioneiro não sobreviveria durante muito
tempo.
Gritar de nada servia, a Torre de Belém tinha ano após ano
resistido às marés e agora ao terramoto, as paredes eram grossas e
maciças. Antero estava enregelado. O seu peito estremecia de frio.
Era irónico que fosse por Sebastião de Carvalho que ele
aguardasse e nele que depositasse as suas esperanças: esse era
precisamente o homem que baixara as taxas alfandegárias
aplicáveis ao tabaco e ao açúcar, com vista a tornar o contrabando
menos atrativo, impossibilitando assim que ele, Antero, realizasse
qualquer lucro. O secretário de Estado do Reino era a sua única
esperança. A dada altura ele acabaria por perguntar onde parava
afinal o seu cientista.
Doíam-lhe os ombros e o tremor dos músculos das costas era
medonho. Tinha de concentrar a sua atenção noutra coisa. Que
outras ideias poderiam acalentar a sua esperança? Pensou em
Vasco e na persistência com que este construíra e defendera a
Biblioteca Real. Quem pretendesse levar um livro emprestado teria
de, antes, trazer e oferecer à biblioteca um outro, e não bastava que
fosse um qualquer, teria de ser um bom, com uma boa
encadernação. Além disso, deveria deixar um depósito de quatro
cruzados em dinheiro. Quando o livro fosse entregue, o dinheiro
seria devolvido. Vasco não tinha qualquer misericórdia com quem
estragasse o livro emprestado. Ficava retida uma parte do depósito
para com ela se poder pagar a sua reparação.
A cada dia chegavam novos mensageiros com livros que os
agentes de Vasco no estrangeiro haviam descoberto: literatura
científica, manuscritos e edições raras, livros sobre arte, romances.
Vasco construíra um verdadeiro reino dos livros. Qual fora aquele
cuja leitura ele outrora começara por lhe recomendar? Urbis
Olisiponis Descriptio, de Damião de Góis, uma descrição de Lisboa,
publicada em 1554. Esse livro descrevia uma cidade que já não
existia, uma urbe de outros tempos, agora em ruínas.
Antero ergueu a cabeça. Ouvira um tilintar metálico. Pôs-se à
escuta. Passos! Alguém descia a escada. Vinham buscá-lo. O
secretário de Estado do Reino dera com ele. Através das fendas na
porta da masmorra brilhava uma luz trémula vinda das escadas.
Ouviu o retinir de um molho de chaves e o ferrolho foi empurrado
para o lado. Abriu-se a porta. A luz de um archote encandeou-o,
teve de cerrar as pálpebras.
– Tal como disse – a voz revelava orgulho. – Ele estava junto do
rei. Tive apenas de observar, identificar alguém que o olhasse com
ceticismo e colocar-lhe a pulga atrás da orelha.
Antero piscou os olhos diante da luz. A pouco e pouco os seus
olhos habituaram-se, conseguiu reconhecer alguns guardas, mas
também Heitor e, junto deste, Gabriel Malagrida. As suas
esperanças foram por água abaixo. A desilusão retirou-lhe as
últimas forças que lhe restavam.
Malagrida cofiou a barba com a mão, produzindo uma espécie de
restolhar nos pelos brancos. Cinco anos atrás, quando Antero fugira,
ainda eram grisalhos. Quando o padre passava a mão pela barba,
tal significava que estava sob tensão. Antero observara-o com
frequência, sabia em que situações ele o fazia.
Sentiu o olhar do líder dos Jesuítas concentrado em si, a
examiná-lo. Enquanto o olho esquerdo morto apontava para Heitor,
o direito dirigia-se em cheio ao coração de Antero. O rosto de
Malagrida não produzia qualquer expressão. Em silêncio manteve o
olhar de ciclope concentrado no prisioneiro.
Antero sentiu-se como se uma pá se lhe enterrasse nas
entranhas. «Vê se te controlas!», disse para si mesmo. Um suor frio
irrompeu por todos os poros do seu corpo. Como pudera ele achar
que era capaz de combater a poderosa ordem? Mal Malagrida se
postou diante dele, Antero voltou de imediato a sentir-se o franzino
rapaz que se encontrava à mercê do líder dos Jesuítas, para o que
desse e viesse.
Cerrou os maxilares com força. «Consegues vencer Malagrida»,
disse para si mesmo. «Há domínios em que lhe és superior.»
«Ah, sim?», lamentou-se o rapaz franzino que havia nele. «Quais
são?»
«Sou capaz de manter um pensamento científico», pensou ele.
Qual o seu estado de espírito quando uma qualquer observação lhe
agradava? Como se sentia quando na biblioteca revolvia tudo em
busca de conhecimento, quando, durante horas a fio, folheava livros
e, com a pena, ia anotando os mais ínfimos pareceres, garatujando-
os numa folha de papel até esta ficar repleta?
Tinha de ser capaz de despertar em si mesmo a curiosidade e o
pensamento claro e objetivo. E então tornar-se-ia forte. Segredou
para si mesmo: «Malagrida é o meu motivo de estudo. Se o
observar como o faria com um escaravelho raro, que posso eu
descobrir a seu respeito? Eles não me maltrataram», pensou. «Quer
isso dizer que, pelo menos por enquanto, Gabriel Malagrida me quer
manter vivo. Se já estivesse condenado teria sido maltratado. Para
ele ainda não fui. Ainda guarda algum plano que me envolve.»
Devolveu o olhar de ciclope de Malagrida e, por sua vez,
examinou-o, o ritmo da sua respiração, os movimentos das suas
mãos. Estaria o líder dos Jesuítas inquieto?
– Bem-vindo a casa – disse Malagrida.
– Esta não é a minha casa.
– Receio que, durante o tempo de vida que te resta, venha a ser.
– Virão procurar-me. Você sabe bem disso.
– Deverias ter fugido da cidade. O terramoto forneceu-te uma boa
oportunidade para o fazeres. Pergunto-me por que razão aqui
ficaste.
– Porque matou Julie? – perguntou Antero.
– Como poderia eu deter a Inquisição?
– Uma deplorável tentativa de fazer de mim parvo, padre.
Malagrida semicerrou as pálpebras. De seguida sorriu.
– Tornaste-te mais forte.
Antero manteve-se calado.
– Concedi-ta de boa vontade. Nada tinha a opor que te sentisses
bem. Se assim não fosse, a minha intervenção teria sido imediata
logo que os meus informadores me transmitiram que foras visto com
uma mulher. – Gabriel Malagrida inspirou com força. – Só que ela
distraía-te. Comecei por achar que não passava de uma paixoneta
sem importância. Se assim fosse, tudo bem, uma paixoneta dessas
durante meio ano, isso acontece de vez em quando! Só que contigo
a coisa foi mesmo séria. Ela explorava a tua faceta mais fraca,
Antero, os escrúpulos, o teu lado sonhador.
Aquela crítica surtia nele o mesmo profundo efeito que há cinco
anos. Malagrida desprezava-o, pois considerava que a sua vontade
era pouco firme. Para contrariar esse desprezo, cometera atos
infames a pedido do seu mestre. Traíra, roubara, enganara os seus
próprios pais. Tivera sempre problemas de consciência. De cada
vez Malagrida absolvera-o das culpas: «Ego te absolvo.»
As palavras tinham-lhe soado vazias, como se fosse mentira.
Como poderia alguém cometer um pecado e de seguida pedir
perdão a Deus, quando nem sequer havia arrependimento por ter
cometido o ato? Nunca mais voltara a confessar-se. Odiava aquilo:
«Ego te absolvo.» Detestava o princípio da reserva mental,
observado pelos Jesuítas, que consistia em dissimular a verdade
com vista a proteger um segredo ou então, como defendiam, para
evitar prejuízos maiores. Às vezes, era moralmente mais correto
mentir do que admitir abertamente a verdade, explicara Malagrida
vezes sem conta. Era como que um espinho no coração de Antero.
– Além disso – prosseguiu o jesuíta –, como se coadunava ela
com o voto de castidade? Pretendias tu repudiá-la no fim do
noviciado, pouco antes de pronunciares os teus votos? Sabias
perfeitamente que só poderias pertencer aos Jesuítas se abdicasses
da comunidade conjugal e se, em vez disso, optasses pela
comunidade no seio da ordem! Preciso de ti forte, Antero. – Olhou-o
penetrantemente. – Quero dotar-te de uma força maior do que
aquela que consegues imaginar nos teus sonhos mais ousados.
Podes vir a ser um homem importante, um homem de relevo,
alguém que influencia os destinos do mundo, que os conduz! Sei
que foi por isso que regressaste a Lisboa.
– Quer que fique como você? Prefiro morrer.
– Não devias desperdiçar o teu talento. Não és um
contrabandista. No fundo do teu coração sabes bem que nasceste
para voos mais altos. Só junto da Companhia de Jesus encontrarás
a rede de apoio de que precisas para concretizar tudo o que de
grande tens para realizar.
– Os interesses dos Jesuítas já há muito que nada têm a ver com
os meus.
– Que te incomoda afinal? Que na América do Sul defendamos os
índios dos caçadores de escravos? Que ponhamos o conhecimento
da fé à disposição das pessoas? Que demos formação a crianças
sem exigir dinheiro aos pais?
– Tudo aquilo que faz, padre, serve apenas um propósito:
pretende construir um aparelho de poder e dirigi-lo.
– Ainda que assim fosse, não me envergonharia disso. Vivemos
numa sociedade que é dirigida precisamente desse modo. Se não
for eu a liderá-la, será outro qualquer. E são bons os desígnios em
prol dos quais eu utilizo o poder.
– Ah, sim? Que pretende fazer com o tratado político?
Malagrida examinou Antero com o olhar.
– Tornaste-te um homem. Às tuas notáveis capacidades veio
acrescentar-se a força. Pois bem, dar-te-ei mais liberdade. Terás
subalternos, receberás todo um território a teu cargo.
– A minha alma não está à venda, Gabriel Malagrida.
O rosto do jesuíta adotou uma expressão empedernida.
– No que me diz respeito, não há neutralidade. Sabes isso
perfeitamente. Fiz-te uma oferta magnífica. Se a recusares, serás
meu inimigo.
– E que fui eu afinal durante os últimos cinco anos?
Gabriel Malagrida soltou uma risada breve e seca.
– Pensavas que me escaparias? Chegaste mesmo a achar isso?
Estive na América do Sul. Se não fosse assim, já teria tratado do teu
caso há muito mais tempo. Consigo sempre obter aquilo que quero.
Antero olhou-o bem nos olhos.
– Engana-se.
Em silêncio, o jesuíta devolveu-lhe a intensidade do olhar.
– É uma pena, meu jovem – disse Malagrida por fim. – A verdade
é que não tolero ter-te entre os meus inimigos. Vou certificar-me de
que ainda hoje serás levado ao cadafalso.
Deu meia-volta. Os homens abandonaram o calabouço. A porta
fechou-se com estrondo. A luz afastou-se e depois regressou a
escuridão.
22
Leonor bateu à porta. Ficou à espera. O pai não respondia. Voltou
a limpar as lágrimas do canto dos olhos. De seguida tornou a enfiar
o lenço de seda azul na manga, pressionou o manípulo da porta e
entrou.
O pai ajoelhara-se diante da cama. Um jarro de água e uma
escarradeira estavam por perto e, junto dele, ainda a antiquada
escova de dentes, com uma pega de osso e um tufo de pelos de
cabra.
– Preciso de falar contigo – disse ela.
– Estás a interromper as minhas orações – respondeu ele, pondo-
se de pé.
– Esteve aqui um mensageiro. Hoje à noite vamos compare-cer
perante o rei. Primeiro temos de proceder a alguns preparativos.
Os olhos dele estavam avermelhados, cobertos de finíssimos
vasos sanguíneos. Tinha um aspecto cansado.
– Não consigo deixar de pensar na Dalila – disse ele em voz
baixa. – Basta olhar para ti. Queria viajar. Gostaria de estar noutro
sítio qualquer, onde as coisas corressem bem, para me poder
recompor.
– Queres ir visitar a mãe?
– Não sei onde ela está... Nem com quem.
Leonor abriu muito os olhos.
– Já há bastante tempo que as coisas não andavam bem
connosco. Era essa a razão por que ela estava sempre de visita a
familiares. Há quanto tempo ela não vem cá? Três anos? De início,
sempre ia aparecendo em casa ao menos algumas semanas por
ano, para vos ver. A verdade, porém, Leonor, é que a perdemos.
A Dalila viera assim juntar-se também a mãe. Todos a
abandonavam, deixando-a entregue a si mesma. Leonor engoliu em
seco.
– Agora preciso de ti. Temos de aparecer em público, pai. A
família Velho da Rocha Oldenberg sairá reforçada desta crise, tu
mesmo o disseste.
– Aparecer diante de um público faminto, de gente morta – deixou
escapar um suspiro. – Eu sei, eu sei, o importante agora é o rei.
– Vêm hoje cá buscar-nos e levar-nos-ão para comparecermos
diante dele. Eu acompanho-te.
O pai acenou afirmativamente com a cabeça. Sentou-se sobre a
cama. Extenuado, os ombros pendiam-lhe.
Quis abraçá-lo e consolá-lo, mas tal afigurou-se-lhe impró-prio.
Talvez as crianças o fizessem, mas os adultos não se abraçavam.
– É melhor deixar-te aqui sozinho. O Jerónimo irá trazer-te a tua
melhor casaca, está só a acabar de polir os botões.
Atravessou a sala de estar, percorreu o corredor e saiu para o
exterior. Respirou fundo. Se não fosse ela a tomar as rédeas da
situação, tudo iria por água abaixo. A mãe fora-se embora, o pai
estava enfraquecido e Dalila, morta. Teria de ser ela a assumir o
comando das hostilidades. Talvez fosse chegada a altura de deixar
cair a máscara.
Diante da casa, bem no meio da rua, via-se uma mulher morta.
Uma mosca esvoaçava de um lado para o outro, em redor do rosto
dela. Ora desaparecia na escuridão da cavidade bucal, ora voltava a
de lá sair para de seguida regressar. Leonor forçou-se a olhar para o
lado, pois não queria que aquela imagem se lhe gravasse na mente.
Em frente à casa havia uma parede em ruínas com um relógio de
sol, só que neste não se conseguia distinguir claramente a projeção
de qualquer sombra, uma vez que a que era causada pela vareta
tremulava com inquietude sobre as marcações inscritas na parede.
Era uma espécie de «hora de ninguém», alumiada pelas casas que
continuavam a arder, mas só em brasa, já sem chamas.
O amor que sentia por Antero não poderia continuar a tolhê-la.
Não era por acaso que lhe chamavam a
Jesuíta: ela criara toda uma
rede de contactos que lhe conferira superioridade em relação a
outros. E possuía as suas próprias forças. Apenas teria de usá-las.
Deixou cair os braços como se fossem meros pedaços de carne
sem vida, indo bater nos seus flancos. Depois, foram as pernas a
ceder. Os esbirros tiveram de agarrar Antero por baixo das axilas e
carregá-lo para fora da cela. As suas meias, encharcadas, deixaram
marcas de água nas escadas.
Não conseguia sequer sentir o corpo. «Vá, enforquem-me!»,
pensou ele. «Seja como for, já estou morto.» Quando o colocaram
no barco e, a poder de fortes remadas, se afastaram do cais junto à
Torre de Belém, deu-se conta de um rasgão num ombro. O sangue
escorria-lhe pelos braços, e sentia-os pesados. Parecia que lhe
cravavam milhares de agulhas. Depois, sentiu uma rápida sucessão
de picadas a percorrer-lhe os antebraços. Doíam-lhe as mãos. As
pernas latejavam. Cerrou os maxilares com força e fitou a margem.
Os remos rangiam nos toletes. A proa ia cortando a superfície da
água. Rumaram à branca igreja de Belém. Por entre os troncos das
árvores conseguia avistar as tendas junto ao palácio real. Que iria
ser de Samira depois de o enforcarem? Talvez Leonor se ocupasse
da pequenita. Daria dinheiro ao Convento das Clarissas, isto se
depois do terramoto ainda restasse algum à sua família, e pediria às
freiras que aceitassem Samira. Iria, de início, visitá-la de tempos a
tempos e, a certa altura, Samira acabaria por se tornar também ela
uma clarissa.
Não era essa a vida que tinha desejado para ela. Samira não
deveria crescer num convento, sem mãe e sem pai, e tornar-se
freira. Nos seus seis anos e meio de vida, já experimentara
abandono que chegasse. Ela precisava dele.
Os remadores recolheram os remos. Dois dos esbirros saíram do
barco e amarraram-no ao pontão. De seguida agarraram nele e
içaram-no.
– Este monte de esterco não consegue andar sozinho – disse um
dos esbirros. – Como o levamos para a cidade, até ao patíbulo?
– Vou arranjar um cavalo para o transportar – disse um outro. –
Espera aqui.
– Tenho fome – disse Antero. A sua voz soou estranha, como um
grasnido.
– Estás à espera que te deem a última refeição do condenado? –
perguntaram os esbirros, rindo. – Também nós tempos fome. E
todos os milhares que sobreviveram ao terramoto.
Deixaram-no sentado no chão.
Mais adiante estavam as tendas. O secretário de Estado do Reino
podia impedir a execução. Antero inspirou profundamente e gritou:
– Socorro! Ajudem-me!
Um dos esbirros sacou do sabre e apontou-o às costelas de
Antero.
– Se não parares já com isso, depois digo que te apliquei um
golpe porque tentaste fugir. Fiz-me entender? – Antero calou-se. –
Entendeste-me ou não?
Ele acenou com a cabeça. Voltou a espreitar para as tendas. Era
ilusória a ideia de que alguém teria ouvido os seus gritos
enrouquecidos. Ainda assim, não deixou de ter essa esperança.
Imaginou que Sebastião de Carvalho avançava pelos jardins, na
companhia da Guarda Real, para vir salvá-lo.
O esbirro afastou então o sabre e voltou a embainhá-lo. Antero
examinou o indivíduo. A sua peruca estava suja. Era demasiado
curta dos lados e junto às orelhas revelava o cabelo escuro do
homem. Pouco lhe importava usar uma peruca em segunda mão
que nem sequer lhe assentasse muito bem. Antero não duvidava de
que, caso ele tentasse uma vez mais pedir ajuda, o esbirro lhe
enfiaria o sabre no tronco, sem sequer o voltar a avisar.
Assim sendo, manteve-se calado até que chegaram com uma
pileca. Colocaram-no em cima dela e puseram-se a caminho de
Lisboa. O fumo negro no horizonte revelava que a cidade
continuava em chamas. Era no meio deste inferno de fogo, fumo e
destroços que aguardava a forca, cujo nó corrediço lhe iria partir o
pescoço.
Leonor percorreu a rua com o olhar. Há alguns dias fora o novo
cônsul-geral inglês ali recebido. A rua estava então limpa e
ornamentada com grinaldas de flores. Nas varandas haviam sido
pendurados panos coloridos. Música, gente a dançar, tudo isso se
lhe afigurava agora como um sonho.
Já só restavam escombros. À sua esquerda uma ruína continuava
a arder. E perto jazia a mulher morta, com o rosto sujo de sangue já
enegrecido. Um corvo pousou junto ao cadáver e ficou a olhá-la.
– Vai-te embora daqui! – ordenou Leonor. – Desaparece!
O corvo saltitou mais para diante, depois voltou a fitar a morta
com os seus olhos negros como o carvão. Seria um dos corvos da
Igreja de São Vicente de Fora? Nesse caso, deveria proteger os
cadáveres. Na igreja eram mantidos corvos, pois as relíquias do
orago da igreja, São Vicente, haviam sido veladas por eles. Aquele,
porém, tinha um aspecto cobiçoso. Leonor detestava-o.
Não podia ali ficar a tarde inteira a proteger a morta. Deu meia
volta e entrou em casa. Não prestou sequer atenção aos escravos
que com ela se cruzaram no vestíbulo. Dirigiu-se ao seu quarto e
ficou parada diante do pesado roupeiro. Se o duque de Aveiro não
cumprisse o acordado e não lhe enviasse um dos vestidos da sua
filha, teria de arranjar uma alternativa para conseguir um vestido.
Rodou a pequena chave que se encontrava enfiada na fechadura e
abriu as portas do armário.
No interior da porta esquerda estava colada uma imagem de
Maria, a Virgem, em cores garridas e adornada com verniz dourado.
Em redor da imagem fora reproduzido o texto de uma oração. A
imagem recordou-lhe Dalila. A irmã tinha predileção por figuras de
santos, os quais haviam sido parte integrante da sua vida
quotidiana, uma espécie de mágico encanto que a ajudava quando
se sentia desesperada.
O interior do armário cheirava a amido de batata. A roupa de
cama e os aventais continuavam arrumados com todo o asseio nas
respetivas divisões. Abaixo destes havia umas quantas lâmpadas de
óleo de baleia. Leonor procurou acima da pilha de roupa, tateando
nas partes mais recônditas do armário em busca de alguma coisa
escondida. Ao mexer no compartimento mais acima, apalpou algo
duro que fora enrolado em papel. Retirou-o donde estava. Um cone
de açúcar embrulhado em papel azul. Já lhe faltava a parte de cima.
A ocupante daquele quarto deveria tê-lo roubado da cozinha ou
então comprara-o e não pretendia partilhá-lo com os demais.
Leonor desembrulhou-o e partiu um pedacinho. Colocou-o na
boca e ele desintegrou-se em inúmeros e doces fragmentos, que se
dissolveram na saliva. Não havia qualquer cravo naquela casa. Que
faria a sua antecessora ao longo de todo o santo dia?
Pousou o cone de açúcar sobre o edredão que cobria a cama e
fechou o armário. Ao lado deste havia uma cómoda. Até àquele
momento Leonor não se atrevera a abrir as gavetas. As coisas que
lá estavam não lhe pertenciam. Era como se receasse que, logo que
abrisse a cómoda, a antiga ocupante do quarto lhe surgisse à porta
e a olhasse com uma expressão fria e reprovadora, repreendendo-a
por estar a bisbilhotar em armários aonde não devia mexer.
Leonor abriu a gaveta de cima. Havia combinações e lenços de
pescoço no interior. Cheiravam a um perfume que desconhecia. Por
que razão não tinha a mulher que aqui habitava levado nada
consigo ao empreender a fuga? Oxalá ainda estivesse viva.
Sobre os lenços de pescoço viu uma pulseira. Leonor pegou nela.
Tinha sido feita de cabelo negro entrançado. Em tempos lera num
romance que, entrançando o seu próprio cabelo, uma mulher fizera
uma pulseira para dar ao namorado. Porventura teria a dona do
quarto pretendido oferecê-la, mas não chegara a ter oportunidade
de o fazer.
Alguém bateu à porta.
– Sim? – perguntou ela.
O pai entrou no quarto. A sua casaca fora escovada, os botões
dourados polidos, e colocara uma peruca que acabara de ser
empoeirada com giz.
– Que se passa, pai?
– O duque de Aveiro enviou-nos o seu coche, e também um
vestido para ti – disse ele, dando de seguida meia-volta.
Uma criada entrou no quarto. Trazia nas mãos um vestido de
damasco de um verde cintilante, que segurava como se pudesse
partir-se em mil pedaços caso caísse ao chão.
– Creio que o duque gostaria que usasses o vestido quando
formos recebidos pelo rei – o pai estava com um ar sério. – É nestas
próximas horas que se decide o destino desta família. Não
deveremos desperdiçar qualquer oportunidade de que possamos
tirar partido.
Dito isto, fechou silenciosamente a porta ao sair.
Leonor despiu o vestido já sem graça que trazia no corpo. A
criada trouxe-lhe o de damasco e ajudou-a a vesti-lo. O tecido frio
roçou na sua pele. Afagou-lhe os braços. Quando o último botão foi
apertado, revoluteou com passos de dança através do quarto.
– Como me fica?
– Excelente, menina Leonor – respondeu a criada. – Parece
mesmo uma princesa.
Leonor encaminhou-se para a saída.
O pai estava à sua espera diante da porta.
– Estás maravilhosa, Leonor – elogiou-a ele. Ela sorriu e esboçou
uma mesura. – Anda – disse o pai. – O coche já está à espera. Não
te incomoda que o utilizemos mesmo ostentando as armas do
duque?
Assim era aquele novo mundo em que se aventuravam, o da alta
nobreza portuguesa.
Apoiada no braço do pai, Leonor e ele saíram de casa. Lá fora
aguardava-os uma berlinda negra, coberta de gavinhas douradas a
decorá-la. Os aros das rodas, pintados de vermelho, estavam
ornamentados com entalhes e até mesmo os raios haviam sido
todos adornados com folhas entalhadas na madeira. A berlinda era
puxada por dois cavalos negros. A pelagem deles brilhava como
ónix. Os bens do duque pareciam ter sobrevivido incólumes ao
terramoto.
A porta da carruagem estava já aberta. O pai deixou Leonor entrar
primeiro. Ela subiu e espantou-se de ver que o cúmplice de
Malagrida que se assemelhava a uma gralha estava no interior da
berlinda. Sentou-se diante dele. O tipo não parava de esfregar as
mãos magras uma na outra. Acima do nariz pontiagudo, os olhos,
de um castanho da cor da terra, adejavam rapidamente de um lado
para o outro. Não restavam quaisquer dúvidas: Malagrida já não
confiava em Leonor por ela lhe ter mentido a respeito de Antero.
Sobre o assento ao lado de Tomás estava uma enorme folha de
papel, densamente manuscrita, com cada uma das linhas como se
tivessem sido traçadas de uma ponta à outra do papel, imaculadas e
sem erros.
De seguida subiu o pai. De fora, Jerónimo fechou a porta da
berlinda. O comerciante também olhou para o papel.
– Então sempre conseguiu obter o tratado – reparou. E, para
Leonor, acrescentou: – Não me disseste que tinhas sido bem-
sucedida.
– A ajuda dela deixou de ser necessária – comentou a gralha. – O
antigo braço-direito do padre Malagrida arranjou maneira de nos
obter o tratado.
Leonor sentiu um mal-estar no seu interior. Antero roubara o
tratado? Para os Jesuítas? Jamais! Era impossível que o tivesse
feito de livre vontade.
– Refere-se a Antero? Como vai ele?
– Como seria de esperar, dadas as circunstâncias – respondeu
Tomás, esboçando um sorriso.
Leonor foi atravessada por um gélido terror. Fitou o tratado e nem
sequer conseguiu respirar. Haviam conseguido aviltar Antero. De
algum modo, tinham-lhe causado dor para que ele se submetesse à
vontade deles. Mostrara-se tão odioso em relação aos Jesuítas e
tão receoso de ser denunciado! Se era nas mãos deles que agora
estava, não podia passar senão mal.
O jesuíta entregou o tratado ao pai dela.
– Veja-o com toda a calma – disse, batendo de seguida com a
palma da mão na parede da berlinda.
O cocheiro fez estalar o chicote e a carruagem estremeceu. As
ferraduras dos cavalos ressoaram sobre o empedrado da rua,
produzindo um distinto som metálico. O pai pôs-se a ler a grande
folha de papel.
Leonor passou a mão sobre o tecido de veludo vermelho do
assento. Afagado numa direção apresentava-se áspero, mas, se o
fizesse ao contrário recuperava o brilho. Escreveu um A de Antero
no veludo, mas logo se apressou a apagá-lo.
O medo parecia estrangulá-la. Olhou pela janela para as ruínas
que desfilavam diante de si e tentou organizar os seus pensamentos
com clareza. A ascensão social da sua família fora paga com o
sangue de Antero.
A pileca ossuda carregou Antero através da Rua dos Ferreiros, que
ainda não fora desimpedida: havia blocos de pedra por todo o lado,
vigas rachadas, pedaços de ferro, objetos domésticos. Só fora
desimpedida uma faixa muito estreita. Reinava o silêncio. Nada de
martelos a baterem nas bigornas, cavilhas em brasa a serem
torcidas, pedaços de ferro a serem mergulhados numa tina da água.
O sopro do fole emudecera e o fumo das chaminés fora há muito
soprado para longe.
Aquela ruína tinha sido a casa da família Pinto. O mais novo dos
quatro filhos fora seu amigo quando eram crianças. Os irmãos mais
velhos tinham emigrado para as colónias, pelo que para aquela
família não havia outro tema de conversa que não fossem as
condições de vida além-mar. Ainda assim, os filhos que viviam longe
sempre teriam sido poupados, por estarem ausentes, mas
continuariam os pais ainda vivos, e o seu velho amigo?
A pileca seguia com uma estóica tranquilidade através da cidade
destruída, como se transportar uma pessoa rumo ao reino dos
mortos fosse a sua atividade de todos os dias. Talvez a noção de
inevitabilidade do destino fosse algo bem real e existisse mesmo. O
dia 3 de novembro de 1755 seria o da morte de Antero. Era uma
sensação estranha ter conhecimento dessa data. Estava agitado,
como se prestes a submeter-se a um exame.
Passaram por uma fila de pessoas, umas de pé a seguir às
outras, e aquela que estava mais à frente esperava diante de umas
ruínas. O esbirro, que conduzia o cavalo, chegou-se junto dessa
pessoa, um homem de cabelos brancos e com o rosto marcado por
manchas próprias da idade.
– Que se passa aqui? – perguntou bruscamente.
– Corre o rumor de que hoje irá ser distribuída comida, aqui junto
à padaria do velho Gonçalo.
– Acredita mesmo que alguém vai distribuir pão?
– Os militares obrigaram-me a voltar para a cidade, agora
controlam as entradas e saídas, já ninguém consegue passar sem
uma autorização especial. Se o rei não nos alimentar, vamos morrer
à fome. Deviam ter pensado nisso quando nos mandaram voltar.
Um homem saiu da fila. Trazia consigo uma mulher que nele se
apoiava.
– Por favor ajude-nos! – dirigiu-se ao esbirro. – Sabe dizer-me
onde posso encontrar um médico? A minha mulher precisa de
ajuda.
– Vá até ao Terreiro do Paço – disse-lhe o esbirro. E, depois, mais
alto, de modo a que todos os presentes o conseguissem ouvir: –
Aqui não vão receber nada. Se o rei mandar distribuir pão, isso será
feito numa das praças maiores, no Largo do Rato ou na Praça do
Rossio.
As pessoas fitaram-no, incrédulas. Ninguém disse nada.
Mantiveram-se na fila. Uma criança desatou a chorar.
– Escutem com atenção – disse o esbirro bem alto –, vocês não
se podem fiar apenas no que se diz acerca do rei. Todos nós temos
de pôr mãos à obra! De certeza que ainda haverá mantimentos
escondidos debaixo dos escombros.
– Se nos pusermos aí a escavar, ainda acabamos é na forca!
O esbirro abanou a cabeça.
– Tratem de arranjar uma autorização junto do magistrado da
vossa circunscrição. Se conseguirem provar que a casa vos
pertence, nada vos acontece.
Ninguém queria abandonar o seu lugar na fila. Ficaram parados, a
olhar para o esbirro.
Este virou-se para os seus companheiros, abanou a cabeça e
disse:
– Onde acham eles que o rei vai arranjar pão?
– Ao exército – respondeu-lhe um outro esbirro –, que vai buscá-
lo com certeza aí às terras em redor.
– E quem vai comer aquilo que conseguirem reunir?
– O exército – respondeu o outro, com um sorriso trocista.
Continuaram. Antero não pôde deixar de pensar na sua infância.
Fora o melhor aluno de uma turma de oitenta. Ainda assim, todos os
anos ficava nervoso de cada vez que tinha de fazer o exame para
passar à classe seguinte. A quantidade de matéria que os
obrigavam a aprender de cor era imensa.
Nas aulas de latim e de grego, o professor ditava a matéria, ou
então lia alto um texto, frase a frase, e os alunos repetiam-no,
vergados diante do livro, após o que escreviam aquilo que tinham
ouvido. Antero pensou nos livros já gastos que outrora utilizara, nas
tabelas de cálculo de Pitágoras, na lista de homófonos que deveria
ajudar a distinguir palavras que soavam de modo igual.
Os Jesuítas exerciam o seu poder sobre os alunos por meio de
um sistema insidioso: faziam deles espiões uns dos outros. Os
professores designavam «prefeitos», estes delegavam em
«decuriões» que, por sua vez, vigiavam os restantes alunos. Se
alguém se destacasse pela sua insubordinação, tal seria
rapidamente participado aos superiores através daquela cadeia de
comando. Seguia-se uma admoestação e um registo no livro de
ponto, a que reverentemente se dava o nome de «livro da vida». Em
casos mais graves, eram aplicados castigos, alguns deles corporais.
Os padres propriamente nunca lhes batiam, esses castigos eram
aplicados pelos alunos mais fortes das turmas mais avançadas.
Ainda assim, os professores traziam sempre na mão o bastão com
que os alunos eram castigados. Agitavam-no pelo ar, produzindo um
som sibilante, batiam com ele na cátedra em sinal de aviso ou
desferiam uma forte pancada na mesa sobre a qual um aluno
distraído adormecera.
Porque insistira ele tanto em continuar na escola? É claro que
havia boas razões, as apresentações públicas do teatro escolar ou
as aulas de retórica nos dois últimos anos. Mas seria isso motivo
suficiente para se ter travado de razões com o padrasto e ter saído
de casa?
Lembrava-se perfeitamente da sua comunhão. Completara então
catorze anos, era o domingo depois da Páscoa e, em todas as ruas,
crianças seguiam junto aos pais e dirigiam-se para a igreja, rapazes
e raparigas, todos bem arranjadinhos. Na igreja seguravam uma
vela acesa, de um dos lados os rapazes, do outro as raparigas. Ele
limitara-se a olhar fixamente a mãe, cheio de fúria no seu âmago,
pois o estranho sentado ao lado dela era o homem que jamais seria
o seu pai. Era protestante, nem sequer deveria ali estar, naquela
altura em que, perante toda a comunidade de paroquianos, as
crianças recebiam a comunhão!
O padrasto nada tinha a ver com a morte do pai de Antero,
vitimado pelo tifo. Ainda assim, o rapaz imaginava que fora o
padrasto que se tinha visto livre do pai dele, para assim se
assegurar que ficava com a mãe.
Com quinze anos, dois antes de entrar para o liceu, fugira de
casa. Naquele dia de verão, fazia tanto calor logo de manhã que ele
despira a camisa de dormir mal se levantara. Descera as escadas
de tronco nu. Lá em baixo, o padrasto aguardava-o.
– A oração em família é obrigatória também para ti, Antero –
dissera ele.
Oração em família. Isso queria dizer que o padrasto reunia a mãe,
ele e os criados em seu redor para lhes ler versículos da Bíblia.
Entoavam hinos de louvor e, por fim, rezavam o pai-nosso. A sua
presença em orações em família fora algo que o seu verdadeiro pai
jamais lhe exigira. Já só por isso Antero recusava-se a participar.
– Sou católico – dissera. – Não participo numa celebração
protestante.
– Foram os Jesuítas que te meteram essas ideias na cabeça –
disse o inglês. – Vou tirar-te desse colégio.
– Isso é que não vai!
– Vamos procurar um tutor privado. Não te dás conta do que essa
ordem faz? A Ordem dos Jesuítas é uma associação que visa
combater a fé evangélica.
– Disparate.
– Ah, mas é mesmo assim. Quando Inácio de Loyola fundou a
Companhia de Jesus, estava a Igreja Católica entre a espada e a
parede! Metade da Europa havia já lhe virara as costas. Por todo o
lado se espalhavam as teses dos grandes reformadores. Disso não
te falam eles, nem uma palavra acerca de Martinho Lutero, João
Calvino, Ulrico Zuínglio, não é verdade? Ou, quando muito, referem-
se-lhes com desdém. Foram os Jesuítas que conseguiram inverter a
situação. Por que razão achas que, por todo o lado, os confessores
dos soberanos de diversos países são jesuítas? Há um plano
subjacente! Trata-se de convencer os reis a expulsarem os
membros do clero protestante e a agirem contra os nobres que
professem essa fé.
– E as coisas estão muito bem assim – comentou Antero.
– A exibição das relíquias! Aquela sumptuosa devoção! A questão
central não diz respeito aos adornos terrenos e festivos, Antero.
Trata-se, isso sim, da crença em Jesus Cristo. Trata-se do Deus
eterno! É Ele quem está acima de tudo o que é terreno.
– Não é à toa que os Jesuítas têm esse nome. Eles difundem a
crença em Jesus! Os seus exercícios espirituais já levaram muita
gente a ajoelhar-se.
– Sim, e o seu instrumento mais eficaz são as escolas jesuítas, o
que se pode comprovar perfeitamente com o teu exemplo – troçou o
padrasto. – Formação escolar sem custos e de grande qualidade,
com isso conseguiram eles encostar mesmo os protestantes a um
canto. Confiamos-lhes as nossas crianças, o nosso maior tesouro.
Qualquer um que venha mais tarde a ter nome e posição social é
formado pelos Jesuítas: estadistas, diplomatas, comerciantes,
estudiosos. Só que este sistema educativo também tem as suas
fraquezas. Os alunos apenas adquirem conhecimentos de cor e, ao
fazê-lo, estão a interiorizar a fé católica. E as vossas próprias
faculdades, o vosso próprio entendimento, como é isso estimulado?
Põem-se a marrar no latim. E que é feito da vossa língua materna, o
português?
– Desde quando se importa assim tanto com Portugal? –
perguntou Antero. – Só veio de Inglaterra para aqui para juntar
dinheiro!
– Agora chega.
O padrasto pegou em Antero pelo pescoço e arrastou-o até à
cozinha. Aí sovou-o com uma colher de pau até quase ficar
inconsciente. Ainda nesse mesmo dia, Antero abandonou para
sempre a casa dos pais.
Nessa altura, os Jesuítas consideraram que um jovem tão dotado
como ele não poderia ficar entregue às ruas, tendo-lhe arranjado
maneira de ser acolhido num asilo. Mais tarde, passou a viver com
Malagrida, junto da Igreja de São Roque.
Tudo correra com grande facilidade. Obteve uma recomendação
para ingressar no liceu jesuíta. Estudou gramática, retórica,
dialética; e depois o quadrívio, ou seja, aritmética, geometria,
astronomia e música. Malagrida mantinha sobre ele a sua mão
protetora. O facto de depender dele só se tornou claro para Antero
quando começou a sentir dificuldades nos estudos de teologia:
Tomás de Aquino, a teologia controversa, a casuística, o direito
canónico e as Sagradas Escrituras. Antero não se interessava
minimamente por nada isso. A sua curiosidade concentrava-se
apenas nas leis da natureza. Malagrida, porém, fez-lhe sentir com
toda a clareza que ele não era senhor de si mesmo.
Quando decidiu protestar, recebeu uma conta, mais nada. Dessa
conta constavam os custos de alojamento dos últimos anos, dos
livros, da comida, da roupa que lhe tinha sido dada. Resultava numa
soma que ele era absolutamente incapaz de reunir e pagar. Por
baixo, estava escrito: «Posso continuar a patrocinar-te?» A
mensagem não deixava dúvidas.
Malagrida convidou cada vez mais Antero para o acompanhar nas
visitas que fazia. Confiava-lhe segredos. Depois, porém, conduzira
Julie à fogueira. O líder dos Jesuítas não a admitia como rival,
pretendia ter Antero exclusivamente para si.
A pileca tropeçou, o corpo de Antero estremeceu. Espreitou para
a frente. A multidão enchia a Praça do Rossio. Acima das cabeças
das pessoas erguiam-se três forcas, montadas sobre um tosco
estrado de madeira. «Será numa daquelas que me vão enforcar»,
pensou. O medo fez com que todo o seu corpo tremesse. Talvez
pudesse deixar-se cair da sela e esconder-se no meio da multidão?
Tinha de se evadir!
O esbirro que conduzia o cavalo parou.
– Desmonta! – ordenou ele.
Antero escorregou do dorso do cavalo. Lá em baixo, agarraram-
no. Depois, um deles cobriu-lhe a cabeça com uma saca negra.
Puxaram-lhe as mãos para trás das costas e ataram-lhe os pulsos.
Uma corda grossa dilacerou-lhe a pele já ferida.
Os joelhos de Antero perderam a sua firmeza. Era impossível
empreender uma fuga. Iriam enforcá-lo. Ali mesmo. Naquele mesmo
dia. «Esta foi então a minha vida», pensou. «Já não conseguirei
derrubar Malagrida. Não voltarei a ver Samira.»
Que tinha ele feito ao longo da vida? Acumulara dinheiro e voltara
a perdê-lo. Investigara, mas não havia ninguém a quem pudesse
transmitir os resultados obtidos. Gerara uma criança e abandonara-
a. Amara e perdera a sua amada.
Antero engoliu em seco. Sentia o coração bater com força contra
as costelas. Não tardaria a ir ter com Deus. Melhor seria que
pensasse num versículo da Bíblia. Um salmo. Nos seus estudos de
teologia aprendera de cor o salmo 119:
Viva eu sempre para te louvar,
que os teus decretos me ajudem.
Ando errante, como ovelha perdida;
vem à procura do teu servo,
pois não me esqueci dos teus mandamentos.
«Ando errante, como ovelha perdida. Ajuda-me, meu Deus!»,
suplicou ele. «Concede-me ao menos a graça de ficar calmo e
aguentar a morte.»
Só que o seu coração bateu ainda com mais força.
23
Nicolau Fernandes estendeu os planos sobre a mesa. Através das
frinchas da barraca de madeira, o Sol desenhava faixas de luz sobre
o papel. Retirou do estojo um dos seus dispendiosos lápis com
grafite de Borrowdale. Ainda bem que os trazia sempre consigo. Se
assim não fosse, decerto não teriam escapado ao terramoto.
Os seus olhos percorreram a planta da cidade. Dentro de
pouquíssimo tempo teriam de erigir milhares de barracas. Iriam ser
necessárias tábuas, colchões de palha e lona. O melhor seria
começar por edificar bairros provisórios nas zonas orientais e
ocidentais da cidade, utilizando de seguida as zonas de planalto em
redor da cidade. Escreveu sobre a planta Campo de Ourique,
Campo de Santa Ana, Campo Grande e Campo Pequeno.
Junto ao castelo, acrescentou Campo de Santa Bárbara. Na zona
ocidental da cidade, anotou a palavra Estrela, na zona oriental, pôs
Campo de Santa Clara. Mas como haveriam de distribuir os
materiais de construção? E quem iria atribuir o lugar a cada família?
Para cada um dos bairros provisórios precisava de alguém que o
dirigisse.
Reclinou-se e fez uma massagem no próprio pescoço, para
descontrair. Mesmo que conseguissem pôr de pé aqueles
acampamentos de emergência, seria uma tarefa quase impossível
reconstruir a capital de Portugal, uma cidade que fora erigida com
os lucros resultantes do comércio ao longo de séculos, uma urbe
para cuja edificação haviam convergido o suor e as forças de povos
inteiros. Porém, era evidente que teriam de tentá-lo. Agradava-lhe a
noção de as pessoas trabalharem arduamente, nos estaleiros das
construções, nas oficinas, fosse onde fosse. Conferia dignidade à
sua existência.
Alguém bateu à porta, fazendo assim estremecer toda a estrutura
da barraca.
– Tenha mais cuidado, homem! – gritou Nicolau, irritado.
– Perdão. É para dizer que já estamos prontos.
– Vou já.
Em tempos de necessidade, o Reino exigia dos seus naturais
mais capazes mais do que era costume. Erigir acampamentos com
dez mil barracas já teria sido suficiente para um semideus. Além
disso, haviam-lhe sido ainda atribuídas as competências de
magistrado, uma vez que três deles tinham perdido a vida em
resultado do terramoto, sendo por isso difícil em tão pouco tempo
encontrar substitutos adequados.
Levantou-se. Com uma expressão de preocupação, olhou para a
caixinha com aqueles lápis caros. Por fim, voltou a colocar o que
segurava na mão no interior da caixa e guardou-a. Saiu e disse para
o soldado:
– Fique aqui a guardar o escritório. Responde pela segurança
daqueles planos com a sua própria vida!
O soldado fez-lhe continência.
Na Praça do Rossio, os soldados empunharam as suas armas e
estenderam os braços, obrigando a população a afastar-se, para
que ele pudesse passar. Os rostos sujos seguiam-no enquanto ia
passando pelo meio da população. Centenas de pares de olhos
fitavam-no com uma expressão zangada.
Subiu para o patíbulo do meio e virou-se para a multidão.
– Estão diante de uma cidade destruída – disse ele, apontando
para as ruínas fumegantes em redor da praça. – Temos tempos
difíceis pela frente. Irá haver fome. Faltarão as coisas mais simples
da vida, sabonete, vestuário, medicamentos. O nosso novo
secretário de Estado do Reino, Sebastião de Carvalho, encarregou
o marquês de Abrantes de concentrar as tropas em Lisboa com
vista a proteger lugares importantes e para evitar pilhagens. Além
disso, instituiu um sistema de controlo que regula os acessos à
cidade.
– Acessos? – perguntou alguém. – Deve é querer dizer saídas!
Obrigaram-nos a voltar a Lisboa, e agora, segundo parece, não nos
deixam fugir deste inferno!
– É verdade – concordou Nicolau. Conferiu à sua voz um tom de
inabalável severidade. – Uma das minhas atribuições enquanto
magistrado consiste em decidir qual o local em que as pessoas
devem permanecer – eram muitas as famílias que traziam consigo
trouxas com alguns pertences. Precisavam de um abrigo, ele sabia-
o bem, e era para resolver isso mesmo que trabalhava! – Não
vamos desistir de Lisboa. Reconstruíremos esta cidade. E, para
isso, precisamos de todos.
A multidão manteve-se em silêncio.
– O secretário de Estado do Reino concedeu aos doze
magistrados e ao presidente do Desembargo do Paço competências
alargadas durante os próximos meses. A cada um dos magistrados
é atribuído o direito de realizar julgamentos sumários a saqueadores
e ladrões, no próprio local em que sejam detidos, condenando-os e
mandando executá-los de imediato. Aconselho-vos a todos a
trazerem sempre convosco provas inequívocas da vossa identidade,
bem como os necessários títulos de propriedade quando andarem
em busca de bens nas ruínas das vossas casas.
– Provas? Mas isso ardeu tudo! – exclamou uma mulher.
– Nesse caso dirija-se ao magistrado da sua circunscrição e leve
consigo testemunhas, para que ele lhe possa emitir documentos
provisórios. O aviso que vos faço é bem a sério! Nos dias que
correm, não se perde muito tempo com ladrões. Num julgamento
sumário não se anda em busca de indícios de uma possível
inocência. Só conseguiremos sobreviver se nos mantivermos
unidos. Teremos de deixar as vantagens pessoais para segundo
lugar, o que conta é o bem comum. Estamos ameaçados por
epidemias. Em certas partes da cidade já grassa o tifo. E, se não
tratarmos de remover de imediato os cadáveres e de secar os
fétidos charcos, a doença espalhar-se-á a outras zonas. Ajudem os
membros do clero e os soldados a recolherem os cadáveres de
pessoas e animais. Ajudem a recuperar os canais do sistema de
esgotos.
– Para onde deveremos nós ir? – perguntou um pai de família. –
Tenho filhos e a minha mulher sofreu contusões.
– Vamos erigir abrigos provisórios fora dos muros da cidade e,
enquanto não estiverem prontos, montar-se-ão acampamentos
vigiados aqui, na Praça do Rossio, no Terreiro do Paço e no Largo
do Rato, onde poderão pelo menos depositar os vossos bens.
Também é lá que guardamos aquilo que os militares e os
funcionários públicos tenham recuperado das ruínas. Sei bem que
têm fome e que não há onde dormir. É preciso paciência durante
alguns dias! Vamos proceder à construção de barracas e reunir e
distribuir alimentos, mas tudo isso leva tempo. Deus esteja
connosco.
Desceu do patíbulo utilizando uma pequena escada que a este
dava acesso. Soldados empurraram para cima desse estrado
homens cujas mãos haviam sido atadas atrás das costas e as
cabeças tapadas com sacas negras, e dispuseram-nos em fila,
quatro deles junto a cada uma das forcas. Só então lhes foram
retiradas as sacas da cabeça.
– Merda – disse um dos condenados, um homem robusto, que
tinha a barba entrançada de modo a formar rabichos, ao olhar para
cima e ver o nó corrediço na forca.
E aquele outro junto dele não era Antero Moreira de Mendonça, o
tipo bronzeado que ele tinha apanhado na chancelaria provisória do
secretário de Estado do Reino a espiar documentos importantes?
Ainda bem que o tinham desmascarado. Um espião a cometer atos
de alta traição era coisa de que não precisavam nos dias que
corriam. O Estado encontrava-se enfraquecido e vulnerável.
O olhar de Nicolau cruzou-se com o do traidor. Não parecia ter
levado pancada. Ainda assim, parecia um esqueleto, com um ar de
quem só a custo se mantinha de pé. De certeza não deveria ter
passado uma noite nada agradável.
Era estranho que ele tivesse sabido do terramoto antes mesmo de
este ocorrer. Haveria possibilidade de, pela mão humana,
desencadear um sismo? Teriam sido os Ingleses ou os Espanhóis a
incumbi-lo de destruir Lisboa por meio daquele forte abalo? Mas
isso era absurdo, ninguém seria capaz de desencadear um
terramoto.
– Podem começar – ordenou ele.
Para cada um dos patíbulos subiu um carrasco e conduziu o
primeiro da fila até junto do nó corrediço. Foi-lhes dito que subissem
para um banco e colocaram-lhes a corda em redor do pescoço: o
tipo robusto com a barba entrançada, depois uma mulher ruiva,
possivelmente irlandesa, e à direita um negro. O branco dos seus
olhos fazia com que estes se destacassem e dava a entender que
sentia medo.
– É a minha própria casa! – balbuciou ele. – Não sou um
saqueador. Só estava nas ruínas da minha casa à procura de
alguma coisa que pudesse aproveitar!
O povo ficou à espera. Os carrascos olharam para Nicolau.
Este acenou com a cabeça.
Foi dado um pontapé nos bancos sobre os quais os malfeitores
estavam de pé, derrubando-os. Cada um dos três corpos deixou-se
cair e ficou a oscilar, pendurado na corda da forca. A mulher não
tardou a imobilizar-se, mas o tipo robusto e o negro ainda
espernearam algum tempo.
Os carrascos esperaram até poderem ter a certeza de que todos
os três estavam mortos. Depois, cortaram a corda para os soltar e
os soldados deitaram os cadáveres no patíbulo, junto aos ainda
vivos. Por que razão não se ouvia nenhum aplauso? A multidão
costumava rejubilar sempre que um criminoso era executado.
Estavam a ser ingratos! Apanhar ladrões não era coisa fácil, mas,
pelos vistos, não sabiam agradecer o esforço despendido. A
proteção que naqueles dias difíceis ele, o magistrado, lhes
proporcionava não parecia ter para eles qualquer valor.
Os carrascos atiraram cordas por cima das traves horizontais e,
com gestos experientes, voltaram a prender nas forcas novos nós
corrediços. Foi então que, sem que para tal o tivessem chamado,
Antero Moreira de Mendonça deu um passo em frente.
– Isto ainda não está pronto – disse o seu carrasco. – Espere.
O acusado de alta traição, porém, não se dignou sequer a olhar
para o carrasco. Chegou-se até à borda do patíbulo e disse bem
alto:
– Exijo justiça – ao dizê-lo, olhou Nicolau nos olhos, como se
quisesse desafiá-lo para um combate.
O tipo que não pensasse que iria receber tratamento especial, lá
porque estava a cumprir alguma missão diplomática, ou fosse lá por
que razão fosse. Seria enforcado, tal como os outros. Com ele,
Nicolau Fernandes, não havia lugar a favorecimentos a funcionários
públicos.
– E irá recebê-la – respondeu ele, apontando para a forca.
A carruagem parou. Leonor puxou para trás a pesada cortina de
veludo e espreitou para o exterior. A entrada para o palácio
encontrava-se ainda a cerca de cinquenta passos de distância. Que
sentido fazia aquilo, afinal? Queriam humilhá-la, mostrar-lhes que
ainda não pertenciam à elite do país, a qual seria obviamente
transportada mesmo até diante da porta do palácio?
Do lado do pai, aquele que dava para a entrada do palácio, abriu-
se a porta da carruagem. Nessa altura teve Leonor oportunidade de
verificar que, na realidade, ela tinha parado bem diante de uma
tenda magnífica, com debruns prateados. Quatro soldados da
Guarda Real estavam de pé diante da entrada da tenda, na
confeção da qual havia sido utilizado tecido azul. Seguravam as
respetivas alabardas na vertical e faziam como se nem se tivessem
dado conta da presença da berlinda que acabara de parar diante
dos seus narizes.
Os dois pedaços de tecido que tapavam a entrada afastaram-se e
para o exterior saíram criados que seguravam um chapéu-de-sol do
qual pendiam cordões dourados. Seguiu-se-lhes um homem, por
cima de quem eles seguravam o tal chapéu-de-sol. Trazia vestido
um casacão escarlate. Sobre o peito reluzia uma torre dourada. O
homem estendeu diante de si um bastão cuja ponta prateada
brilhava.
– O rei-de-armas – murmurou Tomás. – Saia você. Eu tenho de
ficar aqui. Que tudo lhe corra bem!
O pai guardou o tratado político debaixo do braço e deixou a
carruagem. O rei-de-armas recebeu-o debaixo do chapéu-de-sol. O
pai ofereceu o braço a Leonor, para que nele se apoiasse ao descer
da carruagem. Ela saiu e os seus sapatos pisaram um tapete, que
fora simplesmente estendido sobre a relva.
– Prezado barão – disse o rei-de-armas –, o rei já está à sua
espera.
Aquilo na nuca do pai seria pele-de-galinha? Ele apontou para
Leonor e disse:
– Permita-me que lhe apresente a minha filha Leonor!
– Encantado por conhecê-la – disse o rei-de-armas num tom que
soou pragmático.
Os criados mantinham seguras as tiras de tecido da entrada da
tenda. Estava abafado no interior. Sobre uma graciosa mesa via-se
uma jarra de porcelana chinesa, uma poltrona verde com pernas
douradas fora colocada diante desta, e uma tapeçaria, pendurada
por detrás da poltrona, era tão grande que a área que ocupava
corresponderia perfeitamente à necessária para apascentar um
pequeno rebanho de ovelhas. Nela estavam representados um herói
grego e uma mulher bela, rodeada de cavaleiros da época.
– O Rapto de Helena – disse o pai. – Uma tapeçaria francesa dos
Ateliers de la Manufacture Royale d’Aubusson. Pertence ao ciclo da
história de Tróia. Vendi ao rei o ciclo inteiro, por uma pequena
fortuna. Ele parece gostar dela, o que é um bom sinal! De certeza
que não se esqueceu de mim.
Dois criados com meias brancas até ao joelho e gibão azul
ocultaram o acesso a um corredor na extremidade traseira da tenda.
Com um gesto do braço, o rei-de-armas deu a entender a Leonor e
ao pai que o deveriam seguir. Entrou por aquela abertura e
anunciou:
– O barão Martinho Velho da Rocha Oldenberg e a sua filha
Leonor.
Entraram para uma divisão da tenda com o tamanho de uma
casa. Era evidente o brilho do ouro. A prata cintilava à luz das velas.
O rei deveria ser um colecionador de tesouros artísticos e era óbvio
que gostava de exibir esses seus tesouros. Havia ali móveis
indianos, modelos de igrejas e palácios, livros, pinturas, taças
douradas e jarras de prata, uma luxuosa espingarda adornada com
aplicações também de prata, troféus de caça.
O rei Dom José I estava sentado numa poltrona larga feita de
pau-brasil, cujos braços e pernas se apresentavam laboriosamente
entalhados. Passou os dedos pelos grossos lábios que pareciam
fazer beicinho. A sua cara redonda reluzia dos cremes nela
aplicados. Por detrás do trono havia soldados da Guarda Real.
O rei acenou ao pai de Leonor no sentido de este se aproximar.
Numa atitude obediente, ele deu três passos.
– Agradeço a honra de me conceder esta audiência, Majestade –
declarou o barão, curvando-se numa vénia bastante pronunciada.
– Faça o favor! – o rei alargou os lábios. – O senhor conta-se
entre os comerciantes mais bem-sucedidos do nosso Reino. Já
durante o reinado do nosso pai conduziu o negócio do comércio do
tabaco e foi ele quem o nomeou fidalgo desta Corte. Os seus
terrenos no ultramar são por si explorados com competência, ainda
que as compassivas damas da Corte nos façam chegar aos ouvidos
pedidos para que os escravos africanos e os índios não sejam
atormentados nas plantações. Mas é isso mesmo que se espera do
espírito de uma mulher. Prezamos bastante o seu trabalho árduo em
prol do Reino. É alemão, não é verdade?
– Assim é, Majestade.
– Pelo que tanto mais lhe devemos agradecer por contribuir para
a prosperidade de Portugal – Dom José pegou num pequeno garfo
de aço e, como que ausente, bateu com ele no nó de um dedo. –
Podemos concretizar algum desejo seu?
– Majestade, em primeiro lugar a minha presença aqui serve para
lhe oferecer a minha ajuda sob a forma de um empréstimo para a
reconstrução de Lisboa. Este terrível terramoto colocou diante de
vós enormes tarefas. Gostaria de poder cumprir a minha parte, para
que Lisboa regresse à prosperidade.
O rei acenou amigavelmente com a cabeça.
– A experiência ensinou-nos que um negociante pensa sempre de
acordo com as regras comerciais. O que espera obter como
retribuição pela sua ajuda?
– Nada, Majestade. Os meus recursos estão à vossa disposição.
Poderia, no entanto, ir ainda mais longe na minha proposta.
Pertenço a um grupo de nobres e banqueiros que vos poderão
prestar um importante auxílio, tanto do ponto de vista financeiro,
como através do próprio empenho pessoal. O duque de Aveiro
conta-se entre eles, e também o duque de Lafões, o marquês de
Angeja e o estribeiro-mor, o marquês de Marialva.
– Apreciamos muito cada um dos referidos.
– Fui incumbido de vos propor o empréstimo de uma soma
considerável para a reconstrução. Prescindiríamos dos juros desse
empréstimo. Juntamente com ele, pomos à vossa disposição a
ajuda que poderemos prestar no governo dos assuntos do Estado.
O rei Dom José franziu a testa.
– Ajuda no governo dos assuntos do Estado? Sugere que
alteremos a atual solução de governação? Estamos bastante
satisfeitos com ela.
– Verá que a cooperação entre nobres capacitados e o emprego
dos respetivos recursos constitui um forte argumento no sentido de
repensar a vossa posição.
As asas do nariz do rei incharam. Bateu com o tal garfo de aço
contra o braço do seu trono e segurou-o junto ao ouvido. Manteve-
se assim durante algum tempo. De seguida, disse em voz baixa:
– Veremos aquilo que acharmos por bem e por correto. Não
aquilo que nos dá a provar previamente mastigado.
Leonor esforçou-se por manter a respiração calma. As
informações que obtivera acerca do estado das contas reais não
deixavam margem para dúvidas! O rei precisava do dinheiro. Além
disso, ela escolhera bem os nobres que deveriam participar naquele
empreendimento. Dom José apreciava-os e confiava neles. As mãos
dela estremeciam. Apressou-se a escondê-las detrás das costas.
– Peço desculpa, Majestade – disse o pai, acompanhando o
pedido com uma profunda vénia.
– Em Portugal os cargos de governação não estão à venda –
afirmou o rei. – Contudo, a situação extraordinária que se vive no
Reino poderá requerer que se tomem medidas extraordinárias. Com
a sua proposta prende-se uma série de questões. A quantia exata, o
modo de reembolso, os cargos pretendidos pelos seus amigos.
Queremos que discuta todos esses pormenores com Sebastião de
Carvalho, o secretário de Estado do Reino. É com ele que depois
deliberaremos e tomaremos uma decisão.
– Lamento – disse o barão –, mas não posso fazê-lo.
Haviam chegado ao ponto crucial da audiência. Leonor susteve a
respiração.
– Como assim? – O rei semicerrou as pálpebras.
– Não negoceio com impostores – afirmou o negociante.
O rei ergueu-se. Os soldados da Guarda Real, por detrás do
trono, puseram-se de imediato em sentido.
– Atreve-se a chamar impostor ao secretário de Estado do Reino
que por nós foi escolhido? – perguntou o rei encolerizado. – Isso é
um ataque à nossa dignidade real!
– Sebastião de Carvalho delapida os dinheiros públicos. Pegou
em ações da Companhia do Grão-Pará e meteu-as ao bolso, muito
embora não lhe competisse fazê-lo. E, no âmbito da negociação de
tratados políticos, aceita subornos. Veja Vossa Majestade com os
vossos próprios olhos.
O pai entregou o documento do tratado ao rei.
Melhor seria que nunca tivesse começado a dedicar-se ao
contrabando! Tivesse ele ficado em Groningen, onde começara por
se esconder, e aí aceitasse um trabalho como escrivão! Talvez os
Jesuítas não dessem com ele ali, onde poderia levar uma vida
calma, habitando numa daquelas casas vermelhas com os telhados
pontiagudos. Teria passeado pelos canais e faria compras no
mercado do peixe.
Só que isso implicava nunca mais ver Samira.
«Quero viver, meu Deus», rezava Antero em silêncio, «por favor,
deixa-me continuar a viver! Pela minha filha.» Devia cuidar de
Samira, queria ser um bom pai para ela, pô-la na cama, a dormir, e
cantar-lhe uma canção de embalar.
Além disso tinha ainda de investigar. Queria tentar saber se a
terra também tremera noutras cidades. O terramoto deveria ter
começado algures e terminado em algum lado. Ou então propagar-
se-ia a partir de um centro, como se fosse uma onda.
Antero olhou para o arquiteto. Parou de tremer. Uma estranha
calma tomou conta dele. Voltou a conseguir respirar normalmente.
Disse em voz alta:
– É com toda a razão que aqui estou. Fiz contrabando e fugi ao
pagamento de impostos.
– Tiro o chapéu à sua sinceridade – comentou o arquiteto, cujos
cantos da boca tremeram.
– Seria possível facultarem-me um último desejo? – perguntou
Antero.
– Um criminoso condenado não tem de receber qualquer
deferência. Cale a boca, ou mando amordaçá-lo.
Os lábios de Antero ardiam, como se tivesse acabado de levar um
murro na boca. Puxou as cordas que mantinham as suas mãos
unidas. Era chegada a altura. Apostava tudo numa única cartada.
– Subtraí-me ao pagamento de uma parte dos impostos –
anunciou ele –, mas este fidalgo que aqui se arvora em juiz nunca
pagou um que fosse!
O povo enfureceu-se. Os fidalgos, os nobres, toda essa gente
estava isenta do pagamento de impostos, algo que desde sempre
irritara a população.
Além disso, aos filhos mais novos dos nobres eram ainda
atribuídos cargos ao serviço da Coroa ou nas instituições militares.
– Ao contrário de nós, ele não trabalhou arduamente pela posição
que agora ocupa – incitou Antero. – Também não foi por possuir
uma competência extraordinária que essa posição lhe foi atribuída.
Não, foi graças ao seu nascimento que lhe veio parar às mãos!
A multidão clamava, furiosa.
– Silêncio – gritou o arquiteto. Berrou uma ordem a um soldado e
este pegou num cartucho, mordeu-o para o abrir e deitou a pólvora
para o cano da espingarda.
Antero manteve o soldado debaixo de olho.
– Acreditam que é na rua que ele dorme? – continuou Antero. –
Não, recebe refeições e alojamento, hoje à noite vai ter uma
almofada macia na qual encostar a cabeça, disso podem ter a
certeza! E a nós, que, desesperados como estamos, até já somos
capazes de comer as solas dos sapatos, põe-se a fazer discursos, a
dizer que temos de carregar os mortos e devemos escavar e
desimpedir os canais de esgoto.
Uma mulher cuspiu na cara do arquiteto.
– É uma vergonha! – exclamou ela. – Uma vergonha!
A saliva dela escorreu-lhe pela cara. Ele limpou-a com a manga.
– Acreditam que ele vai tocar num único cadáver que seja? –
perguntou Antero. – Julgam que ele vai pegar numa pá para escavar
aqueles canais malcheirosos? Nem pensar, nunca!
O soldado fez pontaria e disparou, mas, nesse mesmo instante,
Antero lançou-se para o chão. Sibilante, a bala passou acima do
corpo dele, teve a impressão de sentir o calor dela nas suas costas.
Atrás dele a trave da forca estilhaçou-se. Voltou de imediato a
levantar-se, só que então o carrasco acercou-se e cravou-lhe o
punho na barriga: foi como se lhe perfurasse o estômago. Teve a
sensação de que as entranhas tinham sido esmagadas. Deixou de
conseguir respirar. Teve de se curvar.
O povo bramava de tal modo que já não era possível detê-lo:
precipitou-se sobre os patíbulos e ouviu-se o estrondo de outros
tiros.
– Aqui! – gritou o arquiteto. – Sargento, ajude-me!
24
Antero desceu do patíbulo. Um homem cortou as cordas que lhe
prendiam as mãos. Dezenas de pessoas felicitaram-no com
pancadas nas costas, estranhos abraçaram-no. Esgueirou-se por
entre a multidão. Por todo o lado onde passava as pessoas
rejubilavam.
Recuperara a sua vida. Iria agora, com cada hora dessa vida
reconquistada, fazer algo que realmente contasse. Tal como Diogo
de Silves fizera no século XIV, ao descobrir os Açores, um conjunto
de ilhas desabitadas e situadas a milhares de milhas para oeste, no
meio do Atlântico, terra nova que poderia ser povoada e ocupada,
também ele iria mudar o mundo.
Quem se propusesse a conseguir muita coisa, poderia alcançar
muito. Se investigasse com afinco, encontraria uma explicação.
Salvaria milhares de vidas humanas, pois logo que se conseguisse
perceber o funcionamento e aquilo que desencadeava os tremores
de terra, poder-se-ia prever antecipadamente novas catástrofes.
Porventura seria até possível prevenir a ocorrência desses
fenómenos!
Iria finalmente também arranjar tempo para estar com Samira.
Ensinar-lhe-ia canções e andaria com ela às cavalitas. Iria ouvi-la a
inventar histórias, escutá-la-ia pacientemente e só de vez em
quando se riria delas; beijá-la-ia todas as noites na testa e ficaria ao
seu lado até que adormecesse.
Ecoaram tiros através do ar quente do fim de tarde. Antero ergueu
a cabeça. O som dos disparos provinha do Largo do Rato. Quem
estaria lá a disparar? Será que, por todo o lado, o povo se
sublevava contra os soldados?
– Venha connosco para o Largo do Rato! – gritaram para ele. –
Parece que há lá comida – a multidão entusiasmada que o envolvia
avançava e obrigava-o a avançar também. – Não vamos continuar a
ser comidos por parvos. Vamos buscar aquilo que por direito é
nosso!
Ele seguiu com os amotinados na direção do Largo do Rato.
Chegava até ele o som dos berros.
– Mais depressa, minha gente! – gritou um homem que integrava
a turba no meio da qual ele seguia. – Temos de lá chegar, talvez até
já estejam a distribuir!
Quando alcançaram o Largo do Rato, havia já uma multidão três
vezes maior do que aquela que com ele tinha vindo. Os vários
grupos de amotinados confluíam em vagas para ali. Quatro
soldados refugiaram-se nas ruínas do pedaço de cantaria do
aqueduto que caíra na praça e, num misto de desamparo e de
comportamento intimidatório, agarraram-se às espingardas.
Antero debateu-se para avançar até junto deles. Lá chegado,
gritou para os soldados:
– Deixem-me subir. Trabalho para Sebastião de Carvalho, o
secretário de Estado do Reino. Posso ajudar-vos!
Um dos soldados deu-lhe a mão e ajudou-o a trepar para os
destroços. Já junto dos homens, pôde ver como as gotículas de suor
lhes brotavam do rosto e como, com o medo, as suas sobrancelhas
rapidamente abriam e fechavam.
– Não conseguimos detê-los – disse o soldado que o tinha
ajudado a subir. – Isto vai tornar-se cada vez pior.
– Vão mesmo trazer comida para aqui? – perguntou Antero.
– O exército confiscou bens e foi-nos dito que deveríamos, a título
provisório, montar uma cozinha de campanha e um forno no Largo
do Rato. Está a ver ali aquela barraca de madeira? Mas o que lhe
digo é que, quando o carregamento aqui chegar, a multidão
amotinada vai arrasar a cozinha e pode até haver derramamento de
sangue.
Já se distinguia a vozearia daquela gente furiosa. Além disso
ouvia-se também o ruído de um grupo que se aproximava a
marchar. Seria uma companhia inteira que vinha manter a ordem?
Na orla da praça, conseguiu avistar quatro soldados, que
avançavam lado a lado com as espingardas ao ombro. Atrás deles
vinham outros quatro, a seguir mais quatro. Depois de ainda mais
uma fila de soldados apareceram os cornos de dois bois e, após
estes, logrou distinguir uma carroça. Uma nova multidão cercava a
carroça, sitiando-a e gritando em redor dela. Seguiram-na até à
praça. À esquerda e à direita, os soldados tinham as suas
espingardas prontas a disparar e apontavam ameaçadoramente as
baionetas à multidão em fúria.
– O meu nome é Antero Moreira de Mendonça e sou um
colaborador do secretário de Estado do Reino – declarou Antero.
Ninguém lhe prestou atenção, pelo que continuou: – Hoje todos irão
ser saciados!
Então diminuiu o ruído produzido pela multidão e, passados
alguns instantes, o povo começou a rejubilar.
– O que está nas sacas? – perguntou ele a um dos soldados,
falando-lhe ao ouvido.
– Farinha, penso eu – respondeu o soldado.
– Foi construído um forno aqui junto desta cozinha provisória –
disse Antero. – Há aqui algum padeiro entre vós?
De vários sítios ouviu-se gente gritar:
– Sim, aqui!
– Eu sou padeiro!
– Eu também!
– Dirijam-se à cozinha de campanha. Cozam pão com a farinha
que irão receber daqui a pouco. E todos os outros façam uma fila
diante da cozinha provisória! Cada família recebe um pão, como
presente do rei Dom José.
A multidão avançou na direção da barraca de madeira.
– O custo dos alimentos irá de futuro ser fixado pelo secretário de
Estado do Reino – explicou ele em voz alta. – O pão, a carne e o
peixe deverão manter-se a preços acessíveis. Ali em frente, formem
a fila ali em frente! – a conversa que tinham tido no interior do coche
revelou-se útil.
Soldados descarregaram as primeiras sacas de farinha,
depositando-as junto ao forno. Dois padeiros seguraram e deitaram
o conteúdo para uma gamela. Levantou-se uma nuvem branca.
– De futuro, sobre o peixe que for vendido entre Belém e
Santarém não será cobrado imposto – anunciou ele.
De súbito, a multidão emudeceu. As cabeças viraram-se. Abriu-se
espaço, as pessoas afastaram-se respeitosamente. Surgiu um
homem que se erguia cerca de um palmo acima da generalidade da
multidão. Usava uma barba branca e a elevada estatura igualava a
de um urso. Com uma voz sonora começou a falar:
– Percebam, ó gentes de Lisboa, que os únicos responsáveis pela
destruição de tantas casas e palácios, de igrejas e conventos, pelo
sacrifício de tantos habitantes e pelo consumo pelas chamas de
tantos tesouros não foram cometas nem estrelas, nem gases ou
quaisquer fenómenos naturais. Os nossos próprios pecados é que
deram origem a tamanha desgraça.
Era Malagrida.
Para poder sair do cimo da ruína do aqueduto, Antero teve de
ajudar a dobrar a sua própria perna, a direita, que se mantinha
rígida. Nesse mesmo instante o olhar de Malagrida concentrou-se
nele, o que fez com que o jesuíta estremecesse.
«Desta não estavas à espera, não é?», pensou Antero furioso.
«Ver-me aqui vivo e livre?» Voltou a levantar-se.
– O terramoto realizou uma vasta colheita de almas pecadoras e
enviou-as para o Inferno – prosseguiu Malagrida. – E vou explicar-
vos porquê. Homens e mulheres vieram confessar-se sem, no
entanto, terem feito antes a mais pequena tentativa de indagação
das suas consciências. Não haviam ainda realizado a expiação que
lhes fora imposta aquando da última confissão. Apresentaram
desculpas e pretextos para justificar os seus pecados. Acusaram os
vizinhos, os inimigos, o mundo inteiro, ao mesmo tempo que batiam
no ombro a si mesmos e se convenciam de que tudo estava bem.
Na confissão fizeram tudo menos aquilo que deveriam, ou seja,
reconhecer os seus pecados e arrepender-se deles com
sinceridade.
Embaraçadas, as pessoas olhavam para o chão.
– Entregaram-se ao teatro – insistiu Gabriel Malagrida –, à
música, à dança e às sacrílegas corridas de touros. Há alguns que,
por misericórdia, Deus poupou e que, ainda assim, se comportam
como se o tremor de terra tivesse sido um fenómeno de causas
naturais. Se isso fosse verdade, não haveria necessidade de fazer
penitência e de tentar aplacar a ira de Deus. Uma ideia dessas só
pode ter tido origem no próprio Diabo! E escutem o que vos digo: ele
já cravou as suas garras em Lisboa.
Gabriel Malagrida pregava contra o secretário de Estado do Reino
– qualquer dos presentes deveria ser capaz de entender a quem ele
se referia –, pois Sebastião de Carvalho considerava o tremor de
terra um fenómeno natural e defendia a reconstrução da cidade.
Os pensamentos de Antero misturavam-se confusamente.
Precisava de uma estratégia. Tinha de dizer alguma coisa!
– Prendam esse fulano! – ordenou.
Os soldados olharam para ele, pasmados. Tiraram os respetivos
chapéus.
– Não podemos fazer isso – disse um deles.
– Ele está a injuriar Sebastião de Carvalho! – insistiu Antero.
Eles abanaram a cabeça.
– Não pomos as mãos num profeta.
– Garanto-vos que o homem não é um profeta.
– É, pois. Ele anunciou a morte da rainha-mãe precisamente no
momento em que ocorreu, muito embora estivesse a meio de um
sermão e há vários meses não a visse. Se não é profeta, como
saberia ele a hora da morte dela? Também conseguiu prever a
ocorrência do tremor de terra, o dia certo e a hora.
Gabriel Malagrida era um manipulador de fantoches. Uma espécie
de pesadelo. Já há muito que havia dado origem às lendas que lhe
deveriam conferir poder. Era por causa deste homem que hoje
Antero quase chegara a ficar pendurado pelo pescoço. Como
poderia deter aquele demónio?
– Acreditem em mim – disse Malagrida –, o Senhor tem-nos
debaixo de olho, e continua com o azorrague na mão. Orações e
lamentações não significam só por si qualquer inversão no
comportamento. Para tal é necessário empreender esse processo
sob as instruções de um jesuíta experiente. Se quiserem salvar a
vossa alma, venham ter connosco a Setúbal, escutem os nossos
ensinamentos e empenhem-se em cumpri-los!
– Dê-me a sua espingarda – segredou Antero a um dos soldados.
– Está louco? Se tocar nem que seja num cabelo do profeta, o
povo fá-lo em pedacinhos!
– O povo tem é de obedecer ao rei e ao secretário de Estado do
Reino.
– Quer meter-se com esta horda de gente raivosa? Eles adoram
Malagrida! Mais até do que o rei. Qualquer um aqui sabe bem que,
no Brasil, ele converteu os índios e construiu igrejas por todo o lado,
que foi o confessor do anterior rei e que o monarca morreu
pacificamente nos seus braços. Até mesmo o Papa elogia os
Jesuítas. O homem é um santo! Não lhe toque, escute o que lhe
digo.
O jesuíta sabia que a presença do povo o protegia. Por essa
razão, podia apresentar-se sem qualquer guarda-costas.
Simultaneamente isso dava a impressão de, num gesto de coragem,
enfrentar o maléfico secretário de Estado do Reino totalmente
sozinho.
– Prendam esse homem! – gritou Antero bem alto.
Malagrida ficou em silêncio. Olhou para Antero.
– Prendam-no! Ele é um impostor.
– Então eu não sou eu mesmo? – O jesuíta riu-se. – E quem és tu
para afirmar uma coisa dessas?
Tinha mordido o isco.
– Sou Antero Moreira de Mendonça e estou a agir em nome do
secretário de Estado do Reino.
Malagrida arquejou.
– Deus está a limpar esta cidade. E vai limpar também a Corte. O
teu secretário de Estado do Reino vai deixar de exercer o cargo.
Apoias-te num homem que está perdido.
Malagrida estava a jogar a cartada do profeta. Nesse caso, para
es-tar à altura da jogada, Antero teria de se fazer valer dos seus
trunfos.
– É precisamente com afirmações destas que se vê que este
impostor jamais poderia ser Gabriel Malagrida – argumentou ele. –
Sebastião de Carvalho goza de enorme estima junto do rei. Será
responsável pela reconstrução desta cidade. Será algo que fará ao
longo dos próximos dez anos. As tenebrosas profecias deste
homem estão erradas. É um mentiroso e jamais poderia ser o
jesuíta que todos nós respeitamos! Vejam só a barriga dele. O
verdadeiro Gabriel Malagrida é uma pessoa forte, mas não gorda.
Olhem bem para as suas mãos. O verdadeiro Gabriel Malagrida não
usa anéis dourados, pois as riquezas que possui estão depositadas
no grande tesouro do Céu. Não se dão conta do modo deplorável
como este intrujão tenta imitá-lo?
O seu antigo mestre empalideceu.
– Cidadãos de Lisboa – prosseguiu Antero –, escutem-me bem. O
patriarca pronunciou ontem a excomunhão de todos aqueles que
falsamente proclamem ser padres, monges ou freiras, com vista à
obtenção de esmolas. Também este falso padre jesuíta irá obter a
sua punição. Não o deixem escapar!
Malagrida abriu os braços e manteve-os estendidos.
– Façam o favor! Prendam-me, pois, e verão que sou mesmo o
Gabriel Malagrida que nasceu em mil seiscentos e oitenta e nove na
distante Itália, que, com trinta e dois anos, foi como missionário
jesuíta para o Brasil, verão que fui eu quem erigiu os conventos nos
nossos territórios além-mar e que conduzi os índios até Cristo.
Verão que fui eu o confessor do rei Dom João. A minha profecia
está errada? Ah, não, não está. O secretário de Estado do Reino foi
deposto. No preciso momento em que aqui falamos os soldados do
rei estão a agrilhoá-lo. Ponham-me à prova! Irão descobrir que
estou a falar verdade. Não receio ninguém.
Como poderia ele arengar com tanta certeza assim? Malagrida
falava com grande convicção. E se fosse realmente verdade que
estavam prestes a capturar e depor o secretário de Estado do
Reino? Mas isso era impossível. O rei jamais o permitiria.
– Blasfemador! – gritou alguém.
– Sim, deixe o profeta em paz!
– Este não é o tipo que era para ser enforcado como espião?
Com que negros poderes conseguia Malagrida dominar o povo?
Afinal de contas, o secretário de Estado do Reino havia-lhes trazido
comida. Iria mandar construir para eles alojamentos provisórios.
Tomavam isso tudo como se fosse algo óbvio. Ao jesuíta, porém,
que por eles nada fazia, veneravam-no como se fosse um deus.
Antero teve de reprimir a vontade de lhe responder, ainda que a
sua vontade fosse repreender aqueles imbecis.
– Providencie para que cada família receba um pão. Eu vou tratar
de ver, junto do rei, como estão as coisas – disse Antero em voz
baixa para os soldados, após o que desceu da ruína.
A mesma gente que com ele antes havia rejubilado mostrava-lhe
agora o seu desprezo. Houve homens que lhe cravavam os
cotovelos nas costelas, mulheres que lhe cuspiram para cima.
Tentavam passar-lhe rasteiras e arrancaram-lhe a peruca. Quando
se curvou para apanhá-la do chão, uma criança, de olhos muito
abertos, pôs-se a olhar para ele e disse:
– Eu queria um pão.
– E vais recebê-lo – respondeu Antero.
25
–Antero Moreira de Mendonça – anunciou o rei-de-armas. Leonor
estremeceu. Teve de colocar uma mão sobre a barriga. Aquela
sensação de debilidade de antes, onde estava ela? Mal começava a
pensar em Antero, sentia-se como se no seu interior tivesse uma
ninhada de pintos acabados de sair do ovo. Era uma sensação
semelhante à do medo, mas não deixava de ser uma alegria e
simultaneamente uma dor. Antero estava vivo!
Pensava nos abraços dele, que lhe haviam transmitido o seu
calor, no som das suas palavras, quando, imersos na escuridão do
quarto, ele falava a meia voz, e em como as mãos dele eram
meigas ao afagar-lhe o rosto.
O rei esboçou com os grossos lábios uma expressão de algum
desprezo.
– O cientista? Temos agora coisas mais importantes a tratar. Ele
que venha mais tarde.
O rei-de-armas fez uma vénia e voltou a sair da tenda. Leonor
ficou a ver como as lonas da entrada da tenda, grossas como uma
tapeçaria, se fecharam atrás dele. Não o haviam deixado entrar.
Uma grossa e irritante lona separava-os.
O rei-de-armas voltou a surgir.
– Majestade, é o destino de todo o Reino que está em jogo, diz
ele. Insiste em falar convosco com urgência.
– Tratemos então disso rapidamente – disse o rei, depois de soltar
um suspiro.
Ainda Antero não havia dado dois passos no interior da tenda e já
descrevia uma profunda vénia.
– Majestade!
– Que pretende? – Dom José semicerrou as pálpebras. – Seja
rápido. Estamos aqui muito ocupados!
Antero voltou a erguer o tronco. Deteve-se por momentos nesse
movimento ascendente ao dar-se conta da presença de Leonor. O
seu olhar avançou depois para o pai dela. Um profundo franzido
surgiu na testa de Antero.
– Majestade, tenho de dar-vos conhecimento de uma conspiração
que visa depor o vosso secretário de Estado do Reino.
Leonor sentiu um nó na garganta. Antero acabara de desferir um
golpe. Pretendia destruir-lhe o sucesso que tão longamente ela
preparara. Era óbvio que eram inimigos, muito embora ela se
tivessse esquecido desse pormenor durante alguns agradáveis
instantes. Ele combatia o poder ao qual ela se havia aliado.
– É ele que o envia para se salvar? – perguntou o rei. – É
demasiado tarde, meu caro.
– Vossa Majestade conhece decerto a inimizade entre os Jesuítas
e o secretário de Estado do Reino – disse Antero. – Foi este último
quem retirou à Companhia de Jesus todo o poder de que ela
dispunha no Brasil. E também aqui, no Reino, Sebastião de
Carvalho não é de todo adepto desta compungida religiosidade. E
por isso mesmo é detestado pelos Jesuítas.
– E estão no seu direito.
– Pode ser que sim, mas isso não lhes dá o direito de difamarem
o secretário de Estado do Reino e de instigarem o povo contra ele.
Enquanto aqui estamos a falar, o padre Malagrida prega nas praças
da cidade destruída contra Vossa Majestade e contra o vosso
secretário de Estado.
À entrada da tenda abriram-se as lonas e entrou o rei-de-armas,
que anunciou:
– Majestade, aqui está ele.
– Mande-o entrar.
O rei-de-armas segurou a lona para franquear a entrada e
anunciou em voz alta:
– Sebastião José de Carvalho e Melo, secretário de Estado do
Reino de Portugal.
Quatro soldados entraram na tenda. No meio deles vinha
Sebastião de Carvalho com o rosto enrubescido de fúria. Deteve-se
e fez uma vénia.
– Estamos desiludidos consigo – declarou o rei. Pegou no tratado
que se encontrava sobre a mesa dourada e abriu-o. – O senhor
recebe subornos quando, em nosso nome e em prol de Portugal,
negoceia tratados com outras nações. Apropriou-se de ações da
Companhia do Grão-Pará. Desvia dinheiros públicos. Qualquer um
sabe que vive acima das suas possibilidades para impressionar a
família da sua noiva, mas consideramos inaceitável que utilize os
altos cargos que desempenha para custear essas despesas.
Dos olhos do secretário de Estado do Reino brotaram lágrimas.
– Sempre vos servi fielmente, tanto no país como no estrangeiro.
As acusações não são verdadeiras.
– E que é então isto que seguramos na mão?
– É um tratado que foi falsificado, Majestade! – exclamou Antero,
dando um passo em frente.
– Ninguém lhe perguntou nada! – berrou o rei. – Não se atreva a
voltar a interromper!
Leonor sentiu um calafrio subir-lhe pela espinha. A disposição do
rei não era nada boa. Não era de admirar, já que fora uma
informação bastante grave aquela que lhe haviam transmitido; ele
apreciava bastante o seu secretário de Estado do Reino. Não
deixava de ser perigoso estar na mesma sala junto de um rei mal-
disposto: aquele homem pequeno e entroncado poderia, com uma
única palavra, acabar com a vida dela.
Sebastião de Carvalho pigarreou.
– Majestade, gostaria de poder responder à vossa pergunta.
Permite-me que veja esse papel?
Dom José estendeu o braço e, com um gesto contrariado, agitou
o tratado. Um dos soldados chegou-se junto do trono, feito de pau-
brasil avermelhado, recebeu o tratado das mãos do rei, fez uma
mesura, recuou e entregou-o ao secretário de Estado do Reino.
Este estudou o documento cuidadosamente. De seguida ergueu o
olhar.
– É um tratado comercial com a Inglaterra. Refere-se à
exportação de vinho português e à importação de tecidos ingleses.
– Julga que não sabemos ler?
– O tratado contém ainda uma cláusula de despesas muito
estranha que faz referência à minha pessoa. Asseguro-vos que esta
cláusula não figura no tratado original.
– Este é o tratado original.
– Se consultar o duplicado que se encontra em Londres, Vossa
Majestade concluirá que foi aqui introduzida uma alteração.
– Está a exigir que enviemos alguém a Londres? Na presente
situação, não podemos dispensar navio algum, sabe isso
perfeitamente! Temos outras preocupações, não compreende? Não
compreendem todos vocês?
O secretário de Estado do Reino acenou, em sinal de
concordância, e disse:
– Claro que sim, entendo perfeitamente. Vossa Majestade é rei
num país que se deixou conduzir a um beco sem saída.
– Como ousa…?
– Estaríamos num aperto mesmo sem o tremor de terra – disse
Sebastião de Carvalho – e quem quiser refletir um pouco sobre o
assunto também entenderá porquê. Abominamos os Judeus de tal
maneira que nem sequer queremos ocupar-nos de atividades que
sejam tipicamente levadas a cabo por eles. O comércio de longa
distância? Os negócios financeiros? Tudo isso entregámos nas
mãos de outros. Qual bando de gralhas, a nossa nobreza concentra-
se na posse de terras, pois isso é algo que há muito está vedado
aos Judeus. Mas qual o papel da agricultura nos tempos que
correm? Portugal voltou a definir-se como uma terra de lavoura,
enquanto os ofícios estão de rastos. Já quase não existem navios
mercantes na mão dos Portugueses. Os Ingleses e os Alemães é
que conduzem o lucrativo comércio de longa distância com os
nossos territórios de além-mar.
– Não consinto que fale assim! – interrompeu o barão. – O se-
nhor secretário de Estado do Reino é precisamente aquele que está
a conduzir Portugal à ruína!
– O duque de Aveiro – disse o rei-de-armas à entrada da tenda. –
E o estribeiro-mor e terceiro marquês de Marialva, Dom Diogo de
Noronha.
Os nobres entraram na tenda. O marquês de Marialva, um
homem alto e grisalho, e o duque de Aveiro, de baixa estatura, que
chegava à altura do pescoço do outro, inclinaram-se numa vénia
galante. Os movimentos que esboçavam eram fluidos como a seda
das roupas que traziam vestidas.
O rei recebeu-os com uma expressão sombria.
– Finalmente atrevem-se a comparecer aqui. Ter-se-á a nobreza
portuguesa tornado tão timorata a ponto de mandar um comerciante
alemão à frente, antes de ela mesma aqui comparecer?
Em resposta, os nobres voltaram a fazer uma vénia. Assim
aperaltados, pareciam dois pavões. Porém, a aparência iludia.
Leonor já por diversas vezes assistira ao modo como, em ocasiões
festivas, aqueles dois começavam por distribuir sorrisos e
galanteios, por beijar a mão de diversas senhoras, para de seguida
e juntamente com outros homens se retirarem para salas mais
recolhidas, onde se dedicavam a conferenciar e a conduzir as suas
negociações. Tinham espiões a soldo nas grandes tabernas junto ao
porto. Compravam o apoio que pretendiam e sabiam manipular as
relações de poder na Corte em proveito próprio. Até mesmo Gabriel
Malagrida falava deles com respeito.
– Só poderemos dar a fraude como provada se enviarmos alguém
a Londres – disse o rei. – Porém, todos os navios de guerra em
condições de navegar foram enviados para o Brasil, para a Índia e
para África. Por todo o lado irão saber da desgraça que nos
aconteceu. Os piratas vão atacar as nossas rotas comerciais, por
nos tomarem por enfraquecidos. Temos de mostrar que o comércio
com Portugal é seguro.
– Um pequeno navio mercante seria o suficiente, e poderia,
juntamente com ele, enviar um pedido de ajuda ao rei britânico –
disse o duque de Aveiro, num tom esganiçado.
– Não vamos empregar uma única embarcação para servir as
vossas disputas de poder! – disse o rei, batendo com a palma da
mão no braço do seu trono. – Se pretendem denunciar o secretário
de Estado do Reino, terão de apresentar provas bem sólidas, está
entendido?
– Permite que debatamos este assunto numa audiência privada?
– perguntou o duque de Aveiro, dobrando-se numa vénia e
esboçando um sorriso.
– Apresente, de preferência já, aquilo que quer dizer! Não temos
qualquer vontade de andar dias e dias a ocupar-nos deste circo.
Os dois nobres olharam para o barão com um ar irritado e depois
para ela. Leonor teve uma sensação de fraqueza na barriga. Oxalá
não pensassem que fora o pai quem estragara os planos. Ele nada
podia fazer contra o facto de o rei ter ficado de mau humor.
– Como desejar, Majestade – prosseguiu o duque de Aveiro com
voz de falsete. – Não se trata apenas da fraude. Sebastião de
Carvalho é totalmente incapaz para as tarefas da governação. A
reconstrução de Lisboa, tal como ele a planeia, irá ser demasiado
dispendiosa. Já houve oportunidade de ele vos relatar
detalhadamente todos os custos envolvidos? Ele arruinará o Reino.
O vosso Reino, Majestade.
O secretário de Estado do Reino saiu do meio dos soldados.
– Sim, realmente os custos são elevados. Há que construir fornos
para cozer tijolos, telhas e azulejos. Os topógrafos e os arquitetos
têm de esclarecer as questões de propriedade dos terrenos e
realizar um levantamento de tudo isso. Depois, as áreas junto ao rio
e toda a extensão entre o Tejo e a Praça do Rossio deverão ser
aplanadas. Também algumas das ruas mais declivosas na parte
ocidental da cidade deveriam ser tornadas mais planas. Mandei
executar esboços de tudo isso. Podemos reconstruir Lisboa
segundo um padrão ortogonal, à semelhança de Turim ou de
Covent Garden. Do Paço da Ribeira deverão partir duas ruas largas
que seguem a direito até à Praça do Rossio, a Rua Áurea e a Rua
Augusta.
– Durante quanto tempo tenciona andar a construir? – troçou o
marquês de Marialva. – Cem anos?
– Para tornar a obra mais rápida iremos fabricar antecipadamente
materiais de construção em grandes quantidades. As peças de ferro
e as junções de madeira, mas também azulejos, telhas e tijolos.
Além disso, os edifícios novos deverão já ter uma estrutura interna
de madeira, que os tornará mais capazes de resistir a tremores de
terra que futuramente venham a ocorrer. Será uma cidade muito
bonita, com fachadas de pedra branca. Uma capital bastante
vistosa.
– Não terá esquecido um pormenor importante? – acautelou o
duque de Aveiro com a sua voz de falsete. – O novo sistema de
esgotos de que fala constantemente? E os chafarizes que deverão
fornecer água fresca?
– Tudo isso é necessário. É o que torna os edifícios atrativos para
os comerciantes e, no final de contas, são eles que irão financiar a
construção.
– Os comerciantes é que deverão pagar a reconstrução? – O
barão colocou as mãos nas ancas. – Nem pensar!
– É com isso mesmo que estou a contar – disse o secretário de
Estado do Reino. – Logo no primeiro ano após o terramoto deverá
ser reconstruído um milhar de casas particulares. Além disso,
iremos começar a erguer os edifícios públicos. Para o resto da
população precisaremos de dez mil barracas para a instalar em
bairros provisórios, em redor da cidade. Necessitaremos ainda de
distribuir regularmente alimentos. O povo tem de recuperar a
confiança. Precisa de ser apoiado. O rei e a nobreza devem dar a
entender que compartilham os sentimentos das pessoas simples.
– Devem... – o velho marquês de Marialva fez com a mão um
gesto de desprezo. – Melhor seria que dissesse como pretende
pagar tudo isso! Está a construir castelos no ar, senhor secretário de
Estado do Reino!
Sebastião de Carvalho olhou firmemente para o rei.
– Isto pode funcionar. Se administrarmos a economia do Brasil
mais de harmonia com a nossa e vedarmos a estrangeiros certos
setores do comércio, iremos conseguir aumentar consideravelmente
as nossas receitas.
– Estão a ouvir? – o barão avançou e colocou-se entre o trono e o
secretário de Estado do Reino. – Ele fala de «as nossas receitas»
como se a estas tivesse o mesmo direito que vós tendes enquanto
rei. Está a alçar-se à condição de soberano! E é por essa razão que
não vê mal algum em servir-se do tesouro do Estado.
– Com efeito – o rei esfregou o queixo duplo. – Não nos agrada o
tom das suas palavras, Dom Sebastião de Carvalho.
Os olhos do secretário de Estado brilharam.
– É precisamente esse o erro! Damos demasiada importância ao
protocolo, ao tom com que se fala, a rituais e, no entanto, em nosso
redor há uma nova era que se anuncia! Majestade, não enriqueci
indevidamente e também não quero fazê-lo. A verdade, porém, é
que temos de reestruturar a justiça. Temos de fomentar as ciências.
Portugal precisa de recuperar a sua força política e de se
modernizar! O Brasil e Portugal deverão complementar-se,
concentrando-se a colónia e a metrópole em tarefas diferentes. O
Brasil deverá produzir mais matérias-primas e é lá mesmo que
surgirão as indústrias que as começarão a transformar. Portugal,
pelo contrário, tem de expandir a sua frota e dedicar-se à
manufatura de produtos.
O rei franziu as sobrancelhas.
Sebastião de Carvalho prosseguiu:
– Temos de acabar com os privilégios. A propriedade herdada ou
o estatuto social hierarquicamente superior não poderão continuar a
ser o critério decisivo. Deverão ser a capacidade e as características
pessoais a habilitar alguém para o exercício de um cargo. O Estado
é um mecanismo que o rei domina e dirige, com vista ao bem-estar
de todos. É assim que de futuro deveremos encarar esta realidade.
É a vós, Majestade, que cada um de nós atribui esse importante
papel.
A cabeça de Sebastião de Carvalho parecia estar próximo de um
nó corrediço e, no entanto, ele ainda tinha a coragem de atacar o rei
e reclamar por reestruturações do Reino! Leonor viu os seus planos
ir por água abaixo. Jamais havia contado com uma tal tenacidade
por parte do secretário de Estado do Reino. Parecia não recear
absolutamente nada. Ao invés disso, falava com o rei como se lhe
coubesse a ele admoestar o soberano de Portugal e não o contrário.
Um homem daqueles era imune a intrigas.
Os nobres olharam para ela, desesperados.
– Digam o que disserem, Portugal precisa deste homem – afirmou
o rei. – Pode ser que ele tenha cometido erros, que não estamos
agora em posição de comprovar. No entanto, nenhum de vós
apresenta uma visão do que há a fazer como Sebastião de
Carvalho. Continuará no cargo de secretário de Estado do Reino e
quem o atacar atacará o Reino e, como tal, a nós. Se de futuro
levantarem nem que seja um dedo contra ele, e isto aplica-se tanto
a si, barão, como aos outros senhores, irei expropriá-los e votá-los-
ei à insignificância – olhou para o secretário de Estado do Reino. –
Ou pretende exigir reparação pelo ultraje a que hoje aqui o
submeteram? Os nobres e o barão alemão deverão ser castigados
de uma maneira que considere satisfatória.
Antero pigarreou.
O rei revirou os olhos.
– Se tem mesmo de ser, diga lá o que tem a dizer!
– Gostaria de deixar à vossa consideração que desse modo
apenas se estará a punir os cúmplices – começou Antero. – Aquele
que está por detrás de tudo isto, a puxar os cordelinhos, é Gabriel
Malagrida. Enquanto falamos, conspira contra o secretário de
Estado do Reino e está a vaticinar a sua queda.
– Afirma então que os Jesuítas pretendem derrubar o nosso
secretário de Estado? Esperamos que tenha noção de que fez uma
afirmação politicamente bastante explosiva. Está a ofender e a
acusar a ordem mais importante da Igreja Católica, a ir contra nada
menos do que o braço-direito do Papa.
O secretário de Estado do Reino fez um gesto dirigido a Antero
para que ele se calasse e disse:
– Majestade, creio que seria melhor se discutíssemos estas
questões numa breve conversa a sós.
O rei acenou afirmativamente com a cabeça.
– Sargento, acompanhe o barão e todos os outros até à
antecâmara da tenda. Não os perca da vista!
Os mesmos soldados que haviam trazido o secretário de Estado
do Reino até ao interior da tenda conduziram então Leonor, o seu
pai e os nobres para fora daquele espaço. Também Antero saiu com
os demais. No entanto, não lançou sequer um olhar a Leonor.
Dirigiu-se à saída da tenda, manteve aberta uma fresta entre as
lonas e ficou a olhar para o exterior.
O plano de derrube do poderoso secretário de Estado do Reino
saíra gorado. Pior ainda: tinham-no agora como inimigo. Leonor
olhou na direção do pai. Ele e os nobres conferenciavam,
aproximando as cabeças uns dos outros. Pretenderiam tentar fugir
dali? Estariam a discutir como haveriam de fazer para se irem
embora, como poderiam escapar-se para o estrangeiro? Desde que
Leonor começara a colaborar com os Jesuítas nunca os seus planos
fracassaram. De uma maneira ou de outra, sempre tinha conseguido
alcançar todos os seus objetivos, quando muito apenas com
pequenas demoras ou recuos. Não sabia como lidar com um revés
como este.
Acercou-se para escutar a conversa dos nobres.
– A questão não é essa – dizia o seu pai. – O problema é o
secretário de Estado do Reino! Ele é tão abominavelmente diligente
que o rei cada vez se recolhe mais e trata de cuidar dos seus
interesses pessoais. Tem total confiança naquele homem. Não
tardará a ser uma espécie de marioneta dele! Ou então já o é!
– Já não conseguimos sequer chegar junto dele – constatou o
marquês de Marialva enquanto esfregava o rosto coberto de rugas.
– Estamos perdidos. Não há salvação.
– Não é assim que vejo as coisas – comentou o duque de Aveiro,
com a voz esganiçada. – Se a fúria do secretário de Estado do
Reino se virar contra Malagrida, ganhamos tempo. Assim
conseguimos pôr os nossos interesses a salvo.
– Que quer dizer com isso de ganharmos tempo? – perguntou o
barão.
– Ora, ele não pode simplesmente submeter o padre a um
tribunal. Para tal seria necessária uma dispensa papal. Se ele agir
contra o jesuíta sem a autorização do Papa, Portugal vai ter a Igreja
à perna.
Deram-se conta da presença de Leonor.
– Por favor, deixa-nos sozinhos, Leonor – pediu o pai com frieza.
Aquelas palavras feriram-na bem fundo. O pai tratara-a como se
ela mais não fosse do que um belo colar para trazer ao pescoço.
Estava ali pela sua boa aparência, a sua presença servira apenas
para predispor favoravelmente o rei, só isso. E eis que, chegada a
hora de a festa acabar, ele guardava a joia na caixa. No entanto, até
era melhor que, nem soubesse que toda aquela intriga fora ideia
dela. Se acreditasse ter sido ele mesmo a causar aquele revés, ser-
lhe-ia mais fácil aceitar as consequências. Virou-se e deixou os três
homens a falar.
Como gostaria de poder ir ter com Antero! Este escapara-se-lhe.
Era livre. Leonor tomou então consciência de que ele sempre fora
ter com ela pelas suas próprias razões. Não conseguia segurá-lo
com a sua beleza.
Por que razão olhava ele para fora da tenda com uma expressão
tão entristecida? Era claro que havia vencido! Defendera-se dos
seus inimigos e conseguira derrotá-los. No seu lugar, qualquer outro
ficaria eufórico. Lamentaria ele o facto de esmagar Leonor
juntamente com os outros? Teria ele saudades dela, pensaria nas
ditosas horas que haviam passado juntos? Vê-lo diante de si e
saber que o perdera para sempre provocava nela sofrimento.
Um soldado da Guarda Real chegou à antecâmara da tenda e
disse:
– Podem ir.
O barão, o duque e o marquês entreolharam-se. Os rostos de
todos eles estavam lívidos. Um após outro esgueiraram-se para o
exterior, passando junto a Antero. O negociante foi, de todos, o
último a sair. Seguiu-se-lhe Leonor. Abriu amplamente a lona para
não tocar inadvertidamente em Antero. Isso seria algo que não
suportaria, a pele dele a roçar a dela, seria como uma queimadura.
Deixou-o para trás, no interior da tenda. Nem uma palavra de
despedida foi pronunciada por Antero. Quando ela o olhou, ele
desviou a cara. Nem mesmo um olhar se dignava Antero dirigir-lhe.
O Sol a pôr-se tingia o céu de vermelho. Os campos largavam um
agradável aroma. No meio das árvores, um melro, trauteava. Se
Dalila ainda estivesse viva, teria estacado por momentos e, com um
sorriso deixaria o seu olhar vaguear pelo jardim. Só que a irmã
nunca mais poderia assistir a um pôr do Sol.
As duas berlindas do duque de Aveiro aguardavam. Eram ambas
negras, qualquer das duas profusamente ornamentada com
gavinhas douradas. A tinta vermelha das rodas brilhava com a água
das poças. Junto a elas estava uma berlinda de cor verde. Das duas
carruagens negras, a que estava mais à frente arrancou dali com o
duque. Também a berlinda verde do marquês de Marialva se pôs em
movimento, puxada por dois cavalos ruços.
O barão subiu para a berlinda emprestada, assim como Leonor. A
porta foi fechada de fora.
– Pode seguir! – anunciou o pai.
O cocheiro fez as rédeas estalarem no dorso dos cavalos. A
berlinda arrancou. As rodas esmagavam a areia com o peso que
suportavam.
Nunca vira o seu pai assim tão pálido.
– Que se passa contigo? – perguntou ela.
O barão fitou-a.
– As coisas não vão correr bem para nós.
– Como sabes tu isso?
– O rei deixou de nos conceder a sua proteção. Dispensa-nos
pela voz de um soldado. Isso significa que o secretário de Estado do
Reino vai caçar-nos à sua vontade.
– Não poderá dar-se o caso de o rei estar apenas maldisposto e
de vos querer castigar com este gesto?
– Castigar? A mim bem pode ele desprezar. Sou alemão e
comerciante, mas o duque de Aveiro não é um qualquer! Está à
frente dos destinos da mais prestigiada família nobre do Reino, em
termos de hierarquia social os Aveiro surgem logo a seguir à família
real. E o respeitável estribeiro-mor, pensa lá bem nisso, já serviu o
pai do presente rei, para além de comandar uma parte do exército e
de ocupar um cargo de grande importância.
Colocou-lhe a mão no braço.
– Pai, estes homens têm influência. Nem mesmo o rei pode
indispor-se assim contra estas famílias tão poderosas. Ele precisa
do apoio deles.
– É precisamente isso que me preocupa.
– Que queres dizer com isso?
– Ao duque e ao estribeiro-mor ele não vai fazer nada, por isso
hei de ser eu que pagarei por tudo. Atacámo-lo e, por isso, estamos
arrumados. Agora é a vez dele. O secretário de Estado do Reino vai
pedir satisfações à nossa família, Leonor.
26
Antero sentiu algo tocar-lhe. Olhou para o lado. Um bastão com
uma ponta prateada e brilhante pousara sobre o seu ombro. Antero
virou-se.
O rei-de-armas olhou-o com um ar sério.
– Parece que está distraído! Eu disse que o rei quer vê-lo.
Os seus pensamentos estavam com Julie. E com a filha. E com
Dalila, que já não era viva, por ter salvo a vida a Samira. E com
Leonor, que usara o colar de Dalila, para que ele a tomasse pela
irmã. Tinha de reunir as suas energias. Era melhor que se
concentrasse na tentativa de derrubar Malagrida.
Quando Antero quis passar à frente para entrar na sala principal
da tenda, o rei-de-armas segurou-lhe no braço. Sobre o seu
casacão escarlate resplandecia a torre dourada. Também o seu
rosto parecia reluzir como se estivesse coberto de ouro.
– O rei está irritado – avisou ele, sem que o seu rosto comprido
revelasse qualquer expressão. – Pense bem naquilo que vai dizer.
Antero acenou afirmativamente com a cabeça. Dois criados
dobraram os pedaços de lona que, fazendo as vezes de uma porta,
tapavam o acesso à sala principal da tenda, deixando-o passar.
Voltou a fazer uma vénia diante do queixo duplo, dos lábios que
pareciam fazer beicinho e do entroncado adulto num corpo de
criança envolto em brocados.
Sentado no seu trono de pau-brasil, o rei inclinou-se para a frente
e perguntou:
– Como vai a sua investigação das causas do terramoto?
Sebastião de Carvalho estava de pé junto ao trono e observava
Antero, que acabara de se endireitar. Que tinham discutido o
secretário de Estado e o rei? Entre todos os troféus de caça e as
taças de prata, as mesas de apoio e os modelos de palácios e livros
antigos, o ar parecia crepitar, como se ocorresse uma descarga
elétrica.
– Estou quase a conseguir entender as relações de causa e efeito
que estão em jogo. Já só me falta recolher certas informações.
Tenho de descobrir se noutras cidades também ocorreram tremores
de terra.
O rei recostou-se no trono e puxou o lábio inferior.
– Chegou hoje de Cádis um mensageiro. No sábado, houve lá um
tremor de terra, do qual também resultaram graves estragos. No
entanto, nada de tão destrutivo como aqui.
– Quando tremeu por lá a terra? A que hora?
– Não tomámos nota desse pormenor. Acha que a nossa cabeça
se preocupa com essas minudências? O senhor tem de apresentar
resultados, e depressa. Sem uma explicação científica para o
terramoto, não mexeremos uma palha no sentido de nos
indispormos com os Jesuítas.
Antero foi percorrido por um calafrio. O rei iria consentir que os
conspiradores se mantivessem ativos?
– Gabriel Malagrida andou a caluniar o vosso secretário de
Estado do Reino. Nos seus sermões públicos diz que Deus tem de
limpar a Casa Real!
– O povo anda em busca de respostas. A Companhia de Jesus
fornece-as. Dá-lhes algo em que se possam apoiar. O que acha que
acontece se retirarmos ao povo esse esteio? Ocorrerá uma
sublevação. Acharão que somos inimigos da Igreja e alguém que
não soube retirar as devidas lições da catástrofe. No fim,
acabaremos por ser considerados culpados do terramoto, aquele
que convocou o castigo de Deus para o seu povo.
O rosto do secretário de Estado do Reino iluminou-se.
– Faltava um quarto de hora para as dez. Foi isso que o
mensageiro disse.
Antero deu um passo na direção do rei.
– O povo irá obter a sua explicação, a qual derramará uma nova
luz sobre este assunto. Um quarto de hora antes das dez!
Entendem? – Antero sorriu. – É uma onda! – o rei franziu a testa. –
O terramoto tem um centro – afirmou Antero. – As horas
comprovam-no.
– O que têm as horas a ver com isso?
– O tremor movimenta-se como se fosse uma onda, a partir de um
centro. Às nove e meia, Lisboa estremeceu, às nove e quarenta e
cinco minutos foi a vez de Cádis. Se tiver sido suficientemente forte
para alcançar também Madrid, irão ver que por lá o sismo ocorreu já
depois das dez horas. Não pode ser uma explosão subterrânea. O
tremor de terra é uma onda.
– Isso não explica nada ao povo – disse o rei, levantando-se. –
Terá de lhe dar mais do que isso.
Dirigiu-se a um dos modelos que se encontravam no interior da
tenda e pôs-se a observar as torres em miniatura.
– Sei disso. E vou explicar melhor. O povo conseguirá perceber
que este lugar não está amaldiçoado. Os avisos dos Jesuítas serão
rejeitados, como se fossem um cobertor velho e esfarrapado.
Um quarto para as dez em Cádis. Como poderia o tremor de terra
percorrer mais de quatrocentos quilómetros num quarto de hora?
Tratar-se-ia de um processo elétrico? Aquela explicação conduzia-o
a um beco sem saída. Apenas dava resposta à questão da
velocidade a que a onda viajava, não explicava a força destrutiva
associada ao tremor de terra.
O rei virou-se bruscamente para ele.
– Pelos vistos, não entende mesmo a situação. Os Jesuítas,
juntamente com a nobreza, representam tudo aquilo que está
estabelecido há muito. Conseguimos ver hoje muito bem que eles
defendem ambos interesses comuns. Irão decerto também proteger-
se mutuamente. O terramoto arruinou-nos, destruiu a nossa capital
e, de acordo com as estimativas dos nossos magistrados, custou a
vida a trinta mil pessoas. Mesmo se não fosse a nobreza…
– Majestade – interrompeu Sebastião de Carvalho –, entendo as
vossas objeções. Porém, há uma coisa de que o povo precisa mais
até do que de consolo: de forças para recomeçar. E os Jesuítas
teimam em prender o povo ao passado. Enfraquecem-no ainda mais
ao atribuir-lhe a culpa pela catástrofe. Se Antero Moreira de
Mendonça conseguir encontrar argumentos para refutar os sermões
penitenciais dos Jesuítas, o povo poderá dedicar todas as suas
energias à tarefa da reconstrução. E é precisamente disso que
precisamos.
O rei pegou no diapasão, deu-lhe uma pequena pancada e
segurou-o junto ao ouvido. Fixou o olhar na distância e pôs-se à
escuta.
– Vá, então – disse, por fim. – Utilize as suas descobertas
científicas para conseguir convencer o povo. Se conseguir isso, eu
poderei embotar as garras dos Jesuítas.
Na terça-feira de manhã, o vento mudou de direção. Começou a
empurrar o fogo na direção do interior, avançando sobre os
pomares. As chamas consumiam as árvores. Por entre as ruínas de
Lisboa, duzentas e cinquenta mil pessoas passavam fome.
Leonor oferecia tudo o que tinha. Estava diante de casa e, a quem
passava, ia entregando ovos, arroz, azeitonas recheadas, galinhas-
do-mato, pedaços de manteiga da Irlanda, de chocolate, cestos de
vime com queijo fresco e chouriços.
Um homem que agarrou num pedaço de pão e noutro de queijo
estava com tanta fome que, naquele mesmo instante, mordeu
primeiro o pão, depois o queijo e, por fim, de novo o pão. Mastigava
com a boca completamente cheia e olhava em redor, como um
rapaz que come às escondidas na escola, durante uma aula.
Uma mulher mais velha abraçou Leonor. Encostou a sua face
enrugada e macia ao rosto de Leonor e disse:
– Deus esteja consigo, são difíceis os dias que passamos, mas
Deus esteja consigo! – colocou o chouriço que Leonor lhe entregara
na sua sacola esfarrapada e foi-se embora a coxear.
Leonor levou a mão ao pescoço para sentir o colar de Dalila. Era
a herança que a sua bondosa irmã lhe legara: para que também ela
aprendesse a amar as outras pessoas. Encontrou em si mesma um
amor que nem sequer suspeitava de que pudesse existir. Fazia-a
feliz ajudar as pessoas que passavam fome.
A um rapaz entregou uma caixa com bombons. Ele levantou a
tampa e ficou a olhar para os doces. De seguida, começou a correr,
levando a caixa pressionada contra o peito, como se temesse que
esta lhe pudesse ser tirada.
Aos olhos de Leonor, as pessoas comportavam-se como se
fossem ladrões, embora roubassem comida que a ela e ao pai não
faltava. Ainda assim, Leonor tinha prazer em lhes dar alimentos. Os
mantimentos começavam a escassear, mas ainda via tanta gente à
espera! Que poderia ela oferecer-lhes? Ainda havia alguns
chouriços. A cada um que Leonor oferecia, a criada deitava um
olhar angustiado. Agarrava o avental com as mãos e amarrotava-o
nervosamente. Também Jerónimo exprimiu a sua surpresa, abrindo
muito os olhos e pegando de seguida no braço de Leonor.
– Menina Leonor, o barão vai ficar terrivelmente enfurecido –
avisou ele. – Ele vai proibi-la de sair de casa.
– Estou a fazer isto por Dalila – disse ela, libertando-se.
Pelo canto do olho apercebeu-se de um movimento na sua
direção. Um cão vinha aos saltos, na sua direção. Virou-se para ele,
mas nesse mesmo instante o animal abocanhou os chouriços que
permaneciam atados uns aos outros, formando uma espécie de
corrente. Ao afastar-se, arrastou atrás de si essa corrente.
As pessoas que estavam à espera começaram a gritar e
puseram-se a perseguir o cão. A uma mulher com três crianças
Leonor deu o último pão e a um ancião entregou o último pedaço de
peixe salgado.
– É tudo o que tinha. Não há mais nada – disse ela, levantando as
mãos.
– Aquele maldito cão! – vociferou um homem. – Há de estar
algures sentado a babar-se para cima daquele belo chouriço. Vai
engoli-lo num ápice, enquanto nós aqui estamos a passar fome!
Havia outro cão que andava por ali perdido e que se aproximou.
Tinha uma pelagem clara e olhos escuros. Vinha a abanar a cauda
e, com um latido, saltou para cima dela.
– Bento? – perguntou Leonor, perplexa.
Afagou-lhe o pelo com a mão e o animal desatou a correr em
redor dela, de tão feliz que estava. Leonor soltou uma gargalhada
de alegria. Acreditara que Bento ficara soterrado sob as pedras do
palácio, mas afinal estava vivo! Por onde teria ele andado?
Tinha de levá-lo até Samira. Aquele cão era tudo para a
pequenita. Decidiu ir assim mesmo, tal qual estava. Dava-lhe uma
sensação de liberdade sair daquele jeito, sem levar dinheiro, sem
uma empregada, sem colocar pó-de-arroz. Não precisava de nada
disso.
– Anda, Bento! – chamou ela.
Logo pela alvorada o pai tinha saído de casa para se ir encontrar
com Edward Hay, o cônsul inglês. Pretendia vender os seus
negócios e manufaturas aos membros da feitoria britânica. Ao
duque de Aveiro ou ao marquês de Marialva não se podia dirigir,
pois os nobres nada poderiam fazer por ele, já que a lei proibia-os
de exercerem atividades comerciais: se assim não fosse, eles
estragariam o negócio aos demais, uma vez que estavam isentos de
todos e quaisquer impostos, explicara-lhe o pai certa vez.
Quando soubesse de tudo aquilo que ela oferecera, ele ficaria
furioso. Diria que aquela comida lhe tinha custado uma fortuna e
bateria nos escravos, por achar que estes deveriam ter impedido
Leonor. Abriria a porta da despensa e deparar-se-lhe-iam com as
prateleiras vazias. Naquela divisão, mantinha-se o odor a queijo e a
chouriços, a ponto de fazer crescer água na boca, mas nem uma só
fatia de pão lá havia.
Fosse como fosse, tudo estava perdido. Teriam de aprender a
viver na pobreza. A despensa cheia era apenas o último resquício
daquela vida de conforto da qual iriam abdicar.
– Vamos ter com a Samira, Bento – disse ela.
O cão seguia ao lado dela e ia olhando atentamente para o seu
rosto.
Gostava do modo como a dona falava com ele. A voz era suave e o
olhar amigável. Além disso, fascinava-o o cheiro dela. Não
conseguira encontrar uma única pista que lhe indicasse onde estaria
a sua dona mais nova, embora andasse a vaguear pela cidade
desde o nascer do Sol. Aquela mulher que seguia ao lado dele tinha
um cheiro que conhecia.
Bento inalou o odor dela. Era semelhante ao do cabelo da
pequena dona, quando ele lá mergulhava o focinho. Aquela mulher
fazia parte da matilha, ainda que não fosse muito frequente andar
junto dos outros. As relações entre os humanos não eram fáceis de
entender. Alguns pertenciam a mais do que uma matilha.
Para onde ia a dona? Ela tinha uma posição cimeira no grupo a
que pertencia. Observara-o com atenção: as pessoas davam-lhe
preferência no acesso à comida e era ela quem lhes distribuía os
pedaços. Além disso, as de pele escura tinham emitido um odor que
indicava medo quando ela falara com elas.
Saberia ela onde a sua pequena dona se encontrava? Desde que,
na orla da cidade, comera o cadáver de um animal e ficara saciado,
voltara a lembrar-se da sua matilha. Recordava-se sobretudo de
como a pequena dona brincava com ele.
Quando a reencontrasse, ela passar-lhe-ia a mão pelo pelo e
mandá-lo-ia ir buscar o sapato. Ele arrancaria com toda a pressa,
iria procurá-lo debaixo da cama e levar-lho-ia. Nessa altura, ela
trataria de elogiá-lo. Tudo voltaria a ser como dantes.
Os pássaros começaram a cantar bem alto e com alegria. O
caminho que conduzia até Belém estava molhado, havia poças de
água por todo o lado. Leonor inspirou profundamente. Sentia que o
ar húmido da chuva produzia nela um efeito purificador. Já não tinha
uma irmã. Estava agora sozinha. Nunca antes tivera tanta
consciência do quanto precisava de Dalila.
O cão de pelo claro mantinha-se sempre junto a ela. Quando se
detinha, também ele o fazia e ficava a olhá-la ansiosamente.
– Anda daí! – dizia Leonor.
Então Bento seguia-a. Devia ter-se sentido sozinho, sem as
pessoas que o haviam acompanhado e alimentado ao longo de
todos os anos.
Seguia a trote por cima das poças. A água suja saltou para o
vestido novo de Leonor. Ao longe, via-se ainda a chuva a cair sobre
os campos. Entretanto a luz do Sol conseguira romper por entre as
nuvens. Os seus raios atravessavam as cortinas de chuva que se
desprendiam de bojudas nuvens que seguiam baixas no céu,
fazendo-as brilhar. Era como se chovesse luz. Milhares e milhares
de gotas de luz dourada pairavam e precipitavam-se lentamente
sobre aquela região destruída.
No Tejo flutuavam utensílios domésticos: baldes, tábuas, pedaços
de móveis destroçados. Gaivotas baloiçavam nas ondas, as asas
cuidadosamente encostadas ao corpo, os bicos imóveis, num misto
de silêncio e seriedade, como se fosse uma tarefa importante flutuar
ali no rio, à deriva, no meio de toda aquela trastaria.
Ao longo de uma hora passou diante de pomares devastados e de
campos onde fora plantada batata-doce. Agora, após a «colheita»
realizada pela enchente, o seu relevo irregular aplanado pelas
águas. Algumas árvores estavam torcidas e partidas. Nos sítios
onde o tronco se quebrara a madeira mais clara destacava-se da
casca escura. O ar cheirava a terra e a batatas.
A seguir eram residências e casas nobres que orlavam a beira da
estrada. Já conseguia avistar a igreja de pedra branca e o mosteiro
dos monges Jerónimos. Diante do Palácio Real estavam montadas
sumptuosas tendas. Estandartes de damasco verde esvoaçavam ao
vento. Se se cruzasse com Antero, não saberia o que lhe dizer. Ele
desprezava-a. Poderia pedir-lhe desculpa, mas isso não o iria
demover. O muro que se erguera entre eles impediria que as
palavras lhe chegassem aos ouvidos.
O cão deteve-se. Levantou a cabeça e olhou fixamente na direção
do jardim real. As narinas dilataram-se-lhe. Leonor olhou para o
jardim. À beira de um lago viu crianças a brincarem na companhia
de umas quantas amas. O que o fazia reagir assim? Estaria Samira
entre essas crianças?
O cão ladrou. Ladrou de novo, brevemente. Soou como um
chamamento. Uma das crianças que ao longe brincavam levantou-
se e fixou o olhar na direção dele. Bento desatou a correr, foi dando
longos saltos até alcançar a criança e derrubá-la. Esta riu-se de
puro prazer e rebolou em cima da relva com o cão.
As águas negras do Tejo embatiam nos degraus de mármore
despedaçados. Onde ainda há quatro dias estava o mercado do
peixe havia agora umas quantas barracas, mandadas lá pôr à
pressa pela administração do município. Entre elas viam-se várias
tendas. Era meio-dia, mas não tocou qualquer sino. O Terreiro do
Paço, o coração de Lisboa, já não distribuía o pulsar da sua gente
pelas artérias da cidade.
O flanco ocidental do palácio real ardera. As suas arcadas,
enegrecidas pela fuligem, contrastavam com o céu, quais ruínas de
uma civilização perdida. O Arsenal de Guerra já só apresentava a
sua fachada, sem nada por detrás. Armas retorcidas eram retiradas
da sua sepultura de pedra. A Alfândega ficara reduzida a um monte
de escombros.
Antero olhou para a fila de pessoas que aguardavam que lhes
fosse distribuída comida. Dos seus rostos desaparecera qualquer
vestígio de orgulho. Traziam nos seus corpos feridas que iam já
começando a formar crosta, e também queimaduras. Os ombros
estavam descaídos. Nos seus olhos percebia-se a apatia em que
haviam mergulhado.
Monges carmelitas e teatinos e freiras clarissas tratavam dos
necessitados. Como nada tinham para lhes dar, pegavam-lhes na
mão e rezavam com eles. Era com pedaços lascados de madeira,
obtidos das ruínas, que lhes faziam talas para corrigir os membros
partidos.
Muitos andavam em busca dos seus familiares ou amigos.
Percorriam toda a fila de pessoas feridas e iam perguntando por um
determinado nome. Alguém tinha visto uma dada mulher? Estaria
soterrada, morta ou ainda se manteria viva?
Junto à margem do Tejo, soldados controlavam o acesso aos
barcos. Até mesmo as embarcações mais pequenas só podiam ser
usadas mediante a apresentação da devida autorização. As
pessoas eram mantidas presas na cidade destruída.
Diante do Arsenal, Antero trepou para um bloco de pedra. Com o
joelho direito magoado, aquela era uma tarefa bastante difícil.
Alguns dos que estavam naquela fila olharam brevemente para ele,
virando-se logo de seguida. O que eles queriam era comer. Um
homem em cima de uma pedra não lhes interessava.
– Frequentei o colégio dos Jesuítas até aos treze anos – começou
Antero. – Com dezassete, passei para o liceu. Aprendi a regra de
três e a fazer câmbios de valores em diferentes moedas. Estudei a
filosofia de Aristóteles. Os Jesuítas ensinaram-me muita coisa.
Entretanto já alguns o olhavam. Observavam-no com uma
expressão mal-humorada, como se mais não fosse do que uma das
gralhas que passeavam pelo chafariz.
– No entanto, acredito que os Jesuítas estão a cometer um erro –
prosseguiu.
Houve cabeças que se viraram. Era capaz de perceber a
curiosidade nos rostos. Alguém que se arriscava a falar contra os
Jesuítas? Aquilo iria dar-lhe problemas! Acabaria por ser preso,
pensavam decerto as pessoas, ou na fogueira.
– É claro que eles têm razão quando dizem que por vezes é Deus
que faz a terra estremecer. No Primeiro Livro de Samuel é-nos
relatada uma batalha entre Israel e os filisteus, na qual Deus
interveio: «Espalhou-se o pânico no acampamento, no campo e
entre todo o povo. A guarnição e o corpo de choque ficaram
aterrorizados; a terra tremeu e originou um temor imenso.» É isto
que lá se pode ler. Deus também provoca tremores de terra como
sinal da sua misericórdia. E nos Atos dos Apóstolos, capítulo quatro,
podemos ler: «Tinham acabado de orar quando o lugar em que se
encontravam reunidos estremeceu, e todos ficaram cheios do
Espírito Santo, começando a anunciar a palavra de Deus com
desassombro.»
– Quer com isso dizer que este tremor de terra foi uma coisa boa?
– perguntou um homem em voz alta.
Antero ignorou-o.
– E por vezes a presença de Deus não está no tremor de terra –
prosseguiu ele. – Por vezes Ele está presente naquilo que se segue.
Estou convencido de que é isso que se passa com Lisboa. No
Primeiro Livro dos Reis, é-nos relatado que Deus aparece a Elias.
Primeiro, começa por se levantar um vento impetuoso, que fendia as
montanhas e quebrava os rochedos. Depois, veio um tremor de
terra. Só que Deus não estava presente nesse sismo. A seguir,
ateou-se um fogo, mas nem tão-pouco nesse se encontrava Deus. E
depois ouviu-se o murmúrio de uma brisa suave. Então Elias soube
que Deus se aproximava e cobriu o rosto, pois pessoa alguma que
veja Deus poderá sobreviver.
– Aquele tipo deve ter ficado maluco – comentou uma mulher.
– Esta cidade não está amaldiçoada – disse Antero. – O terramoto
não foi um castigo de Deus.
– Ah, não? Então o que foi? – perguntou um homem que estava à
frente na fila.
Antero engoliu em seco. Agora soara a hora da verdade.
– Foi um fenómeno natural, tal como o são a chuva e o brilho do
Sol, as tempestades e o granizo. Recorda-se de que a água dos
chafarizes sabia a enxofre? Lembra-se de ter reparado como os
animais estavam irrequietos na noite antes do tremor de terra. Não
se deu conta de que não havia um único pássaro junto à água ou
nas árvores?
Um silêncio sepulcral instalou-se na praça. Antero apercebia-se
da perplexidade nos rostos das pessoas.
– Os animais possuem uma sensibilidade muito apurada para os
fenómenos naturais. Talvez tenham cheirado o enxofre que se
soltava do interior da terra ou pressentido terramotos mais fracos,
antes do grande. Sou cientista e proponho-me investigar aquilo que
desencadeia os tremores de terra. Quero descobrir o que se passa
abaixo da superfície quando a terra treme. Virá um dia em que
conseguiremos prever a ocorrência destes fenómenos. Quando no
céu se formam daquelas nuvens que anunciam uma tempestade,
percebemos que vem aí uma. Do mesmo modo, saberemos um dia
interpretar os sinais que avisam que um tremor de terra está
iminente, para assim nos podermos pôr em segurança. Talvez
consigamos até evitá-los.
Um cónego dos Agostinhos, cujo hábito branco se apresentava
sujo no peito, disse:
– Quer é fazer com que se deixe de acreditar em Deus, não passa
de um ateu! Como pode dizer que os fenómenos naturais ocorrem
sem a Sua intervenção?
– Eu acredito em Deus – respondeu Antero. – O facto de se poder
encontrar uma explicação científica não significa que esse
fenómeno não tenha tido a sua origem em Deus. Alguns dos
maiores cientistas de todos os tempos eram cristãos. Johannes
Kepler, o fundador da astronomia física, acreditava em Deus.
Chegou mesmo a estudar teologia, durante dois anos. Não conhece
o seu lema? «Reflito sobre as ideias de Deus», disse ele. Para
Kepler, os astrónomos eram «sacerdotes do Deus supremo». E
pense, por exemplo, em Robert Boyle, o pai da química. Era um
cristão convicto, estudava profundamente a Bíblia e fez a exegese
da mesma. Sir Isaac Newton, do qual frequentemente se diz ter sido
o maior cientista que jamais viveu, o mesmo que formulou as três
leis do movimento, que descobriu as leis da gravitação e que
construiu o primeiro telescópio, também ele acreditava em Jesus
como seu redentor e nos seus escritos recusou o ateísmo.
– Então, afinal, o que quer você? – O cónego dos Agostinhos
franziu a testa. – De que nos vale conseguir reconhecer os indícios
de um tremor de terra se é Deus em pessoa que no-lo envia, como
um castigo? Como podemos nós escapar-nos à mão Dele? Quando
quer matar alguém, fá-lo simplesmente, seja onde for que o visado
se esconda.
– Claro que sim, mas os fenómenos naturais não podem ser
usados como modo de perpetuar o poder. Os Jesuítas pregam a
necessidade de atos de penitência, e dizem que a mesma deve ser
alcançada mediante a prática dos seus exercícios. Ainda mal a terra
acabou de estremecer e já eles propõem um dos seus como o santo
de escolha em caso de terramoto. Francisco Bórgia, o terceiro
superior geral dos Jesuítas, surge de repente como o santo a que se
deve recorrer quando há tremores de terra.
Algumas pessoas já acenavam com a cabeça, em sinal de
aprovação.
– Lá que ele tem razão, isso tem – disse alguém. – É uma
patifaria.
– Não estou a falar contra Deus. Isaac Newton investigou ambos,
tanto a natureza quanto Deus. Para ele, as leis naturais sempre
foram apenas a causa segunda do fenómeno, a primeira manteve-
se para ele sempre o ser vivo chamado Deus. Newton investigou
essas leis e, ao fazê-lo, sondou os desígnios de Deus.
– Diz que este lugar não está amaldiçoado – interpelou-o uma
mulher – e que não virá aí mais nenhum tremor de terra. Nesse
caso, por que razão o rei não voltou a ocupar o Palácio de Belém?
Porque dorme numa tenda todas as noites?
– Pela mesma razão que leva muitos de vós a dormirem ao
relento, ao invés de procurarem abrigo no meio das ruínas. Muitos
não se conseguem esquecer de como tudo começou a cair-vos em
cima. Têm medo. Mas nós não acreditamos numa divindade que é
indolente e se entrega aos prazeres, que se refastela no meio dos
céus e não se preocupa minimamente com o que acontece aqui em
baixo na Terra. O olhar de Deus abrange toda a imensidade das
criaturas a que deu origem. Conhece cada uma das estrelas e sabe
o nome de todas. A sua sabedoria tem profundidade e amplidão.
Não precisa de ser despertada por um jesuíta que é considerado
santo. Apesar de toda a desgraça que nos acometeu, Ele mantém-
se lá e irá ajudar-nos.
«Acreditas mesmo naquilo que para aí estás a dizer?», perguntou
a si mesmo. Com as suas investigações pretendia penetrar no
âmago das coisas, mas será que contava vir a encontrar-se com
Deus?
Não pôde deixar de se lembrar de quando, ainda criança, se
pusera a observar um percevejo: este escondia-se nas fendas entre
as pedras, andava em busca de presas por todo o lado, reaparecia,
procurava a próxima fenda, era um predador bastante atarefado,
que nem sequer se dava conta dele de que era observado.
Questionara-se outrora se também seria assim na relação entre
Deus e os seres humanos. As pessoas brincavam, trabalhavam,
dormiam e nem se davam conta de haver alguém que
afetuosamente os observava.
Sim, claro, de certo modo andava em busca de Deus.
Com cerca de dez anos pusera-se a observar um estorninho que
iniciava o voo e, pela primeira vez, tomara consciência de que o
pássaro pressionava as asas para baixo para assim se elevar no ar.
O estorninho comia uma minhoca e alguns escaravelhos e era daí
que retirava as forças para bater as asas milhares de vezes o que
lhe permitia voar. Era algo maravilhoso, um milagre.
Anos mais tarde, vira com grande assombro como as pedras de
granizo caíam. Embatiam no chão e, após realizarem alguns breves
saltos, paravam. Que distância teriam percorrido durante a queda
desde os céus! E que propriedades da água ou do ar impediriam
que se tornassem grandes como ovos de galinha, passando assim a
representar um perigo para a vida das pessoas?
Estava rodeado de milagres. E a cada descoberta que fazia, a
cada pedaço de conhecimento acerca deste mundo que recolhia,
mais ia sentindo a presença do Criador, do misterioso Deus.
27
Samira veio a correr pela relva, na direção de Antero. Um grande
monte de pelo, de cor clara vinha a correr ao seu lado.
– O Bento está de volta! – exclamou a pequenita. – O Bento
voltou!
O discurso que há pouco fizera na praça correra-lhe bem, e agora
ainda mais aquilo! O dia prometia vir a ser bom. Antero acocorou-se.
Pousou a tigela que trazia nas mãos, colocou a palha ao lado e
abriu os braços de par em par. Samira correu ao seu encontro. Pôs-
se de pé e, segurando-a ao colo, andou com ela em círculos.
– Minha pequenina! – exclamou.
Doía-lhe a perna, mas não se preocupou com isso. Bento saltou
para ele e ladrou. O cão lambia-lhe a mão.
Uma mulher avançava na sua direção. Era Leonor. O seu vestido
estava sujo. O Sol parecia ter-se aninhado no seu cabelo, que
brilhava como o ouro dos Incas. Antero pôs Samira no chão. Leonor
manteve-se imóvel, a alguma distância, a olhá-lo.
Ela colaborava com os Jesuítas, ela e o pai tinham até tentado
derrubar o secretário de Estado do Reino, para com isso conferir
mais poder à Companhia de Jesus, e decerto a si mesmos. Ainda
assim, de certo modo, de uma forma que o surpreendia, Antero
ansiava por estar próximo dela. Como podia ser tão obstinada, tão
cega, a ponto de ajudar o lado errado? Virou-se para Leonor e
perguntou:
– Foste tu que encontraste o cão?
– Não – respondeu Leonor –, ele é que me encontrou.
– O Bento é um bom animal.
Ela concordou, acenando com a cabeça, e ficou a olhar para o
cão. Tinha lágrimas nos olhos.
– Lamento – disse.
– Tu e o teu pai caluniaram um homem íntegro e trabalha- dor.
Os lábios de Leonor tremeram. Agarrou no colar dourado que
trazia ao pescoço e puxou-o, quase como se o quisesse arrancar.
– Foi um erro – justificou-se.
Tinha salpicos de lama até mesmo no rosto. O modo como se
apresentava era tudo menos apropriado. Ainda assim, viera ter com
ele. Não tentava enredá-lo ou enganá-lo com os seus jogos de
sedução. Viera como estava. Talvez se fosse transformando no
sentido do bem.
– Papá! – chamou a pequenita atrás dele. – O Bento não quer
beber a água.
Deu meia volta.
– Isso não é para beber – foi ter com ela e ergueu a tigela. –
Trouxe isto para te mostrar uma coisa. Olha para aqui!
Mergulhou a palha na água com sabão, levou a boca à
extremidade que ficou de fora e soprou para a palha. Formou-se
uma grande e iridescente bolha de ar, a qual se desprendeu da
palha e, afastando-se, ficou a pairar sobre a relva. Samira olhou-a,
espantada, de boca aberta.
Antero voltou a mergulhar a palha e desta vez soprou com mais
força. Dezenas de bolhinhas subiram pelo ar. Bento foi atrás delas e
pôs-se a ladrar. Samira ria-se.
– Consegues fazer magia! Faz muitas bolinhas para mim!
– Chamam-se bolas de sabão – explicou ele.
Leonor mantinha-se ali de pé e sorria. Uma das bolas voou até
junto dela. Ergueu a mão e deixou-a pousar lá. A bola de sabão
rebentou.
– Queres experimentar, Samira? – perguntou ele.
A pequenita olhou para ele, com um ar que exprimia dúvida.
– Será que consigo?
Ele acocorou-se e estendeu-lhe a palha.
– Aqui tens. Mergulha-a na água com sabão. É aqui que sopras.
Ela subiu para o joelho dele, mergulhou a palha na água e soprou.
Saíram de lá umas bolhas muito pequeninas. Samira rejubilou de
alegria.
– E agora sopra devagarinho.
Samira tentou, mas só conseguiu projectar algumas gotas de
água da outra extremidade da palha.
– Outra vez!
Voltou a colocar a palha no líquido, soprou e formou-se uma
grande bola de sabão, que flutuou até tocar no chão e rebentar.
Aquela criança que ali estava, sentada sobre o seu joelho e a
fazer bolas de sabão, pertencia-lhe. Sentia-o. Samira era pequenina
e precisava da sua proteção e do seu amor.
– Sabes – disse ele –, um mês antes de nasceres a tua mãe já te
tinha comprado uma caminha de verga e um cobertor. Tricotou
meias para ti. E logo depois do teu nascimento acariciou-te e beijou-
te, muito embora se diga que depois do nascimento as mulheres
estão impuras e não devem tocar nas crianças. A Julie não se
preocupou com o que a ama dizia, pegou em ti e beijou-te. Ela
gosta- va muito de ti – Samira voltou a mergulhar a palha no líquido.
Olhou-o. – Rias-te quando ela te mudava a fralda e te fazia cócegas.
Quando ainda não tinhas nem meio ano, a tua mãe disse-me que
encomendasse a um marceneiro uma cadeirinha para ti. Queria que
tu começasses logo a aprender a sentar-te. E a certa altura já
conseguias rastejar escada acima e tentavas abrir as portas
sozinha.
– É melhor eu ir andando – murmurou Leonor. Inclinou-se e pegou
em algo que estava sobre a relva. – Toma, Samira. Tem cuidado
para não pisares – era o fantoche. Tinham-lhe pintado um gibão
vermelho com botões amarelos. A tinta estava lascada em vários
sítios. Samira sempre gostara muito dele. – Colei-lhe as pernas para
o consertar. Já não se aguentam tão bem como antes.
Samira aceitou o fantoche das mãos de Leonor. Puxou o cordel e
as pernas subiram e voltaram a descer.
– Ainda funciona – disse a pequenita. – Estás a ver?
– Onde o encontraste? – perguntou Antero.
– No meio dos escombros – respondeu Leonor.
– Este fantoche, Samira, foi-te oferecido pela tua mãe, no teu
primeiro aniversário – disse ele. – Foi a Julie quem to deu.
A pequenita olhou para o fantoche.
– A sério?
Antero acenou afirmativamente com a cabeça.
Samira pressionou o fantoche contra o peito.
– Gosto muito dele.
– Leonor, deixa-te ficar – disse Antero.
Gabriel Malagrida mantinha aberta a aba que dava entrada para a
tenda e olhava para o exterior. A barcaça a remos permanecia
tranquilamente amarrada. Para oeste, onde o Tejo desaguava no
oceano Atlântico, a luz do Sol refulgia sobre a água. A beleza da
natureza afigurava-se-lhe enganadora. Aquela mesma que agora
evocava um ambiente de romantismo dois dias antes, e por ordem
de Deus, arrasara Lisboa, largando-lhe depois fogo. Repugnava-lhe
aquela oferta de tréguas que ela agora fazia.
Voltou para o interior da tenda.
– Qual foi a última frase que ditei?
– «Se existir em Portugal um herege que seja…» – relembrou o
escrivão.
– Ah, sim. Escreva então: «…que se atreva a afirmar que o
terramoto foi apenas um efeito de causas naturais e não um castigo
de Deus pelos nossos pecados»…
A tentativa de derrube falhara. Contra ele, Malagrida, nada
poderiam fazer. Para o levar a tribunal precisaria o secretário de
Estado do Reino de uma autorização papal, e isso era coisa que
não obteria, o Papa mantinha-se fielmente ao seu lado. Porém,
Sebastião de Carvalho iria aniquilar os seus aliados. E com isso iria
enfraquecê-lo a ele, Malagrida.
Dias terríveis.
– Padre Malagrida! – chamou alguém de fora, que parecia
completamente esbaforido. – Por favor, deixe-me entrar!
– Se tem mesmo de ser – resmungou ele.
A lona da tenda abriu-se e o barão entrou. O tecido da sua casaca
exibia sob as axilas manchas de transpiração. A peruca estava
desalinhada.
– A minha filha desapareceu – disse ele. – Incumbiu-a de alguma
tarefa?
– Vá ver dela junto de Antero Moreira de Mendonça. Até aposto
que estará ao pé dele. A parvinha apaixonou-se.
– Como pode dizer uma coisa… – antes mesmo de acabar o que
ia a dizer, o barão calou-se. Depois recomeçou: – Preciso da sua
ajuda.
– Ah, sim? Diga-me lá então o que correu mal com a conversa
com o rei.
– Sebastião de Carvalho foi demasiado convincente. Ele é
esperto. Subestimámo-lo.
– E agora quer que eu o livre de se afundar no pântano.
– Vendi as minhas fábricas. Vou sair de cá. Só que os meus
parceiros de negócios mais importantes estão em Portugal, e ainda
aguardo a chegada de um navio com um carregamento de trigo
siciliano. Ajude-me, para que eu não perca tudo.
– O senhor falhou. De resto, os seus outros assuntos não me
dizem respeito.
– O padre é a única pessoa suficientemente poderosa para nos
ajudar. Arriscámos muita coisa para o ajudar. Seja justo. Faça agora
alguma coisa por nós em troca!
Lá fora ouviram-se vozes a barafustar. Pelos vistos, parecia haver
uma briga. A barcaça a remos balançava. Depois, ouviu-se algo a
cair de chapa na água, como se corpos estivessem a ser deitados
ao rio. Uma sensação de fúria foi-se acumulando no seu interior.
– Mas que está aqui a tentar fazer? Barão, se acha que é assim à
força que consegue alguma coisa de mim, fica a saber que bem se
engana!
– Eu... mas eu vim sozinho… – disse o barão. – Essa gente não
veio comigo.
Malagrida abriu a lona da entrada da tenda e deu de caras com
Filippo Acciaiuoli.
– Desta vez exagerou, padre – disse o núncio papal. – Assim, não
posso protegê-lo.
Atrás dele, soldados mantinham os homens de Gabriel Malagrida
em respeito. Sem servirem para nada, as espadas destes haviam
sido atiradas para o chão da barcaça a remos; os homens do padre
tinham-se rendido. Dois deles nadavam no Tejo.
– Vou-me queixar junto do Papa. Fica desde já a saber.
– Até nova ordem, deve abandonar Lisboa, por ordem do rei –
declarou o núncio. – Ser-lhe-á indicada a cidade de Setúbal como
local de residência. Não poderá sair de lá.
– E que hei de eu fazer em Setúbal?
– Funde um convento. Escreva um livro.
– Isso é um descaramento! O seu comportamento irá ter
consequências. Eu mesmo tratarei de me certificar disso. Nem
mesmo o rei pode lidar assim com a Ordem dos Jesuítas. E o
senhor, enquanto enviado do Papa neste país, deveria ter-me
defendido diante dele.
Quatro soldados de uniforme azul vieram ter com Malagrida.
– Venha daí. Tem uma carruagem à espera.
– Permitir-me-ão com certeza levar comigo a minha Bíblia! – disse
com aspereza.
Recolheu-se à sua tenda. Mesmo ao pé da Bíblia estava a caixa
de ferro amolgada. Pegou no livro e na caixa e saiu.
– Sentemo-nos – propôs Antero.
De seguida, instalou-se sobre um pequeno monte de relva, no
jardim. A alguma distância Samira fazia bolas de sabão com a
palhinha. Bento deitara-se junto a ela e pestanejava por causa da
luz do Sol, que se punha.
Hesitante, Leonor sentou-se perto de Antero. Os seus joelhos
tremiam.
– Estive ontem sobre um patíbulo, prestes a morrer enforcado –
disse ele. – Senti que estava tudo acabado para mim. Foram os
Jesuítas que tramaram isso.
– Por que razão te odeiam eles assim tanto?
– Porque deixei de trabalhar para Gabriel Malagrida. Agora tornei-
me seu inimigo. Ele sabe que a minha intenção é prejudicar os seus
planos. Irei explicar o tremor de terra ao povo, o que fará com que,
aos olhos das pessoas, ele surja não como um profeta, mas sim
como um mentiroso sedento de poder. – Antero olhou-a. – Por que
razão ajudas os Jesuítas? Não vês o que estão a fazer?
– Admirava a fé deles. E admirava também Gabriel Malagrida. É
um homem sábio, pode aprender-se muito com ele.
– Sim, é verdade – Antero esboçou um sorriso amargo. – Em
tempos também pensei assim – manteve-se em silêncio. Por fim,
prosseguiu: – o teu pai e tu não proporcionaram a Malagrida aquilo
que ele queria. Ele vai provocar a vossa queda. A tua família está
em maus lençóis, Leonor. Deverias mudar-te para o campo.
Conheces alguém por lá?
– Temos familiares. Uma prima minha vive a um par de horas
daqui, numa herdade.
– Vai para lá. Quando o perigo tiver passado, vou buscar-te.
Leonor tremia enquanto inspirou fundo.
– Antes, quero dizer, quando tu só lá ias de visita de vez em
quando... Agora conheço-te melhor. Lamento ter-te desapontado
desta maneira. Sei que não agi de modo a que me amasses como
amaste a Julie... Mas eu vou mudar, já comecei a fazê-lo.
Ele manteve-se calado.
Como ela era capaz de ultrapassar assim a frieza que entre eles
se instalara? Como podia atrever-se a lembrá-lo dos dias em que se
riram e trocaram carícias? Naquela altura, a relação entre eles fora
de facto calorosa! Avançando com a mão por sobre a relva, ela
tocou na mão de Antero. «Por favor», suplicava no seu interior, «dá-
me uma oportunidade!».
– Leonor!
Era a voz do pai. Veio a correr sobre a relva na direção dela,
passos arrastados, cambaleantes, manquejantes. Com o rosto muito
vermelho, a transpiração na sua testa fazia com que esta brilhasse.
– Explica-lhe que queres mudar-te para o campo, Leonor –
aconselhou-a Antero. – Deves partir ainda hoje.
Ela levantou-se e caminhou para o pai.
– Endoideceste? – perguntou o barão ofegante. – Logo hoje
desafiar a Guarda Real dessa maneira! Não tens nada que vir aqui
para Belém. A nossa vida corre perigo, Leonor.
Nem uma só palavra acerca de toda aquela dispendiosa comida
que ela se pusera a oferecer? Para não falar daquilo, o pai deveria
estar mesmo cheio de medo.
– Que se passou?
– Gabriel Malagrida foi banido de Lisboa. As coisas não vão correr
bem para nós, Leonor. Ninguém nos pode proteger da fúria do
secretário de Estado.
– Mudemo-nos para o campo, para casa da prima.
– Isso não é suficientemente longe. Achas que o secretário de
Estado do Reino não nos encontra lá? Vamos é para a Alemanha.
Vou escrever ao meu irmão, ele prepara tudo. – Pousou-lhe a mão
nas costas e encaminhou-a na direção da cidade. – Já não sais de
junto de mim até irmos daqui para fora. Já perdi Dalila, não te vou
perder a ti também.
O pai fedia a suor. Leonor sempre tivera dele a imagem de um
homem forte. Agora, porém, ele afigurava-se-lhe um cobarde. Fosse
como fosse, não viajaria com ele para a Alemanha. Algures nas
imediações de Lisboa deixá-lo-ia e regressaria para junto de Antero.
Virou-se na direção dele. Antero levantara-se e ficara a olhar para
ela. «Vai lá, despede-te dele», dizia uma voz no seu interior, mas ela
não conseguia obedecer-lhe.
Caminharam lado a lado durante uma hora, em silêncio. No azul-
escuro do céu noturno esvoaçavam andorinhas que emitiam pios
estridentes.
Entre as ruínas das muralhas da cidade que se apresentava diante
deles viam-se muitos soldados. Estariam agora também a interditar
o caminho para Belém?
Havia uma cancela provisória. Alguns soldados andavam por ali,
de um lado e de outro da cancela, outros estavam sentados nas
pedras e jogavam às cartas ou então dormitavam. Outros ainda
limpavam as espingardas.
Junto à cancela estava um sargento.
– A autorização de acesso, se faz favor – pediu ele.
– Não tenho nada disso – respondeu o barão.
O sargento olhou para ele e para Leonor, examinando-os.
– Sem autorização de acesso já não é possível. Dirija-se ao
magistrado da sua circunscrição e obtenha uma.
– Quero deixar a cidade amanhã de manhã, bem cedo. Sou
comerciante, ainda há de ser possível, mesmo sem a autorização,
não?
– Pode entrar. Sair é que não.
– O meu nome é Martinho Velho da Rocha Oldenberg – disse o
pai – e há vinte e oito anos que sou membro da Ordem de Cristo.
Até há pouco tempo era o responsável por todo o comércio de
tabaco deste país. Os meus índios trabalham no Brasil para que
receba o seu salário, assim como todos os outros soldados que aqui
estão sem fazer nada e a olhar embasbacados. Se este país
enriqueceu, foi graças ao meu esforço – ao dizer isto, batia com a
mão no peito. – Não será o sargento que me vai dizer onde devo ou
não devo ir. – Ergueu a cancela com as próprias mão e chamou: –
Leonor!
Esta apressou-se a passar pela cancela.
O pai voltou a baixá-la e entrou na cidade. Leonor voltou-se para
trás. Os soldados olhavam para ele de boca aberta.
– Quem pensam eles que são? – resmungou o pai. – Antes disto
eu andava por aqui como um homem livre. E agora querem passar a
decidir onde devo ir ou deixar de ir.
Leonor sentiu-se abalada. Talvez não voltassem mesmo para a
Alemanha. Talvez afinal conseguissem ficar por Lisboa. Se o pai
recuperasse as suas antigas forças, deixaria de precisar de
Malagrida. Seria capaz de lutar sozinho pela família.
Quando entraram em casa, estava tudo em silêncio no corredor.
– Jerónimo! – chamou Leonor.
Em resposta ouviu um gemido abafado vindo da sala de estar.
Apressou-se na direção da porta da sala e abriu-a.
Tolheram-se-lhe os movimentos.
Tomás, o
Alfaiate, estava pendurado no lustre, com uma corda em
redor do pescoço, estreito como o de uma tartaruga. Tinha os lábios
roxos e os olhos muito abertos, fixados em duas cadeiras, nas quais
os criados estavam sentados, amarrados e amordaçados.
Atrás dela, o pai entrou no quarto.
– Corre à cozinha e vai buscar uma faca – ordenou ele.
A caminho da cozinha vários pensamentos passaram-lhe pela
cabeça. O jesuíta já não estava na berlinda quando eles
regressaram da tenda do rei. Deveria ter-se apercebido de que as
negociações estavam a correr mal, pelo que fugira dali para fora. O
facto de se ter enforcado era mau sinal.
Leonor regressou à sala de estar e estendeu a faca do pão ao pai.
Este não a aceitou, dizendo, ao invés disso:
– Liberta os escravos.
Tentou cortar as cordas que prendiam os criados. Não era
simples, elas não cediam facilmente à ação da lâmina. Leonor teve
de usar a faca como se fosse uma serra, com um movimento de
vaivém, até que por fim elas cederam. Retirou também as
mordaças. Jerónimo e a criada puderam por fim respirar livremente.
– Por que razão vos obrigou ele a assistir a isto? – perguntou
Leonor. – Podia ter-se enforcado calmamente aí numa ruína
qualquer!
– Não foi ele – disse a criada. – Foram uns homens.
O barão chegou-se junto do enforcado e virou-o. Atrás das costas,
tinha as mãos atadas. Havia sido morto!
– Qual era o aspecto desses homens? – perguntou Leonor.
– Não conheci nenhum – afirmou Jerónimo.
– Mas um deles tinha uns polegares com umas unhas enormes,
horríveis e compridas – acrescentou a criada. – Como se fossem as
garras do Diabo.
– Vamos de viagem – declarou o comerciante. – Vou buscar os
documentos mais importantes. Leonor, tu vais ter com o duque de
Aveiro e solicitas-lhe que nos empreste um coche para viajarmos.
28
Quando Leonor regressou, já era tarde. Esgueirou-se até ao
quarto do pai para lhe dizer que o seu pedido fora recusado. Por
baixo da porta havia uma frincha através da qual se percebia a luz
cintilante de velas. Pressionou com cuidado o ferrolho, para não
fazer barulho, e abriu-a.
O pai adormecera debruçado sobre a secretária. À medida que
respirava, o seu peito subia e descia ligeiramente. A vela ardera
quase até ao fim, estava prestes a apagar-se. Leonor veio por
detrás do pai e espreitou para a folha sobre a qual ele se deitara,
tapando a maior parte do texto; no entanto, conseguiu ler o início.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Considerando
que nada é mais certo do que a morte e nada é mais incerto do
que a hora em que esta sobrevem, começo por encomendar a
minha alma a Deus, o nosso pai todo-poderoso, e a Jesus
Cristo, seu filho unigénito. Determino que a minha sepultura
deverá ficar situada em Oldenberg e, em memória do meu
falecido pai, decido doar…
E mais adiante estava a sua mão e a seguir o ombro. Conseguia
ainda distinguir as palavras «paz de alma» e «para todo o sempre».
O pai adormecera com aquelas roupas encharcadas de transpiração
ainda vestidas, enquanto redigia o testamento.
Leonor escutou um rangido. Vinha da janela, não seria nem a dois
passos de distância donde se encontrava. Olhou mais atentamente
nessa direção. Um dos pregos mexia-se. Estava a ser rodado e
rangia contra a madeira. De repente, ficou tudo escuro. A vela
extinguira-se. A mecha ainda ardeu mais uns instantes, depois
também ela se apagou. Os ruídos que chegavam vindos da janela
pararam. Leonor estava ali, imóvel, e respirava sem fazer qualquer
ruído, para não revelar a sua presença.
Após uma breve pausa, recomeçou o rangido. Ouvia-se
ligeiramente a madeira a fender-se. Leonor curvou-se sobre o pai e
apertou o braço deste.
– Pai – murmurou-lhe ela ao ouvido –, acorda! Está ali alguém à
janela.
Ele ergueu-se de um salto.
– Estás a ouvir isto? – sussurrou ela.
O pai pôs-se de pé e deteve-se, à escuta. Depois disse-lhe ao
ouvido:
– Vai buscar o escravo. Ele que traga as espingardas e os
floretes. Sem fazer barulho!
Leonor esgueirou-se para fora do quarto, atravessou o corredor e
abriu a porta do quarto do escravo. Chegou-se junto da cama dele e
abanou-o.
– Levanta-te. O meu pai precisa de ti. Vai buscar as espingardas e
as espadas e segue para a sala de estar sem fazer barulho.
– Sim, menina Leonor.
Dirigiu-se ao o quarto da criada e acordou-a também a ela. No
meio da escuridão, o branco dos seus olhos apresentava um
aspecto fantasmagórico.
– Estão a tentar roubar-nos? – perguntou a criada. – Mas já
ofereceu tudo o que cá tínhamos, menina Leonor!
– Podem ter em mira o ouro do pai. Ele disse que fôssemos ter
com ele à sala de estar.
Juntamente com a criada, que a acompanhou de roupão vestido,
atravessaram o corredor. Deram de caras com Jerónimo, que trazia
nos braços as espingardas e os floretes. As bolsas onde se
encontravam guardados os cartuchos pendiam das próprias armas.
Da sala de estar ouvia-se claramente o ruído de madeira a
estalar. Leonor estremeceu.
– Depressa! – disse, e logo apressou o passo. Na janela
entaipada da sala de estar já faltavam algumas tábuas. Por entre as
frinchas que haviam sido abertas entrava a débil luz da noite.
O barão acenou-lhes. O escravo apressou-se a assumir uma
posição junto dele, tendo este pegado de imediato numa das
espingardas. Alcançou a bolsa que dela pendia e retirou de lá um
cartucho. Mordeu-o para o abrir, despejou a pólvora no cano da
espingarda e então empurrou uma bala para o interior do cano.
– Agora tu – murmurou. – E peguem nestes floretes – sussurrou
para Leonor e para a criada.
– Esqueça isso – disse uma voz vinda do exterior. Cinco canos de
espingarda foram enfiados no espaço antes ocupado pelas tábuas
agora em falta. – Pouse as armas e encoste-se à parede com as
mãos no ar.
O barão deteve-se. Depois, tão baixinho que pouco mais era que
um sopro, murmurou:
– Vão lá para baixo! Vão de rastos até à porta.
Deitaram-se no chão e foram rastejando enquanto sustinham a
respiração. Um dos floretes ia arranhando o solo.
– Rendemo-nos! – gritou o pai, porém continuou a rastejar.
Chegado junto à porta agarrou no cotovelo de Leonor e empurrou-a.
– Cabeça para baixo – ordenou ele.
Junto à ombreira da porta, Leonor virou-se para trás. Os outros
não vinham também?
O barão pressionou o gatilho. A sua espingarda produziu um
estrondo. Por um instante, a boca da arma cuspiu fogo. Nos ouvidos
de Leonor instalou-se um assobio permanente. Ele empurrou-a,
para que continuasse a rastejar. Da janela, surgiram então também
fulminantes clarões, dois, três, quatro.
Leonor levantou-se de um pulo e correu pelo corredor. Estava
escuro. Continuava a ouvir distintamente o assobio, para além deste
apenas um impenetrável silêncio, como se lhe tivessem enfiado
algodão nos ouvidos. Abriu a porta que dava acesso ao seu quarto e
fechou-a atrás de si.
Sentia os batimentos do coração directamente no pescoço.
Embora respirasse com força, tinha a sensação de não conseguir
inspirar ar suficiente. Os seus olhos tentavam debalde romper as
trevas. Jogos de cor, fantasmagóricas ilusões, teciam-se diante de
si, no meio da escuridão.
Havia demasiados homens lá fora, diante da casa. Era impossível
resistir-lhes. Tateou pelo quarto fora até que bateu com a canela na
cama. Junto a esta havia uma janela. Leonor sentiu uma brisa suave
a afagar-lhe o rosto. Enfiou os dedos numa das frestas entre as
tábuas e puxou. As tábuas não davam de si. Tinham sido pregadas
de modo a que a janela ficasse firmemente tapada. Puxou com mais
força. A madeira nem sequer se mexeu. Precisaria de ferramentas.
Estariam por ali soldados, patrulharia alguém as ruas? Mesmo ao
longe, talvez ouvissem os disparos! Leonor chegou-se mais junto à
janela. Sentiu nos lábios a aspereza das lascas de madeira das
tábuas.
– Socorro! – gritou – Estamos a ser roubados! Ajudem-nos!
A sensação de ter algodão nos ouvidos foi deixando de incomodá-
la. Também o assobio diminuiu de intensidade. Virou-se. Onde
conseguiria arranjar uma haste ou qualquer outra coisa de ferro?
Talvez conseguisse desmontar o ferrolho da porta. Chegou-se junto
desta, mas hesitou. Debaixo dela conseguia aperceber-se de um
brilho inconstante proveniente do outro lado. A porta abriu-se.
Leonor saltou para junto da mesa, pegou numa cadeira e segurou-a
ameaçadoramente no ar. Por momentos, a luz de um archote
encandeou-a. Leonor piscou os olhos. Junto à ombreira da porta
estava um homem.
– Graças a Deus! – balbuciou ela. Era Antero. Leonor pousou a
cadeira. – Fomos roubados. Ouviste os tiros? Os ladrões entraram
pela janela. Trouxeste contigo os soldados?
Antero nem sequer sorriu. Por que razão estaria ele com um ar
tão sério?
– Tinha-te pedido que te fosses embora – disse ele.
– E era o que tencionava fazer.
Ele manteve o silêncio. O seu olhar era grave.
Iria acontecer algo terrível, ela conseguia pressenti-lo.
As chamas do archote iluminavam-lhe irregularmente o rosto hirto.
– Porque não escutaste o que te disse? – perguntou ele.
Aqueles homens estavam ali para levar o pai dela. Fora o
secretário de Estado do Reino quem ordenara aquela investida.
– Não deverias ter ficado aqui.
– Queríamos ir já amanhã – respondeu ela. – Por favor, poupa o
meu pai. Deu ouvidos a quem não deveria – «a mim», pensou ela.
«A culpa de tudo isto é minha.» – O meu pai não é má pessoa. Ele
merece uma oportunidade de recomeçar.
– A ordem do secretário de Estado do Reino é inequívoca.
– O que lhe vai acontecer?
Vindo de fora, ouviu-se o pai gritar:
– Leonor, pára já de falar com esse degenerado!
– Eu... Eu ofereci toda a comida que tínhamos – disse ela. –
Mesmo que ela agora esteja morta, estou a aprender com a Dalila.
Vou mudar, já mudei, mesmo que tu ainda não sejas capaz de o
reconhecer em mim. Por favor, não destruas as nossas vidas!
– Isso não está nas minhas mãos.
– Mas tu vieste aqui. Os soldados fazem aquilo que lhes disseres.
A expressão do rosto dele manteve-se empedernida.
– Receei que não me fosses dar ouvidos. Por isso mesmo é que
os segui assim que os vi partir – começou a falar mais baixo. – O
teu pai já não posso ajudar, mas quero salvar-te a ti, em nome dos
bons dias que passámos – retirou um alicate que trazia à cintura e
aproximou-se da janela. Um após o outro, começou a retirar os
pregos das tábuas.
Ela apressou-se até junto dele.
– Antero – implorou ela –, ele tomou conta da tua filha enquanto
ela crescia. Isso não significa nada para ti? Ele errou, mas é um
homem bom. Não podes retribuir-lhe dessa maneira aquilo que ele
fez!
Antero baixou o archote. Pez bem quente pingou para o chão.
Com o alicate apontou para o que estava a passar-se ali ao lado.
– Não entendes? O teu pai acusou o secretário de Estado do
Reino de alta traição! Falsificou documentos do Estado! Tentou
derrubar o Governo, para obter benefícios para si mesmo. Ali ao
lado está o vosso escravo, a esvair-se em sangue depois de ter sido
ferido a tiro. Então ele não tem qualquer responsabilidade pelo que
aqui está a acontecer? Não foi ele quem enganou o Rei? E o
soldado a quem o teu pai acabou de desfazer o rosto? Vocês
intrujaram pessoas insidiosamente. A tua família tem de pagar por
isso, tal como foi ordenado pelo secretário de Estado do Reino.
Leonor apressou-se a entrar na sala de estar. Aí encontrou
Jerónimo. Rebolava-se numa poça de sangue e gemia entre dentes,
que, com o maxilar cerrado, apertava uns contra os outros, ao
mesmo tempo que pressionava ambas as mãos contra a barriga. O
sangue brotava-lhe por entre os dedos e a camisa tingira-se de
vermelho-escuro. Leonor atirou-se para junto dele e acariciou-lhe o
rosto.
– Jerónimo, lamento muito. Lamento tanto!
Quando era pequenina, o negro construíra-lhe um cavalinho de
baloiço, de madeira. Jogara à bola com ela. Contara-lhe histórias
acerca de África. Nos últimos anos, haviam-se afastado, tornado
estranhos, mas a familiaridade que os unia dos tempos da sua
infância abatia-se agora sobre Leonor com uma impetuosidade que
parecia tirar-lhe o fôlego.
– Tens de viver! Tens de conseguir sobreviver!
Ninguém cuidaria dele. Olhou para cima. O pai fora imobili-zado
por dois soldados, enquanto um terceiro lhe colocava grilhões em
redor dos tornozelos. Olhava para baixo com um ar horrorizado
enquanto o punham a ferros. Naquele preciso momento
desmoronava-se tudo aquilo que até então fora a sua vida. E Antero
nada fazia!
Levantou-se de um salto e correu para a sala contígua.
– Deverias ter-lhes dado ordem para não atirarem! – ao dizer isto,
Leonor ia batendo em Antero. – Devias ter evitado isto!
Ele segurou-lhe nos pulsos e agarrou-os com força.
Só então reparou que as suas mãos estavam vermelhas. Tinha
nelas o sangue de Jerónimo.
– Odeio-te, Antero, odeio-te!
Este continuava a segurar-lhe os pulsos. O olhar dele fixou-se
penetrantemente no dela.
– Sim, faz isso, odeia-me. E, se amas o teu pai, vais agora saltar
por essa janela e fugir. Esfrega sujidade na cara, rasga as roupas e
nunca mais digas alto o nome Velho da Rocha Oldenberg. Abri a
janela para poderes fugir. Isso é tudo o que posso fazer por ti e por
ele.
Dito isto, largou-a.
– És um monstro!
Deu-lhe um estalo, tendo ele ficado com sangue na face. Passou
pela abertura na janela para o exterior da casa e correu colina
acima. Atrás de si, ouviu os soldados a gritarem:
– Pare já onde está! Ela está a fugir, a filha escapou-se!
***
Uma leitosa luminosidade matinal espalhava-se sobre o Mar da
Palha. Os mastros de navios afundados elevavam-se acima da linha
de água. Velame boiava nas vagas, inchado como bolhas que se
formassem num corpo doente. Onde antes estavam ancorados os
cinquenta navios da frota do Brasil, havia agora dois galeões e cinco
caravelas a flutuarem, inclinados, e envoltos em destroços,
pranchas de madeira rachadas, restos de navios destruídos à
deriva.
Mais adiante, no porto de guerra, tentava-se a custo, com recurso
a cordas e roldanas, endireitar uma corveta que sofrera um rombo
no casco. Os gritos dos trabalhadores e dos soldados ressoavam
por sobre a água.
Uma outra corveta parecia praticamente incólume, à exceção de
algumas escotilhas para as peças de artilharia, que haviam sido
destruídas. De certeza que os canhões que ali faltavam teriam caído
ao fundo do rio, onde estariam enterrados na lama. No mastro da
corveta fora içada a bandeira branca com o escudo encimado por
uma coroa que representava o Reino de Portugal.
Leonor acocorara-se por detrás de uns barris alinhados em frente
ao cais. Fediam a bolacha de munição. Escondida entre dois deles
assistiu à aproximação dos condenados. O pai seguia no fim da fila
mais próxima dela. Uma corrente de ferro ligava os seus tornozelos
aos dos outros homens. Apenas podia dar pequenos passos de
cada vez.
Leonor olhou para o navio. Os soldados iam levar o pai para
bordo, seguindo depois, por entre aquele cemitério de navios, para
longe dali. Era uma viagem sem regresso. Leonor julgava quase
sufocar com o sentimento de culpa que, como um nó corrediço em
redor do pescoço, lhe apertava a garganta. Fora ela quem urdira a
intriga que se desenrolara na Corte. Era sua a responsabilidade pelo
destino do pai.
As correntes nos pés tilintavam e o pai ficou o olhar o Mar da
Palha. De repente, parou e desatou a gritar:
– Aquele é o Sol Dourado! – tentou saltar, mas foi retido pelas
correntes.
Leonor olhou para o horizonte. Um navio aproximava-se de
Lisboa, vindo do Atlântico. As suas velas estavam magnificamente
enfunadas. O pai conseguira semear a desordem na fila dos
prisioneiros, que avançava, pois deixara de acompanhar os demais,
tentava afastar-se, aproximar-se da margem.
Os soldados derrubaram-no com coronhadas. Soltou um gemido.
Voltou prontamente a levantar-se e exclamou:
– O meu navio!
Perplexos, também os soldados olharam na direção do horizonte.
O navio ia-se aproximando com a lentidão de um pôr do Sol.
Também os homens que trabalhavam no porto de guerra se deram
conta. Rejubilaram, tiravam os casacos e mandavam-nos ao ar.
Entretanto, da corveta foi lançado à água um escaler.
– O que transporta ele? – perguntou o sargento ao barão.
– Trigo. Oito mil sacas de trigo siciliano.
– Trate já de participar isto – ordenou o sargento a um dos seus
soldados. – A carga do navio tem de ser imediatamente confiscada.
O soldado afastou-se.
Enquanto o escaler da corveta se dirigia à margem a poder de
remos, o Sol Dourado navegava na direção do porto. Era um galeão
de construção à espanhola, com o gurupés à frente, tão inclinado
que parecia mergulhar, como se quisesse pescar à linha. Tinha
quatro mastros e peças de artilharia que brilhavam ao Sol.
O escaler da corveta atracou junto ao cais destruído. Os soldados
empurraram os prisioneiros, para que estes avançassem.
– Vá, entrem! – ordenaram.
Pelo rosto de Leonor corriam lágrimas amargas. Queria saltar
donde estava e gritar que amava o pai. Queria ir ter com ele a
correr, lançar-se-lhe ao pescoço, abraçá-lo e pedir-lhe perdão.
Porém, manteve-se no seu esconderijo. Se se mostrasse, acabaria
por ser acrescentada ao grupo de gente acorrentada que ali seguia.
A fila dos prisioneiros subiu um pequeno monte de cascalho e
entrou para o escaler. De um lado, para além dos condenados,
seguiam soldados. Com o peso de tanta gente, a embarcação
quase parecia afundar-se. Ia baloiçando.
O Sol Dourado recolhia as velas. Tinha um aspecto magnífico,
algo escapara ileso a toda aquela destruição. O escaler com os
prisioneiros afastou-se do cais. Os remadores deram meia volta e
dirigiram-no para a corveta. O pai pôs-se de pé, a olhar para o seu
galeão.
Os barris começaram a ser carregados. Leonor ergueu-se e
perguntou a um dos estivadores:
– Para onde vai a corveta?
– Para África. Se os piratas ouvirem falar do que aconteceu a
Lisboa, os ataques aos navios ainda vão duplicar. O Duarte vai
combater os piratas. Julgo que, antes disso, ainda carregará uns
canhões espanhóis.
– E os prisioneiros?
Ele deteve-se e pôs-se a observá-la com atenção.
– O meu pai está entre eles – disse ela, baixinho.
– Serão desembarcados em Angola.
SEGUNDO LIVRO
29
Na noite de 8 de novembro, os habitantes de Lisboa foram
acordados por um violento abalo. Em pânico, rastejaram para fora
dos buracos onde se abrigavam, deixaram as barracas e as ruínas e
correram para o meio das ruas.
No entanto, mais não houve do que esse único tremor de terra.
Uma semana mais tarde, o patriarca conduziu uma procissão
através das ruas ainda meio obstruídas. O rei e a rainha
participaram. Dezenas de milhares de pessoas seguiram o seu
exemplo. Avançaram desde a Ermida de São Joaquim, em
Alcântara, colina acima, até à Igreja das Necessidades e suplicaram
misericórdia a Deus, bem como a remissão dos seus pecados.
Quando, depois disso, a terra permaneceu sem tremer durante três
semanas, a disposição das pessoas na cidade melhorou
substancialmente.
A 11 de Dezembro ocorreu mais um forte terramoto. Aos gritos,
cheias de medo, as pessoas fugiram então para os campos. Muitas
delas só regressaram alguns dias mais tarde e porque a isso foram
obrigadas pelos soldados.
– É um erro voltarmos já às tarefas do costume – começaram os
Jesuítas a pregar nas ruas. – Que se pretende afinal com a
reconstrução da cidade, começada já de modo quase mecânico?
Primeiro, é preciso fazer penitência! Deus está irado. Só deixará de
ter Lisboa na mira quando desistirmos dos nossos comportamentos
depravados e passarmos a não contar exclusivamente com as
nossas próprias forças.
A nobreza ajudou a Companhia de Jesus. Os nobres detestavam
o novo secretário de Estado do Reino, que pretendia pôr fim aos
seus privilégios, à isenção de impostos de que gozavam, aos cargos
que ocupavam e aos favores de que eram beneficiários. O facto de
serem os Jesuítas a instigarem abertamente a agitação contra o
secretário de Estado era algo que convinha aos nobres, que
tratavam de fornecer dinheiro e materiais de construção à
Companhia de Jesus.
Sebastião de Carvalho, porém, não gozava de aceitação entre os
membros da nobreza. Falava mesmo de retirar todos os poderes à
Inquisição. Esta instituição deveria acabar com as suas
condenações de pessoas resultantes de sessões que decorriam à
porta fechada; ao invés disso exigia que passassem a ser
conduzidos processos civis de cariz público. Pretendia que
houvesse liberdade de consciência para católicos, protestantes e
judeus.
Antero tornou-se o seu porta-voz. Entregou-se a acesos debates
com os Jesuítas. Enquanto estes pregavam contra os protestantes,
ele percorria as listas com o registo dos mortos e demonstrava-lhes
que apenas vinte por cento de todos os protestantes residentes em
Lisboa haviam sucumbido ao tremor de terra. Assim, ficava provado
que Deus não tinha pretendido castigar os «hereges», como eles
lhes chamavam. Era absurdo querer representar as vítimas de uma
catástrofe natural como pecadores castigados.
Desde a noite em que o barão fora detido que Antero andava
agitado. A fúria ia ardendo lentamente no seu interior. Dormia mal e
trabalhava com obstinação, tomava apontamentos, fazia medições,
experimentava, percorria e voltava a percorrer as ruínas, provava a
água dos chafarizes e observava os animais. Fez cálculos no
sentido de determinar qual seria a fase da Lua aquando da
ocorrência de anteriores tremores de terra, com vista descobrir a
possibilidade de alguma correlação. Explorava cada ideia que lhe
ocorria e examinava a credibilidade que a mesma poderia merecer.
Certa vez, em Alfama, foi capaz de convencer não apenas as
pessoas que escutavam como também o próprio representante da
Companhia de Jesus.
– Como ousa criticar os intentos de Deus? – perguntou o seu
opositor. – Ele é infalível e não um homem perdido, imperfeito. Não
se coloque acima Dele, questionando os Seus desígnios! Não lhe
compete a si fazê-lo.
– É claro que o questiono – declarou Antero. – Quero saber por
que razão Ele nos exige este sofrimento. Quero saber o que terá
pretendido com isto.
– Se daqui em diante conduzirmos a nossa vida longe do pecado,
Deus proteger-nos-á de novas infelicidades – disse o jesuíta.
– São então só os pecadores que por ele são castigados? –
perguntou Antero com aspereza. – Se Deus eliminou os malandros
através do tremor de terra, por que razão destruiu os seus próprios
santuários? As igrejas, tal como as casas de habitação, foram
também vítimas da catástrofe. Não foi Deus que aqui agiu, mas sim
uma força da natureza, incapaz de distinguir os criminosos dos
benfeitores. Passou por todos nós e varreu Lisboa como se fosse
uma tempestade.
– Errado, meu amigo. Uma das imagens do Santo António de
Pádua foi encontrada ilesa. Testemunhas há que afirmam tê-la visto
a chorar! Uma outra sobreviveu na igreja em que o santo foi
batizado, toda a capela lateral da mesma foi poupada, ao passo que
o resto do edifício ardeu com tal intensidade que até a prata e o
ouro da sua ornamentação derreteram.
Um jesuíta mais velho e de cabelos brancos destacou-se do
grupo de pessoas que assistia, pousou a mão no ombro do seu
colega e disse:
– Padre, por vezes é melhor ficar calado. Não sabe como
responder, nem tão-pouco o sei eu, por isso ajude o homem e cale-
se.
Os exercícios dos Jesuítas começaram a ter grande aceitação.
Enquanto Antero não conseguisse descobrir qual era exatamente a
origem dos tremores de terra, não poderia ganhar este combate.
Passava noites em claro a meditar no assunto. Que fatores seriam
decisivos na ocorrência de um sismo em determinado lugar? Jamais
havia a terra tremido com uma tal força como acontecera em Lisboa
e isso deveria ter uma razão. E como se explicava o facto de ao
grande terramoto se seguirem depois outros abalos? Uma onda que
se acalmara e deixara de se propagar já há semanas não se agitava
de novo sem razão aparente.
Escrevia cartas a cientistas de todo o mundo e enviava-as por
intermédio dos mensageiros reais. Com as próprias mãos construiu
uma caixa de madeira, encheu-a de terra e desferiu-lhe golpes de
diferentes maneiras. As fissuras que surgiam na terra que fora
firmemente calcada foram por ele registadas, desenhadas e
comparadas. Em busca de semelhanças, leu os relatos acerca de
todos os tremores de terra de que havia relatos históricos. Teria
aquele fenómeno natural alguma relação com o tempo atmosférico,
seria este um desencadeador, uma condição necessária à
ocorrência? Seria precedido por alguma praga de serpentes? Ou de
lagartas, ou talvez de um número anormalmente grande de
ratazanas?
Não via Samira com frequência, muito embora vivesse com ela e
com uma empregada debaixo do mesmo teto. Quando ia ter com
Samira ao quarto, esta punha-se com teimosias, irritando-o com
atitudes descaradas e desdizendo-o em tudo o que ele lhe contasse.
Sabia que ela estava furiosa com ele, que se sentia desprezada e
que não arranjava outra maneira de lidar com essa fúria, uma vez
que o amava muito. Ele sabia-o bem, porém a tarefa que tinha
diante de si absorvia toda a sua atenção, naquela altura não podia
dar-lhe aquilo de que Samira precisava, ainda que se detestasse por
isso mesmo.
Também pensava em Leonor. Ficara tão desiludida com ele! E
nem sequer sabia se ainda estaria viva. Por outro lado, com a sua
avidez e egoísmo, ela mesma e o barão haviam provocado danos
consideráveis. Tinham feito por merecer aquele castigo.
Por vezes parecia a Antero que, no seu interior, tudo se resumia a
um imenso e doloroso nó.
Começaram a chegar cartas de resposta. A sua teoria de que um
tremor de terra se propagava como se fosse uma onda não mereceu
o crédito de nenhum dos outros cientistas. Apesar disso, ia dar
sempre ao mesmo: dispunha entretanto de dezassete relatos da
hora exata em que noutras cidades se haviam sentido os fortes
abalos. As horas de que dispunha correspondiam a círculos
concêntricos, sendo que esse centro se encontrava a 124 milhas a
oeste do cabo de São Vicente, a sudoeste de Lisboa, no oceano
Atlântico. Teria sido a partir daí que o terramoto se propagara? Que
haveria ali no meio do mar?
Antero estruturava os seus pensamentos em grandes quadros. Ao
fazê-lo, foi-se-lhe tornando claro aquilo que deveria empreender de
seguida: teria de escrever um livro. Essa obra iria convencer as
grandes inteligências de então, a elite intelectual, a qual, por sua
vez, transmitiria estas novas ideias ao resto da população. Noite
após noite, sentava-se ele agora à secretária, a trabalhar à luz de
velas, e desenvolvia o conceito de cada capítulo. A primeira versão
era escrita a lápis, ao passo que a versão final era já passada com a
pena. Em diversos pontos da casa que o rei lhe havia atribuído
escondia diferentes partes do seu trabalho: a primeira versão numa
caixa de chá junto às especiarias, na cozinha, a versão final debaixo
das escadas, por detrás de uma tábua que estava solta. O facto de
andar entretido com a escrita deixava-o eufórico. Imaginava a
grande agitação que a publicação do seu livro iria desencadear.
No entanto, o rei começou a perder a paciência com ele. As suas
simpatias voltaram a dirigir-se para os Jesuítas. A pedido do rei, o
Papa Bento XIV determinou, em Maio de 1756, que o terceiro
superior geral dos Jesuítas, São Francisco Bórgia, passasse a ser o
santo cuja ajuda se deveria invocar caso ocorresse um terramoto.
Em Coimbra, onde se situava o mais antigo colégio jesuíta de
Portugal, foram celebradas festas religiosas em sua honra. De
repente, o rei chegou até a afirmar existir um parentesco entre ele
mesmo e São Francisco Bórgia.
Durante nove meses, o rei Dom José permaneceu nas suas
tendas nos jardins diante do Palácio de Belém. Depois disso mudou-
se para um edifício de madeira que pretensamente seria capaz de
resistir a sismos, edifício esse erigido na Ajuda, um pouco a norte de
Belém, e que não tardou a ser conhecido como a Real Barraca.
Tanto o secretário de Estado do Reino como o próprio Antero
instavam o rei a regressar ao seu palácio, com vista a dar um
exemplo e encorajar o povo. A casa de madeira representava o
medo, argumentavam eles, e o rei deveria mostrar ao povo que
confiava em Deus. Só que o rei Dom José não lhes dava ouvidos.
Foi ao aproximar-se o dia 1 de novembro de 1756, altura em que
faria um ano desde que ocorrera o grande terramoto, que Antero
voltou pela primeira vez a ouvir falar do nome de Malagrida. Os
Jesuítas anunciaram que Gabriel Malagrida, após ter recebido uma
visão de Deus, profetizou que a 1 de novembro, e como castigo pela
obstinação demonstrada por toda a cidade de Lisboa, ocorreria um
novo tremor de terra, igualmente destruidor. Além disso, um
maremoto mataria muitas pessoas e depois o Sol queimaria tudo o
que por ali se encontrasse, de tal modo que onde agora estava
Lisboa iria depois restar pouco mais do que um pedaço de terreno
enegrecido. Só mediante uma grandiosa acção de penitência é que
se poderia evitar o castigo de Deus.
A Gazeta de Lisboa, cujos prelos haviam voltado a trabalhar
graças à intervenção do secretário de Estado do Reino, publicou
essa mesma profecia, muito embora este o tivesse proibido
expressamente. Em consequência disso, espalhou-se o pânico
entre a população. Foram aos milhares as pessoas que quiseram
sair da cidade: os operários abandonaram as obras, os pescadores
afastaram-se do rio, os padeiros foram-se embora das padarias
acabadas de construir.
Uma grande parte dos soldados estava no Algarve para
combaterem a ameaça dos piratas africanos. O secretário de Estado
do Reino voltou a chamar cinco companhias montadas que estavam
aquarteladas em Loulé e Faro, dando ordens para que a cidade
fosse cercada por elas. Já ninguém conseguia sair de Lisboa.
A população lastimava-se. Injuriava o secretário de Estado do
Reino, considerando-o demoníaco, dizendo que queria enviá-los a
todos para o Inferno. Havia quem incitasse os soldados a
amotinarem-se. Até mesmo Antero não pôde deixar de sentir algum
receio pelo dia do aniversário da grande catástrofe.
No entanto, o dia 1 de novembro chegou e passou-se, e nada
aconteceu. De repente, todos troçavam já da ansiedade que os seus
vizinhos haviam sentido. O secretário de Estado do Reino conseguiu
recuperar o apoio da população. Os topógrafos e os engenheiros
puseram novamente mãos à obra e realizaram inventários dos
proprietários de terrenos. Manuel da Maia, o principal engenheiro e
funcionário do Arquivo Real da Torre do Tombo, conduziu o trabalho
deles. Mandou trazer madeira e pedra de todo o Reino e tomou
medidas para impedir todos os projectos de construção que não
correspondessem aos novos planos para a cidade. Para as obras
que ele dirigia, os operários coziam tijolos e azulejos nos fornos.
Um ano e meio depois do terramoto já um milhar de casas havia
sido construído. A área que se estendia entre o Tejo e a Praça do
Rossio fora aplanada. Onde antes tinham estado ruas e travessas
sinuosas havia agora ruas amplas que seguiam bem a direito,
orientadas de norte para sul. Os passeios foram calcetados.
Com as suas arcadas e os telhados triangulares, que se
assemelhavam a tendas de pedra, as novas casas pareciam
templos da Antiguidade. Os chafarizes obstruídos pelo entulho
foram reparados. O Terreiro do Paço passou a chamar-se Praça do
Comércio.
Apesar dos progressos visíveis, os Jesuítas conseguiram que do
secretário de Estado do Reino se impusesse uma imagem de um
homem ambicioso, um desapaixonado sacrílego, que sentia
indiferença em relação ao povo. Conseguiram até justificá-lo:
outrora, os pobres e os mendigos eram considerados criaturas de
Deus e as pessoas sentiam-se na obrigação de os ajudar. Agora,
porém, os pobres eram encarados como ameaçadores seres
associais. Era frequente haver detenções. Os Jesuítas, pelo
contrário, eram aqueles que, através das suas fervorosas orações,
tinham conseguido demover Deus de aplicar novos castigos à
cidade de Lisboa.
Três anos volvidos após o tremor de terra, alguém assaltou a casa
de Antero enquanto este recolhia amostras de água dos chafarizes.
Quando regressou, deu-se conta de que faltava não só a
correspondência trocada com outros cientistas, mas também os
livros. Tudo havia sido revolvido. Com o coração a bater fortemente,
foi de imediato verificar os esconderijos na cozinha e debaixo das
escadas, mas os ladrões não tinham conseguido achar o manuscrito
do seu livro.
Pôs-se a caminho de Belém e solicitou uma audiência ao rei. Dom
José recebeu-o, se bem que, tal como acontecera ao longo de todo
o último meio ano, não fosse grande a vontade de falar com Antero.
– Já conseguiu finalmente descobrir o que se passou com aquele
maldito tremor de terra? – começou ele logo, antes mesmo de
qualquer cumprimento.
– Estou quase a lá chegar, Majestade – respondeu Antero.
– Isso é só palavreado! – aborrecido, o rei abanou a mão no ar. –
A minha paciência esgotou-se. Vou colocar-me ao lado dos Jesuítas
e pôr um fim às especulações. Não precisa de abrir assim os olhos,
tivesse trabalhado com mais afinco. Há que fazer com que regresse
a calma! Sei bem aquilo que o meu povo reclama de mim.
– Estou a preparar a publicação de um livro, daqui a poucos
meses será possível ler as surpreendentes considerações que farei!
– apressou-se Antero a dizer. – É claro que dedicarei essa obra a
Vossa Majestade. Irá ser lida por todo o mundo e explicará às
pessoas os fenómenos que originam os tremores de terra.
– Há anos que ando a financiá-lo. E que recebi eu em troca?
Sempre e só desculpas para protelar os resultados! Isso é apenas
mais uma das suas tentativas de ganhar algum tempo.
– De modo algum, Majestade. Hoje a minha casa foi assaltada.
Tenho a certeza de que Gabriel Malagrida está por detrás disso.
Deve ter sabido do livro que ando a escrever. A correspondência
que tenho mantido com outros cientistas foi também roubada.
Malagrida quer evitar a todo o custo que eu consiga terminar esse
manuscrito. Isso só comprova como ele teme aquilo que nele será
revelado!
– Você está sempre a inventar fantasmas. Já me conseguiu
convencer vezes de mais das suas inquietações. Que quer afinal de
mim? Dinheiro não lhe dou mais, nem pensar!
Antero engoliu em seco. Ao que parecia, estavam contados os
dias que poderia dedicar à investigação e à escrita.
– Por favor, dê ordem para que sejam colocados soldados diante
de minha casa. Preciso de terminar a redação do livro sem mais
interrupções.
– De que servem os soldados? Se alguém estiver de olho em si,
poderá surpreendê-lo numa ruela escura, não tem de ir ter consigo a
casa.
– Matar-me ou levar-me preso só atrairia ainda mais atenção para
a mensagem que tenho para transmitir. Malagrida sabe bem disso.
Torná-la-ia um legado com um efeito ainda mais explosivo, o que a
poria tanto mais depressa na boca de toda a gente. Não, ele quer é
pôr as mãos no manuscrito. É por isso que preciso de proteção.
O rei esfregou o queixo duplo e fitou-o.
– Escute bem. Vai receber os soldados e dispor de mais quatro
semanas certinhas. Passado esse tempo, quero ter o livro nas
minhas mãos. Se não o conseguir até essa altura, deixo-o entregue
a si mesmo.
– Quatro semanas! Majestade, como irei eu conseguir…
– Poupe-me as suas objeções. É a última concessão que lhe faço.
Desta vez não me compadecerei mais. Vá, vá-se daqui! Já me
aborrece vê-lo.
Durante o caminho de regresso à cidade, Antero estava tão
irritado que mal reparou nas andorinhas que cruzavam o céu e no
cheiro adocicado dos campos. Aquele quente dia de Agosto já lhe
fora estragado por completo. O rei Dom José estava a tratá-lo como
se fosse um pedinte! E, no entanto, até mesmo a Royal Society
demonstrara interesse por aquilo que ele lhe comunicava,
precisamente a academia a que Sir Isaac Newton pertencera, bem
como Robert Boyle e James Cook. Adam Smith convidara-o a ir a
Londres no Outono, o mesmo Adam Smith que, com vinte e sete
anos, há precisamente oito, se tornara professor de lógica e, pouco
depois, de filosofia moral, na Universidade de Glasgow, e um dos
primeiros que ensinavam em inglês, ao invés de fazê-lo em latim.
Dizia-se que as suas aulas apesar de bastante exigentes, ainda
assim eram sempre muito concorridas. Os mais prestigiados
investigadores do seu tempo queriam conhecê-lo, a ele, Antero. Só
aquele casmurro do rei é que lhe colocava entraves no caminho.
Já de regresso à cidade, foi ao banco levantar dinheiro, cinco
cruzados de ouro, um oitavo de tudo aquilo que tinha. A Rua Áurea
encontrava-se limpa e desimpedida. Iluminadas pela luz do Sol, as
fachadas de pedra branca resplandeciam. Entretanto havia em toda
a cidade já cerca de dez mil casas de pé. Um terço de Lisboa estava
de novo habitável. Havia lojas em abundância, só as vitrinas é que
estavam vazias.
De início, tinham chegado remessas de ajuda de outros países
soberanos: manteiga, artigos de pastelaria, arroz, farinha de trigo,
carne de vaca da Irlanda, arenques fumados, mas também botas,
picaretas e pás. Tudo isso, enviado pelo rei britânico, tinha chegado
a Lisboa a bordo do HMS Hampton Court, no dia 31 de Dezembro
de 1755, precisamente o último do ano da catástrofe. Quando o
Parlamento inglês tomou conhecimento das condições em que
Lisboa se encontrava, concedeu de imediato a Portugal uma ajuda
suplementar, remetendo a quantia de cem mil libras. Também o rei
de Espanha ajudou generosamente com dinheiro e comida, para
além de aligeirar os controlos fronteiriços, de modo a que os bens
pudessem entrar em Portugal com mais facilidade. De Hamburgo, a
Liga Hanseática enviou três navios com madeira, telhas, ferro e
ferramentas, para além de um pequeno donativo de vinho e açúcar
para o rei.
Entretanto, porém, já tudo isso fora consumido. Muitos dos
comerciantes nem sequer levavam as suas mercadorias para
Lisboa. Aquela cidade, outrora tão rica, era agora incapaz de pagar
pelas mercadorias de que precisava, deixara de ser um destino que
valesse a pena. Portugal estava habituado a poder comprar aquilo
de que necessitava. Sem dinheiro, o abastecimento da população
entrou em colapso.
Ainda assim, o secretário de Estado do Reino promovia a
reconstrução. Os novos edifícios deveriam acabar por atrair os
comerciantes. Pretendia-se que estrangeiros se estabelecessem em
Lisboa e investissem na cidade. Esse era um desígnio mais
importante do que matar a fome dos Portugueses.
Antero passou junto a uma estalagem que se chamava A Coroa,
erigida sobre as fundações de um café que fora destruído. Os
azulejos verdes que cobriam a parte inferior das paredes de
alvenaria prestavam testemunho dessa outra construção. Muitos
deles haviam estalado sob o efeito do forte calor dos incêndios ou
tinham sido atingidos por pedras resultantes de desabamentos.
Acima dos azulejos, as paredes eram brancas, limpas e
resplandecentes, e sobre a porta fora pintada, com tinta dourada
uma coroa. Uma porta mais pequena diante dessa conduzia ao
interior da estalagem. Cheirava a peixe grelhado. Antero gostaria de
ter podido entrar, lá dentro o ambiente era sempre fresco, almoçar
ali seria um alívio naquele dia de verão quente e seco, ainda que os
preços que lá se praticavam fossem terrivelmente altos.
No entanto, tinha de tratar de outros assuntos. Era preciso
proteger o manuscrito. Os soldados colocados à porta de sua casa
não eram suficientes. Para o caso de alguém conseguir entrar-lhe
em casa, Antero precisava de pistolas. Ao longo das semanas
seguintes, ele mesmo seria o melhor guarda. Iria conseguir dormir
pouco.
A um canto da estalagem estava um homem que falava com um
grupo de pessoas reunidas em seu redor. As mangas da sua
camisa, arregaçadas, mostravam os seus antebraços densamente
cobertos de pelos.
– O secretário de Estado do Reino… – disse ele, introduzindo
uma pausa deveras teatral, durante a qual observava as expressões
nos rostos dos que o escutavam – encerrou a Universidade de
Évora.
Um murmúrio de espanto atravessou todo o grupo. Foi então que
os punhos se cerraram.
– O secretário de Estado só faz isso por recear! – exclamou um
deles. – Medinho é o que ele tem!
– Sim, ele odeia os Jesuítas – o orador olhou com um ar sério
para o seu público. – Sei de fonte segura que enviou o seu irmão
em missão secreta junto do Papa, para que este lhe conte mentiras
acerca da Companhia de Jesus, para lhe dizer que estaríamos a
tentar usurpar o poder do rei e a revelar uma pouco salutar ambição
de obter riquezas.
– Falar assim acerca dos fiéis Jesuítas constitui uma aleivosia
contra a Igreja! – disse uma mulher.
O jesuíta esboçou um sorriso que denotava raiva e acenou
afirmativamente com a cabeça.
– E qual a consequência disso? Estão a retirar-nos as tarefas que
desde sempre nos couberam. Como o secretário de Estado do
Reino nos odeia, já não podemos pregar, nem sequer ouvir em
confissão seja quem for. E dão a isso o nome de reformas.
Antero teve de forçar-se a não continuar a olhar, pois já alguns
dos membros daquele grupo se haviam virado na sua direção.
Continuou a andar. Se o rei se colocasse ao lado daqueles
agitadores, daria uma forte machadada nas costas do seu
progressista secretário de Estado do Reino. Há semanas que o
povo andava irado, pois o secretário de Estado tinha anunciado que
pretendia abolir as leis sobre a pureza do sangue e equiparar os
direitos dos judeus aos dos cristãos. No decurso do ano anterior
havia, no Brasil, retirado o poder aos Jesuítas e, mediante uma lei,
acabara com as suas missões no Pará. Sebastião de Carvalho já só
os autorizava a permanecer nas aldeias do Brasil na qualidade de
padres comuns. Quando quiseram retirar as figuras dos santos das
igrejas, foram informados de que estas tinham passado a ser
propriedade do Estado. Em consequência disso, haviam pegado em
armas e instigado os índios contra Portugal. No ano passado, em
Setembro, depois de ter recebido a notícia dessas ocorrências, o rei
expulsara os confessores jesuítas da família real, pondo-os fora de
casa, no meio da rua, às quatro da madrugada. Desde então, os
consultores espirituais do rei eram monges franciscanos, agostinhos
e carmelitas. No entanto, ele parecia já arrependido de ter dado
esse passo.
Quando voltou a olhar naquela direção, Antero reparou que o
homem, sentado no canto da sala, pegou num pedaço de papel.
– Eis o que o padre Malagrida escreveu ao novo Papa Clemente!
– o jesuíta pigarreou e começou a ler: – «Os arautos da palavra de
Deus, expulsos! O arquiteto desta catástrofe é o secretário de
Estado do Reino Sebastião de Carvalho e Melo, que possui enorme
influência na Corte. Cheio de ódio, combate a nossa comunidade.
Se, com um só golpe, pudesse decapitar todos os jesuítas,
alegremente o faria.»
Antero sentia uma imensa revolta no seu interior. Aquele discurso
difamatório não era o primeiro que ouvia. Há já duas semanas que
andava sempre a escutar aquele género de conversa. Os Jesuítas
tinham saído dos seus esconderijos e andavam a incitar a
população. Durante três anos, Malagrida estivera calado. Decerto,
não o estivera por falta de vontade de falar. Ao que parecia, o
jesuíta preparava um contragolpe.
Mas também ele, Antero, estava praticamente a conseguir aquilo
que pretendia. Quando o seu livro fosse finalmente impresso, não
mais seria possível deter o seu efeito. Teria apenas de escrever
rapidamente os últimos capítulos e continuar a escondê-lo dos
cúmplices de Malagrida até que tudo ficasse pronto. Talvez as
capacidades que havia adquirido quando era contrabandista
viessem a revelar-se úteis na realização desse intento. Mais quatro
ou cinco semanas a escrever dia e noite e, lograsse ele aguentar
esse ritmo de trabalho, iria também conseguir, de uma vez por
todas, conquistar a supremacia e impor a sua explicação dos
tremores de terra.
Por todo o lado, havia na cidade gente sem nada de seu, que
pretendia melhorar a sua sorte e tentava escapar à fome,
recorrendo a estratagemas, alguns honestos, outros porventura
menos sérios. Eram subterfúgios que podiam começar na recolha
de garrafas de vinho vazias, que eram entregues aos vinhateiros em
troca de um pequeno valor, mas que não se detinham perante o
roubo de carteiras.
Começara já a reencontrar rostos conhecidos de há muito entre
os sobreviventes do terramoto. Recetadores, com os quais, outrora,
quando era contrabandista, fizera negócio. Vigaristas que já antes
da catástrofe se dedicavam a negócios sujos. Os seus moços de
recados andavam pelas esquinas como dantes, tomavam nota das
casas onde havia algo que se pudesse levar, entendendo-se através
de sinais secretos feitos com as mãos. Antero mantinha-se afastado
desse mundo, mas aquilo que observava levava-o a pensar que, em
tempos de necessidade como aqueles em que viviam, o submundo
parecia florescer. A escassez poderia, obviamente, proporcionar
bons negócios. Era alto o valor de um pedaço de carne, de um
relógio roubado, de dois ovos abarbatados algures ou de um chapéu
alto. Alguns dos ladrões reconheciam Antero. Olhavam-no
diretamente nos olhos, sem que o rosto revelasse qualquer
expressão, cumprimentavam-no com não mais do que um baloiçar
do pé ou um movimento quase impercetível das mãos que pendiam
frouxamente.
Parou diante de uma casa que havia sido construída com pedras
retiradas dos destroços. Ao longo das últimas semanas vira com
alguma frequência larápios a entrarem para ali. A poeirenta parede
da frente não lhe inspirava muita confiança. Com a mão, deu uma
pancada na porta, que se abriu de imediato.
Lá dentro o ambiente estava escuro e fresco, mas com um fedor a
vísceras a apodrecer. Junto a umas escadas viu peles de animais
penduradas a secar, à direita destas, uma sala com mesas de
pedra. Do teto pingava sangue. Do andar superior ouvia-se o ruído
de facas que cortavam carne e rachavam ossos. Era um açougue. O
facto de não haver ali soldados de guarda veio confirmar a sua
suspeita. Nos dias que corriam, a carne valia tanto como o ouro,
mas, no submundo de Lisboa, qualquer um sabia que com aqueles
que tinham tomado conta desta casa era melhor não se meter.
Subiu as escadas. Lá em cima deu de caras com um magarefe
que esquartejava um porco. Antero observou o avental manchado
de sangue, os braços fortes e o nariz já partido em vários sítios. Não
se lembrava do nome do tipo, mas conhecia-o de vista.
O homem olhou brevemente para cima. Em redor da sua boca
esboçou-se um sorriso.
– Voltaste ao negócio, Jean?
– Preciso de armas.
O magarefe colocou de lado a cabeça do porco que acabara de
separar e começou a serrar as costelas.
– Vai ter com o
Ruivo. Conheces?
– Sim – esse recetador comprara-lhe em tempos, e por um bom
preço, canela de Ceilão que ele contrabandeara. – Onde o
encontro?
– Fora da cidade. Lá onde têm os fornos para cozer os tijolos.
– Muito bem – disse Antero, e virou-se, fazendo tenção de ir
embora.
– Se tiveres alguma coisa que precises de vender vem ter comigo.
– Logo se vê.
Antero deixou o açougue. Apressou-se a descer a rua. Ao passar
por uma mulher que tentava vender fósforos a toda a gente que
passava, virou para o lado. Numa casa mais à frente, dois
estropiados bulhavam pelo melhor lugar para mendigar.
– A esquina é minha! – repetia um deles vezes sem conta.
– Desde quando? Afinal desde quando? Eu é que estive aqui
ontem! – respondia-lhe o outro, enraivecido.
Antero passou pelas portas da cidade. Um autêntico mar de
milhares e milhares de barracas estendia-se diante dele. Os bairros
de refugiados, que haviam sido instalados pelo secretário de Estado
do Reino como blocos separados, cresciam sem parar e cercavam
já toda a cidade. Parecia que os habitantes de Lisboa estavam a
montar um cerco à sua própria cidade. Formando longas filas,
artífices e operários dirigiam-se para lá, para os estaleiros das
obras.
Esses bairros de refugiados eram perigosos. Portugueses viviam
lado a lado com espanhóis, irlandeses lado a lado com franceses,
polacos lado a lado com flamengos. Todos eles passavam fome.
Muitos estavam suficientemente desesperados para atacar qualquer
pessoa, nem que fosse para obter apenas uma peça de roupa ou
alguns trocos. Não poderia arriscar-se a vaguear por ali durante
muito tempo.
Antero virou junto às barracas e olhou para o céu. Orientou-se
pelas colunas de fumo que os fornos para cozer tijolos emitiam. Na
beira do caminho, estava uma mulher de faces encovadas a
amassar pão, por pouco que Antero não a derrubava. A mulher
acrescentava cinzas à massa, pois a farinha era demasiado cara
para os habitantes das barracas.
Um pouco mais adiante, dois rapazes carregavam feixes de lenha
miúda. Um grupo de jovens magros ficou a observá-lo enquanto ele
passava. Melhor seria que não estivesse assim tão bem vestido!
Tivera bastante cuidado a empoeirar a peruca com pó de giz, com
vista a provocar no rei uma boa impressão, para além de ter
escovado a casaca. As suas botas brilhavam de terem sido
engraxadas. Naquele lugar, tudo isso dava nas vistas. Era com força
que o coração lhe batia no peito. Afastou-se dos jovens com passos
largos e virou à esquerda numa ruela entre as barracas. Os fornos
já não estavam longe dali.
Parou, espantado. Aquele não era o recetador? Já há muito
tempo que não o via, mas parecera-lhe que conhecia aquele tipo
alto e ruivo que ali estava sentado diante da barraca e que desferia
pancadas em pedras das ruínas para despegar o reboco ainda
nelas preso. A sua barraca era feita com traves e esteiras de palha,
o telhado não era mais do que um pedaço de lona. Era esse o
aspecto que tinha a maioria das barracas ali existiam.
Ficou parado diante do homem e limitou-se a dizer calmamente:
– Preciso de pistolas.
O
Ruivo olhou para a cara de Antero.
– Já há muito que não te via.
– Andei ocupado.
O recetador levantou-se e entrou na barraca.
Sem sequer esperar que o convidassem, Antero seguiu-o. Estava
escuro lá dentro. Dezenas de caixas ocupavam o espaço interior,
como que à espera de ser levadas. Não vivia ali ninguém, não havia
sequer lugar para estender um colchão ou pôr uma cama. A barraca
era um esconderijo para artigos roubados.
– São duas boas peças – disse o
Ruivo, estendendo algo envolto
em cabedal na direção de Antero. Com breves movimentos dos
braços abriu-o. Ainda parcialmente ocultos pelo couro, os canos de
duas pistolas reluziam. – Vêm com dez balas, mais os cartuchos.
Antero segurou nas pistolas. Nos seus dedos sentiu o frio dos
canos, onde tinham sido lavrados ornamentos. As armas eram
idênticas, como se fossem gémeas. De imediato, lembrou-se de
Dalila e Leonor.
– Quanto queres por elas? – perguntou.
– Quatro cruzados.
Era menos do que esperava. Ainda assim disse:
– Três. Não te dou mais do que três.
– Pode ser.
Enquanto Antero contava as moedas de ouro que ia retirando da
sua bolsa, o
Ruivo olhava-o serenamente. Recebeu-as e estendeu a
Antero o resto do invólucro de couro.
Antero já ia a sair, mas foi então que o
Ruivo lhe disse ainda:
– Na semana passada alguém perguntou por ti.
Antero deu meia-volta.
– Quem foi?
– Está escondida ali nas barracas. Tens inimigos para quem ela
esteja a trabalhar?
– É bem possível. Onde a encontro?
– Na terceira fila a partir daqui, na décima quarta barraca.
– Obrigado.
O
Ruivo acenou com a cabeça.
– Bem-vindo de volta. Aceito tudo, tabaco, papel, açúcar, pólvora.
Antero saiu. As pistolas davam-lhe agora uma sensação de
segurança. Foi passando pelas filas de barracas, até chegar à
terceira, altura em que virou. Contou-as desde a esquina. Nove,
dez, onze, doze, treze. Após uma breve hesitação chegou-se junto
da entrada da décima quarta barraca e perguntou:
– Avó? Estás aqui dentro?
Não recebeu qualquer resposta.
Ergueu a esteira de palha e espreitou para o interior. A barraca
continha uma enxerga em mau estado e uma caixa de madeira
toscamente carpinteirada onde se podia ler a inscrição «Tabaco
Brasileiro». Não se via vivalma. Antero entrou e ajoelhou-se diante
da caixa. Abriu-a com todas as cautelas. No seu interior estava um
saco de arroz quase vazio e uma lata que cheirava a bacalhau seco.
A barraca foi inundada pela luz. Alguém entrou e Antero viu uma
sombra projetada na parede. Com um gesto rápido, sacou de uma
das pistolas do invólucro de cabedal, virou-se e apontou-a à pessoa
recém-chegada.
– Antero?
Diante dele viu Leonor. O cabelo, de um louro escuro, estava
enredado e caía-lhe da cabeça como se fosse um trapo velho. Os
olhos azuis, porém, reluziam como safiras no meio do seu rosto
coberto de sujidade.
– Queres dar-me um tiro? – perguntou ela.
30
Gabriel Malagrida apoiou-se numa árvore. Doíam-lhe as pernas da
subida. Não admirava que ninguém ali fosse. O caminho até lá era
um tormento, e nada mais ali havia a não ser aquela mofenta ruína
do palácio inacabado, que cheirava a húmidas imundícies. As
paredes cobertas de musgo encontravam-se cercadas de silvas e
árvores nodosas. Era como se se estivesse no pátio mais recôndito
de Lisboa.
Limpou a transpiração do rosto com a manga. Já se desabituara
àquelas correrias. Já só costumava sair na liteira. Como se fosse
um prisioneiro, andava escondido, sentava-se por detrás dos
cortinados vermelhos, enquanto aqueles quatro tipos imprestáveis o
baloiçavam pela cidade. Quando julgavam que ele não conseguia
ouvi-los, comentavam que as barras da liteira até se curvavam, ou
então queixavam-se de que as correias de cabedal lhes vincavam
os ombros. Cambada de preguiçosos. Enquanto não lhe fosse
revogada a ordem que o exilara em Setúbal, não lhe restava outra
hipótese senão aquilo. E podia dar-se por contente que os seus
contactos em Lisboa lhe permitissem chegar à cidade sem ser visto.
Nas ruas só mesmo assim escondido é que podia andar.
Voltou a limpar o rosto. Antes de rezar, teria primeiro de recuperar
o fôlego. Chegou-se à beira da encosta. Lá em baixo avistava a
Baixa com os seus novos edifícios de pedra branca, envolta por
montes de destroços e ruínas de palácios, quais dentes cariados na
boca de um gigante. Era essa a cidade pela qual ele tanto ansiara
quando andava na selva brasileira, aquela com cujas ruas ele havia
sonhado, quase tão frequentemente como com Menaggio. Era isto
que restava da cidade mais importante logo a seguir a Londres,
Paris e Nápoles, da que ainda não há três anos era o mais
conhecido entreposto comercial do mundo.
Conseguia ver o Mar da Palha. Era junto à linha do horizonte que
o Tejo desaguava no Atlântico. Antes, toda aquela extensão estivera
repleta de navios. Hoje, só o Sol refulgia sobre as ondas, e umas
poucas naus, já velhas, estavam atracadas no porto. A maioria dos
navios havia alterado as suas rotas. Eram amantes de pouca
confiança.
Uma gaivota pousou no chão diante dele e fitou-o, curiosa,
olhando para cima. Ele chegou-se junto dela, que saltitou até à beira
da encosta. Malagrida seguiu-a. A gaivota estendeu as asas e foi ter
com as outras da sua espécie que revoluteavam sobre a cidade.
As terras em redor de Lisboa estavam repletas de barracas,
semelhantes a pústulas castanhas. Eram às dezenas de milhares
que aí viviam, aqueles a quem o terramoto tudo tirara. Os nobres
em Belém, Setúbal e na Baixa, por seu turno, esses já tinham
voltado a ler jornais. Bebiam café com leite e açúcar e jogavam
bilhar. Nunca ficavam a perder. E também os judeus se tinham saído
bem, uma vez que já bem antes do terramoto haviam discretamente
transferido tudo o que possuíam para Londres, Amesterdão ou
Ruão, para que, no caso de serem condenados em algum processo,
a Inquisição não lhe deitasse a mão.
Porque haviam os Jesuítas sido tão fortemente atingidos? O
inimigo deles triunfara. Sebastião de Carvalho fizera com que os
índios tivessem deixado de estar sob a alçada dos Jesuítas, sob o
pretexto de que estes pretendiam fundar uma espécie de reino
jesuíta no Brasil, um Estado autónomo. Sebastião de Carvalho
encerrara a Universidade que tinham em Évora. A pouco e pouco,
minava-lhes as fundações, para no fim os reduzir a um monte de
escombros e pó. Os Jesuítas estavam no caminho da sua sede de
poder. E ele, Gabriel, que com tanta veemência desaconselhara o
rei de tornar aquele individualista o seu secretário de Estado do
Reino! Confiara em que os nobres iriam conseguir impedir que ele
se mantivesse no cargo. No final de contas, fora aos Jesuítas que o
rei retirara o apoio, e não a ele. Existiam em Portugal centenas de
homens melhores e mais merecedores do que Sebastião de
Carvalho. E aqueles molengas tinham-se conformado com o facto
de o rei o haver nomeado.
Para não falar do próprio rei! Enquanto Sebastião de Carvalho
tratava dos assuntos da governação, Dom José I entregava-se aos
seus prazeres. A equitação, os jardins, o teatro, os jogos de cartas,
a música: tudo isso era para ele mais importante do que o seu
Reino.
Só existia uma maneira de resolver a questão. O nó górdio teria
de ser desfeito. Gabriel inspirou profundamente. Cerrou os punhos e
voltou a desfazer esse movimento. O rei, o secretário de Estado do
Reino e o desleal Antero, todos esses três iria ele esmagar com um
só golpe. Arquitetara aquele plano durante anos, era perfeito.
Ajoelhou-se e fechou os olhos.
– Senhor dos exércitos celestes, fui eu quem levou a verdadeira
fé aos índios. Ofereci-me para o sacrifício. Por que razão Te man-
téns em silêncio? Eu cumpro a minha tarefa! – enfiou as mãos na
terra. – A Moisés trataste Tu melhor do que a mim e Moisés era um
assassino! Peço-te, por favor, meu poderoso Deus, envia-me uma
visão. Deixa que eu seja o Teu profeta! Estou pronto para sê-lo.
Manteve-se ajoelhado e imóvel, à espera. Pressionou as
pálpebras com tanta força que parecia haver raios a dançarem-lhe
diante dos olhos. Foi então que, no interior da sua cabeça, soou
uma voz que lhe disse: «Seu molengão! É contigo que queres que
Eu fale? Trabalha com mais afinco! Prova-Me que serves para
alguma coisa!» Surgiu-lhe na mente a expressão sarcástica do rosto
do seu professor particular, enrubescido de gozo e excitação,
quando, com um bastão, batia nos dedos de Gabriel, uma e outra
vez, até estes ficarem em ferida e sangrarem.
Arregalou os olhos. Aquela voz era apenas uma invenção sua,
sabia que aquele não era Deus.
– Se não falares comigo – ameaçou ele –, terei de agir por minha
própria iniciativa. Se assim for, eu mesmo trato do que há a tratar –
Deus não reagiu. – Por favor – murmurava ele –, por favor mostra-
Te a mim, só uma vez – voltou a fechar os olhos. – Se me amas,
mostra-Te a mim. Nada desejo com mais veemência do que ver-Te.
Preciso que me atribuas uma missão.
Deus manteve-se em silêncio.
Foi-se abaixo. «Não estou à altura», pensou. «Deus abandona-
me porque não me esforço o suficiente.»
***
Antero levantou-se. Mantinha a pistola apontada a Leonor.
– Continuas sem ter aprendido nada? – o coração de Antero
parecia bater aos solavancos, por estar contente de a ver. Ao
mesmo tempo, porém, era como se sobre a sua pele corresse água
gelada, tal a aversão que sentia. Detestava-a e, no entanto, amava-
a. Queria lançar-se nos braços dela e simultaneamente desejava
que a pistola estivesse carregada para que pudesse matá-la. – Que
foi que os Jesuítas te ofereceram desta vez?
– Já não possuo nada, Antero. Há três anos que, tal é a fome que
passo, até como côdeas sujas – disse aquilo serenamente e, no
entanto, as suas palavras possuíam arestas afiadas. – Queres vir
novamente acusar-me de alguma coisa? De quê, desta vez? De
trabalhar até ficar com as mãos calejadas? És tão presunçoso!
Introduziste-te na minha barraca, remexes na minha caixa,
ameaças-me, como se eu fosse uma criminosa. Tu é que devias ser
acusado!
Durante uns instantes ele assumiu a verdade existente nas
palavras dela, sentindo as faces ruborizarem-se e aquecerem da
vergonha que sentiu. No entanto, logo de seguida recordou-se de
como os espiões que trabalhavam para Malagrida podiam ser bons
na arte da dissimulação. Por muito que Leonor parecesse ter
tomado consciência do seu aspecto miserável, a verdade é que
poderia muito bem estar a representar um papel qualquer. O facto
de ela se ter ido informar a respeito dele poucos dias antes do
assalto não fora decerto um acaso!
– Alguém entrou na minha casa. Fui roubado. Tens alguma coisa
a ver com isso?
– Estás a ver fantasmas.
Leonor envergava o mesmo vestido com que a vira da última vez.
O tecido de damasco verde apresentava-se já puído em diversos
lugares. Tinha nódoas. Os botões haviam sido arrancados. Antero
ficou pasmado. O seu olhar ficou preso nos contornos redondos e
bem definidos de um objeto que ela trazia guardado acima do peito.
– Já chegámos a isto… – comentou ele em voz baixa. – Malagrida
ofereceu-te um dos seus relógios de bolso de prata.
Deu dois passos rápidos em frente e agarrou no vestido de
Leonor junto à orla do decote. Tentou pôr à vista o fio prateado,
puxando-o para fora do decote.
Contudo, não era um relógio que lá estava pendurado. Do fio
pendia uma pequena caixinha azul-escura, com uma representação
da deusa Afrodite. Com o seu brilho, destacava-se da pele suja de
Leonor. Esta respirava depressa, Antero conseguia ver como o seu
peito se elevava e voltava a descer.
– Que é isso? – perguntou ele.
– Já não sabes? – replicou ela, num tom que soou atormentado.
– Devia saber?
A caixa era um objeto caro e requintado. Os cantos da boca de
Leonor tremeram e aos seus olhos arregalados assomaram
lágrimas.
– Foste tu que ma deste.
Foi então que lhe sobreveio a recordação. Fora num dos seus
primeiros encontros. Introduzira-se secretamente no palácio do
barão. Apenas a lua cheia iluminava o quarto dela. Junto à janela
ele oferecera-lhe uma caixinha cheia de mouches, pequenos sinais
de beleza para aplicar na pele, feitos de seda, que tinham a forma
de estrelas e luas. Leonor usara-os frequentemente. Quando se
encontravam, ele costumava, em jeito de cumprimento e de
brincadeira, tocá-la no sítio onde ela colocara o sinal.
– Por que razão guardaste isso?
Ela dirigiu o olhar para o chão.
– Por favor, deixa-me em paz.
– Afinal de contas disseste que sou presunçoso!
– E apesar disso amo-te – murmurou ela.
Houve nele algo que desabrochou. Engoliu em seco.
– Nas tuas recordações, Julie é perfeita e ninguém consegue
chegar-lhe aos calcanhares – disse-lhe ela.
– Que tem isto a ver com Julie?
– Sei bem que a amaste muito e que jamais permitirás que uma
outra qualquer ocupe um espaço no teu coração. No entanto, esse
amor que tu procuras é uma ilusão. Em breves noites, achamos que
é realidade. E de cada vez chega a manhã e, com a manhã, o
reconhecimento de que somos estranhos um para o outro e que
essa condição de estranheza nunca desaparece por completo. Essa
ânsia de perfeição e completude no amor, não há ninguém que
consiga resolvê-la, Antero.
– Deixa a Julie fora disso.
– Mas será ela uma deusa cujo nome não possa ser
pronunciado? Não havia também alturas em que ela era para ti uma
estranha? Nunca te magoou? Nunca te tratou com frieza? Ela tinha
com certeza hábitos que tu não suportavas. Só te esqueceste disso
porque queres sonhá-la assim, sem falha alguma. Nunca se riu na
companhia de outro qualquer, não a odiaste nessa altura?
Antero largou-a e deu um passo atrás.
– Não me vais envenenar a imagem que tenho de Julie.
– Estou a abrir-te os olhos, é só isso. Refleti muito acerca de ti
estes últimos anos. Creio que andas em busca de algo que não
conseguirás encontrar. Achas que Dalila teria sido para ti o
verdadeiro amor? Sim, ela era uma boa pessoa. Sinto saudades
dela todos os dias. Mas era fraca, Antero, e em dada altura a
fraqueza dela incomodar-te-ia. Era capaz de reclamar a
comiseração dos outros, mesmo que só tivesse sentido ainda os
indícios de uma constipação. Não dizia nada, mas olhava para nós
com um ar muito miserável e ficava à espera de que tratassem dela.
A Dalila era supersticiosa, sabias disso? Ela achava que as suas
muitas imagens de santos, quais bonecas, a ajudavam. E a Dalila
sobrestimava-se. Julgava-se mais esperta do que todos os outros.
Até mesmo a «Santa Dalila» era capaz de desprezar pessoas. Eu
amo a minha irmã, mas também ela não era perfeita. A certa altura
irias odiá-la como me odeias a mim, porque a certa altura ela
magoar-te-ia.
Leonor estragava tudo com aquela conversa. Se se tivesse
mantido calada, se se limitasse a olhá-lo, Antero ter-se-ia tornado
mais afável. Contudo, o facto de atacar todos os demais, ao invés
de admitir as suas próprias fraquezas, irritava-o.
– Que estranho, são sempre os outros que cometem erros… –
comentou ele.
– Não preciso de te enumerar os meus. Tu vives as
consequências deles. Mas a respeito de Julie e de Dalila podes
entusiasmar-te a tua vida inteira, pois não haverá realidade que te
destrua os sonhos.
– Continuas a desmentir que colaboras com os Jesuítas? –
perguntou ele com aspereza.
– Achas que, se assim fosse, estaria aqui? – apontou para a
enxerga esfarrapada. – Passaria fome todas as noites, de tal modo
que mal consigo adormecer?
– Estás a mentir. Se não continuasses a colaborar com os
Jesuítas, já há muito que terias ido para junto dos teus familiares.
– E estive lá. A minha prima morreu.
– Mas a tua mãe continua viva e é abastada. Poderias ter voltado
para a Alemanha.
Leonor abanou a cabeça.
– Ah, Antero! Achas que deveria ir lá para ver como ela ficaria
satisfeita com a notícia de que o pai foi desterrado para Angola?
Pensas que deveria ir lá conhecer o seu novo marido e ser por ele
tratada como se fôssemos parte da mesma família? Ela já nos
negligenciou que chegasse. Não vou lá para rastejar diante dela.
Leonor emagrecera. As faces estavam cavadas. Naquele rosto
mais estreito, os olhos azuis pareciam ainda maiores. Não estaria
ele a ser injusto com ela?
– Por vezes, acho que a vida de antes não passou de um sonho.
Parece-me algo irreal. Os passeios, os cafés com as amigas, os
vestidos, as comidas exóticas. É como se tudo isso não tivesse
acontecido.
Antero observou a boca de Leonor enquanto ela falava. Os seus
lábios encantavam-no. Apesar de estar assim suja, a sua beleza
não deixava de ser notória. E nela havia uma novidade. O
sofrimento conferira-lhe sabedoria. Guardou a pistola no cabedal
que a envolvia.
– Já não me queres matar? – perguntou ela.
– Não – fechou o embrulho de cabedal. – Por favor, perdoa as
minhas suspeitas. Disseram-me que tinhas perguntado por mim.
Ela sorriu e respondeu:
– Isso é proibido?
– Sou capaz de precisar da tua ajuda. Não deverás continuar a
passar fome. Vem comigo para minha casa.
– Para onde?
– Para a Baixa. Vivo, com Samira e uma empregada, numa das
novas casas brancas. Lá poderás ter o teu próprio quarto. Samira já
está crescida, vais ficar espantada! E passa o dia inteiro a tagarelar
e a cantar. Precisa de alguém que se ocupe dela e que a eduque.
Ultimamente anda sempre com o meu lenço de bolso, quer eu lho
peça a bem ou ralhe com ela, recusa-se a devolver-mo. Creio que
necessita de quem fique com ela durante o dia. Sobretudo nas
próximas semanas. Vou ter de trabalhar dia e noite.
– As pessoas vão falar.
– E porquê? Por eu contratar uma ama? Vais ter que comer,
Leonor, e eu compro-te um vestido novo.
– Então é isso que serei, a ama de Samira?
Ele levantou-se e foi ter com ela.
– Não – inclinou-se e beijou-a na boca, demoradamente e com
grande intimidade.
Leonor retribuiu-lho.
Embora caminhasse ao lado de Antero, os habitantes da recém-
construída Baixa fixavam o olhar nela com desconfiança. Os
homens franziam a testa. As mulheres aguçavam o olhar,
semicerrando as pálpebras, e observavam Leonor com severidade.
– Esta gente não me quer por aqui – disse ela.
– Eles vão respeitar-te. Eu ocupo-me disso – prendeu o embrulho
com as pistolas debaixo do braço esquerdo e ofereceu-lhe o direito
para ela pousar a mão. – Não te esqueças de que há três anos
tinhas uma posição social superior à de muitas dessas pessoas.
Era bem verdade. Há três anos ela pintava o rosto de modo a
empalidecê-lo e desenhava a azul as linhas das veias. Mandava a
criada de quarto ir buscar rouge. Tinha vinte belos vestidos por onde
escolher. Há três anos deixava cair o seu lenço de bolso bordado a
seda para que um cavalheiro lho pudesse levantar do chão.
Agora, no entanto, era no chafariz que lavava a cara mal e
parcamente com água fria, usando um dia após o outro sempre o
mesmo vestido já remendado. Tinha de lutar pela sobrevivência. A
mimada filha de comerciante que em tempos fora parecia-lhe agora
uma pessoa diferente. Era uma rapariga pobre, que trabalhava nos
fornos dos tijolos e que, tal como dezenas de milhares de outros,
passava fome. Ainda bem que o pai não sabia disso. Se, no meio do
calor de África, ele ainda estivesse vivo, poderia ao menos consolar-
se com a ideia de que, junto da sua prima, ela estava bem provida.
– Ainda coxeias – disse ela, olhando para a perna direita de
Antero, que este arrastava um pouco a cada passo. Parecia não
conseguir dobrar o joelho.
– Sim. Uma pequena recordação do terramoto.
No cruzamento que atravessavam um operário, ajoelhado, batia
com um martelo envolto em farrapos, nas pedras da calçada que
colocara, para lhes conferir maior firmeza. De uma das entradas do
edifício ressoavam imprecações.
– Que descaramento, entrar assim por aqui – ralhava alguém. –
Desaparece daqui! Se te voltar a ver, mando-te prender!
Uma anciã já encurvada tropeçou porta fora.
– Só um pedaço de manteiga, senhor, ou um pouco de farinha!
– Esquece isso! Achas que a vida é fácil para nós?
A porta fechou-se atrás dela com força.
A anciã permaneceu ainda ali alguns instantes e alisou os cabelos
brancos, como que para compor o que restava da sua dignidade. O
vento voltou a deixá-los em desalinho. Seguiu, coxeando, pela rua
abaixo. Ia esticando a mão a cada uma das pessoas com quem se
cruzava.
Enquanto Leonor ainda ficou a vê-la afastar-se, Antero foi subindo
os degraus que conduziam à entrada do edifício, com três andares.
Na fachada, estavam integradas colunas, apenas como meras
alusões. No último andar, havia varandas que se projetavam para a
rua. Os seus balaústres estavam adornados com arabescos e flores
de ferro.
– Entra – disse ele depois de abrir a porta.
Leonor entrou para o vestíbulo.
– Como conseguiste uma casa destas? Com que dinheiro a
compraste?
– O rei proporciona-me um bom rendimento enquanto estou a
investigar as causas dos tremores de terra. – Virando-se para o
interior da casa, chamou: – Samira! Temos visitas!
– Ela vai assustar-se. Estou com um aspecto horrível.
Antero franziu a testa.
– Já te deste conta deste cheiro? A empregada deixou a comida
queimar.
Inclinou-se e pegou num dos brinquedos, um cavalo de madeira.
– Bento! – chamou ele, mas o silêncio reinava naquela casa.
Ao pé de Leonor havia uma porta encostada.
– A cozinha é aqui? – empurrou a porta. O cheiro dos legumes
queimados era quase insuportável. Um caco quebrou-se debaixo
das solas dos seus sapatos. Olhou para o chão. Havia loiça partida
espalhada por todo o lado. Numa frigideira, sobre o fogão, estavam
dois pedaços de comida enegrecidos. – Antero, ela ainda tem a
comida no fogão. Já há muito tempo que esta empregada trabalha
para ti?
A porta voltou a abrir-se. Antero ficou parado junto à ombreira.
Olhou em redor da cozinha. Engoliu em seco. O seu rosto
empalideceu.
– Vais mandá-la embora, não? – perguntou ela.
– Senti-me demasiado seguro – murmurou ele.
– Que queres dizer com isso? Achas que houve ladrões que...?
– Malagrida ficou à espera de que eu me desleixasse.
31
Um verme forçou a entrada através do pescoço de Bento. Foi-se
introduzindo cada vez mais pelo seu interior, chegou ao estômago e
começou a devorar-lhe as entranhas. Dava picadas dolorosas. O
verme ia dando dentadas. Bento já nem conseguia respirar bem.
Estava a sufocar. Voltou-se e lutou para conseguir vomitar o verme.
Tal era o esforço que fazia que por pouco ia ficando sem sentidos.
Algo duro bateu-lhe no flanco.
Ouviu o riso de crianças.
Abriu os olhos com esforço. Dobrados por cima dele estavam dois
rapazes, um deles com um pau na mão, que apontava a ele. Quis
levantar-se de um salto, mas as patas não lhe obedeciam. Estava
deitado de lado, sobre o duro chão de pedra, e nem sequer
conseguia mexer-se.
Um dos rapazes sacou de uma navalha.
Bento reuniu todas as forças de que dispunha e rosnou.
Os rapazes assustaram-se. Lançaram fora o pau e fugiram a
correr.
Donde viria aquele cheiro pungente? Pestanejou. Diante do seu
focinho estava uma poça de vomitado. O cheiro deixava os seus
sentidos meio atordoados. Fora ele que expelira aquilo? Estirou o
corpo. Por fim, foi começando a conseguir mexer as patas traseiras.
Arrastou-se para mais longe daquela papa malcheirosa.
Não se sentia nada bem. Ganiu.
Encontrara um pedaço de carne nas traseiras do prédio e comera-
o. O verme! Será que conseguira vencê-lo? As patas dianteiras de
Bento estremeceram. Sentia uma sede terrível. Ergueu a cabeça.
Sentia dores ao tentar esticar o pescoço. Com um solavanco
levantou-se e pôs-se de pé, cambaleando depois alguns passos.
Devia ter comido alguma coisa que não estava boa. Não iria sequer
tocar mais naquilo que vomitara.
Sentia dificuldades em andar. Estava com tonturas, mas
conseguiu chegar junto da porta. A sua pequena dona tinha de
ajudá-lo. Iria dar-lhe de beber. Pôs-se a ladrar.
Ninguém veio abrir-lhe a porta.
Voltou a ladrar.
A casa permanecia em silêncio. À janela da casa vizinha assomou
um vizinho que se pôs a ralhar-lhe. Bento conhecia-o. O homem não
gostava que ele ladrasse. Bento baixou a cabeça e farejou. A
pequena dona estivera ali, não podia ter sido há muito tempo. A
pista indicava que ela saíra porta fora. A pequena dona devia ter-se
ido embora sem o levar.
Bento pôs-se a seguir a pista. Manteve o nariz bem junto do chão
e desceu as escadas. De repente, a meio da rua perdeu a pista. Em
vez desta, deu-se conta do cheiro acre de um cavalo. Se não se
sentisse tão tonto…!
Ergueu a cabeça. Já vira que, por vezes, as pessoas se sentavam
em cima dos cavalos, ou então, entravam numa caixa, que era por
eles puxada. Tinha medo destas caixas, eram rápidas e faziam
muito barulho ao andar pelas ruas.
Se a dona tivesse saído dali numa dessas coisas puxada por um
cavalo, então poderia seguir a pista deste. Bento vasculhou o chão
em busca de pistas. O cheiro a cavalo afastava-se em duas
direções opostas. Optou por ir para a esquerda.
Estava agitado. A sensação de tontura deixou de ser importante.
Bento partiu em busca. Ia sempre verificando o chão, a ver se a
pista se mantinha. Desceu a rua, virou para um dos lados, e
avançou por essa rua. Havia pistas de outros cavalos, que se
cruzavam com aquela, mas nenhum outro cheirava como aquele
que Bento seguia: era um odor a azeitonas esmagadas e
apodrecidas. Era fácil acompanhar aquela pista.
Já na orla da cidade, pôs-se a beber de uma poça. Alguns passos
mais adiante encontrou um pedaço de tabaco de rapé ali perdido,
que cheirava a boi. Quando, seguindo pela estrada, começou a
atravessar os campos, descobriu, à beira do caminho, um tufo de
cabelos ruivos. Farejou-os. Tinham o maravilhoso cheiro da sua
pequena dona. Como podia ela perder o seu pelo? Aquilo inquietou-
o.
Leonor tentou acompanhar o passo apressado de Antero. Passaram
diante da oficina de um ferreiro. A agitação dele parecia acelerar
tudo, o claro retinir das pancadas do martelo, o resfolegar do fole, a
própria respiração de Leonor.
Ainda sentia nos lábios o sabor do seu beijo. Há tanto tempo que
ela ansiava por estar junto de Antero! Quantas vezes pensara nele!
E eis que ele viera ter com ela, no entanto tudo agora se
apresentava bem diferente daquilo com que sonhara. Acontecera
algo de grave. Samira estava em perigo. Ela tinha de ajudar.
Antero pisou uma poça, mas nem sequer sacudiu a água das
botas. Limitou-se a continuar a andar. A chaminé lançava fumo para
o ar. Leonor sentiu o cheiro de carvão a arder e de ferro em brasa.
Antero cerrou os punhos.
– Ele sabia, aquele filho de uma puta – disse. – Ficou à espera
até que, depois do assalto, eu saísse para ir arranjar maneira de me
proteger.
– Que pensas fazer? – perguntou ela.
– Vou libertar a Samira. E depois mato-o com as minhas próprias
mãos.
– Se ele raptou a Samira, deve contar que irás ter com ele.
– Por isso mesmo, vou buscar soldados. Raptar uma menina de
oito anos! Já devia era ter morto Malagrida mais cedo.
– Antero, tu não és um assassino.
– Ele raptou a minha filha! Outrora, quando ele conduziu a Julie à
fogueira, fiquei a odiá-lo. Mas hoje... Vou estrangulá-lo com as
minhas próprias mãos.
O modo como ele pronunciou aquelas palavras entre dentes e
como, ao fazê-lo, olhava em frente, ao invés de a encarar, provocou-
lhe receio.
– Antero, por favor não faças nada de irrefletido – disse Leonor.
Contraiu os músculos do maxilar. Continuou a andar em silêncio.
– Aonde nos dirigimos? – perguntou ela.
– Ao secretário de Estado do Reino. O rei não está muito
satisfeito comigo.
Diante deles estava a ser construída uma casa. Com a ajuda de
um sistema de roldanas, os operários içavam um bloco de pedra
branca para o terceiro andar. O andaime, sobre o qual se
equilibravam, vacilava.
– Não posso aparecer diante de Sebastião de Carvalho – disse
ela. – De certeza que não se esqueceu de mim nem do meu pai.
– Tens razão.
– Como posso ajudar-te?
Antero refletiu durante uns instantes.
– Vai em busca de Samira. Volta a casa e pergunta aos vizinhos
se viram alguma coisa.
– Está bem. E depois venho ter contigo, mas espero-te diante do
edifício onde fica o gabinete do secretário de Estado do Reino.
– Não. Malagrida já deve ter calculado de antemão cada um dos
nossos passos. Colocará espiões junto do rei e do secretário de
Estado. Melhor será que nos encontremos num lugar que ele
desconheça.
– E onde há de ser?
Ficou parado diante de uma casa de quatro andares e de aspecto
sumptuoso.
– Quando vais do Convento do Carmo em direção a Belém,
encontrarás uma amendoeira junto à margem do Tejo. Espera lá por
mim.
– Mas ali há inúmeras amendoeiras! Até Belém a margem do Tejo
está repleta delas.
– Esta está um pouco afastada das outras.
– Não sei se a consigo reconhecer.
Antero olhou para o chão.
– Tem um coração gravado na casca.
«Um coração!» Ela quis dizer qualquer coisa que soasse
indiferente, para que, naquele momento difícil, o seu ciúme não
dificultasse ainda mais a situação, mas não conseguiu mais do que
um aceno da cabeça.
– Rezemos para que a Samira ainda esteja viva – acrescentou
ele.
***
Antes de acionar o batente prateado da porta, voltou a olhar em
redor de si. As pessoas que estavam na rua pareciam-lhe
transeuntes perfeitamente comuns. Se entre elas houvesse um
espião jesuíta, então conseguira disfarçar irrepreensivelmente a sua
presença.
Bateu à porta. Um criado de libré veio abrir. Antero limitou-se a
dizer-lhe com brusquidão:
– Tenho de falar imediatamente com o secretário de Estado do
Reino.
Não permitiria que lhe recusassem a audiência. O criado de libré
deve ter-se apercebido disso, pelo que pestanejou por breves
instantes e disse:
– Siga-me, por favor.
Nas paredes, azulejos pintados representavam a nova Praça do
Comércio e o castelo. Numa sala que atravessaram ainda havia
operários a trabalharem: três homens aplicavam na parede um
revestimento de tecido com um padrão dourado.
O criado de libré abriu a porta que conduzia à biblioteca, deu um
passo para o interior dessa sala e disse:
– Senhor secretário de Estado, Antero Moreira de Mendonça
insistiu em falar imediatamente consigo.
Já antes Antero ali havia estado uma noite, a conversar com
Sebastião de Carvalho enquanto bebiam um copo de vinho, a
discutir as suas investigações. O secretário de Estado do Reino
levantou o olhar, que até então mantivera fixado na secretária.
Pousou a pena e fez deslizar a folha onde naquele momento
escrevia um pouco para a esquerda. O seu rosto não revelava
qualquer emoção. As longas rugas, que de ambos os lados do nariz
lhe percorriam a face até aos cantos da boca, mantiveram-se
imóveis. Ainda assim, o olhar severo denotava que aquele incómodo
não anunciado lhe desagradava.
– Passou-se algo terrível – informou Antero. – Gabriel Malagrida
raptou a minha filha. Por favor ajude-me. Não posso ir ter com o rei.
Preciso de soldados.
– Há quanto tempo está ela desaparecida?
– Não sei ao certo. Talvez não mais que algumas horas...
– Com base em que indícios concluiu que ela foi raptada?
O secretário de Estado do Reino tinha sempre uma abordagem
objetiva e sem rodeios.
– Houve uma luta na cozinha. Há lá loiça partida e a comida ainda
estava no fogão, já completamente carbonizada, quando regressei a
casa.
Pensativo, o secretário de Estado esfregou o queixo. De seguida
disse:
– Não poderá ter acontecido que a sua filha se tenha magoado na
cozinha e que, no meio da confusão, a cozinheira deixasse tudo à
pressa e se dirigisse com ela para o novo hospital? – ergueu a mão.
– Espere lá antes de dizer seja o que for. Nenhum de nós suporta o
padre Malagrida e a sua Companhia de Jesus. Acontece que eu já
tratei de bani-lo para Setúbal e, com isso, deixei o povo furioso. Ele
encontra-se sob proteção papal. Enquanto não tiver provas
concludentes, não posso deitar mais achas nesta fogueira. Todos
nós acabaríamos por nos queimar.
– E quer que eu deixe de acudir a Samira por o senhor ter receio
do povo? Também tem um filho. Não moveria céu e terra se ele
desaparecesse?
Um após o outro, o secretário de Estado do Reino foi rodando os
anéis dourados que tinha nos dedos.
– Posso incumbir o exército de procurar a sua filha – disse ele. –
Desde que não acusemos os Jesuítas de a terem raptado.
– Faça isso e ceda-me uma dúzia de soldados.
– Sabe tão bem quanto eu que, se isso acontecesse, iria tentar
fazer alguma coisa disparatada. Não lhe vou ceder soldados
nenhuns. Conseguiu avançar com as suas investigações?
Que lhe interessavam agora as investigações?! A filha deveria
estar assustada! Ou pior ainda, mas ele preferia nem imaginar.
Sebastião de Carvalho suspirou.
– Meu caro, quantas vezes lhe disse já que deveria entregar a
educação da sua filha a uma ama! O rendimento que o rei lhe
proporciona chega perfeitamente para isso. Não precisa de fazer
como os pobres diabos que têm de ser eles mesmo a tratar da sua
prole. E se uma ama estiver presente, a pequenita não mais fugirá
de casa nem se magoará.
– Samira foi raptada! – insistiu Antero quase a gritar. Chegou-se
junto da secretária. – O senhor conhece-me e sabe que tenho um
modo de pensar científico. Acredita mesmo que não refleti sobre
isto? Existem razões de sobra para presumir que os Jesuítas estão
por detrás deste rapto. Já se deu conta de que, nos últimos dias, os
simpatizantes da Companhia de Jesus andam por toda a cidade a
proferir discursos inflamatórios? E do que acha que os cúmplices
dos Jesuítas andaram à procura em minha casa? Estou prestes a
ter pronto um livro que irá explicar a origem dos tremores de terra –
o secretário de Estado do Reino franziu a testa. – Gabriel Malagrida
está de volta. E tem consigo a minha filha. Sei bem que, no que toca
ao padre, nada acontece por acaso. Ceda-me os soldados!
– E se for isso mesmo que ele pretende que aconteça?
– A velha raposa tem de novo a vantagem do lado dele. Ficámos
a dormir enquanto ele se manteve ativo. Se não reagirmos depressa
e de modo decidido, ele acabará por triunfar.
– Depressa e de modo decidido. Com isso quer dizer
«irrefletidamente».
– Pense em Samira. Ela tem apenas oito anos!
– Vi o cão – disse o homem –, mas de resto nada mais.
– Ele comportou-se de forma estranha? – perguntou Leonor. –
Ladrou ou rosnou?
– Não, nada disso. – o homem esboçou um sorriso largo. –
Estava ali deitado, até parecia morto. Passadas umas duas horas
pensei que o bicho tivesse por fim ido desta para melhor. Não
suporto ouvi-lo a ladrar. Só que, depois, ele afinal voltou a levantar-
se, porque um par de gaiatos queriam judiá-lo. Aquele rafeiro
desatou logo a ladrar outra vez. Se o senhor vizinho não fosse tão
querido das altas esferas, já há muito que teria tratado da saúde ao
seu cãozinho.
– Onde está o animal agora?
– Fugiu quando lhe disse que parasse de ladrar.
– Mas antes disso esteve aí deitado durante horas? Poderá ser
que alguém o tenha envenenado?
Os olhos do homem arregalaram-se.
– Está a pensar em acusar-me? É verdade que não suporto o
bicho, mas não me vou meter assim com esse Antero Moreira de
Mendonça! Que sei eu, se calhar o animal comeu aí qualquer coisa
estragada! Essas criaturas idiotas comem tudo o que lhes aparece à
frente.
– De resto, não viu nada invulgar?
– Mas a senhora é espia do secretário de Estado? – olhou-a de
alto a baixo. – Tem um bom disfarce.
– Obrigado.
Deixou-o ali e dirigiu-se para a casa de Antero. Entrou sem
sequer bater à porta. Vagueou pelas assoladas divisões da casa,
que ao todo eram dez: uma antessala, uma sala de jantar, uma sala
de estar para o verão, outra para o inverno, que se podia aquecer,
uma divisão que servia de escritório e biblioteca, e dois quartos com
roupeiros. Outrora, uma casa destas ter-lhe-ia parecido pequena e
acanhada. Agora, porém, depois de ter vivido três anos numa
sórdida barraca, afigurava-se-lhe bastante espaçosa. Luxuosa,
mesmo.
Voltou a entrar no quarto de Samira. Tinha uma janela que dava
para o pátio das traseiras. No chão haviam sido construídos, com
pequenas peças de madeira, cercados para os cavalinhos de
brincar, os quais estavam no interior desses cercados. Havia uma
cama de criança onde se empilhavam várias almofadas coloridas.
Sobre uma cómoda via-se, deitada, uma boneca.
Como estaria Samira? Se realmente tinha sido raptada, de
certeza que o autor não andava a brincar e a saltar à corda com ela.
Uma criança como Samira pouco poderia fazer para se lhe opor.
– Bondoso Deus, mantém-Te junto dela – pediu Leonor, em
oração. – Faz com que a encontremos depressa.
Atravessou o corredor e entrou no quarto de Antero. A prateleira
junto à sua cama fora esvaziada. Espalhadas no chão viam-se
folhas de um bloco de apontamentos, desordenadas e sem nada
escrito, como se uma tempestade tivesse assolado o quarto. As
gavetas da secretária estavam abertas.
Chegou até junto da cama, pegou na coberta e levou-a ao rosto.
Tinha impregnado o cheiro dele. Ficaria Antero furioso se soubesse
que ela estava ali no seu quarto, agarrada à sua coberta?
Em cima da cadeira colocada diante da secretária havia uma folha
de papel. Leonor pegou nela.
Queres voltar a ver a tua filha? Por enquanto, ela ainda está
viva. Hoje à noite, segue pela estrada que vai de Belém para a
Póvoa e para onde um ribeiro atravessa o caminho. Vem
sozinho e traz contigo tudo, o teu manuscrito, os apontamentos
a lápis e os esboços que fazes no teu caderninho. Conhecemos
perfeitamente os teus truques. Se tentares alguma coisa, a
pirralha judia vai passar mal.
Leonor fitou o papel. Sentiu um espasmo no coração. Com ele na
mão, apressou-se a descer a escada, deixou a casa, segurou na
saia e desatou a correr rua abaixo. Não tardou que a transpiração
lhe corresse pelas costas, no entanto, nem sequer parou para
descansar um pouco.
Quando, no edifício onde ficava o gabinete do secretário de
Estado do Reino, lhe abriram a porta, estava tão ofegante que foi
incapaz de dizer fosse o que fosse. Arquejava e apoiou-se na
ombreira da porta.
O criado de libré franziu a testa.
– A senhora pretende… ?
Foi com esforço que as palavras lhe saíram:
– Antero Moreira de Mendonça. Tenho de falar com ele. Ele está
com o secretário de Estado.
Pouco depois, na biblioteca, o secretário de Estado do Reino e
Antero leram a carta.
– Tenho de lhe pedir desculpa – disse Sebastião de Carvalho. –
Tinha razão, a sua filha foi realmente raptada. – Depois, olhando
para Leonor, perguntou: – E quem é a senhora?
– Esta é Leonor – disse Antero.
O secretário de Estado do Reino observou-a cuidadosamente.
– A filha do barão, aquele tal Martinho Velho da Rocha
Oldenberg?
Ela acenou afirmativamente com a cabeça.
– A minha filha está a passar mal – declarou Antero. – O senhor
leu. Ceda-me os soldados.
– Serão postos à sua disposição.
***
Ainda lhe doía o couro cabeludo, embora tivessem passado já
cerca de duas horas desde que os homens lhe haviam puxado os
cabelos. Tinham-lhe batido, cuspido nela e também troçado,
chamando-a «pequena porca judia». Samira sentia-se entorpecida.
Sentia-se como se estivesse morta.
Os homens tinham matado Bento. Durante o tempo todo ela viu-o
diante de si, jazendo, junto à entrada das traseiras, as patas
estendidas, a cabeça assente no duro chão de pedra.
– Nunca te vou esquecer, Bento, nunca… – murmurava.
Será que os cães também iam para o Céu? Nesse caso ela queria
morrer, para poder estar com ele. Queria passar-lhe as mãos pelo
pelo, deitar o rosto sobre o seu dorso quente. Queria brincar com
ele pelos campos e ensinar-lhe novos truques. De certeza que no
Céu também existiam campos.
Samira afastou o saco esfarrapado que os homens lhe tinham
dado, e deitou-se sobre o chão de pedra. Estava pronta.
– Meu querido Deus, já não quero viver mais. Por favor, deixa-me
morrer.
– Então, ó pirralha pequena, tens sede? – perguntou alguém
através da porta.
A tranca foi arrastada para o lado e a porta abriu-se, deixando
entrever uma frincha. Um homem de barba espreitou lá para dentro.
De seguida a porta abriu-se de par em par. Trazia consigo um jarro
e uma caneca.
– Como se há de saber quanto uma criança precisa de beber?
Bem, cá está… – verteu uma grande quantidade de água para a
caneca. Metade foi por fora e caiu ao chão. – Toma – disse ele,
estendendo-lhe a caneca.
Ela despejou a água e devolveu a caneca.
– Que vem a ser isto? – berrou ele. Voltou a encher a caneca,
pousou o jarro no chão e agarrou-a pelos cabelos. Foi assim que a
puxou para cima. – Vais beber! Vais viver enquanto nós quisermos
que vivas! – empurrou-lhe a caneca contra a boca.
O couro cabeludo doía-lhe terrivelmente.
– Deixa-me!
A água gorgolejava-lhe na boca. Escorria-lhe pelo pescoço e pelo
vestido abaixo. Ia-se engasgando.
De repente, o homem deixou cair a caneca e deu meia-volta.
– Merda! – exclamou ele. – O cão está aqui!
– Que cão? – perguntou uma voz vinda de fora.
O homem largou a cabeça dela. Samira tossiu. Virou-se na
direção da porta. Bento? Estava vivo! A abanar a cauda, chegou até
junto dela, que se acocorou e lhe passou carinhosamente a mão
pela cabeça e pescoço. Bento lambeu-lhe o rosto.
– Bento, estás vivo!
– O cão está aqui dentro – gritou o homem. – Juro que é o dela!
Samira pôs-se de pé.
– Agora tens medo, não é? – acercou-se do homem, com Bento
ao seu lado. – Ataca, Bento! – ordenou ela.
Bento rosnou e arreganhou os beiços. A sua afiada dentadura
ficou bem visível.
O homem recuou lentamente, sem nunca tirar os olhos da boca
de Bento. Por fim, deu apressadamente três passos para o exterior
e fechou a porta. O ferrolho rangeu quando ele o fez deslizar.
– Temos de nos ver livres do cão – disse em voz baixa. – Vou
matá-lo a tiro.
– Se acertas na miúda, deixamos de ter com que negociar. E
Malagrida logo nos trata da saúde.
– Abro a porta de repente e disparo.
– Nem pensar nisso. Podes acertar na miúda. É preferível dar-lhe
veneno.
– Onde queres que vá arranjar carne, agora, assim sem mais?
– Mata uma gralha a tiro. Alguma coisa há de haver por aí. Já
bem basta que ele nos tenha encontrado. É perigoso.
Samira acocorou-se.
– Bento, não podes comer aquilo que eles te derem. Ouviste o
que eu disse? Está envenenado. Não podes comer nada, dê por
onde der!
O couro cabeludo doía-lhe tanto que ela até estremecia.
Confuso, Bento ergueu as sobrancelhas. Abanou a cauda.
– Não! – com as mãos, pegou na cabeça dele e olhou-o
firmemente nos olhos. – Não comas nada. Estes homens são maus!
Querem fazer-te mal!
Bento soltou um breve latido. Depois começou a lamber-lhe as
mãos. Decerto não tinha percebido aquilo que ela lhe dissera. Lá
fora ouviu-se um tiro. Que haveria ela de fazer quando o homem
chegasse com a carne envenenada?
Conseguira recuperar Bento. De certeza, que não iria perdê-lo
uma segunda vez. Pôs-se a pensar. Como poderia ela distraí-lo da
comida? Com comida ainda melhor. Olhou em redor. Viu apenas
uma bacia de lagar vazia. Se aqui houvesse alguma coisa que se
pudesse comer, decerto que Bento já o teria farejado.
Tinha de lhe dar uma missão para ele cumprir. Ele ficaria à espera
de receber uma pequena gulodice como recompensa, algo que seria
bem mais delicioso do que a carne crua dos raptores.
– Vai buscar a bola! – ordenou ela.
Bento desatou à procura. Com o focinho junto ao chão,
esquadrinhou todo aquele espaço, procurou debaixo da bacia, nos
cantos, farejou o saco esfarrapado. Depois, regressou para junto
dela. Veio a abanar a cauda e ficou a olhar para ela.
– Eu sei, não há aqui bola nenhuma.
Ele já conseguira encontrar o caminho até aqui. Voltaria a fazê-lo.
Se fosse até junto de Antero, conseguiria trazê-lo até ali. Samira
tirou do bolso o lenço do pai e desdobrou-o. Há semanas, desde
que ele tinha menos tempo para estar com ela, trazia o lenço
consigo, que talvez ainda conservasse o cheiro de Antero. Segurou-
o diante do focinho de Bento.
– Vai procurar o meu pai!
Bento tocou com o focinho no chão e voltou a erguê-lo, olhando
para cima. Parecia não estar mesmo a perceber aquilo que Samira
pretendia dele. Como poderia ela explicar-lho?
Segurou-o pelo cachaço e conduziu-o por aquele espaço.
– Busca! – disse ela.
Ouviu vozes lá fora que se aproximavam.
Bento ganiu. Não parecia entender aquilo que ela pretendia dele.
Samira amarrotou o lenço, atirou-o e disse:
– Vai buscar!
Bento disparou na direção do lenço, abocanhou-o e trouxe-lho.
Samira tirou-lho da boca. Que poderia ela fazer para que ele
pensasse no pai dela? Apontou para o chão, tal como Antero
costumava fazer. Além disso, com um tom austero, a imitar aquele
que o pai costumava usar com o cão, disse:
– Bento! Vem cá!
O animal ficou parado. Olhou-a, espantado.
O ferrolho voltou a deslizar e a porta começou a abrir-se.
Samira estendeu o lenço a Bento, deixou-o farejá-lo e murmurou:
– Vai buscar o meu pai!
Nada aconteceu. Bento ficou ali parado, sem se mexer. Então, de
repente, sob a pelagem, os seus músculos retesaram-se, Samira
conseguiu aperceber-se disso. Bento virou-se e saltou para junto da
porta. Desatou a ladrar com força.
– Estás a ver, ele já farejou isto – disse o homem que estava por
detrás da porta. E, para atrair o cão, continuou: – Hmm, é bom!
– O meu pai está aí? – perguntou Samira com um tom severo.
Porém, Bento nem sequer lhe prestou atenção. Saltava sobre a
porta e continuava a ladrar.
Abriu-se uma frincha e foi lançado um pássaro morto e
ensanguentado lá para dentro. Samira correu para a porta, agarrou-
a com toda a sua força e puxou. A largura da frincha em relação à
ombreira aumentou.
Foi este o momento que Bento tratou de aproveitar. Saltou de
imediato lá para fora.
Perplexo, o homem largou a porta. Ficou a olhar para o cão a
afastar-se. Samira também se esgueirou para o exterior e desatou a
correr.
– Foge! – gritou ela. – Foge!
Ainda mal tinha dado uns passos e já o homem lançara o seu
corpo grande e pesado para cima dela, derrubando-a. Rebolaram
pelo chão sujo. Segurou Samira pelo pescoço e ergueu-a no ar.
– Tu não vais a lado algum.
– E o cão? – perguntou o outro homem.
Bento correu pelo vinhedo abaixo até à estrada.
– Não voltei a carregar a espingarda. Merda!
– Carrega-a agora. Se esse rafeiro voltar a aproximar-se, puxas o
gatilho.
32
A respiração da égua continuava uniforme. A pelagem dela
brilhava com a transpiração e, no entanto, mantinha a cabeça bem
erguida e a crina esvoaçava. Devia ser um animal bastante valioso.
O pelo era castanho-avermelhado, tal como a crina. Uma égua
alazã.
– Ela é de confiança – dissera o oficial. – Não lhe vai fugir.
Antero seguiu pelas encostas onde havia campos de pastagem.
Vacas pasciam de ambos os lados do caminho. Passou diante de
um olival, no meio do qual se via uma imponente vivenda rodeada
de árvores. Seguiam-se campos semeados com batata-doce.
Escravos negros cavavam a terra e dela retiravam tubérculos, que
recolhiam em grandes cestos.
Era aquele o dia em que finalmente tudo terminaria. Gabriel
Malagrida iria receber o golpe mortal. Logo que encontrasse
vestígios de que o jesuíta tinha raptado a sua filha, secaria o suor da
testa com um lenço encarnado. Os oficiais estavam a observá-lo
com os seus monóculos. Quando o vissem fazer o sinal, viriam com
as suas tropas e prenderiam o jesuíta. Poderia então finalmente
intentar-se um processo contra Malagrida.
Entre dois campos crescia uma longa fila de arbustos. Deveria
haver ali uma linha de água. Antero puxou as rédeas da égua. Mais
adiante, lá estava. Uma pequena ponte. Era ali que Malagrida
pretendia encontrar-se com ele?
Antero olhou em redor. Para a direita conseguia ver à distância,
não parecendo maiores do que bonecas, as árvores atrás das quais
os soldados se escondiam. Aquele pedaço de bosque estava afinal
mais longe do que ele pensara ao olhar para os mapas. Os oficiais
tinham dito tratar-se de «um ponto estrategicamente bom e a pouca
distância», enquanto apontavam para o mapa, pondo no rosto
expressões de superioridade.
– Seguimos até lá a cavalo, mas fazendo um desvio, para não
sermos detetados – haviam dito com um ar grave.
Para o caso de algo correr mal, Antero deveria arrancar a peruca.
Eles veriam esse gesto através dos monóculos e disparariam de
imediato tiros de aviso. Aproximar-se-iam a cavalo tão depressa
quanto possível e ajudá-lo-iam.
– Meu Deus – pôs-se ele a rezar –, durante bastante tempo tive
raiva de Ti. Quero agora fazer as pazes contigo. Toma conta da
minha menina. Permite que ela aguente esta provação.
Os soldados precisariam de bastante tempo até ali chegar. A
ponte era bem visível de todas as direções, e nas proximidades não
existia outro esconderijo que não fosse aquele bosque mais
distante. Porventura era essa mesma a razão que levara Malagrida
a propor aquele ponto de encontro.
Nunca era bom sinal ter de agir segundo as regras do jesuíta. Se
Gabriel Malagrida o ameaçasse ou se porventura o arrastasse
consigo, os oficiais não chegariam ali com os soldados a tempo de
frustrar essa tentativa.
Por outro lado, Antero trazia consigo o manuscrito, os esboços e o
caderno de apontamentos. Talvez bastasse a Malagrida recebê-los
para conseguir obter Samira em troca. Iria colocá-lo a ele, Antero,
pelo menos, tal como estava há um ano, e o padre ganharia tempo
para as suas tentativas de subversão. Não era afinal isso mesmo
que ele pretendia?
Os escravos puseram as enxadas ao ombro e, em pequenos
grupos, começaram a abandonar os campos. A oeste, o Sol
assemelhava-se a um pedaço de manteiga que se derretia no
horizonte. Antero prendeu as rédeas da égua aos ramos de um
arbusto. Esta pôs-se a mordiscar as folhas, mas sem tentar soltar-
se. Antero mordeu dois cartuchos e carregou ambas as pistolas.
Olhou para os campos. Com a luz do Sol que se punha, a terra
assumiu um tom acastanhado, semelhante ao da ferrugem. Não
pôde deixar de se lembrar de uma conversa que tivera com a mãe.
Também então decorria o mês de Setembro. Estava ela na cozinha
e disse:
– Deixa essa judia, Antero. Vais ser infeliz com ela – limitara-se a
mãe a pedir. Só assim, sem sequer olhar para ele.
– Eu amo-a – retorquira ele.
– Eu sei – respondera a mãe, esboçando um sorriso indulgente.
– Como podes sorrir a propósito disto?
– O amor, meu filho, é instável. Pelo menos esta forma de amor.
Desde os tempos da Criação que os seres humanos começaram por
se casar e só a seguir passaram a amar-se. Durante séculos, o
amor foi algo que precisava primeiro de amadurecer. E agora vocês,
os jovens, querem senti-lo desde logo e já só querem casar-se
depois de terem sentido o que é o amor.
– De outro modo, como queres que se saiba que se vai ser feliz
com uma pessoa? Pelo menos, eu agora sei-o. Sei que com
nenhuma outra poderei ser feliz. Só mesmo com Julie.
– Feliz? Antero, olha bem como as coisas correm para aqueles
que impetuosamente se apaixonam e mergulham nesse amor. Não
tardam a querer fazer um desmancho. Ou se calhar até se casam,
mas nem por isso esses casamentos são mais felizes do que o meu.
Também eles têm de se esforçar para conseguir conquistar esse
amor.
– Tu não conheces a Julie.
– Eu já a vi. É uma mulher bonita, isso ninguém pode negar, mas
a verdade é que é judia. Sabes bem que as leis sobre a pureza do
sangue vos proíbem que se relacionem. Chegará o dia em que se
saberá o que aí andam a fazer. E depois?
Ficou furioso com a mãe durante vários dias. «O que aí andam a
fazer» chamara ela aos belos e libertadores diálogos que
mantinham, aos íntimos olhares que trocavam. Cerca de uma
semana mais tarde, num domingo, a caminho da igreja, ele dissera-
lhe:
– Tu não conheces esta forma de amor e é por isso que não
consegues entendê-la.
– Ainda costumas rezar? – perguntara ela.
– Caso não saibas, também os cristãos-novos rezam.
– Mas não te vais tornar judeu?
– Se tu soubesses aquilo que partilho com ela, mãe... Posso rezar
com ela como nunca consegui contigo. Confiamos completamente
um no outro.
– Se ainda continuas a rezar, isso é bom. Nunca percas Deus de
vista, meu rapaz, e desse modo sempre arranjarás maneira de
aguentar tudo na vida.
Entretanto, ela mesma fora ter com Julie, ambas estavam mortas.
E ele deixara de rezar. Por raiva. A um Deus que permitia que Julie
morresse numa fogueira ele nada tinha a dizer.
Talvez fosse um erro deixar de falar com Deus.
Os escravos tinham-se ido embora. Estava sozinho. Com uma
vareta calcava farrapos no cano das pistolas para que os projéteis
de chumbo ali se mantivessem presos. Deste modo, conseguia-se
preencher melhor todo o espaço, proporcionando assim mais
pressão ao tiro; fora um pirata que, na taberna de um porto inglês,
certa vez lho explicara. Prendeu as pistolas no cinto. Em caso de
dúvida, não hesitaria. Dispararia.
O tenente segurava uma pega domesticada na mão. Ia-a
alimentando com migalhas de pão. As penas da pega refletiam um
brilho branco e um negro violáceo. Os seus olhinhos piscavam e
conferiam-lhe um aspecto astuto. O bico grosso ia apanhando as
migalhas entre os dedos avermelhados e balofos do tenente.
– Vamos lá ver isso – disse este passado algum tempo, deixando
a gralha saltitar para cima de uma vara que fazia parte de uma
estrutura de madeira colocada ao pé da sua secretária. Estendeu a
mão na direção da carta.
Leonor reteve-a.
– Você não é o capitão – disse ela.
– Não. Mas sou responsável em vez dele. Dê-me a carta.
– Tenho de entregá-la pessoalmente ao capitão e apenas a ele.
O tenente sorriu com uma expressão condescendente.
– Só que ele não está. Estou eu por ele.
– Então espero.
– Não lho aconselharia. Ele está fora e pode demorar horas até
voltar.
– Onde está?
– Isso é segredo.
Por que razão o secretário de Estado do Reino não a preparara
para aquela eventualidade? «Para que veja que confio em si»,
limitara-se ele a dizer. «Não lhe guardo qualquer rancor.»
Que deveria ela fazer agora?
– Posso falar com alguém da Guarda Real?
– Não está aqui ninguém. – O tenente juntou o resto das migalhas
e deitou-as numa lata de tabaco verde. Passou a mão por cima da
mesa para limpá-la. Por fim, fechou a lata ruidosamente. – De que
se trata afinal? Logo lhe direi se diz ou não respeito à Guarda Real.
– É claro que lhe diz respeito. Regressou à cidade um grande
inimigo do rei e o secretário de Estado do Reino considera possível
que venha a ocorrer um atentado à sua vida. Terão de ser tomadas
medidas para a proteção do rei.
– Já há muito que a Guarda Real recebeu essa informação – o
sorriso do tenente alargou-se. – Está a ver? Basta que fale comigo.
Já conseguimos esclarecer tudo.
Era mentira. Apenas tentava desembaraçar-se dela, pelo que
Leonor endureceu a sua atitude.
– Pretendo falar com um membro da Guarda Real, e já.
– Como acabei de lhe dizer, eles estão ausentes – o sorriso dele
desapareceu. – Não ouviu o que eu disse?
A pega olhava com um ar de curiosidade para Leonor. Parecia
conseguir perceber tudo aquilo que ali se dizia. Virou a cabeça de
lado e mantinha o bico negro ligeiramente aberto, como se estivesse
a ponderar dizer alguma coisa para contribuir para aquela
discussão.
Leonor fitou o tenente.
– Diga-me então quem é o inimigo. Só assim poderei acreditar em
si.
Ele rodou os olhos.
– Entrega de cartas em duplicado é coisa que acontece aqui
todas as semanas. Acabei de lhe dizer que já recebemos essa
comunicação! Aposto consigo que o que está escrito nessa carta é
que, segundo o conselho do secretário de Estado do Reino, o rei
deverá hoje seguir um percurso diferente, além de usar uma
carruagem comum, para maior segurança. A Guarda Real, por sua
vez, deverá seguir o percurso habitual, para assim atrair os
potenciais atacantes para fora dos seus esconderijos, e dentro do
coche estarão reforços, ao invés do rei. Então? Vá, abra lá a carta.
Como lhe digo, essa recomendação já cá chegou hoje de manhã.
Era impossível. Antero só se dera conta do desaparecimento de
Samira ao início da tarde. Além disso, o secretário de Estado do
Reino nada dissera a respeito de uma carruagem comum, de um
percurso alternativo ou de a Guarda Real armar qualquer
emboscada. O ritmo da respiração de Leonor aumentou.
– A recomendação de que fala não foi emitida pelo secretário de
Estado do Reino. Sei disso, porque acabei de estar com ele. Há que
avisar o rei!
– Acabou de dizer que o secretário de Estado do Reino a enviou
para transmitir um aviso à Guarda Real. Se me permite, está
enganada.
– Mas ele só redigiu essa recomendação hoje à tarde. Escute
bem, não lhe posso explicar tudo, só lhe posso dizer que a vida do
rei está em perigo!
– Dê-me a carta – insistiu ele.
Parecia ser essa a única maneira de conseguir alcançar alguma
coisa sem mais demoras. Não tinha outra hipótese. Entregou-lha.
O homem leu-a.
– Diz então que a carta desta manhã é uma falsificação? – o
tenente semicerrou as pálpebras. – Mas por que razão alguém que
planeia um atentado ao rei haveria de avisar a Guarda Real?
– Porque está à espera no novo percurso! E porque não dará
tanto nas vistas se for uma carruagem comum a ser atacada.
Antero andava, impaciente, de um lado para o outro. Atravessou a
ponte repetidas vezes. Não conseguia impedir que a sua
imaginação lhe apresentasse diante dos olhos cenas terríveis. Os
homens a baterem em Samira. Como eles troçariam dela, enquanto
a pequenita choraria e tremeria de medo.
Lágrimas de fúria assomaram aos olhos de Antero. Cerrou os
punhos com tanta força que as unhas se lhe espetavam na palma
da mão. Vindo de longe, escutou um ruído. Olhou nessa direção. Na
estrada, viu uma nuvem de pó que se aproximava. Foi piscando os
olhos até conseguir ver claramente.
Era uma carruagem puxada por um só cavalo, com cortinas de
cabedal negras na parte da frente, que levantava aquela coluna de
pó. As paredes laterais e a parte traseira eram de madeira. As
rédeas estavam nas mãos de um homem sentado na diminuta
boleia. Atrás dele, o ocupante da carruagem poderia olhar para o
exterior através de dois buracos redondos, janelas abertas no
cabedal. Aquela carruagem pertencia a Gabriel Malagrida, Antero
conhecia-a. Era Malagrida que ali vinha.
Antero retirou a camisa do cós dos calções e voltou a colocá-la,
mas de modo a tapar o punho das pistolas. Tirou o manuscrito, os
esboços e o livro de apontamentos do alforge. Segurando os papéis
diante da barriga, escondia assim as protuberâncias na camisa. E
assim ficou à espera na berma da estrada. A carruagem começou a
diminuir a velocidade, até que o cavalo branco que a puxava se pôs
a andar a passo.
A pele do rosto do cocheiro era de um amarelo de aspecto febril.
Pareceu a Antero que já teria visto aquele homem no palácio do rei.
O cocheiro fez a carruagem parar. Estendeu a mão para receber os
papéis.
– E a minha filha? – perguntou Antero.
– Lá atrás.
Estaria ela viva? Estaria ferida? Com as mãos a tremer, estendeu
o manuscrito e os esboços ao cocheiro. Foi com dificuldade que
conseguiu chegar junto do fecho da porta, pois os joelhos estavam-
lhe já moles, sem firmeza, as pernas não queriam carregá-lo.
Ao querer abrir a porta, deu-se conta de que esta estava
trancada. O cocheiro inclinou-se de lado, erguendo-se da boleia, e
cuspiu para o chão.
– Ela não está aqui, imbecil! Vai procurá-la no Inferno! – disse o
homem e soltou um riso sórdido. Fez estalar as rédeas sobre o
dorso do cavalo branco. A carruagem voltou a arrancar.
Malagrida estava sentado lá atrás e ficara a rir-se maliciosamente!
Antero sentiu a pulsação a aumentar. Aquele demónio ia a fugir com
o livro. Enganara-o. Os seus homens estavam a atormentar uma
menina com oito anos, tinham-lhe raptado a filha, a pequena
Samira, e não lha devolviam. Além de tudo, Malagrida tinha agora
também o manuscrito em seu poder.
Bastaram cinco passos para que Antero chegasse perto da égua
alazã. Desprendeu-a do arbusto. Montou no animal. Era agora ou
nunca. Conduziu-a para a estrada, depois incitou-a com golpes dos
calcanhares nos flancos. Largou a galope. A carruagem seguia bem
à frente deles. Antero ergueu-se na sela e murmurou:
– Vá, mostra-me aquilo de que és feita.
Apertou os joelhos. A égua alongou o galope. Os seus cascos iam
marcando no chão um ritmo frenético.
Aproximaram-se da carruagem. Não tardou que a distância que
os separava fosse a do comprimento de quatro cavalos, depois
apenas de três e já só de dois.
– Alto! – berrou Antero. Apertando os joelhos, segurou-se na sela
e sacou as pistolas debaixo do cinto.
A carruagem seguiu a toda a velocidade.
Esperou até que a égua se encontrasse ao lado dela e então
disparou. Do interior ecoou um grito. Antero disparou também a
segunda pistola. A carruagem reduziu a velocidade.
Também o cocheiro sacou de uma pistola.
Antero voltou a aplicar os calcanhares com força no flanco da sua
égua alazã. O ruído de um tiro atravessou o céu de fim de tarde.
Antero sentiu no rosto uma aragem quente. Seguia velozmente na
direção da cidade. Quando se virou, já a carruagem se detivera por
completo. Do pequeno bosque junto à linha do horizonte surgiam
soldados. Eles que se ocupassem do resto. Antero puxou para si as
rédeas da égua e sentou-se. O animal ofegava. A sua pelagem
brilhava. Oxalá tivesse conseguido acertar em Malagrida. A sua
presença no local do encontro era prova suficiente de que estava
por detrás do rapto.
Um animal de pelo claro desceu pela encosta ao seu encontro.
Era Bento! No entanto, ao contrário do que era costume, o cão não
tentou saltar para Antero em jeito de cumprimento. Farejou-o
brevemente e depois ladrou. Talvez o incomodasse o cheiro do
fumo, provocado pela explosão da pólvora, que se mantinha pegado
a ele.
Bento voltou a correr pela encosta acima. A meio da subida parou
e voltou a ladrar. Talvez tivesse achado alguma pista. Por outro lado,
sempre que andava a seguir alguma, o nariz mantinha-se colado ao
chão. A cabeça de Bento, porém, continuava erguida. Olhava-o
fixamente. Parecia que o instava a segui-lo.
Samira!
Antero deixou a égua alazã para trás. Subiu a coxear pela
encosta. De imediato Bento virou-se e continuou a avançar a toda a
pressa. Antero seguiu-o, atravessando um batatal, um pomar, um
olival e uma vinha. Amaldiçoou a rigidez da sua perna. Era uma
quinta de grandes dimensões. O faustoso edifício principal ficava
situado entre arbustos ornamentais e enormes carvalhos. Bento,
porém, dirigia-se para umas instalações anexas.
Foi disparado um tiro de um barracão junto a um lagar que ele
conseguiu identificar devido à chama que saiu do cano da arma.
Bento caiu sobre si mesmo, como se um punho invisível o tivesse
esmurrado, e ficou deitado no chão, a ganir. Antero continuou a
correr na direção do barracão. Ia aos ziguezagues, tendo o cuidado
de manter árvores e arbustos entre si e o atirador, até ficar próximo
de um dos lados do barracão, aquele que não tinha quaisquer
janelas ou portas. Abandonou então a segurança da vegetação que
o protegia e esgueirou-se até junto do tabique. A avaliar pelo ruído
que a arma fizera, tratara-se de uma espingarda. Entretanto, deveria
com certeza ter sido recarregada.
Não sabia quantos eram os outros e não tinha consigo qualquer
arma, nem sequer uma faca. Só que Samira estava ali. Iria libertá-la,
custasse o que custasse.
Antero inclinou-se e esquadrinhou o chão em busca de pedras.
Não as encontrou grandes, mas apenas pequenas e de tamanho
médio. Despiu a camisa e deu um nó numa das mangas. Foi no
interior desta que as pôs. Escolheu mais algumas do chão e
colocou-as lá dentro, até que toda a manga ficou bastante pesada.
Agarrou a camisa na extremidade que não fora preenchida com
pedras e balançou-a de um lado para o outro, em jeito de
experiência.
De seguida, assim munido daquilo, seguiu até à entrada do
barracão. Colocou-se junto à porta e deu-lhe um pontapé. Durante
alguns instantes nada aconteceu. Depois a porta abriu-se. Porém,
aquilo que surgiu não foi o que ele esperava: ao invés do cano da
espingarda, foi antes Samira quem saiu primeiro, e atrás dela dois
homens, um dos quais lhe pressionava a ponta da arma contra a
nuca da menina, como se pretendesse matá-la.
– Vamos a ver se te portas com juízo – disse o homem –, senão a
criança morre.
O companheiro dele trazia uma corda na mão. Pelos vistos
deviam querer amarrá-lo.
– Nada de disparates.
Samira viu o pai e deu largas à sua felicidade.
– Encontraste-me!
De repente o rosto dela adotou uma expressão de indizível horror.
Afastou-se do cano da espingarda e pôs-se a correr pela encosta
abaixo, na direção do cão, que sangrava.
– Bento!
Antero não hesitou. Deu um pontapé na espingarda do tipo,
tirando-lha dos braços. Quanto ao outro, arremessou-lhe a manga
da camisa cheia de pedras direita à cabeça. Cravou o joelho no
estômago do atirador, largou a camisa, agarrou o pescoço do
homem e puxou-o para si com toda a força. Ao mesmo tempo, deu-
lhe uma cabeçada na cana do nariz. O atirador vacilou. O
companheiro quis acudir-lhe, muito embora tivesse de conter a
hemorragia que lhe cobria a cara de sangue. Com o punho, Antero
desferiu-lhe um golpe no rosto.
– Isto é pela minha filha! – gritou. E bateu. E voltou a bater.
O homem perdeu os sentidos e caiu. Também o atirador estava
entendido no chão. Antero pegou na espingarda e foi até junto de
Samira. Doíam-lhe os punhos, como se tivesse participado numa
rixa de taberna. A pequenita pousara a cabeça de Bento no colo e
acariciava-o. O cão ganiu. Tinha o pelo ensopado de sangue.
Antero pegou em Samira ao colo.
– Nunca mais te deixo sozinha. Nunca mais.
Apertou-a firmemente contra o peito. Samira abraçou-o. Manteve-
se assim durante bastante tempo.
– O Bento está a sangrar – murmurou ela. – Ele vai morrer?
– Samira...
Antero ficou sem saber o que devia responder. O facto de, para
um cão, Bento ter já tido uma vida longa em nada iria consolá-la.
Dizer-lhe que ele não sofria quaisquer dores seria uma mentira.
– Vamos levá-lo connosco! – disse ela. – Talvez ele volte a ficar
bom.
Bento levantou a cabeça e dirigiu o olhar a Samira. Esta segurou-
lhe na pata e ele lambeu-lhe a mão com a língua ensanguentada.
De seguida, ganiu.
– Temos de ajudá-lo! – exclamou Samira olhando para cima.
Antero examinou o animal. O sangue estava espalhado por todo o
lado, mas parecia que apenas a pata traseira esquerda ficara ferida.
Antero voltou junto do barracão e foi buscar a sua camisa. Desfez o
nó e deixou cair as pedras. Depois rasgou-a às tiras e, com todo o
cuidado, ligou a perna do cão.
Samira atirou-se ao peito de Antero, que a segurou ao colo e a
acariciou.
33
Fulminante como a pólvora, o vinho da Borgonha ardia-lhe no
estômago. Gabriel Malagrida bebeu outro gole. A bebida possuía a
doçura do açúcar brasileiro e o aromático sabor das especiarias
indianas. Como fogo, desceu-lhe pelo esófago. Gabriel Malagrida
sorriu.
– Ainda está no Borgonha? – disse o duque de Aveiro, com a sua
estatura de anão e num tom esganiçado. – Não consigo entendê-lo.
– Ergueu uma garrafa. – Vinho branco espumoso da Champanha,
isto sim, é o ponto alto da Criação. Por que razão acha que ele é
assim tão vergonhosamente caro? Os verdadeiros conhecedores
disputam-no e esforçam-se por obtê-lo.
O marquês de Távora, antigo vice-rei da Índia, abanou a ca-beça.
– Estão ambos enganados – tocou com a ponta do dedo numa
garrafa larga que tinha à sua frente. O vidro ressoou ligeiramente. –
O melhor vinho do mundo é produzido na ilha da Madeira. De um
castanho da cor do caramelo e, quanto ao gosto, doce e frutado, é a
isso que eu chamo um vinho. De resto, sabem como se obteve o
vinho da Madeira pela primeira vez? Foi levado de navio da ilha
para a Índia, só que não se conseguiu vendê-lo por lá, pelo que teve
de regressar para Portugal. Por causa do calor tropical e do
constante oscilar do navio, conseguiu-se que se tornasse tão
saboroso que os preços a que foi vendido foram bastante altos.
Desde então o vinho da Madeira é aquecido a quarenta e cinco
graus, depois deixado a amadurecer pelo menos três anos em pipas
e, por fim, é mantido em movimento dentro das mesmas durante
três meses antes de ser engarrafado. E todo este esforço tem uma
razão de ser – concluiu ele, esboçando um sorriso.
Estavam sentados à mesa e envergavam roupões feitos de cetim
castanho e com flores bordadas. Esta seria uma festa que nenhum
dos criados iria conseguir esquecer tão cedo: extravagante,
dispendiosa, invulgar. Os criados viriam talvez a ter de se lembrar
da festa, e diante de um tribunal.
Criadas negras punham na mesa espetadas de carne, coração e
fígado de vitela, cabeças de cabritinho assadas. Cheirava a pimenta
e a manteiga derretida. Gabriel já tinha água na boca.
O duque de Aveiro pegou numa salsicha que estava sobre a
mesa e colocou-a no tabuleiro transportado pela criada mais
próxima.
– Tome, pode levar de volta. Não gosto de comer isto.
– E porque não? – perguntou o marquês.
– Não consigo deixar de pensar no modo como são feitas – o
duque de Aveiro estremeceu. Prosseguiu no seu tom esganiçado: –
Nunca repararam como, nos últimos dias de vida antes da matança,
os porcos são alimentados só com ervas?
– Claro que sim. Faz-se isso para que os intestinos fiquem a
cheirar bem.
– Os intestinos com que depois se fazem as salsichas!
– E então?
– Intestinos! Pensem lá bem naquilo que por ali passou! É certo
que são lavados e esfregados com laranja, para que cheirem bem,
mas são e continuam a ser…
– Por favor… – tratou Gabriel Malagrida de interromper o duque. –
Peço-lhe que nos poupe isso.
Ou aqueles dois eram excelentes atores ou na realidade tinham
esquecido por completo as razões pelas quais todos os três ali
estavam sentados. Para ele era difícil escondê-lo. Não conseguia
deixar de pensar em tudo aquilo que podia correr mal.
A velha marquesa entrou na sala.
– Está aqui um senhor que quer falar consigo.
Era chegada a altura.
– Mande os criados embora e depois diga-lhe que entre, minha
cara.
Leonor de Távora sorriu.
– Espero que a comida vos tenha agradado…
Todos os três acenaram afirmativamente com a cabeça. Porém,
os rostos deles demonstravam agora claramente alguma tensão.
Quando as criadas saíram, um homem de uniforme entrou na
sala. A pele do seu rosto apresentava-se amarelada. Estaria ele
mais pálido do que era costume? Gabriel Malagrida ergueu-se.
– Vá, diga.
– Ambas as balas acertaram – disse o soldado.
Todos rejubilaram.
– Você é um génio, Malagrida! – gritou o duque de Aveiro, num
tom agudo.
O marquês de Távora ergueu o seu copo.
– Um viva a Gabriel Malagrida!
Contagiado por tamanha alegria, nem mesmo o soldado
conseguiu deixar de sorrir.
– Mas ainda está vivo? – perguntou Gabriel.
– Sim. Os médicos estão a tentar salvá-lo. Mas, no fundo, sabem
que não há quaisquer esperanças.
O marquês voltou a pousar o copo.
– Não haverá averiguações por causa da carta falsificada?
– Enquanto for eu o presidente do Desembargo do Paço… –
respondeu o duque de Aveiro.
– É claro que sim… – interrompeu-o Gabriel Malagrida. – Também
não pretendo que as impeça, senhor duque. Veja bem, o secretário
de Estado do Reino tinha todas as razões para escrever ambas as
cartas. Uma delas para permitir que o atentado ocorresse. A outra
para demonstrar a sua inocência. Qualquer um perceberá que ele
quer matar o rei. Na prática, ele próprio já é rei, uma vez que o
poder está nas suas mãos. Agora, além disso, quer também a
coroa. Não será muito difícil atribuir-lhe as culpas do atentado ao rei.
– O rei gosta dele – disse o marquês. – Irá protegê-lo, façamos
nós o que fizermos contra o secretário de Estado.
– Enquanto estiver vivo… – Gabriel dirigiu-se então ao soldado: –
Disse que não há quaisquer esperanças?
– Está mortalmente ferido. Viverá um ou dois dias, no máximo.
Gabriel ergueu o copo. Num único dia, os seus três maiores
inimigos haviam sido aniquilados, o rei Dom José, o secretário de
Estado do Reino e Antero.
– Brindemos. A um Portugal renovado!
***
O céu estava repleto de estrelas. Samira caminhava junto a ele,
de mãos dadas. Antero levava o cão por cima dos ombros. Era
pesado, pelo que o suor lhe escorria pelas costas.
– Agora tudo vai correr bem – disse ele, apertando a mão de
Samira.
Onde começava o mar de barracas brilhavam dezenas de
archotes. Os soldados estavam a montar barreiras. Antero parou,
surpreendido. Haveria distúrbios na cidade? Pôs Bento no chão,
este ganiu, e chegou-se junto dos soldados.
– Peço desculpa, pode dizer-me o que se passou?
– O rei sofreu um atentado – informou-o um soldado, que se
apoiou numa pilha de sacos de areia. – As perspetivas não parecem
boas para ele. Levou com as balas bem a meio do corpo.
– Alguém disparou sobre o rei Dom José?
– Ainda não ficou bem esclarecido quem está por detrás disso.
Deve ter sido um tipo a agir isoladamente. Simplesmente disparou
através da cobertura da carruagem em que o rei seguia. Vamos dar
caça a esse animal. Quando o conseguirmos apanhar, logo se sabe
para quem trabalha.
– Estou a perceber.
Antero voltou a içar o cão para cima do ombro e virou à direita,
por entre as barracas. Avançou a manquejar, cinco barracas, seis
barracas. Arrastava-se ao longo das paredes quando se foi abaixo,
depois de se dar conta do que sucedera.
– Que tens tu? – perguntou Samira, debruçada sobre ele.
Ouviu a voz dela como que a grande distância. Um sopro de ar
frio passou-lhe pelo rosto. Tudo fora planeado por Malagrida. O
jesuíta conhecia-o há muitos anos, sabia que iria tê-lo mais
suscetível se lhe raptasse Samira, sabia que ele dispararia,
simplesmente sabia-o!
Era o rei quem seguia na carruagem de Malagrida.
«Disparei sobre o rei de Portugal», pensou ele. Sentiu a língua
contrair-se bem junto à garganta. Esforçou-se por respirar
normalmente. Foi com dificuldade que reprimiu um vómito.
Levantou-se, pegou na mão de Samira e desapareceu com ela no
meio da noite.
– Porque não vamos para a cidade?
– Vamos por fora, descrevemos um arco em redor de Lisboa, vai
demorar mais um bocadinho.
Avançaram pela noite fora, em silêncio. Chegaram junto das
águas negras do Tejo. Encontrou a amendoeira e foi aí perto que
depositou Bento.
– Está tão escuro aqui – comentou Samira.
Antero aproximou-se da árvore.
– Estás a ver este coração aqui na casca da árvore? – perguntou.
Samira tocou nele. – Sim, esse mesmo. Foi a tua mãe quem o
gravou. Porque nos amávamos.
Samira manteve a sua pequena mão pousada sobre o coração e
não respondeu. Depois, virou-se para ele e disse:
– É bonito.
– Tenho de me despedir de ti – murmurou ele.
– Papá? – Samira tocou no rosto dele e colocou-lhe os braços em
redor do pescoço. – Mas não podes fazer isso – pôs-se a chorar. –
Não me podes deixar sozinha!
As lágrimas também corriam pela face dele. Abraçou Samira com
firmeza.
– Eu amo-te muito, sabes disso, não sabes, minha pequenita?
– Então não me deixes sozinha! Tu prometeste que nunca mais
me farias isso!
– Não pode ser de outra maneira. Tens de te esconder aqui, com
o Bento, e só podes sair quando vires a Leonor. Ela vai tratar de ti.
– Não! Fica aqui comigo!
Antero abraçou-a durante bastante tempo. Depois, soltou-lhe os
dedos do seu pescoço e, embora Samira continuasse a soluçar,
pousou-a no chão. Acocorou-se diante dela.
– Samira, eu disparei sobre o rei. Por todo o lado, vão andar à
minha procura.
– Então escondemo-nos num navio e vamos para outro país.
– De certeza que também têm o porto vigiado. Desde o terramoto
que são poucos os navios que cá chegam, por isso é fácil tê-los
vigiados. Samira, há um homem que quer a todo o custo que eu
seja executado como regicida. Mesmo que nós fugíssemos de
Portugal, ele iria procurar-nos e encontrava-nos, por todo o lado
onde pudéssemos estar. A minha existência representa um perigo
para ele, pois sei que está por detrás do atentado ao rei. Ele só terá
descanso quando eu morrer.
– Mas tu não podes morrer.
– Por isso mesmo é que preciso de ir, para poder lutar. Tenho de
vencer esse homem – levantou-se e deu meia-volta. Depois de três
passos, tornou a virar-se para ela e disse: – Samira, estou de
coração despedaçado por não poder ficar junto de ti! Gostaria de ter
sido um melhor pai.
Samira pôs-se de pé de um salto e correu na direção dele.
Abraçou-o e, a soluçar, disse-lhe:
– Mas tu és um bom pai! Tu és o melhor pai do mundo!
O soldado segurou o archote diante do rosto de Antero.
– O que andava a fazer fora da cidade depois do pôr do Sol?
Junto a ele, um oficial colocou a mão sobre a espada. Antero
afigurava-se-lhes obviamente suspeito, um homem que andava
sozinho e que pretendia entrar na cidade já depois do anoitecer.
Porventura até já dispunham da sua descrição.
– Um homem ferido por um disparo está ali escondido, por detrás
daquelas barracas – inventou. – Achei que seria melhor se vos
avisasse disso.
O oficial desembainhou a espada de imediato.
– Venha daí, depressa! – ordenou ele ao soldado. – Pode ser que
seja ele!
Saíram dali a correr na direção das barracas.
Antero ficou a vê-los afastarem-se. Esperou até que estivessem
suficientemente longe. Depois, acercou-se do cavalo, que
aguardava junto da cancela, e soltou as rédeas. Subiu para o dorso
do animal. Espantado por estar a ser montado por um cavaleiro que
não era o do costume, o animal pôs-se a dar passos para o lado e
relinchou. Antero incitou-o a andar, mas não obedeceu.
Os soldados voltaram-se e gritaram:
– Alto aí!
Puxou-lhe as rédeas com força, para demonstrar ao cavalo que
não iria tolerar aquele comportamento. Voltou a aplicar um golpe
com os calcanhares nos flancos do animal e então este largou a
galope. Seguiu a toda a velocidade através da noite, ao longo da
margem do Tejo.
De início, o cavalo, ainda irritado, mantinha as orelhas esticadas
para trás. No entanto, não tardou a descontrair-se, o seu galope
tornou-se mais fluido, virou-as para a frente e adotou uma
respiração mais regular. Parecia a Antero que o animal não só
aceitara por fim submeter-se ao destino que ele lhe impusera, como
também galopava por vontade própria. Não teve de voltar a incitá-lo.
O vento frio soprava-lhe no rosto. A barriga do cavalo mantinha-
lhe as pernas quentes. Antero pensava em Samira, como esta
chorara, como ele quebrara a sua promessa. Pensou nos tiros que
disparara na direção da carruagem, como haviam furado a madeira,
e lembrou-se do grito que ouvira vindo do interior, como que um urro
humano.
A luz dos archotes rodeava a casa de madeira, na encosta da
Ajuda. O exército envolvia o rei, do mesmo modo que as vespas
esvoaçam em redor da sua rainha. Em cada uma das vinte e cinco
janelas da comprida fachada principal via-se também luz, inúmeras
velas ardiam nas divisões daquela construção, cada uma das
pessoas que vivia ou trabalhava na residência real estava acordada.
De certeza que os médicos assistentes se encontravam junto do rei,
e aqueles que nada podiam fazer para ajudar tratavam de rezar. No
início da estrada de acesso, um portão de ferro fundido vedava a
entrada. Soldados munidos de archotes foram ter com ele.
Antero desmontou e disse:
– Tenho de ir falar com o secretário de Estado do Reino.
– Quem é você?
– Trabalho para Gabriel Malagrida como espião, no Campo Gran-
de. É possível que tenhamos uma pista referente ao atentado ao rei.
O sargento examinou o cavalo do exército encharcado em
transpiração.
– A sentinela que lá está conhece-me. Colocou-me o seu cavalo à
disposição. Disse que era precisamente para situações dessas que
ele servia.
Com a cabeça, o sargento fez um sinal aos soldados. Estes
revistaram Antero para ver se ele trazia armas consigo. Uma vez
que não encontraram nada, abriu o portão. Antero voltou a montar
no cavalo. Conduziu-o pela estrada de acesso e, junto à porta da
casa de madeira que servia de residência real, saltou da sela,
entregou as rédeas a um soldado e disse:
– Depressa, tenho de falar com o secretário de Estado do Reino.
É a respeito do atentado ao rei.
Ninguém fez mais perguntas. Conduzido por outro soldado ao
interior da casa, foi recebido por um criado que o levou de-pois
através dos corredores. De fora, a casa parecia uma espécie de
pavilhão de caça de proporções desmedidas, disposto em
comprimento. No interior, era um verdadeiro palácio. As paredes
estavam revestidas a tecido e tinham sido decoradas com flores
pintadas. Diante destas, viam-se móveis indianos finamente
ornamentados, do teto pendiam candeeiros de cristal. Nas
superfícies polidas dos armários, refletia-se a luz produzida pelas
chamas das velas.
Nem sequer o criado tinha acesso ao local onde o rei, gravemente
ferido, se encontrava. Segredou ao ouvido de um outro criado,
hierarquicamente superior, o que ali o trazia, e esse outro
desapareceu por detrás de uma porta. Esta voltou a abrir-se
rapidamente, só que não foi o criado que Antero esperava que saiu,
mas antes um homem com uma barba curta mas pontiaguda, que
trouxe panos ensanguentados cá para fora.
«Se soubessem que fui eu quem disparou esses tiros», pensou
Antero, «tratariam logo de me dar uma sova e acorrentar.» Não
podia, desse lá por onde desse, cruzar-se com o fulano que estivera
sentado na boleia da carruagem. Esse de certeza que o
reconheceria.
Por fim, apareceu o segundo criado, que o conduziu a uma sala
anexa.
– Por favor, espere aqui – disse ele. – O secretário de Estado do
Reino virá já ter consigo.
Antero não conseguiu sentar-se no banco acolchoado vermelho,
pois a agitação que sentia não lho permitia. Andava de um lado para
o outro em cima do tapete grosso que cobria o chão e tentava
organizar as suas ideias. Que aconteceria à filha de um regicida?
Era impossível provar que Malagrida estava por detrás daquilo.
A porta abriu-se e o secretário de Estado do Reino entrou na sala.
Voltou a fechar a porta atrás de si.
– Que se passou? – perguntou ele em voz baixa.
– É o que lhe quero explicar. Por isso mesmo vim até cá.
– Quem foi que disparou sobre o rei?
Antero começou por manter o silêncio, mas depois disse:
– Fui eu.
Os olhos do secretário de Estado do Reino abriram-se de
espanto.
– Mas será que perdeu o juízo? Pensei que estivessem apenas a
tentar incriminá-lo!
– Por favor, deixe-me explicar.
– Não há nada a explicar. Disparou sobre o rei de Portugal e feriu-
o mortalmente.
– Ele está morto?
– Já só deve resistir mais algumas horas, dizem os médicos que o
assistem. Ou seja, é como se estivesse morto. Sejam quais forem
as suas razões para disparar sobre ele, agora não interessam.
Cometeu um homicídio e, com isso, provocou a este país um dano
cujas consequências ainda não somos capazes de descortinar.
– Não sabia…
– Guarde antes a sua história para contar aos juízes. Eu tenho de
me ocupar do Reino e evitar que se instale o caos.
– Irei parar ao cadafalso?
– Será com certeza executado. E sabe bem que fez por mere-cê-
lo.
– O rei seguia na carruagem de Malagrida – o secretário de
Estado do Reino deteve-se. – E não levava consigo nenhum
membro da Guarda Real. Com ele só ia um único homem.
Sebastião de Carvalho pestanejou e de seguida baixou o olhar.
– O senhor sabe tão bem quanto eu – prosseguiu Antero – que
este homicídio foi premeditado.
– E por quem?
– Para quem é que o rei Dom José era uma pedra no sapato? A
carta que surgiu em minha casa era de Gabriel Malagrida. A
carruagem era dele.
– Ele não ousaria uma coisa dessas. Os Jesuítas não planeiam
atentados aos reis.
– O rei gosta de si e, enquanto ele estiver vivo, ninguém
conseguirá que seja destituído. A quem julga afinal que irão associar
o assassínio? Não será apenas a mim. Tentarão destruí-lo a si. Foi o
senhor quem enviou soldados para aquele lugar. Como poderia ter
sabido daquilo de antemão? Perguntar-lhe-ão isso mesmo. Foi o
senhor quem enviou uma carta ao capitão da Guarda Real, a avisar.
Malagrida irá manipular os factos de modo a parecer que com isso
quis apenas arranjar um álibi.
O secretário de Estado do Reino dirigiu-se ao banco e sen- tou-
se.
– Por que razão não tratou de tomar melhor conta da sua filha? Já
há muito tempo que lhe disse que ela deveria estar entregue aos
cuidados de uma governanta.
– Amei uma mulher que era uma cristã-nova. A Inquisição
ordenou a sua execução. Samira é a nossa filha. Mantive a
pequenita escondida ao longo de vários anos, com medo de que a
Inquisição viesse a descobri-la. Sou a única pessoa que ela ainda
tem. Não poderia entregá-la a outra pessoa qualquer.
– Estas malditas leis sobre a pureza do sangue. Deviam ser
abolidas – o secretário de Estado levantou-se. – Mas como pôde
atirar em alguém sem ter a certeza de quem se trata?
– Era a carruagem de Malagrida.
– Fazer justiça pelas próprias mãos nunca é uma boa solução. É
para isso que existem tribunais!
– Tribunal nenhum deste mundo vai condenar Malagrida.
Sebastião de Carvalho chegou-se junto de Antero.
– Agora já não – afirmou. – Foram vários os oficiais do exército
que o viram a disparar sobre o rei. Cheguei a pensar que tivesse
sido subornado! Porém, tudo indica que está a dizer a verdade, ao
passo que contra Malagrida nós nada temos de palpável.
– Tente impedir a minha execução! Converta a minha condenação
em prisão nas masmorras!
– Eu próprio, segundo me disse, serei também implicado nesse
assunto. Se tentar impedir uma execução pública do responsável
pelo atentado, aumentarão as suspeitas de que estávamos em
conluio. Tomarei conta da sua filha, farei isso com todo o gosto, mas
não lhe posso conceder uma amnistia.
– Escute o meu plano… – propôs Antero. – Tudo aquilo de que
preciso é que me dê um pouco de tempo antes da minha execução.
TERCEIRO LIVRO
34
Todas as manhãs, desde que os criados de libré haviam deixado
de lhe franquear o acesso ao secretário de Estado do Reino, Leonor
esperava junto dos demais solicitantes no ministério. Aqueles que ali
ficavam à espera pretendiam apresentar uma queixa, obter uma
autorização especial, reclamar a propósito de alguma injustiça. Os
solicitantes precisavam de materiais de construção, alimentos,
licenças. Todos eles dispunham de uma hora para poderem ser
atendidos, durante a qual seriam ouvidos pelo secretário de Estado
do Reino, desde as oito horas em ponto até às nove. Todas as
manhãs eram chamadas e escolhidas nove ou dez pessoas, uma
após a outra, em dias bons chegavam a ser onze, tendo os
restantes de regressar a casa com os assuntos por tratar. Isso
equivalia a umas vinte ou trinta pessoas. Todos os dias voltavam
alguns dos que já lá tinham estado, mas também muitos novos
solicitantes. Não havia uma ordem preestabelecida pela qual se
fosse chamado da sala de espera. Chegava lá um funcionário,
apontava para uma qualquer pessoa e dizia:
– Você aí…
Para Leonor, porém, ele nunca apontava.
Chegou Outubro. A seguir novembro. Ela apercebeu-se de que
não era fruto do acaso o facto de nunca ser chamada. O secretário
de Estado do Reino não queria vê-la. Regularmente mandava
entregar-lhe dinheiro, destinado a Samira. Desde o atentado que
diante da casa de Antero, onde ela agora vivia com a menina, havia
dois soldados de guarda. Contudo, Sebastião de Carvalho não
estava na disposição de ouvi-la.
Leonor dirigia-se também a outras instituições, ao exército e ao
tribunal, onde conseguiu chegar à fala com um escrivão, a quem
suplicou pela vida de Antero. Foi-lhe explicado que era um disparate
pedir clemência para um regicida.
– Mas o rei ainda está vivo – argumentou ela.
– Está prestes a morrer – foi a resposta que ouviu. – E mesmo
que sobreviva, acha mesmo que ele vai amnistiar aquele que lhe
colocou duas balas no corpo?
Na cidade, instalara-se o medo. Embora se segredasse que fora o
próprio secretário de Estado do Reino a encomendar o atentado à
vida do rei, ninguém se atrevia a dizer alto fosse o que fosse, pois
Sebastião de Carvalho agia de modo bem mais duro do que até
então. Até mesmo os nobres que ousassem acusá-lo eram por ele
convidados a comparecerem perante um tribunal; encerrava as
igrejas onde alguém pregasse contra ele, colocando soldados à
porta das mesmas. Era palpável a grande tensão em que se vivia.
Certa vez, quando estavam as duas sentadas a tomar o pequeno-
almoço, Samira pôs-se a chorar, afastou o pão que ia comer e exigiu
ver Antero.
– Ele está na prisão, tu sabes isso.
– Mas eu quero vê-lo! – exclamou a pequenita a chorar.
Leonor foi com ela até à margem do Tejo, junto à Torre de Belém.
Aquela torre fortificada, com quatro andares, erguia-se sobre o rio
como um rochedo negro.
– Gosto de ti, papá! – exclamou Samira.
Leonor não lhe disse que, àquela distância e através das paredes
grossas, ele não a conseguia ouvir.
Na manhã seguinte, levou Samira consigo para a sala de espera
do secretário de Estado. Quando o funcionário lá entrou para
escolher um dos muitos solicitantes, Leonor pôs-se de pé.
– Há dois meses e meio que venho cá todas as manhãs e
continuam sem me chamar – pousou a mão sobre o ombro de
Samira. – Diga ao secretário de Estado do Reino que está aqui à
espera uma criança cujo pai está encarcerado nas masmorras. Se
ele não me quer ouvir a mim, pelo menos que a oiça a ela.
O funcionário ficou em silêncio e olhou para Samira. Por fim,
acenou com a cabeça e deixou a sala. Passado algum tempo voltou.
– Venha comigo.
Quando alguém era chamado, havia sempre insultos e protestos
daqueles que já estavam à espera há vários dias. Desta vez, porém,
ninguém se queixou. Os homens e as mulheres deram pancadinhas
de apoio nas costas de Samira quando esta passou por eles. A
pequenita seguia de mão dada com Leonor.
O funcionário conduziu-as a uma sala grande. Lustres com peças
de cristal fracionavam a luz em inúmeros raios, que incidiam como
pequenos sóis sobre a seda cinzenta que revestia as paredes.
Cheirava a azeitonas. O cheiro recordou Leonor do palácio onde
crescera: aquele cheiro indicava que para a iluminação se utilizava
apenas o dispendioso azeite.
Por detrás da sua secretária, o secretário de Estado do Reino
levantou-se.
Leonor manteve-se a uma distância adequada.
– Peço-lhe, por favor, que liberte Antero. Ele foi atraído para uma
armadilha. Não disparou sobre o rei com consciência do que estava
a fazer.
Sebastião de Carvalho contornou a secretária e acocorou-se
diante de Samira.
– Tens que chegue para comer?
– Sim, senhor secretário do Estado.
– E não passas frio? Não tarda é inverno, as noites vão ficar frias.
– Não, eu não tenho frio.
– Então está tudo bem – disse ele, com um trejeito de satisfação
no rosto, após o que se levantou.
– Não está tudo bem – contrapôs Leonor. – Antero passa frio. E
passa fome. E, por fim, acabará por… – interrompeu o que ia a
dizer, para que Samira não o ouvisse.
O secretário de Estado voltou a contornar a secretária e sentou-
se. O seu rosto assumiu uma expressão dura. Os pés-de-galinha
junto aos olhos ficaram imóveis, como que petrificados, e as rugas
longas que, à esquerda e à direita do nariz, lhe percorriam a cara
até aos cantos da boca pareciam agora ter sido esculpidas a cinzel.
– Há que ser feita justiça e, no caso de ser cometido um crime, o
seu autor deve expiar o castigo que lhe for aplicado.
– Por que razão não se ouve dizer nada a respeito do andamento
de um processo judicial?
– Eu próprio dei ordem para que, neste caso, o processo decorra
dentro do máximo sigilo. Com certeza não é capaz de imaginar as
pressões a que estou sujeito. Portugal tornou-se um autêntico barril
de pólvora e os meus adversários tentam incessantemente produzir
faíscas que o façam explodir. A qualquer momento tudo pode saltar
pelos ares.
Samira desprendeu-se da mão de Leonor. Acercou-se da
secretária e disse:
– Por favor, diga ao meu pai que estamos à espera dele. Pode
dizer-lhe isso?
Foi com as mãos a tremer que Antero cobriu de palha aquela
mucosidade cheia de sangue. Há alguns dias que o seu corpo
deixara de expulsar excrementos. Em vez disso, saía dele aquele
caldo ensanguentado. Também deixara de sentir frio, mas, pelo
contrário, um calor, que exercia pressão sobre a sua cabeça, como
se esta fosse rebentar.
Arrastou-se de volta ao outro canto da cela. Ia sendo sacudido por
cãibras. Lançou os braços em redor dos joelhos. A sua perna estava
peganhenta com pus. Uma ferida ulcerada ia produzindo aquele
líquido purulento e malcheiroso. Antero baloiçava para trás e para a
frente, para se acalmar.
– Ainda estou vivo – murmurou no meio da escuridão. – Vais
pagar por cada um dos dias que aqui passo, Malagrida – não
largava aquela ideia. – Também tu vais tremer de frio. Também tu
hás de sangrar.
Sentia a boca seca. Era como se um grampo lhe comprimisse a
cabeça e a mantivesse apertada, ao passo que, de dentro, a febre
exercia uma pressão contrária. Combatia o desespero que
ameaçava levar-lhe a melhor, e pensava na altura em que, nos
jardins diante do palácio do rei, Samira formara as suas primeiras
bolas de sabão. Recordou como à noite ele se chegava junto da
cama dela e ficava a vê-la dormir. A sua respiração calma e regular,
os olhos fechados com as delicadas pestanas. Samira irradiava uma
enorme tranquilidade enquanto dormia. O secretário de Estado do
Reino tomava conta dela. Leonor tomava conta dela. Estava bem,
era isso o mais importante.
Se as crianças, os campos e o pôr do Sol eram obra de Deus,
então este Deus criador era uma entidade afetuosa. Ele, Antero,
odiara os Jesuítas durante todos aqueles anos e, juntamente com
eles, também o Deus que representavam, mas talvez Deus não
fosse assim como eles.
– Ajuda-me – murmurou ele. – Por favor, ajuda-me.
Na sua cabeça, já tudo se confundia. Os pensamentos haviam
perdido a sua ordem. De repente, ele era de novo um rapazinho e
estava sentado na biblioteca, debruçado sobre um livro.
– O leitor mais experiente lê em silêncio. Limita-se a seguir o texto
com os olhos e assim explora todo um mundo – dizia-lhe Vasco
baixinho ao ouvido.
Estava de cócoras à beira do caminho e olhava para um campo,
tinha oito anos, ou talvez nove, e observava os zângãos, que
voavam de flor em flor. Ficava espantado a observá-los. Como
conseguiriam eles voar com as suas asinhas pequenas e
transparentes? Onde iriam aqueles animaizinhos roliços e peludos
buscar as forças necessárias para bater as asas tão velozmente?
Um caracol atravessou o caminho a rastejar. Demorou uma
eternidade até chegar ao outro lado. Deixava um cintilante rasto de
muco viscoso sobre as pedras. Por que razão atravessava o
caminho de um lado para o outro? Do lado onde estava existia erva,
arbustos e pedras com fartura, exatamente o mesmo que do outro
lado. Assim sendo, para quê empreender aquela trabalhosa
viagem? Aquele animal causava-lhe admiração.
De repente, ficou noite e na rua, no meio de Lisboa, estava a
olhar para cima. Fogo-de-artifício atravessava o céu, deixando um
rasto de cintilantes faíscas, e depois explodia. Sabia que os
foguetes eram feitos com o papel velho usado nos registos e que
era um mestre fogueteiro que, com grande destreza, os enchia de
pólvora. Apesar de o saber, não deixava de lhe causar admiração. O
fogo-de-artifício festivo, lançado por ocasião do nascimento da
terceira princesa, Maria Doroteia, constituíra um espetáculo
fascinante.
Depois, lá estava ele sentado no telhado, encostado à chaminé, a
ler um romance. A inclinação daquele era na justa medida em que
lhe proporcionava uma posição confortável. A chaminé fora
aquecida pela luz do Sol, que brilhava com intensidade de ambos os
lados. Gaivotas cruzavam os céus, enquanto ele lia.
O Sol ia aquecendo.
Antero pôs-se a correr. Seguia a sombra que uma nuvem
projetava sobre a rua. Ansiava por se sentir mais fresco, mas a
nuvem movia-se mais depressa do que conseguia correr.
Implacável, o Sol lançava sobre ele o seu calor infernal.
– O leitor mais experiente lê em silêncio – disse em voz alta, de
volta à sua cela.
«Estarei a enlouquecer?», perguntou a si mesmo. A febre dava-
lhe a impressão de sentir na boca o gosto de limões. Sentiu o cheiro
do seu próprio pus e o fedor dos excrementos ensanguentados.
Alguém o abanou, colocando a mão no seu ombro. Antero abriu
os olhos. Ter-se-ia deixado adormecer? Alguém segurava uma
caneca diante dele. Bebeu sofregamente.
– Deixe-nos sozinhos. E dê-me o candeeiro – disse uma voz.
Antero levantou o olhar. Um homem abandonou a cela. Um outro
acocorou-se diante dele e iluminou-lhe o rosto com o candeeiro.
– Está mesmo com mau aspecto.
Com a luz desenharam-se os contornos de quem tinha diante de
si: o secretário de Estado do Reino.
– Que está o senhor a fazer aqui? – grasnou Antero. – Não se
esqueça do que combinámos!
– Tem consciência de que são poucos os dias de vida que lhe
restam? Está com disenteria, segundo o médico. Com um
tratamento intensivo conseguiria sobreviver, mas aqui dentro será
impossível.
– Por que razão me diz isso? Seja como for não posso sair…
O secretário de Estado do Reino acenou afirmativamente com a
cabeça e disse:
– Temos de despedir-nos.
Encostado à parede, Antero tentou endireitar-se. Estava
demasiado fraco. O seu braço tremia e as pernas deram de si.
– O rei ainda está vivo?
– Entretanto tomei providências para que a rainha seja a regente.
Mas ele está vivo, sim. Os médicos esperam que assim continue.
– Há quanto tempo já estou aqui?
– Três meses e meio. Tinha razão na sua conjetura. Os meus
homens intercetaram cartas no Brasil que foram enviadas por
Malagrida antes do atentado. Nelas ele anuncia que algo iria
acontecer ao rei.
– Nesse caso já o apanhámos!
– Ele não deixa de ter razão, realmente algo aconteceu ao rei. Os
juízes irão entender isso como resultado de um dom profético e não
o considerarão um indício de que ele é o autor. Lá fora há imensa
gente à espera de que, com esta escassez de provas, eu faça uma
denúncia, para poderem aproveitar a debilidade do processo para
me derrubar.
Antero ficou em silêncio. Tinha a sensação de que alguém lhe
estava a atarraxar um parafuso na nuca. Ao mesmo tempo, havia no
interior da cabeça uma roda de fogo que não parava de girar. Fazia
pressão contra as paredes do crânio e espalhava faúlhas ardentes.
– Com certeza não devemos voltar a ver-nos – disse o secretário
de Estado do Reino. – Talvez tenha interesse em saber que Leonor
lutou todos os dias por si. E a sua filha pediu-me que lhe dissesse
que está lá fora à sua espera.
«Vai esperar em vão», pensou ele. «Já daqui não saio vivo».
Reuniu as suas últimas forças e perguntou:
– Não podemos arranjar maneira de acelerar um pouco as
coisas?
– Como assim?
– Temos de conseguir que Malagrida sinta medo. Há de
questionar-se por que razão ainda não fui executado, por que razão
a aplicação da pena está a ser adiada – Antero refletiu durante
alguns momentos. – Dê-lhe um indício que o deixe confuso. Envie
quatro homens às ruínas da Biblioteca Real. Mande escavar os
escombros e examinar cada um dos livros encadernados e
queimados que conseguirem encontrar. Mande fazer tudo isso de
preferência sob a supervisão de vários soldados.
– E que irão eles encontrar?
– Nada. Mas não é disso que se trata…
O secretário de Estado acenou com a cabeça e disse:
– Estou a perceber.
«SECRETÁRIO SANGUINÁRIO» podia ler-se na parede, escrito a carvão
sobre as pedras novas e brancas. Por cima fora desenhada uma
caveira com uma coroa. Leonor seguiu o seu caminho
apressadamente. O secretário de Estado do Reino não estava por
detrás do atentado ao rei, como o autor daquela injúria acreditava.
Ainda assim, achava ela, não lamentava nada que sobre ele
recaísse aquela suspeita. Era um hipócrita. Recusava-se a retirar
Antero daquela masmorra, muito embora soubesse perfeitamente
que fora Malagrida a promover o atentado. Que era fácil alguém
deixar-se manipular por Gabriel Malagrida ela própria sabia e
experimentara-o. Também o secretário de Estado do Reino deveria
entendê-lo.
Olhou para o interior do seu cesto. Os ovos, o pedaço de queijo, a
farinha e o azeite, tudo aquilo fora comprado com o dinheiro de
Sebastião de Carvalho. Pela centésima vez propôs-se a não aceitar
mais o dinheiro dele. Da próxima vez, iria mandar embora o
mensageiro do secretário de Estado. Ele estava a comprar o seu
silêncio, mas ela não queria continuar calada.
No momento em que ia a começar a subir as escadas para ir para
casa, alguém chamou o seu nome. Virou-se na direção dessa
pessoa. Uma negra gorda pousou um cesto da roupa no meio da
rua e acercou-se de Leonor.
– Minha menina! – exclamou ela, sorrindo. Abraçou Leonor e
pregou-lhe um beijo na cara. – Minha boa menina!
A criada! Leonor abraçou-a. O corpo dela era macio como uma
almofada. Abraçar aquele corpo enorme proporcionava o prazer de
uma recordação de infância.
A escrava limpou uma lágrima.
– Vim a segui-la desde o mercado. Não sabia se era realmente a
menina.
– Conseguiste arranjar trabalho?
– Sim. Agora sou lavadeira.
– E é bom ter a própria liberdade?
– Ah, não faz diferença alguma. Seja como for, trabalho para os
senhores. Fica tudo como era dantes. O seu pai sempre me tratou
bem – a criada pousou as mãos na base das costas. – E a menina
Leonor, como tem passado? Temia que já não estivesse viva.
– Eu continuo viva, mas o meu coração é como se estivesse
morto. Antero está preso nas masmorras. E tenho aceitado dinheiro
do homem que o deixou em apuros. Estou farta disto. Sabes como
poderei arranjar maneira de ganhar dinheiro?
A criada voltou para junto do cesto da roupa e ergueu-o. Lá dentro
estavam lençóis e roupas dobradas.
– Eu só conheço um. Trabalhando… – disse ela.
– É isso que eu também quero fazer.
– Podia passar a roupa a ferro. Tenho encomendas que cheguem
para duas.
Leonor olhou para o cesto e disse:
– Só que eu não sei como isso se faz.
A criada sorriu.
– Eu mostro-lhe, menina Leonor. Já há muito que lho teria
ensinado, mas não era coisa que se fizesse, e como também nunca
quis saber disso…
Dali a alguns instantes estavam já na cozinha, com um lençol
estendido sobre a mesa, e a criada ia explicando:
– Põe-se sempre vários ferros no fogo.
Atrás delas, fez-se ouvir uma voz de menina:
– Mas eles estão em cima da placa do forno, não estão no fogo.
A criada deu meia-volta.
– Samira! Minha querida! – acocorou-se e abriu os braços.
Samira saltou para os braços dela. A criada recebeu-a no seu
abraço. Os cabelos ruivos da pequenita caíam em suaves ondas
sobre as mãos negras da mulher. Por fim esta largou Samira e pôs-
se de pé.
– Podes já ir assistindo, minha querida, não faz mal algum ficares
a saber passar a ferro. Ora bem, diz-se «pôr o ferro no fogo» porque
dantes eram mesmo colocados sobre as brasas. Só que hoje em dia
já ninguém faz isso assim.
Enfiou a mão num balde com água e borrifou a superfície quente
de um dos ferros. Produziu-se um silvo. Num instante a água
evaporou-se e desapareceu.
– Estás a ver? Agora o ferro já está suficientemente quente –
pegou num cabo de madeira com uma haste de ferro, que servia
para enfiar em duas argolas existentes na base, também de ferro,
que ficara a aquecer no fogão. – É assim que o cabo é fixado. –
Com o ferro na mão dirigiu-se ao lençol. Aquela base tinha a forma
de um navio, terminava numa extremidade bicuda que parecia a
proa. Passou com o ferro por cima do lençol e os vincos
desapareceram como por magia.
O pano estava tão limpo que a pureza da sua brancura quase
feria os olhos. E com que mestria a criada fazia desaparecer os
vincos com o ferro! Era bom só de ver. Ao observá-la, Leonor sentiu
no seu interior uma tranquilidade pela qual já há muito ansiava.
A criada voltou a colocar o ferro na placa do fogão e retirou o
cabo.
– E agora a menina Leonor – disse ela, entregando-lho.
Leonor recebeu-o. A madeira estava quente. Enfiou a haste de
ferro do cabo através das argolas da base, que aquecera no fogão,
tal como vira fazer. Ergueu-o e voltou a pousá-lo imediatamente.
– Meu Deus, como é pesado!
A criada riu-se.
– Eu também quero experimentar! – exclamou Samira.
– Pega num pequeno – disse a criada.
Retirou o ferro das mãos de Leonor, puxou o cabo e entregou-o a
Samira. Conduziu a mão da menina de oito anos à base mais
pequena de todas. Juntamente com ela, enfiou o cabo nele e
levantou-o.
– Oh, como isto é pesado… – disse Samira toda satisfeita. –
Quero passar a ferro com ele!
– Que pensas do atentado ao rei? – perguntou Leonor.
A criada dirigiu-se para a mesa juntamente com Samira e ajudou-
a a passar com o ferro por cima do lençol.
– Cada um tem de obedecer ao senhor que tiver acima de si –
respondeu ela. – E isto é válido para todos, desde o mais simples,
por aí acima, até ao rei. Não nos cabe a nós a ousadia de falar
acerca do rei.
– Mas deves ter ouvido falar do atentado.
– Foi Deus que determinou que José fosse o nosso soberano. O
assassino não tem nada que mudar aquilo que Deus decidiu. Isso é
uma insurreição contra Deus.
Antero passou as pontas dos dedos por entre as pedras frias. Sentir
as respetivas arestas dava-lhe a sensação de que as coisas tinham
um início e um fim, de que havia uma realidade para além daqueles
sonhos febris, das feridas ulceradas e latejantes e do sangue.
Mantinha-se preso às arestas das pedras. O muro constituía um
refrescante alívio. Encostou a face à pedra. Aquele terrível ribombar
no interior da cabeça baixou de intensidade.
Antero sentiu pó a fazer-lhe cócegas no nariz e teve de espirrar.
Donde viria o pó? Talvez a torre estivesse a sofrer algum
movimento. Aquando de grandes tempestades ela deveria oscilar,
do mesmo modo que as árvores se dobravam para não se partir. E,
se a torre oscilava, as pedras colocadas umas em cima das outras
rangiam, moendo e triturando-se mutuamente, criando assim o pó.
Talvez se conseguisse ouvir as pedras a estalar. As superfícies
delas não eram perfeitamente uniformes, devia haver rachas e
pequenas elevações, nas quais ficassem presas e não se
deixassem mover, até a força da tempestade ser tão grande a ponto
de parti-las.
Pôs-se à escuta. Pareceu-lhe que a torre, com todas as suas
pedras que se moviam e friccionavam, estremecia ligeiramente.
Eram às centenas as mós que comprimiam as pedras e produziam
aquela «farinha» de pedra. Poder-se-ia cozer pão a partir dessa
farinha, um nutritivo pão de pedra. E a terra, essa poderia…
Antero afastou-se da parede. Fitou a escuridão da cela e respirou
profundamente.
Era isso que dava origem aos tremores de terra!
Em relação umas às outras, as rochas movimentavam-se
paralelamente e era ao roçarem que se produziam os terramotos.
Enormes massas de rocha que, ao longo de milhas e milhas e
abaixo da superfície terrestre, moíam a pedra até a transformar
numa espécie de farinha de pedra.
Por isso não havia explosões.
Por isso não se abriam enormes desfiladeiros.
Por isso os tremores de terra também eram sentidos em cidades
bastante distantes.
Era a crosta terrestre. Possuía fissuras que não respeitavam as
fronteiras entre os estados. Quando se conseguisse encontrar essas
fissuras, talvez se pudesse passar a medir a movimentação das
diferentes placas de rocha que constituíam a Terra, além de
entender a estrutura do planeta e de calcular quando e onde se
corria o risco de ocorrer um tremor de terra.
Antero engoliu em seco. Iria reescrever o seu livro. Conseguiria
agora explicar os tremores de terra ainda melhor e de um modo
científico e assim quebrar o poder dos Jesuítas. Tinha agora de pôr
tudo aquilo por escrito e de, antes de morrer, transmitir aquela sua
descoberta. Arrastou-se até à porta da cela.
– Guarda! – grasnou ele. – Guarda!
Ninguém veio. Encostou o ouvido à porta. Afinal sim, sentia
passos, só que não se aproximaram; ao invés disso afastaram-se.
Bateu à porta. O seu punho enfraquecido não era capaz de produzir
mais do que um ruído tímido.
Ali ficou durante horas, com o ouvido encostado à porta, e ia
gritando pelo guarda. Foi então que, de repente, se aproximaram
passos. Eram várias pessoas.
– Guarda! – gritou ele, produzindo um tom agudo.
Entreviu-se luz, que entrou por uma greta abaixo da porta. Ouviu-
se o tilintar de um molho de chaves e, para além disso, fizeram-se
deslizar grossos ferrolhos. Antero arrastou-se para longe da porta,
que não tardou a abrir-se. A luz encandeou-o, teve de proteger os
olhos com a mão.
– Preciso de ditar uma coisa – disse ele –, tenho de ditar uma
coisa com urgência!
A porta voltou a fechar-se e os ferrolhos trancados. A luz
manteve-se.
– Isto aqui não é um escritório, meu imbecil.
A voz de Malagrida. Antero teve de conter-se, para não deixar
transparecer nada. Colocou a palma da mão por detrás da ore- lha.
– Que diz?
– Ficaste duro de ouvido? – Malagrida passou a falar mais alto. –
Estás com mau aspecto. Já não deves durar muito tempo!
– É o padre Malagrida?
Malagrida assoou-se com a mão, fazendo com que o ranho fosse
projetado no chão da cela.
Enojado, Antero recuou.
O jesuíta esboçou um sorriso. Chegou-se junto de Antero.
– Que foi que escondeste? Por que razão te mantêm vivo?
Antero arrastou-se até à parede da cela, sentou-se e juntou os
joelhos à barriga.
– Eles querem saber alguma coisa a teu respeito – Malagrida
acocorou-se, como um pai diante do seu filho –, e tu continuas
calado. Achas que te executam mal lhes dê a conhecer o teu
segredo, não é?
– Fiquei a apodrecer nesta masmorra no seu lugar – disse Antero
num tom raivoso. – O padre está por detrás do atentado ao rei.
Gabriel Malagrida fez um esgar irónico.
– Olha só quem se está a fazer de mau! Na actual conjuntura,
cada um de nós cumpre o seu papel. E o teu é ficar aqui – disse
Malagrida, esboçando ainda um sorriso.
– Assassino!
– Não, Antero. Limitei-me a promover o encontro das pessoas
certas.
– A marquesa de Távora jamais…
– Oh, sim, a marquesa de Távora e o seu marido, o respeitável
duque de Aveiro. Eles ajudaram com todo o prazer. Será que
consegues ter a mais pequena ideia de como este rei débil e fraco
se foi a pouco e pouco tornando um repugnante estorvo para eles?
E Sebastião de Carvalho é o próximo a ser derrubado. Mas isso só
vai acontecer depois de tu partires. Não tens razões para ficar
preocupado – inclinou-se um pouco para a frente. – Anda lá,
murmura-mo ao ouvido. Não vais querer levar o teu segredo contigo
para a cova. Diz-me lá de que andam eles à procura ali nas ruínas
da biblioteca. Diz-me por que razão não te executam de uma vez.
Depois disso, já vou poder dormir descansado, e tu também. É claro
que queres isso. Alivia-te de uma vez. Vais ver como isso te faz
sentir melhor. Esse negro segredinho deve estar a pesar-te na
consciência. Livra-te dele. Deixa-o escapar-se.
Antero ergueu-se, mantendo-se, no entanto, encostado à parede,
e olhou Gabriel Malagrida diretamente nos olhos.
– Revelo-lhe a razão por que ainda estou vivo e por que estou
aqui na masmorra a apodrecer, mas só o faço sob uma condição:
que me explique como consegue conciliar com a sua fé o rapto de
uma menina, o assassínio do rei e o facto de um inocente apodrecer
aqui neste buraco.
O rosto de Malagrida adotou uma expressão séria.
– Sempre fui um promotor dos interesses da Coroa. Servi a Casa
Real, tanto nos territórios ultramarinos como em Portugal. Sempre
me mantive à disposição, prestando a minha ajuda e os meus
conselhos, ano após ano. Foi precisamente assim que servi a Deus.
Fui eu quem converteu os índios em cristãos. Fui eu quem, após o
terramoto, exortei para que se realizassem penitências. Estou a
cumprir a missão que Deus me confiou. Deus é o mestre da vida e
da morte. Se eu libertar alguém da vida, alguém que deixou de ser
fiel ao cumprimento da sua missão, então ajo em nome de Deus!
– Quando lhe atribuiu Ele essa missão? Quando lhe disse Ele que
matasse o rei? Quando lhe ordenou Ele que raptasse Samira, com
oito anos, quando?
O olhar de Malagrida cintilou.
– Deus não tem de me indicar cada um dos passos que dou.
– Eu digo-lhe qual é o meu segredo, o padre é que vai passar o
resto da vida no buraco que é esta masmorra, ao passo que eu
sairei daqui. As ratazanas arrancar-lhe-ão das mãos o pão já
bolorento. Às tantas, deixará de saber quando é dia ou quando é
noite. Há de cagar sangue. Há de ter feridas que infetam e vertem
pus.
Malagrida esboçou um sorriso desdenhoso.
– E como queres tu alcançar isso? Ninguém vai acreditar em ti.
Queres acusar os nobres mais poderosos do Reino de terem
conspirado para assassinar o rei, e a mim, o líder dos Jesuítas?
Uma tentativa deplorável, a tua, de te livrares da tua própria culpa.
Ela é só tua, Antero, está colada a ti como pez, não se desgruda
dos teus dedos. Desta vez não há nenhum «ego te absolvo».
Antero reuniu as últimas forças de que dispunha. Arrastou-se até
à porta. Com muita dificuldade conseguiu erguer-se, já junto a ela,
até ficar de pé nas pernas que lhe tremiam.
– Abram – disse ele.
Os ferrolhos voltaram a deslizar e a porta abriu-se. Por detrás
desta, tal como fora combinado com o secretário de Estado do
Reino, estavam os homens que tinham sido de imediato notificados
para ali comparecer logo que Malagrida surgisse junto da torre. Um
notário. Um escrivão. Quatro guardas, para o caso de o padre tentar
fugir. Antero cambaleou. As pernas dobraram-se-lhe, incapazes de o
segurar de pé. Um dos guardas apoiou-o e manteve-o assim. Antero
virou-se para Malagrida.
– Eu não tenho problemas de audição. Só precisava era que
falasse suficientemente alto para que este notário e este escrivão
conseguissem, através da porta, ouvir bem as suas palavras. Sinta-
se à vontade aqui na cela. Ela agora pertence-lhe.
O rosto do jesuíta ficou lívido.
– Eu estou sob proteção da autoridade papal!
Antero acenou com a cabeça, em jeito de concordância.
– Pode até ser, mas isso pouco diz a um rei que por sua causa
recebeu dois tiros.
35
À alvorada, os soldados puseram-se em marcha. Os passos que
davam com as suas botas ecoavam por entre as casas. Entraram no
palácio da família Távora. Os nobres foram arrancados do conforto
das suas camas e a a marquesa de Távora arrastada para a rua em
camisa de dormir. Ao marquês os soldados trataram de prender os
braços atrás das costas. Ele protestou com veemência e de
imediato foi amordaçado por um oficial.
Ao mesmo tempo puderam ouvir-se gritos no palácio do duque de
Aveiro.
– Acudam! Estou a ser assaltado!
Entre gritos agudos, o duque foi levado para o exterior. No meio
dos soldados, homens de estatura acima da média, ele parecia uma
criança. Um sargento aplicou-lhe uma bofetada com a palma da
mão. Só assim o duque se calou. Ao ver que também a mulher e os
filhos eram trazidos para fora de casa, viu-se nos seus olhos uma
expressão de profundo medo.
Em Belém, um soldado da guarda pessoal do rei, de tez
amarelada, foi conduzido até um muro. Foram-lhe vendados os
olhos. Aguardou em silêncio.
– Apontar! – ordenou um sargento. – Fogo!
Os tiros disparados pelas armas estrondearam. O soldado caiu
por terra e morreu sem um ai.
Pelas nove horas da manhã, Filippo Acciaiuoli, o núncio papal,
entrou intempestivamente no gabinete do secretário de Estado do
Reino:
– Exijo uma explicação!
Da secretária à qual estava sentado, Sebastião de Carvalho, com
o rosto impassível, fitou-o.
– A respeito de quê? – perguntou.
– Com que direito mantém preso o padre Malagrida? – a voz de
Acciaiuoli soou esganiçada, tal a fúria que trazia.
– Ele é acusado de ter vaticinado a morte do rei e de, por meio de
uma conspiração, ter efetivamente tentado levá-la a cabo –
respondeu o secretário de Estado. – Há provas disso em quantidade
suficiente.
– E que provas vêm a ser essas, afinal?
– Uma confissão pessoal, por exemplo.
O núncio engoliu em seco.
– E quem o vai julgar? – perguntou, num tom de voz
substancialmente mais baixo. – Ninguém aqui tem competência
para tal.
– Enquanto secretário de Estado do Reino, sou eu mesmo o
responsável por este caso. Serei eu a conduzir os interrogatórios
aos suspeitos e dirigirei o processo, com a ajuda de outros juízes
sob as minhas ordens.
O núncio franziu o sobrolho.
– Julgar um jesuíta está fora da sua alçada!
– Deverei talvez recordá-lo de que estudei direito na Universidade
de Coimbra. Se pretender queixar-se junto de Clemente XIII, não se
esqueça de lhe dizer também que há nove anos fui eu quem
conduziu as negociações entre Maria Teresa de Áustria e o
Vaticano, quando ainda o seu antecessor estava em funções. O
Papa irá pelos relatos dos seus colaboradores perceber que eu não
tenho qualquer receio de ameaças vãs.
Filippo Acciaiuoli pressionou os lábios com tal força que estes
ficaram sem cor.
– Esta ainda não foi a última palavra que se disse sobre este
assunto! – balbuciou ele por fim. Deu meia-volta e avançou até à
porta.
– Espere – chamou-o ainda Sebastião de Carvalho. – Cumpre-me
informá-lo de que está obrigado a manter silêncio em relação à
acusação e ao processo. O rei deseja que tudo seja mantido em
segredo. É claro que não vai respeitar esta ordem do rei. Mas
depois não me venha dizer que não foi avisado.
Ainda nesse mesmo dia uma mulher nobre foi libertada. A jovem
Teresa de Távora colaborou com a investigação e indicou mais
outros conspiradores da sua família. Era a amante do rei. A sua
execução teria partido o coração a Dom José.
Em Portugal não se falava de outra coisa que não fosse o facto de
o duque de Aveiro, presidente do Desembargo do Paço, ter sido
detido. Homens e mulheres para quem o povo olhava como se
fossem semideuses, estavam agora detidos na prisão como
criminosos perigosos: o conde da Atouguia, a velha marquesa de
Távora e o marido. Além disso, circulava o rumor de que cerca de
uma dúzia de padres jesuítas havia igualmente sido encarcerada.
Leonor continuava a não ter acesso ao secretário de Estado do
Reino. A hora que diariamente ele dedicava a ouvir as pessoas foi
cancelada até nova ordem, ninguém conseguia chegar até junto
dele, nem mesmo os nobres que pretendiam suplicar pela vida dos
seus familiares. Os advogados que Leonor tentou convencer a
defenderem Antero limitaram-se a recusar, argumentando que quem
dispara sobre o rei não tem defesa possível.
Foi marcada uma execução pública para o dia 12 de Janeiro de
1759. Leonor entregou Samira à guarda da criada e fez esta jurar
que a pequenita não sairia de casa. No meio de grande nervosismo,
ela mesma dirigiu-se a Belém. Ao avistar o potro e o cadafalso,
sentiu-se mal.
– Por favor, meu bondoso Deus – rezava ela –, permite que
Antero não esteja entre os condenados!
Entre o público dizia-se que, sob tortura, os acusados haviam
revelado o nome de doze jesuítas. Todos os edifícios e instituições
pertencentes à ordem estavam agora cercados por soldados do rei.
O falatório emudeceu quando começaram as execuções. Muitos
foram os que desviaram o olhar para não ver. Leonor ficou a assistir.
O duque de Aveiro, com a sua pequena estatura, foi supliciado no
potro. Gritou bem alto com a sua voz de falsete. Atrás dele, um
britânico soltou um gemido.
– Tratar assim um membro da alta nobreza! – vociferava ele. – É
uma barbaridade.
Arrastou-se aquele pequeno corpo desarticulado para o cadafalso
e foi-lhe cortada a cabeça. O cadáver foi queimado naquele mesmo
lugar, naquela mesma altura. De seguida, foram buscar a marquesa
de Távora. Também ela foi torturada no potro. Os seus gritos
estridentes ouviram-se bem longe. Depois dela, foi a vez do antigo
vice-rei da Índia, o seu marido. A seguir a este veio o conde de
Atouguia e outros seis. Todos foram por fim decapitados. Para
terminar, o carrasco pegou fogo ao cadafalso. As cinzas dos
executados, misturadas com as do cadafalso, foram espalhadas
pelo Tejo.
Leonor, como que atordoada, assistiu a tudo. Antero não surgira
entre os executados, mas ainda assim ela era incapaz de sentir
qualquer alegria. Sabia bem que aquilo que vira persegui-la-ia em
pesadelos durante anos.
O vento mudou de rumo e soprou as cinzas na direção da
assistência. Não tardou que ficassem com os cabelos, a cara e a
roupa cheios de partículas, que se depositaram por todo o lado,
como se os defuntos não quisessem deixar de estar presentes.
Chegara a Primavera. Leonor não tardou a passar a ferro
camisas, jaquetões e toalhas de mesa com uma mestria tal que se
diria que não tinha feito outra coisa a vida toda. O rendimento que
daí obtinha não chegava para pagar a uma cozinheira, mas Leonor
era capaz de ganhar o bastante para o vestuário e alimentação de
Samira e de si mesma. O ar quente que entrava pela janela invadia
a casa. O canto dos pássaros soava mais esperançoso, mais
alegre. Leonor pousou sobre o fogão a base do ferro de engomar
em uso, retirando de lá uma outra, já quente. Pela janela, lançou
uma olhadela para o exterior. Chapins, pendurados nos ramos de
cabeça para baixo, debicavam os rebentos mais jovens. No pátio
vizinho, cabritinhos ensaiavam os primeiros passos.
– Mas eu não tenho vontade alguma de arrumar o quarto! – ouviu
ela Samira gritar.
A voz meiga da criada, que viera de visita, respondeu-lhe:
– Vá, anda daí, querida, eu ajudo-te a fazer isso.
Foi então que, atrás de si, ouviu a porta abrir-se. Alguém entrara
na cozinha. Pousou o ferro de engomar e virou-se.
Antero estava ali diante dela, esquelético.
– Leonor – disse ele –, que bom ver-te.
Ela teve de apoiar-se no móvel.
– Mas tu… Foi o secretário de Estado do Reino que te…
O coração dela batia descompassadamente.
– O rei Dom José concedeu-me uma amnistia. Estou livre.
Prometi-lhe que iria realizar conferências sobre a origem dos
tremores de terra. Como bem sabes, o povo está furioso com os
Jesuítas, que por todo o lado estão a ser perseguidos. Assim sendo,
vão precisar de mim. Como te correm as coisas?
– Nem sei bem… – balbuciou ela. Dos olhos brotaram-lhe
lágrimas. – Não consigo compreender como te podem ter feito isso.
Estás mesmo com mau aspecto.
Antero riu-se.
– Devias ter-me visto há umas semanas! Antes de os médicos do
secretário de Estado tratarem de mim, eu parecia mesmo prontinho
para a sepultura.
«A vida e a morte andam sempre tão próximas», pensou Leonor.
Chegou-se junto de Antero, pegou na sua mão emagrecida e puxou-
o para junto de si.
– Vou dar-te de comer – disse ela. «E vou amar-te», pensou. –
Vou trazer-te de volta à vida.
Ouviu-se as patas de um cão a trepar pelas escadas, arranhando
os respetivos degraus enquanto as subia. Bento ladrou e chegou ali
impetuosamente. Antero acocorou-se e afagou-lhe o pelo. Depois
quis ver como estava a pata de Bento. O cão coxeava, mas a ferida
tinha sarado bem.
– À noite logo arrumo o quarto! – gritou a voz límpida de Samira
da outra parte da casa.
– Deixa-te ficar aqui! – ordenou a criada.
Mas já os pés de uma criança, aos saltos, ressoavam pelas
escadas. Samira ficou parada na entrada da cozinha, os olhos muito
abertos.
– Papá? – murmurou ela.
Ele sorriu.
Com uma exclamação algures entre o choro e o riso, Samira
lançou-se nos braços de Antero.
Agradecimentos
Dra. Rita Haub, da Província Alemã dos Jesuítas, que gentilmente
me respondeu a algumas questões acerca da Companhia de Jesus.
Barbara Fellgiebel, por uma lista de palavras portuguesas e
respetiva pronúncia. Barbara Fellgiebel dirige a Associação dos
Amigos da Literatura e do Filme no Algarve – Assoziation der
Literatur und Filmfreunde der Algarve (ALFA), www.alfacultura.com
As colaboradoras do Departamento de Cartografia, na Biblioteca
da Universidade de Göttingen e do estado da Baixa Saxónia. Com
elas, a caça ao tesouro foi realmente um prazer! Nunca antes tive à
disposição uma tão rica variedade de material cartográfico para a
preparação de um romance.
Ruben Grieco, por informações a respeito da história da
Companhia de Jesus.
Ralf Döbbeling, que me abriu os olhos para algumas
redundâncias retóricas no romance e fortaleceu a figura de Leonor.
Elli Bochmann, que, com as suas súplicas, salvou a vida de
Bento.
Andreas Wilhelm, por me ensinar uma imprecação em português.
Justus Hotte, cujo olhar atento de livreiro e leitor me ajudou a
intensificar, entre outras, a tempestade no início do romance e a
descrição do terramoto.
Lena Schußmann, pela ajuda nas passagens mais emocionais do
romance. E por muito mais.
Michael Gaeb, o meu agente literário, que, ao longo de uma
cansativa hora, me explicou por que razão eu iria ter de recomeçar o
romance do início, muito embora já quase o tivesse pronto.
Gunnar Cynybulk, pelo oitavo livro que fazemos em conjunto.
Muito obrigado pelas muitas horas de empenho que investes nos
meus romances! A tua capacidade de trabalhar o cerne de uma
história nunca deixa de me surpreender.
Agradeço sobretudo aos meus leitores fiéis. São eles que me
possibilitam continuar a cumprir este meu sonho, que consiste em
contar histórias e, com elas, conseguir comprar o meu sustento e
pagar a renda de casa. Essa é, para mim, uma maravilhosa dádiva!
Índice
CAPA
Ficha Técnica
PRIMEIRO LIVRO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
SEGUNDO LIVRO
29
30
31
32
33
TERCEIRO LIVRO
34
35
Agradecimentos
Você também pode gostar
- Sarah Tolcser - 01 A Canção Das Águas (Oficial) PDFDocumento379 páginasSarah Tolcser - 01 A Canção Das Águas (Oficial) PDFMylena DinizAinda não há avaliações
- Sarah Perry - A Serpente Do Essex (Oficial PT-PT)Documento344 páginasSarah Perry - A Serpente Do Essex (Oficial PT-PT)Bruna IbiapinaAinda não há avaliações
- Travessia: A história de amor de Anita e Giuseppe GaribaldiNo EverandTravessia: A história de amor de Anita e Giuseppe GaribaldiAinda não há avaliações
- A Mão do Finado Alexandre DumasDocumento137 páginasA Mão do Finado Alexandre DumasMauro IsolaniAinda não há avaliações
- O Priorado Da Laranjeira - Samantha Shannon 2Documento546 páginasO Priorado Da Laranjeira - Samantha Shannon 2Julia HolandaAinda não há avaliações
- Sombra Do CorvoDocumento599 páginasSombra Do CorvoBLACK.101Ainda não há avaliações
- A Rainha Do Fogo - Anthony RyanDocumento659 páginasA Rainha Do Fogo - Anthony RyanLeonardo AraujoAinda não há avaliações
- O Destino Do Assassino - Robin HobbDocumento547 páginasO Destino Do Assassino - Robin Hobbnowhelena1234Ainda não há avaliações
- O Priorado Da Laranjeira - Samantha ShannonDocumento848 páginasO Priorado Da Laranjeira - Samantha ShannonGabi Mikael100% (1)
- O Priorado Da Laranjeira - The Roots of Chaos Vol. 1 - Samantha ShannonDocumento1.285 páginasO Priorado Da Laranjeira - The Roots of Chaos Vol. 1 - Samantha Shannonisacraftbr7Ainda não há avaliações
- Como Escapar de Canibais - Emmanuelle de MaupassantDocumento148 páginasComo Escapar de Canibais - Emmanuelle de MaupassantGuilherme Andrade (Guilherme Andrade Broker)Ainda não há avaliações
- Camilla Lackberg - Fjallbacka 07 - A Ilha Dos EspíritosDocumento293 páginasCamilla Lackberg - Fjallbacka 07 - A Ilha Dos Espíritosednapapi100% (1)
- Sete Santos Sem Rosto - M.K. LobbDocumento365 páginasSete Santos Sem Rosto - M.K. Lobbamanda.guimaraesbiduAinda não há avaliações
- Test ManuelaDocumento8 páginasTest ManuelaAnne Christine Lopes FerreiraAinda não há avaliações
- O Matador do Olimpo: Mistérios nas Ilhas GregasNo EverandO Matador do Olimpo: Mistérios nas Ilhas GregasNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- O Navio Arcano - Robin HobbDocumento677 páginasO Navio Arcano - Robin HobbCarlosAinda não há avaliações
- A menina que descobriu o mar numa palavraDocumento3 páginasA menina que descobriu o mar numa palavraHelder D. M. LopesAinda não há avaliações
- O Coracao Das TrevasDocumento116 páginasO Coracao Das TrevasJorge AbdoAinda não há avaliações
- Coração Das TrevasDocumento200 páginasCoração Das TrevasgilokdssAinda não há avaliações
- A Terra Desolada - T.S. EliotDocumento11 páginasA Terra Desolada - T.S. EliotRaimundo Solano Lira PereiraAinda não há avaliações
- The Raven and The DoveDocumento461 páginasThe Raven and The DoveHelena CostaAinda não há avaliações
- Silo - Tips - Norberto Morais o Pecado de Porto Negro PDFDocumento22 páginasSilo - Tips - Norberto Morais o Pecado de Porto Negro PDFValdo De Bará100% (1)
- (Império Do Vampiro #1) Império Do Vampiro - Jay KristoffDocumento945 páginas(Império Do Vampiro #1) Império Do Vampiro - Jay KristoffVerônica NunesAinda não há avaliações
- Mushoku Tensei - Jobless Reincarnation - Vol.04 (Light Novel)Documento336 páginasMushoku Tensei - Jobless Reincarnation - Vol.04 (Light Novel)Gabriel CalixtoAinda não há avaliações
- 01 - Cursed Waters - Série Queen of Tridents - (Shana Brooke)Documento506 páginas01 - Cursed Waters - Série Queen of Tridents - (Shana Brooke)wiirochahAinda não há avaliações
- O Batismo Da Dor Jorge AdoumDocumento206 páginasO Batismo Da Dor Jorge AdoumHugo Leandro PendragonsAinda não há avaliações
- Jaf, Ivan. O Vampiro Que Descobriu o Brasil PDFDocumento49 páginasJaf, Ivan. O Vampiro Que Descobriu o Brasil PDFjandrearaujoAinda não há avaliações
- Coração das trevas: a jornada para o desconhecidoDocumento210 páginasCoração das trevas: a jornada para o desconhecidoNicholas PinheiroAinda não há avaliações
- Hermann Broch - A Morte de Virgílio (Ed. Relógio D - Água, Portugal)Documento376 páginasHermann Broch - A Morte de Virgílio (Ed. Relógio D - Água, Portugal)Rodrigo Cardoso Ulguim100% (1)
- CDK ReadaptionDocumento28 páginasCDK ReadaptionWilliam Mono EkkoAinda não há avaliações
- O Colosso de GeloDocumento544 páginasO Colosso de Gelomig66650% (2)
- O silvo do arqueiroDocumento230 páginasO silvo do arqueiroDaniel BraunaAinda não há avaliações
- Caridad Bravo Adams Livro 01 CoraçãoDocumento235 páginasCaridad Bravo Adams Livro 01 CoraçãoLuke StarAinda não há avaliações
- Poemas de BrechtDocumento10 páginasPoemas de BrechtHugo LabancaAinda não há avaliações
- Daphne Clair - A Deusa Dos Mares (Julia 345)Documento90 páginasDaphne Clair - A Deusa Dos Mares (Julia 345)Tati FreitasAinda não há avaliações
- Ato I - Cena I e IIDocumento23 páginasAto I - Cena I e IIlavergneAinda não há avaliações
- Coração Selvagem IDocumento211 páginasCoração Selvagem ISamara Moraes60% (5)
- Prefácio: Cultura MakerDocumento4 páginasPrefácio: Cultura MakerLuis ValenteAinda não há avaliações
- Fisiologia Humana Geral I - Parte 2Documento27 páginasFisiologia Humana Geral I - Parte 2douglas.diasAinda não há avaliações
- 50059-Texto Do Artigo-61854-1-10-20130117Documento6 páginas50059-Texto Do Artigo-61854-1-10-20130117PatriciaRaiolLopesAinda não há avaliações
- Estudo Hermenêutico Do Liber Oz Sub Figura Lxxvii de Aleister Crowley Numa Perspectiva LingüísticaDocumento79 páginasEstudo Hermenêutico Do Liber Oz Sub Figura Lxxvii de Aleister Crowley Numa Perspectiva LingüísticaFrancisco Aldebaran50% (2)
- Análise da estrutura de pensamento em uma clínica filosóficaDocumento88 páginasAnálise da estrutura de pensamento em uma clínica filosóficaRosemiro SefstromAinda não há avaliações
- Alpiste - Fonte de ProteínaDocumento3 páginasAlpiste - Fonte de ProteínamgataoAinda não há avaliações
- A importância do brincar para o aprendizado escolarDocumento1 páginaA importância do brincar para o aprendizado escolarRenata Fiorese FernandesAinda não há avaliações
- Guiando o AutoconhecimentoDocumento33 páginasGuiando o AutoconhecimentoThiago Neves0% (2)
- Estatistica PDFDocumento149 páginasEstatistica PDFdanielscribd2011Ainda não há avaliações
- Òrúnmìlà Afasta Os Ajógun de ÌféDocumento3 páginasÒrúnmìlà Afasta Os Ajógun de ÌféÌfágbuíAinda não há avaliações
- A Noção de Conjunto Numérico É Bastante Simples e Fundamental Na MatemáticaDocumento4 páginasA Noção de Conjunto Numérico É Bastante Simples e Fundamental Na MatemáticaCatimbó Zé PilintraAinda não há avaliações
- Olá, Estudante! Somos Da INTEGRARE ACADEMY Iremos Te Ajudar Nessa Atividade..Documento2 páginasOlá, Estudante! Somos Da INTEGRARE ACADEMY Iremos Te Ajudar Nessa Atividade..Prime EducacionalAinda não há avaliações
- Capital Fetiche - IamamotoDocumento24 páginasCapital Fetiche - IamamotoSula Morais100% (1)
- Guia para Uso de Linguagem SimplesDocumento18 páginasGuia para Uso de Linguagem SimplesemanolimaAinda não há avaliações
- Modelo Trabalho Filosóficos12 GrauDocumento4 páginasModelo Trabalho Filosóficos12 Grauclovis david de limaAinda não há avaliações
- Cadernos de Atenção Básica - ObesidadeDocumento110 páginasCadernos de Atenção Básica - ObesidadedachamasAinda não há avaliações
- CONTESTAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSEDocumento7 páginasCONTESTAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSEEliézer SousaAinda não há avaliações
- Capitalismo e SocialismoDocumento7 páginasCapitalismo e SocialismoGraciano emilio VaquinaAinda não há avaliações
- YC Studyguide Por 1Documento2 páginasYC Studyguide Por 1Diego de Araujo RodriguesAinda não há avaliações
- Apostila Do Curso Atendimento Pre Hospitalar AphDocumento66 páginasApostila Do Curso Atendimento Pre Hospitalar AphElza Rodrigues da SilvaAinda não há avaliações
- Mini-Mental State Examination - ApresentaçãoDocumento17 páginasMini-Mental State Examination - ApresentaçãoFrancisco RachinasAinda não há avaliações
- Controle de Constitucionalidade: Noções Básicas e Espécies de InconstitucionalidadeDocumento162 páginasControle de Constitucionalidade: Noções Básicas e Espécies de InconstitucionalidadeSuzani de SouzaAinda não há avaliações
- Oficina ACI, Introdução de Objetivos e Conteúdos Intermédios PDFDocumento15 páginasOficina ACI, Introdução de Objetivos e Conteúdos Intermédios PDFDaniela Baudrier100% (1)
- Desenvolvimento Da Criança de 1 A 5 AnosDocumento9 páginasDesenvolvimento Da Criança de 1 A 5 AnosAndrea ITECCAinda não há avaliações
- Ebook - Que Charada Esconde A Bicharada Vol 1Documento19 páginasEbook - Que Charada Esconde A Bicharada Vol 1Lindaura Eleuterio100% (1)
- Diabetes gestacional: aspectos fisiopatológicos e tratamentoDocumento7 páginasDiabetes gestacional: aspectos fisiopatológicos e tratamentoMichele SouzaAinda não há avaliações
- Bullying (A Ameaça Na Escola)Documento12 páginasBullying (A Ameaça Na Escola)Lleandro Luiz de LimaAinda não há avaliações
- Paciência Deus - Heber CamposDocumento10 páginasPaciência Deus - Heber CamposJimmy Dantas0% (1)
- Classicanismo na literatura portuguesaDocumento16 páginasClassicanismo na literatura portuguesaPortais Abertos100% (1)
- A Regra das 24 Polegadas: ensinamentos da régua do aprendiz maçomDocumento2 páginasA Regra das 24 Polegadas: ensinamentos da régua do aprendiz maçomRodrigo FaéAinda não há avaliações