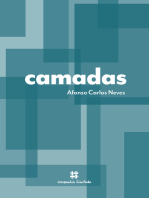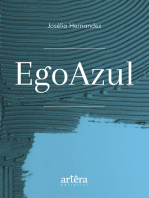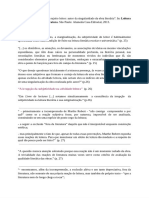Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Roland Barthes Escrever A Leitura
Enviado por
Patrícia Costa0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações2 páginasTítulo original
Roland Barthes Escrever a Leitura (1)
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações2 páginasRoland Barthes Escrever A Leitura
Enviado por
Patrícia CostaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 2
ESCREVER A LEITURA
Roland Barthes, 1970, Le Figaro littéraire.
Nunca vos aconteceu, ao ler um livro, interromper constantemente a vossa leitura,
naã o por desinteresse, mas, pelo contraá rio, por afluxo de ideias, de excitaçoã es, de
associaçoã es? Numa palavra, naã o vos aconteceu ler levantando a cabeça?
Foi esta leitura, simultaneamente desrespeitadora, pois corta o texto, e
enamorada, pois volta a ele e dele se alimenta, que tentei escrever. Para a escrever, para
que a minha leitura se tornasse por sua vez objecto de uma nova leitura (a dos leitores
de S/Z), tive evidentemente de tentar sistematizar todos os momentos em que
“levantamos a cabeça”. Por outras palavras, interrogar a minha proá pria leitura era
esforçar-me por captar a forma de todas as leituras (a forma: uá nico lugar da cieê ncia),
ou ainda: fazer apelo a uma teoria da leitura.
Peguei pois num texto curto (o que era necessaá rio aà minuá cia da tarefa), o
Sarrasine de Balzac, novela pouco conhecida (mas Balzac naã o se define precisamente
como o Inesgotaá vel, aquele de quem nunca se leu tudo, salvo por vocaçaã o exegeá tica?), e
parei constantemente de ler esse texto. A críática funciona, ordinariamente (e naã o se
trata de uma censura), quer ao microscoá pio (esclarecendo pacientemente o pormenor
filoloá gico, autobiograá fico ou psicoloá gico da obra), quer ao telescoá pio (perscrutando o
grande espaço histoá rico que rodeia o autor). Privei-me desses dois instrumentos: naã o
falei nem de Balzac nem do seu tempo, naã o fiz nem a psicologia das personagens, nem
a temaá tica do texto, nem a sociologia da anedota. Reportando-me aà s primeiras proezas
da caê mara, capaz de decompor o trote de um cavalo, tentei de algum modo filmar a
leitura de Sarrasine em caê mara lenta: o resultado, creio, nem eá exactamente uma
anaá lise (naã o procurei captar o segredo deste texto estranho) nem exactamente uma
imagem (naã o posso ter-me projectado na minha leitura; ou, se assim eá , foi a partir de
um lugar inconsciente bem aqueá m de “mim proá prio”). O que eá pois S/Z? Simplesmente
um texto, o texto que escrevemos na nossa cabeça quando a levantamos.
Esse texto, que deveríáamos nomear com uma soá palavra: um texto-leitura, eá mal
conhecido, porque haá seá culos que nos interessamos desmedidamente pelo autor e
absolutamente nada pelo leitor; a maior parte das teorias críáticas procuram explicar
porque eá que o autor escreveu a sua obra, segundo que pulsoã es, que obrigaçoã es, que
limites. Este privileá gio exorbitante concedido ao lugar de onde a obra partiu (pessoa ou
Histoá ria), esta censura incidente sobre o lugar para onde vai e se dispersa (a leitura)
determinam uma economia muito particular (embora jaá antiga): o autor eá considerado
como o proprietaá rio eterno da sua obra, e noá s, seus leitores, como simples
usufrutuaá rios; esta economia implica evidentemente um tema de autoridade: o autor,
pensa-se, tem direitos sobre o leitor, constrange-o a um certo sentido da obra, e esse
sentido eá naturalmente o bom, o verdadeiro sentido: de onde uma moral críática do
sentido recto (e do seu erro, o “o contra-senso”): procura-se estabelecer o que o autor
quis dizer, e nunca o que o leitor entende.
Apesar de alguns autores nos terem eles proá prios advertido que eá ramos livres de
ler o seu texto a nosso modo e que em suma se desinteressavam da nossa escolha
(Valeá ry), ainda naã o nos damos bem conta de como a loá gica da leitura eá diferente das
regras de composiçaã o. Estas, herdadas da retoá rica, continuam a parecer referir-se a um
modelo dedutivo, quer dizer, racional: trata-se, como no silogismo, de constranger o
leitor a um sentido ou a um desfecho: a composiçaã o canaliza; a leitura, ao contraá rio (o
texto que escrevemos em noá s quando lemos), dispersa, dissemina; ou pelo menos,
perante uma histoá ria (como a do escultor Sarrasine), vemos bem que uma certa
obrigaçaã o de caminhar (de “suspense”) luta incessantemente em noá s com a força
explosiva do texto, a sua energia digressiva: com a loá gica da razaã o (que faz que a
histoá ria seja legíável) mistura-se uma loá gica do síámbolo. Esta loá gica naã o eá dedutiva, mas
associativa: ela associa ao texto (a cada uma das suas frases) outras ideias, outras
imagens, outras significaçoã es. “O texto, soá texto”, dizem-nos, mas o texto sozinho eá uma
coisa que naã o existe; haá imediatamente nesta novela, neste romance, neste poema que
leio, um suplemento de sentido, de que nem o dicionaá rio nem a gramaá tica saã o capazes
de dar conta. Foi deste suplemento que quis traçar o espaço ao escrever a minha
leitura do Sarrasine de Balzac.
Naã o reconstituíá um leitor (nem mesmo voá s ou eu), mas a leitura. Quero dizer que
toda a leitura deriva de formas transindividuais: as associaçoã es engendradas pela letra
do texto (mas onde estaá essa letra?) nunca saã o, façamos o que fizermos, anaá rquicas;
saã o sempre tiradas (colhidas e inseridas) de certos coá digos, de certas líánguas, de certas
listas de estereoá tipos. A leitura mais subjectiva que se possa imaginar nunca eá senaã o
um jogo conduzido a partir de certas regras. De onde veê m estas regras? Por certo que
naã o do autor, que naã o faz mais do que aplicaá -las a seu modo (que pode ser genial, por
exemplo em Balzac); visíáveis muito aqueá m dele, essas regras veê m de uma loá gica
milenar da narrativa, de uma forma simboá lica que nos constitui mesmo antes do
nascimento, numa palavra, desse imenso espaço cultural de que a nossa pessoa (de
autor, de leitor) naã o eá senaã o uma passagem. Abrir o texto, fundar o sistema da sua
leitura, naã o eá , pois, apenas pedir e mostrar que eá possíável interpretaá -lo livremente; eá ,
sobretudo e muito mais radicalmente, forçar o reconhecimento de que naã o existe
verdade objectiva ou subjectiva da leitura, mas apenas uma verdade luá dica; todavia o
jogo naã o deve ser aqui compreendido com uma distracçaã o, mas como um trabalho – do
qual contudo o esforço se tivesse evaporado; ler eá fazer trabalhar o nosso corpo (desde
a psicanaá lise que sabemos que este corpo excede em muito a nossa memoá ria e a nossa
conscieê ncia) ao apelo dos signos do texto, de todas as linguagens que o atravessam e
que formam como que a profundidade cambiante das frases.
Imagino perfeitamente a narrativa legíável (aquela que podemos ler sem a declarar
“ilegíável”: quem naã o compreende Balzac?) sob os traços de uma daquelas figurinhas
subtil e elegantemente articuladas de que os pintores se servem (ou se serviam) para
aprenderem a “morder” as diferentes posturas do corpo humano; ao ler, tambeá m noá s
imprimimos uma certa postura ao texto, e eá por isso que ele eá vivo; mas essa postura
que eá invençaã o nossa, soá eá possíável por existir entre os elementos do texto uma relaçaã o
estabelecida, em suma uma proporção: tentei analisar essa proporçaã o, descrever a
disposiçaã o topoloá gica que daá aà leitura do texto claá ssico simultaneamente o traçado dos
seus limites e a sua liberdade.
Você também pode gostar
- BARTHES, Roland. Escrever A Leitura. in O Rumor Da Língua PDFDocumento4 páginasBARTHES, Roland. Escrever A Leitura. in O Rumor Da Língua PDFDarcio Rundvalt100% (8)
- Ler e escrever no escuro: A literatura através da cegueiraNo EverandLer e escrever no escuro: A literatura através da cegueiraAinda não há avaliações
- A Morte Do AutorDocumento8 páginasA Morte Do AutorHypia SanchesAinda não há avaliações
- A Morte Do Autor - Roland Barthes PDFDocumento6 páginasA Morte Do Autor - Roland Barthes PDFrilane telesAinda não há avaliações
- Silviano Santiago - Anotações de Fisiologia Da ComposiçãoDocumento6 páginasSilviano Santiago - Anotações de Fisiologia Da ComposiçãoPedro Beja AguiarAinda não há avaliações
- A Escrita Do Eu em Quatro Momentos Dom Casmurro, SãoDocumento16 páginasA Escrita Do Eu em Quatro Momentos Dom Casmurro, SãoDaniely Ribeiro de MeloAinda não há avaliações
- Roland Barthes - Morte Do AutorDocumento8 páginasRoland Barthes - Morte Do AutorMatheus MullerAinda não há avaliações
- Memórias póstumas de Brás Cubas: Um romance contemporâneo?No EverandMemórias póstumas de Brás Cubas: Um romance contemporâneo?Ainda não há avaliações
- Ensaio Literario COMPARACAO DE DUAS OBRASDocumento10 páginasEnsaio Literario COMPARACAO DE DUAS OBRASPAULA TOVELEAinda não há avaliações
- Roland Barthes A Morte Do AutorDocumento4 páginasRoland Barthes A Morte Do AutorJúlia Gabriela BalbinotAinda não há avaliações
- Artigo Sobre Continuidade Dos Parques PDFDocumento11 páginasArtigo Sobre Continuidade Dos Parques PDFAlexReblimBraunAinda não há avaliações
- Gustavo Bernardo - Como Interpretar Bem Um TextoDocumento4 páginasGustavo Bernardo - Como Interpretar Bem Um TextoPedro Beja AguiarAinda não há avaliações
- A Filosofia Do Progresso - Pierre-Joseph ProudhonDocumento103 páginasA Filosofia Do Progresso - Pierre-Joseph ProudhonCris GpAinda não há avaliações
- IntertextualidadeDocumento27 páginasIntertextualidadeLeonardo Vivaldo100% (2)
- Machado de Assis e A Estética Da RecepçãoDocumento11 páginasMachado de Assis e A Estética Da RecepçãoTobias Del CastilloAinda não há avaliações
- Noam Chomsky: o autor entre a linguística e a políticaNo EverandNoam Chomsky: o autor entre a linguística e a políticaAinda não há avaliações
- Papel Timbrado - Pós-Graduação - UEG - GoiásDocumento7 páginasPapel Timbrado - Pós-Graduação - UEG - GoiásFrederico SouzaAinda não há avaliações
- Blanchot e o Canto Das SereiasDocumento22 páginasBlanchot e o Canto Das SereiasJuliana FalcãoAinda não há avaliações
- Apostila LiteraturaDocumento17 páginasApostila LiteraturaAdriana100% (1)
- Digitalizar 0004Documento3 páginasDigitalizar 0004José LuizAinda não há avaliações
- O Teatro Dos Heterônimos Por Fernando PessoaDocumento19 páginasO Teatro Dos Heterônimos Por Fernando PessoaCarlos Fradique MendesAinda não há avaliações
- Richard ZenithDocumento12 páginasRichard ZenithHotel BerlimAinda não há avaliações
- Autor Autoria e Autoridade - Caio GagliardiDocumento18 páginasAutor Autoria e Autoridade - Caio GagliardiMateus RamosAinda não há avaliações
- BARTHES, Roland - A Morte Do AutorDocumento6 páginasBARTHES, Roland - A Morte Do AutorfelipeuerjAinda não há avaliações
- Zen e a poética autorreflexiva de Clarice Lispector: Uma literatura de vida e como vidaNo EverandZen e a poética autorreflexiva de Clarice Lispector: Uma literatura de vida e como vidaAinda não há avaliações
- MORAES Eliane Robert Licoes de Sade Ensaios SobreDocumento8 páginasMORAES Eliane Robert Licoes de Sade Ensaios SobreArtur FortesAinda não há avaliações
- GOULEMOT - Produção de SentidosDocumento6 páginasGOULEMOT - Produção de Sentidosdegasparotto100% (2)
- Ascânio LopesDocumento3 páginasAscânio Lopesapi-3697810100% (1)
- O Gênero Lírico PDFDocumento16 páginasO Gênero Lírico PDFFlávio Paz IIAinda não há avaliações
- A Morte Do Autor de Roland BarthesDocumento8 páginasA Morte Do Autor de Roland BarthesCibele Alcântara100% (1)
- O Sujeito Leitor - FichamentoDocumento4 páginasO Sujeito Leitor - FichamentoTAINARA PEREIRA ALVES MARTINS ROCHAAinda não há avaliações
- DERDIK, Edith Livro de ArtistaDocumento10 páginasDERDIK, Edith Livro de ArtistaAndré RochaAinda não há avaliações
- Barthes - A Morte Do AutorDocumento4 páginasBarthes - A Morte Do Autorrobson.britoAinda não há avaliações
- Roland Barthes Ou Máscaras em ProfusãoDocumento19 páginasRoland Barthes Ou Máscaras em ProfusãoLilianneCobbAinda não há avaliações
- 90221-Texto Do Artigo-194297-3-10-20151222Documento16 páginas90221-Texto Do Artigo-194297-3-10-20151222Janayara LimaAinda não há avaliações
- Scheila Jacob MetalinguagemDocumento11 páginasScheila Jacob MetalinguagemClaudia Regina NascimentoAinda não há avaliações
- O Jogo Da AmarelinhaDocumento16 páginasO Jogo Da AmarelinhaEdna RavenAinda não há avaliações
- Construção Da Poesia e Do Eu Lírico, Da Prosa e Do NarradorDocumento6 páginasConstrução Da Poesia e Do Eu Lírico, Da Prosa e Do NarradorluizadesouzacardosoAinda não há avaliações
- O Conceito de Literatura Gustavo BernardoDocumento21 páginasO Conceito de Literatura Gustavo BernardoLiza JaneAinda não há avaliações
- O inventário das inquietações, outras dores e paixõesNo EverandO inventário das inquietações, outras dores e paixõesAinda não há avaliações
- ARTIGO DOM CASMURRO FINALIZADO - LidoDocumento13 páginasARTIGO DOM CASMURRO FINALIZADO - LidoGilson VenturaAinda não há avaliações
- Os Paradoxos Da ConsciênciaDocumento1 páginaOs Paradoxos Da ConsciênciamarquesenyaAinda não há avaliações
- 1 5051333370655540107 PDFDocumento359 páginas1 5051333370655540107 PDFALINE SILVA DOS SANTOS100% (1)
- Port l2 Funcional ProgramaDocumento3 páginasPort l2 Funcional ProgramaMandico Lino Coutinho100% (1)
- 003 Peb I PDFDocumento11 páginas003 Peb I PDFedyronieAinda não há avaliações
- Projeto de LeituraDocumento3 páginasProjeto de LeituraJoão Batista Pereira100% (1)
- Unidade - 6.2 - José Saramago, Memorial Do ConventoDocumento18 páginasUnidade - 6.2 - José Saramago, Memorial Do ConventoMILA FERNANDESAinda não há avaliações
- Fundamentos Teoricos Da LiteraturaDocumento31 páginasFundamentos Teoricos Da LiteraturaFábio José Barbosa100% (1)
- As Contribuicoes Da Psicogenese Da Lingua Escrita e Algumas Reflexoes Sobre A Pratica Educativa de AlfabetizacaoDocumento8 páginasAs Contribuicoes Da Psicogenese Da Lingua Escrita e Algumas Reflexoes Sobre A Pratica Educativa de Alfabetizacaonaedleste100% (4)
- Apostila CBM-GO em PDF 2022Documento317 páginasApostila CBM-GO em PDF 2022Daiana Machado100% (1)
- Atividades PortifolioDocumento23 páginasAtividades PortifolioMarli SantosAinda não há avaliações
- Dinâmicas de Escrita - Porto Editora - L.P. 12ºDocumento20 páginasDinâmicas de Escrita - Porto Editora - L.P. 12ºliliana_silva_4550% (2)
- Alfabetização Emilia Ferreiro PDFDocumento10 páginasAlfabetização Emilia Ferreiro PDFkatiarbm100% (1)
- I Trabalho de TELP - ResolvidoDocumento11 páginasI Trabalho de TELP - ResolvidoAbs Graphics0% (2)
- A Importancia Da Leitura para o Desempenho EscolarDocumento17 páginasA Importancia Da Leitura para o Desempenho EscolarHadassa_rodguesAinda não há avaliações
- Apostila de Geografia Concurso de Limoeiro Do Norte Direitos Pertencentes À Elenice Rabelo Costa Apostila Custa 20,00 Sendo Meio A MeioDocumento130 páginasApostila de Geografia Concurso de Limoeiro Do Norte Direitos Pertencentes À Elenice Rabelo Costa Apostila Custa 20,00 Sendo Meio A MeioHugo MaiaAinda não há avaliações
- As Contribuições Da Literatura No Processo de Aprendizagem - Souza e BernardesDocumento18 páginasAs Contribuições Da Literatura No Processo de Aprendizagem - Souza e BernardesManoela FreitasAinda não há avaliações
- Ecc2e9f6ber BH Ef2-Em1 Manual de Metodologias Do Estudo 2022Documento24 páginasEcc2e9f6ber BH Ef2-Em1 Manual de Metodologias Do Estudo 2022llpok gamesAinda não há avaliações
- Planejamento de Ingles 2020 PDFDocumento22 páginasPlanejamento de Ingles 2020 PDFAdrianoGaspar100% (3)
- Texto - 3 - Aprender A Ler e A Escrever - J. ZorziDocumento13 páginasTexto - 3 - Aprender A Ler e A Escrever - J. ZorziSabrina Cardoso TavaresAinda não há avaliações
- Metodologia Do Ensino Da Linguagem: Aline Azeredo BizelloDocumento18 páginasMetodologia Do Ensino Da Linguagem: Aline Azeredo BizelloF. F.Ainda não há avaliações
- Aula 1 Ingles PDFDocumento14 páginasAula 1 Ingles PDFLucas CauãAinda não há avaliações
- Como Alfabetizar LetrandoDocumento27 páginasComo Alfabetizar LetrandoMarco NalinAinda não há avaliações
- PTC Medeiros, Nós Que Amavámos (... ) Tanto Os LivrosDocumento6 páginasPTC Medeiros, Nós Que Amavámos (... ) Tanto Os Livrosmarcos paulo ventura da silva limaAinda não há avaliações
- Currículo - Atividades ComplementaresDocumento12 páginasCurrículo - Atividades ComplementaresEliane Lima BarbosaAinda não há avaliações
- H.A Inf 20 A 23 Março JaquelineDocumento9 páginasH.A Inf 20 A 23 Março JaquelineJaquelineLazzaronAinda não há avaliações
- Habilidades de ProntidãoDocumento15 páginasHabilidades de ProntidãoJuliana MontenegroAinda não há avaliações
- PLANO DE AULA 9º - 03-06 A 14-06Documento3 páginasPLANO DE AULA 9º - 03-06 A 14-06Iverton NascimentoAinda não há avaliações
- Eavap EfDocumento102 páginasEavap EfThiagoSoares100% (1)
- A Abordagem Triangular No Ensino Das ArtDocumento6 páginasA Abordagem Triangular No Ensino Das ArtKatcha MotaAinda não há avaliações
- Guião de Leitura Orientada - Diário de Ana Joana 12 AnosDocumento18 páginasGuião de Leitura Orientada - Diário de Ana Joana 12 AnosraqueloliveiraramosAinda não há avaliações
- Contos Com Reflexão 2019 2020 PDFDocumento8 páginasContos Com Reflexão 2019 2020 PDFteresamirandaAinda não há avaliações